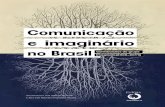Revista HCPA - Lume UFRGS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Revista HCPA - Lume UFRGS
ª-
9SemanaCientífica
05 a 09 de outubro de 2009
Formando pesquisadores para as exigências do milênio
do Hospital de Clínicasde Po r to A l eg re
RevistaHCPA
R E V I S T A D O H O S P I T A L D E C L Í N I C A S D E P O R T O A L E G R E E
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anais
REVISTA HCPA 2009; 29 (Supl 1) :1-459
Apoio
REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Este periódico é um órgão de divulgação científica e tecnológica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, área hospitalar e de saúde pública para a Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A REVISTA HCPA É PRODUZIDA E DISTRIBUÍDA SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE Presidente: Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto Vice-Presidente Médico: Prof. Sérgio Pinto Ribeiro Vice-Presidente Administrativo: Bel. Tanira Andreatta Torelly Pinto Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação: Profa. Nadine Clausell Coordenadora do Grupo de Enfermagem: Profa. Maria Henriqueta Luce Kruse UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Reitor: Prof. Carlos Alexandre Neto FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Diretor: Prof. Mauro Antonio Czepielewski ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Diretora: Profa. Liana Lautert EDITORES ANTERIORES: Prof. Nilo Galvão - 1981 a 1985 Prof. Sérgio Menna Barreto – 1986 a 1992 Prof. Luiz Lavinsky – 1993 a 1996 Prof. Eduardo Passos – 1997 a 2003
Comissão Editorial Nacional: Prof. Alceu Migliavacca (RS) Prof. André F. Reis (SP) Profa. Carisi Polanczyk (RS) Prof. Claudio Kater (SP) Prof. Elvino Barros (RS) Profa. Helena von Eye Corleta (RS) Prof. Hugo Oliveira (RS) Profa. Joíza Lins Camargo (RS) Prof. Jorge Luiz Gross (RS) Prof. José Roberto Goldim (RS) Prof. Leandro Ioschpe Zimerman (RS) Prof. Luís Henrique Canani (RS) Prof. Luiz Roberto Marczyk (RS) Prof. Marcelo Goldani (RS) Profa. Nadine Clausell (RS) Prof. Sérgio Pinto Ribeiro (RS) Profa. Themis Reverbel da Silveira (RS) Comissão Editorial Internacional:
Prof. Décio Eizirik (Bélgica) Prof. Gilberto Velho (França) Editora-Chefe:
Profa. Sandra Pinho Silveiro Editora-Gerente:
Rosa Lúcia Vieira Maidana Editoração Eletrônica:
Romilda Teofano Luis Fernando Miguel Impressão: Gráfica/HCPA
Revista HCPA – Volume 29 (Supl) – Outubro 2009 International Standard Serial Number (ISSN) Eletrônico: 1983-5485 / Impresso: 0101-5575 Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n. 2
Indexada no LILACS e LATINDEX
COMISSÃO ORGANIZADORA
Adriana Regina Candaten
Alessandro Bersch Osvaldt
Eliane Reisdorfer
Elizeth Paz da Silva Heldt
Francisco José Veríssimo Veronese
Giovanni Abrahão Salum
Gisele Gus Manfro
Guilherme Baldo
Márcia Lorena Fagundes Chaves
Márcia Mocellin Raymundo
Marcia Ziebell Ramos
Mário Reis Álvares-da-Silva
Paulo Renato dos Santos Nunes
Paulo Roberto Stefani Sanches
Rosa Lúcia Vieira Maidana
Ruy Silveira Moraes Filho
COMISSÃO CIENTÍFICA
Adriana Paz Agnes Olschowsky Alaxandre Zavascki Alberto Augusto Alves Rosa Alessandro Bresch Osvaldt Alisia Helena Weis Altamiro Susin Alvaro Georg Álvaro Roberto Merlo Amália de Fátima Lucena Ana Carolina Bragança Ana Maria Kulzer André Muller André Ricardo Pereira Rosa Andrea de Mello Cruz Andrea Veronese Ângela Maria Tavares Ângela Sitta Anne Marie Weissheimer Antônio Balbinotto Beatriz D’Agord Schaan Beatriz Mattos Beatriz Seligman Bernardo Spiro Brasil Silva Neto Carlos Henrique Menke Carlos Kupski Carlos Roberto de Mello Rieder Carmen Pilla Catarina Gottschaul Celso Dall Igna Cintia Fonseca Cláudia Santos Daniela Knauth Debora Fernandes Coelho Denis Martinez Desirée Bianchessi Diane Marinho Doris Shansis Eduardo Passos Eglê Kohlrausch Elenara Franzen Elvino Barros Elza Mello Esalba Maria Silveira Fernanda Mielke Fernanda Urruth Fontella Fernando Torelly
Flávio Zelmanovitz Gaspar Chiappa Geneviéve Lopes Pedebos Gerson Nunes Giselda Marques Gislene Pontalti Gustavo Faulhaber Gustavo Rassier Isolan Heloisa Hoefel Hugo Oliveira Ioná Carreno Iraci Torres Isabel Echer Jennifer Salgueiro João Borges Fortes Filho Jorge Bajerski José Antônio Cavalheiro Josué Moller Julio Maciel Lavinia Schuler-Faccini Leandro Zimerman Leila Beltrami Moreira Lenir Severo Cauduro Letícia Moller Leticia Souza Dos Santos Lisiane Pruinelli Luccas Melo de Souza Lúcia Mariano da Rocha Silla Luciana Cadoro Stefani Luciano Wolfenbutel Luis Beck da Silva Netto Luís Henrique Canani Luis Nasi Luis Santos Luiz Bopp Müller Luiz Felipe Gonçalves Magda Weber Mahmud Ismail Mahmud Maira Burin Mara Rúbia Alves Marcelo Gazzana Marcelo Zubaran Goldani Márcia Anton Marco Antonio Torres Maria Elza Dorfman Marino Bianchin Mario Queiroz Mario Wiehe
Mariur Beghetto Marli Maria Knorst Marta Georgina Goés Maurício Guidi Saueressig Mauro Castro Mayde Torriani Michel Brentano Miriam de Abreu Almeida Murilo Foppa Nair Regina Ritter Nelson Kretzmann Norma Marroni Oly Corleta Otávio Piltcher Patricia Koeller Patrícia Medeiros Paulo de Tarso Roth Dalcin Paulo Maróstica Paulo Picon Pedro Schestatsky Percy Nohama Rafael Lucyk Maurer Renan Bonamigo Renato Seligman Ricardo Feijó Ricardo Machado Xavier Rita de Cassia Silveira Rita Prieb Roberto Manfro Rogério Xavier Rosane Bittencourt Rose Cristina Lagemann Sady Selaimen da Costa Sandra Pinho Silveiro Sérgio Barros Sérgio Martins Costa Sharbel Maluf Simone Beier Simone Fagondes Simone Finard Suzana Scain Tatiana Hemesath Themis Zelmanovitz Thiago Furian Tor Hugo Onsten Viviane Oliveira Wiliam Wegner Wolnei Caumo
É com grande satisfação que apresentamos os Anais da 29ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), composto pela produção científica do Hospital de Clínicas e de outras Instituições Acadêmicas. Foram aceitos 1006 trabalhos de diversas áreas que se relacionam direta ou indiretamente com a promoção, prevenção e proteção da saúde.
A Semana Científica do HCPA tem, anualmente, apresentado uma programação com
trabalhos, progressivamente, mais qualificados. Além da produção interna, temos a satisfação de apresentar trabalhos de outros locais da UFRGS e outras instituições, demonstrando que o HCPA é referência na divulgação de informação científica.
Nesta 29ª edição da Semana Científica contamos com 12 coordenadores de área que
organizaram a avaliação dos trabalhos enviados. Gostaríamos de agradecer a presteza e disponibilidade com que realizaram esta tarefa.
Agradecemos também aos 144 avaliadores que colaboraram na seleção dos trabalhos e aos
colegas que realizaram a árdua tarefa de avaliar os pôsteres e temas livres. Por final, agradecemos também a eficiente equipe de apoio administrativa sempre presente e
tornando possível a realização deste evento.
Gisele Gus Manfro Coordenadora da Semana Científica
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.)
SUMÁRIO DA 29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ADMINISTRAÇÃO ..................................................................................................................... p. 8 ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO ............................................................................ p. 10 ANESTESIOLOGIA ................................................................................................................... p. 13 BIOÉTICA .................................................................................................................................. p. 18 BIOLOGIA MOLECULAR ......................................................................................................... p. 21 BIOQUÍMICA .............................................................................................................................. p. 22 CANCEROLOGIA ...................................................................................................................... p. 29 CARDIOLOGIA .......................................................................................................................... p. 37 CIRURGIA .................................................................................................................................. p. 64 CIRURGIA CARDIOVASCULAR ............................................................................................... p. 72 CIRURGIA EXPERIMENTAL ..................................................................................................... p. 79 CIRURGIA GASTROENTEROLÓGICA ..................................................................................... p. 80 CIRURGIA PEDIÁTRICA ........................................................................................................... p. 84 CIRURGIA PROCTOLÓGICA .................................................................................................... p. 88 CIRURGIA UROLÓGICA ........................................................................................................... p. 88 CLÍNICA MÉDICA ...................................................................................................................... p. 89 DERMATOLOGIA ..................................................................................................................... p. 100 DIREITO ..................................................................................................................................... p. 107 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ...................................................................................................... p. 109 EDUCAÇÃO FÍSICA .................................................................................................................. p. 110 ENDOCRINOLOGIA .................................................................................................................. p. 113 ENFERMAGEM .......................................................................................................................... p. 128 ENFERMAGEM CARDIOLOGICA ............................................................................................. p. 142 ENFERMAGEM DE DOENÇAS CONTAGIOSAS ..................................................................... p. 146 ENFERMAGEM IU ..................................................................................................................... p. 150 ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA ..................................................................................... p. 156 ENFERMAGEM OBSTÉTRICA ................................................................................................. p. 164 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA ................................................................................................... p. 171 ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA ............................................................................................... p. 182 ENFERMAGEM SAÚDE PÚBLICA ........................................................................................... p. 193 ENGENHARIA BIOMÉDICA ...................................................................................................... p. 226 ENSINO APRENDIZAGEM ........................................................................................................ p. 229 EPIDEMIOLOGIA ....................................................................................................................... p. 229 ÉTICA ......................................................................................................................................... p. 236 FARMÁCIA ................................................................................................................................ p. 237 FARMACOLOGIA GERAL ........................................................................................................ p. 250 FISIATRIA .................................................................................................................................. p. 254 FISIOLOGIA ............................................................................................................................... p. 255 FISIOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ................................................................................. p. 259 FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL .......................................................................... p. 261 FONOAUDIOLOGIA .................................................................................................................. p. 269 GASTROENTEROLOGIA .......................................................................................................... p. 271 GASTROENTEROLOGIA EXPERIMENTAL ............................................................................. p. 275 GENÉTICA ................................................................................................................................. p. 278 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ............................................................................................. p. 299 HEMATOLOGIA ......................................................................................................................... p. 307 IMUNOLOGIA ............................................................................................................................ p. 314 MEDICINA .................................................................................................................................. p. 316 MEDICINA OCUPACIONAL ...................................................................................................... p. 325 MICROBIOLOGIA ...................................................................................................................... p. 326 NEFROLOGIA ............................................................................................................................ p. 327 NEUROCIRURGIA ..................................................................................................................... p. 332 NEUROLOGIA ........................................................................................................................... p. 335 NEUROPSICOFARMACOLOGIA …………………………..………………………………………… p. 342 NUTRIÇÃO ................................................................................................................................. p. 343 ODONTOLOGIA ........................................................................................................................ p. 349 OFTALMOLOGIA ...................................................................................................................... p. 349 ORTOPEDIA .............................................................................................................................. p. 354
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.)
OTORRINOLARINGOLOGIA .................................................................................................... p. 356 PEDIATRIA ................................................................................................................................ p. 365 PNEUMOLOGIA ........................................................................................................................ p. 378 PSICOLOGIA ............................................................................................................................. p. 397 PSICOLOGIA DE TRABALHO E ORGANIZACIONAL ............................................................. p. 398 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ................................................................ p. 399 PSIQUIATRIA ............................................................................................................................ p. 400 RADIOLOGIA MÉDICA ............................................................................................................. p. 418 REUMATOLOGIA ...................................................................................................................... p. 421 SAÚDE COLETIVA .................................................................................................................... p. 428 SAÚDE MATERNO INFANTIL .................................................................................................. p. 434 SAÚDE PÚBLICA ...................................................................................................................... p. 438 SERVIÇO SOCIAL ..................................................................................................................... p. 449 SERVIÇO SOCIAL APLICADO ................................................................................................. p. 452 TRATAMENTO E PREVENÇÃO PSICOLÓGICA ................................................................. p. 452
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 8
ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM ATORES DO TERCEIRO SETOR DA SAÚDE
JULIANE MEIRA WINCKLER; ISIS PADILHA MACAGNAN
A administração pública no Brasil, com a instalação da Nova Gestão Pública (NGP), em 1995, entre outras características criou a possibilidade de delegação de serviços públicos a entes privados. Assim, serviços como saúde puderam passar a ser delegados para entes do terceiro setor, o setor público não-estatal. No setor da saúde, no entanto, todos os serviços delegados devem manter, além das outras exigências da lei, a observância das diretrizes e princípios Sistema Único de Saúde, como a participação e o controle social. Nesse cenário, o trabalho tem o intuito de analisar a ocorrência da participação e controle social em atores do terceiro setor da saúde. Embasadas na premissa de que esses conceitos são um ato de redistribuição de poder, onde legitima os anseios da maioria. A metodologia adotada foi o método dedutivo, e o método de procedimento utilizado é a pesquisa bibliográfica, que adotou como fonte a legislação sobre a matéria e a doutrina a respeito do tema. E entre outros apontamentos, o estudo concluiu, que quando se terceiriza serviços públicos de saúde, analisando os principais atores do terceiro setor envolvidos nessas delegações deste setor, as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, o controle social e a participação são extremamente limitados. No setor da saúde, ainda, essa delegação desvirtua princípios do Sistema Único de Saúde. E não passa de uma reprodução de um sistema neoliberal de concentração de poder e limitação das formas de expressão democráticas.
A ADOÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ROSANE PAIXAO SCHLATTER;GILBERTO SCHLATTER;GIOVANNI PEREIRA
INTRODUÇÃO: O Business Intelligence (BI) é um Sistema de Apoio à Decisão que agrega dados de diferentes fontes transformando-os em informações para subsidiar o processo de tomada de decisão e definir estratégias de competitividade para a organização. OBJETIVO: analisar o processo de adoção de um BI pelo nível gerencial em um hospital universitário. METODOLOGIA: Pesquisa survey com 82,8% da população (96 de 232) de usuários. Após a devolução dos 96 questionários, foi realizada a remoção manual de outliers. Foram considerados válidos 73 questionários (76%). Para medir a confiabilidade do questionário foi utilizado o Alfa de Cronbach. Para verificar a unidimensionalidade dos conjuntos de itens pertencentes a cada dimensão, realizou-se Análise Fatorial Convergente e após, Análise Fatorial Discriminante para a identificação de fatores latentes nos 23 itens. Foi executada uma nova análise de confiabilidade. Para verificar se existe associação entre as dimensões validadas e a utilização BI foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA). Na seqüência, foi estimado o coeficiente de correlação de pearson para verificar o grau de relação entre as variáveis independentes e a variável dependente. RESULTADOS: As principais características que levaram a adoção do BI pelo nível gerencial do hospital pesquisado se referem à vantagem relativa, compatibilidade, facilidade de uso, qualidade do sistema e qualidade da informação. Estas características concentraram-se em três fatores propostos neste estudo como qualidade da inovação (vantagem relativa e compatibilidade), qualidade do sistema (facilidade de uso e qualidade do sistema) e qualidade da informação. CONCLUSÃO: A característica vantagem relativa é um fator de forte influência positiva na adoção do BI e as características relativas à qualidade da informação e do sistema são fatores contribuintes para a adoção do sistema.
PROGRAMAÇÃO LINEAR APLICADA AO GERENCIAMENTO DE CONSULTÓRIOS DE PESQUISA CLÍNICA
ROSANE PAIXAO SCHLATTER;GILBERTO SCHLATTER;EDUARDO RIBAS DOS SANTOS;GIOVANNI PEREIRA
INTRODUÇÃO: Projetos de pesquisa clínica com financiamento privado competem com projetos acadêmicos pela utilização da infraestrutura de pesquisa nos HUs. OBJETIVO: Minimizar a utilização dos consultórios pelos ensaios clínicos privados em uma Unidade de Pesquisa Clínica através de programação linear das 07:00 às 12:00 horas, considerando as situações clínicas específicas na
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 9
priorização dos horários de atendimento. METODOLOGIA: Modelo de programação linear desenvolvido em software LINDO, com dados das consultas de 2007 e 2008. Critério Clínico: Pacientes diabéticos e de reumatologia devem ser atendidos no horário das 07:30 às 9:00 h.Critérios de Infraestrutura: Consultório 6: atende ginecologia, psiquiatria, genética e neurologia, Ginecologia só pode utilizar consultórios 6 e 5, 90% das consultas ocorrem até as 12:00 h. RESULTADOS: Verifica-se que o atendimento das especialidades que possuem restrições clínicas concentrado nos consultórios 1 e 2 pelo modelo satisfaz a demanda e possibilita a liberação destes consultórios para as pesquisas acadêmicas. A restrição de infraestrutura para a ginecologia inviabiliza a liberação dos consultórios 5 e 6, a menos que se instale mais um consultório de ginecologia. Verifica-se que para as demais especialidades cujo atendimento o modelo concentrou nos consultórios 3 e 4 , há excessiva ociosidade, o que possibilita a transferência da pesquisa acadêmica para estes e sugere a necessidade de uma análise mais detalhada para verificação da possibilidade de transferir um destes consultórios para o atendimento da ginecologia. CONCLUSÃO: A utilização da programação linear para a otimização do uso dos consultórios de pesquisa clínica pode ser uma importante ferramenta gerencial nos Hus, pois, possibilita desvincular a pesquisa da rotina assistencial.
TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PERFIL GERENCIAL EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ROSANE PAIXAO SCHLATTER;GILBERTO SCHLATTER;GIOVANNI PEREIRA
INTRODUÇÃO: As organizações de saúde são, essencialmente, tecnológicas por contarem com equipamentos sofisticados com sistemas de informação específicos destinados ao atendimento das necessidades de saúde dos indivíduos. Mais recentemente, a adoção do Prontuário Eletrônico por um grande número de instituições revela a importância do apoio tecnológico de TI para a gestão das informações clínicas e epidemiológicas nestas organizações. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho é identificar o perfil gerencial de um hospital universitário com alto nível de informatização.METODOLOGIA: Estudo transversal através de pesquisa survey aplicada ao nível gerencial (administrativos, de enfermagem e outros que inclui engenharia) do hospital. Os pesquisadores contataram 50% da amostra inicial (232), ou seja, 116 usuários dos quais 96 (82,8%) concordaram em participar. Após a devolução dos 96 questionários, foi realizada a remoção manual de outliers e excluídos 23 questionários, sendo 73 considerados válidos, o que corresponde a 76% dos questionários respondidos.RESULTADOS: As principais características do nível gerencial do hospital pesquisado são idade superior a 41 anos, nível de escolaridade predominante de especialização lato sensu e conhecimentos em informática em nível intermediário, a exceção do grupo outros onde predomina o conhecimento avançado. CONCLUSÃO: Em todos os grupos pesquisados, o nível gerencial aparece como usuário intensivo do Sistema de Informações do hospital. É necessário estudar se há associação entre o nível de escolaridade, os conhecimentos em informática e o uso intensivo do sistema.
ANÁLISE DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO
ROSSANA MACHADO SARMENTO;ISIS PADILHA MACAGNAN; JULIANE MEIRA WINCKLER; ARAGON ÉRICO DASSO JÚNIOR
Neste artigo, através de pesquisa documental, tem-se o intuito de analisar se o processo de democratização, participação e controle social, está ocorrendo nos Conselhos de Saúde, previstos na Lei 8.142/90, como forma de interface com a comunidade. Os conceitos participação e controle social estão entre os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, e da Nova Administração Pública (NAP), implementado no país a partir de 1995. No entanto, esses não vêm sendo aplicados na sua integralidade, ou de forma ampla, o que torna questionável a democratização vigente. De acordo com os preceitos neoliberais que iluminam a NAP a participação e o controle social são previstos, contudo restringem-se ao conceito de transparência. O que vai de encontro a proposto do SUS, onde prevê que a comunidade esteja integrada e atuando nos mecanismo de interface, para assim propor políticas públicas em saúde. Os Conselhos de Saúde são um desses mecanismos juntamente com as Conferências de Saúde. Como resultado, o estudo apresentou que participação imposta ainda não está sendo suficiente, mesmo que prevista nos artigos da lei, não há a sua efetivação. Dessa forma e estudo concluiu que essa participação acaba tornando-se apenas fruto de um poder hegemônico.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 10
ANÁLISE COMPARATIVA DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS EM HOSPITAL DE GRANDE PORTE: IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PREGÃO
ROBERTA ASSONI DULLIUS FONTANELLA;ANA PAULA COUTINHO
O presente estudo trata-se de um comparativo das modalidades de licitações proferidas antes e depois da Lei n° 10.520, de 17 de junho de 2002. A partir da visão de desburocratização dos processos empresariais e devido a algumas limitações apresentadas nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite, da Lei de Licitações 8.666\\93, o governo instituiu uma nova modalidade a partir da Lei 10.520/02, denominada Pregão. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) incorporou a modalidade de licitação Pregão no ano de 2001. O objetivo desta pesquisa foi analisar o desempenho dos processos de compra de material médico hospitalar, da curva A, do HCPA, adquiridos no período de 1999 a 2002 e de 2005 a 2008, composta por 184 itens. Trata-se de um estudo descritivo, sob a forma de um levantamento de abordagem quantitativa realizada através de pesquisa documental. A coleta de dados foi realizada nos Processos Administrativos de Compras (PACs) homologados nos períodos acima citados. Destes processos de compras, foram pesquisadas as variáveis do estudo: tempo para aquisição do item; percentual de aproveitamento do processo de compra; repercussão financeira do item (preço). Perfazendo o total de 127 itens, analisados em 254 Processos, e 57 itens excluídos. Quanto aos resultados: o tempo de homologação obteve mediana de 94 dias. E, no aproveitamento o Pregão obteve mediana de 94,2% dos PACs, atingindo o maior numero de itens solicitados. O destaque foi para o critério preço, pois o Pregão obteve uma economia de 35,71% de redução em relação a demais modalidades. Esta pesquisa aborda o desempenho da modalidade de licitação Pregão, quanto à economia, agilidade e maior aproveitamento dos Processos Administrativos de Compra do HCPA.
ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO
EVIDÊNCIA DA TRANSIÇÃO NUTRICIONAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL COM UMA AMOSTRA DE CRIANÇAS GAÚCHAS
MILENA FRICHENBRUDER KENGERISKI;GABRIELA HERRMANN CIBEIRA; GIOVANA SKONIESKI; BERNARDETE WEBER
Introdução: A prevalência da obesidade infantil vem aumentando nas últimas décadas e pode ser caracterizada como uma verdadeira epidemia mundial. No Brasil, verifica-se nos últimos anos um processo de transição nutricional, constatando-se redução na prevalência da desnutrição e aumento na prevalência de obesidade entre crianças. O objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional de uma amostra de crianças gaúchas. Metodologia: Foi realizado um estudo de corte transversal em escolas de educação infantil pertencentes a rede municipal, localizadas na Grande Porto Alegre, RS. Foram incluídas todas as crianças matriculadas na instituição. O sobrepeso foi definido como índice de massa corporal (IMC) > ao percentil 85 e obesidade como IMC > ao percentil 97, ambos para idade e sexo. Resultados: Foram avaliadas 661 crianças com idades entre 2 e 10 anos, sendo 333 meninos e 328 meninas. Foi observado que, entre as meninas, 197 (60%) estavam dentro do peso e 161 (40%) apresentaram sobrepeso ou obesidade. Entre os meninos, foi constatado que 174 (52,2%) eram eutróficos e 159 (47,8%) apresentaram excesso de peso. Segundo a faixa etária, o excesso de peso foi verificado em 290 crianças. Dentre aquelas com idade entre 2 e 4 anos, o sobrepeso acometeu 81 (27,4%) e a obesidade 71 (23,9%). Daquelas pertencentes a faixa de 5 e 6 anos, 53,9% estavam eutróficas, 19,6% com sobrepeso e 26,3% obesas. E das 202 crianças com idade entre 7 e 10 anos, verificou-se que 63 apresentaram peso excessivo e 139 estavam em eutrofia. Conclusão: Não foram observadas crianças com baixo peso. As altas prevalências de sobrepeso e obesidade infantil mostraram-se elevadas em nosso estudo. Esses dados, associados à ausência de crianças com baixo peso, evidenciam o processo de transição nutricional.
FATORES ASSOCIADOS AO ESTADO NUTRICIONAL E RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS DE POLICIAS DE UM BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PORTO ALEGRE
LUANA DA PIEDADE PRIMON;SUZANA FIORE SCAIN
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 11
Introdução: Atualmente, no Brasil, 56,3% da população encontra-se acima do peso e 43,3% apresentam excesso de peso e 13% obesidade. A cidade de Porto Alegre comparada com outras cidades brasileiras exibe o maior percentual de indivíduos com excesso de peso 49% e com obesidade 15,9%. Objetivo: avaliar o estado nutricional e identificar risco para doenças crônicas em policiais militares ativos de um Batalhão de Policia Militar. Material e Métodos: Estudo transversal, com 72 policiais militares, entre 20 e 59 anos, integrantes de um batalhão da Policia Militar. Para o diagnóstico nutricional foram utilizados peso e altura, índice de massa corporal,a circunferência abdominal e relação cintura/quadril. Foi aplicado um questionário com dados demográficos e utilizado teste do Qui-quadrado para estimar a associação entre potenciais fatores relacionados ao estado nutricional, a circunferência abdominal e a relação cintura/ quadril. O nível de significância adotado foi p < 0,05. Resultados: Observou-se um elevado nível de excesso de peso em 70,8% dos policiais militares e o sedentarismo esteve presente em 61,1% deles. As variáveis que se mostraram associadas positivamente com a obesidade foram: o fumo, a escolaridade, pratica de atividade física e tempo de serviço. Com a circunferência abdominal associou-se positivamente o fumo, a situação conjugal, a atividade física e o tipo de atividade no trabalho e nenhuma variável se manteve associada à relação cintura/quadril. Conclusão: Os resultados indicam a necessidade de uma intervenção nutricional na saúde desses trabalhadores e a importância de mais estudos com amostras representativas com esses profissionais.
AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA À DIETA E PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO
JAQUELINE DRIEMEYER CORREIA;ANDRÉIA FONCCHESATTO; MANOELA DE OLIVEIRA; MICHELE DREHMER
Introdução: Muitos estudos mostram a baixa adesão ao tratamento quando se trata de recomendações relacionadas as mudanças no estilo de vida. Assim, no tratamento de doenças como diabetes tipo 2, obesidade, dislipidemia e hipertensão, caracterizadas pela baixa adesão do paciente, a satisfação com o nível do atendimento e com a atitude do profissional devem ser observadas. Esses dados representam um desafio para os profissionais de saúde em relação à busca de intervenções de sucesso, as quais sejam capazes de mobilizar os indivíduos à adoção de práticas alimentares saudáveis, especialmente na atenção básica, visando à promoção de saúde. Com base nisso, este trabalho propõe analisar o perfil e a adesão ao tratamento dos pacientes atendidos pela nutrição em uma unidade básica de saúde (UBS), visando analisar se o papel da Nutricionista poderia ser trabalhado de outra forma, com o objetivo de aumentar a aderência a dieta, reduzir o percentual de perdas e reduzir as co-morbidades das patologias citadas bem como preveni-las em indivíduos saudáveis. Metodologia: Revisão nos prontuários dos pacientes atendidos pela Nutrição de setembro de 2008 a maio de 2009 em busca dos seguintes dados: idade, gênero, tempo de acompanhamento, se desistência, buscar o motivo, variação de peso, verificação se o paciente é hipertenso, diabético, dislipidêmico, se já recebeu dietas anteriormente, se já fez uso de anorexígenos. Resultados preliminares: Até o presente, foram revisados 147 de 297 pacientes, desses 40,13% desistiram do tratamento sendo que 19,7% não iniciaram a dieta. Dos pacientes que continuam em acompanhamento 69,3% são mulheres, 53,4% hipertensos, 22% diabéticos, e 27% dislipidêmicos. A adesão é de 61,36% e a média de redução de peso é de 1,15% do peso inicial.
ANÁLISE DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA DE FUNCIONÁRIOS DE UMA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE SANTA MARIA, RS E SUA RELAÇÃO COM COMPLICAÇÕES METABÓLICAS
GISELE BARBIERI MORO;TEOBALDO RONEI KELLER
INTRODUÇÃO - A obesidade visceral resulta em inúmeras modificações fisiopatológicas, que podem implicar em diferentes graus de resistência à insulina, além de estar relacionada à hipertensão arterial e alterações no perfil das lipoproteínas plasmáticas. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a circunferência da cintura de funcionários de uma Organização Não Governamental (ONG) de Santa Maria, RS. MATERIAL E MÉTODOS – Estudo de caráter transversal descritivo, em que foram avaliados 10 funcionários de uma ONG de Santa Maria, de ambos os gêneros, durante o mês de junho de 2009. A Circunferência da Cintura (CC) foi obtida com o auxílio de uma fita métrica inelástica. Utilizou-se, através da classificação da gordura abdominal baseada na CC, os pontos de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 12
corte recomendados pela Organização Mundial da Saúde para avaliar o risco de complicações metabólicas. RESULTADOS – A média de idade dos funcionários avaliados foi de 37 anos (±18,38). Destes, 70% (n=7) eram do gênero feminino e 30% (n=3) do gênero masculino. Dentre os funcionários do gênero feminino 28,6% (n=2) estavam com risco aumentado para complicações metabólicas, 42,8% (n=3) apresentava risco muito aumentado, enquanto que 28,6% (n=2) não apresentaram risco metabólico. Quanto aos funcionários do gênero masculino 66,7% (n=2) estavam com risco aumentado para complicações metabólicas, ao passo que 33,3% (n=1) não apresentaram risco. CONCLUSÃO - Os achados deste estudo possibilitaram futuras intervenções educacionais promovidas pela instituição, como forma preventiva, conscientizando os funcionários sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis e promovendo, dessa forma, melhor qualidade de vida e maior produtividade.
ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI) EM SANTA MARIA, RS
GISELE BARBIERI MORO;MARCELO RAMIRES VIANA; TEOBALDO KELLER
INTRODUÇÃO – A avaliação do estado nutricional é indispensável para identificar distúrbios nutricionais, possibilitando uma intervenção adequada de forma a auxiliar na recuperação e/ou manutenção no estado de saúde do indivíduo. Neste contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional, através de avaliação antropométrica, de adolescentes beneficiados pelo Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil em (PETI) Santa Maria, RS. MATERIAL E MÉTODOS – Estudo de caráter transversal descritivo em que foram avaliados adolescentes de uma Organização Não Governamental beneficiados pelo PETI, com idades entre 10 e 15 anos, de ambos os gêneros, durante o mês de maio de 2009. Medidas antropométricas como peso e estatura foram obtidas através de balança de uso pessoal com capacidade máxima de 150kg e fita métrica inelástica. Estes dados foram utilizados para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) (kg/m²), classificados de acordo com o World Health Organization (WHO) (2007) e apresentados na forma de porcentagem simples (média e desvio-padrão). RESULTADOS – Foram avaliados 13 adolescentes com idade média de 12,5 anos (±3,53). Destes, 53,8% (n=7) eram do gênero feminino e 46,2% (n=6) do gênero masculino. De acordo com o IMC 84,6% (n=11) dos adolescentes estavam eutróficos, 7,7% (n=1) apresentavam sobrepeso e 7,7% (n=1) obesidade. CONCLUSÕES – O acompanhamento na verificação do estado nutricional é fundamental para analisar o crescimento e desenvolvimento destes adolescentes. Ações de incentivo à adoção de hábitos alimentares saudáveis com considerações referentes ao perfil sócio-econômico que se encontram são essenciais para a promoção e/ou manutenção de saúde. Ressalta-se também que os pais/responsáveis devem participar diretamente de todo esse processo educativo.
INTERVENÇÃO NUTRICIONAL: MÉTODO EFETIVO PARA PERDA DE PESO E MELHORA DA QUALIDADE DA DIETA
LUIZA MARSIAJ LUBIANCA;DANIELE LINI; DANIELA MARQUES MENDES; LUISA LUBIANCA; GIOVANA SKONIESKI; MAIRA CALEFFI; GABRIELA HERRMANN CIBEIRA
Introdução: o estilo de vida da população mundial sofreu mudanças a partir da segunda metade do século XX o que resultou alterações nos hábitos alimentares e estilo de vida sedentário. O tratamento dietoterápico para esses casos consiste em um plano alimentar saudável, o qual deve ser individualizado e ter como objetivo proteger a saúde, prevenindo e controlando comorbidades. Objetivo: Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia da intervenção nutricional na melhora da qualidade da dieta consumida e na perda de peso com 52 mulheres. Material e Método: Foi realizado um estudo experimental não randomizado e não controlado com uma amostra de mulheres com Índice de Massa Corporal (IMC) > 25kg/m2. Peso, altura, circunferência abdominal (CA), consumo de calorias, carboidratos, proteína, lipídio e fibras foram aferidos. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparações intra-grupos e o teste t-Student para dados pareados. Resultados: A média de idade observada foi de 51,3 ± 9,8 anos. A mediana da renda familiar foi de R$ 750,00 e a escolaridade mais prevalente foi o ensino fundamental incompleto, sendo informado por 60,4% das participantes. A perda de peso, aferida após os 6 meses de intervenção, se mostrou significativamente menor que no início do tratamento. A circunferência abdominal, o consumo calórico, ingestão de lipídio, proteína e carboidrato melhoraram (p<0,01).
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 13
Observou-se que a dieta inicialmente consumida pelas participantes era hipercalórica, hiperlipídica, hipoglicídica e quase normoprotéica. Conclusão: observou-se que a intervenção mostrou-se eficaz na medida em que promoveu reduções significativas no peso, na circunferência abdominal e melhorou a qualidade da dieta das participantes. São necessários novos estudos que promovam a adesão ao tratamento nutricional proposto por um período de tempo maior para que a perda de peso e a melhora na dieta sejam ainda mais evidentes, reforçando a importância da intervenção nutricional.
PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS, USUÁRIAS DE CRECHES COMUNITÁRIAS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO METROPOLITANA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL MESA BRASIL SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO RIO GRANDE DO SUL
ARTHUR RAMIRES JUNIOR;SUZANA FIORE SCAIN
Introdução: Na área da saúde existe programas institucionais de segurança alimentar e nutricional sustentável para arrecadar alimentos, excedentes ou sem valor comercial, através de parcerias com empresas. Estes alimentos são armazenados e distribuídos para instituições carentes cadastradas. Objetivo: caracterizar o perfil nutricional de crianças, usuárias de creches comunitárias de Porto Alegre e região metropolitana, atendidas em um programa social. Sujeitos e métodos: estudo de coorte retrospectivo com análise de dados secundários. Avaliou-se 1036 crianças dos 5 aos 10 anos de idade. Para o diagnóstico nutricional utilizou-se altura, peso, sexo, idade e índice de massa corporal. O teste Qui-quadrado de Pearson associou o índice de massa corporal com estatura por idade e o estado nutricional das crianças com ano de coleta dos dados e localização das creches. O nível de significância adotado no estudo foi p<0,05. Resultados: A maioria das crianças eram eutróficas com estatura adequada para a idade. Porém o sobrepeso e obesidade apresentaram-se elevados. Baixo índice de massa corporal e baixa estatura tiveram pouca incidência entre as crianças estudadas. Porto Alegre teve associação significativa com baixo índice de massa corporal e a região metropolitana com obesidade. Foi encontrada associação significativa entre: obesidade e ano de 2004; eutrófia e ano de 2005; sobrepeso e ano de 2008, estatura adequada para a idade e ano de 2005 e baixa estatura para a idade e ano de 2006. Conclusão: A elevada incidência de crianças com sobrepeso e obesidade, indica a importância de aumentar os estudos sobre o estado nutricional nessa faixa etária a fim de conhecer melhor o problema e aprimorar estratégias de controle e prevenção.
ANESTESIOLOGIA
REVISÃO DA DINÂMICA ASSISTENCIAL NA AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA-APA DO HCPA
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;RONALDO DAVID DA COSTA; GUSTAVO SOMM; FABIANA AJNHORN; SIMONE PETRY, HENRIQUE KERN LAYDNER;
Introdução: Na busca por um modelo de atenção integral no perioperatório, a criação de um consultório para avaliação pré-anestésica em pacientes portadores de fator de risco ( ASA >II) tornou-se uma atividade tangível na Zona 13, diariamente no 3º turno. Objetivo: Verificar o número de atendimentos efetuados na área nos últimos 4 anos. Métodos: Levantamento pelo AIH do número de consultas e reconsultas de 2005 a 2008. Resultados e comentários: A partir de 2006 houve uma restrição no número de consultas(n), preferenciais aos pacientes com risco anestésico-cirúrgico (grande porte, via aérea difícil, diabetes, cardiopatia isquemia, hipertensiva, DBPOC, entre outras). Contudo o percentual de reconsultas não decaiu. A necessidade de manejo imediato do quadro clínico dos pacientes, para otimização das condições pré-cirurgia e redução de morbidade no perioperatório, se manteve em torno do patamar de 45%.Conclusão: Desde o inicio do funcionamento do ambulatório de APA, a carência mantida de suporte adequado da rede básica de saúde para diagnóstico prévio e tratamento de doenças crônicas vem comprometendo a logística assistencial pretendida nos ambulatórios do HCPA.
PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE AMBULATÓRIO INTEGRADO PARA AGILIZAR DIFERENTES COMPETÊNCIAS NA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 14
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;RONALDO DAVID DA COSTA; LUCIANA CADORE STEFANI; ARTHUR RODOLFO ANDRADE DEXHEIMER
Introdução: Os ambulatórios de avaliação pré-operatória (MI: zona15) e pré-anestésica (SAMPE: zona 13) utilizam base operacional e turnos específicos, para otimizar as condições clinicas dos pacientes cirúrgicos portadores de fatores de risco. Objetivo: Revisar produtividade e tendências ao longo dos últimos quatro anos. Método: Levantamento pelo AIH das interconsultas realizadas pelo SAMPE e MI e total de cirurgias canceladas no período por falta de condições clinicas do pacientes. Resultados: Enquanto os dois consultórios alcançaram o teto de sua capacidade operacional para as primeiras consultas, o número de cirurgias, por falta de preparo clinico pré-cirúrgico, cresceu em média 13% desde 2007. Conclusões: Reiterando uma sugestão anterior - Revista HCPA 2006; 26 supl.1 - a integração dos consultórios APA e APO - aliviaria o gargalo logístico ocasionado por reconsultas e, provavelmente, diminuiria o cancelamento de cirurgias.
PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DA FICHA DE ANESTESIA
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;RUY VIANNA MANTOVANI; MIRON MERTEN; LUCIANA CADORE STEFANI; RONALDO DAVID DA COSTA
Introdução: A ficha de anestesia eletrônica é um bom exemplo de iniciativas que, mesmo com esforços continuados, permanece isolada e desarticulada dos cuidados oferecidos aos pacientes no pré-operatório e pós-anestésico. Na cadeia de controle do perioperatório essa condição acarreta retardo na tomada de decisões, sobrecarrega as atividades no perioperatório e suas estruturas funcionais, permanentemente exigidas em termos de agilização e desvio de recursos para os focos com demanda reprimida. Objetivo: Apresentar fluxograma demonstrativo das etapas evolutivas que culminaram na ficha de anestesia eletrônica (FAD). Resultados: A base de dados do SAMPE (56.000 cadastros) tornou-se o documento da progressão sustentada para alcançar a FAD. Desde 2006 vem servindo para a criação do layout e automação dos registros anestésicos, conteúdo das informações, conceito e estrutura. Atualmente o sistema do HCPA conta com 2.300 FAD sendo que o preenchimento dessas é feito pelo corpo clinico do SAMPE, 100% capacitado, sendo o uso médio diário em torno de 30%. Conclusões 1º: a eficiência interna (adesão) da FAD vai depender da disponibilidade de computadores em todas as salas de cirurgia e de interfaces para que os dados da monitorização eletrônica dos pacientes tornen-se efetivos em tempo real, sem prejudicar o nível de atenção do profissional junto ao pacientes; 2º a tecnologia integrada on-line deverá mudar radicalmente a cultura organizacional cirúrgica do HCPA, pautada no intra-operatório para o perioperatório; 3º a documentação evolutiva da FAD servirá de parâmetro para futuros estudos comparativos de dados de transcrição com os da era digital.
OFICINA OTIMIZAÇÃO A INTERRELAÇÃO NO PERIOPERATÓRIO. PARTE I PANORAMA GERAL
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;WOLNEI CAUMO; PAULO HENRIQUE POTI HOMRICH; ERICA MALLMANN DUARTE; MAYDE SEADI TORRIANI; TATIANA MELLO; MÁRCIA WEISSHEIMER; SIMONE PASIN; HENRIQUE DARTORA; ELENITA CHARÃO; TEREZINHA LAGGAZIO
Introdução: Assistência, tecnologia, pesquisa e administração qualificadas são os pilares de sustentação de qualquer sistema de saúde que se propõe a ser bem sucedido. Muito embora avanços nos campos científicos e tecnológicos tenham contribuido para melhorar o desempenho dos profissionais, a prática interacional segue sendo insuficiente. Pouco é conhecido sobre o trabalho dos colegas no dia-a-dia em serviço. A oficina realizada em 02/09/2008 ofereceu um cenário propositivo dentro do perioperatório. Dada a complexidade de processos envolvendo pré-anestésico, intra-operatório e sala de recuperação pós-anestésica, a oficina buscou enfatizar problemas ligados à estrutura organizacional. Objetivos: Demonstrar dinâmica para realização de enquete e metodologia empregada pelos grupos de trabalho (GTs) da oficina Metodologia: A análise dos questionários foi feita por questão/ módulo e cálculo de médias e moda ( valor que ocorre mais vezes em uma freqüência). As respostas de questões abertas, para livre expressão dos respondentes, com significado reincidente foram categorizadas em indicadores. Resultados e comentários: A diversidade de GTs aumentou o potencial qualitativo para mapear o perioperatório. Em diagrama ilustrativo, nas laterais, encontram-se indicadores deficientes (pontuação < 7) e eficientes (>7) . A
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 15
visão qualitativa (respostas livres e manifestações do plenário) foram alinhadas no centro do diagrama. Conclusões: A oficina ofereceu ambiente para as áreas do perioperatório se enxergarem em competências avaliadas pelos demais participantes. No ideário funcional somos bem mais parecidos do que imaginamos. Assim sendo, cabe estimular uma mudança de cultura bem focada na capacitação para comunicar e definição de funções específicas para a rede do perioperatório.
OFICINA OTIMIZAÇÃO DA INTERRELAÇÃO DO PERIOPERATÓRIO. PARTE II: NÍVEL DE PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES SOBRE OS MÓDULOS EM AVALIAÇÃO
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;RONALDO DAVID DA COSTA; ANDREA BIOLO; TIAGO QUEDI FURIAN; LYRYSS H.B. SCHONELL; JAQUELINE B. CORREA; MÁRCIA WEISSHEIMER; ERONY DA SILVA XAVIER; HENRIQUE DARTORA; TEREZINHA LAGGAZIO
Introdução: O perioperatório é cenário de alta complexidade se entendido em suas novas e mutantes demandas requerendo constante reestruturação do ambiente de trabalho em prol de maior resolutividade assistencial. Objetivo: Demonstrar os resultados das avaliações quantitativas obtidas em oficina integradora de serviços do perioperatório realizada em 02/09/2008 no HCPA. Metodologia: Questionários com módulos por área para levantamento do nível de pontuação (0 -10) em atributos desejáveis para garantir um sistema de apoio mais efetivo na rede de atendimentos do perioperatório. A comissão organizadora da oficina definiu que respostas com escores abaixo de 7 requerem mudanças ; entre 7 e 8 são aceitáveis; 8 a 9 boas e 9 a 10 ótimas. Resultados e comentários: Os quadros contendo a média das pontuações feitas pelos respondentes (n=108)dos diversos módulos estarão disponibilizados para serem conferidos junto ao pôster no evento. A métrica utilizada na oficina será adotada para medida de avanços nas áreas avaliadas, porém, em cada setor tornar-se-á forçoso comunicar a condição de controle necessária para que determinadas ações possam alcançar escores mais promissores. Conclusões: A divulgação periódica de levantamentos pode incentivar mudanças sem pressões ou frustrações por falta de apoio ou recursos. Contudo, cabe aos responsáveis pelas respectivas áreas definir seu teto e apontar estratégias para modificá-lo e, ou, fatores que são obstáculos relevantes que necessitam intervenção.
OFICINA:OTIMIZANDO INTER-RELAÇÃO NO PERIOPERATÓRIO. PARTE IV: COMO MELHORAR A COMPETÊNCIA OPERACIONAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS INTERAÇÕES SEQÜENCIAIS PRÉ-OPERATÓRIAS, INTRA E PÓS-ANESTÉSICAS
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;ELAINE APARECIDA FELIX
Introdução e objetivos: Com base nos resultados quantitativos e qualitativos, procedentes respectivamente de enquete e oficina realizada em 02/09/2008, sob o tema -Otimizando a Interrelação no Perioperatório-, este relatório oferece uma visão dos vetores propostos para uma mudança relacional transdisciplinar. Metodologia: Contexto das informações recolhidas junto aos grupos de trabalho (cirurgia, anestesia, enfermagem, medicina interna, farmácia, administrativo e tecnologia da informação) e no plenário da oficina realizada na 28ª Semana Científica do HCPA. Resultado: Criação de modelo para a construção de uma rede de relacionamento do perioperatório que articule recursos na avaliação, promoção e entendimento das demandas reprimidas nos diferentes setores e favoreça a construção de alianças entre equipes multidisciplinares. Conclusões: O HCPA necessita de uma nova cultura organizacional no perioperatório, a fim de fomentar: 1 - comunicação e monitoramento de práticas; 2 - reconhecimento e valorização de cada serviço na cadeia complementar de atendimentos aos pacientes; 3 - ambiente propício para agregar pessoas, criar sinergias e tornar os processos operacionais mais enxutos.
PROGRAMA DE CUIDADOS PÓS-ANESTÉSICOS (CPA): ATUALIZAÇÃO COMPARADA DO PERFIL DA POPULAÇÃO POR TÉCNICA ANESTÉSICA EMPREGADA E RESULTADOS
SIMONE PASIN;HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW; KAREN CHISINI COUTINHO; HAYLA MATTOS DA SILVA; RENATA ALVES FALCÃO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 16
Introdução: Desde 1999, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre integra nas áreas da assistência do perioperatório o tratamento da dor aguda pós-operatória. Para que o empreendimento exercesse a função de forma sinérgica, foi preciso rever processos, definir condutas e padronizar uma assistência diferenciada, segura e de baixo custo e compor uma equipe multiprofissional qualificada e motivada e que, atualmente, inclui o profissional da tecnologia da informação (TI). Objetivo: Atualizar os atendimentos realizados aos pacientes em CPA no enfoque das técnicas adotadas para a realização do procedimento cirúrgico buscando fatores que influenciam o desempenho pós-operatório. Casuística: pacientes em acompanhamento no perioperatório submetidos a intervenções requerendo cuidados específicos do CPA, segundo protocolo para este fim, nos anos de 2004 e 2008. Resultados: O universo do levantamento inclui: sexo, estado físico (ASA), técnica anestésica, eventos adversos pós-operatórios e condutas tomadas. Conclusão: Uma variedade de informações interligadas que acompanham a prática ativa do CPA não pode ser levantada. Os prontuários de papel são desastrosos na documentação de informações sobre a assistência perioperatória prestada o que torna inexequível o acompanhamento de dados da prática diária. Portanto, há exigência de um perioperatório informatizado para que inúmeros dados que associam a avaliação pré-operatória, o período intraoperatório, os cuidados críticos progressivos na recuperação pós-anestésica e no CPA possam induzir à qualidade perioperatória pretendida. A corte dos resultados permitirá a criação de protocolos baseados em evidências para tomada de decisão. A possibilidade da TI perioperatória trará novos rumos à ciência e à prática.
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA MELATONINA NO TRATAMENTO DA DOR DIÁRIA DE ORIGEM OROFACIAL MIOFASCIAL
JANE CRONST;LILIANE PINTO VIDOR; CLAUDIO LUIZ MENDES COUTO; ROSA LEVANDOVSKY; MIRELLA DIAS; DIEGO FRAGA PEREIRA; FABIANA GUARIENTI; MAYARA MAYER; CRISTIANE KOPLIN; WOLNEI CAUMO
Introdução: A Síndrome dolorosa miofascial de origem orofacial é prevalente, mas tem escassas opções terapêuticas que freqüentemente falham. Opções alternativas precisam ser exploradas. Dentre estas, as da melatonina, que possuiu efeito cronobiótico e analgésico. Objetivo: Explorar as propriedades cronobióticas e analgésicas da melatonina na dor diária da SDM orofacial. Métodos: ensaio clinico, randomizado,controlado com placebo. As participantes foram randomizadas para receber melatonina (5mg/dia), ciclobenzprina (5mg/dia) e placebo durante 4 semanas. Foram incluídas 18 mulheres com SDM facial crônica (ao menos 3 meses), com idade entre 20 e 40 anos, que não apresentavam uso de psicofármacos ou diagnóstico de transtorno psiquiátrico. Para avaliar a intensidade diária de dor diária no curso dos 30 dias de tratamento utilizou-se a escala análogo-visual de 100 mm. O número de medidas de dor constituiu o n da amostra (n=214) em cada grupo. A comparação entre as médias de dor diária foi realizada por meio de ANOVA de duas vias, ajustando para o nível de dor na semana que precedeu o início da intervenção. Resultados: os grupos foram homogêneos no baseline. A redução na média cumulativa de dor diária na EAV no curso dos 30 dias de tratamento foi de –0.48 [IC 95%; -0.80 a -0.05] e -0.53 [-0,90 a -0.16] nos grupos melatonina e ciclobenzaprina, comparados ao placebo, respectivamente. Também, observou-se um acréscimo no consumo de analgésico suplementar de 0,24 [IC 95%; 0,10 a 0,38] e -0,03 [-0,11 a 0.17] no grupo placebo, comparado à melatonina e ciclobenzaprina, respectivamente. Conclusão: A eficácia da melatonina avaliada pela redução nos níveis de dor diária e consumo de analgésico foi superior ao placebo e pelo menos equivalente à ciclobenzaprina no tratamento de dor crônica miofascial orofacial. Embora os resultados pareçam promissores, maior número de pacientes serão avaliadas para obter maior precisão nas conclusões pertinentes à eficácia desta intervenção.
EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO INTRA MUSCULAR NO TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA MIOFASCIAL
JANE CRONST;CLÁUDIO LUIZ MENDES COUTO;DIEGO FRAGA PEREIRA;WOLNEI CAUMO
Introdução: a Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM) pode ser incapacitante e apresenta falha aos tratamentos convencionais. Evidências sobre terapêuticas alternativas ainda foram pobremente exploradas. Objetivos: avaliar a eficácia da estimulação intramuscular (EIM) na redução da dor e melhora da saúde física e mental. Materiais e Métodos: ensaio clínico, randomizado, controlado com tensplacebo em 60 mulheres, com idade entre 20 e 40 anos. As participantes foram randomizadas
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 17
para receber EIM, infiltração com lidocaína e falsa eletro-neuro-estimulação transcutânea (TENS-placebo), duas vezes por semana, durante 4 semanas. Resultados: o percentual de redução na média cumulativa de dor observada na escala análogo visual nos grupos TENS-placebo foi 14,01 (IC 95%; 2,89 a 25,12), significativamente menor quando comparado à infiltração com lidocaína: 43,86% (IC 95%; 26,64 a 61,08) e EIM: 49,74% (IC 95%, 28,95 a 70,54). O tamanho do efeito (SE) avaliado pela média cumulativa de dor, na comparação de TENS-placebo com o EIM e com infiltração de lidocaína foi de 1,48 [IC 95%; 0,76 a 2,19] e 0,20 [-0,43 a 0,83], respectivamente. A EIM melhorou significativamente os estados de saúde física, mental e o limiar de dor à pressão (LDP). Também se observou que um baixo LDP, prévio ao tratamento, foi preditor de melhor resposta terapêutica à EIM (OR = 0,50) e de níveis elevados de expectativa e credibilidade no tratamento (OR = 0,54 e OR = 0,48), respectivamente. Porém, quanto mais precoce a avaliação da dor no curso do tratamento (expressa pela média cumulativa de três dias de avaliação) e quanto maior os níveis de dor no baseline (incrementos de 10mm na EAV), maior o risco para um pequeno/moderado SE (OR = 1,23) e (OR = 1,80), respectivamente. Conclusão: a eficácia da EIM avaliada apresentou redução nos níveis de dor, melhora dos sintomas depressivos, saúde física e mental, sendo superior às outras duas intervenções em pacientes com SDM crônica.
PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DEVIDA DOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA (SAMPE) DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;LEANDRO TURRA DE OLIVEIRA, CARMEN REGINA BORTOLOZZO, SIMONE PETRY, THIAGO FONSECA SCHUCH
Introdução:Pelas características próprias, o trabalho do anestesista incorpora alto teor de estresse.Objetivo: Identificar diferenças na comparação com médicos de outras áreas. Métodos: Estudo transversal, realização de ag07 a fev08; aferição da qualidade de vida por questionário anônimo WHOQOL-bref em anestesistas (grupo I) e grupo II:amostra-controle por especialidades médicas do HCPA;em outro formulário dados incluindo variáveis profissionais e demográficas. Análises: testes t-student e chi-quadrado, correlação Pearson e análises regressivas múltiplas.Resultados: Grupo I: 67 respondentes e grupo II: 69 não anestesistas. Grupo I registrou escores menores do que o grupo II no WHOQOL-bref (62.3 ± 19.1 vs 72.8 ±; p<0,01).Diferenças verificadas foram nos domínios físico (72.9 ±11 vs. 77.7 ± 10.8; p<0,05), psicológico (66.4 ± 13.6 vs 71.7 ± 11.4; p<0,05), relacionamento social (64.6 ±19 vs 73.3 ± 15.3; p<0,01), ambiental (68.1 ± 11.5 vs 72.8 ± 14.8; p<0,05). Grupo II mostrou maior relacionamento no trabalho/tempo despendido em funções diversificadas e com atividades intelectuais-científicas mais profícuas. Outras atividades envolvendo tempo na rotina, plantão noturno, fins de semana, períodos de férias, atividades físicas e de laser não mostraram diferenças. Análise multivariada apontou para o nível de satisfação na equipe de trabalho como preditor de altos escores nos domínios psicológicos e de relacão humana enquanto que, as atividades científicas, foram preditoras de escore elevado no domínio do relacionamento.Conclusões: Para a amostra analisada o pior WHOQOL foi estabelecido para o grupo I. Tempo alocado para eventos científicos, relacionamento com a equipe, e variação de ambiente poderiam influenciar o padrão vigente da qualidade de vida do anestesiologista.
MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS PARENTERAIS NO SERVIÇO DE ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA-SAMPE. HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;RUY VIANA MANTOVANI; ELAINE APARECIDA FELIX; TEREZINHA LAGGAZIO; LUCIANE T.S. DE ALMEIDA
Introdução: Este estudo oferece uma atualização do uso da base de dados para o gerenciamento de fármacos e técnicas anestésicas. Objetivo: Verificar Estudo transversalno uso de anestésicos parenterais. Metodologia: Levantamento para revisão de informações realizado no banco de dados do SAMPE, período de 2005 a 2008. Resultados: De um total geral de 55.413 procedimentos registrados na base de dados, 35.957 documentaram o uso de anestésicos intravenosos (propofol, tiopental, Cetamina); 24.860 de Benzodiazepínicos (midazolan, diazepan); 44.357 de fármacos opiódes (fentanil, morfina, alfentanil, remifenta) e 22.442 de anestésicos locais (lidocaína, ropivacaína, bupivacaína, bupi-hiperbárica e isobárica). Conclusões: 1- fármacos como fentanil
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 18
propofol, midazolan, tiopental, morfina e alfentanil na dose IV em bolo, em ordem decrescente, foram os mais utilizados 2- Quanto ao uso de anestésicos locais, a lidocaína predomina na modalidade IV, a ropivacaína em administração no espaço peridural e bupivacaina hiperbárica no subaracnóideo.
OFICINA OTIMIZAÇÃO DA INTER-RELAÇÃO DO PERIOPERATÓRIO. PARTE III: PERSPECTIVAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS
HELENA MARIA ARENSON-PANDIKOW;ELAINE APARECIDA FELIX; PAULO SANDLER; MANOEL TRINDADE; HELEUSA MONEGO; NANCY DENICOL; JORGE LUIZ BAJERSKI; JOÃO ANTONIO RODRIGUES; MARCO AURÉLIO O. PORTOLON
Introdução: A oficina sobre o inter-relacionamento do perioperatório, realizada em 02/09/2008, mobilizou conversações sobre os problemas mais cruciais do perioperatório (ocupação prolongada de leitos), suas causas (falta de preparo pré-operatório dos pacientes, previsão incorreta do tempo cirúrgico, planejamento no pós-cirúrgico) falta de recursos humanos e outros impedimentos para o fluxo ativo das atividades multidisciplinares. Objetivo: Apresentar súmula dos resultados qualitativos (questões abertas) procedentes da enquete e dos comentários feitos pelo plenário durante o evento (n=122 presentes inscritos). Resultados: As sugestões apresentadas em tabela incorporam pareceres (variáveis críticas e rumos propostos) de setores afins (APA, Centros Cirúrgicos e Recuperação) e profissionais (enfermagem, anestesista, clínicos, cirurgiões, engenharia clinica, farmácia, administração). Conclusões alcançadas: 1- Aprofundar discussões nas questões ligadas à transdisciplinaridade para maturar as soluções propostas aos problemas levantados nesta oficina. 2- Tornar resolutiva a parte assistencial mediante comunicação de informações que sejam claras e precisas. 3- Considerar sempre que o perioperatório requer estrutura linear para pacientes temporários, na maioria portadores de fatores de risco; exigindo precisão de conjunto na dinâmica assistencial e aplicação eficiente de tábua mínima para cobrança de regramento, direitos e deveres no desempenho das atividades de rotina.
DINÂMICA CARDIORRESPIRATÓRIA DE SUÍNOS SUBMETIDOS A DIFERENTES FRAÇÕES INSPIRADAS DE OXIGÊNIO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA VOLUME VERSUS PRESSÃO CONTROLADA
GIORDANO CABRAL GIANOTTI;WANESSA KRÜGER BEHEREGARAY; FABÍOLA MEYER; LANUCHA FIDELIS MOURA; ADRIANO BONFIM CARREGARO; EMERSON ANTONIO CONTESINI
A utilização de ventilação mecânica em terapia intensiva é uma prática comum. Além da sua ação terapêutica, é aplicada para corrigir os efeitos depressores conseqüentes da ação dos fármacos em pacientes sob sedoanalgesia. Por isso, vem sendo estudada para uma melhor compreensão da sua função, principalmente no que diz respeito às diferentes concentrações de oxigênio e as modalidades ventilatórias volume e pressão controladas que desencadeiam diferentes respostas. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo da dinâmica cardiorrespiratória de suínos sedados com propofol-remifentanil submetidos a três diferentes frações inspiradas de oxigênio (0.8, 0.6, e 0.4) em ventilação mecânica ciclada a volume ou a pressão. O experimento está sendo realizado no Hospital de Clínicas de Porto alegre utilizando-se 18 animais. Cada animal é submetido à sedação por quatro horas, e então às duas modalidades ventilatórias, sob a mesma fração inspirada. Com dados suficeientes, serão avaliadas as freqüências cardíaca e respiratória, eletrocardiografia, saturação de oxigênio em hemoglobina, pressão arterial, pressão venosa central, fração de dióxido de carbono no final da expiração, ventilometria e a hemogasometria. Para a mensuração dos níveis de consciência na sedação estão sendo utilizados parâmetros qualitativos - fisiológicos, grau de expressão dos reflexos protetores e relaxamento muscular – e quantitativos – índice bispectral. Com a obtenção de resultados preliminares espera-se atingir êxito na metodologia experimental e estudar as diferenças entre os grupos avaliados para, então, indicar a melhor técnica ventilatória, suas respostas e aplicabilidades.
BIOÉTICA
OUVIDORIA DO HCPA: 2006 A 2008 - ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 19
MOACIR ASSEIN ARUS;VERA MARIA BRUXEL; MÁRCIA DE CASTRO QUAGLIA; NÁDIA MARIA FRITZEN; EDUARDO MARTINS ALTAMIRANO; THAIS DA SILVA
O trabalho apresenta os resultados de uma Ouvidoria com quatro anos de experiência na área da saúde. O atendimento é feito a usuários internos e externos, através de contato presencial, por telefone, carta, fax ou e-mail. Vale ressaltar que quando o usuário vem em busca da Ouvidoria a arte da escuta é a pratica utilizada. Busca-se o princípio da ética, da eficiência e da transparência nas relações com a sociedade. A Ouvidoria está diretamente vinculada à Direção da Instituição. É uma importante ferramenta gerencial e atua como defensora dos direitos do usuário, representando-o nas diferentes instâncias da instituição. Estimula a participação do cidadão no controle e avaliação da prestação dos serviços de saúde. Recebe reclamações, denúncias, solicitações de orientação, sugestões e elogios. É um órgão estratégico. Constitui-se em poderoso instrumento para a contínua transformação institucional. Para efetivar a análise comparativa dos dados levantados no período 2006 a 2008. Os dados foram obtidos dos registros no Sistema de Gerenciamento de Informações Qualitor. O total de manifestações no período foi de 5819: 86,5% (5034) foram resolvidas. Deste total de manifestações 80% foram de usuários externos e 20% dos usuários internos. As manifestações predominantes são as reclamações (42,5%), seguindo-se as orientações (32,2%), elogios (13,5%) e sugestões (11,8%). Entre as reclamações identificamos problemas referentes consultas (agendamento e atrasos), cirurgias (cancelamento), exames (agendamento), ambiência, comunicação interpessoal e fornecimento de documentos. O encaminhamento das reclamações e sugestões gerou diversas melhorias algumas em implementação e outras já implementadas ao longo dos últimos 3 anos.
RISCOS DIFERENCIAIS DAS INTERVENÇÕES DE PROJETOS DE PESQUISA CLÍNICA FARMACOLÓGICA
DANIELA GONZAGA MARTINS;JOSÉ ROBERTO GOLDIM
Existem inúmeras recomendações e normativas no sentido de estabelecer um padrão de qualidade científica e ética nos estudos clínicos que envolvam a participação de seres humanos. A inclusão de um sujeito de pesquisa em um estudo clínico deve prever a adequação dos aspectos éticos, o direito à segurança, à proteção e ao seu bem-estar. Este estudo tem como objetivo identificar e avaliar os riscos descritos nos protocolos de pesquisa e a caracterização do risco diferencial que pode ser atribuído às intervenções da pesquisa farmacológica. Foram estudadas as quatro referências de riscos mais freqüentemente descritas nos documentos encaminhados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os riscos gastrintestinais mais freqüentes foram: náusea e vômitos, alteração do hábito intestinal, aumento das transaminases e da desidrogenase lática e outras dores abdominais. Houve discrepância entre os riscos descritos nos diferentes documentos.
PROCESSO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E CAPACIDADE PARA TOMADA DE DECISÃO
AMÉLIA DIAS TEIXEIRA;JÚLIA SCHNEIDER PROTAS; SINARA VIERO; LINDA HERRERA; KÁTIA FERREIRA; AURINEZ SCHMITZ; FABÍOLA CUBAS; JOSÉ ROBERTO GOLDIM
Introdução: a capacidade para tomada de decisão baseia-se em diversas habilidades como a possibilidade de se envolver com o assunto, compreender ou avaliar o tipo de alternativa e comunicar a sua preferência. Objetivo: verificar o nível de desenvolvimento psicológico-moral de participantes de pesquisa do HCPA. Método: O instrumento de desenvolvimento psicológico moral é constituído por 7 níveis de desenvolvimento, variando entre o pré-social até o integrado, que seria o estágio pleno de desenvolvimento. Este instrumento foi aplicado em uma amostra de 235 participantes que autorizaram a utilização de seus dados através de um TCLE. Foram realizadas análises estatísticas descritivas e inferenciais e o nível de significância estabelecido foi de 5%. Resultados: Os resultados indicam que 62,1% dos participantes se encontram no estágio 5 de desenvolvimento psicológico moral, o estágio consciencioso.O estágio 4, conformista, foi evidenciado em 20,4% dos participantes. Conclusão: Os resultados evidenciaram que a maioria da amostra encontra-se no estágio consciencioso, que indica que a pessoa possui a capacidade para decidir no seu melhor interesse, porém é passível de sofrer constrangimento, influenciando assim sua decisão. Os resultados reforçam a importância do processo de consentimento informado como etapa fundamental para o desenvolvimento de estudos com seres humanos, tendo em vista que a comunicação da informação
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 20
por parte do pesquisador e compreensão da mesma por parte do participante de pesquisa possuem grande influência na maneira como o participante percebe o convite para participar do estudo e como ele vai contribuir para a realização do mesmo.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RISCOS E EVENTOS ADVERSOS: A EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE-RS
ANA PAULA DA SILVA PEDROSO; RAQUEL YURIKA TANAKA2; ALINE PATRÍCIA BRIETZKE
3;
CAROLINA ROCHA BARONE4; JMARIANA BUTTELLI
4; FRANCESCO PREZZI
4; JOSÉ ROBERTO
GOLDIM5
A proteção dos participantes nas pesquisas que envolvem seres humanos é uma das atribuições fundamentais dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), estando regulamentada em âmbito nacional e internacional. Segundo esses documentos, cabe aos CEPs não só revisar todos os protocolos de pesquisa submetidos a ele, mas também monitorar a ocorrência dos eventos adversos sérios (EAS) encaminhados pelo pesquisador no transcorrer da pesquisa. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), desde 2001 existe o Programa de Monitoramento de Riscos e Eventos Adversos, com o objetivo de acompanhar os eventos adversos sérios ocorridos no Hospital ou em outros centros associados. Desde sua criação, o Programa vem aprimorando os procedimentos pelos quais realiza o monitoramento dos EAS encaminhados. Atualmente, o processo é dividido nas seguintes etapas: a) Recebimento e triagem dos relatos de Eventos adversos; b) Manutenção do banco de dados com os relatos; c) Atualização das bases de dados de risco previsto das ocorrências nos projetos e de risco natural; d) Avaliação de eventos adversos sérios e encaminhamento, quando adequado, ao CEP e à CONEP . Com base nos dados gerados no Programa, podem ser feitas sugestões e recomendações ao CEP do HCPA. As reuniões do Programa são semanais, onde são avaliados todos os EAS comunicados neste período. De junho de 2007 a março de 2009 foram avaliados pelo Programa 22678 EAS, encaminhados de 251 diferentes projetos de pesquisa. Mudanças no fluxo de trabalho do Programa foram sendo implantadas a partir do ganho de experiência, o que permitiu a otimização da avaliação, sem perda de qualidade. O processo de monitoramento de EAS não pode se resumir à análise individual de cada relato. A avaliação deve ser realizada de forma abrangente e crítica.
RISCOS DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES GASTRINTESTINAIS DESCRITOS APENAS NOS TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE PESQUISAS FARMACOLÓGICAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS
ANA PAULA DA SILVA PEDROSO; JOSÉ ROBERTO GOLDIM
Nas pesquisas farmacológicas envolvendo seres humanos devem estar descritos os riscos previstos, decorrentes de estudos prévios, seja no Projeto, no Manual do Pesquisador Responsável e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Risco, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), é a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, qualquer fase de uma pesquisa e dela decorrente. Trata-se de um estudo transversal que teve por objetivo identificar os riscos de eventos adversos graves gastrintestinais descritos apenas no TCLE, em uma amostra de 58 projetos de pesquisa farmacológica, e verificar a sua adequação às normas e diretrizes de pesquisa em seres humanos. Todos estes projetos de pesquisa farmacológica foram analisados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre no ano de 2004. Alguns riscos considerados como graves estão contidos apenas no TCLE, sem o devido embasamento nos outros documentos constantes no protocolo de pesquisa. Da mesma forma, outros riscos, igualmente graves, descritos nestes documentos, não estão incluídos no TCLE. A questão de fundo é se existem justificativas eticamente aceitáveis para estas constatações.
CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO E PERCEPÇÃO DE COERÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS EM UM NÚCLEO DE CUIDADOS PALIATIVOS: DADOS PRELIMINARES
ROSMARI WITTMANN VIEIRA;JOSE ROBERTO GOLDIM; MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 21
INTRODUÇÃO: As enfermeiras do Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) são responsáveis pela avaliação dos pacientes oncológicos fora de possibilidades terapêuticas e seus familiares para possível transferência ao NCP. OBJETIVO: Avaliar a capacidade de tomada de decisão e a percepção de coerção destes pacientes internados no NCP e seus familiares. MÉTODOS: Estudo de casos incidentes, com a capacidade para tomada de decisão e percepção de coerção como fatores em estudo e a indicação de cuidados paliativos como desfecho. Os pacientes e seus familiares foram convidados a participar do estudo. Até o momento, 18 pacientes e 10 familiares foram incluídos, de uma amostra prevista de 86 pacientes e familiares. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA. Foram utilizados instrumentos para avaliar a capacidade de tomada de decisão e percepção de coerção. Os dados foram avaliados com o sistema SPSS, utilizando medidas de tendência central e de variabilidade e testes entre variáveis. O nível de significância foi de 5%. RESULTADOS: Todos os indivíduos pesquisados tinham capacidade para tomar decisões. A percepção de coerção teve uma média de 1,50+1,54 nos familiares e 1,56+0,98 nos pacientes, sendo não significativa (P>0,05). Não foram verificadas correlações estatisticamente significativas entre as duas variáveis. CONCLUSÕES: Nos resultados obtidos fica clara a capacidade para tomar decisões dos pacientes e seus familiares, que mesmo em uma situação tão crítica quanto à indicação de cuidados paliativos a percepção de coerção foi mínima. E que a proposta de transferência ao NCP partiu dos profissionais de saúde como uma estratégia de cuidado.
BIOLOGIA MOLECULAR
CONSTRUÇÃO DE BACMÍDIOS RECOMBINANTES PARA A EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DE INTERESSE FARMACOLÓGICO DO VENENO DE LONOMIA OBLIQUA EM CÉLULAS SF9
JOÃO ANTONIO DEBARBA;ANA CAROLINA VIEGAS CARMO; SAMUEL PAULO CIBULSKI; CLÁUDIO ALBERTO TORRES SUAZO; RONALDO ZUCATELLI MENDONÇA; ANA BEATRIZ GORINI DA VEIGA
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Estudos recentes têm demonstrado a existência de proteínas de interesse biotecnológico no veneno da lagarta Lonomia obliqua. Dentre as atividades biológicas podemos citar proteínas com atividades anti-hemostáticas, antimicrobiana, antiapoptótica, dentre outras. Com base nessas informações, o presente trabalho teve por objetivo construir bacmídios recombinantes contendo as sequências que codificam três proteínas do veneno – uma transferrina, uma glicoproteína e uma lipocalina. Esses bacmídios serão empregados, posteriormente, na expressão das proteínas de interesse em células de inseto Sf9. MATERIAL E MÉTODOS: Para a síntese dos cDNAs, o RNA de lagartas L. obliqua foi extraído com o reagente Trizol e empregado em reações em cadeia da polimerase empregando transcriptase reversa (RT-PCR). O cDNA obtido foi utilizado em reações em cadeia da polimerase (PCR) com primers específicos para cada proteína de interesse, com base nas respectivas sequências depositadas no banco de dados GenBank. Sítios de restrição foram inseridos em cada cDNA para ligação ao plasmídio doador pFastBacDual. Os plasmídios recombinantes serão selecionados em Escherichia coli Top 10 e, posteriormente, empregados na transformação de E. coli DH10Bac, para a obtenção dos bacmídios recombinantes. RESULTADOS: Até o momento, foram obtidos os cDNAs de interesse, os quais foram submetidos a reações de restrição enzimática, juntamente com o plasmídio. Após a ligação de cada cDNA ao pFastBacDual, células de E. coli Top 10 foram transformadas com os plamídios recombinantes. As colônias obtidas estão em fase de confirmação da presença do inserto. CONCLUSÃO: A obtenção dos cDNAs do veneno da lagarta L. obliqua e a posterior confirmação de clones permitem a construção de bacmídios, os quais poderão ser empregados na expressão, em grande escala no laboratório, de proteínas de interesse biotecnológico em sistema baculovírus/células Sf9.
CLONAGEM E EXPRESSÃO DA PROTEÍNA ÁCIDA DO FLUIDO SEMINAL BOVINA RECOMBINANTE (RASFP-6XHIS) EM ESCHERICHIA COLI
IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO;GABRIELLE DIAS SALTON; FERNANDA MOSENA MUNARI; MARLON ROBERTO SCHNEIDER; RODRIGO COSTA MATTOS; JOMAR PEREIRA LAURINO; MARIA INÊS MASCARENHAS JOBIM; ELIZABETH OBINO CIRNE-LIMA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 22
O uso da tecnologia de DNA recombinante abre portas para um estudo detalhado da estrutura e função de proteínas, e sua produção em sistema procarioto apresenta várias vantagens. O presente trabalho propõe a expressão heteróloga de aSFP, proteína do plasma seminal bovino de 14 KDa relacionada à congelabilidade do sêmen. Foram construídas bibliotecas de cDNA de vesícula seminal bovina. Oligonucleotideos iniciadores foram sintetizados baseados nas seqüências disponíveis no GenBank (número de acesso NM_174616); O amplicon resultante da reação de PCR foi clonado em pET23a(+), a sequência de DNA quando traduzida gera uma proteína aSFP recombinante com uma cauda carboxi-terminal de polihistidina. O plasmidio pET:aSFP foi transformado em linhagens eletrocompetentes de E. coli BL21, BL21 (DE3), BL21 Star, BL21 Codon Plus e BL21 PLysS. As culturas foram realizadas em meio 2xYT a 37 graus Celcius. Para expressão da proteína recombinante foram testadas diferentes concentrações de indutor de expressão IPTG (0,1 0,3, 0,5 e 1,0 mM), e diferentes tempos de indução (1, 2 e 3 h). A expressão foi avaliada por SDS-PAGE 12%, usando como controle cultivo não induzido. Das cinco linhagens transformadas com pET:aSFP, somente BL21 PLysS induzida com 0,5 mM de IPTG apresentou uma banda de aproximadamente 15 KDa, compatível com o tamanho esperado de raSFP-6xHis . Foi confirmada a expressão solúvel da proteína recombinante por imunoidentificação com anticorpo anti his-tag. Pequenas quantidades da proteína raSFP-6xHis já foram purificadas em pequena escala. Após a purificação em larga escala da proteína recombinante, serão realizados testes in vitro e in vitro visando testar sua bioatividade e efeito na fertilidade e congelabilidade do sêmen bovino e de outras espécies.
BIOQUÍMICA
DIAGNÓSTICO DOS ESTÁGIOS DE HIPERGLICEMIA: GLICEMIA DE JEJUM OU TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE?
GABRIELA CAVAGNOLLI;JULIANA COMERLATTO; CAROLINA COMERLATTO; JORGE LUIZ GROSS; JOÍZA LINS CAMARGO
Introdução: A medida da glicemia de jejum (GJ), por sua praticidade, é o teste mais utilizado para o diagnóstico do diabetes mellitus (DM). No entanto, GJ pode subestimar a severidade da intolerância à glicose e identifica uma população diferente, com sobreposição parcial, daquela diagnosticada pelo o teste oral de tolerância à glicose (TOTG). Objetivos: Comparar a GJ e o TOTG na classificação de pacientes em diferentes estágios de hiperglicemia. Material e Métodos: Foram analisados 519 pacientes ambulatoriais, entre 20 e 90 anos, sendo 204 homens, sem diagnóstico prévio de DM e submetidos a TOTG (OMS) em um hospital universitário. O teste foi realizado após 8h de jejum e a glicose foi medida por método enzimático (Modular P Roche). Resultados e Conclusão: Normoglicemia, pré-diabetes e DM foram diagnosticados em 172 (33,1%), 283 (54,5%) e 64 (12,3%) de 519 pacientes pela GJ e em 279 (53,8%), 145 (27,9%) e 95 (18,3%) de 519 pacientes pelo TOTG, respectivamente. Houve uma fraca concordância entre os dois testes diagnósticos (kappa = 0,232). Quando os pacientes são avaliados pela GJ e TOTG simultaneamente, há uma subestimação dos casos de DM em comparação com a classificação obtida pela GJ ou pelo TOTG isolados [37 (7,1%); 64 (12,3%) e 95 (18,3%) casos de DM, respectivamente]. O mesmo ocorre com os casos de pré-diabetes [97 (18,7%); 283 (54,5%) e 145 (27,9%) pela GJ e TOTG, GJ ou TOTG, respectivamente]. Há fraca concordância diagnóstica entre os testes GJ e TOTG. A GJ apresentou menor sensibilidade diagnóstica para o DM e menor especificidade diagnóstica para pré-diabetes quando comparada com o TOTG. Para o correto diagnóstico dos diferentes estágios da tolerância à glicose o TOTG deve ser utilizado.
A HOMOCISTEÍNA INDUZ ESTRESSE OXIDATIVO EM FÍGADO DE RATOS
TIAGO MARCON DOS SANTOS;CRISTIANE MATTÉ; FRANCIELI M. STEFANELLO; VANIZE MACKEDANZ; CAROLINA D. PEDERZOLLI; CARLOS S. DUTRA-FILHO; ANGELA T. S. WYSE
A hiper-homocisteinemia tem sido associada a diversas doenças neurodegenerativas e hepáticas. Classicamente, altos níveis plasmáticos de homocisteína são encontrados em pacientes homocistinúricos. Esse erro inato do metabolismo, com freqüência estimada em 1:300.000 nascidos vivos, é caracterizado bioquimicamente pela deficiência na enzima cistationina b-sintase, e clinicamente por retardo mental, problemas vasculares e hepáticos. O presente estudo apresenta como objetivo investigar o efeito da administração crônica de homocisteína sobre alguns parâmetros
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 23
de estresse oxidativo, denominados potencial antioxidante total não-enzimático (TRAP), reatividade antioxidante total (TAR), atividade da catalase (CAT), quimioluminescência e conteúdo total de grupos tióis em fígado de ratos. Ratos Wistar de 6 dias de idade foram submetidos ao modelo experimental de hiper-homocisteinemia, através da administração diárias de duas injeções subcutâneas de uma solução de homocisteína (0,3 – 0,6 µmol/g peso corporal), até o 28º dia de vida pós-natal. Doze horas após a última administração, um grupo de animais foi sacrificado por decapitação e o fígado foi dissecado e estocado à -70ºC até o momento dos ensaios bioquímicos. Nossos resultados mostraram que a administração crônica de homocisteína reduziu as defesas antioxidantes (enzimáticas e não-enzimáticas) e o conteúdo de grupos tióis, assim como induziu a peroxidação lipídica em fígado de ratos, caracterizando o estresse oxidativo. Se nossos achados, indicando que a administração crônica de homocisteína promoveu o estresse oxidativo em fígado, puderem ser extrapolados para a condição humana, acreditamos que possam contribuir para o esclarecimento dos mecanismos relacionados aos danos hepáticos evidenciados em pacientes homocistinúricos.
ENVOLVIMENTO DA ECTO-5-NT NA ADESÃO CELULAR E PROGRESSÃO DA LINHAGEM CELULAR DE GLIOMA HUMANO U138MG
FABRÍCIO FIGUEIRÓ;ANGÉLICA REGINA CAPPELLARI; GABRIELA JOUGLARD VASQUES; ELIZANDRA BRAGANHOL; ANA MARIA OLIVEIRA BATTASTINI
Glioma é a forma mais agressiva de tumor cerebral que apresenta um severo crescimento altamente invasivo. Linhagens destas células em cultura apresentam alta atividade da enzima ecto-5\'NT, que metaboliza AMP em adenosina. Em adição, é sugerido que ela interaja com componentes da matriz extracelular (MEC) como molécula adesiva em tumores sistêmicos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o possível envolvimento da ecto-5\'NT nos processos de invasividade tumoral. Para tanto realizamos um ensaio de adesão celular in vitro, onde as células de glioma humano U138 foram incubadas sob tratamento com adenosina, APCP (alfa,beta-methilene ADP) inibidor da ecto-5\'NT e com diferentes componentes da MEC, como a laminina e a condroitina sulfato. Também foi avaliada a influência destas últimas moléculas, sobre a atividade enzimática através da quantificação do Pi liberado. Os resultados obtidos mostraram que a adenosina inibiu a adesão celular em 40 porcento e o APCP estimula em 75 porcento. A laminina inibiu a adesão em 33 porcento e a condroitina sulfato a estimulou em 70 porcento, sendo este efeito revertido na presença da adenosina. A laminina também inibiu a atividade da ecto-5\'NT em 30 porcento. Diante desses resultados, sugerimos que a ecto-5\'NT está envolvida nos processos de invasividade tumoral produzindo adenosina que inibe o evento de adesão celular. Já o envolvimento dessa enzima com a MEC, poderia estar relacionado com processos de progressão tumoral, pois a laminina inibe a atividade da enzima em um momento em que as células já apresentam-se aderidas, ou seja, um momento posterior ao evento inicial da adesão. Portanto, podemos sugerir que esta enzima é um importante alvo de estudo para o entendimento e esclarecimento dos processos de progressão e invasividade tumoral.
ALTA CONCENTRAÇÃO DE HOMOCISTEÍNA CAUSA HIPOFOSFORILAÇÃO DOS FILA-MENTOS INTERMEDIÁRIOS DE HIPOCAMPO DE RATOS
NATALIA GOMES DOS SANTOS;SAMANTA OLIVEIRA LOUREIRO; LUANA HEIMFARTH; REGINA PESSOA-PUREUR
Homocistinúria (HCU) é um erro inato do metabolismo causado pela deficiência parcial ou total da atividade da enzima cistationina b-sintetase, resultando no acúmulo tecidual de homocisteína (Hcy) e metionina. Altos níveis de Hcy estão relacionados com morte neuronal. Os filamentos intermediários (FI) são constituintes do citoesqueleto, cujo principal mecanismo regulatório é a fosforilação. Considerando que pacientes com HCU apresentam alterações neurológicas e que os mecanismos pelos quais a Hcy exerce tais efeitos ainda não foram completamente estabelecidos, avaliamos o efeito in vitro da homocisteína sobre a fosforilação das subunidades de FI em fatias de córtex cerebral e de hipocampo de ratos Wistar de 9, 12, 17, 21 e 29 dias de idade. Fatias de tecido foram incubadas com
32P-ortofosfato na presença ou na ausência de Hcy 500mM. Em alguns experimentos utilizamos
inibidores de fosfatase como o ácido ocadaico em concentrações que inibem a proteína fosfatase 2A (PP2A), proteína fosfatase 1 (PP1) ou proteína fosfatase 2B (PP2B) respectivamente (0.05, 0.5, or 5 mM) e FK 506 100 mM, um imunosupressor conhecido por inibir a PP2B. A fração citoesquelética
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 24
enriquecida em FI foi extraída, as proteínas foram analisadas em SDS-PAGE e as autoradiografias foram quantificadas por densitometria óptica. Os resultados mostram que a Hcy não altera a fosforilação dos FI no córtex cerebral dos ratos em nenhuma das idades analisadas. Já no hipocampo, 500mM de Hcy provoca uma diminuição na fosforilação dos FI em ratos de 17 dias de idade. Verificamos também que este efeito é mediado pela PP2A, PP1 e PP2B. Nossos dados mostram que altos níveis de Hcy encontrados no sangue de pacientes com HCU alteram o sistema fosforilante endógeno associado ao citoesqueleto e que este efeito pode estar relacionado com a neurodegeneração destes pacientes.
EFEITO DO UM NOVO ORGANOCALCOGÊNIO SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO EM FÍGADO, CORAÇÃO E RIM DE RATOS DE 10 DIAS DE IDADE
TANISE GEMELLI;CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, RODRIGO BINKOWSKI DE ANDRADE, ROBSON BRUM GUERRA, LÍVIA OLIBONI, MIRIAN SALVADOR, CAROLINE DANI1, CLÁUDIA FUNCHAL
Introdução: O interesse em relação ao selênio (Se) tem crescido nos últimos anos, devido à descoberta do Se como um elemento traço essencial cuja concentração pode ocasionar deficiência ou toxicidade. Compostos orgânicos de Se são muito usados devido a sua seletividade reacional e a sua grande atividade biológica e muitos desses compostos são extremamente perigosos, podendo provocar irritações dos olhos, nariz e garganta. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi investigar os efeitos do organocalcogênio 3-metil-1-fenil-2-(seleniofenil)oct-2-en-1-ona sobre alguns parâmetros de estresse oxidativo em fígado, rim e coração de ratos de 10 dias de idade. Metodologia: Homogeneizados de fígado, rim e coração foram incubados por 1h na presença ou na ausência de 1, 10 ou 30 µM do composto e as espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), carbonilas protéicas e a atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) foram medidas. Resultados: Observamos aumento da peroxidação lipídica nas concentrações de 1, 10 e 30µM no coração e rim, enquanto no fígado apenas nas concentrações mais altas 10 e 30 µM. Além disso, verificamos também um aumento nos níveis de proteínas modificadas oxidativamente (carbonilas) nas concentrações de 10 e 30 µM no rim. Por outro lado, o composto provocou uma redução da atividade da enzima antioxidante CAT no coração nas concentrações de 10 e 30 µM no fígado e no rim somente na dose de 30 µM. A atividade da enzima antioxidante SOD foi aumentada por 10 e 30 µM do organocalcogênio no coração enquanto esta atividade foi reduzida no fígado (30 µM) e no rim (10 e 30 µM). Conclusão: Nossos resultados indicam que este composto de organoselênio induz estresse oxidativo no fígado, coração e rim de ratos imaturos, colaborando com o fato de que estes tecidos são alvos em potencial para a ação de organocalcogênios. Apoio financeiro: Centro Universitário Metodista IPA e Universidade de Caxias do Sul (UCS).
ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO SISTEMA PURINÉRGICO EM GLIOMAS DE HUMANOS
LETÍCIA SCUSSEL BERGAMIN;ELIZANDRA BRAGANHOL;ANA LUCIA ABUJAMRA;CAROLINE BRUNETTO;TIAGO ÁVILA;ALGEMIR BRUNETTO;RAFAEL ROESLER; GILBERTO SCHWARZTMAN; MARCO ANTONIO STEFANI; ANA MARIA OLIVEIRA BATTASTINI
Gliomas são tumores cerebrais mais frequentes do SNC. Nucleotídeos modulam uma variedade de funções via receptores purinérgicos. Tais efeitos controlados por E-NTPDases e ecto-5´nucleotidase as quais hidrolisam ATP até adenosina. Alterações na sinalização purinérgica podem estar envolvidas na progressão tumoral: linhagens celulares de glioma possuem alteração da expressão das E-NTPDases e da ecto-5´nucleotidase em relação aos astrócitos; ATP/adenosina induzem proliferação celular e em modelo de implante de glioma em ratos, a co-injeção de gliomas com uma E-NTPDase que hidrolisa ATP diminui a malignidade do tumor. O objetivo do trabalho é investigar a expressão das E-NTPDases em gliomas. Amostras de tumor cerebral primário foram obtidas da ressecção cirúrgica de pacientes em tratamento na Neurologia/HCPA. O RNA total foi isolado utilizando colunas de purificação; o cDNA foi sintetizado pela reação da transcriptase reversa e utilizado como template para as reações de PCR. Controles positivos e negativos foram realizados utilizando como template plasmídeos ou água, respectivamente; os produtos do PCR foram visualizados em gel de agarose. Análise dos tumores revelou ausência da expressão das E-NTPDases 1 e 2 e baixa expressão da E-NTPDase 3, a ecto-5´nucleotidase foi expressa por todas amostras analisadas. Os resultados obtidos reforçam a hipótese de envolvimento do sistema purinérgico na gliomagênese, pois mostram que
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 25
alteração na expressão das enzimas que metabolizam os nucleotídeos extracelulares é uma característica que está presente em linhagens celulares e em tumores humanos. Intervenções no sistema de sinalização purinérgica podem ser uma nova alternativa no tratamento desses tumores.
HIPER-HOMOCISTEINEMIA AGUDA PROVOCA AUMENTO NOS NÍVEIS DE CITOCINAS EM SORO DE RATOS
FELIPE SCHMITZ;ALINE ANDREA DA CUNHA, ANDRÉIA GISIANE KUREK FERREIRA, LETÍCIA DA SILVA ROSA PORCIÚNCULA E ANGELA T.S. WYSE
A homocistinúria é um erro inato do metabolismo dos aminoácidos caracterizado pela deficiência da enzima cistationina-β-sintase, resultando no acúmulo tecidual de homocisteína. O presente estudo pretende verificar o efeito da administração aguda de Hcy no soro de ratos sobre os níveis de citocinas (TNF-α e IL-6), proteínas de fase aguda (PCR e alfa-1 glicoproteína ácida), além da contagem diferencial de células. Foram utilizados ratos Wistar machos de 29 dias (n=8) que receberam uma única injeção s.c. de Hcy na dose de 0,6 µmol/g de peso corporal, e o grupo controle recebeu apenas solução salina (n=8) (Streck, 2002). Os animais foram sacrificados por decapitação 15 minutos, 1, 6 e 12 horas após a administração de Hcy. A Hcy promoveu um aumento nos níveis de TNF-α em 15 minutos e 1 hora, já os níveis de IL-6 aumentaram em 15 minutos, 1 e 6 horas. Um estudo demonstrou que pacientes idosos com níveis plasmáticos de Hcy acima de 15,6 µmol/L apresentavam um aumento nos níveis séricos da IL-6, TNF-α e IL-18 em relação aos pacientes com níveis normais de Hcy (Gori, 2005). Na análise dos níveis das proteínas de fase aguda (PCR e alfa-1 glicoproteína ácida) não foram observadas diferenças significativas. Além disso, observamos um aumento no percentual de neutrófilos e monócitos 15 minutos e 1 hora após a hiper-homocisteinemia. Estudos prévios desenvolvidos em nosso laboratório demonstraram que os níveis plasmáticos de Hcy retornam aos níveis basais após 2 horas (Streck, 2002), provavelmente por este motivo, nossos resultados não tenham demonstrado alterações significativas nos níveis das proteínas de fase aguda e no diferencial sanguíneo em 6 e 12 horas. Dessa forma, sugerimos que a Hcy pode ter importantes implicações na aterogênese, doenças cérebro e cardiovasculares.
INVESTIGAÇÃO DE ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES PORTADORES DE HOMOCISTINÚRIA
CAMILA SIMIONI VANZIN;ANELISE MIGLIORANZA DE CARVALHO; ANGELA SITTA; CAROLINA F. DE SOUZA; CRISTINA NETTO; GIOVANA BRONDANI BIANCINI; GRAZIELA SCHMITT; IDA V. SCHWARTZ; MARION DEON; VANUSA MANFREDINI; CARMEN REGLA VARGAS
A Homocistinúria é um erro inato do metabolismo que ocorre, na maioria das vezes, devido a um defeito na enzima cistationina – β – sintase, o que leva a um aumento nos níveis de homocisteína e metionina no sangue dos pacientes e, consequentemente, a uma desordem multisistêmica. O tratamento consiste em altas doses de piridoxina isolada ou combinada com ácido fólico, betaína, vitamina B12 e dieta pobre em metionina. Sabe-se que o estresse oxidativo, resultado do desequilíbrio entre a formação de compostos oxidantes e defesas antioxidantes, participa do mecanismo de instalação de diversas doenças. Considerando que dados na literatura sugerem uma possível associação entre a homocisteína e o estresse oxidativo, o objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência de estresse oxidativo em pacientes homocistinúricos. Para isso, foram avaliados parâmetros de estresse oxidativo no plasma de pacientes no momento do diagnóstico de Homocistinúria, de pacientes com Homocistinúria que faziam uso de tratamento preconizado e de indivíduos saudáveis com idade semelhante às dos pacientes (controles). Os resultados demonstram que há aumento significativo de lipoperoxidação, medido através do método de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), somente no grupo diagnóstico. A capacidade antioxidante dos tecidos, medida pelo método de reatividade antioxidante total (TAR), apresentou-se significativamente diminuída também somente no grupo diagnóstico. Esses dados permitem supor a ocorrência de estresse oxidativo em pacientes com diagnóstico de Homocistinúria, o que foi revertido pelo tratamento preconizado, levando a crer que essa terapêutica pode diminuir o estresse oxidativo provocado pela doença.
VALORES DE HBA1C NA GRAVIDEZ NA AUSÊNCIA DE DIABETES
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 26
JULIANA COMERLATO;GABRIELA CAVAGNOLLI; PAULA BRENZ; JORGE LUIZ GROSS E JOÍZA LINS CAMARGO
Introdução: Os intervalos de referência para a hemoglobina glicada (HbA1c) em gestantes sem diabetes mellitus (DM) não são bem definidos e atualmente não existem valores de referência diferenciados para gestantes disponíveis pelos laboratórios. Objetivos: Determinar os níveis de HbA1c em um grupo de mulheres grávidas sem DM. Material e Métodos: Participaram deste estudo 72 mulheres grávidas (casos) e 72 mulheres não grávidas sem DM, submetidas a TOTG (2h após 75g de glicose, OMS) em um hospital universitário. A ausência de diabetes foi considerada se glicemia de jejum < 100 mg/dL e glicemia 2h após sobrecarga < 140 mg/dL. O teste foi realizado após 8h de jejum e a glicose foi medida por método enzimático (Modular P Roche). HbA1c foi dosada por método padronizado pelo DCCT/IFCC (HPLC A1c 2.2 TOSOH). Os intervalos de referência para HbA1c nos dois grupos foi calculado como média ± 2DP. Resultados e Conclusão: Os coeficientes de variação para as medidas de HbA1c e glicose foram < que 2,5%. As grávidas apresentaram valores de HbA1c menores que as mulheres não-grávidas (P< 0,001). Houve uma diferença significativa nos valores de hemoglobina total e hematócrito entre os dois grupos (P< 0,001). Os valores de HbA1c foram de 4,1 a 5,9% no grupo de mulheres grávidas e de 4,8 a 6,2% em mulheres não grávidas. As mulheres grávidas saudáveis têm concentrações de HbA1c mais baixas do que mulheres não grávidas. Durante a gravidez, os intervalos da referência para HbA1c devem ser diferenciados daqueles utilizados para indivíduos não-grávidos para garantir a correta interpretação do controle glicêmico durante a gestação.
EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA MEMÓRIA ESPACIAL DE RATAS ADULTAS OVARIECTOMIZADAS
MAIRA JAQUELINE DA CUNHA;JULIANA BEN; FLÁVIA MAHATMA SCHNEIDER SOARES; FERNANDA CECHETTI; CARLOS ALEXANDRE NETTO; ANGELA TEREZINHA DE SOUZA WYSE
As mulheres pós-menopausa são mais vulneráveis a doenças neurodegenerativas e ao déficit cognitivo. A ovariectomia em ratas adultas é freqüentemente utilizada como modelo animal de menopausa. Visto que a deficiência hormonal após a ovariectomia causa a ativação da Na+,K+-ATPase e da acetilcolinesterase (AChE) em cérebro de ratas adultas e podem estar relacionados com o prejuízo na memória desses animais. Em adição, o exercício físico parece melhorar algumas funções cerebrais. Considerando esses dados, decidimos investigar o efeito do exercício físico sobre a atividade da Na+K+-ATPase e AChE em hipocampo e córtex cerebral de ratas adultas ovariectomizadas (Ovx). Os grupos foram divididos em: Sham (submetidas à cirurgia sem remoção dos ovários), exercício, Ovx (com a remoção bilateral dos ovários) e Ovx + exercício. Trinta dias após a cirurgia as ratas foram submetidas a um mês de exercício físico, três vezes por semana, 20 minutos por dia. Doze horas após o término da última sessão as ratas foram sacrificadas por decapitação, o hipocampo e córtex cerebral foram dissecados para a determinação das atividades enzimáticas. A atividade da Na+,K+-ATPase em córtex cerebral e hipocampo de ratas adultas Ovx foi aumentada em torno de 14% e o exercício físico foi capaz de reverter tais efeitos. O exercício não alterou a atividade da Na+,K+-ATPase, exceto em hipocampo, onde teve a tendência de aumentar a atividade dessa enzima. A atividade da AChE em córtex cerebral e hipocampo de ratas adultas Ovx teve um aumento de 42% e 29% respectivamente, e o exercício físico foi capaz de reverter estes efeitos. O exercício não alterou a atividade da AChE nessas estruturas cerebrais. Estes achados sugerem que o exercício físico promove um efeito benéfico e apresenta-se como uma boa alternativa para atenuar os efeitos causados pela menopausa. Apoio Financeiro: CNPq
DANO OXIDATIVO A PROTEÍNAS E LIPÍDEOS EM PACIENTES COM DOENÇAS DO ESPECTRO ZELLWEGER
GIOVANA BRONDANI BIANCINI;DEON; ANGELA SITTA; ALETHEA G. BARSCHAK; DANIELLA M. COELHO; CAMILA S. VANZIN; ANDERSON B. OLIVEIRA; ROBERTO GIUGLIANI; MOACIR WAJNER; CARMEN R. VARGAS
Introdução: A importância dos peroxissomas para a saúde humana tornou-se mais evidente quando foi identificada a ausência ou funcionamento deficiente dessas organelas em algumas doenças graves. Defeitos nas funções peroxissomais estão associados com extensas, e, freqüentemente
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 27
fatais, alterações neurológicas. As doenças peroxissomais estão subdivididas em duas grandes categorias: aquelas com formação anormal da organela (doenças da biogênese dos peroxissomas - PBD), onde se incluem as doenças do espectro Zellweger (ZSD), e aquelas que estão associados a defeitos de uma única enzima peroxissomal [deficiências de única enzima (transportadora) peroxissomal - PED]. Embora sintomas neurológicos e anormalidades cerebrais sejam característicos de pacientes com PBD, muito pouco se sabe sobre os mecanismos patológicos envolvidos no dano tecidual desses transtornos. Objetivo: Foi objetivo deste trabalho avaliar estresse oxidativo em pacientes com ZSD. Materiais e Métodos: No presente trabalho foram avaliados os parâmetros de estresse oxidativo: espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA-RS), status antioxidante total (TAS) e conteúdo de tióis no plasma de pacientes afetados por doenças do espectro Zellweger (ZSD). Resultados e Conclusão: Foi observado um aumento significativo da medida de TBA-RS no plasma, sugerindo uma estimulação à lipoperoxidação, bem como uma diminuição do conteúdo de tióis totais, indicativo de oxidação de proteínas de membrana. A medida de TAS dos pacientes ZSD não foi significativamente diferente dos controles. Portanto, sugere-se que a lipoperoxidação e a oxidação de proteínas possam estar envolvidas na fisiopatologia das doenças do espectro Zellweger.
VITAMINAS E E C NA REVERSÃO DE ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS INDUZIDAS PELO MODELO DE ESTRESSE CRÔNICO VARIADO EM CÉREBRO DE RATOS
ANA PAULA TAGLIARI;BÁRBARA TAGLIARI; ANDREA GISIANE KUREK FERREIRA; ANGELA T.S. WYSE
Estresse pode ser definido como qualquer alteração que impeça a manutenção da homeostase. Tendo em vista que o estresse pode provocar seqüelas psicopatológicas como a depressão, a exposição ao modelo de estresse crônico variado tem sido utilizada como modelo animal de depressão. Estudos prévios demostraram que defeitos no metabolismo energético estão presentes em patologias neuropsiquiátricas; ademais, o modelo de estresse crônico variado é capaz de alterar parâmetros de estresse oxidativo em cérebro de ratos. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi investigar a atividade de enzimas da cadeia respiratória (succinato desidrogenase, complexo II e complexo IV) em animais submetidos ao modelo de estresse crônico variado, bem como verificar o efeito da suplementação com as vitaminas antioxidantes C e E sobre esses parâmetros. O protocolo de estresse crônico variado envolveu a exposição dos animais a diferentes estressores fracos, como: privação de água, imobilização, imobilização a 4ºC, luz piscante, isolamento, inclinação das caixas e maravalhada molhada, durante 40 dias. O grupo controle foi manipulado diariamente. Os animais receberam suplementação com vitamina E (40 mg/kg de peso corporal), vitamina C (100 mg/kg de peso corporal) e salina (controles) por dia, durante o período de estresse. Nossos resultados demonstraram que o estresse crônico inibiu significativamente as atividades dos complexos II e IV em córtex pré-frontal e complexo IV em hipocampo. A atividade da enzima succinato desidrogenase manteve-se inalterada. Observamos também que o tratamento com as vitaminas E e C foi capaz de prevenir as alterações causadas pelo estresse crônico. Baseando-nos nesses resultados, podemos sugerir que o modelo de estresse crônico variado foi capaz de induzir prejuízos na atividade da cadeia respiratória, provavelmente devido à ação de radicais livres, uma vez que os danos foram prevenidos com a administração de antioxidantes.
AVALIAÇÃO DO EFEITO DE UM COMPOSTO NOOTRÓPICO INÉDITO SOBRE A MEMÓRIA EM RATOS
GUILHERME VARGAS BOCHI;MICHELE MELGAREJO DA ROSA; TIAGO TAGLIAPIETRA; MARIBEL A. RUBIN
Objetivos: Verificar o efeito da administração de um composto nootrópico inédito (composto X), análogo ao piracetam, sobre a memória e a amnésia induzida por escopolamina em ratos. Métodos: Ratos Wistar machos adultos foram submetidos a uma cirurgia para implantação de uma cânula intra-cérebro ventricular (i.c.v.). Cinco dias após a cirurgia os animais foram submetidos a uma sessão de treino e uma sessão de teste na tarefa de esquiva inibitória. O aparelho de esquiva inibitória consiste em uma caixa retangular, com assoalho formado por grades de metal ligadas a corrente elétrica e no canto esquerdo da caixa existe uma plataforma de madeira. Na sessão de treino, os animais foram colocados na plataforma e quando desceram com as quatro patas sobre as barras de metal receberam um choque de 0,4 mA por 3s. Na sessão de teste, realizada 24 horas depois do treino, os
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 28
animais foram colocados novamente na plataforma onde foi avaliada a latência (s) para o animal descer da plataforma, sendo este o parâmetro de memória. Para realização de uma curva dose-efeito os animais receberam administração i.c.v., imediatamente após o treino, do composto X (0,01-1 pmol). Outro grupo de animais recebeu administração i.p. de escopolamina (0,1 mg/kg) ou salina 30 min. antes do treino e imediatamente após o treino o composto X em uma dose que não teve efeito sobre a memória (0,1 pmol/5ml, i.c.v.) ou veículo (DMSO 1%, i.c.v.). Resultados: A análise estatística (ANOVA de uma ou duas vias) revelou que o composto X na dose de 1 pmol/sítio melhorou a memória e que a dose 0,1 pmol/sítio reverteu a amnésia induzida por escopolamina. Conclusão: Estes resultados sugerem que o composto X poderia ser utilizado para tratar o prejuízo da memória associado a algumas doenças como, por exemplo, Alzheimer.
PROLINA DIMINUI A CAPTAÇÃO DE GLUTAMATO EM FATIAS DE CÓRTEX CEREBRAL DE RATOS:REVERSÃO PELA GUANOSINA
FERNANDA ROSSATTO MACHADO;ANDRÉA G. K. FERREIRA; ALINE ANDRÉA DA CUNHA; BEN HUR MARINS MUSSULINI; SUSANA WOFCHUK; ANGELA T. S. WYSE
A hiperprolinemia tipo II é uma doença metabólica causada pela deficiência da enzima Δ1–pirrolino-5-carboxilato-desidrogenase, que resulta no acúmulo tecidual de prolina (Pro). Pacientes afetados podem apresentar convulsões e retardo mental. Pro em altas concentrações (> 100 µM), ativa receptores glutamatérgicos NMDA e AMPA in vitro. O glutamato é o neurotransmissor excitatório mais importante do SNC, cuja manutenção dos níveis fisiológicos depende da captação glutamatérgica glial. Evidências mostram que a guanosina é capaz de prevenir a excitotoxicidade glutamatérgica presente em condições patológicas como hipóxia e convulsões. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da administração crônica de Pro sobre a captação de glutamato em fatias de córtex cerebral de ratos, bem como a influência da administração de guanosina sobre tais efeitos. A Pro foi administrada subcutaneamente duas vezes ao dia, do 6º ao 28º dia de vida (12,8 - 18,2 µmol/g), enquanto a guanosina foi administrada uma vez ao dia pela via intraperitoneal (7,5 mg/Kg). Os animais foram sacrificados 12 h após a última injeção e o córtex cerebral dissecado. A captação de glutamato foi mensurada de acordo com Frizzo et al., (2002). A radioatividade foi quantificada por cintilação e a dosagem de proteínas pelo método de Peterson (1977). Resultados mostraram que a administração de Pro diminuiu significativamente (27%) a captação de glutamato, enquanto a administração concomitante de guanosina preveniu este efeito. Nossos resultados sugerem que a Pro pode aumentar os níveis de glutamato na fenda sináptica e consequentemente, os efeitos excitotóxicos do mesmo. Além disso, a guanosina parece modular a captação de glutamato quando este se encontra em níveis elevados, desempenhando efeito neuroprotetor.
PROGRAMAÇÃO METABÓLICA E RESISTÊNCIA A INSULINA EM RATOS WISTAR
SIMONE DA LUZ SILVEIRA;FERNANDA SORDI; FERNANDA HANSEN; ANA LÚCIA HOEFEL; DÉBORA RIEGER; LISIANE LONDERO; JÚLIA BIJOLDO; BÁRBARA RIBOLDI; GIOVANA MENEGOTTO; MARCOS LUIZ SANTOS PERRY
Introdução: a programação metabólica sugere que, um processo adaptativo ocorrido em resposta a um insulto durante um período crítico do desenvolvimento, pode exercer efeitos permanentes sobre o desenvolvimento e metabolismo de órgãos. Objetivo: verificar os efeitos de uma dieta hiperlipídica (50% de lipídios) sob a prole pós-desmame, de ratas submetidas à desnutrição na gestação ou lactação, sob parâmetros de resistência à insulina (RI). Métodos: modelo de desnutrição contendo 7% de proteína, com dieta isocalórica ao grupo controle (25% de proteína). Desenho experimental: DG-desnutrido na gestação, DL–desnutrido na lactação, N/H–normonutrido (gestação/lactação) e C-controle, durante 4 meses. A mãe do grupo DG foi substituída por lactante normonutrida, a do DL recebeu dieta C até o parto e, na lactação hipoprotéica. Os grupos, exceto C, receberam após período teste, dieta hiperlipídica (50% de lipídeos). Grupos formados com n=8, exceto DG, n=4. Foram determinados teste de tolerância à glicose (TTG), massas dos fígados e tecido adiposo, insulina plasmática, colesterol e triglicerídeos (Tg) plasmáticos e hepáticos. Para estatística utilizamos ANOVA de uma via seguido pelo teste de Duncan (p0,05). Resultados: em relação ao C. O peso corporal total não apresentou diferença entre os grupos. No TTG, o grupo DG apresentou elevação na glicemia basal, assim como grupos DG e DL aos 60min., e observou-se hiperinsulinemia no DG. Observou-se aumento dos Tg e colesterol plasmáticos e hepáticos. Conclusão: os resultados
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 29
demonstram que restrição protéica durante a gestação ou lactação induz a um estado de RI, amplificado por uma dieta hiperlipídica após a amamentação; ratificando a importância das condições intrauterinas e da qualidade da dieta pós-natal na gênese de doenças crônicas.
PARÂMETROS DE ESTRESSE OXIDATIVO EM RATOS DIABÉTICOS SUBMETIDOS AO TESTE DE NATAÇÃO FORÇADA: O EFEITO DA INSULINA E DO CLONAZEPAM
CARLOS ALBERTO YASIN WAYHS;VANUSA MANFREDINI, ANGELA SITTA, MARION DEON, GRAZIELA DE OLIVEIRA SCHMITT, DIANA MONTI ATIK, CAMILA SIMIONI VANZIN, GIOVANA BRONDANI BIANCINI, MAURÍCIO SCHÜLER NIN, HELENA MARIA TANNHAUSER BARROS, CARMEN REGLA VARGAS
Introdução: Diabetes Mellitus (DM) é considerada uma das doenças metabólicas mais prevalentes do século 21. DM é o estado hiperglicêmico crônico que modifica as funções do sistema nervoso central e está associado a déficits cognitivos moderados, alterações neurofisiológicas e estruturais no cérebro, condição que vem sendo descrita como encefalopatia diabética. Manifestações psiquiátricas parecem acompanhar esta encefalopatia, uma vez que a prevalência de depressão em pacientes diabéticos é maior do que na população não diabética. Há evidências que o excesso na geração de radicais livres resultam em estresse oxidativo, o que pode vir a contribuir para o desenvolvimento e progressão do diabetes e suas complicações. Objetivos: avaliar o estresse oxidativo no plasma de ratos diabéticos sob modelo experimental de depressão, verificando o efeito da insulina e do clonazepam nesses animais. Materiais e Métodos: Ratos Wistar foram induzidos ao diabetes por estreptozotocina e submetidos ao teste de natação forçada (FST) 21 dias após a indução. Após ambientação, foi administrada insulina e clonazepam 24, 5 e 1 hora antes do teste. Trinta minutos após o teste, os animais foram sacrificados por decapitação e foi separado o plasma. O dano a proteínas foi medido pela formação de grupamentos carbonil e o dano a lipídeos pela medida das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Resultados e Conclusões: TBARS e grupamentos carbonil estão aumentados no plasma dos animais diabéticos submetidos ao FST quando comparado aos controles, o que foi revertido pelo tratamento agudo com insulina e clonazepam. Os resultados mostram evidências que o tratamento com insulina e clonazepam confere proteção frente ao dano oxidativo em ratos diabéticos submetidos ao FST.
CANCEROLOGIA
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SIMPLE QUESTIONNAIRE FOR THE IDENTIFICATION OF HEREDITARY BREAST AND COLORECTAL CANCER IN PRIMARY CARE
JULIANA GIACOMAZZI;PATRICIA ASHTON-PROLLA, AISHAMERIANE V SCHMIDT, FERNANDA L ROTH, EDENIR I PALMERO, LUCIANE KALAKUN, ERNESTINA AGUIAR, SUSANA M MOREIRA, ERICA BATASSINI, VANESSA BELO-REYES, MAIRA CALEFFI, SUZI A CAMEY
Background. A previous study in Porto Alegre has shown that a family history suggestive of these syndromes may be prevalent at the primary care level. Development of a simple instrument, easily applicable in primary care units, would be helpful in underserved communities in which identification and referral of high-risk individuals is difficult. Methods. A simple 7-question instrument about family history of breast, ovarian and colorectal cancer, FHS-7, was developed to screen for individuals with an increased risk for hereditary breast cancer syndromes. FHS-7 was applied to 9218 women during routine visits to primary care units. Two consecutive samples of 885 women and 910 women who answered positively to at least one question and negatively to all questions were included, respectively. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were determined. Results. Of the women reporting a positive family history, 211 (23.8%) had a pedigree suggestive of a hereditary breast and/or breast and colorectal cancer syndrome. Using as cut-point one positive answer, the sensitivity and specificity of the instrument were 87.6% and 56.4%, respectively. Concordance between answers in two different applications was given by a intra-class correlation (ICC) of 0.84 for at least one positive answer. Temporal stability of the instrument was adequate (ICC = 0.65). Conclusions. A simple instrument for the identification of the most common hereditary breast cancer syndrome phenotypes, showing good specificity and temporal stability was developed and could be used as a screening tool in primary care to refer at-risk individuals for genetic evaluations.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 30
METÁTASE DE MELANOMA NA ESCÁPULA DIREITA
FERNANDO RIBAS FEIJÓ;DANIEL LUNARDI SPADER; EDUARDO ZANIEL MIGON; JOSÉ LUIZ MOURA ALIMENA; HERNANI ROBIN JUNIOR; ALEXANDRE DAVID
Introdução: Melanoma Maligno(MM) é uma doença com alto potencial metastático. A maioria das metástases ocorre entre o início do 2º e o 5º ano após a excisão do tumor primário. A maioria de recidivas e mortes dos MM podem ser vistos 5 anos após o tratamento do tumor original. A metástase esquelética em pacientes com MM geralmente ocorre naqueles com doença metastática disseminada e ocasionalmente é a primeira evidência de recidiva.Objetivo: Apresentar para a comunidade científica um caso de metástase óssea de MM.Relato de caso: Homem, 53 anos, branco, com história de MM cutâneo em membro inferior esquerdo ressecado em julho de 1999, com linfonodo sentinela positivo e ausência de metástases, estágio IIA. Submetido à ampliação das margens cirúrgicas e esvaziamento inguinal esquerdo, seguido de terapia adjuvante com inferferon por 44 semanas. Fevereiro de 2001, recidiva inguinal contra-lateral, que foi ressecada. Terapia adjuvante com interleucina 9 por 6 meses. Abril de 2006, começou com dor no ombro direito. Cintilografia óssea mostrou hipercaptação localizada na escápula direita e tomografia computadorizada revelou lesão osteolítica insuflante na espinha da escápula com ruptura da cortical. Realizada biópsia cujo resultado foi compatível com metástase de MM. Fez-se escapulectomia total em julho de 2006. Dezembro de 2006, paciente permanecia assintomático. Realizou cintilografia óssea que demonstrou múltiplas metástases. Iniciado regime de interferon 10 MUI/m
2 3 vezes por semana.Discussão: As metástases
ósseas de MM geralmente causam conseqüências devastadoras. Classificam-se como osteolíticas e osteoblásticas. Osteolíticas podem causar dor severa, fraturas patológicas, hipercalcemia, compressão da medula espinhal. Osteoblásticas causam dor e fraturas patológicas. 52% dos pacientes com MM têm metástase inicial no esqueleto axial.Conclusão: A escolha da intervenção cirúrgica paliativa depende do local da doença, do prognóstico e da qualidade de vida do paciente.
NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO - MELANOMA PRIMÁRIO DE ESÔFAGO
RAFAEL CARVALHO IPE DA SILVA;CAROLINE MACHADO MELLO; BRUNO CAMPOS FONTOURA
Neoplasia Maligna de Esôfago – Melanoma Primário de Esôfago Relato de caso e Revisão da Literatura Rafael Carvalho Ipe da Silva, Bruno Campos Fontoura, Caroline Machado Mello Introdução: O Melanoma Primário de Esôfago é um tumor extremamente raro, tendo sido primeiramente descoberto no ano de. Tal neoplasia tem um comportamento agressivo e prognóstico extremamente reservado e tem como faixa etária preferencial, homens entre 60 e 70 anos. O fato de o esôfago ser o sítio primário traz prejuízos ao tratamento, visto que a abordagem cirúrgica, com quimioterapia e radioterapia adjuvante, não tem ainda seus benefícios completamente esclarecidos. Objetivo: Observar os aspectos clínicos, diagnósticos e de tratamento do Melanoma Primário de Esôfago e suas perspectivas atuais e futuras. Materiais e Métodos: Por meio de relato de caso de paciente de 54 anos, tabagista pesado e etilista, apresentando quadro de hemoptise, disfagia progressiva e perda ponderal de 13 kg em três meses, associado à presença de massa mediastinal em esôfago proximal e médio. Com uso de pesquisa na base de dados UP TO DATE e busca por literaturas recentes sobre o tema no PUBMED online com a chave.
DEMANDA DO SERVIÇO DE MASTOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA/RS EM 2006: PERFIL DAS MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA INVASIVO
ANA PAULA AGOSTINI;RAFAEL COELHO; ALEX CIPRIANI CARON; JOELMIR CHIESA; KLERIZE ANECELY; LISSANDRA DAL LAGO; MARINEL MÓR DALL AGNOL
Introdução: O carcinoma de mama (CM) perfaz 22% de todos os cânceres femininos. O Serviço de Mastologia do Hospital Universitário de Santa Maria (SM-HUSM) não dispõe de avaliações rotineiras da sua demanda. Objetivos: determinar o perfil epidemiológico das pacientes com CM invasivo atendidas em 2006 no SM-HUSM. Método: análise transversal de 339 prontuários, incluindo todas as pacientes com diagnóstico de CM invasivo. Resultados: a média de idade ao diagnóstico foi de 53 anos, sendo 14% £ 40 anos e 25% >60 anos; 87% eram brancas e 5% negras. O etilismo foi afirmado por 9% das mulheres; 21% eram tabagistas, 11% ex-tabagistas e 2% fumantes passivas. A idade
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 31
média da menarca foi 13 anos e da primeira gestação, 23 anos . A mediana de gestações e de filhos foi 3 e 17% eram nulíparas; 65% amamentaram com tempo total mediano de 13 meses, menopausa em 54% eram (média 49 anos). O peso mediano foi de 66 kg. A história familiar CM em primeiro grau ocorreu em 10 % das pacientes, e 9% em segundo grau. Discussão: A demanda do SM-HUSM sugere que o CM invasivo acomete mulheres brancas na perimenopausa. O tabagismo, presente em 1/3 das pacientes, não é fator de risco para o CM, mas contribui para outras doenças que abreviam a expectativa de vida. A maioria das pacientes apresentava fatores protetores: menarca após os 12 anos, não eram nulíparas, primeira gestação anterior aos 30 anos, amamentação, menopausa antes dos 55 anos, história familiar negativa e não eram etilistas. Tal fato sugere a importância do rastreamento do CM em todas as mulheres a partir dos 40 anos, quando a incidência começa a aumentar, tendo seu pico, em nosso estudo, aos 49 anos. Apoio: CNPq – Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino.
EFEITOS DO BUSULFANO NA SOBREVIDA E NA DEPLEÇÃO DA ESPERMATOGÊNESE EM RATOS WISTAR MACHOS
MARCOS VINÍCIUS AMBROSINI MENDONÇA;LUIZA SCOLA PERINI;ALIINE AMARAL;FABÍOLA MEYER; ANA LUIZA FERRARI;LÚCIA KLIEMANN; ILMA SIMONI BRUM DA SILVA; HELENA VON EYE CORLETA; EDISON CAPP
A infertilidade é um dos efeitos indesejados da maioria dos tratamentos quimioterápicos. Muitos tratamentos são extremamente gonadotóxicos, prejudicando as funções gonadais muitas vezes irreversivelmente. O presente trabalho avalia os efeitos do quimioterápico Busulfano (B2635-Sigma-Aldrich) na sobrevida e na depleção da espermatogênese em ratos Wistar, objetivando simular os paraefeitos gonadais da quimioterapia em humanos. Objetivo: avaliar o efeito degenerativo do Busulfano nas células germinativas de ratos Wistar machos, em relação à idade do animal. Materiais e métodos: foram utilizados 63 ratos Wistar machos do Centro de Pesquisas do HCPA, alocados nos grupos: G1=idade média de 60 dias e G2=idade média de 230 dias. Os grupos receberam dose intraperitonial de 30 mg/Kg de Busulfano, com conservação de no máximo 28 dias, visando promover degeneração testicular. As características histológicas do tecido testicular dos sobreviventes foram analisadas após tratamento quimioterápico (42 dias), através da coloração de hematoxilina-eosina. Resultados: o grupo G1 sobreviveu à dose de 30mg/Kg e, após análise histológica, verificou-se diminuição da espermatogênese com preservação das células basais e redução das células de Sertoli. O grupo G2 não sobreviveu à dose aplicada. Entre o 11º e o 14º dia da aplicação do fármaco, estes não resistiram aos danos fisiológicos, impossibilitando a análise histológica. Conclusão: a sobrevida do animal à dose de 30mg/Kg do Busulfano está diretamente relacionada à sua idade, sendo letal em ratos de idade média igual ou superior a 230 dias. Com esta dose foi possível garantir a sobrevivência dos ratos jovens (idade média de 60 dias) além da depleção parcial da espermatogênese, comprovada histologicamente após 42 dias da aplicação do Busulfano.
DEMANDA DO SERVIÇO DE MASTOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA/RS/BRASIL EM 2006: PERFIL BIOLÓGICO DOS CÂNCERES DE MAMA INVASORES
RAFAEL CORREA COELHO;ALEX CIPRIANI CARON; ANA PAULA AGOSTINI; JOELMIR CHIESA; KLERIZE ANECELY DE SOUZA SILVA; MARINEL MÓR DALL AGNOL; LISSANDRA DAL LAGO
Introdução: O carcinoma de mama (CM) é a neoplasia maligna mais comum em mulheres, com melhor prognóstico quando diagnosticado em estádios iniciais.Objetivo: Determinar o perfil biológico dos CM invasores das pacientes atendidas em 2006 no Serviço de Mastologia do Hospital Universitário de Santa Maria (SM-HUSM). Método: Estudo transversal de 339 prontuários, incluindo todas as pacientes que consultaram por CM invasivo no SM-HUSM em 2006. Resultados: Em ordem decrescente, foram diagnosticados 30% de casos no estádio (E) IIA, 18% E I, 16% E IIIA, 13% E IIB, 5% E IIIC, 5% E IIIB e 3,8% E IV; 5,3% das pacientes não tinham registro de estadiamento ao diagnóstico. A mediana das dimensões do CM foi de 2,5cm (patológica) e de 3cm (clínica). Pesquisou-se o estado axilar, por análise histológica, em 86,7% das pacientes, sendo que 45,7% não apresentaram acometimento nodal. A média de linfonodos acometidos foi de 2,6 (desvio padrão 4,8). O tipo histológico tumoral mais freqüente foi o carcinoma ductal invasivo (85,3%), seguido pelo carcinoma lobular invasivo (6,5%).A positividade dos receptores de estrogênio (RE) foi avaliada em 93% dos casos, sendo 70,6% RE positivos. A positividade dos receptores de progesterona (RP) foi
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 32
avaliada em 82,6% dos casos, sendo 51,3% RP positivos. A superexpressão da proteína HER2 foi avaliada em 89,4% dos casos, sendo 0+ e 1+ em 60,5%, 2+ em 11,2% e 3+ em 12,4%. A doença metastática ocorreu em 11,5% das pacientes, com sítios de acometimento mais comuns: ossos (69,1%), pulmão (10,3%) e fígado (10,3%). Conclusão: Com este trabalho diagnosticamos o perfil da demanda de atendimento das pacientes com CM invasivo no serviço de Mastologia do HUSM, detectando uma menor prevalência de tumores em estádios mais avançados e uma maior prevalência de tumores com receptores hormonais positivos. Apoio: CNPq – Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino.
VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS ADULTOS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
RODRIGO DA SILVA;RODRIGUES AC, GOLDONI BD, MOLLONA C, PEREIRA RN, SCHWARTSMANN G, POHLMANN PR
INTRODUÇÃO: O tratamento oncológico gera inúmeras demandas sociais, físicas e financeiras que incidem sobre pacientes e familiares, reduzindo a força de trabalho do paciente exigindo recursos financeiros extraordinários. O maior risco deste processo é a inviabilização do tratamento preconizado, com prejuízo potencial para a curabilidade e para o bem-estar do paciente e de sua família. Entender os aspectos socioeconômicos envolvidos no tratamento oncológico é fundamental para que se possa interferir positivamente no processo. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal contemporâneo do perfil socioeconômico de pacientes oncológicos adultos em tratamento quimioterápico ambulatorial. Foram 136 pacientes adultos, em tratamento quimioterápico parenteral para câncer no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que responderam a um questionário com perguntas relacionadas à situação socioeconômica, durante o tratamento oncológico no período de fevereiro à setembro de 2004. RESULTADOS E CONCLUSÕES: A maioria dos entrevistados eram mulheres (63,2%), casados (66,9%), usuários do Sistema Único de Saúde (97,8%), classificados como posição socioeconômica C (classe média baixa) ou D (35,9%), tendo atingido o ensino fundamental (72,1%) em termos de escolaridade. Quanto à situação previdenciária, 67,64% dos entrevistados recebia algum benefício (aposentadoria ou auxílio doença). Os pacientes que continuavam trabalhando ou solicitavam ajuda de familiares, amigos ou outros correspondiam 38,97%. Os pacientes do sexo masculino são preferencialmente cuidados por suas esposas/companheiras (71,7%). Quase 40,0% dos pacientes relataram que algum de seus familiares precisou se ausentar de seu emprego para acompanhá-lo ao tratamento oncológico. O conhecimento do perfil socioeconômico destes pacientes e de suas maiores dificuldades em decorrência do tratamento poderá auxiliar no planejamento de ações que visem a melhoria final nos resultados.
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO EM PACIENTE COM PANCREATOBLASTOMA
CLARICE FRANCO MENESES;LAURO JOSÉ GREGIANIN; CLAUDIO GALVÃO DE CASTRO JR; ELIZIANE TAKAMATU; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
INTRODUÇÃO: Pancreatoblastoma é um tumor raro na infância, incidência 0,5%, média idade 5 anos (0-68), mais freqüente na cabeça do pâncreas e tem sobrevida global 50%. RELATO: Feminina, 14 anos, iniciou com náuseas, vômitos e dor abdominal. TC abdômen com lesão expansiva em corpo e cauda do pâncreas com 515 cc
3 esplenomegalia e volumosa ascite. Biópsia mostrou
pancreatoblastoma (PB). α-feto proteína normal. Iniciado tratamento com cisplatina e doxorrubicina (PLADO) e, após 4º ciclo, TC abdômen com lesão 70 cc
3. Submetida à cirurgia com ressecção
completa, mas a análise microscópica mostrou margem cirúrgica comprometida. Após 6º ciclo de PLADO foi submetida a transplante autólogo de medula óssea (TAMO) em SET/08, estando sem evidência de recidiva até o momento. DISCUSSÃO: O PB tem similaridade com hepatoblastoma e pode se acompanhar de aumento da α-feto proteína. A clínica pode ser com massa abdominal assintomática, dor abdominal e perda de peso. Sintomas menos freqüentes são fadiga, vômitos, anorexia, diarréia e esplenomegalia. A obstrução mecânica do duodeno e do estômago pode resultar em vômitos, icterícia e hemorragia gastrointestinal. A quimioterapia tem tido papel importante nas situações em que a doença se mostra inoperável ao diagnóstico. A radioterapia não tem papel definido e fica reservada para paliação. A indicação do TAMO baseou-se no uso desta terapia em pacientes com hepatoblastoma. CONCLUSÃO: O principal tratamento do PB consiste em cirurgia estando a quimioterapia destinada para citorredução até a possibilidade de ressecção cirúrgica. A
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 33
indicação de TAMO trouxe benefícios à paciente com doença residual microscópica, que permanece em remissão até o momento.
SÍNDROME ERITRODISESTÉSICA PALMO-PLANTAR ASSOCIADA AO USO DE CITARABINA
CLARICE FRANCO MENESES;JISEH FAGUNDES LOSS; DANIELA ELAINE ROTH; TANIRA GATIBONI; CAROLINA DAMÉ OSÓRIO; SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE; MARCELO CUNHA LORENZONI; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
INTRODUÇÃO: Síndrome eritrodisestésica palmo-plantar é uma reação adversa a drogas como citarabina, doxorrubicina e metotrexate. RELATO: Menina, 8 anos, em tratamento para Linfoma não-Hodgkin. No segundo dia de Citarabina, 200 mg/m
2/d, iniciou com placa eritematosa, delimitada, sem
descamação, acometendo mais as regiões hipotenares e tenares, forma de “U”, nas regiões palmares, dor em ardência, do tipo “queimadura”, chegando a usar opióides. Suspensa a quimioterapia no 5º dia de uso. Melhora discreta do edema, evoluindo com lesões mais extensas nos pés, sendo bolhosas na planta do pé esquerdo, mas sem sinais de infecção secundária. O quadro teve resolução em 7 dias, com uso de analgesia, fludrocortisona tópica e creme Meg. O ciclo seguinte foi realizado com uso de corticóide tópico, apresentando eritema leve, sem necessidade de interrupção da citarabina. DISCUSSÃO: A síndrome eritrodisestésica palmo-plantar cursa com pródromos de disestesia, progredindo para dor em queimação, edema e eritema, podendo evoluir para formação de bolhas e acomete mais mãos do que pés. A variante bolhosa é a manifestação mais grave e está associada ao uso de citarabina ou metotrexate. Os sintomas têm resolução entre 2-4 semanas após a interrupção do agente quimioterápico. A etiologia da síndrome é desconhecida e o diagnóstico diferencial inclui GVHD e eritema multiforme. CONCLUSÃO: O principal tratamento da síndrome eritrodisestésica é a suspensão do agente causador, manejo sintomático para a dor e o edema, além da prevenção de infecção secundária. Embora se sugira que as doses subseqüentes do quimioterápico sejam reduzidas para evitar a recorrência do evento, o manejo precoce da síndrome nesse caso se mostrou efetivo, sem prejuízo na dose-intensidade da citarabina.
LESÕES CUTÂNEAS NA HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS
CLARICE FRANCO MENESES;JISEH FAGUNDES LOSS; DANIELA ELAINE ROTH; TANIRA GATIBONI; CAROLINA DAMÉ OSÓRIO; SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE; MARCELO CUNHA LORENZONI; TÂNIA CESTARI; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
INTRODUÇÃO: Histiocitose de células de langerhans (HCL) inclui diversas doenças clínicas com proliferação de histiócitos, contendo grânulos de Birbeck em seu citoplasma. As lesões cutâneas em menores de um ano podem ser doença unifocal ou multisistêmica (MS) podendo estar, neste último caso, associadas ao envolvimento de órgãos ou sistemas. RELATO: Menino 4 meses, com história de lesões cutâneas congênitas, pápulo-eritematosas em região plantar, tronco e couro cabeludo, com regressão parcial até os 2 meses, quando surgiram lesões ulceradas em regiões axilar e inguinal. Biópsia da pele com HCL, com imunohistoquímica S-100 positiva. Cintilografia óssea, screening ósseo, RX tórax, TC de abdômen e crânio e biópsia de medula óssea foram normais. A TC tórax mostrou calcificações punctata em timo e ausência de lesões pulmonares. Após quimioterapia de indução a reavaliação mostrou remissão completa das lesões e ausência de calcificações em timo. DISCUSSÃO: Lesões cutâneas congênitas puras, autolimitadas, são incomuns e apresentam regressão espontânea. Há lesões que progridem para doença MS, requerendo quimioterapia. As manifestações clínicas de HCL são mais chamativas na pele e o envolvimento de outros sítios deve ser avaliado com exames que são fundamentais para o estadiamento e o direcionamento adequado do tratamento. O envolvimento do timo nem sempre é visto pelo RX e a TC tórax pode evidenciar o alargamento difuso do órgão, áreas císticas ou padrão heterogêneo, septações ou calcificações punctata ou serpentiginosa. As alterações costumam regredir com o tratamento quimioterápico. CONCLUSÃO: Embora não haja evidência direta que a intervenção precoce da doença MS reduza as taxas de mortalidade, a observação cuidadosa de crianças pequenas com lesões de pele de HCL pode reduzir a morbi-mortalidade relacionada à progressão.
DASATINIB EM PACIENTE COM LLA - PH POSITIVO RECIDIVADO APÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 34
CLARICE FRANCO MENESES;CLAUDIO GALVÃO DE CASTRO JR; LAURO JOSÉ GREGIANIN; SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE; JISEH FAGUNDES LOSS; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
INTRODUÇÃO: O cromossoma Philadelphia (Ph) é formado pela translocação envolvendo os chromossomas 9 e 22. O gene resultante, BCR-ABL, codifica para uma tirosina-kinase (TK) anormal, que é um fator na patogênese da leucemia mielóide crônica (LMC) e leucemia linfocítica aguda (LLA) Ph positivo. O uso de inibidores da TK como dasatinib pode levar a resposta hematológica e citogenética nos pacientes com estas doenças. RELATO: Menino, 4 anos, LLA –Ph positivo, apresentou remissão hematológica após quimioterapia (QT) convencional de indução, mas PCR Ph ainda positivo. Submetido a TMO alogênico aparentado HLA idêntico sem apresentar complicações severas ou evidências de GVHD. Medulograma do D60 com remissão citogenética, cariótipo feminino e Ph negativo. No D100 recidivou, sendo feito QT indutória atingindo remissão. Dois meses após, 2ª recidiva, novo esquema de indução seguido de QT compassiva com vincristina (VCR) semanal e dasatinib (60 mg/m
2/d, VO), aprovado pelo Comitê de Ética do HCPA. Terceira recidiva após 4
meses, sendo associado prednisona e asparaginase, atingindo remissão hematológica, mas Ph positivo. Estava em excelente estado geral, sendo realizado novo TMO do mesmo doador e o dasatinib foi reiniciado 20 dias após o transplante. Não apresentou toxicidade grau 3 ou 4 com dasatinib. Dois meses após o 2º TMO recidivou pela 4ª vez em medula óssea e agora também em LCR, sendo então suspenso dasatinib e iniciado cuidados paliativos. DISCUSSÃO: Dasatinib é um inibidor bcr-abl de segunda geração e tem mostrado in vitro e in vivo atividade contra BCR-ABL, incluindo mutações que são resistentes para outros inibidores da TK, sugerindo benefícios clínicos em pacientes em todas as fases de LMC bem como naqueles com LLA Ph positivo. CONCLUSÃO: Dasatinib mostrou-se bem tolerado mesmo em combinação com outras drogas e parece ter sido útil no paciente em questão, embora estudos investigacionais adicionais ainda sejam necessários.
A INFLUÊNCIA DO SUCO DE UVAS PRETAS NA BIODISPONIBILIDADE ORAL DA CICLOSPORINA
VERA LORENTZ DE OLIVEIRA FREITAS;TERESA CRISTINA DALLA COSTA, ROBERTO CERATTI MANFRO, LUCIANE BEITLER DA CRUZ, GILBERTO SCHWARTSMANN
Introdução: A Ciclosporina é amplamente utilizada em nosso país como terapia de imunossupressão crônica em transplantes de órgãos e nos tratamentos de doenças auto-imunes. Há evidências na literatura demonstrando que vários agentes terapêuticos, incluindo a ciclosporina, podem ter a sua biodisponibilidade afetada pela ingestão concomitante de vinho tinto ou suco de pomelo. O mecanismo predominante destas interações envolve a modulação da atividade de enzimas do sistema do citocromo P450 (CYP 450) e/ou da proteína de transporte a glicoproteína P por estas substâncias. É freqüente o consumo de suco de uvas pretas na Região Sul, sobretudo no Vale dos Vinhedos. Portanto, é de se esperar que muitos pacientes com indicação do uso de ciclosporina oral sejam submetidos à co-administração do suco deste referido tipo de uva. Objetivo: Avaliar a influência do suco de uvas pretas na biodisponibilidade da ciclosporina oral após a administração de dose única em voluntários sadios, comparativamente à sua co-administração com água. Material e métodos: Doze voluntários saudáveis, sexo masculino, receberam ciclosporina na dose de 200 mg, depois de 10 horas de jejum, os quais foram randomizados em dois grupos: um com o medicamento administrado com suco de uvas pretas e outro apenas com água. Após uma semana de intervalo, os pacientes recebiam o tratamento no braço alternativo. Resultados: Uma única dose no estudo com voluntários saudáveis mostrou que o suco de uvas pretas produziu um decréscimo de 30% na área sobre a curva (ASC) da ciclosporina (de 3962 ± 567 para 2771 ± 714 ng·h/mL) e 28% redução no pico de concentração (Cmax) (de 943 ± 167 para 679 ± 152,5 ng/mL), sem mudanças significativas no clearance e no tempo de meia vida. Conclusão: O suco de uvas pretas diminuiu significativamente a biodisponibilidade da ciclosporina, podendo comprometer o seu efeito farmacodinâmico e essa observação tem potencial relevância na prática médica.
FLUCONAZOL NO TRATAMENTO DA CANDIDÍASE HEPATOESPLÊNICA EM PACIENTES COM LEUCEMIA AGUDA
SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE;CAROLINA DAME OSÓRIO LOPES; CLARICE FRANCO MENESES; TANIRA GATIBONI; CLÁUDIO GALVÃO DE CASTRO JÚNIOR; MARCELO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 35
CUNHA LORENZONI, JISEH FAGUNDES LOSS; DANIELA ELAINE ROTH; LAURO JOSÉ GREGIANIN; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
Candidíase hepatoesplênica é uma síndrome invasiva caracterizada por febre oligossintomática em pacientes imunossuprimidos. Caso 1: C.F., 4 a, com LLA, com febre, dor abdominal na indução. Eco e TC abdomen mostraram múltiplos nódulos hepáticos sugestivos de abscessos. Biópsia hepática via ecografia foi positiva para Cândida albicans. Recebeu 14 dias de Anfotericina B seguido de Fluconazol conforme antifungigrama. Mantido a quimioterapia. Após 13 meses do início do tratamento, os exames mostraram fígado com imagem nodular isolada. Biópsia de controle foi negativa. Suspenso o fluconazol a seguir. A paciente segue quimioterapia de manutenção, em remissão da leucemia e da candidíase invasiva. Caso 2: A.S., 12 a, com LMA, com febre sem foco identificado no final da indução. Iniciou com Anfotericina B devido à imagem em vidro despolido na TC tórax. Após 14 dias a TC abdomen evidenciou imagens nodulares hipodensas em fígado, baço e rins, sugestivas de abscessos. Biópsia hepática via ecografia foi positiva para Cândida tropicalis. Apresentou lesões nodulares e hiperemiadas em membros inferiores, com cultura de biópsia da pele e HMC positivas para C. tropicalis. Antifungigrama foi sensível ao fluconazol, sendo substituído o tratamento. Manteve a quimioterapia. Eco de 6 meses após o início do antifúngico foi normal. Mantido o fluconazol durante o TMO alogênico, estando em remissão da leucemia e da candidemia sistêmica. Discussão: O principal questionamento está na manutenção da quimioterapia durante o tratamento da candidemia sistêmica pelo risco da neutropenia somada à fungemia. Estes relatos salientam a eficácia do fluconazol no tratamento da candidíase invasiva, mostrando-se uma opção de baixo custo, pouca toxicidade e com possibilidade de uso oral e domiciliar.
PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DA SÍNDROME DE LI-FRAUMENI LIKE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO DE SARCOMAS, TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, TUMOR DE WILMS E CARCINOMA ADRENOCORTICAL NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HCPA
DANIELA ELAINE ROTH;ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO, PATRICIA ASHTON-PROLLA, JULIANA GIACOMAZZI, CRISTINA ROSSI, JOSÉ ROBERTO GOLDIM, JÚLIA SCHNEIDER PROTAS, EDENIR INÊZ PALMERO, MARIA ISABEL WADDINGTON ACHATZ, PIERRE HAINAUT
Introdução: A Síndrome de Li-Fraumeni (SLF) caracteriza-se pela predisposição hereditária ao câncer, com caráter autossômico dominante, e está associada a mutações germinativas no gene TP53.Famílias que apresentam características incompletas da SLF, preenchem critérios para Síndrome de Li-Fraumeni-like (LFL).Recentemente uma mutação germinativa no códon 337 do gene TP 53,R337H,foi observada com elevada freqüência na população geral do sul do Brasil.Objetivos:Determinar a prevalência de história familiar de SLF e suas variantes nas famílias de crianças diagnosticadas com tumores pertencentes à SLF. Material e Métodos: Crianças do Serviço de Oncologia Pediátrica do HCPA, com diagnóstico de sarcomas, tumores cerebrais, tumor de Wilms e carcinoma adrenocortical foram incluídos no estudo ,após assinatura de termo de consentimento .Foram realizadas entrevistas sobre história familiar de cãncer e construção de heredograma. Resultados: Dados preliminares, de 38 pacientes ,mostram que 16 (42,1%) tem história familiar positiva para câncer com critérios bem definidos para LFL, incluindo 10 famílias com critérios completos ou modificados de Chompret, e 6 famílias com critérios de Eeles (1 e/ou 2). Conclusão:A definição da prevalência da história familiar de SLF/LFL será fundamental para determinar o delineamento de possíveis estratégias de identificação de risco para os portadores e seus familiares,assim como terá impacto em medidas de diagnóstico precoce e prevenção destes tumores pediátricos no Brasil.
SÍNDROMES GENÉTICAS DE PREDISPOSIÇÃO AO CÂNCER, UM RELATO DE CASO COM SUSPEITA DE SÍNDROME DE LI-FRAUMENI E CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIO
CAMILA MATZENBACHER BITTAR;DIEGO MIGUEL; INGRID EWALD; CRISTINA NETTO; LARISSA BUENO; PATRICIA RIBEIRO; PATRÍCIA ASHTON-PROLLA
Introdução: As síndromes genéticas de predisposição ao câncer de mama estão associadas a mutações germinativas em genes supressores de tumor e seguem herança autossômica dominante. Entre elas estão a Síndrome de Li-Fraumeni (LFS), associada a mutações germinativas no gene do
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 36
TP53 e a Síndrome de Câncer de Mama e Ovário Hereditário (HBOC), associada a mutações germinativas em BRCA1 ou BRCA2 . Objetivos: Esse relato tem a intenção de descrever e discutir o caso de uma paciente com história familiar positiva para câncer de mama e outros tumores, destacando a sobreposição fenotípica das síndromes de predisposição genética ao câncer. Relato de Caso: Paciente feminina, 56 anos, procurou o ambulatório de oncogenética do Serviço de Genética Médica com o diagnóstico de câncer de mama aos 45 anos de idade. História familiar é positiva para câncer de mama (3 casos), tumor de células claras renais, câncer de próstata, câncer de cólon, ovário, Linfoma de Hodgkin e Linfoma Não-Hodgkin; além de relatos (ainda não confirmados) de rabdomiossarcoma, e tumores de pâncreas e estômago.. Resultados e Conclusões: É apresentado o heredograma da família e são discutidos os critérios de diagnóstico clínico para as diferentes síndromes de predisposição ao câncer de mama, especialmente HBOC e LFS, com descrição dos achados típicos de cada síndrome. Este caso ilustra a importância de considerar mais de um diagnóstico na análise de famílias suspeitas de câncer hereditário e aponta para a necessidade de investigação molecular de mais de um gene de predisposição ao câncer em muitas destas famílias. A identificação e o diagnóstico precoce dessas síndromes familiares é importante para toda a família, pela possibilidade de intervenção e rastreamento precoce para os cânceres mais comuns associados.
BLATOMA PLEURO PULMONAR
TANIRA GATIBONI;CLÁUDIO GALVÃO DE CASTRO JÚNIOR; SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE; CLARICE FRANCO MENESES; JISEH FAGUNDES LOSS; LAURO JOSÉ GREGIANIN; CAROLINA DAME OSÓRIO LOPES; MARCELO CUNHA LORENZONI; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
O Blastoma Pleuro Pulmonar (BPP) é uma neoplasia rara na infância. Está usualmente localizado na periferia pulmonar, mas pode também acometer mediastino e diafragma. Entre os sintomas comumente presentes estão disfunção respiratória, tosse, dor torácica e febre. RELATO DE CASO: GWB, 3a, m, b. Inicialmente tratado para pneumonia com antibióticos no interior do estado sem melhora. Foi encaminhado à UTIP/HCPA em Janeiro/2009. Exames de avaliação com TC de tórax e de abdome evidenciaram lesão expansiva heterogênea medindo 10x15x12cm ocupando quase todo hemitórax e hemi-abdome. Avaliado pela equipe de Oncologia Pediátrica tendo como hipóteses diagnósticas Neuroblastoma e Blastoma Pleuro Pulmonar. Realizada toracotomia com biópsia da lesão, Anatomopatolófico (AP) e Imunohistoquímica compatíveis com Blastoma Pleuro Pulmonar. Iniciado tratamento quimioterápico, primeiro ciclo com Vincristina, Actinomicina e Ciclofosfamida e, após o resultado do AP, tratamento conforme Protocolo Internacional do BPP que consiste em ciclos de IVADO (Ifosfamida, Vincristina, Actinomicina e Doxorrubicina). Reavaliação pré-cirúrgica com TC de tórax 3 meses após o início do tratamento demonstrou lesão expansiva predominantemente localizada no hemitórax esquerdo com importante redução de suas dimensões em relação ao exame prévio. Realizado toracotomia com ressecção tumoral total em Abril/2009; exame anatomopatológico: BPP pós-quimioterapia, linfonodos sem metástase e margens cirúrgicas livres. DISCUSSÃO: O prognóstico está ligado a um manejo adequado e a ressecção cirúrgica completa, neste caso apesar de tratamento inicial equivocado, assim que realizado o diagnóstico foi realizado quimioterapia e cirurgia com sucesso e, atualmente o paciente encontra-se muito bem, seguindo o protocolo quimioterápico.
HISTIOCITOSE MASTÓIDE BILATERAL
TANIRA GATIBONI;CLARICE FRANCO MENESES; JISEH FAGUNDES LOSS; SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE; CLAUDIO GALVÃO DE CASTRO JUNIOR, CAROLINA DAME OSÓRIO; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
A Histiocitose de Células de Langerhans (HCL) é caracterizada pela proliferação de células do sistema monocítico-macrofágico. Ocorre mais freqüentemente entre 1-4 anos de vida, sendo. O quadro clínico é variável, sendo mais freqüente na cabeça e pescoço, com lesões ósseas, linfonodopatias cervicais e rash cutâneo. O diagnóstico definitivo é obtido através de biópsia do local (infiltrado inflamatório com células de Langerhans. RELATO DE CASO:MSM, 1a, f, b. Apresentou episódio de otite média aguda, com otorréia à esquerda, sendo tratado com antibioticoterapia sem melhora. Após duas semanas de tratamento evoluiu com tumoração visível em canal auditivo externo esquerdo (CAEE). Internou na unidade de oncologia pediátrica do HCPA para investigação. TC de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 37
crânio e RNM demonstraram lesão típica de histiocitose de Langerhans localizada na região mastoidea bilateral com extensão para meninges, ouvido médio e fossa média do crânio. A biópsia incisional da lesão do CAEE confirmou diagnóstico de HCL. Iniciou tratamento conforme protocolo LCH III (grupo 3), com Prednisona e Vimblastina. Após 2 semanas de tratamento, houve desaparecimento da lesão do canal auditivo externo esquerdo. Reavaliação radiológica após 6 semanas de tratamento a RNM de crânio demonstrou redução da lesão em ouvido esquerdo e regressão completa da área de realce dural. Com resposta parcial, a paciente seguiu o mesmo tratamento com plano de completar 6 meses de quimioterapia e corticoterapia.DISCUSSÃO: Existe controvérsia no tratamento da HCL, especialmente quando se trata de doença localizada em cabeça e pescoço. Estudos comparando as opções terapêuticas evidenciam que o tratamento quimioterápico influencia beneficamente no curso da doença e na diminuição do número de recidivas e seqüelas.
EFICÁCIA DA VINCRISTINA NO TRATAMENTO DA HEMANGIOMATOSE NEONATAL DIFUSA
TANIRA GATIBONI;DANIELA ELAINE ROTH; JISEH FAGUNDES LOSS; CLARICE FRANCO MENESES; CLÁUDIO GALVÃO DE CASTRO JUMIOR; SIMONE GEIGER DE ALMEIDA SELISTRE; LAURO JOSE GREGIANIN; CAROLINA DAMÉ OSÓRIO LOPES; MARCELO CUNHA LORENZONI; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
Os hemangiomas são tumores benignos do endotélio vascular, sendo os tumores mais comuns na infância. A hemangiomatose neonatal difusa é uma doença grave e com alta mortalidade. É caracterizada por múltiplos hemangiomas ao nascimento. Relato de caso: Menina, 3 m, diagnóstico inicial de lesões nodulares hepáticas visualizado em Ecografia Obstétrica com 30 semanas de gestação. Ao nascimento apresentava múltiplos hemangiomas cutâneos e múltiplos nódulos hepáticos. Sem possibilidade de ressecção cirúrgica ou de transplante hepático devido às más condições clínicas. Aos 2 meses foi iniciado esquema terapêutico com INF-α e corticoterapia. Evoluiu com toxicidade cardíaca grave suspendendo as medicações. Optou-se pelo uso de vincristina (VCR) semanal. Com 20 dias de tratamento houve melhora clínica com a redução da circunferência abdominal em 7 cm e dos sintomas de insuficiência cardíaca. Completou esquema terapêutico com VCR no total de 24 doses, com excelente resposta clínica das lesões cutâneas e dos nódulos hepáticos. Encontra-se em remissão clínica. Discussão: Os hemangiomas são caracterizados pela evolução em fases de crescimento e de involução. Mesmo tratando-se de lesões benignas e de natureza autolimitada podem causar complicações que variam desde ulcerações a alterações estéticas da imagem da criança, assim como também podem comprometer a função vital de órgãos. O tratamento farmacológico inicial com altas doses de corticosteróide ou INF-α tem sido amplamente realizado, mas não é isento de efeitos colaterais severos. Conclusão: A VCR tem sido usada com eficácia no tratamento dos hemangiomas, induzindo a apoptose do tumor e das células endoteliais. É utilizada como droga de segunda linha para pacientes que não respondem à terapia inicial com corticosteróide e INF-α.
CARDIOLOGIA
VALOR INDEPENDENTE DA CAPACIDADE FUNCIONAL POR TESTE ERGOMÉTRICO EM PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA ESTÁVEL
CAROLINA FISCHER BECKER;PEDRO LIMA VIEIRA; MARCELO COELHO PATRÍCIO; ALÍSSIA CARDOSO DA SILVA; JOYCE HART OLIVEIRA; CAROLINE MIOTTO MENEGAT COLA; PAULO RICARDO MOTTIN ROSA; LILLIAN GONÇALVES CAMPOS; DANIEL PINHEIRO MACHADO DA SILVEIRA; VICTÓRIA MANUELA FENSTERSEIFER DUHÁ; GILBERTO BRAULIO; VIVIAN TREIN CUNHA; EDUARDO GIACOMOLLI DARTORA; RODRIGO ANTONINI RIBEIRO; MARIANA VARGAS FURTADO; CARISI ANNE POLANCZYK
Introdução: Capacidade funcional, avaliada pelo teste ergométrico, está bem estabelecida como fator prognóstico independente para sobrevida em indivíduos normais e com doenças cardiovasculares. Objetivo: Avaliar preditores de baixa capacidade funcional e o valor prognóstico desta variável em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) estável em tratamento otimizado. Delineamento: Estudo de coorte. Material e Métodos: Foram incluídos 237 pacientes (idade 60 ± 10,3 anos e 64% homens) com DAC estável em acompanhamento ambulatorial. A capacidade funcional dos pacientes foi aferida no início do acompanhamento através de teste ergométrico, utilizando o valor de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 38
equivalentes metabólicos (METS) atingidos, estratificado em duas categorias: < 5 e ≥ 5 METS. O seguimento médio foi de 4,7 ± 2,7 anos, no qual foi avaliada a ocorrência de eventos (óbito, síndrome coronariana aguda, ICC e AVE). Resultados: Os preditores de capacidade funcional foram o diagnóstico de diabetes (DM) (<5 METS= 59% e ≥5 METS= 27%; p<0,001) e presença de angina durante o teste (<5 METS= 16,7% e ≥5 METS= 5,5%;p<0,01). Na análise multivariada, ajustando para comorbidades e infarto do miocárdio prévio, a mortalidade cardiovascular foi diferente entre os grupos (HR 3,8 IC 95% 1,1-13; p=0,03). Na análise multivariada para desfechos combinados, após ajuste para comorbidades e diabetes, baixa capacidade funcional conferiu risco 1,7 vezes maior (IC95% 1,1-2,9; p= 0,03). Conclusão: Diagnóstico de DM e presença de angina durante o teste ergométrico foram preditores de baixa capacidade funcional. Os equivalentes metabólicos alcançados durante o exame estiveram diretamente relacionados com maior ocorrência de eventos e menor sobrevida por óbito de causas cardiovasculares.
RELAÇÃO DE NÍVEIS DE HEMOGLOBINA COM EVENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES EM CARDIOPATAS ISQUÊMICOS CRÔNICOS
LUCIANE MARIA FABIAN RESTELATTO;RODRIGO ANTONINI RIBEIRO, STEFFAN F. STELLA, ANDERSON DONELLI DA SILVEIRA, ALEXANDRE ISHIZAKI, MARIANA VARGAS FURTADO, GUSTAVO A. M. FAULHABER, CARISI ANNE POLANCZYK
Introdução: Anemia tem sido relacionada à maior incidência de desfechos cardiovasculares(CV) em alguns grupos de pacientes com doença cardíaca. Porém, níveis de hemoglobina apresentam variação em períodos longos de seguimento, tendo sido pouco explorado o efeito da dosagem de Hb seriada em pacientes com doença arterial coronariana. Objetivo:Avaliar a relação da Hb com desfechos CV maiores em pacientes com DAC estáveis. Materiais e Métodos: estudo de coorte utilizando pacientes com DAC documentada, estáveis. Dosagens de Hb foram feitas a cada 4 meses em pacientes com anemia e anualmente em pacientes com níveis normais de Hb. Desfechos CV maiores: Síndrome Coronariana Aguda, Acidente Vascular Cerebral e morte por causa CV. A relação entre níveis de Hb e desfechos CV foi avaliada por modelo de Cox uni e multivariado. Resultados e Conclusões: 333 pacientes(idade 64 +10 a, 59% homens, 86% hipertensos, 51% com infarto prévio) foram seguidos por 32,5+11 meses. A Hb basal média foi de 13,5+1,3g/dl. A oscilação mediana foi de 1,1g/dl; 18% da amostra apresentou oscilação ≥2 g/dl. A avaliação com Hb seriada mostrou uma razão de risco (HR) de 0,67 (IC95%:0,56-0,80) para cada aumento de 1g/dl. Na análise multivariada, após ajuste para sexo, idade, hipertensão, diabetes, fração de ejeção, dislipidemia, função renal, revascularização e infarto prévio, o HR foi de 0,69. Na análise multivariada usando somente a Hb basal, o HR foi de 0,70 (IC95%:0,56-0,89). Este trabalho confirma que a Hb é um importante preditor independente de pior prognóstico em pacientes com DAC estável. Apesar dos níveis de Hb apresentarem flutuações ao longo do tempo, a medida basal teve uma forte capacidade preditiva para desfechos, com pouco acréscimo de informação usando medidas seriadas.
PROGNÓSTICO EM LONGO PRAZO DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA (DAC) ESTÁVEL COM MANEJO CLÍNICO, CIRÚRGICO OU PERCUTÂNEO: UMA COORTE CONTEMPORÂNEA
GILBERTO BRAULIO;JOYCE H OLIVEIRA; PEDRO L VIEIRA; MARCELO C PATRÍCIO; ALÍSSIA CARDOSE; STEFFAN F. STELLA; FELIPE ZANCHET; CAROLINA F BECKER; HENRIQUE COMIRAN; JORGE D VALENTINI; MARIANA V FURTADO; RODRIGO A RIBEIRO; CARISI A POLANCZYK
Introdução: A revascularização miocárdica no manejo da DAC tem sido estudada em diversos ensaios clínicos, às vezes com resultados controversos. Dados sobre a efetividade destas modalidades são importantes para tomada de decisão na nossa prática. Objetivo: Avaliar o prognóstico de pacientes com DAC estável em tratamento clínico em comparação aos pacientes submetidos a procedimentos de revascularização percutâneo (ICP) e cirúrgico (CRM). Métodos: 502 pacientes com DAC estável, em acompanhamento ambulatorial por pelo menos 6 meses, entre 1998 e 2008 foram estratificados em 3 grupos: sem revascularização prévia, com ICP e com CRM. Foi realizada análise de Cox multivariada para comparar a sobrevida livre de eventos cardiovasculares (óbito, SCA e AVC) entre os grupos. Resultados: A idade média foi 61±11 anos, 59% homens e 52% com IAM prévio. Dos 502 pacientes, 52% estavam em manejo clínico, 22% haviam realizado CRM e 26% ICP. No seguimento médio de 4,6 anos, não houve diferença na mortalidade entre os 3 grupos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 39
Na analise de eventos combinados, pacientes submetidos previamente a ICP apresentaram maior risco de desenvolver eventos (HR 1,65; IC95% 1,1-2,3) em comparação com grupo clínico e cirúrgico, os quais não diferiram entre si (HR 1,2; IC95% 0,8-1,8). Em pacientes multi-arteriais, grupo com ICP manteve maior risco (HR 2,2; IC95% 1,2-4,1), e nos pacientes uni-arteriais não houve diferença entre os grupos. No seguimento, 17,9% foram submetidos à ICP e 10% a CRM, com predomínio nos grupos ICP e clínico.Conclusão: A sobrevida em longo prazo não foi diferente entre indivíduos tratados inicialmente com CRM ou ICP em comparação com tratamento clínico em nossa coorte. Entretanto, eventos cardiovasculares combinados foram mais freqüentes em pacientes submetidos previamente a ICP.
EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS STENTS FARMACÓLOGICOS EM PACIENTES DIABÉTICOS: REGISTRO DE 5 ANOS SEGUIMENTO
LUIS FELIPE SILVA SMIDT;RODRIGO BODANESE, DENISE OLIVEIRA, MARCELO ARNDT, CRISTIANO OLIVEIRA, MARINA MORAIS, PATRICIA HICKMANN, VITOR GOMES, RICARDO LASEVITCH, LUIZ CARLOS BODANESE, CARISI POLANCZYK, PAULO CARAMORI
Introdução: Pacientes diabéticos possuem um risco aumentado para recorrência de eventos cardiovasculares. Existem informações limitadas sobre o impacto do Diabetes Mellitus (DM) em eventos cardiovasculares de pacientes submetidos a implante de DES na prática clínica de rotina. Nosso objetivo foi avaliar os desfechos clínicos de longo prazo dessa população de alto risco. Métodos: Um total de 611 pacientes consecutivos submetidos a intervenção coronariana com DES de 2002 a 2007 em 2 hospitais de Porto Alegre foram incluídos em um registro e acompanhados durante 5 anos. Resultados: Os pacientes apresentavam idade média de 63,5 ±11,23 anos, sendo 63,6% do sexo masculino . O tempo médio de seguimento foi de 22,7 meses (máximo: 63,5 meses). Os pacientes diabéticos (n=204, 34,3%) quando camparados aos não-diabéticos, eram mais propensos a apresentar hipertensão, insuficiência renal crônica e menor diâmetro de referência coronário (todos p<0.05), sendo as demais características similares. Durante o seguimento, os diabéticos tiveram maiores taxas de morte (7,4% vs. 2,3%, p=0,003) e trombose do stent, definida+provável (3,9% vs. 1,3%, p=0,04), mas taxas similares de IAM (5,9% vs. 3,1%, p=0,10) e RLA (3,4% vs. 5,1%, p=0,35). Por análise multivariada, DM foi preditor somente de mortalidade (HR 3.10, IC 95% 1.31-7.32, p=0.01). A presença de DM não foi preditor independente de trombose do stent, IAM ou RLA. Conclusão: Nossos resultados demonstram que pacientes diabéticos submetidos a implante de DES no mundo real, possuem taxas aumentadas de mortalidade. O achado de taxas similares de RLA em diabéticos e não diabéticos reforça a eficácia dos DES, apesar do risco aumentado para recorrência de eventos cardiovasculares dos pacientes diabéticos. Na análise multivariada, DM não manteve a associação com trombose do stent.
EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS STENTS FARMACOLÓGICOS EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA
LUIS FELIPE SILVA SMIDT;PATRICIA BLAYA, VITOR GOMES, DENISE OLIVEIRA, CRISTIANO BARCELLOS, MARINA MORAIS, RICARDO LASEVITCH, CARISI POLANCZYK, PAULO CARAMORI
Introdução: Pacientes diabéticos possuem um risco aumentado para recorrência de eventos cardiovasculares. Existem informações limitadas sobre o impacto do Diabetes Mellitus (DM) em eventos cardiovasculares de pacientes submetidos a implante de DES na prática clínica de rotina. Nosso objetivo foi avaliar os desfechos clínicos de longo prazo dessa população de alto risco. Métodos: Um total de 611 pacientes consecutivos submetidos a intervenção coronariana com DES de 2002 a 2007 em 2 hospitais de Porto Alegre foram incluídos em um registro e acompanhados durante 5 anos. Resultados: Os pacientes apresentavam idade média de 63,5 ±11,23 anos, sendo 63,6% do sexo masculino . O tempo médio de seguimento foi de 22,7 meses (máximo: 63,5 meses). Os pacientes diabéticos (n=204, 34,3%) quando camparados aos não-diabéticos, eram mais propensos a apresentar hipertensão, insuficiência renal crônica e menor diâmetro de referência coronário (todos p<0.05), sendo as demais características similares. Durante o seguimento, os diabéticos tiveram maiores taxas de morte (7,4% vs. 2,3%, p=0,003) e trombose do stent, definida+provável (3,9% vs. 1,3%, p=0,04), mas taxas similares de IAM (5,9% vs. 3,1%, p=0,10) e RLA (3,4% vs. 5,1%, p=0,35). Por análise multivariada, DM foi preditor somente de mortalidade (HR 3.10, IC 95% 1.31-7.32,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 40
p=0.01). A presença de DM não foi preditor independente de trombose do stent, IAM ou RLA. Conclusão: Nossos resultados demonstram que pacientes diabéticos submetidos a implante de DES no mundo real, possuem taxas aumentadas de mortalidade. O achado de taxas similares de RLA em diabéticos e não diabéticos reforça a eficácia dos DES, apesar do risco aumentado para recorrência de eventos cardiovasculares dos pacientes diabéticos. Na análise multivariada, DM não manteve a associação com trombose do stent.
SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS STENTS FARMACOLÓGICOS SIROLIMUS, PACLITAXEL E ZORATOLIMUS NA PRÁTICA CLÍNICA DIÁRIA
LUIS FELIPE SILVA SMIDT;DENISE OLIVEIRA, VITOR GOMES, MARCELO ARNDT, RODRIGO BODANESE, CRISTIANO BARCELLOS, MARINA MORAIS, PATRÍCIA BLAYA, PATRÍCIA HICKMANN, RICARDO LASEVITCH, CARISI POLANCZYK, PAULO CARAMORI
Introdução: Há dados limitados comparando os desfechos clínicos a longo prazo entre os stents farmacológicos Cypher-SES (sirolimus), Taxus-PES (paclitaxel) e Endeavor-ZES (zotarolimus), principalmente fora das condições de estudos clínicos. Avaliamos os desfechos destes stents em um registro da prática clínica diária. Métodos: Foi incluído neste registro um total de 611 pacientes submetidos à intervenção coronariana com implante de stent farmacológico no período de 2002 a 2007, em dois hospitais de Porto Alegre. Os stents farmacológicos foram utilizados em pacientes selecionados de acordo com a decisão do operador e disponibilidade do stent. Resultados: Um total de 484 pacientes receberam SES (n=176), PES (n=220), ou ZEZ (n=88). Os demais pacients receberam outros tipos de stents farmacológicos. As características demográficas e angiográficas foram semelhantes entre três os grupos. Os dados foram comparados utilizando a curva de sobrevida de Kaplan-Meier e regressão de Cox. Em 5 anos de acompanhamento, não houve diferença significativa nas taxas de morte (5.9%; 5.4%; 2.2%; p=0.57); infarto do miocárdio (1.0%, 1.3%, 1.1% p= 0.72); e trombose de stent (2.0%; 1.3%; 1.1%; p=0.24) para os stents SES, PES e ZES respectivamente. A revascularização do vaso alvo (RVA) foi maior no grupo do PES (6.4%; 15.9%; 7.6%; p=0.01). Conclusão: Neste registro de prática clínica diária, PES foi associado a uma maior taxa de RVA que SES e ZES. Não houve diferença significativa nas taxas de morte, infarto e trombose entre os grupos. Os achados indicam que a escolha do stent farmacológico pode ter impacto nos desfechos da prática clínica diária.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO EM ECOCARDIOGRAFIA SERIADA É PREDITOR DE EVENTOS NA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA ESTÁVEL
VIVIAN TREIN CUNHA;MARCELO COELHO PATRÍCIO; ALÍSSIA CARDOSO; GUILHERME TELÓ; RODRIGO ANTONINI RIBEIRO; MARIANA VARGAS FURTADO; LUIS E ROHDE;CARISI A POLANCZYK; LUCIANE MARIA FABIAN RESTELATTO; CAROLINE MIOTTO MENEGAT COLA; PAULO RICARDO MOTTIN ROSA
Introdução:Disfunção ventricular sistólica é um importante fator prognóstico na doença arterial coronariana (DAC), porém são escassos estudos sobre a evolução da função ventricular em pacientes estáveis.Objetivo: identificar preditores de redução da fração de ejeção (FE) e seu valor prognóstico em pacientes com DAC estável.Métodos: foram incluídos 182 pacientes com DAC estável em acompanhamento ambulatorial. Perda de FE foi definida como redução relativa de 5% na última ecocardiografia em relação à inicial. Em seguimento médio de 3,8 anos, foram registrados os eventos cardiovasculares maiores (síndrome coronariana aguda, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e óbito de causa cardiovascular) e óbitos. Regressão logística de Cox foi utilizada para avaliar preditores de redução de FE e sua relação com desfechos. Resultados e conclusões: A idade média foi de 63 ± 10 anos, 57% homens.A FE inicial foi 56 ± 13%, 79 (43%), tiveram redução >5%, com redução média de 13 ± 8%. As variáveis preditoras de redução de FE foram anemia (HR=3,8; IC 95% 1,1-5,0; p=0,05) e revascularização cirúrgica prévia (HR=5,7; IC 95% 1,1-4,6; p=0,017) e durante seguimento (HR=2,0; IC95% 1,1-3,7; p=0,03). Pacientes com redução de FE apresentaram maior risco de eventos cardiovasculares (HR=3,3 IC 95% 1,3-8,7; p=0,01) e mortalidade (HR=4,7 IC 95% 1,7-13; p=0,002), após ajuste para variáveis clínicas, FE inicial e eventos entre as duas medidas. A ocorrência de eventos entre a primeira e última ecografia esteve associado com desfechos posteriores (HR=14,78; IC 95% 5,4-39,4; p <0,001). Pacientes com DAC
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 41
estável, redução relativa > 5% da FE é freqüente, confere um pior prognóstico, independente da FE inicial e presença de disfunção, sendo importante a preservação da FE nestes pacientes.
INSULINA INTRAVENOSA CONTÍNUA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS (DM) SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONARIANA COM STENT (ICP): EFEITOS SOBRE ESTRESSE OXIDATIVO E INFLAMAÇÃO
PRISCILA DOS SANTOS LEDUR;SIMONE FANTIN, CRISTINI KLEIN, CARMEN LAZZARI, MARA BENFATO, MARCO WAINSTEIN, CARISI POLANKZYK, BEATRIZ SCHAAN
Introdução: Não há relatos dos efeitos de infusão de insulina intravenosa para controle glicêmico em pacientes com DM após ICP. Objetivo: Avaliar os efeitos de infusão intravenosa de insulina/24h sobre glicemia, estresse oxidativo e inflamação. Métodos: Ensaio clínico randomizado comparando pacientes DM submetidos à ICP, submetidos à infusão intravenosa de insulina/24h e glicemias horárias (Optium, Abbott) objetivando glicemia<110 mg/dl (TII, n=35) vs controle usual (TC, n=35, glicemias antes refeições, insulina subcutânea quando>250 mg/dL). Amostras de sangue (glicemia, HbA1c, lipídios, PCR, sCD40L, TAS e carbonil) coletadas após ICP e no final da infusão de insulina. Estatística: Mann Whitney, Teste t, ANOVA, correlação Pearson (SPSS 13.0). Resultados: Os pacientes tinham 60,5 ± 10 anos, 60% homens, HbA1c 8,1 ± 1,8 (TII) vs 7,6 ± 1,6 % (TC) (p=0,394). Observou-se diminuição da glicemia e aumento da insulinemia no grupo TII vs TC (160 ± 63 e 199 ± 98 mg/dL, p=0,006 e 171 [59-550] vs 25 [11-50] µu/l, p< 0.001). Dano a proteínas (carbonil 0,13 ± 0,12 (TII) vs 0,12 ± 0,94 nmol/mg (TC), p= 0,70), defesa antioxidante total (TAS 1,66 ± 0,23 (TII) vs 1,63 ± 0,22 mmol/L (TC), p= 0,33), e sCD40L [402 (191-843) no TII vs 610 (230-1200) pg/mL, no TC p= 0,68] não se modificaram. PCR aumentou em ambos os grupos após ICP (p<0,001) e teve correlação positiva com a glicemia (r=0,29, p=0,002). Conclusões: Insulina intravenosa/24h efetivamente aumentou insulinemia e preveniu piora da hiperglicemia, mas houve aumento de inflamação e estresse oxidativo após ICP em ambos os grupos, sem efeito da insulina sobre estas variáveis. Apoio: CNPq, Fapergs, Fipe.
O PAPEL DOS EVENTOS VITAIS NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
BRUNO SCHNEIDER DE ARAUJO;PAULA VENDRUSCOLO TOZATTI; LAURA VARGAS DORNELLES; LUCIANA DA SILVA SOARES; PATRÍCIA RIVOIRE MENELLI GOLDFELD; WALDOMIRO CARLOS MANFROI
Introdução: Enquanto o efeito da depressão e do estresse psicológico interno do indivíduo são mais reconhecidos, no curso da doença cardiovascular, o papel dos eventos vitais (estresse psicossocial) ainda permanece pouco explorado.Rafanelli e cols. (2005), em estudo de caso-controle, compararam sujeitos com Doença Arterial Coronariana (DAC) e sujeitos normais, encontrando que as categorias de eventos vitais foram em sua maioridade significativamente mais freqüentes nos pacientes, do que nos indivíduos sadios. Objetivos: Avaliar os níveis de estresse psicossocial em sujeitos portadores de Infarto Agudo do Miocárdio e compará-los com sujeitos sem comprometimento coronário. Materiais e Métodos: Estudo de caso-controle com uma amostra de 105 casos e 100 controles. Foram selecionados e entrevistados, entre os indivíduos submetidos a cateterismo cardíaco na unidade de Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia do HCPA, aqueles com história de Infarto recente (até um mês) e aqueles com as coronárias normais. Para a avaliação dos aspectos clínicos, foram coletadas informações sobre dados pessoais, incluindo fatores de risco para DAC, dados do exame físico e do cateterismo cardíaco. Para a avaliação do estresse psicossocial foi aplicada a Escala de Avaliação de Reajustamento Social. Resultados e Conclusões: O trabalho encontra-se em fase de análise dos dados e ainda não podemos apresentar os resultados. Estes estarão disponíveis na época da apresentação do pôster.
PENTRAXINA-3 (PTX-3): PREDITOR INDEPENDENTE DE EVENTOS INTRA-HOSPITALARES EM PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA
MARCELO COELHO PATRICIO;MARAIANA V FURTADO, GIOVANNA G. VIETTA, ALÍSSIA CARDOSO, FELIPPE ZANCHET, EMÍLIO H. MORIGUCHI, CARÍSI A POLANCZYK.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 42
Racional: A Pentraxina-3 (PTX-3), uma pentraxina de cadeia longa produzida por células cardíacas e vasculares em resposta a estímulo inflamatório, tem sido descrita como marcador prognóstico mais sensível e específico em pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA). Objetivo: Avaliar a relação entre níveis de PTX-3 e a ocorrência de eventos cardiovasculares intra-hospitalares em pacientes com SCA. Delineamento: Estudo de coorte. População: Foram incluídos 106 pacientes consecutivos, admitidos em um hospital universitário, com diagnóstico de SCA. Métodos: PTX-3 e proteína C-reativa (PCR) foram dosadas nas primeiras 24 horas da internação hospitalar. Durante a internação foi avaliada a incidência de eventos cardiovasculares (angina refratária, infarto agudo do miocárdio novo, ocorrência de arritmia com repercussão hemodinâmica, desenvolvimento de insuficiência cardíaca e óbito). Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 63 +11 anos, 58 (52%) eram do sexo masculino. A correlação de Pearson entre níveis de PTX-3 e PCR foi de r = 0,40 (P=0,01) e entre PTX-3 e troponina de r=0,34 (P=0,01). A mediana de PTX-3 foi maior nos pacientes com eventos em comparação aos pacientes sem eventos, 9,64 ng/ml (Amplitude Interquartil (AIQ) 6,41-17,77) e 7,09 ng/ml (AIQ 4,79-7,09), respectivamente (P=0,07). Na análise multivariada, após ajuste para fatores de risco clínicos, PTX-3 elevada foi relacionada com maior incidência de eventos (HR 1,07 IC 95% 1,01-1,12 P=0,018). Entretanto, com a inclusão de variáveis bioquímicas no modelo, troponina e PCR, a PTX-3 não se mostrou associada de modo independente com eventos. Conclusão: Os níveis séricos de PTX-3 em nosso estudo foram significativamente correlacionados com níveis de PCR e troponina, sendo a PTX-3 outro marcador sérico de eventos cardiovasculares intra-hospitalares. Estes achados corroboram a associação entre inflamação com prognóstico de pacientes com SCA, apontando para novos marcadores como impacto clínico.
NÍVEIS SERIADOS DE PROTEÍNA C-REATIVA EM PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA ESTÁVEL
LILLIAN GONÇALVES CAMPOS;LUCIANE M.F. RESTELATTO, RODRIGO A. RIBEIRO, MARIANA V. FURTADO, PAULO V.S. CAMARGO, CAROLINE M.M. COLA, PAULO R.M. ROSA, CAROLINA F. BECKER, MARCELO C. PATRÍCIO, ALÍSSIA CARDOSO, IURI M. GOEMANN, CARISI A. POLANCZYK
Introdução: Marcadores inflamatórios têm sido relacionados com risco para eventos cardiovasculares (CV). Entretanto, não é conhecido o valor preditivo da proteína C-reativa (PCR) seriada em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) estável. Objetivo: Avaliar valor prognóstico de dosagem de PCR seriada e suas variações em pacientes com DAC estável. Materiais e Métodos: Estudo de coorte de 202 pacientes com diagnóstico de DAC em acompanhamento ambulatorial especializado. Os pacientes foram avaliados em consultas a cada 4 meses, nas quais eram coletadas amostras de sangue e registradas a ocorrência de óbito, síndrome coronariana aguda e acidente cerebrovascular. Foram dosados PCR ultrassensível em 3 a 5 amostras para cada paciente. A relação entre níveis de PCR e eventos CV foi avaliada por modelo de Cox multivariado, utilizando a primeira medida de PCR (ponto de corte = 3 mg/dl) e a média das medidas de PCR. Resultados: A idade média foi de 61±10 anos e 25% com revascularização prévia. Medidas seriadas de PCR mostraram variação individual importante no período (correlação entre medidas r=0,61 - 0,67), mediana do delta de 1,3 mg/ml (amplitude IQ 4,7 mg/ml), considerando a primeira PCR e o valor máximo das demais. Não houve associação entre esta flutuação e ocorrência de eventos CV ao longo do seguimento. Em análise multivariada, ajustando para idade, sexo, diabetes e revascularização inicial, níveis basais de PCR maiores que 3mg/dl mostraram-se associados com eventos CV (HR 1,48 IC 95% 1,02–2,13). Conclusão: Níveis basais de PCR estiveram associados com pior prognóstico. Entretanto, medidas seriadas apresentaram grande variação individual, tornando difícil encontrar uma aplicabilidade na prática clínica para dosagem seriada em indivíduos com DAC estável.
POLIMORFISMOS DO GENE DA ÓXIDO NÍTRICO SINTASE ENDOTELIAL (ENOS T-786C, VNTR 4A/B E GLU298ASP) NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
NIDIANE CARLA MARTINELLI;KÁTIA GONÇALVES DOS SANTOS; FÁBIO MICHALSKI VELHO; DAIANE SILVELLO; CAROLINA RODRIGUES COHEN; PAULA MARSON; NADINE CLAUSELL; LUIS EDUARDO ROHDE
Introdução: A enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) produz o vasodilatador óxido nítrico. Entre os polimorfismos localizados no gene da eNOS, uma substituição de base na região promotora
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 43
(T-786C), uma repetição de 27 pb no intron 4 (VNTR 4a/b) e uma troca de aminoácido no éxon 7 (Glu298Asp) podem alterar os níveis desta enzima. Objetivo: Avaliar a relação dos polimorfismos acima descritos com a suscetibilidade e com a mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca (IC). Métodos: Foram analisados 295 pacientes com IC por disfunção sistólica acompanhados no Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do HCPA. Participaram do grupo controle 277 indivíduos doadores de sangue atendidos no Serviço de Hemoterapia do HCPA. A análise dos polimorfismos foi realizada pela técnica de PCR-RFLP. Resultados: As freqüências alélicas e genotípicas do polimorfismo T-786C não diferiram entre pacientes e controles afro-descendentes. Entre os caucasianos, o alelo C foi mais freqüente nos controles do que nos pacientes (42% versus 35%, p=0,04). Em relação à variante 4a/b, as freqüências alélicas e genotípicas foram semelhantes entre os diferentes grupos (p>0,05). Quanto ao polimorfismo Glu298Asp, as freqüências alélicas e genotípicas não diferiram entre os casos e controles caucasóides (p>0,05). Entre os afro-descendentes, a freqüência do alelo Asp foi menor nos pacientes do que nos indivíduos controles (17% versus 30%, p=0,009). Além disso, estas variantes não influenciaram na sobrevida dos pacientes em um seguimento de 94±71 meses em ambos os grupos étnicos (p>0,05). Conclusão: Os polimorfismos T-786C e Glu298Asp no gene da eNOS parecem ter influência na suscetibilidade à IC. Porém, novas análises com um tamanho amostral maior são necessárias para corroborar os resultados obtidos.
RELAÇÃO DOS POLIMORFISMOS FUNCIONAIS DOS GENES DAS METALOPROTEINASES DE MATRIZ 1 E 3 COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO SISTÓLICA
CAROLINA RODRIGUES COHEN;KÁTIA GONÇALVES DOS SANTOS; FÁBIO MICHALSKI VELHO; DAIANE SIVELLO; NIDIANE CARLA MARTINELLI; ANDRÉIA BIOLO; ROBERTO GABRIEL SALVARO; NADINE CLAUSELL; LUIS EDUARDO ROHDE
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada pelo remodelamento cardíaco e reestruturação da matriz extracelular realizada pelas metaloproteinases de matriz (MMPs). Estudos têm evidenciado que os polimorfismos nas regiões promotoras dos genes da MMP-1 (-1607 1G/2G) e da MMP-3 (-1171 5A/6A) afetam a expressão gênica e têm sido implicados em doenças cardíacas como o infarto agudo do miocárdio (IAM). Objetivos: Avaliar o papel desses polimorfismos genéticos na patogênese da IC. Material e métodos: Participaram deste estudo 220 caucasianos e 92 afro-descendentes com IC por disfunção sistólica (casos) e 283 indivíduos brancos e 83 negros doadores de sangue (controles). A genotipagem foi realizada por PCR-RFLP. Resultados: As freqüências alélicas foram semelhantes entre casos e controles em ambos os grupos étnicos (p>0,05 para todas as comparações). Da mesma forma, não houve diferenças nas freqüências genotípicas entre casos e controles em brancos e negros (p>0,05). Entretanto, analisando o grupo dos pacientes brancos, observou-se que a IC de etiologia isquêmica e o IAM foram mais freqüentes nos portadores do alelo 2G (MMP-1) do que nos homozigotos para o alelo 1G (47% contra 27%, p=0,013; 42% contra 21%, p=0,011, respectivamente). Por outro lado, a mortalidade por IC foi mais freqüente nos pacientes 1G1G do que nos portadores do alelo 2G (brancos: 30% contra 14%, p=0,014; negros: 46% contra 14%, p=0,016, respectivamente). Conclusão: Os polimorfismos referidos não parecem estar associados com a suscetibilidade à IC. No entanto, nossos resultados sugerem que o alelo 2G (MMP-1) poderia ser um fator de risco para eventos isquêmicos agudos. Do mesmo modo, o genótipo 1G1G parece estar envolvido com a mortalidade nos pacientes com IC.
PAPEL DO ECOCARDIOGRAMA NA AVALIAÇÃO ETIOLÓGICA DE PACIENTES AMBULATORIAIS
PRISCILA RAUPP DA ROSA;ANDRÉIA BIOLO; LÍVIA GOLDRAICH; FREDERICO FALCETTA, EDUARDO DYTZ ALMEIDA; JERÔNIMO OLIVEIRA;LUÍS EDUARDO ROHDE; NADINE CLAUSELL
INTRODUÇÃO: O ecocardiograma é fundamental na avaliação de pacientes com insuficiência cardíaca (IC). Além de determinar a presença disfunção sistólica, também auxilia na avaliação etiológica. Entretanto, existem poucos dados sistemáticos sobre sua utilidade para definição de etiologia da IC. OBJETIVO: Avaliar características diagnósticas de parâmetros ecocardiográficos na confirmação ou exclusão da etiologia de pacientes com IC. DELINEAMENTO: Estudo transversal prospectivo. PACIENTES: Pacientes com IC e fração de ejeção < 50% em acompanhamento no ambulatório de IC de hospital universitário. MÉTODOS: Coleta prospectiva de dados. Etiologia definida com dados clínicos, utilizando teste de esforço, cintilografia miocárdica e angiografia
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 44
coronariana quando indicados. Parâmetros ecocardiográficos estudados: fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), diâmetros diastólico e sistólico do VE, átrio esquerdo, espessura de septo (ES) e parede posterior (PP) e espessura parietal relativa (EPR = 2PP/DDVE), presença de alteração segmentar (ALTSEG). RESULTADOS: Foram incluídos 191 pacientes (idade 61+/-13 anos, 67% sexo masculino, FEVE 32+/-9%). As etiologias mais comuns foram: isquêmica (35%), hipertensiva (21%), idiopática (14%) e por álcool (12%). Entre as variáveis ecocardiográficas estudadas, apenas ALTSEG e marcadores de hipertrofia ventricular (ES, PP e EPR) foram capazes de discriminar uma etiologia das demais: ALTSEG teve sensibilidade (Sen) de 68% e especificidade (Esp) de 91% para etiologia isquêmica, e EPR teve a melhor acurácia para etiologia hipertensiva: Sen=50% e Esp=85%. CONCLUSÕES: Entre os parâmetros ecocardiográficos avaliados, ALTSEG e EPR parecem marcadores específicos para etiologias isquêmica e hipertensiva respectivamente, enquanto os índices funcionais não discriminaram as etiologias. A avaliação sistemática do ecocardiograma e outros exames subsidiários pode auxiliar para o uso mais racional destes exames na definição etiológica da IC.
PREVALÊNCIA E IMPACTO CLÍNICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR EM PACIENTES HOSPITALIZADOS POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA
EDUARDO DYTZ ALMEIDA;LIVIA GOLDRAICH; ANDRÉIA BIOLO; PRISCILA RAUPP DA ROSA; LUIS BECK DA SILVA NETO; NADINE OLIVEIRA CLAUSELL; LUIS EDUARDO ROHDE
Introdução: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é frequentemente identificada em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). A associação entre HAP e IC tem implicação prognóstica adversa, particularmente nos pacientes com disfunção sistólica. Sabe-se pouco sobre prevalência e impacto clínico da HAP na IC com fração de ejeção preservada (FEp). Objetivos: Avaliar prevalência, características clínicas e impacto prognóstico da HAP em pacientes hospitalizados por IC com FEp. Material e Métodos: Pacientes consecutivos internados no HCPA por IC descompensada, de Ago/00 a Mar/05, foram avaliados prospectivamente durante a internação. Foram incluídos apenas indivíduos com estimativa ecocardiográfica da pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP). Definiu-se FEp como fração de ejeção ≥50%, e HAP como PSAP≥50mmHg. Resultados: Foram analisadas 437 internações por IC (idade 66±13 anos; 49,5% homens; 34% IC isquêmica; FEp 28,5%; PSAP 53±15mmHg; HAP 59%). A prevalência de HAP foi semelhante entre os grupos de função sistólica. A presença de HAP associou-se a maior taxa de óbito intra-hospitalar (15% HAP x 6,5% sem HAP; p=0,006). Após estratificação para função sistólica, a associação permaneceu significativa apenas no grupo com FEp (21% HAP x 4,5% sem HAP; p=0,01). Nesse grupo, HAP foi preditor independente de óbito intra-hospitalar após ajuste para os marcadores de risco do Registro ADHERE (PAS≤115mmHg, Cr≥2,75mg/dL, BUN≥43mg/dL) (RC 5,5; IC95% 1,1-27,9;p=0,03). Conclusão: A HAP é muito prevalente em pacientes hospitalizados por IC descompensada, relacionando-se a pior prognóstico intra-hospitalar. Essa associação adversa parece ser mais importante nos indivíduos com FEp, nos quais estratégias terapêuticas para o manejo da HAP poderiam ser potencialmente benéficas.
UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS EM PACIENTES AMBULATORIAIS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: IMPACTO NA PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
EDUARDO DYTZ ALMEIDA;LIVIA GOLDRAICH; GABRIELA CORRÊA SOUZA; PRISCILA RAUPP DA ROSA; DIOGO PIARDI; ELIZA RICARDO DALSASSO; FREDERICO SOARES FALCETTA; CRISTIANE TONIAL; LUIS BECK DA SILVA NETO; LUIS EDUARDO ROHDE; NADINE OLIVEIRA CLAUSELL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) pode ser vista como um estado catabólico complexo, e sugere-se que a desnutrição determine um prognóstico adverso. No entanto, a avaliação do estado nutricional (EN) desses pacientes não é realizada rotineiramente, sendo dificultada pela inexistência de um padrão-ouro para o diagnóstico de desnutrição. Objetivos: Determinar a prevalência de desnutrição em pacientes com IC de acordo com diferentes parâmetros antropométricos e avaliar suas implicações clínicas. Material e Métodos: Pacientes do ambulatório de IC realizaram uma avaliação nutricional durante a consulta médica. A avaliação antropométrica foi realizada através de: índice de massa corporal (IMC), circunferência braquial (CB), prega do tríceps (PCT) e circunferência
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 45
muscular do braço (CMB). O IMC foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (IMC-OMS) e por Lipschitz (IMC-idosos). Os dados clínicos foram obtidos pela revisão do prontuário de cada paciente. Resultados: Foram avaliados 227 pacientes (66% homens, idade 60±13 anos, 36% IC isquêmica, fração de ejeção 37±12%). Na classificação do EN, o uso de medidas que avaliam a composição corporal (CC) indicou uma maior prevalência de desnutrição nos pacientes (p < 0,0001): 1,5% IMC-OMS; 8,5% IMC-idosos; 8% CB; 16,5% PCT e 13% CMB. Em análise multivariada, a presença de desnutrição pelo critério IMC-idosos associou-se independentemente a internações totais (RC=3,7; IC95% 1,2–11,2; p=0,019) e cardiovasculares (RC=3,5; IC95% 1,2–10; p=0,016) no último ano. Conclusão: A desnutrição parece ser subdiagnosticada pelo IMC-OMS, medida mais utilizada na prática clínica. A adição de pelo menos um parâmetro antropométrico que avalie a CC parece auxiliar na identificação desse grupo de indivíduos, que apresenta maior morbidade.
CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E PADRÕES DE REMODELAMENTO VENTRICULAR DE PACIENTES OBESOS AMBULATORIAIS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA POR DISFUNÇÃO SISTÓLICA
DIOGO SILVA PIARDI;LIVIA ADAMS GOLDRAICH, GABRIELA CORRÊA SOUZA, ELIZA DALSASSO RICARDO, PRISCILA RAUPP DA ROSA, EDUARDO DYTZ ALMEIDA, ANDRÉIA BIOLO, LUIS EDUARDO ROHDE, NADINE CLAUSELL
FUNDAMENTO: O aumento do índice de massa corporal (IMC) determina maior risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca (IC), mas parece estar associado à menor morbimortalidade entre indivíduos com a doença manifesta. Obesidade está relacionada à hipertrofia ventricular esquerda, mas as relações com remodelamento cardíaco são controversas. OBJETIVOS: Determinar prevalência, características clínicas e padrões de remodelamento ventricular de pacientes obesos ambulatoriais com IC por disfunção sistólica e correlacionar antropometria com medidas ecocardiográficas. DELINEAMENTO: Estudo transversal. MATERIAL E MÉTODOS: Pacientes ambulatoriais com IC e fração de ejeção (FE) igual ou inferior a 50% foram submetidos a avaliações clínica e nutricional durante consulta médica de rotina. A avaliação antropométrica constou de IMC, prega cutânea tricipital (PCT) e circunferência abdominal (CA). Remodelamento cardíaco foi avaliado por ecocardiografia mais próxima ao momento da avaliação. RESULTADOS: Foram avaliados consecutivamente 192 pacientes em acompanhamento no Ambulatório de IC do HCPA (idade= 61±12 anos, 70% homens, FE= 33±9 %, IMC= 27±5 Kg/m2, 38% etiologia isquêmica). A prevalência de obesos foi de 25%. Quando comparados aos pacientes eutróficos e com sobrepeso, obesos apresentaram menor idade, menor prevalência de anemia e melhores índices de função renal. Embora tenham demonstrado FE superior e diâmetros ventriculares menores, os obesos apresentaram massa cardíaca e padrões de hipertrofia e remodelamento semelhantes. FE se correlacionou significativamente com IMC (r=0,22;p=0,002), PCT (r=0,25;p=0,0001) e CA (r=0,15;p=0,03), mas o mesmo não foi observado em relação à espessura relativa de paredes e as medidas antropométricas. CONCLUSÕES: Apesar de melhores índices de função ventricular sistólica, a obesidade não parece estar associada a diferenças no padrão de hipertrofia ou remodelamento ventriculares nesses indivíduos.
EFEITO DA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO ESPESSAMENTO MÉDIO INTIMAL CAROTÍDEO E PROGRESSÃO DA ATEROSCLEROSE: REVISÃO DA LITERATURA
JULIANA MASTELLA SARTORI;MARTA NASSIF PEREIRA LIMA; PRISCILA RAUPP DA ROSA; EDUARDO DYTZ ALMEIDA; STEPHAN SODER, LUIS EDUARDO ROHDE, NADINE CLAUSELL
INTRODUÇÃO: Existem relatos de espessamento médio intimal carotídeo e progressão acelerada da aterosclerose entre pacientes submetidos à radioterapia para tratamento de neoplasias de cabeça e pescoço. OBJETIVO: Identificar as evidências disponíveis na literatura a respeito do tema. MÉTODOS: Realizamos uma busca no banco de dados PubMed, usando os unitermos: neck and head radiotherapy; aterosclerosis e intimal thickness. Restringimos a busca para artigos a partir da década de 90 em língua inglesa e excluímos relatos de casos. RESULTADOS: Encontramos 30 artigos, 13 foram excluídos porque não estavam relacionados com radioterapia para tratamento de neoplasia. Encontramos 13 estudos transversais, 2 estudos de coorte, 1 caso-controle, 2 estudos experimentais, 3 artigos de revisão. RESULTADOS: A melhor evidência nos mostra aumento significativo da espessura média intimal (EMI) carotídea 1 ano e 2 anos pós término do tratamento.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 46
CONCLUSÃO: A radioterapia determina aumento do EMI carotídeo em pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço. Em virtude da escassez de estudos que avaliem mais precocemente a progressão da aterosclerose e a contribuição de fatores predisponentes do EMI associados à radioterapia, pesquisas adicionais nesta área são necessárias.
CARACTERIZAÇÃO IMUNOINFLAMATÓRIA E DO METABOLISMO DO FERRO NA ANEMIA RELACIONADA À INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
STEPHAN ADAMOUR SODER;BRUNO SCHNEIDER DE ARAÚJO, ANDRESSA CARDOSO DE AZEREDO, ROBERTA REICHERT, CRISTIANE SEGANFREDO WEBER, LUÍS BECK DA SILVA NETO, NADINE CLAUSELL
Introdução: A coexistência de anemia e insuficiência cardíaca (IC) é frequente (4-55%), prejudicial para o estado hemodinâmico e está independentemente associada a uma maior morbimortalidade. Nesse contexto, torna-se primordial a melhor caracterização da etiologia da anemia nos pacientes com IC. Objetivos: Caracterizar a anemia em pacientes ambulatoriais com IC estável através da avaliação da atividade inflamatória, do metabolismo do ferro e dos níveis de eritropoetina (EPO) e descrever o seu perfil etiológico. Material e Métodos: Através de estudo transversal, analisamos pacientes com IC sistólica em acompanhamento ambulatorial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Critérios de inclusão: idade maior que 18 anos, classe funcional NYHA II – IV, ecocardiograma recente com fração de ejeção menor que 40%, tratamento inalterado nos últimos 3 meses, hemoglobina menor que 12 g/dl para mulheres e menor que 13 g/dl para homens. A avaliação é realizada através de consulta clínica, onde são coletados dados de exame físico e são solicitados exames laboratoriais, como ferritina, saturação da transferrina, transferrina, vitamina B12, ácido fólico e EPO, e, para exclusão de hemodiluição, determinação do volume eritrocitário com radioisótopos. Para a caracterização da atividade imunoinflamatória será realizada dosagem de Interleucina-6 e fator de necrose tumoral. A amostra foi calculada em 45 pacientes para intervalo de confiança de 95% e poder de estudo de 75%. Resultados e Conclusão: O trabalho encontra-se em fase de análise dos dados e ainda não podemos apresentar os resultados. Estes estarão disponíveis na época da apresentação do pôster.
USO CONCOMITÂNTE DE CLOPIDOGREL E OMEPRAZOL EM PACIENTES INTERNADOS
CAROLINA BALTAR DAY;AMANDA MAGALHÃES; PAOLA PANAZZOLO MACIEL, JOICE ZUCKERMANN; MARIA ANGÉLICA PIRES FERREIRA, LEILA BELTRAMI MOREIRA
Introdução: O FDA divulgou alerta, sobre o uso concomitante de inibidor da bomba de prótons (IBP) com clopidogrel. Pacientes que utilizaram clopidogrel mais IBP tiveram maior risco de hospitalização por recorrência de síndrome coronariana aguda, em comparação aos que utilizaram clopidogrel sem IBP (14,6% vs 6,9%; IC=95%). Objetivo: Descrever a freqüência de uso concomitante de omeprazol e clopidogrel em pacientes hospitalizados e verificar se houve redução do uso concomitante após divulgação de alerta de segurança. Metodologia: Estudo do tipo transversal, com pacientes adultos (idade média de 64 anos), sendo revisadas as prescrições de pacientes em uso de clopidogrel no período de 01/12/2008 a 1/03/2009, em busca de casos com uso concomitante de omeprazol. Resultados: De 343 pacientes com prescrição de clopidogrel, 80 (23,3%) usaram omeprazol em concomitância. O diagnóstico de maior prevalência foi Doença Isquêmica Crônica do Coração não especificada com 22 (27,5%). Em 75 casos (93,75%) a concomitância ocorreu nos primeiros dez dias de tratamento com clopidogrel. Em 94% dos casos houve concomitância de até 10 dias. A dose de omeprazol foi 20 mg/dia em 91,25%. Nenhum pacientes apresentou sangramento digestivo e apenas um tinha história de doença péptica. Ácido acetilsalisílico foi usado em 77 (96,25%) e a dose mais freqüente foi 100 mg/dia (75%). A taxa de concomitância antes da divulgação do alerta foi de 36% (76/207) e após o alerta foi de 2,9%(4/136) p menor 0,05 (95%IC) das prescrições de clopidogrel. Conclusão: Após o alerta os casos de concomitância reduziram consideravelmente. Conclui-se que houve uma mudança de conduta que coincidiu com os alertas sobre os riscos de interação, mostrando que as recomendações quanto à segurança estão sendo seguidas na instituição.
PERFIL DOS PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO DE PAREDE ANTERIOR ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 47
GABRIEL VEBER MOISÉS DA SILVA;VERA LÚCIA PORTAL, ADRIANE RAMOS, DANIEL RIOS PINTO RIBEIRO, EDUARDO MENTI
INTRODUÇÃO: IAM de parede anterior está associado a um pior prognóstico devido a maior incidência de complicações, como insuficiência cardíaca e mortalidade intra-hospitalar. OBJETIVOS: Conhecer o perfil e evolução dos pacientes com infarto de parede anterior. METODOLOGIA: Coorte prospectiva de Síndrome Coronariana Aguda (SCA) realizado no Instituto de Cardiologia do RS (IC-FUC). Na admissão, procede-se à dosagem sérica de Proteína C-Reativa – ultrassensível (PCR-us), fibrinogênio, glicemia e perfil lipídico. Durante a internação e 30 dias após o infarto, o paciente é acompanhado quanto à ocorrência de complicações clínicas. Dessa amostra, foram analisados os pacientes que apresentaram IAM da parede anterior levando em consideração a sua incidência, características basais como sexo, cor, idade e presença de fatores de risco e complicações intra-hospitalares e em 30 dias. RESULTADOS: Dos 613 pacientes com SCA incluídos no estudo, 22 por cento (PC) (138 pacientes) apresentavam IAMCSST anterior. Destes, 100 são do sexo masculino, com idade média de 60 anos e 123 da cor branca. Dentre os fatores de risco, a HAS esteve presente em 87 pacientes, história familiar positiva 64, tabagismo em 61. Destes pacientes avaliados, 54 apresentavam colesterol total acima de 200 mg/dL, 44 HDL-C acima de 40mg/dL, 30 triglicérides acima de 150 mg/dL e 118 glicemia acima de 100 mg/dL. O nível sérico médio da PCR-us foi 1.58 mg/L, e do fibrinogênio 285 mg/dL. Com relação às complicações intra-hospitalares, insuficiência cardíaca esteve presente em 27,5 PC e a mortalidade foi de 7,2 PC. A taxa de mortalidade após alta foi de 2,2 PC. CONCLUSÃO: A população com infarto de parede anterior apresenta múltiplos fatores de risco coronarianos e alto índice de complicações graves, incluindo mortalidade.
PERFIL EVOLUTIVO DO DIÂMETRO DIASTÓLICO VENTRICULAR ESQUERDO EM PACIENTES SÉPTICOS INTERNADOS NO CTI - HCPA
ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO;BRUNO SCHNEIDER DE ARAÚJO; STEPHAN ADAMOUR SODER; ROBERTA REICHERT; CYNTHIA AGUIAR RIBEIRO; TIAGO FURIAN; NADINE CLAUSELL
Introdução: Mortalidade na sepse é primariamente associada à disfunção de múltiplos órgãos com hipotensão refratária e colapso cardiovascular. A disfunção miocárdica freqüentemente acompanha a sepse grave e o choque séptico, sendo evidenciada por dilatação bi ventricular e reduzida fração de ejeção. O perfil temporal evolutivo do desempenho cardíaco em pacientes com sepse grave permanece relativamente inexplorado, especialmente em estágios precoces do desenvolvimento da síndrome. Objetivo: Avaliar o comportamento do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) em pacientes com sepse grave e choque séptico, relacionando-o com a taxa de mortalidade nesses pacientes. Métodos: Foram incluídos 45 pacientes adultos que internaram no CTI-HCPA, com no máximo 24h do diagnóstico de sepse grave ou choque séptico, sendo excluídos aqueles com insuficiência cardíaca prévia. Foram coletados dados demográficos dos pacientes e realizados ecocardiogramas nas primeiras 24h, 72h e 7 dias após a internação avaliando a fração de ejeção e o DDVE. Os pacientes foram categorizados entre aqueles que desenvolveram ou não dilatação ventricular em relação ao exame prévio. A seguir foi explorada a relação destes achados com taxas de mortalidade. Resultados: Do total de pacientes, 35,5% eram homens, a idade média foi de 51,2 ± 18,4 anos e o APACHE médio de 22,9. O grupo que desenvolveu dilatação teve taxa de mortalidade significativamente menor (Teste χ² = 0,03). Conclusão: Demonstramos que dilatação precoce dos diâmetros ventriculares pode identificar pacientes que evoluirão com menor taxa de mortalidade na sepse grave. Estes dados sugerem que alterações adaptativas ventriculares podem exercer efeitos benéficos na função ventricular influenciando positivamente o desfecho de pacientes com sepse.
LOSS OF MYOCARDIAL FUNCTION AND REDOX BALANCE - RELATIONSHIP BETWEEN SURVIVAL PATHWAY ACTIVATION AND VENTRICULAR REMODELING MECHANISMS POST-AMI
ANGELA MARIA VICENTE TAVARES;ARAUJO, ASR; DALL ALBA, R; TAFFAREL, AC; NICOLAIDIS, G; BELLÓ-KLEIN, A; ROHDE, LE; CLAUSELL, N
Background: Events occurring subsequent to acute myocardial infarction (AMI) are partially determinants of the cardiac damage extent later on. The role of redox balance in the post-ischemic cardiac tissue may be critical in this process. Objectives: To assess cardiac function and its correlation with redox balance in cardiac tissue 48 hours post-experimental AMI. Methods: Male
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 48
Wistar rats, 8-week-old (n=6/group), weighing 229±24g, were randomized in two groups: Sham-operated (S) and AMI. AMI was produced in rats via ligation of the left coronary artery. Cardiac function parameters were evaluated by echocardiography 48h later. Oxidative profile was studied by measuring antioxidant enzymes expression of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and peroxiredoxine 6 (Prx-6). Oxidative damage was quantified by protein oxidation (carbonyls), lipid peroxidation (chemiluminescence - CL), reduced (GSH) and oxidized (GSSG) glutathione ratio and hydrogen peroxide (H2O2) concentration (nmol/mg protein) by spectrophotometer. Results: Ejection fraction (EF) was lower in the infarct group: AMI (51±5%) vs. S (77±6%) (p=0.0001). H2O2 was diminished 48 hours post-AMI: AMI (0.022 ± 0.005) vs. S (0.032 ± 0.008) (p=0.024). Prx-6 was increased in infarcted group: AMI (163.5 ± 4.7) vs. S (144.5 ± 2.4). We found a correlation between reduced/oxidized glutathione ratio (GSH/GSSG) and EF (r=0.79; p=0.009) at 48 hours post-MI. CL, carbonyls, SOD, and CAT were not different between groups. Conclusion: These data suggest that the loss of myocardial function and impaired redox balance may be associated with the activation of mechanisms that trigger the process of ventricular remodeling in heart failure. In this study, the low H2O2 concentrations noted may act as a \'sensor\' that could be regulated by Prx-6 for survival pathway activation within this timeframe following AMI.
PARACRINE EFFECTS OF EARLY BONE MARROW CELLS TREATMENT IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION IN RATS: TISSUE EVALUATION OF INFLAMMATORY PROCESS, REDOX STATUS AND ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS
ANGELA MARIA VICENTE TAVARES;ARAUJO, ASR; BALDO, G; MATTE, U; BELLÓ-KLEIN, A; ROHDE, LE; CLAUSELL, N
Background: The redox unbalance and inflammation are associated with cardiac dysfunction post-acute myocardial infarction (AMI). Transplant of bone marrow cells (BMC) can exert beneficial effects through paracrine actions on the host tissue. Objective: To assess cardiac function and its correlation with redox balance and inflammatory process in cardiac tissue 48 hours post-AMI treated with BMC. Methods: Male 8-week-old Wistar rats were randomized into four groups: Sham-operated (S); AMI; S + treatment (ST) and AMI + treatment (AMIT). Induction of AMI was accomplished through ligation of the left anterior descending coronary artery, with open-chest under mechanic ventilation. Determination of ejection fraction (EF) and infarcted area (%) were evaluated by echocardiography. Tumor necrosis factor (TNF-alpha) and Interleukin 6 (IL-6) were measured by western blot, and the oxidative stress (OE) was evaluated by reduced and oxidized glutathione ratio (GSH/GSSG) and measured by spectrophotometer. Results: Infarcted area was not different between groups AMI (52.8±5.7) vs. AMIT (54.2±4.3). EF (%) was lower in the infarcted groups: AMI (51±5%) vs. S (74±7%) (p=0.001) and AMIT (56±10%) vs. ST groups (73±3%) (p=0.001). The OE was increased in infarcted groups, AMI (8.21±3.8) vs. S (14.61±3.4) (p<0.05), AMIT (2.1±0.7) vs. ST (4.7±1.5) (p<0.05) and with treatment the OE was high, AMIT (2.1±0.7) vs. AMI (8.21±3.8) (p<0.005). However, it was observed that BMC treatment was able to minimize ventricular hypertrophy (mg/g) in AMIT (2.86±0.2) vs. AMI group (3.40±0.6) (p<0.001) and minimize TNF-alpha and IL-6 expression in infarcted treated group. We found a positive correlation between ventricular hypertrophy and cytokines‟ expression of TNF-alpha (r=0.732; p=0.001), and IL-6 (r=0.720; p=0.001). Conclusions: Our data suggest that BMC treatment attenuated the ventricular hypertrophy and reduced the expression of pro-inflammatory cytokines through its paracrine effects, at least in this time point.
SEGUIMENTO DOS PACIENTES TRATADOS NO CENTRO DE DISLIPIDEMIA E ALTO RISCO DO HCPA: MELHORA DO PERFIL LIPÍDICO E PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ASSOCIADO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
BRUNA PELLNI FERREIRA;DANIELA DE SOUZA FERREIRA; LETÍCIA GUIMARÃES SACHETT,; ANDRÉA HEISLER; WALTER ESCOUTO MACHADO; EMÍLIO H. MORIGUCHI; ANDRY FITERMAN COSTA; PAULO DORNELLES PICON
Introdução: A dislipidemia é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doença aterosclerótica, especialmente quando associada a outras co-morbidades. Em 2004, o Centro de Dislipidemia e Alto Risco (CDA) foi criado no HCPA para servir como Centro de Referência da Secretaria Estadual da Saúde/RS para a implementação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para dislipidemia. Objetivo: Avaliar, no cenário de um
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 49
ambulatório de pacientes de alto risco cardiovascular, a taxa de resposta ao tratamento através da análise do perfil lipídico e pressão arterial sistêmica dos pacientes desse ambulatório. Materiais e Métodos: Pacientes encaminhados ao Centro de Dislipidemia e Alto Risco do Serviço de Medicina Interna do HCPA – Centro de Referência da SES-RS, entre dezembro de 2004 e maio de 2009, foram submetidos a uma avaliação comparativa entre o perfil lipídico e a pressão arterial sistêmica do início do acompanhamento nesse centro com o último perfil lipídico dosado e a última aferição pressórica feita nesse mesmo centro. Os níveis pressóricos e de colesterol foram comparados utilizando-se teste t para amostras pareadas. Resultados e Conclusão: Entre os 344 pacientes acompanhados nesse ambulatório houve uma redução no colesterol total (223,5+ 61,9 vs. 194,3+ 66,5; p< 0,001), triglicerídeos (241,9+ 337,7 vs. 214,5+ 327,1 p< 0,001), LDLc (135,3+ 52,5 vs. 111+ 48,5; p< 0,001), colesterol não-HDL (174,5+ 59,8 vs. 146,5+ 61,6; p< 0,001), pressão arterial sistólica (142,9+22,2 vs. 136,2+ 40,0; p=0,002) e pressão arterial diastólica (85,9+13,7 vs. 79,7+ 18,0; p< 0,001). Os resultados demonstram uma melhora no perfil de risco dos pacientes, embora alguns destes ainda não tenham alcançado a meta proposta.
A INFLUÊNCIA DO TABACO NO HDL: NÍVEIS SÉRICOS REDUZIDOS EM PACIENTES TABAGISTAS COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR
BRUNA PELLNI FERREIRA;PAOLA PAGANELLA LAPORTE; LARA RECH POLTRONIERI; MARIANNA DE ABREU COSTA; FERNANDA FISCHER; AMANDA KLEIN DA SILVA PINTOS; EMÍLIO H. MORIGUCHI; ANDRY FITERMAN COSTA; PAULO DORNELLES PICON
Introdução: O tabagismo é conhecido por ser um importante fator de risco para diversas doenças, entre essas se encontram as doenças cardiovasculares. Já é descrita na literatura a associação entre níveis séricos reduzidos de HDL e o consumo de cigarros. Objetivo: Avaliar a associação entre níveis séricos reduzidos de HDL e o hábito tabágico em pacientes de alto risco cardiovascular em acompanhamento no Centro de Dislipidemia e Alto Risco-HCPA. Materiais e métodos: Foram avaliados 333 pacientes do Centro de Dislipidemia e Alto Risco-HCPA quanto ao hábito tabágico. Os pacientes foram alocados segundo suas características em: fumantes, ex-fumantes e não-fumantes. Foi comparado o nível de colesterol HDL em cada um dos grupos de hábito tabágico através da análise de variância (ANOVA). Resultados e Conclusões: O nível sérico de HDL dos não fumantes (51,2+14,9; n = 156) mostrou-se significativamente maior quando comparado ao dos fumantes ativos (44,0+12,5; n = 41) ou ex-fumantes (47,8+13,3; n = 136) (p = 0,007). Foi demonstrado, como esperado, que há uma relação inversa entre níveis séricos de HDL e tabagismo.
ALTERAÇÕES ECOCARDIOGRÁFICAS NA APNEIA DO SONO GRAVE: IDADE É O PRINCIPAL PREDITOR?
LAURA RAHMEIER;CRISTIANE MARIA CASSOL;DANIELA MASSIERER;MARCIA K FISCHER;RENATA S. KAMINSKI;CINTIA Z. FIORI;CARLA KOTTWITZ;GUSTAVO N. DE ARAUJO;SIMONE K. RITTER;DENIS MARTINEZ
Introdução: A apneia do sono (AS) é problema relevante de saúde pública com sérias repercussões cardiovasculares. A AS é a principal causa identificável de hipertensão. A ecocardiografia (Eco) está alterada na AS. Não existem, entretanto, estudos identificando precisamente os fatores relacionados com as anormalidades anatômicas e funcionais na AS grave (ASG). Objetivos: Avaliar alterações na Eco em pacientes com ASG. Materiais e Métodos: Incluíram-se 83 casos sequenciais de ASG submetidos a polissonografia convencional, que realizaram Eco bidimensional com Doppler a cores. A ASG foi definida pelo índice de apneia e hipopneia (IAH) acima de 50 AH/h. Resultados e Conclusões: A amostra (92% do gênero masculino) tinha média de idade (± desvio padrão) de 49(±10) anos. O IAH era de 73(±26) AH/h, 45% eram hipertensos. Da amostra, 52 casos (63%) apresentaram anormalidade na Eco, sendo a predominante a disfunção diastólica de VE (33%). Apenas 1 caso tinham VD anormal e 4 eram limítrofes. Nos hipertensos, observou-se maior frequência de todas as anormalidades da Eco, entretanto, na análise multivariada, apenas a idade explicou as alterações da Eco, quando ajustada para fatores de confusão como duração do ronco, IAH, índice de massa corporal e pressão arterial média. Os resultados indicam que a maioria dos pacientes com AS no extremo do espectro de gravidade têm predominantemente disfunção ventricular esquerda, especialmente a partir dos 45 anos de idade, mas sem relação com IAH, hipoxemia e obesidade. As alterações observadas são compatíveis com o processo de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 50
envelhecimento, mas serão necessários estudos longitudinais controlados para quantificar a participação da AS na fisiopatogenia da disfunção diastólica.
ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS E POLIMORFISMOS GENÉTICOS DAS METALOPROTEINASES DE MATRIZ 1, 3 E 9 COM SANGRAMENTO INTRA-PLACA DA CARÓTIDA
DAIANE NICOLI SILVELLO DOS SANTOS FERREIRA;LUCIANE BARRENECHE NARVAES; LUCIANO CABRAL ALBUQUERQUE; LUISE MAURER; KÁTIA GONÇALVES SANTOS; LUIS EDUARDO ROHDE
Introdução: O sangramento intra-placa (SIP) da carótida é um marcador de instabilidade do ateroma. As metaloproteinases de matriz (MMP) são enzimas que degradam a matriz extracelular, levando à instabilidade de placas vulneráveis. Polimorfismos funcionais nos genes das MMPs podem alterar os níveis séricos destas enzimas e identificar pacientes propensos a sangramento intra-placa. Objetivo: Analisar a associação dos níveis séricos e polimorfismos nos genes MMP-1 (–1607 1G/2G), MMP-3 (–1612 5A/6A) e MMP-9 (–1562 C/T) com a ocorrência de sangramento intra-placa na artéria carótida. Métodos: Foram avaliados 82 pacientes submetidos à endarterectomia de carótida. A presença de SIP foi avaliada por ressonância nuclear magnética (RNM) e histologia. Os níveis séricos das MMPs foram dosados por ELISA e a genotipagem foi realizada por PCR-RFLP. Resultados: Os pacientes eram predominantemente homens (63%) e hipertensos (88%) com idade média de 67±9 anos. Os níveis séricos da MMP-9 foram maiores nos pacientes com SIP detectado na RNM comparados com os pacientes sem SIP (245±172 ng/mL versus 162±112 ng/mL, respectivamente; p=0,031). Esses resultados também foram observados na histologia (244±173 ng/mL versus 157±102 ng/mL, respectivamente; p=0,006). Não foi observada associação entre os níveis séricos das MMP-1 e 3 com o sangramento intra-placa. Em relação aos polimorfismos nos genes das MMPs, não houve associação dos alelos de risco com os níveis séricos e sinais de sangramento intra-placa, tanto por RNM quanto por análise histológica (p>0,05 para todas as comparações). Conclusão: Nossos resultados indicam que os níveis séricos da MMP-9 podem estar relacionados aos eventos que levam ao sangramento intra-placa em pacientes submetidos à endarterectomia de carótida.
CORRELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA PARIETAL MÁXIMA DO VENTRÍCULO ESQUERDO E A OCORRÊNCIA DE ARRITMIAS VENTRICULARES NA CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA
MARCEL DE ALMEIDA DORNELLES;ADRIAN HINSCHING; IULEK GORCZEVSKI; FRANCIELE SABADIN BERTOL; VALÉRIA FREITAS; MARCO ANTÔNIO RODRIGUES TORRES; BEATRIZ PIVA E MATTOS
INTRODUÇÃO: Na cardiomiopatia hipertrófica (CMH) áreas de fibrose constituem potencial substrato arritmogênico e guardam relação direta com a espessura parietal máxima (EPM) do ventrículo esquerdo (VE) e possivelmente com o desenvolvimento de arritmias ventriculares. OBJETIVO: Analisar a correlação entre a freqüência de arritmias ventriculares registradas no Holter de 24 horas e a EPM do VE avaliada pelo ecocardiograma (ECO). MÉTODO: Trinta pacientes ambulatoriais consecutivos realizaram de forma prospectiva e contemporânea ECO e Holter de 24 horas. Os pacientes foram divididos em 4 classes de acordo com a freqüência de arritmias ventriculares: I - até 200 extra-sístole (ES), II - mais de 200 ES, III - ES ventriculares pareadas e IV - taquicardia ventricular não-sustentada, sendo estas correlacionadas com a EPM do VE. Foi utilizado teste de correlação de Pearson, estabelecendo-se um nível de significância de 0,05. RESULTADO: Não ocorreu correlação entre EPM do VE com a freqüência de arritmias ventriculares. CONCLUSÃO: Embora a EPM do VE avaliada por ECO, quando elevada seja considerada fator predisponente à morte súbita, não foi observada correlação com a freqüência de arritmias ventriculares premonitórias no Holter.
INFLUÊNCIA DO GRADIENTE SUBAÓRTICO SOB A DINÂMICA DE ENCHIMENTO DIASTÓLICO DO VENTRÍCULO ESQUERDO NA CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA
IULEK GORCZEVSKI;ADRIAN HINSCHING; FRANCIELE SABADIN BERTOL; MARCEL DORNELLES; VALÉRIA FREITAS; MARCO ANTONIO RODRIGUES TORRES; BEATRIZ PIVA E MATTOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 51
Embasamento: A obstrução dinâmica na via de saída do ventrículo esquerdo (VE) relaciona-se na cardiomiopatia hipertrófica (CMH) à progressiva incapacidade funcional e à insuficiência cardíaca. Elevação das pressões de enchimento do VE e remodelamento de câmaras esquerdas são observadas na presença de graus variáveis e dinâmicos de gradiente subaórtico. Objetivo: Analisar comparativamente na CMH com e sem componente obstrutivo índices ecocardiográficos relacionados à pressão de enchimento do VE e ao remodelamento de câmaras esquerdas. Métodos: A variável E/E\', bem como o índice do volume do átrio esquerdo (AE) e seu respectivo diâmetro foram comparados entre 2 grupos de pacientes com (n=14) e sem (n=14) obstrução dinâmica da via de saída do VE e gradiente sistólico ≥30mmHg em repouso e/ou Valsalva. Foi utilizado o teste t para amostras independentes, estabelecendo-se um nível de significância de 0,05. Resultados: No grupo com obstrução da via de saída do VE, foi evidenciado aumento da relação E/E\' (23,66±8,37 vs 17,4±,5,43; P=0,027), do diâmetro do AE (51,07±7,8 mm vs 41,21±6,8 mm; P=0,002) e do índice de volume do AE (54,32±20,27 vs 39,87±11,91; P=0,042). Conclusão: Na CMH, a obstrução dinâmica da via de saída do VE associa-se à pressão de enchimento mais elevada e maior remodelamento do AE.
EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO ORAL DE CÁPSULAS DE EXTRATO DE BERINJELA NO PERFIL LIPÍDICO DURANTE JEJUM E PERÍODO PÓS-PRANDIAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO E CONTROLADO POR PLACEBO
LUCIA COSTA CABRAL FENDT;VANESSA CHIARADIA; ANDRY F. COSTA; DAUANA P. EIZERIK; PAULO D. PICON
Introdução: O extrato desidratado de berinjela (Solanum melongena) vem sendo usado pela população como um tratamento alternativo para a dislipidemia há décadas, devido a seu alto teor de flavonóides, os quais possuem suposta atividade anti-oxidante. Estudos revelam uma relação inversa entre o consumo de flavonóides e a mortalidade por doença coronariana. O objetivo deste estudo foi aferir o efeito da administração de cápsulas de extrato desidratado de berinjela no perfil lipídico de indivíduos saudáveis. Métodos: Após assinar o consentimento informado, 59 voluntários saudáveis foram randomizados para receber cápsulas contendo 450mg de extrato de beringela ou placebo, duas vezes ao dia, durante 14 dias. No ultimo dia, os voluntários foram submetidos a um teste de sobrecarga lipídica imediatamente após ingerir as cápsulas, de acordo com a randomização prévia. O perfil lipídico foi verificado durante o jejum nos dias 0 e 14, e neste ultimo dia foi checado também após a sobrecarga lipídica. Resultados: Os níveis de triglicerídeos encontrados no grupo berinjela, expressos como mediana (amplitude interquartil), foram 69mg/dl (51-102), 69(56-94) e 92(64-120), antes do tratamento, no dia 14 em jejum e no mesmo dia no período pós-prandial, respectivamente. No grupo placebo, os resultados foram 92mg/dl (77-128), 79(60-108) e 98(73-142), respectivamente. Não houve interação estatísticamente significativa entre o tempo e o grupo com relação aos níveis de triglicerídeos (P=0.208). Tampouco foi encontrada diferença nos níveis de colesterol total (P=0.973), HDL (P=0.059) ou LDL (P=0.611) entre os dois grupos. Conclusão: Nossos resultados revelam que o uso de cápsulas de extrato desidratado de S. Melongena por 14 dias não produziu nenhum efeito no perfil lipídico durante o jejum e o período pós-prandial em indivíduos normais.
A CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS NÃO-REFERENCIADOS: EVOLUÇÃO CLÍNICA E PERFIL DE RISCO PARA MORTE SÚBITA
ADRIAN HINSCHING;MARCEL DE ALMEIDA DORNELLES; FRANCIELE SABADIN BERTOL; IULEK GORCZEVSKI; VALÉRIA FREITAS; MARCO ANTONIO RODRIGUES TORRES; BEATRIZ PIVA E MATTOS
Fundamento: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença genética com expressão clínica variável, comumente relacionada à incapacidade funcional e propensão à morte súbita (MS). A avaliação de pacientes menos selecionados em centros de não referência pode revelar aspectos distintos. Objetivo: Analisar as características clínico-evolutivas e o perfil de risco para MS da CMH em pacientes ambulatoriais não-referenciados em hospital geral universitário. Método: Foi avaliada prospectivamente entre 03/2007 e 06/2009, uma coorte ambulatorial de 36 pacientes consecutivos não-referenciados, seguida por período médio de 24 meses. Resultados: A idade média foi de 54±14anos, sendo 31(86%) ≥40anos e 23(64%) do sexo feminino. 16(44%) estavam em classe funcional (CF) I NYHA, 12(33%) em CF II e 8(22%) em CF III. Todos apresentavam hipertrofia
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 52
assimétrica do ventrículo esquerdo (VE) ao ecocardiograma com espessura parietal máxima ≥15mm(19±4mm) na ausência de outras causas, diâmetro diastólico do VE 41±9mm, diâmetro sistólico do VE 24±4mm e fração de ejeção 73±6%. 18(50%) apresentavam obstrução da via-de-saída do VE com gradiente pressórico máximo ≥30mmHg em repouso (52±27mmHg) e/ou sob Valsalva (67±28mmHg). 12(33%) tinham um fator clínico de risco para MS e 4(11%) 2 fatores, sendo história familiar compatível em 10(28%), síncope e taquicardia ventricular não-sustentada no Holter em 4(11%) e hipertrofia maciça do VE ≥30mm em 2(6%). No seguimento, 7(19%) evidenciaram deterioração clínica de uma classe funcional, mas nenhum evoluiu à CF IV. 2(5%) desenvolveram fibrilação atrial e 1(3%) MS. A sobrevida acumulada foi de 97%. Conclusão: A presente análise demonstra menor comprometimento da capacidade funcional, perfil clínico predominante de baixo risco para MS e mortalidade reduzida.
APNEIA DO SONO E DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: DIFERENÇAS RELACIONADAS AO GÊNERO
GUSTAVO NEVES DE ARAUJO;CRISTINI KLEIN; MARCIA K. FISCHER; RENATA S. KAMINSKI; CINTIA Z. FIORI; CRISTIANE M. CASSOL; DANIELA MASSIERER; LAURA RAHMEIER; TASSIA M. MEDEIROS; FERNANDA HACKENHAAR; MARA S. BENFATTO; DENIS MARTINEZ
INTRODUÇÃO: Uma apneia obstrutiva do sono (AOS) inicia com a obstrução da faringe, progride por 10 a 60 segundos com crescente asfixia e termina com o despertar e consequente restabelecimento das trocas gasosas. Numa noite, podem ocorrer centenas de AOS. Os despertares repetidos causam hiperatividade do simpático e a hipóxia intermitente leva a estresse oxidativo. Doença arterial coronariana (DAC) é mais prevalente em indivíduos com AOS. OBJETIVOS: Verificar se o risco de DAC aumenta com a gravidade da AOS, em ambos os gêneros. MATERIAL E MÉTODOS: Examinou-se com polissonografia portátil 56 indivíduos (55% homens) submetidos à cineangiocoronariografia por suspeita de DAC. O IAH foi calculado como total de apneias e hipopneias por hora de sono e era normal (grupo N) quando menor que 5 AH/h. Classificou-se a AOS em: leve (grupo L), IAH de 5 a 14; moderado (grupo M), IAH de 15 a 29; e grave (grupo G) IAH acima de 30. Por não ter distribuição normal, transformou-se IAH em seu logaritmo natural. RESULTADOS E CONCLUSÕES: A frequência de DAC foi diferente nos grupos N, L, M e G (18%, 38%, 63%, 70%, respectivamente; p=0,038), bem como a frequência de sexo masculino (27%, 50%, 58%, 90%, respectivamente; p=0,033). As médias de idade também diferiram (50±7,6, 52±6,4, 56±6,3, 59±4,2 anos, respectivamente; p=0,011), mas não o índice de massa corporal (IMC; p=0,8). Na regressão logística, o modelo para prever presença de DAC é significante (r
2=0,311; p=0,007), mas dos
regressores empregados, como sexo (p=0,12), IAH (p=0,18) e IMC (p=0,66), apenas idade (p=0,042) foi significante. Estes resultados sugerem que, na DAC, AOS é importante co-morbidade, devendo ser valorizada principalmente em homens. Ao completar a amostra calculada de 200 casos se esclarecerão as tendências encontradas.
CONSUMO DE CAFEÍNA AUMENTA COM A GRAVIDADE DA APNEIA DO SONO
RENATA SCHENKEL RIVERA KAMINSKI;CRISTIANE M. CASSOL; LAURA RAHMEIER; MARCIA K. FISCHER; DANIELA MASSIERER; CINTIA Z. FIORI; CARLA KOTTWITZ; GUSTAVO N. DE ARAUJO; SIMONE K. RITTER; DENIS MARTINEZ
Introdução: Cafeína tem efeitos relacionados ao sono. A apneia do sono (AS) é um transtorno sério e comum. Não existem, entretanto, estudos correlacionando apneia do sono com uso de cafeína em grandes amostras. Objetivos: Avaliar o consumo de cafeína e relação com a gravidade da AS. Materiais e Métodos: Analisaram-se 5362 casos de AS (67% homens), submetidos à polissonografia, que preencheram questionário relatando quantidade e tipo de bebida cafeinada e horário de ingestão durante o dia. A gravidade da AS foi medida pelo índice de apneia e hipopneia (IAH), calculado como total de apneias e hipopneias por hora de sono. Classificou-se o IAH em: normal (grupo N) quando IAH menor que 5 AH/h; leve (grupo L), IAH de 5 a 14; moderado (grupo M), IAH de 15 a 29; e grave (grupo G) IAH acima de 30. Resultados e Conclusões: Em 90% da amostra foi consumida cafeína na forma de café (69%), refrigerantes a base de cola (36%) e chimarrão (25%). O grupo N (n=955) relatou ingestão de (média±desvio padrão)199±201mg de cafeína; o grupo L (n=1332), 234±233mg; o grupo M (n=1134), 245±244mg; e o grupo G (n=1941), 256±242mg. ANOVA mostra diferença entre grupos de IAH na quantidade de cafeína ingerida e nos horários de ingestão (p=0,000001). A escala
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 53
de sonolência de Epworth aumenta de 13 pontos, no grupo N, para 15, no G (p=0,000001). Consumir chimarrão associa-se com o IAH, mas é explicado por sexo masculino e idade. Os resultados sugerem que consumo de cafeína seja auto-medicação para sonolência e, que a ingestão de doses elevadas seja um indicador da gravidade da apneia do sono.
FIBROMIALGIA NA APNEIA DO SONO: ASSOCIAÇÃO OU CAUSA-EFEITO?
CRISTIANE MARIA CASSOL;LAURA RAHMEIER, MARCIA K. FISCHER, RENATA S. KAMINSKI, SILVERIA J. RIVERA-PÉREZ, CINTIA Z. FIORI, DANIELA MASSIERER, CARLA KOTTWITZ, GUSTAVO N. DE ARAUJO, SIMONE K. RITTER, DENIS MARTINEZ
Introdução: A apneia do sono (AS) causa hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS) que pode ser causa de dor. Apesar de negligenciada e pouco entendida, a fibromialgia (FM) é doença com critérios e quadro clínico bem definidos. FM acomete 3,4% das mulheres e 0,5% dos homens na população geral. Nosso grupo publicou o achado de fibromialgia em 9 de 18 (50%) mulheres com AS. Objetivos: Confirmar nossos achados preliminares em amostra de grande número de pacientes com e sem AS. Materiais e Métodos: Estudaram-se sequencialmente 178 pacientes adultos (58% homens) encaminhados para realização de polissonografia (PSG). Avaliaram-se todos de acordo com os critérios estabelecidos pelo American College of Rheumatology, considerando-se positivos casos com dor difusa e presença de no mínimo 11 de 18 pontos sensíveis a 4 kgf/cm2 na dolorimetria. Avaliou-se na PSG o índice de apneia e hipopneia (IAH). Resultados e Conclusões: Observou-se dor difusa em 46 casos e mais de 11 pontos sensíveis (média de 15 pontos) em 38 indivíduos. Diagnosticou-se FM em 40% das mulheres e 21% dos homens. Nos casos com FM, dor surgiu, em média, com pressão de 2,4 kgf/cm2, confirmando baixo limiar álgico. A média (± desvio-padrão) de idade do grupo foi de 49 ± 11 anos. A média do índice de massa corporal do grupo foi de 26,7 ± 5,1 kg/m2. A mediana do IAH [quartis 25-75%] na amostra dos casos foi de 11 [2-35]AH/hora. Estes resultados são semelhantes ao observado em nosso estudo já publicado. Considerando-se a prevalência de FM na população geral, a fração de casos de FM mais de uma ordem de grandeza maior nesta amostra reforça a hipótese de associação entre AS e FM, avalizando o projeto em andamento destinado a estabelecer a relação de FM com hiperatividade do SNS na AS.
ESTUDO DA FUNÇÃO CARDÍACA EM FETOS DE MÃES PORTADORAS DO VÍRUS HIV
MARCELO E. PIZZATO;PATRÍCIA E. PIZZATO; GLADIS GOMES; LUIZ HENRIQUE NICOLOSO; ANTONIO PICCOLI JR; JOÃO LUIZ MANICA; MARINA R. MORAIS; JULIA S. SILVA; LUCIANO BENDER; PAULO ZIELINSKY
Introdução: Há poucos estudos a respeito dos efeitos do vírus HIV no coração fetal. Considerando que a transmissão vertical é tardia e que a terapia antirretroviral é efetiva, a função cardíaca fetal pode estar normal. Objetivos: Testar a hipótese de que não existe diferença nos parâmetros de função sistólica e diastólica de fetos cujas mães são portadoras do vírus HIV se comparados com fetos de mães não infectadas. Métodos: Foi feito um estudo transversal que incluiu 34 fetos com idade gestacional de 20 semanas até o termo, divididos em 2 grupos: 17 fetos de mães HIV positivo e 17 fetos de mães livres da doença. Avaliaram-se a fração de encurtamento circunferencial do ventrículo esquerdo, o índice de pulsatilidade (IP¬) no ducto venoso e nas veias pulmonares, a fração de encurtamento do átrio esquerdo e a relação E/A mitral. Resultados: A fração encurtamento circunferencial(delta D) foi de 1,98%±0,22% nos fetos de mães HIV positivo e de 2,55%±0,34% (p=0,32) naqueles fetos de mães livres da doença. O IP do ducto venoso em fetos de mães HIV positivo foi de 0,64±0,29 e naqueles de mães livres da doença foi de 0,68±0,38 (p=0,74). O IP na veia pulmonar em fetos de mães portadoras de HIV foi de 0,08±0,06 e nos fetos de mães sem a doença foi de 0,08±0,03 (p=0,76). A relação E/A nos fetos de mães HIV positivo foi de 0,93±1,1 e nos fetos de mães sem doença foi de 0,66±0,42(p=0,58). A fração de encurtamento do átrio esquerdo, nos fetos de mães portadoras do vírus HIV, foi de 0,36±0,14 e nos fetos de mães livres da doença foi de 0,40±0,17(p=0,39).Conclusões: Os resultados, confirmando a hipótese conceitual, demonstram que não existiu diferença na função sistólica e diastólica de fetos de mães infectadas pelo HIV quando comparados com fetos de mães livres da doença.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 54
CONSUMO MATERNO DE ALIMENTOS RICOS EM POLIFENÓIS E ALTERAÇÕES DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO FETAL: PAPEL DA ORIENTAÇÃO DIETÉTICA
PATRÍCIA ELY PIZZATO;PAULO ZIELINSKY; LUIZ HENRIQUE NICOLOSO; ANTONIO PICCOLI JR; JOÃO LUIZ MANICA; DIANE ESPÍNDOLA; JOANA PEREIRA; IZABELE VIAN; LUCIANO BENDER; MARINA R. MORAIS; JULIA S. SILVA; MARCELO E. PIZZATO
Fundamento: Já demonstramos previamente que a ingestão materna de polifenóis pode causar constrição do ducto arterioso fetal, por inibição da síntese de prostaglandinas. Objetivos: Testar a hipótese de que há diminuição das velocidades sistólica e diastólica e aumento do índice de pulsatilidade (IP) no ducto arterioso (DA) em fetos de mães submetidas a dieta pobre em flavonóides por período superior a duas semanas. Métodos: 38 fetos acima de 28 semanas de gestação foram submetidos a dois exames ecocardiográficos fetais com intervalo de pelo menos duas semanas. Foram avaliados as velocidades sistólica, diastólica e o IP no DA, assim como a medida da relação dos diâmetros ventriculares (VD/VE). No primeiro estudo, o examinador desconhecia a dieta materna. Após o exame, as pacientes responderam questionário para avaliar a quantidade de polifenóis consumida na alimentação diária e orientadas para se absterem do uso de alimentos com mais de 30mg de flavonóides/100g de alimento. Utilizou-se o teste t para amostras independentes, com alfa crítico de 0,05. Resultados: A idade gestacional média foi de 33±3 semanas (28-38 semanas). A quantidade média de flavonóides consumidas pelas gestantes foi 1276,91mg/dia. Após a orientação nutricional, o consumo médio baixou para 126mg/dia(p=0,0001). Comparando-se os dois estudos ecocardiográficos, foi observado diminuição significativa da velocidade sistólica de 1,2±0,4m/s (0,7-1,7) para 0,9±0,3m/s (0,6-1,3) (p=0,018); da diastólica, de 0,21±0,09m/s (0,15-0,38) para 0,18±0,06m/s (0,11-0,25) (p=0,016) e da relação VD/VE de 1,3±0,2 (0,9-1,5) para 1,1±0,2 (0,8-1,4) (p=0,004). Houve aumento significativo do IP de 2,2±0,3 (1,6-2,7) para 2,4±0,4 (1,9-2,9) (p=0,04). Conclusão: Uma dieta rica em polifenóis no terceiro trimestre da gestação pode alterar a dinâmica do fluxo no DA fetal e sua diminuição resulta em reversão desse efeito.
ARRITMIAS CARDÍACAS FETAIS: UMA COORTE HISTÓRICA DE 101 CASOS
PATRÍCIA ELY PIZZATO;PAULO ZIELINSKY; LUIZ HENRIQUE NICOLOSO; ANTONIO PICCOLI JR; JOÃO LUIZ MANICA; MARINA R. MORAIS; JULIA S. SILVA; LUCIANO BENDER; MARCELO E. PIZZATO
Introdução:Arritmias cardíacas são encontradas em cerca de 1% dos fetos.Dentre elas,as taquiarritmias têm baixa prevalência;entretanto,quando tratam-se de taquiarritmias supraventriculares(TSV) e bloqueio atrioventricular total(BAVT), freqüentemente necessitam de intervenção terapêutica. Objetivo:Relatar a experiência de um hospital terciário com arritmias fetais detectadas durante a vida fetal. Materiais e Métodos:61 fetos com taquiarritmias e 40 fetos com BAVT,avaliados por ecocardiografia. Resultados:Entre os 61 casos,41 apresentavam TSV e 20 flutter atrial(FA),com idades gestacionais de 21 a 40 semanas.Dos 61 fetos,21 evoluíram com hidropsia e 11 apresentaram cardiopatias estruturais.Em 5 foi identificada anomalia de Ebstein. A terapêutica medicamentosa utilizou digital por via transplacentária em todos como primeira opção.Os sem resposta foram tratados com amiodarona ou sotalol.Óbito fetal ocorreu em 3 casos com TSV e em 1 com FA.Dos fetos com BAVT,em 13 casos observou-se associação com colagenose materna.Dos 40 fetos, a evolução foi avaliada em 29.Todos os fetos sem cardiopatia estrutural receberam dexametasona por via materna associada ou não a drogas simpaticomiméticas.4 apresentaram hidropsia severa com óbito intra-útero.3 foram submetidos a implante intra-uterino de marcapasso(MP),2 com cirurgia a céu aberto(1 óbito trans-operatório e outro no pós-operatório imediato) e 1 por via percutânea.MP cardíaco foi implantado no período neonatal em 15 casos.Destes,9 apresentaram boa evolução e 6 foram ao óbito.Conclusão:TSV e BAVT presentes na vida intra-uterina determinam uma elevada morbi-mortalidade fetal, sendo importante seu diagnóstico precoce e um adequado manejo terapêutico, visando modificar a história natural destas arritmias.
PACIENTES IDOSOS PORTADORES DO POLIMORFISMO DO GENE DO RECEPTOR TOLL LIKE 4 TÊM MELHOR EVOLUÇÃO PÓS-IMPLANTE DE STENT INTRACORONÁRIO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 55
FERNANDO LUIZ ZANCHET JUNIOR;BIANCA R. DOS SANTOS; JULISE A. BALVEDI; MARÍLIA ROMERO; ALEXANDRE C. ZAGO; EMILIO H. MORIGUCHI; CLARICE ALHO; GERMÁN ITURRY-YAMAMOTO; ALCIDES J. ZAGO
Introdução: O polimorfismo 896A>G do gene do receptor Toll like 4 consiste na substituição de uma adenina por uma guanina na posição 896 do gene. Estudos iniciais mostram que indivíduos portadores do alelo G deste polimorfismo estariam protegidos frente ao processo aterosclerótico. Em relação à reestenose pós-stent, apenas dois estudos, em populações européias, avaliaram o efeito deste polimorfismo. Não foi observada associação do polimorfismo com reestenose em ambos estudos. Objetivo: Estudar a evolução clínica dos pacientes (p.) portadores deste polimorfismo após implante de stent intracoronário. Material e Métodos: Delineamento: Estudo de coorte. Pacientes: Foram incluídos 172 p. submetidos a implante de stent intracoronário não farmacológico (ST) e 28 p. submetidos a aterectomia direcionada coronariana (ADC) seguida de implante de ST. Os p. foram genotipados por PCR e digestão, com a enzima de restrição NcoI. Resultados: Quando comparados os p. submetidos a ST vs ADC, não houve diferença na ocorrência de desfechos. Os p. foram divididos em dois grupos: G1 – p. portadores do alelo G (GG+AG) (26 p.) e G2 – p. com o genótipo AA (174 p.). Em 12 meses, 4 p. do G1 e 41 p. do G2 apresentaram eventos cardíacos adversos maiores (ECAM) (teste do x
2: p=0,35) com evolução similar (teste de log rank: p=0,41). Entretanto,
quando foram analisados os p. idosos (idade ≥ 70 anos, 41 p.), nenhum p. do G1 e 10 p. do G2 apresentaram ECAM (teste do x
2: p=0,09), mostrando uma tendência a uma melhor evolução clínica
nos portadores do alelo G (teste de log rank: p=0,12). Conclusão: Este estudo mostra uma tendência a uma melhor evolução pós-implante de stent intracoronário nos p. idosos portadores do alelo G do gene do receptor Toll like 4. Financiamento: CNPq, FAPERGS, CAPES, FIPE-HCPA.
TRANSLUCÊNCIA NUCAL LIMÍTROFE OU AUMENTADA NO PRIMEIRO TRIMESTRE: UM MARCADOR PARA COMUNICAÇÕA INTERVENTRICULAR ISOLADA?
LUCIANO PEREIRA BENDER;PAULO ZIELINSKY, LUIZ HENRIQUE NICOLOSO, ANTONIO PICCOLI JR, JOAO LUIZ MANICA, RENATO FRAJNDLICH, EDUARDO BECKER JR, MARINA RESENER MORAES, JULIA SILVA, PATRÍCIA PIZATTO, MARCELO PIZATTO
Introdução: A translucência nucal (TN) fetal medida rotineiramente no primeiro trimestre da gestação é um definido marcador de cromossomopatias e cardiopatias complexas. Sua associação com comunicação interventricular (CIV) isolada não é conhecida. Objetivo: Testar a hipótese de que existe associação entre TN igual ou maior que 2mm em fetos de 11 a 13 semanas e a presença de CIV isolada, sem diagnóstico de aneuploidias. Métodos: Foram avaliados 185 fetos consecutivos em período de dois meses. A TN foi obtida entre 11 e 13 semanas de gestação, submetidos a ecocardiografia fetal bi ou tridimensional (com STIC) com Doppler em cores, com vistas ao diagnóstico de CIV e à exclusão de malformações associadas cardíacas e extracardíacas. Os fetos com cariótipo alterado ou com diagnóstico pós-natal de cromossomopatias foram excluídos. Resultados: A idade materna média foi de 32±5 anos (21-42 anos) e a IG média no momento do ecocardiograma fetal, de 25±6 semanas (19-31 semanas). Dos 18 fetos com TN≥2,0mm, 9 apresentavam CIV (7 musculares e 2 perimembranosas) (50,0%), enquanto 12 dos 167 conceptos com TN<2,0mm tiveram CIV detectada (9 musculares e 3 perimembranosas) (7,0%). Ao teste exato de Fisher, a associação foi significativa (p<0,001), com risco relativo de 7,8 [IC (95%) de 3,5 a 17,5]. Conclusão: Fetos sem doenças cromossômicas com TN≥2,0mm no 1º trimestre da gestação têm um risco aumentado em 6,8 vezes de apresentar CIV isolada. Especula-se que os defeitos pudessem ser maiores e funcionalmente significativos no 1º trimestre, aumentando a TN por sobrecarga hemodinâmica e diminuindo seu diâmetro progressivamente até o 2º trimestre. Esse conhecimento pode ter implicações no manejo e no aconselhamento pré-natal.
O ENCHIMENTO VENTRICULAR ESQUERDO NAS FORMAS OBSTRUTIVAS DE CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA: DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE E/E´ PELO ECO DOPPLER TISSULAR
FRANCIELE SABADIN BERTOL;IULEK GORCZEVSKI, ADRIAN HINSCHING, MARCEL DORNELLES, VALÉRIA FREITAS, MARCO ANTONIO RODRIGUES TORRES, BEATRIZ PIVA E MATTOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 56
Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) caracteriza-se por hipertrofia assimétrica do ventrículo esquerdo (VE) com componente obstrutivo dinâmico em via de saída associado à elevação da pressão de enchimento ventricular. Objetivos: Analisar a correlação entre índices de enchimento diastólico do VE obtidos através de Eco Doppler tissular (EDT) com a classe funcional NYHA e o desencadeamento de gradiente subaórtico em pacientes com CMH. Material e métodos: Vinte e oito pacientes consecutivos de uma coorte ambulatorial com seguimento médio de dois anos foram avaliados quanto à classe funcional NYHA e submetidos a EDT com determinação das seguintes variáveis: área e volume do átrio esquerdo (AE) e seus respectivos índices em relação à área de superfície corporal, gradiente subaórtico sob Valsalva e razão E/E´. Resultados: A razão E/E´ evidenciou correlação com o índice de área do AE (r=0,738; P<0,01) e com o gradiente subaórtico registrado sob Valsalva (r=0,604; P<0,05). Não houve relação com a classe funcional NYHA. Conclusão: A razão E/E´ expressou correlação entre a elevação da pressão de enchimento do VE e a obstrução subaórtica sob Valsalva, assim como com o índice de área do AE.
EXISTEM DIFERENÇAS NO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA E NÃO PRESERVADA?
CAMILA MEDEIROS RYCEMBEL;GREICE CAMILA STICH; ISMAEL OLDEMBURG; LUIS CARLOS CONTIN; LUIZ CLAUDIO DANZMANN; ILMAR KOHLER
Introdução: a literatura sugere que existe diferença entre o perfil antropométrico dos pacientes portadores de IC com fração de ejeção preservada (FEP>=50%) e não preservada (FENP<50%). Além disso, verifica-se maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) nesses pacientes. Objetivos: avaliar o perfil antropométrico e prevalência de hipertensão arterial sistêmica bem como diabetes mellitus em pacientes portadores de IC com fração de ejeção preservada e não preservada. Delineamento: estudo transversal Materiais e métodos: foram conferidos os prontuários de 101 pacientes com diagnóstico de IC pelos critérios de Framingham, atendidos no ambulatório de IC do Hospital Universitário da ULBRA no município de Canoas – RS, no período de janeiro a dezembro de 2008. Dentre esses, 52 apresentavam informações pertinentes ao levantamento. Foi realizada uma análise de freqüências do banco de dados através do programa SPSS12.0. Resultados: dos 52 pacientes analisados, 38,5% possuem FEP. Dentre esses, 70% eram do sexo feminino, apresentavam IMC médio de 31,6 +/- 5,5, circunferência abdominal média de 103,5 +/- 11,1, PA sistólica 152,3 +/- 19,1 e PA diastólica de 81,1 +/- 14,3 mmHg. Conclusões: os pacientes com FEP foram predominantemente femininos, com IMC e circunferência abdominal elevados e PA sistólica e diastólica elevadas, confirmando os achados da literatura.
ANÁLISE DA MOBILIZAÇÃO DE CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIAIS EM PACIENTES CARDIOPATAS ISQUÊMICOS SUBMETIDOS À TERAPIA GÊNICA COM VEGF 165
CLARISSA GARCIA RODRIGUES;THIAGO DIPP;FELIPE SALLES;RENATO KALIL;NANCE NARDI;MÁRCIA TREIN;ROBERTO SANT ANNA;IVO NESRALLA;IMARILDE GIUSTI;ROGÉRIO SARMENTO-LEITE;RODRIGO PLENTZ
INTRODUÇÃO: A terapia gênica (TG), com uso do DNA codificado vascular endothelial growth factor 165 (VEGF165) pode promover mobilização de células progenitoras endoteliais (CPE), as quais tem capacidade de homing e diferenciação em células endoteliais maduras em sítios isquêmicos. OBJETIVOS: Avaliar a mobilização de CPE em pacientes cardiopatas isquêmicos avançados submetidos à TG com VEGF165. MATERIAIS E MÉTODOS: Ensaio clínico por série temporal. Critérios de inclusão: idade<75anos, FEVE entre 25 e 60%, presença de sintomas de angina e/ou insuficiência cardíaca apesar de tratamento clínico otimizado, ausência de neoplasia. Amostra: 4 homens; idade de 60+/-5anos. FEVE 58,7+/-6%. Classe de angina (CCSA) III(n=2); IV(n=2) e de IC (NYHA) III(n=3); IV(n=1). Escores de isquemia: estresse 16,4+/-4; repouso 8+/-3; diferencial 9+/-2. Intervenção: Foram injetadas 2000µg de VEGF165 plasmidial no miocárdico isquêmico, previamente identificado por cintilografia, via minitoracotomia infra-mamária esquerda. A análise das CPE foi realizada por citometria de fluxo antes da intervenção e 3 dias após a mesma. A frequência de células CD34+/KD+ foi analisada no gate de linfócitos, na fração mononuclear do sangue periférico. Foram contados 100.000 eventos. Os resultados apresentam o número de células duplo-positivas (n/100.000). Foi utilizado teste t para medidas repetidas. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Análise
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 57
de CPE: basal (46,5+/-23,2), 3 dias (94,7+/-24,7), p=0,035. Com os resultados preliminares do estudo conclui-se que a TG com VEGF 165 promove aumento de CPE três dias após aplicação no miocárdio isquêmico.
FUNÇÃO ENDOTELIAL EM PACIENTES CARDIOPATAS ISQUÊMICOS AVANÇADOS SUBMETIDOS À TERAPIA GÊNICA COM VEGF
THIAGO DIPP;RODRIGUES CG; SALLES FB; KALIL RAK; NARDI NB; MARKOSKI MM; SANT ANNA R; NESRALLA I; GIUSTI I; TREIN M; SARMENTO-LEITE R; PLENTZ RDM
INTRODUÇÃO: O endotélio desempenha um papel central na regulação do tônus vascular pela liberação de agentes vasodilatadores e vasoconstritores, principalmente o óxido nítrico (NO) tanto em situações fisiológicas quanto em processos patológicos. O potencial angiogênico do VEGF estimula a produção endotelial de NO por meio da ativação do NO sintetase, sendo assim passível de repercussão sistêmica. OBJETIVO: Avaliar a função endotelial arterial de pacientes cardiopatas isquêmicos avançados submetidos a terapia gênica com VEGF165. MATERIAIS E MÉTODOS: Ensaio clínico por série temporal, foram incluídos 10 indivíduos (9 homens) com idade de 58,9±6 anos, presença de sintomas de angina e/ou ICC e tratamento clínico otimizado por seis meses. Foram injetados 2000µg de VEGF165 no miocárdico isquêmico, previamente identificado por cintilografia, via minitoracotomia infra-mamária esquerda. A análise da função endotelial foi realizada por ultrassonografia de alta resolução da artéria braquial pela técnica de dilatação mediada por fluxo pré-intervenção e ao 10º dia de pós-operatório, os dados foram expressos em percentual de dilatação (%FMD) frente a hiperemia reativa e após uso de nitroglicerina (%NTG). Foi utilizado teste para comparação entre as médias e adotado significância estatística com p<0,05. RESULTADOS PRELIMINARES: Os sujeitos apresentaram FEVE de 61,1±6% e escore de isquemia no estresse de 17,3±4, %FMD pré-intervenção de 6,3±5% vs 10° dia 8,1±3% (p=0,18) e %NTG pré-intervenção 5,5±4% vs 10 dias 8,3±6% (p=0,28). CONCLUSÃO: No 10° dia após a administração de VEGF165 em pacientes cardiopatas isquêmicos foi observada tendência de melhora na função endotelial periférica avaliada pela dilatação mediada pelo fluxo.
ANÁLISE TRANSVERSAL DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DICOTOMIZADOS PELO ÍNDICE DE DIÂMETRO E PELA FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO
GREICE CAMILA STICH;LUIZ CLÁUDIO DANZMANN; ILMAR KOHLER; CAMILA MEDEIROS RYCEMBEL; ISMAEL OLDEMBURG; LUIS CARLOS CONTIN
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica na qual o coração apresenta-se incapaz de garantir o débito cardíaco adequado à demanda tecidual. Objetivo: analisar a prevalência das características clínicas desfavoráveis de uma população com insuficiência cardíaca dicotomizada pela fração de ejeção e pelo índice de diâmetro do ventrículo esquerdo . Métodos: estudo transversal, no qual foi analisada a prevalência de características clínicas e terapêuticas de 101 pacientes atendidos no Ambulatório de IC do HU com IC por critérios de Framingham. Neste pacientes foram avaliadas características clínicas e desfechos prévios em relação à fração de ejeção (FEVE) do ventrículo esquerdo e índice de diâmetro do ventrículo esquerdo (iDVE). Os pacientes foram avaliados em relação à idade, gênero, cor, peso, altura, IMC, circunferência abdominal, circunferência do quadril, relação circunferência abdominal X circunferência do quadril, distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, VE diastólico, tensão arterial sistólica, tensão arterial diastólica, níveis séricos de sódio e glicemia. Todas as variáveis supracitadas foram dicotomizadas em relação à FEVE e iDVE. Resultados: A idade média encontrada foi de 63 anos , sendo a maioria do sexo feminino ( 54%) e de cor branca ( 77,2%), com um IMC médio de 29,47 Kg/m
2 e circunferência abdominal média
de 98,79 cm. Conclusão: A dicotomização da população com IC crônica por valores de FEVE ou iDVE não demonstrou identificar populações significativamente diferentes entre si, sendo os dois métodos capazes de estratificar a grupos com indicadores antropométricos e hemodinâmicos (TA sistólica e diastólica) significativamente diferentes.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 58
ADEQUAÇÃO DOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS UTILIZANDO APENAS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
GREICE CAMILA STICH;ISMAEL OLDEMBURG; LUIS CARLOS CONTIN, CAMILA MEDEIROS RYCEMBEL, LUIZ CLAUDIO DANZMANN; ILMAR KOHLER
Introdução: muitos dos fármacos específicos para IC, apesar dos benefícios comprovados, não tem distribuição gratuita pelo sistema único de saúde. Objetivo: o objetivo do presente estudo é aferir a freqüência da prescrição de medicamentos para IC em uma população dicotomizada em relação à fração de ejeção do VE encaminhada pelo sistema básico de saúde. Utilizou-se como ponto de corte a fração de ejeção (FE) de 50%, sendo que valores abaixo de 50% são considerados como FE não preservada (FENP) e acima deste valor FE preservada (FEP). Delineamento: análise de frequências Materiais e Métodos: pacientes com diagnóstico de IC pelos critérios de Framingham, atendidos no ambulatório de IC do Hospital Universitário da ULBRA encaminhado das Unidades Básicas de Saúde pela Secretaria Municipal de Canoas no período de janeiro a dezembro de 2008. Os dados de 101 pacientes foram coletados pelos acadêmicos do ambulatório de IC do Hospital Universitário da ULBRA, no período de janeiro a dezembro de 2008. Dentre esses, 52 apresentavam informações pertinentes ao levantamento. Foi realizada uma análise de freqüências do banco de dados através do programa SPSS12.0. Resultados: dos 52 pacientes analisados, 32 tinham FENP (61,5%), com idade média de 64,2 +/- 12,2 anos, sendo 10 (31,3%) mulheres, enquanto os de FEP, apresentavam idade média de 61 +/- 13,1 anos e sendo 14 (70%) mulheres. Conclusões: os seguintes fármacos: furosemida, digitálicos, ieca`s, betabloqueadores e espironolactona são mais utilizados nos pacientes com FENP, confirmando as recomendações existentes na literatura específica. Apesar das limitações de fornecimento de medicação pelo SUS, observa-se que a sua utilização seguiu as diretrizes da especialidade.
GRAVIDADE DA APNEIA DO SONO E NOCTÚRIA: DIFERENÇAS RELACIONADAS AO GÊNERO
MÁRCIA KRAIDE FISCHER;LAURA RAHMEIER, CRISTIANE M. CASSOL, CRISTINI KLEIN, DANIELA MASSIERER, RENATA S. KAMINSKI, CARLA KOTTWITZ, GUSTAVO N. DE ARAUJO, SIMONE K. RITTER, DENIS MARTINEZ
Introdução: A pressão negativa intratorácica observada durante a apneia obstrutiva do sono (AOS) aumenta o retorno venoso, distende o átrio e provoca secreção de peptídeo natriurético atrial, potente vasodilatador e diurético. Classicamente, atribui-se noctúria em homens a uropatias, mas não existe na literatura referência comparando associação entre AOS e noctúria, em homens e mulheres. Objetivos: Verificar se o índice de apneia e hipopneia (IAH) associa-se à noctúria igualmente em ambos os gêneros. Material e Métodos: Analisaram-se 2020 casos de apneia do sono (1419 homens; 70%) submetidos a polissonografia. Todos preencheram questionário relatando frequência média de noctúria. O IAH foi calculado como total de apneias e hipopneias por hora de sono. Resultados e Conclusões: O IAH foi maior em homens do que em mulheres (35±29 vs. 16±22 AH/h; p=0,000001). A frequência de noctúria foi maior em mulheres (1,6±1,6 vs. 1,3±1,4; p=0,000007). Na regressão logística para prever presença de noctúria, os três regressores empregados: IAH, idade e índice de massa corporal (IMC) foram significantes em homens (r
2=0,196; p=0,000001), mas em
mulheres apenas o IAH foi significante (p=0,023). Portanto, em mulheres, apenas a AOS explica a frequência de noctúria. Em homens, tanto a AOS como obesidade e idade, causas reconhecidas de hipertrofia prostática, explicam a frequência de noctúria. Estes resultados sugerem co-morbidade urológica em homens. Entretanto, noctúria em homens deve ser valorizada como sintoma de apneia obstrutiva do sono, quebrando o paradigma de atribuí-la somente à hipertrofia prostática.
AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS DOS RECEPTORES BETA-ADRENÉRGICOS EM COORTE DE PACIENTES AMBULATORIAIS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
ALBERTO TREIGUER;ROBERTO GABRIEL SALVARO ; LUIS EDUARDO ROHDE; KÁTIA GONÇALVES DOS SANTOS; PEDRO PICCARO DE OLIVEIRA; FABIEN BERTH; JERÔNIMO OLIVEIRA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 59
Objetivo: Avaliar a influência dos polimorfismos nos códons 49 e 389 no receptor adrenérgico β1 e códon 164 do receptor adrenérgico β2 no desfecho de pacientes com insuficiência cardíaca (IC). Background: Os polimorfismos genéticos dos ARs são associados ao desenvolvimento, progressão e prognóstico de pacientes com IC em estudos de populações norte-americanas e européias. Poucos abordam este impacto em pacientes brasileiros. Métodos e Resultados: Estudo prospectivo com pacientes adultos portadores de IC com FEVE < 45%, independente de classe funcional ou etiologia. O DNA foi extraído de amostra de sangue periférico e os genótipos dos ARs, detectados por PCR, seguido por análise do polimorfismo dos fragmentos de restrição. A amostra era composta predominantemente por homens caucasianos de meia-idade, principalmente nas classes funcionais I-II, com disfunção sistólica severa de VE e perfil etiológico misto. No seguimento (media 3 anos, intervalo interquartil 1,4 a 5,1 anos), ocorreram 96 mortes (30%), 58 (18%) relacionadas à IC. Classes funcionais maiores (p=0.001), FEVE baixa (p=0.01), QRS alargado (p<0.001), hiponatremia (p=0.003), insuficiência renal (p=0.01) e anemia (p=0.02) foram mais comuns em pacientes com mortes relacionadas à IC do que em pacientes vivos. Carreadores IIe164 não tiveram relação com eventos por IC (p=0.13) e houve efeito significativo de altas doses de betabloqueadores (BB) na sobrevida relacionada à IC (p=0.004). Todos pacientes Gly389Gly com IC vivos no final do seguimento (p=0.09) e carreadores Arg389, usuários de baixas doses de BB ou não-usuários, tiveram pior prognóstico (p=0.017). Melhor desfecho clínico em pacientes com IC e genótipos.
EFEITO DO AVENTAL BRANCO E FENÔMENO DA HIPERTENSÃO MASCARADA EM PACIENTES HIPERTENSOS EM TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO
HALIM ROBERTO BAJOTTO;JERUZA L. NEYELOFF, ANDRE L. FERREIRA, FELIPE C. FUCHS, PAULO M. CORREIA, TAYRON BASSANI, CAROLINE M COLA, EDGAR SANTIN, LEILA B. MOREIRA, MARIO WIEHE, MIGUEL GUS, SANDRA C FUCHS, FLAVIO D. FUCHS
Introdução: Pressão arterial (PA) obtida em consultório e no domicílio, através de MAPA, permite classificar pacientes hipertensos em quatro categorias: hipertensão (HAS) controlada, HAS não controlada, efeito do avental branco e HAS mascarada. Objetivos: Comparar prevalências de efeito do avental branco e HAS mascarada em pacientes hipertensos avaliados para arrolamento em ensaio clínico randomizado (ECR), no Estudo MONITOR. Métodos: Análise transversal de pacientes com HAS e PA aferida por MAPA no mesmo período. Hipertensão no consultório foi determinada por pressão ≥140/90 mmHg (HAS) e na MAPA de vigília por ≥135/85 mmHg (MAPA). HAS controlada (HAS - e MAPA -), efeito do avental branco (HAS+ e MAPA -), HAS mascarada (HAS+ e MAPA-) e HAS não controlada (HAS+ e MAPA +). Calcularam-se prevalências, razões de risco (RR) com IC95% ajustando-se para fatores de confusão, em regressão de Poisson modificada. Resultados: Entre pacientes potencialmente elegíveis, houve predomínio de mulheres (67%), com 57,5 ±12,2 anos de idade e 7,6 ±4,2 anos de escolaridade. Os pacientes candidatos ao estudo MONITOR apresentaram HAS não controlada (42%), seguida por 25% com HAS controlada, 22% com efeito do avental branco e 11% com HAS mascarada. Entre os preditores, escolaridade (RR=0,96; IC95%=0,91-0,99) associou-se inversa e independentemente com efeito do avental branco (p=0,047), e diretamente com HAS mascarada (RR=1,06; IC95%; 1,00-1,13), mas com significância limítrofe (p=0,05). Sexo masculino (RR=1,4 IC95%: 1,1-1,8) associou-se independentemente com HAS não controlada (p=0,004). Conclusões: Pacientes com hipertensão, candidatos a participarem de ECR, são arrolados entre pacientes usualmente mais motivados e doentes, e condições como HAS mascarada e efeito do avental branco são freqüentes e para as quais sexo e escolaridade são preditores independentes.
INSÔNIA COM APNEIA DO SONO: UMA NOVA SÍNDROME EM 1973 E EM 2009
CINTIA ZAPPE FIORI;RENATA S. KAMINSKI; DANIELA MASSIERER; CRISTIANE M. CASSOL; LAURA RAHMEIER; MARCIA K. FISCHER; CARLA KOTTWITTZ; GUSTAVO ARAUJO; SIMONE K. RITTER; DENIS MARTINEZ
Introdução: Em 1973, Guilleminault descreveu insônia com apneia do sono (AS) como “uma nova síndrome”. A Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono menciona AS como causa de insônia. No tratamento da insônia se prescrevem hipnóticos, contra-indicados na AS, sem excluir clinicamente ou por polissonografia (PSG) a existência de AS. Objetivo: Estimar a prevalência de AS co-mórbida em indivíduos com insônia. Materiais e métodos: Estudaram-se 1156 pacientes que
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 60
realizaram PSG com queixa principal de insônia. A gravidade da AS foi medida pelo índice de apneia e hipopneia (IAH), calculado como total de apneias e hipopneias por hora de sono. Classificou-se o IAH em: normal quando IAH menor que 5 AH/h; AS leve, IAH de 5 a 14; AS moderada, IAH de 15 a 29; e AS grave, IAH acima de 30. Resultados e Conclusões: A média de idade dos pacientes era 48±15 anos; o índice de massa corporal (IMC), 25,4±4,5 kg/m
2; e o IAH, 12±16. O uso de hipnóticos
ocorria em 75% das mulheres e 65% dos homens. Encontrou-se AS não diagnosticada previamente em 59% dos casos. A AS era grave em 116 (10%). A razão de chance (rc) homens:mulheres para apresentar AS é 2,6 e para AS grave é 3,6. Na regressão logística, sexo masculino (rc=2), idade>45anos (rc=2,3) e IMC>25kg/m
2 (rc=2,2) predizem IAH >5/h (r
2=0,15; significante), mas uso de
hipnóticos não, confirmando uso indiscriminado. O modelo para prever IAH maior que 30/h, com sexo masculino (rc=3,4), idade>45anos (rc=2,8) e IMC>25kg/m
2 (rc=3,9) é mais robusto (r
2=0,19;
significante). Em mulheres o ponto de corte do IMC é 23kg/m2. Seria importante avaliar esses
indicadores de risco antes de prescrever hipnóticos a insones. Passados 36 anos, a associação da queixa de insônia com AS permanece negligenciada e ainda pode ser considerada “uma nova síndrome”.
IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VALVA AÓRTICA: EXPERIÊNCIA INICIAL DO HOSPITAL SÃO LUCAS-PUCRS
LUIS FELIPE SILVA SMIDT;CRISTIANO BARCELLOS, DENISE OLIVEIRA, VITOR GOMES, RODRIGO BODANESE, JOÃO GUARAGNA, LUIZ CARLOS BODANESE, RICARDO LASEVITCH, MARCO GOLDANI, PAULO CARAMORI
Introdução: A estenose aórtica acomete aproximadamente 5% da população acima de 75 anos. Pela presença de co-morbidades, aproximadamente 50% destes não são submetidos à troca valvar convencional. A prótese percutânea Corevalve® é uma alternativa para o manejo destes pacientes. No registro europeu desta prótese a mortalidade foi de 5,4% em pacientes com mortalidade cirúrgica prevista de 23%. Objetivo: relatar a experiência inicial do serviço com a Corevalve®. Relato de caso: Paciente de 76 anos, do sexo masculino, portador de estenose aórtica grave associada síncope, dispnéia classe IV e angina classe III. Não aceitou indicação cirúrgica há 3 anos. Apresentava-se em insuficiência cardíaca congestiva, descompensação de doença pulmonar obstrutiva crônica (pO² 76mmHg) e perda de função renal (Cr 2,1). O exame físico evidenciava anasarca, sopro ejetivo 4+/6+, pulsos parvus e tardus, simétricos, murmúrio vesicular diminuído, crepitantes basais, ascite e hepatomegalia. A cinecoronariografia demonstrou estenoses severas da descendente anterior. O ecocardiograma demonstrava estenose aórtica importante (grad médio 71mmHg; área 0,35cm²/m2), FE de 39% e hipertensão pulmonar. As estenoses da descendente anterior foram tratadas com implante de stents. Quatro semanas após, o paciente foi submetido a implante de Corevalve com sucesso. Houve rápida melhora do quadro congestivo e o paciente teve alta em 48h, sem qualquer intercorrência. O ecocardiograma pós procedimento demonstrou regurgitação aórtica leve e gradiente médio transprótese de 10mmHg. O paciente encontra-se em classe funcional I após 1 mês de acompanhamento com retorno as atividades habituais. Conclusões: relatamos o caso de paciente com estenose aórtica grave, tratada por implante percutâneo de prótese Corevalve® com sucesso. Este procedimento é uma alternativa a população de pacientes com maior risco para a troca valvar cirúrgica, com baixos índices de morbidade e mortalidade.
PRESSÃO ARTERIAL AVALIADA POR MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL DE 24H (MAPA-24H) DE 24H EM PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES TIPO 2 (DMT2)
MARÍLIA REINHEIMER;FLÁVIO MACIEL DE FREITAS NETO, KARINA RABELLO CASALI, MIGUEL GUS, BEATRIZ D AGORD SCHAAN, MARIA CLAUDIA IRIGOYEN, FLÁVIO FUCHS
Introdução: Assim como a variabilidade da freqüência cardíaca, a variabilidade da pressão arterial pode ser útil na predição de risco cardiovascular em pacientes hipertensos. A MAPA-24h poderia fornecer informações sobre a variação pressórica de forma não invasiva, mas quais parâmetros seriam mais acurados não se sabe. Objetivos: Avaliar parâmetros obtidos na MAPA-24h em pacientes com hipertensão arterial e DMT2. Métodos: Estudo transversal com pacientes com hipertensão arterial e DMT2, 18-65 anos, ambos os sexos, índice de massa corporal (IMC)<35kg/m². Foram coletadas amostras do sangue e urina para medidas bioquímicas e MAPA-24h. Resultados:
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 61
Dos 24 pacientes inicialmente avaliados, 87,5% eram mulheres, idade média de 62,0 ± 7,6 anos e IMC de 31,2 ± 5,5 kg/m2. Destes, 91,7% usavam mais de um anti-hipertensivo e 29,2% faziam uso de insulina. A pressão arterial de consultório foi de 135,5 ± 21,2 mmHg e 21,2 ± 11,5 mmHg (sistólica, PAS, e diastólica, PAD, respectivamente). A glicemia foi de 165,8 ± 63,4 mg/dl, a HbA1c de 7,8 ± 1,6 % e a creatinina de 0,77 ± 0,2 mg/dl. O HDL-colesterol médio foi 46,6 ± 14,2 mg/dl, colesterol total de 190,0 ± 36,4 mg/dl e triglicerídeos de 212,0 ± 100,8 mg/dl. Os valores na MAPA-24h foram de 129,1 ± 16,4 mmHg e 73,0 ± 9,7 mmHg para a PAS e PAD, respectivamente. O descenso noturno fisiológico (queda de 10% na PAS e PAD noturna em relação ao período diurno) foi observado em apenas 20,8% dos pacientes. Conclusão: Muitos pacientes com DMT2 já apresentam alterações no padrão circadiano da pressão arterial e podem ser um grupo de interesse para o estudo da variabilidade pressórica.
FATORES ASSOCIADOS COM A TAXA DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA
MOISES GERHARDT;LEILA BELTRAMI MOREIRA; DANIELLE YUKA KOBAYASHI; CARLOS SCHULER NIN; MEIRI ANDRÉIA MARIA DA SILVA; CARLA BEATRIZ CRIVERALLO GONÇALVES; SANDRA CRISTINA PEREIRA COSTA FUCHS; MIGUEL GUS; FLÁVIO DANNI FUCHS
Introdução: A despeito de existirem terapias efetivas, muitos pacientes com hipertensão arterial (HAS) sob atendimento ambulatorial permanecem com a pressão(PA) não controlada, por resistência ou baixa adesão ao tratamento.Objetivo: Estimar a proporção de pacientes que tem a PA controlada em ambulatório de referência em HAS e fatores associados ao controle da HAS.Delineamento: Estudo de coorte.Material e Métodos: Incluiram-se todos os pacientes avaliados de 1989 a 2009, com ≥1 consulta de seguimento. Exportaram-se os dados do prontuário eletrônico, preenchido durante o atendimento, de forma padronizada. Diagnosticou-se HAS pela média de 6 aferições de PA ≥140/90mmHg ou uso de antihipertensivos. Pacientes com lesão em órgão-alvo ou com PA >180/110mmHg foram classificados pela média de 2 aferições. Definiu-se PA controlada como a média de 2 aferições na última consulta <140/90mmHg. Em regressão de Cox, identificaram-se fatores associados ao controle da PA.Resultados: De 3060 pacientes avaliados, 2076 tinham pelo menos um seguimento e dados completos, predominando mulheres (68,6%), brancos (80,3%), com excesso de peso (sobrepeso=39,3%; obesidade 39,5%), com 55,2 ±13,2 anos de idade e 5,8±3,9 anos de escolaridade. Na linha de base 20,4% dos pacientes apresentaram-se com PA controlada, proporção que aumentou para 40,3% na última consulta realizada. Pacientes com sobrepeso e obesidade que perderam ≥2 Kg tiveram maior taxa de controle da HAS (46,5%; P=0,028 e 42,9%; P=0,039, respectivamente). PA sistólica associou-se inversamente com controle da pressão e escolaridade associou-se positivamente.Conclusão: Mesmo em ambulatório de referência o grau de controle de PA é insatisfatório. Redução de peso e maior escolaridade associaram-se com maior taxa de controle.
ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DO EFEITO AVENTAL BRANCO E DA HIPERTENSÃO MASCARADA EM PACIENTES HIPERTENSOS EM 3 DIFERENTES CONTEXTOS
JEFFERSON ANDRÉ BAUER;GUILHERME LUÍS MENEGON; MARÍLIA REINHEIMER; FABRÍCIO PIMENTEL FONSECA; LEILA BELTRAMI MOREIRA; MIGUEL GUS; SANDRA COSTA FUCHS; FLÁVIO DANNI FUCHS
Introdução: Existem 4 categorias para classificar pacientes conforme valores da pressão arterial (PA) aferidos no consultório juntamente com a MAPA: normotensão, hipertensão, hipertensão mascarada e hipertensão com efeito avental branco, sendo as 3 últimas relacionadas a risco de lesões em órgãos alvo. Objetivos: Comparar prevalências de efeito avental branco e HAS mascarada em pacientes hipertensos de 3 contextos: atendimento ambulatorial em centro de referência (grupo1/n = 307), pacientes com HAS não controlada usando hidroclorotiazida avaliados na base de ECR (grupo2/n = 82) e pacientes com HAS em tratamento e PA não controlada avaliados no estudo MONITOR (grupo3/n = 545). Métodos: Análise transversal de pacientes com HAS e PA aferida por MAPA. Equipamentos com manguitos ajustados à circunferência braquial foram usados. HAS foi considerada como PA >140/90 no consultório e >135/85 na MAPA de vigília. Os resultados foram categorizados em HAS controlada, efeito avental branco, HAS não controlada e HAS mascarada, conforme critérios da IV diretriz de MAPA. As prevalências de cada categoria nos grupos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 62
foi calculada. Resultados: Em todos os grupos predominaram o sexo feminino e a cor branca. As médias de idade variaram entre 56,9 e 61,6 anos. Grau de escolaridade foi de 7,6+/-4,2 para participantes do estudo MONITOR e 2,9+/-3,0 para pacientes do ambulatório. A prevalência do efeito avental branco foi de 32,9% no grupo 2; 26,7% no grupo 1 e 19,9% no grupo 3. A prevalência de HAS mascarada foi de 13,4% nos pacientes do ambulatório e de 8,8% nos participantes do estudo MONITOR. Conclusão: Participantes de pesquisa são escolhidos entre pacientes de ambulatórios de hipertensão que usualmente são mais motivados e doentes, detectando-se condições como HAS mascarada e efeito avental branco.
ASSOCIAÇÃO ENTRE DIFERENTES PARÂMETROS DE VARIABILIDADE DA PRESSÃO SISTÓLICA FORNECIDOS PELA MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) E O ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL
ESTEFANIA INEZ WITTKE;FABIO CICHERELO; CAROLINA MOREIRA; ELTON FERLIN; LEILA BELTRAMI MOREIRA: MIGUEL GUS; SANDRA COSTA FUCHS; FLAVIO DANNI FUCHS
Introdução: Tem sido demonstrada uma associação entre a variabilidade da pressão arterial avaliada por diferentes índices e lesão em órgão-alvo, independentemente dos valores de pressão arterial. O índice tornozelo-braquial (ITB) é reconhecido como marcador de aterosclerose sistêmica. Objetivo: Avaliar a associação entre a variabilidade da pressão arterial sistólica (PAS) e o ITB. Métodos: Em um estudo transversal, pacientes atendidos no ambulatório de hipertensão realizaram medida de ITB e Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas (MAPA). Três parâmetros de variabilidade foram avaliados: o índice time-rate definido como a primeira derivada da PAS em relação ao tempo; desvio padrão (DP) das médias da PAS de 24 horas e coeficiente de variabilidade (CV=DP dividido pela média pressóricaX100%). O ITB aferido por doppler foi obtido pela razão entre a maior PAS do tornozelo ou pediosa e a maior PAS dos braços. O ponto de corte para o diagnóstico de doença arterial periférica foi ITB menor ou igual a 0,90 ou maior ou igual a 1,40. Resultados: A análise incluiu 425 pacientes: 69,2% do sexo feminino, idade média de 57 ±12 anos, 44,9% tabagistas ou ex-tabagistas e 22,1% tinham diabetes mellitus (DM II). ITB alterado foi detectado em 58 pacientes (14%). Para os grupos ITB normal e anormal, o índice time-rate, DP das médias e CV foram: 0,469±0,119 mmHg por min e 0,516± 0,146 mmHg por min (p=0,007); 22,9±14,1 mmHg e 25,5±17,5 mmHg (p=0,2); 17,6±10,8% e 18,3 ±11,3% (p=0,7), respectivamente. Em modelo de regressão de Poisson, o time-rate foi associado com ITB, independentemente da idade (RR=6,9; 95% IC= 1,1-42,1; P=0,04). Em modelo de regressão linear múltipla demonstrou-se uma associação independente da idade, PAS de 24 horas e DM II. Conclusão: O índice time-rate foi o único parâmetro de variabilidade da PAS associado com índice tornozelo-braquial e pode ser utilizado na estratificação de risco em hipertensos.
ATIVIDADE FÍSICA SEGUNDO DIFERENTES CRITÉRIOS: PREVALÊNCIA DE ACORDO COM SEXO E IDADE
EDGAR SANTIN;ANDRÉIA GUSTAVO, FLAVIO D. FUCHS, JERUZA L NEYELOFF, LEILA B MOREIRA, SANDRA C FUCHS
Introdução: O International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) tem sido utilizado para investigar a epidemiologia da atividade física, com o objetivo de padronizar a investigação. Objetivo: verificar níveis de atividade segundo diversos critérios e as prevalências foram descritas de acordo com sexo e idade. Adicionalmente, avaliaram-se características demográficas e socioeconômicas associadas à inatividade física. Método: Este é um estudo transversal de base populacional de adultos (18 a 90 anos) de ambos os sexos, investigado no SOFT Study. Atividade física foi avaliada utilizando o IPAQ versão curta. Características demográficas e socioeconômicas foram investigadas. Resultados: Entre os critérios de baixo nível de atividade física, dos 1858 adultos 30,5% eram insuficientemente ativos conforme o protocolo do IPAQ, 25,5% realizavam menos do que 150 minutos por semana, 38,6% despendiam menos do que 1000 kcal por semana e 34,5% passavam seis horas ou mais sentados por semana. Diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, com maior prevalência entre os homens, foram detectadas para atividades vigorosas ≥150 min/sem (26,9% vs. 14,2%), deslocamento ≥150 min/sem (51,1% vs. 43,8%), prática por tempo igual ou superior a 1000 minutos por semana (18,9% vs. 14,2%) e permanência sentado por semana maior ou igual a seis horas/dia (37,4% vs. 32,4%). A relação inversa com idade foi confirmada em todos os critérios de atividade
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 63
física para as mulheres e na maior parte dos critérios para os homens. Conclusão:Considerando-se os resultados obtidos, sugere-se que para aferição pontual da prevalência de indivíduos insuficientemente ativos ou muito ativos podem ser usados diferentes critérios de classificação na análise dos dados.
ACURÁCIA DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE OBESIDADE PARA DETECTAR DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS
ALINE MARCADENTI DE OLIVEIRA;ANDRÉ LUÍS FERREIRA DA SILVA; PAULO MAXIMILIANO CORRÊA, LEILA BELTRAMI MOREIRA; MIGUEL GUS; MÁRIO WIEHE; FLÁVIO DANNI FUCHS; SANDRA COSTA FUCHS
Introdução: Diferentes indicadores antropométricos vêm sendo utilizados na detecção de obesidade abdominal e associação com fatores de risco cardiovascular como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Indivíduos com pressão arterial sustentada maior ou igual a 135/80 mmHg deveriam ser rastreados para DM. Objetivos: Comparar a acurácia de cinco indicadores antropométricos de obesidade para detectar diabetes mellitus tipo 2 em indivíduos hipertensos. Métodos: Realizou-se análise transversal em pacientes hipertensos com 18-80 anos, avaliados para elegibilidade no Estudo MONITOR. Excluíram-se pacientes com HAS grave, com ICC, IAM ou AVC ocorrido nos últimos seis meses, gestantes e outras doenças crônicas relevantes. Peso (kg), altura (m), circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril (CQ) foram avaliados. Determinou-se HAS pela média de seis aferições de pressão maior ou igual a 140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos e DM por glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL ou uso de hipoglicemiantes. Calcularam-se índices antropométricos: índice de massa corporal (IMC, por peso/altura, em kg/m
2), razão cintura-quadril
(RCQ), razão cintura-altura (RCAt) e razão cintura-altura ao quadrado (RCAt2), além de CC, e as
áreas sob a Curva ROC (AUC), sendo comparadas pelo método DeLong. Resultados: Entre 468 pacientes, 69% eram mulheres, 23% tinham DM, 27% eram fumantes e a média de PAS foi 153 ±26 e a PAD 89 ±15 mmHg. Não houve diferenças significativas entre as AUC dos índices para homens (P=0,09) e mulheres (P=0,3). O melhor ponto de corte para detectar ou excluir DM foi RCQ ≥0,90, em homens, e ≥0,85, em mulheres, além de CC ≥89cm em mulheres. Conclusão: RCQ é o melhor teste para detectar DM em homens e mulheres, além de circunferência da cintura entre as mulheres.
CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA TRANSITÓRIA (TAKOTSUBO): UMA REVISÃO DA LITERATURA
MARCOS PRETTO MOSMANN;ILZA VASQUES DE MORAES; PAULO RICARDO MASIERO; CAROLINE MÜLLER MAYER; MARIA CECÍLIA DAMBROS GABBI; ROBERTO TELLES DE FREITAS LUDWIG
INTRODUÇÃO: Encontra-se, na literatura atual, uma série de relatos de pacientes com disfunção ventricular esquerda reversível associada a sintomas similares de infarto do miocárdio e elevação de segmento ST, porém sem lesão arterial coronariana significativa. O objetivo deste estudo é revisar as características desta síndrome cardíaca e correlacionar com os achados de Cintilografia Miocárdica. METODOLOGIA: Pesquisa no Pubmed com palavras-chave: reversible ventricular dysfunction; “takotsubo” cardiomyopathy; 123-metaiodobenzilguanidine; stunned myocardium. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A disfunção ventricular esquerda transitória (Takotsubo) é uma síndrome caracterizada por uma disfunção reversível do segmento apical ou médio-ventricular esquerdo, mimetizando infarto do miocárdio, porém com ausência de significativa doença arterial coronariana. Tipicamente ocorre após doença aguda grave ou estresse severo físico ou emocional. A patogenia da síndrome não está plenamente estabelecida, entretanto uma das causas aferidas é de um “stunning” miocárdico neurogênico decorrente de um desbalanço autonômico por excesso de catecolaminas. A cintilografia de perfusão miocárdica com 99mTc-MIBI tipicamente evidencia uma perfusão usual das paredes do ventrículo esquerdo, porém com discinesia ântero-septo-apical nas imagens sincronizadas com o ECG. As imagens com metaiodobenzilguanidina (análogo da norepinefrina que avalia a função do sistema nervoso simpático cardíaco) demonstram um “washout” aumentado do radioisótopo, bem como diminuição da razão coração-mediastino nas imagens tardias. CONCLUSÃO: Os estudos cardíacos de Medicina Nuclear são úteis no diagnóstico diferencial de infarto do miocárdio, fornecendo informações complementares fundamentais para o manejo destes pacientes.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 64
CIRURGIA
INFLUÊNCIA DO TEMPO DE DIAGNÓSTICO E DO TEMPO PORTA-BISTURI NAS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE PACIENTES COM APENDICITE AGUDA ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;RICARDO FELIPE ROMANI; ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA ROSA; ANA LUIZA BRAGHINI MARTINEZ; JOSE ROSSIGNOLO
Introdução: A apendicite aguda (AA) é conhecida como uma das principais causas de dor abdominal aguda há pelo menos um século. A apendicectomia persiste como um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns na atualidade. O tempo decorrido entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença, e o tempo de espera até a cirurgia (tempo “porta-bisturi”) podem influenciar no prognóstico da doença. Objetivo: Determinar a associação entre os tempos de diagnóstico e de “porta-bisturi” com as complicações pós-operatórias mais comuns da apendicectomia. Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal, descritivo-observacional, através da análise retrospectiva dos prontuários eletrônicos de pacientes submetidos a apendicectomia convencional ou videolaparoscópica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entre fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008. Foram incluídos os pacientes cujo nome do procedimento era “apendicectomia” e “apendicectomia videolaparoscópica”. Foram excluídos os pacientes cuja idade era menor que 14 anos. Resultados: A amostra final foi de 185 pacientes. O tempo médio de início de sintomas e da chegada ao HCPA foi de 38,8 horas. O tempo médio “porta-bisturi” foi de 11,3 horas (0,7-96h). Nos 19,5% de pacientes que apresentaram complicações pós-operatórias, o tempo médio do início dos sintomas até o diagnóstico foi de 66,7 horas, comparado com 56,8 horas do grupo sem complicações (p<0,05). Não houve significância estatística entre o tempo porta-bisturi e a ocorrência de complicações (p=0,727). Conclusões: O tempo de início dos sintomas até a procura por atendimento médico ainda é o maior fator de influência no prognóstico da AA, ao contrário do tempo porta-bisturi que não teve a mesma influência. Este fato pode influenciar a rotina das equipes cirúrgicas.
INFLUÊNCIA DO TEMPO DE DIAGNÓSTICO E DO TEMPO PORTA-BISTURI NO TEMPO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES COM APENDICITE AGUDA ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;RICARDO FILIPE ROMANI; ANDRE RICARDO PEREIRA DA ROSA; ANA LUIZA BRAGHINI MARTINEZ; JOSE ROSSIGNOLO
Introdução: A apendicite aguda (AA) é conhecida como uma das principais causas de dor abdominal aguda. A apendicectomia persiste como um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns na atualidade. O tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença, o tempo de espera até a cirurgia (tempo “porta-bisturi”) e o tempo de duração do procedimento podem influenciar no tempo de internação dos pacientes. Objetivo: Associar os tempos de diagnóstico, de “porta-bisturi” e de duração do procedimento com o tempo de internação pós-apendicectomia. Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal, descritivo-observacional, através da análise retrospectiva dos prontuários eletrônicos de pacientes submetidos a apendicectomia convencional ou videolaparoscópica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008. Foram incluídos os pacientes cujo nome do procedimento era “apendicectomia” e “apendicectomia videolaparoscópica”. Foram excluídos os pacientes cuja idade era menor que 14 anos. Resultados: A amostra final foi de 185 pacientes. O tempo médio de início de sintomas e da chegada ao HCPA foi de 38,8 horas. O tempo médio “porta-bisturi” foi de 11,3 horas (0,7-96h). Foi encontrada significância estatística com fraca correlação (ρ=0,278) entre os tempos de início dos sintomas e o total de internação. Não houve associação significativa entre o tempo porta-bisturi e o tempo total de internação (p=0,169). Houve significância com moderada correlação (ρ=0,418) quando se associou o tempo de duração do procedimento (t<40minutos) com o total de dias de internação. Conclusão: A duração de internação dos pacientes parece ser pouco ou nada influenciada pelo tempo de início dos sintomas, tempo porta-bisturi e duração do procedimento.
RELATIONSHIP BETWEEN STAGE IN ADENOCARCINOMA OF THE RECTUM AND C-REACTIVE PROTEIN
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 65
KIZZY LUDNILA COREZOLA;BELLINE, V; SILVA, GVM, BARREIRO, G; AMARAL, JT; BAÚ, PC; ALVES, LB; MOREIRA, LF
Background: The involvement of chronic inflammation on colorectal carcinogenesis has been studied for quite a long time. C-reactive protein (CRP) is an acute phase protein that increases in response to stimulies such as inflammation and tumours. Aim: Immunohistochemically investigated whether CRP is expressed in adenocarcinoma (CA) cells from rectal tumours and assessed its significance in the colorectal carcinogenesis and its malignant potential. Materials and methods: Tissue samples from 91 patients with primary and sporadic CA of the rectum treated by surgical resection in the Coloproctology Section, HCPA, were assessed. As a control group, rectal biopsies of normal mucosa obtained from 22 patients – without family history of cancer - submitted to colonoscopic examination were studied. Immunohistochemical assessment of the 113 paraffin-embedded tissues was performed using a sheep antihuman polyclonal CRP antibody diluted (1:100). Results: Cellular accumulation of CRP was observed in 65 (71%) out of the 91 patients with CA of the rectum and in all 22 control samples (p<0.01). There were no significant differences between the 5-year survival rates in both groups. Additionally, a multivariate analysis demonstrated that Dukes-Turnbull stages (p=0.01) and the proportion of curative resection (p=0.02) were found to be independent prognostic factors in patients with CA of the rectum. Conclusion: The inflammation is important in the carcinogenic process of rectal tumours, but it may not affect prognosis. It would be interesting to carry out this study in a larger population sample, including also pre-malignant lesions correlating tumour expression of CRP with serum levels in order to clarify the possibility that cellular CRP production contributes to an increase on serum levels.
CANCELAMENTO DE CIRURGIAS POR MOTIVOS DO BLOCO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ELYARA FIORIN PACHECO;KELIN CRISTINE MARTIN;LARISSA SCHNEIDER;PAULA BORGES DE LIMA;MARIZA MACHADO KLUCK
Introdução: As instituições hospitalares têm como uma de suas metas a contínua melhoria na qualidade da assistência que oferecem aos pacientes e ao sistema de saúde de uma forma geral. Indicadores são meios objetivos de avaliar esta qualidade, auxiliando na gestão da instituição. A taxa de cancelamento de cirurgias é um desses parâmetros, já que a suspensão dos procedimentos aumenta custos e gera insatisfação por parte dos pacientes. Objetivo: Avaliar a taxa de cancelamento de cirurgias por motivos relacionados ao bloco cirúrgico em um hospital escola. Materiais e Métodos: A pesquisa foi feita no sistema de Informações Gerenciais (IG) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coletando-se as quantidades de cirurgias marcadas (42002) e canceladas (2507) no Bloco Cirúrgico, no período de janeiro de 2006 a maio de 2009. Resultados: A taxa de cancelamentos no período analisado foi de 6,0%, sendo 5.7% em 2006, 4.5% em 2007 e 6.8% em 2008. Em 2009, a média dos meses de janeiro a abril foi de 6,6%, superando a média desse período nos anos anteriores. O principal motivo foi tempo de sala disponível inferior ao necessário, representando 63% dos cancelamentos relacionados ao bloco. A especialidade médica que apresentou a maior taxa foi a cirurgia vascular (8,5%), seguida pela cirurgia do aparelho digestivo (8,2%). As cirurgias pagas pelo Sistema Único de Saúde tiveram taxa maior que aquelas pagas por convênios e particulares (6,6%, 2,8% e 2,0%, respectivamente). Conclusão: O aumento do cancelamento de cirurgias merece atenção especial, com formulação de alternativas para a gestão dos serviços no bloco cirúrgico, o que pode trazer benefícios no atendimento ao paciente e na otimização dos recursos financeiros.
TAXA DE UTILIZAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HCPA
ANDRÉ GÖRGEN NUNES;LUCAS FAÉ GHELLER, ARTHUR BOM QUEIRÓZ E MARIZA MACHADO KLUCK
Introdução: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) conta com um Bloco Cirúrgico (BC) com 12 salas operatórias. O hospital conta, ainda, com um prontuário eletrônico, o que possibilita a coleta e o processamento de dados assistenciais e a análise de praticamente qualquer indicador de qualidade assistencial. Objetivos: Principal: contribuir para a análise crítica da realidade assistencial cirúrgica do HCPA. Secundários: analisar a taxa de utilização do BC do HCPA, em aproveitamento
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 66
das horas disponibilizadas, e descriminar horas dispensadas em tempo cirúrgico, tempo de limpeza de sala e tempo ocioso no período estudado. Métodos: Foi realizada pesquisa no sistema informatizado do HCPA dos indicadores assistenciais denonimados: quantidade de horas cirurgia: quantidade de horas decorridas entre o início e fim do ato operatório; quantidade horas disponibilizadas: tempo de reserva em salas cirúrgicas operacionais para realização de cirurgias; quantidade horas paciente e limpeza: quantidade horas de ocupação de sala mais 30 minutos referentes ao tempo de limpeza da sala; e taxa de utilização sala cirúrgica: quantidade de horas usadas divida por quantidade de horas disponíveis. Foram estudados os dados do período de janeiro de 2005 a abril de 2009, num total 47.016 cirurgias realizadas no BC do HCPA. Resultados e conclusões: Entre 2005 e 2009, o HCPA disponibilizou 158.423 horas de bloco cirúrgico, das quais 67.487 (42,6%) foram utilizadas com cirurgia e 55.866 (35,3%) foram gastas com limpeza. 22,1% das horas disponíveis no período aferido não foram utilizadas. Podemos concluir que o HCPA gasta muito tempo com limpeza das salas cirúrgicas, não usando toda a capacidade cirúrgica que seus recursos físicos dispõem.
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM OBSTRUÇÃO INTESTINAL SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
GABRIELA PILAU DE ABREU;TIAGO LEAL GHEZZI; LAURA MOSCHETTI; OLY CAMPOS CORLETA; GABRIELA PILAU DE ABREU; LAÍS PILAU DE ABREU
Introdução: a laparotomia é considerada o método de escolha para o tratamento cirúrgico de pacientes com obstrução intestinal sem resposta ao tratamento clínico conservador. Atualmente, no entanto, diversas publicações têm demonstrado a viabilidade da videolaparoscopia (VLP) no tratamento da obstrução intestinal. Objetivo: descrever o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com obstrução intestinal submetidos ao tratamento cirúrgico em caráter de urgência. Material e Métodos: estudo observacional, descritivo e retrospectivo. Foram incluídos pacientes adultos submetidos a tratamento cirúrgico para obstrução intestinal no Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período de janeiro 2004 a outubro 2008. Resultados: foram estudados 135 pacientes, 126 dos quais tratados por laparotomia e 9 por VLP. Observou-se distribuição semelhante entre os sexos e idade média de 59 anos (DP ± 16,9). Intestino delgado e aderências intestinais representaram respectivamente o principal sítio e etiologia de obstrução. Dos pacientes submetidos à laparotomia, 75.4% apresentavam distensão abdominal, 68.3% história de cirurgia abdominal prévia, 11,9% IMC > 30 kg/m2, 4.8% coagulopatia e 3.2% instabilidade hemodinâmica. A cirurgia mais realizada foi adesiólise com 31,1% dos casos. Complicações pós-operatórias clínicas e cirúrgicas ocorreram respectivamente em 36,3% e 46,6% dos pacientes. O tempo médio de internação foi 15 dias. As taxa de reintervenção e mortalidade foram respectivamente 20.7% e 19.3%. Conclusão: os achados deste estudo corroboram com os observados na literatura mundial. A videolaparoscopia tem se mostrado uma abordagem viável, segura e efetiva quando realizada por cirurgiões experientes, com instrumental adequado e em casos criteriosamente selecionados de obstrução intestinal.
QUANTIDADE DE CONSULTAS AMBULATORIAIS E TEMPO DE ESPERA PARA INTERCONSULTA EM SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DE HOSPITAL TERCIÁRIO
VINÍCIUS LEITE GONZALEZ;EDGAR SANTIN, FELIPE VERAS ARSEGO, GUSTAVO DA ROSA SILVA, JOSÉ MAURO ZIMMERMANN JUNIOR, LUIZ FELIPE TEER DE VASCONCELLOS, MATHEUS BRUN COSTA, TIAGO RIBEIRO LEDUR
Introdução: O tempo de espera interconsulta e a quantidade de consultas ambulatoriais são indicadores assistenciais importantes para avaliar o desempenho do serviço oferecido por determinado setor. Objetivos: Descrever os indicadores relativos à quantidade de consultas ambulatoriais realizadas e ao tempo de espera para interconsulta em hospital terciário e seu serviço de cirurgia geral. Material e métodos: Estudo descritivo referente à quantidade de consultas ambulatoriais entre 2002 e 2008 e o tempo de espera interconsulta entre 2006 e 2008 de hospital terciário e seu serviço de cirurgia geral. Resultados: No período analisado, o número total do hospital de consultas ambulatoriais oferecidas foi de 4.741.523, sendo marcadas 4.284.839 e realizadas 3.763.783. A média anual foi de 677.360 consultas oferecidas, 612.120 agendadas e 537.683 realizadas. Já em relação ao Serviço de Cirurgia Geral, o número de consultas ambulatoriais oferecidas foi de 102.903, sendo marcadas 111.501e realizadas 97.376. A média anual foi de 14.700
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 67
consultas oferecidas, 15.929 agendadas e 13.911realizadas. Do total de consultas realizadas no hospital, 2,59% foram realizadas pelo serviço de cirurgia geral. Entre 2006 e 2008 o tempo de médio de espera interconsulta no hospital foi de 6,3 meses, enquanto no Serviço de Cirurgia Geral esse tempo foi de 1,29. Conclusões: No período analisado, percebe-se que o Serviço de Cirurgia Geral agenda um número superior ao que é oferecido de consultas e apresenta um tempo consideravelmente menor de espera para interconsulta. Este resultado pode ser oriundo da disponibilidade do serviço em atender além das expectativas em relação ao número de consultas.
MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR GERAL E PRÉ-CIRÚRGICA EM HOSPITAL TERCIÁRIO
VINÍCIUS LEITE GONZALEZ;EDGAR SANTIN, FELIPE VERAS ARSEGO, GUSTAVO DA ROSA SILVA, JOSÉ MAURO ZIMMERMANN JUNIOR, LUIZ FELIPE TEER DE VASCONCELLOS, MATHEUS BRUN COSTA, TIAGO RIBEIRO LEDUR
Introdução: Hospitais terciários possuem custo operacional elevado; com perfil de recursos humanos muito especializado e uma estrutura física, instalações e equipamentos praticamente únicos no estado. O tempo de permanência hospitalar antes da realização de cirurgia, contribui para a elevação dos gastos hopitalares. Desta forma, reduzir este tempo deve estar entre os objetivos do gestor de saúde. Objetivos: Descrever o indicador de tempo de permanência hospitalar total e pré-cirurgico de hospital terciário no Rio Grande do Sul (RS) e especificamente de seu Serviço de Cirurgia Geral e compara-los com dados da literatura. Material e métodos: Estudo retrospectivo descritivo com relação ao tempo de permanência hospitalar total entre 2002 e 2009 (até o mês de maio) e antes da realização de procedimento cirúrgico de 2007 e 2009 (até o mês de maio). Resultados: No hospital analisado, o tempo médio de permanência total foi de 8,6 dias, sendo 1,35 antes da cirurgia. O Serviço de Cirurgia Geral apresentou uma média de permanência de 6,09 sendo 0,72 pré-cirúrgica. Dados da literatura em relação a dois hospitais terciários no Ceará, mostram permanência hospitalar de 6,99 e 7,27 dias, sendo 2,80 e 3,41 a permanência pré-operatória. Conclusões: Os temposde permanência hospitalar total e pré-cirúrgico do Serviço de Cirurgia Geral foram menores do que o hospital como um todo. O hospital terciário do RS apresenta permanência pré-operatória menor em relação aos hospitais do Ceará, mas tem um tempo total de permanência hospitalar maior.
VALOR DA ECOGRAFIA ABDOMINAL PARA DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
RICARDO FILIPE ROMANI;FELIPE HOLANDA, ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA ROSA, ANA LUIZA MARTINEZ, JOSE ROSSIGNOLO
Introdução. A necessidade de exames complementares de imagem para o diagnóstico de apendicite aguda (AA) é classicamente tida como dispensável, uma vez que o diagnóstico dessa entidade clínica tem se alicerçado cada vez mais no exame clínico. Todavia, a ecografia abdominal tem se mostrado com um método diagnóstico complementar de relevante importância. Objetivo. Verificar a sensibilidade (“S”), especificidade (“E”), valor preditivo positivo (“VPP”) e valor preditivo negativo (“VPN”) da ecografia abdominal para o diagnóstico de AA no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Material e Métodos. Foi realizado um estudo transversal, descritivo-observacional, através da análise retrospectiva dos prontuários eletrônicos de pacientes submetidos a apendicectomia convencional ou videolaparoscópica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008. Foram incluídos os pacientes cujo nome do procedimento era “apendicectomia” e “apendicectomia videolaparoscópica”. Foram excluídos os pacientes cuja idade era menor que 14 anos ou que não realizaram ecografia abdominal para o diagnóstico. Resultados. No presente estudo, 241 pacientes foram submetidos a apendicectomia. No entanto, apenas 144 preencheram os critérios de inclusão. Destes, 110 (76,39%) tiveram ecografia sugestiva de apendicite e diagnóstico positivo; 27 (18,75%) tiveram ecografia não-sugestiva de apendicite e diagnóstico positivo; 7 pacientes (4,86%) tiveram ecografia não-sugestiva de apendicite e diagnóstico negativo; Nenhum paciente teve ecografia sugestiva de apendicite e diagnóstico negativo. A “S” estimada para o teste diagnóstico é 80,2% e o VPP é 100%. Não é possível calcular “E” e “VPN”. Conclusões. A ecografia abdominal mostra-se como um bom exame complementar para o diagnóstico de AA.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 68
INFLUÊNCIA DA ANTIBIOTICOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA NO PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM APENDICITE AGUDA ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
RICARDO FILIPE ROMANI;FELIPE HOLANDA, ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA ROSA, ANA LUIZA MARTINEZ, JOSE ROSSIGNOLO
Introdução: A apendicite aguda ainda é uma das principais causas de abdome agudo. O seu tratamento consiste em apendicectomia, associada ou não a antibioticoterapia. A antibioticoterapia é alvo de controvérsias em relação a indicações, doses e eficácia no tratamento e prognóstico. Objetivo: Verificar a influência da antibioticoterapia pré-operatória no prognóstico de pacientes com apendicite aguda submetidos a apendicectomia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal, descritivo-observacional, através da análise retrospectiva dos prontuários eletrônicos de pacientes submetidos a apendicectomia convencional ou videolaparoscópica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008. Foram incluídos os pacientes cujo nome do procedimento era “apendicectomia” e “apendicectomia videolaparoscópica”. Foram excluídos os pacientes cuja idade era menor que 14 anos. Resultados: A amostra final foi de 185 pacientes. Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o uso de antibiótico no pré-operatório com as complicações pós-operatórias (p=0,231). No entanto, o uso de antibiótico no pré-operatório associou-se significativamente com os dias de internação (9,7 versus 3,6 dias, p menor que 0,05). Em relação ao tipo de esquema antibiótico utilizado, independente do momento em que foi iniciado, não houve diferença significativa entre os esquemas e a ocorrência de complicações ou dias de internação. Conclusões: A antibioticoterapia pré-operatória não influenciou a incidência complicações pós-operatórias. Todavia, seu uso esteve associado com maior duração de internação. Isto não deve ser interpretado como um efeito maléfico no tratamento, mas como uma associação com casos mais graves.
TUMOR SÓLIDO-PSEUDOPAPILAR DE PÂNCREAS (TUMOR DE FRANTZ)
NAYANE FERNANDES CLIVATTI;CACIO WIETZYCOSKI; GIULIANO CHEMALE CIGERZA; VIVIAN PIERRI BERSCH; SANTO PASCOAL VITOLA; ALESSANDRO BERSCH OSVALDT
Introdução: Tumor pseudopapilar sólidos do pâncreas (TSPP, também conhecidos como tumor de Frantz é lesão rara, de comportamento biológico pouco agressivo e potencialmente curável com o tratamento cirúrgico. Dor epigástrica e lesões volumosas palpáveis cujo diâmetro pela tomografia computadorizada varia de 8-10 cm compõe a apresentação clinica tipica. A cauda e a cabeça do pâncreas são as localizações mais comuns. A análise histológica, na maioria dos casos, não discerne o grau de agressividade tumoral. Vinte por cento costumam ser metastáticos ou invadir estruturas vizinhas. Relato dos Casos: dois pacientes, uma mulher de 44 anos com uma lesão no pâncreas com 13cm e um homem de 28 anos com lesão pancreática de 12cm. Ambas as lesões em topografia corpo-caudal foram ressecadas com pancreatectomia corpo caudal e margens livres. Não houve evidência de recidiva durante o acompanhamento 9 meses. Conclusão: Apesar de raro, o tumor de Frantz deve ser a primeira hipótese diagnóstica em pacientes jovens que apresentam massa pancreática sólida-cistica volumosa sem comprometimento do estado geral. O tratamento cirúrgico, mesmo na presença de metástases possui ótimo prognóstico após a ressecção(95% de sobrevida em 5 anos).
RECONSTRUÇÃO NASAL NEONATAL NA SÍNDROME DO WARFARIN FETAL: RELATO DE CASO
JONATAN WILLIAM RODRIGUES JUSTO;BRUNO ISMAIL SPLITT; SARA CHAMORRO PETERSEN; MARCUS VINÍCIUS MARTINS COLLARES; CIRO PAZ PORTINHO; GUSTAVO JULIANI FALLER; PEDRO SARMENTO; DAVI SOBRAL; ANTÔNIO CARLOS PINTO OLIVEIRA; EDUARDO IOSCHPE GUS; VÍNICIUS SOUZA OLIVEIRA; SAMUEL CÂNDIDO ORIGE; RINALDO DE ANGELI PINTO
Introdução: O warfarin, anticoagulante lipossolúvel, quando usado na gravidez (principalmente nos 3 meses iniciais), tem potencial teratogênico. Ele pode provocar anormalidades nos membros, hemorragia no sistema nervoso central, e hipoplasia nasal – síndrome do warfarin fetal, cuja prevalência é de 4 a 6% nos fetos expostos a warfarin no período crítico (de 6 a 10 semanas). A hipoplasia nasal é a única alteração constante desta síndrome, prejudicando a respiração e a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 69
alimentação do neonato. São frequentes relatos de caso de reconstrução nasal na síndrome do warfarin fetal em crianças, em adolescentes, e em adultos, mas não em neonatos. Objetivo: Relatar um caso de reconstrução nasal neonatal em um paciente com síndrome do warfarin fetal. Material e métodos: Um paciente de 23 dias com síndrome do warfarin fetal, apresentava hipoplasia nasal isolada. Um rinoplastia aberta com incisão transcolumelar foi empregada. Dois enxertos de cartilagem tragal foram confeccionados e introduzidos na região da ponta, porção cranial do septo cartilaginoso e alares. Sondas nasogástricas foram deixadas a fim de moldar e prevenir estenose pós-operatória. Resultados: O paciente apresentou melhoria da permeabilidade ventilatória, diminuição do ruído inspiratório, ganho de peso e também da forma nasal. Após um ano de seguimento persistiu com resultado satisfatório. Conclusão: A intervenção precoce pode ser benéfica, proporcionando uma melhora funcional indubitável ao neonato, e minimizando procedimentos futuros, uma vez que favorece o trabalho das forças de crescimento facial.
DISTRAÇÃO OSTEOGÊNICA MANDIBULAR EM UMA PACIENTE COM PICNODISOSTOSE
BRUNO ISMAIL SPLITT;SARA CHAMORRO PETERSEN; JONATAN WILLIAN RODRIGUES JUSTO; JULIANE VARGAS; CIRO PAZ PORTINHO; PEDRO SIMAS SARMENTO; DAVI SOBRAL; EDUARDO IOSCHPE GUS; VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA; SAMUEL CÂNDIDO ORIGE; ANTÔNIO CARLOS PINTO OLIVEIRA; RINALDO DE ANGELI PINTO; MARCUS VINÍCIUS MARTINS COLLARES; GUSTAVO JULIANI FALLER
Introdução: A picnodisostose (PYCD) é uma doença genética rara, também conhecida como síndrome da mucopolissacaridose tipo IV ou síndrome Maroteaux-Lamy. É uma displasia esquelética autossômica recessiva. Esta doença é causada por um defeito num gene que codifica a enzima catepsina K (tal enzima é secretada pelos osteoclastos durante a reabsorção óssea). É caracterizada por osteoesclerose, deformidades no crânio e na face, baixa estatura e acro-osteólise. Embora a baixa estatura seja característica, a deficiência de GH tem sido relatada apenas em parte dos casos de PYCD. Objetivos: Relatar um caso de picnodisostose submetida à distração osteogênica mandibular. Material e Métodos: Sete anos, feminino, pais não-consangüíneos, apresentando Seqüência de Pierre-Robin com disfunção alimentar e respiratória, laringomalácia, alargamento de fontanelas, exoftalmia, baixa estatura, braquidactilia, acrostólise das falanges distais e história de fraturas nos membros inferiores. Foi submetida à laringoplastia e à distração osteogênica mandibular. Resultados: Houve melhora das funções respiratória e alimentar; no entanto, a paciente permaneceu sem definição do ângulo mandibular – o que é característico da PYCD – e pseudo-atrose na osteotomia mandibular direita. Conclusão: Embora a melhoria funcional tenha ocorrido com a distração (em conjunto com os procedimentos na laringe), a morfologia óssea permaneceu alterada em função das anormalidades metabólicas gerada pela PYCD.
RECONSTRUÇÃO DO SEPTO NASAL COM RETALHO DE GÁLEA E ENXERTO DE CARTILAGEM COSTAL
SARA CHAMORRO PETERSEN;BRUNO ISMAIL SPLITT; CIRO PAZ PORTINHO; PEDRO SIMAS SARMENTO; DAVI SOBRAL; EDUARDO IOSCHPE GUS; VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA; SAMUEL CÂNDIDO ORIGE; ANTÔNIO CARLOS PINTO OLIVEIRA; RINALDO DE ANGELI PINTO; MARCUS VINÍCIUS MARTINS COLLARES; GUSTAVO JULIANI FALLER
a) O retalho de gálea pode ser utilizado para várias reconstruções. O septo nasal, no entanto, não costuma ter esse‟ retalho como primeira escolha porque as estruturas mais próximas costumam permitir a sua reconstrução de maneira satisfatória. O retalho de gálea ficaria, então, para casos extremos, como o apresentado a seguir. b) Relatar um caso de destruição do septo nasal reconstruído com retalho de gálea. c) relato de caso, paciente feminina, 25 anos, branca , ex-usuária de cocaína, teve destruição total de septo nasal cartilaginoso. Também apresentava uma fístula oronasal anterior, cerca de 2 cm posterior aos dentes incisivos superiores. Desenvolveu ozena, que estava sendo tratada pela equipe da Otorrinolaringologia com debridamentos múltiplos e ciprofloxacina. Foi submetida à reconstrução cirúrgica. d) A evolução foi favorável. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética pós-operatória evidenciaram que a reconstrução foi adequada e que o enxerto ficou bem posicionado. O retalho de gálea é muito versátil para as reconstruções craniofaciais. O domínio de sua utilização pelos cirurgiões que atuam nessas regiões
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 70
anatômicas é muito importante. O caso apresentado é extremo, onde os retalhos locais não permitiriam uma cobertura satisfatória do enxerto cartilaginoso.
IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO NA TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR SECUNDÁRIA A CATETER VENOSOS CENTRAL NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
GUILHERME LOUREIRO FRACASSO;GABRIELA SCHÖLER TRINDADE; DOUGLAS PAUL FISCHER; LEANDRO TOTTI CAVAZZOLA; MARIZA MACHADO KLÜCK
O acesso por cateter venoso central (CVC) é amplamente utilizado, chegando a 5 milhões de procedimentos anuais nos EUA; não é, entretanto, isento de complicações. Estudos atuais apontam que complicações mecânicas chegam a 19%, enquanto que as infeccioas acometem até 26% dos pacientes. Essas, além de danos aos paciente, têm tratamentos difíceis e despendiosos. A literatura sugere que a implementação de protocolos é uma intervenção efetiva para a redução de complicações, incluindo as taxas de infecção secundárias a CVC. Em agosto de 2006, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) padronizou o procedimento de acesso por CVC junto à Comissão de Infecção Hospitalar. O objetivo principal desse estudo é analisar o impacto dessa medida nas taxas de infecção hospitalar relacionadas a CVC no HCPA. Os objetivos secundários incluem a comparação das taxas de infecção por CVC no HCPA com os limites aceitos internacionalmente. Os dados referentes à taxa de infecção de CVC de 2001 a 2009 foram coletados diretamente do sistema de Gestão de Qualidade Assistencial Hospitalar e analisados em Gnumeric 1.9.7. As médias mensais de taxa de infecção de CVC do HCPA foram analisadas de 2001 a 2009. A análise por dispersão das médias mensais mostra uma tendência de inclinação negativa [b=-0,037739;se(b)=0,005029;r²=0,36]. Entretanto, as médias anuais desse mesmo período demonstram uma queda acentuada a partir de ago/06. As tendências 24 meses pré e pós intervenção têm inclinações respectivamente positiva [b=1,64;se(b)=1,14] e negativa [b=-2,54;se(b)=1,14]. O R² pós intervenção de 0,88 mostrou forte associação entre a queda na taxa de infecção e a evolução temporal, sugerindo que o protocolo foi efetivo. Além disso, o HCPA encontra-se dentro dos parâmetros internacionais, com média de 3,46%.
SOLICITAÇÃO DE EXAMES NO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL
EDGAR SANTIN;FELIPE VÉRAS ARSEGO; GUSTAVO DA ROSA SILVA; JOSÉ MAURO ZIMMERMANN JÚNIOR; LUIZ FELIPE TEER DE VASCONCELLOS; MATHEUS BRUN COSTA; TIAGO RIBEIRO LEDUR; VINÍCIUS LEITE GONZALEZ; MARIZA MACHADO KLUCK
Introdução: Os indicadores de qualidade assistencial foram desenvolvidos com a finalidade de facilitar a quantificação e a avaliação das informações em saúde. São representativos do desempenho das instituições e do sistema de saúde. Objetivos: Comparar um indicador de qualidade assistencial (taxa de solicitação de exames) do serviço de cirurgia geral com os demais serviços do Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA). Materiais e Métodos: A coleta dos dados foi realizada no Serviço de Arquivo Médico e Informações em Saúde (SAMIS) do HCPA. As informações necessárias para o cálculo e comparação da taxa de solicitação de exames foram representativas do período de janeiro de 2004 a maio de 2009. Esse indicador representa o número de solicitações de exames por consulta ambulatorial. Também foram feitas comparações quanto aos custos gerados por essas solicitações e uma verificação dos exames mais solicitados nesse período. Resultados: No gráfico 1, nota-se que a taxa de solicitação de exames pelos ambulatórios do HCPA está em ascensão desde 2004. A taxa era de aproximadamente 2,6 no ano de 2004 passou para 2,7 em 2005; 2,8 em 2006; 3,0 em 2007, 3,1 em 2008 e atinge 2,9 em maio de 2009. A taxa do serviço de cirurgia geral sofreu variação semelhante nesse período, passando de 1,9 em 2004 para 2,5 em 2009. O número total de exames realizados no HCPA, no período analisado, foi de aproximadamente 12,4 milhões, representando um custo de aproximadamente 94 milhões de reais. (tabela 1). O Hemograma foi o exame mais solicitado. Conclusões: A taxa de solicitações de exames pelo ambulatório da cirurgia geral está em ascensão e em concordância com a realidade do HCPA que, mostra um aumento progressivo desse indicador nos últimos anos.
ABORDAGEM DIAGNÓSTICA NAS LESÕES DE PESCOÇO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 71
EDGAR SANTIN;OTÁVIO CUNHA; CARLOS OTAVIO CORSO
Introdução: A avaliação e o tratamento inicial de pacientes com trauma cervical penetrante ainda é motivo de controvérsias nos dias atuais. O trauma penetrante do pescoço representa 5-10% de todos os casos de trauma atendidos em emergências, tendo uma taxa de mortalidade em torno de 11%. As lesões se localizam em 55% dos casos na Zona 2 do pescoço, sendo a lesão vascular a mais comum, encontrada em 20% dos casos. Lesões de artéria carótida por mecanismo contuso ocorrem em cerca de 1-2% dos casos de trauma cervical. Objetivo: A avaliação ótima de injúrias, sem lesão evidente, da Zona 2 ainda não está definida, a situação é ilustrada com um relato de caso e uma revisão da literatura sobre o assunto. Material e Métodos: Neste relato apresentamos um caso de trauma cervical corto-contuso penetrante da Zona 2, manejado de forma conservadora, que evoluiu com trombose da artéria carótida interna esquerda com conseqüente lesão cerebral e óbito. Poderia a avaliação inicial com angiografia ou Doppler de fluxo ter identificado uma lesão vascular e evitado está evolução? A literatura foi revisada através do PUBMED. Conclusão: Em pacientes hemodinamicamente estáveis, sem lesões vasculares evidentes ao exame físico e a TC, não há evidência inequívoca da necessidade de outro exame de imagem para avaliação de lesões vasculares ocultas.
ANÁLISE GLOBAL DA MORTALIDADE CIRÚRGICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
LEANDRO GAZZIERO RECH;ANA CAROLINA MARTINS MAZZUCA; LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ; IULEK GORCZEVSKI; CAROLINA ROCHA BARONE
Introdução: A mortalidade cirúrgica é a que ocorre nos primeiros 30 dias do período pós-operatório em cirurgias com anestesia assistida, durante a mesma internação. É um indicador de desempenho tradicional, expresso por uma taxa. A importância da avaliação deste indicador está na identificação dos óbitos potencialmente evitáveis. Objetivos: Analisar a taxa de mortalidade cirúrgica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre através de diferentes focos, como taxa de mortalidade mensal, gravidade (classificação ASA), tipo de procedimento, especialidade e caráter da cirurgia. Materiais e Métodos: Busca no sistema de Informações de Gestão (IG) dados acerca da mortalidade cirúrgica por ano, mês, especialidade, procedimento, caráter e classificação ASA de 2002 a 2008, comparando-os com dados encontrados na literatura. Foram analisados 1.794 óbitos ocorridos em 58.151 cirurgias realizadas no período. Resultados: A taxa de mortalidade mensal manteve-se aproximadamente estável em 3%, havendo uma leve tendência ao aumento com o passar dos anos. A neurocirurgia e a cirurgia vascular foram responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade (12% e 10% respectivamente), superiores à média de 3%. Quanto à classificação ASA, há um aumento da taxa quão maior a gravidade, com resultados semelhantes aos da literatura. Em relação ao caráter, a taxa de mortalidade nas cirurgias de urgência é de 9,2%, enquanto que nas eletivas 1,9%. Vetriculostomia para monitorização da pressão intracraniana e aneurismectomia abdominal correspondem aos procedimentos com maiores taxas de mortalidade (41,8% e 30,8% respectivamente). Conclusão: A mortalidade está diretamente relacionada ao tipo de procedimento que será realizado, às condições clínicas prévias do paciente e ao caráter de urgência dos procedimentos.
MÉDIA DE PERMANÊNCIA PRÉ-CIRURGICA EM PACIENTES INTERNADOS NO HCPA
CARLOS CORADINI ABDALA;MARIANA MAGALHÃES; RODRIGO GONÇALVES DIAS; CELSO AFONSO TSCHÁ; HENRIQUE MARQUARDT LAMMERHIRT
Introdução: altos custos da internação hospitalar exigem racionalização do tempo de internação pré-operatório. Dados acerca do período pré-cirurgico podem otimizar a hospitalização. Objetivos: analisar dados sobre tempo de permanência pré-operatória no HCPA entre janeiro de 2007 e abril de 2009 (18.750 pacientes), utilizando-se diferentes variáveis. Metodologia: dados coletados do Sistema de Gestão de Qualidade Assistencial Hospitalar do HCPA. Resultados: de forma geral, existe leve tendência de queda do indicador ao longo do período analisado; pacientes classificados em ASA 1 à 4 tendem a permanecer mais tempo internados pré-cirurgia, já os classificados como ASA 5 têm média de permanência reduzida; tendência crescente da permanência hospitalar de acordo com faixa etária; existe tendência de aumento do período de permanência do paciente do SUS em comparação com outros pacientes; período pré-cirúrgico nos procedimentos de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 72
urgência/emergência é menor em relação às cirurgias eletivas. Conclusão: a tendência geral de queda do indicador não é estatisticamente significativa; pacientes classificados entre ASA 1 a 4 provavelmente requerem maior tempo na investigação diagnóstica ou estabilização do quadro de saúde, pacientes ASA 5 requerem intervenção mais rápida; paciente mais idoso requer cautela na indicação cirúrgica; pacientes do SUS chegam em condições de saúde mais precárias e/ou sem investigação diagnóstica prévia; emergência/urgência requer intervenção cirúrgica mais rápida.
PERIVASCULAR EPITHELIOID CELL: PECOMA
JULIANE VARGAS;FERNANDO FARIAS; LUCAS FÉLIX ROSSI; EDUARDO SOUZA; LEONARDO ZAVASCHI; DENIS M. GRUTCKI; JOANINE S. ANDRIGUETTI
Introdução: PEComa foi definido em 2002 pela OMS como um tumor mesenquimal distinto histologicamente e imuno-histoquimicamente das células epitelióides perivasculares. O termo é um acrônimo de perivascular definidas com diversos termos. Por terem características anatomopatológicas e imuno-histoquímicas semelhantes, atualmente são alocadas num grupo denominado PEComa. Objetivo: Descrever um caso de PEComa de partes moles diagnosticado pelo exame imuno-histoquímico, tratado com ressecção cirúrgica. O caso: Paciente de 52 anos, feminino, encaminhada por aumento na região inguinal E associada à dor há 1 mês. Ecografia: massa supra-púbica E. Submetida a inguinotomia e biópsia de partes moles com o diagnóstico de neoplasia maligna, indiferenciada, de células claras com extensas áreas de necrose. A imuno-histoquímico foi positiva para HMB45, Actin, Melan-A e Vimentina, propiciando o diagnóstico pecoma com áreas de necrose e atipias. A RNM de abdome total mostrou na pelve, ventralmente aos vasos ilíacos, bexiga e músculo íleo-psoas, conglomerado de lesões nodulares, tamanho total cerca de 11,5 x 8,5 x 5,4, acometendo a região inguinal E e infra-púbica junto à vulva E, abaulando a musculatura abdominal anterior e o tecido subcutâneo. Tratamento: cirúrgico, sendo ressecada a lesão. Discussão: A imuno-histoquímica é fundamental para o diagnóstico de PEComa. A expressão de marcadores melanocíticos confirmam tal neoplasia. Verificou-se positividade para actina, melan-A, vimentina e HMB 45. Este último é encontrado em quase todos os casos de PEComa. Conclusão: Visto a raridade, não há uma formulação de diretrizes estritas para a condução deste tipo de neoplasia. São necessários maiores dados moleculares e citogenéticos, seguimento dos pacientes para que melhores níveis de evidências sejam criadas. Atualmente, a cirurgia deve ser o guia para o tratamento. É possível que novas terapias adjuvantes sejam em breve recomendadas quando houver dados suficientes na literatura para tal.
CIRURGIA CARDIOVASCULAR
PERFIL CIRÚRGICO DOS PACIENTES COM CARDIOPATIA ISQUÊMICA E ANEURISMA DE VENTRÍCULO ESQUERDO NO HCPA
BRUNO BLAYA BATISTA;STEPHAN ADAMOUR SODER, LUIZ HENRIQUE DUSSIN, LEANDRO DE MOURA, EDUARDO KELLER SAADI
Introdução: Uma das conseqüências da cardiopatia isquêmica (CI) é o aneurisma de ventrículo esquerdo (VE), que ocorre quando um grande infarto agudo do miocárdio (IAM) progride para uma cicatriz transmural que se expande paradoxalmente durante a sístole. O tratamento consiste em cirurgia, já que o prognóstico com manejo clínico é ruim. Objetivos: Analisar o perfil cirúrgico dos pacientes com CI e aneurisma de VE submetidos à aneurismectomia no HCPA nos últimos 9 anos. Material e métodos: Estudo transversal dos dados expressos na plataforma do AGH e nos prontuários de papel presentes no SAMIS referentes ao período de julho de 2000 até abril de 2009. Resultados: No HCPA, foram realizadas 17 cirurgias de aneurismectomia de VE no período pesquisado, utilizando-se o princípio da reconstrução geométrica. Em 70% foi realizado concomitantemente a revascularização do miocárdio (CRM). Em 5% foi feita correção de comunicação intraventricular (CIV) e no restante 25% apenas aneurismectomia. Todas as cirurgias foram realizadas com circulação extracorpórea (CEC). A média de idade dos pacientes é de 64 anos (33-78 anos), predominando homens (70%). Apenas uma dessas foi reoperação, as demais foram primeira cirurgia. As médias do tempo de CEC e de isquemia foram de 75 min (40-128 min) e de 62 min (40-98 min), respectivamente. No pós-operatório, 4 pacientes foram a óbito por complicações. Conclusão: Devido à baixa ocorrência de aneurismas em IAM (2-4%), foram realizadas
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 73
relativamente poucas cirurgias em tal período. O tratamento mais agressivo do IAM com trombolíticos e angioplastia primária reduziu esta complicação. O perfil epidemiológico-cirúrgico de nossos pacientes se assemelha à descrição da literatura internacional, com melhora da fração de ejeção e dos sintomas após a cirurgia.
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA POR ANGIOGÊNESE INDUZIDA POR TERAPIA GÊNICA NA CARDIOPATIA ISQUÊMICA AVANÇADA: RESULTADOS PARCIAIS
FELIPE BORSU DE SALLES;IMARILDE GIUSTI; ROBERTO TOFANI SANT ANNA; ANDRÉS DELGADO CAÑEDO; IRAN CASTRO; CLARISSA GARCIA RODRIGUES; THIAGO DIPP; PAULO ROBERTO LUNARDI PRATES; JOÃO RICARDO MICHIELIN SANT ANNA; LUISA MARIA GOMES DE MACEDO BRAGA; JOSÉ ARTUR BOGO CHIES; FLÁVIA HELENA DA SILVA; IVO ABRAHÃO NESRALLA; NANCE BEYER NARDI; RENATO ABDALA KARAM KALIL
Introdução: Administração intramiocárdica de plasmídeos contendo séries completas do gene Vascular Endothelial Growth Factor 165 (pVEGF165) no miocárdio isquêmico demonstrou-se segura e viável¹. Benefício da técnica tem sido estudado em séries clínicas iniciais. Objetivo: Avaliar segurança, viabilidade e efeitos de terapia gênica com pVEGF165 em pacientes com doença arterial coronariana não passível de revascularização Métodos: Após 6 meses de acompanhamento, 20 pacientes receberam aplicação intramiocárdica de 2000µg de pVEGF165 por toracotomia exploradora, no território isquêmico previamente determinado por cintilografia miocárdica (CINT). Critérios de inclusão: Sintomáticos apesar de tratamento clínico otimizado; Idade inferior a 75 anos; Fração de ejeção ventricular esquerda entre 60% e 25%; Ausência de neoplasia. Será analisado CINT, teste ergométrico (ERG), questionário de qualidade de vida (QQV) e classe funcional (CCSA e NYHA) na inclusão, pré e em 1, 3, 6 e 12 meses de pós-operatório (PO). Dados analisados por testes t de Student, Qui-Quadrado e ANOVA, significativo se p crítico de 5%. Resultados Parciais: Há 11 pacientes incluídos (10 homens, 58.1±6 anos). Tempo de permanência na CTI foi de até 24 horas, permanecendo mais 2 a 5 dias internados. Extra-sístoles ventricular transitória observada na CTI em 1 caso. 4 pacientes completaram 1º mês PO com melhora da sintomatologia (NYHA: PRÉ=3.25; 1PO=2; P<0.05 / CCSA: PRÉ=3; 1PO=2). Em um paciente, houve redução relativa de 16,7% da área de isquemia miocárdica (PRÉ=24%; 1PO=20%). Demais dados de CINT, ERG e QQV não foram estatisticamente significativos. Conclusão: Aplicação intramiocárdica de VEGF165 tem se mostrado segura nesta análise inicial. Houve melhora na intensidade dos sintomas relacionados à insuficiência cardíaca. A tendência de redução da área isquêmica será avaliada em médio prazo em um maior número de casos Financiamento: CNPq, FUC, FAPERGS. 1 Reilly. J Interv Cardiol 18 (1) 27-31, 2005
ÚLCERA PENETRANTE ROTA DE AORTA TORÁCICA. RELATO DE CASO
MILTON FEDUMENTI ROSSI;LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; JOEL ALEX LONGHI; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: A Úlcera Penetrante de Aorta refere-se a uma lesão aterosclerótica ulcerada que penetra na lâmina elástica interna associada com hematoma dentro da camada média. O objetivo deste trabalho é descrever uma apresentação clínica incomum da úlcera penetrante rota de aorta, seu tratamento e sua evolução. RELATO DO CASO: Paciente de 81 anos, hipertenso e ex-tabagista internou na equipe da cirurgia digestiva com queixa de disfagia para sólidos e perda de peso de 5 kg há cerca de 4 meses. Paciente foi submetido endoscopia digestiva alta que revelou compressão do esôfago no terço médio e ausência de lesão na luz esofágica. Angiotomografia realizada durante fase de investigação demonstrou extravasamento de contraste na aorta torácica descendente, compatível com úlcera penetrante de aorta rota contida no mediastino. O maior diâmetro do pseudoaneurisma é 11 cm. A correção endovascular foi realizada por meio da introdução do sistema da endoprótese reta 34 x 141 mm e liberação da mesma na aorta descendente. Paciente não apresentou intercorrências peri-operatórias, com permanência de um dia na UTI e alta no terceiro dia de pós-operatório. Na reconsulta, após uma semana, houve regressão da disfagia sem aparecimento de novos sintomas. CONCLUSÃO: A Úlcera Penetrante de Aorta Rota apresenta elevada morbimortalidade e requer tratamento imediato, persistindo como desafio diagnóstico nos serviços de emergência. O tratamento
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 74
endovascular aparece como terapia de primeira escolha, tendo em vista o perfil dos pacientes acometidos pela doença e a morbimortalidade cirúrgica de até 30%. O maior reconhecimento desta doença pelos métodos diagnósticos atuais permitirá o melhor entendimento da patologia nos próximos anos.
AVALIAÇÃO GLOBAL E SEGMENTAR DA FUNÇÃO VENTRICULAR EM CARDIOMIOPATIA DILATADA APÓS INJEÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MONONUCLEARES DE MEDULA ÓSSEA NA PAREDE LIVRE DO VENTRÍCULO ESQUERDO
ANGELO SYRILLO PRETTO NETO;RENATO A K KALIL; ANDRES D CAÑEDO; FERNANDO PIVATTO JÚNIOR; JAMES FRACASSO; JOÃO R M SANT´ANNA; MAURÍCIO MARQUES; PAULO R PRATES; ROBERTO T SANT´ANNA; IVO A NESRALLA
Introdução: A fração mononuclear de células-tronco hematopoiéticas obtidas da medula óssea tem sido utilizadas em experimentos e pequenas séries clínicas para tratar cardiomiopatia dilatada. O benefício clínico e sobre a função ventricular permanece sob avaliação, porém estão estabelecidos indícios de melhoras objetivas. Objetivo: Avaliar a função ventricular esquerda global e segmentar, na cardiomiopatia dilatada de etiologia não-isquêmica, após injeção de suspensão de fração mononuclear de células-tronco de medula óssea na parede livre do ventrículo esquerdo, comparando a contratilidade segmentar das áreas tratadas (parede lateral e ápex) com as não tratadas (septo interventricular e porção basal), no intuito de verificar se a possível ação da terapia é localizada ou geral sobre a função cardíaca. Metodologia: Estudo transversal. Foram estudados pacientes com diagnóstico de miocardiopatia dilatada não-isquêmica que realizaram tratamento clínico convencional e que foram submetidos ao transplante autólogo intramiocárdico da fração mononuclear de células da medula óssea. Foi feita a análise das ventriculografias por ressonância magnética realizadas pelos pacientes previamente ao tratamento e após o mesmo, entre o segundo e o terceiro meses após o transplante celular, sendo inclusos os pacientes que obtiveram uma melhora relativa de 15% da fração de ejeção ventricular após o procedimento. Resultados: Verificou-se um aumento tanto da espessura da parede septal quanto da parede lateral, embora estes valores não tenham sido estatisticamente significativos (p=0,091 e p=0,128, respectivamente). Esse espessamento se refletiu numa tendência à melhora da contratilidade ventricular, com diminuição dos volumes diastólico e sistólico finais. Conclusão: Estes achados permitem inferir que a ação das células-tronco é difusa, não apenas local, sobre todo o miocárdio.
TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL COM FÍSTULA PARA VEIA CAVA - RELATO DE CASO
VINÍCIUS LEITE GONZALEZ;ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: Ruptura de aneurisma de aorta abdominal com fístula para veia cava é uma complicação rara de aneurismas de aorta abdominal (AAA), com uma prevalência estimada de 3-6% entre os que sofrem ruptura. OBJETIVO: Descrever um caso de tratamento endovascular de AAA com fístula aorto-cava. MATERIAL E MÉTODOS: Relato de caso de AAA e fístula aorto-cava. RESULTADOS: Homem, 65 anos, ex-tabagista, diabético, hipertenso, com fibrilação atrial crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, trombose venosa profunda de membros inferiores bilateralmente há 2 meses e AAA. Veio encaminhado de outra instituição por insuficiência cardíaca congestiva (ICC) descompensada. Realizou ecocardiograma com fração de ejeção de 76% e veia cava dilatada. Evoluiu com piora da ICC apesar de manejo clínico ótimo, perda de função renal e choque. Tomografia mostrou AAA infra-renal com 11 cm de diâmetro estendendo-se até as ilíacas comuns, aneurisma de ilíaca comum direita com 2,5cm de diâmetro e contrastação precoce da veia cava, sugestiva de fístula aorto-cava. Arteriografia confirmou a presença de fístula aorto-cava. Submetido à anestesia geral, embolização com molas no aneurisma da hipogástrica direita (para evitar vazamento/endoleak tipo II) e colocação de endoprotése obtendo oclusão da fístula e correção do aneurisma em arteriografia de controle. Paciente apresentou ótima evolução já nas primeiras 12 horas após o tratamento, mantendo-se hemodinamicamente estável sem drogas vasopressoras, melhora da diurese e da creatinina, sendo extubado em 24 horas. CONCLUSÃO: A correção
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 75
endovascular de AAA surgiu como solução para casos em que o risco cirúrgico é elevado e apresenta bons resultados, quando a anatomia do aneurisma permite a correção endovascular.
FIBRINÓLISE GUIADA POR CATÉTER EM TVP ILÍACO-FEMORAL SECUNDÁRIA À SÍNDROME DE MAY-THURNER
LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ;MILTON FEDUMENTI ROSSI; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; JOEL ALEX LONGHI; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: Síndrome de May-Thurner corresponde à compressão da veia ilíaca comum esquerda entre a artéria ilíaca comum direita e o corpo vertebral. Essa compressão aumenta o risco de trombose venosa no segmento ilíaco femoral. O tratamento de Trombose Venosa Profunda (TVP) deve ser feito preferencialmente com anticoagulantes, não sendo recomendado o uso indiscriminado de trombolítico. No entanto, casos com TVP extensa e comprometimento arterial secundário do membro, como nos com trombose ilíaco-femoral maciça, o uso de trombolítico para a lise do trombo parece apresentar benefício a médio-longo prazo. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 32 anos , vem à emergência do HCPA com dor e edema em Membro Inferior Esquedo (MIE). Apresentava edema de 4+/4+, cianose e gradiente térmico em exrtemidades, compatível com phlegmasia cerulea dolens. Foi avaliado com Eco doppler: TVP ilíaco-femoro-poplítea. Optou-se pelo tratamento com trombolítico infundido por catéter multiperfurado intratrombo no MIE. Foi usado: Alteplase – 0,05 mg/Kg/h; Heparina não fracionada – 1000 UI/h. O paciente foi monitorado em com KTTP/Fibrinogênio coletados de 4/4 horas e Ht/Hb de 24/24 horas. Foram realizados exames contrastados de controle. Em 24horas apenas o segmento femoro-poplíteo estava recanalizado, sendo necessário aumentar a infusão de alteplase para 0,075mg/kg/h. Em 36 horas, havia lise completa dos trombos no segmento ilíaco femoral, sendo identificada a compressão extrínseca da veia ICE pela artéria ICD. Foi optado pela realização de angioplastia e implante de stent 16x40mm com o intuito de manter a perviedade e diminuir o risco de recorrência.CONCLUSÃO: O tratamento com Fibrinólise Guiada por Cateter multiperfurado intratrombo em TVP Ilíaco-Femoral maciça manteve a viabilidade do membro.
TRATAMENTO ENDOVASCULAR DO PSEUDOANEURISMA DE ARTÉRIA SUBCLÁVIA PÓS-TRAUMÁTICO - RELATO DE CASO
LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ;MILTON FEDUMENTI ROSSI; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; RICARDO BOCCHESE PAGANELLA; CAROLINA MANCUSO STAPENHORST; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; JOEL ALEX LONGHI; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
Introdução: O manejo das lesões vasculares da região cérvico-torácica representa um desafio para o cirurgião do trauma. Os pacientes com sinais clínicos evidentes de lesão vascular são, via de regra, submetidos à imediata exploração cirúrgica. Em pacientes hemodinamicamente estáveis e com achados clínicos inespecíficos, a localização anatômica e a extensão do hematoma são extremamente úteis para o diagnóstico, principalmente, das lesões do segmento subclávio-axilar. A terapia endovascular é uma possibilidade de tratamento com menor morbidade nestes pacientes. Caso Clínico: Paciente masculino,15 anos, atendido no HCR, vítima de projétil de arma de fogo com ferimento de entrada na região infraclavicular esquerda, sem orifício de saída. Os pulsos dos membros superiores eram cheios e simétricos. Não havia sinais clínicos de hematoma pulsátil e sem sangramento externo ativo. Avaliação neurológica demonstrava lesão parcial de plexo braquial. O Rx de tórax mostrava fratura da clavícula no 1/3 médio, sem deslocamento, e nenhuma evidência de hemopneumotórax. O paciente estava hemodinamicamente estável, mas em virtude do local da lesão foi solicitada angiografia de arco aórtico e de artéria subclávia esquerda, cujo resultado foi: pseudoaneurisma na subclávia esquerda. O paciente foi encaminhado ao HCPA para procedimento endovascular com colocação de stent recoberto auto-expansível 8 x 50 mm, Viabahn. O paciente evoluiu bem, com pulsos cheios no MSE. Alta no 2° PO. Conclusão: Tratamento endovascular no trauma demonstra nítida eficácia, principalmente em pacientes hemodinamicamente estáveis. Tais
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 76
procedimentos reduzem a morbidade e o tempo de intervenções cirúrgicas, além do tempo de internação e dos custos hospitalares.
ANGIOPLASTIA INFRA-POPLÍTEA COM KISSING BALLOON- RELATO DE CASO
LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ;MILTON FEDUMENTI ROSSI; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; RICARDO BOCCHESE PAGANELLA; CAROLINA MANCUSO STAPENHORST; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; JOEL ALEX LONGHI; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
Introdução: As revascularizações distais dos membros inferiores têm sido reservadas habitualmente para pacientes com quadros de isquemia crítica. Os avanços nas técnicas endovasculares com os procedimentos de angioplastia transluminal percutânea e/ou implante de stent tornaram-se uma opção atraente para os pacientes com lesões no segmento Infra-poplíteo. A menor morbidade destes procedimentos e os resultados promissores observados têm ampliado seu uso em relação às derivações distais. Caso Clínico: Paciente masculino, 80 anos, hipertenso, ex-tabagista, IRC (creatinina base 2). Internou por quadro de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) descompensada secundária a infarto do miocárdio recente. Realizada compensação clínica com tratamento clínico da ICC e angioplastia coronariana. Apresentava também isquemia crítica no membro inferior esquerdo com necrose do 2° pododáctilo e extensa úlcera mista na face ântero-lateral da perna, com exame físico compatível com oclusão infra-poplítea, (Pulso Femoral e Poplíteo +4, Distais 0 e ITB: não compressível). Foi realizada Angioplastia com balão 3x40 mm por 3 min e angioplastia pela técnica de Kissing Ballon(balão 3x40 mm na Tibial Posterior e balão 2,5x26 mm na Fibular). Foi realizada amputação do 2° pododáctilo. O paciente evoluiu bem, com Pulso Tibial Posterior +4. Em 3 semanas, havia exuberante tecido de granulação na base de amputação e na úlcera. Não houve perda da função renal. Conclusão: A angioplastia dos vasos infra-poplíteos é uma alternativa adequada para pacientes com isquemia crítica e lesões tróficas extensas na perna que inviabilizam a realização de uma derivação cirúrgica. Além disso, pacientes de alto risco cirúrgico pode ser beneficiados pela realização de um procedimento minimante invasivo sob anestesia local.
SOBREVIDA A LONGO PRAZO DE OCTOGENÁRIOS SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA ISOLADA
FERNANDO PIVATTO JÚNIOR;RENATO A K KALIL; ALTAMIRO R COSTA; EDEMAR M C PEREIRA; FELIPE H VALLE; FERNANDA M AGUIAR; GUARACY F T FILHO; MATHIAS A VOLKMANN; NICOLI T HENN; PAULO E B BEHR; THAÍS B MODKOVSKI; IVO A NESRALLA
Introdução: os resultados a curto prazo da cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) em octogenários têm sido estudados, mas há poucos relatos sobre os desfechos a longo prazo, especialmente no Brasil. Objetivos: descrever a sobrevida (SV) a longo prazo dos pacientes com idade > 80 anos submetidos à CRM isolada e identificar variáveis pré-operatórias associadas a uma menor SV. Casuística e Métodos: 112 pacientes consecutivos operados entre jan/2000 e dez/2007, com idade média (±dp) de 82,3±2,1 anos e 53,6% masculinos. A prevalência de HAS foi de 75,9%, DM 27,7%, IAM prévio 27,7% e disfunção renal (creatinina >2,0mg/ml) 4,5%. A mortalidade hospitalar foi de 10,7% (IC95%: 4,9-16,5). O seguimento foi realizado através de contato telefônico ou consulta de prontuários, sendo a mediana de 3,2 anos e havendo perda de 14% dos pacientes. A análise da SV foi feita pela curva de Kaplan-Meier, sendo a associação entre as variáveis pré-operatórias analisadas e a SV avaliada pelo teste log rank, adotando-se um nível de significância de 5%. Resultados: a média de SV foi de 6,7 anos (IC95%: 6,0-7,4), sendo a taxa de SV em 1, 3 e 5 anos de 83,3, 79,5 e 77,3%, respectivamente. A presença de disfunção renal esteve associada a uma menor SV a longo prazo (p menor que 0,001), não se observando significância estatística com as variáveis sexo, DM, HAS, IAM prévio, fibrilação atrial, CRM prévia, classe funcional NYHA III/IV, cirurgia de urgência/emergência, lesão severa > 3 vasos ou do TCE e disfunção ventricular. Conclusões: a média de SV a longo prazo observada de 6,7 anos aproxima-se da média esperada dos indivíduos que atingem a idade de 80 anos no Brasil, que é de 9,4 anos (IBGE/2007), sendo, portanto, muito boa visto todas as comorbidades e riscos associados.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 77
TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE PSEUDOANEURISMA TRAUMÁTICO DA CARÓTIDA COMUM ESQUERDA. RELATO DE CASO
MILTON FEDUMENTI ROSSI;LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; JOEL ALEX LONGHI; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: O método endovascular vem se tornando cada vez mais apropriado para o tratamento de lesões vasculares traumáticas nos casos em que o acesso cirúrgico convencional é complexo ou demasiadamente mórbido para o paciente. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento endovascular complexo de um pseudoaneurisma de artéria carótida comum esquerda decorrente de trauma cervical penetrante. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 29 anos, previamente hígido, encaminhado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre por trauma cervical penetrante, apresentando massa cervical pulsátil e frêmito à esquerda. Angiotomografia evidenciou pseudoaneurisma no segmento médio da artéria carótida comum esquerda. O paciente foi submetido a implante de endoprótese Hemobahn-Gore 9x50 na carótida comum esquerda com exclusão do pseudoaneurisma. Entretanto, em ecodoppler de controle realizado após 48 horas observou-se reenchimento do pseudoaneurisma cervical, sem relação direta com a carótida comum. Realizada nova angiografia seletiva que evidenciou enchimento do pseudo-aneurisma pelo tronco tireo-cervical e presença de fístula arterio-venosa associada. Realizada embolização do tronco tireo-cervical com mola COOK 35x4x3, com oclusão do mesmo, mas tardiamente ainda persistia fluxo no interior da cavidade pseudo-aneurismática. Foi indicada injeção de trombina (Beriplast) guiada por ecodoppler, obtendo-se oclusão completa do mesmo. CONCLUSÃO: Os pseudoaneurimas traumáticos cervicais associados a fístulas arterio-venosas são situações de extrema complexidade e difícil manejo cirúrgico. O tratamento endovascular combinado utilizando endoprótese, embolização com molas e outros materiais é uma opção atraente e de baixa morbidade que deve ser considerada.
RECANALIZAÇÃO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA CRÔNICA DE VEIA CAVA INFERIOR
MILTON FEDUMENTI ROSSI;LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; JOEL ALEX LONGHI; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: O termo Síndrome da Veia Cava Inferior refere-se à hipertensão venosa das extremidades inferiores associada à oclusão da veia cava inferior (VCI) e/ou do segmento venoso ilíaco-femoral. Atualmente, o uso de stent endovenoso é a primeira escolha para o tratamento desses pacientes. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de recanalização da VCI por técnica endovascular nos casos de trombose crônica da VCI. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 44 anos, apresentava quadro de insuficiência venosa crônica grau V no membro inferior direito e VI no membro inferior esquerdo. Realizada venografia que demonstrou irregularidades nas veias ilíacas comuns e oclusão da veia cava inferior. Frente a esse quadro, foi realizada recanalização da VCI e da veia ilíaca esquerda. Venografia de controle após uma semana evidenciou trombose completa dos stents à esquerda. Realizou-se o implante de stent auto-expansível 16x72 à direita (conforme programado anteriormente) e indicou-se trombólise regional à esquerda, ocorrendo lise completa dos trombos. Em seguida, um implante de novo stent no eixo ilíaco esquerdo foi realizado. O paciente foi mantido anticoagulado e evoluiu com melhora clínica significativa, cicatrização da úlcera e diminuição do edema bilateralmente. Angiotomografia de controle em três meses evidenciava perviedade de todo o segmento venoso ilíaco-cava. CONCLUSÃO: A recanalização endovascular da trombose crônica da veia cava inferior é um procedimento complexo que envolve o uso de vários stents e a necessidade eventual de trombólise associada sendo, portanto, um procedimento de alto custo e que deve ser realizado em serviços de referência com amplo treinamento em técnicas endovasculares.
CORREÇÃO HÍBRIDA DAS DISSECÇÕES DE AORTA TORÁCICA COM DEGENERAÇÃO ANEURISMÁTICA E RUPTURA. RELATO DE 2 CASOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 78
MILTON FEDUMENTI ROSSI;LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; JOEL ALEX LONGHI; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: A dissecção crônica da aorta torácica com degeneração aneurismática é uma doença de extrema gravidade. A correção híbrida (cirúrgica associada à terapia endovascular) é um dos tratamentos atuais que visa diminuir a morbimortalidade significativa dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico convencional. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento híbrido de 2 pacientes com degeneração aneurismática e ruptura da dissecção de aorta tipo B de Stanford que apresentavam acometimento dos ramos viscerais. RELATO DE CASOS: 1º CASO: Paciente feminina, 62 anos, hipertensa, transferida ao HCPA por suspeita de aneurisma de aorta torácica roto. Angiotomografia evidenciou dissecção de aorta torácica tipo B de Stanford. Frente a esse quadro, optou-se pelo implante de endoprótese junto ao óstio da subclávia esquerda, além de laparotomia e realização de pontes arteriais terminais com próteses de dacron e implante de nova endoprótese. Paciente evoluiu com diversas complicações e óbito no 31º pós-operatório. 2º CASO: Paciente feminina, 44 anos, hipertensa, tabagista, apresenta-se na emergência do HCPA com quadro de dor importante e massa abdominal pulsátil em epigastro, com evolução de uma semana. Angiotomografia evidenciou dissecção de aorta tipo B de Stanford. A conduta para esse caso foi laparotomia e realização pontes arteriais com próteses de dacron, além do implante de endoprótese mono-ilíaca. Paciente evoluiu satisfatoriamente no pós-operatório recebendo alta hospitalar em 7 dias. CONCLUSÃO: A abordagem combinada cirúrgica e endovascular é uma técnica factível que evita a isquemia prolongada dos ramos viscerais, sendo uma alternativa apropriada para pacientes com dissecções de aorta tipo B Stanford e envolvimento dos óstios viscerais.
TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ROTO DE TRONCO CELÍACO. RELATO DE CASO
MILTON FEDUMENTI ROSSI;LUCAS GUAZZELLI PAIM PANIZ; MÁRCIO ARALDI; SARA SGARIONI VANAZZI; ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK; ALEXANDRE ARAÚJO PEREIRA; RICARDO BERGER SOARES; JOEL ALEX LONGHI; SHARBEL MAHFUZ BOUSTANY; MARCO AURÉLIO GRÜDTNER; GILBERTO GONÇALVES DE SOUZA; LUIZ FRANCISCO MACHADO COSTA; ADAMASTOR HUMBERTO PEREIRA
INTRODUÇÃO: Os aneurismas das artérias viscerais acometendo tronco celíaco são extremamente incomuns e podem ser tratados por técnicas endovasculares, dependendo da apresentação clínica, do estado hemodinâmico do paciente e da localização do aneurisma. O objetivo desse trabalho é descrever o tratamento inédito de um paciente com aneurisma de tronco celíaco roto através do implante de stents recobertos. RELATO DO CASO: Paciente masculino, 63 anos, tabagista e alcoolista vem à emergência do HCPA com quadro de dor abdominal há 15 dias associada à massa epigástrica pulsátil. A tomografia contrastada abdominal (TC) evidenciou aneurisma de tronco celíaco de 5 cm de diâmetro. Tendo em vista que o paciente apresentava-se estável hemodinamicamente e a anatomia era favorável, foi optado pela técnica endovascular. O paciente foi submetido à anestesia geral, sendo realizado acesso pelas artérias braquial e femoral esquerdas. Pelo acesso femoral foi avançado um cateter junto ao óstio do tronco celíaco para a realização dos controles angiográficos. Então, foi liberado um stent Viabahn, logo após a origem do tronco celíaco. A angiografia de controle revelou persistência de enchimento do aneurisma, sendo então liberado outro stent Viabahn 7x25 mm proximal com sobreposição com o primeiro, seguido de nova pós-dilatação do stent. A angiografia de controle final demonstrou exclusão do aneurisma. O paciente recebeu alta no quinto dia de pós-operatório. CONCLUSÃO: O tratamento dos aneurismas das artérias viscerais pela técnica endovascular apresenta redução significativa da morbimortalidade. Em vigência de ruptura contida é uma alternativa eficaz que deve ser considerada, principalmente em pacientes hemodinamicamente estáveis.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 79
CIRURGIA EXPERIMENTAL
UTILIZAÇÃO DO PERFLUOROCARBONO LÍQUIDO NA PRESERVAÇÃO DE ENXERTOS PULMONARES SUBMETIDOS A DIFERENTES PERÍODOS DE ISQUEMIA FRIA EM MODELO ANIMAL
LUIZ ALBERTO FORGIARINI JUNIOR;GUSTAVO GRÜN, NÉLSON KRETZMANN FILHO, EDUARDO FONTENA, RAÔNI BINS PEREIRA, NORMA MARRONI, AMARILIO VIEIRA DE MACEDO NETO, PAULO FRANCISCO GUERREIRO CARDOSO, CRISTIANO FEIJÓ ANDRADE
Introdução – Os perfluorocarbonos (PFCs) líquidos são excelentes carreadores de gases e quando administrados diretamente nas vias aéreas recrutam alvéolos colapsados melhorando a oxigenação, além de fornecerem proteção a arquitetura pulmonar e possuírem propriedades anti-inflamatórias. Objetivo – Verificar se administração de diferentes doses de perfluorocarbono líquido endobrônquico associado à solução de preservação pulmonar utilizada clinicamente [Low Potassium Dextran (LPD)] tem a capacidade de aumentar o tempo de preservação e reduzir apoptose em enxertos pulmonares. Métodos - Foram utilizados 72 ratos machos da raça Wistar, pesando em média 250g. Os animais foram perfundidos através da canulação da artéria pulmonar com 20 ml de solução de preservação LPD a 4
oC. Após este procedimento os pulmões foram retirados e randomizados em 3 grupos
principais: controle (CO) onde foi utilizada somente solução de LPD; perfluorocarbono 3 ml/kg (PFC 3) e perfluorocarbono 7 ml/kg (PFC 7). Cada grupo principal foi dividido em quatro subgrupos (n=6) de acordo com o tempo de preservação (3, 6, 12 e 24 horas). Foram analisadas as variações das substâncias que reagem ao ácido tiubarbitúrico (TBARS.), caspase 3 e alterações histológicas dos enxertos pulmonares. Resultados – Houve um aumento significativo e progressivo na dosagem do TBARS dos animais controles quando comparados aos grupos PFC3-7 a partir das 6 horas de preservação. Houve aumento significativo da atividade apoptótica do grupo controle quando comparado aos grupos PFC3-7 após 12 e 24 de preservação. Não houve diferença significativa entre as diferentes doses de PFC com relação a dosagem da caspase 3, TBARS e alterações histógicas. Conclusão – Independentemente da dose de perfluorcarbono utilizada, ocorre um aumento da viabilidade celular em períodos de isquemia mais prolongados além de uma diminuição das células apoptóticas. Sugerindo a sua utilização na preservação.
A INFLUÊNCIA DO TEMPO DE ISQUEMIA SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO EM MODELO ISQUEMIA E REPERFUSÃO PULMONAR EM RATOS
LUIZ ALBERTO FORGIARINI JUNIOR;, GUSTAVO GRÜN, NÉLSON KRETZMANN FILHO, NORMA POSSI MARRONI,EDUARDO FONTENA, RAÔNI BINS PEREIRA, PAULO FRANCISCO GUERREIRO CARDOSO, AMARILIO VIEIRA DE MACEDO NETO, CRISTIANO FEIJÓ ANDRADE
Introdução – O pulmão é um órgão que apresenta baixa tolerância à isquemia. Após sua reperfusão, ocorre o desencadeamento de uma série de eventos inflamatórios que resultam em lesão pulmonar de diferentes intensidades. O estudo destas alterações é importante no cenário de transplante pulmonar, uma vez que esta lesão é responsável por até 20% das mortes precoces neste tipo de transplante. Objetivo – avaliar as alterações do estresse oxidativo após a reperfusão de pulmões de ratos submetidos a diferentes tempos de isquemia quente. Métodos – Vinte e quatro animais com peso médio de 300g foram submetidos a modelo experimental de isquemia e reperfusão pulmonar por clampeamento seletivo da artéria pulmonar esquerda. Os animais foram divididos em quatro grupos (n=6) de acordo com tempo de isquemia: grupo isquemia-reperfusão (IR) 15 minutos (IR15), IR 30 minutos (IR30), IR 45 minutos (IR45) e IR 60 minutos (IR60). Após a reperfusão os animais foram observados por 120 minutos e então sacrificados. Foram registradas medidas hemodinâmicas, gasométricas e histológicas. A peroxidação lipídica foi avaliada através das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Resultados – A determinação das dosagens do TBARS nos diferentes grupos de isquemia, não revelou diferenças significativas, apesar de haver uma tendência ao seu aumento à medida que aumentava o tempo de isquemia. Resultados semelhantes foram observados para a pressão parcial arterial de oxigênio, pressão parcial arterial de gás carbônico e medidas hemodinâmicas entre os grupos. A análise histológica revelou um aumento progressivo do edema pulmonar de acordo com o aumento do tempo de isquemia. Conclusão – Apesar do aumento progressivo dos diferentes tempos de isquemia não influenciarem significativamente o estresse oxidativo ou o desempenho pulmonar, há uma piora progressiva evidente da lesão pulmonar à medida que aumenta o tempo de isquemia.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 80
HIPOTERMIA HEPÁTICA TÓPICA E PRÉ-CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO: UM NOVO MODELO DE ISQUEMIA E REPERFUSÃO EM RATOS
LUCAS VINÍCIUS KOCH;TOMAZ DE JESUS MARIA GREZZANA FILHO;CLEBER DARIO PINTO KRUEL; GÉMERSON GABIATTI; ALJAMIR CHEDID; CLEBER ROSITO PINTO KRUEL
Introdução A isquemia hepática é um elemento presente e constante nas cirurgias de fígado, sendo, pois, de grande relevância o seu estudo e as condutas para o seu manejo. Objetivo Avaliar as variações de temperatura corporal(TC), pressão arterial média (PAM), enzima lactato desidrogenase(LDH) plasmática e escore histopatológico(EH) hepático em um novo modelo de isquemia e reperfusão hepático que utiliza Pré-condicionamento isquêmico e Hipotermia tópica. Métodos 32 ratos da raça Wistar foram divididos em 5 grupos: Controle (C), Isquemia normotérmica (IN), Hipotermia a 26°C (H), Pré-condicionamento isquêmico (PCI) e Hipotermia a 26°C com Pré-condicionamento isquêmico com hipotermia (H+PCI). As aferições da PAM e TC foram realizadas em intervalos de 15 minutos, as amostras de sangue e de tecido hepático foram coletadas após a reperfusão final. Os animais foram submetidos à isquemia hepática de 90 minutos e 120 minutos de reperfusão. Nos grupos H e H+PCI, o fígado foi isolado e resfriado por superfusão de solução fisiológica gelada. Nos grupos com PCI e H+PCI foram aplicados 10 minutos de isquemia e 10 minutos de reperfusão antes do insulto isquêmico maior. Resultados Não houve diferença na PAM e TC entre os grupos durante todo o experimento. Ao término da reperfusão os níveis de LDH mostraram-se elevados nos grupos IN e PCI, P menor que 0,05 vs. Grupo C, EH demonstrou danos hepáticos elevados no grupo IN, P menor que 0,05 vs. Grupo C. Conclusão O presente modelo permite a aplicação de hipotermia local associada ou não ao PCI, sem alterações significativas na macrohemodinâmica e temperatura corporal.O efeito protetor à isquemia e lesão hepática foi verificado em diferentes graus, nos grupos H, H+PCI e PCI, quando comparados ao grupo IN.
CIRURGIA GASTROENTEROLÓGICA
ADENOCARCINOMA ASSOCIADO À DOENÇA DE CROHN: UM CASO ATÍPICO
LUCAS NICOLOSO AITA;DANIEL NAVARINI, CARLOS CAUDURO SCHIRMER, CARLOS THADEU SCHMIDT CERSKI, CACIO WIETZYCOSKI, RICHARD RICACHENEVSKY GURSKI.
Introdução: Neoplasias associadas à Doença de Crohn (DC) são mais comumente encontradas em reto e cólon sigmóide. A ocorrência de tumores em associação à DC é maior no sexo masculino (3:1). Objetivos: Descrever um caso atípico de neoplasia intestinal associada à DC (adenocarcinoma estenosante em cólon ascendente). Método: Relato de caso de uma paciente feminina, 25 anos, com história de dor em flanco inferior direito e diarréia, associadas à perda ponderal de 6 Kg em 12 meses. A colonoscopia evidenciou lesão vegetante em cólon ascendente, ocupando toda a luz, edema, enantema e distorções dos vasos da submucosa do cólon transverso. TC abdominal mostrou espessamento do ceco. Biópsias intestinais revelaram inflamação crônica da mucosa, compatível com DC. Após um mês de tratamento para DC, procurou a emergência do HCPA com quadro de suboclusão intestinal. Na avaliação transoperatória havia lesão estenosante de cólon ascendente. Foi realizada ileocolectomia com ileotransversoanastomose, sem intercorrências. Resultados: O exame anatomopatológico evidenciou adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ulcerado, com áreas muco-produtoras e invasão da camada muscular própria. Evidenciada inflamação crônica transmural, formação de granulomas e fissuras, fibrose e calcificação distrófica (compatíveis com DC). Conclusão: Acredita-se que a maioria dos casos de adenocarcinoma na DC seja precedida de displasia. Estudos mostram que até 60% das massas intraluminais displásicas associadas à DC, são adenocarcinomas. O risco de câncer na DC não depende da extensão da doença, mas da localização, sendo maior em cólon e reto e menor no íleo. Os sintomas do câncer na DC são indistingüíveis daqueles da doença em atividade, o que dificulta e até mesmo impede o diagnóstico pré-operatório do tumor.
TRATAMENTO CIRÚRGICO DA NEOPLASIA GÁSTRICA: TIPOS DE CIRURGIA E DE RECONSTRUÇÕES UTILIZADAS NO HCPA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 81
FELIPE DA COSTA HUVE;MAURÍCIO LIMA DA FONTOURA; RODRIGO BATISTA; GUSTAVO DE A. PEREIRA FILHO; CLÁUDIO CAUDURO SCHIRMER
Introdução: O Câncer gástrico é uma das mais freqüentes neoplasias no mundo, constituindo a segunda causa de mortalidade por câncer em algumas séries. Apesar de apresentar redução na incidência nas últimas décadas, ainda é a quarta neoplasia mais freqüente. O tratamento cirúrgico é reconhecidamente o único tratamento que possibilita a cura destes pacientes. Objetivo: avaliar o tipo mais comum de cirurgia para neoplasia gástrica no HCPA assim como o tipo de reconstrução mais realizada. Métodos: foram revisados 288 prontuários de pacientes submetidos a gastrectomia no período de 09/2003 a 09/2008. As cirurgias realizadas serão classificadas como proximal, subtotal, total ou em cunha de acordo com a técnica empregada e com o coto gástrico remanescente após a ressecção. O tipo de reconstrução será classificado como: Billroth I, Billroth II e Y de Roux. Resultados: no total, entraram na análise 228 pacientes submetidos a gastrectomia por neoplasia gástrica. Foram 143 (62,71%) gastrectomias parciais , 65 (28,50%) gastrectomias totais e 20 (8,78%) ressecções em cunha. Quanto ao tipo de reconstrução, 57 foram à B2 (25%), 151 à Y-de-Roux (66,22%) e 20 sem necessidade de reconstrução (8,78%). Das 143 gastrectomias parciais, foram realizadas 57 reconstruções a B2 (39,86%) e 86 a Y-de-Roux (60,13%) Conclusão: Quanto ao tipo de cirurgias realizadas, a maioria foi gastrectomia parcial (distal) em função da maior prevalência de localização distal dos tumores gástricos encontrados no nosso estudo. Os tumores proximais foram todos abordados com gastrectomia total e, por isso, não houve nenhum caso de gastrectomia proximal. A reconstrução mais realizada foi em Y-de-Roux, condizente com a literatura atual que sugere sua superioridade em relação a Bilroth I e II.
CEAPW EXPRESSION IN PERITONEAL LAVAGE FROM PATIENTS WITH GASTRIC CANCER
PATRICIA DE CASTRO ANANIAS;MAGNUS, A; SILVA, GVM; AMARAL, RH; GUIMARÃES, MB; AMARAL, JT; BAÚ, P.C.; ALVES, L.B.; MOREIRA, L.F.
Background: Gastric cancer is the fourth most common and the second most lethal tumour in the world. Despite controversies over the method used for assessment, carcinoembryonic antigen level in peritoneal washing (CEApw) has been showing to be a relevant prognostic factor in gastric cancer. Aim: To determine and correlate levels of CEApw with mortality, peritoneal recurrence, tumour relapse or other prognostic factors Patients and Methods: Thirty patients with gastric cancer were evaluated, 22 men and 8 women, with resectable gastric tumours (mainly stage III and IV) were studied. CEApw were detected at operation by immunocytochemical method and a level over 210ng/g of protein was considered as positive. Results: Ten positive cases (33.3 percent) of CEApw levels were detected. These levels were significantly associated with mortality, RR 2.1 (p= 0.018); peritoneal recurrence, OR: 9.0 (p= 0.015); and relapse or tumour progression, OR: 27.0 (p= 0.001). Overall mortality was 63 percent and CEApw positive cases had significantly greater mortality (100 percent vs. 45 percnet), greater overall relapse or tumour progression (90 percent vs. 25 percent) and greater peritoneal recurrence (50 percent vs. 10 percent). Conclusion: This study clearly demonstrated that increased levels of CEApw fairly predicts mortality, peritoneal recurrence, tumour relapse or progression and may be used as a predictive factor helping to decide on surgical approach or adjuvant therapy choices in patients with advanced gastric tumours.
ESPLENECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM PACIENTES DE EQUIPE DE CIRURGIA DIGESTIVA DO HCPA 2005- 2009
SHEILA DE CASTRO CARDOSO;TALYZ WILLIAN RECH,VINICIUS VON DIEMEN,EDUARDO NEUBARTH TRINDADE,MANOEL ROBERTO MACIEL TRINDADE
Introdução:O baço é o órgão cuja função primária no adulto é a de filtração de elementos figurados, retirada da circulação de células desfuncionantes e microorganismos patológicos e reserva imune e hematológica. Alguns pacientes,no entanto, necessitam submeter-se à retirada deste órgão, através da esplenectomia. A esplenectomias videolaparoscópica(VDL) é uma técnica já bem estabelecida para o manejo de algumas doenças e situações.Vários são as vantagens do procedimento: menor dor pós operatória, retorno precoce às atividades habituais, menor período de internação hospitalar e melhores resultados estéticos. Objetivo:Avaliar os dados e a experiência de equipe de cirurgia digestiva do Prof. DR.Manoel Trindade do HCPA na realização de esplenectomiaVDL.Métodos:
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 82
Será realizado um estudo retrospectivo.Serão avaliados os dados dos pacientes submetidos à esplenectomia VDL no HCPA realizado entre 2005 e 2009 da equipe de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Prof. Dr.Manoel Trindade,através da revisão de prontuário eletrônico e de papel no sistema no SAMIS do HCPA. As variáveis analisadas serão: sexo e idade do paciente, tempo de internação, indicação cirúrgica, necessidade de transfusão, conversão em cirurgia aberta, presença de complicações peri e pós- operatórias, presença de co-morbidade pré operatória e remissão e/ou recidiva da doença de base.Resultados parciais:Até o momento, analisamos os dados dos pacientes submetidos a esplenectomia VDL, no ano de 2005. Cinco pacientes possuíam PTI, quatro AHAI e um esferocitose. A média de idade foi de 36,2 anos. Seis pacientes eram mulheres.A média de dias de internação foi de cinco. Não houve complicações maiores. Conclusões preliminar:Em nossa experiência inicial, a esplenectomia VDL demonstrou ser uma abordagem segura e eficaz.
PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS A GASTRECTOMIA POR NEOPLASIA GÁSTRICA NO HCPA
MAURÍCIO LIMA DA FONTOURA;FELIPE DA COSA HUVE; RODRIGO BATISTA; GUSTAVO DE A. PEREIRA FILHO; CARLOS CAUDURO SCHIRMER
Introdução: O Câncer gástrico é uma das mais freqüentes neoplasias no mundo, constituindo a segunda causa de mortalidade devido ao câncer nesta instância.Apesar de apresentar redução na incidência nas últimas décadas, ainda é a quarta neoplasia mais freqüente. O tratamento cirúrgico composto pela gastrectomia, sendo subtotal ou total de acordo com a localização do tumor é reconhecidamente o único tratamento que possibilita a cura destes pacientes. Objetivo: avaliar o perfil dos pacientes submetidos a gastrectomia por câncer gástrico no HCPA. Métodos: foram revisados 288 prontuários de pacientes submetidos a gastrectomia no período de 09/2003 a 09/2008, sendo consideradas as variáveis sexo, idade, perfil anestésico (escala ASA). Resultados: no total, entraram na análise 228 pacientes submetidos a gastrectomia por neoplasia gástrica, sendo 145 (63,59%) homens e 83 (36,41%) mulheres, sendo a média de idade geral 62,29 anos. Em relação ao perfil anestésico encontrou-se 12 pacientes ASA I, 133 ASA II, 78 ASA III, 4 ASA IV e 1 ASA V. Conclusão: A população encontrada no estudo possui características semelhantes às descritas na literatura de pacientes portadores de neoplasia gástrica. Obtivemos uma proporção de aproximadamente 2 homens portadores de neoplasia para 1 mulher, com uma média de idade um pouco superior a 60 anos, condizente com o pico de incidência entre 50-70 anos. Apesar de nossos pacientes pertencerem, em sua maioria, nas classificações ASA 2 (58,33%) e ASA 3 (34,21%), o índice de mortalidade perioperatória de 15,78% foi bastante superior ao estimado para estes níveis de morbidade.
RESSECÇÃO HEPÁTICA DE ADENOMA ROTO POR LAPAROSCOPIA
NAYANE FERNANDES CLIVATTI;CÁCIO RICARDO WIETZYCOSKI; GIULIANO CHEMALE CIGERZA; KLÉBER DARIO PINTO KRUEL; KLÉBER ROSITO PINTO KRUEL
INTRODUÇÃO: Os crescentes avanços na laparoscopia, associados aos conhecimentos adquiridos na cirurgia hepática convencional, levaram vários cirurgiões no mundo inteiro a iniciarem o desenvolvimento da Cirurgia Hepática Laparoscópica. Desde a publicação do primeiro caso de ressecção hepática laparoscópica (RHL) com sucesso, feita por Gagner et al, em 1992, sucederam-se publicações a respeito do assunto, que vem ganhando cada vez mais a atenção do cirurgião hepático e laparoscópico.OBJETIVOS:Relatar o caso de uma RHL sem uso de Stappler Vascular para tratamento de um Adenoma hepático sangrante.CASO:Mulher, 29 anos, apresentou-se à emergência do HCPA, com queixa de dor abdominal e história de hipotensão. TC de abdômen evidenciou lesão de 10cm no lobo esquerdo do fígado, com componente hemorrágico. Paciente foi estabilizada e internada para investigação e tratamento. Realizada eletivamente RHL dos segmentos II e III. Realizada manobra de Pringle laparoscópica e ressecção da lesão com bisturi ultrassônico e clips metálicos. Não foi utilizado Stappler vascular ou cauterização com argônio. O tempo cirúrgico foi de 300min, com sangramento de 284 ml, não necessitando transfusão. Recebeu alta no quinto dia pós operatório e está assintomática aos 16 meses de seguimento.CONCLUSÃO:Os benefícios da cirurgia laparoscópica em geral parecem poder ser extrapolados para a cirurgia hepática, levando a considerar esta nova abordagem com baixa morbidade e mortalidade. No entanto, em casos selecionados pode-se realizar ressecções hepáticas mesmo sem todos estes equipamentos a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 83
disposição. Concluímos que as RHLs são factíveis e seguras mesmo em casos de urgência quando realizadas por equipes experientes em cirurgia hepática convencional e cirurgia laparoscópica avançada.
IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF P16 AND PDGR-β IN PATIENTS WITH ADENOCARCINOMA OF STOMACH
GABRIEL VEBER MOISÉS DA SILVA;MATTANNA, DS; BELLINE, V; MAGNUS, A; AMARAL, JT; KULCZYNSKI, J.M.; PINTO, R.P; MOREIRA, L.F.
Background: The oncogene p16 is implicated in the pathogenesis of many human tumors and even regulating normal cell growth. Loss of p16 has been extensively studied on gastric tumours. PDGFR has been found activated and mutated in gastrointestinal stromal tumors (GIST) whereas c-kit, the most commonly marker, is found, in its wild type variation. PDGF-beta and its receptor have not been studied concerning expression and response to cell growth inhibitors on non-stromal gastric tumours. Aim: The aim of this study was to detect the immunohistochemistry expression of p16 and PDGFR-beta on gastric cancer. Methods: Thirty-six patients submitted to gastric resection for gastric adenocarcinoma from 1998 to 2002 at the Santa Casa de Porto Alegre Health Complex Hospital were studied. Studied variables were: age, gender, tumour size and location, number of dissected and metastatic nodes, histological type, extent of surgical resection and pathological staging Results: No expression of PDGFR-beta was detected on surgical specimens. Concerning to p16, loss of expression less than 10 percent and 1 percent were detected in 89 percent and 79 percnet of the specimens studied, respectively. Conclusions: No correlation between p16 loss and PDGFR-beta with any variable was observed. An increased number of poorly differentiate samples may have affected these results.
APRESENTAÇÃO CLÍNICA, COMPLICAÇÕES E MANEJO DE UMA SÉRIE DE SETE CASOS DE CISTOS BILIARES
PAULO EDUARDO KRAUTERBLUTH SOLANO JUNIOR;MAURÍCIO CARDOSO ZULIAN, SANTO PASCOAL VITOLA, LUIZ ROHDE, VIVIAN PIERRI BERSCH, ALESSANDRO BERSCH OSVALDT
Objetivos Analisar uma série de casos de cistos biliares discutindo as formas de apresentação clínica, as complicações e o manejo. Material e Métodos Foram incluídos sete pacientes com diagnóstico de cisto biliar. Os casos foram revisados através de análise retrospectiva dos registros do prontuário médico. Resultados A apresentação inicial incluiu dor no hipocôndrio direito em cinco pacientes e icterícia em três. Um paciente era assintomático e foi investigado devido à elevação de transaminases e enzimas canaliculares enquanto outro apresentou episódio de pancreatite aguda como manifestação inicial. Quatro doentes apresentavam colelitíase: em um o diagnóstico foi definido pela colangiografia transoperatória, em outro pela colangiorressonância e nos dois últimos pela colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER). A tomografia definiu o diagnóstico em dois pacientes. Em outro caso que o diagnóstico de cisto biliar foi realizado pela CPER identificou-se concomitantemente metástases hepáticas de colangiocarcinoma. Pela classificação de Todani, seis possuiam cisto do tipo IVa e um do tipo I. A conduta em cinco pacientes foi a ressecção do cisto extra-hepático e hepático-jejuno anastomose, um foi conduzido a acompanhamento clínico e radiológico e outro manejado para colangiocarcinoma metastático. Ocorreu hepatolitíase associada à estenose da anastomose hepático-jejuno em um caso quatro anos após a cirurgia. Conclusões A presentação dos cistos biliares, quando sintomáticos, é semelhante a da doença biliar calculosa. É comum a associação com doença hepatobiliar e pancreática, tais como colelitíase, hepatolitíase e colangiocarcinoma. O tratamento indicado é a ressecção e o seguimento é imperativo devido ao risco de desenvolver malignidade.
USO ROTINEIRO DE TELA DE POLIPROPILENO PARA REFORÇO DA HIATOPLASTIA NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFAGICO
JULIANE VARGAS;WIETZYCOSKI, CR; FEIER, FH; MAZZINI, GS; LORENZI, W; NUNES, AG; TRINDADE, MRM
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 84
Introdução: As altas taxas de recidiva nas cirurgias de DRGE têm levado alguns cirurgiões a propor o uso de próteses na hiatoplastia, pois a recorrência está associada à recidiva da hérnia hiatal, e a correção, sem o uso de tela, tem índice de falha elevado.Objetivo: Demonstrar a segurança e efetividade do uso da tela de Polipropileno para reforço da hiatoplastia como rotina no tratamento cirúrgico da DRGE, buscando evidenciar o índice de sucesso e confirmar a baixa taxa de complicações desta cirurgia.Métodos: 28 pacientes submetidos a FL, foi utilizada prótese para reforço da hiatoplastia, no período de Out 2006 a março 2009. Todos foram submetidos a FL a Nissen (360º Anterior) com aproximação dos pilares com pontos de Mersilene 2-0, sendo colocada tela de reforço recobrindo ambos os pilares. Tela de Polipropileno de 5 X 3 cm colocada sobre os pilares, posterior ao esôfago e fixada com 2 pontos de Polidioxanona 2-0. Resultados: Dos 28 pacientes, 64% eram do sexo feminino, a média de idade foi de 51,67 (24-71) anos. O tempo cirúrgico médio foi de 131(69-195) minutos. Houve apenas uma complicação transoperatória: uma lesão do fundo gástrico paciente que estava em reoperação. Não houve caso de pneumotórax, sangramento, infecção de ferida operatória ou outra complicação relacionada à presença da tela no hiato. O tempo de internação foi de 4(2-11) dias. No préoperatório 96% dos pacientes tinham pirose, 100% regurgitação e 40% tinham disfagia. A taxa de recidiva sintomática num seguimento médio de 12,5 meses foi de 3,85%. Conclusão: O sucesso terapêutico é satisfatório com recidiva a curto prazo menor que 5%. A taxa de disfagia nos paciente com mais de 1 ano de seguimento foi de 15%, este valor é muito inferior a taxa de 40% de disfagia encontrada nos pacientes no préoperatório. O uso da prótese como rotina na Hiatoplastia é uma técnica segura, com bons resultados na redução do índice de recorrência e tem baixa morbidade.
TÉCNICA DE HOLLANDS ASSOCIADA AO PROCEDIMENTO DE NOBLE: UMA MODIFICAÇÃO DA CLÁSSICA EXCLUSÃO ILEAL PARA TRATAMENTO DO PRURIDO NA COLESTASE HEPATOCELULAR
JULIANE VARGAS;CÁCIO R. WIETZYCOSKI; FLÁVIA H. FEIER; GUILHERME S. MAZZINI; MARIA L. ZANOTELLI
Introdução: Colestase hepatocelular em crianças pode ser causada por hepatites, deficiência de alfa 1 antitripsina, erros inatos do metabolismo, drogas ou NPT. Colestase Familiar Intrahepática Progressiva (PFIC) é uma herança autossômica recessiva de penetração variável, com uma incidência de 1:90.000, tendo o prurido como sintoma mais significativo e causa importante déficit na qualidade de vida das crianças. O transplante hepático é o único tratamento definitivo para a colestase. No entanto, a exclusão ileal é um procedimento cirúrgico que pode melhorar o prurido e em alguns casos diminuir o dano hepático. Objetivo: Descrever uma modificação da técnica descrita por Hollands, adicionando uma plicatura do segmento de íleo distal para prevenir intussussepção após exclusão ileal. Método e Descrição da técnica: A exclusão ileal foi feita segundo a técnica de Hollands, realizando-se exclusão dos 15% distais do íleo, com reconstrução do trânsito através de uma anastomose ileocolônica laterolateral 5cm acima da válvula ileocecal. No íleo excluso foi realizada plicatura de sua parede lateralmente com ela mesma, a fim de evitar intussussepção. Resultados:A paciente teve ótima evolução pós-operatória, sem complicações, tendo diminuição importante do prurido. Conclusão: Os autores sugerem que a exclusão ileal seja o tratamento inicial preferencial para o prurido na colestase intrahepática antes do transplante hepático e que a plicatura do íleo remanescente seja acrescentada de rotina na técnica para prevenir intussussepção.
CIRURGIA PEDIÁTRICA
AORTOPEXIA PARA CORREÇÃO DE TRAQUEOMALACIA GRAVE EM LACTENTE
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;JOSÉ CARLOS SOARES FRAGA, SIMONE C FAGUNDES, MARCIO ABELHA MARTINS
Introdução: Traqueomalacia é uma condição na qual a traquéia colapsa durante a ventilação, determinando manifestações clínicas variáveis e dependentes da gravidade deste colapso. O sintoma característico é o estridor expiratório, mas nos casos graves também podem ocorrer obstrução completa da via aérea e, eventualmente, morte súbita. Objetivo: Relato de lactente operado por atresia de esôfago no período neonatal, que apresentou posteriormente dificuldade respiratória devido a traqueomalacia grave, com necessidade de tratamento. Material e Método: Revisão de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 85
prontuário e exames de imagem. Resultados: L.G, 2 meses, nascido com atresia de esôfago, com fístula distal, corrigida com 48 h de vida. Aos 45 dias apresentou episódio de dificuldade respiratória e cianose depois das mamadas, sendo trazido à emergência do hospital. Fibrobroncoscopia demonstrou traqueomalacia grave com colapso de toda a parede traqueal à expiração. Polissonografia mostrou distúrbio obstrutivo importante durante o sono. Por toracotomia anterior esquerda, realizada remoção parcial do timo e fixação por pontos não absorvíveis da aorta anterior à parede posterior do esterno, sob controle fibrobroncoscópico. Paciente apresentou melhora importante dos sintomas no pós-operatório imediato, tendo recebido alta no 10º dia PO. Conclusão: A aortopexia é uma opção terapêutica efetiva e segura para tratamento de traqueomalacia grave em crianças operadas por atresia de esôfago e fístula traqueoesofágica. Importante a fibrobroncoscopia transoperatória para certificar-se que os pontos estão sendo colocados na região correta da anterior da aorta, ocasionado diminuição do colapso e aumento do lúmen traqueal.
BLASTOMA PLEUROPULMONAR EM CRIANÇA
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;JOSÉ CARLOS SOARES FRAGA, MARCIO MARTINS ABELHA, CLAUDIO CASTRO JR, ALGEMIR BRUNETTO
Introdução: Blastoma pleuropulmonar (BPP) é uma raríssima neoplasia na infância, que envolve pleura e pulmão. Histologicamente a lesão é heterogênea, incluindo características de outros tumores da infância, tais como rabdomiossarcoma embriogênico, e tumores de Wilms e células germinativas. Na literatura mundial há relato de apenas 300 casos pacientes com este tipo de tumor. Objetivos: Relatar de caso de blastoma pleuropulmonar em criança de 3 anos. Material e Método: Realizado revisão de prontuário e revisão da literatura no pubmed. Resultados: Criança de 3 anos de idade, apresentando dispnéia e diminuição do murmúrio vesicular no hemitórax direito, cuja investigação com radiografia e tomografia de tórax mostrando enorme tumor de lobo inferior direito aderido à parede torácica. Realizou quimioterapia pré-operatória com redução do tamanho tumoral, e a seguir cirurgia, com lobectomia inferior direita e remoção de parte da parede costal (porções laterais de 3 costelas). Anatomopatológico confirmou blastoma pleuropulmonar, com peça cirúrgica apresentando margens com ausência de lesão. Apresentou ótima evolução pós-operatória, estando em quimioterapia e acompanhamento ambulatorial, com seguimento de 3 meses. Conclusão: A cirurgia é fundamental para o tratamento do blastoma pleuropulmonar, e a ressecção do tumor deve ser completa. Quimioterapia adjuvante sempre é realizada, e radioterapia somente quando há doença remanescente. Devido à natureza agressiva do BPP, é necessário acompanhamento freqüente para detecção de doença progressiva ou recorrente.
SEQUESTRO PULMONAR TORACO-ABDOMINAL EM CRIANÇA
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;JOSE CARLOS SOARES FRAGA, MARCIO ABELHA MARTINS, FABIANA MENEZES
Introdução: Seqüestro pulmonar é uma anomalia congênita rara, caracterizada por tecido pulmonar embrionário não funcionante, sem comunicação com a via aérea e com nutrição proveniente de um vaso anômalo. O seqüestro pulmonar é responsável por cerca de 0,1 - 6,4 % de todas as malformações pulmonares congênitas, e cerca de apenas 2,5% deles são detectados abaixo do diafragma. Objetivo: Relatar sequestro tóraco-abdominal em um paciente de 1 mês de vida. Materiais e Métodos: Revisão de prontuário de lactente portador de seqüestro tóraco-abdominal, com relato do diagnóstico e manejo. Resultados: L.M.J.F, 1 mês de vida, encaminhado à emergência do HCPA por quadro de disfunção respiratória inicialmente tratada com antibióticos por suspeita de pneumonia. Radiografia de tórax evidenciava opacidade extensa no hemitórax esquerdo e desvio das estruturas do mediastino para a direita. Tomografia computadorizada de tórax demonstrando lesão expansiva sugestiva de sequestro intralobar do lobo inferior esquerdo, com extensão para baixo do diafragma, rechaçando o rim esquerdo inferiormente, medindo 9,6 x 4,4 cm, A lesão era irrigada por uma artéria anômala que se originava no tronco celíaco. Cirurgia através de abordagem concomitante por toracotomia e laparotomia, realizando-se lobectomia inferior esquerda e remoção da lesão retroperitonial. Apresentou boa evolução pós-operatória, tendo recebido alta no 12º dia pós-operatório. Conclusão: Seqüestro de pulmão podem raramente se estender para o interior do abdômen. A remoção cirúrgica destas lesões é indicada pelo risco de infecção e transformação maligna.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 86
HEMATOMA DE JEJUNO APÓS TRAUMA ABDOMINAL FECHADO EM CRIANÇA
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;JOSÉ CARLOS SOARES FRAGA, MARCIO ABELHA MARTINS, FERNANDA LUCIA CAPITANIO BAEZA
Introdução: Traumas abdominais contusos por guidão de bicicleta ocasionam mais comumente lesões de duodeno, visto que este órgão encontra-se fixo à coluna vertebral pelo ligamento de Treitz. Entretanto, embora raramente, este tipo de trauma também pode ocasionar lesões do restante do intestino delgado Objetivo: Relatar caso de hematoma de jejuno decorrente de trauma abdominal fechado por guidão de bicicleta em criança. Material e método: Revisão de prontuário e literatura. Resultado: B.Y, 6 anos, sofreu trauma abdominal por guidão durante queda de bicicleta. Quatro dias depois do acidente foi levado à emergência devido a náusea, vômitos e dor periumbilical. Durante o exame foi observada equimose e crosta hemática em região periumbilical. Tomografia computadorizada de abdômen demonstrou hematoma na parede de alça jejunal, estreitando a luz e provocando dilatação a montante. Foi instituído manejo conservador com jejum completo, colocação de sonda nasogástrica, e nutrição parenteral total. Paciente evoluiu satisfatoriamente, com restauração progressiva do trânsito intestinal, sem necessidade de intervenção cirúrgica, tendo recebido alta hospitalar após 18 dias de internação. Conclusão: Lesão de jejuno após trauma abdominal fechado, especialmente após trauma por guidão de bicicleta, é muito rara, já que estas alças intestinais são livres e móveis. Quando não há perfuração ou obstrução intestinal completa, o tratamento inicial destas lesões é conservador, sem necessidade cirurgia imediata.
TUMOR DE WILMS EM CRIANÇA COM RINS EM FERRADURA
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;JOSÉ CARLOS SOARES FRAGA; MARCIO ABELHA MARTINS; ELIZIANE TAKAMATU; DIESA OLIVEIRA PINHEIRO
Introdução: O Tumor de Wilms ou nefroblastoma é o tumor maligno primário de rim mais freqüente na infância. Ele apresenta associação com algumas anomalias congênitas como aniridia, hemi-hipertrofia e malformações geniturinárias. Dentre as ultimas, a associação com rim em ferradura é uma apresentação clínica incomum, tornando o tratamento cirúrgico do nefroblastoma um grande desafio. Objetivo: Relatar caso de tumor de Wilms em criança com rins fusionados pelo pólo inferior (rim em ferradura). Material e método: Revisões de prontuário e literatura. Resultado: Lactente masculino, 9 meses, com massa abdominal palpável e perda de peso. Investigação por ecografia e tomografia computadorizada demonstrou massa abdominal de 12,6 x 12 x 9,5 cm no rim esquerdo, com os pólos inferiores de ambos os rins se fusionando na linha média (rins em ferradura). Com o diagnóstico de tumor de Wilms, fez quimioterapia por 5 semanas, e a seguir arteriografia para avaliação pré-operatória das artérias renais. Durante o procedimento cirúrgico, ressecado todo o rim esquerdo, com secção da fusão dos pólos inferiores de ambos os rins, e remoção do tumor sem rompimento de sua cápsula. Paciente apresentou ótima evolução pós-operatória, estando em seguimento ambulatorial de 2 anos. Conclusão: Apesar do risco de ocorrência de tumor de Wilms é maior em crianças com rins em ferradura, a incidência destes tumores nesta malformação renal é incomum, ocorrendo em somente 0,4 a 9,1 % dos tumores. A arteriografia pré-operatória é importante para planejar a ressecção cirúrgica, a fim de ressecar todo o tumor e manter o parênquima renal residual viável e sem neoplasia.
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS UMBILICAIS NA CRIANÇA
FELIPE COLOMBO DE HOLANDA;JOSÉ CARLOS SOARES FRAGA, MARCIO ABELHA MARTINS
Introdução: As malformações umbilicais tem uma apresentação clínica variável tanto na faixa etária quanto na apresentação clínica. O conhecimento da embriologia e os tipos possíveis destas malformações são importantes para se fazer o diagnóstico e o tratamento cirúrgico. Objetivo: Relatar malformações umbilicais enfatizando o diagnóstico e tratamento cirúrgico. Materiais e Métodos: Revisão retrospectiva do prontuário de duas crianças com malformações cirúrgicas do umbigo. Resultados: R.M., 19dias, com história de secreção mal cheirosa pelo umbigo, e exame clínico
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 87
mostrando granuloma umbilical com pequeno orifício central. Ultrasonografia demonstrou trajeto umbilical com a porção superior da bexiga, mas a cistografia não confirmou esta comunicação. Na cirurgia, observado ”sinus” umbilical, que foi ressecado. A segunda criança (G.P.), sexo masculino, idade de 3 meses, foi avaliada por granuloma umbilical resistente ao tratamento tópico com nitrato de prata. No exame físico foi identificado orifício puntiforme na região superior do granuloma. Na laparotomia transumbilical, presença de persistência onfalomesentérica completa, que foi tratada por enterectomia e anastomose intestinal. Conclusão: Granuloma umbilical com orifício, eliminando secreção ou resistente a tratamento tópico deve ser avaliado pela possibilidade de malformação do umbigo. O diagnóstico pode ser feito por ultrasonografia ou fistulografia, e o tratamento realizado por laparotomia transumbilical.
CISTO DE COLÉDOCO: RELATO DE CASO E BREVE REVISÃO DE LITERATURA
HENRIQUE OLIANI JÚNIOR;CARLOS ORLANDO FETT SPARTA DE SOUZA, ROGER HEISLER
Introdução: O cisto de colédoco é uma doença rara com uma incidência entre 1:100.000 a 1:150.000 nascidos vivos. A tríade clássica compõe-se de dor no quadrante superior direito do abdome, icterícia e massa abdominal palpável, presente em 15% a 45% dos pacientes . Em dois terços dos casos podem surgir sintomas tais como: vômitos, febre e/ou complicações como pancreatite, colangite e sepse. Objetivo: Descrever um relato de caso e fazer breve revisão bibiliográfica. Material e métodos: Revisão de prontuário e busca em portais como Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde. Resultado: Paciente masculino, 3 anos, encaminhado de Itaqui com queixa de dor abdominal e icterícia. Tinha iniciado há 3 semanas com vômitos, recusa alimentar, febre de 39 graus, dor abdominal e inapetência. Após 5 dias, é levado ao hospital de sua cidade, além de passar a apresentar os olhos amarelados. Mãe refere que paciente sempre teve as fezes esbranquiçadas. Teve caxumba 3 dias antes do início do quadro atual. Ao exame físico: REG, mucosas úmidas e escleróticas ictéricas. Peso de 12,3 kg. SV estáveis. Dificuldade na palpação abdominal: abdome distentido, tenso, com dor a palpação difusa, RHA+, hepatomegalia de 4 cm abaixo RCD avaliada após analgesia. Linfonodos : linfonodos cervicais anteriores, posteriores e submandibulares aumentados. Supraclaviculares levemente aumentados. Na ecografia no Hospital São Lucas, fez-se o diagnóstico: imagem sacular em colédoco estendendo-se da bifurcação da porta até o pâncreas, deslocando porta, medindo 6x2cm de diâmetro. Sem dilatação de vias biliares intra-hepáticas. Sem líquido livre. Sem cálculos. Vesícula biliar com barro biliar. Paciente é submetido a cirurgia de cistectomia, colecistectomia e anastomose bileo digestiva (hepatojejuno anastomose com Y de Roux ). Conclusão: O cisto de colédoco é uma situação patológica rara e classificada em cinco tipos, de acordo com sua localização em relação às estruturas hepáticas.
PERFURAÇÃO ESPONTÂNEA DE VIA BILIAR: UMA CAUSA RARA DE ASCITE EM LACTENTE
PAULA XAVIER PICON;MARINA ROSSATO ADAMI; FERNANDA TREICHEL KOHLS; MÁRCIO PEREIRA MOTTIN; CRISTINA TARGA FERREIRA; SANDRA MARIA GONÇALVES VIEIRA; CARLOS OSCAR KIELING; JORGE LUIZ DOS SANTOS; HELENA AS GOLDANI
Introdução: A perfuração espontânea de via biliar (PEVB) é causa rara de ascite na infância, de etiologia desconhecida e diagnóstico freqüentemente tardio. Menos de 100 casos de PEVB estão descritos na literatura com diferentes abordagens cirúrgicas terapêuticas. Objetivo: Descrever aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos de um paciente com PEVB. Relato de caso: Lactente, feminina, 1 mês de idade, apresentou icterícia colestática com acolia e distensão abdominal. Exames complementares: BT- 9,3 mg/dL; BD- 6,2 mg/dL; FA- 1063 U/L; GGT- 808 U/L. Cintilografia de vias biliares- permeabilidade das vias biliares. Ecografia: ascite leve, vesícula contraída e pequena coleção líquida loculada ao redor do colédoco. Investigação genética: normal. Aos 3 meses teve piora progressiva da icterícia e ascite, protrusão abdominal com formação de hérnia inguinal e umbilical, e desnutrição. Paracentese revelou ascite biliar. Encaminhada para cirurgia. Colangiofrafia transoperatória mostrou perfuração próxima à junção da vesícula biliar com o colédoco e via biliar pérvia. Terapêutica constou de colocação de dreno peritoneal, dreno de Kehr na vesícula biliar e alimentação por sonda enteral por 4 semanas. Após 4 semanas foi retirado o dreno. A paciente evoluiu com anicterização, ganho ponderal, fezes coradas e desaparecimento da ascite. Conclusão: A PEVB deve ser suspeitada em lactentes previamente hígidos com quadro subagudo de icterícia
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 88
colestática e ascite de progressão lenta. A drenagem simples da via biliar com fechamento espontâneo pode ser tentada com sucesso em casos sem obstrução distal ao fluxo biliar.
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DOS RECÉM-NASCIDOS OPERADOS POR ENTEROCOLITE NECROSANTE
LETICIA FELDENS;JOÃO CARLOS KETZER DE SOUZA; RODRIGO FELDENS; JOSÉ CARLOS SOARES DE FRAGA
Introdução: A eterocolite necrosante é a doença do prematuro que sobreviveu, tem incidência entre 1% e 5% nos neonatos internados em UTI neonatal e uma mortalidade que pode variar de 20% até 50%. Sendo essa também a principal causa de laparotomia de urgência nesta faixa etária e a principal causa de intestino curto. Objetivos: Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos recém-nascidos operados por enterocolite necrosante. Determinar a taxa de mortalidade e suas causas. Materiais e Método: Estudo de corte retrospectivo com 141 recém-nascidos submetidos à laparotomia de urgência por enterocolite. Período de novembro de 1991 até dezembro de 2005 na UTI Neonatal do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Análise estatística feita pelo programa estatístico SPSS 10.0. Resultados e Conclusões: Na amostra estudada encontramos 74 meninos (52,5%), o peso médio de nascimento de 1589g (mínimo de 660g e máximo de 3920g), idade gestacional média de 33,5 semanas (mínimo de 26 semanas e máximo de 42), 58,2% dos pacientes nasceram de parto vaginal, 119 recém-nascidos (84,8%) eram prematuros e 57 (40,4%) pequenos para a idade gestacional. A taxa de mortalidade observada foi de 48,2% e a sua maior causa foi a sepse, o que está de acordo com os dados da literatura.
CIRURGIA PROCTOLÓGICA
METÁSTASES LINFONODAIS RETROPERITONEAIS DE TUMORES COLORRETAIS
FABIOLA FERNANDES MARTINS;MARIO ANTONELLO ROSITO; DANIEL DE CARVALHO DAMIN; CLAUDIO TARTA; PAULO DE CARVALHO CONTU;LETICIA FRANKE GONÇALVES
Introdução: Metástases retroperitoneais de tumor de cólon são raras, não havendo consenso na literatura quanto ao tratamento destas lesões.O objetivo deste trabalho é relatar a experiência cirúrgica de dois casos de câncer colorretal que desenvolveram volumosas metástases linfonodais retroperitoneais.O primeiro paciente apresentou tumor retroperitoneal aderido à aorta e ao hilo renal, de aproximadamente 10 cm , ressecado com ligadura de ramos da aorta, necessidade de nefrectomia e ressecção parcial do músculo pessoas.O segundo caso apresentou lesão tumoral medial ao rim esquerdo, de 6 cm de diâmetro, também ressecado com ligadura de ramos da aorta.Em ambos os pacientes foram obtidas margens livres.Após dois anos de seguimento, o primeiro caso apresenta-se assintomático.O segundo paciente não apresenta sinais de recidiva 3 meses após o procedimento.Conclusão: nossa experiência sugere que o tratamento cirurgico deva ser considerado como alternativa terapéutica inicial no manejo das metástases ganglionares retroeritoneais de câncer colorretal.
CIRURGIA UROLÓGICA
AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DO PSA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
CINARA BOSSARDI;ROBERTO LODEIRO MÜLLER;WALTER JOSÉ KOFF
Introdução e Justificativa O câncer de próstata (CaP) possui grande impacto social. O risco dos homens desenvolverem CaP é aproximadamente 1 em 6. O PSA como é usado como rastreamento para o CaP e tem-se procurado aumentar a sua sensibilidade e especificidade com parâmetros que incorporem o fator cinético do PSA, como a velocidade do PSA (PSAV) e o tempo de duplicação do PSA (PSADT). Os estudos são conflitantes em relação ao papel destes parâmetros no diagnóstico de CaP. Objetivos Avaliamos o papel do PSADT em uma população referenciada para um hospital
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 89
terciário por aumento do PSA. Materiais e Métodos Incluímos pacientes que realizaram PSA no HCPA de jan/00 a out/07. Identificamos pacientes que fizeram pelo menos 3 dosagens de PSA em 1 ano e que realizaram biópsia. Coletamos informações referentes demais fatores de risco já conhecidos. O PSADT e o PSAV foram calculados conforme fórmulas padrão e analisados de forma contínua e categórica. Utilizamos o SPSS12 para a análise descritiva e regressão logística. Resultados Foram identificados 460 pacientes que preencheram os critérios de inclusão. No modelo multivariado, apenas a idade (OR: 1,059 IC95% 1,017 – 1,103), PSA-densidade (OR: 7,858 IC95% 1,475 – 41,874), nº de bx prévias (OR: 0,509 IC95% 0,391 – 0,661) e presença de PIN prévio (OR: 7,16 IC95% 3,258 – 15,7434) foram significativos. Ambos parâmetros cinéticos não foram relevantes. Conclusões Concluímos que os parâmetros cinéticos do PSA provavelmente tem um papel insignificante no diagnóstico do CaP. Os resultados deste trabalho estão alinhados com os que estão surgindo em grandes coortes americanas e européias de rastreamento de PSA. Este trabalho validou para uma população brasileira e de risco mais elevado (de centro universitário) os achados já encontrados na literatura.
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO INTERMITENTE SOBRE OS NÍVEIS HORMONAIS E A FUNÇÃO REPRODUTIVA EM RATOS WISTAR
LUIZA SCOLA PERINI;VIVIAN GEISEL; ANA LUIZA FERRARI; ILMA SIMONI B. A SILVA; HELENA VON EYE CORLETA; EDISON CAPP
Introdução: os efeitos do exercício físico, no sistema reprodutor, foram focados primeiramente na endocrinologia feminina. Entretanto, com o passar do tempo, alguns estudos demonstraram a importância destes mesmos efeitos no sistema reprodutor masculino. Objetivo Geral: delinear as ações do exercício intermitente sobre os níveis hormonais de Testosterona total (TT), Hormônio Folículo Estimulante (FSH) e Hormônio Luteinizante (LH), sobre a massa e o volume testicular e sobre a histologia de testículos em ratos Wistar. A escolha pelo exercício intermitente, se deve ao fato de este ser um dos exercícios menos estudados e principalmente por ser um dos mais praticados atualmente, pois equivale a uma partida de um esporte coletivo ou a exercícios monitorados em academias. Materiais e Métodos: 40 ratos Wistar machos foram selecionados e divididos da seguinte forma: vinte ratos treinados de forma intermitente (alternando uma carga equivalente a 110% de sua velocidade máxima determinada pelo teste máximo* durante 1 minuto com uma carga de 40% da sua velocidade máxima durante 30 segundos) durante 1 hora, 5 dias por semana, durante 2 meses. Após o sacrifício, o sangue foi coletado e centrifugado à 600g durante 5 minutos. O soro foi armazenado a -20ºC para ser analisado posteriormente por radioimunoensaio. Os testículos foram retirados e preservados em formol a 10%. Este material coletado foi analisado através de anátomo patológico pela técnica de coloração hematoxilina / eosina (HE). Resultados Parciais: a análise histológica demonstrou não haver alterações celulares, conforme o esperado. Também não foram encontradas diferenças na massa e volume testicular quando os grupos foram comparados.
CLÍNICA MÉDICA
AVALIAÇÃO DO VALOR PROGNÓSTICO DO NT-PROBNP PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR SUBMETIDOS A CIRURGIA NÃO-CARDÍACA
CAROLINA BERTOLUCI;ANA PAULA WEBBER ROSSINI; JAMES PANOSSO; FLAVIA KESSLER BORGES; BEATRIZ GRAEFF SANTOS SELIGMAN; CARISI ANNE POLANCZYK
Introdução: O NT-proBNP pré-operatório se correlaciona com desfechos cardiovasculares intra-hospitalares e a curto prazo, entretanto a informação do valor prognóstico deste marcador no pós-operatório ainda não foi adequadamente avaliada. Objetivos: Determinar o valor prognóstico do NT-proBNP pós-operatório em pacientes de alto risco cardiovascular submetidos a cirurgia não-cardíaca. Materiais e métodos: Serão pré-selecionados participantes do Estudo VISION (coorte prospectiva com pacientes ≥ 45 anos que realizarão cirurgia não-cardíaca com anestesia geral ou regional, com hospitalização ≥ 1 noite após a cirurgia), com Índice de Risco Cardíaco Revisado ≥ a 2. Serão feitas coletas de NT-proBNP pré-operatório, de TnT 6 a 12 h após a cirurgia e no 1º, 2º e 3º dias após a cirurgia, e de NT-proBNP entre 48 e 72 horas do pós-operatório. Será realizado acompanhamento intra-hospitalar e em 30 dias, avaliando-se a incidência de eventos vasculares maiores (morte de causa vascular, infarto do miocárdio não-fatal, parada cardíaca não-fatal e acidente vascular cerebral
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 90
não-fatal) e a relação dos níveis de NT-proBNP pré e pós-operatórios. O tamanho da amostra foi calculado em 142 pacientes, com poder de 80% de detectar um RR de 4 para eventos cardiovasculares intra-hospitalares, considerando uma taxa de eventos de 6%. Serão construídas curvas de Kaplan-Meier para avaliar o valor prognóstico do NT-proBNP e regressão logística será usada na identificação de preditores independentes de eventos vasculares maiores, considerando-se o nível de significância alfa = 0,05. Resultados: O projeto VISION foi aprovado no GPPG (08-046) em junho de 2008. A coleta de dados está em andamento desde maio de 2009, com previsão de término em agosto de 2009. A análise dos dados será realizada em setembro de 2009.
ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DE PACIENTES ANTICOAGULADOS DO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
JORGE AUGUSTO BERGAMIN;LÍVIA MASTELLA; CAROLINE RECH; ARTUR BOSCHI; JULIANA JANOSKI DE MENEZES; FLÁVIA KESSLER BORGES; LUÍS CARLOS AMON
Introdução: Os antagonistas da vitamina K têm sido a principal arma terapêutica anticoagulante há mais de 50 anos, tendo papel essencial no tratamento de comorbidades associadas a patologias altamente prevalentes como doença venosa tromboembólica e fibrilação atrial crônica. A intensidade terapêutica para cada patologia é diferente, sendo necessária a avaliação recorrente dos níveis de coagulação de cada paciente através do tempo de protrombina – índice de normalização internacional (TP INR). Não existem, até o momento, estudos randomizados avaliando a melhor estratégia para acompanhamento de pacientes em uso de anticoagulação por longo prazo. Objetivos: Avaliar a taxa de adequação do TP INR dos pacientes acompanhados no ambulatório de anticoagulação, avaliar a incidência de eventos adversos maiores e menores e correlacionar possíveis fatores predisponentes a sangramento. Materiais e Métodos: Estudo de coorte prospectivo. A população é composta por todos os pacientes que realizaram acompanhamento no ambulatório de anticoagulação do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período de 01/10/2000 a 01/10/2009. O banco de dados será realizado com base nas fichas de acompanhamento dos pacientes já existentes no ambulatório, incluindo dados acerca do motivo da indicação de anticoagulação, fatores de risco para sangramento, TP INR das consultas, taxa de eventos adversos maiores e menores, taxa de adequação dos controles de TP INR à faixa terapêutica e tempo médio de acompanhamento. Resultados: o presente estudo encontra-se em fase de coleta de dados, a análise dos mesmos deverá ser realizada no mês de outubro de 2009, com plano de publicação dos resultados a partir desta data.
SÍNDROME DE GARDNER: RELATO DE CASO
JORGE AUGUSTO BERGAMIN;CARINE LEITE; VANESSA GONÇALVES CHAVES, ALBERTO ROSA
Introdução: A síndrome de Gardner é uma forma de apresentação da polipose adenomatosa familiar, ocorrendo com manifestações extra-colônicas múltiplas. Trata-se de uma doença rara, de herança autossômica dominante, em que o desenvolvimento do fenótipo acompanha-se do surgimento de adenocarcinoma de cólon até a quinta década de vida. Objetivo: Relatar um caso de síndrome de Gardner com a finalidade de reforçar o conhecimento das inúmeras manifestações extra-colônicas dessa doença. Relato do caso: Homem, 45 anos, procurou a emergência-HCPA com evidências de anemia ferropriva, diarréia crônica, emagrecimento e lesão tumoral em região dorsal do tórax. Na investigação clínica, foi submetido à colonoscopia, que demonstrou múltiplos pólipos sésseis estendendo-se do reto ao ceco. O exame anamopatológico revelou adenomas túbulo-vilosos com displasia de baixo grau. Ao fundo de olho apresentava lesões de hipertrofia hiperpigmentar da retina e a biópsia da massa tumoral na região torácica dorsal demonstrou fibromatose. Apresentava história familiar de neoplasia intestinal e de sistema nervoso central. Frente aos achados clínicos, chegou-se a diagnóstico de síndrome de Gardner, tendo sido submetido a colectomia profilática. Conclusão: O conhecimento da semiologia de apresentação da síndrome de Gardner interessa a toda classe médica, pois apresenta manifestações extra-colônicas múltiplas, que podem suscitar a procura do diagnóstico. Nesse caso relatado, a descoberta precoce permitiu a realização de colectomia, pois sem essa intervenção o paciente seria invariavelmente acometido pelo adenocarcinoma colorretal.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 91
ESCLEROSE TUBEROSA APRESENTANDO-SE COM RUPTURA DE ANGIOMIOLIPOMA RENAL
JORGE AUGUSTO BERGAMIN;PAULA KALINKA MENEGATTI; FERNANDA DAMIAN; GUSTAVO ADOLPHO MOREIRA FAULHABER; MATIAS KRONFELD
Introdução: Esclerose tuberosa, também conhecida como síndrome de Bourneville-Pringle, é uma síndrome autossômica dominante, com incidência de 1:10000 nascimentos e expressividade variável resultante da mutação de um entre dois genes (TSC1 ou TSC2). Caracteriza-se pelo surgimento de tumores hamartomatosos, afetando múltiplos sistemas orgânicos. Objetivo: Relatar um caso de apresentação atípica da síndrome de Bourneville-Pringle Relato do caso: Homem, 31 anos, interna no HCPA por hematúria volumosa e dor lombar à esquerda há 1 dia. Ao exame, apresentava-se hipotenso e com massa palpável em flanco esquerdo. Após estabilização hemodinâmica, realizou angiotomografia que evidenciou rins aumentados de volume com múltiplas lesões características de angiomiolipomas e lesão retroperitoneal cística heterogênea, sugestiva de sangramento, de 7,2 x 6,5cm, com pseudoaneurisma em vaso intralesional. O paciente foi submetido a cateterismo superseletivo de ramo segmentar da artéria renal esquerda seguido de embolização. Além dos achados renais, apresentava também inúmeras outras características presentes na esclerose tuberosa, tais como lesões papulares em região malar e em mucosa oral, placa fibromatosa na fronte, tumores periungueais, fundo de olho compatível com hamartomas astrocíticos de retina e RNM de encéfalo com hamartomas cerebrais corticais e lesão de substância branca cerebral. Conclusão: As manifestações renais da esclerose tuberosa são principalmente devido a cistos renais e angiomiolipomas , sendo a segunda causa de morte depois das manifestações em sistema nervoso central. A possibilidade de angiomiolipoma renal roto deve ser sempre considerada quando há hematoma retroperitoneal nos exames de imagem.
ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES AVALIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JOANA AMARAL CHANAN;PATRICIA PICCOLI DE MELLO, ELZA DANIEL DE MELLO, JAQUELINE FINK
Introdução: O Centro de Referência (CR) foi criado em fevereiro de 2005 com o objetivo de exercer apoio técnico especializado na avaliação de solicitações de Fórmulas Nutricionais Especiais (FNE) à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Até o seu término, em dezembro de 2008, o CR realizou atividades educativas com profissionais de diversas áreas, colaborou para a melhora do fluxo de atendimento, encaminhou usuários para o Ambulatório de Nutrologia do HCPA, dentre outras atividades. Objetivo: Descrever a demanda de atendimento do CR e analisar características das solicitações e dos pareceres de avaliação no seu período de funcionamento. Materiais e Métodos: Estudo transversal, no qual foram analisados dados das solicitações avaliadas pelo CR. As informações foram armazenadas em banco de dados e receberam análises de frequencia. Resultados e Conclusão: Avaliou-se 4121 solicitações, dessas 32% obtiveram aprovação pelo CR. Razões para negações foram solicitações incompletas, indicação errônea da FNE e inadequação entre motivo clínico informado e FNE solicitada. A maioria dos usuários era pediátrica (51,4%), masculina (52,4%) e proveniente do interior do Estado (55,6%). Motivos clínicos mais frequentes foram doença neurológica (29,1%), alergia alimentar (28,4%) e intolerância à lactose (13,3%). As FNE mais solicitadas foram hidrolisado protéico (23%), extrato de soja (14,8%) e dieta enteral 1,5cal/ml (14,2%). As FNE mais aprovadas foram hidrolisado protéico (47,4%), isolado de soja (15,3%) e extrato de soja (10,4%). Grande parcela das solicitações esteve inadequada e foi negada pelo CR, com maior aprovação para pedidos de FNE indicadas nas alergias alimentares. Melhorias ainda são necessárias para aprimorar sua prescrição pelos profissionais de saúde.
EPIDEMIOLOGIA DA SEPSE NO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO SUL DO BRASIL
MAURÍCIO FARENZENA;MARY CLARISSE BOZZETTI; LÉA FIALKOW
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 92
Introdução: Sepse é causa freqüente de admissão em Centros de Tratamento Intensivo (CTIs), sendo associada a elevadas taxas de mortalidade. O conhecimento sobre aspectos epidemiológicos é escasso no Brasil, incluindo fatores de risco para mortalidade. Objetivos: Descrever as características, mortalidade e fatores de risco para óbito hospitalar em pacientes com Sepse que necessitaram de ventilação mecânica (VM) no CTI de um hospital universitário do sul do Brasil. Materiais e Métodos: Foram incluídos pacientes com diagnóstico de Sepse (n=630) oriundos de uma coorte prévia (n=1115) que arrolou pacientes do CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que necessitaram VM por mais de 24h entre março/2004 a abril/2007. Regressão logística múltipla foi utilizada para identificar os fatores associados à mortalidade hospitalar. Resultados e Conclusões: Um total de 56,5% dos pacientes da coorte teve diagnóstico de Sepse. Em 74%, Sepse foi causa da VM e em 26% ocorreu no curso da mesma. A mortalidade hospitalar foi 62%; as taxas de mortalidade em pacientes com Sepse como causa de VM (60%) e naqueles com Sepse desenvolvida durante a VM (66%) não foram diferentes (p=0,22). A idade média (DP) foi 53 (18) anos, 57% eram homens e o escore APACHE II médio, 24 (8). Não houve diferença entre a mortalidade hospitalar em pacientes com Sepse Grave (55%) e Choque Séptico (62%) (p=0,19). Os fatores independentemente associados à mortalidade foram: idade (p=0,01), escore APACHE II (p=0,007), SARA (p=0,004), presença de disfunções orgânicas além da respiratória (p=0,001), duração da VM (p=0,001) e uso de vasopressores (p=0,04). O conhecimento das características, mortalidade e dos fatores de risco em pacientes com Sepse poderá sugerir estratégias terapêuticas visando melhorar o desfecho dos mesmos.
A OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS SÉRIOS EM PROJETOS DE PESQUISA COM ANTI-RETROVIRAIS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
RAQUEL YURIKA TANAKA ;JOSÉ ROBERTO GOLDIM; ANA PAULA DA SILVA PEDROSO; ALINE PATRÍCIA BRIETZKE
Introdução: O uso da terapia anti-retroviral (ARV) combinada vem modificando progressivamente o perfil de morbi-mortalidade da infecção pelo HIV no Brasil, passando a ser vista com uma doença de caráter evolutivo, crônico e controlável. O foco da pesquisa farmacológica em AIDS prevê a geração de conhecimento e a possibilidade de disponibilizar precocemente novas drogas, no entanto nem sempre pode ser assegurada a garantida de segurança e confiabilidade. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) têm a obrigação de acompanhamento e avaliação de Eventos Adversos Sérios (EAS) assim como a avaliação e identificação de riscos previstos em projetos farmacológicos. Objetivo: Descrever os EAS ocorridos em projetos de pesquisa, com fármacos ARV, obtidos através do levantamento no banco de dados GPPG 7.0 do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG) do HCPA. Metódos: Estudo transversal, o qual teve como unidade de observação os EAS ocorridos nos projetos da indústria, submetidos e a provados pelo CEP do hospital do ano de 2005 a 2007. O estudo é um desdobramento de um projeto previamente aprovado pelo CEP/HCPA registrado com o nº 95152. Resultados: No período foram submetidos sete projetos de pesquisa com ARV no CEP/HCPA, destes, quatro não foram executados e três foram realizados no hospital. O total de participantes desses projetos foram 2675, sendo incluídos 86 indivíduos no HCPA. Foram notificados no total 258 EAS, sendo que desses 15 ocorreram no HCPA. Conclusão: Verifica-se a grande importância de se realizar uma avaliação e monitoramento dos EAS ocorridos em pesquisa com ARV, pois a partir deste processo é possível a tomada de decisão em relação à continuidade do estudo.
BIOÉTICA E CUIDADOS PALIATIVOS: DIFERENTES VARIÁVEIS QUE PODEM INFLUIR NA TOMADA DE DECISÃO E QUALIDADE DE VIDA
CAROLINA ROCHA BARONE;JOSÉ ROBERTO GOLDIM; ROSMARI WITTMANN VIEIRA
Introdução: Cuidado paliativo é um termo que se refere aos cuidados necessários em fim de vida, para o alivio dos sintomas e a promoção da qualidade de vida. Objetivos: Avaliar o processo de tomada de decisão e a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, fora de possibilidades terapêuticas, atendidos no Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, desde o momento de sua transferência até a sua última internação. Material e Métodos: Estudo de casos incidentes. Cálculo do tamanho da amostra utilizando o EPI-INFO 3.4.3, para significância de 95% é de 86 pacientes, a ser atingido em doze meses. Cada paciente, em concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, irá responder os Instrumentos:
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 93
Desenvolvimento Psicológico-Moral; Evitamento de Incerteza; Avaliação de perspectiva de longo prazo; WHOQOL-OLD; WHOQOL-BREF e a Escala de Percepção de Coerção em pesquisa. Serão coletadas informações demográficas como idade, sexo, anos de estudo e profissão do paciente. A cada nova internação os pacientes serão convidados a responder os mesmos instrumentos. Resultados: Amostra preliminar com 18 pacientes aponta que esses não sofreram coerção para sua transferência ao NCP, com 94,44% concordando com a opção “senti-me livre para fazer o que quisesse”; 55,56% para “eu escolhi”; 33,33% para “foi minha idéia”; 88,89% para “tive bastante decisão”; e 72,22% para “tive mais influência que qualquer outra pessoa”. 100% dos pacientes apresentam capacidade de tomada de decisão, pois estão entre os níveis integrados e oportunistas. Conclusões: Dados preliminares indicam que todos os pacientes terminais participantes possuem capacidade de tomada de decisão e não se sentiram coagidos em seu processo de transferência para o NCP.
ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE FATOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DO CÉREBRO (BDNF) E RESPOSTA À ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) EM PACIENTES DEPRIMIDOS REFRATÁRIOS À MEDICAÇÃO
RENATA BIACHI MARIAN;BRISA FERNANDES; KEILA MARIA CERESÉR; PAULO SILVA BELMONTE DE ABREU; MARCELO PIA DE ALMEIDA FLECK; MARIA INÊS LOBATO; CLARISSA SEVERINO GAMA
Introdução: A depressão refratária é uma condição mental altamente incapacitante que causa importante prejuízo social e econômico. A eletroconvulsoterapia (ECT) é o tratamento mais eficaz na depressão refratária, visto que até 20% dos pacientes não respondem satisfatoriamente aos tratamentos medicamentosos. Diversos estudos em modelos animais têm mostrado que a ECT pode estimular a produção de BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro), diminuído em episódios depressivos, em diferentes áreas cerebrais do rato. Entretanto, os estudos da ECT em seres humanos apresentam resultados controversos. Objetivos: Os objetivos do trabalho foram avaliar os efeitos da ECT nos níveis de BDNF sérico e parâmetros clínicos em pacientes com depressão refratária a tratamentos medicamentosos, antes e depois da ECT. Material e métodos: A amostra do estudo foi constituída de 15 pacientes depressivos refratários, com depressão maior unipolar ou depressão bipolar. Amostras de sangue foram coletadas e as escalas HDRS, BPRS, MMSE, CGI-S foram aplicadas no dia anterior ao início da ECT (pré-ECT), e no dia posterior a última sessão da ECT (pós-ECT). Os níveis séricos de BDNF foram medidos pelo método de ELISA sanduíche, utilizando um kit comercial de acordo com as instruções do fabricante. Resultados e conclusão: Os pacientes pós-ECT apresentaram uma melhora significativa nos sintomas depressivos na HDRS (p = 0.001), nas características psicóticas na BPRS (p = 0.001) e na gravidade da doença na CGI (p = 0.001). A ECT não causou déficit cognitivo (MMSE, p = 0,92) e não houve alterações do BDNF sérico anterior e posterior à ECT (p = 0.89). Os resultados não sustentam a hipótese de que a melhora clínica após a ECT seja decorrente de alterações no BDNF.
ABORDAGEM DO PACIENTE COM SUSPEITA CLÍNICA DE SARCOIDOSE - RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
CAROLINE MACHADO MELLO;RAFAEL CARVALHO IPÊ DA SILVA; BRUNO CAMPOS FONTOURA
Introdução: A sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica não infecciosa de etiologia desconhecida, de cuja patogênese parecem participar os fatores genéticos, imunológicos, ambientais e infecciosos. Vários órgãos podem ser afetados, causando amplo espectro de manifestações clínicas, como febre, emagrecimento, fadiga, dispnéia, dor torácica, dores articulares, mialgias, linfonodomegalias, etc., podendo também o paciente apresentar-se assintomático. Objetivo: Avaliar os métodos de maior relevância na abordagem do paciente com suspeita clínica de sarcoidose. Materiais e Métodos: Analisamos o caso de uma paciente de 52 anos do sexo feminino com história de adenomegalia generalizada há mais de dois anos, associada a perda ponderal pregressa. Utilizou-se a base de dados on line MEDLINE e LILACS, aplicando-se os termos “sarcoidose”, “critérios diagnósticos de sarcoidose” e “adenomegalia” para os artigos publicados nos últimos dez anos, além das bibliografias de maior importância citadas nos trabalhos selecionados. Conclusão: A sarcoidose é uma doença que possui apresentação, progressão e prognóstico variáveis. É freqüentemente
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 94
associada a doenças auto-imunes, como o lúpus eritematoso e a esclerose sistêmica, mas também a tantas outras, como dermatomiosite e síndrome de sobreposição esclerose sistêmica-polimiosite. Seu diagnóstico em geral requer uma apresentação clínica característica da doença, assim como a demonstração de lesões típicas e a exclusão de demais desordens que sabidamente sejam causadoras de granuloma, através de restritos critérios clínicos, radiológicos e patológicos. A falta de um teste diagnóstico sensível e específico suscita certa preocupação quanto ao fato de a sarcoidose ser pouco reconhecida pelo clínico e, consequentemente, pouco diagnosticada.
BIOBANCOS EM MEDICINA TRANLACIONAL: O DESAFIO DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
JOSÉ ROBERTO GOLDIM;JULIA PROTAS, MARCIA SANTANA FERNANDES
Introdução: A pesquisa em saúde constantemente apresenta desafios à Bioética. O armazenamento de materiais biológicos de pacientes e sujeitos da pesquisa gera novas questões éticas, principalmente sobre a sua utilização futura. A Medicina Translacional, ao integrar os cuidados de saúde com a pesquisa, gerar muitas dessas questões. As atividades assistenciais são baseadas nas necessidades dos pacientes, enquanto que a pesquisa oferece possibilidades para os sujeitos de pesquisa. A Medicina Translacional rompe as barreiras entre os cuidados de saúde e a investigação, incorporando necessidades e possibilidades em um novo cenário para a área da saúde. O processo de consentimento informado na assistência e na pesquisa tem, aparentemente, características semelhantes. Objetivo: Verificar a coerção percebida por pacientes e sujeitos de pesquisas. Material e Métodos: O grau de coerção percebida foi avaliado utilizando um instrumento padronizado, que aborda cinco dimensões: capacidade, voluntariedade, espontaneidade, liberdade e autoridade. Resultados: Os resultados obtidos em uma amostra de 2100 indivíduos apresentaram valores semelhantes em ambos os grupos (assistência e pesquisa), mas com resultados diferentes para as diversas categorias. As respostas relativas à capacidade e à voluntariedade tiveram distribuições semelhantes em ambos os grupos. As respostas positivas para a espontaneidade foram mais elevadas no âmbito da assistência, enquanto que as referentes a liberdade e autoridade foram mais elevados na pesquisa. Conclusão: Estes dados geram a necessidade de uma reflexão sobre o processo de consentimento informado nas atividades de armazenamento de materiais biológicos em assistência e pesquisa. O desafio é adaptar o processo de obtenção de consentimento informado às atividades de biobanco dentro desta nova realidade.
CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA BIOBANCOS
GABRIELA MARODIN;JENNIFER B SALGUEIRO; ANA CAROLINA F. FULLANA; LUIS EUGENIO PORTELA DE SOUZA
Uma preocupação mundial atual é a constituição de uma rede de biobancos harmonizada, que respeite os preceitos éticos, legais e sociais dos países integrantes. Os biobancos constituem ferramental imprescindível à assistência ao paciente, bem como para a condução da pesquisa em diversas áreas. O Brasil não possui legislação específica sobre este tema. Possui legislações sobre alguns assuntos relacionados, como a Lei n° 11105/05 – Lei de Biossegurança, a RDC 33/06 - ANVISA – Regulamento técnico para o funcionamento dos bancos de células e tecidos germinativos e a Resolução CNS 347/05 – Regulamentação do armazenamento e utilização de material biológico humano no âmbito de projetos de pesquisa. Construir de forma participativa, com pesquisadores, gestores e controle social uma proposta de diretrizes nacionais para biobancos, baseada nos princípios da responsabilidade social, solidariedade, respeito à pessoa, beneficência, justiça e precaução. A Coordenação de Bioética e Ética em Pesquisa do DECIT/MS para construir esta proposta realizou reuniões preparatórias com algumas instituições, participou de dois congressos científicos internacionais, cuja temática era a harmonização de biobancos e organizou um grupo de trabalho envolvendo a Rede Nacional de Pesquisa Clínica, ANVISA e CONEP para a constituição da proposta. As reuniões preparatórias demonstraram que a temática era pertinente ao momento atual, sendo que os seus componentes demonstraram aderência à elaboração das diretrizes. A participação nos congressos internacionais mostrou que o Brasil estava no mesmo estado da arte que os outros países e consolidou os aspectos que deveriam ser abordados neste documento. A concretização das diretrizes nacionais para biobancos reflete a opinião de todos os interessados nesta temática.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 95
CORRELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE FUNCIONAL E NÍVEL COGNITIVO EM IDOSAS HÍGIDAS ATIVAS E IDOSAS SEDENTÁRIAS ATRAVÉS DA DISTÂNCIA PERCORRIDA NO TC6M
ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE;DANÚBIA FERNANDES; DULCIANE NUNES PAIVA
Introdução: A capacidade funcional é considerada um dos fatores preponderantes para o diagnóstico de saúde física e mental na população idosa. Estudos têm enfatizado que a promoção da atividade física pode reduzir o risco de declínio cognitivo em idosos. Objetivo: Analisar a correlação entre capacidade funcional e nível cognitivo de idosas hígidas ativas e sedentárias da cidade de Santa Cruz do Sul-RS. Materiais e Métodos: Estudo transversal, composto por 66 idosas hígidas, alocadas em Grupo I (Sedentárias, n=20) e Grupo II (Ativas, n=46). Realizou-se avaliação da capacidade funcional através da distância percorrida no Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6m) e avaliação do nível de cognição através do questionário Mini-Mental State Examination (MMSE). As voluntárias foram submetidas ao TC6m sendo utilizado o protocolo da American Thoracic Society (2002). Resultados: Constatou-se que houve uma correlação positiva estatisticamente significativa da distância percorrida no teste de caminhada e o escore obtido no MMSE (r = 0,398 e p = 0,001), porém não houve variação significativamente estatística entre distância percorrida no TC6m (p = 0,893) e desempenho cognitivo tanto nas idosas ativas quanto sedentárias (p = 0,751). Conclusão: Sugere-se que as atividades lúdicas realizadas pelas idosas sedentárias tenham contribuído para que não houvesse uma diferença maior na distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos analisada entre os grupos. O estudo mostra que tanto os níveis de cognição, quanto à atividade física não foram capazes de interferir na capacidade funcional.
EDUCAÇÃO E VULNERABILIDADE A DST/HIV ENTRE MILITARES EM UM QUARTEL EM PORTO ALEGRE, RS
MARCELO CAMPOS APPEL DA SILVA;ELISA SFOGGIA ROMAGNA; VICENTE SPERB ANTONELLO; JERÔNIMO SPERB ANTONELLO
Introdução: as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são grave problema de saúde pública, com prevalências que continuam a aumentar. Interroga-se a falta de conhecimento adequado acerca das formas de transmissão e comportamento de risco como responsáveis por tal realidade. Objetivo: verificar o conhecimento dos soldados recrutas de um quartel em Porto Alegre, RS, acerca da transmissão do vírus HIV, bem como verificar a ocorrência de práticas comportamentais de risco para transmissão ou aquisição de DST. Métodos: estudo transversal descritivo, com aplicação um questionário semi-estruturado contendo perguntas sobre comportamento sexual e teste de conhecimento sobre a forma de transmissão do HIV, aos soldados incorporados no ano de 2007. Resultados: 195 voluntários, todos do sexo masculino e média de idade de 18,43 + 0,59 anos. Média de idade de inicio de relação sexual 14,7 anos. Aproximadamente 29% não utilizavam preservativos nas relações sexuais e 25% referiam trair suas companheiras. Questionados quanto à autopercepção de risco para contrair DST, 63% referiam ser improvável. Ajustando por faixas de escolaridade, todos os grupos tinham >85% de acerto no teste de conhecimento. Conclusão: infere-se, com base nestes resultados, que embora haja conhecimento correto sobre as formas de transmissão de DST pela população estudada, há, também, falta de comprometimento e responsabilidade ao não praticar sexo de forma segura. A prevenção é a medida mais eficaz a ser assumida contra estas doenças, e para tanto, a educação em saúde assume importância, sendo fator básico para conscientizar e informar as pessoas. Educação e incentivo às práticas seguras de sexo e alerta quanto aos riscos do comportamento displicente e descuidado nas relações sexuais é ferramenta essencial para a construção de um futuro livre das DST.
PACIENTE FEMININA, 71 ANOS, COM POLINEUROPATIA, ORGANOMEGALIA, GAMOPATIA MONOCLONAL E ANASARCA: UM RELATO DE CASO
ANA CAROLINA PEÇANHA ANTONIO;GUSTAVO ADOLPHO MOREIRA FAULHABER; TANIA WEBER FURLANETTO
Apresentação: Mulher de 71 anos procurou atendimento por edema subcutâneo generalizado e aumento do volume abdominal havia duas semanas, além de emagrecimento pronunciado, diarréia líquida intermitente e progressiva limitação funcional nos últimos seis meses. Mostrava caquexia e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 96
anasarca, sem febre ou hipoxemia. Avaliação: Exames laboratoriais e sorologias sem particularidades a não ser por hipoalbuminemia marcada. Ecografia de abdome demonstrou esplenomegalia e ascite. TC de tórax detectou volumosas adenomegalias mediastinais, derrame pleural bilateral e infiltração pulmonar adjacente. Eletroforese de proteínas séricas evidenciou pico monoclonal IgG gama por cadeias leves lambda. Em virtude da rápida piora clínica, o diagnóstico final só pôde ser firmado após necropsia: edema pulmonar não cardiogênico levando a insuficiência respiratória como manifestação de Doença de Castleman (DC) multicêntrica. Discussão: DC, também conhecida como hiperplasia linfonodal angiofolicular, é caracterizada, na sua forma multicêntrica, por adenopatias generalizadas, incluindo hepatoesplenomegalia. A Síndrome POEMS (SP) - Polineuropatia, Organomegalia, Endocrinopatia, proteína M e Skin changes - é uma rara síndrome paraneoplásica que tem como critérios diagnósticos maiores a presença de polineuropatia e gamopatia monoclonal, seja na forma de mieloma osteoesclerótico ou DC. Diarréia, anorexia e emagrecimento marcado também são observados. Sobrecarga de volume extravascular (edema periférico, ascite ou efusão pleural) é detectada em aproximadamente 29% dos pacientes, sendo fator de mau prognóstico. A infiltração alveolar maciça é explicada pela síndrome de leak capilar, gerando hemoconcentração, hipoalbuminemia, anasarca e choque hipovolêmico pelo extravasamento de plasma para o terceiro espaço. Conclusão: A relevância desse relato encontra-se na diversidades de diagnósticos diferenciais possíveis e na evolução dramática a despeito do manejo intensivo.
SÍNDROME SAPHO: RARA OU SUBDIAGNOSTICADA?
PAULA KALINKA MENEGATTI;JORGE AUGUSTO BERGAMIN; ALBERTO TREIGUER; FELIPE DA COSTA HUVE; RENATO SELIGMAN; GUSTAVO ADOLPHO MOREIRA FAULHABER
Introdução: A síndrome SAPHO é uma entidade com patogênese desconhecida, porém com características bem definidas que originaram o seu acrônimo: sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteíte. Ocorre em adultos jovens, apresentando curso crônico com episódios de agudização. Os componentes fundamentais da síndrome são a hiperostose e a osteíte inflamatória, sendo que a ausência de alterações cutâneas não exclui o diagnóstico, pois essas podem ocorrer antes, simultaneamente ou depois das manifestações osteoarticulares. Objetivo: Relatar um caso de síndrome SAPHO, uma vez que, em função do desconhecimento das suas características, está sendo subdiagnosticada por clínicos e radiologistas. Relato do caso: Homem, 44 anos, procura emergência-HCPA devido à dor intensa, rubor e edema em junção esternoclavicular esquerda com piora lesional progressiva no último ano. Realizou TC de tórax que evidenciou lesão envolvendo a região da articulação esternoclavicular com solução de continuidade da cortical óssea e redução desse espaço articular. Biópsia da lesão: processo inflamatório inespecífico com tecido ósseo reacional, ausência de BAAR e bacteriológico negativo. Realizado tratamento empírico para osteomielite e tuberculose óssea, porém sem melhora lesional. RNM com irregularidades corticais e áreas compatíveis com processo inflamatório. Frente aos achados sugestivos de síndrome SAPHO, foi iniciado tratamento com colchicina, evoluindo com melhora da dor e da lesão após 5 dias. Conclusão: Os achados desse paciente estão de acordo com os descritos na literatura, devendo ser considerado esse diagnóstico em todo paciente que apresente quadro doloroso de parede torácica, especialmente de articulação esternoclavicular, acompanhado de osteíte e/ou manifestações dermatológicas.
MUCOPOLISSACARIDOSE IIIC NO BRASIL: UMA VISÃO CLÍNICA
TIAGO FRANCO MARTINS;GRACE SCHAEFFER MATTOS; IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Introdução: Mucopolissacaridose tipo IIIC (MPS IIIC) é uma doença de acúmulo lisossômico caracterizada pela deficiência da enzima Acetil-CoA: α-Glicosamina-N-acetiltransferase, envolvida no catabolismo do glicosaminoglicano heparan sulfato. Assim como em outros tipos de MPS III, a doença somática é relativamente branda, e o SNC é predominantemente envolvido. Objetivos: Caracterizar os aspectos clínicos de uma amostra de pacientes brasileiros com MPS IIIC. Materiais e métodos: Estudo observacional e retrospectivo de uma amostra de conveniência (casos registrados pela Rede MPS Brasil de 2004 a 2009). Resultados: No período analisado, 21 casos de MPS IIIC foram identificados, sendo que informação clinica estava disponível para 15 deles, os quais eram
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 97
provenientes de 13 famílias, e nasceram nas regiões Nordeste (33,33%), Sudeste (46,67%) e Sul (20%) do Brasil. A média de idade ao diagnóstico foi de 12,67 anos. A média de peso ao nascimento foi 3276g, e a de perímetro cefálico 50,25cm. Em relação à sintomatologia inicial, a média de idade foi 3,71 anos, e os sintomas mais freqüentemente relatados foram alterações de comportamento (40%), atraso de linguagem/fala (26,66%) e retardo de desenvolvimento motor/cognitivo (26,66%). Todos os 15 pacientes apresentaram alguma alteração de comportamento. Na data da última avaliação, a idade média foi 12,87 anos, 20% dos pacientes já haviam apresentado crises convulsivas, e 73,33% faziam uso de alguma medicação (a maioria de cunho neurológico). Conclusão/Discussão: Os dados obtidos reforçam a ideia de que a MPS IIIC é uma doença eminentemente neurológica. A média de idade ao diagnóstico encontra-se muito elevada, reflexo provável das dificuldades de diagnóstico desta doença no país. Apoio: FAPERGS, Rede MPS Brasil.
HIPERTENSÃO PULMONAR EM PACIENTE COM NEUROFIBROMATOSE TIPO I E HIV+: RELATO DE CASO
FERNANDA DE QUADROS ONOFRIO;SILVIA DE SOUZA KRETZER; RAFAEL ARMANDO SEEWALD; MARCELA SANTIAGO BIERNAT; ALBERTO ROSA
Introdução: Hipertensão pulmonar (HP) é uma doença das arteríolas pulmonares caracterizada pelo aumento progressivo da resistência vascular pulmonar, podendo acarretar insuficiência ventricular direita e morte. Ela pode ser secundária a diversas doenças ou pode ser primária/idiopática, quando nenhum fator de risco ou causa são identificados. Relato de Caso: Paciente feminina, 39 anos, HIV+, sem SIDA definida, tabagista, com Neurofibromatose tipo I (NFI) diagnosticada desde a infância, interna por tosse, taquidispnéia e febre há 15 dias. Recebeu Sulfametoxazol e Trimetropim por 21 dias por hipótese de pneumocistose, porém durante observação apresentou dispnéia, dessaturação e cianose aos esforços. Realizou angiotomografia computadorizada de tórax com alta resolução que evidenciou somente sinais de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ecocardiograma transtorácico e transesofágico mostrou forâmen oval patente e HP com pressão sistólica da artéria pulmonar estimada em 75mmHg, sem evidências de cardiopatia congênita. Cintilografia pulmonar perfusional descartou tromboembolismo crônico. Provas de função pulmonar mostraram capacidade de difusão diminuída, volume residual aumentado e dessaturação durante a caminhada. Evoluiu, uma semana após antibioticoterapia, com reinfecção respiratória, estando hospitalizada no momento. Programa-se cateterismo cardíaco direito para adequada avaliação de HP e de resposta a vasodilatadores. Discussão: Trata-se de paciente com duas prováveis causas de HP. Tanto a vasculopatia sistêmica da NFI quanto a arteriopatia pulmonar plexogênica causada pelo HIV podem levar ao desenvolvimento de HP. Apesar do prognóstico reservado desses pacientes, pode-se obter melhora dos sintomas através de medicações como sildenafil, bosentan, beraprost e epoprostenol.
O RISCO DE DOENÇA DE PARKINSON NÃO ESTÁ AUMENTADO EM PARENTES DE PACIENTES COM DOENÇA DE GAUCHER
KARINA CARVALHO DONIS;TACIANE ALEGRA; MARIANA PEIXOTO SOCAL; IDA VANESSA SCHWARTZ; CARLOS ROBERTO DE MELLO RIEDER; LAURA BANNACH JARDIM
Introdução: A Doença de Gaucher (DG) é uma doença lisossomal causada por uma mutação no gene da glicocerebrosidase. Essas mutações são encontradas em todos os grupos étnicos, mas com frequência maior em judeus Ashkenazi. Estudos na população de Ashkenazi encontraram uma frequência maior de mutações do gene GBA nos portadores de Doença de Parkinson (DP). Outro estudo nesta população mostrou maior ocorrência de DP em familiares de pacientes portadores de DG. Objetivo: Verificar ocorrência de DP em familiares de pacientes portadores de DG. Método: Foram recrutados pacientes com DG e selecionados controles saudáveis no HCPA. Após o termo de consentimento foi aplicado o BSQP no qual há 9 itens visando identificar sintomas de DP nos familiares do entrevistado, e uma pergunta direta sobre a existência de DP na família. Casos com escores BSDP igual ou superior a 15 eram convidados para uma avaliação neurológica. Resultados: Foram comparados 17 casos e 23 controles. Nenhum paciente era homozigoto para N370S e não havia nenhum descendente dos Ashkenazi. Obtemos informações de 510 parentes dos casos e 506 dos controles. Parentes dos controles mostraram uma tendência a ter mais suspeita de DP. Após estratificação para grau de parentesco e idade, não foi mostrado diferença significativa. Perguntando para o familiar entrevistado se alguém na família tinha DP, encontramos 2 parentes nos casos e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 98
nenhum nos controles. Nove parentes de controles e 3 parentes de casos receberam escores acima de 15. Entramos em contato com 4 parentes de controle e um parente de caso. O diagnóstico de DP foi encontrado em um bisavô de um caso. Conclusão: Não detectamos aumento no risco para DP nos parentes de pacientes com DG até o momento.
HANSENÍASE NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE CONTROLE BRASILEIRO
RAQUEL KUPSKE;ABRAÃO KUPSKE
Introdução: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que atinge milhões de pessoas no mundo. Apesar do número de casos novos detectados no mundo ter caído cerca de 4% de 2006 a 2007 segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil continua sendo um dos países com as maiores taxas de incidência. Objetivos: Trazer dados epidemiológicos importantes sobre esta doença que ainda é tão prevalente e dispendiosa em nosso país e fazer uma análise sobre a importância do programa brasileiro de controle da hanseníase. Materiais e métodos: As informações desta revisão foram retiradas de artigos recentes e importantes sobre o assunto. Resultados: O Brasil é um dos países que ainda não atingiu a meta de eliminação da hanseníase, definida pela OMS como uma taxa de prevalência menor que 1 caso para 10.000 habitantes. Ao contrário, nosso país continua no alto da lista dos países com maior prevalência desta doença. Em 2007, segundo dados da OMS, o Brasil registrou 39.125 casos novos, ficando em segundo lugar na lista de 17 países com mais de 1.000 casos novos naquele ano. No Brasil, o programa de controle da hanseníase é integrado ao Sistema Único de Saúde, e seu principal objetivo é diminuir o número de hospitalizações e a incidência de comorbidades causados por esta doença. Conclusões: Apesar do Brasil ter mostrado grandes esforços na criação e implantação de um programa de controle eficaz, ainda há muito por ser feito. Fornecer assistência médica a áreas de difícil acesso e assegurar a entrega de medicamentos deve ser uma preocupação constante. No nosso país, este programa de controle assume grande importância, pois a prevalência de hanseníase é maior entre a população mais carente, cujo acesso a um centro de referência é normalmente mais difícil.
ESTUDO CLÍNICO - FASE III AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DA COMBINAÇÃO FIXA DE PARACETAMOL, CLORFENAMINA E FENILEFRINA NO TRATAMENTO SINTOMÁTICO DO RESFRIADO COMUM E DA SÍNDROME GRIPAL EM ADULTOS
JULIANA DE AZAMBUJA;LÚCIA FENDT; LOISE SMANIOTTO; MAURICIO SUKSTERIS; ALICIA DORNELLES; CAROLINA BARONE; JULIANA ZAMPIERI; MARISA BOFF; JORGE SZYMANSKI;, INDARA CARMANIM; PAULO PICON
Introdução: As infecções de vias aéreas superiores são freqüentes na população, e seu tratamento, na maioria dos casos, envolve o uso de fármacos sintomáticos. O paracetamol é usado como analgésico e antipirético, enquanto a clorfeniramina é um antihistamínico e a fenilefrina um vasoconstritor com função descongestionante. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia e segurança de uma combinação fixa de paracetamol, clorfeniramina e fenilefrina no tratamento sintomático do resfriado comum e síndrome gripal em adultos em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. Métodos: Voluntários são recrutados através de cartazes fixados no HCPA e estagiárias em farmácias na rede PanVel, passando por um questionário de triagem no primeiro contato. Estão sendo incluídos 146 pacientes saudáveis com idade entre 18 e 60 anos que apresentam síndrome gripal ou resfriado comum de intensidade moderada a grave de início há menos de 3 dias . Após avaliação clínica e laboratorial, são randomizados para receber o medicamento ativo ou placebo, 5 cápsulas ao dia, em intervalos de 4 horas, durante 48-72h. Paracetamol de resgate representa a co-intervenção. Os pacientes recebem um diário contendo questionários de sintomas e e são reavaliados no D3 e D10. O desfecho primário consiste na média dos escores de sintomas. Desfechos secundários são a duração global dos sintomas, retorno às atividades habituais, uso de medicação de resgate, melhora da febre e avaliação de efeitos adversos. Resultados: Até o momento, foram incluídos 77 pacientes, cuja média(dp) de idade é 34,16(10,83), sendo 67% do sexo feminino e 33% do masculino. O tempo médio de evolução do quadro até a inclusão no estudo foi de 1,92(0,68) dias. Na avaliação clínica basal, os sintomas mais comuns foram rinorréia (90%) e tosse (88%), enquanto os mais severos foram dor muscular, rinorréia e obstrução nasal.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 99
MICROMORFOLOGIA ATÍPICA DE CRYPTCOCCUS NEOFORMANS EM PACIENTE COM AIDS (RELATO DE UM CASO)
JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI;CECÍLIA BITTENCOURT SEVERO; GEISON LEONARDO FERNANDES PINTO; MARCELO ROCHA; MELISSA O.XAVIER; ALEXANDRA FLÁVIA GAZZONI; INAJARA SILVEIRA DOS SANTOS; LUCIANA SILVA GUAZZELLI; LUIZ CARLOS SEVERO
Introdução: A criptococose é uma micose oportunística ubíqua que raramente causa infecção disseminada em indivíduos saudáveis. A maioria dos pacientes são imunodeprimidos. O Cryptococcus apresenta-se nos tecidos do hospedeiro como levedura encapsulada (forma assexual), o que o torna único entre os fungos patogênicos. Pode apresentar brotamento, mas apenas raramente é multibrotante, pobremente encapsulado, sem cápsula ou com pseudo-hifa. O gênero é composto por duas espécies: C. neoformans e C. gattii, que produzem infecção subaguda ou crônica, tendo como porta de entrada principal os pulmões, disseminando-se por via hematogênica a outros órgãos. Terceira causa de doença oportunística no sistema nervoso central. Objetivo: Relatar um caso de meningite criptocócica, apresentando micromorfologias atípicas do fungo na microscopia direta. Relato do caso: Paciente masculino, 35 anos, interna com cefaléia, emagrecimento e rigidez de nuca. É realizada punção lombar e o exame micológico direto do líquor demonstra presença de elementos leveduriformes encapsulados, grande quantidade de pseudo-hifas e elementos multibrotantes, compatíveis com Cryptococcus. O diagnóstico de meningite criptcocócica é confirmado, através da análise no líquor, pelo isolamento em cultivo do C. neoformans e pesquisa de antígenos capsulares para Cryptococcus (Látex), realizados no Laboratório de Micologia da Santa Casa Complexo Hospitalar de Porto Alegre. Posteriormente o paciente foi diagnosticado como HIV positivo. Após 5 dias de terapia com Anfotericina B, o paciente evoluiu a óbito. Justificativa: Este trabalho se justifica pela raridade de formas atípicas de Cryptococcus no exame micológico direto e sua importância para um diagnóstico diferencial.
LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA INDUZIDA POR ANTICORPOS MONOCLONAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
MAURICIO LEICHTER SUKSTERIS;LÚCIA COSTA CABRAL FENDT, MARIANA PEIXOTO SOCAL, ANA PAULA VARGAS, ELAINE ANDREAZZA LAPORTE, ANDRY FITERMANN COSTA, PAULO DORNELLES PICON
Introdução: A Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) é uma doença do sistema nervoso central que cursa com grande morbidade e mortalidade. Apesar de rara, existe uma crescente preocupação pelo seu aparecimento em usuários de anticorpos monoclonais (MABs). Tais medicamentos são indicados para diversas doenças inflamatórias e, devido a seu alto custo, estão associados com forte marketing e potencial uso irracional. Nosso objetivo é realizar uma revisão sistemática dos dados publicados sobre a associação entre MABs e LEMP com ênfase nos relatos de casos existentes, visando apontar fatores de risco em comum e alertar o clínico para a adequada seleção de pacientes para esse tratamento. Métodos: A busca foi realizada na base PubMed, com estratégia que continha todos os MABs do mercado e o termo LEMP. Foram gerados 151 resultados, obtidos e revisados por dois pesquisadores distintos paralelamente que registraram de forma independente o delineamento de cada artigo, o MAB de que tratava e as características dos casos descritos. O desfecho principal foi a ocorrência de LEMP. Resultados: Até o momento, foram revisados 116 artigos, nos quais foram identificados 29 casos de LEMP. Em uma análise preliminar dos casos, o tempo médio de tratamento até o desenvolvimento de LEMP foi de 8,3 meses, a taxa de mortalidade foi de 80% e o tempo médio entre aparecimento dos sintomas e morte foi de 5 meses. Embora 79,3% dos casos encontrados tenham ocorrido em expostos a rituximab, apenas 6,8% dos artigos versaram sobre esta droga. Natalizumab, responsável por 10,34% dos casos, é o tema de 65% das publicações. Conclusão: Apesar de rara, a LEMP é uma doença extremamente agressiva e, por isso, os dados encontrados até o momento devem ser levados em consideração na prescrição de MABs.
TUBERCULOSE CUTÂNEA MULTIDROGARRESISTENTE EM PACIENTE COM LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 100
FILIPE MARTINS DE MELLO;CYNTHIA MOLINA; SIMONE CONTE DALL AGNOL; FRANCINE LIPINHARSKI; JULIANA FERNANDES; FLÁVIA KESSLER BORGES
Introdução: A tuberculose (TB) cutânea pode manifestar-se sob variadas apresentações. Relatos anedotais descrevem casos em que bacilos multidrogarresistentes (MDR) estavam implicados. Objetivos: relatar um caso de TB cutânea MDR atendido no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre e discutir a emergência de casos de TB extrapulmonar causados por bacilos resistentes a múltiplos tuberculostáticos. Material e Métodos: Relato baseado no atendimento presencial do paciente e em revisão do prontuário. Relato de Caso: Paciente portador de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) em tratamento com Prednisona e Metotrexato; no quinto mês de RHZ para TB pulmonar voltou a apresentar febre, emagrecimento e tosse. Apresentava lesões cutâneas nodulares em mãos, punhos e coxas, que iniciavam enduradas e progrediam com sinais flogísticos, flutuação central e fistulização espontânea com drenagem de material purulento. Na coxa esquerda apresentava lesão de maior dimensão, que foi drenada cirurgicamente e que motivou internação. Laboratório mostrou provas inflamatórias elevadas, C3 e C4 normais, sem características inequívocas de flare do LES. Escarro foi positivo para BAAR e cultura confirmou Mycobacterium tuberculosis resistente a Rifampicina e Isoniazida. Aspirado de uma das lesões em punho também foi positivo para o bacilo. Paciente recebeu alta após melhora do quadro geral com prescrição de Amicacina, Terizidona, Ofloxacino, Etambutol e Pirazinamida. Discussão: O escrofuloderma é uma forma de TB cutânea caracterizado por nódulos supurativos múltiplos que evoluem para a fistulização e drenagem de material caseoso com grande número de bacilos. A literatura ressalta a importância emergente de bacilos MDR como causadores de formas extrapulmonares de TB, inclusive o escrofuloderma.
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA
DIEGO PALUSZKIEWICZ DULLIUS;ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO; MARIZA MACHADO KLÜCK
Introdução: A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é a infecção nosocomial mais comum em CTIs, correspondendo a quase um terço deste total. Essa é definida pelo CDC como aquela que ocorre em pessoas que estão (ou estavam) fazendo uso de um aparelho para auxiliar ou controlar a respiração continuamente, através de traqueostomia ou de intubação endotraqueal, dentro de um período de 48 horas antes da instalação da infecção. Estudos indicam que a freqüência de PAVM situa-se entre 8% a 28%, entre aqueles que necessitaram de ventilação mecânica (VM) por mais de 48h. Objetivos: Analisar o indicador de qualidade da pneumonia associada à ventilação mecânica do CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), realizando sua correlação ao longo do tempo, com o tempo de internação no CTI e com o tempo em VM. Materiais e Métodos: A busca por referências bibliográficas foi realizada no portal de artigos PubMed/MedLine; e a coleta dos dados referentes ao indicador, na plataforma de Informações Gerenciais (IG) do portal do HCPA. Resultados: Apesar de um aumento do uso de ventilação mecânica no HCPA (de 457 para 573 dias x paciente, de 2005 a 2008), houve uma redução na porcentagem de casos, de em média 25% em Janeiro de 2005 para 15% em agosto 2008. Foi observada também uma relação direta entre o tempo de internação e a prevalência de PAVM, além de uma variação sazonal no percentual da doença, sendo maior no início e no fim de cada ano. Conclusão: A partir dessas análises, foi possível concluir que, apesar do aumento no número e na duração dos procedimentos de intubação realizados, do aumento no escore de gravidade APACHE II dos internados e dos surtos de Acinectobacter ocorridos nos últimos quatro anos, o HCPA vem obtendo uma melhora significativa nos índices de PAVM.
DERMATOLOGIA
DOENÇA DE DARIER
ANDRÉ ONOFRIO DOS SANTOS;KARLA ONOFRIO DOS SANTOS; LETÍCIA TESAINER BRUNETTO; SERGIO EVANDRO DOS SANTOS
Introdução:Doença rara com distúrbio na queratinização, autossômica dominante, resultante da mutação no gene ATP2A2 do cromossomo 12q23-24.Relato do caso: Paciente, 34a, apresenta
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 101
queixa de lesões no tronco e face há 20 anos, com piora nos últimos anos. Refere casos semelhantes na família. Apresenta inúmeras micropápulas eritemato-crostosas nas regiões seborréicas, com prurido discreto, pápulas queratósicas planas nas extremidades proximais e distais, semelhantes a verrugas planas e estrias longitudinais esbranquiçadas nas unhas.Refere agravamento no verão.Laboratório e EQU normais.Histopatologia: dermatose acantolítica suprabasal com paraceratose suprajacente, consistente com Doença de Darier.Discussão: A doença de Darier foi descrita em 1889 por Darier e White. Não está presente ao nascimento e começa na 1ª ou 2ª década de vida, em ambos os sexos. Caracteriza-se por pápulas foliculares com superfície gordurosa, crostosa ou verrucosa, de localização seborréica, em geral simétricas. Podem ocorrer lesões ungueais e de mucosa. Piora no verão, com calor e umidade e podem ser exacerbadas por trauma mecânico e lítio. Nas regiões palmo-plantares e extremidades ocorrem pápulas queratósicas, semelhantes a verruga. Eczematização e infecção secundária ocorrem com freqüência. Pode haver discreto retardo mental. A histopatologia demonstra acantólise, fendas suprabasais, hiperqueratose e disqueratose (corpos redondos e grãos).O diagnóstico diferencial é feito com dermatite seborréica, pênfigo familiar benigno, doença de Grover e pênfigo foliáceo. Tratamento: proteção solar, evitar fatores precipitantes, corticóides tópicos, retinóides e tratar infecções secundárias. Terapia fotodinânima parece ser eficaz em associação ao tratamento clássico.Justificativa: Caso raro.
RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DERMATOSES CRÔNICAS
ROBERTA ZAFFARI TOWNSEND;ANA PAULA DORNELLES DA SILVA MANZONI; ALINE NAGATOMI; RITA LANGIE PEREIRA; ALICE LISBOA; CLAYTON MELO; MAGDA WEBER E TANIA FERREIRA CESTARI
Introdução: A dermatite atópica (DA), o vitiligo (Vi) e a psoríase (Ps) são as mais importantes dermatoses crônicas pediátricas e podem acarretar impacto emocional nos pacientes. A recente validação para o Português do Índice de Qualidade de Vida para a Dermatologia em Crianças (Children´s Dermatology Life Quality Index – CDLQI), permitiu seu uso na população brasileira. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida (QoL) dos pacientes pediátricos com as principais dermatoses crônicas. Relacionar a qualidade de vida com a superfície corporal acometida (BSA) e comparar os seus índices em pacientes pertencentes aos três grupos de dermatoses. Material e métodos: Estudo Transversal em pacientes entre 4 e 16 anos, com DA, vitiligo ou psoríase e sem outras doenças crônicas ou tratamentos, utilizando o CDLQI. O escore varia de 0 até 30 pontos, quanto mais alto o resultado, maior o impacto na qualidade de vida. Resultados: a amostra total foi de 66 pacientes sendo 26 de DA, 31 de vitiligo e 9 de psoríase; 56,1% do sexo feminino e, idade média de 9,6 anos (± 3,2). A pontuação mediana do CDLQI foi de 5,0 pontos (P25 = 1,8 até P75 = 10,3). Houve uma correlação positiva entre o BSA e o aumento do escore do CDLQI (rs = 0,52 e P= 0,001). Quando comparada a pontuação do CDLQI entre as doenças, verifica-se diferença entre a pontuação da dermatite atópica (mediana 10, P25 = 4,5 à P75 = 15,0) e o vitiligo (mediana =5; P25 = 2,5 à P75 = 9,0). O grupo de pacientes com psoríase não teve diferença estatística (mediana = 2; P25 = 1,0 à P75 = 6,0). Conclusão: A QoL está mais comprometida nos pacientes com maior BSA. A DA teve o pior índice de qualidade de vida. Os pacientes com psoríase não apresentaram, comprometimento na QoL provavelmente pelo baixo número de pacientes avaliados.
CAPILAROSCOPIA NA ESCLEROSE SISTÊMICA: RELATO DE CASO E REVISÃO NA LITERATURA
MARINA RESENER DE MORAIS;MAZZOTTI, N.G. MELLO, C.M. BOLSON, P. CESTARI, T.F.
Introdução: A viabilidade cutânea depende do aporte nutricional, via microcirculação. Técnicas estão disponíveis para avaliarmos a microcirculação cutânea, destacando-se a capilaroscopia periungueal. Um padrão específico desta técnica é encontrado em 90% dos pacientes com esclerose sistêmica (ES). Caso clínico: Mulher, 33 anos, procura atendimento por alterações cutâneas há 2 anos. Refere endurecimento da pele nos antebraços e mãos e disfagia para sólidos. Ao exame, paciente com fototipo V, afilamento de dorso nasal e labial, espessamento cutâneo leve nos antebraços e dorso de mãos, telangectasias na face, esclerodactilia e calcificações na face lateral dos dedos das mãos. O RX das mãos evidencia calcificações nas laterais dos dedos, FAN positivo. Levantada a hipótese de ES e síndrome CREST, encaminhando-se a paciente à avaliação com a Reumatologia. Exame
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 102
capilaroscópico: Realizado do segundo ao quarto dedos de ambas as mãos, evidenciando deleções, megacapilares e áreas de hemorragia. Discussão: A ES é uma doença rara com potencial incapacitante. A fisiopatologia da doença consiste em fibrose dos tecidos e órgãos-alvo e disfunção microvascular. Uma capilaroscopia normal mostra uma disposição regular das alças capilares ao longo do leito ungueal. O padrão mais prevalente na ES é o padrão SD, que apresenta megacapilares e diminuição de densidade capilar. Os achados capilaroscópicos têm evidente papel diagnóstico e prognóstico nas doenças do tecido conjuntivo. Na ES, a gravidade das anormalidades ao exame está associada com dano em órgão alvo. O exame alterado pode alertar para uma doença reumatológica não diagnosticada ou alertar agravo de doença já conhecida. Justificativa: A avaliação capilaroscópica pode ser útil à prática clínica, porém é uma técnica pouco utilizada.
TINEA NIGRA PLANTAR: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM MELANOMA EM PACIENTE IMUNOSSUPRIMIDO
MARINA RESENER DE MORAIS;MAZZOTTI, N.G. SANCHOTENE, M.R. CARTELL, A. CUNHA, V.S.
Introdução: A Tinea nigra (TN) é micose superficial causada pelo fungo Phaeoannellomyces werneckii. Esse fungo causa infecção crônica da camada córnea da epiderme e o aparecimento de máculas castanho-enegrecidas, de limites definidos e assintomáticas. Caso Clínico: Mulher, 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatóide, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren e pioderma gangrenoso, em uso de metotrexato, dapsona e prednisona. Em consulta para avaliação de úlcera de pioderma gangrenoso no membro inferior direito, foram observadas três pequenas manchas enegrecidas, bem delimitadas, assintomáticas, na planta deste pé. Levantadas as hipóteses de Tinea nigra e melanoma em imunossuprimido. Realizada biópsia de uma das lesões, que evidenciou micose superficial, com presença de hifas pigmentadas na camada córnea. Diagnosticado Tinea nigra e iniciado tratamento com cetoconazol tópico. Discussão: A TN é considerada dermatose rara. Geralmente afeta a pele das regiões palmares, manifestando-se por máculas, de coloração que varia do castanho ao negro. Essas lesões podem coalescer ou crescer centrifugamente formando contornos irregulares. O diagnóstico é clínico, podendo ser confirmado pelo exame micológico direto que mostra hifas escuras septadas, irregulares e ramificadas, cujo pigmento é a melanina. Na histologia das lesões biopsiadas há espessamento da camada córnea, na qual estão presentes hifas septadas, escuras, discreta acantose e mínima reação inflamatória linfocitária perivascular. Seu tratamento pode ser feito com antifúngicos tópicos. Deve-se realizar diagnóstico diferencial com lesões melanocíticas. Justificativa para apresentação: Dermatose rara em alguns estados brasileiros e diagnóstico diferencial com melanoma em pacientes imunossuprimidos.
A REAPLICAÇÃO DE FILTRO SOLAR MELHORA A QUANTIDADE E REGULARIDADE DO PRODUTO APLICADO À PELE?
ALINE RODRIGUES DA SILVA NAGATOMI;EDUARDO GIACOMOLLI DARTORA;CRISTIANE COMPARIN;DANIEL PAULO STRACK;DAMIÊ DE VILLA;TANIA FERREIRA CESTARI
Introdução: O fator de proteção solar (FPS) dos filtros solares é determinado in vivo pela aplicação de 2mg/cm². Na prática, os usuários aplicam uma quantidade menor e de maneira irregular o que afeta o FPS final. Modelos matemáticos mostram que a reaplicação do fotoprotetor 20-30 minutos após a aplicação resulta em um aumento de 15-40% na capacidade de proteção à radiação ultravioleta. Material e métodos: Trinta e seis voluntários (idade média 22,6) aplicaram um filtro solar padronizado composto por benzofenona 6% (FPS 6) em ambos antebraços. Após 30 minutos o fotoprotetor foi reaplicado em um antebraço. Cinco “tape-strips” foram coletados de duas diferentes áreas de cada antebraço, 30 minutos após a primeira aplicação e 30 minutos após a reaplicação. A concentração de benzofenona foi medida por cromatografia líquida de alta eficiência e a quantidade do filtro estimada por correlação matemática entre a quantidade de benzofenona removida nas fitas e a concentração na formulação. Resultados: A mediana da espessura do filme de filtro solar aplicado à pele com 1 aplicação foi de 0,43mg/cm²(0,17-1,07) e com 2 aplicações foi de 0,95mg/cm²(0,18-1,91) e essa diferença foi considerada estatisticamente significativa(p=0,002). A variação comparando a uniformidade do filme com 1 e 2 aplicações não foi significativa(p=0,423). Discussão: A reaplicação de filtro solar resulta em uma melhora da quantidade de produto aplicado à pele. Contudo, mesmo com a reaplicação a espessura mediana foi inferior à quantidade preconizada (2mg/cm²) e não foi uniforme, confirmando que o fator de proteção real é muito inferior ao estabelecido no rótulo do
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 103
produto. Os resultados reforçam a recomendação de reaplicar o produto para atingir um melhor nível de fotoproteção.
RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO EMOCIONAL REPRESENTADO POR ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM CUIDADORES DE PACIENTES INFANTIS E ADOLESCENTES COM DERMATOSES CRÔNICAS
ALINE RODRIGUES DA SILVA NAGATOMI;ANA PAULA D. S. MANZONI; TANIA F. CESTARI; MAGDA B. WEBER; RITA L. PEREIRA; ROBERTA Z. TOWNSEND; ALICE P. LISBOA; NOADJA FRANÇA; FERNANDA LIMA
Introdução: A influência de fatores psicológicos sobre as doenças dermatológicas já é bem determinado. As famílias de pacientes pediátricos acometidos por dermatoses crônicas tendem, também, a sofrer repercussões devido à dependência afetiva e econômica. Logo, os cuidadores destes pacientes podem apresentar alterações psíquicas que, por sua vez, também poderão influenciar a doença da criança, em um processo de retro-alimentação. A dermatite atópica, o vitiligo e a psoríase são as principais dermatoses crônicas na infância. Metodologia: A amostra atual apresenta 68 crianças com idades entre 4 e 16 anos, devidamente acompanhados por seu principal cuidador, com diagnóstico de dermatite atópica, vitiligo ou psoríase há mais de 6 meses e acompanhadas nos ambulatórios de dermatologia do HCPA, UFCSPA e ULBRA. Foram aplicados os questionários Inventário de Beck para Depressão, de Hamilton para Ansiedade nos cuidadores e Qualidade de Vida em dermatoses Infantis (CDLQI) nos pacientes Resultados: A média de idade entre as crianças é de 9,6 anos (DP±3,1). Em 75% o principal cuidador é a mãe. O tempo médio de doença é de 66 meses (DP±38). 32 pacientes possuem vitiligo, 27 dermatite atópica e 9 psoríase. Dentre os cuidadores 22% apresentam ansiedade leve, 11% apresentam ansiedade moderada e 1%ansiedade grave. Na amostra estudada até o momento 10% dos cuidadores apresentam disforia e 17% apresentam depressão. Conclusões: Na primeira análise dos dados do presente estudo já foi constatado a presença de depressão e ansiedade nos cuidadores de pacientes com dermatoses crônicas, porém precisamos completar a amostra para determinar as influências do achado.
EFICÁCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA EM NEOPLASIAS QUERATINOCÍTICAS SUPERFICIAIS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PATRICIA BORCHARDT BOLSON;ISABEL CRISTINA PALMA KUHL; TANIA CESTARIA; EVANDRA DURAYSKI; LUCIO BAKOS
Introduçao: Evidências comprovam a eficácia da terapia fotodinâmica para o tratamento de neoplasias queratinocíticas superficiais. Objetivos: Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica com metilaminolevulinato nas neoplasias queratinocíticas dos pacientes do Serviço de Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Material e Métodos: Foi realizada avaliação retrospectiva dos pacientes que realizaram terapia fotodinâmica com metilaminolevulinato entre dezembro de 2007 e abril de 2009, conforme protocolo de Metvix® + Aktilite®. Resultados: Foram tratadas 34 lesões em 24 pacientes. Entre as lesões, 28 eram carcinomas basocelulares e 6 eram doença de Bowen. Dos carcinomas basocelulares, 21 eram superficiais, 5 eram nodulares finos e 2 infiltrativos. Quanto à localização, 15 eram na face, 7 nos membros superiores, 1 em couro cabeludo e 1 em membro inferior. Após 3 meses, 27 (79,4%) lesões apresentaram cura, 2 (5,8%) lesões recidivaram e 5 (14,7%) pacientes não retornaram para revisão. Das duas lesões que tiveram recidiva, uma era carcinoma basocelular nodular e outra era carcinoma basocelular superficial. Os dois carcinomas basolceluares infiltrativos apresentaram cura clínica em 3 meses. Quanto ao aspecto da lesão após 3 meses de tratamento, a alteração mais freqüente foi eritema (26,4%). Conclusão: Os resultados obtidos no trabalho assemelham-se aos dados encontrados na literatura.
LABORATÓRIO EXPERIMENTAL DE TREINAMENTO EM PREENCHIMENTOS CUTÂNEOS
JULIANA CATUCCI BOZA;ISABEL CRISTINA PALMA KUHL, CLAUDIA DICKEL DE ANDRADE, VANESSA SANTOS CUNHA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 104
Introdução: Atualmente é reconhecida a importância dos laboratórios experimentais na formação médica, pois viabilizam o desenvolvimento científico e contribuem para o aprimoramento técnico. Os preenchimentos cutâneos são procedimentos realizados para a correção de sulcos, rítides, cicatrizes e lipodistrofias. Consistem na injeção de substâncias biocompatíveis em diversos níveis cutâneos. Até o momento, não foram estudados modelos experimentais para o treinamento das técnicas de preenchimento. Objetivos: Desenvolver um laboratório experimental de dermatologia para treinamento das técnicas de preenchimento cutâneo em modelo animal. Materiais e métodos: O trabalho foi realizado pelo Serviço de Dermatologia do HCPA. Como modelo animal foram utilizadas cabeças de suínos, recentemente abatidos, não congeladas e como preenchedor, gel de Carbopol com diferentes densidades, simulando preenchedores existentes no mercado e de alto custo. Os preenchedores foram aplicados com agulhas e cânulas específicas nos vincos e demais áreas da pele porcina, conforme recomendação das técnicas estabelecidas. Participaram do laboratório duas médicas coordenadoras, quatro médicos residentes e seis médicos do curso de capacitação em dermatologia. Resultados e conclusões: A cabeça de suíno parece ser um modelo adequado para este treinamento, devido às semelhanças com a pele humana. O gel de carbopol é uma boa opção para simular um preenchedor. Este modelo de laboratório experimental necessita de mínima infra-estrutura, sendo uma alternativa de baixo custo que viabiliza o treinamento em preenchimentos cutâneos, levando a um alto nível de satisfação entre os participantes.
RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO: ASPECTOS EMOCIONAIS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM DERMATOSES CRÔNICAS E SEUS CUIDADORES ATENDIDOS DURANTE ESTUDO MULTICÊNTRICO
RITA LANGIE PEREIRA;ANA PAULA D. S. MANZONI, TANIA F. CESTARI; ALINE R. S. NAGATOMI; ROBERTA F. TOWNSEND, ALICE P. LISBOA
Introdução: As principais dermatoses crônicas pediátricas, dermatite atópica (DA), psoríase(Ps) e vitiligo (Vi), estão relacionadas a alterações psico-sociais que podem impactuar naqualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores. Objetivos: Analisar e discutir aspectosemocionais de pacientes e seus cuidadores durante o estudo Avaliação do impacto emocionalrepresentado por ansiedade e depressão em cuidadores de pacientes infantis e adolescentes comdermatoses crônicas. Material e Métodos: Estudo transversal descritivo com 68 pacientes,entre 4 e 16 anos, com diagnóstico de DA, Ps ou Vi acompanhadas de seu principal cuidador e atendidos nos ambulatórios de dermatologia do HCPA, UFCSPA e ULBRA. Foram coletadas frases espontaneamente ditas e que demonstravam impacto psico-social da doença. Resultados:Foram analisadas 27 frases sendo 40,7% sobre aspectos pessoais (ex.vergonha, culpa eaparência física); 18,5% sobre problemas de relacionamento; 14,8% sobre dificuldades deaceitação da doença; 11,1% sobre problemas familiares; e 7,4% sobre problemas escolares.Conclusão: A abordagem e análise dos aspectos psico-sociais da doença podem levar a ummanejo global mais adequado dos pacientes, cuidadores e da doença.
POROCERATOSE ACTÍNICA SUPERFICIAL DISSEMINADA
ANDRÉ ONOFRIO DOS SANTOS;KARLA ONOFRIO DOS SANTOS, SERGIO EVANDRO DOS SANTOS, LETÍCIA TESAINER BRUNETTO
Introdução: É uma desordem cutânea crônica de queratinização, rara, de caráter autossômica dominante. Relato de caso: Paciente, 38a, consulta com queixa de lesões nos antebraços há 2 anos. Nega casos familiares. Apresenta pápulas planas com leve atrofia central e bordos ceratóticos elevados, levemente hipocrômicas e pruriginosas. Vem com exame micológico direto negativo. Já havia usado corticóides tópicos sem melhora. AP: poiquilodermia actínica moderada com foco de paraceratose colunar incipiente.Discussão: Foi descrita em 1966 por Chenosky. Manifesta-se na 3ª ou 4ª década de vida. Clinicamente, são pápulas pequenas de 1-3 mm de diâmetro com atrofia central e bordas queratósicas elevadas, com predileção por áreas expostas. Envolvimento da face é raro. As lesões são eritematosas, pigmentadas ou cor da pele, tipicamente secas e anidróticas, sendo mais numerosas e menos evidentes que a poroceratose de Mibelli. Frequência igual em ambos os sexos. Pode haver surgimento de neoplasias cutâneas sobre as lesões de poroceratose. Diversas variantes podem coexistir no mesmo paciente. Histologia: lamela cornóide característica. O diagnóstico diferencial se faz com ceratoses actínicas, estucoceratose, ceratoses seborréicas planas, eczemátide, verrugas planas, acroceratose verruciforme e pitiríase rubra pilar. Uma variedade de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 105
tratamentos são empregados, porém pouco efetivos. Foi descrito calcipotriol e 5-FU com sucesso. Conclusões: Crioterapia pode ser usada. Retinóides orais tem resultados conflitantes, mesmo com bons resultados obtidos em alguns pacientes, deve-se considerar seus efeitos colaterais e probabilidade de recidiva após descontinuação do tratamento. Outras alternativas são gel com diclofenaco de sódio 3% e laser rubi. Justificativa: Caso raro.
FOLICULITE DECALVANTE
ANDRÉ ONOFRIO DOS SANTOS;KARLA ONOFRIO DOS SANTOS, SERGIO EVANDRO DOS SANTOS, LETÍCIA TESAINER BRUNETTO
Introdução: É uma afecção rara dos folículos pilosos, de causa desconhecida, caráter crônico que leva à alopécia cicatricial.Relato do caso: Paciente, 46 a, negro, queixa-se de afecção no couro cabeludo há 15 anos.Foi solicitado exame micológico direto com resultado negativo.Na cultura cresceu Staphylococcus aureus (SA) sensível a diversos antibióticos.Foi prescrito azitromicina, penicilina, tetraciclina e sulfona com resultados discretos.Melhores resultados foram obtidos com ciprofloxacina, levofloxacina e cefalexina, tendo permanecido maior tempo em remissão. Sempre associou-se antibióticos tópicos. Isotretinoína foi tentado sem resultado. Anatomopatológico(AP):foliculite supurativa com neutrófilos e eosinófilos e fibrose perifolicular, com áreas de atrofia.Discussão:Predomina em adultos do sexo masculino de idade média. SA é normalmente encontrado nas culturas, porém representa apenas um dos mecanismos implicados, desconhecendo-se os demais. Apresenta pústulas, abcessos, erosões e crostas, normalmente no couro cabeludo deixando áreas de alopécia cicatricial. Diagnóstico diferencial:lúpus crônico discóide, líquen plano pilar, foliculite dissecante, foliculite abscedante, pseudopelada e tinha favosa. AP:pústulas foliculares nas áreas ativas e alopécia cicatricial inespecífica nas áreas atróficas.Tratamento: antibioticoterapia, preferentemente orientada pelo antibiograma; sendo, na maioria dos casos, com melhoras temporárias. Trabalhos recentes sugerem uso de isotretinoína em casos resistentes.Alguns estudos referem o uso isolado de rifampicina ou sulfato de zinco. Resultados efetivos com radioterapia e laser Nd:YAG como laser para epilação foram descritos na literatura.Dapsona pode ser usada e doses baixas de manutenção evitam recidivas.Justificativa:Caso raro.
SÍNDROME DRESS POR USO DE FENITOÍNA: RELATO DE CASO
FELIPE LAHUSKI SCHNEIDER;JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI; ARTHUR BOM QUEIRÓS; MICHEL MENTGES; LÚCIO BAKOS
Introdução: Reações cutâneas a fármacos afetam 2 a 3% dos pacientes hospitalizados, mas apenas cerca de 2% destas são severas. O termo DRESS é acrônimo para “Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms”, uma síndrome de hipersensibilidade a medicamentos que, em sua forma completa, caracteriza-se por erupção cutânea severa, febre, linfadenopatia, hepatite, alterações hematológicas e envolvimento de outros órgãos, associadas a marcada eosinofilia e/ou linfócitos atípicos. O diagnóstico é feito com 3 critérios: eosinofilia ≥1,5x109L, suspeita de reação medicamentosa e mais de 2 órgãos viscerais envolvidos. A morbidade é alta e a mortalidade pode atingir até 10% dos casos. Objetivo: relatar caso de síndrome DRESS por fenitoína avaliado no Serviço de Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Relato do Caso: Mulher, 49 anos, branca, com extensa erupção eritemato-escamosa, pruriginosa, com algumas lesões esboçando alvos, edema facial, eritema ocular e febre, com início há 2 semanas, pelo tórax anterior, associada a náuseas, vômitos, febre, mal-estar e artralgias. Em uso de fenitoina há 4 semanas, como profilaxia anticonvulsivante pós retirada de meningioma. Hemograma com 24220 leucócitos, até 73% de eosinófilos, 8% neutrófilos segmentados, 2% bastonados, 13% linfócitos, 1% metamielócitos. Discreta elevação de enzimas hepáticas. Foi suspenso o uso da fenitoína, feito tratamento dos sintomas, inicialmente com antihistamínico sedativo (Prometazina EV), hidroxizina e óleo mineral tópico. A paciente evoluiu com regressão das lesões e normalização dos exames laboratoriais, recebendo alta após 18 dias. Justificativa: Apresentar um caso de farmacodermia potencialmente grave, com necessidade de intervenção precoce.
MELANOMAS CUTÂNEOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (1998 - 2007)
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 106
BIANCA HOCEVAR DE MOURA;RENATO BAKOS; LÚCIO BAKOS; NATHÁLIA MASIERO SOLÉS; LEONARDO GAZZI
Introdução: O melanoma (MM) é a neoplasia cutânea mais importante devido à sua morbi-mortalidade. A incidência vem aumentando no Brasil, especialmente nos pacientes de pele clara. A região sul é a que apresenta as maiores taxas estimadas de casos novos desta neoplasia. Justificativa: Avaliar a frequência de casos novos de MM no HCPA e analisar os principais dados clinico-histológicos associados. Material e Métodos: Foram revisados os laudos do Serviço de Patologia do HCPA e analisados todos os casos de MM cutâneo diagnosticados no HCPA de janeiro de 1998 a dezembro de 2007. Resultados: Foram diagnosticados 199 casos de MM cutâneo neste período. A idade dos pacientes variou entre 19 e 87 (média: 55,6 anos). O local de maior frequência de MM nos homens foi o dorso (35 casos) e, nas mulheres, os membros inferiores (28 casos). O tipo histológico mais encontrado foi o de espalhamento superficial (66,3%). Dos 199 casos, 41 (20,6%) eram melanoma in situ e 71 (35,6%) tinham espessura de Breslow >1 mm, este último grupo em maior número na amostra. O índice de Breslow médio nos períodos 1999-2002 e 2003-2007 foi, respectivamente, de 2,69 e 1,6. De 20 casos diagnosticados em 1998, chegou-se a 28 casos em 2007; o ano de menor número de diagnósticos foi 2002 (10 casos). Conclusão: A frequência de diagnósticos de MM está em lenta ascensão, concordando com a literatura. Os homens apresentaram a maior parte das lesões no dorso, enquanto as mulheres tiveram mais melanomas nos membros inferiores, mostrando provavelmente o padrão de exposição solar distinto entre ambos. Ao comparar dois períodos distintos no estudo, observou-se uma diminuição da média dos índices de Breslow no último período avaliado, indicando que MM estão sendo detectados mais preocemente no HCPA. Mesmo assim, cerca de um terço dos casos, ainda são de MM espessos, mostrando que campanhas de incentivo à prevenção do MM junto à população e a busca pelo diagnóstico precoce devem ser intensificadas.
REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A FISIOPATOGENIA DA PSORÍASE
GABRIELLE AMARAL NUNES;FERNANDA DREHER; LUCIANA HENGIST HOFFMANN; RAFAELA DA SILVA VIATROSKI; HELOISA TEZZONI RODRIGUES; ÉRICO AUGUSTO CONSOLI; ADRIAN HINSCHING; JANDIRA RAHMEIER ACOSTA
Introdução: A psoríase é uma dermatose inflamatória crônica comum, caracterizada por lesões eritêmato-escamosas. Ocorre igualmente em ambos os sexos e com maior incidência entre 30 e 40 anos. O diagnóstico é feito por achados clínicos e biópsia, quando necessária. As áreas mais acometidas são pele dos cotovelos, joelhos, couro cabeludo, região lombossacral, sulco interglúteo e glande. Objetivos: Revisar a literatura sobre a fisiopatogenia da psoríase. Material e Métodos: Revisão de literatura através do Medline. RESULTADOS: A psoríase pode ser dividida em dois tipos. O tipo I normalmente surge antes dos 40 anos, tem associação familiar e com antígenos de histocompatibilidade. O tipo II geralmente inicia após os 40 anos, com menor prevalência familiar e menor correlação com antígenos de histocompatibilidade. A lesão típica é uma placa bem demarcada, rósea, coberta por escamas pouco aderentes com cor branco-prateada. Histologicamente, há hiperplasia epidérmica marcante, escamas paraceratóticas e microabscessos de neutrófilos dentro das camadas superficiais da epiderme. Ocorre mediação por células T, hiperproliferação de queratinócitos, angiogênese e inflamação. Considera-se que fatores imunológicos, ambientais e genéticos (alelo HLA-Cw*0602) participem do desenvolvimento da doença. Trauma cutâneo, infecções, drogas, estresse emocional, distúrbios endócrinos e metabólicos, alta ingestão de álcool e variações climáticas podem ser fatores desencadeadores e exacerbantes da doença. Conclusão: Por ser multifatorial, a psoríase deve ser vista em todos os seus aspectos e um dos critérios mais importantes para determinar o tratamento é o impacto da doença sobre a qualidade de vida do paciente. Além disso, o conhecimento de sua patogênese auxilia na busca de novos tratamentos.
SÍNDROME DE DRESS EM CRIANÇAS: RELATO DE DOIS CASOS
CAROLINE MACHADO MELLO;NICOLLE GOLLO MAZZOTTI; PATRÍCIA BORCHARDT BOLSON; JANAINA MESALIRA GODINHO; VANESSA SANTOS CUNHA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 107
Introdução: A Síndrome de DRESS (drug rash with eosinofilia and systemic symptoms) é definida pela presença de febre, erupção cutânea, eosinofilia e sintomas sistêmicos induzidos por drogas, principalmente pelos fármacos anticonvulsivantes. Os sintomas iniciam dentro de uma a oito semanas após a exposição ao fármaco. O envolvimento sistêmico inclui hepatite ou hepatomegalia, hipereosinofilia, nefrite, pneumonite, artrite e linfadenopatias. É raramente descrita em crianças, provavelmente por ser sub-diagnosticada nesta faixa etária. Objetivo: Relatar e revisar dois casos clínicos desta síndrome em pacientes infantis, devido a raridade desta reação e da dificuldade e importância do seu reconhecimento. Materiais e Métodos: Foram avaliados dois pacientes com um e dois anos de idade que apresentaram reação – principalmente o surgimento de máculas e pápulas eritematosas – após o uso dos fármacos relatados. Utilizou-se a base de dados on line MEDLINE e LILACS, aplicando-se o termo “DRESS” para os artigos publicados nos últimos cinco anos, selecionando aqueles adequados à faixa etária. Conclusão: A Síndrome de DRESS foi inicialmente descrita como uma reação aos anticonvulsivantes aromáticos (carbamazepina, fenitoína e fenobarbital), os mesmos achados foram observados com alopurinol, dapsona, minociclina, dipirona e nevirapina. Acredita-se que seja causada por uma inabilidade genética na detoxificação de metabólitos o que causa necrose celular ou uma resposta imune droga-específica mediada por linfócitos T CD8. Ela deve ser reconhecida precocemente e as drogas suspeitas devem ser suspensas imediatamente. A terapia com corticoesteróides é bem descrita para adultos, mas ainda não apresenta indicação formal para o uso em crianças, assim como o uso de imunoglobulina endovenosa.
EFICÁCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA EM CERATOSES ACTÍNICAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
MARIA LUIZA CONCEIÇÃO SANCHOTENE;PATRÍCIA BORCHARDT BOLSON, TANIA CESTARI, LUCIO BAKOS, ISABEL KUHL
Introdução: Evidências comprovam a eficácia da terapia fotodinâmica (TFD) no tratamento de ceratoses actínicas.Objetivos: Avaliar o efeito da TFD com metilaminolevulinato(MAL) em ceratoses actínicas de pacientes do Serviço de Dermatologia do HCPA.Métodos: Realizada avaliação retrospectiva dos pacientes submetidos à TFD entre dezembro de 2007 e abril de 2009. Resultados: Foram tratadas 25 áreas em 22 pacientes, localizadas nos membros superiores(13), na face(9) e no couro cabeludo(3). Analisando as 25 lesões após 3 meses de acompanhamento, vimos que 10(40%) obtiveram cura clínica parcial(CCP), 3(12%) obtiveram cura clínica total(CCT), 10(40%) permaneceram inalteradas(I) e 2(8%) não retornaram para acompanhamento(SR).Quando comparadas as diferentes áreas tratadas, notamos que, das 9 lesões da face, tivemos 4 CCP(44,4%), 2 CT(22,2%), 2 I(22,2%) e 1 SR(11,1%). Já, das 13 lesões dos membros superiores, tivemos 4 CCP(30,7%), 0 CCT, 8 I(61,53%) e 1 SR(7,6%). Das 3 lesões do couro cabeludo, tivemos 2 CCP(67%) e 1 CCT(33%). Quando comparado o n
o de sessões, vimos que, das 12 lesões submetidas
a duas sessões tivemos 3 CCP (25%), 2 CCT (16,7%), 6 I (50%) e 1SR (8,3%), sendo, na maioria, acrais. Já, das 13 lesões submetidas a uma sessão, tivemos 7 CCP (54%), 1 CCT(8%), 4 I(30%) e 1 SR(8%).Conclusão: Os resultados obtidos no trabalho assemelham-se aos dados da literatura, que apontam para uma melhor resposta na face e couro cabeludo do que nas regiões acrais, mesmo após duas sessões de MAL/TFD.
DIREITO
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO BRASIL: EM BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
CLÁUCIA PICCOLI FAGANELLO;FRANCELI PEDOTT; THAÍS RECOBA CAMPODONICO; AMANDA DE LIMA E SILVA; FERNANDA LIMA SOARES; GUILHERME CIBILS; ANTÔNIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA
No Brasil com a aprovação da Constituição de 1988, temos um grande avanço que pouco durou, pois o que visualizamos no texto constitucional se contradiz com as iniciativas do Estado brasileiro. O retrocesso ao processo se inicia com o governo de Fernando Henrique Cardoso e o Plano de Reforma do Estado do Ministério da Administração, que torna a Constituição Federal aprovada em 1988, mais um documento sem eficácia plena. Os serviços essenciais passam a ser privatizados, os quais deveriam ser prestados pelo governo através de empresas públicas, e a saúde não fica de fora,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 108
ao ser objeto de privatizações, os direitos assegurados constitucionalmente ficam no papel e o setor de saúde se torna parte essencial do mercado. Este texto tem por objetivo analisar a qualidade do sistema de saúde instaurado no Brasil pós Ditadura Militar e os limites à eficácia desse direito fundamental previsto constitucionalmente. Como objetivos específicos o texto pretende analisar: a Constituição Federal de 1988 no que tange a Seguridade Social; o contexto do surgimento do Sistema Único de Saúde no Brasil; e entender o motivo pelo qual os princípios básicos previstos em lei específica não conseguem se efetivar. Como método utilizamos o analítico-histórico, também conhecido com método das duas pontas, buscando proceder a análise dentro de uma perspectiva histórica. Este estudo se justifica pela relevância do acesso da população aos mecanismos de participação popular na Saúde Pública, que deverá possibilitar o surgimento de políticas de inclusão e uma aproximação da população brasileira com o tão sonhado acesso universal à saúde.
BIOBANCOS: ASPECTOS JURÍDICOS E BIOÉTICOS
MÁRCIA SANTANA FERNANDES;FABIOLA CUBAS DE PAULA , MAICON IPPOLITO, LUCIANA SIMIONOVSKI, DÉBORA CORRÊA JANCZURA, SILVIA ETHEL MACHADO DE MENDONÇA, ALESSANDRO OSVALDT, ANA BITTELBRUNN, LUISE MEURER, PATRICIA ASHTON-PROLLA, URSULA MATTE, JOSÉ ROBERTO GOLDIM
O armazenamento de amostras de material biológico humano é uma importante prática, associada tanto as atividades assistenciais quanto de pesquisa. A estruturação e manutenção de repositórios de informações e materiais biológicos humanos gera inúmeros novos desafios na área da Biotecnologia, da Ética e do Direito. Assim o objetivo central deste projeto é a elaboração de uma normativa para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre que regulamente o Biobanco institucional. Os objetivos específicos podem ser descritos em quatro etapas: 1) o mapeamento e análise do sistema normativo e de recomendações no país relacionados diretamente ou indiretamente da matéria; 2) mapeamento, análise e estudo dos sistemas normativos e de diretrizes internacionais existentes na área de biobancos; 3) reconhecimento de especificidades técnicas e de infra-estrutura necessárias a implementação de biobancos; 4) formulação de uma normativa para o HCPA relativa ao tema.O método qualitativo-descritivo dar-se-á de forma interdisciplinar por meio do modelo de Bioética Complexa, desenvolvido no LAPEBEC-HCPA, para observação e mapeamento do contexto das normativas e diretrizes, especificamente avaliado-se a adequação jurídica e ética da normativa a ser desenvolvida.O projeto está em desenvolvimento e quanto aos objetivos específicos podemos apresentar os seguintes resultados parciais: A proposta de normativa já delineada contando com 37 artigos, subdivididos em cinco capítulos, versando sobre vigência e abrangência; registro e autorização de uso; processo de consentimento informado, termo de consentimento e do uso das informações; coleta e doação; transporte de material biológico; certificação; descarte de material biológico; responsabilidade; propriedade intelectual; disposições transitórias.
ANÁLISE DA DISTINÇÃO ENTRE CONSENTIMENTO INFORMADO E TERMO DE CONSENTIMENTO EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL
LUCAS FRANÇA GARCIA;LÍVIA HAYGERT PITHAN; JOSÉ ROBERTO GOLDIM
O consentimento informado (CI), exigência ética e jurídica na assistência médica, tem como principal fundamento o direito à autonomia do paciente e se materializa com o dever de informar do médico, por meio da explicitação dos riscos e benefícios dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos propostos ao paciente. O Poder Judiciário brasileiro, desde o ano de 2002, com um caso pioneiro no Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem recebido demandas por responsabilidade civil médica em decorrência da ausência ou deficiência do CI. O objetivo desta pesquisa é verificar em que medida o Poder Judiciário do RS distingue a noção de CI com a de Termo de Consentimento (TC) em ações de responsabilidade civil médica. Como metodologia, priorizamos a coleta e análise de jurisprudência disponível no banco de dados on-line do Tribunal de Justiça do RS (TJRS). Em busca feita na base de dados on-line do TJRS, encontramos 8 acórdãos com a palavra-chave CI, sendo que 6 deles são resultados de demandas de responsabilidade civil por parte de pacientes que alegam a ausência de informações médicas sobre riscos dos procedimentos. Os 6 casos tratam de procedimentos cirúrgicos, sendo 4 de cirurgia plástica estética e 2 de cirurgias diversas. Dos casos analisados, 3 foram julgados procedentes e 3 improcedentes. Dos 6 casos analisados, somente 1 apresenta uma
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 109
nítida confusão entre CI e TC. Nos 5 demais, pode-se verificar um entendimento de que o CI pode ser provado por diferentes formas, incluindo prova pericial e depoimento pessoal.
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE: ANÁLISE DA ORIGEM DOS APROVADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, E O IMPACTO DOS CURSOS PREPARATÓRIOS ENTRE OS APROVADOS DE 2008
LUCAS BRANDOLT FARIAS;JOANA CHANAN; ANDRÉ GORGEN NUNES; PAULO DORNELLES PICON
Introdução O Programa de Residência Medica (PRM) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) disponibiliza 105 vagas distribuídas em 23 programas de treinamento e 14 áreas de atuação. Mais de mil candidatos se inscreveram no processo seletivo de residentes R1 (sem pré-requisitos) no HCPA em 2009, sendo o maior número de candidatos para PRM do Rio Grande do Sul. Objetivos Analisar a faculdade de origem dos aprovados nos Programas de Treinamento de Residência Médica (R1 sem pré-requisitos) do HCPA entre os anos de 2005 e 2009 e estimar a influência de cursos preparatórios para prova de RM no índice de aprovação dos candidatos em 2008. Materiais e métodos Foram avaliados dados fornecidos pela Comissão de Residência Médica (Coreme) do HCPA e pelos principais cursos preparatórios para prova de RM de Porto Alegre. Resultados e Conclusões Candidatos formados na Faculdade de Medicina da UFRGS apresentaram uma média anual de 46,1% (DP:4,5%) de aprovação nos Programas de Treinamento de RM (R1 sem pré-requisitos) do HCPA nos últimos 5 anos (Figua1). Existe uma tendência de estabilização no índice de aprovação dos alunos da UFRGS nos PRM do HCPA desde 2006 em torno de 43,3%. Formados na UFCSPA responderam por uma média anual de 14% (2,94%) de aprovação, seguidos pelos formados na UFSM [7,8%(2,84%)], na PUCRS [6,4%(2,82%)] e na UFPEL [4,1%(0,28%)]. No ano de 2008, 59% (n=60) dos aprovados nos programas de RM (R1 sem pré-requisito) do HCPA fizeram algum curso preparatório para a prova. Entre os aprovados nos PRM (R1 sem pré-requisito) do HCPA no ano de 2008, a chance de um aluno da UFRGS ter feito algum curso preparatório para a residência é 2,38 vezes a chance de um aluno de outra escola (IC 95%:1,33-4,27; P=0,002) (Tabela1).
ANÁLISE DE REGRESSÃO SEGMENTADA NA PESQUISA DO USO DE MEDICAÇÕES
RENAN XAVIER CORTES;RICARDO KUCHENBECKER
Introdução: Séries Temporais Interrompidas são os delineamentos quasi-experimentais que possuem a abordagem mais forte para avaliar efeitos longitudianais de intervenção. A análise de regressão segmentada é um poderoso método estatístico para estimar efeitos de intervenção em estudos de séries temporais interrompidas. Objetivos: Mostrar para especialistas da área da saúde como esta técnica pode beneficiar estudos epidemiológicos de séries temporais interrompidas, assim como apresentar análises preliminares feitas na série de taxas de infecções associadas a cateteres ao longo de Janeiro de 2002 a Dezembro de 2008. Metodologia: Através de apresentações realizadas no Centro de Controle de Infecções do HCPA, foi mostrada para enfermeiros e médicos presentes esta técnica que despertou interesse por parte da chefia médica e enfermeiros para trabalhos posteriores. Conclusões: As apresentações realizadas resultaram no início de análises de regressão segmentadas feitas para diversos desfechos no setor de Controle de Infecções do HCPA. Conjuntamente com Ricardo Kuchenbecker, foi dado início ao desenvolvimento de artigos científicos se utilizando desta técnica estatística.
AMBIENTE ON-LINE E DE LIVRE ACESSO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA REVISTA HCPA/FAMED
ROSA LUCIA VIEIRA MAIDANA;MARTA REGINA DOTTO; ROMILDA TEOFANO; FRANCISCO JOSÉ VERÍSSIMO VERONESE; SANDRA PINHO SILVEIRO
INTRODUÇÃO: A Revista do Hospital de Clínicas e Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul adotou em 2007 o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (OJS/SEER),
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 110
software livre desenvolvido pela Universidade British Columbia e customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia (IBICT/MCT). OBJETIVO: Verificar os resultados alcançados com a implantação do sistema On-line e de Livre acesso no período de 2007 e 2008. MÉTODOS: Levantamento do número de artigos publicados por ano e por classificação, dados coletados pelo sistema no item de Edições Anteriores, volumes 27(2007) e 28(2008). RESULTADOS: Nos volumes de 2007 e 2008 foram publicadas 6 edições, totalizando 72 artigos, sendo 34(47%) Artigos Originais, 23(32%) Artigos de Revisão, 6 (9%) Relatos de Casos, 6 (9%) de Bioética e 3 (3%) de Prêmio Nobel de Medicina. CONCLUSÃO: Verificou-se que a adoção do sistema proporcionou velocidade de publicação, recuperando a periodicidade e a pontualidade da revista e maior visibilidade e acesso à produção científica.
EDUCAÇÃO FÍSICA
A PRÁTICA DA CAPOEIRA CONTRIBUI PARA A MELHORA DA PRESSÃO ARTERIAL
MAIKON LUIZ PAULLIN PEDREIRA;MARIA ISABEL MORGAM MARTINS
A prática da capoeira tem muitas origens, a mais aceita a descreve como uma mistura de danças, ritmos, lutas, instrumentos musicais, oriundos de diferentes etnias e regiões da África. Essa mistura ocorreu aqui no Brasil no período da escravidão. Com o passar do tempo à capoeira foi adquirindo outras características e conotações, sendo também utilizada como esporte para a melhora do condicionamento físico. Sendo assim o objetivo do trabalho foi aferir a pressão arterial (PA) em praticantes de capoeira e verificar se esta atividade contribui para a regulação da mesma. Foi aferido a PA antes do treino (ATC, n=20), depois do Treino de capoeira (DTC, n=20) e em indivíduos que não treinavam capoeira (NTC, n=20). Observamos que houve uma diminuição significativa na PA SIST e DIAST após o treino da capoeira quando comparamos com a aferição antes do treino, tanto na PA sistólica como na diastólica. A partir dos resultados obtidos concluímos que a prática da capoeira, sendo esta uma atividade aeróbica, contribui para importantes respostas fisiológicas nos diferentes sistemas corporais principalmente na melhora da pressão arterial. Observamos uma hipotensão após o exercício, em função das variações de posição do corpo durante a prática da capoeira, sugerimos que isto seja determinada pela ação dos barorreceptores. É importante a continuidade deste trabalho, a fim de obtermos outros parâmetros científicos para esta atividade física, largamente desenvolvida e praticada no Brasil.
ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS E ESTRESSE EMOCIONAL EM MENINOS FISICAMENTE ATIVOS EM PERÍODO COMPETITIVO
BRUNA EIBEL;CINARA STEIN; LUIS ULISSES SIGNORI; RODRIGO DELLA MÉA PLENTZ; ANTÔNIO MARCOS VARGAS DA SILVA; LEANDRO DE MORAES KOHL
A hipertensão arterial vem sendo identificada precocemente e pode estar associada a patologias e desfechos clínicos na idade adulta. Crianças e adolescentes esportistas estão sujeitos a maior estresse emocional, o que pode estar relacionado com mudanças nos níveis de pressão sanguínea. Objetivo: analisar a associação entre variáveis fisiológicas e estresse emocional em meninos fisicamente ativos. Métodos: estudo observacional exploratório. Foram avaliados 40 meninos fisicamente ativos (jogadores de futebol de campo com freqüência de 2 vezes/semana), em fase de competição, com idade entre 7 e 14 anos. Foram avaliadas a freqüência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) pelo método auscultatório conforme recomendado pela V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. O índice de massa corporal (IMC) foi avaliado pela relação peso/altura
2. A Escala de Estresse Percebido proposta por Cohen & Williamson, 1998, foi
utilizada para avaliar o estresse emocional. Os resultados foram analisados pelo coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: a idade média foi 10,8±1,8 anos, IMC 19,0±3,7 kg/m
2, PAS
107,0±10,2 mmHg, PAD 66,6±7,8 mmHg, FC 80,7±7,9 bpm e o nível de estresse 30,7±5,2 (caracterizado como normal). A PAS se correlacionou positivamente com o estresse emocional (r= 0,34; p= 0,03). Não houve correlação significativa do estresse emocional com a PAD (r= 0,04; p= 0,80), FC (r= 0,07; p= 0,67) e IMC (r= 0,22; p= 0,18). Conclusão: Foi verificada associação leve entre estresse emocional e níveis de PAS em meninos fisicamente ativos em fase de competição, sugerindo maior atenção nessas variáveis ao longo do desenvolvimento de atividades esportivas nessa população.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 111
IMPACTO DO TAI CHI CHUAN SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES PÓS-INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO RECENTE
ROSANE MARIA NERY;MAURICE ZANINI; LÚCIA LAZZARETTI; MAHMUD ISMAIL MAHMUD; CRISTIANE DA ROCHA VIDOR; SÉRGIO QUEIROZ; RICARDO STEIN
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui-se em um dos fatores que mais contribuem para o aumento no risco de novos eventos em pacientes que já tiveram um infarto do miocárdio recente (IAM). A atividade física regular tem sido um importante aliado não medicamentoso auxiliando na prevenção secundaria destes pacientes. É possível que o treinamento com Tai Chi Chuan (TCC) tenha um impacto positivo sobre os níveis tencionais nestes pacientes. Objetivo: Avaliar o impacto do TCC sobre os níveis pressóricos em indivíduos com IAM recente. Material e Métodos: Estudo prospectivo de seis casos de pacientes pós IAM recente, submetidos a oito semanas de TCC, realizado três vezes por semana. A pressão arterial dos pacientes foi mensurada de forma padronizada e através de esfigmomanometria manual sempre pelo mesmo examinador. As medidas foram feitas no início de cada sessão e imediatamente após o treino com TCC. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 65 + 6 anos, o índice de massa corporal de 27+ 4,8, sendo 4 (67%) do sexo masculino. A pressão sistólica de repouso apresentou redução média de 21mmHg variando de 146 (+27,48) para 125mmHg (+33,23) (p = 0,043), o mesmo ocorrendo com a pressão diastólica de repouso que apresentou redução média de 16 mmHg variando de 90 (+15,98) para 74mmHg (+18,40) (p = 0,009). A pressão sistólica após o treinamento variou de 155 (+32,67) para 133 (+28,95) mmHg p=0,218 e a diastólica variou de 95 (+23,29)para 79(+18,41)mmHg p=0,185, não apresentando mudança significativa. Conclusão: Nesse projeto piloto, o treinamento o TCC se mostrou eficaz no que tange a redução da pressão arterial sistólica e diastólica. Esses dados preliminares sugerem que o TCC possa ser utilizado na prevenção secundária pós-infarto agudo do miocárdio recente, atuando positivamente em aspectos hemodinâmicos destes pacientes.
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO - SEGMENTO DE DOIS ANOS
MARCIO ROBERTO MARTINI;ROSANE MARIA NERY; CRISTIANE VIDOR; MAHMUD ISMAIL MAHMUD; MAURICE ZANINI; JUAREZ NEUHAUS BARBISAN
Introdução: Pacientes portadores de cardiopatia isquêmica têm capacidade funcional reduzida e limitação da atividade física no pré-operatório da cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM). É razoável supor que melhorem depois do tratamento cirúrgico. Objetivo: verificar a evolução da capacidade funcional do pré-operatório para o pós de CRM no período de dois anos. Material e Métodos: Estudo de coorte com cento e um pacientes, de ambos os sexos, consecutivos, submetidos eletivamente à CRM. A capacidade funcional foi avaliada através do teste de caminhada de seis minutos (TC6) realizado antes da cirurgia e dois anos depois. Para fins de análise consideramos apenas os pacientes que eram ativos antes da CRM e se mantiveram ativos no período de dois anos, o mesmo ocorrendo com os pacientes sedentários. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 62 (+ 9,55), sendo 67 (66,3%) do sexo masculino. Antes da CRM 64 (63,4%) pacientes eram sedentários. Os 29 (28,7%) pacientes que se mantiveram ativos apresentaram uma distância caminhada no TC6 de 364,72m (+125,99) e 429,24m (+99,38) no pré e pós-operatório respectivamente, P<0,0001. Os 23 (22,8%) pacientes que se mantiveram sedentários apresentaram uma distância caminhada de 251,09m (+161,18) e 308,28m (+101,66) no pré e pós-operatório respectivamente, P<0,01. Houve uma melhora significativa dos dois grupos no segmento de dois anos. Nota-se que os pacientes ativos apresentaram um ganho maior na distância caminhada em relação aos sedentários (p > 0,05). Conclusão: Os dois grupos apresentaram melhora na capacidade física após o procedimento cirúrgico. O grupo ativo apresentou um ganho maior na distância caminhada quando comparado ao grupo de sedentários, porém não significante.
VELOCIDADE DO LIMIAR ANAERÓBICO EM PERCENTUAIS EM UMA POPULAÇÃO MASCULINA NA FAIXA DE 40 A 60 ANOS
JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA;ANDRÉA KARLA BREUNIG DE FREITAS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 112
O limiar anaeróbio (LA) e o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) são as formas mais conhecidas de medir a intensidade da atividade física, porém outros índices estão aparecendo cada vez mais nas publicações científicas (Basset Jr & Howley 2000), saber qual percentual da velocidade máxima se atingiu o LA passa a ser relevante, pois quanto mais próximo dos 100% melhor condicionado está o indivíduo. O objetivo desta investigação foi verificar qual percentual da velocidade máxima foi atingido o LA em 16 homens ativos com idade entre 40 a 59 anos, divididos em G1 40 a 49 anos (n=8) e G2 50 a 59 anos (n=8). Foi realizado teste ergoespirométrico, protocolo de Mader, com coleta de lactato em repouso e a cada estágio até a exaustão voluntária. Os instrumentos utilizados foram uma esteira marca IMBRAMED 1200, analisador de gases VMax 229 e Lactímetro BIONSEN. Os dados serão apresentados em forma de média, desvio padrão, e percentuais (%). Resultados: M1: T: 00:21:34 ± 00:06:38 M2: T: 00:17:30 ± 00:05:30, M1: Dist. (m) 3123,75 ± 1331,10, M2: Dist. (m) 2341,25 ± 997,96, M1: Vel. Máx. 12,15 ± 2,50 M2: Vel. Máx. 10,13 ± 1,91,, M1: Vel. do LA 9,28 ± 2,52 M2: Vel. do LA 7,59 ± 1,74 M1: % Vel. LA X Vel. Máx. 76,04 ± 11,06, M2: % Vel. LA X Vel. Máx. 75,46 ± 11,77, e M1: VO2Máx 40,83 ± 8,68 ml/kg/min; e M2: VO2Máx 41,05 ± 6,63 ml/kg/min. Apesar da diferença de idade dos grupos analisados verificou-se que o % Vel. do LA X Vel. Máx. entre M1 e M2 foi de 0,58%, não havendo desta forma diferença significativa, o mesmo comportamento comprovou-se através do desvio padrão de ambos grupos (± 0,71). Através deste estudo conclui-se que o grupo estudado apresentou estes resultados devido à prática regular de atividade física ressaltando sua importância para todas as faixas de idade.
ANÁLISE DOS FATORES MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DO VOLEIBOL EM ADOLESCENTES DE CLUBES ESPECIALIZADOS E PROGRAMAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
RAFAEL GAMBINO TEIXEIRA;CARLOS ADELAR ABAIDE BALBINOTTI
Devido à grande popularização do voleibol nas últimas décadas, e a imensa procura por meios para praticá-lo, objetivou-se neste estudo identificar os principais motivos que levam adolescentes (13 - 18 anos) a optarem por esta prática desportiva. Buscou-se também identificar as diferenças motivacionais entre os dois grupos observados e que, desenvolvem o voleibol em ambientes distintos e com metodologias de ensino distintas: os clubes especializados (Voleibol Técnico) e o programa social (Voleibol Social), ambos situados no município de Porto Alegre (RS – Brasil). Foram analisados 80 jovens, 40 de clubes especializados (Grêmio Náutico Gaúcho e Lindóia Tênis Clube) e 40 do programa social (CECOPAM). Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se o Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividade Física, de BALBINOTTI (2004). Este instrumento aponta os fatores motivacionais para a prática de atividade física em seis dimensões: a saúde; a competitividade; o prazer; a sociabilidade; o controle do stress e; a estética. Os dados foram analisados conforme as categorias de motivação elaboradas por BALBINOTTI. Entre os resultados observa-se que na perspectiva estatística os grupos estudados não apresentam diferenças. Apenas com relação à dimensão competitividade os grupos apresentam uma diferença significativa favorável ao grupo do programa social. A conclusão dos resultados apresenta como motivos principais para a prática do voleibol as dimensões prazer e saúde, seguida das dimensões sociabilidade, competitividade, estética e controle do estresse sucessivamente. Considera-se porém que outros aspectos intervenientes venham a influenciar estes resultados, como a conduta e objetivos dos treinadores e a participação negativa ou positiva da família, aspectos que outras análises mais qualitativas podem ajudar a responder.
A INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA NO DESEMPENHO DAS HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS
RAFAEL GAMBINO TEIXEIRA;LUCIANA MARTINS BRAUNER; SIMONE MARIA PANSERA; NADIA CRISTINA VALENTINI
Sendo a infância um período de grandes mudanças comportamentais, as crianças devem estar ativamente envolvidas na descoberta diversificada de movimentos, bem como na combinação destes, aplicando-os em diferentes tarefas e contextos educacionais. O aprimoramento das habilidades motoras fundamentais (HMF) é conseqüência da variedade de experiências oportunizadas à criança, pois se acredita que através de estímulos propiciados na infância, novos comportamentos motores, cognitivos e sociais serão alcançados. Sendo assim, experiências motoras são fundamentais para
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 113
que a criança se desenvolva com naturalidade, sendo capaz de incorporar um refinamento de seus movimentos em diferentes contextos com autonomia e, conseqüentemente, garantir sua participação esportiva nas fases subseqüentes de seu desenvolvimento. Nesta perspectiva o objetivo deste estudo, de delineamento quase-experimental, foi verificar a influência de um Programa de Iniciação ao Tênis com abordagem de Contexto Motivacional para a Maestria, no desempenho das HMF. A amostra foi composta por 26 crianças participantes de um programa de educação pelo esporte (14 meninas e 12 meninos), com idades de 6 a 8 anos. Para avaliação das HMF foi utilizado o Test of Gross Motor Development-2 (ULRICH, 2000). O Programa foi desenvolvido em 16 semanas, sendo implementando os pressupostos da estrutura TARGET (Tarefa, Autoridade, Reconhecimento, Grupo, Avaliação, Tempo) à aprendizagem das habilidades. Os resultados indicaram mudanças significativas no desempenho das HMF dos participantes (p<0,05). Com base nos resultados, conclui-se que a implementação do Programa de Iniciação ao Tênis promoveu ganhos motores nas HMF, concretizando a participação efetiva da criança no esporte.
ENDOCRINOLOGIA
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES E ESTILO DE VIDA
ELISA SFOGGIA ROMAGNA;CÉSAR GEREMIA; PAULO NADER
Introdução: a obesidade infantil tornou-se sério problema de saúde pública, visto que sua prevalência tem aumentado globalmente. Segundo pesquisa do IBGE, o excesso de peso em crianças de 10 a 19 anos foi de 16,7%, sendo maior nos meninos (17,9%) do que nas meninas (15,4%). Este fato pode ser explicado pela mudança no estilo de vida das crianças e adolescentes, com uma alimentação hipercalórica associada a um aumento do sedentarismo. Objetivo: verificar prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares e estudar a sua associação com o estilo de vida. Método: estudo transversal descritivo realizado em Porto Alegre, RS, em duas escolas estaduais envolvendo crianças de 7 a 12 anos. Adotou-se como critério de exclusão uso de medicamentos ou doenças que possam gerar ganho ou perda de peso. Resultados: Houve um total de 36,9% de excesso de peso. O sobrepeso e obesidade foram maiores nos escolares do sexo masculino (p=0,003) e que ficam mais que 2 horas por dia em frente à televisão, videogame ou computador (p=0,033). A média de idade foi de 8,67 (DP de ± 1,525), havendo uma relação inversa com sobrepeso e obesidade (p=0,039). Não houve significância estatística entre obesidade e os seguintes fatores: raça, tipo de moradia, freqüência de atividade física e educação física na escola, turno escolar e atividades lúdicas. Discussão: A prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada na população estudada é elevada em relação aos estudos realizados no Brasil e similar aos Estados Unidos. Os achados deste estudo demonstraram que o hábito de assistir televisão, jogar videogame ou utilizar computador por mais que 2 horas por dia representa um fator de risco para o desenvolvimento de excesso de peso em escolares. A detecção na infância permite uma intervenção precoce e pode prevenir as complicações. O tratamento é multidisciplinar, porém a prevenção é a medida mais efetiva, sendo o exemplo dos pais fundamental para uma rotina e hábito alimentar ideal.
AVALIAÇÃO DA VITAMINA D NA RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM PACIENTES COM INTOLERÂNCIA À GLICOSE
HUMBERTO LUIZ MOSER FILHO;PAOLA PAGANELLA LAPORTE; FÁBIO ANDRÉ SELAIMEN; ELYARA FIORIN PACHECO; CARINA TORRES SANVICENTE; MARCOS DALSIN; BRUNO CORTE; LUCAS GHELLER; GUSTAVO ADOLPHO MOREIRA FAULHABER; TANIA WEBER FURLANETTO
Introdução: A incidência de diabete mélito (DM) está crescendo a cada ano em todo o mundo, sendo uma importante causa de morbimortalidade. A deficiência de vitamina D vem sendo associada à intolerância à glicose e DM há muitos anos, com alguns estudos sugerindo associação inversa entre níveis séricos de 25-hidroxivitamina D e o risco de DM. A deficiência de vitamina D é tratável, podendo ser um fator de risco potencialmente modificável para o desenvolvimento de DM. Objetivo: Avaliar glicemia em jejum, resistência e secreção insulínica antes e após o tratamento com colecalciferol em indivíduos não diabéticos com glicemia de jejum aumentada. Pacientes e Métodos: 132 pacientes em acompanhamento no ambulatório de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, apresentando glicemia de jejum entre 100 e 125, não diabéticos, que não estejam em uso de medicamentos que alterem o metabolismo da glicose ou da vitamina D, serão randomizados
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 114
em dois grupos para receberem 300.000 UI de colecalciferol ou placebo, por via oral, em dose única. O tamanho da amostra foi calculado para um poder de 80% e um erro alfa de 0,05. Resultados e Conclusão: O estudo encontra-se em fase de coleta de dados. Até o momento, 50% dos pacientes já foram randomizados. O prazo calculado para a inclusão dos demais participantes do estudo estende-se até dezembro de 2009. O conhecimento dos efeitos da vitamina D na redução da resistência à insulina pode trazer ganhos importantes na prevenção e tratamento de DM e intolerância à glicose.
AVALIAÇÃO DA HOMEOSTASE PRESSÓRICA DE ACORDO COM A ETNIA
BRUNO MUSSOI DE MACEDO;STEFANIA VIEIRA, ELIZA D RICARDO, FERNANDO KUDE DE ALMEIDA, KARINA BIAVATTI, LANA C PINTO, TICIANA C RODRIGUES, CRISTIANE B LEITÃO, CAROLINE K KRAMER, FERNANDO GERCHMAN, LUÍS H CANANI, JORGE L GROSS
INTRODUÇÃO: Pacientes pretos com diabetes melito tipo 2 (DM2) apresentam maior prevalência de complicações vasculares que pacientes brancos. Esta diferença tem sido atribuída a maiores níveis pressóricos nestes indivíduos. OBJETIVO: Avaliar os parâmetros da homeostase pressórica através da monitorização ambulatorial da PA em 24h (MAPA) de pacientes com DM2 de acordo com a etnia. MÉTODOS: Estudo transversal com 308 pacientes DM2 atendidos no ambulatório de endocrinologia do HCPA. Foram incluídos pacientes que se autodefiniram como brancos ou pretos e não apresentavam cardiopatia isquêmica. Os pacientes realizaram avaliação clínica, laboratorial e MAPA. RESULTADOS: Foram incluídos 266 (86,4%) indivíduos brancos (55,6% homens) e 42 (13,7%) indivíduos pretos (40,5% homens). Menor média de idade [52,8±9,6 vs. 57,1± 9,1 anos, p=0,01], menor tempo de DM [7,7±5,6 vs. 10,8±6,9 anos p=0,02], maior índice de massa corporal [31,2±5,3 vs. 28,1±4,3 kg/m², p <0,001] e maior cintura [101,0±10,5 vs. 96,9±11,0 cm, p=0.029] foram observadas nos indivíduos pretos comparados aos indivíduos brancos. Não houve diferença quanto à presença de tabagismo, creatinina, perfil glicêmico e lipídico. A PA sistólica de 24h [133,3±16,5 vs. 132,6±15,8 mmHg, p=0,795] e a diastólica 24h [79,9±10,7 vs. 78,4±9,5 mmHg, p=0,387] foram semelhantes nos grupos. O mesmo foi observado para proporção de descenso noturno e carga pressórica. A freqüência de retinopatia diabética [48,7 vs. 40,2%, p=0,321] e de nefropatia diabética [40,5 vs. 40,6%, p=0.991] foi semelhante nos dois grupos. CONCLUSÃO: Estes dados sugerem que a maior prevalência de complicações vasculares apresentadas pelos indivíduos pretos não pode ser atribuída a maiores valores de PA.
O EFEITO DO AVENTAL BRANCO EM PACIENTES COM DIABETES É MAIS EVIDENTE EM NÍVEIS PRESSÓRICOS MAIS ELEVADOS
LANA CATANI FERREIRA PINTO;ELIZA D RICARDO; KARINA BIAVATTI BRUNO MUSSOI DE MACEDO; STEFANIA VIEIRA; FERNANDO KUDE DE ALMEIDA; TICIANA C RODRIGUES; CRISTIANE B LEITÃO; CAROLINE K KRAMER; FERNANDO GERCHMAN; LUÍS H CANANI; JORGE L GROSS
INTRODUÇÃO: A hipertensão do avental branco está associada com complicações em pacientes com diabetes melito (DM). Classicamente, os valores pressóricos na monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) são menores que os valores da pressão arterial (PA) de consultório e essa diferença é chamada de efeito do avental branco. OBJETIVO: Descrever as características do efeito do avental branco em uma amostra de pacientes com DM. MÉTODOS: Quinhentos e sessenta e seis pacientes com DM (tipo 1: n=212, 36±11 anos, 53% sexo masculino; tipo 2: n=354, 57±9 anos, 56% sexo masculino) foram incluídos. Os indivíduos realizaram MAPA de 24 h (Spacelabs 90207) e aferição da PA no consultório (esfigmomanômetro de mercúrio, duas medidas, no mesmo dia da MAPA). O efeito do avental branco foi calculado (PA de consultório – PA da MAPA em vigília). Os determinantes da variabilidade do efeito do avental branco foram definidos por análise multivariada. Valores de p (bicaudal) <0,05 foram considerados significativos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: O efeito do avental branco começou a ser observado quando a PA de consultório estava acima de 130/80 mmHg, sendo ainda mais evidente com PAs de consultório mais elevadas. Abaixo de 120/70 mmHg, o efeito do avental branco não foi observado. Níveis pressóricos menores foram associados ao fenômeno inverso, um “efeito da hipertensão mascarada”, representado por uma PA em vigília da MAPA mais elevada que a PA de consultório. Na análise de regressão linear, a idade e o tipo de DM não se associaram com o efeito
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 115
do avental branco sistólico. No entanto, a PA sistólica de consultório e o sexo se associaram com o efeito do avental branco sistólico (R
2a 0,49, P<0,001). A PA diastólica de consultório, a idade, o sexo
e o tipo de DM (R2a 0,48, P<0,001) associaram-se com o efeito do avental branco diastólico.
CONCLUSÃO: O efeito do avental branco não foi evidenciado uniformemente em todos os níveis de PA de consultório, começando a ser relevante quando a PA de consultório se encontra acima de 130/80 mmHg.
DETERMINAÇÃO DOS VALORES PRESSÓRICOS DE REFERÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL PARA PACIENTES COM DIABETES
LANA CATANI FERREIRA PINTO;ELIZA D RICARDO; KARINA BIAVATTI BRUNO M MACEDO; STEFANIA VIEIRA; FERNANDO K ALMEIDA; TICIANA C RODRIGUES; CRISTIANE B LEITÃO; CAROLINE K KRAMER; FERNANDO GERCHMAN; LUÍS H CANANI; JORGE L GROSS
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é um importante fator de risco para complicações crônicas em pacientes com diabetes melito (DM). A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) tem melhor correlação com lesões em órgãos-alvo e é considerada como normal quando os valores pressóricos em vigília são menores que 135/85 mmHg. Valores mais baixos da PA de consultório (130/80 mmHg) são recomendados para pacientes com DM. Até o momento, não há dados sobre quais níveis de PA na MAPA correspondem ao alvo recomendado de PA de consultório. OBJETIVO: Determinar os valores pressóricos de normalidade da MAPA para pacientes com DM. MÉTODOS: Foram avaliados 566 pacientes com DM em atendimento ambulatorial no serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Foram avaliadas informações demográficas, antropométricas, laboratoriais, MAPA e medida da PA de consultório. Regressões lineares foram utilizadas para determinar os valores de PA na MAPA correspondentes valores de consultório de 130/80 mmHg. P <0,05 foram considerados estatisticamente significativos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA e todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: Foram incluídos 212 pacientes com DM tipo 1 (36±11 anos, 53% sexo masculino) e 354 pacientes com DM tipo 2 (56,6±9,2 anos, 56% sexo masculino). Valores de PA na MAPA correspondentes a 140/90 mmHg no consultório foram de 132/81 mmHg no DM tipo 1 e 135/84 mmHg no DM tipo 2, enquanto que os valores correspondentes a 130/80 mmHg no consultório foram de 128/78 mmHg no DM tipo 1 e 130/80 mmHg no DM tipo 2. CONCLUSÕES: Confirmamos que os valores de PA na MAPA correspondentes a 140/90 mmHg no consultório são de 135/85 mmHg em pacientes com DM tipo 2, enquanto que os pacientes com DM tipo 1 apresentam valores um pouco mais baixos. Para valores mais baixos de PA no consultório (130/80 mmHg) o valor da MAPA é semelhante ao do consultório. Portanto, o alvo pressórico da MAPA em vigília em pacientes com DM deve ser de 130/80 mmHg.
AVALIAÇÃO DA HOMEOSTASE PRESSÓRICA DE ACORDO COM A ETNIA
LANA CATANI FERREIRA PINTO;BRUNO MUSSOI DE MACEDO; STEFANIA VIEIRA; ELIZA D RICARDO; FERNANDO KUDE DE ALMEIDA; KARINA BIAVATTI; TICIANA C RODRIGUES; CRISTIANE B LEITÃO; CAROLINE K KRAMER; FERNANDO GERCHMAN; LUÍS H CANANI; JORGE L GROSS
INTRODUÇÃO: Pacientes pretos com diabetes melito tipo 2 (DM2) apresentam maior prevalência de complicações vasculares que pacientes brancos. Esta diferença tem sido atribuída aos maiores níveis pressóricos apresentados por estes indivíduos. Entretanto, em estudo prévio não observamos diferença na pressão arterial (PA) medida no consultório entre brancos e pretos. OBJETIVO: Avaliar os parâmetros da homeostase pressórica avaliada pela monitorização ambulatorial da PA em 24h (MAPA) de pacientes com DM2 de acordo com a etnia. MÉTODOS: Estudo transversal com 308 pacientes com DM2 atendidos no ambulatório de endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Foram incluídos pacientes que se autodefiniram como brancos ou pretos e não apresentavam cardiopatia isquêmica. Os critérios de exclusão foram creatinina >1,5 mg/dL, outras doenças renais, arritmia cardíaca ou presença de neuropatia autonômica. Os pacientes realizaram avaliação clínica, laboratorial e MAPA (Spacelabs-90207). A análise estatística foi realizada com os testes t de Student e quiquadrado. P <0,05 foi considerado significativo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA e todos participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: Foram incluídos 266 (86,4%) indivíduos brancos (55,6% homens) e 42
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 116
(13,7%) indivíduos pretos (40,5% homens). Menor média de idade [52,8±9,6 vs. 57,1± 9,1 anos, p=0,01], menor tempo de DM [7,7±5,6 vs. 10,8±6,9 anos p=0,02], maior índice de massa corporal [31,2±5,3 vs. 28,1±4,3 kg/m², p <0,001] e maior cintura [101,0±10,5 vs. 96,9±11,0 cm, p=0.029] foram observados nos indivíduos pretos comparados aos brancos. Não houve diferença quanto à presença de tabagismo, creatinina, perfil glicêmico e lipídico. A PA sistólica de 24h [133,3±16,5 vs. 132,6±15,8 mmHg, p=0,795] e a diastólica 24h [79,9±10,7 vs. 78,4±9,5 mmHg, p=0,387] foram semelhantes nos grupos. O mesmo foi observado para proporção de descenso noturno e carga pressórica. A freqüência de retinopatia diabética [48,7 vs. 40,2%, p=0,321] e de nefropatia diabética [40,5 vs. 40,6%, p=0.991] foram semelhantes nos dois grupos. CONCLUSÃO: Nesta amostra de pacientes com DM2 não foram detectadas diferenças nos parâmetros de PA avaliados pela MAPA. Estes dados sugerem que a maior prevalência de complicações vasculares apresentadas pelos indivíduos pretos não pode ser atribuída a maiores valores de PA.
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DIASTÓLICA EM PACIENTES COM DIABETES MELITO TIPO 2 DE ACORDO COM A ETNIA
LANA CATANI FERREIRA PINTO;STEFANIA VIEIRA; ANTÔNIO PINOTTI; BRUNO M MACEDO; ELIZA D RICARDO; FERNANDO K DE ALMEIDA; KARINA BIAVATTI; FERNANDO GERCHMAN; TICIANA C RODRIGUES; CRISTIANE B LEITÃO; CAROLINE K KRAMER; LUÍS H CANANI; JORGE L GROSS
INTRODUÇÃO: A disfunção diastólica (DD) do ventrículo esquerdo é uma alteração precoce cardíaca associada a aumento de mortalidade. A DD varia de acordo com a idade do indivíduo, níveis pressóricos e isquemia miocárdica. Pacientes com diabetes melito tipo 2 (DM2) apresentam frequentemente com algum grau de DD. Dados de DD em relação a diferenças étnicas são escassos. OBJETIVOS: Avaliar a DD do ventrículo esquerdo e índices anatômicos ecocardiográficos em pacientes com DM2 brancos e pretos sem cardiopatia isquêmica e com níveis pressóricos semelhantes. MÉTODOS: De uma coorte de 266 (86,4%) indivíduos brancos e 42 (13,7%) indivíduos pretos, 188 foram submetidos a avaliação ecocardiográfica (156 brancos e 32 pretos). A função ventricular foi aferida através da ecocardiografia com Doppler, realizado por um mesmo cardiologista, sem o conhecimento dos dados clínicos do paciente, com o aparelho Hewellet Packard Sonus 1000 com transdutor de 2,0 e 2,5 Mhz e ângulo de varredura de 85%. Os grupos étnicos apresentavam valores de pressão arterial (PA) de consultório e na monitorização ambulatorial da PA semelhantes. A análise estatística foi realizada com os testes t de Student e quiquadrado. P <0,05 foi considerado significativo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e todos participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: Um total de 32 pacientes negros (38% homens, idade 53±10 anos, tempo de DM 8±6 anos) e 156 brancos (51% homens, idade 56±9 anos, tempo de DM2 10±7 anos) foram avaliados. Os pacientes brancos apresentaram maior onda A (76,9±19,5 vs. 68,2±20,0 cm/s; p=0,036), menor relação E/A (0,96 ± 0,29 vs. 1,02 ± 0,77; p=0,010) e maior TRIV (87,98±14,7 vs. 81,44±21,3 ms; p=0,003) caracterizando maior DD. Analisando de forma categorizada, a proporção de DD foi maior no grupo de pacientes brancos (73,5 vs. 60,7%, p=0,01). Entretanto, entre os pacientes pretos com DD o padrão de DD foi mais grave que os brancos (17,8% vs. 9,8% com padrão pseudonormal/restritivo).CONCLUSÃO: Diferente do esperado, indivíduos pretos apresentaram menor prevalência de DD que os brancos, entretanto o padrão de DD quando presente foi mais grave. Esta observação é original é independente de fatores usualmente associados a DD, como os níveis pressóricos.
AVALIAÇÃO DO VALOR DE LH BASAL NA PREDIÇÃO DE RESPOSTA PUBERAL NO TESTE DO GNRH
JULIA GOULART GUIMARÃES;RAFAEL SELBACH SCHEFFEL, PAULA TOZATTI, LUIS HENRIQUE CANANI
Introdução:O teste de estimulo com GnRH é utilizado para avaliação da resposta do eixo gonadotrófico ao estímulo. Estudos sugeriram que a medida do LH basal é tão efetiva quanto o teste de estímulo, o que tornaria desnecessária a realização deste último. Objetivo:Aferir o ponto de LH basal com especificidade (E) de 100% para predizer um teste de estímulo com GnRH com resposta positiva. Métodos:Foram analisados resultados de exames de 53 pacientes menores de 18 anos que
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 117
realizaram o teste de estimulo com GnRH de 01/2007 a 06/1009 no HCPA. As dosagens hormonais foram feitas por eletroquimioluminescência com o produto LH calset II Roche®. O teste foi feito com 100 mcg de GnRH e com medidas de LH e FSH nos tempos 0, 30 e 60 minutos. Foi definida resposta positiva para meninas um pico de LH maior que 3,3 IU/l e para meninos pico maior que 4,1 IU/l. Foi realizada análise de Curva ROC para determinar o valor de LH basal com E=100% e para predizer um teste responsivo. Resultados: Do total de indivíduos analisados 30 tiveram uma resposta puberal ao teste enquanto 23 não tiveram resposta. A área da curva ROC do LH encontrada foi de 0,84 (p < 0,001). No grupo total, com o ponto de corte de 0,80 IU/l o LH basal apresentou E = 100% e S = 69,6%. Nos homens o LH basal de 0,65 IU/l apresentou uma E=100%, S=87%. Nas mulheres o LH basal com E=100% foi de 0,85 UI/l com S=60%. Conclusão: O valor basal de LH que prediz um teste responsivo em pacientes do sexo masculino foi menor que em pacientes do sexo feminino. Pacientes com valores de LH basal >0,85 IU/l não necessitam ser submetidos a teste de estímulo para identificação de ativação do eixo gonadotrófico. Pacientes com valores basais de LH abaixo destes pontos de corte devem ser testados pela baixa sensibilidade destes valores.
A PREVALÊNCIA DE DOENÇA DA TIREÓIDE EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELITUS TIPO 1 ATENDIDOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO EM NÍVEL AMBULATORIAL
JULIA GOULART GUIMARÃES;KARINA BIAVATTI , TICIANA C RODRIGUES, CRISTIANE B LEITÃO, FERNANDO GERCHMAN, LUÍS H CANANI, JORGE L GROSS
Introdução: As doenças auto-imunes da tireóide são mais prevalentes em pacientes com diabetes melito (DM) tipo 1. A positividade do auto-anticorpo anti-TPO é estimada em 20%, enquanto 2-5% do pacientes possuem hipotireoidismo clínico. As freqüências esperadas para a população geral são de 10% e 2% respectivamente. Objetivo: Estimar a prevalência de distúrbios da tireóide em pacientes com DM tipo 1 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HCPA. Métodos: Foram revisados prontuários de 316 pacientes com DM tipo 1 com idade entre 10 e 70 anos. Foram coletados dados de TSH, T4, T4 livre, anti-TPO e anti-TRAB e uso de levotiroxina ou drogas inibidoras da função da tireóide. Os pacientes foram classificados como com eutiroidismo, hipotireoidismo subclínico, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. A prevalência de anticorpos positivos (anti-TPO) também foi descrita. Resultados: Dos 316 pacientes com DM tipo 1 analisados, 73 (23,1%) apresentavam alguma alteração nos exames da função da tireóide ou anticorpos. A prevalência de hipotireoidismo foi de 13,29% (n = 42), de hipotiroidismo subclínico foi de 2,3% (n = 7) e de hipertireoidismo de 3,8% (n = 12). Trinta e um (9,8%) apresentavam anti-TPO positivo. Dos pacientes com hipotireoidismo, 25 (59,5%) apresentavam anti-TPO positivo. Entre os pacientes com anticorpos positivos 11 estavam eutireóideos, 24 apresentavam hipotireoidismo, 5 hipotireoidismo subclínico e 1 teve hipotireoidismo transitório. Conclusão: A amostra analisada demonstrou uma maior prevalência de hipotireoidismo e hipertireoidismo em pacientes com DM tipo 1 em relação aos estudos prévios. Este fato indica a importância clinica-epidemiológica de se realizar rastreamento de pacientes com DM tipo 1 para doenças da tireóide.
COMPARAÇÃO DO TESTE DE BAIXA DOSE E ALTA DOSE DE CORTROSINA EM PACIENTES COM CHOQUE SÉPTICO
EVANDRO LUCAS DE BORBA;RAFAEL BARBERENA MORAES; TIAGO TONIETTO; HENRIQUE SALTZ; FABIANO NAGEL; GILBERTO FRIEDMAN; MAURO A. CZEPIELEWSKI
Introdução Choque Séptico(CS) está associado com Insuficiência Adrenal Relativa(IAR). O teste de alta dose(AD) de cortrosina (250ug) é considerado o padrão-ouro no diagnóstico de IAR. Alguns estudos comparam o teste de baixa dose(BD) de cortrosina(1ug) com o teste de alta dose. Objetivos Comparar ambos os testes em pacientes com CS. Materiais e Métodos Critérios de inclusão: pacientes com CS em uso de vasopressor, internados há menos de 96 horas na UTI, em ventilação mecãnica. Critérios de Exclusão: Uso de esteróides nos últimos 6 meses, uso de drogas supressoras da função adrenal, AIDS, história de doença do eixo H-H-A. Pacientes são submetidos ao teste de alta e baixa dose de cortrosina. No tempo 0\'(min), é aferido o cortisol basal(CB1). Após, é infundido 1ug de cortrosina e então é aferido o cortisol nos tempos 30\' e 60\'. 4 horas após, o mesmo paciente recebe 249ug de cortrosina e o cortisol é aferido nos tempos 0\'(CB2), 30\' e 60\'. São considerados pacientes com Insuficiência Adrenal aqueles com cortisol basal até 25 ug/dL e variação até 9 ug/dL nos testes de estímulo. Resultados Até agora, analisamos 37 pacientes. A média do CB1
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 118
(32,13;dp 22,78 ug/dL) e a média do CB2 (30,84;dp 20,15ug/dL) foram similares (p=0,36). A variação foi mais alto no teste com alta dose do que no teste com baixa dose ( 17,28; dp 11,89 ug/dL X 10,41; dp 6,66 ug.dL, p< 0,001). No teste com baixa dose todas as respostas( variação > 9 ug/dL) foram identificadas no tempo 30\'. No teste com alta dose as respostas foram identificadas no tempo 60\' em 35 de 36 pacientes. 11 pacientes tiveram variação < 9 ug/dL no teste com baixa dose, mas variação > 9 ug/dL no teste com alta dose. Conclusão Quando executado o teste de baixa dose não é necessário medir o cortisol no tempo 60\'. Quando executado o teste de alta dose, não é necessário medir o cortisol no tempo 30\'.
RETINOPATIA GRAVE É PREDITORA DA PRESENÇA DE CALCIFICAÇÃO DE ARTÉRIAS CORONARIANAS EM PACIENTES COM DIABETES MELITO TIPO 1
FERNANDO KUDE DE ALMEIDA;RODRIGUES, TICIANA C; ESTEVES, JORGE F; LEITÃO, CRISTIANE B; BIAVATTI, KARINA; GROSS, JORGE L
INTRODUÇÃO: A calcificação de artérias coronarianas (CAC) é um método para detectar aterosclerose sub-clínica. A associação entre CAC e complicações microvasculares do diabetes ainda não está bem estabelecida. OBJETIVO: Investigar a associação entre retinopatia diabetica (RD) e a presença de CAC em pacientes com diabetes do tipo 1 (DMT1). MÉTODOS: Estudo transversal com 150 DMT1. Pacientes com doença cardiovascular, doença renal cronica foram excluidos. A RD foi graduada em ausência de RD, RD não-proliferativa (RDNP) leve, moderada, severa e RD proliferativa. Neste estudo, os pacientes foram classificados em 2 etapas: primeiramente pela presença ou não de RD; depois, pacientes sem RD, com RDNP leve e moderada foram incluídos em um mesmo grupo e aqueles RDNP severa ou RD proliferativa em outro grupo, chamado RD grave. Para avaliar a associação entre RD e a presença de CAC, um primeiro modelo de regressão logística incluiu a presença de qualquer grau de RD como variável explanatória primária e a presença de CAC (sim ou não) como desfecho. O segundo modelo buscou associar RD grave e CAC. RESULTADOS: Os pacientes com CAC foram mais velhos, mais hipertensos, tinham diabetes há mais tempo e tinham mais RD. Na primeira regressão logística, apenas a idade foi preditora de CAC. No segundo modelo, RD grave foi associada à presença de CAC independentemente dos fatores de risco conhecidos para CAC. Apenas o controle glicêmico e as formas mais graves de RD demonstraram estar relacionados à presença de aterosclerose sub-clínica (RC 1,44 [95% IC 1,02-2,02], p = 0,04 e 3,98 [95% IC 1,13-13,9], p=0,03 respectivamente). CONCLUSÕES: A presença de formas mais graves de RD aumenta em aproximadamente quatro vezes a razão de chances para a presença de CAC.
ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO G276T DO GENE DA ADIPONECTINA COM DOENÇA RENAL TERMINAL EM PACIENTES COM DIABETES MELITO TIPO 2
JULIANA FISCHMAN ZAMPIERI;ENNIO PAULO CALEARO DA COSTA ROCHA; DIMITRIS VARVAKI RADOS; CAMILA MAISA ZALESKI SEBASTIANI; ALESSANDRA LOCATELLI SMITH; LUIS HENRIQUE SANTOS CANANI; FERNANDO GERCHMAN
Introdução: A adiponectina, hormônio sintetizado no tecido adiposo e sensibilzador da ação da insulina, apresenta níveis séricos elevados na insuficiência renal. Contudo, a associação do polimorfismo rs1501299 (G276T) com a nefropatia diabética (ND) não está bem definida. Objetivo: Estudar a relação do polimorfismo G276T do gene da adiponectina com a ND em pacientes com diabetes melito (DM) tipo 2. Métodos: Através de estudo tansversal, 781 pacientes foram genotipados para o polimorfismo G276T do gene da adiponectina (GG, n=353; GT, n=330 e TT, n=98; amostra em equilíbrio de Hardy-Weinberg). As genotipagens foram realizadas pela técnica de PCR, reação enzimática e visualização em gel de agarose. Através da excreção urinária de albumina (EUA; urina de 24 h) a ND foi classificada em normo- (EUA <20 mcg/min; n=233), micro- (EUA 20-199 mcg/min; n=92) e macroalbuminúria (EUA ≥200 mcg/min; n=104) e hemodiálise (n=43). O teste qui-quadrado foi utilizado para comparação entre variáveis categóricas e ANOVA para variáveis contínuas com distribuição normal. Ajustes para variáveis de confusão foram feitos através da regressão multinominal. Considerou-se significativo p<0,05. Resultados e conclusão: A prevalência de pacientes em diálise diferiu entre os genótipos (GG 13,6% vs TG 7,6% vs TT 21,4%; p=0.012). Em um modelo autossômico recessivo (GG/GT vs TT), a prevalência de diálise foi maior em homozigotos para o alelo T do que em pacientes com o alelo G (10,7% vs 21,4%, P=0.017). Ajustando para sexo,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 119
tempo de DM, colesterol total, teste A1c, hipertensão, indivíduos homozigotos para o alelo T tiveram aproximadamente duas vezes maior risco de estar em diálise do que pacientes com o alelo G (RC 2,73; IC95% 1,11 – 6,67; p=0,027), demonstrando uma relação entre o polimorfismo e a ND.
THYROXIN REPLACEMENT THERAPY DOES NOT IMPROVE GROWTH VELOCITY IN CHILDREN WITH SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AND SHORT STATURE
JOANA CALLAI SCHWERZ;VANESSA ZEN;LEILA DE PAULA; VITOR BOSCHI; MAURO CZEPIELEWSKI
Introduction: Subclinical hypothyroidism (SH) is defined as elevated thyrotropin-stimulating hormone (TSH) levels in presence of normal thyroid hormones concentration. The overall prevalence is about 4-10% as reported in large general population screening surveys (1). However, only few studies exist on the younger population (2,3). Objective: To evaluate the prevalence of SH and the effect of thyroxin replacement therapy on growth parameters in short stature children. Patients and Methods: 766 patients seen at the Outpatient Short Stature Clinic of the Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brazil, were evaluated with TSH measurement. After exclusion of chronic systemic diseases, genetic syndromes, hypopituitarism and overt hypothyroidism 367 remained. A total of 46 (12,53%) initially had normal thyroid hormones with elevated TSH, therefore diagnosed as SH. 282 patients who had at least 6 months of follow-up were selected. Patients were divided into three groups: SH treated with L-thyroxine (LT4) (SHT group (n=20)); SH not treated with LT4 (SHNT group (n=26)); and the normal TSH level group (control group (n=236)). The anthropometric data (height standard deviation score (Hsds), growth velocity (GV), GV standard deviation scores (GVSDS)) of the groups were analyzed at 6 and 12 months of follow-up. Statistical Analysis: SPSS, p < 0,05. Results: Gender, age and pubertal stage did not differ between groups. Median TSH was higher in the SHT group (7.1) than in SHTN (4.8) or controls (1.9) (p<0,001). GV in the SHT, SHNT and control groups were respectively 3.53±1.8cm, 3.07±1.40 cm and 2.89±1.28cm (p=0,113) at 6 months and 6.83±2.12cm, 6.30±2.21cm, 5.98±2.09 (p=0,247) at 12 months. Use of LT4 did not show benefit in either GVSDS or HSDS at 6 and 12 months in this study. During follow-up the median TSH in the SHT group was 2.07 (range 0.54 to 4.15). Conclusion: L-thyroxine treatment in our SH population did not provide significant improvement in height in intermediary evaluation.
SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM PREVALENCE IN CHILDREN EVALUATED FOR SHORT STATURE
JOANA CALLAI SCHWERZ;VANESSA ZEN; LEILA DE PAULA; VITOR BOSCHI; MAURO CZEPIELEWSKI
Introduction: Thyroid hormones are critical to normal growth and skeletal development (1). Therefore, measure of serum thyrotropin (TSH) level is a part of short stature (SS) work-up(2). Subclinical hypothyroidism (SCH) is characterized by high TSH levels with normal thyroid hormone level (3). The significance os SCH on growth is yet to be determined. Objective: To investigate SCH prevalence and antithyroid antibodies presence in SS patients and compare them to normal counterparts, as well as, consider possible clinical and laboratorial data associated to SCH on these patients. Subjects and Methods: 766 patients seen at the Outpatient Short Stature Clinic oh the Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Brazil, who were evaluated with TSH measurement as part of initial evaluation were included. After exclusion of chronic systemic diseases and genetic syndromes, 367 patients were selected (91 with normal stature and 276 short stature patients). Statistical Analysis: SPSS, p < 0,05. Results and Discussion: Patients were on average 10,6 years old, mostly males (70,8%) and pre-pubertal (62,4%). SCH prevalence was around 12,5% in both groups.No height difference was found when compared 46 SCH patients and 321 normal TSH level patients. Conclusion: Subclinical hypothyroidism is a frequent finding on short stature patients. Autoimmunity is not usually the cause of thyroid dysfunction. Our results raises the question whether levothyroxine treatment and further TSH normalization is an useful tool on the treatment of SCH short stature children. Randomized trials are needed to elucidate this issue.
A IMPORTÂNCIA DA MEDIDA DOS PAIS NO CÁLCULO DA ALTURA ALVO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 120
JOANA CALLAI SCHWERZ;VANESSA ZEN; LEILA DE PAULA; MAURO CZEPIELEWSKI
Introdução: A altura alvo (AA) é uma ferramenta usada para predizer a altura adulta de uma criança. O intervalo de confiança (IC) 95% é 10 cm para os meninos e 9 cm para as meninas. A altura alvo dos meninos é calculada somando-se a estatura dos pais + 13 e dividindo tudo por 2. Já nas meninas soma-se as estaturas dos pais, subtrai-se e 13 e dividi-se tudo por 2. A AA é utilizada na avaliação da baixa estatura (BE). Esta é definida como estatura abaixo do percentil 3. Quando a AA está abaixo do percentil 3 temos a BE familiar. Objetivos: Avaliar a diferença entre a AA quando calculada com o valor relatado e o valor medido. Demonstrar a importância de medir os pais na investigação da causa da baixa estatura. Material e Métodos: Estudo de coorte com 976 crianças encaminhadas por BE ao ambulatório de endocrinologia pediátrica do HCPA entre 1994 e 2009. Foram incluídas neste estudo 160 crianças que apresentavam altura do pai e da mãe, medidas e relatadas, sendo 91 meninos e 69 meninas. Na primeira consulta era questionada a altura do pai e da mãe, para o responsável que acompanhava a consulta. Após isto os pais eram medidos no ambulatório, utilizando o estadiômetro de Harpender. Resultados: A média da altura materna relatada foi 156,79cm e a medida foi 153,93cm. Já a média da altura paterna relatada foi 169,21cm e a medida foi 167,09cm. Com isto, o cálculo da AA relatada foi 163,89 cm com DP de 8,2 cm (altura alvo meninos 169,15 cm e meninas 156,96 cm) e a medida 161,40 cm com DP de 7,98 cm (meninos 166,75 cm e meninas 154,35 cm). Esta diferença de 2,49 cm entre a AA relatada e a medida alterou a porcentagem de AA abaixo do percentil 3, de 11,9% (relatada) para 25% (medida). Conclusão: AA com a altura relatada pode provocar frustração nos pais e nas crianças quando estas ficam alguns centímetros abaixo do esperado. Com o cálculo da AA com a altura medida pode aumentar o número de diagnósticos de BE familiar.
AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA E TORÁCICA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE TURNER
BETINA FEIJÓ PEREIRA;MAURO CZEPIELEWSKI
INTRODUÇÃO: A síndrome de Turner é uma doença genética na qual o segundo cromossomo sexual está totalmente ou parcialmente ausente, presente em 1 para cada 2500 meninas nascidas vivas. OBJETIVO: avaliar a presença de malformações cardiovasculares em 33 pacientes com síndrome de Turner (ST) acompanhadas no HCPA. MATERIAL E MÉTODOS: ressonância magnética cardíaca (RMC) e torácica com ênfase na avaliação da aorta (RMA) foi realizada em 33 pacientes com ST. RESULTADOS: à RMC, 54,54% das pacientes apresentaram alteração, sendo válvula aórtica bicúspide o achado mais frequente, presente em 24,24%. À RMA, malformações cardiovasculares foram encontradas em 42,42%, sendo o alongamento do arco transverso presente em 27,27% das pacientes. Dilatação da aorta estava presente em 66,66% das paciente, considerada severa em 12,12%. CONCLUSÕES: os resultados do presente estudo corroboram com a literatura que as anomalias cardiovasculares são comuns na ST, especialmente diagnosticadas pela ressonância magnética. Dilatação da aorta é extremamente frequente na ST e proporciona elevado risco de evento aórtico agudo.
CORRELAÇÃO ENTRE LEPTINA SÉRICA E GRAU DA ENDOMETRIOSE
JUAREZ FONTOURA; ANDREA NÁCUL; SHEILA B. LECKE; RAMON BOSSARDI; DÉBORA M. MORSCH; POLI MARA SPRITZER
A leptina é uma adipocina e produto do gene da obesidade envolvida com o balanço energético, controle da ingestão alimentar e peso corporal, também apresenta atividades imuno-reguladoras e angiogênicas. Estudos prévios têm demonstrado níveis mais elevados de leptina no líquido peritoneal de pacientes com endometriose, bem como uma correlação positiva com a gravidade da doença. Porém, em relação aos níveis séricos desta proteína os resultados dos estudos têm sido negativos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de leptina sérica em pacientes com endometriose pélvica e correlacioná-los com a severidade da doença. Participaram 24 pacientes com endometriose e 11 controles(LT). Todas assinaram TCLE. As pacientes foram classificadas pela gravidade da endometriose(I a IV) e pontuadas pela presença de características específicas da doença(American Society of Reproductive Medicine-revisada,1996). A leptina humana sérica foi analisada por ELISA(LINCO Research). A idade e o IMC foram semelhantes tanto entre as pacientes e controles,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 121
quanto entre os diferentes graus de endometriose. A leptina sérica das pacientes com endometriose não diferiu significativamente em relação às controles [13,5 (6,9-24,5) e 8,1 (4,9-21,4), p=0,14 MWU]. Pacientes com endometriose moderada e grave apresentaram níveis de leptina em torno de 3 vezes mais elevados do que as pacientes com endometriose mínima, porém sem significância estatística (p=0,242, ANOVA). Observou-se uma correlação positiva e significativa entre níveis de leptina e a pontuação da endometriose (rs: 0,426 p=0,038). Os resultados do presente estudo mostram uma correlação positiva e significativa entre níveis séricos de leptina e gravidade de endometriose, sugerindo que a leptina possa ter um papel na patogênese da endometriose.
O POLIMORFISMO G276T DO GENE DA ADIPONECTINA ASSOCIA-SE COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELITO TIPO 2 DO SUL DO BRASIL
ENNIO PAULO CALEARO DA COSTA ROCHA;JULIANA FISCHMAN ZAMPIERI; DIMITRIS VARVAKI RADOS; CAMILA MAISA ZALESKI SEBASTIANI; DIMITRIS VARVAKI RADOS; VIVIAN TREIN CUNHA; ALICE CASTRO MENEZES XAVIER; ALESSANDRA LOCATELLI SMITH; LUIS HENRIQUE SANTOS CANANI; FERNANDO GERCHMAN
Introdução: A adiponectina, hormônio sintetizado no tecido adiposo, possui ações anti-aterogênicas. O alelo G do polimorfismo rs1501299 do gene da adiponectina (G276T) tem sido descrito associado à doença arterial coronariana (DAC). Objetivo: Estudar através de um estudo transversal a relação desse polimorfismo com a presença de DAC, doença arterial periférica (DAP) e acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes com diabetes melito (DM) tipo 2 do sul do Brasil (n=598). Métodos: A presença de DAC baseou-se em critérios da OMS, critérios eletrocardiográficos ou anormalidades na cintilografia miocárdica. Utilizou-se ANOVA e qui-quadrado para comparação das variáveis entre os genótipos. Utilizou-se análise de regressão logística múltipla com a presença de DAC como variável dependente ajustando-se para variáveis de confusão. Foi considerado significativo p0.05). A prevalência de DAC foi maior em homozigotos para o alelo T (GG=36,3% vs GT=38,9% vs TT=55,7%; p=0,008). Em um modelo autossômico recessivo (GG/GT vs TT), a prevalência de DAC foi maior em homozigotos para o alelo T do que em pacientes com o alelo G (55,7% vs 37,6%, p=0,002). Ajustando para sexo, tempo de DM, hipertensão, tabagismo, colesterol total, HbA1c e creatinina, homozigotos para o alelo T apresentaram duas vezes mais risco de DAC do que aqueles com o alelo G (RC 2,06; IC95% 1,06 – 3,99; p=0,033). Não houve diferença na prevalência de AVC e DAP entre os grupos. Nessa amostra da população sul brasileira com DM tipo 2, indivíduos homozigóticos para o alelo T do polimorfismo G276T do gene da adiponectina apresentaram um maior risco para DAC do que aqueles com o alelo G.
INFLUÊNCIA DO FENÓTIPO NO PERFIL METABÓLICO DE PACIENTES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (PCOS): IMPACTO DA ANOVULAÇÃO E DA HIPERANDROGENEMIA
FABRICIO NICOLAO MATTEI;DENUSA WILTGEN; POLI MARA SPRITZER
Introdução: Apesar da Síndrome dos Ovários Policísticos (PCOS) ser a endocrinopatia mais comum em mulheres jovens, sua definição permanece controversa. Recentemente, a Androgen Excess & PCOS Society (AE-PCOS) publicou um posicionamento sugerindo diferentes fenótipos de PCOS, incluindo tanto pacientes com a tríade clássica de hiperandrogenemia (HY), hirsutismo (H) e disfunção ovulatória (DO) quanto aquelas apresentando apenas H e aparência policística dos ovários (PCO). Objetivos: comparar variáveis clínicas, hormonais e metabólicas entre dois fenótipos de PCOS. Material e Métodos: Estudo transversal com 308 pacientes consultando por hirsutismo: 195 PCOS com DO + H + HY, com ou sem PCO (fenótipo A/B); 45 PCOS com H + PCO (fenótipo H) e como grupo controle 68 pacientes com hirsutismo isolado (C). Resultados: As pacientes do fenotipo A/B eram mais jovens que o restante da amostra [A/B (22,31 ± 6,7 anos); H (25,89 ± 7,56 anos), C (24,73 ± 8,35 anos)]. Mesmo com valores semelhantes na escala de hirsutismo, as pacientes do grupo A/B apresentaram o índice de androgênios livres maior que os outros 2 grupos [A/B: 15,6 (8,5-22,8); H: 6,0 (3,6-8,8); C: 6,9 (3,8-9,84), p <0,001]. Níveis de colesterol total [A/B: 182,4 ± 43,7; H: 162,8 ± 27,4; C: 177,5 ± 32,6; p = 0,01), LDL-c [A/B: 110,15 ± 37,2; H: 93,68 ± 24,3; C: 108,5 ± 29,3; p = 0,01) e triglicerídeos [A/B: 99,5 (67,2-142); H: 68 (52-96,5); C: 70,5 (51,5-93,2), p=0,01] foram maiores no fenótipo A/B. Além disso, a prevalência de síndrome metabólica foi 3 vezes maior nas pacientes PCOS A/B (31,3% vs 11,1% vs 9%, respectivamente, p < 0,001). Conclusão: As pacientes ditas PCOS ovulatórias (fenótipo H) tem características metabólicas similares às controles.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 122
Considerando que o diagnóstico de PCOS implica em maior risco metabólico, essas pacientes devem ser analisadas com cuidado tanto na prática clínica como na pesquisa.
ÍNDICE DE ACUMULAÇÃO LIPÍDICA (LAP): ASSOCIAÇÃO COM SÍNDROME METABÓLICA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA
ROBERTA MARTINS COSTA MOREIRA;MARIA AUGUSTA MATURANA; POLI MARA SPRITZER
A incidência de doenças cardiovasculares em mulheres aumenta com a idade, especialmente após a menopausa. A redistribuição de gordura e a obesidade abdominal decorrente deste período aumentam o risco de síndrome metabólica (SM). O índice LAP é baseado em duas medidas simples: cintura e níveis de triglicerídeos. Recentemente, nosso grupo demonstrou que este índice é um bom marcador de risco cardiovascular e resistência insulínica em mulheres jovens com a síndrome dos ovários policísticos. Objetivos: verificar componentes da SM e fatores de risco cardiovascular, associados com LAP em mulheres na pós-menopausa. Métodos: foram incluídas 49 pacientes com no mínimo 1 ano de amenorréia e níveis de FSH>35 mUI/ ml. Excluídas: tabagistas, diabéticas ou usuárias de terapia hormonal três meses antes do estudo. Foram realizadas avaliação clínica e laboratorial e calculado o LAP (cintura-58 X triglicerídeos (nmol/L). As pacientes foram estratificadas em dois grupos, de acordo com o LAP de 34,5, e os componentes da SM considerados conforme ATPIII-NCEP. Resultados: a prevalência de síndrome metabólica foi de 14%. Pacientes com LAP ≥ 34,5 apresentaram IMC, níveis de colesterol total e glicemia em jejum superiores e níveis de HDL-C inferiores quando comparadas às com LAP < 34,5. Foram observadas correlações positivas entre LAP e pressão arterial sistólica, diastólica, colesterol total, glicemia de jejum e IMC, além de correlações negativas entre LAP e HDL-C. Conclusões: os resultados do estudo demonstram maior prevalência de componentes da SM em mulheres na pós-menopausa com LAP ≥ 34,5 e correlações significativas do LAP com fatores de risco cardiovascular, sugerindo este índice como uma ferramenta simples e segura para rastreamento de risco cardiovascular em mulheres na pós-menopausa.
FREQÜÊNCIA DE VARIANTES DO GENE DO RECEPTOR DE ESTROGÊNIO α E E ASSOCIAÇÕES COM VARIÁVEIS METABÓLICAS E MARCADORES DE FUNÇÃO ENDOTELIAL EM PACIENTES NA PÓS-MENOPAUSA RECENTE
RAMON BOSSARDI RAMOS;GISLAINE KROLOW CASANOVA; SILVANA DE ALMEIDA;POLI MARA SPRITZER
O período pós-menopáusico está associado com aumento de risco cardiovascular, que pode estar relacionado com a redução dos níveis de estrogênios endógenos e aceleração do processo de aterosclerose. Evidências sugerem que essas alterações possam ser moduladas por uma maior susceptibilidade genética, relacionada a polimorfismos em diferentes genes, entre eles os do receptor de estrogênio. Os objetivos do estudo foram determinar a freqüência de polimorfismos comuns de nucleotídeo único (SNP) do receptor de estrogênio α (ESR1) IVS1-397 T>C (PvuII) e do receptor de estrogênio b (ESR2) 1730 A>G (Alu1) e verificar a associação destes polimorfismos com marcadores de função endotelial (proteína C reativa, fator von Willebrand, fibrinogênio) e variáveis metabólicas. Foram selecionadas 65 mulheres na pós-menopausa recente, consultando por sintomas climatéricos. Realizou-se extração de DNA, PCR (reação em cadeia da polimerase) e digestão enzimática. As pacientes eram em sua maioria brancas (89%), com média de idade de 51 ± 2,8 anos e tempo de amenorréia de 22 ± 9,5 meses. A freqüência do SNP PvuII na população estudada foi TT = 28.8%, TC = 42.4% e CC = 28.8% e a freqüência do SNP Alu1 foi AA = 53.2%, AG = 37.1% e GG = 9.7%. No polimorfismo PvuII do ESR1, mulheres com genótipos polimórficos apresentaram menores níveis de triglicerídeos ( TC+CC = 112,9 ± 41 mg/dL e TT = 143,5 ± 55 mg/dL, P 0,02) e níveis mais elevados de HDL-C (TC+CC = 68 ± 14,3 mg/dL e TT = 57,7 ± 13,2 mg/dL, P 0,01). Não foram encontradas associações significativas dos polimorfismos PvuII do ESR1 e Alu1 do ESR2 com marcadores de função endotelial. Os resultados obtidos até o momento sugerem que a presença do alelo polimórfico PvuII do ESR1 associa-se com melhor perfil lipídico na pós-menopausa.
IMPACTO DO ACO NO HIRSUTISMO E PERFIL METABÓLICO DE PACIENTES COM PCOS SEM COMORBIDADES
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 123
FLÁVIO LUZ GARCIA PIRES;NÁCUL, A.P, MATTIELLO S.S, MAIER P.S., LAGES L., SPRITZER P.M.
Os anticoncepcionais orais têm sido utilizados para o tratamento do hirsutismo e proteção endometrial em PCOS, mas dados da literatura são controversos sobre seus potenciais efeitos sobre parâmetros metabólicos. Nosso objetivo é avaliar os efeitos do ACO em variáveis metabólicas em pacientes com síndrome de ovários policísticos (PCOS) ou hirsutismo isolado (HI). 17 pacientes com PCOS e 18 HI (15 a 42 anos) participaram do estudo. Pacientes com DM, intolerância à glicose ou HOMA>3.8 foram excluídas. As pacientes receberam ACO com etinilestradiol 20µg e gestodeno 75 µg por 6 meses. Escore de Ferriman modificado para o hirsutismo e variáveis antropométricas, hormonais e metabólicas foram avaliadas antes e depois. Enquanto IMC (PCOS 24.9 ± 4.9 e HI 23.6 ± 3.6), glicose, perfil lipídico e circunferência da cintura (PCOS 79.1 ± 14.1 e HI 79.4 ± 10.2) foram similares entre os grupos antes do tratamento; o índice HOMA (PCOS 2.45 ± 0.94 e HI 1.77 ± 0.74, P=0.023) e os níveis de androgênios foram maiores nas PCOS. O hirsutismo regrediu igualmente com o ACO nos dois grupos (PCOS 19.7 ± 7.6 e 11.1± 5.3 e HI 18.6 ± 5.1 e 10.6 ± 3, antes e após o ACO, respectivamente; P = 0.001). Não foram observadas mudanças no peso, IMC ou circunferência da cintura durante o tratamento. Como esperado, os níveis de SHBG aumentaram (P=0.001) e os níveis de androgênios e LH diminuíram, tanto nas PCOS quanto nas HI. TG (P= 0.001), CT (P= 0.001) e HDL-col (P= 0.001) aumentaram nos dois grupos durante o tratamento. Nas PCOS, decresceu o HOMA (antes: 2.45 ± 0.94, após: 2.04 ± 1.06, P= 0.046). Os resultados deste estudo piloto sugerem que, para pacientes PCOS sem comorbidades metabólicas, o ACO pode ser um tratamento seguro e eficaz para hirsutismo leve a moderado e ciclos irregulares. Estudos futuros com maior duração do tratamento irão reforçar a relevância clínica dos resultados presentes.
COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE GLICEMIA PELO SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICOSE (CGMS) COM AS MEDIDAS DA GLICEMIA CAPILAR DURANTE PROTOCOLO DE EXERCÍCIO FÍSICO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
PEDRO S. TETELBOM;BEATRIZ D AGORD SCHAAN; FRANCIELE RAMOS FIGUEIRA
INTRODUÇÃO: O Sistema de Monitorização Contínua da Glicose (CGMS) provê mais dados das flutuações da glicemia vs medidas capilares da glicemia. Não há estudos sobre a reprodutibilidade da avaliação da glicemia por CGMS vs glicemias capilares durante o exercício físico. OBJETIVO: Comparar as glicemias avaliadas por método de fita reagente (Advantage, Roche) vs avaliadas por CGMS durante o protocolo de sessões de exercício físico aeróbico e combinado (aeróbico e resistido) em diabéticos. MÉTODOS: Foram avaliados pacientes com DMT2 submetidos a avaliação clínica e laboratorial, ergoespirometria e teste de 1-RM e posteriormente 2 sessões de exercícios: aeróbico e combinado (40-50 min), avaliados com CGMS por 3 dias e glicemia capilar (4 vezes/dia ou mais). Estatística: Correlação Pearson, Chi-quadrado, Teste t Student. RESULTADOS: Dois pacientes realizaram o protocolo, um do sexo feminino e outro masculino, idades 63 e 59 anos, 8 e 5 anos de duração da doença, HbA1c 6,6 e 8,6%, pressão arterial 130/70 e 164/75mmHg, respectivamente. Obteve-se 74 medidas simultâneas de glicemia capilar e CGMS, 21 durante as sessões de exercício, 53 fora delas. Houve forte correlação positiva entre as medidas (r=0,90, p<0.0001), menos intensa durante as sessões de exercício (r=0,85, p<0.001) que fora do exercício (r=0,92, p<0.0001). 47% das medidas estavam dentro de limite aceitável (até 5mg/dL de diferença com a medida capilar) e 28% foram superestimadas fora do exercício, enquanto que 19% estavam dentro do limite aceitável e 52% foram superestimadas durante o exercício (p<0.05). CONCLUSÕES: CGMS é método fidedigno na avaliação da glicemia quando comparado com a glicemia capilar, embora a superestime mais freqüentemente durante as sessões de exercício. Apoio CNPq, Fapergs, FIPE
EVOLUÇÃO DA ALBUMINÚRIA DE PACIENTES COM DIABETE MELITO TIPO 2 COM E SEM NEFROPATIA DIABÉTICA APÓS A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS DROGAS INIBIDORAS DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA (IECA)
LARISSA SCHNEIDER;ALICE H. NUNES; MELISSA ZANDONAI; LÍVIA BONILIA; JORGE L. GROSS; MIRELA J. DE AZEVEDO; THEMIS ZELMANOVITZ
O uso dos IECA mostra benefício sobre a nefropatia diabética (ND) na redução da excreção urinária de albumina (EUA). No entanto, não está quantificada a manutenção desse benefício e o tempo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 124
necessário para a EUA voltar aos valores basais após a suspensão dessas drogas. Este ensaio clínico randomizado e controlado visa avaliar o efeito da retirada do IECA, utilizado por pelo menos 1 ano, sobre a EUA de pacientes com diabetes melito (DM) tipo 2. Após o período de run-in (avaliação clínica, laboratorial e controle da pressão arterial), os pacientes foram randomizados para suspensão do IECA (substituição por verapamil, atenolol e/ou hidralazina) ou grupo controle. A pressão arterial e EUA foram avaliadas nas semanas 1, 2, 4, 8 e 12. Foram avaliados 90 pacientes, 49 no grupo suspensão do IECA [28 normoalbuminúricos (EUA menor 30mg/24h) e 21 com ND (EUA acima 30mg/24h) e 41 no grupo controle (26 normoalbuminúricos e 15 com ND). No grupo de suspensão do IECA, quando analisados apenas os pacientes com ND, observou-se aumento progressivo da EUA após 1, 2, 4, 8 e 12 semanas [ANOVA de Friedman p=0,04], sendo que somente na oitava semana [206,9 (46–1820) mg/24h] a EUA foi significativamente maior que a EUA basal [120,4 (31-1290) mg/24h; p menor 0,05]. Nesse subgrupo o incremento da EUA foi de 46%, 53%, 45%, 54% e 43%, respectivamente nas 1, 2, 4, 8 e 12 semanas, após a suspensão do IECA. Não houve modificação da EUA nos pacientes normoalbuminúricos que suspenderam o IECA, assim como no grupo controle ao longo do estudo. Durante o estudo o controle pressórico se manteve estável. Os resultados sugerem que são necessárias pelo menos 8 semanas de suspensão do IECA para adequada avaliação da EUA de pacientes com DM tipo 2 e ND em tratamento prolongado com esse medicamento.
O PAPEL DO POLIMORFISMO -3826 A/G NO GENE UCP1 NA PATOGÊNESE DO DIABETES MELLITUS TIPO 2
LETÍCIA DE ALMEIDA BRONDANI;JAKELINE RHEINHEIMER, ANA PAULA BOUÇAS, LUIS HENRIQUE CANANI E DAISY CRISPIM
O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica e multifatorial associada com hiperglicemia crônica resultante de defeitos na ação e/ou secreção de insulina. A proteína desacopladora tipo 1 (UCP1), localizada na membrana mitocondrial interna, é expressa no tecido adiposo marrom, retina e células-beta pancreáticas. A UCP1 desacopla a cadeia respiratória mitocondrial, dissipando o gradiente de prótons e liberando a energia na forma de calor, contribuindo para a diminuição do estresse oxidativo e aumento do gasto energético. O polimorfismo -3826A/G no gene UCP1 parece estar associado com obesidade e/ou DM2. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre o DM2 ou suas características clínicas e o polimorfismo -3826 A/G. Foram estudados 761 pacientes com DM2 e 281 indivíduos não-diabéticos (controles), todos brancos. A análise do polimorfismo foi realizada pela amplificação do DNA por PCR, digestão com a enzima BclI e análise dos resultados em gel de agarose 2%. As frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo estudado foram comparadas entre os grupos pelo teste qui-quadrado e a medida da magnitude do efeito foi estimada pela razão de chances (RC) e intervalo de confiança (IC) de 95%. As frequências genotípicas do polimorfismo estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg em pacientes e controles (p > 0,05). Não foram observadas diferenças significativas das freqüências alélicas e genotípicas do polimorfismo -3826 A/G entre os dois grupos (p = 0,965 e p = 0,916, respectivamente). Entretanto, observamos que indivíduos portadores do alelo G possuem uma frequência maior de retinopatia diabética do que indivíduos homozigotos AA (68,7% vs. 60,2%, respectivamente; RC = 1,455; IC 95% 1,03-2,06; p = 0,043). Sendo assim, nossos resultados não mostram associação do polimorfismo -3826 A/G com DM2, mas indicam que o alelo G desse polimorfismo confere um risco aumentado para retinopatia diabética. Apoio Financeiro: CNPq, FIPE-HCPA.
DEFICIÊNCIA DA 5α-REDUTASE TIPO 2 EM RECÉM-NASCIDO COM GENITÁLIA AMBÍGUA: RELATO DE CASO
GUSTAVO NEVES DE ARAUJO;FABIOLA DOFF SOTTA SOUZA; HALLEY MAKINO YAMAGUCHI; MARIANA NUNES FERREIRA; JORGE LUIS GROSS; SANDRA PINHO SILVEIRO; EDUARDO GUIMARAES CAMARGO
INTRODUÇÃO: A deficiência da 5α-redutase tipo 2 (D5RT2) é uma causa incomum de anomalias do desenvolvimento sexual (ADS) e ocorre de forma esporádica ou familiar, através de mutações no gene SRD5A2 (steroid 5α-reductase type 2). Recém-nascidos afetados possuem funcionamento adequado das células de Leydig e Sertoli, mas devido à incapacidade de converter a testosterona (T) em dihidrotestosterona (DHT), apresentam graus variados de feminização da genitália externa. OBJETIVOS: Fazer revisão da literatura a partir de um relato de caso de paciente proveniente do no
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 125
Ambulatório de Endocrinologia do HCPA. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi feito relato de caso de paciente do Ambulatório de Endocrinologia do HCPA e Revisão de Literatura através do Medline. CASO CLÍNICO: Recém-nascido apresentava diagnóstico de genitália ambígua em ecografia obstétrica realizada na 33ª semana de gestação. No nascimento apresentava gônadas palpáveis e localizadas nas pregas lábio-escrotais, falo de 3 cm e hipospádia perineal. Ecografia pélvica sem evidência de genitália interna feminina. Cariótipo foi 46, XY. Avaliação laboratorial: 17OH-progesterona 7,8 ng/ml (N=<20 ng/ml), potássio 4,9 mEq/l (N=3,5-5,5 mEq/l), sódio 140 mEq/l (N=135-145 mEq/l), T 72 ng/dl (N= 280-800 ng/dl). Teste de estímulo com hCG (1500 U/ m
2,
intramuscular, a cada 48h, 7 doses), com medida da T e DHT no basal e 48 horas após a última dose, mostrava relação T/DHT de 55 (N= 12±3), compatível com deficiência da 5α-redutase tipo 2. DISCUSSÃO: A D5RT2 é uma ADS que ocorre exclusivamente em indivíduos com cariótipo 46, XY. Uma relação T/DHT acima de 30 após estímulo com hCG confirma o diagnóstico de D5RT2.
TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DA ANOREXIA NERVOSA NO PERÍODO PRÉ-PUBERAL: RELATO DE CASO
HALLEY MAKINO YAMAGUCHI;FABÍOLA DOFF SOTTA SOUZA; GUSTAVO NEVES DE ARAÚJO; MARIANA NUNES FERREIRA; SIMONE STEYER LAMPERT; EDUARDO CAMARGO
M. S., sexo feminino, 10 anos, foi encaminhada com suspeita de transtorno alimentar. A avaliação e o tratamento foram realizados a partir de uma perspectiva interdisciplinar envolvendo acompanhamento nas áreas de endocrinologia, psicologia, nutrição e psiquiatria que diagnosticou Anorexia Nervosa (AN) segundo os critérios do DSM - IV-TR. A paciente havia reduzido 16 kg no último ano (IMC = 13,7kg/m2 abaixo do percentil 3 para idade) com importante recusa alimentar e humor agressivo. No sexto mês de tratamento desenvolveu um quadro de hepatite em decorrência do uso de amitriptilina associado à desnutrição. Durante o período de recusa alimentar observou-se atraso importante no desenvolvimento das características sexuais secundárias e da velocidade de crescimento. O tratamento envolveu a paciente e a família. DISCUSSÃO: A ocorrência do transtorno alimentar no período pré-puberal e o quadro de hepatite confrontaram os profissionais envolvidos com o limite de tempo hábil para recuperação e manutenção de peso. O emprego da terapia medicamentosa é controverso na AN. A equipe precisou trabalhar na adaptação de um tratamento que promovesse a recuperação das funções necessárias ao desenvolvimento físico esperado nesta faixa etária. Avaliações do plano de tratamento e evolução da paciente ocorreram em reuniões interdisciplinares com freqüência quinzenal. Após um período de tratamento de 2 anos a paciente recuperou a velocidade de crescimento e iniciou as características de puberdade. CONCLUSÃO: O diagnóstico de AN em período pré-puberal não é comum embora um maior número de casos venha sendo relatado. As peculiaridades desta fase do desenvolvimento impõem à necessidade de tratamento interdisciplinar eficaz.
POLIMORFISMO G276T DO GENE DA ADIPONECTINA ESTÁ ASSOCIADO A MENOR RISCO PARA SÍNDROME METABÓLICA (SM) EM PACIENTES COM DIABETES MELITO TIPO 2
CAMILA MAISA ZALESKI SEBASTIANI;DIMITRIS VARVAKI RADOS; ENNIO PAULO CALEARO DA COSTA ROCHA; JULIANA FISCHMAN ZAMPIERI; VIVIAN TREIN CUNHA; ALICE CASTRO MENEZES XAVIER; ALESSANDRA LOCATELLI SMITH; LUIS HENRIQUE SANTOS CANANI; FERNANDO GERCHMAN
Introdução: A adiponectina, hormônio sensibilizador da insulina, é sintetizada nos adipócitos. Estudos sugerem associação entre o polimorfismo rs1501299 (G276T) do gene da adiponectina e aumento da resistência à insulina, tornando esse gene candidato à SM. Objetivo: Avaliar relação do polimorfismo G276T (rs1501299) com SM em pacientes com DM tipo 2. Métodos: Estudo transversal, 785 pacientes com DM 2 e função renal normal agrupados por genótipo em rs1501299 (GG, n=354; GT, n=332 e TT, n=99). Genotipagens feitas por PCR, reação enzimática e gel de agarose. Presença de SM conforme critérios da OMS. Análise de variáveis contínuas com distribuição normal utilizando ANOVA. Ajustes para variáveis de confusão por regressão logística, sendo variável dependente presença de SM. Adotado p<0,05. Resultados: Prevalência de SM diferente entre os genótipos (GG=83,4% GT=85,9% TT=71,0%; p=0,013). Em modelo autossômico recessivo, prevalência de SM diferente em indivíduos com alelo G ou homozigotos para alelo T (84,6%, 71,0%, p=0,004). Avaliando critérios individuais de SM, comparando alelo G e homozigotos para o alelo T (GG/GT, TT), a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 126
prevalência de hipertensão (67,4% vs 61,6%; p=0,329), dislipidemia (59,9% vs 51,4%; p=0,176), obesidade (83,0% vs 83,6%; p=0,911), e microalbuminúria (41,6% vs 44,2%; p=0,673) não diferirau. Homozigotos para o alelo T eram mais velhos e apresentavam maior tempo de DM. Ajustando para sexo e idade, pacientes com alelo G tinham 2x mais risco para SM que os homozigotos para o alelo T (RC: 2,3; IC95% 1,3-4,1; P=0,004). Conclusão: Pacientes com alelo G do polimorfismo rs1501299 apresentam maior risco para SM do que aqueles homozigotos para o alelo T.
DESEMPENHO DA FÓRMULA DE ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (TFG) EMPREGANDO SIMULTANEAMENTE CREATININA E CISTATINA C EM PACIENTES COM DIABETE MELITO (DM) TIPO 2
EDUARDO CAMARGO;FABÍOLA DOFF SOTTA SOUZA; GUSTAVO NEVES DE ARAÚJO; HALLEY MAKINO YAMAGUCHI; JORGE LUIZ GROSS; SANDRA PINHO SILVEIRO
INTRODUÇÃO: O cálculo da TFG através de fórmula empregando a creatinina sérica, como o sugerido pelo estudo Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), é o método recomendado para se estimar a função renal. No entanto, em pacientes sem doença renal, a fórmula tende a subestimar a TFG e a inclusão da cistatina c sérica, um marcador endógeno de TFG, tem sido avaliada para melhorar a performance da equação. OBJETIVO: Avaliar o desempenho do emprego simultâneo da cistatina C e da creatinina sérica em fórmula de estimativa da TFG em pacientes com DM 2 sem doença renal, comparando-a com a medida feita pela técnica do 51Cr-EDTA. PACIENTES E MÉTODOS: Após a exclusão de pacientes com TFG 200 mg/dl, pressão arterial >160/110 mmHg, hipo ou hipertireoidismo não controlados, 60 pacientes DM 2 foram submetidos à avaliação da função renal. A TFG foi medida pelo método do 51Cr-EDTA, a cistatina C e a excreção urinária de albumina (EUA) foram medidas por imunoturbidimetria e a creatinina foi dosada pelo método de Jaffé. A TFG também foi estimada pela fórmula sugerida por Levey et al. [TFG = 177,6 x creat−0.65 x cist C−0.57 x idade−0.20 x (0,82 fem) x (1,11 afro-desc)]. Na análise estatística, foram realizadas correlação e avaliação de concordância pelo método de Bland & Altman. RESULTADOS: A TFG medida com 51Cr-EDTA e a estimada pela fórmula combinada foi de 108±28 e 84±12 ml/min/1,73 m2, respectivamente, com correlação de 0,06 (P=0,68). Não houve concordância entre os dois métodos (P=0,001) e em 25 pacientes a TFG medida diferiu da TFG estimada em mais de 15% do valor. CONCLUSÃO: O emprego combinado da creatinina e da cistatina C em fórmula de estimativa da TFG subestima a TFG em pacientes com DM2 sem doença renal crônica.
DESEMPENHO DA NOVA EQUAÇÃO DESENVOLVIDA PARA ESTIMAR A TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR - EQUAÇÃO CHRONIC KIDNEY DISEASE EPIDEMIOLOGY COLLABORATION (CKD- EPI)
EDUARDO CAMARGO;FABÍOLA DOFF SOTTA SOUZA; GUSTAVO NEVES DE ARAÚJO; HALLEY MAKINO YAMAGUCHI; TATIANA FALCÃO EYFF;ARIANA SOARES; JORGE LUIZ GROSS; SANDRA PINHO SILVEIRO
INTRODUÇÃO: A equação do estudo Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) é a forma recomendada oficialmente para estimar-se a taxa de filtração glomerular (TFG). No entanto, vários estudos indicam que essa equação subestima a TFG na faixa de normalidade e uma nova equação foi recentemente desenvolvida pelos mesmos pesquisadores do MDRD. OBJETIVO: Comparar a TFG estimada pela equação CKD-EPI com a medida da TFG pelo método do 51Cr-EDTA em pacientes com diabete melito tipo 2 (DM2) e em indivíduos saudáveis. PACIENTES E MÉTODOS: Avaliação transversal da função renal de 60 pacientes com DM 2, brancos, sem doença renal crônica (TFG > 60 ml/min), com idade média de 57±9 anos, 24 mulheres (40%) e tempo de DM de 16±5 anos e também de 96 indivíduos saudáveis, com idade de 42±15 anos, 61 mulheres (64%). A TFG foi estimada pela equação CKD-EPI. A excreção urinária de albumina (EUA) medida por imunoturbidimetria. A TFG foi medida pelo método do 51Cr-EDTA e a creatinina pelo de Jaffé. A concordância entre os métodos foi avaliada através da análise de concordância de Bland & Altman e o viés calculado como a diferença entre o valor medido de TFG e o estimado pela equação. Acurácia calculada com o P15 e P30 (percentual de casos de TFG estimada que se desviam mais de 15% e 30% do valor medido). RESULTADOS: Os valores da TFG estimada pela equação do CKD-EPI foram menores do que aqueles medidos pelo 51Cr-EDTA (79±19 vs. 106±30 ml/min/1,73 m2; (P<0,001). Nos indivíduos saudáveis, a TFG estimada não mostrou-se concordante com a medida, apresentando
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 127
valores médios inferiores (102±18 vs. 112±24 ml/min/1,73 m2; (P<0,001). CONCLUSÃO: O uso da
equação CKD-EPI subestima de forma significativa a TFG em indivíduos com DM2 sem doença renal crônica e em indivíduos saudáveis.
DESEMPENHO DAS EQUAÇÕES PARA ESTIMAR A TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM INDIVÍDUOS SAUDAVEIS
ARIANA AGUIAR SOARES;TATIANA FALCAO EYFF; JOIZA LINS CAMARGO; SANDRA PINHO SILVEIRO
Introdução: As diretrizes de nefrologia recomendam a realização da estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG) com equações que incluam a creatinina sérica, como a desenvolvida no estudo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). No entanto, existem controvérsias sobre a performance dessa equação nas faixas de normalidade da TFG e novas fórmulas têm sido propostas, como a CKD-EPI (Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration). Objetivo: Avaliar o desempenho das equações MDRD e CKD-EPI para estimar a TFG comparando-as com a TFG medida por
51Cr-EDTA em adultos saudáveis. Pacientes e métodos: Em estudo transversal, a TFG
foi medida pela técnica do 51
Cr-EDTA e estimada pelas fórmulas do MDRD e CKD-EPI. A creatinina sérica foi medida com método Jaffe compensado rastreável. Resultados: Foram avaliados 96 indivíduos, 61 mulheres (64%), 83 brancos (86%), com idade de 42±15 anos (19-86 anos). A TFG medida com
51Cr-EDTA (TFG
51Cr) foi de 112±24, a TFGMDRD foi de 94±19 e a TFGCKD-EPI foi de 102±18
ml/min/1,73 m2. O viés (valor medido menos estimado) entre TFG
51Cr e TFGMDRD foi de 18
ml/min/1,73 m2, com limite de concordância (média±2 DP) de -34 a 70 ml/min/1,73 m
2. O viés entre
TFG51
Cr e TFGCKD-EPI foi de 10 ml/min/1,73 m2
(-38 a 58 ml/min/1,73 m2). A acurácia, calculada como
a percentagem dos resultados estimados que desviam menos do que 15% do valor medido, foi de 40% para TFGMDRD e de 55% para TFGCKD-EPI. Conclusões: As fórmulas disponíveis para a estimativa da TFG não apresentam acurácia satisfatória na faixa de normalidade.
CONTROLE DE PESO E SACIEDADE EM RATOS WISTAR ATRAVÉS DO USO E SACARINA, ASPARTAME E SACAROSE
CÍNTIA REIS;FERNANDA MATOS FEIJÓ; BRUNA MELO BATISTA; ALICE MAGAGNIN NEVES; MARIA FLÁVIA MARQUES RIBEIRO; MARCELLO CASACCIA BERTOLUCI
Introdução: Estudo recente em ratos mostrou que uma dieta contendo sacarina promoveu maior ganho de peso comparativamente a uma dieta suplementada com glicose. A hipótese de que a glicose possa promover maior saciedade, contudo, não foi avaliada. Objetivos: Comparar o efeito da sacarose, sacarina e aspartame, na variação do peso e na ingestão de ração em ratos. Método: Experimento controlado realizado no Laboratório de Experimentação Animal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) durante 12 semanas, n=20 ratos machos Wistar divididos em 5 grupos: GLI (30ml de iogurte com sacarose 20%); SAC (30ml de iogurte com sacarina 0.3%); ASP (30ml de iogurte com aspartame 0.4%) e IOG (30ml de iogurte puro-controle) e C (somente ração). Diariamente os animais receberam ração e água ad libitum. Foi usado ANOVA, com Fisher e p menor que 0,05. Este trabalho foi aprovado pelo CEP/HCPA. Resultados: A diferença de peso (em g) basal-12semanas foi (média±DP): C:+125,7±29,9; GLI:+132,4±11,2; SAC:+179,4±12; ASP:+172,3±34,7 e IOG:+161,7±27,9. O grupo GLI apresentou menor ganho de peso em relação aos grupos SAC e ASP (p=0.01 e p=0.04, respectivamente). Consumo médio de ração (em g/g de rato- média±DP)foi: C: 1,40±0,18; GLI: 1,09±0,08; SAC: 1,28±0,04; ASP: 1,27±0,06 e IOG:1,36±0,08. O grupo GLI também apresentou consumo de ração significativamente menor comparado aos grupos SAC e ASP ambos para p=0,01; e, em relação ao grupo IOG p=0,001. Em uma Análise de Modelo Misto, observou-se que os grupos IOG, SAC e ASP tiveram maior ganho peso do que o grupo GLI (p menor que 0,001). Conclusão: A adição de sacarose promove menor consumo de ração e menor ganho de peso em relação ao aspartame e à sacarina. Futuros estudos são necessários para esclarecer os mecanismos hipotalâmicos envolvidos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 128
ENFERMAGEM
ENFERMAGEM: A ABORDAGEM DO CUIDADO FRENTE A ANSIEDADE DESENCADEADA PELA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
MAUREN PIMENTEL LIMA;SABRINA FELIX LEÃO,SÍLVIA MARIA DE OLIVEIRA PAVÃO
A presença de ansiedade é um distúrbio psiquiátrico frequentemente presente nos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Tal intervenção pode ser necessária para o restabelecimento da saúde das pessoas. Nesta ótica, a pessoa enferma em razão do surgimento inesperado da enfermidade pode tornar-se fragilizada e assim vulnerável a ansiedade. Com a hospitalização esta vulnerabilidade pode acentuar-se em decorrência deste ambiente apresentar uma esfera de dor, distanciamento do lar e familiares, perda momentânea da intimidade e da independência, sendo que entre 11% a 80% dos adultos submetidos à intervenção cirúrgica tem estes sintomas relacionados ao desencadeamento de ansiedade. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo apresentar as orientações prestadas pela equipe de enfermagem ao paciente cirúrgico, uma vez que esta conduta pode amenizar os efeitos da ansiedade sobre este individuo. Este trabalho é um resultado de conclusão de curso de graduação em enfermagem. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quali-quantitativa. O campo de estudo foi um hospital particular de grande porte localizado na região de Santa Maria –RS. Os sujeitos respondentes foram 30 profissionais da equipe de enfermagem atuantes em unidades de clínica cirúrgica. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semi-estruturado e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) atendendo as questões éticas relacionadas ao hospital e sujeitos da pesquisa. Dos resultados destacam-se: para 73% a ansiedade do paciente interfere no atendimento da equipe, 57% têm voz ativa para controlar a ansiedade do paciente, 97% delegam suas funções na assistência ao paciente cirúrgico. Observa-se a importância de lançar um olhar acerca do conhecimento referente às orientações destes profissionais para o preparo pré, trans e pós cirúrgico, pois se acredita que tais ações possam ser responsáveis na amenização da ansiedade vivenciada nos pacientes de setores clínicos.
ANÁLISE DAS BRONQUIOLITES NAS UNIDADES PEDIÁTRICAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE NO ANO DE 2008
FELIPE FRARE;JESSICA DALLÉ; FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO; MÁRCIA ROSANE PIRES; LORIANE KONKEWICZ; NÁDIA MORA KUPLICH; GUILHERME SANDER; SANDRA GASTAL; FABIANO NAGEL; THALITA JACOBY; RODRIGO PIRES DOS SANTOS
INTRODUÇÃO: A bronquiolite viral atinge crianças no primeiro ano de vida e é o principal motivo de internação hospitalar em pediatria nos meses de outono e inverno. Para o melhor manejo da assistência aos pacientes e prevenir a transmissão intra-hospitalar; conhecer o tipo de vírus respiratório fundamenta as ações de controle e prevenção da transmissão hospitalar dos vírus durante o período de surto. OBJETIVO: Caracterizar a freqüência e o tipo de vírus respiratórios em pacientes pediátricos com bronquiolite internados no HCPA em 2008. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo quantitativo da análise dos resultados de pesquisa de vírus, através do teste direto por imunoflorescência do aspirado de nasofaringe em crianças internadas no HCPA, com suspeita de bronquiolite, no ano de 2008. RESULTADOS: Das 930 amostras coletadas, em 389 foram identificados os seguintes vírus: 301 (77,37%) Vírus Sincicial Respiratório (VSR); 55 (14,13%) Parainfluenza; 20 (5,14%) Influenza e 13 (3,34%) Adenovírus. Documentamos a transmissão intra-hospitalar em 52 casos, sendo que em 32 crianças foi identificado o VSR, em 7 o adenovírus, em 12 o vírus Parainfluenza e em 1 paciente o vírus influenza. CONCLUSÃO: O resultado obtido no estudo está de acordo com a literatura que relata maior incidência de VSR. É importante o acompanhamento prospectivo sistemático dos resultados das pesquisas de vírus respiratórios, realizadas nos pacientes com bronquiolite. Este controle permite à equipe assistencial e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) decidir a separação dos pacientes em espaços físicos adequados e prestar uma assistência de qualidade, minimizando os riscos de transmissão hospitalar e seqüelas futuras para as crianças.
PREVALÊNCIA DE MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES NO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE NO ANO DE 2008
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 129
FELIPE FRARE;JESSICA DALLÉ; FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO; MÁRCIA ROSANE PIRES; LORIANE KONKEWICZ; NÁDIA MORA KUPLICH; GUILHERME SANDER; SANDRA GASTAL; FABIANO NAGEL; THALITA JACOBY; RODRIGO PIRES DOS SANTOS
INTRODUÇÃO: O uso abusivo, indiscriminado e prolongado de antimicrobianos propicia a emergência de microrganismos multirresistentes, ocasionando disseminação de cepas resistentes no ambiente. O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) alberga pacientes mais graves e críticos que requerem a utilização de antibioticoterapia de largo espectro.OBJETIVOS: Caracterizar a freqüência de infecções causadas por bactérias multirresistentes no CTI adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), identificando os patógenos mais freqüentes e o sítio de infecção. MATERIAIS E MÉTODOS: Análise prospectiva das infecções hospitalares em pacientes internados no CTI do HCPA durante o ano de 2008. RESULTADOS: Em 2008 foram identificados 102 microrganismos multirresistentes em pacientes internados no CTI do HCPA: 31,3 % Acinetobacter spp, 22,5 % Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), 22,5 % Klebsiella spp, 18,8 % Pseudomonas aeruginosa e 4,9% outros microorganismos. O sítio de infecção mais prevalente foi o pulmonar, em 60,7% das infecções, seguido pelo sítio urinário, com 14,7% das infecções e de corrente sanguinea, com 9,8%. CONCLUSÕES: Os germes Gram-negativos foram os principais patógenos multirresistentes identificados no período analisado, sendo o Acinetobacter spp o mais prevalente. A predominância do Acinetobacter provavelmente ocorreu devido a um surto ocasionado por essa bactéria, instalado desde fevereiro de 2007 no HCPA. Além de estimular a higienização das mãos, é importante também instituir medidas de controle ambientais, devido à alta persistência desses microrganismos em reservatórios inanimados. Portanto, a desinfecção de materiais, equipamentos e superfícies próximos aos pacientes deve ser priorizado a fim de eliminar riscos de transmissão cruzada.
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES DE SÍTIO CIRÚRGICO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PORTO ALEGRE EM 2008
FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO;JESSICA DALLÉ; FELIPE FRARE; LORIANE RITA KONKEWICZ; NÁDIA MORA KUPLICH; MÁRCIA ROSANE PIRES; RODRIGO PIRES DOS SANTOS; SANDRA LUDWIG GASTAL; GUILHERME BECKER SANDER; THALITA SILVA JACOBY; FABIANO NAGEL
Introdução: A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) realiza vigilância epidemiológica das infecções relacionadas ao sítio cirúrgico. As infecções do sítio cirúrgico representam 14 a 16% de todas as infecções hospitalares e têm se destacado devido à alta mortalidade e morbidade, e aos relevantes custos atribuídos ao tratamento. Objetivos: Avaliar as infecções cirúrgicas evidenciadas em 2008, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), identificando a incidência destas infecções de acordo com tipo de cirurgia e potencial de contaminação. Material e Métodos: Estudo realizado no período de janeiro a dezembro de 2008, através de coleta de dados utilizando critérios diagnósticos do CDC. Os dados foram registrados em um instrumento elaborado pela CCIH que contempla: equipe, nome da cirurgia, data da cirurgia, data do aparecimento da infecção, potencial de contaminação e profundidade de infecção. Resultados: Durante o período do estudo, foram realizadas no HCPA 10898 cirurgias, dentre elas 6069 eram cirurgias limpas, sendo que 241 (3,97%) infectaram; 4552 cirurgias potencialmente contaminadas e contaminadas, sendo que 167 (3,66%) infectaram, e 277 cirurgias infectadas, sendo que 59 (21,29%) infectaram. As cirurgias que mais apresentaram infecções em sitio cirúrgico foram em ordem decrescente: hernioplastia incisional, apendicectomia, colectomia parcial, laparotomia exploradora, colecistectomia, colecistectomia por videolaparoscopia, gastrectomia, prostatectomia e microcirurgia para tumor intracraniano. Conclusões: A maior parte das infecções de sítio cirúrgico estão relacionadas a cirurgias infectadas. Entretanto observa-se um grande número de cirurgias limpas que infectaram, evidenciando a necessidade de maior atuação da CCIH na prevenção destas infecções.
INFECÇÕES URINÁRIAS RELACIONADAS A PROCEDIMENTO INVASIVO EM TRANSPLANTADOS RENAIS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE EM 2008
FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO;FELIPE FRARE; JESSICA DALLÉ; NÁDIA MORA KUPLICH; LORIANE RITA KONKEWICZ; MÁRCIA ROSANE PIRES; RODRIGO PIRES DOS SANTOS;
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 130
GUILHERME BECKER SANDER; SANDRA LUDWIG GASTAL; THALITA SILVA JACOBY; FABIANO NAGEL
Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções hospitalares mais freqüentes e representa um risco adicional à saúde de pacientes submetidos ao transplante renal. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) mantém um processo de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares incluindo as ITUs. Objetivos: Analisar as ITUs hospitalares relacionadas ao uso de cateter vesical, identificando tipo de cateter, tempo médio de permanência, patógenos e sintomatologia mais frequentes em pacientes adultos transplantados renais do HCPA, no ano de 2008. Material e Métodos: Coleta de dados realizada na unidade de internação cirúrgica 8° Sul por busca ativa e prospectiva de infecção hospitalar. Resultados: Foram identificadas 28 infecções urinárias relacionadas a procedimento invasivo em pacientes transplantados renais no HCPA. Dentre as ITUs, 89,2% foram relacionados ao uso de sonda vesical de demora e 10,8 % a outros procedimentos urinários. A média do tempo de permanência do dispositivo urinário, foi 8 dias. Os microorganismos predominantes isolados nas uroculturas foram Escherichia Coli (28,5%), seguida de Enterococcus, Klebsiela Pneumonie e Enterobacter (17,8%), Pseudomonas Aeruginosa (10,7%) e Morganella Morganii e Stenotrophomonas Maltophilia (3,5%). Em 25% das uroculturas identificou-se microorganismos multirresistentes. O microorganismo multirresistente mais prevalente foi Klebsiella sp. Conclusões: O cateterismo vesical contínuo foi o procedimento de risco mais freqüentemente relacionado às ITUs, demonstrando a importância da adequada indicação de seu uso. As bactérias Gram-negativas foram os microorganismos mais prevalentes, com identificação de multirresistência em 3/4 dos casos.
ANÁLISE DAS INFECÇÕES EM CATETERES VASCULARES CENTRAIS DA UNIDADE DE AMBIENTE PROTEGIDO DO HCPA EM 2008
JESSICA DALLÉ;FELIPE FRARE;FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO; NÁDIA MORA KUPLICH; LORIANE KONKEWICZ;MÁRCIA ROSANE PIRES; RODRIGO PIRES DOS SANTOS;GUILHERME SANDER; SANDRA GASTAL; FABIANO NAGEL; THALITA JACOBY
Introdução: O HCPA possui uma Unidade de Ambiente Protegido (UAP) que visa internar pacientes neutropênicos hematológicos e transplantados de medula óssea (TMO). As infecções relacionadas a cateteres vasculares centrais (CVC) representam alto custo e elevada taxa de mortalidade, que varia de 14-38%. Objetivos: Analisar as infecções hospitalares relacionadas a CVC adquiridas no HCPA, identificando tipo de cateter, tempo médio de permanência, patógenos, sinais/sintomas, no período de janeiro a dezembro de 2008.Material e métodos: A coleta dos dados foi realizada na UAP do HCPA por busca ativa e prospectiva de IH em formulário próprio. Os tipos de cateteres foram classificados de acordo com o tempo de permanência, em curta, longa e hemodiálise. Resultados: Foram identificadas 24 infecções relacionadas a CVC, totalizando 619 dias de uso, sendo 19 (79,16%) infecções em cateter de curta duração, com tempo médio de permanência de 24 dias; 4 (16,66 %) em cateter de longa permanência, tempo médio 36,25 dias e 1 (4,16%) em cateter de hemodiálise, tempo médio de 18 dias. Os sinais mais encontrados foram, hiperemia (33,3 %), febre (31,5%), e secreção purulenta (17,5%). Foram encontrados 5 patógenos responsáveis pelas infecções; 65%, Gram-positivos ( Staphylococcus coagulase negativo e bacilo gran positivo), e 35 % Gram-negativos (Escherichia coli, klebsiella pneumoniae e proteus mirabilis ). Conclusões: Os resultados são semelhantes a outros estudos no que diz respeito a maior taxa de infecção em cateteres de curta permanência, já que são os mais utilizados. Na freqüência de patógenos, os estudos relatam maior ocorrência de Gram positivos em relação aos Gram negativos, os resultados obtidos no nosso estudo mostram equivalência nessa ocorrência.
INFECÇÕES E COLONIZAÇÕES POR ACINETOBACTER SPP. RESISTENTES A CARBAPENÊMICOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA) NO ANO DE 2008
JESSICA DALLÉ;FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO; FELIPE FRARE; LORIANE KONKEWICZ; NÁDIA MORA KUPLICH; MÁRCIA ROSANE PIRES; GUILHERME SANDER; SANDRA GASTAL; FABIANO NAGEL; THALITA JACOBY; RODRIGO PIRES DOS SANTOS
INTRODUÇÃO: O Acinetobacter spp. é um bacilo Gram-negativo, capaz de sobreviver em superfícies por longos períodos. É um importante patógeno nosocomial oportunista que acomete pacientes
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 131
críticos, imunocomprometidos ou submetidos a procedimentos invasivos. Desenvolve rapidamente resistência aos antimicrobianos, podendo inclusive apresentar pan-resistência antimicrobiana. OBJETIVOS: Caracterizar o perfil das infecções por Acinetobacter spp resistentes aos carbapenêmicos, durante o ano de 2008, no HCPA, levando-se em consideração o número total de casos, sua distribuição quanto a sexo, colonização ou infecção, sítios de infecção e unidades de internação. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo prospectivo realizado no HCPA durante o ano de 2008. Os casos de infecções/colonizações foram identificados pelos profissionais da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e as culturas positivas para Acinetobacter spp foram identificadas na Unidade de Microbiologia do hospital. RESULTADOS: Durante o ano de 2008 foram identificados no HCPA 66 casos, sendo 12 casos de colonização e 54 de infecções por Acinetobacter spp resistentes a carbapenêmicos. A média de idade dos pacientes foi de 55 anos, sendo 53% do sexo feminino. Os sítios de infecções foram: 64% pulmonares, 15% urinárias, 7% em cateter venoso central, 6% sepses, 4% cirúrgicas e 4% em outros sítios. Em relação a localização dos pacientes, 65% estavam internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 35% em outras unidades. CONCLUSÕES: A maioria das infecções ocorreram em sítio pulmonar e em pacientes gravemente enfermos do CTI. Os achados da literatura confirmam que a instrumentação do trato respiratório é fator de risco para aquisição de Acinetobacter spp, bem como a internação em centro de tratamento intensivo.
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM SERVIÇO DE ENDOSCOPIA
CRISTINA FALEIRO PEREIRA;PELEGRINI, M. L. M.
O enfermeiro em serviço de endoscopia deve ter uma visão ampla de implantação de projetos de readequações, tendo como objetivo utilizar adequadamente os recursos físicos, tecnológicos, humanos e assim qualificar os processos assistenciais e desempenho da equipe. Ao longo das últimas décadas, a endoscopia tornou-se uma técnica diferenciada no diagnóstico e terapêutica; desta forma houve maior desenvolvimento técnico e ampliação da especialização médica e a atuação da enfermagem, cada vez mais integrada com o endoscopista. Apesar destas relevantes implicações, existem poucos estudos no Brasil sobre enfermagem em endoscopia. Este estudo teve como objetivo identificar se a expectativa do serviço corresponde ao preconizado na literatura, quanto ao desempenho do enfermeiro em serviço de endoscopia. Foi realizado um estudo exploratório descritivo junto à equipe de um serviço de endoscopia, onde através de questionário estruturado foram investigadas as expectativas da equipe quanto o desempenho do enfermeiro em ações administrativas, assistenciais, educacionais e de pesquisa. Com a realização desta pesquisa conclui-se que as expectativas dos participantes correspondem a um profissional com atuação bastante vinculada com atividades de educação da equipe de enfermagem, de preparo e manuseio do material, assistência ao paciente em situações de urgência e envolvimento com atividades de pesquisa.
UMA EXPERIÊNCIA DE HUMANIZAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO
LUCIA HELENA REUS;GIOVANA DUTRA
A enfermagem está intimamente ligada com os temas de humanização. Em um centro cirúrgico, o contato com tecnologias avançadas e o aumento da demanda de trabalho impelem os trabalhadores a prestar um atendimento mais objetivo e com tempo reduzido. Nesse contexto, o enfermeiro busca conciliar e harmonizar diversas funções priorizando, em suas tarefas cotidianas, o atendimento humanizado. Neste trabalho, pretendemos mostrar algumas iniciativas desenvolvidas nos últimos anos no Centro Cirúrgico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, alinhadas à Política Nacional de Humanização como, mudanças na área física e no atendimento à pacientes e familiares. Podemos destacar o atendimento a pacientes e familiares na sala de espera externa ao bloco, entrada de familiares na sala de preparo no caso de crianças, pacientes idosos ou com necessidades especiais, introdução da avaliação de dor como 5º sinal vital na admissão dos pacientes ambulatoriais, identificação dos pacientes pelo nome com pulseiras, rótulos nas macas e nas portas das salas cirúrgicas, aprimoramento de técnicas de posicionamento cirúrgico, registro e acompanhamento de efeitos adversos, abertura de espaço para reuniões da equipe de enfermagem com o serviço de psicologia; mudanças na ambiência com a abertura de visores para entrada de luz natural, reformas, e pinturas, aquisição de aparelhos de som e DVD para salas de preparo, entre outros. Pensamos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 132
que muitas ações podem ainda ser implementadas e a enfermagem pode ser o agente de uma transformação que traga benefícios para os pacientes e os próprios trabalhadores.
ESCALA DE ALDRETE-KROULIK - IMPLEMENTAÇÃO EM UMA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA
DEISE SIMÃO ARREGINO;NERY JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
Introdução - Atualmente, a Sala de Recuperação Pós-Anestésica é o local destinado a receber o paciente no período do pós-operatório imediato que ficará sob a observação e os cuidados constantes da equipe de enfermagem, até que haja a recuperação da consciência, estabilidade dos sinais vitais, prevenção das intercorrências se houver. Durante essa fase o anestesista é o médico responsável pela assistência e alta do paciente da Recuperação Pós-Anestésica. Objetivos - Este trabalho teve como objetivo implementar à escala de Aldrete-Kroulik modificada a partir da avaliação inicial dos enfermeiros junto aos pacientes no pós-operatório imediato em uma Sala de Recuperação Pós-Anestésica. Material e Método - Pesquisa bibliográfica por meio de artigos e livros, onde foram selecionados os conteúdos referentes à Sala de Recuperação Pós-Anestésica, a avaliação do paciente na admissão do pós-operatório, escalas e critérios. Os dados foram selecionados e descritos sob a forma de quadro sinóptico. A análise dos dados foi realizada mediante os conceitos, valores e sistemas de pontuação. Resultados – A implementação da escala de Aldrete-Kroulik modificada e acrescida de informações tornou-se um parâmetro utilizado, a fim de auxiliar o enfermeiro na avaliação junto ao paciente pós-operatório imediato na Sala de Recuperação Pós-Anestésica. Conclusão: ConclusãoC – A implementação desses novos critérios junto à escala de Aldrete-Kroulik propiciou uma melhora significativa em um atendimento de excelência padronizando seu atendimento proporcionando maiores subsídios para enfermeiro e sua equipe atuarem no pronto restabelecimento do período pós–anestésico.
ABSENTEISMO DE TRABALHADORES DE ENFERMAGEM AO EXAME PERIÓDICO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
LEONE FERREIRA PEREIRA;LIANA LAUTERT
Esse estudo teve como finalidade identificar os principais fatores que geraram absenteísmo entre os trabalhadores de enfermagem do HCPA ao exame periódico de saúde. Para isso foi elaborado um questionário estruturado contendo perguntas sobre dados gerais do profissional, informações sobre a carga e local de trabalhado e questões sobre a finalidade do exame periódico. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Para variáveis continuas usou-se média e para as categóricas medianas e freqüências. Foram coletados dados junto aos 106 trabalhadores de enfermagem que faltaram ao exame periódico de saúde no período de janeiro a março de 2009, os quais representam 92,17% do total de faltantes da enfermagem, neste período Observamos, na amostra avaliada, que as unidades clínicas, cirúrgicas e de terapia intensiva somaram 47% do total da amostra, representando respectivamente, 19%,17% e 11%. Contudo o setor de trabalho não obteve uma correlação estatisticamente significativa com o esquecimento de realizar o exame periódico de saúde (P=0, 502). Os enfermeiros representaram apenas 14,2% dos faltantes, enquanto que técnicos e auxiliares representaram 85,9% da amostra. Quanto aos motivos da falta ao exame periódico de saúde, 34% das pessoas dessa amostra faltaram ao exame por esquecimento. As sugestões apresentadas pelos respondentes para melhoramento da dinâmica do exame periódico de saúde, 31,1% dos entrevistados esperam maior atenção por parte dos médicos durante sua realização do exame, sugerindo um exame mais detalhado. Evidencia-se com isso a necessidade de maior divulgação das finalidades do exame periódico de saúde e também a implementação de exames mais detalhados a fim de contemplar o individuo em todos seus aspectos não só físico, mas também psíquico.
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS À HEMOTERAPIA
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS;VERA CATARINA PORTELLA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 133
Introdução: A transfusão de sangue é um método utilizado no manejo de situações críticas de sangramentos clínicos e cirúrgicos em muitas instituições hospitalares, de modo que a equipe assistencial depara-se com dilemas éticos ao prestar atendimento a pacientes que não aceitam transfusões de sangue devido à convicção religiosa, como as Testemunhas de Jeová (TJ). Assim sendo, quando um procedimento terapêutico entra em conflito com valores pessoais, há a necessidade de tratamentos alternativos em respeito à escolha do paciente, na promoção e recuperação da saúde. Objetivo: Esclarecer o motivo pelo qual as TJ não aceitam transfusões sanguíneas e caracterizar a possibilidade de tratamento alternativo. Método: Pesquisa bibliográfica tendo como fonte base de dados virtual, livros e periódicos. Os dados foram organizados e analisados segundo modelo de Gil (2002). Resultados: A crença acatada pelas TJ está fundamentada na Bíblia, e associa-se à questão de consciência. Encaram o sangue como sagrado, e por isso recusam transfusões de hemocomponentes. Em um processo de tomada de decisão, o sistema de crenças e os desejos das pessoas envolvidas devem ser considerados. Consensos recentes sugerem estratégia restritiva transfusional estimulando uma prática que visa minimizar as perdas sanguíneas, reduzir o limiar crítico da hemoglobina, detectar anemia e tratá-la. Acrescenta-se a utilização de hemodiluição normovolêmica aguda e sistema de recuperação de células sanguíneas em sangramentos intraoperatórios. Conclusões: O respeito à autonomia do paciente conjugado ao conhecimento e à aplicação de tratamento alternativo às transfusões de sangue minimiza dilemas éticos vivenciados pelos profissionais de saúde ao atender pacientes TJ que apresentem perda sanguínea significativa.
GERENCIAMENTO DA DOR EM UMA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - RELATO DE EXPERIÊNCIA
NERY JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR;SHNA MARQUES NETTO
Introdução: diariamente, são realizados inúmeros procedimentos cirúrgicos no meio hospitalar, e a dor é uma das principais complicações do pós-operatório imediato. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo, relatar a experiência da atuação do enfermeiro no gerenciamento da dor em uma Sala de Recuperação Pós-Anestésica. Material e Método: este é um estudo descritivo de análise situacional. O atendimento destes pacientes é realizado em uma Sala de Recuperação Pós-Anestésica de uma Instituição Hospitalar Privada, caracterizada como Hospital Geral, localizado na cidade de Porto Alegre. Esta sala dispõe de 13 leitos , recebe pacientes provenientes do Centro Cirúrgico, Centro de Terapia Vascular e Centro de Diagnóstico por Imagem. Passam por esta sala de recuperação em média 500 pacientes mês. Busca-se a mensuração da dor com o objetivo de melhor interpretar essa experiência complexa e poder determinar e avaliar a melhor conduta terapêutica. A dor, 5º sinal vital, é avaliada e registrada ao mesmo tempo em que os demais sinais vitais são aferidos e registrados. Quando o paciente vier a apresentar dor ≥ a 4, o mesmo será medicado de acordo com a prescrição médica e reavaliado em 30 min de acordo com o Programa Operacional Técnico (POT) da Instituição. Resultados: A partir da inclusão da avaliação da dor como 5º sinal vital, os pacientes puderam deixar a Sala de Recuperação sem dor ou com uma dor < 4, podendo dar continuidade ao gerenciamento da sua dor na Unidade de destino, pois todos os profissionais de enfermagem desta instituição estão capacitados para tal avaliação. Conclusão: A avaliação da dor de forma contínua possibilita o planejamento do esquema terapêutico, de acordo com as necessidades pessoais e permite avaliar a eficácia dos tratamentos implementados de modo confiável, otimizando a assistência aos pacientes através dos cuidados proporcionados pela equipe multiprofissional.
CATETER SUBCUTÂNEO PARA ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS EM PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO PÚBLICO - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
VANESSA KENNE LONGARAY;GISLENE PONTALTI , MARCIA FABRIS
Introdução: O uso da via subcutânea (SC) para administração de fármacos em pacientes em cuidados paliativos é uma técnica descrita desde 1986, porém a partir das duas últimas décadas, muitos artigos que defendem o cateter subcutâneo como segunda via de escolha após a via oral, e sua utilização em cuidados paliativos vem ganhando grande aceitação. O método é considerado seguro, eficaz e tecnicamente a aplicação do cateter subcutâneo é mais fácil do que a intravenosa. Este estudo foi motivado pela necessidade de implementar essa prática no cuidado a pacientes que
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 134
não podem receber medicação por via oral e que necessitam administração de fármacos para controle da dor e demais sintomas. Objetivo: capacitar a equipe de enfermeiros do Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP), e representantes de outras áreas da instituição, na administração de fármacos por via subcutânea. Projeto de desenvolvimento para estabelecer diretrizes na implantação de cateter por via subcutânea na prática clínica a pacientes em cuidados paliativos cuja etapa principal para implantação foi capacitar 17 enfermeiros nesta prática. Resultados: Foi elaborado um folder de informações sobre técnica e cuidados com cateter subcutâneo, e será formado um grupo de estudo de punção subcutânea para dar continuidade ao projeto. Conclusão: É uma técnica de fácil aplicabilidade e manutenção em ambiente hospitalar ou domiciliar. Melhora a autonomia e qualidade de vida do paciente, sendo esse o objetivo primordial em cuidados paliativos. De toda forma requer a capacitação do profissional antes de sua implementação, pois é fundamental a construção do conhecimento e habilitação do profissional, contribuindo para uma assistência de enfermagem qualificada e segura ao paciente e sua família na hospitalização e após sua alta.
CONHECENDO O MELANOMA: UMA PERSPECTIVA PARA A ENFERMAGEM
KATIANE SEFRIN SPERONI;DARIANE SAVEGNAGO DONÁ; JULIANA BOLZAN DE PELEGRINI
A cada ano, o câncer de pele intensifica sua incidência, em especial o melanoma como diagnóstico agressivo e invasivo, responsabilizando os profissionais de saúde na melhoria da assistência rápida e eficaz no combate a esta doença, através do diagnóstico precoce para obtenção da eficácia no tratamento, possibilitando a cura e a reabilitação. O presente trabalho objetiva discutir, apontar e debater a importância da prevenção do câncer de pele em especial o melanoma, com enfoque na detecção precoce, visto como problema de saúde pública. Trata-se de um estudo de caráter descritivo bibliográfico, que utiliza como aporte teórico metodológico os principais autores: Otto 2002, Brunner e Suddarth 2005, e Oliveira 2002. Analisaram-se os seguintes aspectos: epidemiologia, manifestações clínicas, sinais e sintomas, fatores de risco, bem como, o tratamento usado para melhoria da qualidade de vida dos pacientes e os cuidados que os profissionais da saúde podem desempenhar frente à alta incidência e letalidade desta patologia. Através deste estudo podemos evidenciar a importância de ações educativas para prevenção do melanoma, como também informar a população e profissionais da saúde de seus possíveis agentes causadores. Além disso, esclarecer a respeito das características dessa patologia, classificação, fisiopatologia, diagnóstico e assistência de enfermagem. De modo a conceber o atendimento do paciente como unidade integral. Concluí-se que as ações de enfermagem devem ser de forma continuada, priorizando a prevenção como cuidado adequado as pessoas que predispõe os riscos a desenvolverem este tipo de tumor, bem como conscientizar a sociedade que a melhor forma é evitar a exposição aos raios ultravioletas, assim, reduzindo os índices de morbi-mortalidade do melanoma.
COMPLICAÇÕES DOS PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA RELACIONADAS AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
ANA ISABEL MARTINS
A ventilação mecânica invasiva (VMI) é um suporte oferecido ao paciente com função ventilatória comprometida. Este estudo visa relacionar complicações dos pacientes em ventilação mecânica invasiva e cuidados de enfermagem, em uma UTI adulto, de um hospital geral privado de Porto Alegre. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, exploratório-descritiva, com delineamento de coorte prospectivo. A coleta de dados foi realizada por meio observacional e de análise de prontuário dos pacientes. A população foi constituída por 28 pacientes adultos, de ambos os sexos, que estiveram internados nesta UTIA, submetidos à VMI por via tubo orotraqueal por pelo menos 48 horas, e que foram intubados nesta instituição. Nos resultados, observou-se que 53,6 % dos pacientes eram do sexo masculino, com média de idade de 70 anos e aposentados. O tempo médio de VMI foi de 9,71 ± 4,7 dias, e as principais complicações relacionadas à permanência em ventilação mecânica foram arritmias cardíacas (14,3%), atelectasias (7,1%), afonia (3,6%), pneumonia associada à ventilação mecânica (25%) e úlcera de pressão na região supralabial e na aba superior das orelhas (50%). Percebeu-se que todos os cuidados de enfermagem estavam prescritos e checados em prontuário, porém, quando analisados os registros dos mesmos, apenas em 32,1% havia o registro de pressão do cuff do balonete e comissura labial, mesmo que estivessem checados em 100%. Com isto, percebe-se que há a banalização da prescrição de enfermagem pela própria equipe, não sendo lida
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 135
com a mesma atenção prestada às prescrições médicas. Como conclusão do estudo, pode-se dizer que as complicações relacionadas ao paciente em VMI estão dentro dos limites estipulados pela literatura, e não apresentaram associação com os cuidados de enfermagem. A qualidade da assistência ao paciente é considerada adequada, porém, os registros de enfermagem como já descritos em outros estudos ainda são deficitários.
USO DE AGONISTA BETA ADRENÉRGICO DE LONGA ACÃO EM PACIENTES INTERNADOS
AMANDA MAGALHÃES;LEILA BELTRAMI MOREIRA; MARIA ANGÉLICA PIRES FERREIRA; PAOLA PANAZZOLO MACIEL; CAROLINA BALTAR DAY
INTRODUCÃO: Os agonistas beta adrenérgicos de longa ação (b2-ALA) são efetivos para o manejo de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) estável e asma crônica, quando não se obtém controle sintomático satisfatório com broncodilatadores de curta ação. O uso dos b2-ALA em exacerbações de DPOC ou crise de asma aguda que necessitem internação não foram ainda bem avaliados do ponto de vista de eficácia e segurança. OBJETIVOS: Descrever o uso de b2-ALA em pacientes internados em hospital universitário de alta complexidade; verificar o padrão de consumo de broncodilatadores de longa ação nos últimos cinco anos. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisadas estatísticas de consumo através do sistema informatizado de controle e suprimentos e do sistema de prescrição informatizada; foram analisados dados demográficos e diagnósticos dos pacientes que tiveram prescrição de b2-ALA nos últimos seis meses. RESULTADOS: O consumo médio mensal de formoterol (b2-ALA disponível na instituição) passou de 31,3 cápsulas por mês em 2005, para 544,6 cápsulas por mês em 2009. Nos últimos seis meses, 124 pacientes tiveram prescrição de formoterol, sendo a média de idade 65 anos (24±91); o diagnóstico respiratório mais freqüente foi DPOC (58,9%). O formoterol foi iniciado nos primeiros três dias de internação em 52% dos casos. CONCLUSÃO: Tem sido observado um aumento progressivo no uso de b2-ALA em pacientes internados no HCPA, mais freqüentemente para tratamento de exacerbações de DPOC. São necessários mais dados sobre eficácia e segurança do uso neste contexto.
VIVÊNCIAS DE FAMILIARES CUIDADORES DO INDIVÍDUO COM CÂNCER EM FASE TERMINAL
SILVANA VIZZOTTO;MARIA ISABEL PINTO COELHO GORINI
Introdução: O estudo versa sobre as vivências de familiares cuidadores do indivíduo com câncer em fase terminal. Com o aumento da expectativa de vida houve um crescimento de casos de câncer em nosso meio. As estimativas para 2008 são de 47.930 novos casos no Rio Grande do Sul (BRASIL, 2007). Cuidar de um familiar enfermo faz com que a dinâmica familiar se reconstrua mobilizando novas competências, habilidades e sentimentos (MENDES, 1998). Objetivo: conhecer as vivências do familiar cuidador do indivíduo com câncer em fase terminal. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo exploratório descritivo de cunho qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição de coleta de dados. A amostra foi de 12 familiares que cuidavam de seus familiares com câncer internados em unidades clínicas de um hospital universitário de Porto Alegre. A coleta de dados foi efetuada por meio de entrevista semi-estruturada e os dados analisados pela Técnica de Análise de Conteúdo. Resultados e Conclusões: Foram evidenciadas cinco categorias: dificuldades e facilidades encontradas durante a convivência; necessidades do familiar cuidador; sentimentos envolvidos durante cuidado e as mudanças na vida do familiar cuidador. Observou-se que as dificuldades encontradas estão relacionadas ao comportamento do paciente, falar sobre a doença e o conviver com o sofrimento. As facilidades estão ligadas ao vínculo de aproximação/união familiar, a mudança no comportamento do paciente com o seu adoecimento. O cuidado despertou nos familiares cuidadores sentimentos como, revolta, impotência, pena, compaixão, negação, esperança e fé. Vivenciar o processo de terminalidade de um familiar faz com que o cuidador reflita sobre sua vida e sua família mudando seu comportamento.
CUIDANDO DE UMA PACIENTE FORA DE POSSIBILIDADES DE CURA
NATALIA GOMES DOS SANTOS;MARÍLIA CAROLINA RODRIGUEZ; GABRIELA FIGUEREDO ARRIAL
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 136
Introdução: Estudo de caso de uma paciente internada em unidade clínica do HCPA (Núcleo de Cuidados Paliativos), com o diagnóstico médico Câncer de mama com metástases ósseas, as quais causaram compressão medular resultando em paraplegia. Objetivos: Identificar os problemas de saúde do paciente, construir diagnósticos de enfermagem e estabelecer as intervenções necessárias. Método: Estudo de caso descritivo, com coleta de dados por meio do histórico de enfermagem, revisão de prontuário e consulta à literatura. Resultados: Feminina, solteira, 64 anos, aposentada, com diagnóstico de câncer de mama desde o ano de 1992, tendo passado por tratamentos radio e quimioterápicos além de mastectomia. A evolução da doença resultou em metástases ósseas que comprimiram a medula óssea culminando no quadro de paraplegia. Tal situação fez com que a paciente viesse a ser dependente da família para realizar necessidades básicas humanas. O principal diagnóstico de enfermagem estabelecido foi mobilidade física prejudicada relacionada à evolução da doença e evidenciada pela situação de dependência apresentada pela paciente. As intervenções de enfermagem referentes ao diagnóstico foram: auxiliar a paciente a aceitar as necessidades da dependência, encorajar a independência, mas interferir quando o paciente não consegue realizar algo. Durante a internação no núcleo de cuidados paliativos, a paciente encontrava-se internada apenas para medidas de conforto, pois estava fora das possibilidades terapêuticas devido ao estágio avançado da doença. Conclusão: O estudo nos proporcionou um aprofundamento na relação teórico-prática. Podemos perceber a importância do cuidado humanizado e individualizado, bem como, a promoção do conforto no tratamento de pacientes fora das possibilidades de cura.
DO PERÍODO CRÍTICO AO PERÍODO DE RESOLUTIVIDADE: EVOLUÇÃO DE UM PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS
ALINE DOS SANTOS DUARTE;KAREN SCHEIN DA SILVA; MAURA PIA FERRÃO; MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE; TÁBATA DE CAVATÁ
INTRODUÇÃO: A terapia paliativa oferece assistência multidisciplinar a pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura visando ao controle de sintomas e à promoção da qualidade de vida do paciente e de sua família. Em meio a debates sobre o tema, percebeu-se a necessidade de desmistificar a idéia de que os Cuidados Paliativos (CP) destinam-se apenas a pacientes moribundos. OBJETIVOS: Relatar a evolução de um paciente em CP acompanhado durante estágio curricular de enfermagem no Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) do HCPA que experimentou a evolução do estado de saúde crítico para um período de resolutividade. METODOLOGIA: Trata-se de relato de caso de um paciente com adenocarcinoma sem sítio primário com metástase óssea, pulmonar e hepática. Realizou-se exame físico do paciente em dois períodos: no início da internação no NCP e na véspera da alta hospitalar. RESULTADOS: Sinais e sintomas apresentados no período crítico: ansiedade e desânimo, insônia, abdome distendido, acolia, constipação, desnutrição, dispnéia, dor, extremidades hipocoradas, força muscular diminuída, hematúria, hipertermia, icterícia de pele e mucosas, náusea, petéquias em membros inferiores e abdome e dreno biliar aberto em frasco. Após 27 dias de intervenção da equipe multidisciplinar, o paciente teve alta apresentando motivação, abdome distendido, acolia, desnutrição, dor controlada, força muscular diminuída, porém em menor intensidade, icterícia amena e dreno biliar aberto em frasco. CONCLUSÃO: Buscou-se repensar o conceito de que os cuidados paliativos destinam-se apenas a pacientes moribundos. As intervenções da equipe, embora não promovam a cura, são eficazes em controlar os sintomas e promover o aumento da qualidade de vida do paciente e de sua família nos diferentes estágios da doença.
IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE CUIDADOS PALIATIVOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO PÚBLICO: MANEJO DE ANDAR- ESTUDO SOBRE PACIENTES FORA DE POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS
LARA VILLANOVA CRESCENTE;MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE
INTRODUÇÃO: O estudo propõe estudar a condição em que se encontram pacientes que são declarados pela equipe em “manejo de andar”. Essa expressão é utilizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para determinar que pacientes não sofrerão tentativas de reanimação cardio respiratória quando tiverem uma parada cardíaca. Desta forma o cuidado do paciente é centrado em medidas de conforto, sendo que os pacientes em “manejo de andar” são considerados pela equipe médica como fora de possibilidades terapêuticas de cura. Quando se cuida de pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura a morte é mais do que uma perspectiva, o que pode produzir na
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 137
equipe reações de vulnerabilidade e consciência da sua própria mortalidade. Além disso, estudos têm mostrado que quando o paciente entra na fase terminal as visitas da equipe de saúde diminuem sensivelmente com a justificativa de que não há mais o que fazer com esse paciente. OBJETIVOS: Conhecer os pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura internados em unidades de internação de adultos de um Hospital Escola. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva documental realizada em unidades de internação clínicas e cirúrgicas onde existam pacientes em “ manejo de andar”. Será feito um levantamento, em dia a ser estabelecido, junto à equipe de enfermagem, para saber quais pacientes estão em “manejo de andar”, sendo este o critério de inclusão. O critério de exclusão será o paciente fazer parte do Núcleo de Cuidados Paliativos do hospital. Os dados serão colhidos nos prontuários dos pacientes que constituirão a amostra do estudo.ANÁLISE DE DADOS: As informações colhidas serão analisadas descritivamente para caracterizar os pacientes estudados e responder aos objetivos do trabalho.
EDUCAÇÃO CONTINUADA NA ENFERMAGEM: EXEMPLO DE CAPACITAÇÃO EM TÉCNICA INALATÓRIA
CAROLINA BALTAR DAY;PAOLA PANAZZOLO MACIEL; AMANDA MAGALHÃES; MARIA ANGÉLICA PIRES FERREIRA
INTRODUÇÂO: No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi realizado um treinamento teórico-prático com a finalidade de capacitar profissionais de enfermagem na administração de medicamentos através de dispositivos dosimetrados inalatórios. Para avaliação do treinamento foi usado questionário padronizado (pré e pós-teste). OBJETIVOS: Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem antes e depois do curso de capacitação em técnica inalatória. MATERIAL E MÉTODOS: Oito turmas, correspondendo a um total de 73 profissionais de enfermagem, receberam treinamento teórico-prático de uma hora no período de julho a setembro de 2008. Foram aplicados pré e pós-testes iguais antes e após cada aula, contendo cinco questões referentes a técnica inalatória. RESULTADOS: No pré-teste, 24 funcionários (33,3%) acertaram duas questões, 21 (29,2%) acertaram três questões e apenas 1 (1,4%) acertou cinco questões. No pós-teste, 14 (19,4%) funcionários acertaram 3 questões, 32 (44,4%) acertaram 4 questões e 15 (20,8%) gabaritaram o teste. O número de pessoas acertando 3 ou mais questões foi 31 (43,1%) na aplicação do pré-teste e 61 (84,7%) na aplicação do pós-teste (p < 0,05). O número de pessoas que acertaram a totalidade das respostas subiu de 1 (1,4%) para 15 (20,8%), sendo esta diferença estatisticamente significativa. Não houve correlação entre tempo de hospital e número de acertos nem entre o tempo de formação e número de acertos. CONCLUSÃO: Consideramos que houve aumento na taxa de acertos no pós-teste em relação ao pré-teste. No entanto, ainda apenas uma minoria acertou todas as questões. São necessárias estratégias diferenciadas para melhorar o conhecimento de profissionais de enfermagem em relação à técnica de uso de medicamentos inalatórios.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP): UMA PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA;DANIELE TRINDADE VIEIRA; GABRIELA ZENATTI ELY; KATIELE HUNDERTMARCK; MARIANE ROSSATO; MICHELE RADDATZ; NOELI TEREZINHA LANDERDAHL
Desde o início dos tempos o ser humano necessitou receber atenção especial para recuperar sua força e vigor quando se encontrava debilitado por alguma enfermidade instaurada. Porém este cuidado muitas vezes maternal se baseava em técnicas puramente empíricas. Com o passar dos anos, certas técnicas utilizadas para o cuidar passaram por modificações, transformando-se em uma arte científica e núcleo de conhecimento da enfermagem. Objetiva-se relatar a vivência de monitoria obtida na elaboração de um material didático para auxílio na implantação dos POP‟s no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), junto ao Grupo de Educação Permanente de Enfermagem em 2008. É possível perceber que a padronização do cuidado de enfermagem torna o arcabouço de conhecimento acumulado em algo valioso. Pois como refere FREITAS (2001) na enfermagem as novas propostas de construção do conhecimento caminharam em direção a uma prática mais crítica e sensível que extrapola o empírico.Além disso, os POP‟s são uma estratégia de sistematização e organização os procedimentos executados pela equipe de enfermagem em suas Unidades, de acordo com suas respectivas complexidades. Sendo que para tal, os profissionais recebem capacitação para
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 138
adequar sua prática a teoria proposta. Segundo FREITAS (2001) cuidar do ser é uma necessidade que requer envolvimento através de percepção, significa propiciar cuidados atentivos e aperfeiçoados para que este se desenvolva de forma integral.Diante do exposto, sistematizar a assistência contribui para organizar o cuidado e ampliar a qualidade da assistência oferecida. Pois a segurança e o sucesso profissional virão por meio do conhecimento, já que ele é a única arma que tem o poder de libertar o homem.
O PROCESSO DE MORTE/MORRER DE PACIENTES TERMINAIS E O ENFRENTAMENTO DA ENFERMAGEM, DA GRADUAÇÃO À ASSISTÊNCIA
MARIANE ROSSATO;MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA, DANIELE TRINDADE VIEIRA, GABRIELA ZENATTI ELY, ANDREA MOREIRA ARRUÉ, KATIELE HUNDERTMARCK
A morte pode ser um fato inesperado, em algumas situações pode ser assistida em todas suas fases, como no caso de pacientes terminais. Diante do exposto, este estudo tem o objetivo de entender como os estudantes de enfermagem e equipe de saúde, agem perante tal situação. Realizou-se a pesquisa na base de dados LILACS, utilizando o método integrado e os descritores: paciente terminal e enfermagem, incluindo artigos em português, últimos 2 anos, resultando em 3 artigos. De acordo com os achados, os acadêmicos de enfermagem lidam com diversos sentimentos perante o processo de morte-morrer, dentre os quais, pode-se citar o sentimento de impotência, culpa, medo e abandono por parte dos professores, afastando-se da família do paciente, envolvendo-se mais com a parte técnica do cuidado. Segundo Hirdes e Bernieri (2007), os acadêmicos não estão preparados para vivenciar experiências de morte. Este tema é pouco explorado na graduação, sem o devido suporte psicológico para o seu enfrentamento. Quanto aos cuidados prestados pela equipe de enfermagem ao paciente terminal, Borenstein et.al.(2007) dizem que o processo de cuidar exige constante aperfeiçoamento do saber, é considerado uma arte, onde as relações interpessoais assumem papel de destaque. A característica deste cuidado é manter boa qualidade de vida, levando o paciente a ter uma morte tranqüila e processo de luto saudável. Massarollo e Chaves (2009) discorrem que o tema envolve dilemas éticos e que os enfermeiros tendem a colocar suas percepções e valores perante os cuidados, necessitando assim mais estudo e reflexão acerca do tema. Os cuidados de enfermagem a esses pacientes são importantes, mas a formação dos profissionais para lidar com a morte é insuficiente, os quais podem ser amenizados pela educação permanente.
CUIDADOS PALIATIVOS: O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DURANTE À GRADUAÇÃO
VERA LUCIA DE SOUZA SOARES ESPIRIDIÃO;TATIANE CRUZ NUNES; MIRIAM BUÓGO
INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos são medidas prestadas por equipes multidisciplinares ao paciente fora de possibilidade de cura, visando uma abordagem que melhore a qualidade de vida dos indivíduos e de seus familiares, voltados para o conforto e alívio da dor e da preparação do paciente para se despedir com dignidade da vida. OBJETIVO Analisar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre os cuidados paliativos adquiridos durante a graduação. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratório descritivo, foi realizada com oito acadêmicos de enfermagem de uma instituição de ensino privada, que estavam cursando o sétimo semestre. A coleta de dados foi realizada, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, através de entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados através da técnica de análise temática. RESULTADOS: Os dados, após análise, foram agrupados em quatro temas: os significados de cuidados paliativos, conhecimentos necessários para prestar os cuidados paliativos, experiências acadêmicas no cuidado paliativo e o ensino de enfermagem e os cuidados paliativos. CONCLUSÕES: Os estudantes conceituaram os cuidados paliativos como aqueles que proporcionam conforto e também ao alívio da dor, focando no cuidado humanizado aos pacientes e seus familiares. Quanto aos conhecimentos necessários para prestarem o cuidado paliativo salientam a importância de associar conhecimento teórico com a prática do cuidado, pois apresentam dificuldades em lidar com a morte e o processo do morrer. Sugerem que o ensino dos cuidados paliativos seja mais abordado nas disciplinas enfocando-se a prática no âmbito hospitalar e domiciliar. Este estudo revela a importância da inserção desta temática na formação do enfermeiro.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 139
MANTER A VIDA X PROLONGAR O SOFRIMENTO: O CONFLITO VIVENCIADO POR TRABALHADORES DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;ROSÂNGELA MARION DA SILVA; FRANCINE CASSOL PRESTES; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; ONÉLIA DA COSTA PEDRO CORDENUZZI; GENI BURG; ANDREA PROCHNOW
Atualmente, o foco das investigações na área de saúde do trabalhador tem sido a relação trabalho, saúde e adoecimento. Este estudo objetivou identificar os fatores geradores de prazer e sofrimento nos trabalhadores de enfermagem de um serviço de hemodiálise. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que se utilizou a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta dos dados. Os dados receberam tratamento conforme a análise temática (BARDIN, 1977). Compuseram o estudo doze sujeitos. Dentre os fatores geradores de prazer-sofrimento imergiu uma questão complexa que permeia o trabalho da enfermagem em serviços de hemodiálise e suscita reflexões acerca de suas possíveis implicações na saúde dos trabalhadores, trata-se do conflito vivenciado diante da dualidade: manter a vida versus prorrogar o sofrimento do paciente. O trabalho em serviços de hemodiálise possibilita o reconhecimento dos trabalhadores na medida em que esses oferecem assistência e suporte aos pacientes que estão em tratamento dialítico, ou seja, sem o trabalho da equipe esses pacientes não estariam vivos (prolongamento da vida). No entanto, a partir do momento em que o paciente começa a apresentar comportamento pessimista em relação à vida, manifestar complicações decorrentes da sua condição de saúde, sofrer sem o prognóstico de transplante ou de melhora, os trabalhadores passam a ver a hemodiálise como uma prorrogação do sofrimento. Este é um dos conflitos vivenciados comumente pela equipe de saúde em centros de diálise (Ibrahim, 2004) que remete a necessidade de (re)pensar o trabalho e (re)significar o sofrimento dos trabalhadores individual e coletivamente por meio de uma postura otimista e sensível que os auxilie a identificar o prazer, mesmo que subjetivo, no trabalho.
O CUIDADO DO PACIENTE COM CÂNCER COLORRETAL EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
PATRÍCIA LEMOS CHAVES;BRUNA CRASOVES CARDOSO, ALINE PINTO COELHO DORNELLES DA LUZ, MARIA ISABEL PINTO COELHO GORINI
Introdução: O câncer colorretal é hoje a quarta causa mais comum de câncer no mundo (Brasil, 2005). O aumento da sobrevida transformou o câncer em doença crônica, o que culminou na busca por novas alternativas de cura, tratamento e de qualidade de vida. Houve a necessidade de se pesquisar mais sobre essa temática, para, a partir de evidências, traçar intervenções, especialmente na enfermagem, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e o cuidado prestado a esses pacientes. Objetivo: Identificar a produção científica sobre o cuidado do paciente com câncer colorretal em tratamento quimioterápico. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa (RI) da literatura segundo Whitemore e Knafl (2005). A RI contemplou 5 etapas: estabelecimento da hipótese e objetivo da RI; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos; definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão e apresentação. Na coleta de dados foram selecionados 22 artigos no período de 2004 e 2008, cujo texto completo foi obtido entre janeiro e abril de 2009. Os princípios éticos consistiram em referenciar corretamente as obras analisadas nesta pesquisa, respeitando a NBR 6023:2002. Resultados e Conclusões: Os resultados encontrados foram: 7 (32%) artigos encontrados no banco de dados CINAHL, seguido da MEDLINE com 5 (23%); o periódico com mais artigos encontrados foi o Clinical Journal of Oncology Nursing 4 (19%), seguido pelo European Journal of Oncology Nursing 3 (14%); não houve nenhuma publicação em 2005, no entanto em 2007 e 2008 foram encontrados 7 (32%) em cada ano. O que demonstrou evolução nos últimos anos quanto à preocupação com o cuidado do paciente com câncer colorretal em tratamento quimioterápico.
DISCURSOS DE ENFERMEIRAS SOBRE MORTE E MORRER: VONTADE DE VERDADE?
FERNANDA NIEMEYER;MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE; KAREN SCHEIN DA SILVA; RUBIA GUIMARÃES RIBEIRO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 140
INTRODUÇÃO Falar sobre morte não é tarefa fácil, pois aceitar a terminalidade da vida é árduo. Assim, morte torna-se questão difícil de ser discutida. OBJETIVO Conhecer os discursos acerca da morte e do morrer que as enfermeiras têm veiculado nas publicações de enfermagem. METODOLOGIA Compõem o corpus de análise 44 artigos da Revista Brasileira de Enfermagem e da Revista Gaúcha de Enfermagem, publicados entre 1937 e 2005, delimitados através da base de dados PeriEnf, através dos termos: morte, morrer e cuidados paliativos. Realizamos hipótese de leitura através da abordagem pós-estruturalista, o que possibilitou a construção de 4 categorias discursivas. RESULTADOS Em “A morte silenciada e ocultada” (1937-1979), morte e morrer não eram assuntos recorrentes. Através de um tom dogmático, de conotação religiosa e autoritária, os artigos afirmam que a enfermeira não pode se emocionar e deve satisfazer a sede espiritual dos pacientes e familiares. Em “Travando uma luta contra a morte” (1980-1989), os artigos apresentam a morte como algo natural, mas sugerem que o controle do homem sobre a natureza tem sido maior, o que possibilitaria o prolongamento da vida. Em “A morte em cena: multiplicidade de facetas” (1990-1999), os artigos discutem a transferência da morte do ambiente domiciliar para o hospital, tratando de questões referentes à “morte social”, que é o isolamento do moribundo do convívio coletivo antes de sua morte biológica. Em “Morte e cuidados paliativos: mudança de paradigma” (2000-2005), as atenções das publicações voltam-se para os cuidados paliativos, que proporcionam melhor qualidade de vida à família e ao doente. Assim, o paciente moribundo torna-se objeto de estudo e contribui para o surgimento de um outro saber, que busca a humanização do processo de morrer.
AS SEMENTES DOS CUIDADOS PALIATIVOS: ORDEM DO DISCURSO DE ENFERMEIRAS
FERNANDA NIEMEYER;MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE; KAREN SCHEIN DA SILVA
INTRODUÇÃO A partir da década de 90, passam a circular discursos sobre uma “nova” modalidade assistencial, iniciando um questionamento a respeito da forma como a morte vem sendo encarada e vivenciada. Assim, surgem os Cuidados Paliativos (CP), que compõem um saber que pretende colocar a morte sob outro regime de discurso. OBJETIVO Conhecer os discursos acerca dos CP que as enfermeiras têm veiculado nas publicações de enfermagem. METODOLOGIA Compõem o corpus de análise 30 artigos da Revista Brasileira de Enfermagem e da Revista Gaúcha de Enfermagem, publicados entre 1990 e 2007, delimitados pela base de dados PeriEnf, através dos termos: morte, morrer e cuidados paliativos. Realizamos uma análise textual com abordagem pós-estruturalista. RESULTADOS Após leitura interessada, observamos que o hospital é tido como local onde o paciente é despido de sua individualidade e identidade, a morte é negada e os aspectos da doença são ocultados. As enfermeiras se referem aos CP como capazes de proporcionar à família e ao paciente a melhor qualidade de vida possível durante o processo de morrer. Dessa maneira, os CP surgem com a finalidade de produzir uma “boa morte”, contrária à “morte moderna”, aquela descrita como solitária, inventando outra forma de enfrentamento da morte. A ordem, nesse momento, é produzir saberes sobre os CP, fazendo circular discursos associados ao poder da ciência. Tal discurso cientifico é poderoso, pois a ciência é reconhecida como um dos maiores regimes de verdade da modernidade que produz saberes e os investe de poder. Acreditamos que esses cuidados estão constituindo um corpo de conhecimentos que vem se tornando objeto do trabalho das profissionais de enfermagem tendo em vista o aumento da sobrevida de pacientes portadores de doenças crônicas.
IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE CUIDADOS PALIATIVOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO PÚBLICO: IMPLANTAÇÃO DA ESCALA DE EDMONTON
DAIANE DA ROSA MONTEIRO;MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE
INTRODUÇÃO: Cuidados Paliativos (CP) são prestados aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura, sendo seu enfoque no controle dos sintomas e na melhora da qualidade de vida (BRASIL, 2000). Na prática dos CP é comum os pacientes apresentarem múltiplos sintomas decorrentes da evolução da doença ou tratamento. A Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS) avalia sintomas físicos e psicológicos identificados em pacientes com câncer, sendo composta por nove sintomas, possibilitando que se avalie a freqüência e intensidade dos mesmos (BRUERA et al, 1991). A ESAS possui um escore variando de zero a 10, onde zero representa a ausência do sintoma e 10 o sintoma em sua mais forte intensidade, podendo ser preenchida pela família, pelo paciente ou pela equipe de saúde (BRUERA et al, 1991). OBJETIVO: O estudo faz parte
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 141
de um projeto de desenvolvimento intitulado “Implementação do Núcleo de Cuidados Paliativos em um hospital de ensino público”, nele temos como objetivo implantar a Escala de Edmonton no Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). METODOLOGIA: Trata-se de uma Pesquisa de Desenvolvimento que envolve a elaboração de um programa de estudos sobre controle da dor e de outros sintomas prevalentes em pacientes oncológicos, bem como as intervenções de enfermagem para cada caso com o objetivo de treinar as enfermeiras envolvidas no estudo para a aplicação da ESAS. Após a aplicação da ESAS pelas enfermeiras, será fornecido um instrumento para conhecer a opinião delas quanto à efetividade da escala. Por fim, os passos da implantação da ESAS serão relatados no estudo, mencionando as facilidades e dificuldades no processo.
A PERCEPÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM UMA UTI
NERY JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR;FATIMA FARIAS, TAGIANE MARTINS, NARA BEATRIZ CARVALHO
Introdução: A proposta deste estudo foi analisar a “percepção dos técnicos de enfermagem frente à humanização na unidade de terapia intensiva”. O interesse por este tema nasceu da reflexão sobre o papel do técnico de enfermagem em momento de atendimento ao paciente junto ao ambiente hospitalar. Objetivo: Fornecer para esses profissionais, informações sobre os cuidados de saúde prestados aos pacientes promovendo assim um atendimento humanizado. Material e Método: Este estudo caracterizou-se como pesquisa qualitativa com estratégia de estudo de caso. A população do estudo foi constituída pelo grupo de técnicos de enfermagem (trabalhadores) de uma Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital de grande porte na cidade de Porto Alegre/RS, que se declararam dispostos em participar do estudo. Resultados: Os entrevistados acreditam na importância de perceber o paciente como um todo, sendo assim torna-se de grande importância para uma assistência humanizada, valorizando sempre a participação dos familiares junto ao paciente e equipe, promovendo um bom ambiente de trabalho.Conclusão: Humanizar a relação com o doente realmente exige que o trabalhador valorize a afetividade e a sensibilidade como elementos necessários ao cuidar. Porém, compreendemos que tal relação não supõe um ato de caridade exercido por profissionais abnegados e já portadores de qualidades humanas essenciais, mas um encontro entre sujeitos, pessoas humanas, que podem construir uma relação saudável, compartilhando saber, poder e experiência de vida através de confiança e credibilidade. Foi constatado que os técnicos de enfermagem acreditam na importância da assistência humanizada, porém encontram dificuldade em definir o processo de humanização e não sabem o que é necessário para sua implementação.
O ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS :CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL
RODRIGO MADRIL MEDEIROS;ÁLVARO LEMES PAZ
INTRODUÇÃO Os pacientes oncológicos, que necessitam de tratamento quimioterápico intermitente e de longa duração, sofrem de muita dor tornando insuportável o tratamento, e, por conseqüência, alterando sua qualidade de vida. O Cateter Totalmente Implantável (CTI) é indicado para estes casos. OBJETIVO:Sendo assim, objetivou-se nesta pesquisa conhecer a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, após a inserção do CTI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa. Os sujeitos do estudo foram 25 pacientes adultos que fazem tratamento quimioterápico em uma clínica particular situada no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre/RS. Os dados foram coletados, em outubro de 2008, no turno da manhã, por meio de um instrumento abreviado de avaliação de qualidade de vida, WHOQOL – Abreviado, versão em português. RESULTADOS:Os resultados demonstraram serem os sujeitos da pesquisa em sua maioria do sexo feminino 17 (68%), idade em torno de 51 a 60 anos, perfazendo uma amostra de adultos médios, sendo que 5 (20%) consideram muito boa sua qualidade de vida, 14 (56%) estão satisfeitos com sua saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste cenário, os resultados obtidos apontam uma melhora na qualidade de vida dos pacientes após a inserção do CTI.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 142
DIFICULDADES DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO 2
MICHELE RADDATZ;ALINE CHAVES DALLA NORA, MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA, SANDRA MARCIA SOARES SCHMIDT, ELISABETA ALBERTINA NIETSCHE, SOLANGE COPAVERDE, LEILA REGINA WOLFF
O câncer se desenvolve quando células de um determinado tecido entram em uma multiplicação descontrolada causando modificações físicas além das alterações da doença e seu tratamento acarretam no contexto psicossocial do paciente. Este estudo, trata de uma reflexão teórico e bibliográfica que tem por objetivo apontar os principais desafios encontrados pelos pacientes em tratamento oncológico, no decorrer do plano terapêutico, procurando inserir o enfermeiro nesse contexto como facilitador e auxiliador na superação dos obstáculos evidenciados. Utilizou-se artigos com os seguintes descritores: enfermagem, paciente oncológico e câncer, esses artigos foram selecionados em periódicos de enfermagem nacionais. O que mais se destacou como desafios relacionados ao tratamento oncológico com bases apontadas pelos pacientes foram: as dificuldades físicas e as psicossociais que apresentam-se entrelaçadas e que possuem como elemento intersectante a dor. Durante o tratamento terapêutico esses pacientes destacam como dificuldades os efeitos colaterais à medicação, principalmente em relação aos opióides, possuem certo temor em relaçãoao fato de se tornarem tolerantes a certos medicamentos, resultando na ineficácia farmacológica e assistência de dores oncológicas e de outras origens também.As dificuldades em níveis psicossociais contribuem para maximizar ou minimizar os efeitos do tratamento, entre elas podemos destacar o profundo estado de depressão em que muitos pacientes passam a conviver, isso se da pelo fato de relacionarem o câncer com a morte. O isolamento á que muitos pacientes são submetidos acaba resultando no afastamento do cotidiano das relações pessoais, profissionais e familiares gerando uma carga de tensão e sofrimentos imensuráveis. As modificações causadas na aparência estética que trazem desconfortos, tristezas, medos e que requer novas e difíceis adaptações da pessoa.
ENFERMAGEM CARDIO
PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ANÁLISE DE FATORES DE RISCO
BIANCA LENISE GEHLEN DA GAMA;LUZIA FERNANDES MILLÃO
Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é a via final da maioria das cardiopatias. O custo socioeconômico da síndrome é elevado, envolvendo uma série de fatores como: aquisição de medicamentos, aposentadorias precoces, eventuais cirurgias e última medida: o transplante cardíaco. O tratamento basea-se em medidas farmacológicas e não farmacológicas, com o objetivo de manter a estabilidade clínica. Umas das características do portador de IC é que outras doenças estão quase sempre envolvidas, dentre elas: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é de extrema importância estarem sendo tratadas, caso contrário colaboram com o mau prognóstico da IC. Objetivo: Caracterizar a população de acordo com os dados informados mais relevantes traçando um perfil da população na qual está sendo acompanhada com o objetivo de criar uma equipe multidisciplinar de adesão ao tratamento para a Insuficiência Cardíaca. Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Foram analisados 101 prontuários de pacientes acompanhados em Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário da Ulbra,no período de Abril a Maio de 2009. Os dados analisados por meio de estatística através do programa SPSS. Resultados: Relação dos pacientes que apresentam > RCQ com fatores de Risco para IC foram: O tabagismo primário: as mulheres (72,73%) os homens (45,65%), o tabagismo ativo: homens (17,39%) e mulheres (12,73%). O alcoolismo: homens (28,26%) e mulheres (12,73%). O sedentarismo presente (22,77%). Nas doenças concomitantes: ICC (25,74%), arritmia (14,85%),angina (15,84% ), IAM (19,80%), DM (82,41%), DPOC(10,89%) e hipertireodismo(5,94%). Considerações Finais: Respeitando a singularidade e a diversidade do paciente, levando em consideração sua complexidade, propomos a criação de um ambulatório multidisciplinar em IC, favorecendo maior eficácia ao tratamento e promovendo uma assistência de maior qualidade.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 143
FATORES DE RISCO PARA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E ESCORE DE FRAMINGHAM EM PACIENTES ADMITIDOS EM UNIDADE DE HEMODINÂMICA
LUIS JOECI JACQUES DE MACEDO JUNIOR;MARIA KAROLINA ECHER FERREIRA FEIJÓ; MARCO AURÉLIO SAFFI; ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA
INTRODUÇÃO: A presença de fatores de risco (FR) para doença arterial coronariana (DAC) está relacionado ao seu desenvolvimento ou progressão. A utilização de instrumentos para quantificar estes riscos tem demonstrado excelente parâmetro para os profissionais da saúde. O Escore de Risco de Framingham (ERF) é utilizado para avaliar risco em percentual de infarto ou morte por DAC em 10 anos. OBJETIVO: caracterizar os FR modificáveis para DAC, descrever a classificação dos pacientes conforme o ERF e as associações entre os FR com o escore. MÉTODOS: Estudo transversal realizado com sub amostra da base de dados de pacientes admitidos em unidade de hemodinâmica de um hospital universitário. Incluiu-se pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, ambos os sexos, submetidos a cateterismo cardíaco diagnóstico ou terapêutico, que aceitaram em participar; excluiu-se aqueles com déficit neurológico-cognitivo. Utilizou-se o ERF para classificar pacientes: baixo, médio e alto risco. RESULTADOS: Avaliou-se 103 pacientes, 55% masculino e idade média 62,3+9,8. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 76%, sedentarismo 73% e dislipidemia 58% foram os FR mais prevalentes; pacientes foram classificados: alto risco 45%, médio 25% e baixo 30%. Sexo masculino evidenciou 45% dos pacientes no alto risco (P=0,002) e baixa escolaridade em 49% (P=0,017). CONCLUSÃO: Os resultados mostram HAS, sedentarismo e dislipidemia os FR mais prevalentes. Os FR não contemplados no ERF não obtiveram relação com a classificação de alto risco. Houve relação direta entre sexo masculino, baixa escolaridade e alto risco para ocorrência de evento em 10 anos.
CIRURGIA DE VALVAS CARDÍACAS: ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES E FAMILIARES
ÉRICA BATASSINI;ISABEL CRISTINA ECHER
Introdução: As valvas cardíacas são estruturas responsáveis por garantir o sentido correto da corrente sanguínea e estão sujeitas a patologias congênitas ou adquiridas. O tratamento pode ser conservador, mas, dependendo da gravidade, é necessário cirurgia para troca da valva por um substituto biológico ou mecânico. Pacientes submetidos à troca de valva cardíaca sofrem uma série de adaptações no período pós-operatório e a alta hospitalar traz consigo diversas dúvidas e receios. Objetivo: Elaborar um manual de orientações para pacientes submetidos a troca de valva cardíaca no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e seus familiares. Metodologia: Estudo exploratório descritivo que percorreu as seguintes etapas: revisão da literatura sobre o assunto, montagem de um manual piloto, qualificação com profissionais da área da saúde, pacientes submetidos à cirurgia e seus familiares, revisão das sugestões recebidas e montagem da versão final do manual, com ilustrações para auxiliar no entendimento. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Resultado: Obteve-se o manual “Vamos Falar Sobre Cirurgia de Valvas Cardíacas: orientações para pacientes e familiares”, que aborda o preparo pré-operatório, o pós-operatório no Centro de Terapia Intensiva e na unidade de internação, enfatizando a importância dos exercícios respiratórios, os cuidados com a ferida operatória e o início das atividades físicas. Também são abordados os cuidados com anticoagulação, prevenção da endocardite infecciosa, atividade física e cuidados com a saúde de modo geral para depois da alta. Considerações finais: Acredita-se que esse manual possa subsidiar as orientações verbais, e que contribua para uma recuperação cirúrgica mais rápida e tranqüila.
TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO DA DOENÇA E AUTOCUIDADO PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
VANESSA MONTEIRO MANTOVANI;JENIFFER MEZZOMO; LUIS JOECI JACQUES DE MACEDO JUNIOR; TAILINE SILVEIRA DE MELLO; GRAZIELLA ALITI; FERNANDA BANDEIRA DOMINGUES; LETICIA ORLANDIN; ENEIDA REJANE RABELO
Introdução: A literatura demonstra que o pouco conhecimento sobre a insuficiência cardíaca (IC) e o autocuidado refletem a má adesão ao tratamento. Estes fatores constituem-se nos principais preditores de descompensação da doença. Torna-se fundamental avaliar o conhecimento dos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 144
pacientes sobre essas questões, no entanto, não existe no Brasil instrumento validado para isso. Objetivo: Traduzir, adaptar e validar um questionário de conhecimento da doença e autocuidado para pacientes com IC. Métodos: Estudo transversal contemporâneo realizado em ambulatório multidisciplinar de hospital universitário. Incluiu-se pacientes adultos, com IC de qualquer etiologia e fração de ejeção (FE) ≤45%; exclui-se pacientes com demência ou seqüelas neurológicas cognitivas. A validação constituiu-se das etapas de tradução, síntese, retrotradução, adaptação cultural, validação de face e reprodutibilidade (coeficiente Kappa), com autorização prévia do autor do instrumento original. Após, aplicou-se o questionário (14 questões) a pacientes em acompanhamento ambulatorial com a equipe de enfermagem. O questionário original foi parcialmente modificado e adaptado. Resultados: Avaliou-se 153 pacientes com idade média de 59±13; 64% do sexo masculino; e FE média de 34±11%. A mediana do tempo de acompanhamento no ambulatório foi de 2 (1-4) anos. Quanto à reprodutibilidade, 5 questões apresentaram concordância total; 7 questões obtiveram coeficiente Kappa > 0,4; uma questão obteve Kappa 0,4 e apenas uma não obteve concordância. Na avaliação do conhecimento, os escores variaram de 4 a 14, tendo como média 9,8±2,1 acertos. Conclusões: Este questionário foi traduzido, adaptado e validado, mostrando-se adequado para avaliar o conhecimento dos pacientes com IC acompanhados por equipe multidisciplinar.
DEMANDA NÃO PERTINENTE AO SAMU E RISCO DE VIDA: UM ESTUDO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DOS USUÁRIOS
ANDREA MÁRIAN VERONESE;DORA LÚCIA LEIDENS CORRÊA DE OLIVEIRA; KAROLINE NAST
Introdução:Enfoca-se risco de vida numa perspectiva sociocultural para investigar situações em que usuários demandaram ambulâncias do Samu, porém não foram atendidos porque suas solicitações foram consideradas pelo serviço como não pertinentes. O Samu atende chamados em situações onde houver risco de vida iminente. Objetivo:Estudar experiências de usuários do Samu de POA, sujeitos de demanda considerada não pertinente ao serviço, analisando as que envolveram situações consideradas por eles como de risco de vida. Materiais e métodos: Análise do banco de dados do Samu do ano de 2006, identificando os chamados não pertinentes. Escolha de um bairro onde houve um maior número destes chamados. Caracterização e geoprocessamento do bairro escolhido. Entrevistas aos usuários que moram no local onde o geoprocessamento indicou maior concentração desses chamados. Resultados preliminares, conclusões parciais: 38% das ligações ao Samu foram não pertinentes. O Cavalhada foi o bairro da região Centro-Sul com maior número destes chamados, sendo que 56% partiram de homens e 44% de mulheres. A idade média dos homens foi de 40 anos e das mulheres 36 anos. Os tipos de socorro foram: clínico-64%, trauma-14%, psiquiátrico-10%, obstétrico-5%, orientação-5% e transporte-2%. A maioria ocorreu no mês de agosto, 32% foi entre 19 e 0h59 horas. Houve maior concentração de chamados não pertinentes do Cavalhada nos loteamentos populares, locais das entrevistas. Para os entrevistados, risco de vida tem sentidos distintos daqueles assumidos pela medicina, sendo relacionado, por exemplo, com dificuldades de acesso ao SUS -posto fechado ou com recursos insuficientes e com falta de autonomia para a execução de cuidados à saúde -dificuldades socioeconômicas, desconhecimento sobre primeiros socorros.
VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES PARA PACIENTES COM DOENÇA CORONARIANA
MARCO AURELIO LUMERTZ SAFFI; LUIS JOECI JACQUES MACEDO JR; VANESSA MANTOVANI; ENEIDA REJANE RABELO
Introdução: Estudos têm demonstrado a importância dos fatores de risco (FR) na gênese e progressão da doença arterial coronária (DAC). Resultados evidenciam uma correlação entre conhecimento dos FR e adesão às mudanças do estilo de vida (MEV). A necessidade de avaliar estes resultados é fundamental para direcionar as ações educativas em saúde, contudo, no cenário brasileiro não há instrumentos validados para esta questão. Objetivos: Traduzir, adaptar e validar um questionário de conhecimento dos FR cardiovasculares, adesão e MEV, com posterior aplicação a um grupo de pacientes de um ambulatório de cardiologia. Métodos: Estudo transversal contemporâneo, em hospital universitário, Porto Alegre, RS. Incluiu-se pacientes de ambos os sexos, idade > 18 anos, com diagnóstico de DAC e que concordaram em participar; excluiu-se pacientes
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 145
com déficits cognitivo ou neurológico. A validação constituiu-se da tradução, retrotradução, validação de face, avaliação do alfa de Cronbach e coeficiente de correlação intraclasse, todas estas etapas após a autorização do autor do questionário original. O questionário é dividido em: conhecimento geral (escore 1); conhecimento específico (escore 2); adesão e MEV (escore 3) avaliando FR na DAC. As respostas variam de 0 a 9, com escores maiores de acordo com o grau de importância. Resultados: Incluiu-se preliminarmente 135 pacientes (amostra total 240), idade média 65,6+9,6 e 59% do sexo masculino; Alfa de Cronbach de 0.80 e coeficiente de correlação intraclasse 0.97. Escore 1: média 8+0,8; escore 2: média 6,2+1,6 e escore 3: média 6,4+1,4. Conclusão: Este questionário mostrou-se válido para as etapas iniciais do processo de validação, e os resultados preliminares do conhecimento dos pacientes indicou um escore inferior relativo à adesão e MEV.
PACIENTE COM RISCO DE GLICEMIA INSTÁVEL RELACIONADO AO ESTRESSE DA CIRURGIA CARDÍACA
KAROLINE BERNARDI;ENEIDA RABELO, ANA CAROLINA CONDE FERNANDES
Introdução: O diagnóstico Risco para Glicemia Instável está presente em um percentual elevado de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, devido ao estresse orgânico. A hiperglicemia é causada por resistência ou ação inadequada à insulina no fígado e músculos. A utilização de protocolos de controle da glicemia auxilia a manutenção de suas alterações, e com isso favorecendo a recuperação e o prognóstico dos pacientes. Objetivos: Apresentar o diagnóstico de enfermagem Risco para Glicemia Instável relacionado ao Estresse da cirurgia cardíaca, suas intervenções e os resultados referentes ao controle da hiperglicemia. Material e Método: Estudo de Caso a partir de assistência de enfermagem em ambiente clínico real, pesquisa em prontuário e revisão da literatura. Estudo desenvolvido na disciplina de Cuidado ao Adulto I da Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Resultados: D.J., 35 anos, masculino, branco. Em 1º pós-operatório de troca de válvula mitral por prótese mecânica. Ao exame físico: queixou-se de palpitações pela manhã as quais passaram após medicação, estava lúcido, orientado e coerente, com mucosas úmidas e coradas; ausculta cardiovascular: ritmo regular, 2T, sem sopros; ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares reduzidos em base, abdômen normotenso; extremidades aquecidas e perfundidas. Recebe infusão de insulina contínua a 15mL/hora, conforme protocolo institucional, por estar com seu nível de glicose elevado 180mg/dl (níveis normais 100-160 mg/dl). Conclusões: O controle rigoroso da glicemia em pacientes pós-operatório imediato contribui para sua recuperação. Não há um protocolo padrão, o que faz com que cada segmento hospitalar siga uma rotina diferente ou até mesmo não utilize esse tipo de tratamento.
TERAPIA TROMBOLÍTICA COM RT-PA NO AVCI AGUDO: A EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE GRANDE PORTE
RODRIGO MADRIL MEDEIROS;MARCIO NERES DOS SANTOS
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) é considerado uma das maiores causas morbidade e mortalidade na atualidade. Conforme o European Stroke Initiative (2008), o uso da terapia trombolítica com rt-PA na fase aguda eleva significativamente a chance de uma recuperação completa. Sendo assim, há necessidade de reconhecimento precoce da suspeita de AVC e a sistematização das ações na fase aguda. Ambas dependem de um protocolo de atendimento e fluxos adequados.OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo avaliar a implantação do protocolo rt-PA em um hospital público de grande porte. Assim como, analisar os fluxos de atendimento desse protocolo. METODOLOGIA:A metodologia adotada é de caráter exploratório descritivo. Trata-se de uma avaliação embrionária, visto que o protocolo foi implantado no último trimestre. Pontuamos que o hospital possui condições de ser preparado para entrar na categoria de Comprehensive Stroke Centers, facilitando a logística do tratamento com rt-PA.Foi disponibilizado um leito na Emergência, realizados treinamentos com a equipe assistencial, implementado o protocolo e padronizado o rtPA. RESULTADOS:Foram trombolisados 6 pacientes com rtPA endovenoso no período de 3 meses. A taxa de elegibilidade para o tratamento foi de 14%. Tempo porta tomografia foi de 25 minutos e porta-agulha de 70 minutos. Embora o Serviço de Emergência desse hospital atenda em média 900 atendimentos/dia, a trombólise com rtPA foi efetivamente realizada. CONCLUSÃO:Certamente, há alguns pontos que devem ser revistos a fim de melhorar o fluxo de atendimento, tais como estruturação de uma unidade vascular, criação de equipes de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 146
AVC, atendimento interrupto nas 24 horas e treinamento permanente da equipe assistencial e revisão periódica do protocolo. Através da adoção de estratégias para otimizar a realização do uso de rt-PA, aumentaria o quantitativo de pacientes beneficiados, minimizando os agravos do AVCI.
ENFERMAGEM DE DOENÇAS CONTAGIOSAS
ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE VORICONAZOL NA UNIDADE DE AMBIENTE PROTEGIDO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA), RS
AMANDA MAGALHÃES;JULIANE FERNANDES MONKS, MARIA ANGÉLICA PIRES FERREIRA, LEILA BELTRAMI MOREIRA
Introdução: O voriconazol é um antifúngico indicado para o tratamento da aspergilose invasiva (AI), podendo ser utilizado em outros tipos de micoses profundas. Por ser de alto custo, tem seu uso restrito no HCPA. Objetivo: Descrever a utilização de voriconazol em pacientes internados na unidade de ambiente protegido. Métodos: Série de casos de pacientes admitidos na unidade de ambiente protegido do HCPA entre julho/2008 e maio/2009 que utilizaram voriconazol. Os dados foram coletados dos prontuários durante a internação. Resultados: Dos 16 casos que utilizaram voriconazol, 10 (62,5%) eram do sexo masculino, com idade média±DP de 36,9±4,4 anos. A doença hematológica de base mais comum foi leucemia mielóide aguda (62,5%). O voriconazol foi indicado devido à Curvularia sp. em um (6,3%) dos caso, à suspeita de AI em 12 (75%) e para seguimento de tratamento de AI em 3 (18,7%). Dos 12 casos suspeitos de AI, 9 (60%) enquadravam-se nos critérios de AI possível, 2 (13,3%) AI provável, 1 (6,7%) AI provada, conforme European Organization for Reasearch and Treatment of Cancer (EORTC), 2002. O tempo médio de uso do voriconazol 200mg comprimido foi de 24±7,2 dias, com custo médio de R$10.341,00 ± R$3.219,00 por paciente. Já o voriconazol 200mg injetável apresentou tempo médio de uso de 6,3±1,9 dias e custo médio de R$11.275,00 ± R$4.421,00. O custo total de gastos foi de aproximadamente R$207.721,00 em onze meses. Conclusão: Observa-se um elevado gasto com voriconazol entre pacientes internados na unidade de ambiente protegido do HCPA. Na maioria dos casos em que foi utilizado, o diagnóstico inicial era de AI possível. Embora seja o indicado, deve ser utilizado em casos mais prováveis da doença a fim de se evitar resistência e gastos indevidos.
INFECÇÃO POR MICOBACTÉRIA RELACIONADA À VIDEOCIRURGIA: QUE TIPO DE MATERIAL EXISTE ON LINE?
MARIELLI TREVISAN JOST;RITA CATALINA AQUINO CAREGNATO
INTRODUÇÃO: Surtos de Infecção Hospitalar (IH) por micobactéria após vídeocirurgias têm sido
amplamente divulgados na mídia brasileira, gerando uma grande preocupação em todos os hospitais brasileiros, interesse da população e dos profissionais da saúde. OBJETIVOS: Conhecer o material publicado on line referente à infecção por micobactéria em vídeocirurgia. Os objetivos específicos foram: a) investigar e identificar o tipo de material existente on line que relaciona a IH por micobactéria a vídeocirurgia; b) contextualizar e discutir o problema nacional existente sobre a infecção por micobactéria em vídeocirurgia. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, limitando a busca de material on line por meio do site Google. Na busca encontrou-se aproximadamente 1.300 acessos, limitando-se a amostra desta pesquisa aos 300 primeiros sites encontrados na busca. RESULTADOS: Ao investigar o tema, evidencia-se uma temática polêmica que desperta o interesse da mídia e explora depoimentos pessoais, salientando a existência desse problema e o interesse público. Diante desse cenário, o poder público posicionou-se publicando notas e informes técnicos, considerados nesta pesquisa legislações, a partir de 2007, com o intuito de conter o avanço da infecção. Analisando os resultados, identificou-se 171 materiais significativos. Dentre eles estão: 13 legislações, 3 artigos científicos, 135 materiais de mídia e 20 depoimentos pessoais. CONCLUSÃO: Constatou-se que o tema desperta interesse da mídia, sendo um tema polêmico e de interesse público. Concluiu-se que existe um grande número de notícias e poucos artigos científicos, isso provavelmente tenha ocorrido pelo pouco tempo transcorrido entre a identificação dos surtos e a elaboração de trabalhos científicos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 147
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANTO AO SEU DESCARTE
KATSUY MEOTTI DOI;GISELA MARIA SCHEBELLA SOUTO DE MOURA
O estudo procurou conhecer a opinião dos profissionais da equipe de enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em relação ao descarte dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSSS). Baseou-se em normas defendidas pela Resolução n° 306 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a de n° 358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Realizou-se uma pesquisa de natureza exploratória descritiva, através de uma abordagem qualitativa Os dados foram obtidos a partir de entrevistas semi-estruturadas aplicadas a 24 profissionais da equipe de enfermagem pertencentes a 2 unidades clínicas e 2 unidades cirúrgicas do HCPA. Buscou-se a categorização dos dados através da análise de conteúdo (BARDIN, 2004). Evidenciou-se, assim, que a maioria dos entrevistados desconhecia o significado da expressão “resíduos sólidos dos serviços de saúde”. E, apesar da maioria destes afirmar realizar a separação desses resíduos, poucos são os que realmente a fazem de maneira correta. Apontou-se, também, os motivos que os levam a não realizar o descarte adequado, procurando alternativas a fim de facilitar o processo e promover maior adesão dos profissionais na realização do descarte condizente com as normas seguidas pela instituição. Concluindo o estudo, ratificou-se a importância de tratarmos mais a sério a questão apresentada, reforçando não só a necessidade do acesso às orientações adequadas como também a obrigação de investirmos em ações reflexivas que reflitam em diminuição na geração desses resíduos. Ressalta-se, também, a necessidade de discussão do tema apresentado, incentivando novos estudos que contribuam na construção de alternativas que facilitem o processo de separação dos resíduos sólidos dos serviços de saúde.
INFECÇÃO HOSPITALAR - UMA PROPOSTA PARA REPENSAR O CUIDADO
MARIANE ROSSATO;DANIELE TRINDADE VIEIRA; GABRIELA ZENATTY ELY; KATIELE HUNDERTMARCK; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; ANDREA MOREIRA ARRUÉ
A infecção hospitalar (IH) representa um dos principais problemas na qualidade da assistência à saúde, devido a alta incidência, ao aumento da morbi-mortalidade, dos custos, gerando conseqüências nas esferas sociais e humanas (CESARINO et.al. 2007). De acordo com a relevância do tema, este estudo tem o objetivo de identificar o papel da enfermagem na disseminação e controle das infecções hospitalares. Para isso buscou-se artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores infecção hospitalar e enfermagem no método integrado, para os último 2 anos e redigidos em português, resultando em 9 artigos para análise. De acordo com Carvalho e Martins et.al. (2008) as percepções dos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem quanto a IH, é que esta é associado a contaminação ou sujidade macroscópica dos equipamentos, deixando de relevar procedimentos sobre lavagem de mãos e uso de EPIs. Tem-se, também que as estruturas funcionais e organizacionais do ambiente de trabalho influenciam para a adesão dos meios de prevenção. Esta medida é a melhor forma de combater as IHs, devendo ser implementadas por todos os profissionais da área da saúde desde a sua formação. Barbosa et.al. (2007) contribuem que os profissionais enfermeiros, de acordo com a sua formação e prática profissional, devem conhecer as práticas de controle de IHs, bem como ter conhecimento acerca do controle de disseminação de microorganismos multirresistentes (CDMM) porém de maneira geral, há desconhecimento acerca dessas práticas. Em conclusão, pode-se dizer que essas medidas de controle de IHs não estão sendo bem implementadas, e que estão faltando esclarecimento e sensibilização dos profissionais da saúde e em pauta os profissionais de enfermagem.
ESTUDO TRANSVERSAL SOBRE RISCOS OCUPACIONAIS OBSERVADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS UTILIZANDO A TÉCNICA DO INCIDENTE CRÍTICO
HELOISA HELENA KARNAS HOEFEL;GRACIANE MATTEI
Os cuidados na administração de quimioterápicos, envolvem risco de contato com medicamentos, sangue e contaminação do paciente. Objetivo: avaliar os relatos de riscos ocupacionais durante administração de quimioterápicos antineoplásicos em unidades de quimioterapia de um hospital universitário. Método: estudo transversal, utilizando a técnica do incidente crítico. Resultados:
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 148
participaram treze enfermeiras, com tempo de profissão de 21 anos (DP+-8), administração de quimioterapia MD de 14 anos (7;16). Preenchidos 57 formulários, com 66 observações de incidentes. Instalação de QT sem luvas foi relato de 11 (16,7%) ocasiões, risco de contato com QT 10 (15,2%), risco de contaminação 8 (12%),contato com droga 6 (9,1%), em 5 (7,6%) luvas não foram ou foram mal utilizadas. 48 motivos relatados como responsáveis pelos riscos ocupacionais: 23 (48%) falta de EPI, 14 (29%) pressa, 8 (17%) falta de cuidado, 3 (6%) por não dar importância à questão. Em 50% dos relatos o material disponível foi considerado não ideal e em 13 (44,8%) destes foram justificadas como lacunas no protocolo de QT, 6 (20,7%) luvas inadequadas por má qualidade, porosas e rasgando facilmente. A falta ou uso inadequado de EPI apareceu 26 vezes, no qual foi incluído o risco mais freqüente, instalação de QT sem o uso de luvas. Os motivos principais foram pressa (57,7%) e falta de cuidado (30,8%) significativos (gl= 3; Qui quadrado= 25,31 P<0,001) em relação a outros riscos. Conclusão: os enfermeiros destas unidades são constantemente expostos aos riscos ocupacionais nas atividades de preparo, administração ou descarte de quimioterápicos, principalmente por uso inadequado ou não uso de EPI. Há a necessidade, de revisão periódica das rotinas de QT baseada em literatura atualizada e na avaliação dos processos, qualificação profissional e desenvolvimento de pesquisas que avaliem o impacto dessas medidas, já que assim, poderá auxiliar na redução de riscos ocupacionais e qualificação da assistência.
ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS DE PNEUMONIAS ASSOCIADAS À VENTILAÇÃO MECÂNICA
HELOISA HELENA KARNAS HOEFEL;JEANE ZANINI DA ROCHA
Uma das infecções preocupantes em terapia intensiva é a pneumonia associada à ventilação mecânica pelo difícil diagnóstico, custos do tratamento, incidência e pela morbimortalidade associada assim como aos microorganismos multi resistentes. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre as medidas de prevenção da PAVM. Método: estudo exploratório através de questionário a técnicos de enfermagem de UTI de adultos de Porto Alegre.Resultados: dos 112 profissionais 66 (59%) participaram (33% turno manhã, 27% tarde, 39% noite). Não houve diferença significativa entre treinamento nos turnos (Qui quadrado= 0,6; P>0,05). 86% dos técnicos relatam aderir às medidas. As 207 medidas citadas foram classificadas em categorias: 146 (71%) diretas, ligadas à enfermagem; 7 (3%) compartilhadas, enfermagem e outros profissionais discutem (fisioterapia, tempo de ventilação mecânica); 54 (26%) gerais, todos profissionais (lavagem de mãos, uso de EPIs). A aspiração correta foi citada por 55 (83%) participantes, cabeceira elevada 35 (53%), lavagem de mãos 34 (51%) e uso de EPIs 20 (30%). De forma combinada aspiração correta e cabeceira elevada em 31 (47%) das respostas e aspiração mais lavagem de mãos em 29 (44%). Causas de transmissão de microorganismos: 50 (76%) relatos de pouca ou ineficaz lavagem de mãos, técnica incorreta 8 (12%), falta de comprometimento do profissional 6 (9%), grande rotatividade de profissionais facilitando transmissão 4 (6%) e falta de pessoal 3 (5%) respostas. Dos que não se consideraram sob risco, 6 (24%) justificou boa imunidade, 18 (72%) usar EPI confere ausência de risco ocupacional, 3% atribuiu à lavagem de mãos e 35 (53%) se considera sob risco.Conclusão:A maioria refere aderir às medidas preventivas e conhece as medidas preventivas, embora com lacunas como a da higiene oral. Os motivos de muitos não se considerarem sob risco mostram falsa sensação de segurança sugerindo necessidade de ênfase maior no treinamento.
A CONSTRUÇÃO DE UM MATERIAL INFORMATIVO PARA PACIENTES PORTADORES DE GERME MULTIRRESISTENTE E SEUS CUIDADORES
ANDREIA BARCELLOS TEIXEIRA;ANA PAULA WUNDER; ARIANE GRACIOTTO; MARIA SALETE GODOY FRANCO; MOEMA ALMEIDA DA COSTA; NEUSA PICETTI; ROGÉRIO MARCOLINO; ROZEMY MAGDA GONÇALVES; SAMARA GREICE RÖPKE FARIA DA COSTA
Introdução: A resistência dos microrganismos se define a partir de microbianos testados conforme a epidemiologia local das infecções. No Brasil, este problema assume maiores dimensões pelo uso indiscriminado e incorreto dos antibióticos, os quais são de livre aquisição nas farmácias (Freitas, 2005). O 6º. Sul é uma das unidades no Hospital de Clínicas de Porto Alegre que concentra os pacientes com germes multirresistentes (GMR), onde são utilizadas medidas na tentativa de impedir a disseminação dos mesmos. Neste sentido, os enfermeiros da unidade sentiram a necessidade de criar um material informativo (folder) que viesse a reforçar as orientações fornecidas ao paciente,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 149
familiares e cuidadores, facilitando a compreensão dos mesmos sobre a importância da participação de todos na prevenção da transmissão dos GMR. Objetivo: Divulgar a construção de material para orientar pacientes e familiares na prevenção da transmissão de GMR. Materiais e Métodos: O folder foi construído pelos enfermeiros da unidade, através da revisão da literatura e consulta aos experts da área, pontuando os aspectos considerados mais críticos na assistência diária. Resultados: Abordou-se o que e quais são os GMR, meios de transmissão e como o indivíduo deve proceder na visita e no acompanhamento do paciente. O impresso foi estruturado em tópicos de fácil compreensão e visualização. Conclusões: Pretende-se que a distribuição deste material auxilie membros da equipe, pacientes e familiares que muitas vezes tem dificuldades em reter as informações, sendo o material permanente para a consulta.
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO HIV
PATRÍCIA SILVA DE JESUS;MICHELE KROLL BUJES;MAÍRA DE ANDRADE BITTENCOURT; NÚBIA DE RODRIGUES ARAÚJO
INTRODUÇÃO – Para que haja exposição ocupacional ao HIV, os profissionais da saúde ficam condicionados ao acidente de trabalho no qual tem contato direto material biológico. O acompanhamento destes deve abordar aspectos clínicos e laboratoriais permitindo o diagnóstico de infecção aguda pelo HIV, determinando se houve soroconversão. OBJETIVOS – Coletar dados na literatura, referentes ao tema. Analisar fluxogramas institucionais, de dois hospitais da região metropolitana de Porto Alegre, para o atendimento aos profissionais expostos. MATERIAIS E MÉTODOS- Trata-se de um estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa em que foi realizada uma revisão bibliográfica através de coleta de dados utilizando 7 artigos científicos e 6 publicações online. Descritores pesquisados: exposição ocupacional; risco de transmissão; materiais biológicos; equipamento de proteção individual (EPI); quimioprofilaxia; comunicação de acidente de trabalho (CAT); medidas preventivas. RESULTADOS E CONCLUSÃO- Após exposição ocupacional é de extrema relevância a avaliação de alguns critérios: tipo de exposição, material biológico envolvido, paciente–fonte e gravidade do acidente. Posteriormente, prioriza-se a notificação do acidente para a instância pertinente (SESMT, CTA/SAE, médico plantonista, etc). Sob consentimento do paciente, é realizado teste rápido, para detecção de sorologia para HIV; em caso de positividade, inicia-se a Profilaxia Pós-Exposição de acordo com o Ministério da Saúde e fluxograma da instituição. Tanto paciente quanto o profissional, recebem orientação e aconselhamento do SESMT sobre o surgimento de sinais e sintomas, toxicidade medicamentosa ou efeitos adversos, adesão as profilaxias e prevenção secundária de infecção. Cabe aos profissionais da saúde, o uso de EPI´s e conscientização em massa sobre as formas de transmissão do HIV.
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
PRISCILA KEGLES KEPLER;ALICE GOMES,MARCELO DIAS, NATALIA WOLFF, PAOLA SULIS, PAULA PASSOS
Síntese: A educação continuada é um conjunto de experiências que seguem a formação do profissional permitindo manter, aumentar e melhorar a competência, visando o desenvolvimento de suas responsabilidades. Além disso, favorece condições materiais e tempo para o cumprimento da mesma, que é um direito do cidadão e ao mesmo tempo uma responsabilidade profissional. Esse trabalho trata-se de um relato de experiência da atividade intitulada “Higienização das mãos: um relato de experiência de educação continuada”, desenvolvida pelos acadêmicos de enfermagem do Centro Universitário Metodista IPA, no período de estágio curricular no Pronto – Atendimento da cidade de Viamão. Devido à grande incidência de infecções por contaminação das mãos e uma grande demanda de pacientes no serviço, observamos a necessidade de realizar uma atividade envolvendo a higienização de mãos. Objetivo: relatar a educação continuada realizada com os trabalhadores do local referido e apresentar como realizamos a dinâmica da higienização das mãos. Metodologia: realizou-se uma atividade lúdica de higienização das mãos, onde o participante vendou os olhos e lavou as mãos de maneira que julgasse correta, utilizando tinta colorida. Participaram da atividade seis profissionais de enfermagem. Considerações finais: A realização da dinâmica sobre higienização das mãos proporcionou a experiência de vivenciarmos uma educação continuada, bem como a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na Universidade. Através dessa atividade foi possível perceber que os profissionais conhecem a importância da higienização das
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 150
mãos para a prevenção e controle de infecção nos serviços de saúde, mas necessitam da realização frequente de capacitações da equipe.
O QUADRO DA TUBERCULOSE NA UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS MAIAS
ROBERTO OPITZ GOMES;DOUGLAS ROBERTO VEIT, GELSON ANTÔNIO IOB E ROSSANA RAD FERNANDES
Introdução: O GHC através do SSC, iniciou em 2002 um processo de descentralização da atenção aos indivíduos com tuberculose (TB). O processo consiste em realização do diagnóstico através de duas amostras de BAAR de SR (sintomáticos respiratórios), tratamento de 1º linha e acompanhamento dos casos via US. O SSC atende uma população de 108.565 habitantes, através de suas 12 US. A US Parque dos Maias (USPM) pertence ao GHC e possui descentralização da atenção a TB e uma das poucas que utiliza os DOTS (tratamento supervisionado). Objetivos: Apresentar o quadro de TB da USPM do ano de 2006 a maio 2009, casos investigados de SR e tratamentos dos indivíduos com TB diagnosticada. Material e Métodos: O presente estudo foi exploratório e descritivo do livro verde de sintomáticos respiratórios do ano de 2007, 2008 e maio de 2009 e do livro preto de TB para pessoas com diagnóstico fechado de TB. Resultados e conclusões: Em 2007, a USPM realizou 35 exames BAAR em indivíduos SR, 9 amostras inadequadas, 19 não realizaram, 6 amostras negativas e 1 amostra positiva +++. Em 2007 a USPM possuía 5 pacientes em esquema I. Em 2008 foram realizados 46 exames BAAR em pacientes SR, 17 amostras inadequadas, 15 não realizaram o exame, 12 amostras negativas, 1 positivo + e 1 positiva +++. Na US PM possuía somente 1 paciente em 2008 com DOTS e 1 paciente em esquema I. Em 2009, até o mês de maio foram realizados, 18 exames BAAR em indivíduos SR, 0 amostras foram inadequadas, 8 não realizaram, 9 amostras negativas e 1 resultado positivo. Em maio 2009, 1 paciente em esquema I. Com isto, vimos que a tuberculose é pouco incidente na USPM e que conseguimos diminuir até maio de 2009 para 0 as amostras inadequadas, o laboratório agora considera amostra inadequada sem BAAR como negativa.
ENFERMAGEM IU
PREVALÊNCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CARDÍACA
JEANE CRISTINE DE SOUZA;ISIS MARQUES SEVERO; SOLANGE MARIA BRAUN GONZALEZ; MELINA MARIA TROJAHN
INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) trata-se de um método de trabalho do enfermeiro, que de se dá por meio de ferramentas como o Processo de Enfermagem (PE) (FULY, LEITE, LIMA; 2008). As etapas do PE são: Anamnese e Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Evolução e a Prescrição de Enfermagem. Nessa estrutura destaca-se o DE, que é um julgamento clínico do enfermeiro sobre as respostas individuais, familiares ou comunitárias às condições e processos de vida (NANDA I, 2008). OBJETIVO: Identificar os DE prevalentes em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca. MÉTODO: Estudo quantitativo, descritivo-exploratório, realizado na UTI de um hospital universitário, que possui implantado todas as etapas do PE, o qual está embasado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas (HORTA, 1979), e na adoção da taxonomia II da NANDA I (2008). A coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2009, por meio do sistema informatizado do Hospital. A unidade de análise correspondeu a 82 DE em uma amostra de 10 pacientes. RESULTADOS: Os DE prevalentes foram: Risco de infecção relacionado aos procedimentos invasivos (100%), Mobilidade física prejudicada relacionado a terapias restritivas (90%) e Déficit no autocuidado banho e/ou higiene relacionado a terapias restritivas (90%). Esses resultados são compatíveis com os dados da literatura (ROCHA; MAIA; SILVA, 2006; CARVALHO et al., 2008), que expõem a freqüência dos DE em UTI. CONCLUSÕES: Com a identificação da prevalência desses DE podemos refletir sobre a prática, a fim de atender as necessidades do paciente em UTI. Com isso, acredita-se que este estudo servirá de estímulo para os enfermeiros repensarem o raciocínio clínico em busca do aprimoramento da assistência.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 151
AS PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
DAIANA MAGGI ZANELATTO;DAIANE DAL PAI
O serviço de emergência é um ambiente onde o usuário encontra-se, na maioria das vezes, com risco eminente de vida, sendo essencial um atendimento imediato. O Ministério da Saúde implementou a política de humanização, tendo como proposta o acolhimento que traz a classificação de risco. O presente estudo objetivou conhecer as vivências da equipe de enfermagem junto à estratégia de acolhimento em um serviço público de emergência de Porto Alegre. A proposta foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Metodista – IPA e pelo comitê da instituição onde foi realizado o estudo. A pesquisa utilizou o método qualitativo, sendo coletado os dados através de 9 observações, não participativas, de 3 horas cada, distribuídas nos três turnos de trabalho; e 9 entrevistas semi-estruturadas com profissionais de enfermagem. Os dados obtidos foram submetidos à análise de conteúdo, da qual emergiram as categorias: práticas do cotidiano estudado, compreensão da equipe de enfermagem sobre o acolhimento, avanços e desafios da implementação da estratégia. Diante disso contatou-se que o profissional está inserido em um ambiente agitado, diante de uma complexa gama de necessidades, com uma grande demanda que resulta em momentos de conflitos. Muitos profissionais demonstram ter um conceito equivocado sobre o acolhimento, o identificando somente no balcão do acolhimento, embora apresentem conhecimento sobre a sua finalidade durante a classificação de risco. Essa atitude ainda é um grande desafio frente à implementação da política, mas já houve benefícios como a organização do serviço, encaminhamento para outras áreas e agilidade no atendimento quando necessário.
A DIFICULDADE NO DIAGNÓSTICO DE LESÃO PULMONAR AGUDA RELACIONADA COM TRANSFUSÃO TRALI: RELATO DE CASO
FABIANA ZERBIERI MARTINS;TATIANE GOMES DE ARAÚJO; GABRIELA LEITE KOCHENBORGER; SOFIA LOUISE SANTIN BARILLI
A TRALI (Transfusion Related Acuted Lung Injury) pode ser causa de morbimortalidade relacionado com transfusão sanguínea. Caracteriza-se por angústia respiratória, com início durante ou até seis horas após transfusão, evidenciada por edema pulmonar bilateral não cardiogênico, dispnéia, hipotensão, febre e severa hipoxemia. Acredita-se que o mecanismo desencadeante esteja associado à infusão de anticorpos contra antígenos leucocitários e a mediadores biologicamente ativos presentes em componentes celulares estocados. Este estudo trata de um caso de suspeita de TRALI ocorrido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Porto Alegre associado a uma revisão bibliográfica. Paciente E.T., 20 anos, chega a emergência com ferimento por arma de fogo transfixante em tórax, hemopneumotórax maciço à direita, contusão pulmonar, e em choque hemorrágico, recebendo transfusão de hemoderivados. Sofreu toracotomia, lobectomia e esternotomia e apresentou piora do padrão ventilatório e hipoxemia após as primeiras transfusões. Foi transferido para a UTI, onde ocorreu a suspeita diagnóstica de TRALI. Apresentava-se sedado, com mioclonias faciais intensas, em ventilação mecânica com FiO2 de 100%, ausculta pulmonar com roncos e murmúrios vesiculares diminuídos, em uso de altas doses de vasopressor, PAM tolerável, dois drenos de tórax à direita, com drenagem hemática, e demais sinais vitais estáveis. Após 24hs de internação diagnosticou-se Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo e o paciente não recebeu mais nenhuma transfusão, considerando-se a suspeita TRALI. Esta patologia é pouco comum em nossa realidade e pode ser confundida com outras situações de insuficiência respiratória aguda. Desta forma, estudos podem auxiliar na prevenção e tratamento desta severa complicação transfusional.
OPINIÃO DOS FAMILIARES DE PACIENTES EM TERAPIA INTENSIVA SOBRE A COMUNICAÇÃO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM
JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS;SABRINA GUTERRES DA SILVA; ADELINA GIACOMELLI PROCHNOW; SOELI TEREZINHA GUERA; SUELI GÓI BARRIOS; MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEDROSO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 152
Introdução: A comunicação potencializa a interação entre profissionais, pacientes e seus familiares, tornando as ações de cuidado mais humanizadas, dirimindo as dúvidas e angústias que perpassam o processo de hospitalização nas Unidades de Terapia Intensiva. Objetivo: Conhecer a opinião dos familiares de pacientes em terapia intensiva acerca do processo de comunicação com a equipe de enfermagem. Metodologia: Desenvolveu-se uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com dez familiares de pacientes em terapia intensiva e analisados seguindo as diretrizes da análise temática. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição de referência e seguiu os preceitos que regulamentam as pesquisas com seres humanos. Resultados: Os participantes do estudo referiram dificuldade para conversar e esclarecer suas dúvidas com os profissionais de enfermagem, pois eles, muitas vezes, não estão presentes na unidade durante o horário de visitas. Quando a comunicação acontecia, nem sempre ela era esclarecedora. A comunicação requer reciprocidade de mensagens e compreensão mútua, e esse fato não foi evidenciado nos relatos dos familiares, de maneira que em muitos momentos as necessidades de informações apresentadas por esses sujeitos não são sanadas em virtude da linguagem técnica utilizada pelos profissionais. Conclusão: Na opinião dos familiares de pacientes em terapia intensiva, a comunicação com a equipe de enfermagem é escassa e difícil na maioria das vezes. A pesquisa contribui no sentido de fornecer subsídios para revisão das práticas comunicativas da equipe de enfermagem com os familiares dos pacientes em terapia intensiva.
ÚLCERA DE PRESSÃO NA UTI - UMA REVISÃO CIENTÍFICA ACERCA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
MARIANE ROSSATO;MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; KATIELE HUNDERTMARCK; GABRIELA ZENATTI ELY
Úlcera por pressão (UP) é a designação para lesão de pele devido a fatores relacionados com permanência do paciente na mesma posição por longo período, ocorrendo descontinuidade da integridade da pele. As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são especializadas no atendimento de pacientes graves os quais em decorrência do seu quadro clínico, acabam por permanecer muito tempo internados, favorecendo o surgimento de lesões de pele, as úlceras de pressão. Devido a relevância deste tema para a profissão de enfermagem, buscou-se, por meio deste trabalho, a obtenção de um diagnóstico acerca da produção científica referentes à temática e o conteúdo por eles tratados. Para tanto, realizou-se a busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os descritores: UTI, úlcera por pressão, enfermagem, incluindo textos redigidos em português nos últimos 5 anos, sendo analisados 3 artigos. De acordo com Silva et.al.(2006), o surgimento de úlceras por pressão avalia negativamente o trabalho da equipe de enfermagem intensivista, e que a prevenção é a melhor maneira de combater este quadro. Silva & Correia (2004) vão ao encontro dos autores supracitados, fazendo uma reflexão acerca do papel do enfermeiro em UTI na discrepância do ato de prevenir e implementar a ação. Lise & Silva (2007) trazem a tona, mais uma vez, a idéia de prevenção de UP, desta vez instrumentalizando os auxiliares, técnicos de enfermagem e familiares de pacientes, os quais por meio de uma análise simples podem intervir no cuidado preventivo. Conclui-se que a produção literária acerca do tema UPs em UTIs, está focada na prevenção, porém a demanda de publicações ainda é insuficiente e carece de mais atenção por parte dos profissionais da saúde.
ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM SITUAÇÃO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO(UTI) ADULTO
MARIANE ROSSATO;DANIELE TRINDADE VIEIRA,GABRIELA ZENATTI ELY,KATIELE HUNDERTMARCK,MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA,LEILA REGINA WOLLF
A parada cardiorrespiratória consiste em cessação das funções cardíaca e respiratória, evoluindo para a morte se não houver intervenção em curto espaço de tempo. A PCR é muito comum em UTI, sendo necessária uma boa educação aos profissionais desta área, para realizarem atendimento adequado. A equipe de enfermagem necessita de uma capacitação a fim de identificar uma PCR e iniciar o processo de reanimação. A fim de identificar o nível de conhecimento da equipe a cerca do assunto, buscaram-se artigos na base de dados LILACS, com os descritores: PCR e UTI adulto, nos últimos 3 anos resultando 3 artigos para análise. Para Carvalho et.al.(2006) a PCR é o evento mais grave que pode ocorrer, necessitando da total atenção da equipe de enfermagem diante de risco
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 153
iminente. Entre a identificação e a intervenção não deve passar de dez segundos, para tanto a equipe deve ter domínio da técnica de ressucitação e saber fazer uso do material disponível em carro de emergência. Pois para eles, o tempo de atuação e o nível de instrução (auxiliar, técnico, enfermeiro) influenciam no sucesso da ressucitação, já que se evidencia um despreparo da equipe de enfermagem para atuar em situação de PCR, incluindo enfermeiros graduados. A maior dificuldade encontra-se em identificar os sinais de PCR já que em UTI os pacientes encontram-se constantemente monitorados eletronicamente. De acordo com os próprios profissionais de UTI, necessita-se de uma maior educação em serviço, lançando mão de subsídios teóricos e práticos. Conclui-se que aos profissionais de enfermagem cabe maior conhecimento sobre o assunto, especialmente aos que atuam em UTI, onde a PCR faz parte do cotidiano destes profissionais.
O CUIDADO HUMANIZADO E A EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA
CAMILA BORBA;DESIRÉE LEMOS THOMÉ; DIEGO EVANDRO DA SILVA RIOS; PAMELA DOS REIS; ROSELAINE PATRÍCIA SPANIOL; SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO; ANA LUÍSA PETERSEN COGO
INTRODUÇÃO: O cuidado humanizado tem sido discutido atualmente nas disciplinas do Curso de Graduação em Enfermagem. A finalidade da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) foi a de efetivar as diretrizes do SUS e mobilizar trabalhadores com os princípios da humanização, que se faz fundamental para o ambiente de alta tecnologia, estresse e sensibilização da UTI (BRASIL, 2009). OBJETIVO: Identificar a partir de uma revisão integrativa da literatura o significado do cuidado humanizado nas UTIs e as possíveis dificuldades na sua implantação .MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão integrativa (COOPER, 1989) com a questão norteadora: qual o significado cuidado humanizado e o que dificulta, nas Unidades de Terapia Intensiva, a prática deste pela equipe de enfermagem. A busca dos artigos em periódicos brasileiros, no período de 2000 a 2009, ocorreu na base de dados LILACS com os descritores: humanização da assistência, unidade de terapia intensiva. Instrumento de coleta de dados foi elaborado e realizada a análise descritiva. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Foram identificados oito artigos que sinalizam o reconhecimento do significado de cuidado humanizado em termos teóricos pelos profissionais de enfermagem. Apesar de preconizado, encontra dificuldades para ocorrer de forma plena nas UTIs. As principais dificuldades descritas para sua implantação são: ambiente altamente tecnológico, predomínio do cuidado técnico, rotinas de cuidado pouco flexíveis, sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem. Acredita-se que o compromisso para com a efetivação do cuidado humanizado seja do profissional e da instituição. Para isso, é fundamental que o profissional seja ativo nessa busca, já que as mudanças só acontecem através da ação humana individual.
HUMANIZAÇÃO EM UTI - O OLHAR DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DEISE SIMÃO ARREGINO;NERY JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
Introdução: A proposta deste estudo foi analisar a percepção dos técnicos de enfermagem frente à humanização na unidade de terapia intensiva. O interesse por este tema nasceu da reflexão sobre o papel do técnico de enfermagem em momento de atendimento ao paciente junto ao ambiente hospitalar. Objetivo: Fornecer para esses profissionais, informações sobre os cuidados de saúde prestados aos pacientes promovendo assim um atendimento humanizado. Método: Este estudo caracterizou-se como pesquisa qualitativa com estratégia de estudo de caso. A população do estudo foi constituída pelo grupo de técnicos de enfermagem trabalhadores de uma Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital de grande porte na cidade de Porto Alegre/RS, que se declararam dispostos em participar do estudo. Resultados: Os entrevistados acreditam na importância de perceber o paciente como um todo, sendo assim torna-se de grande importância para uma assistência humanizada, valorizando sempre a participação dos familiares junto ao paciente e equipe, promovendo um bom ambiente de trabalho. Conclusão: Humanizar a relação com o doente realmente exige que o trabalhador valorize a afetividade e a sensibilidade como elementos necessários ao cuidar. Porém, compreendemos que tal relação não supõe um ato de caridade exercido por profissionais abnegados e já portadores de qualidades humanas essenciais, mas um encontro entre sujeitos, pessoas humanas, que podem construir uma relação saudável, compartilhando saber, poder e experiência de vida através de confiança e credibilidade. Foi constatado que os técnicos de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 154
enfermagem acreditam na importância da assistência humanizada, porém encontram dificuldade em definir o processo de humanização e não sabem o que é necessário para sua implementação.
VALIDAÇÃO DE RESULTADOS PARA O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE INFECÇÃO NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MÉDICA, CIRÚRGICA E EM TERAPIA INTENSIVA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DEBORAH HEIN SEGANFREDO;DEBORAH HEIN SEGANFREDO, LUCIANA NABINGER MENNA BARRETO, AMÁLIA DE FÁTIMA LUCENA, DÉBORA FRANCISCO DO CANTO, CAROLINA FERNANDEZ VAZ, ILESCA HOLSBACH, MIRIAM DE ABREU ALMEIDA
INTRODUÇÃO: Tendo em vista as necessidades crescentes das enfermeiras por descrever e mensurar os resultados da prática foram criadas terminologias, sendo a Nursing Outcomes Classification (NOC) a mais desenvolvida e utilizada. O modelo informatizado do Processo de Enfermagem no HCPA alia os Diagnósticos de Enfermagem (DE) da NANDA e a Teoria de Worta; sendo Risco de Infecção um dos DE de maior prevalência no hospital. OBJETIVO: Validar os Resultados de Enfermagem (RE), descritos a partir da ligação NOC-NANDA, para o DE Risco de Infecção. MÉTODO: Estudo quantitativo, descritivo transversal, de validação de conteúdo. Desenvolvido nos Serviços de Enfermagem Médica, Cirúrgica e de Terapia Intensiva Adulto do HCPA. A população é de enfermeiros do HCPA e a amostra definida de acordo com critérios pré-estabelecidos. Coleta dos dados realizada por meio de instrumento a ser preenchido pelos enfermeiros peritos e, constando dos REs propostos na última publicação da NOC para o DE Risco de Infecção, quais sejam: Acesso para Hemodiálise, Autocuidado: Higiene, Cicatrização de Feridas: Primeira Intenção, Cicatrização de Feridas: Segunda Intenção, Comportamento de Imunização, Comportamento de Tratamento: Doença ou Lesão, Conhecimento: Controle de Infecção, Conhecimento: Procedimento(s) de Tratamentos, Conseqüências da Imobilidade: Fisiológicas, Controle de Risco Comunitário: Doença Contagiosa, Controle de Riscos, Controle de Riscos: Processo Infeccioso, Controle de Riscos: Doenças Sexualmente transmissíveis (DSTs), Crenças de Saúde, Detecção de Riscos, Estado Imunológico, Estado Nutricional, Gravidade da Infecção, Integridade Tissular: Pele e mucosas, Prevenção da Aspiração, Prontidão do Paciente Pré-procedimento. A análise será estatística descritiva. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-se com o estudo obter subsídios para o aprimoramento de informações para sistemas computadorizados, bem como para a qualificação do cuidado de enfermagem.
A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE ACERCA DOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA
PATRÍCIA SILVA DE JESUS;NÚBIA DE RODRIGUES ARAÚJO;MAÍRA DE ANDRADE BITTENCOURT; MICHELE KROLL BUJES
INTRODUÇÃO: Partindo do pressuposto que os acadêmicos da área da saúde, culturalmente falando, são referência para o atendimento de emergências clínicas, optamos por testar o conhecimento dos mesmos pertencentes à uma universidade privada, localizada na região metropolitana de Porto Alegre.OBJETIVOS: Coletar dados sobre os conhecimentos dos acadêmicos a cerca de situações específicas de urgência e emergência. Analisar os dados a fim de descrever o nível de conhecimentos destes sobre o referido assunto. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizada pesquisa quantitativa, analítica, exploratória com 78 acadêmicos de diversos segmentos da área da saúde, utilizando como método de coleta de dados um questionário abordando as situações de emergência mais comuns. O questionário foi elaborado pelos próprios pesquisadores, no qual continha 12 (doze) perguntas fechadas, de múltipla escolha, com apenas uma resposta correta, as quais foram respondidas após a adesão ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Utilizou-se como critérios de inclusão os acadêmicos de cursos da área da saúde da referida universidade, que estavam regularmente matriculados a partir do 4º semestre. CONCLUSÃO: Os acadêmicos da área da saúde da universidade pesquisada se mostraram despreparados para a realização de um atendimento de emergência concluindo-se então a partir das situações descritas no questionário. Por conseguinte, identificamos a necessidade de um aprimoramento relativo ao primeiro atendimento em uma situação de urgência, tendo em vista que socorro inadequado e omissão do mesmo são grandes agravantes para a saúde da vítima.. Portanto, deve-se capacitar ao menos, os acadêmicos da área da saúde quanto a noções de primeiros socorros, evitando assim, maiores erros nesses
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 155
atendimentos. Atendimentos esses, que devem ser prática e teoricamente, muito bem fundamentados, de forma que o acadêmico esteja seguro e ciente do procedimento a ser prestado.
PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM FACE DAS OCORRÊNCIAS IATROGÊNICAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
TAÍS DE SOUZA FACHINELLI;FÁTIMA HELENA CECCHETTO
Estudos recentes definem como ocorrência iatrogênica o incidente clínico não intencional que reduz ou pode reduzir a segurança do paciente. Os cuidados assumidos em terapia intensiva indicam que pequenos deslizes na manutenção do cuidado podem representar grandes declínios clínicos. Os profissionais de saúde envolvidos em situações adversas também sofrem consequências, que envolvem punições verbais, escritas e administrativas, demissões, processos civis, éticos e legais. Pensou-se nos profissionais atuantes em UTI ao se elaborar esta pesquisa, que busca reconhecer e identificar seus sentimentos relacionados a essa problemática. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, realizado com a equipe de enfermagem do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Fátima de Caxias do Sul. Objetivo: identificar a percepção dos profissionais da enfermagem atuantes em UTI adulto e pediátrica em face das ocorrências iatrogênicas vivenciadas. Materiais e Métodos: realizou-se a análise de dados segundo Bardin. Os dados foram coletados através de uma entrevista semiestruturada gravada em MP4 com a equipe de enfermagem. Foram respeitados todos os preceitos da resolução 196/96, que levam em consideração os princípios éticos para pesquisas que envolvam seres humanos. Resultados: para análise de conteúdo, os resultados foram classificados em seis categorias-base, que são entendimento do profissional por evento adverso, eventos adversos mais fequentes, fatores relacionados sentimentos, posicionamento profissional e impressão acerca da notificação. Considerações finais: a maioria dos profissionais entrevistados admite ter a vivência de OI por erro de medicação. Os erros afetam de maneira negativa os profissionais da enfermagem, visto que estes não são preparados para trabalhar com o erro. A elaboração adequada desses eventos torna o profissional mais consciente de suas ações. A maioria deles busca segurança do paciente e bem-estar profissional.
A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM UTI: UMA REFLEXÃO PARA A ASSISTÊNCIA
MICHELE RADDATZ;PATRÍCIA VEDOVATO PREVEDELLO, ROSANA HUPPES ENGEL, PÂMELA BATISTA DE ALMEIDA, ALINE CHAVES DALLA NORA, ELISABETA ALBERTINA NIETSCHE, SOLANGE COPAVERDE, LEILA REGINA WOLFF
A internação é sempre uma situação estressante, principalmente se ela ocorre em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde a associação com morte é inevitável. O principal objetivo desse estudo é fazer uma reflexão sobre a humanização do cuidado realizado pela equipe de Enfermagem durante a assistência prestada aos pacientes em UTI‟s. Utilizou-se como fonte de dados publicações de periódicos nacionais e publicações das bases de dados na Biblioteca Virtual de Saúde e do portal Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), bem como a Política de Humanização do Ministério da Saúde. Pelo fato da UTI ser um ambiente em que a gravidade e o risco de morte são freqüentes, promover humanização nesse ambiente tem sido uma questão a ser lapidada. O tratamento implantado nesse ambiente é considerado agressivo e invasivo, traduzindo-se por uma alta intensidade e complexidade de eventos e situações. O emprego e a valorização da tecnologia, em muitas vezes detrimento de atenção aos pacientes, têm produzido seus efeitos sobre os mesmos, sua família e a própria equipe de profissionais desta unidade, criando um estereótipo de que a UTI é um lugar negativo, que pouco produz saúde, predominando a idéia de morte. A equipe de enfermagem deve trabalhar com isso, visando minimizar o sofrimento psicológico dos envolvidos. É preciso tornar as UTI‟ s em um ambiente humano, afável. Para isto são necessárias mudanças nas estruturas, nos conceitos, superação de obstáculos e tabus, compreensão dos fatores que produzem estresse e o planejamento de intervenções oportunas e eficazes. Portando, os profissionais que trabalham na terapia intensiva precisam estar constantemente buscando novos conhecimentos, para melhor qualidade da assistência. O cuidado não pode estar apenas fundamentado na realização da técnica, mas também na valorização do ser humano, respeitando as individualidades de cada pessoa para que se possa concretizar verdadeiramente o cuidado humanizado.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 156
ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA
ORIENTAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DA ENFERMEIRA: LEMBRANÇAS DE PACIENTES
FLÁVIA PACHECO DA SILVA;MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE; MIRIAM DE ABREU ALMEIDA; KÁTIA BICA KERETZKY; EVELINE RODDRIGUES; FRANCIELE DA SILVEIRA SCHENINI; VANDRÉIA MACHADO GARCIA
Introdução: A experiência da cirurgia é causadora de estresse e ansiedade ao paciente e sua família, pelo receio do desconhecido e pelas dúvidas e incertezas quanto ao processo de recuperação. Um aspecto importante para diminuir a insegurança desses pacientes é a orientação pré-operatória realizada pela enfermeira. Objetivo: Conhecer a opinião dos pacientes sobre a efetividade das informações prestadas pelas enfermeiras no pré-operatório, em relação ao enfrentamento do período perioperatório. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa, onde foram entrevistados nove pacientes em pós-operatório de cirurgia abdominal, no período de março a abril de 2008. As entrevistas foram gravadas e transcritas para a análise do conteúdo. Resultados: Foram estabelecidas três categorias: Agora eu não estou lembrando, mas foi coisa boa..., onde registramos que os pacientes pouco lembravam do que lhes tinha sido dito, sendo necessários constantes estímulos para obter respostas. A segunda categoria, O doutor também conversou..., destaca a lembrança dos pacientes quanto a orientação do médico, o que enfatiza o poder do seu discurso. Na terceira categoria, Me cuidam muito bem, nada ficou faltando, é referido que a orientação ajudou no enfrentamento embora não se sentissem à vontade para opinar e sugerir o que poderia ser modificado na orientação. Conclusões: Esta pesquisa nos revelou que os pacientes pouco se lembraram das orientações fornecidas pela enfermeira, apesar de referir que essas lhes auxiliaram no enfrentamento da cirurgia. Os achados desta pesquisa nos levaram a avaliar as práticas que desenvolvemos, uma vez que propomos que determinadas atividades não sejam banalizadas pela repetição e ritualização que adquirem em nosso dia-a-dia.
VIVENDO A ENFERMAGEM NOS AÇORES: OPORTUNIDADE DE INTERCÂMBIO NA UFRGS
CARLA DAIANE SILVA RODRIGUES
Relato da oportunidade de intercâmbio de uma aluna da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerida pela Secretaria de Relações Internacionais da Universidade e patrocinada pelo Banco Santander, dentro do Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades. O intercâmbio ocorreu entre outubro de 2007 e janeiro de 2008, na Universidade dos Açores, Portugal. O objetivo é apresentar as vivências da aluna ao realizar seu estágio curricular em um hospital açoriano, em uma unidade cirúrgica, além da oportunidade de ter estado em um país europeu. A metodologia consiste no relato das percepções da autora sobre o intercâmbio e de como é ser enfermeiro nos Açores. Como resultados, apresenta as peculiaridades do trabalho da enfermagem no contexto vivido, considerações sobre o Sistema de Saúde português e características do Arquipélago dos Açores. Conclui que a oportunidade de conhecer uma realidade de trabalho tão diferente da brasileira, antes mesmo de haver concluído a graduação em Enfermagem, foi um privilégio imensurável, uma experiência inesquecível, que só ratificou o objetivo inicial do intercâmbio: relatar a experiência como contribuição à enfermagem brasileira.
VIVÊNCIAS NA ENFERMAGEM: NA PERSPECTIVA DE TRANSFORMAR O AGIR
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;JUCELAINE AREND BIRRER; HELENA CAROLINA NOAL; MARLENE GOMES TERRA; CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN
O cenário hospitalar gera uma exposição do paciente, afasta-o de seu ambiente familiar para adentrar em um mundo diferente e impessoal, o qual seus hábitos são modificados para se ajustar às rotinas da instituição onde a relação com os profissionais caracteriza-se pelo afastamento, com repasse de informações e utilização de terminologias técnicas-científicas (Mendes, 2000). Assim, este trabalho objetiva relatar as práticas de educação em saúde ao paciente cirúrgico, estruturadas na Unidade de Internação Cirúrgica (UIC) de um hospital público localizado no centro do estado do RS. Trata-se de um Projeto de Extensão que busca orientar o paciente na fase perioperatória promovendo atividades
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 157
lúdicas acompanhadas de reflexões com a finalidade de contribuir na melhoria da sua auto-estima e do seu familiar/acompanhante. As atividades educativas são agendadas previamente, e a adesão do paciente e seu familiar ocorrem espontaneamente. Realizam-se grupos que são mediados pelo diálogo entre equipe de enfermagem e paciente/familiar. Isto possibilita trocas de experiências. Para tanto, utiliza-se bonecos de plásticos para demonstrar as possíveis sondas, curativos e incisões do procedimento cirúrgico; e, também se possibilita acesso a jornais, revistas, manuais e folders explicativos. Assim sendo, é necessário que os profissionais tenham habilidade de identificar e conhecer os sentimentos do paciente no momento em que estes possam surgir; além disso, é necessário saber interpretar e auxiliar o paciente para que suas emoções possam ser minimizadas, com apoio e compreensão. Assim sendo, o projeto oportuniza novas formas de pensar na equipe de enfermagem na perspectiva de transformar o agir na prática de enfermagem, como exigência de preparo, não só em termos técnicos e teóricos, mas humanísticos.
O APRENDER COM O PACIENTE CIRÚRGICO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;SINARA RASKOPF KLÜSENER; MARLENE GOMES TERRA; HELENA CAROLINA NOAL; JUCELAINE AREND BIRRER; NIARA CABRAL ISERHARD
O desafio de realizar educação em saúde com paciente possibilita trocas de experiências. É um momento de aprendizagem que precisa ser planejado com base no ensino, no aconselhamento, com efetiva comunicação, que influenciam a modificação de comportamentos cognitivos, psicomotores e afetivos (STEFANELLI, 1990). A educação em saúde é uma competência dos profissionais de enfermagem, e possui como fator dependente, o estabelecimento de comunicação entre sujeitos envolvidos, profissional/paciente (SILVA, 1996). Ela objetiva reduzir sentimentos negativos do paciente, tais como: o medo do desconhecido, a ansiedade. Também busca restringir as complicações envolvidas no processo cirúrgico, pois se torna um ser ativo e comprometido com a sua reabilitação. Este estudo objetiva relatar a experiência vivida ao prestar cuidados de enfermagem ao paciente internado em um hospital público, localizado no centro do estado do Rio Grande do Sul, na Unidade de Internação Cirúrgica. Para tanto, estimulou-se o paciente a descobrir e desenvolver suas potencialidades, visando o seu preparo cirúrgico. Essa iniciativa tinha como finalidade auxiliá-lo na sua reabilitação pós-operatória. Levando em consideração a singularidade do paciente cirúrgico, compreendemos ser o acompanhamento no período perioperatório um dos principais cuidados a ser desenvolvido, pois dispõe de um processo individualizado, planejado, avaliado e contínuo. O acompanhamento abrange os períodos pré, intra e pós-operatório de sua experiência cirúrgica, o qual se buscou uma melhor qualidade no cuidado de enfermagem ao ser humano assistido. Essa realidade vivenciada possibilitou-nos refletir sobre as nossas ações, na busca de cuidar do outro com um olhar humano.
O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA PELO ENFERMEIRO NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE E ENFERMAGEM
JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS;ROSÂNGELA MARION DA SILVA; ADELINA GIACOMELLI PROCHNOW; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JOSÉTE LUZIA LEITE; MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEDROSO
Introdução: A liderança é uma das principais competências do enfermeiro para a gerência dos processos de trabalho, coordenação e articulação das atividades que envolvem a produção do cuidado em saúde e enfermagem, bem como dos profissionais que as desempenham. Objetivo: Refletir sobre a liderança do enfermeiro no contexto da organização do trabalho em saúde e enfermagem e fornecer subsídios para enfermeiros e acadêmicos de enfermagem que buscam estudar e/ou aprimorar o exercício da liderança. Métodos: Ensaio teórico fundamentado em uma revisão bibliográfica narrativa de livros, artigos e dissertações, a partir da qual foram constituídos três eixos de análise e reflexão: em busca do conceito de liderança, o desenvolvimento do potencial para o exercício da liderança e a liderança do enfermeiro entre o passado, presente e o futuro. Resultados: A liderança é uma importante competência para o enfermeiro na gerência do processo de trabalho e coordenação das atividades que envolvem a produção do cuidado em saúde e enfermagem. Assim, o exercício da liderança requer dos enfermeiros o desenvolvimento de posturas empreendedoras baseadas na construção de equipes, na negociação, no compartilhamento do poder nas relações e na exploração da motivação humana no trabalho. Conclusão: É fundamental o enfermeiro estar
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 158
convicto do seu papel de líder no exercício profissional e buscar exercê-lo com coerência e visão crítica da realidade diante de diferentes contextos, valorizando a multidimensionalidade do ser humano que cuida e que é cuidado.
A COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA DO ALUNO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
JOÃO AUGUSTO BRANCHER FUCK;OLGA MARIA PANHOCA DA SILVA; LUANA SILVEIRA
INTRODUÇÃO: A comunicação pode ser definida como uma interação onde duas ou mais pessoas enviam e recebem mensagens e, durante o processo, ambos se apresentam e interpretam um ao outro. (DEAUX; WRIGHTSMAN apud DAVIES, 1995, p. 22). O cuidado é o principal objetivo da enfermagem. Esse processo envolve pessoas, ou seja, aquele que cuida e aquele que recebe o cuidado. Não se pode entender o cuidado sem que se exerça plenamente o diálogo, seja com o cliente ou com os seus acompanhantes e familiares. MATERIAL E MÉTODOS: O objetivo desse estudo é avaliar o processo comunicativo durante o aprendizado da enfermagem. Para isso foi realizada uma pesquisa de campo, exploratória, com observação não participante de 18 alunos, sendo eles da 3ª, 4ª e 6ª fases, durante visitas domiciliares. RESULTADOS: Observou-se que a maioria dos alunos utilizou uma linguagem de fácil entendimento e ficou atento ao relato do cliente, sendo que alunos da 6ª fase realizaram um diálogo de forma alternada. Na comunicação adequada as informações são transmitidas de forma simples, clara e objetiva, que até pessoas com menos grau de instrução compreendem (INABA; SILVA; TELLES, 2005). Quanto à empatia, houve bastante variação nas observações. Em outros estudos percebeu-se grande dificuldade dos alunos nos seus primeiros contatos com os pacientes. (JESUS; CUNHA, 1998). CONCLUSÃO: Concluí-se que os alunos de fases mais adiantadas, 6ª fase, fizeram visitas de maior duração, com tempo além de 60 minutos, além de demonstrarem melhor capacidade de interação com os pacientes. O aprendizado e a prática facilitam a comunicação e tendem a aperfeiçoar a interação do aluno com o cliente.
TRATAMENTO DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO
KARINE KRINDGES
O período pós-operatório entende-se desde o momento em que o paciente deixa a sala de cirurgia até a última visita de acompanhamento com o cirurgião. Tem por finalidade detectar e prevenir a instalação das complicações pós-operatórias, aliviar a dor e restabelecer o equilíbrio fisiológico do paciente, já que este está sob efeito da anestesia. Como objetivo deste estudo busca-se conhecer as responsabilidades da enfermeira na unidade de recuperação pós-anestésica na prevenção de complicações pós-operatórias imediatas, visando qualificar o atendimento de enfermagem no pós operatório. Trata-se de uma revisão de literatura a cerca do tratamento de enfermagem no pós operatório. Constituíram fontes do estudo artigos e livros de enfermagem relacionados com o tema e publicados na realidade nacional. As metas do tratamento de enfermagem para o paciente na URPA consistem em fornecer o cuidado até que o paciente tenha se recuperado dos efeitos da anestesia (p.ex., até a retomada das funções motora e sensorial), esteja orientado, apresente sinais vitais estáveis e não mostre evidências de hemorragias nem outras complicações. Avaliações freqüentes e criteriosas do nível da saturação de oxigênio no sangue, freqüência e regularidade do pulso, profundidade e natureza das respirações, coloração da pele, nível de consciência e a capacidade de responder aos comandos são os marcos do cuidado de enfermagem na URPA. Percebe-se que a avaliação cuidadosa de enfermagem e a intervenção imediata auxiliam o paciente no retorno rápido, seguro e mais confortável possível para a função ótima. É importante o cuidado contínuo na comunidade, por meio dos cuidadores domiciliares, visitas clínicas, visitas de consultório ou demais formas de acompanhamento, o que facilita uma recuperação sem complicações.
PACIENTES EM RISCO PARA ÚLCERA DE PRESSÃO: ESCALA DE BRADEN E FATORES ASSOCIADOS
SUZANA FIORE SCAIN;ROSSANA ROSA BERCINI;ANA GABRIELA SILVA PEREIRA;DORIS BARATZ MENEGON;AMALIA DE FÁTIMA LUCENA; CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS;MELINA ADRIANA FRIEDRICH
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 159
INTRODUÇÃO: Num hospital geral, foi implantado em 2007 o Protocolo Assistencial Ulcera de Pressão (UP) para avaliar o risco para UP através da escala de Braden. Após a implantação verificou-se a necessidade de avaliar os dados referentes aos pacientes que apresentaram risco para UP. OBJETIVO: Identificar as características de pacientes hospitalizados em risco para UP. MÉTODOS: Estudo do tipo descritivo, transversal, com amostra de 220 pacientes adultos internados em unidades clínicas e cirúrgicas no primeiro semestre de 2008 que apresentaram risco para UP. A escala de Braden incluiu subescalas: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. A soma das subescalas (1 a 4) foi o valor que indicou o risco , mínimo de 6 e máximo de 23. A coleta foi retrospectiva e analisada pela estatística descritiva. RESULTADOS: Dos 220 pacientes internados com risco para UP a mediana para idade foi 73 anos e 133 eram mulheres (62,7%). Oitenta e três pacientes (37,7 %) internaram por doenças cerebrovasculares, 35 por doenças pulmonares (15,9%) e em igual número (30) por doenças cardiovasculares e neoplasias (13,6%). Evidenciaram-se como as comorbidades mais frequentes: cardiovasculares (40%), cerebrovasculares (37,7%) e metabólicas (27,7%). As subescalas que apontaram para maior risco foram à atividade, ou seja, 183 pacientes acamados (83,3%), a fricção e cisalhamento em 116 (52,7%) e a mobilidade, 31 pacientes totalmente imóveis no leito (11,8%). Os escores mais frequentes foram 11 (18%), 12 (19,1%) e 13 (32,7 %). CONCLUSÃO: O conhecimento das características destes pacientes e o uso da Escala de Braden facilitam o direcionamento do cuidado e podem diminuir o risco para UP. Descritores: risco, úlcera de pressão, cuidados de enfermagem.
INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO: UMA REVISÃO SOBRE O USO DAS ESCALAS DE NORTON, WATERLOW E BRADEN
TAÍS DE SOUZA FACHINELLI;EMILIANE NOGUEIRA DE SOUZA
As ulceras de pressão constituem um grave problema de saúde pública, são gastos por ano cerca de 21,675 milhões de dólares em tratamentos das UPs, sendo que cerca de 95% delas poderiam ser evitadas. A Organização Mundial da Saúde relaciona a qualidade da assistência prestada pela enfermagem aos valores de incidência e prevalência desses eventos, o que justifica a importância de se estabelecerem métodos de prevenção das UPs. Hoje são conhecidas mais de quarenta escalas de avaliação de risco para UP, entre estas destacam-se três: Norton, Walterlow e Braden. Objetivo: Identificar a produção científica desenvolvida no Brasil que utiliza as escalas de avaliação de risco para úlceras de pressão: Norton, Waterlow e Braden. Método: Um estudo de revisão bibliográfica que incluiu os artigos da literatura nacional publicados nos últimos dez anos e indexados nos bancos de dados Lilacs, Bireme e Scielo Resultados: Para análise dos dados e síntese dos conteúdos foram selecionados 18 artigos, dos quais 16 usaram a escala de Braden como instrumento na pesquisa, 1 usou a escala de Norton e 1 a escala de Waterlow. Apenas uma pesquisa realizou estudo comparativo entre duas escalas.Considerações finais: A forma de pesos dados às diferentes pontuações referentes aos fatores levados em conta por cada uma das escalas dificulta a comparação do seu uso entre elas. Entre os estudos relacionados no Brasil, todos atribuíram às escalas valor preditivo para a úlcera de pressão e identificaram grande importância na prevenção e no tratamento desse tipo de lesão. Cada escala tem uma característica importante. A de Norton é muito objetiva e pode ser aplicada de forma rápida. Já a escala de Waterlow é a única que leva em consideração o aspecto da pele. A escala de Braden, por sua vez, é mais completa e contempla fatores importantes para predizer as UPs.
PRESSÃO DO BALONETE: UM CUIDADO FUNDAMENTAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
JÉSSICA HILÁRIO DE LIMA;ANTONIO, CAMPOS PAULO; CUNHA, CAREN ELISA MEYER;OLIVEIRA, JANAÍNA TORQUATO DE; CRISTALDO, JOSI CRISTINA DA CRUZ;JUNG, RAQUEL SALDANHA
OBJETIVO: Apontar as deficiências no cuidado dispensado ao paciente intubado, mais especificamente, nos cuidados inerentes ao balonete do tubo,como a mensuração e manutenção de valores normais de sua pressão interior, as conseqüências dessa mensuração ser realizada de forma inadequada e o papel da equipe de enfermagem em relação a esse procedimento. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória. Foram utilizados artigos da literatura nacional e internacional, pesquisados através do sistema informatizado da LILACS (Literatura Latino Americana de Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library On Line), além de livros da
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 160
biblioteca do Centro Universitário IPA Metodista, pertinentes à temática. DISCUSSÃO: O balonete tem um papel fundamental na ventilação mecânica invasiva, mas para que sua utilização seja efetiva, faz-se necessário um controle rigoroso de seus valores de pressão interna, mensuráveis em mmHg e/ou cmH2O. Variações nesses valores de pressão podem causar complicações como: estenose de traquéia, pneumonia nosocomial, traqueomalácia, fístula traqueoesofágica, entre outras. A falta de rotina e o despreparo da equipe de enfermagem na verificação da pressão do interior do balonete constituem as principais causas de iatrogenias em pacientes intubados na Unidade de Terapia Intensiva. CONCLUSÃO: Dada a importância da mensuração periódica da pressão do balonete, concluímos que é de suma relevância um efetivo trabalho da equipe de enfermagem, bem como a educação permanente nos serviços de terapia intensiva.
AS ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-OPERATORIO DE ESTOMA INTESTINAL E SUAS REPERCUSSÕES NO PÓS-OPERATORIO
MICHELLE C ANDRADES;GRAZIELA BECK PORTO
O estoma produz importantes alterações na vida cotidiana da pessoa a ser estomizada, que pode se sentir mutilado quando na realização cirúrgica deste orifício, considerando-a um procedimento agressivo. Nesse sentido, esta pessoa terá que se habituar a esta nova condição de vida, e, diante dessa problemática, foi refletido sobre as orientações de enfermagem no período pré-operatório de pacientes candidatos à confecção de um estoma intestinal e suas repercussões no período pós-operatório. Este estudo, portanto, tem como objetivou analisar a percepção dos pacientes candidatos a estoma intestinal em relação às orientações prestadas pela enfermagem na fase pré e pós-operatórias, em um serviço hospitalar de oncologia de Porto Alegre/RS. Para atender este propósito, foi realizada uma pesquisa qualitativa, a qual teve a entrevista semi-estruturada como técnica de coleta dos dados. A amostra dessa pesquisa contou com pessoas colostomizadas, que já tinham recebido orientações de enfermagem a respeito do autocuidado com estoma. A análise dos dados das entrevistas foi através de análise de conteúdo conforme Bardin, que emergiram as seguintes categorias: estoma intestinal e câncer; estado emocional do paciente com estoma intestinal; orientações de enfermagem ao paciente cirúrgico; orientações de enfermagem com estoma intestinal; o autocuidado; e a reversão do estoma intestinal. Os resultados apresentados permitiram constatar que esses pacientes receberam orientações de forma efetiva no serviço hospitalar em questão, pois essas orientações promoveram ações de autocuidado pelos pacientes, que souberam como lidar com o estoma.
TRANSPORTE DE PACIENTES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM MÉDICA
SAMARA GREICE RÖPKE FARIA DA COSTA;JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA; MARIANA TIMMERS DOS SANTOS; SÔNIA BEATRIZ COCARO DE SOUZA
Introdução: Os pacientes internados se deslocam dentro do hospital por diversos motivos, necessitando para isso um ou mais profissionais. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em suas unidades clínicas do Serviço de Enfermagem Médica (SEM), organiza a equipe de enfermagem deslocando um profissional técnico, por turno, para transportes de todos os pacientes de sua unidade. Infere-se que quando este profissional precisa de ajuda, o tempo que o colega se ausenta para auxiliá-lo pode sobrecarregar o restante da equipe. Objetivos: Verificar a permanência dos funcionários fora da unidade, calcular o percentual de transportes por unidade e turnos de trabalho, e identificar qual o meio mais utilizado para o transporte. Materiais e Métodos: Foi utilizado formulário para registro dos transportes de pacientes em quatro unidades clínicas do SEM do HCPA no período de 01 de fevereiro a 31 de março de 2009. A compilação e a análise dos dados foram realizadas através do programa Excel. Resultados: O total de registros no período proposto foi de 1850 transportes, sendo a maior demanda nas unidades 6ºN (38,86%) e 7ºN (29,70%), nos turnos manhã (41,9%) e tarde (48,9%). Através dos resultados foi obtida uma média de 22 minutos de deslocamento dos funcionários por transporte, sendo o meio mais utilizado a cadeira. Conclusões: O número elevado de transportes justifica o deslocamento de um profissional para este trabalho durante os períodos da manhã e da tarde. Estudos mais precisos são necessários para analisar se a ausência de mais de um profissional sobrecarrega o restante da equipe.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 161
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS: RECUSA DAS FAMÍLIAS
GIANA GARCIA DALBEM;RITA C. AQUINO CAREGNATO
Transplantes de órgãos e tecidos oportunizam reabilitação e sobrevida a pessoas com patologias crônicas e incapacitantes.
O Brasil possui um dos maiores programas público de transplantes do
mundo, sendo necessário consentimento da família para que ocorra a doação de órgãos e tecidos. A
recusa familiar, tem sido apontada como um problema grave para o crescimento dos transplantes. O
objetivo desta pesquisa foi conhecer os impeditivos dos familiares que negaram a doação de órgãos e/ou tecidos. Pesquisa exploratória descritiva com abordagem quantitativa; campo de ação Hospital Cristo Redentor (HCR), localizado em Porto Alegre (POA), Rio Grande do Sul (RS); a população foram 471 registros dos potenciais doadores ocorridos no ano de 2008, sendo a amostra 74 registros em que as famílias recusaram à doação de órgãos e/ou tecidos; a coleta de dados ocorreu de forma retrospectiva, documental, nos formulários existentes no banco de dados da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HCR. A faixa etária dos potenciais doadores, das famílias que recusaram à doação de órgãos e/ou tecidos, encontrava-se entre 13 e 78 anos; 48,6 % das mortes ocorreram na faixa etária de 51-70 anos e 63,5% eram do sexo masculino. As causas mais freqüentes do óbito foram: 48,6% Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico e 21,6% Traumatismo Crânio Encefálico. Das famílias abordadas, 9,6 % doaram e 15,7 % recusaram à doação; o motivo mais citado (48,6%) para a não-autorização familiar foi o desconhecimento do desejo do potencial doador. Considerando que a doação de órgãos e tecidos depende da autorização familiar, os resultados apontam a necessidade de debater o tema; campanhas para estimular e conscientizar a população, incentivar as pessoas a manifestar seu desejo e discutir em família a decisão tomada, são estratégias que poderão ajudar o crescimento dos transplantes.
CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE RETIRADAS DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS E CIRURGIAS DE TRANSPLANTES
GLAUNISE PAULETTI;SALETE MULLER; ELENARA CÔNSUL MISSEL
INTRODUÇÃO: A realização de Retiradas de Múltiplos Órgãos (RMO) e Transplantes tem crescido consideravelmente, fazendo com que toda a logística organizacional nesta área tenha se aprimorado. A equipe de enfermagem em Centro de Materiais e Esterilização (CME) tem padronizado suas rotinas, a fim de otimizar os seus processos de trabalho. Este relato de experiência apresenta a vivência da equipe de enfermagem em CME nas RMO e nos Transplantes realizados em um hospital universitário de grande porte localizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que realizou 103 transplantes no ano de 2008. OBJETIVOS: Descrever a logística do trabalho da equipe de enfermagem do CME em RMO e em cirurgias de Transplante. MÉTODOS: Este trabalho consiste em um relato das rotinas do CME nas RMO e cirurgias de Transplantes. RESULTADOS: Comunicação da saída do material para RMO pela enfermeira do Bloco Cirúrgico (BC) à enfermeira do CME. O CME já tem padronizado, na forma de kit, todo o material necessário para a RMO, que permanece estéril. A equipe de Captação de Órgãos retira pelo BC todo o material proveniente do CME e materiais descartáveis do Serviço de Apoio do Bloco Cirúrgico. A mesma equipe se responsabiliza pela devolução do material ao CME. Enquanto ocorre a RMO, o CME já possui a informação do tipo de transplante que ocorrerá no hospital. Neste momento, o CME providencia todo o material necessário para cada transplante e o envia para o BC. Após o término, o material retorna ao CME para ser reprocessado. Depois de estéril, o material é armazenado em estante específica. CONCLUSÃO: Todo transplante é uma corrida contra o tempo. O CME é um elo importante na cadeia de procedimentos que o tornam possível. Ele deve estar preparado para corresponder às exigências do serviço, tornando viável o sucesso do ato cirúrgico.
REFLETINDO A QUALIDADE DE VIDA DO ENFERMEIRO DE CENTRO CIRÚRGICO
MAUREN PIMENTEL LIMA;CRHIS NETTO DE BRUM, LUIS FELIPE DIAS LOPES, SAMUEL SPIEGELBERG ZUGE E RAQUEL SOARES KIRCHHOF
O cenário atual sócio-político-econômico, processo de trabalho e suas condições aproximam a qualidade de vida ao interesse de pesquisas relacionadas ao campo da enfermagem. Frente a esse contexto teve-se o objetivo de abordar a qualidade de vida do profissional enfermeiro atuante em
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 162
centro cirúrgico, de modo reflexivo. Desta forma, destacou-se a qualidade de vida do enfermeiro de centro cirúrgico por se tratar de uma unidade de alta densidade tecnológica e características particulares (fechada, acesso restrito, estritamente estéril e sob normas rígidas de controle) havendo a necessidade intensa de aquisição de conhecimentos e de adaptação do profissional ao local. Diante desta realidade, acredita-se que tais condições possam com o tempo trazer em mudanças na qualidade de vida desse profissional enfermeiro. Para isto foi desenvolvida uma revisão de literatura em bases de dados da scielo, medline e bireme entre os anos 2000 a 2006 acerca desta temática. Para a coleta foram utilizados como palavras chaves os descritores: qualidade de vida, enfermeiro e centro cirúrgico. A dimensão da qualidade de vida é complexa, pois sofre evoluções em razão do dinamismo da humanidade indo além da presença ou não de doenças
(1). Assim, para que os
trabalhadores tenham satisfação e bem estar no trabalho relaciona-se a qualidade de vida, as condições e estruturas do trabalho para torná-lo menos penoso
(2). Nota-se, na prática desse
profissional a exigência de grandes conhecimentos e responsabilidades capazes de provocar transtornos físicos e psicológicos comprometendo a sua qualidade de vida
(3).
Resultados encontrados: 9 artigos sendo que apenas 2 abordavam especificamente o assunto em questão. Logo, tal reflexão indica a necessidade de novos estudos em torno desta temática.
PERFIL DOS PACIENTES ESTOMIZADOS DA 4ª CRS - SANTA MARIA
DAIANA DAL FORNO SILVA;SIMONE DOS SANTOS NUNES; ADRIANE BONOTTO SALIN
Hoje o câncer é fundamentalmente uma doença a qual todos somos susceptíveis assim, os diferentes costumes e culturas trazem consigo alguns aspectos que podem potencializar de forma bastante efetiva o surgimento do câncer. Estimativas publicadas pelo Brasil (2006), de Incidência de Câncer no Brasil, apontam o câncer colo-retal como o 5º tumor maligno mais freqüente entre homens e 4º entre as mulheres. O principal objetivo deste trabalho é identificarmos a atual situação dos pacientes estomizados cadastrados na 4ª Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Maria RS. A metodologia trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória, com abordagem qualiquantitativa. Os aspectos relacionados ao perfil desses usuários foram preenchidos por meio de busca documental, nos registros do cadastro da 4ª CRS. Buscou-se identificar as principais causas para confecção de uma estomia e o autocuidado do usuário com seu estoma. Na população selecionada para esta amostragem, 40 pacientes estomizados, 80% destes fazem uso colostomias e 20% ileostomias; nesta amostra apenas 15% fazem uso de colostomia ou ileostomia temporária. Investigamos que o motivo para confecção do estoma, a principal causa foi neoplasia maligna: com um total de 57% casos. Os demais casos, 43%, foram por causas variadas não malignas e 12% dos portadores de estomia não apresentaram diagnóstico no cadastro da 4ª CRS. Ao questionarmos a respeito da realização da higiene das bolsas coletoras, 65 % dos participantes relataram que eles mesmos a fazem, enquanto 35 % dependem de alguém para que esta ação seja realizada. Sendo assim estes resultados chamam a atenção para a necessidade de o enfermeiro entender e envolver-se com o cuidado do paciente estomizado na rede de atenção básica.
CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA COLETA DE SANGUE ARTERIAL
MILENE OLIVEIRA DE FREITAS
INTRODUÇÃO: A coleta de sangue arterial para realização de exames laboratoriais geralmente é utilizada para determinar a condição ácido-básica e a adequação da ventilação e oxigenação do paciente (FISCHBACH, 2005). Este procedimento envolve riscos e, por sua complexidade, exige conhecimento e prática de técnicas específicas que consideram condições físicas e clínicas do paciente, devendo ser realizado exclusivamente pelo enfermeiro (COFEN, 1986). OBJETIVOS: identificar na literatura os principais cuidados de enfermagem envolvidos na coleta de sangue arterial. METODOLOGIA: revisão bibliográfica embasada em literatura científica de periódicos e livros. RESULTADOS: O local de primeira escolha para a realização da punção deve ser a artéria radial por estar localizada superficialmente e possuir circulação colateral, não estando adjacente a uma grande veia (POTTER; PERRY, 2004). Antes da punção deve ser realizado o Teste de Allen para verificar o fluxo sanguíneo colateral em caso de vasoespasmo (FISCHBACH, 2005). A seringa deve ser previamente preparada com heparina em proporção adequada para o volume de sangue e, após a obtenção da amostra, esta deve ser homogeneizada suavemente (SBPC, 2005). A agulha deve ser inserida num ângulo de 45º no caso de punção em artéria radial (POTTER; PERRY, 2004). Após a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 163
punção deve ser aplicada pressão no local por 3 a 5 min, minimizando assim a formação de hematoma (BARBOSA; VALERA, 2000). CONCLUSÕES: a partir da compreensão dos cuidados que devem ser aplicados na coleta de sangue arterial, o enfermeiro deve ter conhecimento sobre os aspectos que envolvem a técnica, bem como identificar possíveis agravos e fatores de risco presentes, podendo assim qualificar a assistência ao cliente.
CUIDADOS DE ENFERMAGEM PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE RENAL
MARESSA CLAUDIA DE MARCHI;STELLA MARIS MELLO PADOIN; CAROLINE SISSY TRONCO; SORAIA ROMERA MACHIESQUI; ALINE CAMMARANO
Introdução : Transplante renal é o tratamento de escolha para a doença renal em estágio terminal. Um transplante renal bem sucedido melhora a qualidade de vida e reduz a mortalidade da maioria dos pacientes, quando comparado com a manutenção da terapia dialítica. Este trabalho pretende apresentar a grande gama de afazeres e responsabilidades do enfermeiro no cuidado pré e pós operatório do paciente receptor do enxerto, desde a preparação psicológica e física, instrução do paciente e familiares sobre o armazenamento, cuidados e importância das medicações imunossupressoras, bem como cuidados no pós operatório, como manejo adequado da dor, aferição constante e precisa de curva pressórica, do peso diário, entre outros. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais cuidados pré e pós operatórios do paciente transplantado renal de incumbência do enfermeiro. Materiais e métodos : Foi feita uma revisão bibliográfica contemplando publicações no período de 2007 a 2009 nos periódicos British Journal of Nursing, Journal of Specialized Nursing Care e em material do Up to Date. Foram utilizados 3 artigos, como critério de inclusão artigos ou periódicos de enfermagem no período de 2007 a 2009 que abordassem cuidados de enfermagem em pacientes pré e pós-transplante renal. Resultados e conclusões : Com os dados obtidos na revisão bibliográfica, fica claro que a educação do paciente e familiares provida pelo profissional de enfermagem, na forma de obter novas habilidades de auto-cuidado é fundamental para o sucesso do transplante renal, bem como o cuidado minucioso no pós operatório. Estas tarefas requerem do enfermeiro capacitação intensa, para que o paciente renal crônico, através do transplante, melhore sua qualidade de vida através do resgate de sua independência.
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ÉRICA BATASSINI;MICHELLI CRISTINA SILVA DE ASSIS, MARA REGINA FERREIRA GOUVEA, FABIANA BONEMANN FEHRENBACH, MARISE MARCIA THESE BRAHM
Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma causa importante de mortalidade cujo tratamento mais adequado é o transplante renal. A equipe de enfermagem necessita estabelecer rotinas de cuidado a fim de oferecer a este paciente um atendimento de excelência. Objetivos: Descrever as rotinas de cuidado para os pacientes transplantados renais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Metodologia: Relato de experiência. Resultados: Os principais cuidados de enfermagem realizados com os pacientes transplantados renais são: estimular exercícios respiratórios e deambulação precoce; controle dos sinais vitais e da dor; avaliar funcionamento da fístula arteriovenosa (FAV), preservando o membro; coletar hemocultura e urocultura se hipertermia; reposição parenteral em bomba de infusão, com volume fixo ou de acordo com a diurese; pesar o paciente em jejum diariamente; controle da diurese; prevenção de infecções urinárias; observar hematúria; implementar cuidados com a ferida operatória; auxiliar o paciente no banho de chuveiro ou leito; orientar higiene oral com clorexidine aquoso e nistatina; orientar quanto ao descarte do lixo, orientar o uso de imunossupressores; implementar cuidados com acesso venoso central, lavagem de mãos antes e após qualquer contato com o paciente; higienizar superfícies com álcool 70%; pacientes com germes multirresistentes necessitam de uso individual de materiais e avental descartável pela equipe de saúde e familiares; cuidados pós biópsia renal: repouso por 24 horas, verificação freqüente da pressão arterial, nada por via oral e peso no local da punção por 4 horas. Considerações finais: Salienta-se que os cuidados prestados são essenciais na prevenção de complicações e na recuperação do paciente contribuindo no sucesso do transplante.
MONITORIZAÇÃO MULTIMODAL: UM ENFOQUE EM MICRODIÁLISE CEREBRAL
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 164
ISABEL PIAZENSKI;ISIS MARQUES SEVERO;DANIELA DOS SANTOS MARONA
O uso de técnicas de monitorização multimodal em unidades de cuidados neurointensivos vem crescendo consideravelmente e otimizando o tratamento de pacientes com lesão cerebral aguda. A Microdiálise Cerebral (MC) é uma dessas técnicas, e consiste de um sistema que detecta mudanças bioquímicas do tecido cerebral associadas com hipóxia e isquemia após uma lesão cerebral aguda. OBJETIVO: Pesquisar o tema Microdiálise Cerebral e apresentar um resumo da técnica. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: A técnica consiste da inserção de um cateter fino (0,6mm) no tecido cerebral contendo no seu interior uma membrana semipermeável que permite a difusão de moléculas do espaço extracelular com uma solução isotônica de diálise que é infundida lentamente por uma bomba de precisão a uma taxa de 0,3 microlitros por minuto e então um microdialisato composto de pequenas amostras de marcadores e indutores de lesão secundária, como neurotransmissores (glutamato), substrato (glicose), metabólitos (lactato, piruvato) e neuroquímicos do extracelular (glicerol). É coletado em um microtubo de onde são retiradas e analisadas à beira de leito e seus valores são dispostos como curvas de tendência na tela de um analisador de MC. Uma queda na taxa de glicose pode significar redução da perfusão cerebral enquanto que alterações nas taxas de lactato-piruvato e glutamato podem refletir isquemia, e um aumento do glicerol pode indicar degeneração celular. CONCLUSÕES: A MC é reconhecida no manejo de traumatismo cranioencefálico, hemorragia subaracnóidea, acidente vascular encefálico isquêmico e hemorrágico e no trans-operatório. Este estudo nos permitiu pesquisar o tema MC como uma nova técnica que vem ganhando espaço em unidades especializadas em tratamento neurointensivo.
TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES: O PACIENTE É INFORMADO SOBRE ESTE TRATAMENTO E SEUS POSSÍVEIS RISCOS?
JOANALIZE MURARI BRAZ
INTRODUÇÃO:O presente trabalho tem como objetivo verificar se os pacientes/receptores de sangue recebem informações pré-transfusionais, em relação ao que irão receber e se são informados sobre possíveis riscos e reações transfusionais. O paciente receberá transfusão de células humanas, e a RDC 153/2004 diz que “toda transfusão de sangue traz em si um risco, seja imediato ou tardio, devendo, portanto, ser criteriosamente indicada”. Transfusões de sangue têm o potencial de levar à complicações agudas ou de efeito retardado. Os riscos associados podem ser reduzidos pela minimização no número de transfusões e pelo esclarecimento de profissionais e pacientes sobre o assunto. OBJETIVO:O presente trabalho pretende verificar se os pacientes recebem informações antes da transfusão de sangue.METODOLOGIA:O estudo foi realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os indivíduos foram selecionados conforme a demanda de solicitações de transfusão, totalizando 105 pacientes e as informações foram obtidas através de um questionário. CONCLUSÃO:Com os dados obtidos podemos perceber que a maior parte dos pacientes receberam informações sobre transfusão de sangue, mas há um número significativo de pessoas que não foram informados sobre o que iriam receber, não sabiam dos benefícios e riscos da mesma. A informação é fundamental para que o paciente possa saber quais são os riscos e benefícios que determinado tratamento venha acarretar, levando-se em conta que poderão ocorrer situações irreversíveis.Percebe-se também que os profissionais de saúde não estão preparados ou não sabem como repassar as informações, pois sendo as transfusões de sangue um transplante de células o assunto é pouco divulgado.Com este trabalho sugiro que deva ser mais divulgado o trabalho do Serviço de Hemoterapia através de treinamentos para profissionais e confecção de um manual de informações para os pacientes e profissionais.
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
PERFIL DAS PACIENTES ACOMPANHADAS EM UM AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL DE DOENÇAS HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS
LIDIANE BERNARDY;CÁSSIA L BOETTCHER, BARTIRA E PINHEIRO DA COSTA, CARLOS E POLI DE FIGUEIREDO, GIOVANI GADONSKI
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 165
As Doenças Hipertensivas Gestacionais (DHG) são consideradas a principal causa de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Considerando a complexidade das DHG, percebe-se a importância de uma abordagem multidisciplinar. Neste contexto, o enfermeiro tem papel fundamental na realização dos diagnósticos de enfermagem, implementação de cuidados e orientação das ações relativas às patologias diagnosticadas. O objetivo do estudo foi caracterizar a população e identificar os fatores de risco associados às DHG descritos na literatura nas pacientes atendidas no Ambulatório de Hipertensão na Gestação do Hospital São Lucas da PUCRS. Trata-se de um estudo retrospectivo do tipo descritivo de prevalência, com abordagem quantitativa. Participaram do estudo 206 pacientes. Os dados foram coletados através de protocolo especialmente desenvolvido e registrados em um banco de dados. Dentre as pacientes atendidas no ambulatório que apresentavam DHG, a prevalência de pré-eclampsia foi de 23%, pré-eclampsia sobreposta 22%, hipertensão arterial crônica 27%, 11% de hipertensão gestacional e 17% sem diagnóstico definitivo. As pacientes apresentaram peso médio de 77,3±21 kg, altura 157±7 cm, IMC médio de 31,3±8 kg/m
2 e
26±8,3 anos. Das
pacientes atendidas: 74% eram sedentárias, 49% obesas, 18% tabagistas e 50% raça negra. A média de gestações foi de 3±2,1, 32% eram primíparas. Observamos uma maior incidência de parto cesáreo 67%, sinalizando a gravidade da DHG. Quanto à escolaridade, 51% das pacientes atendidas possuem o ensino fundamental incompleto. Baseado nesses dados, observa-se a prevalência de alguns fatores de risco associados à DHG é alta, o que pode ser detectado já na primeira consulta de enfermagem e assim guiar as ações necessárias para evitar os piores desfechos das DHG.
AMAMENTAÇÃO: CUIDADO, AMBIENTE E SAÚDE
EMILIA DA SILVA;ANA LAURA Z. PIZOLOTTO; DARIANE SAVEGNAGO DONÁ; GIANE POZZEBON; KATIANE SEFRIN SPERONI; NELIZA DOS SANTOS MACHADO
A interdisciplinaridade tem sido muito discutida na área da saúde pelo fato de que as diferentes ciências se completam e atingem um cuidado genuíno quando na sua prática. Trata-se de um estudo de caráter descritivo bibliográfico, que utiliza como aporte teórico metodológico os principais autores: Almeida 2004, Deodoto 2006, Gil 2002, Lana 2001, Rezende 2003 e Tamez 2005. O presente estudo objetiva discutir, apontar e debater a importância do aleitamento materno. Assim, realizou-se um estudo de observação que está inserido na linha de pesquisa Educação Cuidado e Ética na Saúde do Grupo Interdisciplinar de Saúde - GIPES. Esta observação interdisciplinar foi realizada num cenário de amamentação enfocando o aleitamento materno nos seus diferentes contextos. Estes vão desde as alterações morfológicas e funcionais da mãe, até a problemática de doenças que podem ser evitadas no recém-nascido que recebe o leite materno, bem como seus benefícios. Na discussão dos dados enfatizamos que o leite materno é o alimento essencial para o perfeito crescimento e desenvolvimento do bebê e deve ser utilizado como fonte exclusiva de nutrição até os seis meses de vida, por conter substâncias que auxiliam no desenvolvimento do sistema imunológico, estimulando o vínculo mãe – filho. Também salienta-se que o acesso ao mesmo não é oneroso além de estar sempre na temperatura ideal. Conclui-se com estas discussões que as campanhas nacionais, bem como as orientações oferecidas por profissionais da saúde têm contribuído no aumento do índice de mulheres que aderem a política e prática de amamentação.
A BUSCA PELO BEM ESTAR DA PARTURIENTE ATRAVÉS DAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO PARTO HUMANIZADO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
CARLA CRISTIANE BECKER KOTTWITZ;DENIZE LETÍCIA MARCOLINO, FRANCINE AVILA DA SILVA, GABRIELA PETRÓ VALLI, MÁRCIA DORNELLES MACHADO MARIOT
A humanização do parto favorece a adequação emocional da parturiente, ajudando-a na superação de seus medos, ansiedades e tensões. Em vista disso, é importante que essa assistência seja dada de maneira em que haja a percepção de seres individualizados. O tema surge como uma alternativa em detrimento de uma visão predominantemente biológica, onde o patológico ganha maior destaque. O objetivo do presente estudo é identificar através de uma revisão integrativa da literatura as práticas realizadas pela equipe de enfermagem no parto humanizado. Trata-se de uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, analisada segundo a revisão integrativa de Cooper (1989). Os artigos foram acessados na base de dados LILACS através dos descritores parto humanizado, enfermagem obstétrica, saúde da mulher, parto e comunicação. Foram analisados seis artigos em periódicos brasileiros. Os estudos evidenciaram que as práticas realizadas pela equipe de enfermagem no parto
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 166
humanizado visam um cuidado voltado à paciente envolvida no seu contexto, tornando-a protagonista do processo de parturição. Dentre as ações de humanização, as mais relevantes foram o estímulo à autonomia da parturiente, a presença atenciosa do profissional com uma escuta reflexiva e verbalização e a presença de um acompanhante. Nesse contexto, humanizar o parto não significa somente diminuir o número de cesarianas, e sim substituir esse tipo de parto por um normal onde sejam evitados excessos de procedimentos intervencionistas. Faz-se necessário que os profissionais dominem os aspectos subjetivos relacionados às necessidades reais da mulher em processo de parturição e que se crie um vínculo profissional-paciente desde o pré-parto até o puerpério.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO PÓS-PARTO: A MULHER, A CRIANÇA E A FAMÍLIA COMO PROTAGONISTAS
KATIELE HUNDERTMARCK;GABRIELA ZENATTI ELY; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; LEILA REGINA WOLFF
O período pós-parto/puérperio é um momento peculiar na vida das mulheres pelas modificações no físico e psicológico destas. Assim, é importante promover educação em saúde nesse momento, pois desvenda mitos, acrescenta saberes e permite que a mulher, junto com sua família e filho sejam autores de suas vidas, dada a autonomia adquirida pelo conhecimento. Objetiva-se relatar as práticas de educação em saúde desenvolvidas pelos acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para a promoção da saúde da mulher e do recém-nascido no período pós-parto imediato. Metodologicamente utiliza-se o relato de experiência. Os acadêmicos orientados por professor, promovem ambientes favoráveis a educação em saúde, de forma horizontal, sobre os cuidados no puérperio e com recém-nascido (RN). Orienta-se sobre alimentação adequada; restrição de álcool/drogas; cuidados com as mamas e períneo; higiene íntima; atividade sexual; planejamento familiar; atividade física; vínculo mãe-filho- família; aleitamento materno; curativo umbilical; higiene, vestuário e hidratação do RN. Além disso, referencia-se a uma Unidade de Saúde para acompanhamento posterior, tanto da puérpera como do RN. As orientações são realizadas ao longo de um turno a partir das necessidades da mulher. A prática é satisfatória, visto que a mulher recebe uma atenção qualificada, de forma simples, em uma linguagem acessível e sensível.
ESCALAS DE RASTREAMENTO PARA DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
JULIANA MACHADO SCHARDOSIM;ELIZETH HELDT
Os transtornos psiquiátricos podem acometer os indivíduos nos ciclos de suas vidas. No período puerperal a vulnerabilidade para as doenças mentais aumenta devido a fatores biológicos/ hormonais e transformações de ordem subjetiva que a mulher enfrenta. A prevalência da depressão pós-parto (DPP) varia de 15 a 20% e, freqüentemente não é diagnosticada nem tratada. Entretanto, quando ocorre, o impacto dos sintomas da DPP atinge não só a puérpera mas também seu filho recém-nascido e sua família. No Brasil ainda não há uma rotina de inclusão dos instrumentos de detecção de DPP nos serviços de saúde. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre as escalas de rastreamento de DPP, em puérperas acima de 15 anos até 16 semanas após o parto. Bucaram-se artigos nas bases de dados Medline, LILACS, SCIELO e Adolescente. Os artigos deveriam indicar a definição e a validação precisa dos instrumentos utilizados. Na primeira seleção foram encontrados 288 resumos, destes, 26 foram acessados na íntegra e apenas 9 foram incluídos de acordo com os critérios estabelecidos. O período de rastreamento de DPP nos estudos variou de 2 a 10 dias pós-parto e o re-teste foi em 8 a 16 semanas pós-parto. A DPP foi diagnosticada em 10 a 25% da amostra dos estudos. A idade das puérperas oscilou entre 15 e 30 anos. A escala mais freqüentemente utilizada foi a Edimburg Depression Postpartum Scale – EDPS, com um ponto de corte de 10. Concluiu-se que as escalas são comumente utilizadas em pesquisas com bons resultados, entretanto poderiam também ser uma ferramenta facilitadora para identificar os quadros de DPP na assistência à gestante e puérpera para auxiliar na tomada de decisões durante o pré e pós –natal. Os vários modelos de escalas favorecem sua utilização na prática assistencial.
O PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 167
LUCIELE PEREIRA DA SILVA;ANDREA REGINA NAGORNY; DIEGO ROBERTO RODRIGUES WEIMANN
A presente pesquisa teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre os conceitos, padrões e práticas do processo de amamentação. Caracteriza-se como sendo uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva, desenvolvida em um hospital geral, de médio porte, localizado na região Noroeste do estado Rio Grande do Sul, tendo como instrumento de pesquisa a aplicação de um questionário aberto. A literatura existente sobre o tema proporciona conhecimento e possibilita compreender o processo da amamentação, bem como os fatores que estão relacionados a este, como a fisiologia da mulher durante o período pré-natal e sua preparação para o ato de amamentar, a importância do aleitamento materno e suas vantagens, a alimentação da puérpera, entre outros. Ao decorrer das entrevistas pôde-se observar a forma como as puérperas interpretam o ato de amamentar, a maioria ciente de sua importância, no entanto, ainda foi encontrado uma pequena porcentagem que não interpreta a amamentação em sua plenitude. De acordo com o questionário aplicado, foi possível observar seu entendimento a cerca do tema, quem ajudou a desenvolvê-los, os benefícios, dificuldades encontradas, incentivadores do ato, além de questões que envolvem sentimentos, a presença da família e relação mãe e filho. Amamentar proporciona saúde aos bebês, desenvolve o vínculo afetivo, protege contra alergias e infecções, reduz a mortalidade infantil e melhora a qualidade de vida, além de pouparem gastos. Os futuros profissionais da Saúde Coletiva devem estar cientes das vantagens, desvantagens, técnicas, principais dificuldades fisiológicas, patológicas ou desenvolvidas, para que, assim, possam desenvolver de maneira satisfatória sua função, a qual está também ligada a função de orientar e esclarecer dúvidas das mães.
A GESTAÇÃO E AS VÁRIAS FACETAS DA SAÚDE MENTAL- UMA ANÁLISE DOCUMENTAL NO LILACS
GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK;MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA;ADÃO ADEMIR DA SILVA;DANIELE TRINDADE VIEIRA;MARIANE ROSSATO;LETÍCIA PIENIZ ZIMMERMANN;KARINE ZENATTI ELY
A gestação propicia um misto de sensações e sentimentos que podem configurar-se como um potencial para crises (CORDEIRO, 2002). Faz-se necessário um acolhimento ao binômio mãe e filho na sua rede familiar e social que oportunize uma assistência pautada na integralidade, humanização e efetividade de suas ações. Este estudo é o resultado de um levantamento da produção científica referente à saúde mental e a gestação, contemplando o pré-natal e puerpério. Trata-se de uma busca realizada na base de dados LILACS utilizando os descritores Saúde mental e gestantes nos últimos 5 anos. Foram analisados e categorizados 4 artigos conforme a temática, e mediante aos fatores de exclusão e inclusão relevantes a temática restringiu a análise a 3 artigos. Os resultados convergem para 3 categorias: a) o desejo de engravidar na adolescência e a prevalência de transtornos mentais na gestação: um paralelo aos fatores epidemiológicos; b) possível relação entre a violência na gestação e o desmame precoce: suas conseqüências na saúde da criança e na saúde da mulher; c) atuação profissional a saúde mental a gestantes: destaca-se a enfermagem e o nível primário de atenção no enfoque a prevenção e acompanhamento dos casos na rede de atenção. Verifica-se o pequeno número de publicações na base LILASC diante da relevância da temática na conjuntura atual. Portanto, é preciso reaver essa temática no campo da pesquisa e atentar para a singularidade da mulher-gestante na sua concepção biopsicossocial e relevância das múltiplas facetas da saúde mental, que engloba a promoção, reabilitação e adaptação a saúde. Vislumbra-se uma assistência que contemple todos os níveis de complexidade e na conformação de um trabalho em equipe a fim de promover higiene mental.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FACILITADORA DE CONHECIMENTO NO ATO DE AMAMENTAR
MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA;DANIELE TRINDADE VIEIRA; GABRIELA ZENATTI ELY; KATIELE HUNDERTMARCK; MARIANE ROSSATO; ROCHELE RODRIGUES DE LIMA; MICHELE RADATTZ
O ato de amamentar tem um imenso valor à saúde da mãe e do bebê, pois além de servir como alimento completo que auxilia no crescimento e desenvolvimento adequado e seguro da criança, também fornece proteção à saúde materna contra doenças neoplásicas de mama, colo e serve à
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 168
anticoncepção, entre outros. Porém, muitas mães desconhecem o efeito, a produção e a composição do leite materno desconsiderando assim sua importância. Objetiva-se com este estudo relatar a finalidade da utilização de material didático ilustrativo, para facilitar o entendimento das mães à cerca da produção e composição do leite materno.Metodologicamente realizou-se um relato de experiência na elaboração de material didático ilustrativo para uma Unidade Básica de Saúde por alunas do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, com a parceria de uma aluna do Ensino Médio, a fim de fomentar redes de conhecimento.A utilização de um material didático com a ilustração de uma mama facilitou o processo de educação em saúde das mães a cerca da produção das três fases do leite: água, proteínas e gordura, dos seus micro-componentes que auxiliam na imunização e agentes laxativos para o mecônio, além de ajudá-las na compreensão da própria anatomofisiologia da mama e da produção hormonal. Por consequência, este entendimento permitiu a elas obter empoderamento a cerca de seu corpo e decidir cautelosamente sobre amamentar ou não seu filho. Contudo, a educação em saúde é uma prática que proporciona aos indivíduos maior compreensão sobre o funcionamento de seu próprio corpo e assim poder atuar com real compreensão e entendimento.
A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS NÃO-FARMACÓLOGICAS POR ENFERMEIROS NO MANEJO DA DOR DE PARTURIENTES
KARINE SILVA QUEIROZ;ANNE CAROLLINE GALVÃO PORTUGAL PASSOS; DAIANE DE MELLO LOPES
Na contemporaneidade percebe-se, que apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda hoje, não se encontra um vasto material didático que trate sobre o tema dor. Este é um assunto que mesmo no ambiente hospitalar é pouco discutido, inclusive o meio de comunicação pouco os contempla. Compreende-se que qualquer dor é real quando, o paciente refere sentí-la, porém no parto é pouco específico as características da dor, já que a dor quando há contração ela é inicialmente amena e vai aumentando gradativamente até chegar ao pico, quando então começa a diminuir e desaparece completamente. Podendo também no intervalo entre as contrações não existir dor, pressão, incômodo algum. A ascensão do alívio da dor a parturiente, através de cuidados não-farmacológicos, vem sendo utilizada por alguns profissionais, particularmente por enfermeiros obstetras, com o intuito de “substituir” medidas analgésicas e anestésicas. Os cuidados não-farmacológicos que visam aliviar a dor são bastante enfocados pelo movimento de humanização do parto, que tem como finalidade torná-lo o mais natural possível. Estudar a importância da utilização de técnicas não-farmacológicas para aliviar a dor de parturientes. Para a realização deste trabalho será adotada a pesquisa qualitativa, e de caráter exploratória do tipo revisão bibliográfica. Por meio da utilização das técnicas não-farmacológica, pode-se conseguir a postergação no inicio de técnicas regionais de analgesia, colaboração ativa da parturiente e maior participação do acompanhante, pois esta pratica visa detrair e otimizar o parto, redução do tempo de internação hospitalar já que a parturiente não necessitara de anestésicos, nem de outros procedimentos.
ABORTO: TIPOS E COMPLICAÇÕES DECORRENTES
MÁRCIA PICCOLI FUSIEGER
Introdução: O Aborto é a expulsão espontânea ou provocada do feto com menos de 500g de peso ou de 20-22 semanas de desenvolvimento gestacional. Uma em cada sete gestações clinicamente diagnosticada será abortada, geralmente durante as primeiras 14 semanas de gravidez. Alguns fatores que podem influenciar ao aborto incluem anormalidades cromossomiais, idade acima de 35 anos, gravidez múltipla, ovários policísticos, distúrbios auto-imunes, diabetes mal contralada e dois ou mais abortos prévios. Objetivos: Esclarecer os principais tipos de aborto; Identificar as principais complicações que o aborto ocasiona na saúde da mulher. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, observacional e prospectivo, baseado em livros e bases de dados científicos como BIREME e SCIELO, tendo como referência a população obstétrica. Os dados serão analisados de forma quantitativa, a partir de métodos estatísticos. A aplicação do instrumento de pesquisa será realizada por uma acadêmica do Curso de Enfermagem da UDESC, sobre a coordenação do professor orientador. Resultados e Conclusões: : Apesar da existência de fatores predisponentes a qualquer um dos tipos de aborto, há a ocorrência da prática premeditada, influenciada pela insegurança de mulheres que por algum motivo, em situações de gravidezes indesejadas, optam por
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 169
essa prática. Os problemas decorrentes referem-se, na maioria das vezes, as precárias condições pelas quais os procedimentos são realizados. Entre as alternativas de enfrentamento do problema, podem-se apontar trabalhos de esclarecimentos às mulheres sobre métodos contraceptivos e dos riscos que o aborto pode provocar. Também, há necessidade de promover debates sobre o tema, pois a clandestinidade e o preconceito criam mais dificuldades do que possibilidade de resolução.
O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA ATRAVÉS DO ENSINO DO AUTO EXAME
SIMONE TATIANA DA SILVA;CAMILA MARIANA ANDRADE; CAROLINA PAGLIARIN BRUGGEMAN
O câncer de mama afeta as dimensões biopscicoespirituais da mulher, pois resulta na mutilação da mama e pode levar a morte. Nas últimas décadas observa-se aumento significativo na incidência de Câncer de mama no Brasil e consequentemente da mortalidade associada à neoplasia, devido ao desconhecimento de técnicas de prevenção. O diagnóstico precoce, tem se tornado essencial para a diminuição desse câncer e sua conseqüente mortalidade. A saúde da mulher é um tema de grande relevância para a saúde pública, por isso é importante o envolvimento de todos os profissionais de saúde. O presente estudo ressalta a importância do auto-exame na detecção precoce do câncer de mama. Trata-se de uma revisão bibliográfica, que teve como bases para composição, Bireme e Scielo, no ano de 2007, tendo sido utilizados 2 livros e 7 artigos, que foram fichados, catalogados e avaliados quanto a sua relevância com o tema. O auto-exame é um método eficiente para controle da doença, e mais acessível para populações que não podem utilizar outros métodos diagnósticos mais caros. Consiste em incentivar a mulher a examinar suas mamas de modo sistemático e metodológico, para que ela descubra alterações mais precocemente. É de fácil execução, podendo ser realizado por mulheres pertencentes a qualquer camada sociocultural da população, feito a qualquer momento e quanto maior sua regularidade, maior é a detecção. É fundamental que a mulher conheça suas mamas para que perceba qualquer alteração. O auto-exame deve ser feito por todas as mulheres acima de 21 anos, entre o sétimo e o décimo dia de ciclo menstrual. A mulher apresenta resistência e dificuldade na sua execução e por isso sua prática deve ser estimulada e orientada por profissionais da saúde, que devem realizar educação em saúde para o aprendizado do real significado desse exame na diminuição da mortalidade do câncer de mama.
ANSIEDADE NA GESTAÇÃO RELACIONADA À PREMATURIDADE
CLEIDE MÁRCIA SILVA PEREIRA; ALINE JEFFMAN, BRUNA VASCONCELOS, DANIELA VICTÓRIA, DANIELE BORGES, FERNANDA CORDOVA, TÂNIA GROLLI
O contexto social exerce uma grande influência nas reações emocionais da mulher e sua família, pois ocorrem modificações fisiológicas e emocionais. Observar os fatores de risco a ansiedade gestacional, é de suma importância, proporcionando a mulher relaxamento e prazer na gravidez, preparando a gestante e adquirindo confiança na adesão ao tratamento de pré-natal. A mulher necessita superar ameaças representadas pela concepção, sendo entrevistada, recebendo educação em saúde através do enfermeiro e sua equipe. Com o diagnóstico e intervenções, através de métodos alternativos complementares, se possibilita a diminuição da ansiedade, melhora as condições da gestante para chegar ao trabalho de parto a termo. Objetivo: Identificar os fatores de risco para ansiedade gestacional relacionada a prematuridade, utilizar intervenções com métodos alternativos complementares, favorecendo a redução de partos prematuros. Discussão: grande número de fatores atua antes e durante a gestação, influenciando no peso e idade gestacional do neonato. O conhecimento dos fatores associados é importante para que a equipe multidisciplinar possa intervir de forma precoce e adequada no tratamento da ansiedade na gestante. A utilização de métodos alternativos complementares, ajuda a minimizar a ansiedade, da segurança, permite a gestante alcançar uma melhor qualidade de vida. Metodologia: Livro Enfermagem obstétrica, aulas power point Prof Fernanda Cordova, artigos científicos IPA Metodista, prédio C. Conclusão: Aplicando instrumentos validados para mensurar a ansiedade na gestação, é possível realizar estudos para avaliar o sentimento da mãe com relação à saúde do bebê, parto, nascimento e adesão às orientações da equipe de saúde, contribuindo para produção de novas evidências com relação à ansiedade e prematuridade, subsidiando o profissional de saúde, na aplicação preventiva de uma abordagem adequada ao contexto da gestante, superando alterações diversas.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 170
GRUPO DE GESTANTE:COMPARTILHANDO ESTA EXPERIÊNCIA
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; FRANCINE CASSOL PRESTES; ROSÂNGELA MARION DA SILVA; ANDREA PROCHNOW
A implementação de grupos de gestantes, de forma compartilhada com instituição hospitalar é extremamente necessária tendo em vista as transformações ocorridas durante o período gestacional, e acompanhamento das Estratégias Saúde da Família e continuidade da assistência no hospital através do parto e puerpério. Este trabalho tem como objetivo relatar a necessidade dos grupos de gestantes serem construídos de forma que haja a participação de profissional da saúde que atue na maternidade, a fim de proporcionar segurança e vínculo com a gestante antes do parto, além de fortalecer a co- responsabilidade dos diferentes atores inseridos no contexto da gestação, parto e puerpério. Trata-se de um relato experiência baseado na articulação dos enfermeiros para realização de grupos de gestantes na ESF Vila Rica de um município situado na região centro do estado do Rio Grande do Sul, e vivenciado no período de março a junho de 2009. Os encontros do grupo de gestante foram realizados periodicamente, com duração aproximada de uma hora, sendo que no último encontro era trabalhado pelo profissional da maternidade do hospital, sobre trabalho de parto, parto normal e cesárea, dentro da unidade de saúde da família, e como encerramento, realizada uma visita orientada na sala de parto e centro obstétrico do hospital do município. Esta atividade possibilitou às usuárias melhor conhecimento sobre trabalho de parto e consequente segurança na decisão pelo tipo de parto. No puerpério destas usuárias, participantes do grupo, destacaram-se relatos de tranquilidade no momento da internação e evolução do parto, pois já conheciam os ambientes e os procedimentos que seriam realizados., e principalmente haviam estabelecido vínculo com a equipe da maternidade do hospital.
CAPACITAÇÃO PARTICIPATIVA DE PRÉ-NATALISTAS PARA A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO
JOICE MOREIRA SCHMALFUSS;ANA LUCIA DE LOURENZI BONILHA; VIRGÍNIA LEISMANN MORETTO; JUSSARA MENDES LIPINSKI; MARIANA BELLO PORCIUNCULA
O compromisso com a promoção e apoio ao aleitamento materno justificou a realização da capacitação dos profissionais de saúde que atendem o pré-natal na atenção básica. Trata-se de um estudo qualitativo exploratório, com base nos pressupostos da pesquisa participante, que teve como objetivos identificar as temáticas sobre aleitamento materno e relatar as ações e estratégias propostas durante os encontros participativos para a capacitação. As atividades ocorreram entre outubro de 2007 e outubro de 2008, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na cidade de Porto Alegre-RS. A coleta de dados foi registrada em diários de campo e a análise feita segundo a categorização de dados. A discussão dos achados evidenciou a falta de atualização dos profissionais e de padronização nas suas condutas em relação ao aleitamento materno. Observou-se que os pré-natalistas são referência de atendimento para as usuárias, servindo de suporte para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A pesquisa desencadeou a mobilização para uma capacitação específica sobre amamentação para todos os profissionais da UBS. Com isso, acredita-se que a pesquisa participante oportunizou a discussão das políticas e programas implantados pela gestão, buscando alternativas dentro do contexto sócio-político-econômico-cultural das usuárias e trabalhadores envolvidos na atenção pré-natal.
A EQUIPE DE ENFERMAGEM E A COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA DO RECÉM-NASCIDO EM UTI NEONATAL
CRISTIANE SILVEIRA ORTIZ;WILIAM WEGNER
A comunicação entre a equipe de enfermagem e a família do Recém-Nascido (RN) desempenha um papel fundamental para que as experiências da hospitalização sejam seguras e protejam o RN e a cuidadora. O objetivo geral desse estudo foi conhecer as estratégias de comunicação utilizadas pela equipe de enfermagem na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) de um hospital localizado na cidade de Porto Alegre/RS. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa do tipo descritivo exploratório realizado com 7 mães e um 1 pai que estavam acompanhando o filho na UTIN.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 171
Adotou-se a entrevista semi-estruturada e a observação não-participante como estratégias para coleta de dados. A análise das informações seguiu as etapas da análise de conteúdo do tipo temática proposta por Minayo. O projeto foi aprovado pelo CEP do GHC sob nº. 028/09. Os resultados foram organizados em duas categorias temáticas e subcategorias: A comunicação nas informações prestada as mães e Fatores que interferem na comunicação. Na discussão se aponta que a comunicação é essencial para se instituir uma assistência de enfermagem humanizada e promover o relacionamento interpessoal que se encontra fragmentado. Revela-se que alguns fatores podem comprometer e dificultar a comunicação entre equipe de enfermagem e a família, por exemplo, a postura do profissional e a linguagem utilizada. A comunicação pode ser um fator positivo na relação entre os profissionais e a família, porque garante o equilíbrio emocional, a tranqüilidade aos envolvidos, além de ser importante para a humanização da assistência.
PARTO HUMANIZADO: A EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS NO USO DE MÉTODOS NÃO INVASIVOS DE ALÍVIO DA DOR
DANIELA GONÇALVES FERREIRA;CAUDURO, LENIR
Introdução: A assistência ao Parto Normal Humanizado, de acordo com o Ministério da Saúde salienta a importância em oferecer suporte emocional à mulher durante a parturição. As intervenções técnicas e medicamentosas deverão ser utilizadas se comprovadamente necessárias. Este modelo de assistência é referência para enfermeiros, que atuam na área obstétrica e gradativamente, começam a introduzir métodos não invasivos de alívio à dor, em suas práticas no centro obstétrico. Objetivo: Conhecer os métodos não invasivos de alívio da dor para gestantes na ótica e experiência de enfermeiros.Material e métodos: Estudo qualitativo exploratório, os sujeitos foram cinco enfermeiras que atuam no centro obstétrico de um hospital universitário de Porto Alegre em 2008. A coleta de informações foi por meio de entrevista semi-estruturada.Resultados: A análise de conteúdo originou as categorias: O acompanhante inserido nos métodos de alívio da dor no centro obstétrico, Cursos de especialização e a humanização abrindo caminhos para o uso dos métodos não invasivos, A resistência da equipe em relação aos métodos não farmacológicos, Cultura da mulher frente a dor do parto, A ótica e a experiência dos enfermeiros que utilizam os métodos não invasivos na humanização do parto.Conclusões: O conhecimento, a pesquisa e experiência profissional dos enfermeiros são fundamentais na escolha do método adequado, assim como a aceitação da equipe multiprofissional, contribuiu para uma visão diferenciada sobre humanização do parto e nascimento, o acolhimento e o respeito à cultura da mulher e família frente à dor do parto faz da instituição referência para outros profissionais, e para as usuárias que procuram o serviço. Descritores: Parto humanizado, parto sem dor , Parto normal.
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
A INTEGRALIDADE NAS AÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DE UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA
JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS;DÉBORA LUÍZA DOS SANTOS; ADELINA GIACOMELLI PROCHNOW; MARIA ALICE DIAS DA SILVA LIMA; MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEDROSO
Introdução: A noção de integralidade engloba três conjuntos de sentidos: a prática dos profissionais de saúde, os atributos da organização do serviço e as respostas governamentais aos problemas de saúde. Objetivo: Analisar e discutir os sentidos relacionados à integralidade nas ações da equipe de saúde de uma unidade de internação pediátrica Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa aprovada pelo Comitê de Ética da instituição de referência. Os dados foram coletados a partir de entrevistas com os profissionais da equipe de saúde de uma unidade de internação pediátrica de um hospital universitário do interior do estado do Rio Grande do Sul e analisados por meio da análise temática. Resultados: A integralidade na prática dos profissionais está centrada na dimensão relativa à atuação profissional, em que eles buscam associar assistência e prevenção, vislumbrando a criança hospitalizada no seu contexto econômico e social. Os profissionais apontam a importância do trabalho em equipe, mas têm dificuldades em efetivá-lo, o que prejudica a articulação das ações em prol de uma atenção integral. A interação no trabalho em equipe só foi evidenciada no atendimento a casos de emergência, quando os profissionais atuam de forma integrada em prol de uma assistência eficaz e resolutiva, mas de forma restrita à dimensão técnica. Conclusão: A integralidade está
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 172
presente na base conceitual e nas finalidades que norteiam as práticas dos profissionais da equipe pesquisada. Entretanto, os profissionais buscam isoladamente uma abordagem integral à criança hospitalizada, o que limita as ações ao seu campo de atuação, não efetivando um trabalho de discussão, planejamento e execução de ações de forma articulada.
AÇÃO DEFERENCIADA: O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NA NEONATOLOGIA
DENISE CARDOSO BERTO;LENIR CAUDURO, ROZIMELI SANTOS, DÉBORA REIS
Introdução: Este trabalho traz dados quantitativos referentes a um programa de Educação Permanente de profissionais de enfermagem (PEPE) que atuam da UTI Neonatal de um hospital de ensino de Porto Alegre. A ação realizada neste contexto tem como meta melhorar o cuidado de enfermagem ao neonato internado e à sua família por meio de ações educativas dos profissionais, orientadas por uma lógica participativa. Objetivos: Apresentar dados quantitativos relativos às ações educativas do PEPE realizadas durante o ano de 2008 na UTI Neonatal. Método: Pesquisa documental, baseada em relatórios de capacitações elaborados por enfermeiras que realizam ações do PEPE junto às equipes de enfermagem da UTI Neonatal e avaliação de reação após cada capacitação. Resultados: No período de 01/01 a 31/12/2008 foram realizadas 25 capacitações, participaram 765 profissionais onde representa 52,39 % de um total de 146 profissionais. Isto corresponde 18,46h por profissional, totalizando 2696h de capacitação. Conclusões: As ações de educação permanente mostraram através da avaliação de reação respondida pelos participantes, a adesão e o nível de satisfação dos profissionais, pois os temas emergiram das necessidades apontadas pelos participantes. Porém o índice esperado é 30h de capacitação por profissional ao ano. Em 2009, estamos trabalhando para atingir a meta institucional. Além de melhorar a qualidade da assistência prestada ao neonato e família, entendemos que deverá haver uma maior mobilização e diversificação de horários para que haja maior participação dos profissionais de enfermagem, foco do desenvolvimento das ações diferenciadas do PEPE na neonatologia.
CRIANÇAS QUEIMADAS: INTERVENÇÕES
ALESSANDRA ANALU MOREIRA DA SILVA;MARÍLIA GODINHO MARQUES
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de identificar a conduta e participação dos profissionais de enfermagem no atendimento à criança queimada. Para o levantamento de dados, realizou-se uma pesquisa via descritores (DeCS) na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), com as terminologias “queimaduras and pediatria” e “queimaduras and assistência de enfermagem”. Entre os bancos de dados encontrados, foi selecionado o Lilacs (Literatura Latino América e do Caribe em Ciências da Saúde) entre os anos de 1999 e 2007. Foram selecionados nove artigos que tratavam da temática, que resultaram em três temas: fator social, avaliação da dor e intervenção em enfermagem. Os achados indicaram que a participação do enfermeiro é fundamental no tratamento e recuperação desses pacientes, principalmente no que se refere ao tratamento da dor, nos distúrbios psicológicos, além da importância do mesmo junto aos familiares para amenizar a ansiedade nesse momento. Além disso, identificou-se ainda a participação do enfermeiro em ações preventivas e educativas. Outro dado encontrado ao atendimento a criança queimada, diz respeito à seqüência do mesmo, que deve ser semelhante à assistência em qualquer situação de urgência. Com isso, foi possível perceber que o atendimento adequado à criança queimada contribui para reduzir a mortalidade infantil, mostrando a necessidade de realizar uma intervenção primária, fator primordial. Destaca-se, também, a importância de estudos com essa temática, assim como produção de conhecimento nessa área, uma vez, que no Brasil há poucos estudos recentes.
VIVENCIANDO ENCONTROS COM FAMILIARES CUIDADORES DE CRIANÇAS COM CÂNCER
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;SINARA RASKOPF KLÜSENER; MARLENE GOMES TERRA; JUCELAINE AREND BIRRER;LENIR GEBERT; NIARA CABRAL ISERHARD; HELENA CAROLINA NOAL ; CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 173
O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, mas o significado de estar com câncer não se limita somente à dimensão física, pois também se reflete no psico-emocional, social e espiritual. A família necessita estar inserida no tratamento. Entretanto, compreendemos ser importante que ela receba suporte não apenas para aprender a cuidar do paciente, como também auxiliá-la a enfrentar, superar e compartilhar a situação de doença (BECK; LOPES, 2007). Nesse sentido, enfatizamos a importância do despertar um olhar aos cuidadores das crianças com câncer, visto a vulnerabilidade emocional e ao desgaste físico e mental a que estes estão sujeitos. Realizamos no Centro de Convivência Turma do Ique do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), atividades da Disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Enfermagem da Universidade de Santa Maria (UFSM), no mês de abril de 2009. Neste cenário, surgiu a necessidade de realizar encontros com os familiares cuidadores de crianças com câncer, cujos objetivos consistiram em proporcionar um espaço de conversa aos cuidadores familiares, sobre os seus sentimentos buscando alívio e conforto para o enfrentamento/superação das situações do cotidiano do cuidar; promover reflexão sobre o cuidado de si e motivá-los para o auto-cuidado. Para tanto, desenvolvemos a dinâmica da teia da amizade a qual possibilitou o acolhimento desses cuidadores; despertou para aflorar as suas emoções, compartilhar suas experiências e seu sofrimento; e, a busca na fé para a superação dos seus sofrimentos. Dessa forma, a Enfermagem busca propiciar o atendimento às necessidades dos cuidadores familiares incluindo-os no processo de cuidar preocupando-se em compreentendê-los em seu sofrimento e planejando ações nesse sentido.
A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM SAÚDE EM UMA CRECHE ATRAVÉS DO LÚDICO
SILVANA VIZZOTTO;NAIR REGINA RITTER RIBEIRO;MARIANA BELLO PORCIUNCULA
INTRODUÇÃO: A ação de extensão “Cuidado à criança numa escola de educação infantil” nos possibilitou realizar atividades numa creche onde freqüentam aproximadamente 70 crianças com idade entre 4 meses a 6 anos. Por passarem, muitas vezes, a maior parte do dia neste local e por estarem numa faixa etária suscetível a agravos a saúde, é importante que estas crianças sejam estimuladas a incorporar hábitos saudáveis em seu cotidiano e a desenvolverem habilidades para tornarem-se agentes de seu próprio desenvolvimento. OBJETIVOS: utilizar o lúdico como instrumento de construção de conhecimentos; orientar educadores e crianças sobre transmissão, tratamento e controle da pediculose; conscientizar sobre método correto de escovação dental, importância da escovação, conceito de carie e prevenção, escovação da língua e o uso do fio dental e permitir ao acadêmico de enfermagem relacionar teoria à prática na prevenção de agravos a saúde. METODOLOGIA: para realizar o teatro sobre pediculose foram utilizados 2 fantoches, 1 pente fino e figuras de piolho. Para realizar a oficina de higiene oral construímos uma boca de aproximadamente 60 cm, com material emborrachado, onde pequenos pedaços cor amarelo simbolizavam a sujeira e pedaços cor preto as caries, e uma escova de dente com caixas de pasta dental vazia. As crianças foram estimuladas a escovar os dentes da boca confeccionada com técnica correta, foram questionadas sobre o que entendiam por carie, como escovavam seus dentes, o porquê da escovação, a freqüência e como utilizavam o fio dental. RESULTADOS: percebemos que a utilização do lúdico nos permitiu uma aproximação mais efetiva e o compartilhamento de conhecimento de forma mais interativa e dinâmica. As atividades realizadas proporcionaram à construção de conhecimentos para a promoção de saúde e também enfatizaram a importância do acadêmico de enfermagem como agente capaz de promover mudanças de atitudes e hábitos para prevenção de agravos à saúde.
EU PAI? E AGORA? - A PATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA
KATIELE HUNDERTMARCK;GABRIELA ZENATTI ELY; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; MARIANGELA UHLMANN SOARES
Os serviços de saúde lidam constantemente com gestação na adolescência, com atenção na mulher e pouco no homem, justificando a relevância da discussão. A paternidade na adolescência é vivenciada conforme os embasamentos culturais, valores e sentimentos das famílias (MEINCKE E CARRARO, 2009). Objetiva-se promover uma discussão sobre sentimentos vivenciados na paternidade na adolescência. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), com descritores: adolescência e paternidade. Foram encontrados
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 174
e analisados 15 artigos. Os resultados mostram que os sentimentos de afeto, carinho, apoio, alegria, felicidade e orgulho são mais manifestados que medo e preocupação pelas famílias dos pais no estudo de Meincke e Carraro (2009). Susto, choque, surpresa e não acreditar na gravidez acontece, mas as redes sociais apóiam o adolescente (MEINCKE E CARRARO, 2009). Estudos de Levandowski e Piccinini (2006) revelaram que adolescentes e adultos mostram expectativas positivas ao relacionamento com o filho e ao ser pai, embora haja dúvida quanto a sua capacidade paterna, por se considerarem despreparados. Isso sugere que idade não é necessariamente um fator determinante nos sentimentos de ser pai. Apesar dos adolescentes serem classificados como ausentes vários assumem a paternidade, sendo parceiros na gestação. É verdade que ser pai priva a liberdade dos jovens, pela assistência ao filho, o que ocasiona limitação no papel de adolescente. Orlandi e Toneli (2008) investigaram adolescentes e todos eles já haviam cogitado a possibilidade de serem pais, alguns planejaram a gestação, outros não, mas passaram a desejar o filho, embora todos achassem precipitado a gravidez de suas parceiras.
ANALISANDO COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LUCIELE PEREIRA DA SILVA;ANDREA REGINA NAGORNY; DIEGO ROBERTO RODRIGUES WEIMANN; MIRIAN HERATH RASCOVETZKI
O estudo aborda dados coletados através de cartões vacinais, de crianças de 1 a 4 anos residentes em um município localizado na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa realizada através da analise de dados. O estudo foi desenvolvido durante a disciplina de Saúde Coletiva I do curso Bacharelado em Enfermagem – SETREM. O estudo tem como objetivo interpretar o cartão da criança de 1 a 4 anos de idade bem como verificar a cobertura vacinal. A vacinação é uma ação preventiva oferecida à população, no entanto, a decisão é pessoal em ir se vacinar, ou de decisão dos pais ou responsáveis em levar suas crianças. O serviço de saúde não pode pretender, sozinho, interferir ou influenciar no poder de decisão, que é pessoal e intransferível. As equipes de saúde precisam contar com o apoio e a participação da população, mas precisam também contribuir para que a população se conscientize de que saúde é um direito. Como futuros profissionais da Saúde Pública, devemos estar cientes da importância da vacinação seus benefícios para que possamos orientar aos pais que suas crianças precisam ser vacinadas nas idades estipuladas no cartão vacinal para sua melhor proteção contra as doenças. Concluímos que o município analisado possui uma cobertura vacinal satisfatória, o grupo analisado encontrava-se com suas vacinas em dia, bem como os dados obtidos através do departamento de Informática do SUS - DATASUS, órgão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, apresentam uma boa cobertura vacinal.
AÇÕES EDUCATIVAS COM CUIDADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TEM HIV: UMA ABORDAGEM COLETIVA
GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK; DIÉSSICA ROGGIA PIEXAK; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; STELA MARIS DE MELLO PADOIN
INTRODUÇÃO: A educação em saúde constitui-se uma estratégia de empoderamento dos usuários que, mediado pelo diálogo, centrado em escolhas responsáveis, poderá ampliar as possibilidades, diante da reflexão acerca de acertos, erros, dificuldades, conseqüências. OBJETIVO: relatar ações educativas realizadas por acadêmicas de enfermagem e professora orientadora a grupo de cuidadores de crianças com HIV/AIDS em um hospital escola na oportunidade de consultas pré-agendadas, quando do acompanhamento de sua evolução clínica, que se dá em serviço ambulatorial de referencia. MÉTODO: As crianças são encaminhadas à brinquedoteca, na qual se disponibiliza recursos lúdicos, o que pode amenizar sua percepção do ambiente hospitalar. Os cuidadores são encaminhados a sala de grupos em uma roda de conversa. Pautadas nas concepções Freirianas, parte-se da perspectiva de suas vivências e necessidades. Assim, os usuários são instigados a apresentarem relatos de experiências e de vivências para a abordagem educativa. RESULTADOS: Os assuntos discutidos são a adesão ao tratamento antirretroviral; algumas dificuldades e estratégias no uso dos medicamentos; os mitos, tabus e estigma social e sua relação na questão da revelação do diagnóstico; o preconceito no meio familiar, social e escolar; os sentimentos que perpassam pelo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 175
processo da descoberta ao enfrentamento da doença e do tratamento. CONCLUSÃO: Ressalta-se a realização dessa ação grupal tendo em vista seu enfoque educativo pautado na dialogigidade e construção de vínculos. Para a formação acadêmica proporciona uma vivência que aguça o pensamento crítico das estudantes diante da complexidade da temática e, especialmente, no que tange o ser e fazer enfermagem.
PREVENÇÃO DE DST: UM DIÁLOGO COM ADOLESCENTES
GABRIELA ZENATTI ELY;DIÉSSICA ROGGIA PIEXAK; REGINA GEMA SANTINI COSTENARO
A educação em saúde no âmbito escolar é uma estratégia para promover saúde, pautado nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. O objetivo é descrever o projeto de extensão educação em saúde. Trabalho vinculado ao Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde - GIPES na linha: Educação, Cuidado e Ética na Saúde. Caracteriza-se por ser uma ação de extensão da comunidade acadêmica da saúde, com atividades semanais. Utilizou - se a abordagem qualitativa para desenvolver ações educativas nas escolas de um município do interior do Rio Grande do Sul. Relatamos nesse momento as ações desenvolvidas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A população que fez parte do estudo foi constituída por alunos do 1
o ano do ensino
médio da rede básica de ensino. No período de junho de 2009. Foram utilizados recursos áudio visuais e instigado a questionamentos. Por meio da educação em saúde buscou-se a aproximação do mundo dos adolescentes na perspectiva de uma linguagem sem estigma, a qual proporcionou a troca de diálogo entre a comunidade acadêmica e a escolar. Conforme Saito; Leal (2000, s.p.) “Se a meta é informar ou, melhor ainda, formar, a escola destaca-se entre os grupos de referência por ser esta a sua função precípua”. Portanto, a escola é o espaço pedagógico ideal para dialogar sobre a temática, visto que abrange o público alvo. Observou-se a relevância do tema diante do interesse dos adolescentes e questiona-se a possibilidade da inclusão do tema no currículo escolar do ensino médio, pois como se constatou em avaliação realizada anteriormente, pelo mesmo grupo de pesquisa, há lacunas para o desenvolvimento da temática em âmbito escolar.
CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FIBROSE CÍSTICA ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE NOS ANOS DE 2007 E 2008
CLARISSA PITREZ ABARNO;NAIR REGINA RITTER RIBEIRO
Fibrose Cística é uma doença crônica genética de manifestações principalmente respiratórias e digestivas. Objetivo: caracterizar as crianças e adolescentes com Fibrose Cística atendidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos anos de 2007 e 2008. Metodologia: estudo documental retrospectivo quantitativo. A população deste estudo caracterizou-se por 100% dos pacientes acompanhados pela Equipe da Pneumologia Infantil do Hospital, totalizando 166 sujeitos. Os dados foram coletados no banco de dados eletrônicos e nos registros da enfermeira responsável pelo atendimento desses pacientes. Resultados: a idade variou de 0 à 28 anos, com mediana de 10,5 anos. O sexo masculino prevaleceu em 56% da população. Quase metade da população (48,8%) teve o diagnóstico antes do primeiro ano de vida; sete estavam em processo de investigação da doença. A bactéria de maior incidência foi o Staphylococcus aureus (88,6%.), seguida de Pseudomonas aeruginosa mucóide (55,4%), Pseudomonas aeruginosa (39,2%), Complexo Burkholderia cepacia (22,9%), e Staphylococcus aureus resistente a meticilina (20,5%). Entre as complicações digestivas e hepatobiliares, o íleo meconial foi a mais prevalente, com incidência de 6,6%. Apenas um paciente havia realizado transplante pulmonar e três, transplante hepático. Os pacientes que necessitaram de hospitalização, neste período, tiveram mediana de uma internação e permaneceram mediana de 22 dias. Dentre os que compareceram às consultas ambulatoriais, estiveram presentes mediana de sete consultas. Foram transferidos para a Equipe de Adultos 15 pacientes. Três foram a óbito. Estudos semelhantes a esse possibilitam o conhecimento das respostas desses pacientes ao tratamento, e então a adequação e aprimoramento do cuidado à pacientes com Fibrose Cística.
ÍNDICE DE OBESIDADE INFANTIL EM CRIANÇAS DE 1ª E 2ª SÉRIES NO MUNICÍPIO DE PALMITOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 176
ANALINE PICCOLI MEOTTI;TAÍNA ANDRESSA LOPES LIEBL, MATEUS LANDO, LUIZ GIORDANO DA COSTA JUNIOR, NAYARA GOULART RAMOS, MILENA SCHAEFFER
Introdução: A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas ultimas décadas, caracterizando-se como uma epidemia mundial. Sendo assim, a presença de obesidade em crianças torna-se preocupante devido aos riscos que esta oferece à saúde das mesmas. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo principal verificar os índices de obesidade em crianças de 1ª e 2ª séries, em Palmitos-SC, em três diferentes escolas. Material e Métodos: Este estudo foi um trabalho acadêmico realizado através de revisão bibliográfica, pesquisa em campo e aplicação de entrevistas com perguntas abertas para uma amostra de crianças de 1ª e 2ª séries de três escolas do município de Palmitos, no ano de 2008 nos meses de abril, maio e junho. Nelas foram levantados dados sobre peso, altura e os alimentos mais ingeridos com o objetivo de calcular o IMC de cada uma das crianças. A característica do estudo é transversal. Foram pesadas e medidas 127 crianças. A analise dos dados foi observada através de tabela e gráfico. Resultados/Conclusão: A partir dos resultados foi possível detectar índices de obesidade infantil entre as 1ª e 2ª séries nos três colégios, observando-se assim que a obesidade atualmente não acomete mais somente a faixa etária adulta, mas também acomete crianças. Na escola A o índice de obesidade é de 5,5%, já as escolas B e C obtiveram o mesmo índice, sendo ele de 2,3%. O sexo masculino obteve os índices de obesidade infantil de 1,6 % na escola B, e 4,8% na C e na A. Já em relação ao sexo feminino os valores são 3% na escola B, 6,1% na A, e não houve presença de obesidade no sexo feminino na C.
O LÚDICO NA HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL
JANE GONÇALVES;MARIA NOEMIA NEDEL
A hospitalização infantil pode gerar sentimentos como medo e angústia nas crianças por estarem em um ambiente estranho. O lúdico pode representar um instrumento importante para que a criança elabore seus sentimentos. O objetivo deste estudo é identificar o lúdico como facilitador da assistência à criança hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Esta pesquisa tem caráter descritivo com enfoque qualitativo. Os dados foram coletados na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um hospital público de grande porte de Porto Alegre/RS, no ano de 2008. Os sujeitos da pesquisa são crianças internadas na UTIP com idade entre dois e cinco anos. Os resultados mostram que a utilização do lúdico pela equipe de saúde facilitou o cuidado humanizado da criança, bem como a sua integração com a equipe de saúde. A utilização do lúdico pode contribuir para uma melhor assistência à criança hospitalizada e sua família, constituindo-se um facilitador para os profissionais da saúde.
AS PERCEPÇÕES DOS ADOLESCENTES SOBRE SUA SEXUALIDADE: UM ESTUDO QUALITATIVO
KELLY RIBEIRO DE FREITAS;SILVANA MARIA ZARTH DIAS
O estudo qualitativo de natureza descritiva objetivou conhecer as percepções dos adolescentes sobre o desenvolvimento da sua sexualidade. Utilizou-se a abordagem do Método Criativo e Sensível proposto por Cabral que apresenta alternativa para pesquisa em enfermagem através da dinâmica grupal de “dinâmicas de criatividade e sensibilidade”. Participaram do estudo 12 adolescentes de uma escola da rede estadual de Porto Alegre. Foram realizadas quatro dinâmicas de criatividade e sensibilidade para a coleta de informações. A análise das informações respeitou as seguintes etapas do MCS, contextualizado na pedagogia crítico-reflexiva proposta por Paulo Freire. Da análise emergiram três temas: o adolescente: vivenciando conflitos e dificuldades; a sexualidade para o adolescente; e o ato sexual. Portanto, o estudo foi considerado relevante por desvelar reais interesses dos adolescentes em relação a sua sexualidade durante as dinâmicas e porque o trabalho poderá contribuir para o estabelecimento de novo ambiente no contexto da enfermagem na saúde do escolar e do adolescente.
OBESIDADE NA ADOLÊSCENCIA:VIVENCIANDO AS MUDANÇAS, O ENFRENTAMENTO E A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 177
RAFAELA DORNELES DE OLIVEIRA PINTO;WILIAM WEGNER
A obesidade na adolescência está entre as situações nutricionais que mais crescem em todas as nações independente de classe social ou gênero. O objetivo geral foi conhecer as características dos adolescentes obesos do território do PSF Chácara do Banco localizado no bairro Restinga em Porto Alegre/RS e as estratégias de enfrentamento diante das dificuldades do seu cotidiano. Realizou-se um estudo qualitativo do tipo exploratório-descritivo com 6 adolescentes na Associação de Moradores por meio da técnica grupo focal, a qual organizou-se a partir de uma agenda com 6 encontros. Utilizou-se da análise de conteúdo tipo temática proposta por Minayo. O projeto foi aprovado pelo CEP-IPA sob nº. 467/2008. Os resultados permitiram encontrar três categorias temáticas: As mudanças da adolescência; O desenvolvimento da obesidade e O enfrentamento da obesidade e a educação em saúde. Os resultados provenientes dos encontros apresentam a concepção das adolescentes frente a sua vida e saúde, enfatizando as questões estéticas como preocupação emergente. A educação em saúde é uma estratégia necessária para fortalecer o entendimento das adolescentes sobre as mudanças corporais e necessidades básica para alcançar um desenvolvimento saudável. Portanto, as estratégias de enfrentamento das adolescentes obesas apresentam relação com atividades educativas que deveriam ser incentivadas para esclarecer as dúvidas e dificuldades vivenciadas no cotidiano. Percebe-se que o enfermeiro na atenção básica poderia incluir esta temática no planejamento de suas ações em saúde quando pensar no público adolescente. Descritores: adolescência, obesidade, educação em saúde, enfermagem.
ATIVIDADES LÚDICAS NO ENFRENTAMENTO DO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL
DANIELE TRINDADE VIEIRA;ELIANE TATSCH NEVES,GABRIELA ZENATTI ELY,KATIELE HUNDERTMARCK,MARIANE ROSSATO,MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA
A hospitalização representa uma crise para a criança e seu família e pode influenciar o processo de crescimento e desenvolvimento infantil, tanto lentificá-lo quanto causar danos irreversíveis. Dentre os fatores podem contribuir para essa experiência ser menos traumática possível para a criança e sua família, destacam-se as atividades lúdicas pela qual ela pode aprender sobre o seu corpo e os procedimentos que será submetida (PEDROSA et al. 2007). Objetivou-se identificar na produção científica nacional os benefícios que as atividades lúdicas podem possibilitar a criança hospitalizada. Pesquisa bibliográfica desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), aplicando-se os descritores: Lúdico, Criança e Hospitalização. Foram incluídos textos em português, publicados nos últimos XX anos, com texto completo disponível online. Foram selecionados quatro para análise. Os resultados mostraram que as atividades recreativas trazem benefícios às crianças, família e profissionais da saúde no cenário da hospitalização. Essa atividade constitui-se em uma estratégia no entendimento da criança sobre sua patologia e sobre o mundo em que está inserida e em que vive. Isso possibilita que seu desenvolvimento não só seja satisfatório, mas também proporciona saltos qualitativos nesse processo (OLIVEIRA; DIAS; ROAZZI, 2003).Para os pais essa atividade proporciona uma forma alternativa para o enfrentamento diante da hospitalização e para a equipe possibilita a formação de vínculo, cuidado humanizado e efetivo. Nesta perspectiva, o profissional busca visualizar a criança-família, considerando os aspectos biopsicossociais em que vivem.
ADRENOLEUCODISTROFIA E O TRATAMENTO COM ÓLEO DE LORENZO
TAMARA KOPS MACHADO;ANGÉLICA DA SILVA
INTRODUÇÃO: A Adrenoleucodistrofia (ALD), é uma síndrome rara, ligada ao sexo que se desenvolve geralmente em meninos de 4 a 10 anos de idade. É responsável pela degeneração da bainha de mielina, no Sistema Nervoso Central, devido a um excessivo acúmulo de ácidos graxos de cadeias muito longas. Por ser uma síndrome pouco conhecida, inclusive pelos profissionais da área de saúde, houve o interesse em conhecer o tratamento através do Óleo de Lorenzo em crianças portadoras da ALD, e qual a sua real eficácia, com embasamento em bibliografias e estudos realizados por diversos pesquisadores. OBJETIVOS: GERAL: Analisar qual a real eficácia do Óleo de Lorenzo no tratamento de crianças portadoras de ALD. ESPECÍFICOS: Analisar o que é e como surgiu o Óleo de Lorenzo; Analisar as pesquisas realizadas até então, a respeito do uso do Óleo de Lorenzo; Conhecer os meios de acesso dos pacientes a este tratamento. METODOLOGIA: O presente trabalho tratou-se de uma análise descritiva com abordagem qualitativa. Os instrumentos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 178
utilizados para a coleta de dados foram pesquisas no método bibliográfico, em livros de Patologia e Genética, em bases de dados, como Bireme e Portal Capes e o filme O Óleo de Lorenzo, além de pesquisas realizadas por médicos norte-americanos e europeus sobre a eficácia deste tipo de tratamento. RESULTADOS: Após analisar-se esta doença, rara degenerativa do sistema nervoso central, pode-se identificar que o Óleo de Lorenzo é a melhor forma de tratamento para crianças assintomáticas da ALD, através da pesquisa realizada durante 10 anos, pelo médico norte-americano Hugo Moser. Porém, o acesso a esse tratamento é muito limitado devido ao seu auto custo e à falta de interesse do sistema produtivo em fabricá-lo. CONCLUSÃO: Embora os resultados de pesquisas realizadas com este remédio sejam satisfatórios, é necessário realizar novas pesquisas e estudos na área, já que o óleo é eficaz apenas em pacientes assintomáticos e uma cura definitiva ainda não foi descoberta.
IMPACTO QUALITATIVO NO ACOLHIMENTO PEDIÁTRICO
EDSON EVAIR FORNER;SHEILA SCHOLL LEMOS, JORGE ERI PEREIRA BRAGA, MARI GIL FONSECA, DINÁ MARIA VIEIRA,LILIANEVILANOVA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA CAMBRUZZI, ALICE NUNES ALVES, ARLETE APARECIDA FICH TIMÓTEO,LUISA ÉSTER DA ROSA HAUBRICH, LIDIANE CAVALHEIRO ZEPPENFELD,MAURISSÉIA DOS REIS NUNES, CLÁUDIA RADAELLI, ANITA PINZETTA.ORIENTADOR: MARGARETE PANERAI ARAUJO
Introdução: A Unidade Básica de Saúde do Bairro Fátima Baixa em Caxias do Sul, apresentava deficiência no acolhimento aos pacientes, resultando em longas filas e alto tempo de espera. O grau de insatisfação com os serviços era de constantes reclamações por parte dos usuários e também da equipe gerando necessidade de mudanças no sistema de atendimento. Materiais e Métodos: Com o objetivo de oferecer um melhor atendimento pediátrico efetuou-se uma pesquisa de campo científica e o método utilizado identificou os pontos críticos, junto ao universo amostral através de reuniões semanais com a equipe, levantamento das principais queixas, parecer do conselho local de saúde e lideranças comunitárias. As estratégias implementadas foram: um sistema de acolhimento diferenciado por senhas, consultas com hora marcada e agendamento prévio substituindo o esquema tradicional por ordem de chegada. A diferenciação da sala de espera com uma decoração específica para crianças oportunizou que esse espaço fosse utilizado por outros profissionais para promoção e orientação de cuidados com a saúde. Envolveu técnicas de etnologia típicas da antropologia cultural que busca a compreensão das necessidades básicas dos grupos envolvidos. Os resultados impactaram qualitativamente o atendimento pediátrico com alto grau de aprovação, redução de faltas às consultas, e tempo de espera, bem como, na saúde dos pacientes, no clima organizacional da equipe envolvida e na comunidade. Conclusão: Infere-se que simples mudanças culturais e comportamentais conforme Cecil Helman (2003) influenciam positivamente o meio social.
SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E FAMÍLIA EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PEDIATRICO
THIAGO DA SILVA;LUCIANA GALO; WILIAM WEGNER
A segurança da criança hospitalizada e de seu familiar/cuidador representam a sua visão em relação à saúde e a qualidade da atenção dispensada a eles pelos profissionais de saúde em um ambiente hospitalar. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo exploratório-descritivo desenvolvida em um hospital-escola na cidade de Porto Alegre/RS. O objetivo geral foi identificar os eventos adversos no contexto de uma Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica (UTIP) sob a ótica do familiar/cuidador. Dela participaram 13 familiares/cuidadores de crianças hospitalizadas na UTIP, as informações foram coletadas por meio de uma entrevista semi-estruturada e analisadas mediante a técnica da análise temática proposta por Minayo. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética do Centro Universitário Metodista IPA e após encaminhado e aprovado pelo comitê de ética do Complexo Hospitalar Santa Casa/POA. Das informações emergiram duas categorias temáticas: Segurança e Proteção; Iatrogenias/Eventos Adversos. Esses resultados apontaram para a necessidade de um (re)pensar os direitos da criança e família no processo de hospitalização e no (re)planejamento das ações em saúde, principalmente no cuidado centrado à criança/família. É imprescindível que o profissional de saúde tenha um diálogo verdadeiro frente à criança e à família hospitalizada. Conclui-se que os eventos adversos trazem conseqüências diversas para a criança e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 179
família, o que repercute na avaliação sobre a qualidade das instituições de saúde. A equipe de saúde deveria (re)avaliar suas práticas e discuti-las frente as ocorrências iatrogênicas.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE À CRIANÇA E FAMÍLIA COM CÂNCER:REVISÃO INTEGRATIVA
EVELIZE MACIEL DE MORAES;WILIAM WEGNER
A saúde da criança é uma temática que a cada dia apresenta desafios aos profissionais que nela atuam. Acredita-se que a educação deva fazer parte do processo de saúde, cuidado, adaptação, vivência da criança com câncer, e pode amenizar o sofrimento auxiliando para se compreender os eventos diários das reações do tratamento ao proporcionar o desenvolvimento de seu autocuidado. Discute-se a importância de intervenções relacionadas à promoção da saúde. Este trabalho buscou realizar uma revisão integrativa da literatura nacional e internacional, de 1998 a 2008, objetivando conhecer o que a literatura tem apresentado sobre a temática educação em saúde à criança e à família com câncer. Revisão integrativa da literatura é aquela em que conclusões de estudos anteriores são sumarizados para que sejam formuladas inferências sobre um tópico específico. Utilizou-se para a integração das categorias os descritores: criança, câncer, enfermagem oncológica e educação em saúde. Foram selecionados 60 artigos; destes, 12 foram categorizados na fase descritivo-analítica do estudo. Emergiram as categorias: subsídios para educação em saúde e estratégias para a educação em saúde. As considerações finais apontam a dificuldade de encontrar artigos que contemplassem os temas encontrados nos descritores, a necessidade dos profissionais de saúde em romper com uma visão fragmentada à criança e sua família, conforme demonstrado a partir do baixo índice de publicações. Assim fica evidente a importância de utilizar estratégia para promover a saúde da criança e família com câncer.
PERFIL DAS CRIANÇAS E FAMILIARES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL CRIANÇA SANTO ANTÔNIO (HCSA)
VANESSA DE SOUZA BONILHA
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, epidemiológica-descritiva, com delineamento transversal. Teve como objetivo geral, traçar o perfil dos pacientes e familiares atendidos pelo Serviço de Pneumologia Pediátrica do Hospital Criança Santo Antônio (HCSA). A coleta de dados foi realizada no período de abril a maio de 2009, com a aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas realizado aos responsáveis pelos usuários (crianças). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa. Foram aplicados 60 questionários sendo que os resultados foram analisados estatisticamente e descritos a partir das variáveis estudadas. Os resultados indicaram o predomínio de pacientes do sexo masculino (58,3%), na faixa etária entre 4 a 9 anos, procedentes de Porto Alegre (43,3%). A cuidadora principal é a mãe, sendo que 88,3% dos cuidadores sempre desenvolvem cuidados aos filhos, 36,6% nunca encontra dificuldade neste cuidado, 35% nunca encontra dificuldade no tratamento da criança e 46,6% sempre atendem suas expectativas referentes às orientações realizadas pela equipe. Concluiu-se, a partir dos resultados obtidos, que os cuidadores desenvolvem cuidados diários aos seus filhos com problema respiratório e apresentam dificuldades no manejo destes mesmo que, por vezes, não se dão conta das dificuldades existentes. Percebe-se a necessidade da atuação da equipe nas estratégias de educação em saúde e seu apoio às famílias dessas crianças para minimizar as dificuldades no cuidado domiciliar.
CUIDADO HUMANIZADO A CRIANÇA COM DOR ONCOLÓGICA E SEUS FAMILIARES: UMA VISÃO HOLÍSTICA
GRASSELE DENARDINI FACIN DIEFENBACH;MARIA DA GRAÇA CORSO DA MOTTA
Atualmente cresce a preocupação com temas relativos à saúde, em especial o câncer. Esta patologia, considerada um problema de saúde pública capaz de atingir indivíduos de todas as idades, além de ser uma doença crônica, exige em seu tratamento certa tolerância, com relação ao cuidado dos doentes e suas famílias. Abordar sobre câncer é falar de uma doença que ao longo do tempo foi vivida como sentença de morte, causadora de muita dor, capaz de acarretar grande desgaste físico e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 180
mental não somente da criança com câncer, mas todo o contexto familiar, uma vez que, a partir do diagnóstico, tratamento, recidivas da doença, novos tratamentos, encaminhamento para cuidados paliativos, estão inseridos a família, que acompanha a criança com câncer em toda sua jornada, e que, na maioria das vezes, acaba por se sobrecarregar. Este trabalho do tipo bibliográfico teve como objetivo refletir a cerca do cuidado em enfermagem com olhar holístico à criança com dor oncológica e seus familiares. No campo da saúde, o objeto deve ser focado na produção do cuidado, através do qual poderão ser atingidas a cura e a saúde. O cuidado pode e deve ser cultivado, constitui um modo de ser, uma atividade humana de ajuda mútua que promove crescimento, auto-realização, além de ser uma forma de conhecer, perceber, que envolve intuição, sensibilidade, desejo de paz e amor. Assim, torna-se imprescindível uma visão holística do ser, deve-se, portanto cuidar da criança com dor oncológica e de sua família, considerando que a doença de um membro favorece o desequilíbrio e o adoecimento familiar, visando o cuidado integral, inserindo a família no cuidado, pois esta também necessita de suporte e assistência, para que possa alcançar independência e administrar os cuidados necessários à situação vivida. Palavra chave: Dor, Neoplasias, Criança, Família, Enfermagem Holística.
CATETERES USADOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL EM NEONATOLOGIA: RELATO DE UM SEGUIMENTO DE 39 RECÉM-NASCIDOS
STELLA MARYS RIGATTI SILVA;MARIUR GOMES BEGHETTO; ELZA DANIEL DE MELLO
Introdução: O uso de Nutrição Parenteral (NP) aumenta o risco para infecção relacionada a cateteres (IRC) e Recém-Nascidos (RN) podem ser especialmente vulneráveis. Objetivo: Descrever os cateteres e cuidados na administração de NP em RN de um hospital de referência. Materiais e método: Em 2008, um investigador acompanhou RN do primeiro ao último dia de uso de NP. Foram empregados testes paramétricos e não paramétricos para avaliar possíveis fatores associados a IRC. Resultados: Por 17,2 (IQ: 9,6-27,7) dias, 39 RN receberam NP por cateter central (PICC: 64,1% e duplo-lúmen: 12,8%), periférico (10,3%), umbilical (7,7%) ou flebotomia (5,1%), inseridos em veias centrais (15,4%), periféricas (membros superiores: 46,2% e inferiores: 30,8%) ou umbilical (7,7%). Quatorze RN inseriram 2 cateteres, sendo o PICC o mais utilizado (57,1%). Em média, foram administrados, diariamente, 3,8±1,9 medicamentos pelo cateter de NP, instalando-se 2,6±1,1 duplicadores de via. Não foi observado obstrução de cateter e sinais locais de IRC. Um RN apresentou hematoma no local de inserção. Solução de clorexidine foi usada na troca de todos os curativos, sendo adotada película transparente em 74% das coberturas. Um RN apresentou febre e 4 (10,3%) apresentaram IRC. Cateter fixado por ponto (p=0,045), febre (p=0,022) e administração de maior n° de medicações pelo cateter (p=0,05) foram associados ao risco de IRC. RN com infecção usaram NP por mais dias, ainda que a diferença não seja estatisticamente significativa (p=0,391). Conclusão: Diferentes cateteres e acessos estão sendo utilizados para administração de NP em RN. Faz-se necessário o acompanhamento de uma corte maior de RN para se estabelecer fatores associados à infecção relacionada a cateter, que teve alta incidência neste pequeno grupo.
O REPENSAR DO PROCESSO DE MORTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONTATOLÓGICA
DANIELE TRINDADE VIEIRA;ANDRÉA MOREIRA ARRUÉ; ELIANE TATSCH NEVES;GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK;MARIANE ROSSATO;MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA
O ciclo vital é uma condição que o organismo de todo ser vivo é submetido obrigatoriamente ao longo de sua existência, sendo que as etapas que compõem este ciclo compreendem: nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Desta forma pode-se dizer que a morte biológica é uma realidade da qual todos temos certeza quando nascemos, pois é algo natural Porém quando se trata de um bebê que nasce com algum sofrimento, tal fato não parece natural e repercute de diversas formas em todos que convivem com o episódio.Assim, o objetivo deste estudo descrever a percepção, atitudes e sentimentos dos profissionais que trabalham na UTI neonatal sobre o evento da morte. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na base de dados da BVS, utilizando descritores: tanatologia e recém-nascido. Os critérios de inclusão foram artigo completo, em língua portuguesa. Os resultados convergem para sentimentos de impotência, tristeza, envolvimento, indiferença, alívio, e atitudes de preocupação com o corpo após a morte, proporcionar conforto a família, estabelecer
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 181
vinculo com a mãe, chorando junto pelo luto do RN. Alguns desses sentimentos são manifestados, muitas vezes, devido ao envolvimento com RN e família, pelo tempo de internação prolongado e, também por não saber lidar com a finitude, visto ser essa uma discussão passa longe dos currículos dos cursos de Graduação. Conclui-se ser relevante para os profissionais da saúde a educação continuada que possibilite subsídios para reflexões e enfrentamento do processo de morte, bem como no repensar o tema em meio acadêmico.
A HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
DANIELE TRINDADE VIEIRA;ANDRÉA MOREIRA ARRUÉ;ELIANE TATSCH NEVES;GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK;MARIANE ROSSATO;MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA
Nos últimos anos tem-se discutindo acerca da humanização, sobretudo no cuidado em terapia intensiva, visto que nesses ambientes a tecnologia avançada pode interferir no contato humano e seus modos de relação. Muitas vezes, o cuidado passa a ser visto somente no lidar com esse instrumental, e às vezes os profissionais esquecem que a tecnologia necessita de estratégias criativas e humanas. Além disso, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, o paciente é mais frágil e dependente de cuidados. Nesse contexto, o cuidado humanizado torna-se importante para a criança e sua família, porque atenua angústias e promove o conforto. Diante disso, objetivou-se verificar a produção científica nacional sobre essa temática. Trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se os descritores: humanização, UTI e recém-nascido. Foram selecionados 3 artigos com texto completo disponível online em língua portuguesa. Os resultados apontaram que a humanização é identificada em ações como deixar os pais visitarem seus bebês; visitas de irmãos; preocupação da equipe em minimizar ruídos, luzes; vínculo profissional-bebê e mãe-filho; conversar como bebê; e chupeta como consolo. Essas atitudes muitas vezes são ambíguas já que não são desenvolvidas em sua plenitude e nem vistas como forma de implementar um cuidado humanizado, muitas vezes. Portanto, o fomento à aplicabilidade do cuidado ao usuário pautado na integralidade e humanização no seu contexto biopsissociocultural representa um dos desafios para a atenção em saúde.
CARACTERIZAÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DOS RECÉM NASCIDOS INTERNADOS NA UTI-NEONATAL DE UM HOSPITAL ESCOLA DO SUL DO BRASIL
BRUNA ZUCHETO TADIELO;ELIANE TATSCH NEVES; DÉBORA HEXSEL GONÇALVES; CLÁUDIA MARIA PEDEZERT STEIGER
A mortalidade infantil está relacionada com as condições de vida e saúde da população e seu componente predominante tem sido o neonatal, o qual vincula-se principalmente com as características biológicas e assistenciais no período pré-natal, no parto e ao recém-nascido (RN). Essa pesquisa descreveu a morbimortalidade dos RN admitidos em uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal de um Hospital Universitário no sul do país no ano de 2003. Tratou-se de uma pesquisa quantitativa retrospectiva, de caráter descritivo-exploratório, com a coleta de dados realizada por meio de um formulário no arquivo da instituição; os dados foram submetidos a programas computacionais de análise estatística. A população total do estudo foi de 368 RN. Analisaram-se as variáveis relativas ao sexo, idade gestacional, peso ao nascer, motivo de internação, morbidades desenvolvidas durante a internação, componentes da mortalidade infantil e causas do óbito. Como resultados têm-se a prematuridade e o desconforto respiratório como os principais motivos de internação e as infecções neonatais como a principal morbidade desenvolvida na internação. A maioria pertencia ao sexo masculino, apresentava baixo peso ao nascer e prematuridade. A maior parcela de óbitos ocorreu no sexo feminino, na faixa de baixo peso ao nascer e em prematuros. As principais causas de óbito foram a prematuridade e as infecções neonatais. Os achados nessa pesquisa poderão subsidiar posteriores avaliações e comparações tanto da população neonatal e sua caracterização de morbimortalidade, quanto do próprio serviço de saúde; assim como poderão nortear o planejamento de ações que promovam uma melhora na qualidade da saúde da criança, visando a redução da morbimortalidade infantil.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 182
ADMISSÃO DO RECÉM- NASCIDO A TERMO
JÉSSICA HILÁRIO DE LIMA;ESPINOSA, CAMILA; CUNHA, CAREN ELISA MEYER; OLIVEIRA, JANAÍNA TORQUATO DE; CRISTALDO, JOSI CRISTINA DA CRUZ
PALAVRAS-CHAVES: Admissão do recém-nascido; Enfermagem Obstétrica; Neonatologia. OBJETIVO: Avaliar e discutir os procedimentos realizados na admissão imediata dispensada a todos os recém-nascidos a termo, sem patologias. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória. Utilizou-se fontes secundárias que correspondem a artigos de periódicos nacionais e internacionais pertinentes à temática, e literatura referente à Neonatologia, Obstetrícia e Enfermagem Obstétrica. Com a obtenção do material, desenvolveu-se uma leitura exploratória das obras bibliográficas, e finalmente, uma leitura interpretativa e analítica na qual procurou-se apontar conteúdo para o tema proposto. RESULTADOS: Os momentos de transição da vida fetal para o período neonatal representam uma fase das mais críticas e dinâmicas do ciclo vital, levando da dependência materna a um quadro de auto-suficiência. Os vínculos entre o neonato e a mãe são, para este período transitório da maior importância. Transmitem ao recém-nascido a garantia de cuidados mínimos de sobrevivência, acolhimento e proteção e estabelecem desde esta precoce etapa, bases de desenvolvimento de personalidade e afetividade. CONCLUSÃO: Dada a importância do vínculo precoce entre o binômio mãe/filho, esse período e os processos de enfermagem envolvidos devem ser humanizados ao máximo, evitando padronizar procedimentos em prol da individualização.
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
GERAÇÃO DE RENDA COMO PARTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS DO CAPS PRADO VEPPO DE SANTA MARIA (RS)
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;NIARA CABRAL ISERHARD; JUCELAINE AREND BIRRER; HELENA CAROLINA NOAL; MARLENE GOMES TERRA
A partir da Reforma Psiquiátrica, com a Lei Federal 10.216, emergiu a necessidade de resgatar os direitos de cidadania, para as pessoas com sofrimento psíquico. Com a criação dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) surge uma possibilidade de inserção social desses usuários. Em Santa Maria/RS, a parceria do CAPS Prado Veppo com o Projeto Esperança Co-esperança/Geração de Renda, fundado pelo Bispo Dom Ivo no ano de 1987, trouxe para os profissionais e usuários uma experiência de trabalhar em pequenos grupos de cooperação. Essa experiência buscou mostrar a sociedade a capacidade cognitiva e criativa, a potencialização da auto-estima e a valorização do sofredor de transtorno psíquico nos mais diversos espaços da sociedade. Assim, os CAPS vêm desenvolvendo atividades de inclusão social valorizando a autonomia dos usuários. Este trabalho objetiva conscientizar a população da capacidade dos usuários de saúde mental reinserirem-se na sociedade através de oficinas de geração de renda. As atividades de oficinas de trabalho manual e de artesanato, bem como outras oficinas de inserção social mostram maneiras de fomentar e ampliar os espaços que visam à qualidade de vida desta população. É importante salientar que para além da inclusão social, nota-se também uma melhora em termos de capacidade motora, emocional e intelectual dos usuários no seu cotidiano. O vivenciar na prática, nos leva a observar que a Educação em Saúde, na prática profissional, encontra-se num momento crescente de entendimento da vivência dos sujeitos do processo educativo. Isto permite um maior engajamento a Reforma Psiquiátrica, intimamente relacionada com o bem-estar do indivíduo no seu contexto social.
CONTRIBUINDO NA ATENÇÃO BÁSICA: UM OLHAR AO OUTRO EM SOFRIMENTO PSÍQUICO
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;NIARA CABRAL ISERHARD; HELENA CAROLINA NOAL; JUCELAINE AREND BIRRER; CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN; SINARA RASKOPF KLUSENER
Devido ao olhar reducionista, gerado pelo paradigma cartesiano-newtoniano, têm-se compreensão do corpo como parte dissociado da mente. Desse modo, prevalece o adoecimento mental com sintomas, conflitos e esquece-se do indivíduo enquanto ser humano com sentimentos e angústias, bem como
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 183
do contexto em que ele está inserido. (TERRA et al., 2006). Assim, faz-se necessário, uma maior visibilidade aos pacientes em sofrimento psíquico, perante a sociedade, bem como carece de aplicação no cotidiano dos serviços que atendem os pacientes e seus familiares. A vivência no campo de estágio supervisionado na Região Sanitária Norte na Estratégia de Saúde da Família – ESF Bela União, em Santa Maria, possibilitou–nos experienciar algumas situações com os pacientes em sofrimento psíquico, que suscitou-nos algumas inquietações. O estágio supervisionado objetivou sensibilizar a equipe multiprofissional quanto à importância do acolhimento aos pacientes em sofrimento psíquico. Desenvolvemos práticas de educação em saúde atentando para as questões de saúde mental, organizando encontros nos dias de reunião da equipe da Unidade, facilitando a adesão às atividades propostas. Nesse sentido, como profissionais de saúde precisamos fundamentar-nos com orientações a respeito da qualidade de vida, bem como estarmos comprometidas com princípios apoiados em direitos humanos e de cidadania a fim de reconhecer o contexto de vida desses pacientes. Torna-se necessário a constante reflexão sobre novas práticas que levem a compreensão do outro em sofrimento psíquico e seus familiares, no que tange a promoção à saúde.
OFICINA TERAPÊUTICA: UM RECURSO PARA O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ENFERMEIRA-PACIENTE EM SAÚDE
SILVANA VIZZOTTO;ANNA GABRIELA CAVALCANTI ARAIS; MARIA DE LOURDES GOMES CALIXTO;GIORDANA DE CÁSSIA PINHEIRO DA MOTTA; CAROLINA CAON OLIVEIRA; DENISE LAGEMANN ROSITO
INTRODUÇÃO: Ao realizarmos estágio curricular da disciplina de Saúde Mental II no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, tivemos a oportunidade de experienciar o impacto positivo de oficinas realizada com mulheres portadoras de transtorno psíquico. OBJETIVO: refletir sobre a relação da enfermeira com a paciente a partir de uma atividade terapêutica. METODOLOGIA: relato das experiências vivenciadas por nós, estagiárias, em campo de estágio e supervisionada pela professora. Organizamos oficinas com diferentes enfoques e propostas com a finalidade de proporcionar às usuárias atividades na qual elas sentem-se valorizadas, bem como fortalecer o vínculo terapêutico entre cuidador e usuário. RESULTADO: desenvolvimento de empatia, o que nos possibilitou o diálogo e qualificação dos cuidados de enfermagem desenvolvidos. CONCLUSÃO: Num ambiente de internação, o ócio pode ser o pior aliado, pois prejudica o andamento do tratamento por não estimular a criatividade e nem o convívio com outras pessoas, fatores que definirão não só a adesão ao tratamento, mas a qualidade do cuidado e conseqüentemente sua eficiência. Por essa razão, o desenvolvimento de Oficinas tem um papel importante no desempenho das atividades da enfermeira nesta área, visto que o relacionamento terapêutico é o principal instrumento de trabalho no cuidado de enfermagem psiquiátrica. Através dessa integração nas oficinas há uma aproximação eficiente, permitindo realizar um cuidado mais integral e tornando o ambiente terapêutico. Vimos também que a integração entre elas é positiva, uma vez que há espaço para troca de experiências e convívio social dentro daquilo que lhes é permitido.
O TRABALHO EM EQUIPE EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
MARINA TEIXEIRA PRETTES;ORIENTADORA: MARIA LECTICIA DE PLELEGRINI
Introdução: No Brasil, desde os anos 70 vêm sendo discutidas a especialização e fragmentação do cuidado ocorrido na saúde. O modelo médico-assistencial que homogeneizou as práticas de saúde centralizou o cuidado na doença, em seus aspectos biológicos, esquecendo da subjetividade de cada pessoa. Com o intuito de melhorar a qualidade do cuidado, no final da década de 80, passa a ser discutido a “atenção integral à saúde” com o objetivo de promover, proteger e recuperar a saúde da população, e com grande preocupação de integrar os diversos campos de conhecimento da saúde. Assim, em 1994 é lançado o Programa Saúde da Família com o pressuposto do trabalho em equipe. Objetivos: O trabalho teve como objetivo analisar o processo de trabalho em equipes na Estratégia da Saúde da Família, em uma unidade de saúde que adota esse modelo. Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada através de um estudo descritivo. Através de observação e entrevista com os componentes da equipe, foram identificadas, através da técnica de análise de conteúdo, três elementos deste trabalho: o sentimento de apoio entre as partes, o entendimento de cuidado integral e o processo de comunicação interpessoal. Conclusão: Pode-se concluir que a equipe estudada consegue contemplar de forma efetiva os objetivos da ESF, realizando um trabalho integral com a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 184
população assistida, através de uma equipe multiprofissional de saúde bem articulada, no entanto, são necessários avanços na constituição de redes não só assistenciais, e apoio ao trabalho das equipes, para a superação das dificuldades cotidianas.
SAÚDE MENTAL NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; ADÃO ADEMIR DA SILVA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI; MARLENE GOMES TERRA
A saúde mental em âmbito da saúde coletiva apresenta-se como um desafio quando se pretende viabilizar uma assistência pautada nos princípios e diretrizes do SUS consoantes com a Reforma Psiquiátrica (2001). Este estudo é o resultado de um levantamento da produção científica referente à inserção da saúde mental na Estratégia da Saúde da Família (ESF). Trata-se de uma busca realizada na base de dados LILACS utilizando os descritores Programa da Saúde da Família (PSF) e Saúde Mental nos últimos 5 anos. A busca resultou em 11 artigos que foram lidos e categorizados conforme a temática, e mediante aos fatores de exclusão e inclusão relevantes a temática restringiu a análise a 8 artigos. Os resultados convergem para 6 categorias: a) trabalho grupal para o enfrentamento e adesão ao tratamento; b) princípios do Movimento Sanitário e Reforma Psiquiátrica no contexto do ESF; c) educação em serviço e o desafio do trabalho em equipe e à intersetorialidade; d) contexto familiar e variáveis de riscos para a saúde mental infantil; e) saberes e práticas desenvolvidos por enfermeiros na perspectiva da reforma psiquiátrica em saúde coletiva; f) caracterização dos transtornos mentais em ESF e suas variáveis epidemiológicas. Constata-se um número reduzido de publicações diante da relevância da temática. Portanto, a inserção da saúde mental no ESF é uma estratégia na reestruturação dos serviços em Saúde Mental.
A INFLUÊNCIA DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL:REVISÃO INTEGRATIVA
ROBERTA MANFRO LOPES;ALINE FANTIN CERVELIN;CLARISSA WERLE AMBROSI;RAISSA RIBEIRO SARAIVA DE CARVALHO;MELINA MARIA TROJAHN;PROFª ANA LUÍSA CETERSEN COGO
A assistência de enfermagem em saúde mental vem passando por um processo de transformação que se iniciou na década de 1970 com a Reforma Psiquiátrica Brasileira, ocorrendo uma transição do modelo asilar para o modelo psicossocial. OBJETIVO: Investigar através de revisão integrativa as mudanças ocorridas a partir da reforma psiquiátrica e como essas mudanças estão interferindo no papel do enfermeiro. MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão integrativa (COOPER, 1984). As etapas seguidas foram: formação da questão norteadora, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e interpretação dos dados e apresentação dos resultados. A questão norteadora foi como a reforma psiquiátrica está influenciando nas ações dos enfermeiros no cuidado à saúde mental? A coleta de dados ocorreu na base de dados LILACS nos últimos cinco anos através dos descritores: enfermagem, saúde mental e enfermagem psiquiátrica. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Foram analisados nove artigos que respondiam ao critérios de inclusão e a questão norteadora. As principais ações propostas pela Reforma são: a intervenção verbal, a criação dos CAPs, a utilização de oficinas terapêuticas que usam ferramentas que proporcionam o diálogo e as visitas domiciliares. Observa-se certa dificuldade dos enfermeiros em exercer essas ações, pois é fundamental que ocorra iniciativa, criatividade e flexibilidade para oferecer o atendimento diferenciado que cada paciente necessita. Após a análise dos artigos, conclui-se que as ações dos enfermeiros estão em transformação desde o início do modelo psicossocial. Por meio do cuidado humanizado dispensado à família e ao doente mental, buscam esclarecer dúvidas sobre o novo modelo e incentivar a reinserção social desse paciente como forma de tratamento.
ESTUDO DE FAMÍLIA BASEADO NO MODELO CALGARY
LARISSA POGLIA MATTOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 185
Introdução: Para o GAPEFAM ( Grupo de Assistência, Pesquisa e Educação na área da Saúde da Família ), família é uma unidade dinâmica constituídas por pessoas que se percebem como família, que convivem por determinado espaço de tempo com uma estrutura e organização para atingir objetivos comuns e construir uma história de vida.Objetivos:Este estudo teve como objetivo criar um vincúlo com a família do estudo a fim de identificar possíveis intervenções de Enfermagem a serem realizadas e promover uma melhora na qualidade de vida dos sujeitos e uma melhor relação com a UBS.Material e Métodos: Foi utilizado o modelo Calgary que é frequentemente usado para estudar famílias. Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo-exploratório realizado através de Visitas Domiciliares com datas e horários pré estabelecidos com os sujeitos conforme suas disponibilidades. Resultados e Conclusão: A família do estudo apresentava vários problemas que foram solucionados através das visitas realizadas. A relação desta família com a UBS foi melhorada através da possibilidade de visitas das Agentes de Saúde e conseguimos que realizassem exames que necessitavm assim como indicar melhorias em seus hábitos de vida. Foi importante também para perceber a necessidade da aproximação da Enfermagem com o meio em que vivem as famílias para dentro de suas condições poder então intervir de maneira positiva e também resolutiva.
ACOLHIMENTO: UMA FERRAMENTA PARA A HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; FRANCINE CASSOL PRESTES; ROSÂNGELA MARION DA SILVA; ANDREA PROCHNOW
A Lei n° 10.216 de 6 de abril de 2001, redireciona o modelo assistencial em saúde mental, oferecendo ao portador de sofrimento psíquico uma atenção mais humanizada e efetiva, dando-lhe a alternativa de tratamento extra-hospitalar, buscando também a reinserção e reabilitação social dos mesmos. Sendo assim, não podemos deixar de citar o acolhimento como uma das ferramentas essenciais na articulação do trabalho em saúde mental, que consiste na humanização entre trabalhadores dos serviços de saúde com seus usuários, permitindo uma proximidade nas relações entre estes sujeitos, favorecendo o vínculo, e como conseqüência uma co-responsabilização na resolução de problemas. O acolhimento vem evidenciar os critérios de acessibilidade a que os usuários estão submetidos, podendo ser utilizado como um questionador das práticas cotidianas, nas relações entre usuários e trabalhadores á fim de assegurar o acesso e consequente resolutividade dos serviços. Este estudo tem como objetivo refletir sobre a necessidade de um novo olhar na saúde mental por parte dos profissionais da saúde, contemplando estas novas diretrizes de atenção, o que inclui trabalhar com a lógica do acolhimento e humanização. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica embasada em literatura científica de periódicos, bases de dados e livros sobre acolhimento e humanização, em unidades de saúde mental. Assim conclui-se que toda a política de acolhimento e humanização dos serviços contribui para a consolidação da atual política de Saúde Mental, fortalecendo vínculos integrando os profissionais de enfermagem e usuários como participantes/ atuantes no processo terapêutico o que permite a responsabilidade mútua para resolução de problema.
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: TRABALHO EM REDE E UM OLHAR INTEGRAL NA ASSISTÊNCIA
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;GRASSELE DENARDINI FACIN DIEFENBACH; LIANGE RABENSHLAG
A Reforma Psiquiátrica começou a ser pensada no Brasil, por volta de 1987, neste período transcorreram várias ações neste âmbito, buscando um novo olhar sobre a loucura. A Reforma Psiquiátrica vem em busca da transformação do modelo clássico, de desconstrução dos manicômios e criação dos denominados Centros de Atenção Psicossocial, que constitui um serviço com o papel de cuidar os portadores de sofrimento psíquico grave, no seu território de abrangência, incluindo ações advindas da Atenção Básica. Contemplando as exigências deste novo modelo, faz-se necessário incluir as Estratégias de Saúde da Família, no processo do cuidado dos portadores de sofrimento psíquico, o que torna possível o trabalho em rede e a visualização do sujeito de forma integral. Este trabalho do tipo bibliográfico tem como objetivo mostrar a necessidade de aprofundar a relação entre os Centros de Atenção Psicossocial, e as Estratégias de Saúde da Família, a fim de se
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 186
obter um trabalho em rede e baseado na visão integral do indivíduo. A importância do trabalho em rede é ressaltada principalmente, pelo aspecto de integralidade nos cuidados de saúde, considerando esta como um dos princípios do SUS, ela reveste-se no decorrer da evolução desta política, de uma importância estratégica para a consolidação de um novo modelo de atenção a saúde, além de contribuir nesta organização, a integralidade busca uma apreensão ampliada das necessidades de saúde da população atendida. Assim a soma de olhares, entre Centro de Atenção Psicossocial, e Estratégia de Saúde da Família resulta numa abordagem mais integral dos indivíduos, possibilitando ações mais globais, e efetivas com relação à saúde.
INTEGRANDO FAMÍLIA, EQUIPE DE SAÚDE PARA UMA MELHOR ATENÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE DOENÇAS MENTAIS
GRASSELE DENARDINI FACIN DIEFENBACH;PATRICIA BITENCOURT TOSCANI, LIANGE ARRUA RABENSCHLAG
Há pouco tempo atrás, a assistência ao portador de sofrimento psíquico estava centrado nos hospitais psiquiátricos, atualmente, com a nova política de saúde criam-se novos serviços substitutivos. Porém sabe-se que os serviços disponíveis na comunidade bem como, a falta de qualificação dos profissionais para atender estes doentes e seus familiares, tornam esta assistência um pouco fragilizada, devido não suportar a demanda. A ocorrência de uma doença mental é capaz de acarretar importante desgaste, além das alterações sociais, que acomete não somente o doente mental, como também todo o universo familiar que, de certa forma sofre uma reorganização no seu cotidiano para que possam auxiliar nos cuidados necessários a ele. Este trabalho do tipo bibliográfico teve como objetivo mostrar a necessidade de aprofundar a relação entre família e equipe de saúde para uma melhor assistência ao portador de sofrimento psíquico, e seus familiares, o que se torna essencial após reflexões acerca dos movimentos da reforma psiquiátrica e do processo de desinstitucionalização. Dessa forma podemos dizer que a nova política de assistência ao portador de doenças mentais é extremamente válida ao passo que o doente pode conviver mais próximo a sociedade, na tentativa de não exclusão, o que se torna fundamental para crianças quando podem permanecer perto de seus familiares. Porém, para a família, a falta de conhecimento e preparo nas situações de crise, a dificuldade para lidar com os outros familiares, o sentimento de culpa, a expectativa frustrada de cura são capazes de levar a um grande desgaste devido a complexidade por isso se torna de imprescindível levar em consideração fortificar a relação destes familiares cuidadores com as equipes de saúde e serviços. Palavra chave: Criança, Família, Equipe de Assistência ao Paciente, Pessoas com Deficiência Mental.
SABERES DE DOCENTES DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E AS IMPLICAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
FERNANDO RIEGEL;MARIA ISABEL DA CUNHA
INTRODUÇÃO: Trata-se de uma dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS que teve por objetivo conhecer os saberes que compõe a prática dos enfermeiros docentes na Universidade, no contexto das políticas públicas atuais. OBJETIVO GERAL:O intuito foi identificar como ocorre a produção e legitimação de saberes dos enfermeiros professores em suas práticas docentes, a partir de suas vivências na profissão de origem. MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizados os princípios da etnografia para a realização da pesquisa, em forma de um estudo de caso. Os dados foram obtidos através de entrevista semi-estruturada com seis participantes, todos enfermeiros de formação e docentes de um Curso de Graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da região do Vale do Rio dos Sinos – RS, escolhidos a partir de critérios de representação de diferentes áreas curriculares e a disponibilidade para participar do estudo. RESULTADOS: Os professores entrevistados tinham entre 31 e 58 anos de idade, com um tempo médio de formação de até 15 anos. Dois são mestres e 04 são especialistas em enfermagem, dos quais dois estão realizando estudos em nível de mestrado. O tempo médio de atuação como docentes no Curso de Enfermagem foi de quatro anos e meio. Os docentes reconheceram os impactos das atuais políticas públicas de saúde e educação nos seus saberes, com implicações nos conteúdos curriculares e valorização da saúde preventiva.. Apontam como desafios importantes a qualificação permanente no campo pedagógico com aportes teóricos contemporâneos e sólidos, bem como o incentivo para qualificação em nível de pós-
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 187
graduação.Apontam a socialização entre os pares das práticas docentes que realizam como uma possibilidade de qualificação e valorizam a participação ativa nas decisões do colegiado e construção do Projeto Político Pedagógico do Curso em que atuam.
PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS E CEFALÉIA EM RELAÇÃO AO GÊNERO
GABRIELA LASTE;ROSA MARIA LEVANDOVSKI; ALÍCIA DEITOS; FABIANE DRESCH; JANAINA DA SILVEIRA; CARLA KAUFFMANN; LUCIANA CARVALHO FERNANDES; GIOVANA DANTAS; KARLA ALLEBRANDT; WOLNEI CAUMO; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
INTRODUÇÃO: estudos epidemiológicos têm demonstrado que a depressão apresenta aproximadamente duas vezes maior prevalência nas mulheres. O funcionamento hormonal e suas conseqüências podem ser responsáveis pelas diferenças nas manifestações depressivas entre homens e mulheres. Os tipos de comorbidades também parecem ser distintos conforme o gênero. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de sintomas depressivos e cefaléia em relação ao gênero. MATERIAS E MÉTODOS: o estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética do HCPA (08/087), realizado no Vale do Taquari, localizado na região centro-leste do RS, abrangeu 10 municípios, totalizando 5098 entrevistados entre 12 e 65 anos. Foram coletados dados sócio-demográficos, níveis de sintomas depressivos (Beck) e cefaléia (HIT-6). Os dados foram analisados através do programa SPSS 16 for Windows utilizando teste de Mann-Whitney. RESULTADOS: a amostra foi composta de 67 % mulheres, com idade média de 45 anos + 12,9. A prevalência de sintomas depressivos foi de 15,5% destes 82% são mulheres. A prevalência de cefaléia 24% destes 83% são mulheres. As mulheres apresentaram um maior coeficiente de prevalência sintomas depressivos e cefaléia (Mann-Whitney P<0,05 para ambas as variáveis analisadas). CONCLUSÃO: A depressão e cefaléia comprometem a qualidade de vida da mulher, podendo até mesmo retirá-la do convívio social. O sistema de saúde brasileiro ainda está despreparado para atender a estas demandas, que constituem um importante e crescente problema de saúde pública. A formação de profissionais de saúde capacitados faz-se necessária para o atendimento desta crescente parcela da população feminina, secundariamente ao crescimento da expectativa de vida global populacional.
ANSIEDADE EXCESSIVA NA INFÂNCIA COMO FATOR DE RISCO PARA PSICOPATOLOGIA NA IDADE ADULTA
DEBORA HEXSEL GONÇALVES;BRUNA ZUCHETO TADIELO; CLÁUDIA MARIA PEDEZERT STEIGER; ELIZETH HELDT
A ansiedade é descrita como um sentimento caracterizado por desconforto ou tensão derivado da antecipação de perigo e é considerada patológica quando é exagerada e desproporcional em relação ao estímulo. Estudos atuais mostram que os problemas da ansiedade na infância são fatores de risco para outras formas de psicopatologia. Realizar uma revisão sistemática sobre os TA na infância como fator de risco para psicopatologia na idade adulta. Foram utilizadas as bases de dados do Scielo, Lilacs, Adolec e Pubmed, com os descritores de busca: anxiety, childhood e adult. Os critérios de inclusão foram todos os ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e de caso controle, escritos em português, inglês ou espanhol, publicados nos anos de 1998 a 2008. Um total de 10 artigos preencheu plenamente os critérios de inclusão para o aceite final, destes, nove escritos em inglês e um em português. Observa-se o predomínio do sexo feminino em oito estudos e o TA na infância com maior número de estudos foi o transtorno de ansiedade de separação, sendo que o risco maior para doença na vida adulta era para transtorno do pânico (TP), depressão ou TP com depressão. O outro TA na infância com maior número de estudos foi a agorafobia, sendo associada mais freqüentemente na idade adulta com fobia social e TP. Todos os trabalhos incluídos nesta revisão sistemática evidenciam que os TA na infância são preditores e podem atuar como fatores de risco para psicopatologias na vida adulta. Concluindo, os medos e as preocupações excessivos são prevalentes na infância e adolescência, podendo trazer prejuízos significativos a seus portadores até a vida adulta.
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA SAÚDE MENTAL INFANTIL E JUVENIL ORIUNDO DO SCIELO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 188
GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; ADÃO ADEMIR DA SILVA; DANIELE TRINDADE VIEIRA;MARIANE ROSSATO; ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI; MARLENE GOMES TERRA
O campo da saúde mental infantil e juvenil configura-se um desafio aos profissionais da área da saúde, gestores e no seu contexto social. Para Couto; Duarte e Delgado (2008) é recente o reconhecimento da saúde infantil e juvenil na política pública nacional no que tange aos princípios e diretrizes do SUS. Observa-se a discrepância entre as necessidades e a defasagem do sistema de atendimento em rede a esse público alvo. Esta investigação teve como objetivo realizar um levantamento da produção do conhecimento referente à saúde mental infantil e juvenil em âmbito nacional oriundo do portal Scientific Electronic Library Online (SciELO) utilizando os descritores saúde mental e criança nos últimos 5 anos. A busca resultou em 12 artigos que foram lidos e categorizados conforme a temática e mediante aos fatores de exclusão e inclusão relevantes a temática restringiu a análise a 10 artigos. Os resultados convergem para 6 categorias: a) análise da política brasileira na atenção a saúde mental e juvenil: desafios, perspectivas e dificuldades de ações em rede; b) enfrentamento da violência física, sexual e psicológica: numa perspectiva sociocultural, problematizam as formas de enfrentamento; c) dependência química: caracterização de perfil biopsicossocial a fim de promover ações preventivas; d) abordagem clínica: enfoque nas doenças prevalentes, perfil dos acometidos e enfoque terapêutico; e) inter-relação da incidência de doenças e a relação familiar: frisa o relacionamento mãe-filho; f) desafios na atenção básica: a incorporação da saúde mental no assistir crianças e adolescentes. Constatou-se um número crescente de publicações na área. Vislumbra-se potenciar as pesquisas na área a fim de fundamentar a assistência.
VALIDAÇÃO DE RESULTADOS PARA O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM ANSIEDADE NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MÉDICA E CIRÚRGICA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
BRUNA MOSER TORRES;ALINE TSUMA GAEDKE NOMURA; MELINA ADRIANA FRIEDRICH; DEBORAH HEIN SEGANFREDO; LUCIANA NABINGER MENNA BARRETO; RAQUEL MARIA VIOLETA COSSA; AMÁLIA DE FÁTIMA LUCENA; MIRIAM DE ABREU ALMEIDA
Introdução: A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) fornece uma linguagem padronizada e estabelece medidas para avaliar a evolução de saúde do paciente após a realização de cuidados de enfermagem. Visando a implantação futura desta classificação, elaborou-se o projeto “Validação de Resultados de Enfermagem segundo a Nursing Outcomes Classification – NOC na prática clínica de um hospital universitário”. Na primeira etapa do projeto foi identificado o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Ansiedade, mais frequente dentre as necessidades psicossociais, nas unidades dos Serviços de Enfermagem Médica e Cirúrgica de um hospital universitário. Objetivo: Validar os resultados de enfermagem, descritos a partir da ligação NANDA-NOC, para o DE Ansiedade. Método: Estudo descritivo transversal, de validação de conteúdo, realizado nos Serviços de Enfermagem Médica e Cirúrgica de um Hospital Universitário de Porto Alegre. A população é de enfermeiros e a amostra determinada a partir de critérios pré-estabelecidos, conforme definição de enfermeiros peritos para o processo de validação. O instrumento de coleta de dados consta de 27 RE e uma escala Likert 5 pontos (não importante–extremamente importante). Os principais RE sugeridos na NOC são: Autocontrole da Ansiedade, Concentração, Nível de Ansiedade, Enfrentamento e Nível de Hiperatividade. A análise será estatística descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. Resultados: Os resultados do DE Ansiedade encontram-se em processo de validação pelos enfermeiros peritos. Considerações finais: Pretende-se, com o estudo, contribuir para a qualificação das informações contidas no prontuário eletrônico do paciente e aprimorar o cuidado de enfermagem.
A DOENÇA MENTAL RELACIONADA AO TRABALHO DE ENFERMAGEM
ANDREIA TANARA DE CARVALHO;SAMARA GREICE RÖPKE FARIA DA COSTA, JANAÍNA SCHAAB
Introdução: Vem se observando um crescente interesse relacionado à questão saúde/doença mental relacionada ao trabalho. Isso decorre por um aumento na incidência dos transtornos mentais e de comportamento associados ao trabalho, sendo a depressão a segunda maior causa de afastamentos por licença saúde. As formas de gerenciamento, a correria do dia a dia, entre outros fatores
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 189
influenciam na interação trabalho e trabalhador, levando muitas vezes a um desencontro dos objetivos traçados, que podem levar a um início de perda emocional. O homem moderno necessita do trabalho como sua forma de identidade, realização e estabilidade financeira. Mas este mesmo trabalho exige, muitas vezes, elevado esforço físico, desgaste emocional, pouca remuneração e retorno, acarretando estresse e interferindo diretamente na qualidade de vida. Objetivos: Promover uma reflexão sobre a organização operacional do trabalho, suas demandas e influencia na saúde mental dos trabalhadores. Materiais e Métodos: Trabalho realizado através da revisão de literatura e observação da vivência em uma instituição hospitalar. Resultados: O conceito de saúde vai além da ausência de sintomas físicos em um ser, onde mente e corpo são um só. Existe uma crescente preocupação em promover a saúde dos trabalhadores, contudo vemos que a saúde mental ainda fica em segundo plano e é o que pode e muitas vezes desencadeia o processo da doença. Conclusões: O “esquecimento” de trabalhar o psicológico dos trabalhadores pode ser entendida pela falta de informação sobre o assunto, pelo medo e pelo próprio estigma que as doenças relacionadas a este tema carregam. É preciso entender e reconhecer o profissional com problemas para que isso não afete o seu desempenho, sua interação com a equipe de trabalho e sua qualidade de vida.
SAÚDE MENTAL NA RODA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;LUCIANE SILVA RAMOS; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; FRANCINE CASSOL PRESTES; ROSÂNGELA MARION DA SILVA; GILSON MAFACCIOLI DA SILVA; ANDREA PROCHNOW
Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de um trabalho desenvolvido pela Comissão de Saúde Mental do município de Santa Maria/ RS. Os trabalhadores que compõe essa comissão buscam a participação das Unidades Básicas de Saúde no cuidado dos usuários portadores de sofrimento psíquico. Para isto foi proposto a Saúde Mental na Roda, espaço de diálogo com o intuito de troca e integração entre os serviços de saúde mental e a rede de atenção básica do município. O Método da Roda vislumbra a possibilidade de construir outros modos de produção de acordo com as necessidades sociais, maneiras mais reflexivas, em que seja considerado cada sujeito, cada movimento, produzindo novas necessidades (CAMPOS, 2000). Assim sendo, os atores deste cenário devem desenvolver propostas de ensino e aprendizagem que levem os profissionais a compreender que seu espaço de trabalho não serve apenas para atender demanda, mas que é também um local de produção e disseminação de conhecimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Iniciou-se, em uma Unidade Básica da Zona Norte da referida cidade, com encontros quinzenais, coordenados por dois representantes da Comissão de Saúde Mental, onde foram identificados assuntos geradores de insegurança nos profissionais da atenção básica, como: conceito de saúde mental, tipos de doença mental e tratamento, reforma psiquiátrica, necessidade de conhecer os serviços de saúde mental do município e seus encaminhamentos. Tais temáticas foram abordadas por meio de dinâmicas de grupo, estudos de caso e visitas aos serviços de saúde mental. Essa experiência propiciou a problematização das concepções de Saúde Mental, maior capacidade técnica desses trabalhadores envolvidos, e, melhor atendimento e encaminhamento dos usuários portadores de transtornos mentais.
OS SIGNIFICADOS DA ESPIRITUALIDADE NO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA VISÃO DA (O) ENFERMEIRA (O)
ALICE MARTINS DOS SANTOS;MIRIAM BUÓGO
INTRODUÇÃO: A espiritualidade é inerente à pessoa humana e uma das dimensões do cuidar em enfermagem. Nessa perspectiva a (o) enfermeira (o) está próxima (o) ao paciente e sua família necessitando valorizar a dimensão espiritual, pois a percepção desse significado na vida do paciente guiará o cuidado de enfermagem. OBJETIVO: Identificar os significados da espiritualidade no cuidado de enfermagem, na visão das (os) enfermeiras (os). MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de um estudo qualitativo, de cunho exploratório e descritivo. Os participantes foram nove enfermeiras (os) que trabalham num hospital privado, de médio porte no município de Porto Alegre. A coleta dos dados deu-se, após a aprovação do projeto pelos comitês de ética da instituição de ensino e do hospital, através de entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados através da técnica de análise temática. RESULTADOS: Os dados, após análise foram agrupados em cinco temas: espiritualidade como modo de ser e agir da (o) enfermeira (o), espiritualidade como religiosidade,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 190
espiritualidade como forma de humanização do cuidado, espiritualidade no processo morrer e espiritualidade como cuidado emocional. CONCLUSÕES: O estudo evidenciou que essa forma de cuidar o paciente, utilizando a espiritualidade, é muito valorizada e freqüente no cuidado de enfermagem, emergindo a necessidade de realizarem-se mais estudos sobre o tema, para que pesquisadores, profissionais da saúde, instituições de ensino e de saúde possam conhecer e valorizar o cuidado espiritual na sua prática profissional.
UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM HOSPITAL GERAL: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
AMANDA DOS SANTOS ROVIRA;JACÓ FERNANDO SCHNEIDER
No contexto da Reforma Psiquiátrica, a internação em hospitais psiquiátricos, adeptos a práticas manicomiais, surgem espaços a outras formas de Atenção ao sofrimento psíquico, dentre elas a internação em hospitais gerais, em Unidades específicas para tal fim, com recursos adequados às necessidades da demanda atendida, com suporte multidisciplinar e respeito aos direitos do indivíduo em crise psíquica. Dentro desta proposta, o presente trabalho traz uma pesquisa bibliográfica sobre Unidade de Internação Psiquiátrica em Hospital Geral, levantando achados da literatura sobre implantação dessas unidades, questões de cunho prático, como participação da enfermagem em tal espaço. Utilizou-se a base de dados LILACS para coleta dos dados, onde critérios de inclusão como publicações em língua portuguesa, que apresentassem resumo disponível para consulta e temática coerente com os objetivos do trabalho, proporcionaram uma amostra de 21 publicações, algumas analisadas na íntegra como forma de embasamento teórico. A partir deste estudo, podemos concluir a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre Unidades de Internação Psiquiátrica em Hospitais Gerais, para que se possa ampliar tais conhecimentos dentro da prática profissional no campo da Atenção ao indivíduo em sofrimento Psíquico. Palavras-chave: Unidade de Internação Psiquiátrica, Hospital Geral, Enfermagem.
A FORMAÇÃO DO SER-ENFERMEIRO: ESCUTA SENSÍVEL EM SAÚDE MENTAL
GABRIELA ZENATTI ELY;KATIELE HUNDERTMARCK; ADÃO A. DA SILVA; CIANA M. G. BIULCHI; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI; MARLENE GOMES TERRA
A partir da Reforma Psiquiátrica almeja-se uma assistência humanizada e efetiva. Nesse cenário, a Enfermagem insere-se como suporte a reabilitação e adaptação de pacientes em sofrimento psíquico, na busca de um cuidado fundamentado na integralidade. O objetivo é descrever atividades realizadas pela Enfermagem em uma Unidade de Internação Psiquiátrica, no intuito de fomentar reflexões acerca da escuta sensível do ser-enfermeiro em Saúde Mental. O enfoque é a socialização de sentimentos, vivências, experiências e esclarecimentos sobre o cuidado. Em um espaço de conversas e trocas, realizam-se atividades de ação individual e coletiva, em uma Unidade de Internação Psiquiátrica de um Hospital Escola. Os grupos de apoio a familiares e operativos com pacientes são fomentados por enfermeiros realizados semanalmente, num processo educativo, cuidativo e dinâmico de escuta sensível. As literaturas apontam como estratégia a escuta individual ou coletiva, que possibilita uma compreensão das necessidades do ser humano. Assim, não se defende o meramente escutar. Para Mjorge (2007), Freud possibilitou pela descoberta do inconsciente, instrumentalizar a escuta, não apenas uma teoria sobre o ser humano, mas um método de tratamento. Considerando tais reflexões, observa-se que as ações e expressões do corpo transmitem ao outro a intencionalidade. Esta pode ser percebida pela atitude e emoção manifestada em sentimento. A escuta sensível individual ou coletiva, é uma relevante atitude do Enfermeiro capaz de promover acolhimento a pessoa em sofrimento psíquico. Envolve uma sensibilidade “sensitiva” (sensações perceptivas), sensibilidade “afetiva” (o que dá ao outro a partir de uma ação estruturada estabelecida), e sensibilidade “intuitiva” (descoberta da parte que religa).
RECONHECENDO OS ASPECTOS EMOCIONAIS DOS CUIDADORES DOS PORTADORES DO MAL DE ALZHEIMER, UM CONHECIMENTO PARA A ENFERMAGEM
CAMILA MARIANA ANDRADE;SIMONE TATIANA DA SILVA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 191
O Alzheimer doença degenerativa e irreversível que progressivamente faz alterações nas funções cognitivas, mais do que qualquer outra doença, representa uma inversão nos hábitos de uma família. Há uma carga moral, psicológica, afetiva, emocional e financeira que atingirá e modificará não só o portador de Alzheimer e sua família, mas principalmente o cuidador. Este estudo qualitativo com caráter de revisão identifica as principais dificuldades do cuidador diante de sua rotina, e as alterações patológicas decorrentes da exposição a esses fatores estressantes. As bases para a composição do estudo foram Bireme, Scielo, BVMS no ano de 2007. Os acervos utilizados constaram de seis artigos e quatro capítulos de livros, avaliados e comparados quanto a sua relevância para o tema. Sabe-se que o idoso com Mal de Alzheimer necessita de um cuidador, que irá se tornar responsável por ele conforme a progressão da doença. A situação de cuidador pode desencadear depressão, tensão, ansiedade, pois em casos de doenças de longa duração esgotam-se os recursos físicos e emocionais da família e cuidador. Corroborando pesquisadores de cuidados em enfermagem avaliam que as assistências prestadas geram uma dupla pressão aos cuidadores, que podem tornar-se fadigada ao ponto até de diminuir o auto cuidado, e o cuidado com o paciente de Alzheimer. A participação de associações de atenção ao idoso, o apoio de equipes multidisciplinares e a literatura de fácil acesso tornam-se indispensáveis. Neste aspecto, os profissionais de enfermagem devem estar protegendo e auxiliando na manutenção e na promoção da saúde física e mental do cuidador e portador, para que estes possam ter um alicerce psicofísico adequado à sua realidade.
PROJETO COMEÇAR DE NOVO-OFICINAS DE SAÚDE COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
THEMIS SILVEIRA DOVERA;JOÃO PALO ZIMMERMANN
Introdução: O projeto Começar de Novo é uma ação pedagógica de convivência e organização de trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua de Porto Alegre e é realizado através de oficinas diárias com relações de acolhimento, ações de convivência, atividades laborais de geração de trabalho e renda, ações de orientação alimentar, nutricional e saúde e ações de elevação da escolaridade. e desenvolvido pelas seguintes instituições parceiras: UFRGS Escola de Enfermagem, Pastoral Operária/Fundação Solidariedade, Comitê Gaúcho de Ação Pela Cidadania do Restaurante Popular.Objetivo:Identificar os saberes relacionados às experiências de vida, aos anseios pessoais e aos eixos temáticos, tomando-os como ponto de partida para construção de um projeto de vida, tanto na dimensão pessoal como social e de saúde.Material e Métodos Através de ficha individual foi feito o levantamento com 70 pessoas freqüentadoras das oficinas diárias.Resultados e Conclusões- Dos entrevistados, 81% afirmaram possuir uma profissão; as mais citas foram a construção civil, a vida doméstica e os serviços gerais, 23,4%; não tem documentos, 13,5%; está ou ficou doente e não pode mais trabalhar, 11,4%; é discriminado em função de estar em situação de rua, não tem roupa adequada, carrega suas coisas consigo são 10,2%. Com relação ao regime de trabalho, 5% declararam trabalhar com carteira de trabalho e previdência social assinada, 32,2% nunca trabalharam com esta vinculação e 57,3% já trabalho formalmente. A saúde é o principal risco, apontando a dependência química, a saúde bucal e as dores no corpo como os principais problemas sentidos. Os riscos de estar na rua são o segundo principal problema, 72,8% declaram que a população porto-alegrense trata com desconfiança, A tarefa de „humanização‟ do atendimento é fundamental, a população em situação de rua constroe relações sociais particulares entre pessoas em situação de rua e outros moradores da cidade”.
AVALIAÇÃO DA MEMÓRIA DE PACIENTES COM TRANSTORNO BIPOLAR COMPARADA COM SUJEITOS NORMAIS
VERA BEATRIZ DELGADO DOS SANTOS;MÁRCIA LORENA FAGUNDES CHAVES
Introdução: Este trabalho teve como propósito estudar pacientes em fase maníaca, cujos principais sintomas são afeto eufórico, autoestima elevada, grandiosidade, insônia, fuga de idéias e envolvimento excessivo em atividades, em comparação a sujeitos normais. O estudo foi realizado na unidade de internação psiquiátrica de um hospital geral. Objetivo: Comparar o desempenho de memória em tarefas com e sem conteúdo afetivo de pacientes em fase maníaca e de sujeitos-controle. Metodologia: Estudo transversal no qual foram estudados 24 pacientes em fase maníaca e 25 sujeitos normais com idade média de 36,83 e 39,32 anos respectivamente. O diagnóstico foi estabelecido de acordo com os critérios do DSM-IV e, para avaliar a intensidade dos sintomas, usou-se a escala de Young. Critérios de exclusão: déficit cognitivo grave, abuso de substâncias legais ou
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 192
ilegais, analfabetismo, maiores de 59 anos e menores de 20 anos. Os testes utilizados neste estudo foram spam de palavras positivas, neutras, negativas e reconhecimento de imagens com conteúdo afetivo. Resultados: No teste de reconhecimento de imagens neutras e spam de palavras positivas, o grupo de pacientes em fase maníaca apresentou um escore mais baixo comparado com o grupo de sujeitos normais. Conclusão: Os resultados do estudo mostram que pacientes com transtorno bipolar apresentam déficits de memória verbal e atenção sustentada.
GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO AMBIENTE HOSPITALAR: FORTALECENDO A GERÊNCIA E EMPODERAMENTO EM ENFERMAGEM
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;GRASSELE DENARDINI FACIN DIEFENBACH; LIANGE RABENSHLAG
A enfermagem por sua essência generalista busca o olhar integral, estabelecendo e gerenciando estratégias de troca, de diálogo, e dos distintos saberes, sejam estes técnicos ou não, baseados na idéia de ouvir, compreender e a partir daí entender as necessidades da comunidade, dos grupos, enfim, das pessoas inseridas nesta realidade. Concordamos com Lacerda (1999) quando relata que a enfermeira busca delimitar seu espaço de trabalho, se colocando em um cenário de liberdade, complementaridade, criatividade e poder. Ainda ressaltamos as multifacetadas áreas em que a enfermeira se insere, buscando justamente a delimitação de seus espaços, e a conquista do reconhecimento como gerente no cuidado. O empoderamento da enfermagem nos grupos educativos nas instituições hospitalares cresce à medida que a mesma gerencia ativamente este espaço, utilizando ele como forma de intervir com criatividade através de seus saberes e conhecimentos específicos. Este trabalho do tipo bibliográfico tem como objetivo refletir sobre o gerenciamento de grupos, sendo este um espaço de crescimento na prática de promoção da saúde e ainda de empoderamento da enfermagem nas práticas assistenciais e educativas.. Fica evidente a necessidade de o enfermeiro conhecer as necessidades e anseios dos indivíduos, atendendo a demanda do grupo, tornando-se um profissional engajado na educação em saúde e na busca da co-responsabilização do usuário com seu cuidado. Desenvolver rotinas incorporando a enfermagem em atividades grupais ainda é um desafio, porém é um espaço precioso para nossa prática, possibilitando o cuidado além das unidades de saúde.
A AUTONOMIA DOS USUÁRIOS DO CAPS: FORTALECIDA OU OPRIMIDA?
JENIFFER MEZZOMO;CHRISTINE WETZEL
Introdução: A assistência psiquiátrica, no Brasil, pode-se considerar marcada pela má qualidade de assistência os portadores de doenças mentais, tendo como vertente principal modelo hospitalocêntrico. Neste contexto surgem os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Objetivo: Observar o quanto à equipe multidisciplinar de saúde interfere na busca pela autonomia dos usuários do CAPS. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, que foi realizado no CAPS do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O material usado para a realização deste trabalho foram artigos científicos, materiais do site do Ministério da Saúde e relatos do Diário de Campo. Resultados: Há um incentivo por parte da equipe para que haja uma autonomia dos usuários, porém, ainda existem traços manicomiais na estrutura do CAPS. Incentivar a autonomia para portadores de sofrimento psíquico é fundamental para inserir estas pessoas no convívio com suas famílias e com a sociedade. A mudança de olhar do profissional e deslocamento de sua atenção do enfoque da doença, para observar o indivíduo como um todo, estimula descobertas importantes na assistência possibilitando a ampliação de perspectivas para o usuário, facilitando a disposição para o cotidiano da vida. Conclusão: O CAPS é um excelente espaço para atuar em saúde mental de maneira atualizada com o novo pensamento de cuidado para a saúde psíquica. Porém, necessita de preparo de cada membro da equipe multidisciplinar para atuar de maneira qualificada no nanejo de usuários com transtornos psíquicos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 193
ENFERMAGEM SAÚDE PÚBLICA
REFLETINDO SOBRE A LIDERANÇA EM ENFERMAGEM
CRISTINA FALEIRO PEREIRA;AZZOLIN, K. O.
O presente estudo refletiu sobre as diversas formas de liderança, no qual a relação interpessoal vem sendo imprescindível no processo de trabalho do enfermeiro. O principal objetivo foi descrever e analisar por meio de revisão bibliográfica, sobre liderança no contexto de enfermagem. Para realização deste estudo, foram realizadas pesquisas em bancos de dados indexados e a bibliotecas reais para fundamentação teórica. Os aspectos abordados proporcionaram reflexão sobre a necessidade de viabilizar e inserir estratégias para ascensão das habilidades de liderança, de um profissional capaz, seguro, dinâmico e criativo.
A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS EM ÂMBITO ESCOLAR , NO 1º ANO DO NÚCLEO DE ENSINO RUDOLPHO SCHREINER
NAYARA GOULART RAMOS;MATEUS LANDO; TAÍNA LIEBL
Higiene Pessoal são hábitos de limpeza e cuidados com o corpo, essenciais, pois influenciam no relacionamento inter social. Implicam na aplicação de normas de vida em caráter individual como o banho, lavar as mãos, e higiene bucal. Para que a educação seja efetiva, é necessário que ela receba informações e bons exemplos. Segundo Pelicione e Torres (1999) apud Gonçalves et. al (2008), a Organização Pan-Americana de Saúde (1995) diz que a promoção da saúde no ambiente escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano, considerando as pessoas em seu contexto familiar, comunitário, social e ambiental. Assim, as ações de promoção da saúde visam desenvolver conhecimentos, habilidades e destreza para o auto-cuidado da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) apud Gonçalves et. al. (2008), no período de 1954, uma comissão de especialistas em educação em saúde colocou a necessidade de serem realizadas, dentro do espaço escolar, diversas atividades que favorecessem a promoção da saúde, de uma forma interativa e participativa. Assim os objetivos deste trabalho consistem em promover a conscientização em ambiente escolar de crianças sobre a importância das práticas de higiene pessoal e também estimular para o auto cuidado. Esta prática foi aplicada através de uma aula interativa com a utilização de vídeo, fantoches, cartazes, músicas, houve também uma dinâmica para a prática de lavagem das mãos e entrega de folders. Identificamos a presença de conhecimento satisfatório sobre a importância das práticas de higiene pessoal, a qual não é influenciada por falta de materiais. Os resultados serão observados a médio e longo prazo. Portanto há a necessidade da realização de educação em saúde continuada nas escolas para que este trabalho seja realmente efetivo.
CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO ATENDIDOS EM CONSULTA DE ENFERMAGEM
SUZANA FIORE SCAIN;ELENARA FRANZEN
Introdução: A polineuropatia distal simétrica é um importante preditor de úlceras e amputações em pacientes com Diabetes Melito e 15% desenvolverão úlceras nos pés ao longo de suas vidas. Ações de saúde sobre fatores comportamentais são apontadas como as de intervenção mais produtivas. O objetivo desse estudo foi descrever o tipo de pé em risco, o comprometimento para o desenvolvimento de úlceras e identificar fatores associados em pacientes ambulatoriais de um hospital universitário. Método: Pesquisa de caráter quantitativo, retrospectivo, aprovada pelo comitê de ética. Incluiu-se 1341 pacientes atendidos em consulta de enfermagem de 1996 a 2008. Preliminarmente foram coletados dados demográficos, presença de úlceras e classificação; amputações, óbitos registrados; evolução e fatores de risco associados. Resultados: Apresentou DM2 93,7% dos pacientes, 88% brancos, mesmo número de homens e de mulheres. Residiam em Porto Alegre (59%), 33,6% aposentados, 50% ensino fundamental incompleto e 66% casados. Tinha pés normais 587 pacientes, 57% de mulheres. Os pés neuropáticos e mistos (21,9% para ambos) e 11% dos isquêmicos incidiram em homens (p=0,001).Úlceras (grau 1) ocorreram em 249 pacientes e dos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 194
118 amputados,76% eram homens (p=0,001) e tinham pés neuropáticos (21%). As enfermeiras continuaram acompanhando 296 pacientes com pés normais, 112 com mistos, 99 com neuropáticos e 44 com isquêmicos. Os 287 pacientes que consultaram com outras especialidades (exceto enfermeira) tinham pés normais (50%) ou neuropáticos (23%). Não compareceram mais na instituição 326 pacientes e 177 morreram. Conclusão: O conhecimento dessas características aprimorará a prevenção do pé diabético assistidos na consulta de enfermagem. Descritores: educação em saúde, pé diabético, Diabetes Melito.
EXPECTATIVAS DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM SOBRE A EAD: MUDANÇAS VIVENCIADAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
ANA LUÍSA PETERSEN COGO;ANA PAULA SCHEFFER SCHELL DA SILVA; ANDRÉIA MARTINS SPECHT; EVA NERI RUBIM PEDRO
INTRODUÇÃO: A aproximação dos alunos de Graduação em Enfermagem com as tecnologias da informação e da comunicação é preconizada pelas Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem como competências a serem desenvolvidas com os estudantes de enfermagem (BRASIL, 2001). A partir de referencial construtivista-interacionista é que propô-se o curso de extensão „Introdução à anamnese e ao exame físico de enfermagem‟, no intuito de proporcionar em ambiente virtual o trabalho em grupo cooperativo. OBJETIVO: Avaliar as possibilidades da metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem de enfermagem em curso na modalidade a distância MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de caso qualitativo com vinte participantes realizado na Escola de Enfermagem da UFRGS. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS (nº2007811) e faz parte de tese de doutorado. Os dados parciais apresentados são oriundos do tema um aluno a distância da sub-categoria descobrindo a educação a distância, coletados no AVA Moodle, e analisados conforme a análise temática.RESULTADOS E CONCLUSÕES: O presente curso modificou a opinião negativa que os alunos tinham anteriormente sobre educação a distância. As mudanças identificadas pelos alunos referem-se a postura ativa que assumem e o professor como um orientador da aprendizagem. A comparação com as atividades na modalidade presencial foi um indicativo de que há necessidade de revisão de metodologias pedagógicas no ensino de enfermagem. A qualidade nas interações foi um dos aspectos positivos levantados pelos alunos, os quais sentem-se preparados para participarem de outras atividades nessa modalidade. Constatou-se a importância de conhecer os participante dos cursos para planejamento nessa modalidade de ensino.
CAPACIDADE PARA O TRABALHO EM TRABALHADORES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CHRISTIAN NEGELISKII;ADRIANA APARECIDA PAZ, EUNICE HILLESHEIN, LUIZA VIANNA, LIANA LAUTERT
Introdução: O conceito de saúde é definido como o resultado da interação de fatores socioeconômicos e culturais no contexto de um ambiente, que pode ser compreendido o do trabalho. O índice de capacidade para o trabalho (ICT), engloba a auto-avaliação do trabalhador sobre sua saúde e capacidade para o trabalho, que, quando identificado de maneira precoce, constitui-se como uma poderosa ferramenta para estabelecer estratégias de prevenção, de manutenção, de reabilitação e de promoção à saúde ocupacional do trabalhador. Objetivo: Avaliar a capacidade para o trabalho de trabalhadores de um hospital universitário, verificando a associação das variáveis independentes com o índice de capacidade para o trabalho. Material e Método: Trata-se de um estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa. Este estudo é um recorte do projeto de pesquisa “Avaliação dos fatores potencializadores de saúde-adoecimento dos trabalhadores de um hospital universitário”, tendo uma amostra de 400 trabalhadores, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do próprio cenário do estudo (nº 07-482). Resultados: Prevaleceu o sexo feminino (75,0%), onde à pontuação no ICT, a média obtida foi de 38,6±4,5, sendo que 10 (2,5%) apresentaram baixa pontuação, 91 (22,8%) moderada, 267 boa (66,8%) e 32 (8,0%) ótima pontuação. O ICT apresentou correlação positiva e fraca com o número de anos de estudo (r=0,192, p<0,01) e correlação negativa e fraca com a carga semanal de trabalho realizada no hospital (r=-0,109, p=0,02). Conclusão: Os trabalhadores com melhor capacidade para o trabalho foram aqueles que realizavam atividade física regular e possuíam tempo para lazer. Outro ponto importante foi que a maioria dos profissionais encontra-se satisfeito com o local de trabalho.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 195
FORMAÇÃO ACADÊMICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FATOR DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
MAXIMILIANO DUTRA DE CAMARGO;KÁTIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA1, CYNTHIA ISABEL RAMOS VIVAS PONTE1, JORGE ALBERTO BUCHABQUI1, MÁRCIA CANÇADO FIGUEIREDO1, KAROLINE MATURANA RITTER2, MAIRA OLIVEIRA CHAIBEN2, RENATA DA SILVEIRA PIA2, SAULO MARQUES PASCO2, LOUISE BERTOLI2, LUCIANA BRANCHER2, GUSTAVO DIEH2, DIANE NASCIMENTO2. 1-PROFESSORES DA UFRGS, PORTO ALEGRE, RS; 2-ACADÊMICOS DA UFGRS, PORTO ALEGRE, RS
Ações de promoção da saúde foram desenvolvidas indisciplinarmente visando à formação de acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia, como também a capacitação de profissionais da saúde comprometidos com a realidade social e regional conforme perfil solicitado pelas diretrizes curriculares nacionais da área da saúde e a política do Sistema Único de Saúde (SUS). Os objetivos principais deste trabalho foram: a) promover a troca de conhecimentos e experiências entre todos os membros, valorizando a interface dos saberes de cada uma das áreas; b) interagir ensino, pesquisa, extensão e serviço, reforçando a atuação de acordo com as diretrizes da atenção básica no SUS e Estratégia Saúde da Família (ESF); c) socializar os resultados, conclusões e as experiências para a sustentabilidade das ações propostas na comunidade; d)desenvolver pesquisas direcionadas para a qualificação da atenção básica. A metodologia utilizada foi pesquisa participativa. A participação no projeto com ações de natureza interdisciplinar trouxe um real ganho acadêmico e profissional, inserindo os graduandos na vivência do Programa Nacional de Humanização que preconiza o acolhimento como uma de suas bases de sustentação para a atenção básica de saúde, executadas na prática em quatro unidades básicas de saúde (UBS) do município de Xangri-Lá, RS. Os discentes adquiriram maturidade ao interagir com os agentes comunitários, acompanhando a rotina das UBSs junto as equipes da ESF, bem como algum conhecimento sobre a formação de equipe interdisciplinar e multiprofissional visualizando o processo saúde-doença em todas as suas dimensões considerando o cidadão, a família e a comunidade integrados a realidade epidemiológica e social do município. Área: Saúde Pública.
ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM PACIENTES COM DISFUNÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;ROSÂNGELA MARION DA SILVA; TIELEN MARQUES DIAS; FRANCINE CASSOL PRESTES; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; TÂNIA SOLANGE BOSI DE SOUZA MAGNAGO; ANDREA PROCHNOW; PAOLA DA SILVA DIAZ
A extensão universitária é uma forma de interação entre a universidade e a comunidade na qual está inserida. A Universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade e também aprende com o saber dessas comunidades. Ocorre, na realidade, uma troca de conhecimentos, em que a universidade também aprende com a própria comunidade sobre os valores e a sua cultura. A universidade, por meio da Extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou seja, possibilita uma troca de valores entre a universidade e o meio. Assim, esse resumo trata de uma proposta de projeto de extensão que está sendo desenvolvido em um Hospital Universitário cujo objetivo é a educação em saúde realizada a pacientes com alta hospitalar pós tratamento cirúrgico ortopédico/traumatológico. São realizadas atividades de educação em saúde a beira do leito, a partir do conhecimento prévio do paciente sobre seu estado de saúde. Após a orientação, é distribuído um folder educativo para orientar os cuidados principalmente pós cirurgia de quadril e fêmur, bem como o uso de recursos auxiliares de deambulação (andador, bengala e muletas) e cuidados com o membro que está com tala gessada. Educação em saúde é um processo que contribui para a formação e desenvolvimento da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde. A orientação de enfermagem na alta ajuda o paciente a reassumir a autonomia e auxilia na minimização de reinternações desnecessárias. Espera-se que essa proposta seja uma ferramenta em prol da construção de um processo de transformação da realidade dos usuários e que essa prática possa contribuir para fortalecer a eqüidade e a consolidação do SUS.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 196
REFLEXÃO SOBRE A SATISFAÇÃO DO PACIENTE NO CONTEXTO DA SAÚDE
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;ROSÂNGELA MARION DA SILVA; TIELEN MARQUES DIAS; FRANCINE CASSOL PRESTES; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; TÂNIA SOLANGE BOSI DE SOUZA MAGNAGO; ANDREA PROCHNOW; PAOLA DA SILVA DIAZ
Este resumo tem o objetivo de promover uma refleção sobre importância de mensurar a satisfação do paciente no contexto da saúde. A hospitalização pode desencadear no indivíduo sentimentos negativos, pois ao deparar-se com um problema de saúde do indivíduo vê-se impedido de desempenhar suas atividades. A expectativa do indivíduo em relação à hospitalização, ao tratamento e à qualidade do cuidado é um fator que pode repercutir na assistência que virá a receber (OLIVEIRA E GUIRARDELLO, 2006). Em se tratando de pacientes hospitalizados, alguns fatores podem interferir na sua satisfação com relação ao cuidado recebido, dentre eles: as suas expectativas quanto ao tratamento, a limitação física com relativa perda da autonomia, a relação com os trabalhadores da área da saúde, o isolamento social e familiar, a adaptação ao novo ambiente, a preocupação com o retorno ao trabalho entre outros fatores. Fonseca, Gutiérrez e Adami (2006) avaliaram a satisfação dos pacientes oncológicos com relação ao atendimento recebido durante tratamento antineoplásico ambulatorial e encontraram avaliação positiva frente ao atendimento recebido e ao atendimento global do serviço. Oliveira (2004) realizou uma revisão na literatura entre os anos de 1957 e 2001 e encontrou 40 instrumentos com o objetivo de encontrar instrumentos específicos de avaliação da satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem. Encontrou 40 instrumentos. A partir dessas considerações, compreende-se que mensurar a satisfação do paciente é fundamental para que se enfermeiro possa gerenciar a assistência de modo a prover um cuidado individualizado e com qualidade.
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA: REFERENCIAIS METODOLÓGICOS DE PESQUISA NA ENFERMAGEM
MICHELE ANTUNES;MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA CROSSETTI; FRANCIELE ANZILIERO
INTRODUÇÃO: A revisão integrativa (RI) da literatura de pesquisa na enfermagem é uma metodologia que contribui para a construção do corpo de conhecimento. OBJETIVOS: identificar os autores que propõem a metodologia de RI na enfermagem e caracterizar os procedimentos metodológicos da RI da literatura de pesquisa na enfermagem. MATERIAIS E MÉTODOS: revisão integrativa segundo Cooper (1989): 1ªFormulação do problema: quem são os autores e como se caracterizam as etapas metodológicas de RI da literatura na pesquisa em enfermagem? 2ªColeta de dados: bases de dados: LILACS, Web of Science, MEDLINE, CINAHL; descritores: integrative review e nursing; critérios de inclusão: artigos em português, inglês ou espanhol; acesso livre online; período: 1986-2008. 3ªAvaliação dos dados: instrumento de registro de dados; 4ªAnálise e interpretação dos dados: quadro sinóptico com as variáveis: número do artigo, autor do referencial metodológico, número e características das etapas metodológicas propostas pelo autor. 5ªApresentação dos resultados: por meio de gráficos. RESULTADOS: dos 194 estudos, 41 atenderam aos critérios de inclusão. Identificou-se 16 propostas de metodologia de RI de literatura. Destes, 5 referenciais metodológicos tem sido mais aplicados na enfermagem. Identificou-se que o número de etapas, de RI da literatura, variavam de 4 a 10 com características comuns. Desvelou-se 5 etapas metodológicas da RI que são descritas por vários destes, embora alguns avancem em procedimentos metodológicos incluindo formas de apresentação das informações e conclusões. CONCLUSÕES: a metodologia de RI de literatura é utilizada pelos enfermeiros em diferentes contextos da prática profissional fato que demonstra sua importância para a construção do conhecimento na disciplina.
A VISÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A AUDITORIA DE ENFERMAGEM
MARTA INES ALMEIDA DE JESUS;KARINA REBEKA SOUSA;SIMONE NUNES
Introdução: Com a globalização e o avanço acelerado da tecnologia os gestores estão em busca de uma assistência com qualidade, e o grande desafio da enfermagem é prestar um atendimento com qualidade visando diminuir custos e alcançar os objetivos propostos a auditoria de enfermagem na
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 197
qualidade da assistência que tão importante quanto o cuidado, temos que ter o entendimento em prestar um atendimento com qualidade, visando o seu bem estar do paciente. Objetivo: Compreender a visão dos enfermeiros a importância da auditoria de enfermagem. Metodologia: Pesquisa do tipo descritiva exploratória com abordagem qualiquantitativa. O estudo foi realizado em um Hospital de pequeno porte a coleta dos dados foi realizado com oito enfermeiros por meio de uma entrevista semi-estruturada Resultados e discussões: A auditoria em enfermagem è uma ferramenta nas mãos do gestor avaliar qualidade custos da instituição de saúde Quando questionadas sobre o que é auditoria hospitalar A auditoria hospitalar é o controle dos gastos de cada cliente l. Para o fazer auditoria é necessário um conjuntos de atitudes , planejamento acima de tudo controle
.
Responderam que é de grande importância o papel do enfermeiro auditor junto as instituições hospitalares. O auditor deve ter conhecimento pois o parecer influencia todo o planejamento da empresa.Sobre liderança informaram que É saber conduzir um grupo, motivando e influenciando Liderança é saber organizar uma equipe para melhor andamento da unidade. Liderança é o envolvimento de toda a equipe no ambiente de atuação com um objetivo em comum fortalecer a organização Conclusão Neste estudo foi possível observar que a auditoria nas instituições hospitalares esta em fase inicial, mas conforme os dados levantados podemos salientar que os enfermeiros já tem a conscientização do valor da auditoria.
ORIENTANDO O CUIDADOR LEIGO QUANTO AO CUIDADO COM ÚLCERAS POR PRESSÃO
ALESSANDRA ANALU MOREIRA DA SILVA
Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a orientação oferecida pelo profissional da saúde, quanto aos cuidados com úlceras por pressão a cuidadores leigos. Foram localizados periódicos através de busca eletrônica nas bases de dados Lilacs, SciElo, Medline e Science Direct, no período entre 2003 e 2008, com os seguintes descritores: pressure ulcer and nursing care, pressure ulcer and public health, pressure ulcer and nursing care and public health, pressure ulcer and care and family. Foram selecionados cinco artigos que tratavam da temática. Resultaram dois temas: inserção do cuidador no cuidado a úlcera por pressão e recomendações para a inclusão do cuidador, sendo este dividido em três sub-temas: orientações verbais, orientações verbais com auxílio de manual e orientações por meio de manuais. Os achados indicaram que a orientação dos cuidadores leigos, quanto aos cuidados a indivíduos com risco de desenvolver úlcera por pressão ou portadores da lesão, têm se mostrado uma forma efetiva de proporcionar continuidade à prevenção e ao tratamento no domicílio. Entretanto, há pouca produção de estudos direcionados a cuidadores leigos quanto à prevenção/tratamento dessas lesões, principalmente no âmbito nacional. Propõe-se a realização de mais estudos que tenham como foco a orientação dos cuidadores/familiares no que concerne à prevenção e ao tratamento das úlceras por pressão. A educação em saúde é um fator importante para maior compreensão por parte dos pacientes e cuidadores leigos quanto ao problema enfrentado pelos profissionais da saúde e pode ser uma alternativa para redução de úlceras por pressão.
O EXERCÍCIO GERENCIAL DO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS;DALVA CEZAR DA SILVA; ADELINA GIACOMELLI PROCHNOW; SOELI TERESINHA GUERRA; SUELI GÓI BARRIOS
INTRODUÇÃO: A Assistência Domiciliar (AD) é uma modalidade terapêutica em expansão no Brasil, que tem se configurado como um campo importante de atuação do enfermeiro. OBJETIVO: Analisar o exercício gerencial do enfermeiro no serviço de assistência domiciliar de um hospital universitário. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, desenvolvida junto a um serviço de internação domiciliar de um hospital universitário do interior do Rio Grande do Sul, RS, Brasil. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com familiares cuidadores e observação participante do trabalho dos enfermeiros. A análise dos dados seguiu as diretrizes da análise temática. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição de referência e seguiu os preceitos que regulamentam as pesquisas com seres humanos. RESULTADOS: O exercício gerencial do enfermeiro inicia-se no âmbito hospitalar, com o preparo da transferência do paciente para sua residência. No domicílio, o acompanhamento do paciente é realizado por meio de visitas domiciliares periódicas em que o enfermeiro busca conhecer as necessidades tanto do usuário como
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 198
do seu cuidador, captando elementos para gerenciar a produção do cuidado e orientar a forma pela qual ele pode ser realizado. Para isso, a comunicação desponta como um importante instrumento a partir do qual o enfermeiro estabelece uma relação de empatia com o usuário e os familiares cuidadores. CONCLUSÃO: O enfermeiro destaca-se pela sua atuação na organização do ambiente terapêutico no domicílio e construção da autonomia dos familiares cuidadores. A AD com supervisão de enfermagem pode proporcionar maior bem-estar ao usuário que se recupera em um ambiente no qual se sente mais seguro, recebendo o cuidado da sua família.
AVALIAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO VALE DO TAQUARI - RS
GABRIELA LASTE;ALÍCIA DEITOS; ANA CLÁUDIA DE SOUZA; LUCIANA CARVALHO FERNANDES; MARIA BEATRIZ CARDOSO FERREIRA; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
INTRODUÇÃO: O Uso Racional do Medicamento (URM) é o processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis, a dispensação em condições adequadas, o consumo nas doses e pelo período de tempo indicados e nos intervalos definidos de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do URM por meio de indicadores de prescrição. MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo com delineamento transversal, avaliou prescrições médicas de pacientes atendidos em Unidade Básica de Saúde com base nos indicadores de prescrição. Foram incluídas as prescrições obtidas diretamente dos pacientes durante o período de dois anos (2006-2008). A amostra constitui-se a partir dos pacientes presentes para o atendimento no dia sorteado para a coleta de dados. Sendo a escolha dos pacientes a serem entrevistados aleatória. A ficha de coleta de dados foi preenchida após a consulta médica, a partir dos dados da receita médica. RESULTADOS: Obteve-se 295 prescrições de pacientes, destes 72,8% eram do sexo feminino, 65,6% dos entrevistados não completaram o ensino fundamental. A média de medicamentos por receita foi de 2,46. Os resultados mostram que 99,9% das prescrições apresentaram nome do paciente, 13,2% não contavam o nome do médico prescritor, 14, 9% estavam sem registro do profissional e 6,4% sem assinatura deste, ainda 95,9% não apresentavam o endereço do médico. Em relação à prescrição medicamentosa 10,2% não constavam instruções escritas e 99% apresentaram medidas não-medicamentosas. Quanto a orientações recebidas pelos profissionais, 93,5% dos entrevistados relataram tê-las recebido, sendo que 71,2% referiram ser do médico. CONCLUSÃO: Esses resultados indicam a necessidade de programas que orientem o profissional para o adequado preenchimento das prescrições, e ao mesmo tempo informem os pacientes quanto ao uso de medicamentos, e desta forma, colaborando com melhor qualidade de vida para os usuários.
DIAGNÓSTICO COMUNUNITÁRIO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, TRAÇADO URBANÍSTICO E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO CENTRO
CAROLINA BALTAR DAY;KELLY POPPE; GUSTAVO OLIVEIRA; IRMGARD NEUMANN; RENATA ALBA; BRUNA CARDOSO; FRANCIELE ANZILIERO
Introdução: As gerências distritais surgem no contexto de municipalização da saúde, sendo visto como um processo social de mudanças das práticas sanitárias do SUS, o que implica em considerá-lo nas suas dimensões políticas, ideológicas e técnicas. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico, o traçado urbanístico e o saneamento básico do Distrito Sanitário Centro. Metodologia: Estudo descritivo com dados quantitativos obtidos nos sites da Secretaria Municipal de Saúde, do Observa POA e do IBGE. Resultados: A população do distrito Centro é 266.896 habitantes, representando 19,62% da população total de Porto Alegre, sendo 53,39% do sexo feminino. Menores de um ano representam 0,83%, 13,52%,, são crianças e pré-adolescentes com até 14 anos, 7,72% são adolescentes de 15 à 19 anos, 60,19% são adultos de 20 a 59 anos e 18,6% são idosos com 60 anos ou mais. O distrito possuí 110.531 domicílios, destes 109.921 (99,7%) são habitações particulares permanentes, sendo 94.636 (86%) apartamentos, 12.957 (11,7%) casas, 321(0,3%) cômodos e 2.007 (1,9%) domicílios coletivos. Existe abastecimento com água potável em 99,77% dos domicílios. O destino adequado do lixo é feito em 99,1% das moradias. O esgoto sanitário adequado é observado em 99,65% dos domicílios. Conclusão: O distrito sanitário centro é muito urbanizado, com traçado urbanístico bem definido, com características sanitárias positivas. O perfil epidemiológico populacional é bem distribuído entre as faixas-etárias. Desta forma é possível conhecer o tipo de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 199
população que será atendida no serviço de saúde dessa região, de forma a orientá-los de acordo com suas necessidades, implementado ações positivas de possível realização do meio em que o individuo esta inserido.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM EM UMA UBS
CAROLINA BALTAR DAY;KELLY POPPE, GUSTAVO OLIVEIRA; RENATA ALBA; FRANCIELE ANZILIERO; BRUNA CARDOSO; IRMGARD NEUMANN
Introdução: Na Unidade Básica de Saúde (UBS) o enfermeiro atua de forma a assistir a população tratando doenças ou prvenindo-as. Desta forma, a importância da atuação do acadêmico neste contexto é centrada a fim de desenvolver competências fundamentais para sua formação como profissional. Metodologia: Estudo descritivo observacional, realizado no Centro de Saúde Modelo, durante o estágio curricular da disciplina de Fundamento de Enfermagem Comunitária no período de agosto a novembro de 2008. Objetivo: Descrever as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de enfermagem na UBS. Resultados: Foram realizas imunizações, dentre elas a Dupla Viral, Febre Amarela, Hepatite B e Raiva, sendo desenvolvida uma atividade de levantamento dos não vacinados contra a rubéola no centro de Porto Alegre, de forma a dialogar e convencer esta população da importância da vacina. A verificação de Pressão Arterial e de Hemoglicoteste foi desenvolvia na clínica médica, atendendo principalmente idosos com prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como Hipertensão e Diabete, sendo diagnosticadas com auxilio destes procedimentos. A consulta de enfermagem foi presenciada no setor e ginecologia e tisiologia, onde visualizamos o processo de enfermagem, principalmente as orientações para promover saúde. Também foram realizadas visitas domiciliares junto ao Programa de Saúde da Família, onde realizamos o diagnóstico comunitário e compreendemos as influências do meio na saúde do individuo, de forma a criar pensamento crítico a fim de intervir na saúde da população. Conclusão: O acadêmico na UBS desenvolveu atividades próprias do enfermeiro, compreendendo a importância de sua atuação na rede básica e aprimorando competências necessárias para sua qualificação profissional.
REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A DENGUE: CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA E DOS PROGRAMAS DE CONTROLE
LUANA SILVEIRA;JOÃO AUGUSTO BRANCHER FUCK ; IRACEMA LOURDES GUSATTI AZZOLINI
INTRODUÇÃO: A dengue é considerada hoje um problema de saúde pública. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas estão expostas ao risco de se adquirir a doença. Risco que se torna maior em países de clima tropical, como o Brasil, onde as características da temperatura e da chuva favorecem a proliferação do mosquito. O único elo passível de controle na cadeia de transmissão é o mosquito Aedes aegypti. O município de Chapecó/SC apresenta alta infestação do vetor, para isto realizou-se uma revisão sistemática para identificar as ações de controle desenvolvidas em outros municípios brasileiros. METODOLOGIA: A busca foi na base de dados Scielo, com os descritores dengue, controle de vetores e vigilância epidemiológica. Foram incluídos somente textos completos, em língua portuguesa e que foram publicados no período de 2000 a 2009, pertinentes a ações de controle ao vetor ou que estivessem relacionados a perfil epidemiológico da doença. A busca e leitura dos artigos foi realizada durante os dias 12 a 22 de maio de 2009. RESULTADOS: Percebeu-se que os programas estão atuantes, mas a população não adere às práticas de prevenção, porém quando as informações são feitas com o auxílio da mesma apresentam-se melhores resultados. Além disso, percebe-se que o sistema de saúde preconiza as informações no primeiro semestre do ano, onde o clima é favorável para criação de mosquitos e onde ocorrem mais casos de dengue. CONCLUSÃO: O controle de vetores é a principal forma de prevenção da dengue. No entanto estas se mostram como falhas dos sistemas de saúde. As informações deveriam dar lugar à educação em saúde, para que a população veja a prevenção como um hábito saudável e não como obrigação, além de serem divulgadas em todos os períodos do ano.
INQUÉRITO DOMICILIAR: UM LEVANTAMENTO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA REGIÃO DO OESTE CATARINENSE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 200
LUANA SILVEIRA;JOÃO AUGUSTO BRANCHER FUCK; OLGA MARIA PANHOCA DA SILVA; ALINE BEDIN ZANATTA; LUCIANE BERGAMIN; JANE KELLY OLIVEIRA SILVA; FERNANDO CORDOVA ALVES
INTRODUÇÃO: Morrem, anualmente, 40.000 pessoas por acidentes de trânsito no Brasil, desconsiderando, neste caso, as falhas no preenchimento correto dos dados. Santa Catarina aparece em segundo lugar, no ano de 2008, ficando atrás de Minas Gerais. O objetivo do ensaio foi identificar a incidência de acidentes de trânsito que acometem a população da área rural do município. MÉTODOS: O trabalho é parte de uma pesquisa realizada com a população do município de Palmitos, SC no período de julho a agosto de 2008, intitulada “O estudo das populações rurais e pequenas comunidades do Oeste Catarinense para o comportamento de risco e a morbidade referida para o câncer e demais doenças e agravos não transmissíveis. É um estudo transversal de base populacional rural utilizando o inquérito domiciliar. A unidade de observação foi domicílio. O modelo de amostragem adotado foi auto-ponderada com dois estágios de seleção, sendo as unidades primárias os setores censitários e as unidades secundárias, os domicílios. RESULTADOS: Consolidou-se 77 domicílios entrevistados, 32,5% deles afirmaram que em seu domicilio residia alguma pessoa que já havia sofrido acidentes de trânsito. Destes 32,5% morreram 2,6 %. Essas mortes relatadas ocorreram entre as idades de 25 a 45 anos e todas aconteceram por colisão de veículo. CONCLUSÃO: Verificou-se que os inquéritos domiciliares são instrumentos valiosos para analisar as condições de vida. Os acidentes de trânsito podem estar relacionados a vários problemas como falta de conservações das estradas, uso de bebidas alcoólicas, falta de fiscalização/punição e excesso de velocidade (MINAYO; SOUZA, 2003). No Oeste Catarinense, eles aparecem como um grande problema de saúde, apontando uma necessidade de concentração de políticas públicas em busca de melhorias.
PARTICIPAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
LUIZIANE PAULO SILVEIRA;CARMEN LÚCIA MOTTIN DURO
A maneira de acolhida dos usuários nos serviços de saúde configura-se como um desafio no Sistema Único de Saúde. Desde a sua implantação, o SUS vivencia uma melhora no acesso do usuário com a ampliação da oferta de serviços. O acolhimento apresenta-se como uma proposta de melhorar as relações no cotidiano do trabalho em saúde e reorganizar o processo de trabalho ajudando na identificação das necessidades de saúde. Buscou-se descrever e analisar a participação do enfermeiro no acolhimento nos serviços de atenção primária à saúde, através de um estudo exploratório descritivo, do tipo pesquisa bibliográfica, fundamentada no autor Gil (2007). Utilizaram-se os descritores: acolhimento and atenção primária à saúde, acolhimento and acesso aos serviços de saúde e acolhimento and enfermagem. Foram descritas as atividades mais realizadas pelos enfermeiros em atenção primária à saúde, relacionadas com a proposta do acolhimento. O enfermeiro é o profissional que mais permanece no serviço de saúde e incorpora nas suas ações as propostas do acolhimento, seja atuando diretamente na assistência ao usuário ou mesmo na supervisão de sua equipe. Apesar dos esforços em acolher o usuário, esta proposta ainda não está completamente organizada nos serviços de saúde, pois depende da inserção dos demais profissionais e do apoio dos órgãos gestores da saúde na reorganização do processo de trabalho em saúde. O enfermeiro participava das práticas do acolhimento, através da triagem e recepção dos usuários, atendendo toda a demanda espontânea. Atuava nas atividades clínicas somente quando a agenda médica não oferecia mais vagas. Seu potencial não estava sendo totalmente utilizado, dificultando a entrada da população nos serviços de saúde e prejudicando a criação de vínculo com a equipe de saúde.
IMPLANTANDO O ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS MAIAS
ROBERTO OPITZ GOMES;DOUGLAS ROBERTO VEIT, GELSON ANTÔNIO IOB E ROSSANA RAD FERNANDES
Introdução: O acolhimento é uma nova tecnologia para mudar o processo de trabalho em uma equipe. O acolhimento deve ser entendido, ao mesmo tempo, como diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 201
de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com responsabilização e resolutividade. A US Parque dos Maias (USPM) após extenuantes debates resolveu implantar o acolhimento para humanizar a forma do acesso aos serviços prestados a população. Objetivos: Conhecer o processo de implantação do acolhimento US PM. Material e Métodos: O presente estudo foi exploratório, descritivo e observacional das reuniões de equipe e debates da equipe sobre o tema. Resultados e conclusões: A equipe da USPM, aproveitando o fechamento da unidade para reforma, começou a discutir em reuniões de equipe com 6 horas de duração, como iria implementar o acolhimento na US. Primeiramente se chegou ao consenso através de votação se a equipe iria querer o acolhimento. Segundo teve varias discussões para tentar chegar ao tipo de acolhimento que será utilizado na USPM. Terceiro foi convidada uma palestrante com largo conhecimento para orientar e tirar dúvidas. Quarto foram realizas novas reuniões, foram debatidas formas de acolhimento e se médicos e dentistas participariam. Por fim, o acolhimento do PM funciona da seguinte forma: Nenhum usuário sai da unidade sem ter sido escutado e avaliado segundo suas necessidades. Os residentes da unidade ficam 2 turnos por semana acolhendo e os demais profissionais contratados, menos os administrativos e agentes comunitários, ficam 1 turno no acolhimento. Nosso acolhimento não é um produto final, mas um processo em constantes mudanças, sempre ouvindo a comunidade para mudar.
RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE DO GHC
ROBERTO OPITZ GOMES;ALEXANDRE HUMBERTO BOROWICZ, CAROLINE HERMANN NODARI, DOUGLAS ROBERTO VEIT, GELSON ANTÔNIO IOB, MICHELE REGINA ETGES, ROSSANA RAD FERNANDES E VIVIANE ELISABETH SACHS
Introdução: O programa de residência integrada em saúde (RIS) do GHC, começou em 2004. É uma proposta para integrar diversas profissões da área da saúde, sendo uma pós graduação lato senso. Hoje o programa possui 4 ênfases, saúde da família e comunidade, saúde mental, terapia intensiva e oncologia/hematologia. Integra 9 profissões diferentes da área da saúde, enfermagem, serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, odontologia, farmácia, terapia ocupacional e nutrição, se caracterizando multiprofissional. Objetivos: Demonstrar como funciona o programa da RIS do GHC para os diversos profissionais que atuam nele e como ele capacita os profissionais de forma diferenciada. Material e Métodos: A metodologia constitui-se de uma revisão bibliográfica e observação sistemática no campo de atuação dos residentes. Resultados e conclusões: O programa de RIS do GHC precisa ter dedicação exclusiva, 2 anos para conclusão, está apoiado no tripé chamado de: ensino-assistência-pesquisa e tem como objetivo especializar profissionais de diversas profissões, segundo os princípios do SUS. O processo seletivo atual contempla mais de 50 profissionais para as vagas do programa. Esta especialização tem como carga horária 60 horas semanais, divididas em assistência, projeto de pesquisa, aulas teóricas, casos clínicos, participação em reuniões de equipe e o currículo integrado para os residentes de saúde da família e comunidade, que é uma aula que integra a residência médica com a RIS e contempla estudos sobre a atenção primária a saúde. No final dos dois anos o residente terá feito 5760 horas de formação em serviço. Por tudo isso, esta pós-graduação do GHC é uma excelência em formação de profissionais capacitados e com um olhar diferenciado sobre o SUS
PERCEPÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE CUIDADO À SAÚDE NUMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
MICHELI REGINA ETGES;RAQUEL MICHELS DA ROSA
Os protocolos de cuidado à saúde baseados em evidências têm sido utilizados na rotina de muitos serviços de saúde no Brasil. As unidades de atenção primária à saúde do Serviço de Saúde Comunitária do GHC utilizam o Guia de Atenção à Saúde Materno-Infantil para orientar o trabalho dos profissionais de saúde durante o acompanhamento pré-natal. Este Guia prevê que a atenção pré-natal de gestantes de baixo risco seja executada por enfermeiras do serviço, por meio da consulta de enfermagem. Trata-se de um relato experiência de uma residente de enfermagem em Saúde da Família e Comunidade da Residência Integrada em Saúde em relação à utilização do protocolo de Atenção à Saúde da Gestante de Baixo Risco durante as consultas de enfermagem de pré-natal. Segundo o protocolo, a cada consulta a enfermeira deve: buscar estabelecer um bom vínculo com a gestante e sua família, saber escutar, orientar e esclarecer as dúvidas, realizar o exame físico,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 202
solicitar e avaliar os exames complementares, reconhecer e manejar precocemente intercorrências, avaliar situações de risco e necessidade de referência a outros pontos de atenção, verificar situação vacinal, estimular participação da família nas consultas, oferecer ações educativas e curativas em saúde bucal, valorizar aspectos da saúde mental durante o pré-natal e oportunizar a participação em atividades coletivas de educação em saúde, como os grupos de gestantes. O protocolo possui um estimulo a abordagem integral da gestante, apresentado ações em todos os níveis de intervenção, mas o grande desafio para os profissionais que o utilizam é oferecer uma atenção pré-natal diferenciada e personalizada para cada gestante, enfatizando a visão de que cada mulher é um ser único, complexo e com autonomia.
CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL NA SAÚDE: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE A COMISSÃO ESPECIAL DE POLITÍCAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL EM UM GRUPO HOSPITALAR
JUNARA NASCENTES FERREIRA
O Racismo Institucional (RI) - caracterizado com o “fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica” – na área da saúde é a discussão central deste estudo. Objetivos: caracterizar as ações de combate ao RI da realizadas pela Comissão Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Grupo Hospitalar Conceição; discutir conceitos importantes na compreensão do racismo; e questionar as dificuldades da CEPPIR e também as repercussões de sua implementação no Grupo Hospitalar Conceição. Metodologia: utilizamos a análise documental e analisamos atas, folder, ofícios, protocolos e outros documentos relacionados a CEPPIR. Resultados: verificamos que as ações da Comissão são preponderantemente de educação continuada aos profissionais do GHC, que o grupo esta em um momento de discussão sobre suas atribuições e de definição de papéis e que há dificuldades institucionais decorrentes dos mecanismos de ação do RI. Considerações finais: a discussão sobre a inclusão do recorte étnico-racial da saúde ainda tem muita resistência por parte das instituições. Porém é importante trabalhar o RI no âmbito da saúde, em que a CEPPIR é pioneira no estado e iniciando ações fundamentais na superação do racismo e das desigualdades raciais em nosso país.
CÂNCER DE PELE EM AGRICULTORES DA LINHA DIAMANTINA DO MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;ADRIANA REGINA BATAGLIN; ANA PAULA BARETTA; LARISSA DEMARCO; MINÉIA FABIANI; MONIQUE MENESES; ROSELENE TAVARES; TANYCLAER STEFFENON;CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN;JUCELAINE AREND BIRRER; MARLENE GOMES TERRA
No Brasil, a incidência do câncer de pele é elevada em ambos os sexos sendo considerado um problema de Saúde Pública. Por isto, é fundamental conhecer os motivos que levam a população a desenvolvê-lo. Com este propósito desenvolveu-se a pesquisa a fim de apresentar uma informação estatística sobre o câncer de pele na Linha Diamantina, Palmitos/SC, e como meta conhecer o nível de conhecimento da população quanto à doença, fornecendo orientações sobre as formas de prevenção do câncer de pele e alertar sobre os riscos da enfermidade. Para tanto, apresenta como objetivo, conhecer a incidência de câncer de pele e a exposição aos fatores de risco pelos agricultores na faixa etária de 15 a 80 anos em ambos os sexos, na referida linha municipal. Foram coletadas informações por meio de 41 questionários junto à comunidade do município sendo que 1 destes foi anulado por preenchimento incorreto. Utilizou-se um formulário fechado com 12 perguntas, preenchido pelo entrevistador durante a pesquisa. A escolha da amostra foi realizada aleatoriamente tornando-se a amostragem equivalente a 25% da população do local. Esta pesquisa demonstrou a prevalência de indivíduos descendentes da raça alemã na área estudada, sendo que esta em sua demasia é de pele, olhos e cabelos claros, o qual é tido como um dos fatores de risco para tal patogenia, devendo-se ser analisado este no objetivo de diminuir a incidência de câncer de pele. Portanto, é indiscutível a proporção de riscos para câncer de pele na população brasileira, o que sem dúvida alguma justifica a tomada de medidas eficazes que possam prevenir e incentivar o diagnóstico e tratamento precoce dos tumores de pele, objetivando a redução da morbimortalidade por esta patogenia ou pelas suas complicações.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 203
TRAÇANDO ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SC
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;ÁGDA HEMKEMAIER; ANDRÉIA FARIA DUTRA; EMANUELA DALLACORT; FRANCIELI R. MACHADO; CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN; MARLENE GOMES TERRA; JUCELAINE AREND BIRRER
Segundo Hackenhaar et al (2006), um dos problemas de saúde pública mundial é o crescente número de casos de câncer do colo uterino seguidos de óbitos. No Brasil, o câncer de colo uterino representa a segunda maior causa de morte entre as mulheres. Ressaltando a importância de exames periódicos como o mamário e o pélvico (ginecológico) anual, especialmente para mulheres com 18 anos ou mais e para aquelas que são sexualmente ativas, a despeito da idade (SMELTZER & BARE, 2005). Com esta concepção, conscientes da eficiência e eficácia adquirida pela detecção precoce de problemas ginecológicos em mulheres, realizamos um trabalho na disciplina de Saúde Comunitária VI, que objetivou traçar estratégias para trazer as mulheres para a unidade e realizar o exame citopatológico cérvico-uterino. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa a qual envolveu uma amostra de 35 mulheres as quais foram entrevistadas em visitas domiciliares. Ao analisar e interpretar os dados foi possível verificar a proximidade entre o número de mulheres que realizam o exame citopatológico cérvico-uterino e as que não realizam ou nunca fizeram. Esta constatação mostra uma educação em saúde deficitária, uma vez que as mulheres ainda não perceberam a importância da realização deste exame. Este fato pode ter ocorrido pelo desinteresse das mulheres em cuidarem de sua saúde. Percebe-se que tanto os serviços de saúde como a população alvo são responsáveis pela manutenção da saúde, porém o que a Estratégia da Saúde da Família pode apresentar é uma falha na abordagem com as mulheres. Por isso, compreende-se que o trabalho de promoção e prevenção é deficitário.
ADESÃO E DESISTÊNCIA DAS MULHERES AO EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO UTERINO
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;KELLYN VARGAS; MARCIELE ZANDONADI; MÔNICA PINHEIRO; CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN;JUCELAINE AREN BIRRER; HELENA CAROLINA NOAL; MARLENE GOMES TERRA
O exame citopatológico envolve a coleta de material celular do colo cérvico uterino cuja finalidade é detectar infecções ginecológicas especialmente as células cancerígenas. A importância da realização deste exame é evidenciada quando SMELTZER E BARE (2002) salientam que “estudos demonstram que as mulheres com incapacidades recebem menos cuidados de saúde primários e triagem de saúde preventiva que outras mulheres. Este estudo tem como objetivos identificar as mulheres que realizam ou não o exame citopatológico cérvico uterino (ECCU) residentes no município de Palmitos (SC) e pertencentes à Estratégia Saúde da Família (ESF) da micro área 31; analisar as causas ou motivos pelos quais as mulheres não estão realizando o exame citopatológico cérvico uterino. Assim, a partir das informações coletadas, realizar-se-á orientações traçando metas de prevenção, promoção e recuperação da saúde junto a população alvo. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na qual foram entrevistadas uma amostra de 35 mulheres em visitas domiciliares. Com este estudo conclui-se que a responsabilidade da não-realização do ECCU não se deve somente aos serviços de saúde locais, mas também a população alvo que não participa das atividades oferecidas. Percebe-se que diversas vezes não são os serviços de saúde que não possuem comprometimento com a sua população, mas que esta não se compromete com a sua própria saúde, pois estão sempre à mercê da própria doença, esperando que ela se desenvolva para congestionar o serviço.
ENFRENTAMENTO DAS ALUNAS DE ESCOLA PÚBLICA SOBRE O TEMA: PLANEJAMENTO FAMILIAR/MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
ANNIE JEANNINNE BISSO LACCHINI;DANIEL WOLFF; DIANE LAZZERI PAVEGLIO; JAQUELINE ROSSARI; MICHELE MICHELSON; SIMONE HELENA BORTOLANZA; SUZAN CRISTINI MILANI;CAROLINA FAJARDO V. P. BRUGGEMANN; MARLENE GOMES TERRA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 204
A percepção e a vivência da sexualidade dos jovens são complexas, pois estão relacionadas a valores, crenças e atitudes que determinam o comportamento social do indivíduo. Nessa perspectiva, a gravidez na adolescência, definida pela OMS como aquela ocorrida entre os dez e os vinte anos incompletos, tem sido alvo de inúmeros estudos e reflexões por ameaçar o bem-estar e o futuro dos adolescentes em decorrência dos riscos físicos, emocionais e sociais que acarreta. Assim, sentimos a necessidade de focalizarmos o conhecimento e uso de métodos contraceptivos nessa população. Para tanto, desenvolvemos um trabalho na disciplina de Saúde Comunitária VI, objetivando verificar o nível de conhecimento das estudantes na faixa etária de 15 e 16 anos da Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho em relação ao planejamento familiar, e identificar os métodos contraceptivos mais utilizados. Entrevistamos 33 meninas, todas do segundo ano do ensino médio dos três turnos de aula. Destas, 26 alunas não tinham conhecimento sobre planejamento familiar, porém todas as estudantes conheciam os métodos contraceptivos da camisinha e da pílula do dia seguinte. As estudantes que utilizam os métodos, 2/3 usam camisinha em todas as relações. Ao questionarmos sobre as vantagens do uso desse método, metade das estudantes não conhecia sua finalidade. Outros métodos conhecidos são: a pílula anticoncepcional, o DIU, o diafragma e a tabelinha. Percebemos que a maioria das estudantes tem interesse em relação ao assunto e procuraram um serviço especializado antes de iniciar utilização dos métodos. Ressaltando a atuação do profissional de Enfermagem no que tange as orientações para esse público, observamos ser o esclarecimento de dúvidas e apoio para pensar sobre o planejamento familiar.
MULHERES CUIDANDO DE MULHERES - OS SIGNIFICADOS PARA ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM
KATIELE HUNDERTMARCK;GABRIELA ZENATTI ELY; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; LETÍCIA PIENIZ ZIMMERMANN; LEILA REGINA WOLFF
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) preconiza uma assistência humanizada, que melhore as condições de vida e saúde das mulheres brasileiras (BRASIL, 2004). Empossadas dessa política, as práticas assistenciais de enfermagem, desempenhadas desde a academia, devem acompanhar as mulheres na sua integralidade, com vistas a manter uma atenção abrangente ao ciclo gravídico-puerperal. O estudo busca analisar como as acadêmicas de enfermagem vivenciam a assistência a essas mulheres, por meio de uma reflexão embasada em publicações científicas em periódicos especializados na área. Apresentam uma experiência de valorização do ser humano diante dos cuidados prestados às mulheres; um momento de aprendizagem teórico-prático (CASATE e CORRÊA, 2006). Sensibilizam-se com o fato de serem mulheres e, portanto, tão vulneráveis as mesmas doenças, demonstrando entendimento da situação e não manifestações de culpabilização. Porém, experimentam situações de medo e angústia, confrontando-se com a realidade observada. Faz-se necessário que as acadêmicas de enfermagem reflitam sobre a assistência prestada, sejam empáticas e busquem alternativas para não viver o sofrimento alheio, mas sim, atuarem como suporte a essas mulheres. Ainda, as profissionais mulheres trazem para o cuidado as marcas da construção da sua própria identidade de gênero (individual e coletiva). Isso suscita reflexões e discussões sobre a necessidade de profissionais mulheres serem ouvidas de modo sensível e de se criarem espaços solidários nos serviços, de modo que cuidadoras também possam ser cuidadas.
PRÉ-NATAL: UMA ABORDAGEM PELA ENFERMAGEM
KATIELE HUNDERTMARCK;GABRIELA ZENATTI ELY; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MARIANE ROSSATO; LÚCIA BEATRIZ RESSEL
A mulher gestante e sua família têm o direito assegurado de receber uma atenção pré-natal desde o início da gravidez, humanizada, acolhedora e eficaz, que garanta um puérperio saudável (BRASIL, 2005). Objetiva-se discutir as práticas do enfermeiro na assistência pré-natal, suas abordagens, métodos e a validação para um cuidado de qualidade e efetivo. Realizou-se uma pesquisa na base de dados de Enfermagem (BDENF), com os descritores pré-natal e cuidados de Enfermagem. Foram encontrados 15 referências, sendo analisados 10, por se tratarem de artigos na íntegra, conforme critérios de inclusão. Os resultados mostram que os enfermeiros são criativos na abordagem a gestantes e suas famílias. Realizam atividades com música para facilitar o processo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 205
ensino/aprendizado (RAVELLI e MOTTA, 2004); desvendam fatores de risco para a gestação; ações educativas englobando toda saúde da mulher (LACAVA e BARROS, 2004); suas práticas assistenciais/educativas são baseadas nas reais necessidades da mulher (PENNA et al, 2006). Além disso, desenvolvem a avaliação de rotina preconizada pelo Ministério da Saúde (2005). Esses métodos acolhem as gestantes, criam um ambiente favorável a promoção de saúde e prevenção de agravos. Assim, aumentam a adesão das mulheres no pré-natal e diminuem as graves estatísticas de mortalidade materna e neonatal.
FATORES DE RISCO QUE PREDISPÕEM AO CÂNCER DE MAMA
KATIELE HUNDERTMARCK;ANDRÉA MOREIRA ARRUÉ; LETÍCIA PIENIZ ZIMMERMANN; DANIELE TRINDADE VIEIRA; MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; GABRIELA ZENATTI ELY; MARIANE ROSSATO; LEILA REGINA WOLFF
O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta freqüência e, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal (BRASIL, 2006). O câncer de mama tem se tornado um sério problema de saúde pública, pois vêm aumentando tanto a incidência de casos novos como o número de óbitos em mulheres de todas as idades. Como justificativa para esta situação, sobressaem uma educação deficiente das mulheres em relação aos fatores de risco e a demora em procurar atendimento. O referido trabalho é uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, referentes aos anos 2000 a 2009. Foram analisadas oito publicações que atendiam a temática os fatores de risco que predispõem ao câncer de mama. Para Thuler (2003) os fatores de risco passíveis de prevenção primária são obesidade, tabagismo, ooferoctomia, exposição à radiação iônica e aos pesticidas/organoclorados. Inagaki et al (2008) observaram que os fatores de risco mais frequentes são a nuliparidade, o primeiro parto acima dos 30 anos, uso de álcool, menarca precoce e realização de terapia de reposição hormonal. Lima et al (2001), no estudo com a população de mulheres indígenas Teréna, afirmam que estas apresentam menores risco ao câncer de mama devido ao início da vida reprodutiva precoce e ao maior tempo gestando e amamentando. Thuler et al (2003) verificaram que não há evidência científica entre o uso de próteses de silicone mamários e o desenvolvimento da doença. Portanto torna-se essencial que os fatores de risco sejam alvo de pesquisa e investigação servindo como base de esclarecimento a toda população, para que seja atingida a efetividade na prevenção do câncer de mama.
FAMÍLIA HOMOPARENTAL - NOVAS CONCEPÇÕES PARA O CUIDADO FAMILIAR E DE ENFERMAGEM
KATIELE HUNDERTMARCK;MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA; DANIELE TRINDADE VIEIRA; GABRIELA ZENATTI ELY; MARIANE ROSSATO; MÁRCIO ROSSATO BADKE
O trabalho tem objetivo de refletir sobre duas concepções de cuidado familiar, uma embasada no artigo Parentalidades “Impensáveis: pais/mães homossexuais, travestis e transexuais de Zambrano (2006) e outro sobre o cuidado familial de Elsen (2004). A escolha desses artigos deve-se ao fato de que ambas são importantes pesquisadoras na área em apreço. O primeiro, conceitua a família homoparental como uma nova constituição familiar onde o vínculo afetivo ocorre entre pessoas do mesmo sexo, incluindo a parentalidade de travestis e transexuais, quando pelo menos um adulto que se auto-designa homossexual é ou pretende ser o pai/mãe de pelo menos uma criança. O segundo aborda família como unidade de cuidado para seus membros, a qual integra crenças, valores, significados, práticas e saberes compartilhados nas interações sociais. É nesse contexto, que o objeto maior de estudo da enfermagem “o cuidado” deve ser refletido, sobretudo, quando entendemos que o cuidado de enfermagem centrado na família é um modelo de assistência à saúde, que visa à integralidade, autonomia dos sujeitos envolvidos e a co-responsabilização dos profissionais com as pessoas. Nesse sentido, a família deve ser entendida como um sistema de saúde, cujos membros agem na prevenção de agravos, promoção e reabilitação da saúde. Nessa visão humanística, a Enfermagem deve ser o elo entre os cuidados científicos e aqueles oriundos do conhecimento cultural da família, a fim de incentivar esta ao cuidado. No que se refere as famílias homoparentais, acredita-se na reconstrução de significados e conceitos, a fim de que os profissionais de saúde em especial os enfermeiros possam estar melhor preparados para contribuir na organização de um cuidado efetivo, integral, de qualidade e desprovido de preconceitos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 206
OS SIGNIFICADOS DAS TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA OS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM
MICHELE DIAS KERBER;MIRIAM BUÓGO
INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS (2006) reconhece o uso das terapias complementares, como uma das alternativas para que o cuidado se torne humanizado e integral. Para Trovó e Silva (2002) é necessária a urgente oficialização das discussões sobre terapias complementares em todas as instituições de ensino de enfermagem, incluindo esta temática como disciplina obrigatória e indispensável a todos os graduandos de enfermagem. OBJETIVO: Identificar os significados das terapias complementares no cuidado de si e do outro para os acadêmicos de enfermagem. MATERIAL E METODO: Participaram do estudo, sete acadêmicos de enfermagem, de uma instituição de ensino privada, que haviam cursado a disciplina de Práticas Complementares em Saúde. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes, foi realizada a coleta e análise dos dados.Para tanto, utilizou-se a entrevista semi-estruturada e a análise temática . RESULTADOS: Os dados foram agrupados em três temas: o conhecimento dos acadêmicos sobre as terapias complementares; o uso das terapias complementares no cuidado de si e do outro e; a experiência das terapias complementares durante a graduação. CONCLUSÕES: O estudo evidenciou que a maioria dos acadêmicos adquiriu o conhecimento das terapias complementares durante a graduação, alguns as utilizaram no cuidado de si e dou outro e todos indicariam o seu uso. Os acadêmicos reconheceram este conhecimento como importante na educação do (a) enfermeiro (a), na implementação do cuidado integral, tornando-o sujeito ativo no processo de cura e melhorando sua qualidade de vida.
BUSCA DE DADOS NA INTERNET: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
DANIELE TRINDADE VIEIRA;CARMEM COLOMÉ BECK,GABRIELA ZENATTI ELY,KATIELE HUNDERTMARCK,MARIANE ROSSATO,MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA
Os recursos do sistema Internet estão cada vez mais popularizados na sociedade e podem auxiliar estudantes na elaboração de suas atividades acadêmicas. Dentre estes portais destacamos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde se pode acessar artigos científicos, a partir dos descritores em ciências da saúde (DECS). Este resumo é um relato de experiência no que tange às dificuldades que os acadêmicos têm diante da busca de dados nesta fonte de informação. Santos e Marques (2006) referem que o sistema internet na área da Pesquisa em Enfermagem está sendo menos utilizada do que outros tipos de informação. Assim, diante disso podemos dizer que alguns aspectos podem embasar este fato como o desconhecimento dos descritores em ciências da saúde; a ausência do texto completo no sistema (somente resumos) e algumas revistas científicas não estarem completamente disponíveis na rede. Acreditamos que para solucionar ou minimizar esses entraves, devemos buscar alternativas para potencializar o acesso dos acadêmicos aos artigos da BVS como por exemplo: conhecer os DECS; associar, aproximar os DECS das palavras-chaves selecionadas pelos acadêmicos, o que pode ampliar as possibilidades dos acessos aos artigos; participar de grupos de pesquisa, o que pode tornar essa atividade uma prática cotidiana; realizar pesquisas bibliográficas na graduação; discutir em sala de aula este conteúdo e participar de cursos específicos para desenvolver a habilidade de localizar artigos para estudos na área da saúde. Portanto, torna-se essencial que os acadêmicos busquem esse conhecimento teórico e prático, no sentido de dinamizar o acesso aos recursos tecnológicos cada vez mais avançados.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
VANESSA NOGUEIRA MARTINO;ENFª. DRª. LEDI KAUFFMANN PAPALÉO
INTRODUÇÃO – A prevalência do diabetes mellitus tipo 2 tem se elevado vertiginosamente e espera-se ainda um maior incremento, tornando-se um importante problema de saúde pública.
2 Como doença
crônica exige mudanças de rotinas diárias e adaptações relacionais e situacionais, o que a torna uma variável que influenciará na qualidade de vida das pessoas que a padecem.
1 OBJETIVO – Analisar a
qualidade de vida relacionada à saúde das pessoas com diabetes mellitus tipo 2. MATERIAL E MÉTODO – Estudo descritivo de análise quantitativa. A coleta de dados ocorreu com pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 que recebem atendimento da equipe interdisciplinar do Projeto
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 207
Ambulatorial de Atenção à Saúde – PAAS – UNISINOS, em São Leopoldo, no período de dezembro de 2008 e março a abril de 2009. Para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde utilizou-se o instrumento específico ADDQoL – Audit of Diabetes Dependent Quality of Life. RESULTADOS - A população estudada ficou constituída por 42 pessoas. O valor do impacto em diabetes ficou entre -8,2 e -0,05, com uma media de -3,67 e desvio padrão de 2,2. Os entrevistados consideraram sua qualidade de vida atual de forma positiva, entre boa e excelente (62%), e quando questionado da qualidade de vida se não tivesse diabetes a classificaram entre um pouco melhor e muitíssimo melhor (88,1%). Verificou-se um impacto negativo da doença em todos os domínios da vida. O item relativo à “liberdade para comer” foi o que teve impacto mais negativo na qualidade de vida. CONCLUSÃO – Apesar de que os resultados na população estudada não foram estatisticamente significativos com relação aos aspectos do ADDQoL
3, clinicamente lhe dá a observação do impacto da doença, nesse
caso negativo nos diabéticos.
A IMPORTÂNCIA DO ARBORIZAR
LUCIELE PEREIRA DA SILVA;ANDREA REGINA NAGORNY; DIEGO ROBERTO RODRIGUES WEIMANN; VERA BEATRIZ PINTO ZIMMERMANN WEBER
Este trabalho aborda um projeto de arborização urbana, aplicado no Centro Assistencial Sagrada Família na cidade de Santa Rosa, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de interagir os acadêmicos em Bacharelado em Enfermagem – SETREM, com alunos da instituição em questão, conscientizando-os e desde já orientando e incentivando ações práticas na conservação do meio ambiente em que vivem. O presente estudo tem como objetivo análise bibliográfica e estabelecer ações praticas. Aborda também a importância econômica e sócio-ambiental no Brasil, dando ênfase a órgãos responsáveis pela deliberação de políticas e normas para gestão ambiental do Brasil. O trabalho visa mostrar a importância das florestas naturais e a íntima relação que sua manutenção e preservação têm no cotidiano da população. Concluiu-se que as preocupações ambientais já foram amplamente discutidas em vários eventos nacionais e mundiais, porém nos últimos quinze anos as empresas começaram a colocar em prática ações sociais e a sociedade teve um papel fundamental nesse processo, pois passaram a entender a importância de se preservar o meio ambiente a começar por eles, e a cobrar isso das empresas.
MUTILAÇÃO GENITAL FEMINIA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
GABRIELE JONGH PINHEIRO BRAGATTO;NATÁLIA PEIXOTO DOS SANTOS; SIMONE ALGERI
Introdução: A Mutilação Genital Feminia (MGF) é uma prática exercida em muitos países da África e da Ásia, esta prática não é aceita na cultura ocidental. É estimado que existam, 130 milhões de mulheres que tiveram seus genitais mutilados e, que 2 milhões de meninas estão em risco para sofrer a MGF (WHO, 1999). Objetivo: Por ser um assunto pouco abordado em nossa realidade, levar essa prática ao conhecimento do público. Material e métodos: revisão bibliográfica através de artigos, livros e relatos de experiência. Discussão: O procedimento de MGF consiste em cortar a pele que recobre o clitóris e/ou o órgão com algum instrumento cortante como lâminas, sem assepsia nem anestesia. Existem quatro tipos de MGF: tipo 1, consiste na retirada da pele mais superficial do clitóris; tipo 2, consiste na retirada de parte do clitóris; tipo 3, consiste na retirada total do clitóris; tipo 4, consiste na retira-se totalmente o clitóris, os pequenos e grandes lábios e sutura-se a cavidade vaginal, deixando apenas um pequeno orifício, com a finalidade da saída da menstruação, este também recebe o nome de infibulação (WHO, 1999). A MGF pode causar diversas complicações, como, hemorragias em todos os níveis, podendo até causas morte, ferimentos em órgãos próximos, como o ânus, infecções, devido a falta de higiene. Ainda há poderão ter intercorrências permanentes, como infecções vaginais repetidas ,fístulas e problemas sexuais, pois a mulher não sente desejo nem prazer, e ainda poderá sentir dor. Conclusão: Enquanto profissionais da saúde acreditamos que devemos defender os direitos humanos. Apesar de respeitarmos as culturas, frente a essa situação devemos inserir novas práticas e conceitos acerca da saúde da mulher, acreditando que é uma transformação lenta e gradual.
GRUPO RENASCER: UMA OPORTUNIDADE DE BEM VIVER DEPOIS DO CÂNCER DE MAMA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 208
MARIANE ROSSATO;CÍNTIA RAQUEL HELTT DE CARVALHO, ROSELAINE DOS SANTOS FÉLIX, ANAÍSE DALMOLIN, ANA LAURA BORGES, IZABEL CRISTINA HOFFMANN, MÁRCIA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA
O câncer de mama é uma neoplasia maligna de grande importância para a mulher, pois produz impacto por ameaçar um órgão intimamente associado com auto- estima, imagem corporal, sexualidade, feminilidade e maternidade. Em 1991surge o Grupo Renascer, por iniciativa de profissionais da área da saúde, onde se reuniram mulheres com câncer de mama atendidas no Hospital Universitário de Santa Maria, com objetivo de troca de experiências, esclarecimento da doença, suporte psicológico, reabilitação e readaptação. Com isso, objetiva-se relatar as vivências obtidas durante as participações no Grupo. Os encontros acontecem quinzenalmente, às quartas-feiras, onde as há troca de experiências e discussões de temas relevantes. O grupo é composto por mulheres que apresentam ou apresentaram o câncer, estão em tratamento ou já foram itervidas, sendo que essa heterogeneidade favorece a troca de experiências e ajuda mútua. Em todos os encontros há relatos sobre suas vidas, família, doença, enfrentamento, vitórias e decepções. O grupo conta com a participação de profissionais das áreas da saúde, das ciências humanas e sociais, assim têm-se enfermeiros, médicos, psicóloga, assistente social, bem como acadêmicos de enfermagem e psicologia. Uma característica marcante do grupo é o otimismo das mulheres que mesmo com tantas adversidades conseguem inundar de boas vibrações todos os que participam das reuniões. Os encontros também acontecem em datas festivas, em lugares alternativos, denotando, assim, a sólida união do grupo que sobrevive ao tempo. Em resumo, pode-se dizer que esta iniciativa ajuda a melhorar a vida dessas mulheres acometidas pelo câncer de mama, oferecendo-lhes suporte para enfrentar com dignidade esta patologia que prejudica, não só fisicamente, mas também psicologicamente.
OS SIGNIFICADOS DAS TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA OS DOCENTES DE UM CURSO DE ENFERMAGEM
MIRIAM BUÓGO;SANDRA FÁTIMA NOVAKOSKI;MIRIAM BUÓGO
INTRODUÇÃO: A prática das terapias complementares é uma das possibilidades de humanizar as ações de cuidado e o ensino da graduação em enfermagem, um dos caminhos para o conhecimento dessas terapias. OBJETIVO: conhecer os significados das terapias complementares para os docentes de um curso de enfermagem. MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Os sujeitos da pesquisa foram oito docentes de um curso de enfermagem de uma instituição privada. A coleta de dados ocorreu, após a aprovação do projeto pelo comitê de ética da instituição de ensino e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes, através da entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados através da técnica de análise temática. RESULTADOS:. Da analise emergiram quatro temas: o conhecimento dos docentes; o uso das terapias complementares no cuidado; integralidade e as terapias complementares no cuidado; e o ensino das terapias complementares CONCLUSÕES: Para a maioria dos docentes o conhecimento sobre TC é laico, embora acreditem e façam uso de mais de uma prática complementar. O estudo evidenciou a importância das terapias complementares no ensino e no cuidado, a necessidade de transversalizar o conhecimento, proporcionado pela disciplina de Práticas Complementares em Saúde, contribuindo assim para a humanização das ações de enfermagem, e a consolidação da integralidade como princípio do Sistema Único de Saúde.
PERSPECTIVA DE LIDERANÇA PARTICIPATIVA EM ENFERMAGEM
DANIELA DOS SANTOS MARONA;DIOVANE GHIGNATTI DA COSTA; CLARICE MARIA DALL AGNOL
Apesar do avanço e proliferação de estudos sobre liderança, o mundo do trabalho ainda sofre influência de vertentes que se afiliam a concepções advindas de abordagens clássicas de administração, sob a égide de que algumas pessoas nascem para liderar e outras para serem lideradas. A visão demarcada por essa ideologia funda-se na filosofia aristotélica, supondo que algumas pessoas teriam certas características ou traços de personalidade que as convertem em melhores líderes do que outras. O diferencial de estudos subseqüentes, principalmente aqueles que
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 209
derivam da abordagem contingencial, consistiu em argumentar que algumas características ou qualificações pessoais contribuem e são quesitos para o exercício da liderança, com a ressalva de serem passíveis de aprendizagem e de se tornarem tão mais eficazes quanto mais forem apropriadas às situações e contingências. Apesar dessas significativas contribuições, ficou pendente uma importante limitação, isto é, o fato de circunscrever o foco de atenção na relação dual líder versus liderado. Mais contemporaneamente, vem se deparando com a necessidade de ultrapassar esta apologia metanarrativa, tendo em vista novas conformações para articular o trabalho coletivo. Em vez do líder, fala-se em equipes líderes, em processo de liderança mediado pela interação de todos envolvidos em uma situação. Assim, postula-se para a ambiência e prática de enfermagem os pressupostos das vertentes participativas, nominadas na literatura como liderança transformacional, interacional, congruente ou, ainda, compartilhada.
CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM PORTO ALEGRE
CLAUDIA MARIA PEDEZERT STEIGER;SILVANA ZARTH DIAS; KARLA LINDORFER LIVI; DÉBORA HEXSEL GONÇALVES; BRUNA ZUCHETO TADIELO
A violência é um problema de saúde pública que representa um forte impacto na morbidade e mortalidade da população (BRASIL, 2001). Crianças e adolescentes portadores de deficiência constituem um grupo altamente vulnerável a violência (ASSIS, 2004). Trata-se de um estudo epidemiológico transversal que visa caracterizar os casos notificados de violência contra crianças e adolescentes portadores de deficiência em Porto Alegre no período de 2006 a junho de 2008. Utilizou-se o banco de dados do Sistema de Informação sobre Violência da Secretaria Municipal da Saúde, totalizando 66 casos. As principais vítimas foram: deficientes mentais (62,1%), físicos (13,6%), visuais (6,1%), auditivos (6,1%), portadores de paralisia cerebral (6,1%) e outras deficiências (10,6%). Predominou a violência sexual (57,5%), seguida de negligência (33,3%), violência física (31,8%) e psicológica (21,2%). A faixa etária mais atingida foi a dos adolescentes (59%). Os eventos ocorreram principalmente em meio intrafamiliar (59,1%). Os maiores agressores foram amigos/conhecidos (28,3%), seguidos das mães (25,4%) e pais (23,9%). Os pais mostraram-se os principais autores de violência sexual e as mães de negligência. Observou-se que 22,7% dos agressores eram usuários de álcool/drogas. Percebe-se a importância de estudar este fenômeno. Incentiva-se a inclusão escolar e o estímulo ao vínculo pais-filhos como método de prevenção de eventos violentos. Ressalta-se o a ação do enfermeiro no apoio e atenção integral ao paciente e família através da criação de grupos de pais e visitas domiciliares. A notificação de situações de violência e o encaminhamento á rede de proteção deve estar dentre as ações de saúde. São importantes as ações interdisciplinares e intersetoriais, no sentido de proteger e promover saúde.
O PAPEL DA ENFERMAGEM NAS MEDIDAS PREVENTIVASDO CÂNCER DE MAMA NA MULHER
MARISE MÁRCIA THESE BRAHM;VANDERLEI CARRARO
O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, porém as chances de cura são elevadas quando diagnosticado precocemente. Estima-se que ocorrerão 84 milhões de mortes por câncer se ações de combate não forem feitas (OMS, 2006). O câncer de mama é considerado de bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente. O objetivo deste trabalho é analisar o impacto das ações de detecção precoce e controle do câncer de mama. Trata-se de um estudo quantitativo. Utilizou-se instrumento com questões fechadas analisadas com base estatística descritiva com freqüência absoluta e relativa, aplicado a mulheres com 50 anos ou mais, no período de junho a agosto de 2007, residentes no município de Campo Bom, e que procuraram atendimento da enfermeira na Unidade Básica de Saúde Imigrante. Foi encaminhado à instituição termo de Consentimento Institucional, garantindo a autorização para desenvolver o estudo. Participaram do estudo 70 mulheres. Os dados apontam que as mulheres possuem conhecimento (97%) em relação ao câncer de mama, obtido principalmente através da televisão, a maioria realiza o auto-exame de Mamas (71, 4%), porém apenas (11,4%) o fazem na periodicidade preconizada e o médico/ginecologista se mostrou o meio mais confiante de aprendizado deste. Cerca de 40% das mulheres nunca realizaram mamografia e 32% estão a mais de dois anos sem fazê-la. O exame clínico de mamas é realizado por 50% dos profissionais no atendimento destas pacientes, há baixo conhecimento sobre fatores de risco e pouca procura ao Serviço de Saúde quanto ao assunto câncer
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 210
de mama. Há necessidade de melhorias e um maior compromisso dos profissionais em seguir as orientações do Ministério a Saúde, fornecendo informações mais completas e mobilizando as mulheres a respeito do câncer de mama, com o objetivo de se obter uma redução de mortes a partir do diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz, com maiores chances de cura ou sobrevida.
APLICAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) AO PACIENTE SUBMETIDO À CISTOENTEROPLASTIA POR CARCINOMA DE BEXIGA
NAIR CRISTINA FORTUNA AGUILERA;PATRÍCIA CRISTINA CARDOSO, MARIA CRISTINA LORE SCHILLING, MARISA REGINATTO VIEIRA
Introdução: Nos EUA, câncer de bexiga é o 4º tumor de maior incidência em homens e o 9º, em mulheres, além de ser a 9ª causa de mortalidade por câncer em homens. Tem como principais sintomas: Hematúria, Disúria, Polaciúria e Urgência. Objetivos: Demonstrar a aplicação da SAE , apresentando o exame físico de um paciente submetido a cistoenteroplastia e relacionando com os diagnósticos de enfermagem preconizados pela NANDA e com as intervenções de enfermagem da NIC. Material e Metódos: Trata-se de um estudo de caso realizado na disciplina de Gerenciamento em Enfermagem II, durante a prática disciplinar. O referencial teórico e a prática desenvolvida durante a internação hospitalar do paciente possibilitaram a reflexão crítica sobre a aplicação da SAE indicadas a ele. Resultados e Conclusões: Os principais achados no exame físico foram: Abdômen globoso, ferida operatória com bordas aproximadas de aproximadamente 20 cm em região suprapúbica, ruídos hidroaéreos presentes nos 4 quadrantes, normotenso, dor em região suprapúbica; som maciço à percussão de hipocôndrio direito e timpânico nos demais. SVD drenando 400 mls de urina com aspecto concentrado e com grumos em 6 horas. Isso permitiu a formulação do DE: Integridade da pele prejudicada relacionada a fatores mecânicos evidenciada por destruição de camadas da pele e Risco de infecção relacionada a defesas primárias inadequadas. Foi possível relacionar as seguintes IE: Cuidados com Lesões,Cuidados com local da incisão, Supervisão da pele, Cuidados com Sonda Urinária e proteção contra Infecção. O estudo ressalta a necessidade de planejamento da aplicação da SAE para realizar um cuidado integral ao paciente visando sua reabilitação, evitando complicações e reinternações hospitalares desnecessárias.
ENTRE A CRUZ E A ESPADA: A ENFERMAGEM NOS DISCURSOS SOBRE RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE
FLÁVIA PACHECO DA SILVA;MARIA HENRIQUETA LUCE KRUSE
Introdução: A profissão da enfermeira é constituída pela herança cristã e pelo modelo cartesiano, promovendo o poderoso dualismo entre corpo e espírito, paradoxo este que permeia a Enfermagem ao longo de sua existência como profissão. Objetivo: Analisar discursos sobre religião que têm sido veiculados nos periódicos de enfermagem, refletindo sobre como esses saberes subjetivam e objetivam as enfermeiras, produzindo determinadas “verdades”. Metodologia: A pesquisa é de natureza qualitativa, que se aproxima do campo dos Estudos Culturais, particularmente de sua versão pós-estruturalista, na perspectiva foucaultiana. O corpus de análise foram artigos publicados em revistas brasileiras de enfermagem, localizados através dos descritores religião e religiosidade, nas bases de dados do Perienf e BDENF, no período de 1954 a 2008. Para analisar o conteúdo dos artigos escolhidos utilizei a Análise Textual, associada com o pós-estruturalismo, utilizando as ferramentas de discurso, sujeito, poder, saber, poder disciplinar, governamento e biopolítica, propostas por Michel Foucault. Resultados e Conclusão: Os discursos que emergiram das revistas possibilitaram a construção de três categorias que mostram como esse discurso foi se constituindo ao longo do tempo: A Enfermagem e o sentido cristão de servir; Entre a cruz e a espada: um momento de transição na Enfermagem; e A religião como estratégia biopolítica. A pesquisa destaca as revistas de enfermagem como importantes artefatos da mídia, que proporcionam a circulação de embates de poder que investem na produção da identidade da enfermeira, e, através de seus discursos, constituem sujeitos, governando, influenciando e ensinando um modo correto de ser e agir, tornando-se difícil pensar de outra forma.
PETSAUDE POA- ENFERMAGEM
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 211
RAISSA RIBEIRO SARAIVA DE CARVALHO;CARMEN LÚCIA MOTTIN DURO
A Portaria Interministerial nº 1.507/2007 do Departamento de Gestão da Educação na Saúde e Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da saúde e o Departamento de Atenção Básica criaram o Programa PET-SAÚDE, com objetivo de potencializar a integração ensino-serviço e a produção de conhecimento a partir das necessidades do serviço. Já se tem conhecimento que a Educação Tutorial caracteriza-se pela presença de um professor tutor com a missão de orientar e estimular a aprendizagem ativa dos estudantes a partir de uma prática fundada em compromissos éticos e sociais. No PET Saúde, além do Tutor Acadêmico, cria-se a figura do Preceptor, que tem como requisito ser um profissional do serviço de saúde. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ingressou com proposta para o Programa PET- Saúde a qual foi contemplada em janeiro de 2009. Esse projeto tem a intenção de através da inserção dos discentes dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Educação Física, estabelecer um distrito docente assistencial constituído de unidades da Estratégia da Saúde da Família. Esse projeto tem o objetivo de capacitar profissionais da rede e agregar ao curso de graduação, conhecimentos sobre o modelo de atenção, as necessidades de aprendizagem, a solução de problemas e a produção de conhecimento emanados do serviço. Também pretende realizar um diagnóstico de saúde de todo o distrito definindo estratégias de pesquisa para estudos de coorte e transversais, incorporação tecnológica em atenção básica e desenvolvimento de protocolos clínicos de atenção. E finalmente, através da vivência interdisciplinar no meio acadêmico, irá desenvolver as habilidade e atitudes dos discentes-monitores para trabalhar em equipes multiprofissionais.
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: MOBILIDADE FÍSICA PREJUDICADA RELACIONADA À LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (ESTUDO DE CASO)
FRANCINE LETÍCIA DA SILVA SECCO;SÔNIA BEATRIZ CÓCARO DE SOUZA
Introdução: Estudo de caso de uma paciente acompanhada no Ambulatório de Enfermagem em Saúde Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com diagnóstico de Lesão por Esforço Repetitivo (LER). Objetivo: Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem a um caso prático e poder identificar os problemas de saúde do paciente, construir diagnósticos e propor um plano assistencial eficaz e individualizado. Método: Estudo de caso descritivo, com coleta de dados por meio do histórico de enfermagem, revisão de prontuário e consulta à literatura. Resultados: Feminino, 46 anos, trabalha há 15 anos como Revisora de uma Indústria de Calçados, no Vale dos Sinos. Em 2001 foi diagnosticado Síndrome do Túnel do Carpo e submetida a uma descompressão cirúrgica do nervo mediano no membro superior direito. O principal diagnóstico de enfermagem identificado foi Mobilidade Física Prejudicada relacionada à diminuição da força muscular e edema em membros evidenciada por restrição de movimentos e dor ao realizar tarefas diárias. Orientamos a paciente a realizar exercícios ativos de amplitude de movimentos nos membros superiores, realizamos alongamentos junto com a paciente, sugerimos que evitasse períodos prolongados na mesma posição assinalando a importância da pausa para descanso entre as atividades diárias e laborais. Conclusão: Ao final deste estudo, consegui compreender o processo saúde/doença do trabalhador. Percebi a importância do cuidado humanizado e individualizado, bem como, a promoção da saúde através de um plano de cuidados específicos aos envolvidos no processo de doença ocupacional.
AVALIAÇÃO SISTEMATIZADA DA DOR EM PESSOAS COM PREJUÍZO COGNITIVO
SIMONE PASIN;ALINE DOS SANTOS DUARTE; TÁBATA DE CAVATÁ
Introdução: A avaliação sistematizada da pessoa com dor objetiva verificar a presença, monitorar a eficácia do tratamento e permitir a documentação do processo. O padrão-ouro da avaliação é o auto-relato. Na prática diária, nos deparamos com uma questão: como realizar a avaliação em pessoas com prejuízo cognitivo. Estudos documentam a alta prevalência de dor em adultos com prejuízo cognitivo. As conseqüências da dor não tratada incluem riscos fisiológicos, depressão, deterioração da função cognitiva e do padrão de sono, redução do convívio social, ampliação das necessidades de cuidados e dos custos. Objetivo: Apresentar os instrumentos de avaliação de dor em pessoas com prejuízo cognitivo validados para a prática clínica. Método: Utilizou-se a estratégia PICO para a revisão sistemática nas bases MEDLINE/PubMed via BIREME, CINAHL e PsychINFO no período de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 212
1980 a 2009. Os critérios de inclusão foram: citação do instrumento utilizado e aplicação em pacientes adultos e idosos com prejuízo cognitivo. Os descritores utilizados: cognitive disorders, pain e assessment. Resultados: Os instrumentos The Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC), Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD), Discomfort in Dementia of the Alzheimer\'s type (DS-DAT), Present Pain Intensity (PPS) e Faces Pain Scale (FPS), Doloplus-2, Checklist of nonverbal pain indicators (CNPI) foram citados como eficazes na avaliação da dor no paciente com prejuízo cognitivo. Conclusão: A adoção de instrumentos e seu impacto no desfecho do problema sustenta a prática de Enfermagem baseada em evidências. Porém não há instrumentos disponíveis no nosso meio. Para tal, a validação para a língua portuguesa brasileira se faz imprescindível para garantir a boa prática clínica.
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM RISCO PARA ÚLCERA DE PRESSÃO
AMÁLIA DE FÁTIMA LUCENA;MIRIAM DE ABREU ALMEIDA; VERA LUCIA MENDES DIAS; ANA GABRIELA SILVA PEREIRA; MELINA ADRIANA FRIEDRICH; CÁSSIA TEIXEIRA DOS SANTOS; DÓRIS BARATZ MENEGON; ROSSANA ROSA BERCINI; SUZANA FIORE SCAIN; LYLIAM MIRORI SUZUKI; VANESSA KENNE LONGARAY; ISIS MARQUES SEVERO
INTRODUÇÃO: O processo de enfermagem (PE) é utilizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) há mais de 30 anos e, atualmente, está informatizado, com o uso da classificação diagnóstica da NANDA-I na etapa de diagnóstico de enfermagem. Todavia, a qualificação da assistência aos pacientes também requer outros elementos como o uso de protocolos e de indicadores de qualidade assistencial. No HCPA, a prevenção e o tratamento de úlceras de pressão (UP) constituem um protocolo e a incidência da UP um indicador de qualidade assistencial. Neste contexto, é que foi pensado o presente estudo. OBJETIVO: Identificar os diagnósticos de enfermagem (DE) em pacientes internados com risco para UP, medido por instrumento que contém a escala de Braden. MÉTODO: Trata-se de um recorte de um estudo maior do tipo descritivo, transversal. A amostra incluiu 220 internações de pacientes adultos com risco para UP, ocorridas nas unidades clínicas e cirúrgicas do hospital, no primeiro semestre de 2008. A coleta de dados foi retrospectiva, em fichas referentes à escala de Braden, prontuário eletrônico e banco de dados do hospital. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SPSS, versão 14.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Resultados preliminares apontam que os diagnósticos de enfermagem mais frequentes nos pacientes internados com risco para UP são: Déficit no Autocuidado: banho/higiene; Síndrome do déficit no autocuidado; Mobilidade física prejudicada; Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais; Integridade da pele prejudicada; Risco para integridade da pele prejudicada. Os mesmos estão localizados, conforme a NANDA, nos domínios de Atividade/repouso, Nutrição, Segurança/proteção.
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO
PATRÍCIA SILVA DE JESUS;MICHELE KROLL BUJES;MAÍRA DE ANDRADE BITTENCOURT; NÚBIA DE RODRIGUES ARAÚJO
INTRODUÇÃO: O traumatismo crânio-encefálico (TCE) origina-se de qualquer agressão traumática de força física externa que cause lesão anatômica e de couro cabeludo ou comprometimento funcional das meninges, encéfalo e seus vasos. Visto que o TCE representa situação de emergência, é imprescindível avaliação inicial contemplando subsídios para tomada de decisão acerca do tratamento direcionado, bem como as intervenções de enfermagem. OBJETIVOS: Coletar dados na literatura, referentes aos cuidados de enfermagem no atendimento a pacientes vítimas de TCE. MATERIAS E MÉTODOS: Trata-se de estudo descritivo com abordagem quantitativa no qual foi realizada revisão bibliográfica através de coleta de dados utilizando 5 livros, 3 artigos científicos e 7 publicações online. Descritores: intervenções de enfermagem; TCE; cinemática do trauma; exame neurológico. RESULTADOS E CONCLUSÃO: É de vital importância avaliação da cinemática do trauma, inclusive a ocorrência de abaulamento circular no vidro dianteiro, sinal de Battle, hematoma e edema periorbitários, imobilização cervical, avaliação pupilar. Após atendimento pré-hospitalar, o paciente é direcionado a um serviço de emergência no qual é submetido à avaliação clínica e diagnóstica. Simultaneamente, a enfermagem atua eficazmente aplicando as devidas intervenções, que promovam a sua reabilitação, dentre elas: controle rigoroso dos sinais vitais; manutenção da
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 213
permeabilidade das vias aéreas; avaliar nível de consciência e pupilas; observar alteração de tônus muscular; registrar evidência de choque hipovolêmico; controle hídrico; e, em caso de extravasamento liquórico, tamponamento com algodão e elevação da cabeceira. Tendo em vista a gravidade do quadro clínico de uma vítima de TCE, cabe a Enfermagem o conhecimento anatomofisiológico do SNC, inclusive os tratamentos disponíveis para as lesões possíveis que envolvem o TCE.
CONSULTA DE ENFERMAGEM EM AMBULATÓRIO: DIAGNÓSTICOS MAIS FREQUENTES
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS;ELIZETH HELDT; ELENARA FRANZEN; SUZANA F. SCAIN; SUZANA A. ZÁCHIA; MARIA LUIZA SCHMIDT; ELIANE G. RABIN; NINON GIRARDON DA ROSA; DÓRIS MENEGON
Introdução: A consulta de enfermagem tem evidenciado uma prática que visa definir prioridades de cuidado, promovendo a saúde dos indivíduos. Objetivo: Verificar a frequência dos diagnósticos de enfermagem, de acordo com a North American Nursing Diagnoses Association (NANDA), de clientes que consultaram no ambulatório de um hospital geral. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal onde 237 consultas de enfermagem vinculadas aos programas de saúde da mulher (46 gestantes e 24 mulheres com câncer de mama; n=70) e de educação em Diabetes Mellitus (DM) (n=167) foram avaliadas. Os dados sociodemográficos, os clínicos e os diagnósticos foram coletados após a consulta de enfermagem. Resultados e Conclusões: Dos 53 diagnósticos de enfermagem identificados, os mais frequentes nos adultos com DM foram o Controle ineficaz do regime terapêutico” em 40,7% (n=68) e a Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais em 13,8% (n=23). Nas gestantes, a maior freqüência foi o Déficit de conhecimento em 46% (n=21) e a Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais em 22% (n=10). Nas mulheres com câncer de mama, os diagnósticos mais presentes foram a Integridade tissular prejudicada em 46%(n=11) e o Déficit de conhecimento em 37%(n=9). Os resultados apontam que, os mesmos diagnósticos de enfermagem surgiram no cuidado de pacientes com diferentes problemas de saúde, exceto para os diagnósticos de Controle ineficaz do regime terapêutico e da Integridade tissular prejudicada. Este estudo contribuiu na identificação dos diagnósticos mais frequentes da rotina clínica da consulta de enfermagem em ambulatório de hospital geral.
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM CONSULTA AMBULATORIAL
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS;SUZANA F. SCAIN; ELENARA FRANZEN; ELIZETH HELDT
Introdução: A consulta de enfermagem em ambulatório tem evidenciado uma prática que visa contribuir com a resolutividade das necessidades de saúde dos clientes, sendo um meio de prover o cuidado integral ao portador de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Objetivo: Identificar as intervenções de enfermagem prescritas a partir de diagnósticos de enfermagem para a sistematização da assistência na consulta de enfermagem ambulatorial. Material e Métodos: Trata-se de um estudo transversal de pacientes que consultaram no programa de educação em DM. As variáveis demográficas, as clínicas, os diagnósticos e intervenções de enfermagem foram coletados ao final da consulta, nos meses de outubro e novembro de 2008. Resultados e Conclusões: De um total de 136 pacientes que consultaram, 57% (n=77) eram do sexo feminino, com média de idade de 66 (±9,38) anos, onde 96% (n=131) faziam uso de alguma medicação. As intervenções de enfermagem de maior ocorrência foram “cuidados com alimentação” em 64% (n=87) e “estimular atividade física” em 45% (n=61), sendo associadas significativamente com os diagnósticos de enfermagem “Controle ineficaz do regime terapêutico”, “Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais” e “Disposição aumentada para o controle do regime terapêutico” (p< 0,05). A implementação de intervenções a partir dos diagnósticos de enfermagem para auxiliar no controle metabólico de pacientes com DM na consulta de enfermagem fortalece a importância da sistematização da assistência de enfermagem em ambulatório.
APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PACIENTES COM CÂNCER DE CAVIDADE ORAL
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 214
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS;DAIANE DA ROSA MONTEIRO; IDA HAUNSS DE FREITAS XAVIER
Introdução: A recuperação da qualidade de vida de pacientes com câncer de cavidade oral representa um desafio para o enfermeiro devido aos efeitos adversos do tratamento curativo. O presente trabalho trata-se do relato de experiência do atendimento a pacientes com diagnóstico médico de neoplasia maligna de língua em fase de reabilitação restauradora submetidos a tratamento cirúrgico e radioterápico. Objetivo: Relatar os diagnósticos de enfermagem (DE) e intervenções identificados durante consultas de enfermagem ao paciente oncológico. Método: Coleta de dados em prontuário associada à prática assistencial durante estágio da disciplina Cuidado ao Adulto II do curso de Enfermagem. Resultados: Os problemas mais significativos foram: xerostomia, sensibilidade oral diminuída, dor em membros superiores e inferiores e dificuldade para evacuar. A partir destes, identificou-se os seguintes DE: mucosa oral prejudicada, risco para lesão da mucosa oral, dor crônica e constipação. Durante as consultas procurou-se: orientar o uso de analgésicos e métodos não farmacológicos para alívio da dor; promover a reeducação alimentar orientando evitar ingesta de bebidas cítricas e alcoólicas e alimentos rígidos, condimentados ou com temperatura elevada; ensinar exercícios que estimulam o tônus muscular abdominal para favorecer a motilidade intestinal. As intervenções tiveram como resultados esperados otimizar a ação analgésica, prevenir lesões na mucosa oral e facilitar o controle das eliminações intestinais. Conclusões: A assistência ambulatorial de acordo com o processo de enfermagem minimiza as dificuldades da reabilitação por identificar problemas e definir cuidados que proporcionem apoio ao estado de saúde a fim de assegurar adesão ao tratamento e promover qualidade de vida.
PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE A APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA
MICHELE ANTUNES;MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA CROSSETTI; BRUNA POCHMANN ZAMBONATO; INGRID SCHIERHOLT SILVA; ROSEANE COLISSI
INTRODUÇÃO: O Processo de Enfermagem(PE) é uma metodologia que sistematiza a assistência de enfermagem focada no indivíduo. Embora prescrita em lei, acredita-se que esta nem sempre é aplicada pelo enfermeiro. OBJETIVO: compreender a percepção dos enfermeiros sobre a aplicação do processo de enfermagem na prática. MATERIAIS E MÉTODOS: revisão integrativa segundo Cooper(1989): 1ªFormulação do problema: Qual é a percepção dos enfermeiros sobre a aplicação do processo de enfermagem na prática?; 2ªColeta de dados: bases de dados: LILACS, BDENF e Scielo; descritores: processos de enfermagem, metodologia, enfermagem; critérios de inclusão: artigos nacionais e de acesso livre online, no período de 1971 a 2009. 3ªAvaliação dos dados: instrumento de registro de dados; 4ªAnálise e interpretação dos dados: quadro sinóptico com as variáveis: numeração, título, percepção dos enfermeiros sobre PE; 5ªApresentação dos resultados: por meio de gráficos. RESULTADOS: dos 109 estudos encontrados, 8 atenderam os critérios de inclusão. Identificou-se 12
percepções dos enfermeiros acerca do PE na prática. Dentre estas, as 4 mais
citadas foram: PE é relevante para a prática do cuidado individualizado ao paciente (6 autores); PE necessita de uma carga horária maior do que a que se tem no cotidiano da prática (6 autores); PE é uma atividade burocrática dissociada do cuidado ao indivíduo (4 autores); número elevado de pacientes sobrecarrega o enfermeiro (4 autores). CONCLUSÕES: Acredita-se que é necessário compreender a percepção do enfermeiro frente à aplicação do PE em sua prática assistencial, suscitando a possibilidade de adequá-lo às suas realidades profissionais, visto que, proporciona um plano de cuidados individualizado e humanizado.
ANNA NERY: RESGATE HISTÓRICO PARA A ENFERMAGEM GAÚCHA
TATIANE ROSA OTT;PROFESSORA CLÉA VAZ MENEZES
Introdução: Anna Nery é um dos grandes vultos históricos da Enfermagem no Brasil, sendo reverenciada pelo amor à essência do cuidado, decorrente de sua atuação na guerra do Paraguai, onde exerceu serviços ininterruptos nos hospitais militares, aprimorando conhecimentos que detinha sobre técnicas básicas de enfermagem. Sua presença permitiu implementar, ampliar e modificar de modo substancial a estrutura de atenção aos feridos nesse conflito. Após a guerra o governo Imperial conferiu-lhe honrarias e o título de “Mãe dos Brasileiros”. Por muito tempo sua lembrança
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 215
permaneceu controversa e discriminada por aqueles que não aceitavam o fato da mesma não ser enfermeira com conhecimentos científicos. Entretanto, sua trajetória sempre constituiu conteúdo obrigatório em disciplinas pertinentes à História da Enfermagem no Brasil. Objetivos: Localizar, recolher, recuperar, organizar e analisar acervo bibliográfico, documentação e imagens que possam ser utilizadas, pesquisadas e divulgadas. Metodologia: Pesquisa exploratória, qualitativa, sócio-histórica, bibliográfica, documental e iconográfica, realizada por meio de fontes escritas, orais e imagens, com aprofundamento in loco em território baiano. Resultados: Do mapeamento e catalogação de 10 obras, documentos e imagens recolhidas diretamente no Estado da Bahia, emergiram dados desconhecidos pela enfermagem. Conclusão: A autora permite-se expressar o encantamento que a pesquisa possibilitou e considera relevantes os resultados obtidos que visam a preservação da memória histórica de Anna Nery, sinalizando para a configuração deste estudo como semente do resgate para a enfermagem gaúcha. Os estudos históricos permitem a consciência do que somos, o desenvolvimento da auto-estima e a construção da identidade profissional. Por isso o profissional só é bom quando ele conhece de onde veio, o que é e para onde vai.
PROCESSO DE ENFERMAGEM: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POA/RS
ROSANE COSTA BORDINHÃO;ROSÁLIA FIGUEIRÓ BORGES
Evidencia-se na literatura que o processo de enfermagem surgiu nos primórdios da enfermagem, no mesmo momento em que Florence Nightingale trabalhava para a redução da mortalidade. “Florence sintetizou informações reunidas em muitas de suas experiências de vida para auxiliá-la no desenvolvimento da enfermagem moderna.” (GEORGES, 2000, p. 34). Este estudo tem por objetivo conhecer e compreender as percepções dos enfermeiros em relação à aplicação do processo de enfermagem nas unidades de internação de um Hospital público do município de POA/RS. Trata-se de um estudo exploratório descritivo com uma abordagem qualitativa utilizando-se da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). A pesquisa foi realizada através de uma entrevista semi-estruturada com quatro questões norteadoras referindo-se respectivamente a percepção do enfermeiro em relação ao conceito processo de enfermagem, aplicabilidade no contexto assistencial do enfermeiro, sua importância para a prática assistencial e às dificuldades encontradas pelos enfermeiros na aplicação de suas fases. A amostra da pesquisa foi composta por doze participantes. Os resultados enfatizaram que o processo de enfermagem não é aplicado na instituição, mas é visto como necessário para sistematizar e guiar o cuidado prestado ao paciente. Evidenciou-se que a principal importância do processo de enfermagem para os entrevistados é a qualidade na assistência que ele proporciona aos pacientes. Em relação às dificuldades evidenciou-se a sobrecarga de trabalho, além da falta de tempo, e formalização institucional. Neste sentido, há necessidade de uma reavaliação e um aprimoramento na atuação da categoria no serviço para que ocorram melhorias no atendimento ao paciente.
PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONTROLE INEFICAZ DO REGIME TERAPÊUTICO
JENIFFER MEZZOMO;CAROLINA GOSMANN ERICHSEN ,GABRIELA DOEBBER SOUTO, STELLA MARYS SILVA, MARIA ISABEL GORINI
Introdução: este é um estudo de caso sobre um paciente em atendimento na Unidade de Quimioterapia Ambulatorial do HCPA. Esta paciente foi selecionada por estar realizando tratamento quimioterápico com diagnóstico médico de neoplasia maligna de cólon. A quimioterapia antineoplásica tem-se tornado uma das mais importantes e promissoras maneiras de combater o câncer. O câncer colorretal tem aumentado sua incidência na população, sendo um dos tipos de câncer mais freqüente na região sul. Entretanto produz os indesejáveis efeitos adversos, conhecidos e extremamente temidos pelos indivíduos que necessitam submeter-se ao tratamento. Objetivo: desenvolver conhecimentos e habilidades que possibilitem prestar cuidados de enfermagem a adultos em tratamento quimioterápico fundamentando teoricamente os problemas identificados a esses pacientes. Método: A anamnese e o exame físico tornou possível à elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem e as Intervenções necessárias. Cabe a enfermeira atuar como multiplicadora de informações corretas a respeito do tratamento. Com este estudo foi possível identificar os diagnósticos e as intervenções de enfermagem necessárias para estabelecer um plano de cuidados
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 216
favorável a paciente escolhida. Como Diagnósticos de Enfermagem contemplamos: Risco de Infecção; Risco de baixa auto-estima situacional e Controle Ineficaz do Regime Terapêutico, sendo este último o Diagnóstico de Enfermagem principal. Conclusões: conseguimos analisar os diagnósticos de enfermagem nela encontrados, fundamentando-os teoricamente nas bibliografias indicadas. Isso nos proporcionou conhecimentos e habilidades, para prestar os cuidados de enfermagem aos pacientes em tratamento quimioterápico.
PROCESSO DE ENFERMAGEM: UMA FERRAMENTA PARA AUDITORIA
VANESSA KENNE LONGARAY;MARCO AURÉLIO GOLDENFUM, EDUARDO DIAS LOPES
O Processo de Enfermagem (PE) é um modelo teórico que proporciona uma estrutura lógica e fundamenta as ações de enfermagem, sendo entendido como um instrumento sistemático e humanizado. Auditória em Saúde é o exame sistemático e independente para determinar se as atividades relativas à qualidade e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas, se estas foram implementadas e estão adequadas à execução dos objetivos. O objetivo desse trabalho de revisão foi trazer informações importantes para os enfermeiros a respeito das cobranças dos serviços hospitalares, pois é através dos registros, que serão captados os dados fundamentais para o fechamento da conta hospitalar. A auditoria em enfermagem representa a função de controle do processo administrativo, verificando se os resultados da assistência estão de acordo com os objetivos, ressaltando a qualidade. O Auditor deve apenas levantar os fatos para serem analisados criticamente, e emitir solicitações de ação corretiva. A auditoria está muito relacionada a comprovação de pagamento de contas hospitalares, revendo glosas por meio de relatório técnico e realizando negociações entre representantes do hospital e dos planos de saúde. Diante do exposto, a implementação do PE se torna uma ferramenta facilitadora da auditoria, sendo utilizada nas cobranças dos serviços de enfermagem, além de ser uma forma de organizar o serviço oferecido dentro das instituições. Um exemplo é a prescrição do colchão antidecubito, este equipamento será cobrado na conta do paciente pela indicação terapêutica que pode ser realizada e prescrita pela enfermeira, registrada dentro do PE. O PE é um facilitador para a auditoria, pois os registros nos prontuários dos pacientes fazem parte da base de dados para uma boa auditoria.
PERCEPÇÕES DOS CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS PORTADORES DE DOENÇA DE ALZHEIMER
NYCOLAS KUNZLER ALCORTA;MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA CROSSETTI;TATIANA SCHNORR SILVA;VANESSA BRAGA SCHATSCHINEIDER;LAURA BRAGA DA ROCHA
INTRODUÇÃO: o aumento da população idosa elevou a incidência de demências como a de Alzheimer, que se caracteriza pela perda progressiva da cognição e torna o portador dependente de cuidados de um dos familiares, que sofre diversos transtornos físicos, psíquicos e sociais. OBJETIVO: conhecer as percepções dos cuidadores familiares de idosos com Doença de Alzheimer. METODOLOGIA: revisão integrativa segundo Cooper (1989), que segue diferentes etapas: formulação da questão norteadora: Quais as percepções dos cuidadores familiares que convivem com idosos portadores da Doença de Alzheimer? coleta de dados: utilização da base LILACS com descritores cuidadores, idosos, enfermagem e Alzheimer. Os critérios de inclusão foram ano de publicação entre 1998 e 2008, disponíveis online e nacionais; avaliação dos dados: preenchimento de um instrumento de registro; análise e interpretação dos dados: construção de um quadro sinóptico contendo as percepções dos familiares e as limitações encontradas para o estudo; apresentação dos resultados: elaboração de gráficos que relacionam as percepções com o número de publicações em que foram encontradas. RESULTADOS: dos 56 artigos encontrados, 11 atenderam os critérios de inclusão. Dentre os diversos achados, percebemos que a sobrecarga financeira foi citada pelos familiares em 5 estudos. O cansaço, o estresse e a sobrecarga, foram observadas em 8. Sentimento de culpa foi exposto em 5. A depressão pode ser observada em 2 estudos e está relacionada a distúrbios psiquiátricos dos doentes. CONCLUSÃO: as percepções expostas caracterizam o cuidado como uma tarefa desgastante e prejudicam a vida do cuidador. Devido ao importante papel que desempenham, merecem atenção dos profissionais de saúde tanto em relação a sua saúde quanto ao cuidado que prestam.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 217
ABORDAGEM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DAS ENFERMEIRAS DE UM PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR DIRECIONADO AO IDOSO
LUANDA CESAR KINGESKI;JOÃO LUIS ALMEIDA DA SILVA
Este estudo objetivou identificar as estratégias de educação em saúde utilizadas por enfermeiras na atenção ao idoso de um Programa de Atendimento Domiciliar de Doentes Crônicos. A abordagem metodológica foi descritiva – exploratória de tipologia qualitativa. O universo de pesquisa foi constituído de 5 enfermeiras visitadoras. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2009, através da observação das abordagens durante as visitas domiciliares e entrevistas com as enfermeiras. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo, constituindo-se 2 categorias temáticas: Resistência e Educação em Saúde e Autocuidado e Saúde. Observou-se que a principal dificuldade para as enfermeiras abordarem educação em saúde é a resistência que os idosos apresentam em seguir as orientações durante a visita domiciliar, fato que pode estar vinculado ao aspecto da cultura e história de vida dessas pessoas. A principal estratégia que todas utilizam é fazer com que o idoso tenha responsabilidade pela sua saúde. Acredita-se que cuidar no domicílio é uma tarefa permeada de desafios para as enfermeiras, porém as abordagens de educação em saúde podem contribuir muito para a qualidade de vida desses idosos, pois permitem que estes idosos manifestem suas necessidades e dialoguem com profissionais de saúde, possibilitando ações condizentes para ambos.
A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O IDOSO
CAMILA BITENCOURT REMOR
INTRODUÇÃO: o envelhecimento é caracterizado por aspectos nos quais se evidenciam diferentes necessidades de saúde do idoso, assinalando a importância de uma atenção integral, para uma melhora na qualidade de vida (PAPALÉO NETTO, 2006). Nesta busca, a prática educativa prestada por enfermeiras na realização da assistência enfatiza a transmissão de informações e mudança de hábitos dos indivíduos (LEONELLO e OLIVEIRA, 2007). A ação educativa em saúde é um processo dinâmico, que visa capacitar os indivíduos e/ou grupos em busca da melhoria das condições de saúde de uma população, estimulando o diálogo, a indagação, a reflexão, o questionamento e a ação partilhada (MARTINS et al, 2007). OBJETIVO: conhecer a produção científica de Enfermagem sobre educação em saúde para o idoso. MATERIAL E MÉTODOS: trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que foram utilizadas as bases de dados on line LILACS, SciELO, BDENF e PubMed. Foram utilizados como critérios de inclusão os artigos disponíveis na íntegra em português, espanhol e inglês, publicados entre 2000 e 2008 e apresentação dos descritores enfermagem, educação em saúde e idoso no título e/ou resumo. RESULTADOS: dos 21 artigos selecionados, verificou-se que pelo menos um artigo sobre esta temática foi publicado ao ano, com predominância de publicações nos anos de 2006 e 2007, com 5 artigos cada. CONCLUSÃO: com base nos dados evidenciados nos artigos pesquisados, observou-se a necessidade de serem desenvolvidos estudos referentes a esta temática, visto a escassez de publicações.
O ENFERMEIRO COMO CUIDADOR DO IDOSO COM DOR CRÔNICA
CAROLINE BELLO SOARES;GLÁUCIA BOHUSCH; KAREN CHISINI COUTINHO; MARIA JOANA DIAS FERREIRA
Introdução:a dor crônica tem duração prolongada e determina grande impacto na velhice envolvendo aspectos patológicos, sociais e psicológicos que afetam diretamente a qualidade de vida do idoso.A enfermagem como disciplina social tem o dever ético e moral de cuidar as pessoas nessa fase da vida com dignidade, igualdade e respeito.Objetivo:conhecer que papéis o enfermeiro desenvolve no cuidado ao idoso com dor crônica.Método:pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2002), as bases de dados consultadas foram:Scielo, BDENF, Medline e Lilacs.Análise:compreende duas categorias:orientação da família: o diferencial do enfermeiro;promoção da autonomia ao idoso:um papel essencial do enfermeiro.Orientação da família:o diferencial do enfermeiro-Os problemas de saúde nos idosos necessitam de uma assistência qualificada sendo a família a principal responsável pelo cuidado, o que abala a rotina do lar.A humanização no atendimento é o principal objetivo da enfermagem, responsável por: cuidar do idoso, minimizar efeitos da doença, orientar
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 218
familiares;Aconselhar quanto à alimentação, higiene e conforto apropriados e realização de assistência domiciliar;Promoção da autonomia do idoso:um papel essencial do Enfermeiro-Segundo Silvestre e Netto,(2003) são condutas do enfermeiro: compreender a promoção da saúde e sua relação com os fatores que interferem na qualidade de vida;Promover a manutenção da autonomia;Compreender o envelhecimento como um processo natural e estimular a organização de grupos para discussão e troca de experiências.Conclusões:acreditamos que pesquisas dessa natureza poderão subsidiar avaliações, diagnósticos e planejamentos do cuidado ao idoso, alertando ainda para a necessidade de inserção nos currículos acadêmicos de disciplinas focadas no cuidado ao idoso.
COMPETÊNCIAS DA EQUIPE DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE IDOSOS EM ATENÇÃO BÁSICA
ANDRIA MACHADO DA SILVA;REGINA RIGATTO WITT, MACLAINE DE OLIVEIRA ROOS, NILSON MAESTRI CARVALHO, CARLA DAIANE SILVA RODRIGUES
Desenvolver oportunidades para os profissionais de saúde e prepará-los para atuar em serviços amigos do idoso conforme proposta da Organização Mundial de Saúde é o desafio deste projeto. O estudo objetiva a criação de um referencial de competências gerais da equipe multidisciplinar no atendimento de idosos na atenção básica. O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. A Técnica Delphi está sendo usada para coleta de dados. Trinta e nove profissionais de saúde participaram da primeira rodada que resultou em 63 competências. Estas foram compiladas em: conhecimentos (técnico, profissional, em geriatria, clínica, farmacologia, nutrição, eventos comuns e fatores de risco para idosos), habilidades (promoção da saúde, resolução de problemas, trabalho em equipe, atenção domiciliar, visão integral, educação em saúde, capacidade de escuta, gerenciamento do cuidado) e atitudes (paciência, afeto, atenção, empatia, compromisso, disponibilidade, responsabilidade, ética, dedicação, comunicação e compreensão). Na fase seguinte, estas serão analisadas de acordo com a literatura para o desenvolvimento de uma estrutura de competências, que será validada por um grupo focal. A estrutura resultante será submetida a uma segunda rodada da Técnica Delphi. Essas competências constituirão uma referência para a prática, permitindo a melhoria das ações dos profissionais de saúde, para que possam avaliar e tratar os problemas que afetam pessoas idosas e oferecer condições para que se mantenham saudáveis.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA EVITAR A DEPENDÊNCIA FÍSICA NO IDOSO
MILENE OLIVEIRA DE FREITAS;GUADALUPE SCARPARO HAAG
A prevenção de doenças crônicas e a assistência à saúde dos idosos constituem um desafio para a enfermagem atual, no sentido de conservar sua autonomia e independência, cruciais para uma velhice com mais qualidade de vida. Para Caldas (2003), a principal causa do aumento da taxa de idosos portadores de incapacidades é a frequência das doenças crônicas. O presente estudo objetivou identificar a incidência de doenças crônicas num grupo de idosos e verificar os cuidados em saúde que estes idosos praticam. A pesquisa descritiva com enfoque qualitativo contou com a participação de 10 idosas frequentadoras do Programa Maior Idade, que não possuíam dependência física e tinham mais de 68 anos de idade. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada e interpretados pela análise de conteúdo contido nas falas das pesquisadas. Conforme os dados encontrados, hipertensão foi citada por 50% e diabetes por 30% das pesquisadas. Doenças crônicas como diabetes e hipertensão podem levar à deterioração da habilidade de manter-se independente, contribuindo para a diminuição da qualidade de vida (ALVES et al. 2007). Os resultados mostraram que tanto a prática de exercícios físicos como a realização de atividades de lazer, fazem parte dos cuidados de saúde das pesquisadas. Estas também associam as atividades que lhe trazem prazer à manutenção da independência, podendo-se sugerir que auxiliam no aumento da auto-estima. A prevenção e o controle de doenças crônicas tornam-se essenciais nesta etapa da vida. O enfermeiro deve conhecer o processo de envelhecimento, pois as intervenções realizadas na época em que a incapacidade funcional ainda não se instalou podem permitir que a pessoa envelheça de forma mais saudável, refletindo diretamente em sua condição de saúde futura.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 219
PERCEPÇÕES DE ADULTOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS SOBRE O ENVELHECIMENTO
JOCIELE GHENO;MARIA LUIZA MACHADO LUDWIG
O envelhecimento da população vem acompanhado pelo crescimento da carga e impacto social das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A prevalência de pelo menos uma DCNT eleva-se intensamente com a idade e já se observa uma prevalência significativa entre adultos de meia-idade. Buscou-se conhecer como adultos portadores de DCNT percebem o seu envelhecimento e quais as estratégias adotadas para um envelhecimento mais saudável. Trata-se de um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo. Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com nove pacientes na meia-idade, de ambos os sexos, portadores de DCNT, vinculados ao ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde foi realizado o estudo. A seleção foi do tipo intencional. Após a transcrição das entrevistas, as informações foram interpretadas de acordo com a análise de conteúdo temática, proposta por Minayo (2008). Identificaram-se três categorias: “O significado do envelhecer” com duas subcategorias, “Concepções” e “Mudanças físicas”; a categoria “Envelhecer com doenças crônicas” com as subcategorias, “Sentimentos negativos e incertezas” e “Perspectivas para o futuro”; e por fim, “O que fazer para envelhecer com mais saúde”. Conclui-se que os participantes possuem sentimentos positivos e negativos sobre o envelhecimento com essas doenças. Apesar dos negativos, ficou evidente o desejo de envelhecer com mais saúde e por isso eles demonstraram ter consciência da necessidade de autocuidado. A enfermagem tem um papel fundamental no processo de conhecimento e enfrentamento das mudanças resultantes da condição crônica. Por isso, compreender como adultos na meia-idade se vêem envelhecendo com essas doenças poderá contribuir para a qualificação do cuidado prestado.
FATORES DE RISCO PARA QUEDAS EM IDOSOS, UMA REVISÃO DE LITERATURA
ALEXANDRA NOGUEIRA MELLO LOPES;BRUNA MOSER TORRES, CRISTIANO UGGERI SCHUH, MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA CROSSETTI, MARIANA TIMMERS DOS SANTOS
Introdução: Os idosos representam aproximadamente 10% da população brasileira de acordo com o IBGE. Estima-se que, em 2050, essa parcela da população deverá corresponder 19% do total de brasileiros. Este aumento exige atenção dos profissionais da saúde, considerando os danos a que os idosos estão expostos e lhes são susceptíveis, como prevalência de quedas, a sexta causa de morte em pessoas acima de 75 anos. Neste estudo, tem-se como questão norteadora: quais são os fatores de risco para as quedas em idosos? Objetivo: identificar os fatores de risco para as quedas em idosos. Métodos: trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa exploratória descritiva. As bases de dados utilizadas no estudo foram SCIELO E LILACS. Foram obtidos 391 resultados, sendo 15 utilizados para a elaboração deste trabalho. Resultados: Os fatores de risco que desencadeiam as quedas são divididos em fatores intrínsecos, relacionados às alterações fisiológicas do envelhecimento, doenças ou efeitos de fármacos, como: idade avançada, sexo feminino, função neuromuscular prejudicada, presença de doenças crônicas, polifarmácia, osteoporose e sedentarismo, e fatores extrínsecos, relacionados às circunstâncias sociais e ambientais que criam empecilhos ao idoso, como: iluminação inadequada, piso escorregadio e ausência de corrimãos. Nota-se que os fatores ambientais foram mais agravantes, sendo escorregar em piso molhado o maior causador de acidentes. Conclusão: É importante saber onde as quedas ocorrem com mais freqüência, a fim de desenvolver medidas de prevenção para estes acidentes. Inferimos também a necessidade de capacitar os profissionais especializados em Gerontologia, para suprir as demandas deste grupo populacional e ajudar na prevenção de quedas, sejam no domicílio ou em outros locais.
RELATO DE EXPERIÊNCIA: SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA REALIZADA EM PALMITOS - SC-2007. SALA INTERATIVA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE PÚBLICA ABORDANDO A RELEVÂNCIA DA LUDICIDADE E CHÁS MEDICINAIS NO PROCESSO DE SAÚDE
FABIANE BREGALDA GIACOMELLI;OLGA MARIA PANHOCA DA SILVA; BRUNA FONSECA COUTINHO
INTRODUÇÃO: Um ambiente interativo enfatizou a questão da ludicidade e dos chás medicinais no processo de prevenção e promoção da saúde pública. Através de uma proposta de prevenção e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 220
escolhas corretas quanto aos cuidados com a saúde, sendo acessível a toda comunidade. OBJETIVO GERAL: Fazer com que a comunidade realmente perceba a importância da promoção e prevenção aderindo a um estilo de vida saudável. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: § Incutir junto à comunidade práticas e cuidados relevantes para uma vida saudável; § Trabalhar a educação em saúde de maneira diferenciada. MATERIAL E METODOS: Representação teatral, recepção ao público e indicação através de cartazes das maneiras corretas e incorretas de estar cuidando da saúde, demonstração das variedades de plantas medicinais, modo de preparo e extração dos chás. Havia duas opções (caminhos) a percorrer: Um dava enfoque aos benefícios de vida com qualidade: Sem estresse, sem dores musculares, vícios, adquirindo resistência, longetividade com qualidade. O outro caminho exibia os danos praticados contra a saúde: Alcoolismo, tabagismo, exposição solar, sendo que cada um dos visitantes estava livre a fazer sua escolha. RESULTADOS: Durante toda programação procedeu-se manifestações positivas do público que acompanhou ativamente as atividades e referiu tratar-se de um evento relevante que trabalhou amplamente a educação em saúde da comunidade. Nesta ocasião a expressão teatral também tornou-se algo visivelmente marcante contribuindo no processo educativo.CONCLUSÃO: Passaram pela sala centenas de visitantes (crianças, jovens, adultos e idosos que interagiram e aprimoraram-se em assuntos referentes aos cuidados com a saúde, práticas que vão contribuir na aquisição de uma vida mais longa e saudável.
RELATO DE EXPERIÊNCIAS: SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM PALMITOS - SC 2007. UM GRANDE LABIRINTO DIVIDIDO POR CAMINHOS QUE INDICAM FATORES RELEVANTES E IRRELEVANTES PARA UMA VIDA SAUDÁVEL
FABIANE BREGALDA GIACOMELLI;OLGA MARIA PANHOCA DA SILVA; BRUNA FONSECA COUTINHO
INTRODUÇÃO: Cada ser humano é livre e através de orientações, educação pode seguir caminhos que lhe tragam benefícios principalmente para sua saúde. Cabe principalmente aos profissionais de saúde articular maneiras, recursos que permitam que o conhecimento chegue até a comunidade. O ambiente de Ciência e tecnologia buscou assim a interação da comunidade com as condições e práticas de uma vida saudável por meio da promoção e prevenção. OBJETIVO GERAL: Fazer com que a comunidade realmente perceba a importância da promoção e prevenção aderindo a um estilo de vida saudável. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incutir junto à comunidade práticas e cuidados relevantes para uma vida saudável; Trabalhar a educação em saúde de maneira diferenciada. MATERIAL E METODOS: Representação teatral, recepção ao público e indicação através de cartazes das maneiras corretas e incorretas de estar cuidando da saúde, Havendo duas opções (caminhos) a percorrer: Um com enfoque aos benefícios de vida com qualidade: Sem estresse, sem dores musculares, vícios, adquirindo resistência, longetividade com qualidade. O outro caminho exibia os danos praticados contra a saúde: Alcoolismo, tabagismo, exposição solar, sendo que cada um dos visitantes estava livre a fazer sua escolha. RESULTADOS: Durante toda programação procedeu-se manifestações positivas do público que acompanhou ativamente as atividades e referiu tratar-se de um evento relevante que trabalhou amplamente a educação em saúde da comunidade. Nesta ocasião a expressão teatral também tornou-se algo visivelmente marcante contribuindo no processo educativo. CONCLUSÃO: Passaram pela sala centenas de visitantes (crianças, jovens, adultos e idosos) que interagiram e aprimoraram-se em assuntos referentes aos cuidados com a saúde, práticas que vão contribuir na aquisição de uma vida mais longa e saudável.
DORMIR MAL AFETA A SAÚDE DAS PESSOAS
FABIANE BREGALDA GIACOMELLI;BRUNA FONSECA COUTINHO
INTRODUÇÃO: Dormir pouco ou dormir mais do necessário representa um enorme fator de risco no desencadeamento de doenças evitáveis. Estudos referem que a privação de sono quebra mecanismos do cérebro que regulam os pontos-chave da nossa saúde mental, prejudica um enorme conjunto de funções corporais, o sistema imunológico, metabolismo e os processos cerebrais. OBJETIVO GERAL: Compreender o mecanismo do sono, benefícios e malefícios ao organismo humano. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Levantar dados e comparar resultados sobe o ciclo do sono; Comprovar a influencia do sono nas funções vitais. METODOLOGIA: Observou-se as alterações comportamentais manifestadas pelos acadêmicos (as) da instituição universitária do
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 221
estado de Santa Catarina – UDESC, principalmente em época de provas quando disponibilizavam poucas horas para dormir, apresentavam episódios de crise, transtorno e descontrole emocional, sempre associados à fisionomia abatida. RESULTADOS: Comprovou-se que dormir pouco influi na aparição de doenças metabólicas e cardiovasculares, a redução do sono diminui a retenção do hormônio leptina - limitador do apetite, aumenta a grelina – que gera sensação de fome.
DESAFIO PARA O SUS: ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO, UM ENFOQUE DA ENFERMAGEM
CAMILA MARIANA ANDRADE;SIMONE TATIANA DA SILVA
O processo de envelhecimento torna-se dia-a-dia um cenário comum para a população brasileira, refletindo avanços importantes relacionados principalmente a área médica e social. Porém estas mudanças representam motivos de preocupação para os gestores e profissionais da área da saúde, à medida que se evidenciam graves deficiências em setores diretamente relacionados à proteção social do idoso, como a Saúde Pública e a Seguridade Social. Contudo o Ministério da Saúde desde a Constituição Federal de 1988, busca definir uma reorganização na atenção ao atendimento a pessoa idosa. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa histórica com caráter de revisão. Realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde, sendo consultada a base de dados Lilacs e Scielo Brasil, além do acervo bibliográfico que contou com sete livros. O objetivo do estudo foi verificar quais os benefícios e as limitações do atendimento domiciliar com enfoque gerontológico assegurando os princípios do SUS e, relatar experiências que obtiveram sucesso. O atendimento domiciliar gerontológico é prestado à pessoa idosa com algum nível de dependência, com vista na promoção da autonomia, permanência no próprio domicilio e reforço dos vínculos familiares. No Brasil, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, vem desafiando os profissionais para colocar em práticas assistências integrais e humanizadas, destacando-se o atendimento domiciliar. Embora existam métodos e metas acerca da atenção domiciliar ao idoso, os profissionais da enfermagem que atuam principalmente na atenção primária, precisam conhecer mais sobre a temática e estruturá-la da forma mais cabível a realidade da comunidade. Assim, poderá ser possível uma concretização e validação das políticas públicas voltadas ao idoso.
ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE PRÓSTATA EM IDOSOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO PERÍODO DE 1998 A 2008. UMA PERSPECTIVA DA ENFERMAGEM
KARINE KRINDGES
O câncer de próstata representa um sério problema de saúde pública no Brasil, em função de suas altas taxas de incidência e mortalidade. O fator de risco principal para câncer de próstata é a idade (raro antes dos 40 anos), porém os fatores endócrinos também podem ser importantes. O estudo dessa doença fornece uma visão atual das reais condições dos níveis de saúde da população. Com o objetivo de conhecer em qual faixa etária da população idosa (60 a 69 anos, 70 a 79 anos; 80 e + anos) ocorreram mais óbitos de idosos por câncer de próstata em Santa Catarina, analisou-se através de um estudo retrospectivo de taxas, o período entre 1998 a 2008, sendo que este método de estudo dos óbitos de cada faixa etária de cada ano nos permite conhecer com exatidão o período ou idade de maior incidência de óbitos. Utilizou-se como banco de dados o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Estado de Santa Catarina. Ao acompanhar os números no tempo, observou-se um aumento real dos óbitos por câncer de próstata no período de 1998 para com 2008, no Estado de Santa Catarina. E, constatou-se que houve uma significativa oscilação entre os números em cada ano estudado. Fica claro que a partir de 70 anos os óbitos por câncer de próstata tornam-se mais freqüentes, observando-se a relação dos óbitos com o aumento da idade. Foram analisados fatores relacionados, variações e o crescimento gradativo do numero de óbitos. A partir dos resultados obtidos, acredita-se que devam ser desenvolvidas políticas de prevenção, promoção e proteção da saúde da população para que ocorra a redução dos coeficientes de mortalidade por câncer de próstata, e isto se torna um desafio ao Sistema Único de Saúde (SUS), particularmente quando considera-se o contexto social, demográfico e epidemiológico do país.
CONHECENDO A UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS MAIAS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 222
ROBERTO OPITZ GOMES;DOUGLAS ROBERTO VEIT, GELSON ANTÔNIO IOB E ROSSANA RAD FERNANDES
Introdução: A US Parque dos Maias, pertence ao GHC, sendo o setor responsável o SSC. A US está localizada na Zona Norte de Porto Alegre, no Bairro Rubem Berta, rua Francisco Galeck 165. Anteriormente a US atendia em torno de 7000 pessoas. Atualmente com sua área ampliada e seu espaço físico ampliado, pretende atender uma população em torno de 10.500 pessoas, sendo a maior unidade de saúde do GHC em espaço físico. Objetivos: Conhecer a USPM e tudo que é realizado em saúde na US e fora dela. Material e Métodos: O presente estudo foi exploratório, descritivo e observacional das rotinas, espaço físico e número de profissionais da USPM. Resultados e conclusões: A US possui 5 médicos, 8 residentes de diversas áreas, 5 auxiliares de enfermagem, 2 técnicos de enfermagem, 2 doutorandos, 3 enfermeiras, 1 assistente social, 1 psicóloga, 2 dentistas, 1 THD, 2 auxiliares administrativos, 2 estagiários do CIEE, 1 auxiliar serviços gerais, 2 vigilantes e 6 agentes comunitários. A US possui 8 consultórios, sendo 5 médicos, 2 de enfermagem e 1 para uso da assistência social e psicologia. Possui também 10 salas, sendo as principais: acolhimento, vacinas, curativos, aplicação de fármacos, odontologia, grupos, estudos, farmácia, banheiro e cozinha. A US atua na promoção de saúde, prevenção, reabilitação, diagnóstico e emergências. Programas como o pra-nenê, saúde da mulher, coleta de CP e AEM, HAS e DIA, pré-natal e asma. Atua em educação em saúde com os grupos de gestantes, tabagismo, HAS E DIA, maturidade e reflexão para mulheres, reflexão para familiares e asma que é realizado em forma de curso durante 5 dias, todas as segundas-feiras, sendo destaque dentro do SSC. Unidade ainda possui gestão colegiada, uma forma de tomar decisões compartilhadas.
ESTADO NUTRICIONAL E ENVELHECIMENTO
ALESSANDRA ANALU MOREIRA DA SILVA
Diversos estudos mostram que está havendo um envelhecimento da população mundial, fazendo-se necessário uma maior atenção para com os idosos. Portanto, este projeto trata-se de uma proposta de estudo sobre o estado nutricional e o idoso. O caminho escolhido foi explorar de como a temática do estado nutricional aparece e é discutida no conhecimento produzido sobre o idoso, ou seja, o que os autores que tratam dessa temática trazem (ou não) de contribuição e o quanto isso é abordado, quanto há de produção. Com base em bibliografias existentes, propõe-se realizar um levantamento bibliográfico abordando o tema proposto. O levantamento do material será feito por meio de artigos indexados, publicados em banco de dados eletrônico: Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe um Ciências da Saúde), SciElo (Scientific Eletronic Library Online), Medline (National Library of Medicine) e periódicos da Capes, do ano de 1999 a 2009. Utilizar-se-á, para a busca, os seguintes descritores: “idoso”, “envelhecimento da população”, “nutrição”, “estado nutricional”, “avaliação nutricional”. O cronograma de atividades propostas e tempo previsto para a realização do estudo serão entre agosto de 2009 e dezembro de 2009. Espera-se que com esse trabalho possamos contribuir com a assistência em enfermagem, oferecendo ao enfermeiro, principalmente de saúde pública, subsídios para um melhor atendimento ao paciente idoso, pois é fundamental que as alterações próprias do envelhecimento sejam o mais precocemente possível diferenciado dos sinais clínicos de desnutrição, para que receba atendimento adequado e também pensando em medida de promoção de saúde, prevenção de doenças e no cuidado geral.
PREVALÊNCIA DO TABAGISMO ASSOCIADA AO CARGO ASSISTENCIAL OU ADMINISTRATIVO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANA PAULA ALMEIDA CORRÊA;ISABEL CRISTINA ECHER; STEPHANI AMANDA LUKASEWICZ FERREIRA
Introdução: A Lei 9.294 de 1996 proíbe o uso de qualquer produto fumígero em recintos coletivos, salvo em área destinada a essa finalidade. O Instituto Nacional do Câncer revela que as pessoas que trabalham passam cerca de 80% do dia em locais fechados. Objetivo: Identificar a prevalência do tabagismo associando ao cargo assistencial ou administrativo dos funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA, no qual foram elaborados instrumentos para funcionários fumantes, fumantes em abstinência e não fumantes. Os dados foram analisados no pacote estatístico
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 223
SPSS. Resultados: Participaram do estudo 1473 (35,92%) de um total de 4100 funcionários, dos quais 978 (66,4%) eram não fumantes, 200 (13,6%), fumantes e 295 (20%), fumantes em abstinência. Do total, 848 (57,6%) funcionários exerciam atividades assistenciais e 624 (42,4%) administrativas. Encontrou-se diferença estatisticamente significativa no grupo dos não fumantes, onde a maior prevalência ocorreu na assistência (59,7%) se comparado aos fumantes (49,8%) e fumantes em abstinência (55,9%). Significância também ocorreu no grupo dos tabagistas com maioria de 50,2%, se comparado aos não fumantes (40,3%) e fumantes em abstinência (44,1%). Comparando-se os resultados com dados do Brasil, do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, encontrou-se uma prevalência menor de fumantes. Conclusões: Esses resultados podem estar relacionados ao fato da pesquisa ser realizada com funcionários de um hospital, ambiente onde é difícil e inadequado fumar. Outro motivo importante é que grande parte dos trabalhadores são da área assistencial e se acredita que possuem conhecimento sobre os malefícios do tabaco e suas consequências para saúde.
NÍVEL DE INSTRUÇÃO COMO FATOR RELEVANTE PARA SER OU NÃO FUMANTE EM FUNCIONÁRIOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
STEPHANI AMANDA LUKASEWICZ FERREIRA;ANA PAULA ALMEIDA CORRÊA; ISABEL CRISTINA ECHER
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma entre quatro pessoas no mundo são tabagistas. No Brasil, aproximadamente 40% da população acima de doze anos fuma ou já experimentou o cigarro. Desse total, cerca de 9% desenvolve o vício. Estudos revelam que indivíduos com baixa renda e com menos anos de estudo fumam mais. Objetivo: Avaliar o nível de instrução como fator relevante para ser ou não fumante entre funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo, aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA, no qual foram aplicados instrumentos para funcionários não fumantes, fumantes e fumantes em abstinência, junto ao Serviço de Medicina Ocupacional. Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS. Resultados: Participaram do estudo 1473 (35,92%) de um total de 4100 funcionários, dos quais 978 (66,4%) eram não fumantes, 200 (13,6%), fumantes e 295 (20%), fumantes em abstinência. Dos funcionários, quarenta e quatro (3%) tinham primeiro grau incompleto e 82 (5,6%) completo; 79 (5,4%) segundo grau incompleto e 570 (38,6%) completo; 219 (14,8%) terceiro grau incompleto e 209 (14,2%) completo; 272 (18,4%) possuíam pós-graduação. Na associação entre a escolaridade e os diferentes grupos a maior prevalência de não fumantes tinham pós-graduação (20,9%), de fumantes primeiro grau completo (10,9%) e segundo grau incompleto (10,4%) e de fumantes em abstinência o primeiro grau incompleto (5,1%). Conclusões: Similarmente a outros estudos, a escolaridade está associada ao fato de ser ou não tabagista. Acredita-se que pessoas com mais anos de estudo têm maior conscientização antitabágica, talvez por terem acesso a mais informações sobre os prejuízos que o cigarro causa a saúde e ou por influência do meio social.
ARTIGOS SOBRE A TEMÁTICA TABAGISMO PUBLICADOS POR ENFERMEIROS BRASILEIROS NA ÚLTIMA DÉCADA:UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
MÁRCIA ELAINE COSTA DO NASCIMENTO; STEPHANI AMANDA LUKASEWICV FERREIRA;ISABEL CRISTINA ECHER
Introdução O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde o principal fator de risco para causas de morte evitável. Estima-se que um terço da população mundial adulta, sejam fumantes. Este estudo surgiu no contexto do desenvolvimento de um projeto de pesquisa que investiga a prevalência de tabagismo e a exposição tabágica em profissionais de uma instituição hospitalar. Objetivo Identificar e analisar a produção do conhecimento de enfermeiros brasileiros sobre a temática tabagismo na última década. Materiais e Métodos. Trata-se de revisão sistemática sobre a temática tabagismo realizada em periódicos de enfermagem nacionais no período de 1998-2008. O estudo foi realizado de dezembro de 2008 a abril de 2009. Foram identificados 18 artigos nas bases de dados Scielo, LILACS, BDENF, pesquisa nos sites das revistas e busca direta dos artigos na biblioteca da escola de enfermagem. Resultados A análise dos artigos demonstrou que 83,3 % são artigos originais e 16,6 % são relatos de experiência. Dos artigos originais, 10 são pesquisas qualitativas, 4 pesquisas quantitativas e um é uma pesquisa experimental. Metade das populações investigadas foi de estudantes. O início do hábito tabágico encontrando-se entre 18 a 20 anos. A
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 224
maioria pouco conhece os malefícios de fumar e desconhece os benefícios de abandonar o tabaco. Conclusões Percebe-se que embora o tabagismo constitua um grave problema de saúde pública, ele tem sido pouco explorado na literatura brasileira pelos enfermeiros. Por isso, recomenda-se que sejam desenvolvidas investigações propondo práticas e ações para a enfermagem atuar de maneira mais concreta na busca de melhor assistir os indivíduos fumantes e para coibir o início do consumo do tabaco.
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES DIABÉTICOS (PRODM): REESTRUTURANDO O CUIDADO
ANDREIA BARCELLOS TEIXEIRA;ARLETE DA FONSECA CAMPOMAR; DAIANA WEISS E SILVA; MARIANA TIMMERS DOS SANTOS; SANDRA FIALKOWISKI; SÔNIA BEATRIZ COCCARO DE SOUZA
Introdução: O PRODM foi criado em 2006 tendo como um dos objetivos o auto cuidado posterior à alta através da educação dos pacientes. Segundo Waldmann (2007), educação em saúde inclui propostas comprometidas com o desenvolvimento do pensamento crítico da clientela, com ações direcionadas à qualidade de vida e promoção da saúde. Após 3 anos de implantação do programa, observou-se a necessidade de reestruturação do mesmo, modificando um pouco a maneira de trabalhar. Objetivo: Expor as modificações implantadas no PRODM a partir de junho de 2009. Metodologia: A partir da revisão de novos trabalhos realizados na área e do conhecimento empírico gerado pelas enfermeiras da AD nestes 3 anos de atendimento, em reuniões foram discutidas propostas para melhoria, as quais serão testadas por três meses. Resultados: O instrumento de coleta de dados dos clientes atendidos foi remodelado, ganhando cunho mais científico e de pesquisa. Nesta ficha, incluíram-se itens relacionados à percepção do paciente sobre o seu conhecimento em relação a diabetes, através da aplicação de uma escala análogo-visual. Frente à dificuldade dos pacientes em assimilar todas as orientações em um só encontro, fato percebido pelas enfermeiras durante o atendimento, as orientações serão divididas por tópicos e expostas em mais de um encontro, da internação à alta do paciente, conforme a necessidade do mesmo. Como nem sempre o cuidador está presente, será distribuído um material informativo em forma de folder para que este e o próprio paciente possam consultar após a alta. Conclusões: Esperamos com estas modificações abranger um número maior de pacientes atendidos e oportunizar que o cliente e o cuidador compreendam melhor as informações fornecidas.
FORMAÇÃO DE GRUPOS DE HIPERTENSOS EM UM CENTRO DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE
DEISE SIMÃO ARREGINO;NERY JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
Introdução - A formação de grupos de auxílio e orientação pode ser fundamental na organização de programas de atendimento a hipertensos. Grupos de pacientes e de profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos) reunidos em torno de um programa estruturado de atendimento, com os clientes recebendo orientação adequada e neste mesmo espaço podendo relatar suas dificuldades frente ao tratamento. Objetivo – Este estudo teve como objetivo principal verificar a importância da participação do paciente no grupo de hipertensos. Material e Métodos – Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo com delineamento transversal. A amostra foi composta por nove freqüentadores de um grupo de hipertensos. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas. A análise dos dados foi realizada utilizando estatística descritiva com médias e porcentagens. Resultados – Para os pacientes, o fato de participar do grupo ajuda no tratamento da HAS, sendo que 31% acham muito bom, 23% acreditam que freqüentar o grupo é de tal forma relaxante e um meio de aprendizado, 15% relatam ser um incentivo e 8% uma motivação para dar continuidade ao tratamento. Conclusão - Através deste trabalho tivemos a oportunidade de freqüentar um centro de saúde de referência na cidade de Porto Alegre, nestes encontros percebemos que os profissionais e até mesmo os participantes freqüentam os encontros pelo compromisso, e não para dar seguimento a um trabalho, acreditamos que pelo fato de o grupo existir há mais de 5 anos, daí a importância de uma reformulação do grupo para novidades sobre a doença, seus riscos, complicações e interação entre os profissionais e participantes, incentivar mais a participação de todos os hipertensos que freqüentam o Centro de Saúde a fim de aumentar o grupo e disponibilizar orientações a todos os hipertensos da rede básica de saúde.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 225
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;ROSÂNGELA MARION DA SILVA; TIELEN MARQUES DIAS; FRANCINE CASSOL PRESTES; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; TÂNIA SOLANGE BOSI DE SOUZA MAGNAGO; ANDREA PROCHNOW; PAOLA DA SILVA DIAZ
Percebe-se, na prática profissional, que os cuidados aos pacientes internados com disfunção musculoesquelética requerem atendimento hospitalar qualificado e especializado a fim de não agravar a situação já instalada. Além disso, esses são pacientes que permanecem por longos períodos de reabilitação e cuidados após a alta hospitalar. Este relato descreve um projeto de pesquisa do tipo descritiva, exploratória com abordagem quantitativa que tem por objetivo de avaliar o cuidado realizado pela equipe de enfermagem a pacientes com disfunção musculoesquelética internados no Pronto Atendimento e na Unidade de Clínica Cirúrgica de um Hospital Universitário.O interesse pela pesquisa surgiu a partir da implementação de um Projeto de Extensão nessa instituição. Tal experiência possibilitou perceber que a atividade de educação em saúde, ação diferenciada no contexto do serviços da enfermagem, pode impactar na satisfação do paciente frente aos cuidados recebidos pela equipe de enfermagem. Para a coleta dos dados será utilizado o Instrumento de Satisfação do Paciente, instrumento traduzido, adaptado e validado à cultura brasileira por Oliveira (2004). Tal instrumento tem o objetivo de mensurar a satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem. Acredita-se que identificar a satisfação do paciente sobre o cuidado recebido pela equipe de enfermagem pode tanto contribuir para o reconhecimento dos trabalhadores quanto auxiliar na implementação de ações que visem planejar e qualificar a assistência de enfermagem, aspectos que tem sido objeto de estudos na área da saúde (OLIVEIRA E GUIRARDELLO, 2006; FONSECA, GUTIÉRREZ E ADAMI, 2006).
MEDIDA INDIRETA DA PRESSÃO ARTERIAL: CARACTERIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TEÓRICO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CAROLINE MACEDO PIAS ;FERNANDA SANT ANA TRISTÃO
INTRODUÇÃO: a medida da Pressão Arterial ainda é elemento essencial para o estabelecimento do diagnóstico e avaliação da eficácia do tratamento da hipertensão. Estudos mostram que a medida indireta da Pressão Arterial (PA) é realizada de forma incorreta pelos profissionais da saúde.OBJETIVOS: caracterizar o conhecimento teórico dos profissionais de enfermagem que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Gravataí/RS, em relação á medida indireta da Pressão Arterial.MATERIAL E MÉTODO:Estudo transversal, realizado nas UBS do município de Gravataí/RS. A população constituiu-se de profissionais de enfermagem. O instrumento constou de 15 questões objetivas. A análise dos dados foi realizada, através do software SPSS versão 14.0. A coleta iniciou após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa.RESULTADOS: a amostra constituiu-se de 71 profissionais de enfermagem (88.75%), 42,25% auxiliares, 28,1% técnicos e 29,58% enfermeiros. 56,43% refere que nunca participou de um curso onde foi abordada a medida indireta da PA, 30,20% refere que efetua o procedimento mais de 30 vezes por dia, 56,34% refere que os esfigmomanômetros devem ser calibrados a cada 6 meses, 56,40% desconhece a orientação evitar a bexiga no preparo do paciente para a medida da PA, e 36,62% desconhece a orientação não praticar exercícios físicos 60 a 90 minutos antes da medida da PA, 58,31% não utilizam a técnica auscultatória e 59,19% não conhece a seqüência correta da técnica de medida indireta da PA. CONSIDERAÇÕES FINAIS: mesmo sendo um procedimento essencial para estabelecimento de diagnóstico e controle da hipertensão arterial não é unânime o conhecimento da medida indireta da pressão arterial entre os profissionais de enfermagem. A maioria julga necessário obter mais informações sobre a medida indireta da Pressão Arterial, e julgam necessário informações sobre material, paciente e observador nos locais de trabalho.
ADESÃO AO TRATAMENTO EM PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE HIPERTENSOS DE UM CENTRO DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE/RS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 226
NERY JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR;KARINA AZZOLIN
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são citadas como principais causas de óbito no mundo, dentre elas a Hipertensão Arterial Sistêmica, tornou-se um problema de saúde pública de grande importância no Brasil pela alta prevalência e custo oneroso do tratamento. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo principal verificar a adesão ao tratamento proposto em pacientes participantes de um grupo de orientação. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo com delineamento transversal. A amostra foi composta por nove freqüentadores de um grupo de hipertensos. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas. A análise dos dados foi realizada utilizando estatística descritiva com médias e porcentagens. RESULTADOS: Os resultados mostraram que a maioria dos freqüentadores do grupo são do sexo feminino, com idade variando de 48 a 76 anos, com mais de 8 anos de estudo. Sendo que 77,8% verificam a pressão arterial diariamente. Através deste trabalho percebeu-se que todos os entrevistados apresentam no momento da crise hipertensiva sintomas como: mal-estar, alterações visuais e cefaléia. Quanto à adesão ao tratamento proposto, foi observado que 77,8% não fazem uso regular dos medicamentos referindo esquecimento ocasional, dentre os fatores que dificultam o uso correto do tratamento foram citados esquecimento e falta de condições financeiras, sendo que todos os pacientes acreditam na importância do mesmo como um meio de sobrevivência. CONCLUSÃO: Com o estudo pode-se perceber que apesar do conhecimento dos pacientes sobre a doença e a participação no grupo, a adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica não foi satisfatória na maioria dos entrevistados.
A UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS MAIAS: UM VASTO CAMPO DE ATUAÇÃO PARA O ENFERMEIRO RESIDENTE
ROBERTO OPITZ GOMES
Introdução: As Unidades de Saúde são a porta de entrada de grande parte das populações que não possuem planos de saúde e nem podem pagar por uma assistência médica particular. Também são grandes campos de atuação para os profissionais da enfermagem, principalmente os da Residência Integrada em Saúde. Na UBS Parque dos Maias, que pertence ao GHC, o enfermeiro residente está inserido como membro da equipe, participando de todas as atividades da US, também criando vínculos duradouros com a população adscrita e vivenciando o aprendizado em todas os momentos. Objetivos: Apresentar as atividades que podem ser exercidas pelo enfermeiro residente do 1º ano na UBS Parque dos Maias. Material e Métodos: Estudo descritivo com abordagem qualitativa; foram as seguintes ferramentas: observação direta da dinâmica da unidade e participação nas atividades de rotina. Resultados e conclusões: As atividades na unidade Parque dos Mayas são realizadas nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária de 60 horas semanais. São feitas atividades como: observação da rotina da unidade, passando pela sala de enfermagem, sala de vacinas, consultório odontológico, administração e dispensação de remédios, reuniões de equipe, conselho local de saúde e do colegiado de gestão. O residente ainda assume algumas agendas da enfermagem como as consultas de enfermagem para diabéticos, hipertensos, saúde da mulher, qualidade de vida, asma e coleta de citopatológico, realiza supervisão de enfermagem, atua em grupos de tabagismo, planejamento familiar, tabagismo, qualidade de vida, idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e asma, além de preparar seminários de campo e núcleo e de um trabalho de pesquisa para conclusão da pós graduação.
ENGENHARIA BIOMÉDICA
ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE: POSSÍVEIS RISCOS À SAÚDE HUMANA E O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO COMO MODO DE INTERFERÊNCIA DO PODER PÚBLICO
ANA LUÍSA MARTINS ETCHEVERRY;ROGER HEISLER; LAÍS MANICA
Introdução: As Estações de Rádio-Base (ERBs) são imprescindíveis à cobertura do sinal da telefonia móvel; porém, as ondas eletromagnéticas (OEs) emitem radiações que podem ser nocivas à saúde pública. Como há falta de estudos científicos conclusivos sobre o efeito de tais radiações, o Poder Público utiliza-se do Princípio da Precaução (PP) quando há existência de um risco ao meio ambiente
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 227
e/ou à saúde humana na presença de incertezas científicas (ICs). Objetivos: Analisar a instalação de ERBs e os possíveis danos à saúde pelas radiações não-ionizantes (RNIs), como o uso da ação civil pública para impedir a sua instalação e/ou forçar a sua adequação à legislação. Materiais e Métodos: Busca de artigos relacionados e revisão da jurisprudência existente. Resultados: As radiações podem ser ionizantes, ou não-ionizantes - pouca energia cinética, baixo poder de quebra de ligações químicas, baixas freqüências (FR) de 50 Hz até 30 GHz. As ERBs operam com as não-ionizantes, têm FR entre 300 MHz até 30 GHz, sendo que a OMS limita a exposição humana até 300 MHz. A Faculdade de Medicina da Universidade de Viena indica aumento dos casos de câncer num raio de 350 a 400 m de uma ERB. Em 2004, eram 4000 ERBs na cidade de São Paulo e 96% delas estavam irregulares. Já há jurisprudência, através do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e São Paulo utilizando o (PP), fazendo o Poder Público agir com precaução na existência de riscos e de ICs. Conclusão: RNIs das ERBs são possivelmente nocivas à saúde humana; logo, parâmetros de distância entre a ERB e os locais de livre acesso à população, como a determinação da potência e a FR do equipamento emissor devem ser examinadas a fim de serem estabelecidos padrões seguros. Assim, novos estudos sobre possíveis riscos das ERB devem ser efetuados.
PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE AFASTADOR PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO CUSTOMIZADO
PAULO CAETANO NEGRINI;MARIA LUCIA ZANOTELLI; ARNO EISEN; ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA; PAULO CÉSAR HUCKEMBECK NUNES; ELENITA CHARÃO CHAGAS
INTRODUÇÃO: Durante o uso em cirurgia do Afastador para Transplante Hepático existentes no HCPA, a equipe médica se ressentia de um modelo mais adequado as suas necessidades, visto que aqueles apresentavam algumas deficiências funcionais e ergonômicas. Em conjunto com as áreas médica/administrativa/ enfermagem, surgiu a idéia de desenvolver um que contemplasse maiores possibilidades de uso, com melhor funcionalidade e outras vantagens. OBJETIVO: Desenvolver um Afastador que premiasse itens fundamentais para a equipe cirúrgica: aumentar a visualização da área de intervenção cirúrgica; tornar o afastador mais ergonômico para os cirurgiões; corrigir deficiências e incrementar vantagens funcionais; apresentar custo baixo. MATERIAIS : Foram utilizados materiais específicos para uso médico-hospitalar com precisão de medidas e acabamento de ordem decimal. METODOLOGIA:Utilizou-se recursos técnicos e científicos. O conhecimento de mecânica, materiais, metrologia, ferramental e a habilidade manual dos técnicos foi fundamental. A partir de desenhos gerados pelo Software de Projetos Mecânicos, foi pré-visualizador o modelo, permitindo correções já no projeto. Durante a confecção foram feitos outros, ajustes até chegar ao modelo definitivo.RESULTADOS: Os resultados superaram as expectativas.Além de atender aos objetivos, o modelo desenvolvido inseriu uma terceira função,e outras vantagens.O custo ficou em menos de 10 % de um modelo similar importado.CONCLUSÃO: Este trabalho é um exemplo de que, através do feeling dos usuários, a consonância entre as áreas envolvidas, é possível desenvolver projetos e confecção de instrumentais cirúrgicos customizados com melhor qualidade, funcionalidade, economia financeira e otimização do uso para a equipe e para a assistência ao paciente.
TRIAGEM DE PACIENTES COM APNÉIA DO SONO ATRAVÉS DE UM NOVO SISTEMA DE OXIMETRIA DE PULSO DESENVOLVIDO NO HCPA
ANDRE FROTTA MULLER;DANTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR; PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES; SIMONE CHAVES FAGONDES; FÁBIO MUNHOZ SVARTMAN; SÉRGIO SALDANHA MENNA-BARRETO
Introdução: A Síndrome da apnéia-hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) é uma doença de elevada prevalência com seqüelas cardiovasculares e cerebrovasculares, dentre outras. A literatura tem demonstrado que existe uma relação direta para o sucesso do tratamento entre o tempo da suspeita clinica e a confirmação diagnóstica, que é feita mediante a realização de polissonografia. Entretanto, a polissonografia é um exame de custo elevado, restrito a serviços especializados e é tecnicamente intenso. Objetivos: Desenvolver e testar um equipamento de registro e análise da oximetria de pulso noturna para pacientes com suspeita clinica de SAHOS. Material e Métodos: O sistema é composto por um módulo oxímetro do fabricante Nonin, com precisão de SpO2 de ±3 dígitos e FC de ±3%, que disponibiliza estes dados a uma taxa de amostragem de 1 Hz. Estes dados são recebidos por um microcontrolador e armazenados em memória não volátil. Todos os registros têm identificação de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 228
hora, minuto e segundo em que foram adquiridos. Após cada exame, a conexão do equipamento a um computador pessoal permite a transferência dos dados. No estudo foram incluídos 11 pacientes com suspeita de SAHOS submetidos a monitorização simultânea através da polissonografia completa e com o novo sistema proposto. A partir da polissonografia foi calculado o índice de apnéia- hipopnéia (IAH) e a partir dos registros do novo sistema o índice delta (Δ), índice delta modificado (MΔ) e índice de dessaturações ≥ 4 (DI4%). Resultados: A correlação entre o AHI e os índices Δ, MΔ e DI4% foi de 0,796, 0,757 e 0,875 com p≤ 0,01, respectivamente. Conclusões: Os resultados preliminares neste grupo ainda reduzido de pacientes mostrou uma correlação forte entre o IAH, obtido a partir da polissonografia, com os índices gerados a partir dos sinais monitorados pelo novo sistema, sugerindo o seu potencial uso como uma opção de triagem nos pacientes com suspeita de SAHOS.
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE DISPNÉIA
PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES;DANTON PEREIRA DA SILVA JR.; ANDRÉ FROTTA MÜLLER; PAULO RICARDO OPPERMANN THOMÉ; ANDRÉIA KIST FERNANDES; BRUNA ZIEGLER; SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO; PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: A dispnéia é definida como uma experiência subjetiva de desconforto respiratório compreendendo sensações distintas que podem variar em qualidade e intensidade entre os pacientes. Alguns pacientes são incapazes de perceber a intensidade da obstrução brônquica, subestimando a gravidade da doença. Esses pacientes apresentam poucos sintomas a despeito da intensa obstrução. Objetivos: Desenvolvimento de um sistema que permita simular resistência inspiratória para avaliação do grau de percepção de dispnéia dos indivíduos. Material e Métodos: O sistema desenvolvido consiste de uma válvula que separa o fluxo inspiratório e expiratório conectada a um dispositivo que produz uma carga inspiratória. Este dispositivo possui orifícios de diferentes diâmetros que geram resistências inspiratórias (L/s/cmH2O) crescentes medidas a um fluxo de 300 mL/s : 6,7; 15; 25; 46,7; 67 e 78. O paciente respira normalmente através do sistema e monitora-se continuamente a pressão, que é visualizada na tela do computador. A cada dois minutos a resistência inspiratória é aumentada e o paciente pode informar a sensação de dispnéia através da escala de Borg. Um grupo de 29 voluntários normais (9 homens e 22 mulheres) foi incluído no estudo. Resultados: O grupo apresentou uma idade média de 34,79 anos (DP=11,76) e IMC de 22,13 kg/m2 (DP=2,27). Durante o protocolo 15 voluntários (51,7 %) apresentaram um aumento da sensação de dispnéia medida pela escala de Borg atingindo uma variação de no mínimo 4 pontos. Apenas 5 (17,3 %) voluntários tiveram que interromper o procedimento, pois relataram fadiga respiratória, falta de ar e ressecamento da boca. Conclusão: O sistema proposto foi capaz de produzir resistência inspiratória crescente e permitirá o estudo de percepção de dispnéia em pacientes asmáticos, com fibrose cística ou outros distúrbios ventilatórios.
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA TESTE DE QUANTIFICAÇÃO SENSITIVA (TQS)
DANTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR;LUCIANA CADORE STEFANI; WOLNEI CALMO; PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES; ANDRÉ FROTTA MULLER
Fundamentação: O teste de quantificação sensitiva (TQS) é uma importante ferramenta no estudo das anormalidades do sistema sensitivo fornecendo informações mais detalhadas e com maior confiabilidade em comparação com os teste clínicos de beira de leito. O termoteste é um dos sistemas mais amplamente utilizados para a quantificação sensitiva destinado a mensuração da sensibilidade ao calor e dor gerados por estimulação térmica. Objetivos: Desenvolver uma termoprobe com controle de temperatura para aplicação de calor sobre a pele e definição dos limiares de sensibilidade as diferentes sensações térmicas durante o procedimento. Métodos: A termoprobe é baseada em um módulo Peltier de 9 cm
2 e a temperatura é medida com um sensor de temperatura do
tipo PT100 de pequenas dimensões. Um controle digital de temperatura PID foi implementado em um microcontrolador (PIC16F876A). O sistema permite ao paciente interromper a estimulação térmica a qualquer momento e informar continuamente a intensidade da sensação térmica através de uma escala digital (BORG) acoplada ao sistema. O microcontrolador é também responsável por transmitir os dados de forma serial para um computador para o registro gráfico do exame em tempo real e armazenamento para análises posteriores. Para facilitar a consulta foi implementado um banco de dados para completo gerenciamento de pacientes/exames. Resultados: O design da termoprobe e o
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 229
sistema de controle implementado permitiram gerar variações de temperatura a uma taxa constante de 1º C/s com limites superiores e inferiores de 50ºC e 30° C, respectivamente. A precisão das medidas de temperatura é de 0,5° C e resolução de 0,1° C. Conclusões: O sistema desenvolvido permitirá a estimulação térmica de pacientes visando a determinação de limiares e tolerância ao estímulo de calor.
ENSINO APRENDIZAGEM
OS DESAFIOS DE LECIONAR NA CLASSE HOSPITALAR
ADRIANA DUVAL PEREIRA
Introdução O presente artigo pretendeu analisar os desafios enfrentados pelos docentes que atuam na Classe Hospitalar e destacar a formação destes profissionais e a atual legislação bem como seu cumprimento e os grandes obstáculos enfrentados pelos docentes. Este estudo destaca a importância do Pedagogo e da Classe Hospitalar para o desenvolvimento da criança e adolescente hospitalizado e um breve histórico da classe hospitalar, para consolidação deste estudo realizou-se uma pesquisa teórico-prática com revisão da literatura e coleta de dados, através de questionários, com profissionais da classe hospitalar de um hospital de Porto Alegre. Resultados A formação do profissional da Classe Hospitalar não é focada para atuação nessa área, normalmente são formados e especializados em áreas que circundam a educação, mas não especificamente a Pedagogia Hospitalar, Devido à inexistência de instituições que detenham o foco nesse ambiente no Rio Grande do Sul, o que torna difícil essa formação especifica. A lei assegura a importância desse profissional que atua no contexto hospitalar e aprova a atuação do docente na Classe Hospitalar, mas não há reconhecimento e o cumprimento do que está na legislação, desmerecendo a importância desse profissional nesse ambiente. conclusão Os dados revelados sobre os desafios da Pedagogia no contexto hospitalar deixam claro que não basta existir leis que assegure a eficácia, cumprimento e reconhecimento desse profissional, apenas no papel. É na prática que a legislação deve ser legitimada, promovendo formação, reconhecimento e cumprimento da lei e assegurar a esse profissional condição adequada de formação continuada, qualificação e admitir a eficácia e importância de sua atuação para a criança e adolescente hospitalizado e para a sociedade.
EPIDEMIOLOGIA
ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE E DA INCIDÊNCIA DE LESÕES NO OMBRO EM ATLETAS JOVENS DO VOLEIBOL
GRACIELE FÜRSTNOW
Introdução: O voleibol é um dos esportes mais populares do mundo, e é de senso comum que nos dias de hoje existe uma maior exigência para obtenção de altos níveis de rendimento atlético e que por sua vez pode ser um fator de predisponência de lesões durante a prática esportiva. O ombro é a articulação de maior mobilidade do nosso sistema músculo-articular, e é muitas vezes afetada por lesões resultantes de micro traumas ou macro traumas. Objetivo: Investigar a funcionalidade do complexo articular do ombro em atletas de voleibol decorrentes às lesões e a incidência destas nesta modalidade esportiva, bem como analisar os mecanismos e os fatores de risco destas lesões que causam alterações na funcionalidade deste complexo articular. Materiais e Métodos: Participaram do estudo 11 atletas, com idades entre 18 e 20 anos, da equipe de voleibol juvenil masculina da Universidade de Caxias do Sul. O presente estudo constituiu-se em entrevistas realizadas individualmente com cada atleta e da aplicação do questionário UCLA-Modificado. Resultados e Conclusões: Dos 11 atletas analisados seis já sofreram lesões nos ombros, sendo a tendinite a principal patologia que acomete esta região. Quando verificado se esses atletas que já sofreram lesão possuíam alterações na funcionalidade do ombro, apenas dois atletas apresentaram resultado excelente no questionário UCLA-Modificado. Podemos concluir que as lesões já comprometem a funcionalidade do ombro afetado, devido à faixa etária desses atletas, e que se não for realizada uma estratégia de prevenção dessas lesões muitos atletas não conseguirão chegar à categoria adulta em perfeitas condições físicas, talvez até impedindo que o atleta atinja seus objetivos por ter seu desempenho limitado por essas lesões.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 230
ANÁLISE DO EQUILÍBRIO CORPORAL ESTÁTICO EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA INSERIDAS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL RS
GRACIELE FÜRSTNOW;ALINE DILL WINCK; PATRÍCIA REGINA RIGHES PEREIRA
Introdução: Um bom desenvolvimento motor repercute na vida futura da criança nos aspectos sociais, intelectuais e culturais, pois ao ter alguma dificuldade motora faz com que à criança se refugie do meio o qual não domina, consequentemente deixando de realizar ou realizando com pouca freqüência determinadas atividades. Nas crianças com deficiência auditiva podem estar presentes diversas condições associadas, incluindo dificuldades no desenvolvimento motor. Objetivo: Verificar se a deficiência auditiva influencia no sistema vestibular prejudicando o equilíbrio corporal estático de crianças surdas inseridas em uma Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental da cidade de Caxias do Sul – RS. Materiais e Métodos: O presente estudo consiste em um estudo observacional descritivo do tipo transversal. Foram avaliadas 14 crianças com deficiência auditiva com idades entre 4 e 8 anos. As avaliações foram realizadas segundo o subteste de equilíbrio da Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002), com o auxilio de uma intérprete de Língua Brasileira de Sinais. Resultados e Conclusões: Neste estudo, a análise estatística comprovou que todas as crianças avaliadas, independente do gênero, ficaram abaixo de sua idade motora esperada, apresentando déficit no equilíbrio corporal estático. As crianças portadoras de deficiência auditiva avaliadas apresentaram déficit no equilíbrio corporal estático, ou seja, apresentaram um perfil motor muito abaixo do esperado, o que nos faz acreditar que a deficiência auditiva leva a uma hipofunção do sistema vestibular. Isso nos leva a constatar a importância do profissional fisioterapeuta, junto a uma equipe interdisciplinar, no trabalho de estimulação no desenvolvimento motor dessas crianças.
AVALIAÇÃO DA CASUÍSTICA DE RAIVA COM CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA LABORATORIAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2008 A JUNHO DE 2009
SAMUEL PAULO CIBULSKI; HELTON FERNANDES DOS SANTOS; HIRAN CASTAGNINO KUNERT FILHO; ANA PAULA MUTERLE VARELA; THAIS FUMACO TEIXEIRA; DIOGENES DEZEN; HELENA BEATRIZ DE CARVALHO RUTHNER BATISTA; JOSÉ CARLOS FERREIRA; JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA ROSA; PAULO MICHEL ROEHE
Introdução: O vírus da raiva é um importante problema de saúde pública na maioria dos países do mundo. Anualmente, cerca de 10 milhões de pessoas são submetidas a tratamento pós-exposição em decorrência de agressões sofridas pelo contato com animais suspeitos. Os estados da região Sul Brasil se mantém livres de raiva urbana (transmitida por cães) há mais de 20 anos. Não obstante, o vírus tem sido mantido em morcegos hematófagos - especialmente no meio rural - e morcegos não-hematófagos em ambientes urbanos, o que salienta a importância da manutenção de uma vigilância epidemiológica constante. Objetivos: Reportar a casuística da raiva no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de janeiro de 2008 a junho de 2009. Material e métodos: Foram computados os resultados dos exames diagnósticos para raiva realizados no IPVDF, correspondendo a aproximadamente 95% dos exames laboratoriais para raiva realizados no Estado. A metodologia diagnóstica empregada envolveu provas padronizadas, quais sejam a imunofluorescência direta e a inoculação em camundongos lactentes. Resultados e conclusões: Neste período, 5305 amostras foram encaminhadas para análise, envolvendo as espécies canina, felina, bovina, equina, quiróptera entre outras de animais silvestres, sendo que 1,83% foram positivas (97/5305). Dentre as amostras positivas, 75 (77,3%) foram de origem bovina, 16 (16,5%) de quirópteros, 4 (4,1%) de eqüinos e 2 (2%) de bubalinos. As amostras foram recebidas de 405 municípios do Estado e 23 destes municípios (5,7%) apresentaram pelo menos um caso positivo da doença, sendo que 4 deles registraram em mais de uma espécie positiva. Isto indica que o vírus da raiva se mantém circulando particularmente em morcegos hematófagos no Estado, causando predominantemente a raiva em herbívoros.
TAXA DE INFECÇÃO PÓS-CIRURGIA LIMPA NO HCPA
HENRIQUE HEINCECK COMIRAN; VIVIAN TREIN CUNHA;ANDRÉ DE OLIVEIRA MARQUES;FERNANDA FISCHER;MARIZA MACHADO KLUCK
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 231
Introdução: As cirurgias nas quais são esperadas baixas taxas de infecção, como as cirurgias limpas, constituem um indicador de qualidade crítico. Nessas cirurgias o paciente deixa de ser a fonte de uma possível infecção no sitio cirúrgico havendo uma maior probabilidade de que sua causa esteja associada à contaminação externa. As taxas de infecção de sítio cirúrgico pós-cirurgia limpa, segundo literatura internacional, estão entre 1,3 e 2,9%. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA considera aceitável para cirurgias limpas o índice de até 5%. A sub-notificação, a dificuldade de acesso de pacientes após a alta hospitalar e a ausência de critérios uniformes são alguns dos problemas enfrentados no diagnóstico destas infecções. Objetivo: Determinar a incidência de infecção do sítio cirúrgico em cirurgias limpas em pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e compará-la com taxas encontradas em outros centros.Materiais e Métodos: Os dados de números de cirurgias limpas realizadas no HCPA no período de junho de 2001 a abril de 2009 e quantidades de infecções pós-cirurgias limpas notificadas no mesmo período foram obtidos do sistema de Informações Gerenciais (IG) do HCPA. Resultados e Conclusões: A taxa de infecção em ferida pós-cirurgia limpa em 2009 foi de 3,4%, acima das taxas encontradas na literatura internacional (1,3 a 2,9%) e em hospitais brasileiros (2,1%). Há claramente um patamar com taxas que variam de 2,0 a 2,4% nos anos de 2001 a 2004 e um patamar com taxas mais elevadas nos anos de 2005 a 2009, variando de 3,4 a 4,0%. Tal aumento ocorreu devido à implantação do sistema de informatização ambulatorial e pela marcação automática de re-consultas a pacientes cirúrgicos a partir de outubro de 2004, permitindo melhor notificação.
READMISSÃO AO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO EM 48 HORAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
FÁBIO ANDRÉ SELAIMEN;LAURA GOERGEN BRUST, ELIZ VACCARI, MARCOS DALSIN, GABRIEL SUCOLOTTI PANOSSO, MARIZA MACHADO KLÜCK
INTRODUÇÃO: A taxa de retorno ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI) em 48 horas é um indicador que envolve diversos aspectos além da qualidade de assistência, como a morbi-mortalidade e outros fatores de risco individuais. É importante avaliar esse indicador, pois ele está associado à maior mortalidade e permanência hospitalar, para melhor adequação das saídas da CTI. OBJETIVO: Avaliar o indicador de retorno ao CTI em 48 horas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). MATERIAIS E MÉTODOS: Foram obtidos, através do sistema de Informações Gerenciais (IG) do HCPA, dados referentes à taxa de retorno ao CTI (divisão do número de retornos ao CTI em até 48 horas pelo número de transferências da CTI para outras unidades), não havendo exclusão caso um mesmo paciente fosse transferido mais de uma vez. As especialidades cirúrgicas e clínicas foram escolhidas por relevância do número absoluto de internações no CTI. RESULTADOS: Foram analisadas 19.545 internações e 782 retornos ao CTI. Em 2002, a taxa geral era de 3,57%, havendo aumento progressivo até 5,22% em 2009. Entre os serviços cirúrgicos, a cirurgia cardiovascular apresenta as menores taxas. Na cirurgia digestiva, as taxas vêm aumentando a cada ano, assim como na cirurgia torácica, com 23,08% em 2008. Entre as especialidades clínicas, chegou a 20% na ginecologia/obstetrícia. Seguem com as maiores taxas, a cardiologia, oncologia e gastroenterologia. As maiores taxas são da CTI neonatal, que é superior à pediátrica e adulto em quase todos os anos. O SUS e outros convênios apresentam taxas bastante similares. CONCLUSÕES: Observa-se que o HCPA encontra-se dentro do esperado - eventualmente até abaixo – de acordo com a literatura para hospitais em geral e abaixo do esperado para hospitais-escola (0,9 a 19%).
PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE ASMA EM ADOLESCENTES DO SUL DO BRASIL: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
TAYRON BASSANI;JANICE L LUKRAFKA; LEILA B MOREIRA; FLÁVIO D FUCHS; SANDRA C FUCHS
Introdução: A prevalência de asma entre os adolescentes de diversas populações parece ter estabilizado ou mesmo reduzido nos últimos anos. Estudos epidemiológicos internacionais mostram que as prevalências entre adolescentes de países da América Latina estão entre as maiores do mundo (5,5 a 28%). Objetivo: Avaliar a prevalência de sintomas e a gravidade da asma, de acordo com idade e sexo, em uma amostra da população de adolescentes de Porto Alegre. Métodos: Estudo transversal de base populacional arrolou adolescentes com 12 a 19 anos, utilizando amostragem aleatória por estágios múltiplos. Em entrevistas domiciliares coletaram-se dados sobre características
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 232
demográficas, de estilo de vida e morbidade prévia, através de questionário padronizado e do protocolo ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), sobre sintomas de asma. Quatro questões adicionais investigaram gravidade da asma. Participantes e seus guardiões legais assinaram termo de consentimento. Resultados: Foram investigados 575 adolescentes, entre 615 (93%) contatados, possibilitando a detecção de sibilância na vida (41%), diagnóstico prévio de asma (28%) e sibilância nos últimos 12 meses (18%). Não houve diferença marcante entre os sexos quanto à idade, 15,8 ±2,2 anos, mas consumo excessivo de bebidas alcoólicas e atividade física regular predominaram em meninos. Entre os adolescentes com sintomas, 17% dos meninos e 27% das meninas apresentaram 4 ou mais crises no último ano, além de sintomas de gravidade, respectivamente, 23% e 29% tiveram sono interrompido um dia ou mais por semana, 16% e 19% consultaram em serviços de emergência e 3% e 1,4% usaram medicamentos diariamente. Conclusão: Esse estudo confirmou alta prevalência de sintomas de asma entre adolescentes e sua gravidade.
RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS) - ABORDAGEM DO PROJETO TELESSAÚDERS
EVELIN GOMES ESPERANDIO;ENO DIAS DE CASTRO FILHO, MILENA RODRIGUES AGOSTINHO, PAULO VINÍCIUS NASCIMENTO FONTANIVE, ERNO HARZHEIM
Introdução: O Projeto TelessaúdeRS visa fortalecer a APS no Rio Grande do Sul (RS) proporcionando suporte assistencial às Equipes de Saúde da Família (ESF). Dentre outras atividades, resolve dúvidas clínicas enviadas por profissionais das ESF (pelo portal www.ufrgs.br/telessauders) aos consultores - médicos de família e comunidade, enfermeiros e odontólogos especialistas na área - que utilizam na resposta princípios da Medicina Baseada em Evidências (MBE). Objetivo: Explicitar como o TelessaúdeRS tem respondido às dúvidas clínicas em APS baseando-se em evidências científicas.Metodologia: Os consultores utilizam protocolo com passos hierarquicamente construídos. Encontrada a resposta (e avaliada criticamente) em um determinado passo, termina a busca. Antes da busca em bases de dados, a questão é mapeada em livros. Os passos: 1º. Biblioteca Cochrane. 2º. Clinical Evidence. 3º. Se necessário, busca dos artigos originais que embasaram as afirmações das bases anteriores. 4º. Busca sistemática breve (PubMed e Lilacs) a partir dos elementos levantados nos itens anteriores. As respostas contem o grau de recomendação (que demonstra o nível de evidência científica) da conduta. Esta classificação fundamentou-se em centros de MBE de referência.Resultados: Para aferir a relevância das respostas, utilizou-se questionário de satisfação respondido pelo solicitante. De dez/07 a mar/09, foi identificado que em 82% das dúvidas houve resolução plena.Conclusões: Consideramos que o TelessaúdeRS tem conseguido fornecer auxílio à tomada de decisão dos profissionais das ESF através das respostas a dúvidas clínicas devido à alta taxa de resolução destas. Configura-se, assim, em importante ferramenta de apoio à distância para qualificar a prática assistencial na Estratégia Saúde da Família no RS.
RELAÇÃO ENTRE O PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO E AS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS EM UM GRUPO DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS COM IDADE ENTRE 8 E 10 ANOS
DÉBORA SCHMIDT;ANA LUCIA BERNARDO DE CARVALHO MORSCH; FÁBIO TRENTIN
Introdução: A análise das pressões respiratórias máximas (PRmáx) é um método simples para avaliação da força muscular respiratória e o pico de fluxo expiratório (PFE) é utilizado para avaliar obstrução de vias aéreas, porém, ambos os métodos dependem da colaboração do indivíduo examinado. Objetivos: Analisar a correlação entre os valores de PRmáx e PFE em crianças saudáveis com idade entre 8 e 10 anos. Materiais e Métodos: Foi realizada a avaliação de 85 crianças saudáveis (46 meninas e 39 meninos), com idade entre 8 e 10 anos, residentes no município de Aratiba/RS. Após o consentimento dos responsáveis, avaliou-se as PRmáx utilizando um manovacuômetro digital modelo MVD 30, marca Globalmed; e o PFE utilizando um medidor de pico de fluxo portátil, Peak Flow Meter, Mini-Wright AFS™. Para as avaliações as crianças foram posicionadas sentadas, estando o tronco num ângulo de 90° com os membros inferiores. Resultados e Discussão: Houve correção entre o PFE e a pressão expiratória máxima (PEmáx) tanto no grupo de meninas, quanto no de meninos. Já a pressão inspiratória máxima (PImáx), apresentou correlação somente no grupo de meninas. Na literatura não foram encontrados estudos que correlacionassem os valores de pressões respiratórias máximas com os valores de PFE. O PFE é uma medida volume
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 233
esforço-dependente, fator que pode explicar a correlação encontrada especialmente entre o PFE e os valores de PEmáx. Sendo os músculos expiratórios os responsáveis pelo esforço exigido na mensuração do PFE, consequentemente, quanto maior o nível de força muscular destes, maior o pico expiratório a ser gerado. Conclusão: Os valores de PFE, mostraram correlação com a PEmáx em ambos os sexos e com a PImáx no grupo de meninas.
IMPACTO DA REDUÇÃO DA MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR NA TAXA DE REINTERNAÇÃO EM SETE DIAS
GUSTAVO NEVES DE ARAUJO;BRUNO ISMAIL SPLITT; MANOEL PEREIRA ARAÚJO NETO; MARISA KLUCK
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS. A avaliação de desempenho dos serviços de saúde é essencial. O objetivo deste trabalho é avaliar variação da média de permanência hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período entre 2003 e 2008, e as conseqüências de sua redução, relacionando-a principalmente com a mudança na taxa de reinternação hospitalar que segue essa medida. MATERIAIS E MÉTODOS. Foram analisados dados do sistema IG do Hospital de Clinicas de Porto Alegre referentes ao tempo de internação e taxa de reinternação, de janeiro de 2003 a janeiro de 2008, internados na área de Clínica Médica, mais especificamente na especialidade de Medicina Interna. Foi utilizado o programa Microsoft Excel para montar os gráficos e analisar os resultados. RESULTADOS. Houve diminuição do tempo de permanência na Clínica Médica e em sua especialidade Medicina Interna, e no mesmo período houve aumento da taxa de reinternação nas áreas citadas. CONCLUSÃO. O tempo de permanência elevado desnecessariamente pode ter efeito maléfico nos pacientes, e estar relacionado a uma maior taxa de infecção hospitalar e custos elevados do hospital e sistema de saúde. Por outro lado, re-internação também está associada a custo adicional, e pode ter efeito negativo na moral do paciente. Existe realmente uma relação entre tempo de permanência e taxa de reinternação, mas não se sabe qual é o balanço apropriado. A questão fundamental, no entanto, tem a ver com a qualidade do atendimento que o paciente recebe, visando sempre seu bem estar e ao mesmo tempo nunca abrindo mão da excelência técnica.
MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARANDO-SE OS MESES DOS ANOS DE 1997, 2002 E 2007
KARINE KRINDGES;TAMARA KOPS MACHADO; ANGÉLICA DA SILVA; AMANDA OCHOA LUCCA; CAMILA SOLIGO; CAMILA SIMON ZANOVELLO; NEUSA MARIA COSTA; MARISA KUMMER
As doenças do aparelho respiratório abrangem amplo espectro de eventos mórbidos de diferentes etiologias e de distinta gravidade que comprometem o trato respiratório. Tais doenças têm assumido importância crescente entre as causas de mortalidade no Brasil, sendo que o Estado de Santa Catarina apresenta a maior taxa de mortalidade do país. O objetivo deste estudo é conhecer qual o período em que o coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho respiratório em Santa Catarina é mais elevado, analisando os fatores relacionados, explicando as diferenças nos coeficientes em cada mês, nos anos observados, assim como verificando o crescimento percentual, gradativo, do ano de 1997 para com os anos 2002 e 2007. Realizou-se um estudo retrospectivo considerando as taxas de mortalidade geral das doenças do aparelho respiratório entre os anos de 1997, 2002 e 2007, no Estado de Santa Catarina, perante os meses de cada ano. Observou-se que o número de óbitos por doenças do aparelho respiratório aumentou significativamente, nesse Estado. Acredita-se que essas altas taxas estão relacionadas ao inverno mais rigoroso desta região e consequentemente por o estado apresentar um aumento anual de sua população, devido a sua economia, desenvolvimento e turismo. Entretanto esse desenvolvimento acaba por acelerar o processo de poluição ambiental, prejudicando a saúde dos indivíduos. A partir dos resultados obtidos, acredita-se que devam ser desenvolvidas políticas de prevenção, promoção e proteção da saúde da população para que ocorra a redução dos coeficientes de mortalidade. A implementação dessas medidas preventivas deve ser realizada ao longo do ano, e intensificadas com a proximidade do inverno, visto que este é o período de maior incidência dessas patologias.
ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE: ANÁLISE COMPARATIVA DE DOIS ANOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 234
LORIANE RITA KONKEWICZ;NADIA KUPLICH; MARCIA PIRES; FERNANDA CHASSOT; THALITA JACOBY; SANDRA GASTAL; GUILHERME SANDER; FABIANO NAGEL; RODRIGO DOS SANTOS
Introdução: a higienização das mãos é uma medida simples para prevenir infecções hospitalares, mas nem sempre é adotada pelos profissionais de saúde. Objetivo: avaliar a adesão dos profissionais à higienização das mãos no CTI do HCPA, comparando os anos de 2007 e 2008. Materiais e Métodos: a higienização das mãos no CTI do HCPA foi observada pela CCIH, avaliando-se o uso de água e sabão e/ou álcool gel e a técnica. Resultados: durante os anos de 2007 e 2008, foram observadas 10.788 oportunidades de higienização das mãos no CTI do HCPA, em média 450 observações por mês, resultando na média de adesão geral de 56,1%, com variações de 46 a 65%. Em 2007 a adesão foi de 56,1% e em 2008 56,2%. A adesão ao uso de água e sabão foi 60% e álcool 40%, sem diferenças nos dois anos. A média de higienização dos enfermeiros em 2007 foi 77,8% e em 2008 foi 76,9%, técnicos de enfermagem 51,4% em 2007 e 51,6% em 2008 e médicos 46,9% em 2007 e 42,2% em 2008. As médias de adesão entre os turnos foram manhã 51,2% em 2007 e 58,5% em 2008, tarde 60% em 2007 e 45,8% em 2008 e noite 56,9% em 2007 e 68,2% em 2008. Foram também observadas em média 23,4% de falhas na técnica de higienização no período, sendo que as falhas com uso de água e sabão passaram de 26,6% em 2007 para 31,5% em 2008 e as falhas na fricção com álcool foram de 7,4% em 2007 e 24,7% em 2008. Conclusões: a adesão à higiene das mãos no CTI do HCPA não se alterou entre os anos de 2007 e 2008. Em todo período os enfermeiros higienizaram mais que os técnicos de enfermagem e os médicos. Nos turnos da manhã e noite houve melhora da adesão, enquanto a tarde piorou. As falhas na técnica aumentaram e foram menores com o uso do álcool gel. Conclui-se que novas estratégias para melhorar a adesão à higiene de mãos devem ser instituídas.
AVALIAÇÃO DA COLONIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE DURANTE UM SURTO DE ACINETOBACTER SPP. PAN-RESISTENTE
LORIANE RITA KONKEWICZ;NADIA KUPLICH; MARCIA PIRES; THALITA JACOBY; SANDRA GASTAL; GUILHERME SANDER; FABIANO NAGEL; RODRIGO DOS SANTOS
Introdução: a colonização dos profissionais de saúde pode representar um foco de transmissão de infecções, especialmente durante a ocorrência de surtos de infecções hospitalares. Objetivo: avaliar a colonização dos profissionais do CTI do HCPA, para Acinetobacter spp pan-resistente e outras bactérias, durante a ocorrência de um surto de infecções por essa bactéria. Materiais e Métodos: em julho de 2007 foram coletadas amostras nasais e das mãos dos profissionais do CTI do HCPA que prestavam assistência a pacientes portadores de Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos, para pesquisar a colonização por essa bactéria e outras Gram-negativas. As amostras foram coletados pelos profissionais da CCIH e as culturas realizadas na Unidade de Microbiologia. Resultados: foram coletados amostras nasais e das mãos de 99 profissionais do CTI do HCPA, 46% médicos, 33% técnicos de enfermagem, 15% enfermeiros, 5% fisioterapeutas e 1% técnico de RX. As amostras foram positivas para Acinetobacter spp. pan-resistente em 3 profissionais (3%), 2 em sítio nasal e 1 nas mãos. Mais 8 profissionais (8%) apresentaram positividade para outros Gram- negativos, 6 em swabs nasais e 2 nas mãos. A média de colonização geral foi 11%. A colonização por categoria profissional foi 6% técnicos de enfermagem, 2% médicos, 2% enfermeiros e 1% fisioterapeutas. As outras bactérias Gram-negativas encontradas foram Enterobacter spp., bacilo Gram-negativo não fermentador, Klebsiella oxytoca, Proteus spp. e Serratia spp. Os profissionais portadores de Acinetobacter spp foram descolonizados e novas culturas após 1 semana foram negativas. Conclusões: a colonização nos profissionais do CTI do HCPA foi maior em sítio nasal, tanto por Acinetobacter spp. pan-resistente como por outras bactérias Gram-negativas.
IMPACTO DAS QUEDAS ENTRE AS PESSOAS IDOSAS FREQUENTADORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMITOS: FATORES DE RISCO E AGRAVOS
VANESSA MÜLLER RODRIGUES FERREIRA;CAROLINA FAJARDO VALENTE PAGLIARIN BRUGGEMANN; TIAGO SANTER; RAFAEL AMORIM LOPES; JOCONDO SANTER; SILVANA MARIA PETRY
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 235
O processo de envelhecimento e aumento da população idosa traz a tona a discussão de eventos incapacitantes para os idosos, sendo os acidentes por quedas, influenciados por fatores cumulativos de alterações relacionadas a idade, doenças e meio-ambiente. O presente estudo tem como objetivo evidenciar os agravos e fatores de risco para as quedas em pessoas com mais de 60 anos de idade que buscam as Unidades Básicas de Saúde no Município de Palmitos SC, 2009. Foi realizado dimensionamento amostral. Para o estudo utilizou-se como instrumento um questionário com 29 questões envolvendo fatores de risco e agravos para quedas. Foram entrevistados 178 idosos, 89 mulheres e 89 homens, com idades de 60 a 92 anos e média de idade 69,5 anos. A prevalência de quedas foi de 30,9%. As mulheres têm mais risco de cair que os homens. Relacionado à idade ter mais de 80 anos representa maior risco de quedas. Quanto ao estado civil estar viúvo representa o maior risco de quedas. Em relação a renda não ter renda demonstra maior risco para quedas. Os principais fatores de risco de quedas para as mulheres foram os pisos irregulares/escorregadios e entre os homens foi a alteração no equilíbrio. Entre as faixas etárias dos 60 a 69 anos e 70 a 79 anos, os pisos irregulares/escorregadios tiveram maior relação com as quedas, e nos 80 anos ou mais também a pressa em realizar alguma atividade Os fatores extrínsecos são os principais fatores desencadeadores das quedas tanto na primeira quanto na segunda queda. As principais conseqüências das quedas foi o medo de cair novamente e a necessidade de ajuda para realizar as atividades diárias. Constatou-se que o conhecimento dos fatores de risco e agravos possibilita o envelhecimento ativo e saudável.
CAMPANHA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO HCPA: OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS
RODRIGO PIRES DOS SANTOS;ELIZETH HELDT; LORIANE KONKEWICZ; FERNANDA CHASSOT; NADIA KUPLICH; MARCIA PIRES; THALITA JACOBY; SANDRA GASTAL; GUILHERME SANDER; FABIANO NAGEL; ROSALBA RIGUI; MARIA LUCIA FALK
Introdução: a higienização das mãos é uma das medidas mais importantes para a prevenção da transmissão de infecções. No HCPA, a CCIH observa a higienização das mãos pelos profissionais desde 2005, demonstrando taxas nem sempre favoráveis, em média 53% de adesão. Além disso, desde 2008, o HCPA é um dos 5 hospitais do país que participa da Estratégia Multimodal para a melhoria da higienização das mãos, como parte da “Aliança Mundial para a Segurança do Paciente” da OMS/OPAS/ANVISA. Objetivos: melhorar a adesão à higienização das mãos pelos profissionais, através de uma campanha interna no HCPA. Materiais e Métodos: a campanha intitulada “Operação Mãos Limpas” foi realizada no HCPA no dia 28 de abril de 2009, organizada pela CCIH e pelo Grupo de Trabalho para Melhoria do Cuidado Assistencial. Foram instalados novos dispensadores de álcool do tipo “spray” em locais estratégicos, frascos de bolso com uma nova formulação de álcool gel, cartazes e folhetos ilustrativos. Também foram realizadas palestras, apresentação de vídeo no anfiteatro e refeitório, e apresentação da peça teatral “Os Gladiagermes”, pelo grupo teatral do HCPA. Resultados: Foram instalados 112 novos dispensadores de álcool “spray”, além dos dispensadores de álcool gel já existentes, e distribuídos ao longo do dia 1200 novos frascos de bolso de álcool gel e folhetos ilustrativos para os profissionais do hospital. Mais de 500 funcionários participaram das palestras e apresentação da peça teatral. Conclusão: a campanha mobilizou grande parte dos profissionais do hospital, buscando maior conscientização sobre a importância da higienização das mãos e possibilitando o aumento dessa prática. A partir dessa campanha e de novos treinamentos, pretende-se alcançar um aumento na adesão à higiene de mãos acima de 75%.
TAXAS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES NA INTERNAÇÃO DO HCPA NO PERÍODO DE 2004-2009
BRUNO MENDONÇA RIBEIRO;FELIPE CANELLO PIRES; CAROLINA SOARES DA SILVA; CHRISTINE HORN OLIVEIRA; BEATRIZ MARQUARDT LEITE; MARIZA MACHADO KLUCK
Introdução: No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, no período de 2000-2004 houve um aumento de 25% na taxa de solicitação de exames. Isto acarreta um aumento do custo da assistência à saúde, além de, em grande parte das vezes, não colaborar para o processo diagnóstico e não se traduzir em benefício direto ao paciente. Objetivos: Analisar a taxa média de solicitação de exames para pacientes internados no HCPA, por especialidade e por pagador, no período de 2004 a 2009. Material e Métodos: Foram obtidos no Sistema de Informações Gerenciais (IG) do HCPA, dados referentes às taxas de solicitação de exames para pacientes internados no período citado, num total de 151.753 internações e 5.050.195 exames solicitados. Resultados e Conclusão: Seguindo a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 236
tendência nacional, a taxa de solicitação de exames no HCPA vem crescendo gradativamente ao longo dos anos, variando de uma média de 3,4 exames/paciente.dia em 2004 para 4,5 em 2009. Para pacientes do SUS, representando esta tendência foram solicitados uma média 3,3 exames/paciente.dia em 2004, e em 2008 a taxa já chegava a 4,5, um aumento de 34%. Com base nos dados, vemos que se faz necessário uma política de conscientização da população médica em geral para que sejam solicitados somente os exames necessários e quando for necessário. Além disso, a publicidade dirigida ao público e estudantes de medicina também deve ser abordada, pois ela é fonte importante de supervalorização das novas técnicas diagnósticas que surgem a cada dia.
ÍNDICE DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES POR PACIENTE NO HCPA NOS ANOS DE 2004 A 2009
LUCIANA VIEIRA BASTIANELLI;ANA CLAUDIA DE SOUZA; JONATAN WILLINA RODRIGUES JUSTO; FELIPE GUTIERREZ; TIAGO CAMPOS GONÇALVES
INTRODUÇÃO: Exames diagnósticos e de imagem são ferramentas essenciais para o screening de doenças e significam um enorme gasto para as instituições médicas. Existem poucos estudos a respeito do assunto, mas todos são unânimes em afirmar que a taxa de solicitação de exames por paciente aumentou consideravelmente nos últimos anos. OBJETIVO: Analisar como tem se comportado a taxa de solicitação de exames por paciente internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e com isso contribuir para a melhora da qualidade assistencial desse hospital. MATERIAIS E METODOS: Obtivemos os dados do sistema IG; em seguida realizamos busca bibliográfica no PUBMED, Google acadêmico e MEDLINE. Foram analisadas 1.279.953 internações e 4.952.765 solicitações de exames realizadas no período de janeiro de 2004 a abril de 2009. RESULTADOS: O aumento do número de exames solicitados não é proporcional ao aumento no número de internações; a Clínica Médica é a responsável pelo maior número de solicitação de exames; Medicina interna, hematologia clínica, cardiologia, nefrologia, e gastroenterologia tiveram um aumento no número de solicitação de exames; o serviço de cardiologia e de medicina interna, apesar de demonstrarem diminuição no número de internações entre 2004 e 2008, tiveram um aumento no número de exames solicitados. CONCLUSÕES: Podemos inferir que o HCPA tem solicitações de exames em excesso, sendo necessárias algumas medidas que possam interferir com finalidade de conter os valores exuberantes e desnecessários que são gastos. Fica muito claro que solicitar muitos exames não é sinônimo de boa conduta médica. Um bom atendimento é aquele em que é prestada assistência a um grande número de pacientes com menor gasto e maior qualidade possível.
ÉTICA
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE COERÇÃO EM PESQUISA EM PARTICIPANTES DO HCPA
SINARA DE ALMEIDA VIERO;JÚLIA SCHNEIDER PROTAS, AMÉLIA TEIXEIRA, LINDA HERRERA, KÁTIA FERREIRA, AURINEZ SCHMITZ, FABÍOLA CUBAS, JOSÉ ROBERTO GOLDIM
Introdução: A voluntariedade é um dos pilares do processo de consentimento informado, pois permite ao participante escolher no seu melhor interesse, livre de pressões externas. O estudo da percepção de coerção torna-se fundamental por proporcionar que um valor ou crença pessoal seja diferenciado de uma situação de coerção por terceiros. Objetivo: verificar a percepção de coerção em participantes de pesquisa do HCPA. Método: A escala de Percepção de Coerção em Pesquisa possui 5 níveis de coerção percebida, sendo 0 a ausência de percepção de coerção e 5 o nível máximo. O instrumento foi aplicado em uma amostra aleatória de 235 participantes de projetos de pesquisa no HCPA. Todos os participantes autorizaram a utilização de seus dados através do TCLE. Foram realizadas análises estatísticas descritivas e inferenciais. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Resultados: 34,5% dos participantes apresentaram 0 de percepção de coerção; 33,2% tiveram escore 1, seguidos de 25,5% com escore 2. Apenas 6% apresentaram nível 3 e 9% apresentaram nível 4. Nenhum participante teve percepção de coerção grau 5. As questões envolvendo espontaneidade (42,1%) e influência (41,0%) foram as que obtiveram maior grau de percepção de coerção. Conclusão: Os resultados deste estudo indicam que o nível de percepção de coerção são níveis baixos, entre 0 e 2, indicando que a voluntariedade dos participantes de pesquisa têm se mantido preservada no processo de consentimento informado. Tais resultados reforçam a importância deste processo como etapa fundamental para o desenvolvimento de estudos com seres humanos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 237
A PERCEPÇÃO DE COERÇÃO EM PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS NO HCPA
LINDA BETINA HERRERA;JÚLIA SCHNEIDER PROTAS; AMÉLIA TEIXEIRA; SINARA VIERO; KÁTIA FERREIRA; AURINEZ SCHMITZ; FABÍOLA CUBAS; JOSÉ ROBERTO GOLDIM
Introdução: A percepção de coerção na realização de procedimentos assistenciais pode ser considerada como fator de extrema importância para avaliar a autonomia e a adesão ao tratamento do paciente, além de ser um dado importante na relação médico-paciente. Objetivo: avaliar a percepção de coerção de pacientes do HCPA. Método: A escala de percepção de coerção em procedimentos assistenciais foi aplicada em 410 pacientes que realizam tratamento no HCPA. Este instrumento é composto por 4 níveis de percepção de coerção, sendo 0 a ausência de coerção percebida e 4 o nível máximo. Resultados: 70% dos participantes obtiveram grau 0 de percepção de coerção, 19% nível 1 e 9,8% grau 2 de percepção de coerção. Apenas 7% apresentaram grau 3 e 5% grau 4 de coerção percebida. Conclusão: A maioria dos pacientes que participaram do estudo obtiveram grau 0 de percepção de coerção, indicando que possuem sua autonomia preservada, sentindo-se participante do seu tratamento. A questão que envolve o interesse da equipe pela opinião do paciente sobre seu tratamento foi a que obteve o maior grau de percepção de coerção, evidenciado que, por vezes, o paciente se sente constrangido e percebe sua opinião como sendo não importante para a equipe assistencial. Esses dados mostram a importância de haver um vínculo de confiança entre paciente-profissional da saúde para o bom andamento do tratamento e para a preservação da autonomia do paciente neste processo.
FARMÁCIA
DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS SANGÜÍNEOS DE HEMOGLOBINA FETAL EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME E USO DE HIDROXIURÉIA
DANIEL BERNEIRA;MARIELA GRANERO FARIAS, SUZANE DAL BO, SIMONE MARTINS DE CASTRO
Introdução: A anemia falciforme (AF) é a doença genética mais prevalente no mundo. No Brasil é um importante problema de saúde pública devido à sua alta incidência. Sabe-se atualmente que a intensidade das manifestações clínicas dessa enfermidade está diretamente relacionada com os níveis de hemoglobina fetal (Hb F) nos portadores. A Hidroxiuréia (HU), uma droga mielossupressora citostática, é a terapia de maior sucesso no tratamento da AF. Seus efeitos se dão através da ativação da síntese de Hb F. Objetivos: No presente trabalho foram analisados os níveis de Hb F em pacientes portadores homozigóticos dessa hemoglobinopatia (SS) que faziam ou não uso de HU. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo nos prontuários de 90 pacientes com AF do Serviço de Hematologia do HCPA para a confirmação do uso de HU. A dosagem de Hb F foi feita rotineiramente através do método de desnaturação alcalina. Foi calculada a concentração mediana dos níveis da Hb F dos pacientes que estavam e dos que não estavam em uso de HU. Resultados: O grupo de pacientes em tratamento com HU (74,4%) obteve concentração mediana de Hb F de 12,3%, com intervalo de percentis entre 7,9 - 18,1%. O grupo de pacientes que não usou HU (25,6%) obteve concentração mediana de 10%, com intervalo de percentis entre 3,73 - 16,8%. Conclusão: Em muitos pacientes houve uma elevação dos níveis de Hb F, já em outros esse aumento não foi verificado, demonstrando uma resposta insuficiente à HU. Parte dos pacientes analisados apresentou altos níveis de Hb F, porém não estando em uso da HU. Desordens mieloproliferativas, persistência hereditária de Hb F ou a associação com outras hemoglobinopatias podem aumentar os níveis da Hb F. A HU é uma alternativa importante, portanto, no tratamento das complicações da AF. Porém novas alternativas medicamentosas devem ser pesquisadas para pacientes que possuem resistência ao medicamento.
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E ETIOLOGIAS DOS CASOS DE MENINGITE CONFIRMADOS NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RS
FRANNCKLYN MATHIAS SCHÄFER;BIBIANA VERLINDO DE ARAUJO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 238
Introdução: Meningite é uma doença que por sua freqüência e potencial de causar surtos ainda é considerada um grande problema de saúde pública, acometendo principalmente crianças e adolescentes. O seu diagnóstico pode ser realizado através de diversas metodologias, e depois de estabelecido, pode auxiliar o clinico na decisão terapêutica. Objetivos: Avaliar as etiologias e os métodos diagnósticos empregados na análise confirmatória dos casos de meningites registrados na 14ª Coordenadoria Regional de Saúde do RS (CRS), no período de janeiro de 2001 à dezembro de 2008. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo dos casos, através da análise dos prontuários dos pacientes, previamente aprovado pelo CEP/URI (# 120-04/PPH/08). Os dados foram tabulados em planilha Excel. Resultados e Conclusões: Ao todo foram analisados os prontuários de 254 pacientes. A etiologia de maior predominância foi a viral (64,6 %) seguida da bacteriana (25,2%), sendo que outras etiologias tiveram baixa freqüência (10,2%), com apenas um caso de etiologia não-especificada (0,39%). O critério diagnóstico realizado com maior freqüência foi o exame Quimiocitológico do líquor (68,1%), seguido de Cultura (7,5%), Bacterioscopia (7,1%), Aglutinação em látex (4,3%), Clinico (3,9%) e Contraimunoeletroforese cruzada (2,8%), sendo que os demais critérios possíveis, Vinculo epidemiológico e Prova terapêutica, somados geraram apenas 1,2% dos diagnósticos. Apenas 4,3% dos casos não tiveram o critério diagnóstico informado. Os dados demonstram que o padrão-ouro para o diagnóstico, a cultura, apresentou uma baixa freqüência, sendo que grande parte dos casos foram definidos através da análise citoquimica do liquor, o que pode ser associado ao maior acesso e rapidez das informações para o inicio da farmacoterapia.
EFEITO DO TRATAMENTO COM ERITROPOIETINA RECOMBINANTE HUMANA SOBRE O DANO OXIDATIVO EM DNA DE LEUCÓCITOS E PROTEÍNAS PLASMÁTICAS DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
ELISA AITA ARTUSI; GISELLE L. RITTER; JOLCIMARA A. TACCA; LIDIANA A. BIASI; SAMILE SESSE; VANUSA MANFREDINI
A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é um processo decorrente da perda progressiva da capacidade funcional dos rins e, resulta no acúmulo de compostos tóxicos no organismo, sendo a anemia uma complicação frequente, devido à deficiência dos rins em produzir eritropoetina. A melhora deste quadro clínico pode ser observada pelo uso da eritropoetina recombinante humana (Epo-rHu). Estudos recentes apontam que as espécies reativas do oxigênio (ERO) estão envolvidas no envelhecimento celular e diversas doenças degenerativas, especialmente nas complicações tardias da IRC. Sabe-se que as ERO são capazes de danificar lipídeos de membrana, proteínas plasmáticas e o DNA. O objetivo deste trabalho foi avaliar o dano oxidativo no DNA pelo Ensaio Cometa in vitro e em proteínas plasmáticas pelo Método do Carbonil de pacientes que realizam hemodiálise e fazem ou não uso de Epo-rHu. Amostras de sangue de indivíduos saudáveis com idades semelhante a dos pacientes foram utilizadas como controle. O sangue total dos pacientes e controles foi obtido no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Santa Terezinha de Erechim-RS. Os resultados encontrados mostram um índice de dano (ID) oxidativo no DNA significativamente aumentado nos pacientes com IRC que não fazem uso de Epo-rHu (ID=36,7±5,8) em relação aos pacientes com IRC tratados com Epo-rHu (ID=22,5±3,9) e ao grupo controle (ID=15±1,0). Em relação à oxidação nas proteínas plasmáticas, os dados apontam também um aumento estatisticamente significativo do dano oxidativo nos pacientes com IRC não tratados com Epo-rHu (2,95nmol carbonil/mg proteína) em relação aos pacientes com IRC tratados com Epo-rHu (2,19nmol carbonil/mg proteína) e aos controles (1,98nmol carbonil/mg proteína). Sendo assim, conclui-se que o uso de Epo-rHu pode exercer um efeito protetor sobre o dano oxidativo no DNA e em proteínas plasmáticas de pacientes com IRC que realizam hemodiálise.
ESTUDO DAS TAXAS DE GERMES MULTIRRESISTENTES EM HOSPITAL DO SUL DO BRASIL NO ANO DE 2008
ANGÉLICA BAUER CECHINEL;THALITA JACOBY; JULIANA WINTER; ANGÉLICA CECHINEL; LORIANE KONKEVICZ; NADIA KUPLICH; MARCIA PIRES; SANDRA GASTAL; GUILHERME SANDER; FABIANO NAGEL; RODRIGO DOS SANTOS
Introdução: A emergência e disseminação de Germes Multirresistentes (GMR) vêm se tornando um problema de saúde pública, sendo associada a múltiplos fatores de risco. As principais conseqüências são aumento da morbi-mortalidade e dos custos das internações. Objetivo: Monitorar
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 239
as taxas e caracterizar a freqüência de (GMR) no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Metodologia: O estudo foi realizado de jan-dez/2008 pela CCIH do HCPA e incluiu culturais de pacientes adultos e pediátricos internados na instituição. Os resultados dos exames culturais foram adquiridos do sistema informatizado do HCPA e classificados, por enfermeiras da CCIH, em hospitalar/comunitária, colonização/infecção e multirresistência. Os critérios de multirresistência foram estabelecidos com base na epidemiologia local. Os GMR foram digitados em banco de dados e a taxa de GMR calculada por 1000 pacientes/dia. Resultados: De jan-dez/2008 a taxa geral de GMR foi de 3,1/1000 pac/dia. Identificamos redução estatisticamente significativa, de 3,8 no mês de janeiro para 1,4 no mês de dezembro (P=0,012). Foram identificados 745 GMR: 29,9% Klebsiella spp, 26,6% Staphylococcus aureus (MRSA), 14,0% Pseudomonas aeruginosa, 10,3% E. coli, 7,1% Acinetobacter spp, 4,4% Enterobacter spp, 2,7% Burkholderia cepacia, 2,3% Stenotrophomonas maltophilia, 1,5% Proteus spp, 0,4% Serratia spp, 0,4% Enterococcus, 0,1% Citrobacter Koseri, 0,1% Providencia spp, e 0,1% Streptococcus pneumonie. Conclusão: A redução de GMR na instituição pode ter sido atribuída às medidas adotadas pela CCIH através de treinamentos, controle no uso de antimicrobianos, sinalização de pacientes portadores de GMR, e quando possível isolamento desses pacientes em unidades específicas.
EFEITO DO TRATAMENTO COM ESTATINA SOBRE A ATIVIDADE DA PARAOXONASE DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 E DISLIPIDÊMICOS
DIANA MONTI ATIK;VANUSA MANFREDINI; CAMILA SIMIONI VANZIN; GIOVANA BRONDANI BIANCINI; CARLOS ALBERTO YASIN WAYHS; CARMEN REGLA VARGAS
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade dela exercer adequadamente seus efeitos. O DM tipo 2 (DM2) contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e os processos inflamatórios relacionados a estas são considerados importantes fatores prognósticos. Estudos apontam que as espécies reativas de oxigênio (ERO) estão envolvidas nas complicações micro e macrovasculares do DM2. A paraoxonase (PON1) é uma enzima hepática que desempenha uma função essencial no metabolismo de lipídios e pode conferir uma proteção natural contra eventos coronarianos. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar, por espectrofotometria a atividade da PON1 e por imunoturbidimetria os níveis da proteína C-reativa (CRP) e das apolipoproteínas A-I e B em soro de pacientes DM2 dislipidêmicos tratados ou não com estatina (sinvastatina, 20mg/dia) e correlacionar com o perfil lipídico dos mesmos. Materiais e métodos: As amostras biológicas foram obtidas no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da UFRGS. Amostras de indivíduos saudáveis com idade semelhante a dos pacientes foram utilizadas como controle. Foram dosados ainda colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e triglicerídeos no soro. Resultados e conclusões: Os resultados mostram que os níveis da CRP e apoB estão estatisticamente diminuídos, enquanto os da PON1 e apoA-I estão aumentados nos pacientes DM2 dislipidêmicos tratados com estatina em relação aos não tratados. Nossos resultados permitem sugerir que o tratamento com estatina além de corrigir o perfil lipídico dos pacientes com DM2, aumenta a atividade da PON1, possibilitando a redução do processo inflamatório provavelmente prevenindo, assim, eventos coronarianos.
EFEITO DO TRATAMENTO AGUDO COM 3-BUTIL-1-FENIL-2-(TELÚRIOFENIL)OCT-2-EN-1-ONA SOBRE AS DEFESAS ANTIOXIDANTES CATALASE E SUPERÓXIDO DISMUTASE EM CÉREBRO DE RATOS
FRANCIÉLI PEDROTTI ROZALES;BRUNA MEZZALIRA, TANISE GEMELLI, CARLOS AUGUSTO SOUZA CARVALHO, ELIAS TURCATEL, ANDRESSA S. CENTENO, VANESSA O. CASTRO, LÍVIA, S. OLIBONI, MIRIAN SALVADOR, ROBSON BRUM GUERRA, ADRIANA COITINHO, CAROLINE DANI, ROSANE GOMEZ, CLÁUDIA FUNCHAL
Introdução: Compostos de telúrio (Te) tanto inorgânicos quanto orgânicos são altamente tóxicos, podendo afetar tecidos como pele e rins, além de serem potentes agentes neurotóxicos, causando hidrocefalia, hipomielinização e desmielinização. É provável que os efeitos tóxicos de tais compostos estejam relacionados a um desequilíbrio entre a síntese de radicais livres e o sistema antioxidante, promovendo estresse oxidativo. Objetivo: Considerando que pouco se conhece dos mecanismos bioquímicos envolvidos na exposição ao Te o objetivo deste trabalho foi investigar o efeito tratamento
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 240
agudo com organocalcogênio 3-butil-1-fenil-2-(telúriofenil)oct-2-en-1-ona sobre as enzimas antioxidantes no córtex cerebral, hipocampo e cerebelo de ratos jovens. Metodologia: Foram utilizadas 32 ratas Wistar com 30 dias de idade, tratadas com uma única injeção intraperitonial de solução salina, 125, 250 ou 500 µg/kg do organotelúrio (n = 8/grupo). Após 1h da administração, as ratas foram sacrificadas por decapitação sendo o córtex cerebral, hipocampo e cerebelo isolados imediatamente e homogeneizados com tampão KCl. Os homogeneizados foram utilizados para os ensaios das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). Resultados: A atividade da enzima CAT foi reduzida no córtex cerebral nas concentrações de 250 e 500 µg/kg do organocalcogênio e no cerebelo na concentração de 250 µg/kg do organotelúrio, enquanto no hipocampo não foi observada alteração. A atividade da enzima SOD foi inibida em todos os tecidos estudados, sendo no córtex em todas as concentrações e no hipocampo e cerebelo nas concentrações de 250 ou 500 µg/kg do composto. Conclusão: Podemos supor que o organocalcogênio 3-butil-1-fenil-2-(telúriofenil)oct-2-en-1-ona induz neurotoxicidade por depleção do sistema antioxidante, provavelmente gerando estresse oxidativo no cérebro de ratos. Apoio financeiro: Centro Universitário Metodista IPA e Universidade de Caxias do Sul.
PENICILINAS E AMINOGLICOSÍDEOS: MANEJO DAS INTERAÇÕES EM PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA
RAQUEL GUERRA DA SILVA;LUCIANA DOS SANTOS; JACQUELINE MARTINBIANCHO
Introdução: Fibrose cística é uma doença genética. Associação de antibióticos na internação hospitalar acarreta aumento das interações medicamentosas e reações adversas nestes pacientes. O sinergismo entre penicilinas, associadas ou não a inibidores de beta-lactamases, com aminoglicosídeos são a base para tratamento das infecções agudas. Objetivo: Descrever freqüência e manejo das interações entre penicilinas e aminoglicosídeos em pacientes pediátricos com fibrose cística do HCPA. Métodos: Realizou-se estudo de coorte de outubro de 2008 a maio de 2009 com pacientes até 18 anos. Realizou-se análise das prescrições 2 vezes por semana, mediante checagem das interações pelo DrugDex-Micromedex. Identificadas as interações entre os antibióticos, folha-alerta foi colocada nas pastas dos pacientes a fim de sinalizar as interações para equipes e, após 24 horas, verificou-se o manejo de administração mediante horários aprazados pela enfermagem. Resultados: Acompanhou-se 52 pacientes, sendo 29(55,7%) do sexo masculino e 12(23%) colonizados por S.aureus. A média de idade de 9,7 anos (DP ± 4,7). De 186 prescrições analisadas, com média de 28,7 itens, encontraram-se 183 interações medicamentosas, destas 41(22,4%) foram entre aminoglicosídeos e penicilinas. Quanto ao efeito da intervenção, 34(65,4%) alteraram o horário de administração com intervalo de 1 a 2 horas e 17(32,7%) monitaram os pacientes quanto a efeitos adversos. Dentre as interações, as mais freqüentes foram Amicacina + Oxacilina (n=14) e Oxacilina + Tobramicina (n=13). Conclusão: A administração concomitante entre os antibióticos poderá resultar em perdas de efeito medicamentoso, acarretando prejuízos ao paciente. Segundo literatura, o intervalo de administração deve ser seguido a fim de se minimizar o efeito da interação.
ESTUDO DOS EFEITOS GENOTÓXICO IN VITRO DE CAMELIA SINENSIS E PROTETOR DA VITAMINA C
LIDIANA APARECIDA BIASI;JOLCIMARA AMREIN TACCA; PAOLA SERAFIM; ROBERTA TREMEA; MELISSA SCHWANZ; VANUSA MANFREDINI
A utilização do arsenal de plantas medicinais na terapêutica representa, hoje, uma alternativa de tratamento, principalmente pelo baixo custo quando comparada aos medicamentos sintéticos. Porém, a grande preocupação da ciência é saber se o uso destas plantas é realmente seguro. Camellia sinensis, popularmente conhecida como chá verde, tem sido amplamente estudada para comprovação das atividades antioxidante, antimicrobiana, quimioprotetora e emagrecedora, entretanto, a ciência carece de pesquisas sobre os possíveis danos que o extrato da planta pode oferecer. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a ação genotóxica do extrato aquoso de amostra comercial de C. sinensis a atividade antioxidante da vitamina C, através do ensaio Cometa in vitro. As células sangüíneas foram pré-tratadas com o infuso e a vitamina C por 12 horas a 37ºC, nas concentrações de 0,5%, 1%, 2%, 5% e 10%. e vitamina C (200mg/mL), sendo que para o controle usou-se solução salina 0,9%. Os dados obtidos foram expressos de acordo com o índice de dano
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 241
(ID). Os resultados obtidos mostram que a genotoxicidade dos extratos aquosos de amostra comercial de C. sinensis é dosedependente. O extrato aquoso de C. sinensis na concentração de 10% teve maior ID em relação às demais concentrações e ao controle (salina). A adição da vitamina C (200mg/mL) mostrou um efeito antioxidante em todas as concentrações, protegendo a célula do dano oxidativo. Os resultados permitem sugerir que a vitamina C é um potente antioxidante hidrofílico, entretanto, deve-se ter cuidado no uso indiscriminado de plantas popularmente conhecidas na forma de chás e infusões, pois há poucos estudos sobre possíveis efeitos genotóxicos no organismo humano.
PROGRESSÃO DO TRATAMENTO DO DIABETES MELITO TIPO 2 EM PACIENTES PARTICIPANTES DE GRUPOS HIPERDIA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO RS
ISABEL CRISTINA DE MACEDO;MAGDA SUSANA PERASSOLO
O tratamento do Diabetes Melito tipo 2 (DM2) objetiva tratar os sintomas e prevenir ou retardar complicações vasculares, inclui mudanças no estilo de vida, controle dietético, uso de agentes orais ou insulina. Apresenta uma piora gradual da glicemia de jejum, necessitando ao longo do tratamento aumentar a dosagem ou associar medicamentos ou insulina. Objetivo: Analisar a progressão do tratamento do DM2 em uma unidade básica de saúde (UBS). Métodos: Um questionário estruturado levantou informações sobre idade, sexo, IMC, pressão arterial, glicemia, estilo de vida, tratamento e complicações do DM2 junto a 61 pacientes de uma UBS. Resultados: 70,5% sexo feminino, faixa etária entre 32 e 78 anos, tempo de diagnóstico de 6,9 ± 6 anos, glicemia 172 ± 67mg/dl, pressão arterial de 143/88 ± 22/18 mmHg. Complicações: 31,0% retinopatia, 11,5% neuropatia. 54,0% dos pacientes mantêm a mesma conduta desde o diagnóstico, enquanto 46,0% tiveram alterações no tratamento. Controle da dieta como forma de tratamento, é usado por 11,5%, dos pacientes, 9,7% associam controle da dieta e exercícios físicos, 45,9% usam um antidiabético, 23% associam antidiabéticos, 8,2% usam insulina, 1,7% usam insulina e antidiabético. 27,08% usam metformina, 27,08% usam glibenclamida, 2,08% usam clorpropramida, 2,08% usam glimepirida, 29,2% usam metformina e glibenclamida, 10,4% e 2,08% usam insulina e metformina. Conclusão: A progressão no tratamento do DM2 pode prevenir complicações no momento que visa estabelecer valores de glicemia mais próximos dos valores padrões à medida que a doença evolui. No grupo de pacientes pesquisados a média dos valores de glicemia permite inferir que o controle da glicemia não está sendo alcançado, e que poderia ser obtido com alterações no tratamento atual destes pacientes (Apoio financeiro: Centro Universitário Feevale).
ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE ONDANSETRONA INJETÁVEL NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
THALITA SILVA JACOBY;DAIANDY DA SILVA; JACQUELINE KOHUT MARTINBIANCHO; JOICE ZUCKERMANN; MARIA ELISA FERREIRA DOS SANTOS; LUCIANA DOS SANTOS; LUIZA ABRANTES TAVARES; MARIANA KLIEMANN MARCHIORO; RAQUEL NIEMCZEWSKI BOBROWSKI; RAQUEL GUERRA DA SILVA
Introdução: Ondasentrona é um antiemético antagonista seletivo dos receptores serotoninérgicos (5-HT3), largamente empregado no manejo da êmese induzida por quimioterapia antineoplásica, radioterapia e no pós-opératório por apresentar boa efetividade e poucos efeitos colaterais. Objetivos: Identificar as principais indicações, uso off label , dose e posologia de ondasentrona em pacientes adultos e pediátricos. Metodologia: Foram incluídos aleatoriamente pacientes adultos e pediátricos hospitalizados em unidades clínicas cirúrgicas e de tratamento intensivo no HCPA, em uso de ondasentrona injetável, no período de 09/03/2009 à 12/06/2009. O acompanhamento destes pacientes foi realizado através de pesquisa em prontuário. As indicações foram avaliadas de acordo com as recomendações do FDA (Food and Drug Administration). Resultados: Durante o período do estudo foram incluídos 301 pacientes com prescrição de ondansetrona. 75% (227) dos casos apresentavam indicação de uso liberada pelo FDA para profilaxia de náuseas e vômitos causados por: quimioterapia de alto e moderado índice emetogênico 3,3% e 5,6%, respectivamente, no pós-operatório 65,1% e 1,3% induzidos por radiação (radioterapia). Nas situações em que foi prescrito como off label 25% (74) as principais indicações foram falta de efeito da metoclopramida 12,6%, náuseas e vômitos não especificados 4,3% e alergia à metoclopramida 2,7%. Na maioria das vezes, foi prescrito como fixo 81,2% e 18,8% como se necessário (SN). As doses mais freqüentes foram de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 242
4 e 8 mg - 64,1% e 30,2%, respectivamente. A posologia mais prescrita foi de 8/8 horas (60,2%). Conclusão: Os dados apresentados mostram a necessidade de protocolos com recomendação de uso, uma vez que ¼ das prescrições foram para uso off label, ou seja, não recomendadas pelo FDA.
EFEITO DO 3-METIL-1-FENIL-2-(SELENIOFENIL)OCT-2-EN-1-ONA SOBRE AS CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE GLICOSE, COLESTEROL, CREATININA, LACTATO DESIDROGENASE E PROTEÍNA C REATIVA EM RATOS ADULTOS
DENISE DOS SANTOS LACERDA;ANDRESSA S. CENTENO, ELIAS TURCATEL, VANESSA O. CASTRO, TANISE GEMELLI, SUZANA S.V. DE FREITAS, ROBSON GUERRA, MARCELLO MASCARENHAS, ADRIANA COITINHO ROSANE GOMEZ, CLÁUDIA FUNCHAL
Introdução: O selênio (Se) é um importante elemento traço para os seres humanos e sua deficiência pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas, hipotireoidismo e deficiência do sistema imunológico. Entretanto, alguns compostos orgânicos de Se são altamente tóxicos, podendo afetar a pele e os rins. Objetivo: Considerando que pouco se conhece dos mecanismos bioquímicos envolvidos na exposição a organoselênios o objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do tratamento agudo com o organocalcogênio 3-metil-1-fenil-2-(seleniofenil)oct-2-en-1-ona sobre as concentrações plasmáticas de glicose, colesterol, creatinina, lactato desidrogenase e proteína C reativa em ratos Wistar de 60 dias de idade. Metodologia: Foram utilizados 40 ratos Wistar com 60 dias de idade, divididos em quatro grupos experimentais. Os animais foram tratados com uma única injeção intraperitonial de solução salina, 125, 250 ou 500 µg/kg do organoselênio. Após 1h os ratos foram sacrificados por decapitação sendo o sangue troncular coletado. O soro sangüíneo foi separado e usado para as análises de: glicose, colesterol, creatinina (Cre), lactato desidrogenase (LDH) e proteína C-reativa (PCR). Resultados: A glicose, o colesterol, a Cre, a atividade da enzima LDH e a concentração da PCR não diferiram estatisticamente entre os grupos (p>0,05; ANOVA seguido de Tukey). Conclusão: Podemos supor que o organocalcogênio 3-butil-1-fenil-2-(telúriofenil)oct-2-en-1-ona provavelmente não induza ao processo inflamatório, lesão tecidual, além de não afetar a função renal e o metabolismo de carboidratos e lipídeos nas doses investigadas neste estudo.
EFEITO DO TRATAMENTO COM TAMOXIFENO SOBRE O HEMOGRAMA E LIPIDOGRAMA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA
VANUSA MANFREDINI;ALINE C. BACCIN; JULIANO SARTORI
O câncer de mama é a neoplasia que mais causa morte entre as mulheres em todo país. Seu prognóstico é relativamente bom se diagnosticado nos estágios iniciais. Na década de 70 os receptores de estrogênios foram identificados no lóbulo mamário humano e este fato impulsionou a pesquisa de medicamentos que pudessem proporcionar efeito antiproliferativo, sendo que o mais utilizado atualmente é o tamoxifeno. No entanto, as pacientes que fazem uso deste fármaco apresentam efeitos colaterais ainda pouco relatados. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do tratamento com tamoxifeno sobre o hemograma e lipidograma de mulheres com câncer de mama. As amostras de sangue total e soro das pacientes foram obtidas na Clínica de Oncologia do Município de Erechim/RS. Foram acompanhadas 6 mulheres pós-menopausicas com diagnóstico de câncer de mama que realizaram mastectomia total e quimioterapia. As coletas do sangue periférico foram realizadas antes de iniciar o uso de tamoxifeno (20 mg/dia) e após 6 meses de uso deste medicamento. Para o hemograma foi utilizado o equipamento ABX, e para o perfil bioquímico foram utilizados Kits da Labtest
®. Os resultados obtidos do hemograma mostram um aumento significativo
no número de eritrócitos e diminuição significativa no número de leucócitos após seis meses do uso de tamoxifeno. Também se constatou um aumento significativo na concentração de hemoglobina corpuscular média e no RDW após uso de tamoxifeno. Em relação ao perfil lipídico, foi observado uma diminuiíção significativa nos níveis séricos de colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos e um aumento significativo nos níveis do colesterol HDL após o tratamento com tamoxifeno. Assim, sugere-se que o uso do tamoxifeno promove uma diminuição dos níveis séricos de colesterol total e triglicerideos, e aumenta os níveis de HDL, provavelmente, prevenindo a longo prazo doenças cardiovasculares em mulheres com câncer de mama tratadas com hormonioterapia.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 243
POPULAÇÃO RURAL X URBANA: TEMPO DE EXPOSIÇÃO À LUZ E SINTOMAS DEPRESSIVOS
ALÍCIA DEITOS;ROSA MARIA LEVANDOVSKI; GABRIELA LASTE,;FABIANE DRESCH; JANAINA DA SILVEIRA; ANA CLAUDIA DE SOUZA; CARLA KAUFFMANN; LUCIANA CARVALHO FERNANDES; GIOVANA DANTAS; KARLA ALLEBRANDT; WOLNEI CAUMO; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
Alterações do sono, apetite, energia e humor podem estar ligados às estações do ano. A depressão sazonal associada ao inverno, pode ocorrer em sujeitos que passam os dias em ambientes sem luz natural. Estudos indicam uma relação entre sintomas depressivos sazonais e aumento da ingesta de carboidratos em conseqüência disto pode haver aumento de peso acentuando os sintomas depressivos. O objetivo deste estudo foi comparar a população rural x urbana em relação ao tempo de exposição à luz, sintomas depressivos e IMC. O estudo transversal, foi aprovado pelo comitê de ética do HCPA (08/087), realizado no Vale do Taquari, localizado na região centro-leste do RS, abrangeu 10 municípios totalizando 5002 entrevistados. Foram coletados dados sóciodemográficos, peso e altura para cálculo do IMC, sintomas depressivos (Beck) e tempo de exposição à luz natural. Os dados foram analisados através do programa SPSS 16 for Windows utilizando teste de Mann-Whitney. A amostra foi composta de 67 % mulheres, com idade média de 45 anos + 12,9. A prevalência de sintomas depressivos foi de 15,5% destes 66% eram indivíduos da zona urbana e 56% destes apresentaram IMC acima de 30. Os sujeitos da zona rural apresentaram um maior tempo de exposição à luz tanto em dias de trabalho quanto em dias livres (Mann-Whitney P<0,05). Este trabalho sugere uma relação inversa entre sintomas depressivos e tempo de exposição à luz natural. Estudos prévios indicam que as desordens afetivas sazonais estão relacionadas com o desejo de comer em excesso, bem como a sintomas depressivos associados à diminuição da sensação de bem-estar, aumento de IMC e inadequação social. A população rural está exposta por longos períodos à luz natural conforme resultado obtidos neste estudo.
ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS DE UM HOSPITAL NO VALE DO TAQUARI - RS
ALÍCIA DEITOS;GABRIELA LASTE; ANA CLÁUDIA DE SOUZA; LUCIANA CARVALHO FERNANDES; MARIA BEATRIZ CARDOSO FERREIRA; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
Vários são os fatores determinantes do uso não racional de medicamentos, incluindo as próprias atitudes de profissionais e usuários frente aos medicamentos, alguns deles são aspectos culturais, sociais e econômicos. Conforme a Política Nacional de Medicamentos a prescrição de medicamentos é o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento. Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar a qualidade da prescrição médica hospitalar utilizando indicadores do Uso Racional de Medicamentos (URM). Os dados foram coletados no período de 2006 a 2008, em hospital localizado no Vale do Taquari, a amostra foi constituída a partir da lista de pacientes internados no dia anterior, sorteando-se aleatoriamente 8 pacientes/semana. Foram excluídos pacientes com idade inferior a 18 anos, com alterações neurológicas de caráter psicomotor ou dificuldade de compreensão de comandos verbais, assim como unidades psiquiátricas e obstétrica. As informações foram tabuladas no EpiData e analisadas no Programa estatístico EpiInfo. Avaliou-se 288 prescrições de pacientes, destes 59% eram do sexo masculino. A média de medicamentos por receita foi de 8,45. Os resultados mostram que 99,7% das prescrições apresentaram nome do paciente, 7,7% não contavam o nome do médico prescritor, 25,4% estavam sem registro do profissional e 10,5% sem assinatura deste. Em relação à prescrição medicamentosa 9,5% estavam sem data, 3,4% não apresentavam o número do leito do paciente. Quase a totalidade das prescrições continha instruções escritas (93,6%) e 79,5%, medidas não medicamentosas, porém 60,6% não apresentavam advertências escritas. Esses resultados indicam a necessidade de programas que orientem o profissional para o adequado preenchimento das prescrições, desta forma contribuindo para o URM.
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DA ASMA NO SUL DO BRASIL
LETÍCIA LÖFF BERWIG;ANDRÉA HOMSI DÂMASO; ANA PAULA HELFER; ALINE LINS CAMARGO; NOÊMIA URRUTH LEÃO TAVARES; LUIZ EDINARDO PRATES SEVERO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 244
A asma é a doença crônica mais comum na infância e considerada a terceira maior causa de internação pelo SUS nos hospitais no Sul do Brasil, configurando um sério problema de saúde pública. A farmacoterapia indicada para seu tratamento utiliza-se de corticóides inalatórios e broncodilatadores. No Brasil, os medicamentos para o manejo da asma são distribuídos gratuitamente aos usuários do SUS, porém quando não disponíveis estes são adquiridos no setor privado. A capacidade de pagar o tratamento pode ser estimada através do número de dias gastos do salário de um trabalhador para pagar o tratamento. O objetivo do estudo é identificar a capacidade de pagamento do tratamento para manejo da asma no Sul do Brasil. Trata-se de um estudo transversal, onde foi utilizada a metodologia preconizada pela OMS/HAI para a coleta das informações sobre o preço dos medicamentos no setor privado de seis cidades do Rio Grande do Sul. O valor do salário mínimo vigente no período da pesquisa foi utilizado para calcular a capacidade de pagamento dos medicamentos salbutamol spray 100mcg/dose e beclometasona spray 250 mcg/dose em suas doses usuais. Um mês de tratamento para asma, com o medicamento de referência do salbutamol requer 1,9 dias do salário mínimo, enquanto que o similar mais barato requer 1,4 dias. O medicamento de referência da beclometasona custa em torno de 3,8 dias de trabalho de um trabalhador que recebe um salário mínimo. Portanto, o tratamento para asma pode custar até 13% dos rendimentos de um trabalhador que recebe um salário mínimo, tendo em vista que estes medicamentos são utilizados tanto para prevenção, como nas crises agudas. O impacto do preço dos medicamentos no salário de um trabalhador causa limitações na aquisição dos medicamentos necessários por essa população.
ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE MAMA DURANTE TRATAMENTO POLIQUIMIOTERÁPICO
ROBERTA TREMEA;LIDIANA BIASI, FERNANDA HALL SBARDELOTTO, JULIANO SARTORI, VANUSA MANFREDINI
O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais freqüente em nível mundial, sendo o mais comum entre as mulheres. Estudos recentes mostram que mulheres com câncer de mama que são submetidas à quimioterapia em longo prazo podem desenvolver significativas alterações hematológicas. O objetivo deste trabalho foi investigar as alterações hematológicas em mulheres com câncer de mama mastectomizadas e que fazem uso de quimioterápicos. Foram avaliadas 15 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, onde o sangue periférico foi coletado antes e após cada ciclo de poliquimioterapia, totalizando 60 amostras estudadas . As amostras de sangue total foram obtidas junto ao Centro Oncológico da Fundação Hospitalar Santa Terezinha do Município de Erechim, RS. Para a realização do hemograma foi utilizado o equipamento ABX Micros 60, e contagem eletrônica das células. O exame diferencial foi realizado através de extensão sangüínea com coloração de May Grunwald – Giensa e visualizado ao microscópio óptico com aumento de 400 vezes. Os resultados do leucograma mostraram uma diminuição estatisticamente significativa no número total de leucócitos da primeira coleta para a segunda e da primeira para a terceira coleta, devido à ação mielossupressora. Entre os leucócitos, destaca-se os neutrófilos que tiveram uma queda significativa nas três coletas e os bastões, observou-se um aumento estatisticamente significativo, acentuando o desvio à esquerda. Na série vermelha não foram verificadas alterações estatisticamente significativas. Nossos resultados permitem concluir que as mulheres com câncer de mama mastectomizadas, tratadas com esquemas padrões de quimioterapia adjuvante, apresentaram importantes alterações hematológicas na série leucocitária ao longo das sessões e sugere-se, portanto, um monitoramento periódico através do hemograma.
AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE MORTE CARDIOVASCULAR EM PACIENTES IDOSOS APÓS PRÁTICA EDUCATIVA EM GUARANI DAS MISSÕES-RS
JULIANA LUBINI;BIBIANA VERLINDO DE ARAUJO
Introdução: O controle dos fatores de risco para doença e morte por evento cardiovascular (DCV) é fundamental para a prevenção, especialmente em pacientes idosos. Uma das estratégias para isso é a realização de atividades educativas, no sentido de melhorar o nível de autocuidado em saúde, que pode ser útil no melhoramento da efetividade dos tratamentos não farmacológicos e na própria adesão a farmacoterapia, quando esta já foi instituída. Objetivos: Avaliar o efeito de palestras, na redução do risco de DCV e morte por DCV e adesão a farmacoterapia, em um grupo de pacientes idosos atendidos no Hiperdia no município de Guarani das Missões, durante fev a abr de 2009.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 245
Materiais e Métodos: 32 pacientes com idade > 50 anos tiveram os riscos de doença e morte por eventos cardiovasculares definidos através da Escala de Framinghan no inicio e após 90 dias do estudo. Para a adesão a farmacoterapia, foi aplicado o método de Morisky e colaboradores, no qual a adesão é avaliada através de questionário validado, e estratificada em três níveis:baixa, media e baixa. As palestras ocorreram em intervalos mensais e tiveram os seguintes como temas geradores: Hipertensão, Cuidados farmacológicos e não-farmacológicos para o seu controle. O estudo foi aprovado pelo CEP/URI (#117-04/PPH/08). Resultados e Conclusões: No final do estudo, o percentual de pacientes que apresentaram baixo risco de doença cardiovascular, passou de 15,6 % para 59,4 %, médio risco de 40,6% para 37,5% e de alto risco de 43,8% para 3,1%. Para o risco de morte por DCV, os pacientes de baixo risco aumentaram de 81,2% para 93,8%, com redução dos pacientes de médio risco de 18,8% para 6,2%. Em relação a adesão a maioria dos pacientes passou do estado de media adesão (53,4%) para alta adesão (85,2%). Esses resultados demonstram a efetividade de um programa de educação a pacientes na prevenção de DCV em 10 anos.
CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS - ESTRATÉGIAS PARA USO RACIONAL E PREVENÇÃO DE ERROS DE MEDICAMENTOS
RAQUEL GUERRA DA SILVA;LUCIANA DOS SANTOS; JACQUELINE MARTINBIANCHO; GIOVANNA WEBSTER NEGRETTO
Introdução: Centros de Informações sobre Medicamentos (CIM) são definidos como unidades operacionais que proporcionam informações técnico-científicas sobre medicamentos de modo seguro e racional e acaba atuando na prevenção de erros de medicamentos. Objetivo: Identificar as estratégias utilizadas pelo CIM na promoção do uso racional e prevenção de erros de medicamentos no HCPA. Métodos: De janeiro a dezembro de 2008, coletaram-se dados de informações passivas e ativas. As passivas se relacionaram aos questionamentos de profissionais hospital em relação à prescrição ou administração de medicamentos. Nas informações ativas, alertas sobre medicamentos foram distribuídos nas unidades para enfermagem e por via eletrônica para médicos e farmacêuticos. Resultados: No período, recebeu-se 1319 solicitações, média de 110 por mês. Quanto ao perfil dos solicitantes, destacaram-se os farmacêuticos (31,2%), enfermeiros (29,9%), técnicos de enfermagem (17,7%) e médicos (10,9%). Os temas mais solicitados foram: administração de medicamentos (29,3%), posologia e indicações de uso (11,8%), identificação de formulação (9,7%) e interações medicamentosas (9%). Verificou-se que em mais da metade das solicitações (65%) o tempo decorrido para cada resposta foi inferior a 10 minutos. Administração de medicamentos foi o tema mais solicitado pela enfermagem, enquanto que posologia, indicações de uso e interações medicamentosas, pelos médicos. Nas informações ativas, noventa e quatro alertas sobre reações adversas, cuidados de administração entre outros foram gerados. Conclusão:CIM atua no uso racional fornecendo informações atualizadas, objetivas e em tempo hábil para problemas relacionados a medicamentos, proporcionando segurança e confiabilidade aos profissionais da saúde.
ANÁLISE COMPORTAMENTAL EM RATOS EXPOSTOS A SOLOS CONTAMINADOS POR RESIDUO OLEOSO E SOLOS REMEDIADOS
ROGER SANTOS DOS SANTOS;ROJAS J.J.; ROJAS J.W.J.; MASCARENHAS M.A.
Áreas contaminadas são um grave problema, bem como as providências que devem ser tomadas para prevenir ou remediar sua ocorrência. Avaliar o comportamento de animais expostos a solos contaminados com borra oleosa ácida e solos tratados através da técnica de encapsulamento. Foram utilizados 28 ratos Wistar machos (idade: 60 dias, peso: 200g), mantidos em caixas de madeira sobre o solo em diferentes condições: natural, contaminado com 2% e 6% de borra oleosa ácida e contaminado e tratado com 10% e 20% de cimento. Após 30 dias de exposição foi realizado o teste do labirinto em cruz elevado, uma estrutura de 4 braços, sendo 2 braços fechados e 2 braços abertos. Ratos expostos a solos livres de contaminante não entraram nos braços abertos, enquanto que os demais grupos sim o fizeram, com predomínio de deambulação nesses braços pelos animais expostos a solos remediados. Ratos expostos a solos contaminados apresentaram um total de 1 entrada, ratos expostos a solos tratados com 10% de cimento apresentaram 16 entradas e expostos a solos tratados com 20% de cimento apresentaram 10 entradas. Substâncias ansiolíticas aumentam o número de entradas e permanência nos braços abertos, agentes ansiogênicos produzem um efeito
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 246
oposto. Com isso, fica comprovado que os animais expostos a solos com 2% e 6% de contaminante e tratados com 10% e 20% de cimento, respectivamente, apresentaram menor grau de ansiedade que os animais expostos ao solo livre de contaminante e ao solo contaminado com as mesmas concentrações citadas. Considerando-se a não existência de referências bibliográficas quanto à exposição a solos contaminados com borra oleosa ácida, preliminarmente pode-se inferir que o contaminante em estudo é nocivo à saúde dos animais expostos no que se refere ao parâmetro comportamental ansiedade.
ACOMPANHAMENTO DAS REAÇÕES ADVERSAS QUE OCORRERAM NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM 2008
MAITÊ TELLES DOS SANTOS;HELENA DE OLIVEIRA FREITAS AMORIM; LUCIANE PEREIRA LINDENMEYER; ANA MARIA VIANNA RAFFO; GUILHERME PIZZOLI; MÁRCIA ELISA CARRARO DO NASCIMENTO
Introdução: Reação adversa a medicamentos (RAM) é qualquer resposta a um fármaco que seja prejudicial, não intencional e que ocorra nas doses normalmente utilizadas. Nos hospitais, a identificação das RAMs pode dar-se através do recebimento de uma notificação espontânea feita por profissionais da saúde ou pela busca ativa, sendo esta um instrumento utilizado para detectar RAMs. Objetivos: Acompanhar e quantificar as RAMs que ocorrem no Hospital. Materiais e Métodos: Estudo observacional descritivo, realizado em hospital na cidade de Porto Alegre-RS. Para esta pesquisa, foram consideradas todas as notificações de reações adversas recebidas no ano de 2008 pela Comissão de Farmacovigilância do Hospital Cristo Redentor. As notificações espontâneas foram recebidas e acompanhadas por esta comissão. A busca ativa foi realizada em todas as unidades de internação e a abordagem escolhida foi por medicamentos. Os prontuários dos pacientes que utilizavam antialérgicos, fenobarbital, carbamazepina, polimixina B e vancomicina foram verificados diariamente e procurou-se identificar indícios de reações alérgicas, gastrointestinais, sangüíneas e nefrotóxicas. Resultados: No período da pesquisa, 78 pacientes apresentaram suspeita de reação adversa a medicamentos. Destas, 57 (73%) foram identificadas pela busca ativa. Em doze casos um mesmo paciente apresentou 2 tipos de reações. Os medicamentos que mais provocaram reação adversa foram os antimicrobianos (42, 35,3%). Conclusão: Acompanhar as reações adversas que ocorrem no hospital é importante pois podem causar desconforto ao paciente, prolongar o tempo e aumentar o custo da internação. Buscar ativamente as reações adversas torna-se fundamental, visto que nem todas as reações ocorridas são notificadas espontaneamente.
VERIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS ANTES DA INTERNAÇÃO NUM HOSPITAL DE TRAUMA
MAITÊ TELLES DOS SANTOS;HELENA DE OLIVEIRA FREITAS AMORIM; LUCIANE PEREIRA LINDENMEYER; ANA MARIA VIANNA RAFFO; GUILHERME PIZZOLI; MÁRCIA ELISA CARRARO DO NASCIMENTO
Introdução: O Hospital Cristo Redentor é um hospital de trauma que recebe pacientes de todas as idades. Possui Padronização de Medicamentos rigorosamente elaborada e periodicamente revisada. Objetivos: Verificar quais os medicamentos trazidos ao Hospital pelo paciente, se estão prescritos, se pertencem à lista de padronização da Instituição e qual a sua classe terapêutica; orientar o paciente quanto à utilização desses durante sua internação. Materiais e Métodos: Estudo observacional descritivo, realizado em hospital na cidade de Porto Alegre-RS. Diariamente foram visitados todos os pacientes que internaram nas unidades de traumatologia feminina e do idoso, questionando se utilizavam algum medicamento antes da internação. Após, verificou-se a prescrição médica para avaliar se os medicamentos estavam prescritos e se eram padronizados na Instituição. Se o medicamento não era padronizado, o paciente e seus familiares foram orientados e o medicamento entregue à equipe de enfermagem. Resultados: Foram visitados 368 pacientes de outubro de 2008 a fevereiro de 2009. 51,1% (188) dos pacientes utilizavam medicamentos antes da internação. Destes, 43,7% (82) usavam medicamentos não padronizados. A média de idade dos pacientes que utilizavam medicamentos anteriormente foi de 62,5 anos (dp= 18,5 anos). A classe terapêutica mais utilizada foi a de anti-hipertensivos, correspondendo a 113 pacientes. Conclusão: Este tipo de avaliação foi extremamente importante, pois foram evitados problemas como os que o paciente tomava o medicamento trazido de casa e a enfermagem administrava o mesmo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 247
medicamento dispensado pela Farmácia. Embora não fosse objetivo do estudo avaliar a padronização, pode-se ter uma idéia do quanto esta atende as necessidades dos pacientes que internam na Instituição.
ASSOCIAÇÃO ENTRE PERFIL DE SENSIBILIDADE DOS MICROGANISMOS EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA DO HCPA E O USO PRÉVIO DE ANTIMICROBIANOS EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO
JULIANA DA SILVA WINTER;ANGÉLICA BAUER CECHINEL, THALITA JACOBY, RODRIGO PIRES DOS SANTOS, RICARDO DE SOUZA KUCHENBECKER
Introdução: Muitos estudos clínicos estabelecem o importante papel que o uso abusivo e indiscriminado dos antimicrobianos representa para a ocorrência de germes multirresistentes (GMR) em Centros de Tratamento Intensivo. Objetivo: Estudar a associação entre o uso prévio de antimicrobianos, por mais de 48 horas em unidades de internação, e o perfil de sensibilidade de bactérias de pacientes internados no CTI e outros fatores associados à multirresistência. Metodologia: Estudo ecológico, realizado pela CCIH do HCPA, que inclui todos os exames microbiológicos de pacientes internados no CTI no ano de 2008. Resultados: Das bactérias identificadas, 35,3% (n=131) eram GMR. Dos GMR encontrados 70,2% foram de pacientes que usaram antibiótico prévio (p=0,000). Os pacientes com bactérias multirresistentes tiveram maior tempo médio de permanência hospitalar (34,18 vs 54,84 dias; P=0,000). Dias de procedimento invasivo (cateter vascular central, sonda vesical de demora e ventilação mecânica) contribuíram para a multirresistência (p=0,000). Uso prévio de quinolonas (P=0,002), cefalosporinas de terceira geração (P=0,041) e penicilinas (P=0,005) também foram associados com resistência bacteriana através de análise univariada. Na análise multivariada, as variáveis com significância estatística para desenvolvimento de multirresistência foram uso prévio de penicilinas (P=0,005) e quinolonas (P=0,005). Das bactérias produtoras de ESBL (n=46) 26,1% usaram penicilina previamente (P=0,002). Do total de Staphylococcus aureus (n=371) 13,2% eram MRSA. Comparando o desfecho dos pacientes portadores de MRSA, 73,5% morreram contra 26,5% que receberam alta do HCPA (P=0,009). Conclusões: A vigilância de resistência é um fator que contribui para o conhecimento da epidemiologia local de multirresistência. O estudo desses fatores de risco são importantes para adotar medidas educacionais que possam contribuir para a redução de GMR.
CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL
JULIANA DA SILVA WINTER;THALITA JACOBY, ANGÉLICA CECHINEL, LORIANE KONKEVICZ, NADIA KUPLICH, MARCIA PIRES, SANDRA GASTAL, GUILHERME SANDER, FABIANO NAGEL, RODRIGO DOS SANTOS
Introdução: Uma das principais preocupações mundiais quanto ao uso racional de medicamentos está relacionada à utilização de antimicrobianos. A OMS, desde 1981, recomenda a metodologia ATC/DDD (Anatomical Therapeutic Chemical/Dose Diária Definida) para a realização de estudos da utilização de medicamentos. Ela permite estimar e avaliar as tendências de uso de antimicrobianos em determinado período. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) monitora mensalmente o consumo de antibióticos, através da ATC/DDD. Objetivos: Descrever as tendências de consumo de antimicrobianos no HCPA no período de jan/2004 a dez/2007. Método: Este estudo retrospectivo foi realizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HCPA. O consumo de antimicrobianos foi mensurado através da taxa de DDD (Dose Diária Definida) e os dados necessários foram obtidos do sistema informatizado da instituição. A DDD foi calculada mensalmente nas unidades clínicas, cirúrgicas e de tratamento intensivo adulto para Cefepima, Ceftazidima, Ampicilina Sulbactam, Piperacilina tazobactan, Imipenem, Meropenem e Vancomicina, que são antimicrobianos de maior interesse na política de vigilância do hospital. A análise estatística utilizou o coeficiente de correlação de Spearman\\\'s. Resultados: De acordo com a análise das médias das taxas de DDD estudadas durante o período na instituição, pode se observar aumento no consumo de Cefepime (P<0,01), Piperacilina tazobactam (P<0,01), e Vancomicina (P<0,05) e redução no uso de Ampicilina sulbactam (P<0,01). Carbapenêmicos e Ceftazidima, não apresentaram alteração de consumo significativa (P>0,05). Conclusões: Apesar do aumento da complexidade e gravidade dos pacientes internados, as tendências de consumo dos antimicrobianos refletem a política institucional de uso de antibióticos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 248
O USO DE CÓDIGO DE BARRAS NA IDENTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DE ERROS DE DISPENSAÇÃO
MAYDE TORRIANI;SIMONE MAHMUD, LEONARDO FEIX, ELONI ROTTA
Introdução: Os erros de medicação representam sérios problemas na área da saúde, com conseqüências para pacientes e organizações hospitalares. É definido como qualquer evento prevenível que pode causar ou levar ao uso inadequado dos medicamentos e pode estar relacionado, entre outros fatores, à dispensação realizada pela Farmácia. O sistema de código de barras (CB), integrando identificação e dispensação dos medicamentos, contribui significativamente para diminuir os erros fase de dispensação do processo de medicação e consiste na rotulagem de todos medicamentos com CB com as informações de nome, concentração, lote, data de validade e fabricante. O CB desenvolvido pelo HCPA, garante 100% de rastreabilidade e a conferência dos itens dispensados de acordo com a prescrição médica. Objetivos: Determinar a taxa de erros de dispensação dos medicamentos pela Farmácia do HCPA após a implantação do CB e comparar com a taxa de erros anterior ao CB. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, controlado, contemporâneo dos erros de dispensação dos medicamentos pela Farmácia, no período de 1 de dezembro de 2007 a 28 de fevereiro de 2008, antes da implantação do CB e dos erros de dispensação dos medicamentos no período de 1 de dezembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009, após a implantação do CB. A análise freqüência dos erros foi feita através do teste x
2. Resultados e
Conclusões: Foram avaliados 9.120 medicamentos dispensados conforme a prescrição médica, no período anterior ao CB e 8.750 medicamentos dispensados no período após a implantação do CB, escolhidas aleatoriamente, de Unidades de Internação adulto e pediátrica. A taxa de erros de dispensação de medicamentos antes do CB foi de 6,35% e após implantação da dispensação por CB foi de 0,42% (OR=0,06; IC de 95%; 0,04-0,08; p<0,01). Dentre os erros mais freqüentes estavam: medicamento incorreto, dose errada, forma farmacêutica inadequada ou omissão de dose. As farmácias hospitalares desempenham papel fundamental na prevenção do erro de medicação. O processo de dispensação por CB é considerado eficiente, garante a segurança do paciente, propicia maior controle e minimiza desperdícios.
ANÁLISE DE ERROS DE MEDICAÇÃO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
JACQUELINE KOHUT MARTINBIANCHO;THALITA JACOBY ; LUCIANA DOS SANTOS; DAIANDY DOS SANTOS; JOICE ZUCKERMANN
Introdução: No contexto hospitalar, o uso de medicamentos é um processo multidisciplinar que envolve principalmente as áreas da medicina, farmácia e enfermagem. Medicamentos administrados erroneamente podem afetar os pacientes, e suas conseqüências podem causar danos, desde leves até permanentes. Objetivos: Identificar erros de medicação através da análise da prescrição informatizada. Materiais e Métodos: Estudo transversal contemporâneo. Foram analisadas prescrições de pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nas áreas da CTI adulto, Internação pediátrica, UTI pediátrica, Oncologia pediátrica e duas unidades de internação clínica durante o período de março a dezembro de 2007 de segunda a sexta-feira. O critério utilizado para classificação dos erros foi de acordo com o National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Resultados: Foram analisadas 12.787 prescrições. O total de erros de prescrição encontrados foi de 792 (6,2%). Os problemas mais freqüentes foram seleção incorreta do medicamento no cadastro (54,0%), inclusão/exclusão (13,9%) e dose (8,9%). Em 21,6% dos casos os medicamentos foram administrados de forma inadequada. Houve intervenção farmacêutica em 92,4% dos problemas, sendo que em 59,8% das intervenções tiveram resultado positivo (alteração da prescrição). Do total de erros, 56,3% foram classificados como da categoria B (erro ocorrido, mas que não atinge o paciente) e 34,9% da categoria C (erro ocorrido que atinge o paciente, no entanto não causa dano ao mesmo). Conclusão: Falhas na farmacoterapia do paciente podem estar associadas com problemas relacionados com medicamentos (PRM). Na prática profissional, o farmacêutico é o responsável pela detecção, prevenção e resolução dos PRM, de forma continuada e sistematizada com o intuito de melhorar a terapêutica do paciente.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 249
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS NO SUL DO BRASIL
LUIZ EDINARDO PRATES SEVERO;ANDRÉA HOMSI DÂMASO; ANA PAULA HELFER; ALINE LINS CAMARGO; NOÊMIA URRUTH LEÃO TAVARES; LETÍCIA LÖFF BERWIG
O diabetes mellitus (DM) encontra-se entre as 10 principais causas de mortalidade no Brasil e é causado pela inatividade, parcial ou completa, do hormônio insulina ocasionando diversas complicações sistêmicas no portador. Apesar do controle da glicemia ser um importante fator no controle da doença, o uso de medicamentos se faz muito presente. Nos EUA, os custos do tratamento do diabetes consome cerca de 9% dos gastos totais das famílias mais pobres, enquanto que na Índia o custo do diabetes representa 25% dos gastos dessa mesma classe da população. O número de dias gastos do salário de um trabalhador pode ser usado para medir a capacidade de pagamento do tratamento por 30 dias. O objetivo deste estudo foi identificar a capacidade de pagamento do tratamento do DM no Sul do Brasil. O estudo foi transversal e utilizou a metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde e a Health Action International para a coleta dos preços dos medicamentos em seis cidades do Rio Grande do Sul. O cálculo da capacidade de pagamento dos medicamentos foi realizado com base no valor do salário mínimo brasileiro na época da coleta. Os medicamentos estudados foram glibenclamida 5mg e a metformina 850mg. O custo do tratamento do DM por 30 dias com o medicamento referência da glibenclamida representa 1,3 dias trabalhados do salário mínimo brasileiro, enquanto que o equivalente genérico requer 0,8 dias e o similar 0,5 dias trabalhados. O tratamento com o medicamento referência da metformina onera 3,2 dias, o genérico representa 1,8 dias e o similar, 2 dias de trabalho do salário mínimo. O conhecimento dos custos do tratamento do DM é um passo muito importante para a utilização racional de recursos financeiros destinados ao controle da doença.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO NOTURNO
LUIZ ALFREDO CENETENO LEISTNER;JORGE CORREIA DE SOUZA NETO; LUCIANA DOS SANTOS; MAYDE SEADI TORRIANI; JACQUELINE KOHUT MARTINBIANCHO
INTRODUÇÃO: A farmacoterapia evoluiu rapidamente, gerando uma necessidade cotidiana de informações aos profissionais da saúde sobre novas formas farmacêuticas, reconstituição, diluição, administração e possíveis eventos adversos relacionados ao medicamento. Desta forma, a assistência farmacêutica desenvolvida no período noturno complementa as ações realizadas durante o dia, voltadas ao uso seguro dos medicamentos. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi descrever os questionamentos aos farmacêuticos noturnos e identificar a freqüência de cada profissional que solicita a informação. METODOLOGIA: Nos meses de abril a junho de 2009, foram avaliados os questionamentos dos profissionais do HCPA feitos ao farmacêutico plantonista noturno sobre a farmacoterapia. Foram registrados em instrumento desenvolvido para este fim, indicando o profissional requisitante, a área deste profissional, e o tipo de informação: conservação, diluição, administração, compatibilidade, estabilidade, indicações de uso, interações medicamentosas, posologia, reações adversas entre outras. RESULTADOS: Do total de 326 questionamentos, 63(19%) foram sobre como administrar o medicamento seguido por como diluir 54(16%). Quanto aos profissionais que solicitaram as informações, os Técnicos de enfermagem foram os que mais utilizaram o serviço 210(64%), seguido pelas enfermeiras com 91(27%). O serviço de farmácia possui o centro de informação sobre medicamentos CIM e este participou com 5 respostas (1,5%) as quais o questionador recebeu o retorno em no máximo 72h, as demais respostas foram retornadas no mesmo momento. CONCLUSÕES: Os dados coletados mostram a importância de termos profissionais capacitados para prestar assistência farmacêutica em tempo integral, gerando segurança para usuários e pacientes.
AÇÃO ANTIOXIDANTE DA VITAMINA E SOBRE A GENOTOXICIDADE DE LEUCÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DISLIPIDÊMICOS TRATADOS OU NÃO COM ESTATINA
JOLCIMARA AMREIN TACCA;ANNA M. R. DALL VESCO; LIDIANA A. BIASI; ROBERTA TREMÉA; VANUSA MANFREDINI; CARMEM VARGAS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 250
O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. O DM tipo 2 (DM2) resulta, em geral, de graus variáveis de resistência à insulina, bem como em alteração do metabolismo lipídico. Alterações do perfil lipídico (níveis aumentados dos triglicerídeos e diminuídos de HDL) e síndrome metabólica desenvolvida por anos, leva o paciente a desenvolver doença cardiovascular. Estudos recentes apontam que as espécies reativas de oxigênio (ERO) estão envolvidas no envelhecimento celular, e causam dano oxidativo em diversas biomoléculas, incluindo o DNA. O objetivo deste trabalho foi avaliar o dano oxidativo no DNA pelo Teste Cometa in vitro de leucócitos do sangue periférico de pacientes diabéticos/dislipidêmicos que fazem ou não uso de estatina e verificar a ação antioxidante da vitamina E. Amostras de indivíduos saudáveis com idade semelhante a dos pacientes foram utilizadas como controle. O sangue total dos pacientes e controles foram obtidos no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da UFRGS. A dose da vitamina E utilizada no estudo foi de 500UI e foi usado óleo mineral para os controles. Os resultados mostram que os pacientes diabéticos/dislipidêmicos possuem níveis de lesão oxidativa ao DNA significativamente maiores que os controles e aqueles que fazem uso de estatina possuem níveis significativamente menores de lesão oxidativa no DNA (grau 1) em relação aos que não fazem uso dessa medicação. Com a adição da vitamina E, observou-se baixos níveis de lesão oxidativa no DNA dos pacientes diabéticos/dislipidêmicos. Nossos resultados permitem sugerir, portanto, que ocorre lesão no material genético (DNA) desses pacientes, o que, entretanto, é minimizado com o tratamento de estatina e/ou vitamina E, a qual parece desempenhar um papel protetor sobre o estresse oxidativo nestes pacientes.
MEDIDA DA ATIVIDADE DA ENZIMA QUITOTRIOSIDASE EM PLASMA DE PACIENTES COM A DOENÇA DE NIEMANN-PICK TIPO C: COMPARAÇÃO COM INDIVÍDUOS NORMAIS
CRISTINA DA SILVA GARCIA;FERNANDA TIMM SEABRA SOUZA; KRISTIANE MICHELIN TIRELLI; CARLA ANDRADE VIEIRA; VANESSA VITCOSKI DAITX; JANICE CARNEIRO COELHO
A doença de Niemann-Pick é um grupo de distúrbios caracterizados pelo acúmulo de esfingomielina e outros lipídios nos tecidos. O tipo C, o qual nos referimos, não tem como característica a deficiência de esfingomielinase e sim o acúmulo de lipídios observado em fibroblastos de indivíduos que provavelmente tenham deficiência no transporte do colesterol dos lisossomos. De acordo com Kruth e colaboradores (1986) a observação deste acúmulo é feita pela técnica do corante Filipin. Está é considerada padrão-ouro para confirmação da doença. Entretanto, por ser uma análise qualitativa e haver fenótipos variantes, outros ensaios laboratoriais, que auxiliem na confirmação diagnóstica, seriam ferramentas importantes. Pensando nisso, trabalhou-se com a enzima quitotriosidase (QT), que é uma biomarcadora para algumas doenças lisossômicas de depósitos. Em nossas revisões, não encontramos na literatura trabalhos que relacionem o aumento da atividade da QT em pacientes NPC. Dessa maneira, foi comparada a medida da atividade da QT (em plasma) de indivíduos normais com a medida da atividade de pacientes com o diagnóstico da doença de NPC. A medida da QT foi determinada segundo Hollak et al (1994), usando o substrato artificial 4-metilumbeliferil-β-D-N-N‟-N‟-N triacetilquitotriosídio e a reação foi interrompida com tampão glicina-NaOH pH 10,3. A fluorescência foi lida em espectrofluorímetro. Os resultados obtidos demonstraram que a média da atividade da QT dos indivíduos normais foi de 46,2 nmol/h/mL, já em pacientes NPC, a média foi 1800,52 nmol/h/mL, demonstrando um valor aproximadamente 40 vezes maior da medida da atividade da QT em pacientes NPC. A partir destes resultados concluímos que a medida da QT pode ser um protocolo laboratorial auxiliar na investigação da doença de NPC.
FARMACOLOGIA GERAL
O EFEITO DA EXPOSIÇÃO DE RATOS A EFLUENTES DE CURTUME EM MODELOS DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E MEMÓRIA
FELIPE DOS SANTOS MOYSÉS;KARINE BERTOLDI; LUCAS SULZBACH RILHO; MARIANA GARCIA BAHLIS; VIVIANE ELSNER; CHRISTIANO SPINDLER; CLÁUDIA VANZELLA; SIMONE STULP; MARCO ANTONIO SIQUEIRA RODRIGUES; IONARA SIQUEIRA RODRIGUES
O estudo dos agentes químicos oriundos de fontes antropogênicas torna-se uma questão premente de saúde pública. Os estudos ecotoxicológicos se limitam à genotoxicidade e letalidade em
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 251
organismos menos complexos, contudo outros impactos podem ser observados, como hepatotoxicidade e neurotoxicidade em mamíferos. Há evidências de uma associação entre a toxicologia ambiental e transtornos psiquiátricos; modelos animais são apropriados para a detecção desta. Estudos prévios demonstram que a exposição crônica ao efluente de curtume induz um estado de ansiedade em camundongos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da exposição de ratos a efluentes industriais em modelos de ansiedade, depressão e memória. Ratos Wistar machos (3 meses, entre 200 e 300g) foram expostos durante 30 dias aos efluentes com ou sem tratamento (0,1%, 1% e 5%) na água de beber. Para obtenção do efluente tratado foi utilizado um processo fotoeletroquímico (radiação UV e potencial controlado). Os animais foram submetidos aos testes de detecção de atividade ansiogênica/ansiolítica, campo aberto, claro-escuro e neofagia, respectivamente, no 13º, 24º e 28º dias. Foram utilizados os testes de reconhecimento de objetos (14° e 15° dia) e esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado (18° e 19° dia). A atividade depressora foi avaliada pelo teste do nado forçado (25° e 26° dia). Não houve diferença significativa entre os grupos nos modelos comportamentais testados. A exposição crônica aos efluentes de curtume não induziu um comportamento semelhante à ansiedade em ratos, entretanto o grande número de testes utilizados para evitar o uso de maior número de animais pode ter influenciado nos resultados obtidos. (Apoio PIBIC CNPq/UFRGS; BIC/FAPERGS, BIC/UFRGS; PROCOREDES III/ FAPERGS; FIPE-HCPA).
AÇÃO ANTIEDEMATOGÊNICA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. EM MODELO DE EDEMA DE ORELHA EM CAMUNDONGOS
ROBSON HENRICH AMARAL;GABRIELA LUCAS DA SILVA; JARBAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Lavanda (Lanvandula angustifolia Mill.) é uma planta largamente utilizada na aromaterapia e na medicina popular. Muitos estudos têm demonstrado que o óleo essencial de lavanda OEL, possui ações relacionadas com os mecanismos envolvidos na resposta inflamatória. A partir disso, o OEL tornou-se alvo do interesse desse trabalho no sentido de explorar o seu potencial medicinal através de ensaio in vivo que possa determinar o seu potencial efeito antiedematogênico via oral e tópica. Para isso, utilizamos um modelo experimental de edema de orelha induzido por óleo de cróton em camundongos Swiss, machos adultos, pesando 30 ± 5g. As substâncias utilizadas para o pré-tratamento dos grupos experimentais foram: OEL 600 mg kg-1 v.o, OEL 65 µl t.o, Dexametasona 0,5 mg/kg s.c. Após 1 hora do pré-tratamento foi induzido o edema nos grupos, n=6, através da aplicação de 80µl de óleo de cróton dissolvido em acetona, em ambas as faces, dorsal e ventral, da orelha esquerda. A orelha direita recebeu apenas o veículo. Grupo controle recebeu somente a solução irritante. Após 4 horas os animais foram sacrificados e amostras de 6 mm de diâmetro removidas de cada orelha. Estas amostras foram pesadas em balança analítica e a diferença de peso entre estas calculadas. A diferença de peso em mg entre as orelhas foi: controle =16,3 ± 2,41; OEL t.o. = 6,13 ± 3,6; OEL v.o. = 5,82 ± 2,14; Dexa = 5,84 ± 1,43. O efeito inibitório do OEL foi significativo via oral e tópica, semelhante à inibição causada por dexametasona, apresentando desta forma, potencial atividade antiedematogênica em modelo de edema de orelha induzido por óleo de cróton em camundongos.
EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. SOBRE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS EM MODELO DE PLEURISIA EM RATOS WISTAR
ROBSON HENRICH AMARAL;GABRIELA LUCAS DA SILVA; JARBAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Lavandula angustifolia Mill. é popularmente conhecida como Lavanda. É uma planta largamente utilizada na aromaterapia e na medicina popular. Diversos estudos vêm demonstrando que o óleo essencial de lavanda (OEL) possui ações relacionadas com os mecanismos envolvidos na resposta inflamatória (Shigeru, 2003). A partir disso, o OEL tornou-se alvo do interesse desse trabalho no sentido de explorar o seu potencial medicinal através de ensaio in vivo que possa avaliar o seu potencial efeito antiinflamatório através do modelo de inflamação aguda de pleurisia induzida por carragenina. Foram utilizados ratos Wistar, fêmeas adultas (180-220 g). As substâncias utilizadas para o pré-tratamento dos grupos experimentais foram: Salina v.o, OEL 600 mg kg-1 v.o, Dexametasona 0,5 mg kg-1 s.c., 1 hora antes da inoculação de 0,2 mL de carragenina a 1% no espaço pleural, exceto o grupo salina, que recebeu 0,2 mL de salina estéril. Após 4 horas da inoculação, os animais foram sacrificados, sendo então aspirado o líquido pleural para avaliação de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 252
parâmetros inflamatórios como: volume de exsudação plasmática, concentração protéica, contagem de leucócitos totais e leucócitos polimorfonucleares (PMNs) no exsudato. O OEL 600 mg kg-1, diminuiu significativamente o volume, a contagem total de leucócitos, a contagem de PMNs e a concentração de proteínas totais do líquido pleural quando comparados ao grupo salina (controle limpo). Resultados analisados por ANOVA.
EFEITO DO EXTRATO ETANÓLICO DE CASEARIA SYLVESTRIS SOBRE A GLICEMIA E O PERFIL LIPÍDICO DE RATOS DIABÉTICOS
JANAÍNA ESPINOSA TEIXEIRA;BÁRBARA RÜCKER, LICIANE FERNANDES MEDEIROS, ANDRESSA SOUZA, EDUARDO ETHUR, MÁRCIA WINK, IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
Introdução: O perfil fitoquímico de C. sylvestris é bastante complexo, caracterizando-se especialmente pela ocorrência de flavonóides. Muitos flavonóides são capazes de reduzir a absorção intestinal do colesterol e de outros lipídios. Objetivos: avaliar o efeito do extrato etanólico de C. sylvestris sobre o perfil lipídico e glicemia de ratos diabéticos. Materiais e Métodos: animais diabéticos foram tratados com insulina, extrato de C. sylvestris ou solução salina e animais não diabéticos foram tratados com o veículo da streptozotocina, o veículo do extrato de C. sylvestris ou solução salina. Os animais foram tratados por 45 dias. A glicemia foi avaliada semanalmente e o colesterol total, LDL, VLDL, HDL e triglicérides foram avaliados ao final tratamento. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguida pelo Teste SNK. Resultados e Conclusões: o tratamento com C. sylvestris reduziu significativamente os valores de triglicérides, colesterol total, LDL, VLDL e aumentou o valor de colesterol HDL. Não foi observado efeito significativo sobre os valores de glicemia. Estes resultados demonstram que o extrato etanólico de C. sylvestris possui significativa atividade hipolipemiante. Dessa forma, sugerimos que C. sylvestris pode ser útil na terapêutica de dislipidemias.
RESPOSTA NOCICEPTIVA EM RATOS INFANTES APÓS INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA E/OU CIRÚRGICA
ANELISE MIGLIORANZA DE CARVALHO;MEDEIROS, L.F; ROZISKY, J.R; SANTOS, V.S; SOUZA, A.; NETTO, C.A., TORRES, I.L.S
Introdução: Neonatos não apresentam o SN maduro e procedimentos dolorosos neste período podem acarretar a médio e longo prazos alterações psicológicas e/ou fisiológicas. Objetivo: avaliar a resposta nociceptiva no P14 e P30 de animais submetidos à administração de anestésico geral e/ou procedimento cirúrgico no P14. Materiais e métodos: utilizamos ratos machos Wistar com 14 dias (P14) divididos em 3 grupos: controle (C-n=9), fentanil/cetamina (A-n=17), fentanil/cetamina + cirurgia (A-CIR-n=16) os quais receberam salina ou 20mg/kg de cetamina-S + 0,09mg/kg de fentanil. No P14 e P30 os ratos foram submetidos ao teste da Formalina (injeção s.c. de formalina 2% na pata traseira - 0,17ml/Kg). Analisamos os comportamentos de lambidas, tremidas e flexões da pata contadas juntas (s) em duas fases após a administração de formalina (0-5 min e 15-30 min). Os resultados expressos em M+EPM e considerados significativamente diferentes com P<0,05. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguida pelo Teste SNK. Resultados e Conclusões: Não houve diferença em nenhuma das fases em ambas as idades analisadas. P14: 1ªfase: C=148,2+25,51; A=186,85+14,06 e A-CIR= 137,14+20,04 (ANOVA P>0,05); 2
afase: C=720,6+75,77; A=793,14+22,91
e A-CIR=755,28+66,31 (ANOVA P>0,05). P30: 1afase: C=128+19,42; A=100,3+16,18 e A-
CIR=108,44+11,11 (ANOVA P>0,05); 2ªfase: C=692,5+80,66; A=655,1+75,16 e A-CIR=668,66+59,11 (ANOVA P>0,05). Estes resultados demonstram que procedimentos cirúrgico e/ou utilização de anestésicos em ratos infantes não altera a resposta nociceptiva em nenhuma das fases do teste da formalina. Cabe salientar a importância do desenvolvimento de estudos experimentais que visem o estabelecimento de um perfil seguro de anestesia em neonatos. Apoio Financeiro: FIPE/HCPA, PROPESQ/UFRGS.
EFEITO DO 3-METIL-1-FENIL-2-(SELENIOFENIL)OCT-2-EN-1-ONA SOBRE AS CONTAGENS DE LEUCÓCITOS EM RATOS ADULTOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 253
BRUNA MEZZALIRA;FRANCIELI ROZALES; ANDRESSA S CENTENO; ELIAS TURCATEL; VANESSA O. CASTRO; TANISE GEMELLI; ROBSON GUERRA; ADRIANA COITINHO; ROSANE GOMEZ; CAROLINE DANI; CLÁUDIA FUNCHAL
Introdução: O selênio (Se) é um elemento traço essencial para os mamíferos, importante para muitos processos celulares. Nos últimos anos, os dados na literatura demonstram que baixos níveis de Se podem levar à predisposição para o desenvolvimento de algumas doenças, tais como câncer, esclerose, doença cardiovascular, cirrose e diabetes. Por outro lado, os compostos orgânicos de Se podem ser extremamente tóxicos, podendo afetar a pele e os rins. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi investigar os efeitos do tratamento agudo com o organocalcogênio 3-metil-1-fenil-2-(seleniofenil)oct-2-en-1-ona sobre o número de leucócitos e o diferencial de ratos adultos. Metodologia: Foram utilizados 40 ratos Wistar com 60 dias de idade, que foram divididos em quatro grupos experimentais. Os animais foram tratados com uma única injeção intraperitonial de solução salina, 125, 250 ou 500 µg/kg do organoselênio. Após 1h os ratos foram sacrificados por decapitação sendo o sangue troncular coletado. O sangue total com EDTA foi usado para a contagem do número de leucócitos totais em câmara de Neubauer e o diferencial foi realizado através da coloração de May-Grunwald/Giemsa. Resultados: Observamos uma aumento do número total de leucócitos nos ratos tratados com 250 e 500 µg/kg do organoselênio. O composto foi capaz de causar neutrofilia na concentração de 125 µg/kg e neutropenia na dose de 500 µg/kg. Além disso, o organocalcogênio causou uma linfocitose na concentração de 500 µg/kg. Conclusão: Nossos resultados indicam que este composto de organoselênio induz alterações hematológicas ratos tratados agudamente com 3-metil-1-fenil-2-(seleniofenil)oct-2-en-1-ona, sendo potencialmente tóxico para roedores. Apoio financeiro: Centro Universitário Metodista IPA.
INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA E/OU CIRÚRGICA PROMOVE ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL EM RATOS INFANTES
LICIANE FERNANDES MEDEIROS;JOANNA RIPOLL ROZISKY;VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, ANDRESSA DE SOUZA; CARLOS ALEXANDRE NETTO, IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
Introdução: intervenção cirúrgica e/ou administração de fármacos no neonato podem promover alterações anatômicas e fisiológicas devido à imaturidade dos sistemas e representam um desafio significativo em pediatria. Objetivo: avaliar as respostas comportamentais de ratos de 14 dias (P14) e 30 dias (P30) submetidos à administração de anestésico geral e/ou procedimento cirúrgico em P14. Materiais e Métodos: utilizamos ratos machos Wistar de 14 dias divididos em: controle (C- n=18), fentanil/cetamina (A-n=16), fentanil/cetamina e cirurgia (A-CIR-n=15) os quais receberam salina ou 20mg/kg de cetamina-S + 0,09mg/kg de fentanil. No P14 os filhotes foram submetidos à anestesia e/ou procedimento cirúrgico. No P14 e P30 foram avaliados os seguintes comportamentos em Campo Aberto durante 5 min: latência para sair do primeiro quadrante (s), locomoção e rearings (nº de cruzamentos nos quadrantes e respostas de orientação), nº de bolos fecais e grooming. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguida por SNK e os resultados foram expressos em M+EPM e considerados significativamente diferentes com P<0,05. Resultados e Conclusões: No P14 não foi observada alteração comportamental. No P30 os grupos A (104,66+ 9,79) e A-CIR (120,42+ 6,38) apresentaram aumento no nº de cruzamentos externos em relação ao grupo C (63,36+ 4,36) (ANOVA, P<0,05). Concluímos que a utilização de anestésicos e procedimento cirúrgico no P14 induz aumento na locomoção em médio prazo, porém não em curto prazo. Este estudo sugere um efeito ansiogênico que não é revertido pela cirurgia, o qual pode ser resultante de mecanismos de ação do fármaco sobre outros sistemas de neurotransmissão. Novos estudos estão em andamento para melhor elucidar estes resultados. Apoio Financeiro: FIPE/HCPA, PROPESQ/UFRGS.
ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL NO MODELO DE ESTRESSE AGUDO NO CICLO DE 24 HORAS
ANDRESSA DE SOUZA;LICIANE FERNANDES MEDIROS; VINICIUS SOUZA DOS SANTOS; JOANNA RIPOLL ROZISKY; MARIA PAZ HIDALGO; WOLNEI CAUMO; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
INTRODUÇÃO: A ritmicidade pode ser entendida como a expressão cíclica de um fenômeno biológico, sendo que diferentes variações de intensidades de luz podem estar envolvidos com
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 254
alterações de comportamento sendo um fator importante a ser considerado ao se realizar um experimento. OBJETIVO: Investigar o efeito do horário na resposta comportamental ao estresse por restrição. MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizados 24 ratos Wistar machos, com 70 dias de idade, randomizados, mantidos 5 animais/caixa com ciclo claro-escuro de 12h, em temperatura de 22±1°C com água e ração ad libitum e submetidos ao modelo de estresse por restrição (1h), divididos em 3 grupos (n=8/grupo) ZT0 =7h, ZT12=19h, ZT18=1h. Imediatamente após a sessão de estresse os animais foram expostos ao aparato de Campo-aberto. Foram avaliados o número de cruzamentos internos e externos (medida de atividade locomotora), a latência para saída do primeiro quadrado (medida de ansiedade), o rearing (atividade exploratória), grooming (autolimpeza). Os dados foram analisados pelo teste ANOVA, seguida de Student-Newmann-Keuls, considerados significativamente diferentes com P<0,05. RESULTADOS: O grupo 12ZT apresentou um aumento no número de cruzamentos internos (0ZT= 1,33+ 0,49; 12ZT=8,7 + 1,54; 18ZT=1,83+ 1,01; ANOVA, P<0,05). O grupo 0ZT apresentou diminuição no número de cruzamentos externos (0ZT= 75,3+5,48; 12ZT=104,2+7,7; 18ZT=103,3+4,5; ANOVA, P<0,05) e de rearings (0ZT= 24+2; 12ZT=35+3; 18ZT=39+0,6; ANOVA, P<0,05). Não houve diferença entre diferentes horários em relação à latência e grooming. CONCLUSÃO: Podemos sugerir que ao realizarmos um experimento utilizando como modelo experimental estresse, deve ser levado em consideração o horário em que este será realizado evitando assim, que ocorram vieses no estudo.
FISIATRIA
PERFIL FUNCIONAL DOS PACIENTES COM MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE MUCOPOLISSACARIDOSES DO SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
NICOLE RUAS;IDA VANESSA D. SCHWARTZ, FÁBIO COELHO GUARANY, MARIA VERÔNICA MUNOZ-ROJAS, CAROLINA F. M. SOUZA, LOUISE L. C. PINTO, TAIANE A. VIEIRA, ROBERTO GIUGLIANI
Introdução:Mucopolissacaridose tipo II (MPS II) é uma doença genética causada pela deficiência da enzima iduronato-2-sulfatase, leva ao acúmulo de glicosaminoglicanos, compromete a função de órgãos e aparelho osteoarticular, ocasionando limitações e dependência nas atividades do cotidiano.Objetivos:Caracterizar o perfil funcional de pacientes com MPS II.Métodos:Foram avaliados 7 pacientes do Ambulatório de Mucopolissacaridoses do Serviço de Genética Médica do HCPA, através de dois instrumentos:Pediatric Evaluation Of Disability Inventory (PEDI) crianças até 8 anos e Medida de Independência Funcional (MIF) para os demais.Resultados:Cinco apresentavam forma grave e 2 atenuada, todos do sexo masculino e idade média de 13 (DP 7,06) anos. Aqueles avaliados pelo MIF (n= 6) com média de 72 pontos, caracterizaram dependência modificada (auxílio em até 50% das atividades do dia-a-dia)e auxílio em até 70% das atividades nas áreas de desempenho ocupacional, tarefas de autocuidado e mobilidade. Em relação às questões cognitivas, 5 apresentaram escores baixos, indicando a presença de déficit cognitivo e necessidade de auxílio para interagir socialmente. Apenas 1 apresentou habilidades cognitivas preservadas. Um foi avaliado pelo PEDI: este paciente,5 anos de idade, apresentou desenvolvimento inferior quando comparado ao desenvolvimento das crianças normais na área de autocuidado. Conclusões:Considerando a evolução natural da doença, os resultados sugerem que a avaliação da funcionalidade dos pacientes com MPS II é importante, através dela se identifica dificuldades e limitações que devem ser objeto de abordagem terapêutica. O acompanhamento com equipe de reabilitação poderá auxiliar na manutenção da funcionalidade destes pacientes através do tratamento adequado às suas dificuldades.
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO DUPLO-CEGO E COMPARANDO DUAS APRESENTAÇÕES DE TOXINAS BOTULÍNICA TIPO A NO TRATAMENTO DE ESPASTICIDADE DISFUNCIONAL FOCAL - UMA ANÁLISE PRELIMINAR
LUCIA COSTA CABRAL FENDT;FÁBIO GUARANY; NICOLE RUAS; BIANCA MENTZ; CAROLINA BARONE; ELAINE LAPORTE; PAULO PICON
Introdução: Utiliza-se a toxina botulínica tipo A (TBA) no tratamento da espasticidade há mais de uma década. Há três apresentações comerciais de TBA que derivam de produtos biológicos distintos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 255
e diferem na forma de armazenamento, diluição e dosagem. Embora cada formulação tenha sido validada e testada, existem poucos estudos comparativos. Objetivo: Comparar a eficácia entre duas apresentações de TBA no tratamento da espasticidade e avaliar a segurança de duas apresentações. Métodos: Ensaio Clínico Randomizado, duplo-cego e cruzado. São incluídos pacientes portadores de espasticidade com indicação para TBA, em acompanhamento no Ambulatório de Espasticidade do HCPA, com cálculo amostral de 56 pacientes, que são randomizados em dois grupos. Após, o A recebe aplicação TBA do laboratório Allergan e depois de 12 semanas Lanzhou, e o grupo B o inverso. O desfecho primário é o grau máximo de efeito atingido na medição passiva do tônus muscular pela escala de Ashworth que será aplicada no tempo 0, 4, 12 (momento do crossover), 16 e 24 semanas, por três investigadores independentes. Os desfechos secundários são avaliação da qualidade de vida, capacidade funcional e efeitos adversos. Resultados: Já foram incluídos 41 pacientes sendo 59% do sexo feminino e 41% do masculino. Em uma análise preliminar das características basais, a variável idade não apresentou distribuição normal, sendo subdividida em dois grupos etários: crianças (2 a 18 anos), média de 8,8 anos e desvio-padrão (DP) de 4,5 anos; e adultos (19 anos ou mais), média de 51,4 e DP=10,55 anos. Como principal diagnóstico tem-se paralisia cerebral (65%), predominante no subgrupo infantil, seguido de AVC (27%), no subgrupo adultos. Trauma raqui-medular, trauma crânio-encefálico e toxoplasmose respondem aos 7% restantes.
FISIOLOGIA
ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA DO RECEPTOR DE ANDROGÊNIOS E DO COMPLEXO P160 EM TUMORES DE PRÓSTATA
ANA CAROLINE HILLEBRAND;VANDERLEI BIOLCHI, LOLITA SCHNEIDER, BRASIL SILVA NETO, WALTER JOSÉ KOFF, MILTON BERGER E ILMA SIMONI BRUM DA SILVA
Introdução: Doenças da próstata apresentam alta incidência, morbidade e mortalidade. O mecanismo de desenvolvimento dos tumores prostáticos ainda não é conhecido, especialmente o papel dos androgênios, os quais podem evocar respostas diferentes em determinados tipos de tumores. Estudos demonstram o envolvimento do receptor de androgênios (AR) no processo de formação tumoral da próstata. O complexo p160 é formado por uma família de genes (SRC-1, AIB-1 e GRIP) com o peso de 160kDa que se liga ao AR exercendo função co-ativadora, podendo assim, aumentar a sua expressão. Objetivos: Investigar a expressão gênica do AR e do complexo p160 em amostras de hiperplasia prostática benigna (HPB) e câncer de próstata (CaP). Métodos: O tecido prostático foi obtido, por remoção cirúrgica, de 97 pacientes com diagnóstico de CaP ou HPB, com aprovação do comitê de ética institucional. O RNA total destas amostras foi extraído com o reagente TRIZOL®, seguindo o protocolo do fabricante. A expressão gênica do AR e do p160 foram avaliadas por RT-PCR em tempo real. Resultados: A expressão de AR foi de 0,48 (0,25 – 1-35) e 0,25 (0,07 –0,85) (p=0,013); GRIP 1,46 (0,79 – 2,56) e 0,81 (0,39 – 1,17) (p=0,001); AIB1 1,11 (0,54 – 1,84) e 0,67 (0,50 – 1,37) (p=0,042); SRC-1 1,59 (0,96 – 2,18) e 1,35 (1,00 – 2,13) (p=0,404) respectivamente em CaP e HPB. Os genes AR, GRIP e AIB1 foram significativamente mais expressos no grupo CaP do que no grupo HPB. Não houve diferença na expressão do SRC-1 (p=0,404) entre os grupos. Conclusões: Este estudo indica uma maior participação do gene AR no grupo câncer em relação ao grupo HPB. Esta participação poder estar associada ao aumento da expressão dos co-ativadores AIB-1 e GRIP. Para melhor análise, está sendo estudada a expressão protéica desses genes.
THE PERFORMANCE OF BASAL AND DDAVP STIMULATED ACTH BILATERAL SIMULTANEOUS INFERIOR PETROSAL SINUS SAMPLING (IPSS) FOR ACTH DEPENDENT SECRETING TUMOR DIAGNOSIS
MAURO CZEPIELEWSKI;CASAGRANDE A ; GASTALDO F ; COSTENARO F;MATTANNA DS ; DORNELLES LV ; TOZATTI PV ; ROLLIN GA
Bilateral IPSS for ACTH measurement has emerged as the most reliable mean of distinguishing pituitary (Cushing`s disease:CD) and nonpituitary ACTH-dependent Cushing‟s syndrome (Ectopic Cushing`s Syndrome :ECS). DDAVP has emerged as an alternative to CRH. To evaluate the use of DDAVP in IPSS test for ACTH-dependent Cushing‟s syndrome (CS) diagnosis we studied 36 patients with CS: 26 females and 10 males; 29 with CD and 7 with ECS). IPSS were performed by the same
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 256
radiologist, with introduction of a femoral catheter in both inferior petrosal veins. ACTH was measured in inferior petrosal veins and in peripheral vein at the same time, before and 3, 5 and 10 minutes after IV administration of DDAVP 10 mcg. The criteria for a pituitary source were an inferior petrosal sinus to peripheral (IPS: P) basal ratio >=2:1, or an IPS: P ratio >=3:1 after DDAVP stimulation. Results: Inferior petrosal veins anatomical variability was present in 7 of 36 patients, preventing the IPSS realization in one case with CD. A basal ACTH IPS: P > 2.0 was observed in 26 patients with CD (90% sensitivity). Eight patients failed to obtain stimulated ACTH IPS: P > 3.0. One with CD failed to have basal and stimulated ACTH IPS: P gradient and other presented a stimulated ACTH IPS: P > 3.0. All patients with ECS the ACTH IPS: P were < 2.0 and < 3.0 at basal and stimulated tests, respectively. Three had an identified ACTH secreting tumor, whereas 4 of them had an occult ECS. C: in the present study, both tests had the same E and VPPof (100%). ACTH IPS:P > 2.0 determined with 90% of S and 77,7% NPV to CD diagnosis, whereas DDAVP stimulated ACTH IPS:P the S was 65,5% and NPV was 43,7% with a lower accuracy for the diagnosis approach.
A QUERCETINA PROTEGE DO DANO OXIDATIVO O FÍGADO DE RATOS CIRRÓTICOS
SILVIA BONA;CÍNTIA DE DAVID; LIDIANE ISABEL FILIPPIN, BRUNA VALIATTI; RICARDO XAVIER; NORMA POSSA MARRONI
A cirrose hepática envolve muitos eventos celulares e moleculares. Vários antioxidantes e flavonóides têm sido referidos como eficazes para diminuir a fibrose em modelos animais. Objetivos: Avaliar a ação antioxidante da quercetina (QC) na cirrose induzida por tetracloreto de carbono inalatório (CCl4). Materiais e Métodos: Utilizou-se 24 ratos Wistar machos, com ±250g, divididos em 4 grupos: I-Controle, II-Controle+fenobarbital, III-CCl4, IV-CCl4+QC. Os ratos foram submetidos a inalações de CCl4 (2x/semana), durante 16 semanas, recebendo fenobarbital na água (0,3g/dl), exceto o grupo I. A QC (50mg/Kg) foi iniciada na 10ª semana de inalação, perdurando até o final. A análise estatística foi ANOVA-Tuckey (Média±EP), considerando-se diferença estatisticamente significativa com p< 0,05. Resultados: Na análise bioquímica (AST, ALT, BT, BI, e FA), o grupo III apresentou elevada concentração sérica dessas enzimas hepáticas em relação aos demais, demonstrando a presença de dano hepático e uma melhora quando se utiliza a QC. A lipoperoxidação avaliada através de TBARS demonstrou dano significativamente maior no grupo III em relação ao I, II e IV ((I)0,19+0,00; (II)0,25+0,03; (III)0,37+0,02 e (IV)0,28+0,02 (nmoles/mg Prot)). Avaliando a atividade da enzima glutationa peroxidase (GPx) ((I)0,27+0,02; (II)0,24+0,01; (III)0,19+0,01 e (IV)0,23+0,01 (mg/mL de Hb)), observou-se uma diminuição significativa da atividade desta enzima no grupo III em relação aos demais. Na avaliação de nitratos totais ((I)2,66+0,35; (II)2,34+0,35; (III)1,17+0,16 e (IV)2,35+0,043 (mmoles de NO3+NO2)), observou-se diminuição significativa na produção desses metabólitos no fígado dos ratos do grupo III em relação aos demais. Conclusão: A QC parece ter um papel protetor no fígado de ratos cirróticos, demonstrado pela redução nos parâmetros de integridade hepática e na lipoperoxidação, e pelo restabelecimento da GPx e dos nitratos totais após sua administração.
O ENVOLVIMENTO DO ÓXIDO NÍTRICO NAS ALTERAÇÕES HEMODINÂMICAS EM MODELO ANIMAL DE HIPERTENSÃO PORTAL
FRANCIELLI LICKS;CAMILA MARQUES; LUIZ FELIPE FORGIARINI; BEATRIZ BORGES; ANETE CURTE; NORMA POSSA MARRONI
A hipertensão portal é uma síndrome clínica secundária a cirrose, com alterações hemodinâmicas caracterizadas pelo aumento do fluxo sangüíneo e/ou aumento da resistência vascular no sistema porta, desencadeando um aumento da pressão no território esplâncnico. O óxido nítrico (NO) é um mediador envolvido no relaxamento muscular e na dilatação dos vasos. Este trabalho tem como objetivo avaliar o envolvimento do NO e sua relação com o estresse oxidativo na circulação hiperdinâmica em animais com ligadura parcial de veia porta (LPVP). Foram utilizados 12 ratos machos Wistar, pesando em média 300g, divididos em 2 grupos: 1. Sham Operated (SO); 2. Ligadura parcial da veia porta (LPVP). No 15° dia foi aferida a pressão na veia mesentérica dos ratos através de um polígrafo Lettica. Foram verificados os níveis de substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico (TBA-RS) (Buege e Aust, 1978), a atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) (Mirsa e Fridovich, 1983) e avaliados os nitritos e nitratos pelo reagente de Griess (Granger, 1999) nos estômagos desses animais. A histologia de estômago foi avaliada pela coloração de hematoxilina e eosina (HE). Para verificar a formação de peroxinitrito, foi realizada a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 257
imunohistoquímica de nitrotirosina em mucosa gástrica. Foi observado um aumento da pressão portal no grupo LPVP comparado ao grupo SO (P<0,05). Houve também um aumento dos níveis de TBARS e uma redução dos níveis de SOD no grupo LPVP quando comparado aos grupos SO (P<0,05). Na avaliação dos metabólitos do NO, observou-se um aumento dos níveis no grupo LPVP em comparação ao grupo SO (P<0,05). Na análise histológica do estômago observou-se edema e petéquias hemorrágicas nos animais LPVP, enquanto o grupo SO não apresentou este aspecto. Este estudo sugere que o óxido nítrico desempenha um papel pleiotrópico na hipertensão portal, devido a alteração de seus níveis fisiológicos, sugerindo também seu envolvimento no estresse oxidativo devido a presença da formação de peroxinitrito na mucosa gástrica de animais submetidos a este modelo.
ATIVIDADE DO SISTEMA ENZIMÁTICO CITOCROMO P450 EM FÍGADO DE RATOS DIABÉTICOS INDUZIDOS POR ESTREPTOZOTOCINA
GRAZIELLA RODRIGUES;SILVIA BONA;MARILENE PORAWSKI; THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA; NORMA POSSA MARRONI
O Croton cajucara Benth (CcB) é uma planta amazônica, utilizada para o tratamento de doenças como o Diabetes Mellitus (DM). O DM é relacionado com a produção de espécies ativas de oxigênio e fenômenos de estresse oxidativo, contribuindo para o aparecimento de anormalidades no sistema enzimático citocromo P450. O P450 permite a quantificação desse sistema enzimático, responsável por reações de oxidação e biotransformação de xenobióticos. O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento espectral do citocromo P450 em fígado de ratos diabéticos induzido por estreptozotocina (STZ) submetidos ao tratamento com o extrato aquoso (EA) da casca CcB. Utilizou-se ratos machos Wistar, divididos em 4 grupos: controle (CO, n=6), diabéticos (DM, n=8), diabéticos com tratamento de 5 (DM5d, n=8) e 20 dias(DM20d, n=8) com CcB. O diabetes (DM) foi induzido por administração intraperitonial de STZ (70mg/Kg). Após 60 dias, os animais foram sacrificados, o fígado retirado e homogeneizado, da fração microssomal foi quantificado o P450-mmoles/mg prot (Omura e Sato, 1964). Os resultados aparecem como média±EP, a análise estatística ANOVA – Student-Newman-Keuls, com p<0,05. Os animais do grupo CO (415,18±62,89) e DM (550,98±55,54) não apresentaram ativação deste sistema enzimático. Os animais diabéticos tratados por 5 (687,91±35,00) e 20 (705,82±44,63) dias, apresentaram aumento significativo em relação ao grupo CO. A administração do EA ativou o sistema p450, promovendo a detoxificação do CcB, mostrando o possível efeito hepatotóxico dessa planta.
USO DO ANTIOXIDANTE QUERCETINA NO TRATAMENTO DA ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA EM CAMUNDONGOS
ÉDER MARCOLIN;JULIANA TIEPPO; LUIZ FELIPE FORGIARINI; GREICE BORGHETTI; VALÉRIA BASSANI; JAVIER GONZÁLEZ-GALLEGO; NORMA POSSA MARRONI
A Esteato-Hepatite Não Alcoólica (EHNA) é uma condição caracterizada por acúmulo de lipídeos nos hepatócitos, inflamação e fibrose. Objetivou-se verificar os níveis bioquímicos, histopatológicos, de lipoperoxidação e as enzimas antioxidantes em camundongos C57BL/6 machos, com 8 semanas, com EHNA induzida por dieta deficiente de metionina e colina, tratados com o flavonóide Quercetina (Q). Realizou-se 6 grupos (n=12): CO+V (controle + veículo de carboximetilcelulose sódia 1%), CO+Q25 (Q 25 mg/Kg), CO+Q60 (Q 60 mg/Kg), EHNA+V, EHNA+Q25, EHNA+Q60. Administrou-se 250µL de Q por gavagem durante 2 semanas a partir do 14º dia de indução da doença. Analisou-se no tecido hepático a lipoperoxidação por TBARS, as enzimas antioxidantes Glutationa (GSH) e Catalase (CAT), medidas bioquímicas de glicemia, colesterolemia, provas de função hepática e estudos histológicos por Hematoxilina-Eosina. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA. Os dados são apresentados como média±erro padrão e tratados estatisticamente por ANOVA seguidos de Student Newman-Keuls com significância de 5%. A lipoperoxidação diminuiu significativamente no grupo EHNA+Q60 (1,029±0,06) comparado ao grupo EHNA+V (1,370±0,11). A GSH apresentou-se elevada nos grupos EHNA e diferente estatisticamente entre o EHNA+V com os grupos CO. A CAT não apresentou diferenças. A AST (209,7±8,9), ALT (368±17,3) e FA (93,2±3,7) do EHNA+Q60 diminuíram significativa em relação ao EHNA+V (396,2±18,9; 468,1±27,8 e 107±1,9). Nas análises de colesterolemia, trigliceridemia e níveis de HDL não houve diferenças entre os grupos EHNA. E, observam-se melhoras histológicas no grupo EHNA+Q40 e EHNA+Q60. A administração
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 258
de Q 60 mg/Kg demonstra melhora nas alterações hepáticas da EHNA, sendo que o alto poder antioxidante da Q agiria sobre o 2º Hit da ENHA, potencialmente envolvido com o estresse oxidativo.
ADMINISTRAÇÃO DE QUERCITINA PREVINE A SÍNDROME HEPATOPULMONAR EM RATOS CIRRÓTICOS
JULIANA TIEPPO;MARIA JOSÉ CUEVAS; RAFAEL VERCELINO; THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA; MARIA JESUS TUÑON; JAVIER GONZÁLEZ-GALLEGO; NORMA POSSA MARRONI
A Síndrome Hepatopulmonar (SHP) se apresenta em aproximadamente 10-20% dos pacientes com cirrose e do ponto de vista molecular se caracteriza por um aumento na produção do óxido nítrico (NO), pela superexpressão do receptor pulmonar de endotelina (ETBr) e aumento das atividades das NO sintases endotelial (eNOS) e induzível (iNOS), possivelmente influenciados por rotas de sinalização redox como a que implica o factor nuclear kappaB (NFkB). Objetivamos determinar se o tratamento com quercitina (Q) em ratos submetidos à ligadura de ducto biliar (LDB) minimiza a ativação do NFkB e a expressão gênica de mediadores como a eNOS, a iNOS e ETBr. Foram utilizados ratos machos Wistar divididos em 3 grupos (n=11): CO=controle, LDB e LDB+Q. A Q (50 mg/kg) foi administrada durante 2 semanas iniciando o tratamento 14 dias após a cirurgia. Foram realizadas análises no tecido pulmonar da ativação do NFkB por EMSA e expressão gênica de eNOS, iNOS e ETBr através de PCR quantitativa a tempo real. O trabalho foi realizado mediante aprovação do Comitê de Pesquisa e Ética do HCPA. Os dados são apresentados como média±erro padrão e como análise estatística foi utilizada ANOVA seguida de Teste de Student Newman Keuls. Observamos que a LDB induz um aumento na expressão de iNOS, eNOS e ETBr em comparação com o grupo controle e diminuição significativa da expressão desses genes em relação aos animais tratados com Q. Estes achados se correlacionam com ativação do NFkB nos animais doentes e inibição significativa dessa ativação no grupo tratado com Q. A administração da Q após um dano hepático já estabelecido melhora significativamente as alterações da SHP ao impedir a ativação NFkB e diminuir as quantidades de RNA mensageiro de iNOS, eNOS e de ETBr. Fomento: CAPES / FIPE-HCPA / CIBEREHD
SILENCIAMENTO DO GENE DO RECEPTOR DE ANDROGÊNIOS EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS DE CARCINOMA PROSTÁTICO
ALINE FRANCIELLE DAMO SOUZA;GISELE BRANCHINI; BRASIL SILVA NETO; MILTON BERGER; WALTER JOSÉ KOFF; ILMA SIMONI BRUM
INTRODUÇÃO: A ação androgênica determina o crescimento e a proliferação de células prostáticas. Alterações mutacionais e transcricionais no receptor de androgênios (AR) com a participação de co-fatores podem estar envolvidas no contínuo crescimento de tumores prostáticos independente de estímulo hormonal. O estudo dos mecanismos moleculares envolvidos na ação androgênica e na atividade gênica contribuirá principalmente para o desenvolvimento de terapias mais eficientes de contenção tumoral. OBJETIVO: Estabelecer a cultura primária de células prostáticas tumorais a partir de explants e padronizar as condições de silenciamento do gene do AR pela técnica de RNAi. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram coletados fragmentos de carcinoma prostático de pacientes submetidos a prostatectomia radical no Serviço de Urologia do HCPA. Foram testadas diversas marcas de meio de cultura DMEM, bem como a concentração de soro bovino fetal (SBF), e de fatores de crescimento. Depois de estabelecidas as melhores condições de cultivo, as células foram mantidas por aproximadamente 10 dias. Fez-se o silenciamento específico do AR com o uso de siRNAs específicos e, após 12 ou 24 horas, foi realizada a extração do RNA total pelo reagente Trizol para avaliação dos níveis de mRNA do AR, pela técnica de RT-PCR em tempo real. RESULTADOS: As condições de cultivo que propiciaram melhor adesão e crescimento celular foram a adição de 20% de SBF ao meio, bem como a suplementação com 4 mL/L de fatores de crescimento. Em experimento preliminar, observou-se uma tendência de silenciamento do gene do AR em 24 horas. CONCLUSÃO: O modelo de cultura primária de carcinoma de próstata foi estabelecido. Mais experimentos de RNAi são necessários para estabelecer o tempo de silenciamento do mRNA do AR, bem como da sua proteína.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 259
FISIOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS
SUPEREXPRESSÃO DE BETACELULINA EM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS INDUZ A SECREÇÃO DE INSULINA E REVERTE A HIPERGLICEMIA INDUZIDA POR STREPTOZOTOCINA EM RATOS
ANA HELENA DA ROSA PAZ;ANA AYALA, GABRIELLE SALTON, CLAUDIA LAURINO, PAULA TERRACIANO,ROSANA SCALCO, EDUARDO PASSOS, MARLON SCHNEIDER, ELIZABETH CIRNE-LIMA E LUISE MEURER
A diabetes é uma doença causada por deficiência de células beta pancreáticas (β), o tratamento por reposição de insulina não surte efeito completo na redução do risco cardiovascular a que os pacientes diabéticos estão expostos. Células-tronco mesenquimais (CTM) são células capazes de diferenciaram-se em células especializadas de diferentes linhagens. A Betacelulina (BTC) é uma proteína da família dos fatores de crescimento epidermais, está envolvida com o crescimento e diferenciação das células β. Nosso objetivo foi avaliar o efeito da superexpressão de BTC em células-tronco mesenquimais. CTMs isoladas da medula óssea de ratos wistar, foram caracterizadas por citometria de fluxo e diferenciação em adipócitos e osteócitos. Após a caracterização as CTMs foram trasfectadas por eletroporação com um plasmídeo contendo o cDNA da Betacelulina. As células foram selecionadas com G418 e cultivadas com meio DMEM 10% de soro fetal bovino e 10mM nicotinamida. A avaliação da diferenciação foi realizada por radioimunoensaio, imunocitoquimica, RT-PCR para genes específicos de células β e transplante para modelo animal de diabetes induzida por streptozotocina. CTM superexpressando betacelulina foram positivas para insulina à imunocitoquímica, bem como demonstrou-se, por radioimunoensaio, que liberaram até 0,4ng/mL de insulina, em contraste, célula MSCs transfectadas com o plasmídeo vazio que não produziram níveis detectáveis do hormônio. A análise por RT-PCR revelou a expressão de genes típicos de β nas CTM transfectadas. O transplante de 5x10
6 sob a cápsula renal de ratos diabéticos
reverteu a hiperglicemia causada por streptozotocina. Nossos resultados demonstram que a superexpressão de betacelulina induz a secreção de insulina in vitro e in vivo em células-tronco mesenquimais. Dessa forma, células-tronco mesenquimais transfectadas podem ser potencial fonte celular para o transplante e tratamento da diabetes.
INFLUÊNCIA DAS VARIAÇÕES DO CUIDADO MATERNAL NOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE CORTICOSTERONA E DE DOPAMINA NO HIPOTÁLAMO EM FILHOTES DE RATOS SUBMETIDOS A ESTRESSE POR FRIO
BRUNO CARLO CERPA ARANDA;THIAGO PEREIRA HENRIQUES; LUISA AMÁLIA DIEHL; VANISE SEBBEN; CELSO RODRIGUES FRANCI; PATRÍCIA PELUFO SILVEIRA; ROSA MARIA MARTINS DE ALMEIDA; ALDO BOLTEN LUCION
Os primeiros 14 dias de vida em roedores são conhecidos como período hiporresponsivo ao estresse (PHRE), no qual há respostas diminuídas ao estresse. Ratos que recebem diferentes níveis de cuidado materno (CM) no PHRE podem apresentar diferenças duradouras nas respostas ao estresse (E) e na atividade monoaminérgica central. O trabalho investiga se as variações de CM influenciam as respostas da corticosterona (CORT) e a atividade da dopamina (DA) no hipotálamo de neonatos submetidos a um E. 60 ninhadas de ratas Wistar prenhas foram padronizadas em 8 filhotes no dia 0 (D0, nascimento). Do D1 ao D10 registrou-se o CM, sendo observado a frequência de lambidas (FL) da mãe através de 4 registros de 72 min /dia, nos horários: 9:30, 12:30, 15:30 e 18:30 h. A média de FL da população foi 5,52 ± 0,18. Foram definidas como Muito-Cuidadoras (MC, média maior que 6,99; n=10), Pouco-Cuidadoras (PC, média menor que 4,18; n=12). No D13, 1 casal por ninhada foi submetido a um E por frio (0°C, 6 min) e sacrificado 15 min pós-E. Outro casal por ninhada foi usado como controle e sacrificados no início do experimento. O sangue do tronco foi colhido para análise da CORT plasmática (ng/ml) por radioimunoensaio e o hipotálamo foi removido para cromatografia líquida dos níveis de DA e DOPAC (metabólito da dopamina), para então obter a taxa DOPAC/DA. A ANOVA de 3 vias com Post Hoc de Duncan mostrou um efeito do E aumentando os níveis de CORT em filhotes de ratas MC e PC (P menor que 0,001) e uma diminuição da taxa DOPAC/DA em filhotes de ratas MC e PC (P=0,05). Sugere-se que a diminuição da taxa DOPC/DA seja um mecanismo envolvido no PHRE.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 260
EFEITOS DO ESTRESSE NOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE OCITOCINA E NA ATIVIDADE SEROTONINÉRGICA NO HIPOCAMPO PROVOCADOS POR VARIAÇÕES NO CUIDADO MATERNO EM RATOS NEONATOS
VANISE SEBBEN;THIAGO PEREIRA HENRIQUES; LUISA AMÁLIA DIEHL; BRUNO CARLO CERPA ARANDA; CELSO RODRIGUES FRANCI; PATRÍCIA PELUFO SILVEIRA; ROSA MARIA MARTINS DE ALMEIDA; ALDO BOLTEN LUCION
No período hiporresponsivo ao estresse (PHRE), as respostas ao estresse são diminuídas. Ratos que recebem diferentes níveis de cuidado materno (CM) no PHRE podem apresentar diferenças duradouras nas respostas ao estresse (E) e na atividade monoaminérgica central. O trabalho investiga se variações de CM influenciam as respostas da ocitocina (OT) e a atividade da serotonina (5-HT) no hipocampo de neonatos submetidos a um E. 60 ninhadas de ratas Wistar prenhas foram padronizadas em 8 filhotes no dia 0 (D0, nascimento). Do D1 ao D10 registrou-se o CM, sendo observado a frequência de lambidas (FL) da mãe através de 4 registros de 72 min /dia, nos horários: 9:30, 12:30, 15:30 e 18:30 h. A média de FL da população foi 5,52±0,18. Foram definidas como Muito-Cuidadoras (MC, média maior que 6,99; n=10), Pouco-Cuidadoras (PC, média menor que 4,18; n=12). No D13, 1 casal por ninhada foi submetido a E por frio (0°C, 6 min) e sacrificado 15 min pós-E. Outro casal por ninhada foi usado como controle e sacrificados no início do experimento. O sangue foi colhido para análise da OT plasmática (ng/ml) por radioimunoensaio e o hipocampo foi removido para cromatografia líquida dos níveis de 5-HT e 5HIAA (metabólito da 5-HT), para então obter a taxa 5HIAA/5-HT. A ANOVA de 3 vias com Post Hoc de Duncan não mostrou variação nos níveis de OT em filhotes de ratas MC e PC (P menor que 0,05), embora as fêmeas (F) apresentem níveis mais elevadas que os machos (M). Houve um aumento da taxa 5HIAA/5-HT em filhotes de ratas MC (P menor que 0,05) em relação às PC. Acreditamos que o sistema hipotalâmico neurohipofiseal pode não estar maduro e/ou a OT não ser tão responsiva ao E por frio. A OT aumentada nas F pode ser devido a maior atividade da OT do que em M, tal como maior expressão de seus receptores.
AVALIAÇÃO DO DANO HEPÁTICO OXIDATIVO EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS À HIPÓXIA INTERMITENTE ISOCÁPNICA
DARLAN PASE DA ROSA;DENIS MARTINEZ; NORMA POSSA MARRONI
As oscilações da concentração de O2 causada pela hipóxia intermitente (HI) nas apnéias expõem os pacientes à produção de radicais livres e conseqüente estresse oxidativo. Contra essas substâncias oxidativas, existem sistemas de defesa antioxidantes enzimático, tais como as Superóxido Dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutationa Peroxidase (GPx) e Glutationa Total (GSH). Tivemos como objetivo investigar o efeito da HI isocápnica avaliando o dano hepático e estresse oxidativo em camundongos. Utilizou-se 24 camundongos CF-1 machos jovens, divididos em dois grupos: controle (CO) e HI. Diariamente, durante 35 dias, os animais foram acondicionados em câmaras e ligados ao sistema que controla a liberação da mistura de N2 90% e CO2 a 10%, em ciclos de 30 segundos de HI e 30s de normóxia, durante oito horas. Foi utilizado ANOVA e teste “t” de Student, sendo significativo quando p<0,05(*). Observamos aumento significativo das enzimas hepáticas do grupo HI em comparação ao grupo CO (ALT - CO: 45,4±3,0; HI: 56,3±1,3*/ AST – CO: 108,6±10,5; HI: 148,8±7,5*/ FA - CO: 94,5±2,8; HI: 135,9±5,4). Na lipoperoxidação, através das medidas das substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico (TBARS nmol/mg prot) observamos aumento significativo dos animais do grupo HI em comparação aos do grupo CO (CO: 1,05±0,072; HI: 1,306±0,059*). Nas atividades das enzimas antioxidantes e GSH observamos diminuição significativa nos animais do grupo HI em comparação com os CO (SOD USOD/mg prot – CO: 25,19±1,64; HI: 9,66±0,90*/ CAT nmoles/mg prot – CO: 5,36±0,45; HI: 2,74±0,19*/ GPx nmoles/min/mg prot – CO: 1,15±0,12; HI: 0,46±0,07*/ GSH - µmoles/mg prot – CO: 0,058±0,007; HI: 0,026±0,003*). Concluímos que esse modelo animal de HI causa dano hepático e resulta em estresse oxidativo no fígado desses animais.
BRAZILIAN PATIENT 17 ALFA HYDROXYLASE DEFICIENÇY
MAURO CZEPIELEWSKI;COSTENARO F, KATER CE, RICHARD AUCHUS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 261
Mutations on CYP17 gene cause 17-hydroxylase deficiency (17OHD), a rare form of congenital adrenal hyperplasia (CAH).Individuals with 17OHD account for roughly 1% of all CAH, generally from consanguineous families. The features of complete 17OHD are hypertension, hypokalemia, and sexual infantilism in phenotypic females in 46, XX and 46, XY subjects. The lack of adrenal 17_-hydroxylase activity drives massive overproduction of the 17-deoxysteroids: 11-deoxycorticosterone (DOC) and corticosterone, which are the mineralocorticoids that cause hypertension and hypokalemia in 17OHD. Concomitant lack of gonadal 17, 20-lyase activity precludes sex steroid production and hence the development of the male phenotype in utero or of secondary sexual characteristics at puberty. We describe a 16 year‟s old, female raised patient with lack of pubertal signs and primary amenorrhea. Her parents were consanguineous. The family had Portuguese and Italian ancestry. Her skin was darker than her parents. BP: 150/115mmHg, height: 1,51 cm weight= 36,5 Kg, arm span = 163 cm Tanner stage 1: M1P1, infantile external genitalia. Exams: Karyotype : 46XY: Normal Boy . Abdominal-pelvic US: uterus was not seen and so were the gonadas. Cortisol 8h:1,84 ug/dl(6,2 - 19,4),17alfaOHP:0,18 pg/ml,(31 - 2,17),estradiol:<5 pg/ml(7,5 - 42,5),LH:60,1 mUI/ml, FSH:46,6mUI/ml(1,5 -12,4),T Testosterone:<0,1ng/ml(3,5-25),ACTH:476pg/ml(10–52) Androstenedione <0,11ng/dl (0,5 - 3,5), K:3,2meq/l(3,5-5,1),Co2:30meq/l(22-30), Aldosterone: 29,01ng/dl (supine=2,94 to 16,16) , PRA:<0,20ng/ml/h( 0,98 to 4,18). XR-Bone Age: CA: 15 years and 9 monthsBA: 11 years old.SD: 9, 23 months. Basal and ACTH –stimulated adrenal steroid values: (VR):Cortisol (ug/dl) 0, 0,(6-25/18-42),Cortisona (ng/dl) 0, 0, (800 -3500), Deoxycorticosterone (DOC) ng/d l18.377, 22030, (0,1-0,5/1,7-4,8).
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
ANÁLISE COMPARATIVA DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E DA FORÇA MUSCULAR DE MEMBRO INFERIOR DOMINANTE ENTRE JOGADORES DE FUTEBOL PROFISSIONAL E AMADOR
GUILHERME MACHADO DA SILVA;EDUARDO HENRIQUE GHENO, DULCIANE NUNES PAIVA
Resumo: Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia desportiva, os esportes de alto nível tem se tornado cada vez mais competitivos, tornando-se de suma importância a inclusão do fisioterapeuta não só como um reabilitador, mas também atuando no dia-a-dia de treinamento dos atletas com o intuito de prevenir e colaborar na melhora e na qualidade do rendimento esportivo. Objetivo: Correlacionar força muscular respiratória com a força muscular do membro inferior dominante entre jogadores de futebol profissional e amador. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo transversal de caráter prospectivo, sendo os sujeitos da pesquisa jogadores de futebol profissional e amador, voluntários selecionados nos clubes de futebol de Santa Cruz do Sul – RS onde foram realizados os testes de força muscular respiratória através da manovacuometria e de força muscular de membro inferior dominante aplicando o Teste de Uma Repetição Máxima. Os dados obtidos serão analisados através do Teste t de Student e do Teste de Correlação de Pearson (p< 0,05). Resultados: Os atletas profissionais apresentaram maior força muscular respiratória e maior força no membro inferior dominante quando comparado aos jogadores amadores. A relevância estatística foi observada apenas no Teste de 1RM (p = 0,04). Não foi observada correlação significante entre a força muscular respiratória e o Teste de 1RM entre os dois grupos analisados. Conclusão: De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que os jogadores profissionais possuem maior capacidade física-funcional em relação aos atletas amadores.
PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS COM O USO DA BOLA SUÍÇA EM PACIENTES INTERNADAS NA PEDIATRIA DE UM HOSPITAL DE NH POR BRONCOPNEUMONIA
ALINE FREZINGUELI BELLOTTO MOBARACK
A fisioterapia respiratória (FR) pode intervir na manutenção da permeabilidade das vias aéreas no tratamento do paciente com infecção respiratória como a broncopneumonia (BCP). O estudo tem como objetivo geral avaliar a alteração da mobilidade torácica, funções pulmonares e sinais vitais através de um programa de exercícios físioterapêuticos com o uso da bola suíça em crianças internadas em um Hospital de Novo Hamburgo. Como objetivos específicos, identificar o perfil, doenças associadas, tempo de permanência dos pacientes. O delineamento metodológico caracteriza-se como de caráter semi-experimental antes e depois, com análise de dados sob
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 262
paradigma quantitativo. A amostra contou com 9 crianças entre os meses de 02 a 04 de 2008, com idades entre 5 e 12, com diagnóstico clínico de BCP e prescrição de FR em seu prontuário. Como instrumentos, o microespirômetro para a avaliação da função pulmonar, a fita métrica para a realização da cirtometria axilar e xifóide, o oxímetro de pulso para quantificar a saturação periférica de oxigênio e a bola suíça como meio de realização dos exercícios. O programa foi aplicado de forma individual nas 9 crianças desde o momento da prescrição de FR até a alta hospitalar, a fim de verificar se houve melhora nos objetivos da pesquisa. Após a análise dos resultados, pôde-se constatar que houve uma melhora significativa na saturação parcial de oxigênio (p £ 0,008), freqüência respiratória (p £ 0,049), freqüência cardíaca (p £ 0,068), na cirtometria axilar insp máx (p £ 0,001), na cirtometria axilar exp máx (p £ 0,003), na cirtometria xifóide insp máx (p £ 0,023), na cirtometria xifóide exp máx (p £ 0,001). Constatou-se também, que todas as crianças participantes da pesquisa apresentaram melhora quanto à função pulmonar (VEF 1 p £ 0,062), evidenciando assim a importância e a eficácia da intervenção fisioterapêutica através do programa de exercícios com a bola suíça.
PERFIL DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
RAQUEL SACCANI;PAULA DA CRUZ GEREMIA; SIMONE CASAGRANDE; JULIANA MARTINS
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento motor é um processo contínuo e seqüencial, determinado por uma série cumulativa de adaptações e interações entre o indivíduo e seu ambiente, mediante diferentes tarefas. Avaliar o perfil do Desenvolvimento Neuropsicomotor de crianças nos primeiros anos de vida, é de grande relevância, pois pode-se pensar em estratégias de intervenção motora, assistência e acompanhamento desse processo de aquisições comportamentais, buscando não apenas interagir com a criança, mas também agir e orientar o ambiente onde esta está inserida. OBJETIVOS: A proposta deste estudo foi traçar o perfil de crianças com idade entre 4 a 18 meses, quanto ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avaliadas todas as crianças que frequentam Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal da cidade de Bento Gonçalves-RS, considerando os critérios de inclusão. A avaliação ocorreu nas dependências das escolas, utilizando um kit de avaliação do Teste de Triagem do Desenvolvimento do Denver II. Características biológicas das crianças foram coletadas através de questionário respondido pelos responsáveis e as características ambientais e as rotinas das escolas foram também avaliadas através de questionário. RESULTADOS: Foram avaliadas 103 crianças e destas, 24 (23,3%) apresentaram teste sugestivo de suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e 76% demonstraram desenvolvimento adequado para a idade. Não houve diferença no desempenho entre os sexos. Também não foram encontradas diferenças significativas entre as crianças com desempenho considerado normal e as crianças consideradas com suspeita de atraso, quanto as características biológicas. CONCLUSÃO: Sugere-se que o atraso encontrado na referida amostra tenha como causa principal a precariedade de estímulos oferecidos ou a especificidade destes, já que não foram detectadas alterações biológicas relevantes e nem condições ambientais impróprias.
DESENVOLVIMENTO MOTOR DE BEBÊS: DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS
RAQUEL SACCANI;KEILA RUTTNING GUIDONY PEREIRA; NÁDIA CRISTINA VALENTINI
INTRODUÇÃO: Os primeiros anos de vida são marcados pela importante aquisição e otimização de habilidades motoras, nas quais as principais mudanças e adaptações em termos de movimento acontecem. A literatura afirma que meninos e meninas, quando bebês, são semelhantes nos comportamentos motores, enfatizando que poucas diferenças físicas ou maturacionais são constatadas entre gêneros durante a primeira infância. OBJETIVO: Comparar o desenvolvimento motor de bebês com idade entre 0 e 18 meses, segundo gênero. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo no qual participaram 462 crianças (234 meninos e 228 meninas), com idade entre 0 e 18 meses, provenientes de Creches e Escolas de Educação Infantil da Região Sul-Rio-Grandense, pertencentes as cidades de Porto Alegre, Erechim e Antônio Prado. Para avaliar o desenvolvimento motor, foi utilizada a Alberta Infant Motor Scale que é composta por 58 itens agrupados em quatro sub-escalas: prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (12 itens) e em pé (16 itens). Além disso, características biológicas (apgar, peso ao nascer, comprimento ao nascer, entre outras) foram coletadas através de questionário respondido pelos responsáveis. RESULTADOS: Quanto ao desenvolvimento motor, não
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 263
foram detectadas diferenças estatisticamente significativas entre os gêneros (Chi2=2,08; p=0,35),
sendo que as pontuações nas 4 sub escalas, escores brutos e percentis mostraram-se semelhantes entre os dois grupos. Não foram observadas diferenças relevantes entre as características biológicas dos participantes. CONCLUSÃO: Ao observar que na faixa etária estudada as diferenças do desenvolvimento motor são pouco evidentes, acredita-se que diferenças nas performances motoras entre os gêneros aparecem em idades mais avançadas. Ou seja, a diferenciação do comportamento motor entre os gêneros é, portanto, decorrente de influências sociais e culturais que impactam, ao longo da vida, o desenvolvimento individual.
COMPARAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR ENTRE CRIANÇAS A TERMO E PRÉ-TERMO
RAQUEL SACCANI;KEILA RUTTNING GUIDONY PEREIRA, NADIA CRISTINA VALENTINI
INTRODUÇÃO: Estudos tem buscado identificar quem são as crianças de risco para alterações no desenvolvimento motor. Entre os fatores relacionados aos atrasos no desenvolvimento está a prematuridade. O impacto dos fatores de risco biológicos e sociais pode manifestar-se com intensidade variada, sendo que a literatura sugere que os fatores biológicos interferem principalmente no desenvolvimento adequado no primeiro ano de vida, enquanto que a influência do ambiente torna-se mais evidente após o segundo ano. OBJETIVO: Comparar o desenvolvimento motor de bebês prematuros e a termo. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo observacional e comparativo, com amostra de 462 crianças (0 à 18 meses), provenientes de Creches, Escolas de Educação Infantil das cidades de Porto Alegre, Erechim e Antônio Prado. Para avaliar o desenvolvimento motor, foi utilizada a Alberta Infant Motor Scale que é composta por 58 itens agrupados em quatro sub-escalas que descrevem o desenvolvimento da movimentação espontânea e de habilidades motoras em quatro posições: prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (12 itens) e em pé (16 itens). RESULTADOS: Ao comparar o desenvolvimento motor das crianças prematuras e a termo, observou-se que o desenvolvimento motor das crianças prematuras é significativamente inferior ( p=0,004) ao das crianças a termo, mesmo com correção da idade gestacional. Foram avaliadas 112 crianças prematuras, destas 12% apresentam atraso, 35,7% suspeita de atraso e 51,8% com desenvolvimento normal para idade. Para as crianças a termo, de 350 crianças avaliadas, 16,3% apresentaram atraso, 20,3% suspeita de atraso e 63,4% normalidade no desenvolvimento motor CONCLUSÕES: Crianças nascidas pré-termo, mesmo tendo a idade corrigida, apresentaram percentis mais baixos que as crianças nascidas a termo, chamando a atenção dos profissionais da área da saúde quanto aos cuidados preventivos a essa população.
DESENVOLVIMENTO MOTOR DE BEBÊS SEGUNDO ALBERTA INFANT MOTOR SCALE
RAQUEL SACCANI;KEILA RUTTNING GUIDONY PEREIRA, NADIA CRISTINA VALENTINI
INTRODUÇÃO: Devido à importância do impacto do atraso no desenvolvimento motor no que se refere à morbidade infantil e no desenvolvimento apropriado futuro da criança, é fundamental observar a qualidade dos movimentos, identificando as principais aquisições e comportamentos motores esperados para cada idade. OBJETIVO: Descrever o desempenho motor de bebês em diferentes posturas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisadas 462 crianças, com idade entre 0 e 18 meses, provenientes de Creches, Escolas de Educação Infantil, Unidades de Saúde e Entidades da Região Sul-Rio-Grandense, pertencentes as cidades de Porto Alegre, Erechim e Antônio Prado. Para avaliar o desenvolvimento motor, foi utilizada a Alberta Infant Motor Scale que é composta por 58 itens agrupados em quatro sub-escalas que descrevem o desenvolvimento da movimentação espontânea e de habilidades motoras em quatro posições: prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (12 itens) e em pé (16 itens) RESULTADOS: Considerando as quatro posturas analisadas, observa-se que as crianças obtiveram uma pontuação média nas posturas prono, supino, sentado e em pé respectivamente de 14,36(+7,24), 7,58(+2,12), 8,76(+4,10), 7,74(+5,80). Ao analisar o números de itens avaliados em cada postura, esses dados sugerem uma inferioridade dos comportamentos motores das crianças nas posturas prono e em pé. Ao analisar esses dados por faixas etárias, nota-se que as pontuações mais baixas, nestas 2 posturas, estão concentradas nos 3 primeiros trimestres. CONCLUSÕES: A inferioridade dos comportamentos motores nas posturas prono e em pé podem ser decorrentes de fatores culturais e práticas maternas, ou seja, influência de fatores do ambiente e da tarefa nas aquisições desenvolvimentais.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 264
DESENVOLVIMENTO MOTOR NOS PRIMEIROS 2 ANOS DE VIDA: IMPORTÂNCIA DO USO DA IDADE CORRIGIDA
RAQUEL SACCANI;KEILA RUTTNING GUIDONY PEREIRA, NADIA CRISTINA VALENTINI
Introdução: A literatura aponta o alto risco de alterações motoras as quais os bebês pré-termo estão susceptíveis, necessitando de uma atenção diferenciada quando comparado ao bebê a termo. Além de apontar para a necessidade do uso da idade corrigida ao se analisar o desenvolvimento motor dessas crianças. Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar se existe diferença no desenvolvimento motor de bebês pré-termo considerando a idade cronológica e corrigida. Materiais e Métodos: Foram analisadas 112 crianças, com idade entre 0 e 18 meses, nascidas pré-termo, provenientes de Creches, Escolas de Educação Infantil e hospitais de Porto Alegre. Para avaliar o desenvolvimento motor, foi utilizada a Alberta Infant Motor Scale que é composta por 58 itens agrupados em quatro sub-escalas que descrevem o desenvolvimento da movimentação espontânea e de habilidades motoras em quatro posições: prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (12 itens) e em pé (16 itens). Foi utilizado um questionário estruturado com questões referentes as características biológicas dos bebês. Resultados: Ao analisar os resultados utilizando a idade corrigida para a classificação do desenvolvimento motor, verifica-se que ao utilizar a idade cronológica, os percentis diminuem significativamente (p<0,001), aumentando o número de crianças com desenvolvimento motor abaixo do esperado para a idade. Conclusões: A significância encontrada para a correção da idade gestacional evidencia a necessidade de utilização desse parâmetro ao investigar o desenvolvimento motor das crianças.
PROTÓTIPO DE UMA ÓRTESE PARA PARAPLÉGICOS DAMBULAREM
MATHEUS LUCIANO BORTOLOTO PAIM
Segundo a AACD, o Brasil registra anualmente sete mil novos casos de TRM. Para essas pessoas que perderam a função dos MMII, o uso de órteses específicas permite a elas a manutenção da postura ortostática e realização de marcha, entretanto devido ao alto custo, muitos pacientes não têm acesso às órteses. Tendo em vista o baixo custo, o presente estudo consiste em desenvolver uma órtese que permita ao paraplégico ficar em ortostase e deambular. Participou do estudo F.Q., sexo masculino, 20 anos, 1,78m de estatura, 75 kg, paraplégico há 2 anos, com lesão medular a nível de T12. No ano de 2008, de Janeiro a março foram observados, através de vídeos, órteses com funções similares ao projeto com a finalidade de coletar dados relevantes para os esboços de desenhos, em abril e maio realizaram-se medidas antropométricas em F.Q., desenhos de peças e aferições de ângulos para o protótipo. Em Junho houve confecção, em escala real, de um modelo em papelão reforçado para efetuar possíveis correções de peças e ângulos. No mês de julho a aquisição de materiais, confecção e término do protótipo. De agosto a setembro o uso do protótipo por F.Q., testes de equilíbrio, marcha, reavaliações de ângulos e resistência de material, além do teste de deambulação de 10 metros. O projeto resultou em uma órtese de 3,8Kg, resistente, segura, portátil, acessível e de reciprocação. Ao utilizar a órtese, F.Q, consegue ficar em pé e realizar marcha funcional com pouco esforço físico, deambulando, em sua cadência preferida, com velocidade de 15,38 m/min. É essencial que os paraplégicos fiquem em pé, as vantagens estão no melhor funcionamento fisiológico do corpo, além de evitar escaras. Conclui-se que a órtese mostrou-se e eficiente e resistente ao deixar F.Q. na posição ortostática e na deambulação, além de apresentar baixo custo.
FISIOTERAPIA AQUÁTICA ASSOCIADA AO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
SANDRA VANESSA BRAUN;DANIELA SOUZA FREITAS; ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE; PATRÍCIA OLIVEIRA ROVEDA
Introdução: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é um grave problema de saúde pública devido a sua incidência e prevalência crescentes, principalmente na população idosa. A patologia provoca sintomas como fadiga, dispnéia e conseqüentemente, intolerância ao exercício, causando redução na qualidade de vida (QV) a seus portadores. Objetivo: Verificar alterações na força muscular inspiratória (FMI) e na QV em indivíduos com ICC classe funcional II (NYHA), após um protocolo de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 265
treinamento muscular inspiratório (TMI) associado à fisioterapia aquática (FA). Materiais e métodos: Trata-se de um estudo piloto de delineamento pré-experimental, onde se avaliou a FMI e a QV de dois indivíduos (A e B) com ICC classe funcional II (NYHA). Utilizou-se a manovacuometria e o questionário de qualidade de vida Minnesota Living with Hearth Failure Questionnaire (MLHFQ), antes e após um protocolo de 13 sessões de FA, duas vezes por semana por 45 minutos, associado ao TMI com Threshold® IMT. Os dados obtidos foram analisados por meio das freqüências percentuais das variáveis coletadas. Resultados e conclusões: Ambos os sujeitos apresentaram fraqueza muscular inspiratória no baseline (A: 54,46% do predito, pela fórmula de Neder) e (B: 67,9% do predito) e obtiveram incremento da FMI (A: PImáx de 58cmH20 para 65 cmH20; B: PImáx de 55cmH20 para 56 cmH20), e da QV (A: LHFQ de 21 para 18; B: LHFQ de 25 para 4). Este estudo piloto demonstrou os efeitos benéficos de um protocolo de TMI associado à FA, sugerindo ser esta, uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de pacientes com ICC.
EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ATIVOS SAUDÁVEIS:ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
CAROLINE SALLON ROSSONI;ISABELLA ALBUQUERQUE;DULCIANE PAIVA;CAROLINA OLIVEIRA;ANDRÉIA ROTH
Introdução: Os idosos são acometidos por alterações fisiológicas no organismo, onde a sarcopenia e queda da força muscular inspiratória ocorrem progressivamente mesmo em indivíduos saudáveis praticantes de atividade física regular. São escassos os estudos nos quais demonstram que um protocolo de treinamento muscular inspiratório (TMI) aplicado em idosos ativos saudáveis aumentam a capacidade funcional (CF), a força muscular inspiratória (FMI), atenua a dispneia e melhora a qualidade de vida (QV).Objetivo: O objetivo desse estudo foi investigar a eficácia de um protocolo de TMI, através do dispositivo Threshold
® IMT, no aprimoramento da força muscular inspiratória, da CF
e na QV em idosos ativos saudáveis.Materiais e Métodos: Foram selecionados 25 idosos ativos saudáveis (19 mulheres). Os indivíduos foram randomizados para participarem de um programa de TMI durante um período de 6 semanas, 2 sessões/semana com duração de 5 minutos/sessão, com incremento de 2 cmH2O a cada semana a partir de 40% da PImáx, com o Threshold
® IMT, (grupo
TMI, n=13) e um grupo controle (n=11) que realizou o mesmo programa mas sem carga resistiva. Avaliou-se antes e após o TMI, a QV (SF-36), a CF através da distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6m) e a PImáx através do manovacuômetro.Resultados: No grupo TMI elevou-se a PImáx de -64,50±23,74cmH2O para -91,50±22,36cmH2O (p=0,001); da distância percorrida de 466,82±91,71metros para 508,98±70,30metros (p=0,008). Não ocorreu melhora na QV. Não houve alteração no grupo controle. Conclusão: Observou-se que o TMI foi capaz de elevar a FMI, provocando alterações na CF, mas não na QV.
ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NAS COMPLICAÇÕES FUNCIONAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA
GABRIELA TOMEDI LEITES;CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA; GUSTAVO NUNES PEREIRA; MARA REGINA KNORST; VERÔNICA BATISTA FRISON
Sete entre oito mulheres apresentam morbidade nas funções do membro superior(MS) homolateral ao CA de mama após o tratamento. Considerando a grande incidência de complicações, o objetivo do estudo é avaliar a influência da intervenção fisioterapêutica na evolução funcional de mulheres submetidas ao tratamento do CA de mama. Estudo quase-experimental do tipo antes e depois, realizado em um hospital universitário POA-RS. Na avaliação inicial realizou-se anamnese e exame físico. A intervenção foi realizada 1 sessão semanal, durante 8 semanas. Realizado um protocolo com alongamentos da cervical e MsSs, e exercícios com carga mecânica e elástica, periodizados com treinamento de resistência muscular (30%RM), resistência de força (60%) e força (80%). Foi orientado realização domiciliar do protocolo 2 vezes semanais. Na 10ª sessão foram re-avaliadas. Participaram 5 mulheres, sendo que 2 submetidas a mastectomia radical modificada, 2 setorectomia e 1 exérese. Realizaram quimio e radioterapia. A média de idade foi de 49,8+4,2anos. Nenhuma relatou sensação subjetiva de edema e todas relataram parestesia em FO. Na perimetria não houve diferença significativa entre os MsSs. A queixa principal foi dor variando de 2 a 10 na escala análogo visual(EAV). Na goniometria a flexão no MS homolateral a cirurgia foi a mais afetada com média de 132º. Em relação à força muscular(FM) apresentaram déficit de força-grau 4. Após o tratamento
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 266
houve ganho de amplitude de movimento médio de 47º na flexão. A FM finalizou em grau 5 em todos os movimentos. Em relação à dor ao movimento o relato na EAV variou de 0 a 4 e na sensibilidade houve melhora na parestesia. Observou-se melhora nos parâmetros avaliados, no entanto é necessário aumentar a amostra para dados mais conclusivos, o que está sendo realizado.
AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
GABRIELA TOMEDI LEITES;CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA, RAQUEL JEANTY DE SEIXAS , CRISTIANE MECCA GIACOMAZZI, FLÁVIA FRANZ, CAROLINA BOEIRA VARGAS, CLÁUDIO CORÁ MOTTIN
Introdução A obesidade leva a alterações na função pulmonar como a redução da capacidade residual funcional e do volume de reserva expiratória, além do comprometimento restritivo pelo efeito mecânico no tórax. Além disso, a sobrecarga articular pode levar a osteoartrose, causando dor crônica, alterações posturais e na marcha. Sendo assim, o objetivo do estudo é avaliar a funcionalidade de pacientes com obesidade mórbida no pré-operatório e pós-operatório da cirurgia bariátrica. Metodologia Estudo de coorte transversal descritivo. A amostra foi composta por obesos mórbidos, submetidos à cirurgia bariátrica em um hospital universitário. Foram excluídos os indivíduos que apresentassem patologias impeditivas a realização dos testes. Na semana anterior e 3 meses após o procedimento cirúrgico, foi realizada anamnese, avaliação antropométrica, medida de independência funcional (MIF), timed up-and-go (TUG) e teste da caminhada dos 6 minutos (TC6). Para análise dos dados utilizou-se o programa SPSS 16.0. Resultados Foram avaliadas 8 pacientes do sexo feminino, com média de idade de 38+7,5 anos. A média dos valores obtidos no MIF foi de 7 pontos, representando grau total de independência. No pré-operatório, a média do IMC foi de 50,86+18,85 e, no pós-operatório, foi de 42,23+4,84, representando uma redução significativa (p=0,0001). A distância percorrida no TC6 no pré e pós operatório apresentou diferença significativa, aumentando de 418 metros para 448 metros (p=0,02). Em relação ao TUG, observou-se uma redução no tempo de realização do teste de 12,1 para 10,7 segundos, porém essa diferença não foi significativa. ConclusãoObservou-se melhora significativa na distância percorrida no TC6 representando um aumento da capacidade funcional, pela perda de peso ocorrida no pós-operatório.
AVALIAÇÃO DA MOTRICIDADE FINA EM BEBÊ: RELAÇÃO COM GÊNERO, PREMATURIDADE E DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOECONÔMICOS
GABRIELA TOMEDI LEITES;CARLA SKILHAN ALMEIDA, NÁDIA CRISTINA VALENTINI
Existem diferentes fatores de risco para atraso no desenvolvimento motor infantil, dentre os quais parecem se destacar: as dificuldades socioeconômicas, o baixo nível intelectual dos pais e a prematuridade. Considerando os fatores de risco para o desenvolvimento o objetivo do estudo é avaliar a habilidade manipulativa de crianças de zero a um ano nascidas pré-termo e a termo de diferentes classes econômicas e gênero. Este é um estudo descritivo, comparativo e retrospectivo, onde foi avaliado as habilidades manipulativas de 83 bebês através da sub-escala referente ao comportamento apendicular espontâneo não comunicativo da Escala de Desenvolvimento da Criança no Primeiro Ano de Vida. Foi classificado o nível sócio econômico, através do Critério de Classificação Econômica Brasil, indicado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas. As crianças apresentavam idade cronológica com média de 7,28 ± 2,73 meses, e de idade corrigida é de 6,33 ± 2,68 meses. 56,6% eram do sexo masculino. Quanto ao perfil sócio-econômico das famílias das crianças estudadas as classes de maior prevalência foram com 41% à classe B2 e à classe C com 32,5%. Através do teste T Independente evidenciou-se que nas comparações do gênero quanto a motricidade fina e também nas comparações entre crianças nascidas pré-termo e a termo quanto a motricidade fina, diferenças significativas não foram encontradas. A ANOVA One Way revelou que nas comparações quanto às classes econômicas para a motricidade fina não foi encontrado diferenças significativas.Os resultados evidenciam que no primeiro ano de idade não existe diferença no desenvolvimento da motricidade fina ao comparar meninos e meninas, crianças pré-termo e a termo com idade corrigida e ao comparar crianças de diferentes classes econômicas.
TREINO MUSCULAR RESPIRATÓRIO UTILIZANDO O THRESHOLD E O VOLDYNE EM INDIVÍDUOS HÍGIDOS E SEDENTÁRIOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 267
RENAN TREVISAN JOST;LAISE DEISI BENDER; ANA CLÁUDIA HEINEN; ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE; DULCIANE NUNES PAIVA
Introdução: Os músculos respiratórios podem aumentar sua força e resistência através de um programa de treinamento, podendo evitar a fadiga muscular respiratória e melhorar a função ventilatória. Para tal, pode-se utilizar um dispositivo com carga pressórica linear – Threshold ou o incentivador respiratório – Voldyne. Objetivo: Analisar o incremento da força muscular respiratória através das pressões respiratórias máximas (Pimax e Pemax) a partir do treinamento muscular respiratório produzido pelo Threshold e pelo Voldyne em adultos jovens hígidos e sedentários. Métodos: Foi realizado um estudo experimental do tipo ensaio clínico de caráter prospectivo, onde 40 indivíduos do sexo feminino foram submetidas a trinta dias de treino muscular respiratório. A amostra foi randomizada em 3 grupos (GC- Grupo Controle n = 14; GT- Grupo Threshold n= 13 e GV- Grupo Voldyne n= 13) sendo GC submetido a exercícios respiratórios. Foram incluídas mulheres com idade de 18 a 40 anos e IMC de 20,48 ± 2,03 Kg/m2. Realizou-se exames espirométricos para atestar função pulmonar normal e a manovacuometria pré-treino, 15 e 30 dias após a intervenção. Utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) para comparação intragrupo e intergrupo (p<0,05). Resultados: Houve aumento da Pimax e da Pemax ao longo dos trinta dias de treinamento (p=0,001) nos grupos que realizaram a intervenção. Não houve incremento da força muscular respiratória no Grupo Controle. Constatou-se também que houve diferença entre o treino produzido pelo Threshold e pelo Voldyne (p=0,045). Conclusão: Pelos resultados obtidos pode ser inferido que o incentivador respiratório Threshold é mais eficiente do que o Voldyne no que diz respeito à produção de incremento da força muscular respiratória.
AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DURANTE REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA NO TRATAMENTO INTENSIVO DE PREMATUROS
CINARA STEIN;BRUNA EIBEL; RODRIGO DELLA MÉA PLENTZ; LUIS ULISSES SIGNORI, ANTÔNIO MARCOS VARGAS DA SILVA
Introdução: A atuação do fisioterapeuta em recém-nascidos vem se intensificando, no entanto, a influência de uma sessão de fisioterapia no tratamento intensivo de prematuros permanece controversa quanto a sua relação risco/benefício. Objetivo: avaliar os parâmetros fisiológicos durante realização de fisioterapia motora e respiratória de recém-nascidos prematuros (RNp) em Unidade de Terapia Intensiva. Metodologia: estudo experimental. Foram incluídos 15 RNp de ambos os sexos, com idade gestacional entre 28 e 37 semanas e peso < 2.500 g. O estudo ocorreu em quatro dias consecutivos, com sessões de 20 min, sendo a seqüência de intervenções definidas por sorteio e constituídas pelas seguintes abordagens: monitoração+manuseio (M+M), fisioterapia motora isolada (FMI), fisioterapia respiratória isolada (FRI), fisioterapia motora e respiratória combinadas (FMRC). Os parâmetros fisiológicos observados foram: freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR) e a saturação periférica de oxigênio (SpO2) antes, após e 30 min depois da sessão. Resultados: a idade foi de 7,8 ± 3,9 dias, idade gestacional de 33,7 ± 1,6 semanas e peso de 1,7 ± 0,3 kg. Nenhuma das intervenções promoveu alteração da FC. A M+M, FRI e FMI não modificaram a FR, no entanto, a FMRC aumentou a FR (p =0,03). A M+M (p=0,02), FRI (p<0,01), FMI (p<0,01) e FMRC (p<0,01) promoveram aumento significativo na SpO2. Após 30 min da sessão os parâmetros fisiológicos não se modificaram. Não houve diferença na FC, FR e SpO2 na comparação entre as intervenções. Conclusão: A fisioterapia respiratória e motora melhoram a SpO2 sem mudar a estabilidade clínica em RNp. No entanto, a combinação dessas intervenções pode promover aumento do trabalho respiratório e a sua utilização requer avaliação individualizada e criteriosa.
PRESSÃO SUPORTE AUXILIA NA HIGIENE BRÔNQUICA?
WAGNER DA SILVA NAUE;SILVIA REGINA RIOS VIEIRA; ROBLEDO LEAL CONDESSA; ANA CAROLINA TEXEIRA DA SILVA; ADRIANA GUNTZEL; ROSELAINE OLIVEIRA
Introdução: Os pacientes das Unidades de Terapia Intensiva são susceptíveis a eventos de retenção de secreções, cabe ao fisioterapeuta lançar mão de técnicas de higiene brônquica para resolver e ou amenizar este problema. Objetivos: Determinar o volume de secreção aspirada, a média de idade, APACHE II, e algumas variáveis cardiorespiratórias como: Cdin, VC, PP, SpO2. Após a aplicação das duas técnicas de fisioterapia: vibrocompressão versus vibrocompressão acrescida do aumento de 10
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 268
cmH2O na pressão inspiratória (PI) durante a ventilação de Pressão Suporte (PSV). Métodos: Após serem colocados em posição supina no leito com a cabeceira elevada a 30 °, os pacientes foram randomizados para: grupo 1 (vibrocompressão, por cinco minutos em cada hemitórax) ou para o grupo 2 (vibrocompressão acrescido de 10 cmH2O na PSV, por cinco minutos em cada hemitórax). Parâmetros analisados no início e no final do protocolo foram: saturação arterial de oxigênio (SpO2), pressão de pico (PP), volume corrente (VC), complacência dinâmica (Cdin). A quantidade de secreção aspirada (Sa), no final também foi medida. Resultados: A média de idade e APACHE II não foram diferentes, comparando-se os grupos. As médias e desvio padrão das demais variáveis no grupo 1 (n=19) foram: Sa (g) 1.8±1.5; Cdin (cmH2O) 35.7±13.5; VC (ml) 534±146; PP (cmH2O) 22.5±5.1; SpO2 (%) 97±2. Já no grupo 2 (n=22) foram: Sa (g) 2.6±2.5; Cdin (cmH2O) 46.3±19.6; VC (ml) 637±170; PP (cmH2O) 20.6±4.4; SpO2 (%) 97±3. Conclusão:Os resultados preliminares não mostraram diferenças significativas comparando-se os grupos, exceto o VC que apresentou um aumento significativo ( p = 0.048) no grupo 2. Referências: 1. Stiller K. Chest, 118: 6; 2000. 2. Passam F et al. Respiration, 70: 4; 2003.
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ADULTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CRISTIANE MECCA GIACOMAZZI;CAMILA CARGNIN;JORDANA ANTES FERNANDES; FLÁVIA FRANZ; RAQUEL JEANTY DE SEIXAS; LUCIANO PASSAMANI DIOGO
INTRODUÇÃO: As unidades de emergências (UE) são ambientes com grande demanda, onde pessoas em situações agudas buscam atendimento imediato. OBJETIVO:descrever o perfil dos atendimentos de fisioterapia na UE adulto de um hospital universitário. MATERIAL E MÉTODOS: estudo de coorte histórica descritivo (relato de casos). Dados obtidos por registros de atendimento e revisão de prontuário. Incluem-se todos os pacientes atendidos pelas residentes de fisioterapia, no período de março a agosto de 2008, não havendo exclusão. A conduta foi definida como atendimento de fisioterapia motora convencional e respiratória, através de técnicas desobstrutivas, reexpansivas, de higiene brônquica e para manutenção de volumes pulmonares e uso de ventilação mecânica não-invasiva (VMNI), de acordo com a avaliação fisioterapêutica do paciente. A análise dos dados foi realizada com SPSS 11.0. A caracterização da amostra é apresentada sob a forma de estatística descritiva. RESULTADOS: Total de 97 pacientes, com média de idade de 64,22 ± 18,67 anos, 57,7% do gênero feminino. A maior freqüência de broncopneumonia (BCP) (42,3%), seguido de acidente vascular encefálico(17,5%) e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)(7,2%). Do total dos atendimentos 88,6% foram de fisioterapia respiratória e 47,4% motora. Esses atendimentos se subdividem em: (1) fisioterapia respiratória convencional(40,2%), (2) fisioterapia respiratória e motora em VMI(20,6%), (3) fisioterapia motora convencional (26,8%) e (4) uso de VMNI (27,8%).CONCLUSÃO: A maior prevalência nesta unidade foi de pacientes idosos com diagnóstico de BCP ou DPOC, sendo assim, a fisioterapia respiratória representou parte significativa dos atendimentos, incluindo a utilização da VMNI. Considerando este perfil, a grande demanda de pacientes e a necessidade de intervenção precoce que os casos impõem, demonstra-se um amplo espaço para a atuação do fisioterapeuta especializado na UE.
USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO-INVASIVA EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA
CRISTIANE MECCA GIACOMAZZI;CAMILA CARGNIN, JORDANA ANTES FERNANDES, FLÁVIA FRANZ, RAQUEL JEANTY DE SEIXAS, LUCIANO PASSAMANI DIOGO
INTRODUÇÃO:A ventilação mecânica não-invasiva (VMNI),suporte ventilatório para determinados pacientes com insuficiência ventilatória, previne admissões em unidades de terapia intensiva, reduz custos e mortalidade. A literatura demonstra crescente uso da VMNI na unidade de emergência (UE). OBJETIVO:Avaliar o desempenho do uso da VMNI na UE. MATERIAL E MÉTODOS:coorte histórica analítica, realizado em UE adulto. Dados obtidos por registro de atendimentos e revisão de prontuário. Incluíram-se os pacientes atendidos pela fisioterapia que utilizaram VMNI (março e agosto de 2008), sem exclusão. Definiu-se sucesso quando não evoluía para o tubo orotraqueal (TOT) e insucesso quando foi necessário TOT 48 horas após a retirada da VMNI. Realizou-se análise dos dados com SPSS 11.0. A caracterização da amostra é apresentada por estatística descritiva e a comparação entre as médias, através do teste de ANOVA com post-hoc (LSD). RESULTADOS: 27 pacientes com média de idade de 60,4 ± 19,8 anos (59,3% sexo feminino).Diagnósticos mais
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 269
frequentes foram broncopneumonia (48,1%), asma (11,1%) e DPOC (11,1%). Média inicial de pressão inspiratória foi de 12,2+ 2,1cmH2O e a expiratória de 6,8+2,0cmH2O (bilevel) e de 9,7+ 0,6cmH2O (CPAP). O tempo médio de uso da VMNI foi de 21,1+ 25,7 horas. Dentre os casos que utilizaram VMNI, evitou-se TOT em 66,7%. Houve diferença significativa (pα=0,043) no tempo de internação dos pacientes que não utilizaram VM e os que necessitaram de TOT. Apesar da não significância estatística, o tempo de internação hospitalar daqueles que utilizaram a VMNI foi menor do que os que necessitaram de TOT (23,7+23,7 e 38,3+47,9 dias) (pα=0.092). CONCLUSÃO: A partir dos resultados, conclui-se que houve sucesso no uso da VMNI, evitando parte significativa de TOT. Considerando as complicações da VMI fica evidente a necessidade de utilizar a VMNI como primeira escolha em casos selecionados, além do acompanhamento do fisioterapeuta.
FONOAUDIOLOGIA
CONHECIMENTO DAS MÃES DA MATERNIDADE MARIO TOTTA SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS FONOAUDIOLÓGICOS RELACIONADOS AO ALEITAMENTO MATERNO
LETÍCIA NUNES NASCIMENTO;ERISSANDRA GOMES; TATINA L. S. DA CUNHA; FABIANA DE OLIVEIRA
Introdução: O Aleitamento Materno (AM) estimula as funções primárias do bebê - sucção, deglutição e respiração, importantes para o desenvolvimento adequado do sistema estomatognático, da linguagem, do psíquico e do neuropsicomotor. O ato de amamentar está diretamente relacionado com o desenvolvimento motor orofacial e craniofacial. Objetivo: Verificar o conhecimento das mães sobre a atuação do profissional fonoaudiólogo, principalmente no que tange os aspectos do AM e suas relações. Métodos: A amostra foi composta por 65 mães que tiveram seus bebês na Maternidade Mario Totta, Complexo Hospitalar Santa Casa, e que se encontravam no Alojamento Conjunto com seus recém-nascidos. Para o levantamento de dados, utilizou-se um instrumento para caracterização da amostra e outro para o conhecimento que as nutrizes têm em relação aos dados fonoaudiológicos no que diz respeito ao AM. Resultados: A análise revelou que a maioria das mães conhece o profissional fonoaudiólogo e 47,2% relaciona o trabalho deste profissional com o AM. Em relação ao conhecimento das mães sobre os aspectos fonoaudiólogos (crescimento dentário e facial, funções estomatognáticas, hábitos orais, audição, linguagem, desenvolvimento neuropsicomotor) relacionados ao AM, houve predominância (entre 50% e 65%) de respostas positivas. Nas comparações, dois itens foram significativos (P<0,05). Conclusão: Observou-se que a maioria das mães conhece o profissional fonoaudiólogo e tem conhecimento sobre os aspectos fonoaudiólogos relacionados com o AM.
CARACTERIZAÇÃO DE FENDAS ORAIS OBSERVADAS EM UMA AMOSTRA DE 34 PACIENTES COM ESPECTRO ÓCULO-AURÍCULO-VERTEBRAL (SÍNDROME DE GOLDENHAR).
THAYSE BIENERT GOETZE;PAULO RICARDO GAZZOLA ZEN; RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA; GIORGIO ADRIANO PASKULIN; PRICILA SLEIFER; PAULO ROBERTO VARGAS FALLAVENA.
O espectro óculo-aurículo-vertebral (EOAV) é uma condição heterogênea e variável, caracterizada por anormalidades envolvendo os primeiros arcos branquiais. Assim, alterações de face, como fendas orais, são comuns na síndrome. O objetivo do nosso trabalho foi verificar a freqüência e os tipos de fendas orais observadas em uma amostra de pacientes com EOAV, correlacionando este achado com as demais características clínicas apresentadas pelos pacientes. Nossa amostra foi constituída de 34 pacientes, 22 do sexo masculino e 12 do feminino, com idades entre 1 dia e 17 anos. Todos apresentavam cariótipo normal e pelo menos duas alterações envolvendo as regiões oro-crânio-facial, ocular, auricular e vertebral. Realizou-se uma coleta de dados clínicos a partir dos seus prontuários médicos. Para comparação das freqüências, utilizou-se o teste exato de Fisher (P<0,05). Fendas orais foram verificadas em 12 pacientes (35%): 5 casos de fenda palatina (2 de palato duro e mole, 1 de palato mole e 2 submucosa), 6 de fenda labiopalatina (3 com fenda labial bilateral, 2 com fenda labial à direita e 1 à esquerda, todos com envolvimento de palato duro e mole) e 1 de fenda labial longitudinal bilateral. Não foram encontraram diferenças significativas entre as freqüências das características clínicas observadas nos grupos com e sem fendas orais. A freqüência de fendas orais de nosso estudo foi similar à da maior parte dos trabalhos descritos na literatura, que encontraram
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 270
índices de 16 a 40%. Diferenças nesta freqüência parecem estar relacionadas com a origem dos pacientes e os critérios de seleção adotados nos estudos. Chamou-nos a atenção a grande variabilidade das fendas orais, oscilando desde uma úvula bífida até fendas labiopalatinas maiores. Isto, somado às outras anormalidades observadas em EOAV, justificam a participação do fonoaudiólogo dentro da avaliação destes indivíduos, tanto para a detecção das fendas orais como para o seu adequado manejo clínico.
VIVÊNCIAS DA FONOAUDIOLOGIA NA ESF
GLÁUCIA MOSTARDEIRO CONCEIÇÃO;SHEILA ROCKENBACH,MONICA VALADÃO,THAIS DUTRA,KARINA GIRELLI,MONIQUE LENTZ,LILIAN KELLER,ALEXSANDRA PEREZ,ALINE PIRES,VERA FOSSA,VANESSA ROSA,
INTRODUÇÃO: Considerando a ESF uma das principais formas de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais em saúde coletiva, comprometido com um novo modelo que valorize as ações de promoção e de proteção da saúde e atenção integral às pessoas, relatamos a experiência de trabalho desenvolvido por estagiárias de Fonoaudiologia junto à equipe de ESF-A da ULBRA (Estratégia de Saúde da Família-Acadêmico) na Vila União da cidade de Canoas - RS. OBJETIVO: O trabalho realizado teve por objetivo a inserção da ciência fonoaudiológica junto à equipe de ESF-A da ULBRA a fim de promover e prevenir a saúde da comunicação humana. MÉTODOS: Durante a realização do estágio obrigatório de fonoaudiologia em saúde coletiva, realizamos ações visando o levantamento das necessidades daquela população por meio de cadastramento das famílias, juntamente, com a equipe que forma o ESF-A da ULBRA. Desenvolvemos ações de levantamento das necessidades e de promoção da saúde, com ênfase na saúde da comunicação humana, através de escuta e orientações em sala de espera. Realizamos VD com o objetivo de avaliar e orientar indivíduos encaminhados pela equipe de ESF–A da ULBRA. RESULTADOS: Após cadastramento de 314 famílias, 71 pessoas escutadas na sala de espera e 06 casos encaminhados pela equipe de ESF-A foram detectados 45 sujeitos com alterações fonoaudiológicas, os quais foram orientados de acordo com suas necessidades pelas estagiárias de fonoaudiologia e demais integrantes da equipe. CONCLUSÃO: A atuação fonoaudiológica junto a ESF pode contribuir como ciência do conhecimento e de atividades que tem por objetivo os cuidados com a saúde da comunicação humana em geral, auxiliando no atendimento mais humanizado à população. Palavras-chave (saúde coletiva, estratégia da saúde da familia-ESF e fonoaudiologia).
A SAÚDE INICIA PELA BOCA DESDE CEDO: ORIENTAÇÕES DE MASTIGAÇÃO E NUTRIÇÃO
DAFNE SCHAFER;NEUSA SCHIMDT SCHAFFER
Introdução: A mastigação é a função mais importante para o equilíbrio das estruturas orofaciais, ela mantém a força dos músculos do rosto, modela a forma dos ossos e a posição dos dentes, além de ser a primeira fase da digestão dos alimentos. Um equilíbrio muscular e funcional é fundamental para o desenvolvimento dos movimentos precisos e coordenados necessários para a produção da fala e deglutição normal, portanto, orientações adequadas devem ser passadas desde cedo para a população escolar para garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. O objetivo geral do trabalho é mostrar que com boa orientação podemos ter uma alimentação adequada, saudável, diversificada e de qualidade, prevenindo alterações nas estruturas orofaciais. Materiais e métodos: O trabalho foi realizado no Município de Maratá/RS com a fonoaudióloga e a nutricionista para 8 escolas municipais da pré-escola até a 5°série do ensino fundamental, no período de outubro de 2008. Na primeira etapa do projeto ocorreu uma palestra onde foram transmitidas orientações sobre a mastigação, deglutição e nutrição. Na segunda etapa foram realizadas atividades práticas e lúdicas de mastigar, deglutir, respirar e perceber as consistências, os sabores, os cheiros e as riquezas dos alimentos. Resultados e conclusões: Foram atingidos cerca de 350 alunos, um dos pontos significativos foram as respostas dadas pelos docentes e pelos alunos ao final de cada encontro e pela participação de todos nas atividades propostas.Conscientizar as crianças a respeito do processo da mastigação, levando-as sentir em si mesmas os movimentos dessa ação, torna-se importante para sua efetivação, eficácia e prevenção.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 271
GASTROENTEROLOGIA
AVALIAÇÃO DE GRAVIDADE EM HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: COMPARAÇÃO ENTRE ESCORES DE BLATCHFORD E ROCKALL
CARINE LEITE;JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GICELE MINTEN E INA SANTOS
Introdução. A hemorragia digestiva alta (HDA) é um evento preocupante não apenas devido à mortalidade, mas também por representar um sinal de que alguma patologia grave possa estar acometendo o paciente. Estudos realizados no Reino Unido relatam que a mortalidade por todas as causas unidas de HDA tem variado de 4% - 14%. Acredita-se que a dificuldade de reconhecer casos mais graves possa contribuir para o alto índice. Alguns escores já foram desenvolvidos para reconhecer gravidade de HDA, dentre os mais usados o que foi desenvolvido por Rockall e o escore desenvolvido por Blatchford. Objetivos: comparar a validade dos escores de Rockall e Blatchford na predição da gravidade da HDA por ulcera péptica ou varizes esofágicas, expressa em dias de internação, tomados como padrão-ouro; descrever características demográficas e clínicas desses pacientes, provenientes de Pelotas e região. Metodologia: o estudo foi realizado com dados de prontuários obtidos na Unidade de Terapia Intensiva de Gastroenterologia da Sociedade Hospitalar Beneficência Portuguesa de Pelotas, RS, dentre pacientes internados entre 1993 e 2005. Foram excluídos da amostra os pacientes que apresentavam HDA, mas não eram portadores de varizes ou úlceras e aqueles que apresentavam varizes e úlceras, mas sem exame endoscópico, restando 189 pacientes portadores de úlcera e 84 de varizes esofágicas. Foram obtidas variáveis clinicas e demográficas dos pacientes, alem do calculo do escore de Blatchford e de Rockall para cada individuo, coletando-se os dados de desfecho tempo de internação, necessidade de transfusão sangüínea para estabilização e número de concentrado de hemácias necessários, exteriorização de sangue novamente enquanto internado e morte do paciente Resultados e conclusão: em andamento.
NEOPLASIA DE VESICULAR BILIAR : DIAGNÓSTICO MASCARADO PELA SÍNDROME DE MIRIZZI
ABRAÃO KUPSKE;HENRIQUE OLIANI JÚNIOR; CARLOS KUPSKI
Introdução Os tumores de vesícula biliar são as neoplasias mais freqüentes do trato biliar. Sua relativa baixa incidência e diagnóstico tardio ocorre devido aos sintomas pouco específicos nas fases iniciais. A Síndrome de Mirizzi é definida como a obstrução do ducto hepático comum causada pela compressão de um cálculo grande em infundíbulo ou ducto cístico. Objetivo: Descrever um relato de caso, representativo sobre o assunto revisado. Materiais e Métodos: Revisão bibliográfica no portal Pubmed e o prontuário revisado da paciente. Resultados: Paciente 51 anos, feminina, branca. Apresentava os seguintes sintomas: náuseas, acolia e colúria há 4 meses. Era ex-tabagista, hipertensa e apresentava litíase renal bilateral assintomática. Realizado ecografia abdominal, onde evidenciou-se então coledocolitíase obstrutiva, colelitíase, e colestase. Interna então para realizar exames complementares. CPRE com obstrução no terço médio, sem saída de cálculo. Inserida, então, prótese. Tem alta dia 16/2/09, a pedido, com cirurgia programada. Interna novamente para cirurgia dia 03/03/09. Neste momento apresentou dor em fossa ilíaca esquerda com irradiação periumbilical, que piorava com alimentação. Nova ecografia não sugeria Síndrome de Mirizzi. Encaminhada pra cirurgia, durante o procedimento, cirurgião encontra lesões macroscópicas em peritônio e vesícula, a qual estava totalmente bloqueada por eplípon. Realizado biópsia e suspensão da cirurgia. Teve alta com acompanhamento oncológico, e plano de quimioterapia. Conclusões: No caso relatado o diagnóstico de neoplasia foi mascarado por uma Síndrome de Mirizzi diagnosticada naquele momento por métodos de imagem, inclusive ressonância nuclear magnética, a qual demonstrava vesícula de paredes espessadas e coleção perivesicular.
RECANALIZAÇÃO DE ESTENOSE ESOFÁGICA REFRATÁRIA À DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA PELO USO TEMPORÁRIO DE PRÓTESE PLÁSTICA AUTO-EXPANSÍVEL
MARCIO ARALDI;ANTÔNIO DE BARROS LOPES; CRISTINA ANTONINI ARRUDA; SÉRGIO GABRIEL SILVA DE BARROS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 272
INTRODUÇÃO: Refratariedade à dilatação endoscópica de estenose péptica associada ao esôfago de Barrett pode ocorrer mesmo com efetivo controle de refluxo gastresofágico. Tratamento temporário com prótese auto-expansível tem sido, recentemente, indicado para recanalização do segmento estenosado. RELATO DO CASO: Homem branco com 19 anos e retardo mental leve, apresentou-se com regurgitação e vômitos pós-prandiais desde há três anos com piora e emagrecimento recentes. Endoscopia digestiva revelou estenose esofágica e fundoplicatura videolaparoscópica, tipo Nissen, foi realizada. pHmetria esofágica pós-operatória demonstrou ausência de refluxo gastresofágico, mas os sintomas e a estenose recorreram. Nova endoscopia foi obtida e estenose de alto grau impedia a passagem ao estômago. Dilatação com velas de Savary-Gilliard foi realizada e esôfago de Barrett no segmento distal confirmado por biópsias. Múltiplas dilatações endoscópicas e biópsias sucederam-se, mas com recorrência dos sintomas. Displasias ou câncer não foram identificados e omeprazol, em dose dupla, mantido regularmente. Prótese plástica auto-expansível (Polyflex®-Boston Scientific) foi implantada via endoscópica sob anestesia geral e fluoroscopia permanecendo durante seis meses. Após a retirada da prótese, triancinolona (5mg) foi injetada na submucosa de cada quadrante na área, anteriormente, estenosada. Houve significativa melhora dos sintomas com recuperação ponderal. O controle endoscópico, após quatro semanas, revelou diminuição parcial da luz esofágica no segmento distal, mas permitindo fácil passagem do endoscópio até o estômago. CONCLUSÃO: No presente caso, a recanalização de estenose esofágica, refratária à dilatação endoscópica, foi obtida pelo uso temporário de prótese plástica auto-expansível.
DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA: RELATO DE CASO
FERNANDA DE QUADROS ONOFRIO;JOYCE HART OLIVEIRA;ROBERTA REICHERT;CRISTINA ANTONINI ARRUDA;ANTÔNIO DE BARROS LOPES;CARMEM PÉREZ DE FREITAS FREITAG;SÉRGIO GABRIEL SILVA DE BARROS
Introdução: A Distrofia Muscular Oculofaríngea (DMO) é uma rara miopatia hereditária autossômica dominante de lenta evolução e aparecimento tardio, com maior incidência entre a 5ª e a 6ª décadas de vida. Manifesta-se principalmente por ptose bilateral e disfagia orofaríngea devido à fraqueza do músculo levantador da pálpebra e da musculatura faríngea. Fraqueza muscular proximal dos membros pode ser observada em grande parte dos pacientes. O diagnóstico definitivo é estabelecido por meio de estudo molecular genético. Relato de caso: Paciente masculino, 73 anos, branco, tabagista e ex-etilista, vem ao Serviço de Gastroenterologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre por queixa de disfagia proximal para sólidos, progressiva, há cinco anos e emagrecimento de mais de 10% do peso no último ano. Referia engasgos freqüentes e vômitos. História de aspiração de conteúdo alimentar com pneumonia de aspiração. Relata uma irmã e 2 irmãos com quadro semelhante. Realizada Endoscopia Digestiva Alta, excluindo-se a possibilidade de processo neoplásico. Eletroneuromiografia sem doença em placa motora. Solicitada manometria esofágica pela suspeita de transtorno motor, a qual mostrou Esfíncter Esofágico Inferior normal, peristalse do corpo normal, Esfíncter Esofágico Superior (EES) normotônico com pressão residual elevada. Diante da hipótese de Distrofia Óculo-Faríngea, optou-se pela realização de Dilatação do EES com sonda de Savary n°18, após o que o paciente apresentou alívio total dos sintomas por cerca de 6 meses, quando, então, foi realizada nova dilatação esofágica. Permanece com leve disfagia, desde então. Discussão: Trata-se de uma doença rara, sendo a dilatação endoscópica alternativa satisfatória no presente caso.
DISFAGIA OROFARÍNGEA CAUSADA POR ABSCESSO CERVICO-MEDIASTINAL: RELATO DE DOIS CASOS
FERNANDA DE QUADROS ONOFRIO;ALEXANDRE DE ARAUJO; GABRIELA ROSSI; ANTONIO DE BARROS LOPES; SÉRGIO GABRIEL SILVA DE BARROS; CARMEN PÉREZ DE FREITAS FREITAG; CARLOS FERNANDO DE MAGALHÃES FRANCESCONI
INTRODUÇÃO: Disfagia é um sintoma comum, cuja prevalência em pacientes acima dos 50 anos é de 16-22%, podendo ser classificada em orofaríngea ou esofágica. Nosso objetivo é descrever 2 casos de disfagia orofaríngea causada por abscesso cervico-mediastinal. CASUÍSTICA: CASO 1- Paciente masculino, 57 anos, com disfagia para sólidos e líquidos, tosse e emagrecimento de 14kg em um mês, secundário a abscesso cervico-mediastinal por S aureus, identificado pela Tomografia Computadorizada (TC) cervical e torácica e cultura do líquido pleural após toracocentese. O paciente
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 273
respondeu com remissão completa dos sintomas após drenagem cirúrgica do abscesso e pleurostomia direita, tendo recebido Cefuroxime por 4 semanas. TC de controle após 30 dias dos procedimentos cirúrgicos foi normal e após 4 meses, o paciente havia recuperado o peso e estava assintomático. CASO 2- Paciente masculino, 52 anos, com disfagia para líquidos, odinofagia, disfonia, tosse, dispnéia e febre há 4 dias. Oroscopia com sinais de tonsilite esquerda. TC cervical e de tórax confirmou abscesso em amígdala esquerda, além de edema importante nas estruturas da faringe, com infiltração do mediastino superior. Recebeu tratamento empírico com Cefuroxime e Clindamicina por 14 dias. Laringoscopia indireta revelou obstrução de cerca de 50% da via aérea. Paciente teve a amígdala esquerda drenada. TC de controle após antibioticoterapia foi normal. Revisão 30 dias após a alta mostrou remissão completa dos sintomas. DISCUSSÃO: A presença de abscesso na região cervico-mediastinal é uma causa rara de disfagia orofaríngea que pode acarretar complicações graves. A fim de que seja reduzida a morbimortalidade são necessários diagnóstico precoce, com auxílio da TC, drenagem cirúrgica quando possível e antibioticoterapia adequada.
COMPARAÇÃO DOS RISCOS PREVISTOS COM OS EVENTOS ADVERSOS GASTROINTESTINAIS RELATADOS EM PROJETOS DE PESQUISA FARMACOLÓGICA
RAQUEL YURIKA TANAKA ;GABRIELA MARODIN; JOSÉ ROBERTO GOLDIM
INTRODUÇÃO: É imprescindível a avaliação da relação do risco-benefício na realização de pesquisa com fármacos através do conhecimento dos Eventos Adversos (EA) ocorridos ao longo dos projetos de pesquisa. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) têm como uma das principais atribuições: revisar todos os protocolos de pesquisa submetidos a ele, monitorar a ocorrência de EA, dessa forma garantindo a proteção dos participantes das pesquisas. OBJETIVO: Comparar os EA gastrintestinais relatados em 58 projetos de pesquisa farmacológica com os riscos previstos, que estavam descritos nos Projetos, no Manual do Investigador e nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, que terá com unidade de observação os EA ocorridos durante o desenvolvimento de projetos com fármacos, comparando-os aos riscos previstos nos Projetos, nos TCLE, nos Manuais do Investigador já levantados em um estudo anterior. Todos os dados necessários estão disponíveis em duas bases de dados já implantadas. Os relatos de EA estão consolidados no banco de dados GPPG 7.0, utilizado no monitoramento de EA comunicados ao HCPA. Os dados serão analisados através da estatística descritiva e inferencial. As avaliações serão realizadas pelo teste qui-quadrado e pelo ANOVA. Este estudo é um desdobramento do projeto nº 04-295, já submetido e aprovado pelo CEP\\HCPA. RESULTADOS: Os dados obtidos permitirão verificar se o risco foi adequado, subestimado ou superestimado quando do início do projeto, e a necessidade, ou não, de uma nova informação para os participantes no TCLE.
ESTUDO CLÍNICO - FASE III: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA CLÍNICA E DA SEGURANÇA DO MEDICAMENTO PÍLULAS DE ERVA DE BICHO COMPOSTAS IMESCARD
LUCIA COSTA CABRAL FENDT;GUILHERME SANDER; ANDRY COSTA; KARINE AMARAL; PATRÍCIA BLAYA; ROBERTO AMARAL; PAULO PICON
Introdução: As pílulas de erva-de-bicho Imescard estão registradas na ANVISA como droga laxativa na constipação, e como adjuvantes no tratamento de hemorróidas. Embora a erva-de-bicho (Polygonum hydropiperoides) seja usada popularmente, não existem evidências que justifiquem seu uso. O objetivo deste estudo foi aferir a eficácia e segurança da droga no tratamento da constipação crônica e doença hemorroidária em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado por placebo. Métodos: 60 voluntários com idade entre 18 e 50 anos e diagnóstico de constipação e hemorróidas foram randomizados, após avaliação clínica e laboratorial, para receber pílulas Imescard ou placebo, a cada 8h, por 5 dias, seguido por um período de washout de 10 dias, e então outra intervenção. Reavaliações ocorreram no D1, D5, D15 e D20. Os pacientes preencheram diários contendo questionários de sintomas durante cada intervenção. O desfecho primário foi o tempo de trânsito intestinal(TTI), aferido nos dias 5 e 19 através de técnica radiológica. Desfechos secundários foram média dos escores dos questionários, qualidade de vida aferida pelo WHOQOL e avaliação de efeitos adversos. Resultados: Dois pacientes foram excluídos por má adesão. O TTI médio foi de 9,38 horas no grupo Imescard e de 29,04 horas no placebo (P<0,0001). A eliminação de 100% dos marcadores foi 25,5% maior no grupo ativo (P<0,0001). A comparação dos escores de sintomas do início de cada fase (D0 e D15) com aqueles ao final do tratamento (D5 e D19) mostrou redução
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 274
significativa na média dos escores de constipação com o medicamento ativo. Os escores de sintomas hemorroidários não mostraram melhora com nenhum dos tratamentos. O efeito adverso mais freqüente foi cólica intestinal (38% no grupo ativo e 16% no placebo). Conclusão: O medicamento pílulas de erva-de-bicho Imescard mostrou-se eficaz no tratamento da constipação em adultos.
PREVALÊNCIA DO USO DE ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES EM PACIENTES DISPÉPTICOS FUNCIONAIS INFECTADOS PELO HELICOBACTER PYLORI
NADJA MACHADO VOLPATO;LUIZ EDMUNDO MAZZOLENI; GUILHERME BECKER SANDER; LAURA RENATA DE BONA; ROBERTA LUNKES; TOBIAS CANCIAN MILBRADT; TALITA MASSONI; ALEXANDRE KLAMT
INTRODUÇÃO: Antiinflamatórios não esteróides (AINEs) estão associados a vários efeitos adversos gastrointestinais, dos quais se incluem dispepsia, úlcera péptica e suas complicações como sangramento e perfurações. A associação dessas drogas com erosões gástricas, em dispépticos funcionais portadores do Helicobacter pylori (H. pylori), não está bem estabelecida. OBJETIVO: Avaliar o papel do uso de AINEs na ocorrência de erosões gástricas entre pacientes dispépticos funcionais infectados pelo H. pylori. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram incluídos pacientes que preenchessem os critérios para dispepsia segundo o consenso internacional Roma III e que, após endoscopia digestiva alta, fossem diagnosticados como dispépticos funcionais infectados pelo H. pylori, confirmado pelo teste rápido da urease e por estudo histológico. Os pacientes foram indagados quanto ao uso de AINEs. RESULTADOS: Um total de 405 pacientes foi incluído no estudo, dos quais 87 (21,5%) eram homens e 318 (78,5%) eram mulheres. A média de idade dos participantes foi de 46 anos. Erosões gástricas foram encontradas em 134 (33,1%) dos pacientes. Destes, 30 pacientes (22,4%) tinham erosões gástricas associadas ao uso de AINEs e 104 pacientes tinham erosões gástricas não associadas aos AINEs. Entre os 271 pacientes sem erosões 39 (14,4%) usavam AINEs e 232 não usavam essas medicações (P=0,044). CONCLUSÃO: Erosões gástricas encontradas em pacientes dispépticos funcionais infectados pelo H. pylori estão associadas ao consumo de drogas antiinflamatórias não esteróides.
PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM DISPÉPTICOS FUNCIONAIS
NADJA MACHADO VOLPATO;LUIZ EDMUNDO MAZZOLENI; GUILHERME BECKER SANDER; LAURA RENATA DE BONA; ROBERTA LUNKES; TOBIAS CANCIAN MILBRADT; TALITA MASSONI; RACHEL ZENKER; STELA SCAGLIONI MARINI; ALEXANDRE KLAMT
INTRODUÇÃO: Depressão e ansiedade podem estar associados com sintomas gastrointestinais. A prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em dispépticos funcionais, em nosso meio, é pouco conhecida. OBJETIVO: Estudar a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em dispépticos funcionais. MATERIAL E MÉTODOS: pacientes dispépticos conforme os critérios Roma III, que após endoscopia digestiva alta para exclusão de doenças orgânicas, foram considerados dispépticos funcionais. O questionário validado “Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS) foi usado para medir depressão e ansiedade. Para determinar a ocorrência de ansiedade e depressão adotaram-se os seguintes pontos de corte: 8-10 casos suspeitos/leves e ≥ 11 como confirmados. RESULTADOS: Foram avaliados 372 pacientes dispépticos funcionais estudados, com idade média de 46,4 anos, dos quais 82,8% eram do sexo feminino. A proporção de pacientes que apresentaram ansiedade suspeita/leve foi de 23,7% e de ansiedade confirmada foi de 34,9%. Depressão suspeita/leve foi observada em 21% e de depressão confirmada em 18,8%. A prevalência de depressão confirmada foi significativamente maior no sexo feminino (21,1% nas mulheres versus 7,8% nos homens; P=0,013) CONCLUSÕES: Este estudo demonstrou alta prevalência de depressão e ansiedade nos pacientes dispépticos funcionais e os índices de depressão foram maiores em mulheres. Isso revela a importância de rastreamento de depressão e ansiedade em pacientes com sintomas dispépticos.
HEPATOPATIA CRÔNICA AGUDIZADA POR HVA + VACINA FEBRE AMARELA: RELATO DE CASO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 275
GEISON LEONARDO FERNANDES PINTO;LUCAS CAMPOS DE ARAÚJO; MARCELO BITELO DA SILVA; ROGER HEISLER
Hepatite fulminante(HF) é conseqüência de rápido desenvolvimento de lesão hepática severa com encefalopatia em paciente com fígado de função normal ou hepatopatia compensada. Nestes casos, transplante hepático pode salvar vidas. Através de estudo retrospectivo, relata-se caso. Paciente feminino, 16 anos, interna no HNSC com esclera amarelada há 7 dias, inchaço abdominal há 3 dias, edema em membros inferiores e dor lombar alta à direita. Referia vacinação contra febre-amarela há 20 dias, negava etilismo. Exame físico: mucosas hipocoradas, icterícia, dor à palpação do hipocôndrio direito sem sinais de peritonite, piparote + e edema duro de membros inferiores 3+/4+ até as coxas. Exames: TGP 93; TGO 300; Sódio 140; Potássio 2,9; Fosfatase alcalina 61; Bilirrubina total 9,2; Bilirrubina direta 7,36; LDH 745. Recebeu pushs de potássio por hipocalemia e Penicilina G benzatina por suspeita de leptospirose. Durante internação apresentou diminuição do sensório, distúrbios de coagulação, decréscimo de transaminases, elevação de bilirrubinas. Exames subseqüentes: Anti-HVA IgM +, Anti-HVA IgG -, Anti-HVA Total + ; Ecografia abdominal: fígado: textura heterogênea, bordo rombo e reduzido; vesícula biliar: conteúdo anecóico e paredes espessadas; esplenomegalia e ascite volumosa. Realizou transplante hepático no HDVS. Apresentou hematoma peri-hepático e sangramento abdominal, sendo reintervida dia seguinte. AP do fígado nativo: hepatopatia crônica de etiologia desconhecida. Apresentou disfunção primária do enxerto, AP mostrou colangite e isquemia centrolobular. Desenvolveu hiperpigmentação cutânea. Evoluiu ao óbito 25 dias após o transplante. Necropsia não realizada. Apesar do vírus A ser a causa mais comum de HF, em raras circunstâncias tem este desfecho, o que justifica este estudo.
ESTUDO COMPARATIVO ACERCA DO DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELITO (DM) EM PACIENTES PORTADORES DE CIRROSE EM AVALIAÇÃO PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO: CRITÉRIOS DA ADA VS. CRITÉRIOS OTIMIZADOS PARA PACIENTES CIRRÓTICOS
ANA CAROLINA COSTA BRAGANÇA;OSCAR BIRKHAN, GABRIEL POGLIA, IZABELA R. ÁVILA, JÉFERSON BAUER, TIAGO B. CASTRO, ALEXANDRE ARAUJO, MÁRIO REIS ÁLVARES-DA-SILVA
Introdução: Cirrose, diabetes melito (DM) e intolerância à glicose (ITG) é uma associação que vem sendo discutida pelo risco de pior evolução da hepatopatia. Estudo anterior do nosso grupo verificou, comparando o diagnóstico de DM por glicemia de jejum e teste oral de tolerância à glicose (TOTG), que o ponto de corte de glicemia de jejum com maior acurácia para o diagnóstico em pacientes portadores de cirrose em avaliação para transplante hepático (TxH) seria acima de 94 mg/dl. Objetivo: Comparar a prevalência de DM determinada através da glicemia de jejum de acordo com os critérios da American Diabetes Association (ADA) com a prevalência encontrada quando considerados os critérios otimizados (ANA) para pacientes portadores de cirrose candidatos a TxH. Sujeitos e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo incluindo 566 pacientes acima de 18 anos avaliados para TxH no Serviço de Gastroenterologia do HCPA desde 1996, todos eles com pelo menos duas glicemias de jejum repetidas em um intervalo máximo de 3 meses e documentadas em prontuário. Resultados: Foi encontrada uma prevalência de DM em 23% dos pacientes diagnosticados através dos critérios estipulados pela ADA e 40,8% pelos critérios ANA. Houve associação entre a presença de DM, diagnosticados pelos critérios ANA, mas não pelos critérios ADA, com a gravidade da cirrose através da classificação de Child-Pugh (p=0,020), com a presença de carcinoma hepatocelular (p=0,01) e de complicações clínicas da cirrose no período de até 6 meses após o diagnóstico (p<0,001). Conclusão: a prevalência de DM é alta em pacientes cirróticos em lista de espera para TxH, e deve ser avaliada em todos os pacientes em lista. A presença de DM correlacionou-se com pior evolução dos pacientes. Sugere-se que o ponto de corte de glicemia de jejum para o diagnóstico de DM, em pacientes portadores de cirrose em avaliação para transplante hepático seja de 94 mg/dl.
GASTROENTEROLOGIA EXPERIMENTAL
A INTENSIDADE DA EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DO VEGF EM TÚNICA MÉDIA ARTERIAL NO FÍGADO ASSOCIA-SE COM A EXTENSÃO DA PROLIFERAÇÃO BILIAR EM PACIENTES COM ATRESIA BILIAR
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 276
PATRICIA PONCE DE LEON LIMA;PATRÍCIA TURNES EDOM, ARIELLA PHILIPI CARDOSO, LUISE MEURER, THEMIS REVERBEL SILVEIRA, JORGE LUIZ DOS SANTOS
Introdução: Na Atresia Biliar (AB) mantém-se colangiopatia progressiva após a portoenterostomia (POE), levando a falência e transplante hepáticos. A AB tem heterogeneidade clínica, pois um sub-grupo apresenta malformações extra-hepáticas associadas (MEH). Neste estudo avaliamos a intensidade de expressão imunohistoquímica do VEGF nas estruturas hepáticas de pacientes com AB, procurando associá-la com as variáveis de interesse: presença de MEH, idade na POE, PCK7 e extensão da fibrose hepática. Material e métodos: Foram avaliadas biópsias em cunha parafinizadas obtidas na POE de 52 pacientes com AB, incluindo casos sem (n=38) e com MEH (n=14) marcadas por imunohistoquímica com VEGF (DAKO,1:400, ABC-peroxidase). Biópsias de 7 OCN com idade semelhante serviram de controles. Foi analisada a intensidade de expressão do VEGF em estruturas hepáticas, segundo critério descrito por Wu, et al. (2004); como: 0- sem marcação; 1-amarelo claro; 2- amarelo escuro; 3- marrom com granulações (negativo: valores 0 e 1; positivo: valores 2 e 3). O PCK7 foi medido por morfometria segundo método descrito por Santos et al. (2009). A extensão da fibrose foi avaliada por análise morfométrica da densidade de colágeno corado com picrossírius descrita por Masseroli M,et al (2000). Resultados: A intensidade do VEGF em túnica média arterial foi maior no grupo de AB sem MEH em relação aos outros 2 grupos (P=0,048). Apenas PCK7 relacionou-se com a intensidade do VEGF em túnica média arterial (P<0,001). Em análise multivariada observou-se que a intensidade do VEGF em túnica média foi determinada pelo PCK7 (P=0,031) Conclusão: Na AB a extensão da proliferação biliar, avaliada pelo PCK7, determinou a intensidade de expressão do fator angiogênico VEGF na túnica média dos ramos arteriais hepáticos.
ANÁLISE COMPARATIVA DA EXPRESSÃO HEPÁTICA E LEUCOCITÁRIA DE MARCADORES DE RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM PACIENTES INFECTADOS PELO HCV - USO DE TÉCNICA DE SEPARAÇÃO DE LINFÓCITOS COM O REAGENTE FICOLL
OSCAR AUGUSTO BIRKHAN;CAMILA RIPOLL KAPPEL; ALEXANDRE DE ARAUJO; ANA CAROLINA COSTA BRAGANÇA; ANA MARIA SANDRI; LEONARDO PÉREZ ZENI; MATHEUS TRUCCOLO MICHALCZUK; STELA MARIA MOTA; MÁRIO REIS ÁLVARES-DA-SILVA
Introdução: A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é um problema significativo mundialmente, estando associada a uma maior prevalência de DM e intolerância à glicose através de mecanismos de resistência insulínica (RI) e disfunção das células beta-pancreáticas. O HCV pode infectar também tecidos extra-hepáticos, tendo papel fundamental na reativação da infecção. A RI está associada à redução da expressão dos substratos IRS-1 e IRS-2, e pode influenciar na resposta ao tratamento da infecção. Objetivos: Comparar a expressão em tecido hepático e em leucócitos de marcadores intracelulares de RI em pacientes portadores de infecção crônica por HCV não tratados. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo GPPG-HCPA, em que foram incluídos pacientes de 18 a 60 anos, portadores de infecção crônica pelo HCV (comprovada por ELISA 3), nunca antes tratados. Os pacientes foram submetidos a biópsia hepática com congelamento imediato do fragmento em nitrogênio líquido e posterior armazenamento em freezer -80ºC. No mesmo dia de realização da biópsia hepática foi feita coleta de sangue em tubo com EDTA para posterior separação de linfócitos. Este procedimento foi realizado com uso do reagente Ficoll de acordo com a técnica descrita na bula do fabricante, com armazenamento do material em freezer -80ºC. As dosagens de IRS-1 e IRS-2 serão realizadas com uso de kits de PCR para sua detecção. Resultados: Até o momento foram realizadas biópsias e separação de linfócitos de 75 pacientes. Destes, 49,3% são do sexo feminino. Outros pacientes foram selecionados em mutirões de atendimento clínico e ainda serão submetidos a biópsia e coleta de sangue. Todas as amostras foram armazenadas e serão analisadas quanto aos marcadores de RI assim que os kits estiverem disponíveis.
TRANSPLANTE DE CÉLULAS MONONUCLEARES DA MEDULA ÓSSEA ENCAPSULADAS EM UM MODELO CIRÚRGICO DE INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA EM RATOS
CARLOS OSCAR KIELING;RAFAEL LUCYK MAURER;ARIANE NÁDIA BACKES;GUILHERME BALDO;CAROLINA URIBE;URSULA DA SILVEIRA MATTE;THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA
Introdução: Células da medula óssea têm sido usadas em estudos experimentais no tratamento de doenças hepáticas. Micro-capsulação celular em alginato de sódio (AS) impede a migração e protege
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 277
as células da reação imunológica. Objetivos: Avaliar efeito do transplante (Tx) no peritônio de células mononucleares da medula óssea (CMMO) encapsuladas na sobrevida de ratos Wistar submetidos à excisão de 90% do figado. Material e métodos: CMMO (fêmur e tíbia de doadores) foram isoladas por gradiente de FICOLL, encapsuladas em AS e mantidas em cultura com DMEM por 1dia. Ratos machos anestesiados (isoflurano) foram submetidos à excisão dos lobos mediano, esquerdo e direito. 2 mL de micro-cápsulas com CMMO (1x10
6) ou vazias, suspensos em PBS (3mL) foram colocados
no peritônio após hepatectomia. Glicose (50mcg/g peso) foi administrada no trans-operatório, 6 horas após e diariamente (1,2,3,4,5,6,7) após coleta de sangue. Água com glicose (20%). Glicose e lactato sanguíneos foram dosados pré, 6 horas e nos dias 1 a 7 e 10 com glicosímetro (mg/dL) e lactímetro (mmol/L). Sobrevida foi avaliada diariamente até dia 10. Dados: freqüência, mediana e intervalo interquartil (IIQ25-75) e qui-quadrado e Mann-Whitney. P0,05. GPPG 05-181. Resultados: De 40 ratos, 19 (47,5%) receberam CMMO. A sobrevida foi maior no grupo tratado nos dias 1 (100x61,9,P=0,004), 2 (78,9x38,1,P=0,02), 5 (50x15,P=0,03), 7 (50x10,P=0,01) e 10 (50x5,P=0,005). No grupo com CMMO lactato foi menor nos dias 3 (3,7 IIQ3,1-4,1 vs 5,0 IIQ4,5-5,8;P=0,002) e 4 (3,1 IIQ2,7-3,7 vs 4,7 IIQ4,3-5,2,P=0,03). A glicose foi maior no grupo tratado nos dias 3 (100 IIQ96-119 x 75 IIQ62-83;P=0,001), 4 (124 IIQ109-129 x 85 IIQ44-93,P=0,002) e 5 (159 IIQ120-174 x 90 IIQ73-107,P=0,007). Não houve diferença no peso corporal, peso do fígado retirado e no tempo de cirurgia.Conclusão: O Tx de CMMO encapsuladas aumentou sobrevida de ratos hepatectomizados sugerindo sua utilização como terapia na insuficiência hepática.
SERUM AND TISSUE TGF-β1 IN CHILDREN WITH BILIARY ATRESIA
FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA; SANDRA VIEIRA, CARLOS KIELING, JORGE LUIZ DOS SANTOS, PATRÍCIA PONCE DE LEON LIMA THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA, URSULA MATTE
INTRODUCTION: Biliary atresia (BA) is an infantile disorder characterized by the obstruction of a portion or the entirety of the extrahepatic bile ducts, leading to hepatic fibrosis and loss of liver function. The gold standard for diagnosing and grading fibrosis is liver biopsy, but there are many groups searching for non invasive biomarkers that could replace and/or complement this procedure.OBJETIVES AND METHODS: In this study we evaluated serum and tissue TGF-β1 (Transforming Growth Factor β1) and APRI (AST-to-Platelet Ratio Index) in patients with BA at the time of diagnosis and at liver transplantation, and correlated these data with tissue collagen density, in order to verify if they could act as biomarkers for BA. RESULTS: At the time of diagnosis TGF-β1 levels were highly variable in BA patients. However serum values at transplantation were significantly decreased (13.55 ± 3.99 ng/mL) as compared to controls (41.55ng/mL± 7.9ng/mL, p=0.01). No correlation was found between serum TGFβ-1 and collagen density in both groups analyzed. Serum TGF-β1 showed no correlation with APRI at diagnosis. At the time of liver transplantation all patients had low serum TGF-β1 and variable APRI, although all higher than 2.0. However, when platelet count was used, an inverse correlation with serum TGF- β1was observed at the time of diagnostics (r
2=0.749 p=0.03). CONCLUSION: We suggest that TGF-β1 levels at the time of diagnostics
associated to platelet count can be useful to assess prognosis, however it has to be confirmed in a larger number of patients.
INTENSIDADE DA EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DO PDGF EM DUCTOS BILIARES DE PACIENTES COM ATRESIA BILIAR
ARIELLA PHILIPI CARDOSO;LUISE MEURER, CARLOS OSCAR KIELING, CAROLINE DANI, JORGE LUIZ DOS SANTOS, THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA
Introdução: Na Atresia Biliar (AB) mantém-se colangiopatia progressiva após a portoenterostomia (POE), levando à falência hepática. A AB tem heterogeneidade clínica e um sub-grupo apresenta malformações extra-hepáticas associadas (MEH). Descrevemos (Santos et al.,2005) espessamento de túnica média em ramos arteriais hepáticos na AB, sugerindo anomalia vascular. O PDGF associa-se a espessamento de túnica média e fibrogênese. Neste estudo analisamos a expressão do PDGF nas estruturas hepáticas na AB, relacionando-a com presença de MEH, idade na POE, PCK7 e fibrose hepática. Material e métodos: Avaliaram-se biópsias em cunha parafinizadas obtidas na POE de 56 pacientes com AB, incluindo casos sem (n=40) e com MEH (n=16) marcadas por imunoistoquímica com PDGF (Santa Cruz Biotechnology,1:400, ABC-peroxidase), comparando com
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 278
as de 14 pacientes com outras causas de colestase neonatal (OCN) com idade semelhante e 5 necropsias de lactentes sem hepatopatia (SH). Dois pesquisadores expertos.
GENÉTICA
CONSTRUÇÃO DE UM VETOR CONTENDO A SEQUÊNCIA SILENCIADORA DE TGF-B1 E O GENE REPÓRTER LACZ
GIOVANNA GRUNEWALD VIETTA;FERNANDA SPERB, VALESKA LIZZI LAGRANHA, ANGELA TAVARES, URSULA MATTE, NADINE CLAUSELL
INTRODUÇÃO: O TGF-β1 é um polipeptídeo multifuncional que desempenha um importante papel na fibrose. Na insuficiência cardíaca (IC) exerce diferentes efeitos no remodelamento após o infarto do miocárdio (IM). O uso de um shRNA para TGF-β1 pode ser uma estratégia inovadora para o tratamento da IC pós-IAM. OBJETIVO: Construir um vetor que carregue a sequência especifica para silenciamento do TGF-β1, contendo o marcador LacZ, capaz de sinalizar, por coloração, sua presença no tecido. MATERIAIS E MÉTODOS: A sequência do gene LacZ foi excisada do vetor pnlacF e subclonada ao plasmídeo pREP9 (Invitrogen) com a utilização das enzimas KpnI e HindIII. Com o objetivo de isolar o cassete de expressão (promotor pRSV, LacZ, e terminador SV40pA), o construto obtido na subclonagem, foi clivado com as enzimas XbaI e AfeI. Posteriormente este cassete foi inserido no plasmideo pSUPER (Oligoengine), contendo a sequência especifica para silenciamento do TGF-β1. RESULTADOS: A subclonagem do LacZ ao plasmídeo pREP9 foi confirmada por clivagem. O plasmídeo pSUPER contendo o cassete de expressão com o gene repórter LacZ bacteriano (pSUPER/LacZ), foi usado para transformar E. coli DH5α termocompetentes e a expressão de LacZ confirmada por coloração especifica. O DNA plasmideal foi extraído e purificado utilizando o Kit Maxi Prep (Invitrogen). CONCLUSÃO: O gene repórter foi inserido ao sistema de RNA de interferência pSUPER. No entanto, antes de sua utilização in vivo, é necessário verificar sua funcionalidade através de transferência gênica in vitro na linhagem celular GRX, que produz TGF-β1 e deverá apresentar coloração azulada na presença do gene marcador.
ANÁLISE DE ALELOS MUTANTES LONGOS NOS GENES DE ATXN2 E ATXN7 EM PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DE ATAXIA ESPINOCEREBELAR
GABRIEL VASATA FURTADO;VANESSA ERICHSEN EMMEL; LAURA BANNACH JARDIM; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
As ataxias espinocerebelares tipo 2 (SCA2) e tipo 7 (SCA7) são causadas por uma expansão de repetições trinucleotídicas CAG nos genes ATXN2 e ATXN7, respectivamente. O diagnóstico convencional dessas doenças baseia-se na detecção dessas expansões pela PCR, mas pode não ser eficiente na amplificação do alelo longo. Uma alternativa é a técnica do triplet repeat primed PCR (TP-PCR). O objetivo deste estudo foi identificar a ocorrência de alelos mutantes longos através de TP-PCR e eletroforese capilar em amostras de pacientes com suspeita clínica de SCA. As análises foram realizadas em indivíduos com suspeita clínica de SCA2 (n=88) e SCA7 (n=89) e resultado compatível com um indivíduo homozigoto para o alelo normal no gene de análise através de PCR convencional. O DNA desses pacientes foi submetido à técnica de TP-PCR. Após a amplificação, as amostras foram analisadas por eletroforese capilar e os tamanhos das sequências amplificadas foram estimados. Amostras homozigotas para alelo com 22 repetições CAG no gene ATXN2 foram incluídos no trabalho e nenhum indivíduo com o alelo mutante foi encontrado. No caso do gene ATXN7, 81% das amostras eram homozigotas para alelo com 10 repetições CAG e todas as amostras foram confirmadas como não portadoras do alelo mutante. Este estudo proporcionou a introdução de uma análise mais específica para a identificação de alelo mutante longo nos genes estudados, podendo ser adaptada para outros genes. Com a análise descrita nesse trabalho, a metodologia laboratorial para diagnóstico dessas SCA foi melhorada, o que irá evitar a ocorrência de resultados falsos negativos através da aplicação isolada da PCR convencional. Apoio Financeiro: FIPE-HCPA, FAPERGS e CNPq.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 279
ADESÃO AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM FENILCETONÚRIA ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE DISTÚRBIOS METABÓLICOS DO SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, BRASIL
TATIÉLE NALIN;INGRID D. SCHWEIGERT; LUCIANA GIUGLIANI; SORAIA POLONI; TATIANE A. VIEIRA; MAIRA G. BURIN; RÉGIS GUIDOBONO; LILIA REFOSCO; CRISTINA B. NETTO; CAROLINA F. M. DE SOUZA; IDA V. D. SCHWARTZ
Introdução: A Fenilcetonúria por deficiência de Fenilalanina Hidroxilase é um erro inato do metabolismo no qual ocorre aumento dos níveis séricos do aminoácido fenilalanina. Objetivo: Avaliar a adesão ao tratamento de pacientes com Fenilcetonúria por deficiência de Fenilalanina Hidroxilase. Métodos: Estudo transversal de base ambulatorial, de pacientes com diagnóstico de Fenilcetonúria, atendidos no ambulatório do SGM/HCPA. Os parâmetros de adesão considerados foram o consumo de fenilalanina (critério 1) e de fórmula metabólica (critério 2), questionamento direto aos pacientes/familiares (critério 3) e mediana de fenilalanina plasmática no último ano (critério 4). Resultados: Dos 45 pacientes estudados, com mediana de idade de 11 anos, 51% são do sexo masculino. Desses, 24 foram classificados como possuindo PKU Clássica, treze PKU Atípica e 8 não tiveram sua forma de PKU definida. Conforme o critério utilizado, foram considerados aderentes 16 (critério 1); 27 (critério 2); 33 (critério 3); e 20 pacientes (critério 4), respectivamente. Não houve associação entre os critérios de adesão utilizados. Pacientes mais velhos e com maior idade de início de tratamento apresentaram melhor adesão em relação ao critério 4 (p=0,002 e p=0,037, respectivamente. Conclusão: Adesão ao tratamento é dificilmente quantificada por parâmetros isolados. A distinta percepção de adesão ao tratamento por parte dos pacientes, em relação a diversos critérios, dá suporte à necessidade de busca de novas estratégias que promovam adesão e do estudo de métodos que avaliem a mesma.
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE ERROS INATOS DO METABOLISMO (SIEM). RESULTADOS DE 7 ANOS E 6 MESES DE UM SERVIÇO GRATUITO PIONEIRO NO BRASIL
TATIÉLE NALIN;HERBER, SILVANI; PRUSSIANO, VANESSA; NETTO, CRISTINA; SANSEVERINO, MARIA TERESA; REFOSCO, LILIA RAFAELLI, CÉLIO;GIUGLIANI, ROBERTO; SOUZA, CAROLINA
O SIEM é um serviço telefônico gratuito, que presta informações para médicos e profissionais da saúde envolvidos no diagnóstico e manejo de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de um erro inato do metabolismo (EIM). Considerando que, no seu conjunto os EIM são patologias freqüentes, mas pouco conhecidas em nosso meio, o diagnóstico e manejo adequado são fundamentais para a saúde e o prognóstico dos afetados, assim como para o aconselhamento genético das famílias. No período de Outubro de 2001 a Março de 2009 foram realizados 1450 registros. Em 77% dos registros as ligações foram provenientes da região Sul e Sudeste do Brasil. Em 52% das vezes, o contato foi realizado por pediatras, neonatologistas ou neuropediatras. Na maioria das vezes (85%), o profissional procura apoio para diagnóstico e/ou manejo inicial do paciente. Dos 1450 registros, 105 foram informações e 1023 (78%) casos tiveram a investigação para EIM concluída, sendo destes 150 (14,7%) casos de EIM, 388 (38%) não EIM, 261 (25,5%) inconclusivos, e 224 (21,8%) foram perdidos. Dos 150 casos com diagnóstico de EIM, 20,6% eram aminoacidopatias; 22,7% eram de acidemia orgânica; 15,5% DLD; 10,3% doença do metabolismo dos carboidratos; 10,3% doença do metabolismo energético; 6,3% doença dos peroxissomos e 14,3% outras categorias. Os dados mostram um elevado número de casos suspeitos de EIM sem um diagnóstico conclusivo, provavelmente devido às dificuldades e falhas na investigação. Acreditamos na importância do nosso serviço para proporcionar uma forma de investigação racional e o diagnóstico e manejo mais precoce, evitando as graves seqüelas nos pacientes.
ANÁLISE TEMPORAL DA FREQUÊNCIA DE NASCIMENTOS GEMELARES NA CIDADE DE CÂNDIDO GODÓI - RS
ALICE TAGLIANI RIBEIRO;MARIANA OLIVEIRA; ADRIANA SASSI; MARCELO ZAGONEL DE OLIVEIRA; SELIA HECK; TERESINHA VANUSA DRESCH; URSULA MATTE; LAVÍNIA SCHÜLER FACCINI
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 280
Nascimentos gemelares são um intrigante acontecimento na espécie humana. São eventos raros e trazem um alto risco para a saúde da mãe e do feto. Os mecanismos envolvidos nos nascimentos múltiplos ainda não estão esclarecidos. Há fortes evidências de fatores genéticos, porém, fatores ambientais não podem ser excluídos. As taxas desses nascimentos variam em todo o mundo, a partir de seis por cada 1000 nascimentos na Ásia até 40 por 1000 nascimentos na Nigéria. Em virtude das técnicas de reprodução assistida a frequencia de gemelaridade tem aumentado nos paises industrializados. A cidade de Cândido Godói, localizada no Noroeste do Rio Grande do Sul, tem sido objeto de atenção por um suposta taxa elevada de gêmeos na sua população. O objetivo deste trabalho foi analisar as frequências de nascimentos de gêmeos no tempo e no espaço nas localidades dentro do município de Cândido Godói no período de 1971 a 2009. Para isso foram consultados os livros de batismo das 16 paróquias católicas existentes no município, cada uma correspondendo a uma localidade. Os resultados mostram que a cidade de Cândido Godói apresenta uma incidência constante e, relativamente, alta de nascimentos de gêmeos. Foi observado que 5 das 16 localidades concentram 60% dos nascimentos de gêmeos da cidade, com frequências que variam de 1,7% a 3%, bem acima do esperado, que é 1% para o Brasil. A análise dos heredogramas mostra que as ocorrências elevadas de gemeos estão concentradas em apenas algumas famílias, todas de ancestralidade européia e que se instalaram nesta região no início do século XX, o que favorece a idéia de um efeito de fundador. Possíveis genes ligados a esta suscetibilidade estão neste momento sendo analisados por nosso grupo. Financiamento: CNPq, INAGEMP.
CONSUMO DE FÁRMACOS TERATOGÊNICOS: UMA VISÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE AGENTES TERATOGÊNICOS (SIAT)
VIVIAN TREIN CUNHA;FERNANDA FISHER, PEDRO S TETELBOM, FERNANDA SALES LUIZ VIANNA, ALBERTO MANTOVANI ABECHE, MARIA TERESA VIEIRA SANSEVERINO, LAVÍNIA SCHÜLLER-FACCINI
Introdução: Agente teratogênico é uma substância, organismo, agente químico ou estado de deficiência que, estando presente na vida embrionária ou fetal, produz alteração na estrutura ou função da descendência. Existem fármacos teratogênicos já conhecidos, isotretinoína, ácido valpróico, misoprostol, lítio, carbamazepina, entre outros. A teratogenicidade é responsável por 10% das malformações congênitas, figurando como um motivo de preocupação freqüente, já que estão disponíveis para mulheres em idade fértil.Objetivo: Analisar as taxas de consultas referentes a fármacos com potencial teratogênico comprovado (misoprostol, isotretinoína, carbamazepina, lítio e ácido valpróico) realizadas ao Serviço de Informações sobre Agentes Teratogênicos (SIAT). Materiais e Métodos: os dados foram coletados a partir das consultas realizadas ao SIAT entre junho de 2006 a junho de 2009, e avaliadas quanto ao tipo de teratógeno e indicação de uso. Resultados e Conclusões: Dentre as 1405 consultas realizadas nesse período, 127 (9%) foram relacionadas aos teratógenos em análise: 30 (23,6%) pelo uso de misoprostol , 26 (20,5%) por carbamazepina, 25 (19,7%) pelo uso de lítio, 23 (18,1%) por ácido valpróico, e 23 (18,1%) por isotretinoína. A taxa de consultas relacionadas a esses teratógenos é considerada alta, principalmente porque dois desses (misoprostol e isotretinoína) podem ser evitados. É importante ressaltar que os demais fármacos são indispensáveis, devido aos riscos da doença de base, e portanto é necessário avaliar a relação risco versus beneficio individualmente. Assim, o SIAT presta uma assistência fundamental para médicos e pacientes, contribuindo para tornar a gestação mais segura e tranqüila.
AMPHOTERICIN B DECREASES TGF- β1 IN GRX CELLS, A MODEL OF ACTIVATED MYOFIBROBLASTS
FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA; BARBARA GROSSMANN1, CAROLINA URIBE, GUILHERME BALDO, VALESKA LAGRANHA,THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA, URSULA MATTE
Abstract: AIMS: Transforming Growth Factor beta 1 (TGF-β1) is the main cytokine in the hepatic stellate cell (HSC) activation, and it‟s a first step in the hepatic fibrogenic process. TGF- β1 is released primarily from Kuppfer cells although active stellate cells secrete large amounts of this cytokine, thus providing a positive feedback loop in hepatic fibrogenesis. Amphotericin B (AmB) is a polyene macrolide antibiotic widely used for treating systemic fungal infections and visceral leishmaniasis. Evidence demonstrates the patients treated with a liposomal form of AmB for Visceral Leishmaniosis presented negligible levels of TGF- β1. The aim of this study is to investigate the AmB action in the
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 281
GRX cell, a model of mouse activated HSC. MAIN METHODS: The effects of AmB on the GRX and HepG2 cells are examined by using MTT test , Real-time PCR, ELISA, Wound Healing assay and staining of lipids by oil red. KEY FINDINGS: We document that AmB decreases TGF -β1 expression at protein and mRNA levels, and significantly stimulates the intracellular lipid accumulation in GRX cell. SIGNIFICANCE: Our results provide novel insights into the action of Amb in the TGF - β1 in addition to a possible reversion to a lypocite phenotype and the impaired wound healing in GRX cells, suggest a potential anti-fibrogenic effect of AmB. However, in vivo studies shall be conducted to test this hypothesis.
ANÁLISE DAS CONSULTAS REALIZADAS AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE AGENTES TERATOGÊNICOS ¿ SIAT - NO PERÍODO DE UM ANO
FERNANDA SALES LUIZ VIANNA;ANDRÉ ANJOS DA SILVA; ALBERTO MANTOVANI ABECHE; MARIA TERESA VIEIRA SANSEVERINO; LAVÍNIA SCHÜLLER-FACCINI
Introdução: A exposição a diferentes substâncias durante a gestação é motivo de preocupação para médicos e gestantes pelo potencial de interferir no desenvolvimento do bebê. O SIAT (Serviço de Informação sobre Agentes Teratogênicos) é um projeto de extensão e pesquisa da UFRGS, que fornece informação gratuita sobre os riscos materno-fetais dessas exposições. Objetivos: apresentar os dados referentes às consultas realizadas no SIAT de junho de 2008 a maio de 2009 para aprofundar e divulgar o conhecimento de potenciais riscos durante a gestação para a mãe e o bebê. Materiais e Métodos: foram analisadas as consultas SIAT nesse período e avaliadas as informações de público alvo, procedência, motivos de consulta, entre outras características. Resultados e Conclusões: foram realizadas 467 consultas, sendo 56,5% destinadas a gestantes, 22,3% a mulheres que planejam a gestação, 10% a pesquisas, 5,5% a gestações anteriores, 4,4% a amamentação e 1,3% a exposições paternas. A maioria das consultas foi realizada através de telefonemas (55,8%), seguidas de fax (20%), e-mail (16%) e pessoalmente (8,2%). As consultas foram provenientes de Porto Alegre (47,5%), região Sudeste (30%), Sul (18,3%), Nordeste (2%) e Centro-oeste (1,8%) do Brasil, e duas consultas referentes a outros países. Quase todas as consultas foram realizadas por médicos (60,3%) e pacientes (29,8%). Os motivos de consulta mais freqüentes foram os fármacos psicoativos e anticonvulsivantes (45, 2%) para tratamento de transtornos psiquiátricos, seguidos de vacinação na gestação (10,1%) e substâncias de uso tópico (9,4%). O SIAT é um serviço de informação que presta assistência fundamental para tornar a gestação mais segura e tranqüila, além de gerar dados para investigação científica em relação à teratogênese humana.
EFEITO DO POLIMORFISMO 894G>T DO GENE ENOS SOBRE O NÍVEL DE DISFUNÇÃO NO SISTEMA CARDIOVASCULAR: ESTUDO DIÁRIO PACIENTES CRÍTICOS DURANTE DUAS SEMANAS
LUCAS ROSA FRAGA;JULIANE BENTES PICANÇO, FERNANDO SUPARREGUI DIAS, FRANCIS JACKSON DE OLIVEIRA PALUDO, CLARICE SAMPAIO ALHO
Introdução: Pacientes críticos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracterizam-se por apresentarem um quadro clínico crítico e complexo, decorrente de fragilidades fisiológicas graves. Um grande número de fatores interfere na evolução do quadro clínico do paciente, dentre eles os herdados geneticamente. Uma enzima importante para a homeostase no sistema cardiovascular (SCV) é a Sintase Endotelial do Óxido Nítrico (eNOS), um importante vasodilatador que age diretamente no endotélio. A eNOS possui um polimorfismo na região 894G>T (Glu298Asp), no qual o alelo 894T é menos funcional. Objetivo: Investigar o efeito da herança da variante polimórfica 894G>T do gene eNOS sobre o SCV. Metodologia: Foram estudados 585 pacientes em estado crítico de saúde por um período de até 15 dias a partir da admissão na UTI. O nível diário de disfunção no SCV dos pacientes foi avaliado pela Pressão Arterial (PAM) e pela necessidade do uso de drogas para mantê-la. A cada dia o paciente era agrupado em uma das cinco categorias crescentes de disfunção dependentes da PAM e do uso de drogas [seguindo o escore SOFA; Vincent et al, 1996]. Os genótipos foram determinados com a técnica de PCR-RFLP. Resultados: Ao longo das duas primeiras semanas de internação da UTI, pacientes portadores do genótipo 894TT apresentaram escores superiores de disfunção no SCV se comparados a indivíduos 894TC+894CC (p=0,027). Uma análise discriminada revelou que a primeira semana de internação na UTI foi a que mostrou ser mais significativa na relação de associação entre a herança e o nível de disfunção no
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 282
SCV (p=0,010). O nível de SCV manteve-se estabilizado, sem sofrer efeito da herança genética, após a primeira semana de tratamento intensivo (p=0,957). Conclusão: Com esses resultados, sugerimos que o polimorfismo 894G>T do gene eNOS influencia a disfunção no SCV, ainda que essa possa ser revertida com tratamento intensivo.
CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM DOENÇA DO XAROPE DO BORDO IDENTIFICADOS EM CENTROS DE REFERÊNCIA EM GENÉTICA NO BRASIL
SILVANI HERBER;CAROLINA MOURA DE SOUZA; SILVANA ZARTH DIAS
A Doença do Xarope do Bordo (DXB) é causada pela deficiência da atividade do complexo enzimático desidrogenase dos a-ceto-ácidos de cadeia ramificada, levando ao acúmulo tecidual dos aminoácidos leucina, valina e isoleucina (AACR), o acúmulo destes aminoácidos é tóxico para o organismo principalmente para o Sistema Nervoso Central, causando graves sequelas. A incidência mundial é de 1:185.000 nascidos vivos. No Brasil não há dados epidemiológicos. O diagnóstico precoce e tratamento eficaz garantem um desenvolvimento normal da criança. O objetivo deste trabalho é caracterizar os pacientes com DXB no Brasil. O estudo é transversal e os dados foram coletados através de contato com profissionais da saúde. Foram identificados inicialmente 64 pacientes com DXB, destes obtivemos dados completos de 41 pacientes. Em 80,5% dos casos a procedência foi da região Sul e Sudeste do país. Em 53,6% dos casos apresentaram sintomas nos primeiros 10 dias de vida. Apenas 9,6% dos casos foram diagnosticados até 15 dias de vida. A fórmula alimentar isenta de AACR, foi disponibilizado logo após o diagnóstico para 16% dos casos e o recebimento foi regular em 60,5%. Em 92,7% dos casos apresentaram ADNPM, 61% convulsões, 53,6% alterações respiratórias e 34% odor característico de DXB. Em 17% dos casos apresentaram recorrência familiar. Em 14,6% dos pacientes evoluíram a óbito antes dos 10 meses. Não encontramos diferença estatisticamente significativa entre: diagnóstico precoce com os pacientes que evoluíram óbitos que evoluíram (p= 0,493). Houve diferença significativa entre diagnóstico precoce com ADNPM (p=0,008). Concluiu-se que os pacientes com diagnóstico precoce e tratamento eficaz podem ter um desenvolvimento normal. Destaca-se a importância de uma equipe multidisciplinar acompanhando periodicamente os pacientes. Os dados obtidos por meio deste trabalho poderão contribuir para a formação de programas de atenção aos pacientes com DXB.
ANÁLISE DO PADRÃO DE METILAÇÃO DO PROMOTOR DO GENE ATXN3 EM PACIENTES COM A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH
VANESSA ERICHSEN EMMEL;ISABEL ALONSO; JORGE SEQUEIROS; LAURA BANNACH JARDIM; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
A doença de Machado-Joseph (DMJ) é uma doença neurodegenerativa causada pela expansão de uma sequência de poliglutamina na proteína ataxina-3. O tamanho da expansão CAG está inversamente correlacionado com a idade de início de aparecimento dos sintomas, embora uma ampla variação seja observada em indivíduos com o mesmo número de repetições CAG. O objetivo deste trabalho foi analisar o padrão de metilação de 6 sítios CpG localizados na região promotora do gene ATXN3, supondo que o nível de expressão da proteína mutante ataxina-3 em células afetadas pode contribuir para essas diferenças na idade de início. Foram estudados 123 pacientes com DMJ, incluindo 52 pares de irmãos, provenientes do ambulatório de neurogenética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e 35 controles. O protocolo laboratorial consistiu na extração de DNA de sangue, amplificação da região de interesse pela reação em cadeia da polimerase utilizando um primer fluorescente, detecção por eletroforese capilar para determinar o tamanho da repetição CAG e MS-MLPA (methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification) para uma análise quantitativa do padrão de metilação. Não houve diferença no padrão de metilação entre os controles e os pacientes DMJ, nem entre os pares de irmãos. No entanto, considerando todos os pacientes, foi encontrada uma correlação direta entre a idade de início e o grau de metilação para um sítio CpG (p=0,007). Estes resultados sugerem que um controle epigenético neste sítio CpG no promotor ATXN3 pode contribuir para a expressão fenotípica da DMJ. Esses resultados deverão ser confirmados com estudos adicionais, inclusive a análise do padrão de metilação em outros tecidos, como o cérebro e cerebelo de pacientes com DMJ. Fontes de Financiamento: FIPE-HCPA, CNPq e CAPES.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 283
PORFIRIA ERITROPOIÉTICA CONGÊNITA: RELATO DE TRÊS CASOS EM UMA MESMA FAMÍLIA
ANDRÉ ONOFRIO DOS SANTOS;KARLA ONOFRIO DOS SANTOS, LETÍCIA TESAINER BRUNETTO, LUCAS DEWES, MIRIAM PERES
Introdução:É uma doença autossômica recessiva rara, de alta morbidade, decorre da deficiência da enzima uroporfirinogênio III co-sintetase, levando a excreção de uroporfirina I na urina e coproporfirina I na urina e fezes. Relato de Caso:Mulher, 47a, apresentava bolhas e fotossensibilidade desde os 4 meses. Procurou atendimento por sangramento, dor abdominal e amputações por necrose de extremidades. Apresentava lesões ulceradas, cicatrizes hipercrômicas e atróficas, esclerose cutânea em áreas fotoexpostas, afilamento nasal, exoftalmia, alopécia cicatricial e ascite. Dois irmãos com quadro semelhante desde os 8 meses: homem, 30a e mulher, 27a. Exames laboratoriais: Paciente 1 - aumento da ferritina, plaquetopenia e alteração de função hepática. Biópsia hepática - cirrose por hemossiderose e endoscopia digestiva alta com varizes esofágicas. Os demais tinham discreta plaquetopenia e aumento da ferritina. Terapêutica: Carvão ativado, transfusões sanguíneas mensais associado à fotoproteção rigorosa. Discussão:Descrita em 1911 por Gunther. Inicia nos primeiros meses de vida com fotossensibilidade e urina róseo-vermelha. Manifesta-se por fragilidade cutânea, eritrodontia, vesículas, bolhas, hipo e hipercromia e alopécia cicatricial. Cicatrizes e perda de tecidos acrais tornam esta a mais mutilante das porfirias. Complicações: anemia hemolítica, esplenomegalia e alterações oculares. Tratamento: fotoprotetores, evitar exposição solar e tratar as infecções recorrentes. Esplenectomia nos casos de anemia hemolítica grave. Carvão ativado reduz circulação entero-hepática de porfirinas e transfusões reduzem os níveis séricos. Transplante alogênico de medula óssea é curativa. Diagnóstico diferencial: outras porfirias, xeroderma pigmentoso, epidermólise bolhosa. Justificativa:Caso raro.
MUTAÇÕES NO GENE DA GLICOCEREBROSIDASE EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
MARINA SIEBERT;MARIANA P. SOCAL; HUGO BOCK; KRISTIANE MICHELIN; CARLOS R. M. RIEDER; LAURA BANNACH JARDIM; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
Mutações no gene da glicocerebrosidase (GBA) vêm sendo descritas como um fator de risco para doença de Parkinson (DP). Nosso grupo identificou anteriormente 2 indivíduos heterozigotos com atividade intermediária de GBA e heterozigotos para as mutações L444P e N370S em uma amostra de 62 pacientes com DP (3,5%). O objetivo deste trabalho foi detectar mutações adicionais em pacientes com DP que apresentaram atividade intermediária da GBA. A atividade da GBA foi estimada em leucócitos de 52 pacientes com suspeita clínica de apresentar a forma mendeliana da DP e as amostras com atividade enzimática igual ou menor que 10 nmol/h/mg de proteína foram selecionadas para o sequenciamento completo da região codificante do gene GBA. Nove dos 52 pacientes que apresentaram atividade da GBA abaixo do limite inferior foram selecionados para o sequenciamento do gene. Através dessa estratégia, identificamos 4 pacientes heterozigotos para uma mutação no gene GBA, sendo elas: o alelo complexo RecNciI (L444P, A456P e V460V) e as mutações E326K, R262C (não descrita anteriormente) e T369M. A avaliação da atividade enzimática da GBA como um pré-requisito para o sequenciamento completo do gene permitiu a identificação de 4 novos heterozigotos dentre os 9 pacientes analisados. Portanto, na nossa experiência, quase 50% dos casos bioquimicamente sugestivos de indivíduos heterozigotos foram confirmados através da identificação de uma mutação no gene GBA, sustentando a importância da realização de uma triagem enzimática em pacientes com DP. Os resultados obtidos são semelhantes aos descritos anteriormente e corroboram a necessidade da avaliação completa do gene da GBA e não apenas das mutações frequentes L444P e N370S (Apoio financeiro: CNPq, FIPE-HCPA e FAPERGS).
VALIDAÇÃO LONGITUDINAL DE BIOMARCADORES MOLECULARES EM TRANSPLANTE RENAL
GABRIEL JOELSONS;ESTHER CRISTINA AQUINO DIAS; ALINE LIMA NOGARE; RENATA BASSO CUPERTINO; LUIS FELIPE SANTOS GONÇALVES; ROBERTO CERATTI MANFRO
INTRODUÇÃO: Devido a inacurácia dos métodos não invasivos atualmente disponíveis, o diagnóstico da rejeição aguda (RA) de transplantes renais somente é feito com segurança pela análise da biópsia renal. A quantificação do mRNA, obtido de forma não invasiva, de determinados
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 284
genes tem sido proposta para tal fim mas não existem estudos longitudinais que permitam a sua validação como biomarcadores. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é o de avaliar a acurácia como biomarcadores dos métodos moleculares não invasivos, especificamente a análise quantitativa do mRNA de genes selecionados. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram coletadas sequencialmente, durante o primeiro mês pós-transplante renal, amostras de sangue de 11 pacientes. As coletas foram feitas nos dias 3, 4-6, 9-11, 14-16, 19-21, 24-26 e 29-31 pós-transplante. A amostra do dia 3 pós-transplante foi utilizada como calibrador e utilizou-se a técnica de quantificação relativa por reação em cadeia da polimerase em tempo real (TaqMan, ABI-PRISM 7000 SDS, Applied Biosystems). O gene de controle endógeno utilizado como normalizador foi o 18s rRNA e os genes estudados foram a Perforina e o TIM-3. Os dados das quantificações são apresentados em medianas e valores mínimos e máximos. RESULTADOS: As medianas das quantificações de TIM3 e Perforina no sangue dos dias 4-6 pós-transplante foram superiores nos pacientes que posteriormente apresentaram episódios de rejeição aguda. Para o mRNA do gene TIM3 os valores foram 262,1 (71,7 - 303,1) x 55,5 (47,6-106,4), P = 0,07, respectivamente para o grupo com RA (5 pacientes) e sem RA (6 pacientes). Os valores observados para o gene Perforina foram 696,4 (165,9 - 25423,2) x 131,9 (39,5 - 190,5), P = 0,02, respectivamente. Nas análises pelas curvas ROC encontramos áreas sob as curvas de 0,933 para o gene TIM3 (P<0,05) e 0,960 para o gene Perforina (P<0,01). Observou-se modulação com redução significativa da expressão gênica em três casos de rejeição para ambos os genes. CONCLUSÕES: Os presentes dados preliminares apontam para a potencial utilidade da análise molecular não-invasiva como biomarcadores acurados da RA. Adicionalmente a expressão gênica precoce, antes da expressão clínica ou histológica, tem elevado potencial de utilidade com vistas a adequação da imunossupressão evitando processos inflamatórios exuberantes sem a necessidade de tratamentos imunossupressores intensos.
SÍNDROME DE COWDEN: IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA E DO EXAME FÍSICO NO DIAGNÓSTICO DA PREDISPOSIÇÃO HEREDITÁRIA AO CÂNCER
PATRÍCIA IZETTI;GUILHERME GEIB, LARISSA SOUZA BUENO, MARIA LUIZA SANCHOTENE, TANIA FERREIRA CESTARI, CAROLINA BERTOLUCCI, BEATRIZ GRAEFF SANTOS SELIGMAN, SERGIO JOBIM DE AZEVEDO, PATRICIA ASHTON-PROLLA
Introdução: A Síndrome de Cowden é uma doença de herança autossômica dominante associada a mutações no gene PTEN (10q22-23), que se caracteriza por lesões cutâneas típicas e predisposição ao câncer. Clinicamente, está associada a pápulas da mucosa oral, triquilemomas faciais, macrocefalia, hamartomas gastrointestinais, fibroadenoma de mama, lesões benignas e malignas da tireóide e tumores de mama e endométrio. O risco cumulativo vital de câncer em portadores de mutação é de até 50%. Relato de caso: Paciente feminina, 56 anos, história pregressa de cistoadenoma seroso de ovário e carcinoma ductal infiltrante da mama esquerda aos 48 anos, carcinoma lobular infiltrante da mama direita, carcinoma epidermóide em membro inferior direito e adenocarcinoma de endométrio aos 51 anos. Encaminhada ao serviço de medicina interna para investigação de nódulos pulmonares e hepáticos sugestivos de metástases. Ao exame, apresentava fáscies típica, bossa frontal, hipoplasia de face média, pápulas em mento e comissura nasolabial, pápulas ceratósicas no dorso das mãos e dos pés e pápulas acastanhadas em axila esquerda. O perímetro cefálico de 60 cm configurava macrocefalia. Paciente foi então encaminhada ao Serviço de Genética para confirmação do fenótipo e submetida ao teste genético, sendo identificada uma mutação germinativa no gene PTEN. A investigação segue com demais familiares. Conclusão: O diagnóstico preciso da Síndrome de Cowden é decisivo para a prevenção e diagnóstico precoce de tumores em estádios iniciais e passíveis de tratamento curativo. A partir do caso relatado, constata-se a importância de uma anamnese e exame físico adequados e o benefício da interação multidisciplinar entre as diversas especialidades e a genética clínica.
O POLIMORFISMO -1639A>G NO GENE DO VKORC1 E O DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE VENOSA
ROBERTA PETRY GORZIZA;MARIANA RODRIGUES BOTTON, ELIANE BANDINELLI
A trombose venosa (TV) é uma doença multifatorial, decorrente de fatores genéticos e adquiridos. Alterações da hemostasia, que provocam hipercoagulação, são fatores de risco para TV. A subunidade 1 do complexo da vitamina K epóxido redutase (VKORC1) tem um importante papel na
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 285
regulação da hemostasia. O VKORC1 é responsável pela conversão da vitamina K epóxido à vitamina K reduzida, sua forma ativa. A vitamina K ativa atua como cofator para a gama-glutamil-carboxilase, enzima que realiza a carboxilação de fatores de coagulação (fatores II, VII, IX e X) e dos inibidores fisiológicos da coagulação (proteínas C e S). Polimorfismos no gene do VKORC1 têm sido associados à TV. Localizado no promotor do gene do VKORC1, o polimorfismo -1639A>G diminui sua transcrição, reduzindo a produção de vitamina K ativa e, conseqüentemente, a carboxilação dos fatores de coagulação. O objetivo deste trabalho é verificar se o polimorfismo -1639A>G está associado à TV. Foram estudados 213 pacientes com TV, pareados por sexo e idade com um grupo controle. O polimorfismo foi identificado pela técnica de PCR/RFLP, utilizando-se a enzima de restrição MspI. A distribuição genotípica está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, em ambos os grupos. As freqüências alélicas obtidas foram: alelo G= 0,6 e alelo A= 0,4 no grupo de pacientes e alelo G= 0,59 e alelo A= 0,41 no grupo controle. A diferença entre essas freqüências não foi estatisticamente significativa. Assim, esses dados sugerem que não há associação entre o polimorfismo -1639A>G e a TV. Os resultados corroboram com dados de estudos anteriores, que não relatam associação desse polimorfismo com TV. Porém, um trabalho encontrou associação com o polimorfismo 1173C>T, o qual encontra-se em forte desequilíbrio de ligação com a variante -1639A>G.
RESULTADOS PRELIMINARES DA ANÁLISE MOLECULAR NO GENE IDS DE PACIENTE COM SÍNDROME DE HUNTER COM SUSPEITA DE APRESENTAR UM REARRANJO COMPLEXO
LUIZA ABRAHÃO;BRUSIUS-FACCHIN AC; SILVA CZ; SCHWATRZ IV; GIUGLIANI R; LEISTNER-SEGAL L
A mucopolissacaridose do tipo II (MPS II ou síndrome de Hunter) é uma doença lisossômica de depósito (DLD) de herança recessiva ligada ao X, causada pela deficiência da L-iduronato-2-sulfato sulfatase (iduronato-sulfatase ou IDS). A IDS é uma das enzimas responsáveis pela degradação dos glicosaminoglicanos heparan (HS) e dermatan sulfato (DS). O gene que codifica a IDS foi mapeado no cromossomo Xq28.1, é composto por 9 éxons e 8 introns e tem um tamanho aproximado de 24 kb. Um pseudogene altamente homólogo aos exons II e III e aos íntrons 2,3 e 7 do gene IDS, localiza-se 20kb do gene ativo e está sabidamente envolvido em um processo de mutação aonde ocorre uma inversão comum entre estas seqüências homólogas. Até o momento o DNA de 86 pacientes foi analisado no Serviço de Genética Médica/HCPA para a identificação da mutação causadora da doença, através da amplificação por PCR de toda região codificadora e junções exon/íntron seguido de SSCP (polimorfismo de conformação de fita simples). O paciente apresentado aqui possui um padrão de bandas alterados quando da análise dos amplicons dos exons 4 a 9. Não houve amplificação da região analisada para detecção da inversão comum entre gene e pseudogene, nem da região que engloba os exons 2 e 3, incluindo o pseudogene. Esta alteração sugere uma inserção ou um rearranjo complexo e deverá ser analisada através do estudo de DNA complementar. De acordo com a literatura esses rearranjos ocorrem em cerca de 20% dos pacientes com Síndrome de Hunter.
POLIPOSE ASSOCIADA À MUTYH (PAM)
CARLOS EDUARDO FERREIRA PITROSKI;PATRICIA KOEHLER-SANTOS, HECTOR YURI CONTI WANDERLEI, MÁRCIA SILVEIRA GRAUDENZ, JOÃO CARLOS PROLLA, PATRÍCIA ASHTON-PROLLA
No ano de 2002 uma nova síndrome autossômica recessiva de oligopolipose colônica foi descrita na literatura, envolvendo o gene homólogo de MutY (MYH ou MUTYH), e que foi chamada de polipose associada a MUTYH (PAM). Clinicamente, os pacientes com PAM apresentam características similares à de indivíduos com polipose adenomatosa familiar atenuada (PAFA), com um número de pólipos que varia entre 15 e 100, de histologia idêntica à polipose clássica associada à APC. O fenótipo da PAM pode se sobrepor totalmente à polipose clássica, dificultando o diagnóstico diferencial. Análise molecular do gene demonstra que duas mutações, Y179C e G396D são freqüentes em pacientes com PAM na Europa Ocidental e América do Norte. Mutações bialélicas herdadas de MUTYH são encontradas em 1% de todos os pacientes com câncer colorretal (CCR) e mais de um terço desses casos, pode desenvolver CCR na ausência de múltiplos adenomas. É apresentada uma revisão da literatura que envolve a totalidade dos artigos publicados que estejam relacionados à síndrome, com sua descrição clínica e indicadores fenotípicos de reconhecimento,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 286
assim como diferentes testes disponíveis para diagnóstico laboratorial. Para melhor ilustração do fenótipo é relatada uma família típica de PAM atendida no HCPA, em que se encontra oligopolipose colônica e CCR em vários indivíduos de mais de uma irmandade da família, com consangüinidade associada. A correta identificação de um indivíduo com suspeita de CCR hereditário e o diagnóstico diferencial entre as diferentes síndromes associadas a este tumor é fundamental para fins de aconselhamento genético e correto manejo do indivíduo, bem como identificação e prevenção do risco de câncer em outros familiares.
POLIMORFISMO VAL66MET NO GENE BDNF: FREQUÊNCIAS NOS PACIENTES COM DOENÇA DE HUNTINGOTN E EM CONTROLES NORMAIS
TAILISE CONTE GHENO ;MARIANA FITARELLI KIEHL; LAURA BANNACH JARDIM; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
A doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa de herança autossômica dominante, causada por uma expansão instável de repetições CAG no gene IT15. A DH, em geral, se manifesta na vida adulta e sua idade de início está relacionada com o tamanho da expansão trinucleotídica, porém outros fatores parecem influenciar as primeiras manifestações dos sintomas. Entre eles, o fator neurotrófico derivado de cérebro (BDNF), que é fundamental no desenvolvimento e na manutenção de neurônios adultos. O objetivo deste trabalho foi determinar a frequência do polimorfismo Val66Met no gene do bdnf em pacientes com DH e em controles normais. As análises foram realizadas em 53 pacientes e 100 controles normais. A determinação do número de repetições CAG no gene IT15 foi realizada através de PCR com primers fluorescentes, seguido de eletroforese capilar no equipamento ABI3130xl. A genotipagem do polimorfismo Val66Met do bdnf (rs6265) foi realizada por meio do ensaio TaqMan
®. As distribuições alélicas foram as seguintes: 88 Val e 22 Met no grupo de pacientes
e 173 Val e 27 Met nos controles. As freqüências dos alelos Val e Met foram 0,79 e 0,21 nos pacientes, e 0,86 e 0,14 nos controles, respectivamente. As freqüências genotípicas para Val66Val, Val66Met e Met66Met foram 0,66, 0,26 e 0,08 nos pacientes com DH, e 0,74, 0,25 e 0,01 nos controles. Não houve diferença estatisticamente significante nos genótipos do bdnf entre pacientes e controles. Os resultados indicam que este polimorfismo não é um modificador genético na nossa amostra de pacientes com DH. Porém, estudos adicionais são necessários para a investigação de efeitos de outros polimorfismos no gene do bdnf e estudos funcionais da proteína BDNF no fenótipo da DH (Apoio Financeiro: FIPE-HCPA e CNPq).
SÍNDROMES HEREDITÁRIAS DE PREDISPOSIÇÃO AO CÂNCER DE MAMA E CÓLON: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DE FAMÍLIAS EM RISCO
JAMILE ABUD;SILVIA LILIANA COSSIO;CRISTINA ROSSI; FERNANDO REGLA VARGAS; MIGUEL ÂNGELO MOREIRA;MARIA ISABEL W. ACHATZ; PATRÍCIA IZETTI LISBOA;PATRÍCIA KOEHLER SANTOS;PATRÍCIA ASHTON-PROLLA;JOÃO CARLOS PROLLA
Introdução: Famílias com história positiva para câncer de mama (CM) e colorretal (CCR) podem estar em risco para a síndrome de Câncer de Mama e Cólon Hereditários (HBCC) ou outras síndromes de predisposição ao câncer. O diagnóstico clínico destas síndromes e estimativa da probabilidade de mutações nos principais genes envolvidos facilita decisões acerca da indicação de teste genético, manejo mais adequado e instrumenta o aconselhamento genético. Além de HBCC, as Síndromes de Predisposição Hereditária ao CM e Ovário (HBOC), Li-Fraumeni e variantes (LFL), Lynch (Lynch) podem se associar a estes tumores. Objetivos: (1) Caracterizar as famílias HBCC quanto à presença de critérios clínicos para outras síndromes hereditárias (HBOC, LFL, SL). (2) Estimar a chance a probabilidade do caso-índice ser portador de uma mutação germinativa em MLH1 e MSH2 e/ou BRCA1/2. Metodologia: Foram incluidas 59 famílias com a síndrome HBCC e todas foram caracterizadas mediante análise do heredograma por 2 ou mais avaliadores. A probabilidade de mutação nos genes BRCA1/2 e MLH1/ MSH2 foi estimada pelas tabelas de prevalência de mutação, e modelos de PENN II e PREMM I/II. Resultados e conclusões: A maioria (88,3%) das famílias preenchia critérios clínicos para outras síndromes de câncer hereditário além de HBCC. Para os genes MLH1 e MSH2 associados à síndrome de Lynch, a probabilidade média de mutações foi de 7,3%. Para os genes BRCA1 e BRCA2, relacionados à síndrome HBOC a probabilidade média estimada de mutação foi 15%. Estes achados demonstram a sobreposição de fenótipos clínicos e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 287
indicam que a investigação molecular de outros genes além de CHEK2 deve ser considerada nas famílias com múltiplos casos de CM e CCR.
PERFIL TRANSCRICIONAL DE SUBUNIDADES DOS RECEPTORES GLUTAMATÉRGICOS TIPO N-METIL-D-ASPARTATO (NMDA) EM RATOS
HUGO BOCK;HEMILLIANO DE LEMOS, JÚLIA DUBOIS MOREIRA, LUIZ VALMOR CRUZ PORTELA, DIOGO ONOFRE GOMES DE SOUZA, MARIA LUIZA SARAIVA PEREIRA
O receptor NMDA funcional é um complexo heteromultimérico composto por uma combinação variável de subunidades codificadas por uma família de genes (Grin1, Grin2A, Grin2B, Grin2C, Grin2D, Grin3A e Grin3B), sendo que Grin1 está sempre presente. A diversidade de funções dos receptores NMDA pode ser parcialmente explicada pela composição das subunidades do receptor funcional. O objetivo do trabalho foi determinar o perfil transcricional das subunidades do receptor NMDA nos diferentes períodos de desenvolvimento em estruturas cerebrais de ratos (córtex, cerebelo, hipocampo e estriato). O RNA de cada estrutura cerebral de ratos Wistar machos, com idades de 2, 5, 10, 15, 30, 60 e 100 dias (n=10 por grupo) foi extraído e o cDNA foi sintetizado por RT-PCR. O perfil transcricional foi avaliado por qPCR através do sistema TaqMan
® por quantificação
relativa (método ∆∆Ct) utilizando o gene GAPDH como controle endógeno e o grupo de 2 dias da estrutura com a menor expressão como calibrador. O mRNA da subunidade Grin1 tem maior expressão no estriato e menor no cerebelo. Grin2A aumentou com o aumento idade dos animais nas quatro estruturas estudadas. A expressão de Grin2B foi maior em ratos jovens. A transcrição de Grin2C aumentou até a idade de 15 dias no córtex e no hipocampo e a maior variação foi observada no cerebelo. Grin2D diminui sua expressão com o avanço da idade em todas as estruturas. Grin3A apresentou um aumento leve e gradual nas quatro estruturas até o 10º dia, diminuindo depois disso. A quantidade produzida do transcrito de Grin3B foi bem menor que os outros genes. Os dados obtidos por esse estudo são essenciais para o estabelecimento do perfil transcricional desses genes, possibilitando a avaliação da transcrição desses receptores em condições patológicas. Apoio financeiro: FIPE-HCPA, CNPq e CAPES.
RELATO DE CASO: DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE DEFEITO NO SISTEMA DE REPARO MMR E MUTAÇÃO GERMINATIVA EM BRCA2 EM UMA FAMÍLIA COM MÚLTIPLOS TUMORES
INGRID PETRONI EWALD;PATRÍCIA IZETTI; PATRICIA KOEHLER-SANTOS; SILVIA LILIANA COSSIO; PATRÍCIA ASHTON-PROLLA
Introdução: Em famílias de origem Ashkenazi com múltiplos casos de câncer de mama e ovário (síndrome HBOC), mais de 90% das mutações descritas são as mutações germinativas fundadoras 185delAG; 5382insC (BRCA1) e 6174delT (BRCA2). Mutações fundadoras nos genes associados à síndrome de Lynch (SL), especialmente hMLH1, também foram descritas nestas famílias. Objetivos: Descrever, quanto ao genótipo e fenótipo, uma família com múltiplos tumores associados tanto à síndrome HBOC quanto à SL. Metodologia: Análise de heredograma e alto índice de suspeição devido à origem Ashkenazi da família levaram à investigação de mais de um diagnóstico etiológico. Genotipagem para mutações fundadoras em genes BRCA foi realizada por PCR e seqüenciamento das regiões de interesse a partir de DNA genômico de sangue periférico. Rastreamento para SL foi realizado em um paciente com câncer colorretal (CCR) por instabilidade de microssatélites, imunohistoquímica e estudo de metilação do promotor de genes MMR. Resultados: Foi identificada a mutação 6174delT no gene BRCA2 assim como perda da expressão de hMSH6 em diferentes familiares estudados, demonstrando que em uma mesma família segregam duas síndromes distintas de predisposição hereditária ao câncer. Conclusões.: A ocorrência de mais de um fenótipo de predisposição ao câncer em uma mesma família não é incomum. Esta ocorrência pode ser exacerbada quando há fatores populacionais associados a maior freqüência de mutações específicas, como é o caso das mutações fundadoras em indivíduos de origem Ashkenazi. Esse caso ilustra a necessidade de investigação de múltiplas possibilidades diagnósticas para fornecer aconselhamento genético eficaz em determinadas famílias de alto risco para câncer hereditário.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 288
GLICOSAMINOGLICANOS URINÁRIOS, ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E ANORMALIDADES CARDÍACAS NO MODELO MURINO DE MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO I DOIS MESES APÓS O NASCIMENTO
GUILHERME BALDO;ANGELA TAVARES, FABIANA QUOOS MAYER, FABÍOLA MEYER,LUISE MEURER, AGNES GOSSENHEIMER, MAIRA BURIN, ROBERTO GIUGLIANI, URSULA MATTE
Introdução: A mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença causada pela deficiência da enzima alfa-L-iduronidase (IDUA), levando ao acúmulo dos glicosaminoglicanos (GAGs) dermatan e heparan sulfato nos lisossomos e sua excreção aumentada na urina. Também ocorre uma série de alterações sistêmicas, incluindo complicações cardíacas, retardo mental, problemas articulares e ósseos. A caracterização do modelo animal knock out para o gene IDUA pode permitir uma melhor compreensão dos mecanismos dessa doença. Objetivo: Avaliar os níveis de GAGs urinários, as alterações cardíacas e comportamentais em camundongos MPS I com 2 meses de idade. Métodos: Camundongos MPS I (n= 6) e controles normais (WT, n=10) com 2 meses de idade foram submetidos teste da cruz elevada para avaliação de ansiedade e ao teste Hang Wire para avaliação da mobilidade articular. Parâmetros cardíacos como fração de ejeção (FE), mudança de área fracional (MAF) e fração de encurtamento (FEN) foram avaliadas por ecocardiografia. O nível de GAGs urinários foi medido espectrofotometricamente pelo teste do azul de dimetil. Resultados: Os níveis de GAGs urinários (umol GAG/mg creatinina) se mostraram estatisticamente superiores nos camundongos MPS I (536± 41 vs 239±24, p<0,01). A FE nos camundongos MPS I se apresentou diminuída (MPS 44,5± 2,1% vs WT 72,7 ±5,4% p<0,05), assim como a MAF (MPS 0,35±0,07 vs WT 0,65± 0,03, p<0,05). Os testes comportamentais não mostraram diferenças nesta idade. Conclusão: Os resultados indicam um aparecimento precoce das alterações cardíacas nestes animais. A progressão da doença será avaliada em animais mais velhos para permitir uma melhor caracterização do modelo.Apoio: CNPq, FIPE-HCPA.
EFEITOS DO IMPLANTE INTRAPERITONEAL DE CÉLULAS ENCAPSULADAS SUPEREXPRESSANDO ALFA-L-IDURONIDASE NO MODELO MURINO DE MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO I
GUILHERME BALDO;FABIANA QUOOS MAYER, ANGELA TAVARES, FABÍOLA MEYER, MAIRA BURIN,LUISE MEURER, ROBERTO GIUGLIANI, URSULA MATTE
Introdução: A mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença causada pela deficiência de alfa-L-iduronidase (IDUA), levando ao acúmulo de glicosaminoglicanos (GAGs) nos lisossomos e sua excreção aumentada na urina, além de alterações sistêmicas, incluindo complicações cardíacas e retardo mental. Os tratamentos para a MPS I possuem limitações, o que justifica a busca por novas alternativas. Objetivo: Avaliar os efeitos do implante intraperitoneal de células encapsuladas superexpressando IDUA sobre parâmetros cardíacos, histológicos e sobre os níveis de GAGs urinários no modelo murino da MPS I. Métodos: Os animais foram divididos em três grupos: Camundongos knock out para o gene IDUA (MPS, n=4) sem tratamento, camundongos normais (WT, n=3) e camundongos MPS I tratados com 1 x 10
5cels/grama de peso (TTO, n=5). As células
recombinantes foram obtidas por seleção clonal, encapsuladas em microesferas semi-permeaveis de alginato de cálcio e implantadas no abdomen de animais com 30 dias de idade. GAGs urinários foram medidos semanalmente a partir dos 30 dias. A avaliação ecocardiográfica foi realizada 60 dias após o nascimento em todos os animais. Parâmetros como fração de ejeção (FE), mudança de área fracional (MAF) e fração de encurtamento (FEN) foram avaliados. Cortes histológicos do fígado e pulmão foram analisados por H-E. Resultados: O grupo TTO demonstrou uma melhora significativa na FE e MAF comparando ao grupo MPS. GAGs urinários no grupo TTO tiveram uma redução gradual com o passar das semanas, atingindo níveis próximos ao WT após 3 semanas de tratamento. Não foram observadas alterações histológicas no grupo TTO. Conclusão: Os resultados sugerem que o tratamento foi capaz de melhorar os aspectos observados. Um estudo em longo prazo será realizado para confirmar estes dados.
EXISTE ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO VAL66MET DO GENE BDNF E A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH?
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 289
MARIANA FITARELLI KIEHL;VANESSA ERICHSEN EMMEL; HUGO BOCK; LAURA BANNACH JARDIM; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
A doença de Machado-Joseph (DMJ) é uma enfermidade neurodegenerativa com herança autossômica dominante, causada por uma expansão de repetições CAG no gene ATXN3, porém existem fatores moduladores da doença. O fator neurotrófico derivado de cérebro (BDNF) participa no desenvolvimento e manutenção de neurônios, e um polimorfismo na seqüência do proBDNF (Val66Met) interfere na neurodegeneração. O objetivo deste trabalho foi avaliar se o polimorfismo Val66Met no gene BDNF influencia na idade de início dos pacientes com DMJ. Foram avaliados 100 indivíduos normais e 100 pacientes com DMJ, os quais foram diagnosticados através da determinação do número de repetições CAG por PCR seguido de eletroforese capilar no equipamento ABI 3130xl. O polimorfismo Val66Met do BDNF foi identificado através do ensaio TaqMan (rs6265). No grupo controle foram identificados 74 homozigotos para o alelo Val, 25 heterozigotos e 1 homozigoto para o alelo Met. O grupo de pacientes foi composto por 71 homozigotos Val, 26 heterozigotos e 3 homozigotos Met. A distribuição genotípica dos dois grupos foi comparada e não foi encontrada diferença estatisticamente significante (p igual a 0,5823). Análise de regressão múltipla foi realizada para testar o efeito dos genótipos Val66Met na idade de início da DMJ, corrigindo pelo efeito do tamanho da expansão CAG. O resultado obtido foi que 72,4 por cento da variação na idade de início seria devido ao efeito do genótipo do gene BDNF e do número de repetições CAG juntos (p menor que 0,001). Porém, o efeito isolado do genótipo BDNF não foi estatisticamente significante (p igual a 0,277). Os resultados sugerem que não há associação entre o polimorfismo Val66Met e a idade de início da DMJ (Apoio: FIPE-HCPA e CNPq).
INCIDÊNCIA DAS MUTAÇÕES COMUNS NO GENE DA PAH EM PACIENTES COM FENILCETONÚRIA DO SUL DO BRASIL
JULIANA CASAGRANDE CEOLATO;TAMARA DA SILVA VACCARO, GABRIEL VASATA FURTADO, GABRIELA FERRAZ RODRIGUES, MARIANA FITARELLI-KIEHL, ROBERTO GIUGLIANI, MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
A fenilcetonúria (PKU) é uma doença autossômica recessiva causada pela deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH). Esta deficiência pode ser devido a um grande número de mutações no gene da PAH. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação de um painel para a identificação específica das mutações IVS2, p.I65T, p.R261X, p.R261Q, p.V388M, p.R408W e IVS12 em pacientes com PKU. Nesse estudo, foram incluídos 31 pacientes não relacionados e amostras de DNA foram isoladas de sangue. As mutações IVS2, p.I65T, p.R261X, p.R261Q, p.R408W e IVS12 maioria das mutações foram analisadas pelo sistema TaqMan
® no equipamento ABI 7500 PCR System, o qual foi
desenvolvido pelo nosso grupo. A mutação p.V388M foi identificada através de PCR e análise por RFLP. O protocolo descrito permitiu a identificação de 50% dos alelos mutantes. A mutação mais frequentemente encontrada foi a p.V388M, que totalizou 11,74% dos alelos, seguida pela mutação p.R408W, que foi identificada em 6 alelos, totalizando 9,68%. A análise direta dessas mutações permitiu a identificação do genótipo de 4 do total dos 31 pacientes. Além disso, identificamos um alelo mutante em outros 14 pacientes. Atualmente, estamos estendendo a análise molecular desses pacientes através do sequenciamento completo de toda a região codificante da PAH com o objetivo de definir o genótipo completo nos mesmos. Este estudo será base para trabalhos futuros sobre efeito destas alterações na estrutura protéica da PAH causada por estas mutações, assim como por outras alterações moleculares no gene PAH. (Apoio Financeiro: FIPE-HCPA, CNPq e CAPES).
HOMOCISTINÚRIA CLÁSSICA: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA E SUA RELAÇÃO COM A ADESÃO AO TRATAMENTO
SORAIA POLONI;ROBERTA HACK MENDES, CRISTINA BRINCKMANN OLIVEIRA NETTO, CAROLINA FISCHINGER MOURA DE SOUZA, IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Introdução: A homocistinúria clássica (HC) é um erro inato do metabolismo causado pela deficiência de cistationina β-sintase. Trata-se de uma doença crônica, cujo tratamento é polimedicamentoso e dietético. O seguimento deste é essencial para prevenir/evitar a progressão das complicações, e acredita-se que o conhecimento sobre a doença possa ser um fator determinante para a adesão ao tratamento. Objetivo: verificar a compreensão dos pacientes e familiares sobre a doença através de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 290
questionário construído pelos autores, intitulado “Avaliação de Conhecimentos sobre Homocistinúria”, e comparar o nível de conhecimento com a adesão ao tratamento. Métodos: 7 pacientes com HC, provenientes de 5 famílias acompanhadas pelo Serviço de Genética Médica do HCPA, foram avaliados. Os pacientes com HC sem envolvimento cognitivo (n=3) e familiares presentes na consulta (n=5) responderam o questionário. Pelo somatório das respostas corretas, estabeleceu-se um escore de conhecimento, e este foi comparado à adesão ao tratamento, avaliada por meio do comparecimento regular às consultas e uso correto das medicações e dieta. Resultados e conclusões: Em relação ao escore de conhecimento, 5 indivíduos obtiveram a classificação “bom”, 2 “ruim”, 1 “regular” e 0/8 “ótimo”. As questões com maior número de acertos foram aquelas relativas ao tratamento e às complicações. Entretanto, observou-se conhecimento deficiente sobre os aspectos genéticos da doença: dois indivíduos relataram não saber se a HC se tratava de uma doença genética, apenas um soube responder o risco de recorrência e nenhum respondeu que se tratava de defeito enzimático. Não foi observada relação entre adesão ao tratamento e conhecimento sobre a doença, mas o estudo teve como limitação o pequeno número de indivíduos avaliados.
ESTUDO DOS POSSÍVEIS MECANISMOS DE ATUAÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE MEDULA ÓSSEA NA LESÃO HEPÁTICA AGUDA
FABIANA QUOOS MAYER;CAROLINA URIBE CRUZ; FILIPPO VAIRO; BARBARA MARTINELLI; LUISE MEURER; ROBERTO GIUGLIANI; GUILHERME BALDO; URSULA MATTE
Introdução: A alternativa terapêutica mais eficiente para a falência hepática aguda (FHA) é o transplante de fígado, cuja principal limitação encontra-se na disponibilidade de doadores. O transplante de células mononucleares de medula óssea (CMO) se mostrou eficiente em aumentar a sobrevida em modelo animal de FHA por CCl4. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os possíveis mecanismos pelos quais as CMO exercem este potencial terapêutico. Materiais e Métodos: CMO de ratos Wistar foram isoladas, encapsuladas em alginato de cálcio 1,5% (p/v) e implantadas no peritônio de 13 ratas (1 x 10
6 cel/animal) 24 h após a lesão induzida por CCl4 (1,25
mL/kg). Como controle foram utilizados 16 ratas que receberam CCl4 e cápsulas vazias. Os animais foram eutanasiados 72 h após a lesão, tendo as microcápsulas e o fígado retirados. Para análise da expressão de marcadores hepáticos, foi extraído RNAm das células do interior das microcápsulas e feito RT-PCR, além de imunocitoquímica para Albumina, citoqueratina 18 (CK18) e alfafetoproteína (AFP). A análise histológica do fígado foi realizada a fim de avaliar o efeito das CMO encapsuladas sobre a recuperação do órgão. Resultados: A sobrevida em ambos os grupos foi 100%, enquanto no modelo animal sem tratamento a sobrevida é de 70%. O aspecto histológico do fígado não mostrou diferença em relação ao grupo controle. As CMO encapsuladas mostraram positividade para a expressão dos genes albumina e CK18 e se mostraram negativas para AFP. Estes dados foram confirmados pela positividade apresentada na imunocitoquímica para CK18. Conclusão: Este estudo permitiu comprovar que as CMO em contato com fatores liberados pelo fígado lesionado têm capacidade de se diferenciar em células hepatocyte-like.
IMPLEMENTAÇÃO DE TESTE IMUNOHISTOQUÍMICO PARA RASTREAMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE SÍNDROME DE LYNCH NA ROTINA ASSISTENCIAL DO HCPA
PATRÍCIA KOEHLER-SANTOS;LUISE MEURER; ROSANE PAIXÃO SCHLATTER; FLAVO BENO FERNANDES; PATRICIA ASHTON-PROLLA
Introdução: Estudo iniciado em 2005 teve como objetivo estabelecer um protocolo de rastreamento molecular para o diagnóstico diferencial de tumores colorretais hereditários e esporádicos através das técnicas histo-moleculares de instabilidade de microssatélites (IMS), imunohistoquímica (IHQ) e metilação da região promotora de genes do sistema MMR. O câncer colorretal (CCR) está entre as 5 neoplasias mais prevalentes no Brasil, e o RS apresenta a maior incidência do país. O risco de desenvolver CCR ao longo da vida é 5% para a população em geral, mas 2-3 vezes maior em indivíduos com familiar de 1º grau afetado por CCR. A avaliação da história familiar é crucial para a identificação precoce de indivíduos em risco, e todo diagnóstico antes dos 50 anos de idade, e/ou com características da Síndrome de Lynch (SL, critérios de Bethesda), deve alertar para a realização de exames de rastreamento. Metodologia: Foi estabelecido protocolo de análise de CCR para rastreamento da SL por IHQ com painel de quatro anticorpos. O protocolo foi validado e analisado quanto ao custo e viabilidade de implementação no SUS. Resultados: O custo do painel de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 291
anticorpos é compatível com transposição desta tecnologia da pesquisa para a assistência. A sua implementação na rotina assistencial oferecida a pacientes do SUS está prevista para o semestre 2009/II. O uso de painel de quatro anticorpos permite rastreamento para alterações de expressão nos principais genes associados à SL. Conclusão: A implementação de um painel de IHQ como ferramenta de rastreamento auxiliará no diagnóstico diferencial de pacientes com CCR e quadro sugestivo de SL. Atualmente, nenhuma instituição pública brasileira oferece este tipo de rastreamento para câncer colorretal hereditário assistencialmente ao nível do SUS.
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GENE ABCD1 EM FAMÍLIAS COM ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA AO X
FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA;ROBERTO GIUGLIANI;DEBORAH BLANK;URSULA DA SILVEIRA MATTE; LAURA BANNACH JARDIM
A adrenoleucodistrofia ligada ao X (X-ALD) é uma doença genética do metabolismo dos peroxissomos, na qual a degradação dos ácidos graxos saturados muito longos (VLCFA) encontra-se impedida ou limitada. A X-ALD afeta principalmente a córtex adrenal, a mielina do sistema nervoso central e os axônios centrais e periféricos. O gene da X-ALD (ABCD1), contém 10 exons e ocupa 20 kb do DNA genômico no braço longo do cromossomo X (Xq28). Mais de 200 mutações foram identificadas e a maioria delas (58%) é “privada”. O objetivo deste estudo é caracterizar, do ponto de vista molecular, o gene ABCD1 em famílias com X-ALD atendidas no HCPA. Para identificação da mutação no caso-índice de cada família, foi realizada amplificação dos 10 éxons do gene ABCD1 pela técnica da PCR e posterior triagem de mutações por SSCP. Até o momento, foram encontradas 17 mutações em 33 famílias. A mutação p.Arg518Gln (descrita por Koike et al., 1995) ocorre em 2 famílias não relacionadas. As demais mutações encontradas foram p.Pro623Lys, p.Glu577X, p.Glu477fs, p.Arg538_Met539ins27, p.Leu628Glu, p.Trp137_Lys138insC, p.Ala232_Arg236del e p.Ile481Phe (não descritas na literatura) e p.Tyr296Cys (descrita por Takano et al., 1999), p.Thr632Pro (descrita no site www.x-ald.nl), p.Trp601X (descrita por Gartner et al.,1998), p.Trp326X (descrita por Barcelo et al., 1996), p.Ser358X (descrita por Coll et al., 2005) e p.Arg554His (descrita por Korenke et al., 1997). As mutações novas serão analisadas por estudos de expressão para verificação do seu caráter patogênico. Apoio: FIPE-HCPA, CNPq, CAPES.
ENVOLVIMENTO CARDÍACO E DOENÇA DE GAUCHER: ACHADOS EM PACIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL
ALÍCIA DORNELES DORNELLES;TACIANE ALEGRA, ANA PAULA ZANARDO, MERCEDES VILLANUEVA, FABIANE LOPES DE OLIVEIRA, CRISTINA B. NETTO, PAULO D. PICON, IDA V. D. SCHWARTZ
Para caracterizar o envolvimento cardíaco na Doença de Gaucher (DG), foram avaliados pacientes do Centro de Referência do RS (CRDG-RS). MÉTODOS: Em um estudo transversal e retrospectivo, foram coletados dados relativos às características clínicas, ECG, RX de tórax (RXT) e ecocardiograma de 22/28 pacientes (Tipo I=19, Tipo III=3, homens=12; média idade=19,1 anos). No momento da análise, 17 faziam reposição enzimática (dose média=31,8U/kg/infusão), 4 não recebiam tratamento específico, 1 usava miglustate. RESULTADOS: A mediana do Escore de Gravidade foi 4 (1-28). Dezoito pacientes sem sintomas cardiovasculares ou respiratórios, os demais relataram: dispneia e hipoventilação generalizada (n=1/22), palpitação (n=1/22), apneia do sono (n=1/22) e ortopneia leve (n=1/22). Sopros foram descritos em 4/22 e HAS em 2/22 pacientes. Os RXT foram normais, exceto por infiltrado pulmonar visto em 2 pacientes DG III. O ECG mostrou taqui (n=1/15) ou bradicardia sinusal (n=1/15), repolarização ventricular precoce (n=2/15), alterações inespecíficas (n=1/15) e extrassístoles (n=1/22). Ecocardiograma normal em 20/22 pacientes (3 DG III e 17 DG I) e apenas 2 pacientes (ambos DG I, >50anos, HAS leve) apresentaram alterações: leve aortoesclerose, déficit de relaxamento e FE normal. Insuficiência fisiológica (IF) mitral (IFM) vista em 9/22 pacientes, IF tricúspide (IFT) em 12/22, ambas em 7/22 e IFT, IFM e IF da válvula pulmonar em 1/22. CONCLUSÕES: A prevalência de alterações ecocardiográficas foi similar à população geral. Nossos achados foram inespecíficos e, apesar de não serem diagnosticados casos de Hipertensão Pulmonar, acreditamos que o ecocardiograma seja um método útil para rastrear tal condição em pacientes com DG.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 292
EXPRESSÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MUTAÇÕES ENCONTRADAS EM PACIENTES DE GANGLIOSIDOSE GM1 E MORQUIO B
FERNANDA SPERB;FABIANA QUOOS MAYER; ROBERTO GIUGLIANI; URSULA DA SILVEIRA MATTE
A deficiência hereditária da enzima lisossômica β-galactosidase causa duas doenças humanas clinicamente distintas, a Gangliosidose GM1 e a Mucopolissacaridose IV B, também conhecida como Mórquio B. Clinicamente, pacientes com Gangliosidose GM1 mostram graus variados de neurodegeneração e anormalidades esqueléticas, enquanto que os com Mórquio B apresentam displasia esquelética e opacidade de córnea, sem envolvimento do sistema nervoso central. Os dados até hoje analisados não fornecem qualquer prova que explique as diferenças clínicas e bioquímicas de Gangliosidose GM-1 e Mórquio B. Pacientes com fenótipo intermediário foram descritos em um único trabalho, em decorrência da mutação Y333C. Na tentativa de elucidar estas diferenças, estamos analisando a expressão desta mutação e da mutação mais comumente encontrada em pacientes brasileiros com Gangliosidose GM1 (1622-1627 insG). Para tanto, foi realizada a construção do plasmídeo pRep9::β-gal contendo o gene completo da β-galactosidase humana, sob controle de um promotor eucariótico, o qual foi utilizado como molde para geração de mutagêneses sítio-dirigidas. Os mutantes foram seqüenciados e, confirmadas as suas identidades, foram introduzidos por eletroporação em linhagem de células BHK. Clones transformantes estão sendo selecionados e, concluída esta etapa, as proteínas recombinantes geradas serão avaliadas por SDS-PAGE e Western blot. Também serão avaliadas a atividade enzimática, a sublocalização celular e a capacidade de interação entre a proteína mutante e proteínas importantes para atividade da enzima. Através destes experimentos pretendemos traçar um panorama geral das causas que levam um mesmo gene a gerar doenças fenotipicamente tão distintas.
ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO G-308A NO GENE DO FATOR DE NECROSE TUMORAL-ALFA (TNFA) COM A PRESENÇA DE NEFROPATIA DIABÉTICA
MARIANE HANKE GONÇALVES;PATRÍCIA DA SILVA CARVALHO1, JÉSSICA BOAVENTURA DOS SANTOS1, LUÍS FERNANDO CASTAGNINO SESTI1, DAISY CRISPIM2, LUÍS HENRIQUE CANANI2, KÁTIA GONÇALVES DOS SANTOS1,3
Introdução: A nefropatia diabética (ND) é uma grave complicação do diabetes mellitus tipo 2 (DM2), sendo a principal causa de doença renal crônica terminal e de transplante renal. Vários estudos têm evidenciado que o fator de necrose tumoral-alfa (TNFA), uma citocina pró-inflamatória, pode contribuir para o desenvolvimento do dano renal. Além disso, polimorfismos identificados no gene do TNFA podem alterar a expressão deste gene. Objetivo: Investigar a associação entre o polimorfismo G–308A no gene do TNFA e a presença de ND, em pacientes com DM2. Metodologia: Foram avaliados 386 pacientes com DM2 (259 com e 127 sem ND), atendidos nos ambulatórios dos Serviços de Endocrinologia dos seguintes hospitais: Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre/RS) e Hospital São Vicente de Paula (Passo Fundo/RS). As análises moleculares foram realizadas por meio da técnica de PCR seguida de digestão com enzima de restrição. Os produtos da digestão foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida, corados com nitrato de prata e diretamente visualizados. Os testes estatísticos foram realizados por meio do teste de qui-quadrado e do teste exato de Fisher. Resultados: As freqüências genotípicas obtidas para o polimorfismo G-308A nos pacientes com ND (GG, GA, AA = 75,7%, 20,4% e 3,9%, respectivamente) não diferiram significativamente daquelas observadas nos pacientes sem ND (GG, GA, AA = 74,8%, 23,6% e 1,6%, respectivamente) (p=0,399). A freqüência do alelo A também foi semelhante entre os pacientes com e sem ND (14,1% contra 13,4%, respectivamente, p=0,876). Conclusão: Assim, os dados sugerem que o polimorfismo G-308A não está relacionado com a presença de ND em pacientes com DM2.
INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO TAQ 1B NO GENE CETP NA RESPOSTA AO FITOTERÁPICO GARCINIA CAMBOGIA EM INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE PESO
DIEGO LUIZ ROVARIS;TUANY DI DOMÊNICO; LUIZ CARLOS KLEIN JÚNIOR; TIAGO ANTONIO POLLO; RICARDO SCHNEIDER JUNIOR; SIMONE ROSSETO; CARLOS AUGUSTO RONCONI VASQUES; FABIANA MICHELSEN DE ANDRADE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 293
Um dos grandes problemas da saúde pública é a alta prevalência da obesidade e suas complicações, dentre elas as dislipidemias. O fitoterápico Garcinia cambogia é amplamente utilizado para o tratamento destas complicações, no entanto existe uma escassez de estudos científicos que descrevam possíveis variações interindividuais na resposta ao tratamento. A proteína transferidora de ésteres de colesterol (CETP) está relacionada com a passagem de lipídios entre as lipoproteínas, e polimorfismos no seu gene podem ter grande influência na resposta de fármacos. No entanto, não existe investigação que relacione a variabilidade no gene CETP com a resposta a G. cambogia. Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar se o polimorfismo Taq 1B do gene CETP influencia na resposta do perfil lipídico, ao tratamento com este fitoterápico. Até o momento, 27 pacientes com IMC >25 participaram deste estudo com desenho duplo cego. Estes foram estratificados aleatoriamente em grupo tratado (n=19) e placebo (n=08), recebendo, respectivamente, dose diária de 2,4g do extrato de G. cambogia ou placebo (3x/dia) durante 8 semanas. O perfil lipídico foi analisado através de colorimetria enzimática, exceto LDL-c que foi estimado pela equação de Friedwald. O DNA destes voluntários foi extraído a partir de sangue total, e o polimorfismo Taq 1B foi avaliado por PCR-RFLP. No grupo tratado 07 voluntários tiveram o genótipo B1B1, e 12 foram portadores do alelo B2. Já no grupo placebo 04 voluntários tiveram o genótipo B1B1, e 04 foram B1B2. Até o momento, não foram observadas diferenças significativas entre as médias de variação do perfil lipídico de acordo com os genótipos. Contudo, esse estudo continua em andamento, com intuito de aumentar o número de pacientes para obter resultados mais consistentes.
DETECÇÃO DE REARRANJOS GÊNICOS EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE SÍNDROME DE LYNCH
SILVIA LILIANA COSSIO;PATRICIA KOEHLER-SANTOS, INGRID PETRONI EWALD, PATRICIA ASHTON-PROLLA, JOÃO CARLOS PROLLA
Intr.: A síndrome de Lynch é uma doença de herança autossômica dominante caracterizada pelo desenvolvimento de câncer colorretal, câncer de endométrio e outros tipos de tumores extracolônicos, em idade precoce. Mutações germinativas em genes do sistema MMR (mismatch repair) de reparo do DNA (MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2) causam a síndrome de Lynch. A técnica utilizada para o diagnóstico molecular da síndrome é a investigação de mutações pontuais nos principais genes MMR. Porém, em pacientes sem mutação identificada, a presença de rearranjos gênicos (deleções e duplicações) pode explicar a causa da síndrome. Rearranjos gênicos são responsáveis por 15 a 55% das mutações identificadas nos genes MMR em pacientes com Lynch. Nestes casos, a técnica de MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) pode ser utilizada como uma alternativa para detecção deste tipo de mutações. Obj.: Estimar a frequência de rearranjos gênicos em pacientes com diagnóstico clinico de síndrome de Lynch através da técnica de MLPA. Mat. e Met.: O DNA foi obtido a partir de sangue periférico de 17 pacientes não-relacionados com diagnóstico clínico de síndrome de Lynch afetados por câncer (critérios de Amsterdam I e II). A técnica de MLPA (kits P003 e P072 - MRC-Holland) foi utilizada para a análise de rearranjos visando detectar alterações nos genes MLH1, MHS2 e MSH6. Result.: Dos pacientes incluídos, um caso (5,9%) apresentou uma deleção na região promotora do gene MSH6. Concl.: Estudos adicionais de rastreamento de rearranjos nos genes MMR, em séries maiores de casos, poderão complementar esta estimativa e definir a validade e aplicabilidade da técnica de MLPA como primeira abordagem de pacientes com diagnóstico clínico de síndrome de Lynch.
EFEITO DO MEIO CONDICIONADO DA LINHAGEM HEPG2 EM CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS
CAROLINA URIBE CRUZ;GUILHERME BALDO; LUISE MEURER; ROBERTO GIUGLIANI; URSULA MATTE
As Células-Tronco Mesenquimais (CTM) apresentam uma grande capacidade de diferenciação em distintas linhagens e podem ser isoladas e expandidas em cultura com alta eficiência. No presente estudo, examinamos o efeito do meio condicionado (MC) derivado de uma linhagem de hepatocarcinoma humano (HepG2) sobre as CTM. CTM foram isoladas da medula óssea de ratas Wistar. O potencial de diferenciação das mesmas foi avaliado por meio de cultivos adipogênico e osteogênico realizando colorações de Oil Red-O e Alizarin Red respectivamente. As CTM foram mantidas em cultivo por 21 dias com MC, o qual foi obtido por contato com a linhagem HepG2 por 24
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 294
h. Como controle positivo as CTM foram tratadas com 50 ng/mL HGF por 21 dias. Foram realizadas análises de imunocitoquímica e de expressão gênica (RT-PCR) para marcadores próprios de células tronco (Thy-1) e marcadores hepáticos como ALB, AFP, CK-8 e CK-18. Adicionalmente foram realizadas colorações de Oil Red-O nas CTM tratadas com MC-HepG2. Após 3 semanas de tratamento com MC-HepG2 ou HGF não se observaram mudanças morfológicas e as análises de imunocitoquímica e RT-PCR para marcadores hepáticos foram negativas. CTM foram positivas para a expressão de Thy-1 antes e depois dos tratamentos. As CTM tratadas com MC-HepG2 apresentaram acúmulos de gordura quando coradas com Oil Red-O. Estes acúmulos foram diferentes dos observados nas CTM tratadas com meio adipogênico, mas são similares aos acúmulos apresentados pelas células HepG2 coradas com Oil Red-O. Apesar do meio MC-HepG2 não ter sido capaz de induzir a expressão de marcadores hepáticos, ele teve um efeito sobre as CTM produzindo um fenótipo similar ao de uma esteatose moderada.
IDENTIFICAÇÃO DE MUTAÇÕES NO GENE GNPTAB DE PACIENTES BRASILEIROS COM MUCOLIPIDOSE II E III
GABRIELA KAMPF CURY;OSVALDO ARTIGALÁS;URSULA MATTE; IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ; CHARLES MARQUES LOURENÇO; CHONG AEKIM; ERLANE RIBEIRO; EUGÊNIA VALADARES
Introdução: A mucolipidose II ou III é uma doença lisossômica, de herança autossômica recessiva, causada pela deficiência da enzima UDP-N-acetilglicosamina-1-fosfotransferase (Glc-Nac-fosfotransferase), codificada pelos genes GNPTAB e GNPTG sendo uma das enzimas responsáveis pela síntese do resíduo de manose-6-fosfato, marcador responsável pelo direcionamento das enzimas lisossômicas. Objetivo: Identificar as mutações no gene GNPTAB presentes em pacientes brasileiros diagnosticados com ML II ou III. Métodos: Dez pacientes brasileiros, de famílias não relacionadas, foram incluídos no estudo. As amostras de DNA foram extraídas de alíquotas de sangue periférico em EDTA e os 21 éxons do gene GNPTAB estão sendo amplificados por PCR e sequenciados em ABI3100 ®. Resultados: Foram sequenciados os éxons II, V, VI, VII, XI, XVIII e XIX e regiões flanqueadoras. Dois pacientes com ML II e um com ML de tipo não-definido apresentaram, em heterozigose, a mutação patogênica c.3503_3504delTC (éxon XIX) e as mutações não patogênicas c.3336-25T>C (íntron 17) e c.1284-166G>A (íntron 10), todas já descritas na literatura. As duas últimas também foram encontradas em outros quatro pacientes. A análise do exon XIII foi finalizada para um paciente com ML II, sendo identificada, em homozigose, a mutação não patogênica c.1932A>G, já descrita na literatura, e a mutação nova c.2269_2273delGAAAC. Conclusão: Os nossos dados, embora preliminares, comprovam que o gene GNPTAB é bastante polimórfico. A mutação patogênica c.3503_3504delTC (éxon XIX) e as mutações não-patogênicas c.3336-25T>C (íntron 17) e c.1284-166G>A (íntron 10) parecem ser comuns em pacientes brasileiros. Sugere-se que a análise de DNA de pacientes com ML II e III, oriundos de nosso país, inicie pelo sequenciamento do éxon XIX.
INVESTIGAÇÃO DE ERROS INATOS DO METABOLISMO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA EM TANDEM NO HCPA: RESULTADOS PRELIMINARES
ANGELA SITTA;MARION DEON; ALETHÉA G. BARSCHAK; MARINA CHIOCHETTA; DIANA M. ATIK; IZABELA N. PEREIRA; ROBERTO GIUGLIANI; CARMEN R. VARGAS
Introdução: A dosagem de acilcarnitinas (AC) e aminoácidos (AA) por Espectrometria de Massas em Tandem (MS/MS) permite a detecção precoce de erros inatos do metabolismo (EIM), sendo considerada hoje uma ferramenta diagnóstica muito importante na medicina pediátrica. A quantificação das AC permite diagnosticar distúrbios de b-oxidação de ácidos graxos (DOAG) e diversas acidemias orgânicas, enquanto a quantificação de AA permite o diagnóstico das aminoacidopatias. Objetivos: Descrever os resultados preliminares na investigação de EIM por MS/MS para determinação de AC e AA, método recentemente implantado no Serviço de Genética Médica do HCPA. Materiais e métodos: Foram analisadas, de fevereiro a junho de 2009, 25 amostras de sangue em cartão de indivíduos com alto risco para EIM, com idade média de 3,6 anos, de diferentes estados do Brasil. Os principais sintomas apresentados pelos pacientes foram: hipoglicemia, vômitos e convulsões. Resultados e conclusões: Das amostras testadas, 4 (16%) apresentaram resultados alterados de AC e seguem acompanhamento com a realização de exames
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 295
confirmatórios. Destes 4 pacientes, 3 apresentaram perfil característico de DOAG e 1 apresentou perfil característico de acidemia propiônica ou metilmalônica. Ainda, 1 paciente (4%) apresentou perfil de AA alterado, provavelmente por deficiência de argininase. Por se tratar de um método rápido, sensível e que utiliza amostras de fácil obtenção, podemos concluir que a implantação da técnica de MS/MS para AC e AA de forma pioneira no HCPA será bastante útil na triagem para EIM, beneficiando, assim, um número grande de pacientes, especialmente os afetados por DOAG, cujo diagnóstico laboratorial é internacionalmente realizado por esta metodologia. Apoio: FIPE/HCPA, CNPq, PROREXT/UFRGS.
DOSAGEM DE HOMOCISTEÍNA POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM TANDEM NO HCPA
ANGELA SITTA;MARION DEON; ALETHÉA G. BARSCHAK; MARINA CHIOCHETTA; DIANA M. ATIK; IZABELA N. PEREIRA; ROBERTO GIUGLIANI; CARMEN R. VARGAS
Introdução: A dosagem de homocisteína (Hcy) plasmática vem ganhando destaque nos laboratórios, principalmente após a descoberta da associação entre os níveis de Hcy e os riscos de desenvolvimento de doença aterosclerótica e cardiovascular. Além disso, níveis elevados de Hcy permitem diagnosticar e monitorar pacientes com homocistinúria, um erro inato do metabolismo. A Espectrometria de Massas em Tandem (MS/MS) vem sendo recentemente utilizada na quantificação da Hcy, sendo um método bastante sensível e específico. Objetivos: Descrever os resultados obtidos na dosagem de Hcy por MS/MS, método recentemente implantado no HCPA. Materiais e Métodos: Foram analisadas, no período de junho de 2008 a junho de 2009, 77 amostras de plasma para dosagem de Hcy no Serviço de Genética Médica do HCPA. A Hcy total foi dosada através do método de cromatografia líquida associada à espectrometria de massas em Tandem (LC-MS/MS), utilizando-se homocistina-d8 como padrão interno (valor de referência: 5-15µM). Resultados e conclusões: Das 77 amostras testadas, 33 eram de 8 pacientes homocistinúricos em tratamento (Hcy: 169,1 ± 96,2 µM), sendo que no período foi realizado 1 diagnóstico novo da doença. Nos demais pacientes testados (44), foram detectados 6 casos (13,6%) de aumento nos níveis de Hcy plasmática, sendo 2 deles devido à deficiência de vitamina B12. Estando já bem estabelecidos os potenciais danos causados por um aumento na Hcy plasmática, a dosagem deste analito no HCPA foi um avanço recente que irá beneficiar um número grande de pacientes, sejam eles portadores de homocistinúria ou não. Apoio: FIPE/HCPA, CNPq, PROREXT/UFRGS.
EFEITO DA GENETICINA SOBRE MUTAÇÕES STOP-CODON: UM ESTUDO IN VITRO COM FIBROBLASTOS DE PACIENTES COM SÍNDROME DE HURLER
OSVALDO ALFONSO PINTO ARTIGALÁS;FABIANA QUOOS MAYER; GUILHERME BALDO; MAIRA BURIN; ROBERTO GIUGLIANI; IDA SCHWARTZ; URSULA MATTE
Introdução: A síndrome de Hurler (MPS I) é uma doença de acúmulo lisossomal rara, caracterizada pela deficiência da enzima alfa-L-iduronidase (IDUA) que participa da degradação de glicosaminoglicanos. Sugere-se que aminoglicosídeos sejam capazes de suprimir mutações stop-codon prematuras, através de um mecanismo chamado read-through. Objetivo: Medir a atividade enzimática de IDUA antes e depois do tratamento com geneticina em cultura de fibroblastos de pacientes com MPS I portadores de mutação stop-codon no gene IDUA. Métodos: Fibroblastos MPS I (heterozigotos para as mutações W402X e Q70X) foram cultivados até 90-95% de confluência em DMEM com 10% soro fetal bovino, 1% penicilina/estreptomicina. As culturas foram tratadas com geneticina (200 ug/mL) durante 24 horas (n=4). Fibroblastos não tratados foram usados como controles (n=4). A atividade enzimática de IDUA foi medida no lisado celular (nmol/h/mg) e no sobrenadante (nmol/h/mL) por método fluorimétrico. Foi utilizado teste t de Student para análise dos dados (considerando diferença estatisticamente significativa quando p<0,05). Resultados: A atividade da IDUA em fibroblastos W402X elevou-se de 6,13±0,5 até 546,8±126,1 após 24h (p<0,05) e nos fibroblastos Q70X, variou de 0,08±0,08 para 0,14±0,14 (p=0,531). No grupo W402X a enzima secretada (sobrenadante) passou de níveis indetectáveis para 38,2±11,7 e no grupo Q70X de 0,03±0,02 para 0,15±0,06 (p<0,05). Discussão: A geneticina aumentou a quantidade de IDUA em ambos os grupos, demonstrando seu potencial para o tratamento da MPS I em pacientes portadores de mutações do tipo stop-codon. Não está claro o motivo da diferença na magnitude do efeito entre os dois tipos de mutação. Apoio: FIPE/HCPA, CAPES e CNPq.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 296
MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VI NO BRASIL: ANALISE MOLECULAR E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
FERNANDA BENDER;FERNANDA BENDER, FABIANA MOURA COSTA, JULIANA SEBBEN, IDA VANESSA SCHWARTZ, ROBERTO GIUGLIANI E SANDRA LEISTNER-SEGAL
Mucopolissacaridose tipo VI (Síndrome de Maroteaux-Lamy - MPS VI) é uma doença autossômica recessiva, causada pela deficiência da enzima N-acetilgalactosamina-4-sulfatase (ARSB), que causa o acúmulo nas células e excreção aumentada na urina de dermatan e coindroitin sulfatos. Num estudo prévio (Petry et al., 2003), nosso grupo descreveu uma mutação comum (1533del23) no gene ARSB que estava presente em pacientes brasileiros (18,4%). No Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre temos atualmente 80 amostras de DNA de pacientes com MPS VI. Dentre estes, 68 são brasileiros com uma maior freqüência no Sudeste (47%) seguida do Nordeste (35%). Destes, foi possível detectar a mutação em ambos os alelos de 23 pacientes e em apenas um alelo em 7 pacientes. Destes 30 pacientes (casos índices) onde pelo menos um dos alelos mutantes foi encontrado, foram detectadas 13 diferentes mutações. A mutação com maior freqüência nesta amostra foi a 1533del23 com 28,3% dos alelos mutados. A mutação IVS5-8t>g estava presente em 6 indivíduos (3 homozigotos e 3 heterozigotos) com uma freqüência alélica de 16,9%. Se considerarmos as quatro mutações (1533del23, IVS5-8t>g, IVS5-1g>c e R315Q) mais freqüentes nos 30 pacientes com mutações detectadas desta amostra conseguimos um total de 69,7% dos alelos mutados. A mutação 1533del23 foi analisada nos 80 pacientes mantendo a freqüência de 18,75% e se encontra distribuída pelo Brasil. Já a mutação IVS5-1g>c (13,2%) foi encontrada somente em pacientes do estado de Pernambuco. Os resultados obtidos e a alta freqüência de polimorfismos neste gene, confirmam a grande heterogeneidade genética entre pacientes com MPS VI e justificam a dificuldade na análise de correlação entre genótipo e fenótipo nesta doença.
ANÁLISE DE DELEÇÕES E CONVERSÕES NOS GENES SMN1 E SMN2 DE PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL
FERNANDA MARQUES DE SOUZA GODINHO;HUGO BOCK, MARINA SIEBERT, TIAGO DEGANI VEIT, MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA
O gene SMN1 pode ser diferenciado da sua cópia homóloga (SMN2) por 2 trocas de bases nos exons 7 e 8. A ausência do exon 7 do gene SMN1, devido a uma deleção ou a uma conversão a SMN2, é observada na maioria dos pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A AME é uma das doenças autossômicas recessivas mais freqüentes e se caracteriza pela degeneração dos neurônios motores. O objetivo do trabalho foi identificar a presença dos exons 7 e 8 nos genes SMN1 e SMN2 em pacientes com suspeita clínica de AME e determinar as freqüências de mutação nesse grupo. Foram avaliados 84 indivíduos, cujo DNA foi isolado a partir de sangue e quantificado pelo método fluorimétrico. As regiões de interesse dos genes foram amplificadas por PCR, sendo que a presença dessas regiões gênicas foram determinadas por RFLP, através das enzimas de restrição DraI (exon 7) e DdeI (exon 8). A técnica de seqüenciamento direto do DNA foi usada para validação dos controles positivos. Os resultados obtidos confirmaram 44 (52,4%) pacientes com deleção no gene SMN1. Em seis destes pacientes observamos a deleção do exon 7 apenas, sugerindo um evento de conversão gênica. Entre as amostras restantes, observamos uma com deleção do exon 8 do gene SMN1 e cinco com deleção dos exons 7 e 8 do gene SMN2. Esses resultados foram confirmados por sequenciamento direto do DNA. O protocolo aplicado está adequado para o diagnóstico laboratorial de pacientes com essas deleções. Entretanto, uma análise quantitativa, está em fase de implementação para a detecção de portadores com uma cópia de SMN1, bem como para a determinação do número de cópias de SMN2 e posterior correlação com aspectos clínicos (Apoio financeiro: FIPE-HCPA; CAPES e CNPq).
COMPARAÇÃO DE DOIS MÉTODOS COMERCIAIS PARA EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS VIRAIS
RAQUEL BEIERSDORF FREZZA;JOSEANE VANESSA DOS SANTOS DA SILVA; JULIANA COMERLATO; BIANCA BERGAMASCHI; ANDRÉIA DALLA VECCHIA; MICHELE REGINA VETTER; LUCAS KESSLER DE OLIVEIRA; GABRIELA SCHALEMBERGER; FERNANDO ROSADO SPILKI
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 297
Para a amplificação pela reação em cadeia da polimerase (PCR) existe a necessidade da obtenção e purificação de ácidos nucléicos em qualidade e quantidade adequadas, o que se torna mais difícil no caso da extração de material genômico de vírus. Diferentes protocolos e kits comerciais estão disponíveis para a extração de ácidos nucléicos virais. Os produtos comerciais apresentam preço mais elevado que os protocolos convencionais, mas permitem uma extração menos trabalhosa, mais rápida e normalmente mais eficiente no caso de vírus. Para estudar a eficácia de dois kits disponíveis no mercado, realizamos testes com amostras padrão de Adenovírus (DNA) e Enterovírus (RNA). O produto denominado A foi adquirido a um preço de 10 dólares por amostra, enquanto o kit B teve um custo de 18 dólares por amostra. O isolamento do material genético foi realizado seguindo-se as instruções dos fabricantes. Ambos têm como características comuns a simplicidade de realização, no entanto diferem entre eles a necessidade de manter os reagentes sob refrigeração, o tempo de incubação das amostras, as temperaturas de incubação. Acompanham o produto A, 7 reagentes. A amostra é mantida a 72ºC por 10 min. Em seguida, esta é transferida para um filtro e obtém-se o material genômico de interesse (DNA ou RNA) após 6 centrifugações, o que perfaz em média 50 min. O kit B possui 4 reagentes e todos já vem prontos, não necessitando refrigeração. Um deles necessita pré-aquecimento a 80°C. As amostras são mantidas a 65ºC por 15 min. e após a 95ºC por mais 10 min. Após, cada amostra é transferida para um filtro e são realizados procedimentos semelhantes ao kit A totalizando 5 centrifugações. Nesse kit o tempo de extração é de aproximadamente 90 min. Ao final da análise, ambos os produtos mostraram igual eficácia para extração tanto de DNA quanto RNA. Desta forma, deve-se considerar no ato da compra destes produtos o tempo de preparo de cada amostra e o custo de cada reação como variáveis relevantes.
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE DETECÇÃO MOLECULAR DE ENTEROVÍRUS EM AMOSTRAS DE ÁGUA
JULIANA COMERLATO;RAQUEL BEIERSDORF FREZZA; JOSEANE VANESSA DOS SANTOS DA SILVA; ANDRÉIA DALLA VECCHIA; BIANCA BERGAMASCHI; MANOELA TRESSOLDI RODRIGUES; REGINA VETTER; JULIO CESAR MACIEL; LUCAS KESSLER DE OLIVEIRA; FERNANDO ROSADO SPILKI
Atualmente o controle de poluição fecal em águas destinadas ao consumo humano é baseado na detecção de coliformes fecais. Porém, a ausência destes coliformes não exclui a presença de vírus de excreção fecal na água. Dentro dos vírus entéricos destaca-se com importância o enterovírus, considerado o segundo causador de resfriados, e associado com gastroenterites. Sabendo da importância epidemiológica deste agente e de um monitoramento ideal da poluição fecal na água, a utilização do enterovírus como bioindicador de poluição fecal seria de grande importância para avaliarmos a credibilidade dos métodos atuais de controle da água. Como ferramenta para detecção e isolamento viral os métodos moleculares, como a PCR, tem se destacado. O objetivo deste estudo foi padronizar uma reação de PCR, utilizando como controle positivo o enterovírus bovino. Este vírus foi cultivado e quantificado por titulação em microplaca. Para extração de ácidos nucléicos virais foi utilizado o kit comercial High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche). Devido ao fato do enterovírus apresentar RNA houve a necessidade de realizar a RT-PCR. O cDNA foi transcrito com a utilização do kit High-Cpacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems). O DNA obtido foi usado como molde para a amplificação por PCR. A reação de PCR foi realizada utilizando o GoTaq Green Master Mix (Promega). Após a reação, o produto foi analisado por eletroforese. Avaliamos a sensibilidade da reação para determinar seu limiar de detecção. Esta reação obteve excelente sensibilidade analítica, tendo o mínimo de uma partícula infecciosa como limiar de detecção. Com aprimoramentos futuros, tal metodologia poderá ser empregada na detecção de vírus em amostras de água e esgoto, passo de validação que está sendo realizado no presente momento.
CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM FENILCETONÚRIA EM TRATAMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TATIANE ALVES VIEIRA; KRUG B, SCHWARTZ IV, PICON P, VARGAS PR
INTRODUÇÃO: Fenilcetonúria é uma doença genética causada pela atividade deficiente da fenilalanina hidroxilase. A doença não diagnosticada e não tratada precocemente causa retardo mental. O tratamento com a fórmula isenta de fenilalanina (Phe) faz parte do Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional e é co-financiado pelo MS e pelos estados. O Rio
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 298
Grande do Sul (RS) conta com dois centros de referência para acompanhamento dos pacientes com PKU. OBJETIVO: Caracterizar a população de pacientes em tratamento com a fórmula isenta de Phe (FM) nos dois centros Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) quanto a sexo, média de idade atual e custo do tratamento com a fórmula isenta de Phe. MATERIAL E MÉTODOS: Os dados foram coletados no sistema informatizado de gerenciamento clínico e administrativo da Secretaria Estadual de Saúde do RS. RESULTADOS: Atualmente os centros tratam, com fórmula, 108 pacientes, sendo 61 (56%) homens e a média de idade atual é de 12 anos. São utilizadas mensalmente cerca de 400 latas de FM, que representam um custo aproximado de R$ 1 milhão/ano para a União/Estado.CONCLUSÕES: Os centros de referência promovem um melhor gerenciamento das informações clínicas e administrativas e auxiliam no acesso ao tratamento. O impacto social e financeiro da falta de adesão ou ausência de tratamento dos pacientes parece ser muito superior aos custos investidos em diagnóstico, tratamento e manutenção dos centros de referência.
FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO EM PACIENTES COM FENILCETONÚRIA COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 ANOS ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
TATIANE ALVES VIEIRA;NALIN T; GIUGLIANI L; POLONI S; REFOSOCO LF, NETTO CB; SOUZA CFM; SCHWARTZ IVD
Introdução: A efetividade do tratamento para Fenilcetonúria (PKU) está diretamente ligada à adesão dos pacientes e é uma atitude influenciada por diversos fatores. Objetivo: Avaliar fatores que influenciam a adesão ao tratamento de pacientes com PKU com idade igual ou superior a 12 anos. Material e métodos: Estudo transversal de base ambulatorial. Foi realizada a aplicação de questionário especifico, construído pelos autores, a todos os pacientes capazes de respondê-lo. Resultados: Dos 68 pacientes que estão em acompanhamento no ambulatório, trinta (44,1%) têm idade igual ou superior a 12 anos. Desses, somente 18 (todos em uso de fórmula metabólica-FM), conseguiram responder o questionário. Cinco pacientes (27,8%) tiveram o diagnóstico estabelecido nos primeiros 30 dias de vida, sendo que dez (55,5%) relataram que o fato de ter PKU não traz nenhum incomodo a sua vida. Onze (61,1%) pacientes foram considerados aderentes ao tratamento, quando considerada a mediana do nível plasmático de fenilalanina no último ano. Entre os problemas associados ao tratamento, os mais citados foram: a pessoa não pode comer alimentos saborosos (66,6%); o gosto da FM é ruim (44,4%); o governo apresenta falhas no fornecimento da FM (44,4%); o HCPA fica longe de sua residência (38,8%); a FM é muito cara (27,8%). Em relação ao preparo da FM, 61,1% responderam que o mesmo é fácil, e os demais não opinaram, pois o preparo não é realizado por eles. Conclusões: Entre os pacientes analisados, a maioria não teve diagnóstico precoce de PKU. Os problemas referentes ao tratamento parecem estar associados à restrição alimentar, à palatabilidade da FM, ao acesso a mesma e à distância dos centros de referência. Todos estes fatores podem estar diretamente relacionados à adesão ao tratamento.
TECNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA AMPLIFICAÇÃO DE TORQUE TENO VÍRUS EM AMOSTRAS AMBIENTAIS
ANDRÉIA DALLA VECCHIA; THAIS FUMACO TEIXEIRA; FERNANDO ROSADO SPILKI; RAQUEL BEIERSDORF FREZZA; JOSEANE VANESSA DOS SANTOS DA SILVA; JULIANA COMERLATO; MANOELA TRESSOLDI RODRIGUES; BIANCA BERGAMASCHI; MICHELLE REGINA VETTER; LUCAS KESLLER DE OLIVEIRA; PAULO MICHEL ROEHE
O Torque teno vírus (TTV) é um vírus não-envelopado com diâmetro de 30-32 nm, composto por DNA de fita simples, circular e com polaridade negativa. Seu genoma é bastante reduzido, apresentando uma variação de 3.4 - 3,9 kb de comprimento. Recentemente, o TTV foi classificado no gênero Anellovirus, os quais foram detectados no sangue e fezes de humanos e de outros mamíferos. Além disto, este vírus pode exibir características similares a vírus entéricos patogênicos, sendo excretado pelo trato gastrointestinal. Desta forma, o vírus encontra-se amplamente disseminado na população. É um vírus que possui alta resistência no ambiente e é um excelente candidato a marcador de contaminação fecal. Assim, procurou-se padronizar uma técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) capaz de detectar a presença deste vírus em águas e esgotos. Para isso, foram projetados dois primer foward e um primer reverse capazes de detectar o maior número possível de TTVs descritos na literatura. Para a padronização utilizou-se uma amostra positiva de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 299
DNA viral e como controle negativo utilizou-se uma amostra de DNA extraído de cultivo celular não infectado. Para a reação de PCR foram utilizados os oligonucleotídeos F1, F2 e Rev na concentração de 25 nmol diluídos no kit de amplificação Supermix na presença de 0,5 µl de DNA viral, em reações com volume final de 25µl e em sistema de PCR por gradiente. Após as misturas foram levadas ao termociclador e os resultados foram visualizados em gel de agarose 2% contendo brometo de etídeo. A PCR amplificou o DNA alvo nas temperaturas 50ºC a 59ºC, sendo o tamanho esperado de aproximadamente 100 pb. Esta padronização servirá para a detecção deste vírus em amostras de água e esgoto a qual está sendo realizada.
CULTIVO E DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS EQÜINAS
MARTA PASIN; DE LA CORTE, F. D.; PASSOS, E. P.; BRASS, K. E.; CIRNE-LIMA, E. O.
Lesões articulares ocorrem freqüentemente durante eventos esportivos e podem culminar na inabilitação permanente da articulação. A capacidade intrínseca de regeneração da cartilagem é limitada, particularmente em adultos, e um tratamento efetivo ainda é um desafio. As células-tronco mesenquimais (MSCs) oferecem uma proposta promissora para terapia em tecido músculo-esquelético. O objetivo deste trabalho foi o isolamento e caracterização através da diferenciação de MSCs eqüinas, para o posterior uso como tratamento em um modelo de osteoartrite experimental em eqüinos. O aspirado de medula óssea para cultura foi obtido assepticamente do esterno de um pônei macho, com 5 anos e pesando 150kg. O material foi processado em laboratório conforme protocolo previamente estabelecido para separação das células, que foram ressuspendidas e distribuídas na concentração de 10
8 por frasco de cultura T25. As culturas foram mantidas em estufa a 37°C com 5%
de CO2. Obteve-se, até o presente momento, êxito nas técnicas utilizadas para coleta e cultivo de MSCs da medula óssea de eqüino, sendo que o cultivo celular se encontra em fase de expansão e foram iniciados os procedimentos para indução in vitro de diferenciação em condrócitos, adipócitos e osteócitos, técnicas estas fundamentais para a definição das células como tronco mesenquimais. Desta forma, findos os experimentos de caracterização das MSCs eqüinas, os experimentos de utilização destas in vivo serão iniciados. Uma vez que, paralelamente, o modelo cirúrgico experimental para o estudo da regeneração de cartilagem articular eqüina encontra-se em desenvolvimento.
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
ALTERAÇÕES DO CICLO MENSTRUAL APÓS LIGADURA TUBÁRIA (LT): SERIA A SÍNDROME PÓS-LT?
CAMILA DA RÉ;TIAGO LANDENBERGER, ANA LUIZA BERWANGER DA SILVA, EDISON CAPP, JAQUELINE LUBIANCA, HELENA VON EYE CORLETA
INTRODUÇÃO: A ligadura tubária (LT) é o método contraceptivo mais empregado após os anticoncepcionais orais (ACO). Entretanto, pouco se sabe sobre seus efeitos a médio e longo prazo. Autores sugerem alterações do ciclo menstrual pós-LT, configurando uma síndrome denominada Síndrome pós-ligadura tubária, entretanto não existe consenso sobre sua real existência. OBJETIVOS: Avaliar subjetivamente as alterações do ciclo menstrual 6 meses pós-LT em mulheres férteis entre 20-40 anos. MATERIAIS E MÉTODOS: 34 pacientes submetidas à LT no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas responderam questionário sobre o método contraceptivo usado antes da cirurgia, a regularidade, intensidade e duração do fluxo menstrual antes e após 6 meses da LT. RESULTADOS: Antes da LT 52,9% usavam contracepção hormonal (ACO combinado ou progestágeno isolado), 5,8% DIU, 29,4% preservativo e 11,7% não faziam qualquer contracepção. Seis meses pós-LT 41,6% das que usavam ACO combinado, 100% das que usavam progestágeno isolado e 71,4% das que usavam métodos não-hormonais ou nenhum método tiveram alteração em ao menos 1 dos parâmetros menstruais avaliados. CONCLUSÕES: A alteração do ciclo menstrual 6 meses pós-LT nas que usavam contracepção hormonal era esperada, pois hormônios sabidamente alteram o padrão menstrual. Porém, alterações também ocorreram na maioria das que usavam métodos não-hormonais ou que não usavam nenhum método, sugerindo que tais alterações possam ser decorrentes apenas do procedimento, fazendo parte da Síndrome pós-LT. (Os resultados são preliminares, e fazem parte de estudo de avaliação da reserva ovariana em pacientes pós-LT, nº GPPG 08123).
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 300
CORRELAÇÃO ENTRE MAMOGRAFIA E MENARCA PRECOCE EM UMA AMOSTRA POPULACIONAL DE XANGRI-LÁ
KONRADO MASSING DEUTSCH;NILTON LEITE XAVIER; LARA RECH POLTRONIERI; MELINA CANTERJI
Introdução: o câncer de mama é a neoplasia maligna mais freqüente nas mulheres gaúchas. Para o ano de 2008, estimou-se a incidência de 67 novos casos em 100.000 mulheres (1). Dentre os fatores de risco, a menarca precoce (MP) está bem estabelecida em relação ao desenvolvimento do câncer de mama (2). O Ministério da Saúde recomenda o exame mamográfico (MMG) como uma das principais estratégias de rastreamento populacional (1). Objetivos: verificar se há correlação entre os resultados de MMG e a MP em uma amostra de Xangri-Lá. Materiais e métodos: entre janeiro/08 e junho/09, em um estudo transversal, prospectivo, foram incluídas 600 mulheres que fizeram consulta nos postos do Programa de Saúde da Família, de Xangri-Lá, visando ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Na ocasião, foi aplicado um questionário com dados sócio-epidemiológicos para a avaliação de fatores de risco. MP foi estabelecida como inferior aos 12 anos de idade. Para avaliar a MMG, utilizou-se a escala Bi-Rads (3) de forma que as categorias 0, 1, 2 e 3 foram reunidas no grupo achados sem suspeita de malignidade e as categorias 4 e 5 no grupo achados com suspeita de malignidade. A análise dos dados foi feita através do software Epi Info 6. Resultados e conclusões: até o momento, 316 pacientes retornaram com o resultado da MMG. Dentre as com MP (n=51), 5,88% apresentaram achados suspeitos de malignidade; já nas demais (n=265), 1,13% apresentaram tais achados. O risco relativo calculado foi de 5,2 (IC 95% 1,08 – 23,03; p=0,055). Assim, demonstrou-se que as mulheres com MP têm mais achados suspeitos de malignidade na MMG. Esperamos que, com o seguimento das pacientes, arrecademos um maior número de resultados de MMG a fim de consolidar nossa hipótese.
COMPARAÇÃO DA PERDA SANGUÍNEA E DO TEMPO DE INTERNAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDAS A HISTERECTOMIA LAPAROSCÓPICA E ABDOMINAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANA CLÁUDIA MAGNUS MARTINS;TATIANA MORESCO; GUSTAVO PERETTI RODINI; JULIANA ZANROSSO CARAN; CAROLINA GIORDANI ANDREOLI; JOÃO PAOLO BILIBIO; CAMILA DA SILVA CAMPOS; VANESSA KREBS GENRO; CARLOS AUGUSTO BASTOS DE SOUZA; JOÃO SABINO LAHORGUE CUNHA FILHO
Introdução: A histerectomia é o segundo procedimento mais realizado na área de ginecologia/obstetrícia. Assim, faz-se necessário estudar as vantagens e desvantagens das diferentes vias de execução. A via abdominal é a mais antiga e, tradicionalmente, mais usada; no entanto, a via laparoscópica tem se apresentado como alternativa por ser um método menos invasivo. Objetivo: Comparar a perda sanguínea e o tempo de internação em pacientes submetidas a histerectomias abdominal e laparoscópica. Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal com 64 pacientes submetidas a histerectomia por causas benignas entre junho de 2007 e junho de 2009. As pacientes foram submetidas à avaliação clínica pré-operatória, além de avaliação endometrial e ultrassonográfica. Os procedimentos realizados foram: histerectomia abdominal total e histerectomia laparoscópica total e subtotal. Foram comparados o sangramento trans-operatório em mililitros (com avaliação de necessidade de transfusão sanguínea) e o tempo de internação transcorrido em dias. A análise estatística foi realizada com teste ANOVA one-way, foi considerado significativo um p<0,05. Resultados: Foram realizadas 25 histerectomias via abdominal e 39 via laparoscópica. Não houve diferença em peso, altura, idade de menarca e paridade entre os grupos. A perda sanguínea foi superior na via abdominal (424,2±297,6) em relação à laparoscópica (229,6±226,9) IC 95% -362,0 a -27,1 (p=0,024). Não houve diferença na necessidade de transfusão entre os grupos. Houve 4 casos de conversão transoperatória da via laparoscópica para a via aberta por sangramento transoperatório. O tempo de internação médio das pacientes submetidas a histerectomia abdominal (3,00 ± 1,237 dias) foi maior do que aquele observado nas pacientes submetidas a histerectomia laparoscópica (1,89 ± 2,040 dias) IC 95% -2,170 a -,059 p=0,039. Não houve complicações urinárias ou infecciosas. Conclusões: As pacientes submetidas à histerectomia laparoscópica apresentaram menor perda sanguínea no transoperatório e menor tempo de internação
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 301
em relação àquelas da via abdominal. A histerectomia laparoscópica representa uma possibilidade de minoração de custos na prática médica.
CORRELAÇÃO DA MAMOGRAFIA COM O EXAME CLÍNICO EM AMOSTRA POPULACIONAL DE XANGRI-LÁ
LARA RECH POLTRONIERI;NILTON LEITE XAVIER, KONRADO MASSING DEUTSCH, MELINA CANTERJI
Introdução: O câncer de mama é um problema de saúde pública. O Rio Grande do Sul tem taxa estimada de 85,5 casos a cada 100.000 mulheres, sendo o câncer mais freqüente na população feminina. Os métodos rastreamento do câncer de mama são a mamografia (MMG), e o exame clínico das mamas (ECM). Estudos demonstraram uma redução da mortalidade em mulheres entre 50-74 anos de idade com a realização anual de MMG, associada ou não ao exame físico realizado pelo médico, como método de rastreamento. Objetivos: Comparar sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) do ECM e da MMG isolados e juntos, em amostra populacional de Xangri-lá. Métodos: Foram incluídas prospectivamente, de março de 2008 até junho de 2009, 544 mulheres que fizeram ECM e MMG nos postos do programa de saúde da família (PSF) de Xangri-Lá, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Através do software epi info versão 6 foi feita a análise dos dados, até o momento apenas 287 pacientes retornaram com a MMG. Resultados: A idade média das 287 pacientes que retornaram foi de 51,2 anos com extremos de 24 e 82 anos, e índice de massa corporal (IMC) médio de 28,6 com extremos de 17,0 e 49,7 kg/m
2. A avaliação de VPP, VPN, S, E foram para a MMG: VPP (15,5%), VPN (86,4%), S
(39,0%), E (64,6%), para o exame clínico das mamas : VPP (12,6%), VPN (86,4%), S (34,2%), E (63,8%) e para a MMG em associação ao ECM, os resultados foram os seguintes: VPP (18,4%), VPN (86,3%), S (17,0%), E (87,3%). Conclusão: A MMG e o ECM mostraram resultados similares, no entanto a associação dos dois métodos demonstrou VPP e especificidade mais elevados, mostrando que a associação dos métodos traz resultados positivos para o diagnóstico precoce.
DIATERMIA OVARIANA POR ECOGRAFIA TRANSVAGINAL: MODELO EXPERIMENTAL
DANIELLE YUKA KOBAYASHI;ANITA MYLIUS PIMENTEL, MARCOS MENDONÇA, RENATO FRAJNDLICH, EDISON CAPP, LUCIA KLIEMANN, HELENA VON EYE CORLETA
A síndrome dos ovários policísticos é desordem endócrino-metabólica mais freqüente em mulheres em idade reprodutiva, sendo caracterizada dentre outros por infertilidade anovulatória. Seu tratamento consiste na indução da ovulação com citrato de clomifene e gonadotrofinas que, apesar de eficazes, aumentam as taxas de gestação múltipla. Intervenção cirúrgica, como a diatermia ovariana, é opção terapêutica cujo principal benefício é a ovulação monofolicular. Entretanto, realizada por videolaparoscopia, pode levar à formação de aderências pélvicas, além dos riscos da anestesia geral. O objetivo deste estudo é estabelecer a técnica de cauterização ovariana por via transvaginal utilizando ovelhas como modelo experimental. Materiais e métodos: Dez ovelhas foram sedadas e, após identificação ecográfica do ovário, este foi puncionado com agulha especial e cauterizado com 40W por 5s em 4 pontos do parênquima esquerdo e 10s no direito. No abate, realizado após 48h, foram analisadas lesões de trajeto e coletados os ovários. Resultados: Dois ovários de ovelhas distintas mostraram cauterização característica com efeito da corrente elétrica por alteração da temperatura, hemorragia, áreas de necrose com infiltrado neutrocitário perivascular e tecido de granulação na tentativa de reparo tecidual. Não houve lesões significativas no trajeto da agulha. Comentários: Os ovários das ovelhas são de difícil identificação por ecografia transvaginal comparados aos de mulheres; entretanto, quando houve cauterização ovariana, a lesão provocada foi característica e condiz com as poucas descrições na literatura. Um modelo experimental precisa ser desenvolvido antes do uso desta técnica em mulheres, pois lesões por eletrocautério do aparelho digestivo e urinário podem resultar em graves complicações.
DOSAGEM DE COTININA POR HPLC (UV/VIS) EM PARTURIENTES
CARMEN PILLA;C M SCHUH, J M CHATKIN, M B WAGNER
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 302
A cotinina é o maior metabólito da nicotina e marcador sensível para avaliar seus usuários. Vários estudos associam o tabagismo de gestantes com o peso de RN e há controvérsias sobre as fumantes passivas.Vários métodos foram desenvolvidos para detectar o tabagismo em plasma, urina ou saliva. O objetivo foi validar um método por HPLC simples e sensível para medir a concentração da cotinina na urina de gestantes relacionando seu efeito no peso do RN. Nós estudamos 200 parturientes saudáveis, maiores de 18 anos, com mais de 37 semanas e até 12 horas de hospitalização pré-parto que responderam o questionário sobre hábitos do tabagismo. A cotinina foi extraída de uma mostra de urina com diclorometano em pH alcalino e medida em equipamento Shimadzu e coluna RP18 (5uX250mmX4,6mm). como fase móvel usamos mistura de água, metanol, acetato de sódio 0,1M e acetonitrila (50:15:25:10) pH 4,4. O intra-ensaio foi para média de 6,65 ng/mL (±0,31) e 24,5 nm/mL (±1,64); e para entre-ensaio para média de 11,0 nm/mL (±1,36) e 100,7 nm/mL (±3,69). Os resultados obtidos em ng/mL para a dosagem de cotinina foram (264,6 ±268,2) para fumantes ativas; (25,0 ±145,4) para fumantes passivas e (21,1 ±106,8) para não fumantes. Os RNs tiveram peso médio de 3168g para fumantes ativas, 3175g para fumantes passivas e 3327g para não fumantes. Alem de validarmos um método fácil, rápido e sensível para dosagem de cotinina em usuárias de tabaco nossos resultados mostraram diferenças significativas no peso de RN quando comparamos o peso de crianças nascidas de mães fumantes passivas com as não fumantes -152g (CI 95%; p=0,026) e quando comparamos com o peso de crianças nascidas mães fumantes ativas com mães não fumantes -159 (CI 95%; p=0,029). Os resultados sugerem que fumantes passivas podem apresentar efeitos semelhantes as fumantes ativas sobre as medidas antropométricas de RN.
CORRELAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE VEGF EM MULHERES COM E SEM CÂNCER DE MAMA
MELINA BRAUDE CANTERJI;NILTON LEITE XAVIER; LARA RECH POLTRONIERI; DIEGO DE MENDONÇA UCHOA; MARIA CLARA MEDINA CORREA; CARMEM PILLA
Introdução: O fator de crescimento do epitélio vascular (VEGF) é uma das citocinas angiogênicas mais potentes no câncer de mama e tem sido correlacionada com o grau de angiogênese. A relação dos fatores angiogênicos na patologia mamária está ganhando o reconhecimento de cientistas e clínicos, desde que possam funcionar como alvos moleculares no controle da expansão tumoral. Estudos compararam os níveis plasmáticos do VEGF em pacientes com patologia benigna de mama e com câncer priário sem recorrência e metastático. Ocorreu correlação positiva com o câncer e, quanto mais avançada a doença, mais elevados foram os níveis de VEGF. Objetivo: Investigar a correlação entre os valores de VEGF plasmática em pacientes com e sem câncer de mama. Métodos: Trata-se de um estudo caso-controle para avaliar a associação entre os níveis séricos de VEGF e a presença de câncer de mama. Para tanto, foram incluídas prospectivamente, de março/ 2008 a janeiro/2009, 42 mulheres com câncer de mama primário, operável, no momento do diagnóstico. Os controles são 42 mulheres sem patologias malignas mamárias, incluídas de novembro/2008 a janeiro/2009. Foi solicitada a assinatura do consentimento informado para a participação no estudo. Foi realizada coleta de sangue e após centrifugação a 3500rpm, o soro foi separado e colocado em ependorf, congelado a -80ºC para futura dosagem de VEGF, pela técnica de ELISA. Casos e controles foram pareados para IMC e idade. Resultados: No pareamento obteve-se a média de 28,0 e 28,1 Kg/m² e 54,2 e 55,2 anos, respectivamente. Na análise da comparação das varianças dos grupos, observamos que são diferentes com um p=0,002. Conclusão: Os grupos caso e controle são distintos, com niveis séricos de VEGF mais levados, nos casos, de acordo com resultados da literatura.
ENDOMETRIAL ELAFIN EXPRESSION IN THE PRESENCE OF HYDROSALPINX
GISELE SILVA DE MORAES;RAFAEL DO AMARAL CRISTOVAM; ERNESTO DE PAULA GUEDES NETO; RICARDO FRANCALACCI SAVARIS; MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS
Elafin belongs to the antileukoproteinase family of proteinase inhibitors and regulates nethrophil elastase and proteinase 3 during inflammatory events. Hydrosalpingix is a chronic inflammatory process in the Fallopian tubes, and it has been shown that it has repercussion in the endometrial epitelium. The objective of this study is to investigate the protein expression of elafin in the endometrium of women with hydrosalpingix, and to compare with normal fertile women. Endometrial
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 303
biopsies from normal fertile women (women submitted to tubal ligation; n=8, and women with hydrosalpingix; n=8) were performed during menstruation. Samples were fixed in formalin and paraffin embedded for immunohistochemistry. Samples were incubated with mouse antielafin antibody at 1:10 dilution.Protein expression was analysed through optical microscopy using HSCORE in both groups in a blind fashion. This study was approved by ethical commitee from HCPA. Intra-observer agreement had a bias of 0.3+-0.5. No difference was identified comparing elafin expression in glands and stroma in both groups. However, it was statically reduced in the lumen and leokocytes. In the presence of hydrosalpingix, elafin expression is reduced in leukocytes and in the lumen of the endometrium, but not in the endometrial glands and stroma.
DOES BUPIVACAINE IN LAPAROSCOPIC PORTS REDUCE POST SURGERY PAIN IN TUBAL LIGATION BY ELECTROCOAGULATION?
GISELE SILVA DE MORAES;RAFAEL DO AMARAL CRISTOVAM, OSCAR MIGUEL DE ANDRADE, RICARDO FRANCALACCI SAVARIS
Anesthesia in Tubal Ligation is a controversial topic, with few clinical trials about.by Electrocoagulation. Objective: To compare objectively the pain reduction with bupivacaine versus placebo in trocar ports after laparoscopic tubal ligation with electrocoagulation under general anesthesia. Methods: Consecutive patients scheduled for laparoscopic tubal ligation were randomized to bupivacaine 0.5% (n = 29) or placebo (n = 23) using sealed and in sequence envelopes. Sterilization was performed in a standard fashion. Pain was blindly assessed at 15, 30 minutes, and 2 and 24 hours postoperatively. Standard pain medications were prescribed for the subjects and compared between groups. Sample size was calculated to find a difference of >0.1 in a 0-10 pain scale, having an alpha and beta error of 0.05 and 0.8 respectively. Results: No difference was found between bupivacaine and placebo groups at all times: 15min: 3(1-6.3) vs. 4(0-7); 30min: 1.5(0-4.3) vs. 2(0-5); 2h: 0(0-0.5) vs. 0(0-1); 14h: 1(0-4) vs. 0(0-4), and for use of analgesics: dipyrone (g): 1(0-1) vs. 1(0-1); morphine (mg): 3(0-3) vs. 3(0-3.5); diclofenac (mg): 0(0-50) vs. 0(0-50) [bupivacaine vs. placebo - median(25-75 quartiles)] (all P>0.05). Conclusion: The use of local injection of bupivacaine 0.5% in the trocars ports was not superior than placebo to reduce pain after laparoscopic tubal ligation with electrocoagulation under general anesthesia.
DISPAREUNIA
SIMONE BARRETO MARTENS;HEITOR HENTSCHEL; DANIELE LIMA ALBERTON; JÚLIA MARQUES DA ROCHA DE AZEVEDO; JULIA BARBI MELIM
INTRODUÇÃO: Queixas sexuais têm prevalência de 40% em mulheres e possuem etiologia multifatorial, envolvendo aspectos sociais, psicológicos e biológicos. Dispareunia é a dor persistente ou recorrente no início, durante ou após a penetração vaginal. Quando acontece no início e pós-coito geralmente está associada à alteração hormonal, por atrofia vulvo-vaginal ou por vulvodínia e queixas urinárias. Quando ocorre durante o coito pode ter origem orgânica, uterina ou anexial. Segundo a OMS, dispareunia tem prevalência entre 8 e 22% nas mulheres. A reposição hormonal é eficaz para aliviar sintomas físicos e, consequentemente, psicológicos de disfunção sexual. OBJETIVOS: Avaliar a eficácia de hormonioterapia no tratamento de dispareunia em pacientes do Ambulatório de Sexologia do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisados os prontuários de 514 mulheres que consultaram de 1999 a 2009. Dados referentes à dispareunia e hormonioterapia contendo testosterona, assim como a resposta ou não ao tratamento, foram computados. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Apresentaram queixa de dispareunia 97 mulheres, que tinham de 18 e 68 anos. Sessenta e oito receberam tratamento hormonal contendo testosterona e 35, outro tratamento. Utilizou-se testosterona injetável em 11 pacientes, associação estradiol com testosterona injetável em 33 pacientes e testosterona tópica em 24 pacientes, tendo apresentado melhora, respectivamente, 7 (63%), 25 (76%) e 13 (54%) pacientes. Treze pacientes não retornaram após a prescrição do tratamento. Esta revisão sugere que pacientes que utilizam hormonioterapia contendo testosterona como tratamento para dispareunia obtém melhora importante da queixa, especialmente aquelas que utilizam a associação com estradiol.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 304
AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SANGRAMENTO MENSTRUAL DAS PACIENTES USUÁRIAS DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
JULIANA ZANROSSO CARAN;VIVIANE RENATA PHILIPSEN; GRASIELE MELLO; LETÍCIA MARIA SANTOS; CAROLINE LEÃO ODERICH; MARIA CELESTE DE OSÓRIO WENDER
Introdução. O dispositivo intrauterino (DIU) representa boa opção contraceptiva, porém, apresenta indicação ampla, incluindo endometriose e sangramento uterino anormal (SUA). O principal mecanismo de ação do DIU com levonorgestrel (LNG) é baseado na liberação contínua deste hormônio com marcante atrofia endometrial. Observa-se associação do uso com uma importante redução do fluxo menstrual. Há evidencias de que ao final do primeiro ano, cerca de 20% das usuárias estão em amenorréia e 50% apresentam oligomenorréia. No entanto a queixa de distúrbios menstruais com sangramento escasso e contínuo do tipo spotting é comum nas usuárias de DIU com levonorgestrel (14 a 26%) e parece ser independente do sangramento antes do tratamento, sendo responsável também por elevada taxa de descontinuidade. O endométrio exposto a progesterona mostra também alterações importantes da vascularização que parecem estar implicadas na gênese do sangramento irregular do DIU medicado. Objetivo. Avaliar o perfil de sangramento vaginal em pacientes usuárias de SIU-LNG. Material e Métodos. Estudo transversal com 92 pacientes que inseriram SIU-LNG entre jan/2007 e dez/2008. As pacientes foram acompanhadas durante 1 ano, com consultas semestrais. Foram avaliados perfil de sangramento, indicação, permanência do uso do método. Resultados. Em 39 pacientes, o SIU-LNG foi inserido para método contraceptivo; em 48 casos para tratamento de SUA; em 5 por endometriose. A idade média no momento da inserção foi de 36,8 / 42,4 / 36,6 anos, respectivamente. Cerca de 20% das pacientes evoluíram com amenorréia, sendo a oligomenorréia observada na mesma porcentagem. Em torno de 12% notou-se sangramento menstrual regular e apenas 2% apresentaram menometrorragia. Houve expulsão do DIU em 4 casos, sendo reinserido em 2. Oito (9%) pacientes retiraram o dispositivo por SUA, sendo que 3 evoluíram para histerectomia como tratamento definitivo. Não foram observados quadros de infecção nesta amostra.
NOJO E SEXUALIDADE
DANIELE LIMA ALBERTON;HEITOR HENTSCHEL; JÚLIA MARQUES DA ROCHA DE AZEVEDO; JULIA BARBI MELIN; SIMONE BARRETO MARTENS
O NOJO é uma emoção primitiva, caracterizada por repulsa e afastamento, associado com evitação e distanciamento do estímulo. De uma perspectiva evolucionista, nojo é um mecanismo de defesa. O OLFATO tem importância na comunicação sexual e está associado à atração e à repulsa. Há pessoas que referem forte sensação de nojo após a relação, praticando higienização imediata após o coito para remover o cheiro sexual. Considerando que secreções e odores corpóreos estão entre os mais fortes desencadeadores de nojo, este sentimento pode surgir durante a relação sexual. Objetivos: Avaliar a prevalência da queixa da sensação de nojo na relação sexual e a resposta ao tratamento em pacientes atendidas no AMBULATÓRIO DE SEXOLOGIA do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA. Material e métodos: Foram analisados prontuários de 514 pacientes que consultaram de 1999 a 2009. Dados referentes ao nojo, ao tratamento e à resposta foram computados. Resultados e conclusões: Espontaneamente referiram sentir NOJO na relação sexual 41 pacientes. A sensação de nojo era acompanhada de outras queixas sexuais como ausência ou diminuição de desejo, de anorgasmia ou de desconforto sexual. Foi utilizado testosterona injetável em 6 pacientes, associação testosterona e estradiol injetável em 16 e testosterona tópica em 10. O tratamento foi dirigido para a disfunção sexual. Das 41 pacientes que referiram sentir nojo, 19 (52,77%) referiram remissão total da sensação e 3 (8,3%) remissão parcial. As pacientes que utilizaram testosterona injetável, principalmente combinada com estradiol, obtiveram melhora importante no tratamento da disfunção sexual, com retorno do desejo e/ou do orgasmo. A sensação de nojo, desencadeada pelo cheiro do companheiro ou do esperma, desapareceu com o retorno do prazer sexual.
EFEITOS DO USO CONTRACEPTIVO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NO METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 305
CAMILA TEIXEIRA PEREIRA ;GRASIELE CORREA DE MELLO, LETÍCIA MARIA VAZ DOS SANTOS, CAROLINA ODERICH, MARIA CELESTE WENDER, JAQUELINE LUBIANCA, FERNANDO FREITAS
Introdução: O implante de etonogestrel (Implanon®) é um anticoncepcional de uso subdérmico, de bastonete único, com duração de 3 anos. Os principais efeitos colaterais são sangramento irregular (amenorréia e spotting), acne, dismenorréia e aumento de peso corporal. Este método contraceptivo, contudo, ainda não foi bem estudado quanto aos efeitos no metabolismo, principalmente dos carboidratos. Objetivo: Avaliar as alterações metabólicas nos carboidratos geradas pelo uso do implante subdérmico de etonogestrel em mulheres saudáveis, comparando com mulheres que usam outro método anticoncepcional não hormonal. Material e métodos: Pacientes serão provenientes do ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA. Critérios de inclusão: assinar o termo de consentimento informado livre e esclarecido; idade 18- 40 anos; ciclos menstruais regulares (24-35 dias); exame ginecológico normal. Critérios de exclusão: IMC> 30; >40 anos; características físicas de distúrbio hormonal (hirsutismo, excesso de acne; diabetes ou resistência a insulina aumentada; exame físico ou citopatológico do colo uterino alterado; contra-indicação ao uso de hormônio ou de DIU. Após entrevista inicial, assinatura do termo de consentimento e exame ginecológico, com aferição de pressão arterial, peso, altura e IMC; serão solicitados hemograma, glicemia e insulina de jejum,glicemia 2 h pós 75 g glicose e hemoglobina glicosilada, e as pacientes irão retornar para colocação do método contraceptivo escolhido pelas mesmas: implante na face interna do braço ou DIU. As pacientes serão acompanhadas após 6 e12 meses do início da anticoncepção, com exame físico e coleta de exames laboratoriais. Ao fim do estudo, poderão optar em manter ou não o método contraceptivo. Resultados: Foram colocados 22 implantes e 18 DIUs até o momento. Conclusão: o trabalho está na fase de coleta de dados.
TAXAS DE CESARIANAS POR FAIXA ETÁRIA NO HCPA
VALQUÍRIA SCHRODER;LORENA REALI; GABRIELA CANTORI; RENATA BERNARDI
Introdução: O parto em idades precoces tem sido associado à maior morbi-mortalidade materna e fetal, ao parto pré-termo, ao baixo peso ao nascimento e à restrição de crescimento intra-uterino. Essas complicações seriam indicações de cesárea. Entretanto, estudos mais recentes mostraram resultados que associam a gravidez em adolescentes a menores taxas de cesáreas. São basicamente três as principais situações que podem explicar o aumento da taxa de cesárea com a idade em gestantes: (1) Um aumento maior do osso pélvico em gestantes adolescentes em comparação com gestantes de mais idade; (2) Incidência de baixo peso fetal maior em mães adolescentes; (3) Complicações maternas graves ocorrem mais em gestantes com idade mais avançada. Objetivo: Analisar as taxas de cesarianas em gestantes atendidas no HCPA e sua relação com a faixa etária destas. Materiais e métodos: Foram buscados no sistema de Informações Gerenciais (IG) do HCPA dados referentes ao número e às taxas de cesárea das 29.220 gestantes atendidas no HCPA no período de janeiro de 2002 a abril de 2009, categorizados por faixas etárias. Resultados: A taxa de cesárea do período foi de 31,3%. Observa-se que esta taxa aumenta conforme a idade, sendo de 23% entre 10-19 anos, 30% entre 20 e 29 anos, 39,9% entre 30 e 39 anos e de 46,7% acima de 40 anos. Conclusão: Conclui-se que a taxa de cesarianas do HCPA, do ano de 2002 ao de 2009, aumenta com a idade, não sendo mais alta entre as adolescentes. As causas prováveis são a maior incidência de RN de baixo peso (<2500g) em adolescentes e pelo número maior de complicações em mães na faixa etária adulta.
INSÔNIA E CLIMATÉRIO: EFEITOS DO ESTRADIOL E TRIMEGESTONA NO PADRÃO DE SONO EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA
GABRIELLE AMARAL NUNES;CAMILA TEIXEIRA PEREIRA; BETÂNIA HUBER DA SILVA; MARIA CELESTE WENDER; DENIS MARTINEZ
Introdução: Distúrbios do sono aumentam de freqüência quando as mulheres passam pela menopausa. Os sintomas do climatério podem ser insônia, pouca eficácia do sono, dificuldade de manter o sono, irregularidades respiratórias e fogachos. Existem estudos sobre o uso da terapia hormonal visando à melhora na qualidade do sono dessas mulheres. A polissonografia (PSG) tem sido usada para confirmar objetivamente as queixas subjetivas associadas à insônia. Objetivos:
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 306
Verificar os efeitos da associação do estradiol com trimegestona no sono de mulheres na pós-menopausa. Material e métodos: Serão entrevistadas pacientes na pós-menopausa do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA e 24 serão selecionadas para esse estudo duplo-cego, controlado por placebo. Critérios de inclusão: última menstruação há mais de 1 ano e no máximo há 4 anos; idade entre 40 e 60 anos; IMC < 27 Kg/m2. Critérios de exclusão: doenças graves, espessura endometrial na ecografia transvaginal superior a 5 mm; anormalidade na mamografia (BIRADS > 3); história de câncer endometrial ou de mama; uso de terapia hormonal nos 3 meses anteriores; uso de psicotrópicos, bem como abuso de cafeína ou álcool. As pacientes serão submetidas a exame físico, e serão solicitados exames laboratoriais, incluindo dosagens hormonais (FSH, estradiol, TSH). Confirmada a existência de insônia na PSG de triagem, as mulheres serão randomizadas para 30 dias de hormonioterapia combinada ou placebo. Ao final nova PSG será realizada. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética HCPA/UFRGS. Resultados: Há 15 pacientes incluídas no projeto: 6 delas já concluíram, 9 aguardam resultados de exames. Conclusão: O trabalho está em fase de coleta de dados.
RACLO - ENSAIO CLÍNICO ENTRE RALOXIFENO E CITRATO DE CLOMIFENO NA INDUÇÃO DA OVULAÇÃO DE MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS
RAFAEL DO AMARAL CRISTOVAM;RICARDO FRANCALACCI SAVARIS;EDUARDO PANDOLFO PASSOS;BRUCE ARTHUR LESSEY;GISELE SILVA DE MORAES
A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino-metabólico mais freqüente em mulheres em idade reprodutiva. As pacientes com SOP, que desejam engravidar necessitam, na maior parte das vezes realizar algum tratamento para induzir a ovulação. O objetivo de estudo é comparar a taxa de ovulação entre raloxifeno e citrato de clomifeno nas mulheres com a SOP e identificar a expressão dos marcadores da receptividade uterina (subunidade β3 da integrina endometrial) na fase secretora média nas mulheres que ovularam com raloxifeno ou clomifeno. Materiais e métodos: Estudo randomizado, prospectivo, duplo-cego. Pacientes com SOP e sem outras alterações metabólicas que justifiquem a não-ovulação são randomizadas para receber raloxifeno ou citrato de clomifeno por 5 dias após uma menstruação induzida. A partir do 10º dia, são acompanhadas com USTV para verificação se houve ovulação. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA. Resultados: Já foram randomizadas mais de 50 pacientes até o momento (n previsto de 88 pacientes). Não houve diferença significativa nas variáveis do baseline. Até o momento, ambos os tratamentos têm apresentados semelhantes taxas de indução da ovulação. 54,55% no tratamento A e 56,25% no tratamento B. O OR para ovular com tratamento A em relação ao tratamento B foi de 0,9697 com IC (0,3854 – 1,936). Conclusão: O raloxifeno mostra-se até o momento como uma nova alternativa para indução da ovulação em mulheres com SOP.
O COMPORTAMENTO HEMODINÂMICO E DA APTIDÃO FÍSICA EM GESTANTES QUE REALIZAM ATIVIDADES AERÓBICAS
RAQUELI BISCAYNO VIECILI;DR PAULO RICARDO NAZARIO VIECILI
Este trabalho teve como objetivo verificar o comportamento hemodinâmico e da aptidão física em gestantes que realizam atividades aeróbicas. Foram selecionadas dez mulheres, que se encontravam aproximadamente no mesmo período de gestação com idades média de 27 ± 8,25 anos, sem nenhuma contra indicação médica ao exercício físico e foram separados em dois grupos A e B. O grupo A realizou treinamento físico aeróbico, realizado por meio de caminhada em esteiras duas vezes na semana por três meses; a intensidade foi definida de acordo com o VO2max de cada gestante, sendo obtido indiretamente por meio de teste ergométrico em esteira rolante. A duração foi de uma hora cada sessão onde foram obtidos os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica inicial, bem como a freqüência cardíaca inicial de pico e final de cada sessão e o peso semanal. No final do estudo foram comparadas as variáveis pré e pós programa de exercício físico (PEF). Os resultados foram expressos em Média ± DP e os dados contínuos analisados pelo teste “t” de Student. Foi considerado significativo o valor de p£ 0,05. Na análise dos resultados pré e pós o PEF verificou-se aumento de peso significante (59 ± 10 x 65 ± 9, p= 0,004, ∆= 10% ); redução na freqüência cardíaca inicial (92±16 x 86±15, p= 0,04, ∆= -7%) e na pressão arterial diastólica inicial (77 ± 6 x 63 ± 5 mmHg, p= 0,02 , ∆= -19%) e um significativo aumento no VO2 max (23 ± 4 x 28 ± 5, p= 0,05, ∆= 22%). As demais variáveis não obtiveram alterações hemodinâmicas significativas, muito provável pelo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 307
pequeno número de amostra. Conclui-se então que a prática regular moderada, controlada e orientada de exercícios físicos reduziu a freqüência cardíaca inicial, a pressão arterial diastólica inicial e aumentou a capacidade aeróbica de gestantes sedentárias, melhorando assim, seu comportamento hemodinâmico e a aptidão física das mesmas.
INSÔNIA AO LONGO DA GRAVIDEZ NORMAL E COMPLICADA: UM ESTUDO CONTROLADO
DANIELA MASSIERER;CÍNTIA ZAPPE FIORI; ADRIANI GALÃO; RENATA S. R. KAMINSKI; MÁRCIA K. FISCHER; CRISTIANE M. CASSOL; CARLA KOTTWITZ; SIMONE RITTER; PRISCILLA D ÁVILLA; LAURA RAHMEIER; DENIS MARTINEZ
Introdução: Na gravidez há maior alta prevalência de transtornos do sono que podem se associar a complicações gestacionais. A ocorrência de insônia varia ao longo da gravidez. Objetivos: Estabelecer o papel prognóstico de insônia na gravidez, acompanhando grávidas com e sem complicações e não grávidas. Métodos: Grávidas que consultaram na UBS-HCPA no primeiro trimestre (T1) de gravidez (grupo gravidez normal; GN) foram convidadas a preencher dois questionários validados sobre sintomas de insônia: Atenas e Women\'s Health Initiative (WHI). No segundo (T2) e terceiro trimestre (T3), os questionários foram reaplicados. Grávidas com complicações (grupo GC; hipertensão, diabete, asma, anemia) também foram incluídas. O grupo controle foi constituído de mulheres de idade comparável que consultaram no ambulatório de ginecologia por múltiplas causas não gestacionais e que também responderam aos questionários em 3 consultas consecutivas (Grupo Ginecologia; GG). Resultados e Conclusões: Foram incluídas 75 gestantes (63 GN e 12 GC) e 58 mulheres controle no GG. A idade média era 29±7 anos. Como esperado, no GG, os escores de insônia foram baixos e semelhantes em T1, T2 e T3 (Atenas; 6.6±4.7 vs. 6.6±4.7 vs. 6.5±4.5) e (WHI; 8.1±4.9 vs. 8.1±4.9 vs. 7.5±3.8). Nas GC, ambos os escores foram mais elevados que nas GN (Atenas; 11.4±19.2 vs 7±12.6), respectivamente e (WHI; 13.1±6.6 vs 9.3±5.2). Comparando T1 com T3 nas GN, os valores passaram de 6.81±4 para 7.45±4.6, nas GC de 10.2±5.2 para 13.8±8.7. Os escores das GC são significantemente maiores em todos os trimestres. Observa-se tendência de aumento nos escores das GN e GC em T3, mas não são significantemente mais altos que em T1 e T2. A continuação deste estudo levará a conhecimento sobre o papel prognóstico da insônia na gravidez.
HEMATOLOGIA
PADRONIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE EXPANSÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS OBTIDAS DO FILTRO E DA BOLSA DO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES COM DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO
VANESSA DE SOUZA VALIM;LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA, LAURO MORAIS JÚNIOR, ANNELISE RIBEIRO DA ROSA, LIANE NANCI ROTTA
Introdução: Na medula óssea (MO) pode-se encontrar células-tronco hematopoéticas (CTH) e células-tronco mesenquimais (CTM). O transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) é um dos principais tratamentos de doenças malignas hematológicas, e a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) é a maior causa de morbidade após o TCTH. No TCTH pode-se doar medula óssea, sangue de cordão umbilical ou sangue periférico (SP). Muitos estudos demonstram que CTMs podem exercer um potente efeito imunossupressor contra a DECH, inibindo a proliferação e a memória de linfócitos. Estudos já foram realizados em humanos demonstrando eficácia no combate a DECH aguda. Em transplantes não aparentados normalmente a coleta é realizada em local diferente de onde será realizado o transplante, dificultando uma segunda coleta para cultivo de CTMs. Objetivo: Padronizar uma técnica de obtenção e expansão de CTMs obtidas a partir da lavagem do filtro e bolsa utilizados no TCTH. Materiais e Métodos: Para obtenção da amostra é feita uma lavagem com solução salina no filtro e na bolsa utilizados nos transplantes alogênicos de CTH. As células são cultivadas em meio de cultura DMEM com 5% de lisado de plaquetas humano como suplemento. Após 6 semanas de cultivo é realizada a imunofenotipagem das células e a diferenciação em adipócitos, condrócitos e osteócitos. Resultados: Até o momento foram realizadas 8 culturas, 4 de SP e 4 de MO. As culturas de sangue periférico não cresceram, corroborando com a literatura. As de medula óssea estão expandindo muito bem, variando até o momento de 5 milhões a
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 308
17 milhões de células. Discussão: Considerando que o mínimo de células para infusão em humanos para que tenha o efeito é de 100.000 céls/Kg, até o momento estamos conseguindo expandir para a infusão em adultos.
ANÁLISE DE SOBREVIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS ALOGÊNICO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
LILLIAN GONÇALVES CAMPOS;ALESSANDRA APARECIDA PAZ, LIANE ESTEVES DAUDT, TITO VANELLI COSTA, LUCIA MARIANO DA ROCHA SILLA
O transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) alogênico é um procedimento com grande potencial de cura para doenças hematológicas malignas. O benefício da técnica está especialmente relacionado ao aumento da sobrevida de alguns pacientes em que o tratamento quimioterápico mostrou-se insuficiente ou ineficaz. Objetivos: Analisar a sobrevida de pacientes que receberam TCTH no serviço de Hematologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Métodos: Estudo de coorte prospectivo de 133 pacientes transplantados entre 1994-2003 e idade média de 30,8 ± 14,8 anos, com análise de sobrevida num período de 5 anos. Os pacientes foram acompanhados em regime de internação, ambulatorial e hospital dia, periodicamente. Resultados: 53,4 % dos pacientes estavam vivos 5 anos após o transplante. Quando foi realizada uma análise de acordo com a doença primária, leucemia mielóide aguda, leucemia mielóide crônica e síndrome mielodisplásica apresentaram 52 %, 50 % e 33 % de sobrevida, respectivamente. 66,7% dos pacientes transplantados por anemia aplásica, com idade inferior a 20 anos, estavam vivos no período analisado, enquanto 61,5% dos pacientes com idade superior apresentavam a mesma condição. Conclusão: Os dados são similares aos observados em outras instituições e demonstram a importância da doença primária na determinação do prognóstico de um paciente submetido a transplante de medula óssea alogênico.
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO POR HEPATITE C EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA CLÍNICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ANNELISE RIBEIRO DA ROSA;ROBER ROSSO; MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA; LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA
O presente estudo teve por objetivo determinar a prevalência de infecção por hepatite C em pacientes com anemia falciforme. No período de agosto a outubro de 2008, analisaram-se retrospectivamente, 118 prontuários de pacientes com anemia falciforme atendidos regularmente pelo Serviço de Hematologia Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi encontrada uma prevalência de 21,6% de HCV na amostra estudada, esses dados demonstram uma alta prevalência do vírus da hepatite C em indivíduos com anemia falciforme quando comparados com a população em geral. Quanto às transfusões sanguíneas 88,6% dos pacientes sofreram transfusão, sendo que dos 21 pacientes com infecção pelo HCV, 17 receberam transfusão de sangue anterior ao ano de 1993. Assim, com este estudo foi possível observar uma alta prevalência de HCV nos pacientes com anemia falciforme, que pode ser atribuída ao grande número de exposição a fatores de risco aos quais esses pacientes se submeteram.
SÍNDROME DE POEMS: RELATO DE UM CASO E SEU TRATAMENTO COM TRANSPLANTE AUTÓLOGO PERIFÉRICO DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS
JOANA CIOCARI;LEO SEKINE;LISANDRA DELLA COSTA;ROSANE BITTENCOURT; LÚCIA SILLA;LIANE DAUDT
Introdução: A síndrome de POEMS também conhecida como mieloma osteoesclerótico, síndrome de Crow Fukase ou Takasuki é uma rara doença caracteriza por polineuropatia periférica (P), organomegalias (O), endocrinopatia (E), gamopatia monoclonal (M) e alterações na pele (S-Skin).É uma discrasia dos plasmócitos não completamente esclarecida, tendo as citocinas inflamatórias aumentadas como principal fator de sua etiopatogênese.Altas doses de agentes alquilantes e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 309
transplante autólogo são uma terapia emergente no tratamento destes pacientes.Objetivo: Demonstrar a ótima resposta clínica da síndrome ao transplante autólogo periférico de células tronco hematopoiéticas.Relato de Caso : Relataremos o caso de uma paciente de 50 anos, com manifestações severas da síndrome de POEMS associada a doença de Castleman e sua resposta clínica quase completa ao transplante autólogo periférico de células tronco hematopoiéticas. Discussão: Altas doses de melfalan e o transplante autólogo tem demonstrado excelentes resultados clínicos nestes pacientes. As maiores séries de caso são da clínica Mayo, onde há resposta semelhante a encontrada em nosso paciente, como melhora quase completa da neuropatia periférica, organomegalias e ascite.Conclusão: Concluímos com este relato, onde os resultados clínicos foram excelentes e semelhantes aos encontrados na literatura, que o transplante autólogo periférico de células tronco hematopoiéticas é uma opção terapêutica efetiva na síndrome de POEMS.
RELATO DE CASO: LMA RECAÍDA PÓS TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE CÉLULAS TRONCO PERIFÉRICAS EM REMISSÃO COMPLETA QUANDO SUBMETIDO A DLI
JOANA CIOCARI;CRISTIANE WEBER;ALESSANDRA PAZ;LÚCIA SILLA;LIANE DAUDT
Introdução: A leucemia mielóide aguda, a mais comum das leucemias agudas em adultos, é caracterizada por achados biólogicos heterogêneos e distintos. A quimioterapia com antracíclicos e citarabina obtem remissão completa em 60 a 80 % dos pacientes com menos de 60 anos, porém, virtualmente, todos irão recair sem outro tratamento.Uma das terapias de consolidação é o transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas que é o tratamento de escolha para a maioria dos pacientes recaídos, apesar de seus resultados serem inferiores do que naqueles em primeira remissão completa.A recaída, que ocorre em 40% dos pacientes transplantados, permanece como principal causa de mortalidade relacionada ao procedimento. Sua principal forma de tratamento é a DLI (donor lymphocyte infusion) que promove uma resposta dos linfócitos do doador contra a leucemia, ocasionando uma maior sobrevida para estes pacientes.Objetivo: Demonstrar o caso de um paciente em remissão hematológica completa após recaída da doença, tendo feito tratamento com DLI.Relato de caso: Relataremos a seguir o caso de um paciente de 30 anos submetido ao transplante de células tronco hematopoiéticas em terceira remissão completa que apresentou recaída da doença após 1 ano do mesmo, sendo refratário a quimioterapia de resgate.Foi tratado, então, com DLI e no momento está em remissão completa e quimerismo completo do doador.Discussão: Uma das alternativas para tratamento de pacientes com LMA recaídos no pós transplante de medula é a DLI. A recaída hematológica nestes pacientes está associada a resultados ruins, apesar do uso da terapia com DLI. O paciente do relato, apresentou resposta hematológica completa a esta terapia e ainda está em remissão, comprovando o efeito dos linfócitos do doador contra a leucemia.Conclusão:Apresentamos um raro caso de um paciente em remissão hematológica completa a DLI, demonstrando o efeito dos linfócitos do doador contra a leucemia como uma terapia efetiva nos pacientes recaídos.
ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS EMPÍRICAS PARA MANEJO DE NEUTROPENIA FEBRIL EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS (TCTH)
PAULA STOLL;JOICE ZUCKERMANN; LEILA BELTRAMI MOREIRA
Introdução: A incidência de neutropenia febril (NF) em pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) é de cerca de 90%. O manejo da NF com terapia antimicrobiana (ATB) empírica é etapa essencial na prevenção de mortalidade associada às infecções. Objetivo: Descrever estratégias de terapia ATB inicial e secundária em pacientes com NF submetidos ao TCTH. Avaliar a adesão às recomendações do Protocolo Assistencial de Manejo de Neutropenia Febril (PAMNF) do HCPA. Métodos: Estudo de coorte. Foram incluídos pacientes adultos submetidos ao TCTH no HCPA entre 2006 e 2008 com diagnóstico de NF. Registraram-se os ATB utilizados como terapia empírica inicial e secundária, categoria de risco segundo o escore MASCC, bem como a adesão ao PAMNF. Resultados: Foram acompanhados 125 TCTH, sendo 70,4% autólogos. A incidência de NF foi de 93,6%, e a maioria dos pacientes eram de baixo risco para complicações infecciosas (66,7%). A estratégia de manejo inicial mais frequente foi monoterapia (51,3%), seguida da associação de dois ATBs (41,9%) e mais de dois (6,8%). A maioria dos
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 310
pacientes que recebeu monoterapia utilizou cefepime (91,7%), e entre aqueles que receberam terapia combinada, a maioria recebeu cefepime e metrodinazol (63,3%). Em 67,5% dos casos houve necessidade de modificação do esquema inicial, a maioria (41,8%) após 48h em pacientes com piora clínica. O esquema secundário mais frequente foi cefepime associado à vancomicina (64,6%). A adesão ao PAMNF em relação à terapia inicial, secundária e tempo para modificação foi de 47%, 64,6% e 65,8%, respectivamente. Conclusão: A adesão ao PAMNF foi parcial, principalmente em relação ao ATB inicial. Medidas que promovam a sensibilização dos profissionais e disseminação do PAMNF devem ser estimuladas na instituição.
RESPOSTA MOLECULAR AO IMATINIB EM PACIENTES EM FASE CRÔNICA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA - FASES I E II: CRIAÇÃO DAS CURVAS DE PADRONIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO DAS CARACTERISTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS AO DIAGNÓSTICO
ANNELISE MARTINS PEZZI DA SILVA;NAVA, T. , SANTOS, F. T, MORAIS JUNIOR, L. , ROSA, A. , VALIM, V.
Introdução: Leucemia Mielóide Crônica (LMC) é uma doença monoclonal de precursores hematopoiéticos pluripotentes, caracterizada por uma proliferação exagerada da série mielóide. Um grande progresso no tratamento da LMC foi conquistado com o surgimento do inibidor da tirosina quinase BCR/ABL mesilato de imatinib, este é especifico para a translocação característica da LMC e induz altas taxas de resposta citogenética e molecular. Objetivos: Estimar o papel da resposta precoce ao imatinib (MI) na resposta molecular completa ao final de um ano de tratamento e a possibilidade de modificação de resultados com progressão precoce da dose do fármaco. Materiais e Métodos: Serão eleitos 240 pacientes entre 18 e 70 anos de idade que tenham recebido diagnóstico hematológico de fase crônica de LMC e que não tiverem recebido nenhum tratamento, exclusa hidroxiuréia. Pacientes arrolados receberão 400mg/dia via oral, durante os 2 primeiros meses após positividade para pesquisa de BCR-ABL e posterior quantificação ao diagnóstico. Após o término do 2º mês de tratamento a nova quantificação do transcrito deve ser realizada e então os pacientes serão dispostos em diferentes grupos onde terão ou não mudanças na dose administrada do fármaco de acordo com os resultados obtidos na quantificação da expressão do transcrito. O seguimento total será de 12 meses. Para identificação e posterior quantificação dos transcritos do gene será realizada extração de RNA de sangue periférico e/ou medula, transcrição reversa, PCR qualitativa (RT-PCR) e PCR qualitativa (RQ-PCR). Resultados e Conclusão: A pesquisa encontra-se em fase de extração de RNA e confecção de cDNA.
ACHADO CASUAL DE T.CRUZI NO LÍQUOR EM PACIENTE HIV POSITIVO
JOSÉ ALBERTO CUADRO POSADA;AMANDA KIRCHNER PICCOLI
Descrita pela primeira vez em 1909 por Carlos Chagas, a doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma parasitose causada pelo protozoário Trypanosoma Cruzi, transmitido ao homem e outros mamíferos por insetos hematófagos triatomíneos. A reativação da doença de Chagas têm sido relacionada a situações que induzem imunosopressão, como a infecção pelo HIV. A meningoencefalite e/ou miocardite são as principais manifestações clinícas. Embora o diagnóstico seja estabelecido e o tratamento específico instituido, a progressão é muitas vezes fatal. O caso clínico descrito a seguir se refere a paciente com Sida e reativação da doença de Chagas. RELATO DE CASO. Mulher de 64 anos, natural de Santo Ângelo, foi internada no dia 04 de março de 2008 com quadro de febre, inapetência e piora do sensório. Portadora de Sida sem receber tratamento a mais de 6 anos, desconhecia estar infectada por T.Cruzi. A tomografia computoadorizada do encêfalo evidenciou mínimas calcificações em núcleos da base bilateralmente e sinais de atrofía difusa. O raio X do tórax mostrou pequena a moderada cardiomegalia. Estes achados são sugestivos de reativação da doença e é relevante, uma vez que a paciente é procedente de área endêmica de tripanossomíase. No exame para pesquisa de parasita em lâmina foi negativo. Iniciou-se o tratamento com benzonidazol sem sucesso. A paciente foi a óbito no dia 29 de março de 2008. A reativação devido a sida é reportada desde 1990. No Brasil, até 2004 aproximadamente 120 casos foram relatados. O caso apresenta a necessidade de incluir a reativação da doença de Chagas em imunodeprimidos como diagnóstico diferencial em pacientes provenientes de regiões endêmicas.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 311
COORTE DE PACIENTES COM NEUTROPENIA FEBRIL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
CÍCERO DE CAMPOS BALDIN;RODRIGO PIRES DOS SANTOS, REGIS GOULART ROSA, JORGE SZIMANSKI AUZANI
Introdução: Episódios de febre em pacientes com neutropenia induzida por quimioterapia podem ameaçar a vida e requerem a administração empírica de antibióticos de amplo espectro. Bacteremia é a causa estimada de febre em 25% dos pacientes neutropênicos. Objetivos: Determinar a mortalidade e a incidência de resposta ao tratamento com os diferentes esquemas antimicrobianos utilizados para o tratamento de pacientes adultos com neutropenia febril no HCPA, bem como verificar o perfil epidemiológico e microbiológico desta população. Material e métodos: Será realizado um estudo de coorte, prospectivo, unicêntrico com pacientes adultos com neutropenia febril, secundária a neoplasias ou tratamento quimioterápico, internados na unidade de hematologia do HCPA. Os pacientes serão submetidos a uma avaliação inicial, acompanhados na internação e até 14 dias após alta hospitalar quando será verificado o desfecho de mortalidade pós-alta. Os dados serão coletados através de entrevistas e consultas ao prontuário médico dos pacientes, bem como ligações telefônicas. A comparação dos desfechos entre os braços do estudo será calculada através de teste Qui-Quadrado para variáveis nominais e teste de Mann-Whitney U para variáveis contínuas independentes. Em todos os testes estatísticos, um valor de P ≤ 0,05 será considerado como significativo. As curvas de sobrevida serão determinadas através do método de Kaplan-Meier. Resultado e conclusões: Trabalho em fase de coleta de dados.Esta patologia é responsável por um tempo de internação prolongado, um custo elevado à instituição e uma mortalidade que chega a cerca de 10% em estudos recentes feitos em centros de primeiro mundo. A administração de antibióticos profiláticos, os novos antibióticos disponíveis, a diminuição da proporção de infecções por gram-negativos, entre outros fatores, podem estar contribuindo para a diminuição na mortalidade nesses pacientes.
O IMPACTO DA CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE AMBIENTE PROTEGIDO SOBRE O CUSTO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PACIENTES ADULTOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO HOSPITAL DE CLÍNCAS DE PORTO ALEGRE
ANA PAULA COUTINHO ;RICARDO DE SOUZA KUCHENBECKER, OTÁVIO N. S. BITTENCOURT, FELIPE FRARE, NATALIA WOLFF
Introdução: Transplante de Medula Óssea (TMO) é uma opção terapêutica complexa que vem sendo utilizado de forma crescente nas últimas décadas no tratamento de enfermidades graves. É considerado um procedimento de alto custo, pela grande utilização de recursos no tratamento, tempo elevado de internação, além do investimento em prevenção de desfechos aos quais estes pacientes ficam sujeitos. Em maio de 2007 o HCPA inaugurou a Unidade de Ambiente Protegido (UAP) com 25 leitos, 15 destinados a pacientes neutropênicos e 10 para TMO. O principal diferencial desta unidade é o controle da qualidade do ar e o cuidado dedicado ao paciente. Objetivo: Identificar o impacto da criação da UAP sobre o custo com medicamentos na internação de pacientes submetidos a TMO antes e após a intervenção. Materiais e métodos: Estudo de caráter descritivo, com dados obtidos através de uma query da prescrição médica, de quimioterapia e nutrição parenteral (NPT), informações lidas diretamente do sistema informatizado do HCPA, durante o período da internação do TMO e todas as posteriores num intervalo de até 6 meses. Neste estudo foram analisadas 230 internações referentes ao período pré-intervenção e 58, referentes ao período pós-intervenção. Em relação à metodologia de apuração de custos, o efeito da inflação foi removido fixando-se os valores numa mesma base temporal. Resultados: Os dados demonstraram uma redução no custo médio com medicamentos, quimioterápicos e NPT utilizados por estes pacientes de R$ 11.586,62 para R$ 8.574,41, demonstrando a diminuição de custos na ordem de 26% entre os períodos pré e pós-intervenção. Conclusão: Houve redução no custo significando a importância do sistema de ar controlado, rotinas de unidade fechada e cuidados dedicados, intervenção avaliada neste estudo.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A TMO EM HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITÁRIO DE GRANDE PORTE LOCALIZADO EM PORTO ALEGRE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 312
ANA PAULA COUTINHO ;RICARDO DE SOUZA KUCHENBECKER, FELIPE FRARE, NATALIA WOLFF
Introdução: O Transplante de Medula Óssea (TMO) é uma opção de tratamento aplicada à pacientes com câncer e outras doenças. De 2001, até o primeiro semestre de 2007 foram realizados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 454 TMO. No ano de 2007, na mesma instituição, foi criada a unidade de ambiente protegido (UAP), destinada a pacientes imunocomprometidos, que conta com 25 leitos, destes 10 destinados a pacientes submetidos a TMO. Objetivo: Identificar o perfil dos pacientes adultos submetido a TMO nos períodos pré e pós-criação da UAP. Materiais e Método: Estudo descritivo, realizado pela análise de querys que traçaram o perfil dos pacientes com idade superior a 17 anos que realizaram TMO entre janeiro de 2004 e junho de 2007. Foram analisados 211 casos, sendo 166 no período anterior à criação da UAP e 45 no período posterior. Resultados: No primeiro período 43,3% dos pacientes eram do sexo masculino e 56,6% masculino, tendo estes pacientes a idade média de 43,2 anos. No segundo período 57,7% dos pacientes eram do sexo feminino e 42,2% do sexo masculino, com idade média de 45,5 anos. Dos pacientes internados no primeiro período, 14,4% tiveram internação na CTI e 15,7% evoluíram a óbito, já no segundo período 15,5% utilizaram CTI e 11,1% evoluíram a óbito. O tipo TMO mais realizado no primeiro período foi o autólogo (65,7%), seguido do alogênico aparentado (30,1%) e não aparentado (4,2%). No segundo período os transplantes autólogos representaram 73,3%, alogênico aparentado 17,8% e não aparentado 8,9%. Conclusões: O perfil epidemiológico dos pacientes permitirá um estudo comparativo entre os períodos pré e pós-intervenção, a denominada UAP, através da identificação de custos destes pacientes e de seus desfechos assistenciais.
O IMPACTO DA CRIAÇÃO DA UAP NOS CASOS DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM PACIENTES ADULTOS SUBMETIDOS A TMO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ANA PAULA COUTINHO ;RICARDO DE SOUZA KUCHENBECKER, FELIPE FRARE, NATALIA WOLFF
Introdução: Em 2007 o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) criou a Unidade de Ambiente Protegido (UAP) para internação de pacientes neutropênicos e pacientes submetidos a transplante de medula óssea (TMO), situação de vulnerabilidade a infecções e risco aumentado de complicações. A UAP totaliza 25 leitos, sendo 19 para neutropênicos e 10 para TMO, caracterizando-se pela existência de um sistema de filtragem de ar (filtros HEPA), aplicação de rigorosos controles inerentes à unidades fechadas e cuidados dedicados. Objetivo: Demonstrar o impacto da criação da UAP sobre os casos de infecções hospitalares em pacientes adultos submetidos a TMO. Materiais e método: Estudo descritivo realizado por meio de querys extraídas do sistema informatizado da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), em pacientes com idade superior a 17 anos submetidos a TMO acompanhados por um período de 6 meses, a contar da data da realização do transplante. Foram analisados 211 pacientes, sendo 166 internados no período anterior à criação da UAP e 45 no período posterior. Para obtenção de um resultado mais preciso, foi realizado um cálculo, onde foi levado em conta o número de pacientes submetidos a TMO em cada período, a ocorrência de infecções por paciente e o número de dias de internação. Através dessa análise foi possível obter um número de infecções por pacientes-dia. Resultados: No período anterior à criação da UAP o número de infecções hospitalares por paciente-dia foi de 0,021 enquanto no período posterior, o número de infecções hospitalares por paciente-dia foi de 0,017. Conclusão: É possível observar que no período após a criação da UPA houve diminuição do número de infecções hospitalares em pacientes submetidos a TMO, principal desfecho associado à intervenção em estudo.
TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS EM PACIENTE PEDIÁTRICO COM ANEMIA FALCIFORME: RELATO DE CASO
MARIA CARLA BARBOSA DIEDRICH;ALESSANDRA A PAZ, MARIELA G FARIAS, JOANA M C CIOCCARI, CHRISTINA M BITTAR, RAFAEL M OBERTO, TIAGO R NAVA, ANA PAULA ALEGRETTI, JOÃO R FRIEDRISCH, LUIS FERNANDO JOBIM, LIANE ESTEVES DAUDT
Introdução: Anemia falciforme (AF) é uma doença genética da cadeia beta-globina que altera a solubilidade e leva à polimerização irreversível dos eritrócitos. Esta causa perturbações na integridade do eritrócito e promove a vaso-oclusão e suas manifestações clínicas: crise álgica,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 313
síndrome toráxica aguda (STA), infartos esplênicos e acidente vascular cerebral (AVC). Terapias de suporte estão disponíveis para minimizar seqüelas, mas a única opção de cura é o transplante alogênico de células hematopoéticas (TCTH). Objetivo: Relatar a experiência de TCTH num paciente com AF no nosso centro. Relato do Caso: Paciente feminina, 3 anos, ao nascimento apresentou icterícia e dactilia. Teste do pezinho demonstrou AF, confirmada pela eletroforese de hemoglobina HbF 37,8%, HbS 61,3% e HbA2 0,9%. Compareceu várias vezes a emergência por crises álgicas, além de 5 crises vaso-oclusivas graves de seqüestro esplênico. Diante da gravidade destes episódios e tendo um doador HLA compatível familiar, optou-se pelo TCTH. Este foi realizado em fev/09 com condicionamento de bussulfan, ciclofosfamida e timoglobulina e profilaxia de doença do enxerto contra o hospedeiro com ciclosporina e metotrexato. O TCTH ocorreu sem intercorrências. Avaliação laboratorial posterior revelou HbA 96,7%, HbF 0,9% e HbA2 2,4%. Identificação humana com quimerismo total do doador. Atualmente a paciente encontra-se bem e sem complicações. Conclusão: A experiência brasileira em TCTH para AF resume-se a 7 casos. As indicações foram AVC, STA, priapismo recorrente, aloimunização grave e um paciente com Hodgkin. Em nosso caso, os seqüestros esplênicos graves foram o motivo da indicação. O TCTH com doador familiar HLA idêntico revela altas taxas de sobrevida e cura para AF. Assim, apresentamos uma alternativa terapêutica curativa para esta doença crônica e associada a altas taxas de complicações clínicas.
INFILTRAÇÃO PLEURAL POR LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
CARLA DE CASSIA CASCAES BATISTA;MARIELA GRANERO FARIAS; LEO SEKINE; SANDRINE COMPARSI WAGNER
Introdução: Leucemia linfocítica crônica (LLC) é uma linfoproliferação clonal caracterizada por linfócitos de imunofenótipo B que coexpressam CD5. É prevalente em homens e idosos. Objetivo: Descrever uma complicação rara da LLC. Relato do caso: Paciente masculino, 68 anos, ex-tabagista, portador de múltiplas comorbidades, recebe diagnóstico de LLC Rai 4, apresentava linfocitose no sangue periférico, infiltração medular difusa e população linfóide clonal expressando CD22/CD5/CD23/CD19/CD20 sem expressão de FMC7 e IgM (Matutes 4). Cariótipo normal. Iniciou tratamento com clorambucil e prednisona apresentando remissão parcial. Evoluiu com erupção por HZV e hipogamaglobulinemia. Reiniciou tratamento com Fludarabina e após adicionou-se Ciclofosfamida por progressão da doença e entrou em remissão parcial. Sem necessidade de tratamento por 3 anos, quando iniciou quadro de dispnéia progressiva e dor torácica ventilatório-dependente à esquerda. O RX mostrou derrame pleural ipsilateral, que puncionado, revelou um exsudato. A biópsia de pleura evidenciou infiltração por LLC, necessitando pleurodese por talcagem e reiniciou-se esquema quimioterápico anterior, sem resposta. Nova imunofenotipagem mostrou população linfóide clonal, com perda de CD5. O paciente foi encaminhado ao tratamento de suporte. Conclusão: Apresentamos um caso que evoluiu com várias complicações devido a LLC, apesar da citogenética de favorável a intermediária. Desde as manifestações comuns como as citopenias, causas por infiltração medular e hipogamaglobulinemia, fruto da desordem do sistema imunológico, até complicações raras como a infiltração pleural. O surgimento da infiltração pleural coincidiu à mudança no comportamento biológico da LLC, com perda da resposta ao tratamento e do marcador CD5, ambos com característica mais agressiva e indicando pior prognóstico.
RELATO DE CASO: ANEMIA FALCIFORME E TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS
JOANA CIOCARI;LISANDRA DELLA COSTA, CRISTIANE WEBER, GUSTAVO FISCHER, ALESSANDRA PAZ, LÚCIA SILLA, LIANE DAUDT
Introdução: A anemia falciforme é uma das hemoglobinopatias hereditárias mais prevalentes, caracterizada por múltiplas complicações veno-oclusivas incluindo AVC, hipertensão pulmonar e morte súbita. A única terapia curativa da doença para pacientes com manifestações clínicas severas é o transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas, com poucas intercorrências relacionadas ao procedimento. Objetivo: Relatar a eficácia do transplante alogênico relacionado em pacientes jovens com anemia falciforme, com altas taxas de sobrevida global e livre de doença. Relato de Caso: Relataremos o caso de uma paciente com anemia falciforme de 5 anos de idade com infecções de repetição e 6 sequestros esplênicos nos últimos 2 anos de vida em vigência do uso de hidroxiuréia,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 314
Além disso, vinha em necessidade transfusional crescente,dificultada pela aloimunização. A paciente foi submetida a transplante alogênico relacionado de células tronco hematopoiéticas, sem intercorrências no período pós-transplante e sem evidência de doença do enxerto contra hospedeiro. As eletroforeses de hemoglobina foram normais no período pós- transplante e o quimerismo, completo do doador. Discussão: O transplante oferece uma taxa de sobrevida livre de doença de 85% e de sobrevida global de 95 %. Estes dados se devem ao transplante em crianças menores de 16 anos que possuem doador relacionado,tal como nossa paciente, sendo ainda necessários estudos de eficácia para os não relacionados. Conclusão: o transplante alogênico oferece boas possibilidades de cura nos pacientes com complicações severas da anemia falciforme e baixas taxas de complicações.
IMUNOLOGIA
FREQUÊNCIA DE ALELOS HLA-DRB1 POR SEQUENCIAMENTO DO DNA
ANA CRISTINA LASTE RODENBUSCH;JEANINE SCHLOLTTFELDT, MARIA FERNANDA SOUTO DE OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO JOBIM
Introdução: O Serviço de Imunologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre utiliza a técnica de sequenciamento de DNA para a tipagem a nível alélico do loco HLA-DRB1 dos doadores não relacionados inscritos no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) e de pacientes inscritos no REREME (Registro Brasileiro de Receptores de Medula Óssea). O sequenciamento consiste em uma amplificação loco específica onde os amplicons resultantes são purificados e sequenciados com primers específicos. Os produtos do sequenciamento são submetidos à eletroforese em sequenciador automático, identificando-se a tipagem do paciente. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo determinar a frequência de alelos HLA-DRB1 em pacientes analisados no Serviço de Imunologia o HCPA, sendo que continuaremos adicionando novos pacientes aos até aqui identificados. Métodos: Foram analisados 141 doadores inscritos no REDOME e pacientes inscritos no REREME, no período de 29 de julho de 2005 a 30 de julho de 2007, através do Kit Invitrogen “Se Core DRB1 Locus Sequencing”. O método caracteriza-se em uma amplificação por PCR e, em seguida, adiciona-se a ExoSAP-IT para degradar os primers e nucleotídeos não incorporados. Após, os amplicons purificados são sequenciados em sentido direto e reverso. Por fim, é realizado o sequenciamento no equipamento ABI 3100 com leitura realizada através do software de análise. Resultados: As amostras testadas foram em 94,3% de indivíduos da raça caucasóide. Os 3 alelos encontrados com maior frequência na população foram os alelos DRB1* 0701, com 29,1%, DRB1* 1501, com 18,4% e DRB1* 1301, com 14,9%. Conclusão: Foram encontrados 41 diferentes subtipos de HLA DRB1 entre as 141 amostras, sendo que três com frequência elevada sobre os demais.
ANÁLISE MOLECULAR IN SILICO DA RESPOSTA DE LINFÓCITOS T CD8+ INDUZIDA POR REATIVIDADE CRUZADA ENTRE EPITOPOS VIRAIS DE HEPATITE C E INFLUENZA A
SAMUEL PAULO CIBULSKI;DINLER AMARAL ANTUNES; MAURÍCIO MENEGATTI RIGO; CASSIANA FÜLBER; MARIALVA SINIGAGLIA; GUSTAVO FIORAVANTI VIEIRA; JOSÉ ARTUR BOGO CHIES
O sistema imune realiza uma complexa tarefa de vigilância do organismo inibindo a ação de patógenos, incluindo infecções virais. A principal defesa contra vírus ocorre através da resposta celular, onde os antígenos virais são apresentados aos linfócitos T CD8
+ no contexto do Antígeno
Leucocitário Humano (HLA). Estudos demonstram que epitopos diferentes que compartilham similaridade estrutural entre si podem gerar uma resposta a partir do mesmo pool de linfócitos T, caracterizando reatividade cruzada. O epitopo HCVNS3-1073 do vírus da hepatite C e o epitopo IVNA-231
da proteína neuraminidase do vírus Influenza A apresentam considerável identidade em sua seqüência de aminoácidos, demonstrando grande afinidade à molécula de HLA A*0201. Estudos in vivo demonstraram alta reatividade cruzada entre células T CD8
+ de pacientes sensibilizados com
HCV ou IV. Neste trabalho, foi realizado um estudo in silico da potencial reatividade cruzada entre os epitopos virais acima descritos. Foi obtida a estrutura do alelo HLA A*0201 a partir do Protein Data Bank (1OGA) e construído os complexos A*0201:HCVNS3-1073 e A*0201:IVNA-231 por docking molecular no programa AutoDock Vina. Os complexos construídos foram minimizados simulando um ambiente
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 315
aquoso através do programa GROMACS e visualizados com o programa GRASP2, onde foi possível fazer uma análise minuciosa do padrão estrutural e da distribuição de cargas. As análises dos complexos A*0201:HCVNS3-1073 e A*0201:IVNA-231 revelam que ambos apresentam um padrão topológico e de distribuição de cargas semelhante. Estes resultados sugerem que a semelhança estrutural entre os complexos pode ser responsável pelo reconhecimento de ambos por uma mesma população de linfócitos, inclusive conferindo imunidade heteróloga.
ESTUDO PRELIMINAR DA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO DOS GENES KIR COM A IMUNODEFICIÊNCIA COMUM VARIÁVEL
DIEGO MOURA BARONIO;MARIANA JOBIM, PATRÍCIA H SALIM, PAMELA PORTELA, BEATRIZ CHAMUN GIL, MÔNICA KRUGER, JEANINE SCHLOTTFELDT, JANAÍNA STOLZ, LUCIANE MONTEIRO & LUIZ FERNANDO JOBIM
A Imunodeficiência Comum Variável (IDCV) é uma doença com base genética desconhecida e que se caracteriza pela falta de produção de anticorpos em resposta à exposição antigênica. Sendo assim, a imunidade humoral não consegue proteger os pacientes contra infecções bacterianas e virais. A célula NK é um componente da imunidade inata e que através dos seus receptores pode estimular ou inibir à destruição de células-alvo infectadas. Os principais receptores das células NK são os KIR ou “killer immunoglobulin-like-receptors”, que fazem a ligação com moléculas HLA de classe I, possibilitando a defesa natural contra os patógenos. A falta de expressão HLA nas células infectadas estimula a sua destruição pelas NK. Nos pacientes com IDCV a imunidade inata passa a ter importância extrema, tendo em vista o defeito na defesa da imunidade adquirida. Objetivos: Investigar o polimorfismo e combinações dos genes KIR na IDCV e grupo controle. Métodos: Amostras de sangue/EDTA foram colhidas e o DNA extraído por “salting-out”, seguido de genotipagem pelo método PCR-SSP para 15 genes KIR. Analisamos 180 doadores de medula óssea e 17 pacientes caucasóides do Sul do Brasil com a IDVC. Após amplificação do DNA, seus produtos foram identificados em gel de agarose, após eletroforese e coloração com brometo de etídio e luz ultravioleta. Resultados: A freqüência do inibidor KIR2DL2 foi significativamente aumentada no grupo controle (P=0.03) e a do KIR3DL1 encontrou-se aumentada nos pacientes (P=0.00008). Quando os genes KIR são analisados na combinação a seguir, KIR2DS2+/KIR2DL2–/C1+ fica demonstrada a maior freqüência em pacientes do que controles (P=0.006). Conclusão: A combinação KIR2DS2+/KIR2DL2–/C1+ pode ser um fator de susceptibilidade para IDCV. A presença do KIR2DL2+ aumentada no grupo de controle aponta para uma função protetora, devido a sua ação como gene inibidor. Esses resultados ainda são preliminares, entretanto já indicam um papel potencial de genes KIR na patogênese da IDCV.
CORRELAÇÃO DA PRESENÇA DE ANTICORPOS ANTI-MICA COM PAINEL DE REATIVIDADE ANTI-HLA POSITIVO EM POSSÍVEIS RECEPTORES RENAIS
TIAGO DALPIAZ;BEATRIZ CHAMUN GIL; ADRIANE STEFANI SILVA KULZER ; PATRICIA HARTSTEIN SALIM; MARIANA JOBIM WILSON; LUIZ FERNANDO JOB JOBIM
Introdução: A rejeição no transplante renal é associada a anticorpos anti-HLA, porém outros anticorpos podem estar envolvidos nesse processo. Os genes MICA (MHC Class I chain- related antigen A) são polimórficos e codificam antígenos presentes na superfície de células endoteliais, por isso têm sido relacionados à rejeição. Os objetivos deste trabalho foram pesquisar anticorpos anti-MICA no soro de possíveis receptores e avaliar a presença desses anticorpos em relação ao painel de reatividade anti-HLA (PRA). Métodos: Foram testados soros de 345 pacientes da lista de espera de transplante renal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi utilizada a técnica Labscreen Mixed pela tecnologia Luminex, que indica o grau de sensibilização anti-HLA e também a presença ou ausência de anticorpos contra MICA. Resultados: Entre os pacientes em lista de espera estudados, 65,8% não tinham PRA positivo e 34,2% apresentavam anticorpos anti-HLA. Dos pacientes com anti-HLA positivos 35,3% apresentaram anticorpos anti-MICA. A freqüência geral de pacientes MICA positivos foi de 34,5% (119). Conclusão: A relação entre positividade anti-HLA e anti-MICA não se mostrou significativa. A detecção de anticorpos anti-MICA na lista de espera sugere uma maior atenção acerca desse anticorpo. Os resultados sugerem ser ideal a tipagem dos genes MICA nos receptores e doadores, evitando o risco de perda do enxerto quando o anticorpo anti-MICA do receptor coincidir com o antígeno MICA do doador.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 316
TIPAGEM HLA PELOS MÉTODOS DE PCR-SSO E PCR-SSP: IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE AMBIGUIDADES
PAMELA PORTELA DA SILVA;JÓICE MERZONI, PATRÍCIA HARTSTEIN SALIM, MARIANA JOBIM, JEANINE SCHLOLTTFELDT, MONICA KRUGER, BEATRIZ CHAMUN GIL, LUIZ FERNANDO JOBIM
Introdução: O grande avanço na tipagem do polimorfismo HLA ocorreu com o advento das técnicas que utilizam a biologia molecular. Dois métodos têm sido bastante utilizados para a tipagem HLA de classe I e II: SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) e SSP (Sequence Specific Primers). O método SSO, quando comparado ao SSP, apresenta ambiguidades na tipagem HLA. As ambiguidades são decorrentes da incapacidade do método em identificar um alelo HLA com certeza. Objetivos: Identificar as ambiguidades para os locos A, B e DR do sistema HLA, obtidas pela técnica de PCR-SSO (LABType-SSO, One Lambda) e solucioná-las através da técnica de PCR-SSP utilizando protocolo in house desenvolvido pelo Serviço de Imunologia. Materiais e Métodos: Foram listadas 300 ambiguidades, sendo 100 para o loco A, 100 para o loco B e 100 para o loco DR, obtidas de doadores voluntários de medula óssea. Inicialmente, o método de tipagem HLA foi PCR-SSO, utilizando o aparelho automático Luminex. Após a identificação das ambiguidades, as 300 amostras de DNA foram submetidas à nova tipagem HLA pelo método PCR-SSP, conforme protocolo in house. Utilizamos o método de PCR-SSO por ser analisado pelo Luminex, possibilitando realizar um grande número de amostras. O PCR-SSP é manual e não permite resolver a grande quantidade de doações que recebemos mensalmente. Resultados e Conclusões: As ambiguidades mais frequentes foram A*01*26/A*26*36 (50%), B*35*51/B*53*78 (21,3%) e DR*11*11/DR*11*13 (73%). Todas as ambiguidades para os locos A, B e DR foram solucionadas pela técnica de PCR-SSP. Devido ao grande polimorfismo observado no loco B, encontramos uma maior frequência de ambiguidades nesse loco. O método de PCR-SSP desenvolvido in house é adequado para solucionar todas as ambiguidades apresentadas pela técnica de PCR-SSO.
MEDICINA
MORTALIDADE NO CTI ADULTO DO HCPA - ANÁLISE DOS ANOS 2002 A 2008
DENIS MALTZ GRUTCKI;MARIANA SILVEIRA FERREIRA, CARINA TORRES SANVICENTE, PEDRO SOIBELMANN TETELBOM, MARIZA KLÜCK
Introdução: Centros de Tratamento Intensivo (CTI) apresentam taxas de óbito elevadas devido à gravidade de seus pacientes. É importante acompanhar este indicador para avaliar o desempenho dos Serviços, buscando oportunidades de melhoria. Esta taxa no CTI é uma razão expressa em porcentagem entre o número de saídas por óbito e o número de saídas por óbito, alta médica ou transferência. Objetivos: Avaliar a mortalidade no CTI do HCPA identificando fatores que se relacionem a piores desfechos e suas possíveis variações. Material e métodos: Os dados foram obtidos do sistema de Informações Gerenciais (IG) do HCPA. A população é formada por 17.011 pacientes dos quais 3.101 foram a óbito no CTI do HCPA no período de Jan/2002 a Maio/2009. Resultados: A taxa geral de mortalidade na CTI neste período foi de 22,3%. Os pacientes internados pelos serviços de Hematologia e Oncologia apresentam maior mortalidade (61% e 56% respectivamente) devido à gravidade de seus quadros clínicos. A maioria das internações pelo serviço de Cirurgia Cardiovascular são procedimentos eletivos, apresentando menor morbidade (6%) O CTI Adulto do HCPA é dividido em área 1, área 2, unidade pós-cirurgia cardíaca e UTI de cuidados coronarianos. A área 1, tanto em 2002 quanto em 2008 apresenta uma taxa de mortalidade maior quando comparada com a área 2 (36,3 e 29,5% em 2008). Isso pode ser explicado, em parte, pelos pacientes pós-transplante hepático, destinados a essa área. A taxa de mortalidade é proporcional à classificação de gravidade APACHE, com exceção do escore 0-4, provavelmente devido ao inadequado treinamento para a aplicação dessa classificação. Conclusões: Os principais fatores preditores de mortalidade no CTI do HCPA são escore APACHE, idade e serviço de origem do paciente.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 317
TRAUMA: TRÂNSITO, PRIMEIROS-SOCORROS E DROGAS - PREVENÇÃO PRIMÁRIA - PROJETO ESCOLA LIGA DO TRAUMA FAMED/UFRGS
CAROLINA ROCHA BARONE;BRUNO LOMPA BIZARRO; ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO; EDUARDO BARCELLOS FUMEGALLI; CHRISTINE HORN OLIVEIRA; PAULO EDUARDO KRAUTERBLUTH SOLANO JUNIOR
Introdução: Lesões traumáticas constituem importante problema mundial de saúde pública, especialmente na infância e adolescência, pois são as principais causas de morte nestes grupos etários, embora passíveis de prevenção. Sua relevância não decorre somente da mortalidade, mas também alta morbidade, com importantes seqüelas. Objetivos: Geral: Promover a prevenção do trauma através da adoção de medidas educativas por jovens escolares. Capacitar a identificação de lesões traumáticas e a necessidade de chamar serviço de socorro avançado, assim como lançar mão de medidas básicas de atendimento ao traumatizado e como evitar acréscimo de lesões. Específico: Avaliar, através de questionários, o aproveitamento e o aprendizado dos alunos, assim como o desempenho da Liga do Trauma UFRGS em promover uma campanha de prevenção.Métodos: Palestras ministradas pelos membros da Liga do Trauma da UFRGS para alunos do ensino médio das escolas públicas e privadas de Porto Alegre. Os temas abordados são prevenção do trauma e formas de atuar diante dele. As palestras contêm dados estatísticos, fotografias das principais lesões, abordagem inicial ao traumatizado e como procurar ajuda médica adequada. São aplicados questionários de pré e pós-testes contendo perguntas relacionadas às aulas. Resultado: Observa-se mudança na ótica dos alunos, que desenvolvem uma criticidade quanto aos fatores que levam ao trauma e a possibilidade de preveni-lo, uma vez que percebem fazer parte do grupo de maior risco. Conclusão:Jovens são os mais estão envolvidos com o trauma, mostrando quão importante é a intervenção na educação desse público, sendo o meio mais capaz de diminuir os índices epidemiológicos, a partir da adoção de hábitos de prevenção e de conhecimentos sobre primeiros socorros.
O PROCEDIMENTO DE TRIAGEM NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E DESTINO DOS PACIENTES
ALICE DE CASTRO MENEZES XAVIER;JULIANA FONTOURA NOGUEIRA; PAOLA PAGANELLA LAPORTE; BRUNA KARLA PEROZZO
Introdução: Triagem refere-se à situação onde os profissionais de saúde determinam a ordem temporal de atendimento dos pacientes segundo critérios de gravidade. Seu emprego se fez necessário devido ao uso indevido dos serviços de emergência, em que a maioria dos pacientes que a procuravam não apresentavam urgência de atendimento. Objetivos: Identificar a população que chega à emergência do HCPA segundo o critério de gravidade por cores; o destino desses pacientes; e os horários de maior atendimento, a fim de avaliar a necessidade da triagem, bem como sua eficácia. Materiais e Métodos: Dados obtidos no IG do HCPA. A população em estudo é formada por pacientes que procuraram a emergência do HCPA no período de setembro de 2005 a maio de 2009. Os dados foram analisados através do Microsoft Excell, no qual foram obtidos os gráficos que permitiram a análise dos resultados e sua discussão. Resultados: Analisando a classificação de gravidade dos pacientes que procuram o HCPA, os pacientes de moderado risco representam 49% do total; os de baixo risco, 33,6%; os de alto risco 11,7% e os de risco imediato de vida, 3,4%. Em relação ao destino dos pacientes, a imensa maioria dos pacientes de risco imediato de vida, risco elevado e risco moderado recebem encaminhamento intra-HCPA, já os de baixo risco recebem encaminhamento externo. Os horários 7:00 às 11:59 e das 12:00 às 16:59 recebem, cada um, entre 30 – 35% dos atendimentos nos três anos. Conclusão: O HCPA, como hospital terciário, atende em sua emergência, em sua grande maioria, pacientes que deveriam pertencer ao atendimento primário. As unidades básicas de saúde não conseguem atender à imensa demanda da população que necessita de atendimento primário.
HISTÓRIA DA LIGA DO TRAUMA
DENISE DE BORBA ANTUNES;JULIANA MEZARI CARBAJAL, LUCAS VINICIUS KOCH, KHARINA MAYARA MOREIRA DIAS, ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO, CAROLINA ROCHA BARONE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 318
Introdução Altos índices de violência e traumas físicos no Brasil exigem uma abordagem direta e conjunta na prevenção e tratamento de injúrias físicas; diante disso, acadêmicos de medicina perceberam a necessidade de uma Liga do Trauma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para complementar sua formação acadêmica. Objetivos Rememorar, divulgar e promover a Liga do Trauma FAMED/UFRGS através do entendimento de sua história. Incentivar ações acadêmicas que visem a integração acadêmica com a sociedade. Material e Métodos Foram pesquisadas publicações científicas, congressos, cursos, treinamentos práticos de socorro médico organizados em anos anteriores pela Liga do Trauma em bases de dados. Entrevistas realizadas com os fundadores, colaboradores e ex-membros para coleta de informações e experiências. Resultados Reunir todas essas atividades já realizadas pela Liga do Trauma em um único trabalho proporcionou o melhor entendimento da origem dos projetos em andamento atualmente e da credibilidade e solidez alcançadas desde sua criação. O contato com ex-membros e com bases de dados viabilizou importante troca de experiências entre antiga e nova geração. Conclusão A experiência é válida para os membros que aperfeiçoaram seus conhecimentos a despeito dos projetos já desenvolvidos pela Liga do Trauma. Além disso, encoraja demais estudantes a desenvolverem projetos acadêmicos que visem o contato com a comunidade, com base na experiência já adquirida pela Liga do Trauma.
I CONGRESSO GAÚCHO DAS LIGAS DO TRAUMA
ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO;BRUNO LOMPA BIZARRO; CAROLINA ROCHA BARONE; PAULO DE TARSO BELMONTE FAGUNDES; KHARINA MAYARA MOREIRA DIAS; BÁRBARA PATRÍCIO MEDEIROS; LUIZ ANTÔNIO NASI
Introdução: Mundialmente, o Trauma é a terceira doença de maior mortalidade da população geral e a primeira entre os indivíduos de 1 a 44 anos, o que torna necessária sua abordagem dentre os diversos profissionais e estudantes da área da saúde. O Congresso Gaúcho das Ligas do Trauma (CoGaLT) é um evento aberto à comunidade, organizado pelas Ligas do Trauma do Rio Grande do Sul, que introduz o que é discutido no Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma, evento que congrega as Ligas de todo Brasil. O CoGaLT tem sua primeira edição no ano de 2009, sendo a Liga do Trauma da FAMED/UFRGS uma das pioneiras na sua organização e entidade sede do evento. Objetivos: Abordar os aspectos básicos e avançados do atendimento no trauma, de forma que seja possível instruir o público leigo e atualizar profissionais da área, além de aperfeiçoar o conhecimento dos membros ligantes, que se capacitam a transmitir o aprendizado a partir da sua vivência na liga e ministrando estações práticas. Métodos: Evento realizado em dois dias aberto à comunidade. No primeiro dia, são ministradas diferentes aulas teóricas por profissionais de renome especializados no assunto, agrupadas e apresentadas simultaneamente em dois auditórios. No segundo, ligantes atuam como instrutores em estações práticas, ensinando como abordar uma vítima na cena de trauma, segundo as diretrizes do Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS). Resultado e Conclusão: A experiência no I CoGaLT é positiva pelo alto índice de satisfação dos participantes, tornando compensatório o esforço dos ligantes. Esses ainda se vêem capacitados a organizar um evento seleto e de grande porte, assim como instruir sobre prevenção e atendimento ao trauma a partir de demonstrações práticas do socorro e atendimento de traumatizados.
MEDCASE - AVALIAÇÃO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL PARA ESTUDO DE CASOS CLÍNICOS
HENRIQUE OLIANI JÚNIOR;DÉBORA PINTO, BRUNO BARRETO, MICHELLE CARDOSO, DINARTE BALLESTER
Introdução: O uso de objetos educacionais baseados em tecnologias de informação e comunicação tem sido amplamente disseminado, embora haja sombras sobre a efetividade desses instrumentos no ensino da medicina e de outras profissões da saúde. Objetivo: Avaliar a utilização de um software educacional - MedCase – por alunos do curso de Medicina da PUCRS, em aspectos como a facilidade de uso e efetividade para o ensino médico. Métodos: Uma amostra de 98 indivíduos, representando duas turmas do curso de graduação em Medicina da PUCRS, responderam a um questionário sobre a interface e a utilização do MedCase. Foi realizada uma análise de conteúdo dos dados qualitativos e observadas as freqüências e possíveis associações entre variáveis através do teste de qui-quadrado. Resultados: A análise qualitativa dos textos gerou as seguintes categorias de conteúdo: integração, interação, aprendizado, inovação, utilidade, sentimentos. Nestas categorias
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 319
incluem-se uma ampla gama de opiniões sobre a utilização do MedCase pelos alunos. A interface do programa foi considerada boa/ótima por 95% da amostra, 94% acharam que a facilidade de uso foi boa/ótima, enquanto 90% responderam que a ferramenta foi útil para o seu aprendizado. A interface e a facilidade de uso favoreceram a utilidade para o aprendizado (p<0,008, p<0,001). Conclusões: Os resultados indicaram que a interface gráfica e a facilidade de uso do MedCase favoreceram a percepção dos alunos sobre a utilidade da ferramenta para o seu aprendizado. A utilização de um objeto educacional mediado por computador e adequado para educação a distância favorece práticas educacionais ativas, com interação entre informações e sujeitos num ambiente virtual, também preparando os futuros médicos para práticas de educação permanente.Outros estudos, sobre a efetividade do software para aquisição de conhecimentos e interação entre usuários, ainda se fazem necessários.
LIGA DE TELESSAÚDE DA PUCRS
HENRIQUE OLIANI JÚNIOR;CLAUDINE LAMANNA SCHIRMER, RICARDO BERTOGLIO CARDOSO, CAROLINE NESPOLO DE DAVID, MÁRCIO KESSLER, FABRÍCIO FREITAS,LIA ALI, MARIANA PAIM SANTOS, THAIS RUSSOMANO, ALESSANDRA CAMPANI PIZZATO
Introdução: Motivados pelo crescente desenvolvimento da Telessaúde na PUCRS, e interessados em aprofundar seus conhecimentos de forma a possibilitar um melhor uso de diferentes tecnologias em suas futuras carreiras, um grupo multidisciplinar de alunos da PUCRS organizou a Liga de Telessaúde (LITESA) em dezembro de 2007 na universidade. Objetivo: Descrever as atividades desenvolvidas pela LITESA. Material e métodos: Foi realizado uma análise descritiva do histórico da LITESA desde a sua criação até os dias atuais, contemplando suas atividades desenvolvidas. Estas atividades organizadas foram executadas por meio da utilização de tecnologias de comunicação via Internet, tais como: Skype Adobe Connect Pro e Scotty, viabilizando a troca de informações e web e videoconferência. Resultados: Foram realizadas, com apoio da LITESA: 3 videoconferências para discussão de casos clínicos entre estudantes e professores da PUCRS e da Universidade de Aachen (Alemanha); outras 9 com a participação simultânea destas e das Universidades Médica de Kaunas (Lituânia) e Médica de Varsóvia (Polônia); 8 Videoconferências com a Universidade Médica de Kaunas; 1 Webinar com a Universidade de Plymouth (Inglaterra); 2 workshops com a Liga Brasileira de Telemedicina e 7 internos; 2 missões assistenciais em Telessaúde na Região Amazônica; 1 conferência científica internacional; 1 apresentação de pôster em evento científico. No total, 39 atividades foram realizadas entre janeiro de 2008 e maio de 2009. Conclusão A LITESA tem contribuído para a difusão de conhecimento em Telessaúde na PUCRS, permitindo aos seus participantes uma melhor compreensão de conceitos, ferramentas tecnológicas e diferentes aplicações da Telemedicina.
RELATO DE CASO: CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA NO MANEJO DA HEMORRAGIA SUBDURAL AGUDA
BRUNO MENDONÇA RIBEIRO;KHARINA MAYARA MOREIRA DIAS; BÁRBARA PATRÍCIO MEDEIROS; JULIANA MEZARI CARBAJAL; PAULO EDUARDO KRAUTERBLUTH SOLANO JUNIOR; KATIA GARBINI GONÇALVES
Introdução: Como parte de nossas atividades na Liga do Trauma, acompanhamos casos na UTI do trauma do HPS de Porto Alegre, com posterior revisão de literatura. Material e Métodos: Apresentamos um caso de craniotomia descompressiva (CD) observado em abril de 2009. Objetivos: Verificar na literatura a eficácia da CD no manejo da HSDA. Relato de Caso: Homem jovem, vítima de atropelamento, é atingido em hemicorpo direito. Imobilizado no atendimento inicial, vias aéreas pérvias, SatO2 96% em ar ambiente, movimentação torácica simétrica, normotenso, FC 90, escala de coma de glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficits focais ou hemorragia externa, referia dor. Na avaliação secundária, raio-x com fraturas de costelas, ombro e fêmur à direita; levado ao bloco cirúrgico para redução. Evolui com piora do nível de consciência, insuficiência respiratória e anisocoria; intubado e colocado em VM. TCC revela extensa área de hemorragia subdural com acentuado efeito de massa, realizado craniotomia descompressiva, com importante herniação do encéfalo. Após 3 semanas, desenvolveu pneumonia por P. aeruginosa, tratada com ceftazidima e infecção por Acinetobacter pan-resistente. Continua recebendo suporte ventilatório, sem necessidade de vasopressores. Embora hemodinamicamente estável, e com redução do edema cerebral, segue
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 320
em GCS 3 um mês após o procedimento. Discussão: CD é a remoção da calota craniana para redução da hipertensão IC decorrente de edema e hemorragia pós-TCE. Não está bem estabelecido seu papel, entretanto, permanece como opção em centros de trauma nível 1, quando todas as outras tentativas falham. Complicações decorrentes da redução do nível de consciência nesses pacientes permanecem como obstáculos a boa evolução, sendo infecção uma das mais freqüentes.
REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO FÚNGICA INVASIVA EM PACIENTES NEUTROPÊNICOS APÓS IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE PROTEGIDO PODE DIMINUIR CUSTOS EM UM PAÍS EM DESENVOLVIMENTO: UM ESTUDO QUASI-EXPERIMENTAL
CAROLINE MIOTTO MNENEGAT COLA;PAULA STOLL, BRUNO SMAIL SPLITT, LÚCIA SILLA, LEILA BELTRAMI MOREIRA
Introdução: Infecções Fúngicas Invasivas (IFI) representam grande risco em pacientes imunocomprometidos. Intervenções de controle de infecção incluindo implantação de ambientes protegidos (AP) são fundamentais na redução da incidência de IFI. No entanto, pouco se sabe sobre o impacto destas estratégias em países em desenvolvimento. Objetivo: Avaliar o impacto da implantação de AP na incidência de IFI e custos de tratamento antifúngico em hospital terciário no sul do Brasil. Métodos: Estudo quasi-experimental para avaliar intervenção em ala para pacientes neutropênicos que consiste em instalação de tecnologias de renovação e medidas de qualidade do ar, associado a outras rotinas de controle de infecção. Pacientes neutropênicos admitidos em qualquer ala do hospital antes da construção do AP foram incluídos no grupo controle. A incidência de IFI foi definida de acordo com critérios da European Organization for Research and Treatment of Cancer. Os custos das drogas antifúngicas foram calculados para todos os pacientes neutropênicos. Resultados: houve 190 e 181 hospitalizações no grupo intervenção e controle, respectivamente. A incidência total de IFI foi menor no grupo AP (7.4 vs.18.2%; P=0.002), benefício que persistiu após o ajuste para profilaxia antifúngica (OR=0.19 95% IC=0.05-0.60). A média de custos das admissões com IFI foi maior do que a média das admissões sem IFI. Embora o custo final com agentes antifúngicos fosse menor após a intervenção (R$ 148.858,98 vs. R$ 292.930,63), a média por admissão não diferiu entre os grupos. Conclusão: medidas preventivas, inclusive a implantação de AP, reduzem a incidência de IFI em pacientes neutropênicos, sugerindo que tais estratégias devem ser ainda mais custo-efetivas a longo prazo pela redução de gastos associados às IFI.
EFICÁCIA NA REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE NEUTROPENIA FEBRIL E MORTALIDADE APÓS A IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE PROTEGIDO: UM ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL
CAROLINE MIOTTO MNENEGAT COLA;PAULA STOLL, BRUNO ISMAIL SPLITT, LÚCIA SILLA, LEILA BELTRAMI MOREIRA
Introdução: estratégias de controle de múltiplas infecções, incluindo implantação de ambientes protegidos (AP), oferecem melhores condições para redução de infecções, mortalidade e custos. Há poucos estudos avaliando o impacto destas estratégias em pacientes neutropênicos em países em desenvolvimento. Objetivo: avaliar o impacto de AP na incidência de neutropenia febril (NF) e mortalidade em hospital terciário do sul do Brasil. Métodos: Estudo quasi-experimental para avaliar intervenção em ala para pacientes neutropênicos que consiste em instalação de tecnologias de renovação e medidas de qualidade do ar, associado a outras rotinas de controle de infecção. Pacientes neutropênicos admitidos antes da construção do AP foram incluídos no grupo controle. A NF foi definida como ocorrência de febre 72 horas após admissão. A identificação dos patógenos, padrão de resistência e mortalidade geral e em 30 dias foram avaliados. Resultados: houve 190 e 181 hospitalizações no grupo intervenção e controle, respectivamente. Incidência de NF foi menor no grupo AP (74.7 vs. 86.7%; P=0.003), mesmo após ajuste para potenciais confundidores (HR=0.74; P=0.009). Patógenos gram negativos foram mais frequentes no AP (P=0.18) sendo Escherichia coli o mais comum em ambos os grupos, com taxas mais altas no grupo intervenção. A incidência de Gram positivos foi similar e fungos foram mais frequentes no controle (P=0.04) com tendência à diminuição nas infecções polimicrobianas no grupo AP. A taxa de mortalidade geral (8.4 vs. 21.0%; P=0.001) e em 30 dias (6.3 vs. 16.6%; P=0.002) foram menores no grupo intervenção. Conclusões: este estudo confirmou a eficácia na redução de NF e mortalidade após adoção simultânea de medidas preventivas, incluindo implantação de AP e rotinas de controle de infecção.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 321
ATENDIMENTO INTRA-HOSPITALAR AO GRANDE QUEIMADO: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA NO ENSINO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE ATRAVÉS DE VÍDEO-AULAS
EDUARDO BARCELLOS FUMEGALLI;PAULO DE TARSO BELMONTE FAGUNDES; CAROLINA ROCHA BARONE; JULIANA FONTOURA NOGUEIRA; BRUNO MENDONÇA RIBEIRO; LUCAS VINÍCIUS KOCH; RICARDO ALBUQUERQUE ARNT
Introdução O conhecimento de queimaduras vai além da identificação do grau e tamanho de área afetada. Para tanto, é importante que o profissional da saúde conheça os procedimentos cirúrgicos realizados em um hospital de emergência para compreender melhor o porquê dos primeiros socorros de pacientes queimados e como eles são realizados. Objetivos Geral: Produção de vídeo-aulas para agregar o conhecimento de prevenção e socorro à queimadura com a atuação médica de recuperação do ferimento, através de vídeos com procedimentos cirúrgicos de atendimento ao queimado. Específico: Levar ao profissional da saúde fundamentação dos procedimentos e dos equipamentos utilizados em grandes queimados em um hospital de emergência. Materiais e Métodos Por meio de filmagens feitas no bloco cirúrgico do Hospital Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre-RS, entre maio e junho de 2009, foram criadas cenas com os principais materiais e equipamentos usados no manejo de queimados, com a sua utilização na preparação de tecido doador e aplicação de enxertos, bem como as técnicas preconizadas para limpeza e preparo do paciente. Resultado Elaboração de palestra para enfocar tanto os aspectos teóricos da emergência da queimadura, quanto às questões práticas do manejo paciente na Unidade de Tratamento Intensivo dos queimados no HPS, através de vídeos, já apresentada no I Congresso Gaúcho das Ligas do Trauma e XI Pré-CoLT em junho de 2009. Conclusão Ao mostrar por completo o atendimento do queimado através de vídeo-aulas, propicia-se um conhecimento teórico aliado à prática intra-hospitalar. A idéia de continuidade do projeto visa à preparação de aulas para ensino a distância, a serem alocadas no site da Liga do Trauma FAMED/UFGRS (www.ufrgs.br/ligadotrauma) e disponíveis para público em geral interessado no tema.
AVALIAÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO DE ALUNOS EM PRIMEIROS SOCORROS - LIGA DO TRAUMA FAMED/UFRGS - PROJETO ESCOLA - ENSINO MÉDIO
KATIA GARBINI GONÇALVES;ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO; CAROLINA ROCHA BARONE; BRUNO LOMPA BIZARRO; CHRISTINE HORN OLIVEIRA; DENISE DE BORBA ANTUNES
Introdução Embora pouco divulgado, trauma é a principal causa de óbito entre 15 e 39 anos e a terceira da população geral no Brasil. É um problema de saúde pública que tem provocado forte impacto na morbi-mortalidade. Objetivos Geral: Incentivar prevenção de trauma entre escolares, público vulnerável a este tipo de lesão. Capacitar jovens a reconhecer lesões traumáticas e instruí-los quanto aos procedimentos iniciais. Específico: Avaliar o aprendizado dos alunos e a capacidade dos integrantes da Liga do Trauma em transmitir o conhecimento. Métodos Aplicação de questionários contendo 10 questões objetivas referente às aulas ministradas pelos integrantes da Liga do Trauma para alunos de Ensino Médio do Colégio Americano, imediatamente antes e após o término da aula. A nota de cada aluno corresponde ao número de acertos. Resultados Foram avaliados resultados de 92 pré e 93 pós testes referentes aos alunos de 2º e 3º anos do ensino médio do colégio Americano. A média de acertos no pré-teste foi de 51,5% e no pós teste foi de 83%. O aumento na média de acertos ocorreu tanto para os alunos do 2º ano como para os alunos do 3º ano, sendo que alunos do 2º ano tiveram maior número de acertos no pré-teste em relação aos alunos do 3º ano (51 x 52%) com relação inversa para o pós-teste (81 x 85%). Analisando cada questão separadamente, observa-se aumento do número de acerto no pós teste em relação ao pré teste, sem diferença entre o 2º e 3º ano. Conclusão Houve aprendizado dos alunos quanto às condutas em emergência, demonstrando estabelecimento de boa comunicação com os palestrantes. Os dados ainda são poucos para permitir maiores aferições, mas sugerem que medidas educacionais simples possam ser o caminho para evitar-se a mortalidade e seqüelas em função do trauma.
EVITANDO MORBI-MORTALIDADE ESCOLARES: PREVENÇÃO DE TRAUMA - LIGA DO TRAUMA FAMED/UFRGS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 322
BRUNO LOMPA BIZARRO;BARBARA PATRÍCIO MEDEIROS; DENISE DE BORBA ANTUNES; KATIA GARBINI GONÇALVES; KHARINA MAYARA MOREIRA DIAS; JULIANA FONTOURA NOGUEIRA
Introdução: Crianças, adolescentes e adultos jovens são os grupos mais vulneráveis às doenças de etiologia comportamental. O Trauma representa a principal causa de morte entre crianças maiores de um ano no mundo e a segunda de hospitalização em menores de 15 anos, respondendo por 80% destas entre adolescentes e adultos jovens. Objetivos: Promover a prevenção do trauma na escola e suas extensões, adotando medidas educativas para jovens escolares e capacitando-os na identificação de lesões traumáticas e na necessidade de chamar o serviço de socorro avançado. Auxiliar na identificação de problemas de convivência, encorajando o trabalho em grupo para se evitar a violência nesse ambiente. Material e Métodos: Palestras são ministradas pelos membros da Liga do Trauma para alunos de 5ª a 8ª séries das escolas de Porto Alegre. Utilizamos recursos visuais, expondo a prevalência do trauma entre escolares, mecanismos biomecânicos, tipos mais comuns das lesões, fatores psicossociais que levam escolares às cenas de trauma, a importância de preveni-los e que condutas tomar diante deles. Abordamos a violência no ambiente escolar discutindo-se o bullying. Aplicam-se questionários de pré e pós-testes contendo perguntas relacionadas às aulas. Resultados: Falar sobre trauma com crianças possibilita o conhecimento precoce sobre principais causas de morte e prejuízo escolar nesta faixa etária, ensinando medidas simples para reverter esse quadro. Abordar esse assunto desde o início da formação dos escolares torna essas medidas parte do cotidiano de todos, antecipando os cuidados necessários para evitar o trauma. Conclusão: É necessário empenho de todos para redução de uma das principais causas de óbito no mundo. Nosso trabalho pretende abranger maior número de pessoas nessa campanha de prevenção.
EXPERIÊNCIA DOS MEMBROS DA LIGA DO TRAUMA DA UFRGS COMO MANEQUINS DO PHTLS E ATLS
BRUNO LOMPA BIZARRO;CAROLINA ROCHA BARONE; BRUNO ROCHA DE MACEDO; GUILHERME LOUREIRO FRACASSO; CARLOS JOSÉ GOI JÚNIOR; ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO
Introdução: O Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) e Advanced Trauma Life Support (ATLS) foram criados pelo Colégio Americano de Cirurgiões para instruir o atendimento a traumatizados para socorristas e médicos. Ao longo do tempo, o programa foi aprimorado, sendo uma referência no treinamento prático médico. Objetivos: Proporcionar aos membros da Liga do Trauma FAMED/UFRGS aprendizado em um contexto diferenciado da faculdade ou hospital, com supervisão de professores e assistentes treinados. Como manequins, espera-se que os estudantes adquiram novo e melhor olhar sobre o atendimento ao paciente traumatizado, desenvolvendo e consolidando o conceito da empatia, ao representarem o papel de paciente durante esses cursos. Material e Métodos: Os cursos PHTLS e ATLS são oferecidos em Porto Alegre pelo Centro de Treinamento em Saúde, certificado pelas marcas. O contato da Liga com o centro propicia a participação de seus membros como manequins. Os cursos são oferecidos em finais de semana de acordo com um calendário do centro. A atuação como manequim é supervisionada e obedece ao programa do curso, sendo usada no treinamento e nas provas práticas aplicadas no curso. O aluno interage com os profissionais do programa e com os que estão em treinamento, podendo assistir às aulas e estações práticas. Resultado: Conhecer o programa qualifica o aprendizado em trauma dos membros da Liga, assim como proporciona uma experiência única de atuação em treinamento médico. O contato com profissionais de diferentes realidades expandiu a visão dos alunos sobre o papel médico no atendimento ao traumatizado. Conclusões: A experiência é válida para os estudantes, que aperfeiçoam o conhecimento de maneira única, e para o centro, que recebe manequins que futuramente farão esse tipo de atendimento.
EXPERIÊNCIA DA LIGA DO TRAUMA UFRGS NO PRÉ-COLT CAXIAS 2009 - INTEGRAÇÃO ENTRE LIGAS REGIONAIS
BRUNO LOMPA BIZARRO;CARLOS JOSÉ GOI JÚNIOR; PAULO DE TARSO BELMONTE FAGUNDES; JULIANA MEZARI CARBAJAL; KHARINA MAYARA MOREIRA DIAS; KATIA GARBINI GONÇALVES
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 323
Introdução: O Pré-COLT Caxias é um curso anual aberto à comunidade, ministrado pela Liga do Trauma da Universidade de Caxias do Sul (UCS), introduzindo o que é discutido no Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma (COLT), evento anual que congrega as ligas de todo o Brasil. No ano de 2009, a Liga do Trauma UCS contou com o apoio da Liga do Trauma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para participar do evento como instrutores de estações práticas. Objetivos: O curso tem como foco os aspectos básicos, e, ao mesmo tempo, mais importantes acerca da doença chamada trauma, de forma que seja possível instruir o público e aperfeiçoar o conhecimento dos próprios membros ligantes, que se capacitam a transmitir o aprendido a partir de sua vivência na liga. Material e Métodos: Curso realizado em três dias aberto à comunidade. Nos dois primeiros dias, são ministradas aulas teóricas por profissionais de renome especializados nos assuntos. No terceiro, ligantes ensinam condutas práticas sobre como abordar vítimas de trauma. No caso da Liga do Trauma UFRGS, os membros ensinam sobre imobilização da vítima em decúbitos. Resultado: Viu-se evolução acerca das condutas a serem tomadas pelos alunos em relação aos ensinamentos preconizados pelo curso, principalmente no que diz respeito às estações práticas, quanto à abordagem da vítima na cena de trauma. Conclusão: A experiência no Pré-COLT Caxias é positiva devido à possibilidade da Liga do Trauma UFRGS de difundir os conhecimentos adquiridos acerca de prevenção e atendimento ao trauma para outras regiões do estado, não se limitando somente ao espaço da universidade ou da respectiva região.
CURSO DE SELEÇÃO LIGA DO TRAUMA UFRGS 2009
JULIANA FONTOURA NOGUEIRA;EDUARDO BARCELLOS FUMEGALLI;CAROLINA ROCHA BARONE;ROBERTO VANIN PINTO RIBEIRO;BRUNO LOMPA BIZARRO;BRUNO ROCHA DE MACEDO
Introdução: Diante da alta incidência de trauma no mundo, sendo a maior causa de morte evitável entre os adolescentes, acadêmicos de medicina perceberam a necessidade de fortalecer sua formação sobre tal tema através da criação de uma Liga. Para a continuidade e renovação desse grupo, é mandatória a existência de um curso seletivo para associação de novos membros, visto que a procura pelos alunos é crescente. Objetivos: Comparar o desempenho dos participantes do curso, procurando uma correlação entre o desempenho dos alunos e seus respectivos semestres. Materiais e Métodos: O curso cingia-se a alunos do 1º ao 8º semestre de Medicina da UFRGS e foram ministradas, pelos membros da Liga, 7 exposições em 2 dias abrangendo assuntos básicos sobre trauma, focados no seu atendimento pré-hospitalar. Cada palestrante formulou questões sobre a matéria e, após, houve uma seleção dessas de acordo com o grau de dificuldade. A prova era composta por 30 questões objetivas e foi corrigida em 2 momentos distintos. Com isso, foram analisadas as distribuição de notas dos candidatos selecionados levando em conta o semestre cursado através do Microsoft Excel. Resultados: Houve relação entre o semestre dos participantes e suas notas, com tendência a uma média de desempenho superior entre àqueles em um nível mais adiantado do curso; excetuando-se a média do 4º semestre, que fora melhor do que a do 5º e a do 6°. Conclusões: Nota-se uma tendência de melhora do desempenho na prova conforme o semestre dos alunos, mesmo com a disciplina de trauma sendo cursada apenas no 8° semestre. Conferimos a melhora gradual à facilidade de entendimento dos conteúdos pelos alunos que já concluíram disciplinas mais básicas e ao fato de muitas outras cadeiras da faculdade abordarem de alguma forma esse tema.
O PROJETO ESCOLA DA LIGA DO TRAUMA NO ENSINO MÉDIO
BÁRBARA PATRÍCIO MEDEIROS;JULIANA FONTOURA NOGUEIRA; PAULO DE TARSO BELMONTE FAGUNDES; CARLOS JOSÉ GOI JÚNIOR; JULIANA MEZARI CARBAJAL; BRUNO MENDONÇA RIBEIRO
Introdução Lesões traumáticas constituem um problema mundial de saúde pública, especialmente na infância e adolescência quando representam principais causas de morte, embora passíveis de prevenção. Sua relevância também decorre da alta morbidade, deixando seqüelas. A Liga do Trauma da UFRGS, através do Projeto Escola, aborda este tema com o público jovem, visando a prevenção, meio mais eficaz de reduzir mortalidade no trauma. Objetivos: Geral: Promover a prevenção do trauma através da adoção de medidas educativas por jovens escolares. Capacitar a identificação de lesões, necessidade de chamar serviço de socorro avançado, medidas básicas de atendimento ao
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 324
traumatizado e como evitar acréscimo de lesões. Específico: Avaliar, através de questionários, o aproveitamento e o aprendizado dos alunos e o desempenho da Liga do Trauma UFRGS em promover uma campanha de prevenção. Métodos Palestras ministradas pelos membros da Liga do Trauma da UFRGS para alunos do ensino médio das escolas publicas/privadas de Porto Alegre. Os temas abordados são prevenção do trauma e formas de atuar diante dele, utilizando-se para isso recursos audiovisuais. São aplicados questionários de pré e pós-testes contendo 10 perguntas relacionadas às aulas. Resultado Observa-se interesse dos alunos e professores, que participam ativamente das aulas com perguntas e exemplos vivenciados. Houve melhor desempenho no pós-teste do que no pré-teste em todas avaliações. Conclusão Jovens são os mais envolvidos com o trauma, mostrando quão importante é a intervenção na educação desse público. O resultado dos questionários, com melhor desempenho dos alunos no pós-teste, reforça que é necessário sua educação, abordando mais esse assunto em sala de aula, para capacitá-los a ser meio ativo para reduzir mortalidade.
DAMAGE CONTROL EM TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE
BÁRBARA PATRÍCIO MEDEIROS;BRUNO MENDONÇA RIBEIRO; KATIA GARBINI GONÇALVES; JULIANA MEZARI CARBAJAL; CHRISTINE HORN OLIVEIRA; BRUNO ROCHA DE MACEDO
Introdução: A maioria das mortes por trauma ocorre nas primeiras horas, devido a hemorragia, correspondendo a 80% das mortes no bloco cirúrgico. Em casos selecionados, Damage Control permite controle da tríade letal do trauma (hipotermia, acidose e coagulopatia), aumentando a sobrevida.Objetivos: Relatar um caso de trauma penetrante de abdome manejado inicialmente com Damage Control.Relato: Homem jovem levado ao HPS por ferimento por projetil de arma de fogo, orifício de entrada na transição tóraco-abdominal direita e saída paravertebral esquerda. Encontrava-se hemodinamicamente estável, eupnéico, sem déficits neurológicos, ECG 15, abdome em tábua e priapismo. Revised Trauma Score = 7,5. Recebeu 2 CHAD e 1000 ml de RL e foi a laparotomia de urgência. Realizada pancreatectomia de corpo caudal, drenagem de abscesso, esplenectomia, rafia hepática e tamponamento com 3 compressas em região supra e infra-hepática e retrocavidade. Tax 35ºC, TP 16,7, TPPa 36,8, fibrinogênio 80, pH 7,09. Recebe 2 CHAD e 2.500 ml de SF. Melhora da acidose e hipotensão, submetido a nova abordagem cirurgica em 24 horas, evidenciou-se lesão duodenal de grau III na 4ª porção, lesão pancreática grau IV com transfixão da cabeça, lesão hepática grau III, lesão de veia renal esquerda e lesão de vaso linfático na cisterna do quilo, com tratamento definitivo. Paciente permanece em UTI do trauma para monitorização e reavaliação, apresentando boa evolução.Resultados: Damage control permitiu estabilização do paciente antes que fosse realizado tratamento definitivo.Conclusões: Controle de temperatura, coagulopatia, acidose e instabilidade hemodinamica permitem uma melhor abordagem cirúrgica do paciente em segundo momento, quando o tratamento das lesões torna-se mais apropriado.
AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA: RESULTADOS PRELIMINARES
ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA;SILVIA REGINA RIOS VIEIRA; ROBLEDO LEAL CONDESSA; ADRIANA GUNTZEL; WAGNER NAUE; LEA FIALKOW; GILBERTO FRIEDMAN; SERGIO PINTO RIBEIRO
Introdução: A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) tem sido considerada uma alternativa em pacientes com insuficiência respiratória aguda (IRpA), pois melhora as trocas gasosas, reduzindo o risco de pneumonia nosocomial, a necessidade de intubação, o tempo de ventilação mecânica (VM) e a mortalidade em pacientes com IRpA. Objetivo: Avaliar os resultados da utilização de um protocolo assistencial de VMNI, nos pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Métodos: Estudo prospectivo realizado de Agosto/2008 a Maio/2009, no CTI geral (34 leitos) do HCPA. No Grupo Protocolo (GP), a VMNI é indicada para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) exacerbada, Edema Agudo de Pulmão (EAP) Cardiogênico, Desmame difícil da VM e IRpA Hipoxêmica. Pacientes que utilizaram a VMNI por outros motivos foram classificados como Grupo Terapia (GT). Na análise estatística foram realizados os testes t de Student e Mann-Whitney U, com nível de significância de 0.05. Resultados: Dos 100 pacientes estudados, 70 foram do GP e 30 do GT. O motivo de utilização da VMNI no GP foi: IRpA (34,3%), Desmame da VM (32,8%), DPOC (17,2%) e EAP (15,7%); já no GT foi: Atelectasia (43,3%),
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 325
Prevenção (43,3%) e Obesidade (13,3%). Houve redução da frequência respiratória e aumento da saturação periférica de O2 após 1 hora de utilização da VMNI (p<0,001). O sucesso da utilização da VMNI foi de 71%. Redução na mortalidade e no tempo de internação foi observada na comparação do grupo sucesso versus grupo falha (p<0,001, respectivamente). Conclusões: No manejo assistencial, a utilização de um protocolo de VMNI demonstrou índices significativos de sucesso e diminuição da mortalidade e tempo de internação no CTI.
MEDICINA OCUPACIONAL
SÍNDROME DE BURNOUT EM TRABALHADORES DE SAÚDE
KALINE LÍGIA FEITOSA CAUDURO ;VICTOR NASCIMENTO FONTANIVE;PAULO VINÍCIUS NASCIMENTO FONTANIVE
A síndrome de burnout é definida como uma reação à tensão emocional crônica, de origem ocupacional e institucional, gerada a partir do contato direto, excessivo e estressante com o trabalho. Tendo em vista a influência desta síndrome na atividade profissional e bem-estar destes profissionais, este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência do burnout em trabalhadores de saúde de um município do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo analítico observacional transversal. Foram eleitos para composição da amostra todos os profissionais médicos e de enfermagem de Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento 24 hs, totalizando 32 indivíduos. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários: caracterização sócio-demográfica e o MBI. A taxa de resposta obtida foi de 85% (n=27). A prevalência encontrada do burnout, de acordo com os critérios de Grunfeld et al. (2000), foi de 66% para enfermeiros, 71% para profissionais de medicina e 82% para auxiliares e técnicos de enfermagem. Na análise de variância através do teste ANOVA e procedimento de Tukey (α=0,05) encontrou-se diferença estatística significativa entre enfermeiros e médicos na dimensão de despersonalização. Os fatores em estudo com maior associação (R² parcial) para presença de burnout foram freqüência de estresse (0,27), tipo de unidade de saúde (0,22) e características sócio-demográficas como sexo (0,1) e número de filhos (0,08). Pode-se concluir que a síndrome de burnout possui alta prevalência nas três categorias profissionais avaliadas nesta população, sendo encontrado diferença estatística significativa entre médicos e enfermeiros para despersonalização.
ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DVORA JOVELEVITHS;FELIPE TRÄSEL; DVORA JOVELEVITHS; GABRIELA SENDEROWICZ BAUM; DAMÁSIO M. TRINDADE; BERNADETE SONIA FELIPE; DIRCE NELCI MACIEL; SIMONE OLIVEIRA E SOUZA
Introdução: Profissionais da área da saúde estão entre os trabalhadores com maior risco de acidentes ocupacionais envolvendo material biológico potencialmente contaminado. Sendo de grande importância aqueles oriundos de portadores de vírus das hepatites B(HBV) e C(HCV), e da Imunodeficiência adquirida (HIV). Objetivos: Analisar os acidentes de trabalho com exposição a material biológico ocorridos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre/ RS (HCPA) em profissionais da área da saúde no período entre 2004 e 2008. Meterial e Métodos: A pesquisa foi realizada através de análise retrospectiva, transversal de amostra casual estratificada. Amostragem com base nos registros de acidentes de trabalho com material biológico nos profissionais da instituição, realizados no Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). Resultados: No período de cinco anos foram registrados 1075 acidentes com material biológico no HCPA. A principal forma de contato foi a percutânea em 81% dos casos; seguidos de contato com mucosa. Em sua grande maioria, foram por descarte inadequado de material: 70% e, 7,1%, por acidente com agulha de sutura. Dentre os acidentes, 354 (33%) foram de fonte conhecida e portadora de alguma doença infecciosa. Quase a metade destes pacientes, 153 (43,22%) apresentava co-infecção por HCV e HIV. E aproximadamente 32% soropositivos para HCV isoladamente. Conclusão: O aumento de acidentes por material biológico nos últimos cinco anos foi crescente. O trabalho evidenciou que 2/3 da amostra era contaminada com o HCV, HBV e/ou HIV. Assim, devem-se incentivar programas de prevenção eficazes para que se possa tratar o acidentado o mais precocemente possível, evitando doenças crônicas graves.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 326
UM ESTUDO COM MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE CAMINHÃO SOBRE O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
FERNANDA CUBAS DE PAULA;FLAVIO PECHANSKY
Introdução: É provável que o uso de álcool e outras drogas por motoristas de caminhão aumente as estatísticas de acidentes de trânsito nas estradas brasileiras. Entretanto, não existem dados brasileiros com amostras obtidas em todo o país sobre o tema. Objetivo: Estimar a prevalência do uso de álcool e outras drogas em uma amostra de caminhoneiros brasileiros. Método: desenho transversal. Utilização de entrevistas estruturadas, teste de saliva e etilometria. Este estudo foi financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) e desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Trânsito e Álcool do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da UFRGS. Resultados: 72,6% fizeram uso de álcool; etilometria positiva em 3,7%; positividade para cocaína e anfetamina (0,9% e 5,3% respectivamente); 60,1% estudaram até a 8ª série do fundamental; 72.2% ingeriram álcool no último ano; Quanto à percepção de risco, 51,1% assumiram ter sido passageiros de alguém que estava sob efeito de álcool. Em relação a comportamento de risco, 7,6% relataram dirigir depois de ter bebido tanto que seria considerado ilegal a condução de um veículo e 0,7% relataram ter se acidentado após ter bebido. Conclusão: Mesmo após a Lei A Lei 11.705/08, os motoristas continuam bebendo e depois dirigindo. Isso os prejudica diretamente ao criar circunstâncias de risco para si e para os demais que trafegam pelas estradas. É necessária a intensificação da fiscalização e conscientização desses motoristas profissionais sobre os riscos de beber, usar outras drogas e dirigir.
IMPLICAÇÕES CRONOBIOLÓGICAS EM TRABALHADORES DE TURNO
LUCIANA DA CONCEIÇÃO ANTUNES;MANOELA NEVES DA JORNADA; GIOVANA DANTAS; ROSA LEVANDOVSKI; RODRIGO GROISMAN; VINICIUS DOS SANTOS; MARCELO ROCHA; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
Introdução: Atividades laborais que envolvem alteração da jornada de trabalho estão relacionadas com a dessincronização do ciclo sono-vigília. Pesquisas recentes demonstraram que a presença de sintomas depressivos é maior em populações com sobrepeso e circunferência abdominal elevada. Sugere-se que possa existir um mecanismo fisiopatológico relacionando sintomas depressivos e obesidade abdominal, podendo ser potencializado pelo tipo de jornada de trabalho. Objetivos: avaliar a relação entre cronotipo, sintomas depressivos e circunferência abdominal em trabalhadores de turno. Materiais e Métodos: este foi um estudo transversal. Avaliaram-se 27 trabalhadores da área da saúde dos turnos diurno e noturno. As mensurações do peso e da circunferência abdominal foram realizadas de forma padronizada por um avaliador treinado. A altura foi auto-relatada. Determinou-se cronotipo utilizando a escala denominada Morningness-Eveningness Questionnaire; os sintomas psiquiátricos menores foram aferidos pela Self Report Questionnaire (SRQ-20) e pela Escala de Depressão de Beck (BDI). Resultados: Os trabalhadores de turno apresentaram escores significantemente maiores (p<0,05 Teste não-paramétrico de Mann-Whitney) quanto à presença de sintomas depressivos bem como circunferência abdominal quando comparados ao grupo diurno. Não houve diferença quanto ao cronotipo e IMC. Conclusão: Trabalhadores de turno apresentam mais sintomas depressivos. A maior circunferência abdominal nos trabalhadores de turno pode estar relacionada a alterações no metabolismo lipídico, geradas pela dessincronização do ciclo sono-vigília, devido à pouca adaptação de ritmos endógenos ao regime em turno. O fato de não haver diferença entre grupos em variáveis como IMC, peso e altura sugerem maior robustez nos achados.
MICROBIOLOGIA
CAPACIDADE DE ADESÃO EM ISOLADOS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA DE EFLUENTE HOSPITALAR
LETÍCIA MUNER OTTON;DAIANE BOPP FUENTEFRIA; GERTRUDES CORÇÃO
Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista de importância clínica que causa infecções no trato urinário e respiratório, dermatites, bacteremias e infecções sistêmicas, particularmente em
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 327
pacientes imunocomprometidos. A transmissão de P. aeruginosa usualmente é causada pela associação da bactéria a dispositivos íntimos, como cateteres utilizados no trato urinário e respiratório. O sucesso na infecção esta associado, entre outros fatores, a capacidade da bactéria se aderir, através do pili, às células do hospedeiro, como às células endoteliais em bacteremia e às células epiteliais respiratórias em caso de pneumonia. Este estudo visa determinar possíveis diferenças entre cepas de Pseudomonas aeruginosa sensíveis e multirresistentes a antimicrobianos, isoladas de efluente hospitalar, quanto a sua capacidade de aderência a superfícies bióticas e abióticas. Foram analisados 50 isolados divididos em dois grupos: 25 isolados sensíveis e 25 isolados multirresistentes a antimicrobianos (MDR). As amostras foram submetidas ao teste de aderência a células epiteliais bucais e ainda serão testadas quanto à capacidade de aderência a superfícies abióticas, onde serão utilizados vidro e silicone. Todos os isolados apresentaram capacidade em realizar aderência às células epiteliais, mas em diferentes intensidades, já que os isolados MDR apresentaram aderência mais forte. Portanto, em comparação com os isolados sensíveis, os isolados MDR tem uma habilidade maior em produzir este fator de virulência, o que pode contribuir para uma maior incidência de infecções hospitalares.
NEFROLOGIA
DESEMPENHO DA EQUAÇÃO DO MDRD E DE COCKCROFT-GAULT PARA ESTIMATIVA DA FILTRAÇÃO GLOMERULAR NA DOENÇA RENAL CRÔNICA E EM INDVÍDUOS NORMAIS
EDUARDO CORREA GOMES;RENATA R. DE CARVALHO; PAULA VARISCO; KAREN M. FENGLER; FREDERICO L. VERDE; SUZANE PRIBBERNOW; ANTÔNIO BALBINOTTO; ELVINO G. BARROS; CARLOS A. PROMPT; FERNANDO S. THOMÉ; BERNARDO SPIRO; OSMAR M. DE OLIVEIRA; FRANCISCO V. VERONESE
Introdução: A taxa de filtração glomerular (TFG) tem sido estimada por equações desenvolvidas nos EUA como Cockcroft-Gault (CG) e MDRD, para diagnóstico e estadiamento da doença renal crônica (DRC). Objetivos: Testar a acurácia e validar essas fórmulas em nosso meio, em renais crônicos e em indivíduos saudáveis. Material e Método: Até o momento foram estudados 26 pacientes com DRC e 11 controles, nos quais foram avaliados idade, sexo, raça, IMC, proteinúria (IPC) e dosada a creatinina sérica para estimativa da TFG pela equação do MDRD simplificado e do CG. O padrão-ouro para a medida da TFG foi o método radioisotópico
51Cr-EDTA. Foram calculadas correlações
(Pearson) e os limites de concordância inferior (LI) e superior (LS) (Bland e Altman) entre MDRD e CG vs.
51Cr–EDTA. Resultados: A correlação no grupo DRC foi excelente para os dois métodos:
MDRD (43±27 ml/min/1,73m2) vs. Cr-EDTA (38±26 ml/min/1,73m
2), r=0,94 (P<0,001) e CG (43±28
ml/min/1,73m2) vs. Cr-EDTA: r=0,88 (P<0,001); para o grupo controle foi pobre, MDRD (94±12
ml/min/1,73m2) e Cr-EDTA (108±15 ml/min/1,73m
2): r=0,60 (P=0,05) e CG (97±8 ml/min/1,73m
2) e Cr-
EDTA: r=0,35 (P=0,31). Os limites de concordância (LI; LS) foram: 1) DRC: MDRD vs. Cr-EDTA: -23,2; 12,4 (P=0,004); CG vs. Cr-EDTA: -30,3; 20,8 (P=0,07); 2) Controles: MDRD vs. Cr-EDTA: -6,8; 34,3 (P=0,002); CG vs. Cr-EDTA: -17,9; 39,3 (P=0,04). Conclusões: Os resultados preliminares deste estudo mostram que ambas as equações apresentam um bom desempenho nos pacientes com DRC (TFG<60ml/min/1,73m
2), mas subestimam a TFG em indivíduos saudáveis com TFG
>90ml/min/1,73m2. A análise de Bland Altman evidenciou que somente o CG na DRC foi concordante
com o padrão–ouro.
ALTERAÇÕES NUTRICIONAIS EM TRANSPLANTADOS RENAIS: DADOS PRELIMINARES
THAÍS RODRIGUES MOREIRA;TAYRON BASSANI, GISELE DE SOUZA, ROBERTO CERATTI MANFRO, LUIZ FELIPE SANTOS GONÇALVES
Objetivo: Avaliar a prevalência da alteração do IMC em pacientes transplantados renais (TX) e a influência dessa alteração na evolução desses pacientes. Metodologia: Estudo de coorte retrospectivo com transplantados renais de 01/01/2000 a 31/07/2007. Os dados foram coletados antes do TX, 1, 2 e 5 anos pós-TX. Fatores em estudo: estado nutricional pré-TX conforme o IMC(1:< 18,5 kg/m2 desnutrição leve, 2:18,5 - 24,9 eutrofia, 3: 25 - 29,9 sobrepeso e 4: > 30 kg/m2 obesidade) e a variação de peso ou mudança de estado nutricional 1 e 2 anos após o transplante. Desfechos: complicações da FO, sobrevida do enxerto e paciente, tempo de hospitalização na 1ª. internação, rejeição aguda, eventos cardiovasculares, filtração glomerular estimada pela fórmula MDRD e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 328
desenvolvimento de Diabetes Mellitus (DM) pós-TX. Análise estatística: Qui-quadrado, ANOVA, significância P < 0,05. Resultados: n=82 pacientes, sexo: 56% masc, idade 17-63 a (42 + 12). A distribuição dos pacientes segundo o estado nutricional avaliado pelo IMC ao longo do tempo foi: IMC pré-TX 11% desnutridos, 61% eutróficos, 24% sobrepeso e 4% obesos. IMC 1 ano 9% desnutridos, 47% eutróficos, 33% sobrepeso e 11% obesos. IMC 2 aos 8% desnutridos, 46% eutróficos, 35% sobrepeso e 11% obesos. IMC 5 anos 6% desnutridos, 42% eutróficos, 34% sobrepeso e 18% obesos. IMC pré-TX x demais: P=0,000. Houve ganho de peso>10% em 29% dos pacientes 1 ano pós-TX, sendo significativamente maior nas mulheres e nos receptores de rim de doador vivo. Houve associação significativa entre obesidade e sobrepeso pré-TX com maior número de hospitalizações (P=0,028). Encontrou-se associação significativa entre o desenvolvimento de DM pós-TX e sobrepeso e obesidade pré-TX (P=0,037). Conclusão: Ocorreu um significativo aumento de peso e de sobrepeso e obesidade pós-transplante, sendo associadas com maior número de hospitalizações e desenvolvimento de DM pós-TX.
PREVALÊNCIA DE MICROINFLAMAÇÃO E SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS
MARIANA GASCUE DE ALENCASTRO;MARIANA GASCUE DE ALENCASTRO; NÍCIA MARIA ROMANO DE MEDEIROS BASTOS; ALESSANDRA ROSA VICARI; LUIZ FELIPE SANTOS GONÇALVEZ; ROBERTO CERATTI MANFRO
Introdução. A síndrome metabólica (SM) é identificada como fator de risco para a disfunção crônica do enxerto. Níveis elevados da proteína c reativa (PCR) estão relacionados à mortalidade cardiovascular em pacientes transplantados renais. Objetivos.Avaliar a prevalência de SM e inflamação e a associação da PCR e os componentes da SM em pacientes transplantados renais. Materiais e Métodos. Estudo transversal observacional realizado com 112 pacientes transplantados renais com tempo de transplante de um a dez anos. A SM foi definida pelos critérios do National Cholesterol Education Program\'s Adults Treatment Panel III (NCEP-ATP III). A inflamação foi avaliada pela PCR. Foram considerados inflamados os pacientes com PCR maior que 5,1 mg/dL. Resultados. No grupo de pacientes com SM (46 pacientes), as médias do IMC (p=0,000), circunferência abdominal (p=0,000), PAS (p=0,019), glicose (p=0,000), triglicerídeos (p=0,000), uréia (p=0,043), foram significativamente maiores dos que nos que não a apresentaram. Já os valores médios de HDL (46,02 ± 13,78 versus 54,17 ± 14,88; p=0,004) foram menores nos pacientes com SM, o mesmo ocorrendo com os valores da PCR (3,16 ± 2,40 versus 3,43 ± 5,60; p=0,016) foram menores nos pacientes com SM. No grupo de inflamados (20 pacientes) o valor médio de HDL foi menor (44,40 ± 14 versus 52,22 ± 14,83; p=0,033) e os demais componentes da SM não diferiram nesses pacientes. Houve correlação positiva fraca entre a PCR e os valores de circunferência abdominal, triglicerídeos e IMC. Porém, houve correlação negativa fraca entre PCR e HDL. Conclusão. Os dados reforçam a importância da monitorização nutricional dos pacientes transplantados renais e sugerem que fatores nutricionais influenciam na presença da SM e do estado micro-inflamatório.
CORRELAÇÃO CLÍNICO-PATOLÓGICA DA EXPRESSÃO DE C4D E DE CÉLULA B CD20+ NA REJEIÇÃO DO TRANSPLANTE RENAL
EVLYN ISABEL EICKHOFF;VIRNA CARPIO, KARLA PEGAS, MARIA I. EDELWEISS, CAROLINA RECH, ESTHER AQUINO-DIAS, LUIZ F. GONÇALVES, ROBERTO C. MANFRO, FRANCISCO V. VERONESE
A fração do complemento C4d é marcador de rejeição humoral do rim transplantado(Tx), mas o papel dos linfócitos B(CélB) na rejeição não é claro. Este estudo objetiva determinar a prevalência de C4d em biópsias(Bx), relacioná-lo com CélB e avaliar o impacto destes na função e sobrevida do enxerto(Ex) em 3 anos de Tx. Foram biopsiados 131 Exs e marcados para C4d e CD20(CélB) por imunohistoquímica(IHC) por peroxidase. Critérios:a)C4d
+:mais de 50% dos capilares
peritubulares(CPT) (difuso) ou 25-50%(focal);C4d-:menos de 25% dos CPT; b)CD20
+:mais de 50
céls/campo 400x. A sobrevida do Tx foi avaliada por Kaplan Meier. A mediana(IIQ) do tempo entre Tx e Bx foi 11(8-20,5)dias para disfunção aguda e primária e 1,4(0,7-5,4)anos para crônica. Não houve diferença entre C4d
+vs.C4d
- na idade, sexo, incompatibilidade HLAI/II, Tx prévio, Tx de doador
cadáver, uso de indução, NTA, PRA maior de 30%, mas houve tendência de maior uso de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 329
plasmaferese nos C4d+(p=0,08). A proporção de neutrófilos foi maior nas Bxs
C4d+(15%vs.2%;P=0,01), mas a glomerulite não diferiu (21%vs.12%,P=0,33). O n° de células CD20
+
foi maior nas Bxs C4d+(48[20-137,5]vs.35[0-75];P=0,036), mas a relação entre os dois marcadores foi
fraca (r=0,21;P=0,02). A função do Ex no terceiro ano tendeu a ser pior nos pacientes C4d+
(Crs:2,3±0,68vs.1,8±0,67mg/dl;P=0,08), mas não diferiu entre casos CD20+vs.CD20
-. A sobrevida do
Ex em 3 anos foi 75% e 91% em Bxs C4d+
e C4d-, respectivamente (P=0,42). A prevalência de C4d
+
não diferiu de outras séries que empregaram IHC em parafina. Apesar da maior expressão de CélB nas Bxs C4d
+, é necessário quantificar o CD20 por método mais acurado. Embora sem significância
estatísitica, a função e a sobrevida do Ex foram piores nos casos C4d+, mas o número de pacientes
impede uma análise definitiva.
ANÁLISE DE PROVA CRUZADA COM DOADOR CADÁVER E SUA ASSOCIAÇÃO COM O GRAU DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ANTÍGENOS HLA (PRA)
BEATRIZ CHAMUN GIL;ADRIANE STEFANI SILVA KÜLZER; REALDETE TORESAN; IARA DOS SANTOS FAGUNDES; GISELE MENEZES EWALD; JOICE MERZONI; FERNANDA GAMIO SILVA; MONICA KRÜGER; JEANINE LAUER SCHLOTTFELDT; LUIZ FERNANDO JOBIM
Introdução: A detecção de baixos títulos de anticorpos anti-HLA é um desafio para os laboratórios de histocompatibilidade. Atualmente a prova cruzada por Citometria de Fluxo (FCXM) tem sido a escolha para a detecção destes anticorpos. OBJETIVOS Correlacionar o grau de sensibilização contra antígenos HLA (PRA) com o resultado da prova cruzada por Citotoxicidade Dependente de Complemento (CDC) e FCXM nos pacientes em lista de espera para transplante renal com doador cadáver. Materiais e Métodos: Foram analisadas 50 provas cruzadas realizadas entre junho/2008 e junho/2009 no Serviço de Imunologia do HCPA. Foram analisados receptores sensibilizados e/ou retransplantes. O PRA foi definido pelo método Luminex-Labscreen (One Lambda Inc). As provas cruzadas por CDC foram realizadas testando o soro do paciente com linfócitos do doador obtidos utilizando beads (One Lambda Inc). Foi utilizado antiglobulina humana (AGH) e soro tratado com dithiotreitol (DTT), um redutor e inativador de IgM. FCXM foi realizada utilizando anticorpos monoclonais marcados com FITC (fluoresceína). Os anticorpos anti-HLA foram detectados utilizando anti IgG-PE (ficoeritrina). Resultados: Não observamos prova cruzada positiva por CDC e por FCXM em pacientes com PRA até 19%; o FCXM foi positivo em 33% dos casos de PRA entre 20-49%, enquanto o CDC foi negativo; FCXM foi positivo em 53,4% e CDC de 6,7% em casos de PRA entre 50-79%; FCXM foi positivo em 78,3% e CDC em 47,8% com PRA≥80. Conclusão: O percentual de PRA poderia ser utilizado como um indicador na seleção dos pacientes para uma prova cruzada mais sensível como a FCXM. Os resultados demonstram que a citometria de fluxo é um exame fundamental na identificação de sensibilização HLA, sendo superior ao CDC.
RELATO PRELIMINAR DA EXPERIÊNCIA COM MICROSCOPIA ELETRÔNICA PARA DIAGNÓSTICO EM GLOMERULOPATIAS
DIEGO ANDRÉ EIFER;FRANCISCO JOSÉ VERISSIMO VERONESE; ELVINO BARROS; GIZELE SOUZA; JOSE VANILDO MORALES; KARLA LAIS PÊGAS; MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS
Introdução: A microscopia eletrônica (ME) é um método essencial para o diagnóstico de diversas glomerulonefrites (GN). Os objetivos deste estudo foram descrever os achados da ME em oito casos e verificar em que proporção a ME definiu ou modificou o diagnóstico anátomo-patológico inicial. Material e Método: Foram estudados oito pacientes com hematúria, proteinúria, história familiar de hematúria e/ou doença renal crônica terminal (diálise/transplante), com ou sem perda de função renal. Os pacientes foram submetidos à biópsia renal percutânea, sendo retirados três fragmentos para MO, IF e ME de transmissão. Os casos foram processados no Centro de Microscopia Eletrônica da UFRGS e o no Centro de Microscopia Eletrônica e Microanálise da ULBRA. Resultados: Foram analisados 8 pacientes, com presença hematúria em 7 dos casos e historia familiar de hematúria em 6 deles. Os pacientes apresentavam uma creatinina na faixa de 0,6 a 5,5mg/dl. A proteinúria de 24h encontrava-se na faixa de 0,12 a 6,5g/24h. Os diagnósticos por MO apresentaram 5 GESF, 1 atrofia tubular (AT), 1 rim terminal e 1 rim normal. Houve apenas 1 caso com IF positiva. O diagnóstico pela ME apresentou como diferença 1 rim normal que foi diagnosticado como doença da membrana fina (DMF), 1 AT que foi diagnosticado como Alport e 1 Rim terminal que foi classificado como GESF. Houve 1 caso em que a amostra coletada não foi representativa. Conclusões: Neste estudo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 330
preliminar, a ME foi essencial para o diagnóstico final em 43% dos casos, identificando DMF (1), Alport (1) e GESF (1) em três das sete amostras representativas. Em 3(43%) casos, o diagnóstico inicial da MO/IF foi confirmado pela ME. A realização precoce da ME contribui para aumentar a acurácia diagnóstica do exame anatomopatológico em casos selecionados.
AJUSTE DA DOSAGEM DE CEFEPIME PELA FUNÇÃO RENAL EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DIEGO ANDRÉ EIFER;DAIANDY DA SILVA; ANDREA LONGONI LORENTZ; MARIA ELISANDRA GONÇALVES; FERNANDO SALDANHA THOMÉ; ELVINO JOSÉ GUARDÃO BARROS; FABIANE LEUSIN
Introdução: Cefepime, uma cefalosporina de quarta geração de administração parenteral, tem amplo espectro de ação, sendo usada em infecções graves ou sepse. Sua eliminação é predominante renal e possui meia vida plasmática de 2 a 13,5 horas dependente da função renal. Assim, o ajuste da dose de cefepime para função renal faz-se necessário para evitar toxicidade. Objetivo: Analisar o ajuste da dosagem de cefepime para função renal em pacientes hospitalizados no HCPA no período de abril de 2008 a abril de 2009, tendo como parâmetro a recomendação da literatura internacional. Materiais e Métodos: O material utilizado foi retirado da coorte do projeto “Encefalopatia induzida por cefepime”. As variáveis de interesse foram idade, sexo, raça, creatinina prévia ou do 1º dia de tratamento, infecção a tratar e dose inicial do medicamento. Os diferentes graus de função renal dos pacientes foram calculados pela fórmula MDRD. Comparou-se a dose prescrita com a dose recomendada pela literatura para cada situação clínica, de acordo com a função renal de cada paciente. Resultados: O total de pacientes avaliados foi 673. Os principal motivo de utilização foi: 53,5% infecções respiratórias. Dos 673 pacientes, 472 pacientes apresentaram taxa de filtração glomerular (TFG, em ml/min) >60 (70,3%), 106 entre 30 e 60 (15,7%), 62 entre 11 e 29 (9,2%), 21 <11 (3,1%). Dentre os pacientes, 489 (82,2%) estavam com dosagem correta e 106 não estavam (17,8%), sendo que 46 apresentavam subdose e 60 sobredose. Conclusão: Nossos dados mostram que erros de ajuste de dosagem ocorrem de forma freqüente no HCPA, com uma proporção de 17,8% de doses erradas. Concluímos que o ajuste de dosagem de cefepime no HCPA deve ser melhor estudado, e os resultados devem ser amplamente divulgados para os prescritores.
POSITIVIDADE NO TESTE TUBERCULÍNICO EM PACIENTES CANDIDATOS A TRANSPLANTE RENAL E PADRÃO DE USO DA QUIMIOPROFILAXIA
MARCELO BASSO GAZZANA;ADRIANA REGINATO RIBEIRO, ALESSANDRA VICARI, DENISE ROSSATO SILVA, PAULO DE TARSO ROTH DALCIN, ROBERTO CERATTI MANFRO, LUIZ FELIPE GONÇALVES
Introdução: A tuberculose (TBC) é altamente prevalente no nosso meio. Pacientes submetido a transplante renal (TxR), pelo estado de imunossupressão, podem apresentar reativação da TBC no período pós-transplante, o que tem o potencial de afetar a morbimortalidade. A quimioprofilaxia nos pacientes reatores ao teste tuberculínico pode ser uma intervenção efetiva no controle da TBC nestes pacientes. Objetivo: Descrever a prevalência de positividade no TT em pacientes candidatos a TxR e o padrão de uso da quimioprofilaxia. Metodologia: Estudo de casos retrospectivo, de janeiro de 2006 a junho de 2009 de todos os pacientes candidatos a TxR que realizaram TT na avaliação pré-transplante. Foi realizada revisão do prontuário através de formulário padronizado. Análise estatística foi descritiva. Resultados: No período do estudo 109 pacientes candidatos a TxR realizaram TT. A média da idade dos pacientes foi de 46,2 anos (36,7 ± anos), sendo 66,9% (n= 73) do sexo masculino. As principais causas da insuficiência renal foram diabete em 23,8 %(n=26) e hipertensão arterial sistêmica em 22,0% (n=24). A positividade no TT foi de 32,9 % (n=35). O TT foi reator forte em 14 pacientes (12,8%), fraco reator em 21 (19,2%) e não reator em 74 (67,8%). A quimioprofilaxia foi empregada em 11 pacientes (78,5% dos pacientes com indicação). A medicação utilizada foi isoniazida em todos os casos. Não houve hepatotoxicidade. Conclusão: A prevalência de positividade ao teste tuberculínico em pacientes candidatos a transplante renal é alta, sendo segura a quimioprofilaxia com isoniazida.
KIM-1 (MOLÉCULA DE INJÚRIA RENAL-1) TEM EXPRESSÃO AUMENTADA EM PROCESSOS DE FIBROSE DE TRANSPLANTES RENAIS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 331
ALINE DE LIMA NOGARE;GABRIEL JOELSONS; ESTHER AQUINO DIAS; FRANCISCO JOSÉ VERÍSSIMO VERONESE; LUIS FELIPE GONÇALVES; ROBERTO CERATTI MANFRO
Introdução: KIM-1 é uma glicoproteína transmembrana do tipo 1, considerada atualmente um biomarcador promissor da injúria renal aguda, estando também associada a predição de desfechos. O objetivo do presente estudo foi o de avaliar a transcrição do mRNA e a expressão do gene KIM-1 em tecido renal de pacientes transplantados renais com disfunção do enxerto. Materiais e Métodos:.Foram feitas análises moleculares em 59 biópsias de pacientes transplantados renais classificadas de acordo com o esquema Banff-1997. As biópsias foram alocadas em 5 grupos diagnósticos: 1. Necrose tubular aguda com rejeição aguda superimposta (NTA+RA, n=21); 2. NTA (n=11); 3. RA (n=12); 4. Nefrotoxicidade por inibidores de calcineurina (NIC, n=4); 5. Fibrose intersticial e atrofia tubular (IFTA, n=11). Utilizou-se a técnica quantitativa de PCR em tempo real (TaqMan EZ, ABI-PRISM 7000, Applied Biosystems) para a amplificação e quantificação do RNAm. Os dados das quantificações são apresentados em medianas e percentis 25 – 75. Resultados: .As avaliações em tecido renal demonstraram aumento significativo da expressão do mRNA de KIM-1 nos grupos NIC (50,6; 1,8-285,1) e no grupo IFTA (7,5; 1,26-14,6) Não tendo sido observada diferença significativa entre eles (P > 0,05). Nos demais grupos NTA (0,47; 0,28-1,06), RA (0,21; 0,11-0,78) e NTA+RA (0,46; 0,06-3,27) a expressão foi significativamente menor que a observado nos grupos NIC e IFTA ( P < 0,05 em todas comparações). Conclusões:.Estes dados preliminares sugerem que o mRNA do gene KIM-1 poderá vir a ser um biomarcador acurado de dano tubular agudo associado a NIC e a IFTA. Este achado está em consonância com sua expressão em células epiteliais desdiferenciadas das regiões danificadas do túbulo proximal, que são susceptíveis a lesão resultante de toxinas.
EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS RESISTIDOS SOBRE O SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
FERNANDO MARCIANO VIEIRA;GABRIELLA S. GIOVANAZ; SAULO R. SILVA; DULCIANE N. PAIVA; ISABELLA M. DE ALBUQUERQUE
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada por lesão renal com perda progressiva e irreversível dos rins. A hemodiálise (HD), tratamento de escolha da insuficiência renal crônica (IRC), é um processo de filtração que remove o excesso de líquido e metabólitos. A literatura refere que a desnutrição calórico-proteica está presente em 10 a 70% dos pacientes mantidos em HD associando-se freqüentemente à fraqueza, perda de massa muscular e menor qualidade de vida (QV). Vários estudos têm demonstrado que programas de exercícios físicos resistidos ocasionam aumento na massa muscular, bem como nos parâmetros de qualidade de vida dos pacientes com insuficiência renal crônica. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de um programa de exercícios físicos resistidos sobre o sistema musculoequelético e impacto na qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos à HD. Material e Método: Estudo de delineamento quase-experimental, composto por 20 pacientes (11 mulheres e 9 homens), com média de idade de 51,85 ± 10,09 anos, com diagnóstico clínico de IRC em programa regular de HD (freqüência de três sessões semanais, quatro horas por sessão) e tempo de tratamento em HD de 46,2 ± 30,28 meses, na Clínica de Doenças Renais UNI-RIM, na cidade de Santa Cruz do Sul-RS. Foi instituído um programa de oito semanas de exercícios físicos resistidos, freqüência semanal de três vezes, realizado durante a HD. Os pacientes foram avaliados no período pré e pós-programa através do teste de 1 repetição máxima (1 RM) e da perimetria . A QV foi avaliada por meio do questionário de qualidade de vida SF-36 no início e após a instituição do programa. Análise Estatística: Os dados foram analisados através do teste de Wilcoxon. Significância estatística foi determinada como p<0,05. Resultados: Houve incremento significativo do 1 RM (p<0,001), na perimetria constatou-se incremento nas medidas de 10 e 15 centímetros, tanto supra (p<0,001 e p<0,001 respectivamente) como infrapatelar esquerda (p=0,001 e p<0,001 respectivamente) e direita (p=0,001 e p<0,001 respectivamente). Em relação à qualidade de vida, ao final do programa, observou-se aumento estatisticamente significante (p=0,005) nas dimensões capacidade funcional, aspectos sociais e saúde mental do SF-36. Conclusões: O estudo demonstrou que o treinamento resistido aumentou a força muscular e a massa muscular ocasionando também uma melhora na qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos à HD.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 332
PROLIDASE DEFICIENCY: REPORT OF TWO BRAZILIAN SIBLINGS WITH ASSOCIATED RENAL DISORDER
CAMILA MATZENBACHER BITTAR;MERCEDES VILANUEVA; DIEGO MIGUEL; CAROLINA SOUZA; CRISTINA NETTO; FRANCISCO VERONESE; IDA SCHWARTZ
Objetives: This report describes two sibs (male and female) with prolidase deficiency (PD). We discuss some clinical aspects of PD among these two patients born from a consanguineous couple. Prolidase deficiency is a rare recessive disorder caused by mutations in the prolidase gene and characterized by severe skin lesions. Symptoms are usually multisystemic and its hallmarks are ulcerations of the skin, chronic dermatitis, recurrent infections, an unusual facial appearance and splenomegaly. The pathophysiology of PD is still poorly understood. Methods: We have been following these two patients, who were diagnosed as by a TLC and ion-exchange-chromatography of aminoacids compatible with PD, in Giannina Gaslini Institute, Genova, Italy. Results: Patient 1: male 27 yo, started with splenomegaly in the first month of life, and with a secondary hemolytic anemia. Splenectomized since 1989 (partial splenectomy). He developed recurrent infections, erythematous dermatis and severe progressive ulcerations of lower extremities and the motor an mental development is normal. The diagnosis of PD was made at 9 yo of age. Laboratory examination revealed hypergammaglobulinaemia, specially Ig E. At the moment, he is on nephrological evaluation due to early onset of proteinuria since 2007. Subsequently it was made a renal biopsy, showed Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) at 26 yo. His psychomotor development was normal. Patient 2: female 24 yo, showed her first lesion at infancy as well, but appear to have a more localized disease, with the scalp and axillary more affected. She has smaller leg ulcers than her brother. A scalp biopsy was made recently and showed psoriatic lesions. Laboratory analysis also revealed hyperinmunoglobulin E. Renal evaluation evidenced mild proteinuria.
NEUROCIRURGIA
TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NA ATUALIDADE
FERNANDO RIBAS FEIJÓ;ALEX WALTER DUARTE; DANIEL LUNARDI SPADER; DIEGO BONIATTI RIGOTTI; FELIPE BRUM DREWS; JULIANA MASTELLA SARTORI; RICARDO FILIPE ROMANI
Introdução: O trauma crânio-encefálico (TCE) é um dos maiores problemas de saúde e sócio-econômicos do mundo. Caracteriza-se por agressões anatômicas e funcionais ao crânio, meninge, encéfalo e couro cabeludo. Suas principais causas atualmente relacionam-se com acidentes de trânsito em adultos e injúrias não-intencionais em crianças.Objetivo: Apresentar uma revisão completa e atual da literatura sobre TCE.Material e Método: Busca em bancos de dados Medline/PubMed, Periódicos Capes e Scielo, utilizando os termos traumatic brain injury, Glasgow, craniotomy e CT scan, e suas combinações.Resultados: Foram selecionados 99 artigos. O sistema cérebro-vascular apresenta mecanismos de proteção ao trauma, que perdem sua efetividade em lesões graves. Podem ser classificados fisiopatologicamente pelo mecanismo de lesão e pelo tipo de injúria. A Escala de Coma de Glasgow classifica clinicamente em leve, moderado e grave. A tomografia computadorizada tem apresentado o melhor custo-benefício no auxílio da imagem no diagnóstico clínico. O tratamento requer um manejo inicial adequado, rápido, com manutenção dos sistemas cardiovascular e respiratório estáveis para prevenir hipotensão e hipóxia. No manejo hospitalar inicial deve-se procurar fazer o diagnóstico, utilizando imagem, se necessário, e avaliar os pacientes que necessitam de manejo cirúrgico ou não. O uso de medicações, controle da pressão arterial, da glicemia, da temperatura, da dieta, da oxigenação e da pressão intracraniana devem ser controlados, a fim de manter o ideal metabólico e evitar danos. O manejo cirúrgico é necessário em casos mais graves, especialmente quando há aumento da pressão intracraniana.Conclusões: A incidência de traumatismos cranianos continua a aumentar em todo o mundo. Esforços para melhorar a prevenção e o tratamento devem continuar a ser prioridade para os médicos.
EFEITO DA RADIAÇÃO IONIZANTE NO CONTEÚDO DE P53, HSP70 E EGFR EM ESFERÓIDES DE GLIOBLASTOMAS HUMANOS: IMPLICAÇÕES NA RADIORESISTÊNCIA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 333
PATRYCK STANGL BOSCHETTI;CARLOS ALEXANDRE FEDRIGO; DANIEL PRETTO SCHUNEMANN; ANDREA PEREIRA REGNER; IVAN CHEMALE; FRANCIELLI COSTA; CAROLINE ZANONI; AROLDO BRAGA FILHO; IVANA GRIVICICH; ADRIANA BRONDANI DA ROCHA
Introdução: A radioterapia rotineiramente é prescrita para o tratamento de glioblastoma multiforme (GBM), mas esta terapêutica é limitada pela radiorresistência destes tumores, refletida como uma susceptibilidade diminuída das células irradiadas a seguir para a apoptose. Assim, as células têm desenvolvido um mecanismo em resposta ao dano do DNA promovido pela radioterapia, em que p53, Hsp70 e/ou EGFr podem desempenhar um papel importante. Objetivo: Investigar se os conteúdos de p53, Hsp70 e EGFr estão associadas a radiorresistência de células GBM. Materiais e métodos: Esferóides das linhagens celulares U-87MG e MO59J, bem como esferóides derivados de cultivo primário de um paciente com GBM (UGBM1) foram irradiados (5, 10 e 20 Gy), sua radiorresistência relativa estabelecida e os conteúdos de p53, Hsp70 e EGFr foram imunohistoquimicamente determinados. Investigamos também se as vias EGFr-fosfo-Akt e EGFr-MEK-ERK podem desencadear a radiorresistência dos GBM. Resultados: Após 5 Gy de radiação em esferóides de UGBM1 e U-87MG, foi encontrado significativo decréscimo de crescimento, enquanto os esferóides de MO59J se mostraram relativamente radiorresistentes. Nenhuma mudança significativa nos conteúdos de p53 e Hsp70 foi encontrada após radiação com 5 Gy em todos os esferóides estudados. A única diferença, observada nos conteúdos de Hsp70, foi sua distribuição periférica em esferóides de MO59J. Entretanto, o tratamento com 5 Gy de radiação induziu um aumento significante nos conteúdos de EGFr nos esferóides de MO59J. Além disso, o tratamento com inibidores da ativação da ERK (PD 098059) e da Akt (wortmanina) levaram a radiossensibilização dos esferóides de MO59J. Conclusão: Os resultados sugerem que as vias PI3K-Akt e MEK-ERK estão envolvidas na radiorresistência de GBM humanos.
MODELO DE ACESSO AO HIPOCAMPO DE RATOS POR CRANIOTOMIA E CANULAÇÃO
LUCAS VINÍCIUS KOCH;SIMONE LUISA BERTI;RODRIGO BINKOWSKI DE ANDRADE;GUILHERME MARMOTEL NASI
Introdução Técnicas padronizadas para o acesso a estruturas como o hipocampo, de ratos Wistar, são escassas em nossa literatura, não condizendo com a relevância que tal acesso representa para a pesquisa em neuroproteção. Objetivos Desenvolver a técnica para implantação de cânulas bilaterais nos hipocampos de ratos Wistar, bem como suas vantagens na adequação a diversas metodologias científicas. Materias e Métodos 61 ratos Wistar,entre 200 e 250g, machos, de 60 dias. Aplica-se anestesia usando anestésico geral Ketamina, juntamente com Xilasina, administrados via intraperitoneal. Inicia-se com a dissecação do escalpo. É utilizado Peróxido de Hidrogênio para esfoliação do periósteo e localização do bregma. A localização do hipocampo baseia-se nas coordenadas de Paxinos e Watson. Considerando o bregma como o ponto zero, as coordenadas pré-estabelecidas para o hipocampo são: ântero-posterior: 4,2mm; látero-lateral: 3,0mm; dorso-ventral: 2,5mm.Craniotomia bilateral é realizada com broca odontológica baseando-se nas coordenadas. Implantação de cânulas de 9mm e 22G de acordo com coordenada dorso-ventral.Fixação das cânulas com acrílico dentário.Os animais são sacrificados após 48 horas.Em seguida,administra-se 2μL de azul de metileno em cada uma das cânulas .O cérebro é removido, e se verifica o correto posicionamento das cânulas de acordo com as áreas do encéfalo atingidas pelo azul de metileno.Resultados 90,17% das cirurgias obtiveram sucesso em acessar o hipocampo dos animais e permitir a infusão de substâncias no seu interior. 9,83% dos procedimentos sofreram intercorrências e não foram satisfatórios. Conclusão, esta técnica oferece como vantagens, menor dependência da experiência do cirurgião, procedimentos mais padronizados e precisos.
ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO MULTICÊNTICO PARA PACIENTES PORTADORES DE MALFORMAÇÕES ARTERIOVENOSAS CEREBRAIS NÃO ROTAS (ARUBA)
GUILHERME LOUREIRO FRACASSO;SÍLVIA BRUSTOLIN; MARCO ANTÔNIO STEFANI; MARCIA LORENA CHAVES
Atualmente observa-se um aumento substancial na detecção casual de malformações arteriovenosas (MAV) cerebrais não-rotas. Há diversos tratamentos disponíveis desde o conservador até os endovasculares. Entretanto, ainda não há evidências sólidas da superioridade nenhum tratamento.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 334
Com uma incidência anual nos EUA de quase 3.000 casos e custos de tratamento que variam de 50 a 100 mil USD por paciente, a utilização ampla da intervenção precoce chegaria a $300 milhões por ano. O objetivo principal desse estudo é investigar se o tratamento conservador ou o invasivo reduz o risco de óbito ou lesão cerebral (devido a hemorragia ou infarto) em pelo menos 40%. Além disso, visa comparar o impacto de tais tratamentos no que se refere a eventos adversos, qualidade de vida e custo. Para tanto, serão necessários 800 pacientes, analisados através do princípio da intenção de tratar. Todos os pacientes com MAV cerebral não-rota diagnosticada em um dos 80 centros clínicos participantes, sem tratamento prévio e sem contra-indicações, serão candidatos a participar do estudo. Os pacientes serão acompanhados por um período mínimo de 5 anos e um período máximo de 7,5 anos desde a randomização. O método do estudo é prospectivo, multicêntrico, paralelo, randomizado e controlado. O desfecho primário é o evento combinado de óbito por qualquer causa ou acidente vascular cerebral, cujo status será medido pela Escala de Rankin. As medidas secundárias de desfecho incluem eventos adversos, qualidade de vida e custo.O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o único centro participante do estudo na América do Sul e apresenta participação ativa na pesquisa, sendo que 4 foram randomizados para o tratamento conservador e 4 para o tratamento invasivo. O principal financiador é o NIH, dos EUA.
ANEURISMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE IN PEDIATRIC POPULATION REPORT OF 3 CASES
ANDRE CERUTTI FRANCISCATTO;RAFAEL MODKOVSKI; THIAGO TORRES DE ÁVILA; MATEUS LASTA BECK; ÁPIO CLÁUDIO MARTINS ANTUNES; MARCO ANTÔNIO STEFANI
INTRODUCTION: Intracranial aneurysms (IA) are uncommon in children, with prevalence ranging from 0.5% to 4.6%. We presente a series of 3 patients presented with rupted IA. CASE REPORTS: First patient, eight years-old male patient was transferred to our institution with a less than 24 hours history of headache, nausea and vomiting. He was alert and oriented, presenting with nuchal rigidity and papilledema, without focal neurological deficits (WFNS score 1). CT showed diffuse SAH, blood in 4
th ventricle and mild hydrocephalus (Fisher grade 4) (Fig 1). CT angiogram diagnosed an IA of the
right middle cerebral artery close to its origin in the carotid, measuring 3 per 2 cm (Fig 2A). The patient underwent an uneventful clipping of the IA. CT angiogram shown exclusion of the IA (Fig 2B). The second patient, 6 month of life, female, presented with spontaneous Eye opening, locating pain, scream cries and nuchal rigidity. CT (Fig 3) and CT angiogram (Fig 4A) showed diffuse SAH (Fisher 3) and an IA at right medial cerebral artery bifurcation (3 x 3 cm). The second patient also underwent a surgical clipping without complications and total occlusion of IA (Fig 4 B). The 3rd patient, 2 year old boy, presented with a history of sudden loss of consciousness. He was alert, obeying commands, with headache and nuchal rigidity, without fever or papilledema. He underwent a lumbar puncture that showed a hemorrhagic pattern. CT (Fig 5) and CT angiogram showed a diminute hemorrhagic image at distal portion of basilar artery proximal to the superior cerebellar artery confirmed by cerebral angiography (Fig 6A). This patient underwent endovascular treatment with IA being totally excluded from circulation using platinum coils. The first patient left hospital with a mild left hemiparesis (grade 4/5 deficit). The other two patients did not develop gross neurological deficits.
CORRELAÇÃO ENTRE GRAU DE RESSECÇÃO CIRÚRGICA, DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO E PROGNÓSTICO DOS PACIENTES COM GLIOMAS CEREBRAIS.
ANDRE CERUTTI FRANCISCATTO;RAFAEL MODKOVSKI; THIAGO TORRES DE ÁVILA; RAFEL LASTA BECK; ÁPIO CLÁUDIO MARTINS ANTUNES; MARCO ANTÔNIO STEFANI
Os objetivos da cirurgia para os gliomas cerebrais são fornecer o diagnóstico histológico [1, 2], aliviar o efeito expansivo [3, 4], aumentar eficácia das terapias adjuvantes (quimioterapia e radioterapia) [5, 6], prolongar a sobrevida através da citorredução [7], aplicar terapias locais. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo com revisão histórica de todas os pacientes submetidos à microcirurgia para tumor intracraniano no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos anos de 2006, 2007 à agosto de 2008, cujo resultado de exame anátomo-patológico foi glioma (grau I a IV da OMS). RESULTADOS: Um total de 32 pacientes foram submetidos à microcirurgia para glioma cerebral. Desses, 55% (17) eram do sexo masculino e 45% (14) do sexo feminino. A média de idade foi de 50 anos (dp 22,93). Houve uma associação entre o grau de ressecção cirúrgica (biópsia, subtotal, total ou completa) e o grau histológico de malignidade do tumor
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 335
(p= 0,04) (tabela 1). Foi encontrada uma tendência à significância em relação ao tempo de sobrevida e o grau de ressecção cirúrgica para os gliomas de alto grau (III e IV da OMS) (p = 0,058) (tabela 2 e figura 1). A sobrevida dos pacientes segundo o diagnóstico histológico são apresentados na tabela 3. CONCLUSÃO: Estudos maiores, prospectivos e randomizados serão necessários para confirmar esses resultados.
HIGH-FLOW VERTEBROJUGULAR FISTULA PRODUCED BY GUNSHOT TREATED WITH COIL EMBOLIZATION: REPORT OF 3 CASES
ANDRE CERUTTI FRANCISCATTO;MARCO ANTÔNIO STEFANI; RAFAEL MODKOVSKI; THIAGO TORRES DE ÁVILA; MATEUS FELIPE LASTA BECK
INTRODUCTION Penetrating injuries of the neck rarely compromise vertebral artery (VA). REPORT Three patients presented after sustaining penetrating gunshot wounds in different civilian conflicts. In two cases the bullet entered through the right maxilla and remained in the lateral part of C2. On the other patient, the entry point was at the right nucal region, in a trajectory through the cranial base to the nasium. Besides the vertebra-jugular fistula (VJF), the bullet caused also injury of ipsilateral petrous segment of the carotid artery and the generation of a direct carotid-cavernous fistula. Patient 1 presented clinically with quadriparesis, patient 2 with weakness in the right arm and patient 3 with proptosis and oftalmic hyperemia without neurological deficits. In one patient (fig 1 and 2), the VA was already occluded proximally, so the treatment was carried through a retrograde catheterization of the right VA by the contralateral vessel over its basilar origin, deploying 12 coils in venous side of VJF. In the other two individuals the VA seemed to be still patent but its reconstruction was judged not possible. After test occlusion of the VA showing no neurological modification, 12 platinum coils were delivered at the V2 segment occluding the VJF and VA. Carotid cavernous fistula present on the third patient was treated using the contralateral VA via posterior communicating artery, after failure to attempt using the venous route. (fig 5 and 6). The procedures were uneventful and all patients remained neurologically stable. The day after embolization, patient 1 was submitted to surgical removing of the bullet, decompress the cord and clean the wound. At day 60 he was able to walk. One month after procedure, patient 3 presented complete regression of proptosis.
NEUROLOGIA
DESEMPENHO COGNITIVO E SINTOMAS DEPRESSIVOS: COMPARAÇÃO ENTRE IDOSOS DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR E SAUDÁVEIS DA COMUNIDADE
AMANDA LUCAS DA COSTA; JULIANA SANTOS VARELA; LUCIANE RESTELATTO; ANDRÉA HEISLER; ANDRÉ PEREIRA DA SILVA; LETÍCIA GUIMARÃES SACHETT; DÉBORA GÖTZE; BRUNA PELLINI FERREIRA; OSMAR MAZETTI; ANDRY FITTERMAN COSTA; PAULO D. PICON; EMÍLIO MORIGUCHI; MÁRCIA L. CHAVES
Resumo – O envelhecimento da população é um fenômeno mundial com conseqüências diretas no sistema de saúde pública. Uma das principais conseqüências do crescimento desta parcela da população é o aumento da prevalência de doenças como demência e depressão que são muito freqüentes entre os idosos. Recentemente, a relação entre fatores de risco cardiovasculares, depressão e demência foi abordada em várias investigações. Objetivos: Avaliar a relação de desempenho cognitivo e sintomas depressivos com risco cardiovascular em idosos. Métodos: 94 idosos de alto risco cardiovascular e 160 idosos saudáveis da comunidade foram avaliados num corte transversal. O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e a escala de depressão geriátrica (GDS-15) foram usados para as medidas principais. O ponto de corte para presença de sintomas depressivos foi 6 na GDS. Resultados: O grupo de alto risco cardiovascular mostrou escores significativamente mais baixos no MEEM (p < 0001) independente da educação, e foi significativamente associado a depressão (p < 0,001). A análise de regressão logística para depressão como variável dependente, idade e grupo (idosos saudáveis da comunidade ou idosos de alto risco cardiovascular) foram mantidos na equação final. Maior idade (Razão de Chance=0,92, IC 95% 0,86–0,98) e idosos de alto risco cardiovascular (RC=2,99; IC 95% 1,36–6,59) estavam associados à presença de depressão. Conclusões: Os achados do presente estudo corroboram o desempenho cognitivo diferencial dos idosos de alto risco cardiovascular e a associação de sintomas depressivos a este grupo.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 336
A RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL , DÉFICIT COGNITIVO E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR
AMANDA LUCAS DA COSTA;JULIANA SANTOS VARELA,MATHEUS RORIZ CRUZ , LUCIANE RESTELATTO,ANDRÉA HEISLER, ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, LETÍCIA GUIMARÃES SACHETT, DÉBORA GÖTZE, BRUNA PELLINI FERREIRA, OSMAR MAZETTI, ANDRY FITTERMAN COSTA, PAULO D. PICON, EMÍLIO MORIGUCHI, MÁRCIA LORENA CHAVES
Introdução: A obesidade é um fenômeno mundial que tem conseqüências diretas nos sistemas de saúde pública. Uma das principais conseqüências do crescimento desta parcela da população é o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares. Na literatura, ainda não esta claro sua relação com demência e depressão que se destacam como os transtornos mentais mais comuns em idosos . Objetivos: avaliar a relação de obesidade , prejuízo cognitivo e sintomas depressivos em pacientes de alto risco cardiovascular.Métodos:Foi selecionada uma amostra de 93 pacientes em acompanhamento no Centro de Dislipidemia e Alto Risco Cardiovascular (CDA) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) acima de 50 anos.Foram excluídos os pacientes que tiveram acidente vascular encefálico. Para avaliação cognitiva dos pacientes, foram aplicados o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), sendo considerados portadores de declínio cognitivo aqueles com menos de 24 pontos, ou menos que 17 pontos se menor do que 4 anos de escolaridade. Foi também aplicada uma escala de depressão geriátrica (GDS-15), na qual foi considerada sintomas depressivos acima de 6 pontos. Resultados: Os pacientes obesos obtiveram valores menores na média do MEEM quando comparados a pacientes não obesos (p=0,0012).Além disso observou-se que para cada ponto de aumento no IMC acima de 30 aumenta em 27% a chance do paciente apresentar déficit cognitivo.Os pacientes obesos tem 31% de chance de apresentar comprometimento cognitivo em comparação com pacientes com sobrepeso. Conclusão: Os achados do presente estudo corroboram a presença de uma associação entre obesidade e déficit cognitivo em pacientes de alto risco cardiovascular e não demonstrou esta associação com sintomas depressivos. São necessários maiores estudos sobre o tema.
INCIDÊNCIA DE DEMÊNCIA, COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE E IDENTIFICAÇÃO DE PREDITORES NUMA AMOSTRA DE BASE POPULACIONAL DE IDOSOS
AMANDA LUCAS DA COSTA;ANA LUIZA CAMOZZATO,CLAUDIA GODINHO,MARIA OTÍLIA CERVEIRA,RENATA KOCHHANN,JULIANA VARELA,ERICKSEN BORBA ,DIEGO ONYSZKO ,ANDRÉA HEISLER,MÁRCIA L. F. CHAVES
Introdução:No Brasil, a população de idosos é de aproximadamente 8 milhões, estimando-se que 1,2 milhões destes idosos apresentam algum grau de demência.Há evidências de que comprometimento cognitivo leve (CCL) está associado a maior risco de desenvolver demência.Objetivos: Determinar a prevalência de demência e comprometimento cognitivo leve e identificar variáveis de risco para o desenvolvimento de demência e CCL bem como fatores de proteção para o envelhecimento com sucesso.Métodos:Trata-se de um estudo de coorte controlado que iniciou em 1996 onde se buscou os indivíduos idosos da comunidade da área de alcance do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)345 indivíduos com idade acima de 60 anos residentes na região de abrangência geográfica HCPA não demenciados.A segunda entrevista completa foi realizada no período de junho de 2003 a junho de 2004.A terceira entrevista foi realizada em 2007, todos os indivíduos localizados foram avaliados e aqueles que apresentaram suspeita de comprometimento cognitivo leve e demência foram detalhadamente investigados no ambulatório de neurogeriatria do HCPA para confirmação diagnóstica.Resultados:Foram entrevistados 150 indivíduos com média de idade de 81,4 anos e Mini exame do estado mental (MEEM) de 26 pontos , 77% dos pacientes apresentaram CDR 0. 9,4 % apresentaram CCL e 13,4% apresentaram CDR>1, ou seja, demenciados, Não se demonstrou nenhuma interação entre as variáveis estudadas e declínio cognitivo nos indivíduos. Conclusão: Os achados do presente estudo não demonstraram uma associação entre os parâmetros avaliados e o declínio cognitivo.
ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS DOS SISTEMAS GABAÉRGICOS E SEROTONINÉRGICOS COM VARIABILIDADE DA RESPOSTA TERAPÊUTICA ÀS DROGAS UTILIZADAS PARA TRATAR SINTOMAS COMPORTAMENTAIS (ANTIPSICÓTICOS E ANTI-EPILÉPTICOS) NA DOENÇA DE ALZHEIMER
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 337
ANDREA HEISLER;MARIA OTÍLIA CERVEIRA, ANALUIZA C. PADUA, ERICKSEN BORBA, DIEGO ONYSZKO, ROBERTO GIGLIANI, MARIA L. S. PEREIRA, MÁRCIA L. F. CHAVES
Introdução: Sintomas neuropsiquiátricos (NP) ocorrem quase universalmente nos pacientes com Doença de Alzheimer (DA), sendo associados a maior desgaste, à diminuição da qualidade de vida e ao aumento de institucionalização e custos. A base neuroquímica e biológica destes sintomas na DA não é bem conhecida, sendo a resposta ao tratamento dos sintomas NP bastante variada. Objetivos: Avaliar a associação entre polimorfismos dos sistemas gabaérgicos (subunidade alfa-4 do receptor A do ácido gama-aminobutírico – GABRA4) e serotoninérgicos (gene transportador de serotonina – SLC6A4) com a variabilidade de resposta ao tratamento dos sintomas NP na DA. Materiais e Métodos: Foram incluídos 17 pacientes com diagnóstico de DA em acompanhamento no Ambulatório de Neurogeriatria (NGA) do HCPA que apresentaram distúrbios NP e que fizeram uso de pelo menos uma classe de medicamentos NP durante acompanhamento, além de 10 indivíduos controles com características sócio-demográficas semelhantes ao do grupo caso. Foi coletado o sangue da amostra incluída (n=27), sendo armazenado em conservação para posterior avaliação do polimorfismo pelo Laboratório de Genética do HCPA. A resposta terapêutica à medicação foi avaliada através da escala Impressão Clínica Global (CGI) do médico assistente registrada nos prontuários das re-consultas após o início da medicação (respondedora- valores de 1-3 e não-respondedora- valores de 4-6). Resultados: Os pacientes com DA foram categorizados em 5 (29,4%) respondedores, 3 (17,6%) não-respondedores e 9 (52,9%) com resposta mista à terapêutica medicamentosa. Conclusão: A identificação de preditores como biomarcadores de resposta a tratamento é uma área bastante atrativa e poderá trazer importantes contribuições para o melhor manejo de pacientes com DA.
RASTREIO DE DECLÍNIO COGNITIVO EM AMOSTRA DE PACIENTES IDOSOS DOS AMBULATÓRIOS DO HCPA
ANDREA HEISLER;MARIA OTÍLIA CERVEIRA, CLAUDIA GODINHO, RENATA KOCHHANN, ROBERTO GIGLIANI, MARIA L. S. PEREIRA, ERICKSEN BORBA, DIEGO ONYSZKO, MÁRCIA L. F. CHAVES
Introdução: A demência é hoje o problema de saúde mental que mais cresce. Possui prevalência de 5% em estudos populacionais. É de suma importância a investigação de declínio cognitivo para detecção precoce desta patologia. Objetivos: Verificar a freqüência de déficit cognitivo através do teste MEEM- Mini-Exame do Estado Mental- em pacientes idosos dos ambulatórios do HCPA. Materiais e Métodos: O MEEM e um questionário com dados demográficos foram aplicados em pacientes com ≥ 65 anos que aguardavam consulta nos ambulatórios do HCPA. Foram considerados portadores de declínio cognitivo aqueles pacientes com menos de 24 pontos no MEEM se > 4 anos de escolaridade, ou menos que 17 pontos se ≤ 4 anos. Os médicos assistentes foram convidados a encaminhar os pacientes com rastreio positivo ao Ambulatório de Neurogeriatria (NGA) para complementar avaliação. Resultados: Foram entrevistados 967 pacientes no período de 4 meses. Destes, 413 tinham < 65 anos de idade, 82 se recusaram a participar e 472 foram incluídos. Dos pacientes incluídos, 326 (69,1%) eram mulheres, a idade média foi de 73,8 ± 6,4 anos e educação média foi de 4,4 anos ± 3,5 anos. Destes pacientes, 109 (23,1%) tiveram escore do MEEM abaixo do ponto de corte, mas somente 26 pacientes foram encaminhados para avaliação mais detalhada no NGA até o momento. Destes, 7,6% fecharam critérios de demência (doença de Alzheimer e demência vascular), 26% para depressão, 26% não apresentaram comprometimento e 38,5% cumpriram critérios de comprometimento cognitivo. Conclusão: A freqüência de demência encontrada em amostra de pacientes do HCPA foi semelhante à observada em estudos brasileiros realizados na comunidade. A taxa de encaminhamento de casos com rastreio positivo foi baixa e merece maior atenção.
PERFIL DOS PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE DEMÊNCIAS DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE (ISCMPA) E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS
BRIGIDA SCHEMBIDA DE OLIVEIRA;LARISSA PACHECO GARCIA; LUIZ HENRIQUE TIEPPO FORNARI; LIANA LISBOA FERNANDEZ; ARLETE HILBIG
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 338
Introdução: Consideradas como um problema de saúde pública, as demências vêm gerando altos encargos financeiros aos portadores/cuidadores, bem como ao Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos: Realizar estudo transversal com o perfil dos pacientes do Ambulatório de Demências do SUS da ISCMPA e avaliar o processo de obtenção das medicações prescritas. Materiais e Métodos: A partir de consulta a prontuários, foi elaborado um perfil dos pacientes atendidos no ambulatório de março de 2006 a outubro de 2008, contendo dados de caracterização da síndrome demencial e medicações em uso para o tratamento da mesma. Para obtenção de dados sobre a aquisição das medicações e razões para a não obtenção delas via SUS foram realizadas ligações telefônicas aos cuidadores. A análise estatística foi realizada com uso do software EpiInfo. Resultados: Foram atendidos 142 pacientes no período em estudo, sendo que 63 preencheram critérios diagnósticos para demência. Dentre estes: 56% eram homens; 61% tinham entre 60-80 anos; 67% apresentavam menos de 4 anos de escolaridade; a prevalência de doença de Alzheimer (DA) foi de 48%. Dos 30 cuidadores contatados, 57% obtinham as medicações por compra; 20% por doações; 10% pelo SUS; 10% parte pelo SUS e parte por compra/doação. Dentre os motivos para não obtenção via SUS estavam: a não tentativa (42%), a não obtenção de resposta ao processo aberto via Secretaria da Saúde (12%), a negativa da Secretaria da Saúde (31%) e a ausência da medicação nos postos de saúde (15%). Conclusões: A prevalência de DA mostrou-se semelhante a outros centros. Dentre os complicadores para a obtenção de medicamentos via SUS estão a baixa compreensão dos cuidadores sobre o processo, as exigências feitas pela Secretaria de Saúde e a ausência das medicações em postos.
PARALISIA DE BELL: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
HELOISA TEZZONI RODRIGUES;GABRIELLE AMARAL NUNES; ÉRICO AUGUSTO CONSOLI; RAFAELA DA SILVA VIATROSKI; LUCIANA HENGIST HOFFMANN; KAROLINE GABRIELA DALLA ROSA; JANDIRA RAHMEIER ACOSTA
INTRODUÇÃO: A Paralisia de Bell (PB) é uma paralisia aguda periférica do nervo facial. Ocorre predominantemente por volta dos 40 anos, no período gestacional e em diabéticos. Atinge os dois lados da face com semelhante proporção e a chance de recorrência ipsilateral ou contralateral é de 8%. A origem é provavelmente idiopática, mas a infecção pelo herpes vírus I é uma possível etiologia. Acredita-se que a PB seja causada por inflamação do nervo facial no gânglio geniculado, levando a compressão e possível isquemia e desmielinização do mesmo, causando os sintomas típicos da síndrome. OBJETIVOS: Revisar a literatura a partir de um relato de caso visto no Ambulatório de Neurologia do HCPA. MATERIAL E MÉTODOS: Realizado relato de caso de paciente do Ambulatório de Neurologia do HCPA e revisão de literatura através do Medline. CASO CLÍNICO: S.S; masculino, 56 anos, branco, procedente de Araricá/RS. Refere 2 episódios de paralisia facial.
VAL66MET BDNF GENE POLYMORPHISM HAS NO MAJOR IMPACT IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY
ANA CLAUDIA DE SOUZA;JOSÉ AUGUSTO BRAGATTI; LAILA CIGANA SCHENKEL; CAROLINA MACHADO TORRES; GISELE GUS MANFRO; CAROLINA BLAYA; DIOGO O. G. DE SOUZA; LAURA BANNACH JARDIM; SANDRA LEISTNER SEGAL; MARINO MUXFELDT BIANCHIN
Introduction: There is a growing interest in molecular mechanisms of epilepsy. Brain-Derived Neurotrofic Factor (BDNF) is a protein involved in neuronal development, protection and synaptic functioning. Changes in production and function of this protein could be one of these mechanisms. Impact of the Val66Met polymorphism of BDNF gene on epileptic disorders has been published with conflicting results. Objectives: To compare frequencies of Val66Met polymorphism in two different groups of subjects and access its impact on major clinical variables of temporal lobe epilepsy. Methods: In a case-control study, we compare the frequencies of Val66Met polymorphism in 85 patients with TLE and 87 normal controls. Also, we evaluated the impact of Val66Met polymorphism in clinical and electrographic characteristics of TLE. Results: The Val66Met polymorphism frequency in patients was not different from the normal controls (p=0.25). Met66 allele was found in 23 patients (27,1%) and in 30 controls (34,5%). The Val66Met polymorphism did not influence clinical variables regarding onset of epilepsy, duration of epilepsy, familial history of epilepsy, presence of aura or extension of irritative zone. Conclusions: In spite of evidences that Val66Met polymorphism has impact on several different neurological or psychiatric disorders, we conclude that a direct impact of
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 339
this polymorphism as a disease modifier in TLE is unlikely. However, because of the impact of Val66Met in other pathologies and several evidences from preclinical research, further studies with larger samples or the evaluation of marginal influences of BDNF polymorphisms in some specific variables of TLE are needed before final conclusions.
SÉRIE DE PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA TRATADOS COM MITOXANTRONA
ALINE VITALI DA SILVA;MARIAH GRAZIANI SOUZA MELLO LOPES, GIORDANI RODRIGUES DOS PASSOS, CARLOS EDUARDO BASTIANI, FÁBIO ANDRÉ SELAIMEN, GISELE SILVA DE MORAES, RAFAEL DO AMARAL CRISTOVAM, ALESSANDRO FINKELSZTEJN
INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica imuno-mediada. As formas de EM com evolução progressiva apresentam, em geral, pior prognóstico e menores possibilidades de tratamento. A mitoxantrona (MX) é eficaz, como terapia de 2ª linha, na diminuição da progressão da incapacidade na EM secundariamente progressiva (EMSP) e é usada de maneira experimental na EM primariamente progressiva (EMPP). A MX é um quimioterápico com importantes efeitos adversos, dos quais se destacam a alteração na fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FE) e alterações hematológicas. OBJETIVO: Caracterizar os pacientes submetidos a tratamento com MX e quantificar os efeitos adversos (EA). MÉTODOS: Série histórica composta por pacientes com EM tratados com MX 20mg trimestral, no HCPA de 2005 a 2009. Foi realizada revisão dos prontuários. RESULTADOS: Identificamos 6 pacientes (n=6) que realizaram 26 ciclos, 3 eram do sexo masculino, média de idade 39,5 (28-53) anos e todos de cor branca.Cinco apresentavam EMSP e 1 EMPP, média de tempo de evolução da doença de 12 (7-17)anos e EDSS 6,75 (5-9) no 1º ciclo. A média da FE do 1º ciclo foi 66,83% e do último, 63,5%. O EA mais frequente foi náusea em 11 ciclos (n=4), seguido por vômitos em 5 ciclos (n=4), leucopenia em 4 ciclos (n=2), cefaléia em 3 ciclos (n=2), infecção urinária em 2 ciclos (n=2), infecção respiratória em 2 ciclos (n=1), plaquetopenia em 2 ciclos (n=1), em apenas 1 ciclo palpitação, farmacodermia, mucosite e anemia. Uma paciente após o 3º ciclo faleceu por infecção respiratória após a alta, em outro hospital. CONCLUSÃO: A MX é efetiva, como mostra a literatura, mas tem seu uso limitado por importantes EA, incluido uma morte na nossa amostra. O tratamento deve ser cauteloso pesando-se riscos e benefícios.
PACIENTES IDOSOS QUE COMPARECEM AO AMBULATÓRIO ACOMPANHADOS DE FAMILIARES TÊM MAIOR CHANCE DE APRESENTAR SCREENING POSITIVO PARA DISFUNÇÃO COGNITIVA?
RODRIGO GONÇALVES DIAS;MARIA OTÍLIA CERVEIRA; ANDRÉA HEISLER; CLÁUDIA DA CUNHA GODINHO; RENATA KOCHHANN; ERICKSEN BORBA; DIEGO ONYSZKO; AMANDA LUCAS DA COSTA; JULIANA SANTOS VARELA; MATHEUS RORIZ CRUZ; MÁRCIA LORENA FAGUNDES CHAVES
Introdução: Pacientes idosos frequentemente comparecem à consulta médica acompanhados de familiares. Muitos não-especialistas na área não realizam quaisquer testes de screening para disfunção cognitiva. O fato de o idoso vir acompanhado pode sugerir que o mesmo tenha dificuldades de orientação espacial/função executiva e/ou que o familiar julgue que o mesmo não possua condições de informar e seguir a orientação médica adequadamente. Objetivo: Avaliar se pacientes idosos (≥ 65 anos) que compareçam a ambulatórios clínicos acompanhados de familiares têm ou não maior chance de apresentar screening positivo para disfunção cognitiva. Material e Métodos: Seiscentos e sete (607) pacientes idosos ambulatoriais foram convidados a participar da pesquisa enquanto aguardavam consulta ambulatorial em três especialidades clínicas do HCPA. Do total, 41 (6,8%) pacientes recusaram-se a participar da pesquisa. Aplicou-se o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) num total de 566 idosos. Disfunção cognitiva foi definida como: MEEM < 24 se ≥ 5 anos de escolaridade e MEEM < 17 se ≤ 4 anos de escolaridade. Estatísticas não-descritivas foram ajustadas para idade, gênero e escolaridade. Resultados: A idade média dos pacientes foi de 73,5 anos (± 6,2), sendo que 367 (64,8%) foram mulheres e 38,8% vieram acompanhados. Idosos acompanhados por familiares apresentaram um MEEM médio significativamente inferior (22,0) comparado àqueles que compareceram sozinhos (24,2; p < 0,001). Pacientes acompanhados de familiares tiveram uma chance 2,55 vezes maior de apresentarem screening positivo para disfunção cognitiva (p < 0,0001). Conclusão: Pacientes idosos ambulatoriais que comparecem acompanhados de familiares
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 340
apresentam uma chance 2,6 vezes maior de apresentarem screening positivo para disfunção cognitiva.
PEER-REVIEW OF MEDICAL PRESCRIPTION OF PRAMIPEXOLE IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN THE SOUTH OF BRAZIL: EVIDENCE OF AN IRRATIONAL PRESCRIPTION OF DOPAMINERGIC AGONISTS FOR PARKINSON´S DISEASE
ANA PAULA VARGAS;MARIANA PEIXOTO SOCAL;CARLOS R.M.RIEDER;PAULO D. PICON
Abstract: OBJECTIVE: Parkinson\'s disease has a strong economical impact for the Brazilian public health system. In Rio Grande do Sul we have noticed an increasing demand for pramipexole in the last few years. According to medical literature and Brazilian Guidelines for Parkinson´s Disease, the main indications for dopamine agonist use are the first treatment for young patients and the control of motor fluctuations and dyskynesias in patients with advanced disease. With the objective of evaluating prescription patterns of pramipexole we reviewed a sample of patients who required public funding for their treatment to our regional Public Health Department. METHODS: all pramipexole requests from february to december 2007 were reviewed by an expert review group. RESULTS: 267 requests were analysed: 53,4% were women and 60,7% were older than 65 years. In 48,7% of cases no information was sent to justify the medication request. In the remaining cases, the reasons stated for pramipexole request were: first treatment (13,5% of cases), motor fluctuations/dyskynesias (12,7%), and absence of benefit with levodopa (13,1%). All of the patients who reported levodopa failure were using low levodopa doses. Only 28% of the patients met the Brazilian inclusion criteria for public funding for this treatment. CONCLUSIONS: Here we show evidence of malprescription of dopamine agonists and irrational use of public resources. In Brazil, therapy with dopamine agonists is around 10 times more expensive than with levodopa. Educational actions on doctor‟s decision urges in our State to protect patients and reduce costs.
SÍNDROME DE WALKER WARBURG
ELISA SFOGGIA ROMAGNA;PATRÍCIA ANDRÉIA ZANETTI BALLARDIN; RICHARD LESTER KHAN; CRISTIANO AMARAL DE LEON
Introdução: A síndrome de Walker-Warburg é uma distrofia muscular congênita associada a malformações cerebrais e oculares. Trata-se de uma doença rara, autossômica recessiva, cujo diagnóstico é firmado ao nascimento através de alterações clínicas e patológicas, podendo haver suspeita ainda no pré-natal através de achado ultrassonográficos. Objetivo: relatar o caso de um paciente com 3 meses de vida portadora de síndrome de Walker-Warburg. Descrição: Paciente feminina, nasceu de parto cesáreo, sem intercorrências. Mãe realizava acompanhamento em pré natal de alto risco por aumento dos níveis tensionais e duas gestações anteriores com fetos portadores de Síndrome de Walker-Warburg e ecografia fetal com presença de lábio leporino, fenda palatina e hidrocefalia. Ao nascimento realizado ressonância magnética que mostrou severa dilatação do sistema ventricular, determinando achatamento do parênquima cerebral contra a calota craniana. Não foi identificado o corpo caloso, os sulcos corticais telencefálicos ou fissuras de Sylvius, com achados compatíveis com lissencefalia. Hipoplasia do cerebelo e do vermis cerebelar, havendo abertura do quarto ventrículo para a cisterna magna. Ausência subtotal da foice inter-hemisférica, sem desvio da linha média. Cavidades orbitárias sem evidência de lesão. Os Achados descritos no exame sugeriram a possibilidade de síndrome de Walker-Warburg. Discussão: Esta é uma síndrome severa e letal, diagnosticada através de quatro critérios: distrofia muscular congênita, anormalidades oculares, lissencefalia tipo II e malformação cerebelar. Seu tratamento visa apenas suporte e prevenção. Pacientes com esta doença geralmente vão a óbito ainda no primeiro ano de vida.
MALFORMAÇÃO DE DANDY WALKER - RELATO DE CASO
ELISA SFOGGIA ROMAGNA;PATRÍCIA ANDRÉIA ZANETTI BALLARDIN; RICHARD LESTER KHAN; CRISTIANO AMARAL DE LEON
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 341
Introdução: A síndrome de Dandy Walker (DW) é uma malformação congênita do SNC caracterizada por dilatação cística do 4° ventrículo, aplasia ou hipotrofia completa ou parcial do vermis cerebelar, alargamento da fossa posterior e hidrocefalia. Pode-se suspeitar da síndrome no pré-natal, através de US, porém o diagnostico é realizado através de ressonância magnética, com achados neuroradiológicos característicos. Relato do Caso: RN masculino, nasceu de parto cesárea, apgar 7/9. Encaminhado à UTI neonatal para investigação por uma ecografia obstétrica que evidenciava agenesia da parte central do cerebelo. Ao exame físico, paciente hipotônico e hipoativo, fácies atípica, fontanelas normotensas (posterior com 11cm), fenda palatina. Ausculta cardíaca com sopro sistólico 2+/6+. Genitália com criptorquidia à direita, testículo tópico à esquerda. Hexodactilia em ambos pés. Exame neurológico com hipertonia acentuada dos quatro membros e leve predomínio de membros superiores. Reflexo de Moro ausente e preensão palmo-plantar débeis bilateralmente. TC de crânio mostrando malformação de DW, pela fossa posterior aumentada com presença de cisterna magna se comunicando livremente com o IV ventrículo, hipoplasia dos hemisférios e do vermis cerebelares, exagero das proporções do espaço subaracnóideo e desproporção entre as substâncias encefálicas branca e cinzenta e RM de encéfalo sugerindo variante do complexo DW. Discussão: Trata-se de uma variação de DW, apresentando malformações associadas (fenda palatina, polidactilia, persistência do canal arterial e criptorquidia), porém com cariótipo normal. Esta síndrome manifesta-se clinicamente conforme o grau da malformação cerebelar e da hidrocefalia. O tratamento cirúrgico é decidido de acordo com os achados neuroradiológicos. Ainda é controverso qual o tratamento ideal. Existem 3 modalidades: shunt, procedimento endoscópico e cirurgia aberta, sendo os dois primeiros as principais alternativas. O prognóstico desta doença é reservado.
SÍNDROME DE SCHMIDT-FRACCARO - RELATO DE CASO
ELISA SFOGGIA ROMAGNA;MARCELO CAMPOS APPEL DA SILVA; PATRÍCIA A. ZANETTI BALLARDIN
Introdução: A síndrome de Schmid-Fraccaro (SSF) é uma doença genética rara, caracterizada por alteração do cromossomo 22 (trissomia ou tetrassomia parcial) e por fenótipo variável. O quadro clínico típico compreende a presença de coloboma e atresia anal (com ou sem fístula), sendo possível o achado de pregas e/ou depressões pré-auriculares, malformações cardíacas e renais, hipertelorismo, fissuras palpebrais, baixa estatura, afecções esqueléticas, micrognatia, fenda palatina e graus variáveis de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e a confirmação diagnóstica é através da cariotipagem. Objetivo: relatar caso de uma paciente com síndrome de Schmid-Fraccaro (SSF) e déficit cognitivo severo.Descrição: paciente feminina, 17 anos, com dependência total dos cuidados maternos por restrição física e retardo mental severos, procura atendimento em unidade básica de saúde. Ao exame físico apresentava coloboma bilateral de íris, hipertelorismo, pregas pré-auriculares bilaterais, escoliose acentuada e ausculta cardíaca com sopro sistólico. Ao nascimento, paciente apresentara atresia anal e cardiopatia congênita, as quais levaram à investigação genética e ao diagnóstico de SSF. Comentários: A paciente descrita acima possui características típicas da síndrome, associado a outras características menos comuns. Além disso, há a associação com um sintoma raramente encontrado nestes pacientes, que é o retardo mental severo. Não existe tratamento para esta síndrome, sendo que deve haver um acompanhamento multidisciplinar para uma melhor qualidade de vida. A expectativa de vida varia conforme o número de malformações associadas, sendo que na maioria dos casos o prognóstico é favorável.
FLUTUAÇÕES MOTORAS NA DOENÇA DE PARKINSON ESTA RELACIONADA COM O POLIMORSFISMO VAL158MET DO GENE DA COMT
ARTUR FRANCISCO SCHUMACHER SCHUH;RIEDER, CRM; MONTE, TL; FRANCISCONI, C; HUTZ, MH
A doença de Parkinson (DP) é a única desordem neurodegenerativa que possui tratamento sintomático eficaz – a levodopa. Entretanto, cerca de 50% dos pacientes desenvolverão flutuações motoras com o uso desse fármaco. Essas flutuações são um dos maiores problemas no tratamento da DP, com comprometimento da qualidade de vida destes indivíduos. A COMT é uma enzima que degrada dopamina e levodopa e apresenta um polimorfismo funcional que produz isoformas de atividades rápida e lenta, que podem relacionar-se com o risco de desenvolver flutuações. No presente estudo, avaliamos se os polimorfismos da COMT associam-se com a presença dessa
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 342
complicação . Método: foram avaliados pacientes do ambulatório de Distúrbios do Movimento do HCPA, com diagnóstico de doença de Parkinson esporádica. Amostras de sangue foram coletadas e submetidas a técnicas de extração de DNA. O gene da COMT foi amplificado por reação em cadeia da polimerase e o produto clivado pela endonuclease NlaIII. Os fragmentos foram separados por eletroforese em gel de acrilamida e agarose. Dividiu-se os pacientes entre os com idade de inicio da doença antes ou após os 60 anos de idade.Resultados: em 105 pacientes, não houve diferença para presença de flutuações motoras entre os genótipos da COMT. Na análise do subgrupo de pacientes com doença de Parkinson de início tardio (após os 60 anos), houve aumento de risco para presença de flutuações entre os pacientes com genótipo rápido, Val/Val (OR: 9 CI 95% 1,6 – 50; p=0,02).Conclusão: pacientes com DP de início tardio com polimorfismo do gene da COMT, que determina isoformas de atividade rápida (Val/Val), apresentam maior risco de desenvolver flutuações motoras. Os metabolizadores rápidos degradariam mais levodopa exógena havendo ao aparecimento das flutuações motoras).
ESCALA BREVE DE FUNCIONAMENTO (FAST) EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON
KARINA CARVALHO DONIS;REGINA MARGIS; PEDRO MAGALHÃES; FLÁVIO KAPCZINSKI; CARLOS ROBERTO DE MELLO RIEDER
Introdução: O indivíduo com Doença de Parkinson (DP) pode apresentar comprometimento no funcionamento psicossocial. O conceito de funcionamento envolve diferentes domínios incluindo capacidade para trabalho, viver de forma independente, lazer e relacionamento interpessoal. A Escala Breve de Funcionamento (FAST) possui 24 itens e avalia o comprometimento ou incapacidade em áreas como autonomia, relacionamento interpessoal, lazer, funcionamento ocupacional, cognitivo e financeiro. Objetivo: Avaliar o comprometimento no funcionamento dos indivíduos com DP utilizando a FAST. Método: Participaram do estudo 37 pacientes com DP. Os sintomas foram mensurados pela Escala Unificada para Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) e Escala Hoehn-Yahr (HY). Foi preenchida a FAST considerando os 15 dias que antecederam a avaliação. Os pacientes responderam ao Inventário de Depressão de Beck (BDI) e foram avaliados pelo mini-exame do estado mental (MMSE). Resultados: O item que avalia relações interpessoais da FAST apresentou associação direta com UPDRS (seções I e II). O item autonomia mostrou associação moderada com HY e UPDRS (seções I, III e IV) e associação forte com UPDRS (seção II). Os itens funcionamento cognitivo e finanças da FAST apresentaram associação moderada e direta com UPDRS (seção II). Foi identificada associação entre funcionamento ocupacional e UPDRS (seções I a III). FAST total apresentou correlação moderada com BDI. Conclusão: A FAST, inicialmente desenvolvida para avaliação do funcionamento de indivíduos com transtorno mental, apresentou associação direta com os sintomas da DP. Os autores sugerem que a utilização da FAST passe a ser considerado na avaliação de pacientes com DP e propõem que outros estudos, com mais indivíduos, sejam realizados utilizando a FAST.
NEUROPSICOFARMACOLOGIA
NEONATAL MORPHINE EXPOSURE ALTER BEHAVIOR IN YOUNG AND ADULT LIFE
JOANNA RIPOLL ROZISKY;LAUREN SPEZIA ADACHI, JANAÍNA ESPINOSA TEIXEIRA, ALBERTO SETTE NETO, IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
Introduction: Management of opiate withdrawal symptoms in opiate-exposed neonates remains a major medical challenge. Basic and clinical research that targets the mechanisms underlying the development of opiate withdrawal in this age is needed. Objectives: evaluate the effect of repeated morphine administration at P8 until P14 upon withdrawal symptoms at P16. For the study of long-term effect of this exposure in early life, the rats were submitted to a second treatment (P80-P86) and the behavioral symptoms were verified at P88. Materials and Methods: neonate male Wistar rats were divided into 2 groups: saline (C-n=6) and morphine (M-n=7) which received saline or morphine (5µg s.c., midi-scapular) at P8 until P14. For the long-term effect, these groups were subdivided at P80 into saline/saline (C-C-n=8), morphine/saline (M-C-n=6), saline/morphine (C-M-n=6) and morphine/morphine (M-M-n=6) and received saline or morphine (5mg/kg, i.p.) at P80 until P86. At P16 and P88 the behavioral responses were verified on the open field test: the rat was placed in the cage and left free to explore the surroundings for 5 min. The behavioral components were measured:
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 343
locomotion (the number of line crossings), rearing (standing upright on the hind legs), latency to leave the first quadrant and grooming. Results and Conclusions: At P16 the M group showed increase in time of grooming (Student t test, P<0.05). At P88, the C-M group showed increase rearing in comparison to the other groups (one-way ANOVA, P<0.05). The data suggested that the mechanisms involved in the opioid withdrawal processes in the neonate differ from those in adult animals and that the two opiate exposures, in early and in adult life, can trigger an adaptive response, resulting in the absence of withdrawal symptoms.
NOCICEPTION RESPONSE INDUCED BY MORPHINE EXPOSURE DURING EARLY LIFE IS NOT REVERTED BY ANTINFLAMMATORY IN ADULT LIFE
JOANNA RIPOLL ROZISKY;JOANNA RIPOLL ROZISKY, LICIANE MEDEIROS, JANAÍNA TEIXEIRA, ANDRESSA DE SOUZA, IRACI LUCENA DA SILVA TORRES
Introduction: Studies have shown that exposure to drugs in early life can have long-lasting implications on the developing nervous system. Others have shown that opioid exposure could lead changes in pain modulatory circuits. Objectives: investigate whether nociception-induced by repeated morphine exposure during early life is reverted by indomethacin on the formalin test at P30 and P60. Materials and Methods: neonate male Wistar rats were divided into 2 groups: saline (C-n=28) and morphine (M-n=33) which received saline or morphine (5µg s.c., midi-scapular) at P8 until P14. At P30 and P60, the animals were subdivided into 4 groups: saline/saline (C-C-n=14); saline/indomethacin (C-I-n=14); morphine/saline (M-C-n=17 and morphine/indomethacin (M-I-n=16) which received 30 min before the formalin test saline or indomethacin (10mg/kg, i.p.). The formalin test was performed at P30 and P60: each animal was injected s.c. into the plantar surface with 0.17 µL/kg of a 2% formalin solution and the nociceptive response was recorded for a period of 30 min. The summation of time (s) spent in licking, biting and flicking of the formalin-injected hindpaw was recorded in 2 phases: phase I (0-5 minutes) and phase II (15-30 minutes). Results and Conclusions: At P30 only the C-I group showed decrease of nociception response in 2 phases (one-way ANOVA, P<0.05). At P60 the C-I group showed decrease of nociception response in the second phase (one-way ANOVA, P<0.05). The data suggested that the repeated morphine exposure in early life induces nociception in medium-and long-term and it isn‟t reverted by indomethacin. Thus, this study challenge the view that early exposure to opiate results in the subsequent development of altered nociceptive responses. which may be expressed until adulthood.
NUTRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO DE GORDURAS DA DIETA E A PRESENÇA DE DESFECHOS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DIABETES MELITO TIPO 2
ANA LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS;CAMILA KÜMMEL DUARTE; TANARA WEISS, GABRIELA CANTORI; MIRELA JOBIM DE AZEVEDO; THEMIS ZELMANOVITZ
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de mortalidade nos pacientes com diabetes melito (DM) tipo 2. As recomendações dietéticas da Associação Americana de Diabetes para a prevenção das DCV nestes pacientes são baseadas, na sua maioria, em estudos realizados em pacientes com DCV, porém sem DM. Este estudo de coorte visa analisar as características da dieta, especialmente quanto à ingestão de gorduras, e a incidência de desfechos cardiovasculares nos pacientes com DM tipo 2. Foram avaliados pacientes com DM tipo 2 acompanhados no Ambulatório do Grupo de Nutrição em Diabete desde 2001. Foi realizada avaliação nutricional, que consistiu de avaliação antropométrica e preenchimento de registros alimentares (RA) e avaliação clínica (avaliação do controle metabólico, controle pressórico, detecção de complicações crônicas do DM e avaliação CV). Foram avaliados 156 pacientes, divididos de acordo com a presença (n=21) ou ausência (n=135) de evento cardíaco. O tempo médio de acompanhamento do grupo com evento cardíaco (CE) foi 60,3 ± 9,5 meses e 58,6 ± 10,4 meses do grupo sem evento (SE). Quanto às características da dieta, os pacientes SE tinham um maior consumo de ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) [9,5 %VET (2,8-25,3)] do que os pacientes CE [7,7 %VET (4,3-15,2); p=0,04]. Na análise de regressão de Cox (análise multivariada), observou-se uma associação negativa entre a ingestão de AGPI total [risco relativo (RR)=0,84, intervalo de confiança (IC)=0,72–0,99; p=0,036], assim como do ácido linoléico [RR=0,84, IC=0,70–0,99; p=0,039] e do ácido linolênico [RR=0,25, IC=0,07–0,83;
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 344
p=0,023], e a presença de desfecho cardíaco, após ajuste para sexo, adequacidade dos RA e teste A1c. Em conclusão, parece haver uma associação entre a menor ingestão de AGPI e o desenvolvimento de eventos cardíacos nos pacientes com DM tipo 2.
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DIETÉTICA COM FIBRA SOLÚVEL (GOMA-GUAR) NA ALBUMINÚRIA, CONTROLE GLICÊMICO E ÁCIDOS GRAXOS SÉRICOS EM PACIENTES COM DIABETE MELITO TIPO 2 E SÍNDROME METABÓLICA
JULIANA PEÇANHA ANTONIO;VALESCA DALLALBA; FLÁVIA M SILVA; CAROLINE P ROYER; THAIS STEEMBURGO; JORGE LUIZ GROSS; MIRELA J DE AZEVEDO
Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) está associada à elevada morbi-mortalidade cardiovascular. Previamente já demonstramos efeito protetor das fibras para a presença da SM em pacientes com diabete melito tipo 2 (DM2). Objetivo: avaliar o efeito da suplementação dietética com fibra solúvel goma-guar (GG) na dieta habitual sobre fatores associados à SM. Metodologia: Ensaio clínico randomizado com pacientes com DM2 e SM (IDF). No período de run-in, as recomendações dietéticas e medicações foram ajustadas para atingir o melhor controle metabólico e de pressão arterial. Os pacientes foram submetidos a avaliações clínica, laboratorial e nutricional (registros alimentares de 3 dias com pesagem) no início do estudo, em 4 e 6 semanas. O grupo intervenção (GG) recebeu goma-guar (5g BID) e o grupo controle (GC), seguiu a sua dieta habitual. Resultados: Foram estudados 44 pacientes com idade de 62 ± 9 anos, 14.2± 9.6 anos de DM, sendo 17 do sexo masculino. No grupo GG (n=23) houve uma diminuição da excreção urinária de albumina (EUA) nos tempos 0, 4 e 6 semanas: [6.8 (3.0-17.5); 4.5 (3.0-10.5); 6.2 (3.0-9.5) mg/24h; P=0.043], HbA1c (6.88±0.99; 6.64±0.94; 6.57±0.84%; P=0.021), circunferência da cintura (103.5±9.5; 102.1±10; 102.3±9.7 cm; P=0.041) e nos ácidos graxos séricos trans [7.08 (4.6–13.68); 6,7 (4,8 - 9,8); 5.71 (3.00–10.95) mg/dL; P=0.032]. No grupo GC (n=21) houve redução do IMC (29.3±3.6; 28.9± 3.6; 28.9±3.6 kg/m²; P=0.016). Glicemia de jejum, HDL, triglicerídios, LDL, endotelina-1, fibrinogênio, proteína C-reativa, e pressão arterial não se alteraram nos grupos GG e GC. Conclusão: A adição de fibra solúvel na dieta habitual de pacientes com DM2 e SM reduziu a EUA, melhorou o controle glicêmico e reduziu AG séricos trans.
PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (PAD) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CECÍLIA
JULIANA PEÇANHA ANTONIO;JÚLIA DE LIMA CARRARO, LUANA FERREIRA GOMES, MICHELE DREHMER
Introdução: A assistência domiciliar constitui uma atividade básica a ser realizada em Atenção Primária à Saúde (APS) visando atender pessoas que, temporária ou permanentemente, estão incapacitadas de se deslocarem aos serviços de saúde. Justificativa: O levantamento das características clínicas e sócio-demográficas de pacientes assistidos no domicílio é fundamental à elaboração de protocolo integrado com a inserção da equipe de Nutrição no Programa de Assistência Domiciliar (PAD) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cecília. Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes do cadastro atual, atendidos pelo PAD dessa UBS. Metodologia: Estudo de prevalência. A coleta de dados foi realizada através de leitura e análise dos prontuários de pacientes atendidos pelo PAD. Foram coletados dados sócio-demográficos e antropométricos e informações quanto a doenças e número total de visitas domiciliares (VDs) realizadas pelos profissionais de saúde, incluindo os da Nutrição. Foram realizadas análises de freqüências absolutas e relativas, sendo utilizado o pacote estatístico SPSS 13. Resultados: Foram analisados 56 prontuários. A mediana de idade foi 81 anos (IC 26-97 anos). Vinte e oito pacientes (50%) tinham registro de peso e, desses, 12 (21,4%) possuíam histórico ponderal. Dos 38 pacientes capazes de deambular, 50% não tinham registro de peso. A prevalência de hipertensão, diabetes e acidente vascular cerebral foi 67,9%, 28,6% e 37,5%, respectivamente. Desde 2004, 677 VDs foram realizadas, sendo 40 delas pela equipe de Nutrição. Conclusão: A elaboração de um protocolo de atendimento com a inserção da equipe de Nutrição no PAD é fundamental para diagnosticar, traçar condutas dietoterápicas e monitorar o estado nutricional dos usuários do programa.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 345
CONFORMIDADE ENTRE DIETA ADMINISTRADA E PRESCRITA EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
JULIANA PEÇANHA ANTONIO;MILENE AMARANTE PUFAL; JURACEMA DALTOÉ; MARGARETH DRUZIAN DE CASTRO
Introdução: A prescrição dietética individualizada visa fornecer ao paciente uma alimentação adequada de acordo com as suas necessidades nutricionais. O cumprimento da prescrição é fundamental para a segurança da saúde do paciente. Objetivo: Verificar se a dieta prescrita ao paciente internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está de acordo com a administrada. Metodologia: Foram visitados pacientes das 16 unidades de internação e conferidas quatro refeições (café-da-manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), inclusive a administração da dieta enteral no horário da visita. Optou-se por visitar andares alternados no mesmo dia, para evitar uma possível comunicação entre as copas. Em situação de divergência da dieta administrada com a prescrita, era verificada a prescrição atualizada no sistema eletrônico (AGH). Caso o equívoco fosse certificado, a refeição era classificada como não conforme e era comunicado à nutricionista responsável, a fim de corrigir o engano. Após a coleta, os dados foram tabulados e analisados conforme o sexo, a administração de dieta enteral no momento da visita e a conformidade da dieta administrada com a prescrita. Resultados: Foram conferidas 1383 refeições, sendo dessas 700 para homens (50,61%) e 683 para mulheres (49,39%). Cinco pacientes possuíam prescrição de dieta enteral e apenas uma estava sendo administrada no momento da visita. Em 1375 pacientes, a dieta administrada estava em conformidade com a prescrita (99,42%). Conclusão: Verificou-se que há compatibilidade da dieta prescrita com a dieta administrada aos pacientes internados no HCPA.
ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PACIENTES COM HOMOCISTINÚRIA CLÁSSICA
SORAIA POLONI;ROBERTA HACK MENDES, LÍLIA FARRET REFOSCO, CAROLINA FISCHINGER MOURA DE SOUZA, CRISTINA BRINCKMANN OLIVEIRA NETTO, IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Introdução: A homocistinúria clássica (HC) é uma doença rara (prevalência 1:344.000) causada pela deficiência de cistationina β-sintase. As manifestações clínicas são multissistêmicas, mas pouco se sabe sobre a influência da doença no estado nutricional. Objetivo: avaliar o estado nutricional dos pacientes com homocistinúria clássica acompanhados pelo Ambulatório de Distúrbios Metabólicos do HCPA (ADM/HCPA) através de antropometria e exames bioquímicos. Metodologia: Todos os pacientes com HC do ADM/HCPA foram convidados a participar do estudo. Aferidos peso, estatura, dobra cutânea triciptal (DCT), circunferência do braço (CB), índice de massa corporal (IMC) e circunferência muscular do braço (CMB). Exames laboratoriais de perfil lipídico (HDL, LDL, e colesterol total), eritrograma, vitamina B12 e ácido fólico foram consultados em prontuários. Resultados: 7 pacientes com HC (mediana idade: 19 anos) foram incluídos no estudo. O IMC classificou como desnutridos 2/7 pacientes, sendo os demais eutróficos. Já pela DCT, 5/7 foram classificados como desnutridos (sendo 4 graves), pela CB 4/8 e pela CMB 4/8. Os percentuais de adequação da DCT foram significativamente inferiores aos do IMC. Em relação aos parâmetros bioquímicos, foi encontrada alta prevalência de deficiência de vitamina B12 (n= 4/7). Conclusões: A avaliação do estado nutricional mostrou uma freqüência importante de desnutrição em pacientes com HC, e também revelou uma aparente depleção de gordura subcutânea. Os dados bioquímicos sugerem a necessidade do monitoramento periódico dos níveis de vitamina B12, visto que, além dos prejuízos já conhecidos, a deficiência pode prejudicar o controle metabólico, pois esta vitamina é essencial para o metabolismo da homocisteína.
AVALIAÇÃO DO DANO OXIDATIVO POR LIPOPEROXIDAÇÃO EM PACIENTES COM HOMOCISTINÚRIA CLÁSSICA
SORAIA POLONI;ROBERTA HACK MENDES, ADRIANE BELLÓ-KLEIN, IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ
Introdução: A homocistinúria clássica (HC) é uma doença rara causada pela deficiência da enzima cistationina β-sintase, e é caracterizada pelo aumento acentuado dos níveis de homocisteína. Sob
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 346
certas condições, a oxidação da homocisteína pode gerar espécies reativas de oxigênio. Estas podem iniciar a lipoperoxidação (LPO), que desencadeia uma resposta inflamatória e está envolvida no processo de lesão aterosclerótica. Este mecanismo pode ser responsável por diversas manifestações clínicas observadas nos pacientes com HC. O objetivo deste estudo foi determinar o dano oxidativo por lipoperoxidação em pacientes com HC. Metodologia: estudo transversal, compreendendo 7 pacientes com HC e 18 controles saudáveis. Para avaliar a LPO, foi utilizado o método de quimiluminescência iniciada por t-BOOH. Para a comparação da LPO entre os grupos foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. Resultados: A mediana de homocisteína dos pacientes no momento da avaliação foi de 219 μmol/L. Não foi encontrada diferença significativa nos níveis de LPO entre os grupos, mas esta apresentou uma tendência a estar aumentada no grupo controle (mediana pacientes: 86918,1 cps/mg Hb, intervalo interquartil: 64418,1 - 93256,5; mediana controles: 105170,5 cps/mg Hb, intervalo interquartil: 90374,2 - 147290,2). Conclusões: Estes dados indicam que, embora a homocisteína possa ser uma agente pró-oxidante importante, na HC o aumento acentuado dos níveis de homocisteína não parece aumentar o dano oxidativo a lipídeos. Fatores que podem ter contribuído para este resultado são a redução na concentração de cisteína (que também exerce efeitos pró-oxidantes) observada em pacientes com HC e o efeito do tratamento - especialmente a suplementação de vitaminas antioxidantes - nos parâmetros oxidativos. Apoio: FIPE/HCPA.
CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM FENILCETONÚRIA ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE DISTÚRBIOS METABÓLICOS DO SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, BRASIL
TATIÉLE NALIN;INGRID D. SCHWEIGERT; LUCIANA GIUGLIANI; SORAIA POLONI; TATIANE A. VIEIRA; LILIA REFOSCO; CRISTINA B. NETTO; CAROLINA F. M. DE SOUZA; IDA V. D. SCHWARTZ
Introdução: A Fenilcetonúria (PKU) por deficiência de Fenilalanina Hidroxilase (PAH) é um erro inato do metabolismo no qual ocorre aumento dos níveis séricos do aminoácido fenilalanina. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de pacientes com PKU por deficiência de PAH acompanhados no ambulatório do SGM/HCPA. Métodos: Estudo transversal de base ambulatorial. Avaliação antropométrica realizada através do índice de massa corporal (IMC), estatura/idade (E/I) e perimetria. Dados bioquímicos que refletem estado nutricional foram avaliados. Resultados: Dos 45 pacientes estudados, com mediana de idade de 11 anos, 51% são do sexo masculino. Desses, 24 foram classificados como possuindo PKU Clássica, treze PKU Atípica e 8 não tiveram sua forma de PKU definida. Trinta e três pacientes apresentaram eutrofia, dez excesso de peso e dois desnutrição, segundo o IMC. Em relação à E/I, trinta e três pacientes ficaram abaixo do P50, 4/33 apresentaram E/I inferior ao P3; não houve diferença em relação ao estado nutricional, segundo o IMC (p=0,45) e E/I (p=0,33), em relação ao tipo de PKU; perimetria foi aferida em 39 pacientes e os dados mostraram média de adequação em relação ao P50 mais próxima dos 100% em pacientes com IMC eutrófico, e valores acima desses em pacientes com excesso de peso. Encontrou-se deficiência de vitamina B12 em um paciente, dois outros haviam suplementado essa vitamina no último ano. Seis apresentavam anemia. Conclusão: A maioria dos pacientes é eutrófico, e número considerável apresentou excesso de peso segundo o IMC; grande parte dos pacientes apresenta E/I abaixo do P50; esses achados estão de acordo com descrito na literatura. Enfatiza-se a importância da vigilância nutricional nos pacientes com PKU, para manutenção de adequado estado nutricional.
OBESIDADE ASSOCIADA A SINTOMAS DEPRESSIVOS NO VALE DO TAQUARI
JANAÍNA DA SILVEIRA;ROSA MARIA LEVANDOVSKI, ALÍCIA DEITOS, GABRIELA LASTE, FABIANE DRESCH, ANA CLAUDIA DE SOUZA, CARLA KAUFFMANN, LUCIANA CARVALHO FERNANDES, GIOVANA DANTAS, KARLA ALLEBRANDT, WOLNEI CAUMO, IRACI LUCENA DA SILVA TORRES, MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
Obesidade pode ser definida como uma doença crônica multifatorial, que parece envolver aspectos genéticos, metabólicos, endócrinos, nutricionais, psicossociais e culturais. Em nível psicológico, a alteração da imagem corporal provocada pelo aumento de peso poderá provocar uma desvalorização da auto-imagem e do autoconceito diminuindo a auto-estima. Em conseqüência disto, poderão surgir sintomas depressivos associados à diminuição da sensação de bem-estar e aumento da sensação de inadequação social. O objetivo deste estudo foi avaliar possível relação entre IMC e sintomas
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 347
depressivos. O estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética do HCPA (08/087), foi realizado em 10 municípios do no Vale do Taquari, localizado na região centro-leste do RS. Foram coletados dados sóciodemográficos, peso e altura para calculo do IMC e sintomas depressivos (Beck). O indice de massa corpórea (IMC) é usado para avaliar a obesidade, tanto na clínica quanto em pesquisas. Este estudo transversal envolveu 10 municípios do Vale, totalizando 5002 entrevistados. Os dados foram analisados através do programa SPSS 16 for Windows utilizando estatística descritiva o teste de l
2 .
A amostra foi composta de 67 % mulheres, com idade média de 45 anos + 12,9. A prevalência de sintomas depressivos foi de 15,5% e 18,7% apresentaram IMC acima de 30. Entre os indivíduos com sintomas depressivos 18% apresentavam IMC acima de 30 versus 15% dos indivíduos sem sintomas depressivos (l
2 p= 0,032). Este trabalho sugere uma relação entre obesidade e depressão,
demonstrando que a qualidade de vida pode ser comprometida pelos danos causados a saúde, pelas limitações físicas e sociais que podem contribuir para o agravamento dos sintomas depressivos em pacientes obesos.
ASSOCIAÇÃO ENTRE O ÍNDICE GLICÊMICO DAS REFEIÇÕES E DA DIETA USUAL COM A PRESENÇA DE SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM DIABETE MELITO TIPO 2
FLÁVIA MORAES SILVA;SIMONE FREDERICO TONDING;ANDRESSA LOVATO TADIOTTO;JULIANA PEÇANHA ANTONIO;THAIS STEEMBURGO;VALESCA DALL¿ALBA;VANESSA DERENJI DE MELLO;MIRELA JOBIM DE AZEVEDO
Introdução: a Síndrome Metabólica (SM) ocorre em até 89% dos pacientes com Diabete Melito tipo 2 (DM2). A associação entre o índice glicêmico (IG) das refeições e a SM não está estabelecida. Objetivo: avaliar a associação do IG das refeições e da dieta usual com a presença de SM e de seus componentes em pacientes DM2. Métodos: pacientes DM2 do Ambulatório de Endocrinologia do HCPA foram submetidos à avaliação clínica, laboratorial e nutricional: antropométrica e do consumo alimentar (três dias de registros alimentares com pesagem de alimentos). A SM foi definida pelos critérios do IDF-2005. O IG das refeições e da dieta foi calculado conforme proposto pela FA0-1998, a partir da Tabela Internacional de IG/CG-2008. Resultados: Foram avaliados 167 pacientes DM2 (90 com SM e 77 sem SM), com idade 61,3±9,9 anos, IMC 27,2 ±9,4 kg/m² e teste A1c 7,2±1,4%, sendo 52,1% homens. O IG da dieta foi 59,2±8,3% e o IG do desjejum 57±10,4%. A presença de SM foi menor no grupo com IG da dieta (33,8 vs 50%, p=0,04) e do desjejum (50,6 vs 67,8%, p=0,03) menor do que a média. A presença de circunferência da cintura (CC) alterada foi diferente quando comparados os pacientes quanto ao IG (menor do que a média vs maior ou igual à média) da dieta [59,4% vs 76,1%, (p=0,03)] e do desjejum [55,2% vs 74%, (p=0,02)]. Em análise univariada, o maior IG da dieta [OR =1,96 (1,05–3,67), p =0,035] e do desjejum [OR =2,05 (1,09–3,84), p =0,025] foi associado a maior chance para a presença de SM. Conclusão: a dieta e o desjejum apresentam maiores IG nos pacientes DM2 com SM. O desjejum parece ser a principal refeição cujo IG tem efeito protetor para a SM. A CC é o principal componente da SM associado ao IG. O aumento do IG da dieta e do desjejum aproximadamente duplicou a chance para a presença de SM.
AVALIAÇÃO DA INTRODUÇÃO PRECOCE DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM CRIANÇAS DE 0 A 24 MESES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ADRIANA MORELLATO;JUSSARA CARNEVALE DE ALMEIDA; NEMORA CABISTANI
Introdução: O aleitamento materno é a forma ideal de alimentar crianças pequenas. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e complementado até os 2 anos. A introdução precoce dos alimentos, o uso de mamadeira e/ou chupeta pode levar à redução do aleitamento materno. Objetivo: Verificar a freqüência, os principais alimentos e motivos da introdução precoce da alimentação complementar, além do uso de mamadeira e chupeta em crianças de 0 a 24 meses. Material e Métodos: Estudo transversal com crianças de 0 a 24 meses de idade atendidas numa Unidade Básica de Saúde. No período de junho a agosto de 2006, aplicou-se um questionário às mães ou acompanhantes sobre a alimentação complementar das crianças. Foi considerada precoce a introdução de alimentos sólidos e/ou líquidos em adição ou substituição ao leite materno antes dos seis meses de idade. Resultados: Das 109 crianças avaliadas, 78% receberam precocemente a introdução dos alimentos complementares, sendo chá o alimento predominante. O principal motivo relatado pelas mães foi “cólica do lactente”. A duração média do aleitamento materno exclusivo foi de 73±30 dias. O ganho médio de peso da
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 348
criança que recebeu precocemente os alimentos complementares foi menor que daquelas crianças que receberam os alimentos complementares a partir dos seis meses (5,16±2,05 vs. 6,59±1,64 kg; p = 0,006). As crianças que usavam chupeta foram amamentadas por um período menor (218±21 dias) em relação às crianças que não usavam chupeta (305±25 dias; p= 0,026). Conclusão: Encontramos elevada freqüência na introdução precoce dos alimentos complementares. Houve tendência significativa entre uso de mamadeira e redução da duração do aleitamento materno. O uso de chupeta levou a um menor tempo de aleitamento materno.
SÍNDROME DO COMER NOTURNO: CORRELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, SONO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR
DIEGO FRAGA PEREIRA;ANA HARB; WOLNEI CAUMO; ROSA MARIA LEVANDOVSKI; CERES OLIVEIRA; KELLY COSTELLO ALLISON; ALBERT STUNKARD; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
A Síndrome do Comer Noturno (SCN) tem sido conceitualizada como um atraso no padrão circadiano da alimentação, mediado por modificações neuroendócrinas em resposta ao estresse. Objetivamos analisar a associação entre gêneros, IMC, qualidade de sono, cronotipo e transtornos psiquiátricos menores com o comer noturno. Métodos: Foi delineado um estudo transversal, composto por 100 indivíduos, selecionados em uma clínica de nutrição. A presença de SCN foi avaliada pela versão brasileira do Night Eating Questionnarie (NEQ), questionário sobre os hábitos do comer noturno. Todos os indivíduos responderam os seguintes questionários: Escala de Compulsão Alimentar (BES), Teste de Atitudes Alimentares (EAT), Self Reporting Questionnaire (SRQ), Morningness/Eveningness Questionnaire (MEQ), Epworth Sleepiness Scale (ESS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) e dados demográficos. Resultados: A média da idade foi de 39,5 anos (±11,7), 77% mulheres e 66% tinham sobrepeso. A análise bivariada mostrou correlações significativas entre o NEQ e o uso de psicofármacos, transtornos psiquiátricos menores e cronotipo. Na análise multivariada, as variáveis que permaneceram associadas com os escores totais do NEQ foram os níveis aumentados de IMC (p=0,026), escores elevados no PSQI (p menor que 0,001), no BES (p=0,002) e no MEQ (p=0,042). Esses resultados sugerem que quanto maior o IMC, maior o escore total do NEQ, sugerindo que hábitos alimentares noturnos possam ser um fator de risco para a obesidade. Conclusão: As variáveis que permaneceram correlacionadas com o NEQ depois da análise multivariada foram IMC aumentado, pobre qualidade de sono, vespertinidade e compulsão alimentar. Hábitos do comer noturno podem contribuir para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade ou ajudar a sustentá-las.
AVALIAÇÃO DO NIVEL DE ATIVIDADE FÍSICA (AF) EM PACIENTES COM DIABETES MELITO (DM) TIPO 1
ALINE JULIANA SCHNEIDER MERKER;JUSSARA C. ALMEIDA, CRISTIANE B. LEITÃO, FABIANE O. BRAUNER, MIRELA J. AZEVEDO, TICIANA C. RODRIGUES
Introdução: Prática de atividade fisica (AF) é recomendada para os pacientes com DM e associada à melhora do desempenho cardiovascular, da sensibilidade à ação da insulina, do perfil lipídico, redução dos valores pressóricos e sensação de bem-estar.Objetivos: Avaliar o nível de AF e os cuidados relacionados a prática do exercício em pacientes com DM tipo 1.Pacientes e métodos: Estudo transversal com pacientes adultos com DM tipo 1 (ambulatório do Serviço de Endocrinologia, HCPA) submetidos à avaliação clínica, laboratorial e que preencheram o questionário de avaliação de AF [International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão 8 longa]. Aspectos relacionados ao exercício praticado, cuidados específicos, presença de desconforto associado ao exercício (hipoglicemia) foram questionados.Resultados: Foram avaliados 105 pacientes (37 ± 12 anos, 49% homens, IMC = 24,7±3,9 kg/m
2 e HbA1c 9,2±2,2 %), 11% irregularmente ativos, 62% ativos e 27%
muito ativos. Dos 69 pacientes que praticam exercício regularmente, 29% tem cuidado especifico, geralmente antes do exercício: 35% com alimentação, 55% fazem alongamentos e apenas 35% fazem monitorização da glicemia capilar; 7,6% alteram a dose de insulina aplicada e 14% relatam hipoglicemia associada ao exercício. Em relação ao recebimento de orientações específicas para exercício, 47% dos pacientes receberam do médico, 41% da nutricionista e 12% de ambos.Conclusões: Apesar de mais da metade dos pacientes serem classificados como ativos, muitos não receberam orientação especifica de profissional da saúde sobre cuidados durante a prática de exercícios e poucos o fazem. Maiores esforços são necessários para estimular a prática de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 349
atividade física e integrá-la como parte do tratamento, educando o paciente em relação aos cuidados com o exercício físico.
ODONTOLOGIA
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, UFRGS
LOUISE DE CASSIA FERREIRA BERTOLI;MÁRCIA CANÇADO FIGUEIREDO;ADRIANE VIENEL FAGUNDES;JULIANA DE SOUZA ROSA;TACIANA FERRONATO;LUIZ MAKITO OSAWA GUTIERREZ;HELOÍSA DALLÉ;LUCIANA MARIA BRANCHER;LARISSA LÜDTKE
Introdução:Devemos atuar sem discriminações, inserir políticas privadas e/ou públicas de saúde orientadas à prevenção, educação e promoção da saúde que também priorizem a assistência a pessoas com problemas físicos e mentais de todas as idades e condições socioeconômicas. A maioria dos pacientes com necessidades especiais são acometidos por doenças bucais, gerando um problema de Saúde Pública.Objetivos:Instituir na FO-UFRGS um Curso de Extensão Universitária:Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais onde profissionais e acadêmicos recebem conhecimento teórico-básico relacionado ao atendimento a esses pacientes. Há envolvimento de áreas correlatas visando uma melhor compreensão de toda a problemática desse paciente e sua família, além de atuar-se dentro de uma visão social, reforçando o papel de uma Universidade Pública.Metodologia:Apoiados no entendimento multifatorial das doenças bucais, acreditamos que a visão e atuação do profissional da área de saúde deva sobrepujar técnicas e transgredir os preconceitos. Para isso faz-se o levantamento do perfil dos pacientes a cada ano para que possa haver melhor compreensão e atendimento odontológico efetivo para esses pacientes. Resultado:Aumento no número de atendimentos a pacientes especiais no ano de 2008, sem diferenças entre o sexo, 41% na faixa de 10 a 20 anos e 26% com deficiência neuro-motora.Conclusão:O Curso de Extensão Universitária tem a missão de promover, ampliar e qualificar o atendimento das demandas sociais pelo trabalho, visando melhoria da qualidade de vida dos pacientes através da melhoria da saúde bucal. A atuacão dos acadêmicos é indispensável para que participem da transformação de uma realidade social. Como Universidade Pública contribuímos para o desenvolvimento sustentado alcançado pela integração entre os sistemas econômico e social.
OFTALMOLOGIA
PROJETO COMUNITÁRIO-UNIVERSITÁRIO DE PREVENÇÃO DA CEGUEIRA PRÓ-VISÃO/2009
TAÍS BURMANN DE MENDONÇA;LUCAS BRANDOLT FARIAS, STEFANO BLESSMANN MILANO, JOÃO AUGUSTO BERGAMASCHI, CAIO SCOCCO, JORGE FREITAS ESTEVES
Introdução: No Brasil, estima-se que há 1 milhão e 200 mil pessoas cegas. Logo, é imprescindível implantar programas de promoção de saúde ocular e prevenção da cegueira. Ademais, é necessário capacitar os profissionais da saúde para a detecção precoce do problema, buscando reduzir a prevalência da cegueira por causas reversíveis. Objetivos: Divulgar o projeto PRÓ-VISÃO da Faculdade de Medicina – UFRGS, enfatizando a importância do diagnóstico precoce de oftalmopatias que levam à cegueira, e estimular a formação de médicos e estudantes de medicina capazes de atuar em saúde preventiva em oftalmologia. Materiais e métodos: O PRÓ-VISÃO é um projeto que realiza viagens ao interior do RS e região metropolitana de Porto Alegre, nas quais é realizado atendimento oftalmológico básico na forma de mutirão. Casos passíveis de correção são informados à Secretaria de Saúde local a fim de encaminhamento. Resultados e conclusões: Ao longo de 18 anos de projeto, mais de 19000 pacientes foram triados, contando com a participação de mais de 300 estudantes de medicina. Além disso, o projeto tem possibilitado também levar um atendimento oftalmológico de qualidade às populações carentes. É importante salientar que 60% dos casos de cegueira podem ser evitados, sendo 20% passível de recuperação. Logo, deve–se encorajar os futuros médicos a prestar atendimento apropriado à saúde ocular dos pacientes, principalmente em comunidades desprovidas de acesso básico a recursos.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 350
PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO DA RETINOPATIA DIABÉTICA - PRORED
LUCAS BRANDOLT FARIAS;STÉFANO BLESSMAN MILANO; TAÍS BURMAN MENDONÇA; LARISSA JUNKES; CAIO SCOCCO; JORGE FREITAS ESTEVES
Introdução A retinopatia diabética (RD) é uma importante complicação do diabetes melito (DM), sendo a principal causa de cegueira legal em indivíduos de 25 a 74 anos nos países desenvolvidos. O controle dos fatores de risco ambientais modificáveis, como hiperglicemia crônica e HAS, previne ou retarda, na fase inicial da RD, a sua progressão para estágios mais avançados. O PRORED é um projeto de extensão universitária realizados por estudantes de Medicina da UFRGS, orientados por professores e médicos residentes do HCPA, que promove atendimento médico a pacientes em suas comunidades a fim de prevenir e tratar a RD. Objetivos Apresentar alguns resultados das avaliações clínico-oftalmológicas realizadas semestralmente durante os anos de 2007 e 2008 em um posto de atenção primária à saúde no município de Torres/RS. Materiais e métodos Foram avaliados 396 pacientes com diagnóstico de DM em estudo transversal. Foi realizado exame de fundo de olho e avaliação clínica. Resultados e conclusões A mediana (intervalo interquartil) dos indivíduos avaliados foi de 64,5 anos (16-81), sendo 62,3% mulheres (Tabela1). Vinte pacientes (5,1%) tinham DM tipo 1. As principais doenças associadas foram: HAS em 65,1%, cardiopatia não especificada em 32,6 %, nefropatia em 28,7% e lesões em extremidades em 20,7%. Hipoglicemiante oral foi a medicação antidiabética mais utilizada pela população estudada [277(69,9%)]. Quanto à RD, 56% dos pacientes avaliados não apresentavam RD, e 9% tinham RD proliferativa (Figura 1). Nessa amostra, 47 pacientes (11,9%) foram encaminhados a tratamento especializado em centro de referência. Além disso, o PRORED possibilitou aos futuros médicos um treinamento adequado no diagnóstico de uma das principais causas de cegueira da atualidade.
BAIXA ACUIDADE VISUAL APÓS QUADRO DE SINUSITE
DANIELE SAYURI SUZUKI;THIAGO VERNETTI FERREIRA; MARCELO BLOCHTEIN GORBERT, CRISTIANE ARAÚJO BINS, FERNANDO PROCIANOY
INTRODUÇÃO: A neuropatia óptica compressiva é uma condição rara com freqüência de 1:100.000, sendo na sua maioria causada por oftalmopatia tireóidea. Processos neoplásicos do nervo ou adjacentes a este devem estar entre os diagnósticos diferencias. Há, fisiopatologicamente, uma perda visual progressiva por isquemia ou ruptura dos axônios. OBJETIVO: Descrever um caso de baixa acuidade visual (BAV) por compressão extrínseca por angiofibroma. MATERIAL E MÉTODOS: Relato de Caso RESULTADO: L.A.L., 15 anos, masculino, branco. Paciente, com queixa de baixa acuidade visual (BAV) e proptose de olho esquerdo com inicio há 2 semanas, refere história de sinusite em tratamento há 4 meses com diversos antibióticos. Ao exame, apresentou acuidade visual de 1,0 no olho direito e conta dedos no olho esquerdo. Neste havia proptose, pressão intraocular de 20, pupila com defeito parcial aferente e, em fundo de olho, elevação da borda nasal da papila, com perda de nitidez do bordo nessa região. Realizada tomografia de seios faciais com lesão expansiva, altamente vascularizada, acometendo cavidades nasais, rinofaringe e região infratremporal; destruição óssea extensa envolvendo seios faciais, órbita, base de crânio, sela túrcica e região supra selar. Com hipótese diagnóstica de angiofibroma após discussão de caso com Otorrinolaringologia, paciente será submetido à exérese cirúrgica com equipe multidisciplinar. CONCLUSÃO: Descrevemos, aqui, um caso de compressão de nervo óptico – causa rara de BAV – por angiofibroma – responsável por 0.05% dos casos de tumores de cabeça e pescoço, no qual ocorre comprometimento ótico em apenas 10-15%, mostrando a importância da pesquisa de lesões expansivas quando há suspeita de neuropatia óptica compressiva.
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO EM DIABETES MÉLITO TIPO 2 E O DESENVOLVIMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA
GELLINE MARIA HAAS;DANIELA LEÃES; JACÓ LAVINSKY
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 351
Introdução: Retinopatia diabética (RD) é uma das principais causas de cegueira em pessoas em idade ativa. No Brasil, estima-se que metade dos portadores de Diabetes Mellitus (DM) seja afetada pela RD.Vários estudos têm mostrado que a hiperglicemia crônica, hipertensão arterial, hiperlipidemia, obesidade, gestação e sedentarismo contribuem para a patogênese.Não há cura para a RD, estando os esforços terapêuticos concentrados nos fatores de risco para o aparecimento e agravamento da doença e no tratamento das lesões com alto risco de evolução para perda visual. Objetivo: O objetivo do presente estudo é descrever a prevalência e severidade da RD (proliferativa ou não) entre pacientes com DM tipo II atendidos no CENTRO DE REFERÊNCIA OFTALMOLÓGICA EM RETINOPATIA DIABÉTICA (CRRD) do HCPA e correlacionar com fatores de risco associados. Método: Ficha de avaliação de primeira consulta coletada por enfermeira e Oftalmologista Fellow em Retina em pacientes encaminhados ao CRRD. Discussão: Em total de 509 pacientes examinados, 97 pacientes excluídos com diagnóstico de DM tipo I ou falta de dados.Dessa forma, este trabalho conta, com 409 pacientes válidos, dos quais 10,76% foram classificados com ausência de RD, 45,48% com RD não proliferativa e 43,77% com RD proliferativa.Entre o primeiro grupo os fatores de risco mostraram-se pouco presentes. Entre o segundo e o terceiro grupo a diferença percentual dos principais fatores de risco foram:HAS 72,58% X 68,15%;hiperlipidemia 25,69% X 41,93%;alteração renal 12,84% X 8,6%;obesidade 5,02% X 6,45%, respectivamente.Concluímos, assim, que nossos pacientes têm HAS e hiperlipidemia semelhantes ao da literatura, entretanto, alterações renais e obesidade são menos encontrados na nossa amostra quando comparado com estudos semelhantes.
NEVUS DE ÍRIS COM SUSPEITA DE MALIGNIDADE - DIAGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES
MARCELO BLOCHTEIN GOLBERT;THIAGO VERNETTI FERREIRA; DANIELE SAYURI SUZUKI; ANGELA MARIA ARAGON; MARCELO MAESTRI
Introdução: o melanoma uveal é a neoplasia intra-ocular mais prevalente em adultos. Pode acometer a coróide, o corpo ciliar e a íris. Às vezes o diagnóstico diferencial entre nevus e melanoma é difícil. A realização de punção aspirativa ou biópsia pode ser realizada quando o tumor acomete a porção anterior da úvea. Objetivo: relatar conduta diagnóstica invasiva e complicação subsequente em um paciente com lesão pigmentada da íris. Material e Métodos: relato de caso. Resultados: paciente masculino, branco, 38 anos, relatava mancha escura em olho esquerdo de longa data, aumentando nos últimos meses. Ao exame, havia duas lesões hiperpigmentadas na íris esquerda, pouco elevadas, uma no setor medial e outra súpero-lateral, margens imprecisas e pigmentação heterogênea. À gonioscopia, intensa pigmentação em todo trabeculado. A biomicrosopia ultrassônica mostrou lesões hiperecogênicas em estroma iriano, uma às 2h com 0,66mm de espessura e outra às 9h com 0,64mm de espessura, além de ectrópio uveal. Acuidade visual normal em ambos os olhos. Realizado, com hipótese clínica de melanoma de íris, punção aspirativa da lesão, sem resultado conclusivo. Realizada biópsia incisional de íris que evidenciou proliferação melanocítica composta com acentuada melanofagia. Evoluiu no pós-operatório imediato com hifema total e glaucoma secundário. Manejo clínico por 7 dias sem sucesso. Realizada lavagem de câmara anterior com injeção de bolha de ar. Evoluiu bem, sem novo sangramento e com pressão intra-ocular controlada, ainda dependente de medicações anti-glaucomatosas. Conclusão: na maioria dos casos de melanoma uveal o diagnóstico é clínico e com exames não invasivos, porém, quando há dúvida diagnóstica justifica-se o uso de métodos intervencionistas, apesar de suas prováveis complicações.
CERATITE POR ACANTHAMOEBA
JULIANA ZIMMERMANN CARRION;PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA; MARCIO HUSEK CARRION
Resumo: A ceratite por Acanthamoeba pode se instalar após microtraumas na córnea, principalmente em usuários de lentes de contato, que por má assepsia e contaminação com água, podem gerar infecção na córnea. As características clinicas são intensa dor, desproporcional aos achados clínicos, turvação da visão e fotofobia. Os sinais que aparecem no exame são: ceratite superficial, opacificação e infiltrados no estroma corneano, podendo evoluir para ulceração, e destruição do tecido corneano. O diagnóstico de certeza deve ser feito mediante raspado e cultura de córnea com coloração Giemsa, PAS e Gram. A desinfecção das lentes pode ser térmica ou com utilização de peróxido de hidrogênio, com oito horas em contato com as lentes. Objetivos: Descrever
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 352
diagnóstico e evolução do tratamento de paciente, usuária de lentes, acometida por ceratite por Acanthamoeba. Demonstrar a importância da assepsia e manutenção das lentes, a fim de evitar infecção por Acanthamoeba, e salientar a importância do diagnóstico precoce na resolução. Metodologia: Relato de caso. Discussão:O caso relatado teve boa evolução devido a rapidez no diagnóstico e instituição do tratamento, e ao comprometimento da paciente e família, fazendo as revisões periódicas. A ceratite por Acanthamoeba quando diagnosticada na sua fase inicial epitelial, geralmente responde muito bem ao tratamento. As formas mais tardias em que há comprometimento fundo do estroma, podem ter resultados mais comprometedores, deixando seqüelas na córnea nas quais o transplante de córnea às vezes é indicado. Conclusão: A hipótese diagnostica foi ceratite por Acanthamoeba, baseado nos achados clínicos e história. Propôs-se raspagem e cultura de material corneano e lentes. Financeiramente inviável, optou pelo tratamento em inferências estatísticas e probabilidade das evidências clinicas,observando como fator de melhora a remissão da sintomatologia e do aspecto biomicroscópico.
ESCLERITE COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DE GRANULOMATOSE DE WEGENER
CAROLINA WILTGEN CAMPOS;FELIPE TELOKEN DILIGENTI; J. MELAMED
Introdução: A Granulomatose de Wegener é uma doença idiopática caracterizada por vasculite sistêmica, em particular dos sistemas respiratório e renal. É mais comum em homens brancos entre a terceira e quinta décadas de vida. Os achados oftalmológicos variam: obstrução da via lacrimal, esclerite, ceratite ulcerativa, pseudotumor orbitário e arterite retiniana. As manifestações pulmonares e renais precedem o acometimento de outros órgãos. Objetivo: Descrição de caso de esclerite como manifestação inicial de Granulomatose de Wegener. Material e Métodos: Relato de caso. Resultados: C.A.M., feminina, 39 anos, branca. Há quatro meses com queixa de dor e hiperemia no olho esquerdo, refratárias a corticóide e antibiótico tópicos, associada à lesão na conjuntiva bulbar. Exame ocular com acuidade visual preservada, PIO normal e esclerite nodular com infiltrados periféricos corneais em ambos os olhos. Ausência de alterações intra-oculares. Biópsia conjuntival com inflamação crônica inespecífica. Após 45 dias evoluiu com tosse seca. Tomografia computadorizada de tórax evidenciou lesões parenquimatosas bilaterais com cavidades necróticas e nódulos com necrose central; fibrobroncoscopia não identificou micro-organismos. Biópsia com inflamação crônica inespecífica. Apresentava exames sorológicos negativos, inclusive ANCA. Obteve excelente resposta ocular e sistêmica ao tratamento com corticóide, afastando prováveis etiologias infecciosas. Atualmente a doença encontra-se controlada com o uso de Azatioprina. Conclusão: A maioria dos casos de Granulomatose de Wegener se caracteriza pelo acometimento primário nos sistemas respiratório e renal. No presente caso o acometimento ocular precedeu a todas manifestações sistêmicas, dificultando o diagnóstico etiológico da vasculite e seu tratamento.
AFINAMENTO ESCLERAL SECUNDÁRIO À NECROSE PÓS-CIRURGIA DE FACECTOMIA
TIAGO GNOCCHI DA COSTA;CAROLINA WILTGEN CAMPOS; FELIPE TLOKEN DILIGENTI
Introdução: A facectomia é uma técnica de cirurgia de catarata introduzida no início dos anos 80. As principais complicações pós-operatórias são o tempo de reabilitação visual prolongado, uveíte, endoftalmite, deslocamento da LIO, entre outros. Objetivo: Apresentar caso de afinamento escleral secundário à necrose pós-cirurgia de facectomia. Material e Métodos: Paciente masculino, 66 anos, branco, com acuidade visual de movimento de mãos no olho direito (OD). Ao exame ocular, apresentava catarata branca em OD e subcapsular em OE. Demais aspectos da biomicroscopia e fundoscopia normais. Paciente sem comorbidades. Resultados e conclusão: Realizada facectomia com incisão córneo-escleral, capsulotomia, implante de Lente Intra-Ocular no sulco capsular e sutura da córnea, sem intercorrências. No 8° dia de pós-operatório (PO) apresentou necrose (melting) escleral superior. Foi avaliado diariamente com Teste de Siedel (vazamento de humor aquoso), ceratometria e PIO, mantendo-se estável. No 14° dia de PO foi realizada nova intervenção cirúrgica: desbridamento da área necrótica, remoção dos pontos frouxos e recobrimento conjuntival da área afinada, com pontos de fixação da conjuntiva na cornea. Apresentou boa evolução no PO com AV de 0,8 60 dias após a facectomia. Trata-se de um caso raro de necrose escleral pós-cirurgia de catarata. A literatura aponta como fatores possivelmente relacionados: presença de doença reumatologica e a cauterização excessiva dos vasos epiesclerais. A investigação reumatológica/laboratorial foi negativa no presente caso. Quanto à cauterização excessiva, a técnica cirúrgica foi revisada e não houve
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 353
diferença aparente entre o caso relatado e as demais cirurgias do mesmo cirurgião. Não podemos descartar, no entanto, esse como fator causal associado.
MIOPIA INDUZIDA POR REPOSIÇÃO DE HORMONIO DO CRESCIMENTO
TIAGO GNOCCHI DA COSTA;STEFANO MILANO, FELIPE TELOKEN DILIGENTI
Introdução: Reposição de hormônio do crescimento é utilizada em doenças hipofisárias. Não há descrição na literatura de efeitos colaterais oculares. Objetivo: Relato de um caso de suspeita de indução de miopia secundária ao uso de hormônio do crescimento. Método: Relato de caso. Resultado: Paciente masculino, 9 anos, com deficiência de hormônio do crescimento (GH) isolada, hipófise hipoplásica, polidactilia bilateral, cariótipo normal e sem diagnóstico sindrômico definido em reposição de hormônio do crescimento. No periodo em acompanhamento, durante a reposição, apresentou um aumento progressivo do equivalente esférico de -3,50 à -9,25/-1,50 à -5,25 e do diâmetro antero-posterior do globo ocular(26,10 à 27,59/25,50 à 26,13). Após suspensão da reposição, houve estabilização do diâmetro axial. Conclusão: No caso estudado houve uma relação entre a reposição de hormônio do crescimento e aumento do comprimento axial do globo ocular e miopia. Não há descrição, na literatura, de tal associação.
RETINOPATIA FALCIFORME - RELATO DE CASO
RODRIGO PREVIDELLO CARRION;GNOCCHI DA COSTA, BRUNA RYMER, JORGE ESTEVES
Introdução: A anemia falciforme é a hemoglobinopatia mais comum no mundo, com penetrância variável. Esta doença é marcada por 2 componentes: hemólise e fenômenos vasoclusivos agudos e crônicos da microvasculatura. Objetivo: Relatar caso de acometimento ocular em paciente com anemia falciforme Material e Método: Paciente feminina, 30 anos, com diagnóstico de anemia falciforme há 23 anos, vem à consulta para revisão oftalmológica, sem queixas. Acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. Biomicroscopia sem alterações. Fundo de olho apresentava área de aspecto fibroso na região temporal superior do olho esquerdo, com área isquêmica distalmente à lesão. A angiografia fluoresceínica demonstrou esta área com proliferação vascular arborescente. Resultados: Foi realizado fotocoagulação com laser argônio na retina isquêmica a fim de eliminar o estímulo para neovascularização e suas potenciais complicações. Conclusão: As alterações oculares na anemia falciforme são inicialmente assintomáticas, sendo a avaliação rotineira desses pacientes fundamental na detecção precoce de alterações retiniana. O tratamento, quando diagnosticado precocemente, pode evitar complicações graves como hemorragia vítrea e descolamento de retina.
RETALHO BILOBADO PARA EXÉRESE DE LESÃO TUMORAL
RODRIGO PREVIDELLO CARRION;DIETHER SCHMIDT, CRISTIANE ARAUJO BINS, FERNANDO PROCIANOY, FRANCISCO BOCACCIO
Titulo: Retalho bilobado para exérese de lesão tumoral Introdução: O carcinoma basocelular é o tumor maligno de pele mais freqüentemente encontrado . É um tumor de crescimento lento, com poucas chances de metastatização e de bom prognóstico quando diagnosticado precocemente. Raramente pode se tornar mais invasivo, atingindo órgãos adjacentes como ossos e cartilagens. Seu tratamento basicamente é cirúrgico, retirando-se a lesão com margens de segurança. Objetivo: Relatar técnica cirúrgica para exerese de lesão tumoral de pele Material e Método: Paciente masculino 74 anos, diabético, vem a consulta relatando lesão tumoral de aparecimento e crescimento, há 2 anos, em região periorbitária, temporal superior. Ao exame, apresentava lesão medindo 5 cm de diâmetro, com bordos elevados, em região temporal superior,sugestiva de carcinoma basocelular. Havia ainda outra lesão de aspecto semelhante, ulcerada, em região retroauricular direita. Dermacou-se com caneta o local da incisão, com margens de segurança, e a área doadora do retalho. Foi realizado exérese da lesão e reconstrução da área exposta com retalho bilobado da região maxilar direita. A peça cirúrgica foi enviada à Patologia, onde confirmou-se o diagnóstico de Carcinoma Basocelular, com margens livres. O paciente foi encaminhado ao serviço
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 354
de dermatologia para avaliar lesão retroauricular. Resultados: A escolha de utilizar-se retalhos cutâneos ou miocutâneos para fechamento de defeitos em face e, principalmente, na região periocular é uma prática freqüente. Neste caso, a escolha da confecção de um retalho bilobado proporcionou uma reconstrução estética e funcionalmente adequada para correção do defeito surgido após a exérese da lesão maligna. Conclusão: Concluímos que esta técnica é prática, segura para retirar a lesão por completa e com resultado estético muito bom.
RELATO DE CASO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CONJUNTIVA
RODRIGO PREVIDELLO CARRION;DIETHER SCHMIDT, CLÁUDIA LEITE KRONBAUER, DANIELA LEÃES
Titulo: Relato de Caso carcinoma epidermóide de conjuntiva Introdução: A neoplasia escamosa ou epidermóide de superfície ocular é um espectro de lesões malignas que incluem a displasia intraepitelial, o carcinoma in situ e o carcinoma escamoso invasivo. A maioria desses tumores ocorre na região interpalpebral, principalmente no limbo. A exposição à radiação ultravioleta é o maior fator de risco, entretanto o HPV e o HIV podem ter papel importante no desenvolvimento, além de doenças crônicas de superfície com penfigóide. Ocorre predominantemente em adultos com mais de 50 anos Objetivo: Relatar caso de paciente com 2 sítios primários de carcinoma epidermoide Material e Método: Relato de caso Resultado: Paciente Masculino, branco, 60 anos, com história de carcinoma epidermóide de base de língua, ressecado há 6 anos, sendo submetido a tratamento com radioterapia adjuvante. Vem a consulta oftalmológica queixando lesão expansiva, avermelhada em olho direito, com crescimento rápido há 40 dias. Refere piora da acuidade visual do mesmo olho. Ao exame, lesão vascularizada com aspecto de “couve-flor”, queratinizada, na região limbar temporal superior do olho esquerdo com crescimento em direção ao eixo visual. Acuidade visual com correção de 20/20 em olho direito e 20/100 em olho esquerdo. Sob a hipótese diagnóstica de carcinoma epidermóide in situ, foi submetido a exérese cirúrgica da lesão, com crioterapia adjuvante e uso de mitomicina C no transoperatório. O anátomo-patológico evidenciou carcinoma epidermóide intraepitelial com aspecto histopatológico de sítio primário na conjuntiva. Conclusão: A exérese cirúrgica é a conduta mais apropriada para esses casos, sendo mais eficaz quando utilizada com crioterapia adjuvante, como no caso relatado. A apresentação de um segundo sítio primário na conjuntiva é muito raro, não sendo encontrados pelos autores, outros relatos de caso na literatura.
ORTOPEDIA
ESTUDOS IN VITRO SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE TERAPIA CELULAR COM TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE RECONSTITUIÇÃO ÓSSEA
FABIANY DA COSTA GONÇALVES;SILVIA RESENDE TERRA, ANA HELENA DA ROSA PAZ, EDUARDO P. ASSOS, FÁTIMA THEREZINHA COSTA RODRIGUES GUMA, ELIZABETH OBINO CIRNE LIMA
Em situações de fratura óssea ou processo degenerativo, há a necessidade de intervenção cirúrgica para reconstituição óssea ou para correções de deformidade, complementadas com o uso de enxertos ósseos. Tem sido demonstrada a capacidade de células-tronco modularem a regeneração de diferentes tecidos lesionados. O objetivo do presente estudo é avaliar a interação in vitro de células-tronco adultas e células diferenciadas com fragmentos ósseos liofilizados, a fim de estabelecer matrizes para a recuperação de defeitos ósseos, que serão utilizadas em cirurgias experimentais. Células-tronco mesenquimais, obtidas da medula óssea de ratos Wistar, e fibroblastos de camundongo foram co-cultivados com fragmentos ósseos por um período de 7 dias. Foram avaliadas possíveis alterações de pH do meio de cultura sob influência dos fragmentos ósseos durante três dias. A fim de determinar a viabilidade das co-culturas, a proliferação das células foi avaliada através do método de exclusão de azul de Trypan ou pelo ensaio de MTT. Os ensaios foram realizados em triplicata e as análises foram feitas no dia 1 e 7 após o início da cultura. A morfologia das células também foi observada. Os resultados demonstraram que não houve influência negativa decorrente da interação das células co-cultivadas com fragmentos ósseos na proliferação celular, nem alteração de pH. Algumas células sofreram pequenas alterações morfológicas, apresentando grânulos citoplasmáticos. Desta forma, os dados obtidos indicam que, na próxima etapa do projeto,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 355
em que estudos in vivo serão realizados, será possível avaliar a influência de fragmentos ósseos co-cultivados com células na recuperação de falha óssea em modelo animal.
ALTERAÇÕES RADIOLÓGICAS DE JOGADORES DE FUTEBOL COM LIMITAÇÃO DA ROTAÇÃO DOS QUADRIS E LESÃO DE NÃO CONTATO DO LCA
HUMBERTO MOREIRA PALMA;JOÃO LUIS ELLERA GOMES;RICARDO BECKER
Introdução: Depois de três décadas de aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), temos uma qualidade de resultados superior a da maioria das cirurgias ortopédicas. Embora tenhamos progredido do ponto de vista terapêutico-diagnóstico, ainda estamos engatinhando nas respostas que se referem às causas dessas lesões LCA. Sabe-se que o estreitamento do intercôndilo, a inclinação posterior do planalto tibial e a diminuição da amplitude rotacional dos quadris são importantes fatores predisponentes facilitadores das lesões sem contato do LCA. No que se referem ao bloqueio coxofemoral, novos conhecimentos validaram o que tradicionalmente os leigos denominam “cintura dura” para esta restrição rotacional dos quadris. Objetivo: Investigar as alterações radiológicas mais freqüentes em s quadris de jogadores de futebol com limitação rotacional dos quadris e lesão do LCA sem contato. Métodos: 50 consecutivos futebolistas com diminuição da amplitude de movimento do quadril e ruptura por não contato do LCA foram submetidos a um exame radiográfico para identificar eventuais alterações ósseas que poderia explicar a diminuição da amplitude de movimento. Resultados: 44% dos pacientes analisados tinham alterações ao Rx no quadril, 24.% na cápsula ou no acetábulo, 10% no colo femoral, 18% em ambos (colo/acetábulo), dois casos com um invertido cam osteophytus. Conclusão: Além do exame clínico, o exame Rx é muito importante para identificar indivíduos beneficiados por alongamentos ou não reabilitação. Neste último grupo, pela transferência de forças do quadril para o joelho com LCA reconstruído, os pacientes devem ser aconselhados mudar de modalidade esportiva ou realizar cirurgia de reforço, talvez uma técnica de dupla banda ou uma associação de técnicas intra mais extra-articular.
INSTABILIDADE POSTEROLATERAL DO JOELHO: TESTE COMPLEMENTAR PARA DECIDIR ENTRE RECONSTRUIR OU RETENSIONAR
GIUSEPPE DE LUCA JR;ROBERTO RUTHNER; JOÃO LUIZ ELLERA GOMES
INTRODUÇÃO: Instabilidade posterolateral do joelho é uma patologia infrequente, assim muito negligenciada. O complexo posterolateral é composto pelos ligamento colateral externo, tendão do musculo poplíteo, ligamento fabelofibular, ligamento arqueado e porção lateral da inserção da cabeça lateral do músculo gastrocnêmio. É caracterizada por excessivos rotação externa da tiba sobre femur e varismo do joellho. O diagnóstico é eminentemente clínico, dessa forma o exame físico deve ser minucioso, sendo importante na decisão sobre o tratamento. OBJETIVO: apresentar um teste complementar que ajude na opção por reconstruir ou retencionar este complexo ligamentar. MATERIAIS E MÉTODOS: 12 pacientes foram selecionados apresentando dor no joelho. A média etária foi de 30 anos e IMC 35. No teste proposto o paciente deita em decúbito dorsal, flexão de 90* do joelho e abdução máxima do membro inferior bilateral. O examinador faz uma força perpendicular ou stress em varo simutaneo em ambos joelho, ocorrendo uma abertura maior da interlinha no lado afetado. A partir desse exame os paciente formam alocado em 3 grupos cirrugicos: retencionamento simples, retencionamento do canto postero lateral e reconstrução do canto posterolateral. RESULTADOS: Os pacientes que apresentaram ligamento palpável em ambos os lados sem diferença de volume ou tensão foram submetidos a retensionamento simples, palpável nos dois lados, mas com abertura da interlinha lateral maior no lado afetado, retensionamento do canto posterolateral e fracamente palpável ou impalpável, reconstrução do canto posterolateral. Todos assinaram termo de consentimento esclarecido. CONCLUSÕES: O teste foi efetivo em 9 dos 12 casos, aprentando uma boa sensibilidade e especificidade. É um instrumento adequado para definir a conduta cirúrgica a ser escolhda. A obesidade foi o fator limitante do exame.
ENXERTO BOVINO LIOFILIZADO EM HUMANOS: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 356
GIUSEPPE DE LUCA JR;FERNANDO MACEDO; TIELE MULLER; RICARDO ROSITO; CARLOS ALBERTO S. MACEDO; CARLOS R. GALIA
INTRODUÇÃO:Transplantes ósseos em ortopedia são uma nova opção de tratamento. Enxertos heterólogos, especialmente bovinos, são uma opção que vem sendo utilizados pela fácil obtenção e alta similaridade com o humano, mas poucos estudos foram realizados apenas em humanos. OBJETIVO:Avaliar capacidade de osteointegração do enxerto ósseo liofilizado bovino em humanos, segundo protocolo de produção desenvolvido pelos autores. MATERIAL E MÉTODOS:Foram analisadas características histológicas de enxerto ósseo bovino liofilizado. 9 pacientes selecionados para o estudo no período de 2000 a 2007. As biopsia, padrão ouro para este tipo de análise, foram coletadas conforme necessidade de novo procedimento cirúrgico, sendo analisadas pelo laboratório de patologia. Foi aferida proporção entre enxerto e neoformação óssea, sendo realizados controles radiolográfico e clínico no período. Todos assinaram termo de consentimento esclarecido. RESULTADOS:Média etária foi de 50 anos, sendo 7 pacientes são do sexo feminino. Seguimento médio foi de 44 meses, variando de 6 a 73. As biópsias mostraram que houve preservação de 36% do enxerto bovino liofilizado e 64% de neoformação óssea, tanto na biópsia de 6, quanto na de 73 meses. Isso mostra que não só há ostecondutividade, mas a osteointegração de ocorre de forma eficiente. Estudos radiográficos sugerem que houve osteointegração, apresentando características de radioluscência e consolidação. Não foram vistas complicações. CONCLUSÕES:Este trabalho traz informações específica em modelos humanos, mostrando que houve osteointegração do enxerto nos pacientes estudados. A amostra analisada é pequena, fator limitador do estudo, mas traz mais informações e apresenta resultados animadores nesse campo de pesquisa. É precoce afirmar que já há segurança para uso em larga escala, mas os resultados apontam nessa direção, pois o enxerto liofilizado bovino desenvolvido não trouxe dano aos pacientes e apresentou osteocondutividade e integração.
DOENÇA DE SCHEUERMAN E HEMANGIOMA INTRAVERTEBRAL EM PACIENTES COM LOMBALGIA RECORRENTE
LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA;JOSÉ PAULO FLORES SILVA; CAROLINA VIROTE KASSICK; GIOVANNA FERNANDES; MICHELE MORALES DOS SANTOS
Introdução: A lombalgia é idiopática em 85% dos casos, embora estudos demonstrem que ela pode decorrer de lesões musculoesqueléticas (LM) e processos discais degenerativos (PDD). Devido a sua prevalência, em muitos casos não há correlação entre o achado radiológico e o quadro clínico. A Doença de Scheuermann (DS) e o hemangioma vertebral (HV) são causas menos prevalentes de lombalgia e necessitam de diagnóstico precoce para adequada abordagem terapêutica, são causas sendo a Ressonância Nuclear Magnética (RNM) imprescindível nestas situações. Objetivo: Identificar as possíveis causas de lombalgia em pacientes sem LM ou PDD. Métodos: Foram selecionados, no Centro Médico Sogipa, pacientes masculinos com lombalgia recorrente, maiores de 30 anos, com lombalgia há mais de 6 meses e que apresentassem dor no momento da consulta médica. Resultados: Em seis meses de acompanhamento, excluídos os pacientes com lombalgia por LM e PDD, demonstrados à RNM, tivemos um paciente com seqüela de DS e outro com HI, ambos oriundos de outros serviços de traumatologia, referindo lombalgia recorrente e refratária aos tratamentos até então instituídos. Após a constatação das lesões, ambos foram devidamente tratados e obtiveram melhora clínica. Conclusão: Entre as principais etiologias diagnosticadas no nosso serviço, destacam-se os erros de postura, obesidade e sedentarismo. O diagnóstico de doenças menos prevalentes, contudo, promove uma melhor abordagem terapêutica, evitando piora da lesão subjacente, pois tanto a DS quanto o HI necessitam de abordagem terapêutica particularizada, sempre priorizando a adequada avaliação clínica sem supervalorizar os exames radiológicos.
OTORRINOLARINGOLOGIA
AVALIAÇÃO DE LESÕES LARÍNGEAS PÓS INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ATRAVÉS DA FIBRONASOLARINGOSCOPIA EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PEDIÁTRICO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 357
PRISCILLA GUEIRAL FERREIRA;CAMILA DA RÉ; KELLI W. GOMES; KIZZY L. COREZOLA; DENISE MANICA; CLAUDIA SCHWEIGER; MARIANA MAGNUS SMITH; GABRIEL KUHL; PAULO CARVALHO; PAULO JOSÉ CAUDURO MAROSTICA
Introdução: Estenoses laríngeas relacionadas à intubação endotraqueal representam um desafio diagnóstico e terapêutico. A avaliação precoce dessas lesões pode proporcionar o seu melhor manejo. Objetivos: Avaliar a viabilidade e segurança da fibronasolaringoscopia (FNL) nas primeiras horas pós extubação para diagnóstico precoce de lesões laríngeas em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico e descrever os achados encontrados através deste exame. Materiais e métodos: Crianças de 0 a 4 anos que foram submetidas à intubação endotraqueal por mais de 24 horas foram incluídas no estudo. Os critérios de exclusão foram sintomas laríngeos anteriores, intubação prévia ou traqueostomia, malformação craniofacial ou prognóstico reservado segundo equipe intensivista. Os exames foram realizados na beira do leito, nas primeiras 8 horas pós extubação e sem sedação. As imagens foram avaliadas por um examinador cego e os achados foram classificados em lesões leves e inespecíficas (edema e hiperemia) ou específicas (laringomalácia, granulação glótica, ulceração e/ou granulação subglótica). Resultados: Foram incluídos 97 pacientes. Dois pacientes tiveram dessaturação leve e não houve complicações graves. A região subglótica foi visualizada adequadamente em 79 pacientes (82,3%), parcialmente visualizada em 10 (10,4%) e não visualizada em sete pacientes. Em 67 pacientes (69,7 %) o exame foi normal ou foram encontradas alterações leves, em 29 pacientes (30,2%) alterações moderadas a severas foram visualizadas. Conclusões: A FNL pode ser realizada com segurança nas primeiras horas pós extubação. É um procedimento rápido e fornece informações detalhadas sobre as condições da supraglote, subglote e glote. Assim, a FNL é um exame útil na avaliação de lesões agudas pós intubação endotraqueal.
CAUSAS MAIS PREVALENTES DE OBSTRUÇÃO NASAL.
KARINA CARVALHO DONIS;NATÁLIA BITENCOURT DE LIMA; SHEILA DE CASTRO CARDOSO
Introdução: obstrução nasal é qualquer impedimento à passagem de ar para dentro ou para fora do nariz. A obstrução pode ser no vestíbulo nasal, fossa ou outras áreas da cavidade nasal. O impacto da obstrução nasal crônica na saúde dos indivíduos é muito importante. Destaca-se o impacto prejudicial sobre a via aérea inferior, os efeitos negativos sobre o desenvolvimento crânio-facial da criança, o prejuízo na qualidade do sono e suas consequências e as alterações de fala e linguagem. Objetivo: revisar causas prevalentes nos consultórios de obstrução nasal em crianças e adultos como rinite alérgica, rinite infecciosa (resfriado comum, rinossinusite bacteriana e gripe), desvio de septo e corpo estranho, e a influência na qualidade de vida dos pacientes. Materiais e Métodos: foram pesquisados artigos relevantes no Pubmed acerca do tema. Resultados: após análise dos artigos, foi avaliada a prevalência dos problemas citados acima, os principais sinais e sintomas, comorbidades associadas a cada doença e realização do diagnóstico utilizando métodos adequados, consequentemente reduzindo o desconforto do paciente e custos para este e para o Sistema de Saúde. Conclusão: muitos sintomas da obstrução nasal são comuns a diversas patologias podendo ocorrer dúvida no momento de realizar o diagnóstico correto. Portanto deve-se realizar uma história clínica bem feita, pois complementada pelo exame físico, fornece o diagnóstico da etiologia da obstrução na maioria dos casos. Contudo, a endoscopia nasal e os exames de imagem também são usados. Apesar disso, os achados do exame físico, de imagem e outros só apresentam valor quando interpretados em função da história clínica do paciente.
ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA DA PERIMATRIZ E DE COLESTEATOMAS ADQUIRIDOS COM OS MARCADORES CD31, MMP2 E MMP9
FÁBIO ANDRÉ SELAIMEN;CRISTINA DORNELLES, THAÍS HELENA GONÇALVES, FRANCIELE DARSIE DAHMER, LAURA MAZZALI DA COSTA, LETÍCIA PETERSEN SCHMIDT ROSITO
INTRODUÇÃO: A quantificação da angiogênese e das metaloproteinases pode ser útil na avaliação do comportamento dos colesteatomas, como marcadores da sua agressividade. OBJETIVO: Comparar os marcadores CD31, MMP2 e MMP9 entre pacientes pediátricos e adultos. MÉTODO: transversal. Grupos pediátricos (até 18 anos) e adultos (a partir de 19 anos). Coletados 120 colesteatomatomas, fixados em formol a 10%, preparadas cinco lâminas de cada amostra, por técnicas histológicas habituais, observados: número de vasos sanguíneos (CD31), marcação com
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 358
MMP2 e MMP9, número de células na matriz e espessura na perimatriz. Dados analisados no SPSS através coeficiente Spearman e Mann-Whitney. RESULTADOS: Colesteatomas distribuídos igualmente: 60 pediátricos (11,77 ± 3,57 anos); 60 adultos (38,29 ± 14,51 anos). CD31pediátrico 7 (4 a 11), CD31adulto 4 (0 a 10) (P=0,044). MMP2citoplasmática pediátrico 1 (0 a 3), MMP2citoplasmática adulto 0 (0 a 1) (P=0,006). MMP2nuclear pediátrico 0 (0 a 1), MMP2nuclear adulto 0 (0 a 1) (P=0,056). MMP9 pediátrico 2 (0 a 4), MMP9 adulto 0 (0 a 4) (P=0,049). Ao correlacionarmos o número médio de vasos sanguíneos e das metaloproteinases, entre si, e a espessura da matriz, com a espessura da perimatriz e com o grau histológico de inflamação, encontramos correlações fortes. CONCLUSÕES: Os colesteatomas pediátricos apresentam um grau inflamatório mais exacerbado, produzem mais metaloproteinases, fatores estes que, conjugados, poderiam caracterizar os colesteatomas pediátricos como mais agressivos que os colesteatomas adultos.
DESCRIÇÃO DAS VIAS DE FORMAÇÃO DA OTITE MÉDIA CRÔNICA COLESTEATOMATOSA BILATERAL
LAURA MAZZALI DA COSTA;LAURA MAZZALI DA COSTA, THAÍS HELENA GONÇALVES, FABIO ANDRÉ SELAIMEN, FRANCIELE DARSIE DAHMER, LETÍCIA PETERSEN SCHMIDT ROSITO, CRISTINA DORNELLES
INTRODUÇÃO: A otite média crônica caracteriza-se por alta prevalência e distribuição mundial. Apesar de vários estudos publicados a respeito, ainda não há, na literatura, consenso sobre a sua patogênese. Uma das hipóteses é a que apresenta a otite média crônica como uma série de eventos contínuos, onde insultos iniciais desencadeiam uma cascata de alterações. Partindo da hipótese do continuum e da bilateralidade das alterações iniciais, pesquisamos a orelha contralateral de indivíduos com diagnóstico otite média crônica colesteatomatosa em ambas orelhas. OBJETIVO: Descrever a via de formação dos colesteatomas bilaterais. METODOLOGIA: Foram estudados 196 pacientes consecutivos com colesteatoma em pelo menos uma das orelhas através da análise de videotoscopias, após limpeza adequada. As alterações encontradas foram, então, descritas. RESULTADOS: Foram analisados 196 pacientes com otite média crônica colesteatomatosa, sendo o colesteatoma bilateral, encontrado em 34 (17,3%) destes. 23 (67%) eram de gênero masculino e a média de idade 36,15 ± 17,8 anos. 12 (35%) colesteatomas na orelha principal ou mais sintomática eram epitimpânicos posteriores, 12 (35%) mesotimpânicos, 5 (15%) apresentavam as duas vias de formação e em 5 (15%) a via era indeterminada. 91,7 % dos pacientes com colesteatoma epitimpânico posterior apresentavam colesteatoma com a mesma via de formação na orelha contralateral, o mesmo acontecendo com 83% dos mesotimpânicos posteriores e com 60% dos com as duas vias de formação. CONCLUSÃO: Conclui-se que a patologia da otite média crônica colesteatomatosa tende a ser bilateral e que o padrão de formação dos colesteatomas é o mesmo na grande maioria dos casos, inferindo a necessidade de acompanhamento dessas alterações para identificar o momento mais adequado de tratá-las a fim de impedir sua evolução e possíveis complicações inerentes à esse processo patológico.
PREVALÊNCIA DO PADRÃO AUDIOMÉTRICO EM PACIENTES COM ZUMBIDO CRÔNICO
RODRIGO PHILIPPSEN;CINARA BOSSARDI; VANESSA BELINE; KISSY COREZOLA; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; LUCIANO FOLADOR; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
INTRODUÇÃO: O zumbido é um sintoma muito prevalente, afetando aproximadamente 14% da população. Em cerca de 90% dos casos está relacionado com algum grau de perda auditiva, sendo o otorrinolaringologista o especialista mais procurado por quem sofre com este problema. A audiometria tonal pode auxiliar em um possível diagnóstico etiológico do zumbido crônico. OBJETIVO: Definir o padrão audiométrico de pacientes com zumbido crônico clinicamente significativo. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal com 295 pacientes do Ambulatório de Zumbido Crônico do serviço de Otorrinolaringologia do HCPA, que na avaliação inicial respondem a um protocolo médico e audiológico, além de realizarem uma audiometria tonal e vocal. Baseado no resultado desta audiometria, os pacientes foram classificados como portadores de Hipoacusia Neurosenssorial (HNS), Hipoacusia Mista (HM), Hipoacusia Condutiva (HC) ou Audição Normal (AN). Cada ouvido foi avaliado separadamente e o limiar audiométrico utilizado foi de 30 decibéis. RESULTADOS: A maior
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 359
parte das audiometrias mostrava padrão compatível com hipoacusia neurosenssorial, sendo a prevalência de 58,6%; a hipoacusia mista teve uma prevalência de 20,68%; já a audição normal teve prevalência de 18,64%. A menor prevalência foi a de padrão misto, acometendo apenas 2,03% dos pacientes. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos foram compatíveis com a literatura. A maior prevalência de hipoacusia neurosenssorial condiz com o possível dano coclear. Por outro lado, os pacientes com audição normal ou hipoacusia condutiva merecem ser mais extensamente avaliados, procurando outras etiologias para justificar a causa do zumbido.
TRANSTORNOS DE HUMOR E ANSIEDADE EM PACIENTES COM ZUMBIDO CRÔNICO
RODRIGO PHILIPPSEN;CARINA SANVICENTE; KISSY COREZOLA; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; CINARA BOSSARDI; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
INTRODUÇÃO: O zumbido é um sintoma muito comum na população mundial, embora somente 5% dos pacientes refiram grande incômodo. Hipóteses apontam que a depressão possa ser um fator causal ou contribuinte para o grau de repercussão do zumbido na qualidade de vida dos pacientes. OBJETIVOS: Determinar a prevalência do diagnóstico de transtornos de humor e ansiedade em pacientes com zumbido crônico. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisados pacientes com zumbido por mais de três meses de qualquer etiologia, sem avaliação psiquiátrica prévia, que responderam ao PRIME-MD, instrumento já avaliado para diagnóstico de depressão e transtornos de ansiedade por médicos generalistas. RESULTADOS: Dentre os 120 pacientes estudados, 63% eram do gênero feminino. A média de idade foi de 57,6 anos. O diagnóstico de depressão foi encontrado em 57,5%, o de transtornos de ansiedade em 40% e o de depressão associado à ansiedade em 30,8%. CONCLUSÃO: Nossos resultados apontam uma alta prevalência de depressão e de transtornos de ansiedade, bem como da associação entre estas doenças, em pacientes com zumbido crônico e incômodo.
HIPOACUSIA E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM ZUMBIDO
RODRIGO PHILIPPSEN;CINARA BOSSARDI; CARINA SANVICENTE; VANESSA BELINE; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
INTRODUÇÃO: O zumbido é a sensação de percepção de um ruído na ausência de um estímulo sonoro externo. Afeta cerca de 14% da população e sua associação com a perda auditiva é bem conhecida. OBJETIVOS: Comparar a repercussão do zumbido crônico na qualidade de vida de pacientes com audição normal e com hipoacusia. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram selecionados 274 pacientes consecutivos com zumbido crônico, que na avaliação inicial responderam ao Tinnitus Handcap Inventory (THI) e realizaram audiometria. Foi feito um estudo transversal, analisando a repercussão do zumbido através do THI nos grupos com normoacusia e hipoacusia. Os grupos foram ainda subdivididos de acordo com a pontuação obtida no THI cem Leve (0-36 pontos), Moderado (38-56 pontos) e Severo (58-100 pontos). Definiu-se como limiar de perda auditiva, segundo a classificação de Davis e Silverman, registros menores que 25 dB na via aérea. A análise dos dados foi realizada através do teste T de Student e ANOVA. RESULTADOS: Dos 274 pacientes, 59% eram do gênero feminino e a média de idade foi de 58,9 anos. Foi encontrada prevalência de 16,4% dos pacientes com audição normal e 82,6% com hipoacusia. No grupo com audição normal a pontuação média no THI foi de 41,1 pontos, já no com hipoacusia a média foi de 45,6. Quando divididos em graus de repercussão, entre os pacientes com hipoacusia, 43,2% apresentavam grau leve, 21,8% grau moderado e 34,9% grau severo; entre os com audiometria normal, 44,4% apresentavam grau leve, 33,3 % grau moderado e 22,2% grau severo. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nem entre os subgrupos (p>0,05). CONCLUSÃO: A perda auditiva parece não interferir no grau de incômodo do paciente em relação ao zumbido.
PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS EM PACIENTES COM ZUMBIDO
RODRIGO PHILIPPSEN;VANESSA BELINE; KISSY COREZOLA; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; CINARA BOSSARDI; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 360
INTRODUÇÃO: O zumbido é um sintoma muito prevalente, afetando quase 15% da população geral e 33% dos idosos. Em cerca de 90% dos casos está relacionado com algum grau de hipoacusia. Alguns centros de referência sugerem avaliação multidisciplinar e crêem que o zumbido pode ser amenizado ou agravado por doenças crônicas descompensadas ou por tratamentos ineficazes. OBJETIVOS: Avaliar a concomitância de doenças crônicas multi-sistêmicas em pacientes com zumbido crônico em acompanhamento ambulatorial no HCPA. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avaliados os dados obtidos no prontuário 1ª consulta de 399 pacientes do grupo atendido no ambulatório do zumbido crônico do HCPA. As doenças crônicas investigadas são cardiovasculares, pulmonares, renais, endocrinológicas, neurológicas, gastrointestinais, reumatológicas, psiquiátricas e imunológicas. RESULTADOS: Dos 399 pacientes que tiveram seus prontuários analisados, 10,5% tinham doença pulmonar; 55,1% tinham doença cardiovascular; 8,5% tinham doença renal; 18,8% tinham doença endocrinológica; 32,8% tinham doença gastrointestinal; 8,8% tinham doença neurológica; 24,0% tinham doença psiquiátrica; 20,6% tinham doença reumatológica e 5,0% tinham doença imunológica. CONCLUSÃO: A alta prevalência de comorbidades, principalmente cardiovasculares e gastrointestinais, pode ser, em parte, explicada pela alta faixa etária média dos pacientes com zumbido. Já a alta prevalência de transtornos psiquiátricos em pacientes com zumbido crônico, embora já consagrada na literatura, deve nos levar a atentar sobre a importância de instituir precocemente um tratamento efetivo para essas comorbidades, uma vez que podem agravar de maneira muito importante a percepção que o paciente tem do zumbido, reduzindo sobremaneira sua qualidade de vida.
EFEITO DO ÁCIDO ACÉTICO SOBRE A MUCOSA SINUSAL NORMAL EM MODELO EXPERIMENTAL UTILIZANDO COELHOS
KIZZY LUDNILA COREZOLA;MANICA, DENISE; MIGLIAVACCA, RAPHAELLA OLIVEIRA; MEYER, FABÍOLA; MARIN, RAFAELA; XAVIER, ROGÉRIO; KLIEMANN, LÚCIA; PILTCHER, OTÁVIO BENJZMAN
Introdução: O ácido acético é usado no tratamento de doenças infecciosas no canal auditivo externo e na mucosa vaginal. Não é conhecido, porém, se possui efeito terapêutico na rinosinusite crônica. Objetivo: Avaliar os efeitos histológicos do ácido acético na mucosa do seio maxilar normal em um modelo experimental utilizando coelhos. Material e Métodos: Seis coelhos (raça Nova Zelândia Branco) foram submetidos à osteotomia bilateral via dorso nasal para identificação do seio maxilar. A partir do dia seguinte ao procedimento cirúrgico, de um lado foi realizada punção diária, no local da osteotomia, durante 10 dias para injeção de ácido acético a 0,008% em soro fisiológico no seio maxilar. O lado contralateral foi utilizado como controle. Após 10 dias, os coelhos tiveram morte induzida e a mucosa foi coletada para estudo anatomopatológico. Os coelhos receberam oxitetraciclina antes do procedimento cirúrgico pela alta prevalência de infecção subclínica por Pasteurella multocida. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Resultados: Um dos coelhos evoluiu ao óbito durante indução anestésica. As mucosas dos seios maxilares dos cinco coelhos restantes submetidas ao contato diário com ácido acético apresentaram epitélio íntegro, mínimo infiltrado linfocítico, edema e proliferação vascular discretas. Correlacionando-as com o lado contralateral, sem contato com qualquer substância, não houve diferenças histológicas relevantes. Conclusão: A partir desses dados, objetivamos estudar o efeito do ácido acético sobre a mucosa com inflamação induzida por obstrução da ventilação dos seios paranasais. Tal estudo servirá de base para aplicação de uma nova opção terapêutica em pacientes com rinossinusite crônica: a lavagem nasal com solução de ácido acético.
A DEPRESSÃO INTERFERE NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM ZUMBIDO?
CAROLINE PERSCH ROYER;RODRIGO PHILIPPSEN; CARINA SANVICENTE; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; CINARA BOSSARDI; KISSY COREZOLA; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
Introdução: O zumbido é a sensação de percepção de um ruído na ausência de uma fonte produzindo um estímulo sonoro externo. Esse distúrbio afeta cerca de 14% da população. Estudos demonstram que a depressão parece contribuir para o grau de incômodo provocado pelo zumbido. Objetivos: Avaliar se há associação entre os sintomas depressivos e o grau de interferência do zumbido na qualidade de vida dos pacientes. Materiais e métodos: Foi utilizado o Inventário de Beck
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 361
(IB) para quantificar os sintomas depressivos, que varia de 0 a 63, e o Tinnitus Handcap Inventory (THI), que varia de 0 a 100, para quantificar a repercussão do zumbido na qualidade de vida dos pacientes. A correlação entre as duas variáveis foi analisada através do coeficiente de Spermann. Resultados: Foram estudados 180 pacientes com queixas de zumbido; 46 eram homens e a média de idade foi de 55,6 anos. Houve uma associação forte e direta entre os escores do IB e do THI (r=0,63; p<0,001). Conclusão: Os resultados do nosso estudo demonstraram que quanto maior o índice de sintomas depressivos, maior será a repercussão do zumbido na qualidade de vida dos pacientes. Corroboram, portanto, trabalhos prévios que apontam a interferência da depressão no grau de incômodo provocado pelo zumbido crônico.
PREVALÊNCIA, DE ACORDO COM A IDADE, DE AUDIÇÃO NORMAL E HIPOACUSIA EM PACIENTES COM ZUMBIDO CRÔNICO
CAROLINE PERSCH ROYER;RODRIGO PHILIPPSEN; VANESSA BELINE; FABÍOLA DE SOUZA; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; KISSY COREZOLA; CINARA BOSSARDI; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
Introdução: O zumbido é um dos sintomas mais prevalentes em otorrinolaringologia. Já é bem conhecida a associação entre hipoacusia e zumbido; entretanto, poucos estudos têm abordado indivíduos que apresentam zumbido apesar de a audiometria estar dentro dos padrões de normalidade. Objetivo: Determinar a prevalência de pacientes com audição normal e com hipoacusia, segundo a faixa etária, entre os portadores de zumbido crônico. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo de prevalência, incluindo 300 pacientes com zumbido em atendimento no Ambulatório de Zumbido do HCPA. Os pacientes foram divididos em quatro grupos, de acordo com a idade: de 16 a 20 anos (n=2), de 21 a 40 anos (n=29), de 41 a 60 anos (n=130) e de 61 a 85 anos (n=139). Foram definidos como limiares de perda auditiva, segundo a classificação de Davis e Silverman, registros menores que 25 dB na via aérea. Resultados: Dentre os pacientes analisados, 100% dos pacientes com menos de 20 anos tinham audiometria normal. Já entre os pacientes com idade entre 21 e 60 anos, 31,03% apresentavam normoacusia. Nos pacientes entre 41 e 60 anos, a prevalência de audição normal foi de 21,5%. A faixa etária com o maior número de audiometrias analisados, que englobou pacientes entre 61 e 85 anos, teve a menor prevalência de audiometrias normais, apenas 7,2%. Conclusão: Apesar de a grande maioria dos pacientes com zumbido apresentarem também hipoacusia, há pacientes com audiometria normal que sofrem com este sintoma. Deve-se atentar para o fato de que, em pacientes jovens, a prevalência de audiometria normal é consideravelmente maior que em pacientes de mais idade. Assim, em pacientes mais jovens deve-se investigar mais intensivamente a causa deste sintoma, procurando sempre uma patologia de base como causa do tinnitus.
PREVALÊNCIA DE GLICEMIA DE JEJUM ALTERADA, DISLIPIDEMIA E DISFUNÇÃO TIREOIDIANA EM PACIENTES PORTADORES DE ZUMBIDO CRÔNICO
CAROLINE PERSCH ROYER;RODRIGO PHILIPPSEN; KISSY COREZOLA; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; CINARA BOSSARDI; CARLOS EDUARDO BASTIANI; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
Introdução: O Zumbido crônico não apresenta consenso quanto a sua fisiopatogenia uma vez que há vários fatores etiológicos possivelmente envolvidos. Vários estudos têm associado o zumbido a alterações endocrinológicas. Objetivo: Avaliar a prevalência dos distúrbios do metabolismo da glicose, lipídeos e hormônios tireoideanos em pacientes portadores de zumbido e comparar com a população geral. Materiais e métodos: Entraram no estudo 342 pacientes do ambulatório de zumbido do HCPA que haviam feito os seguintes exames laboratoriais: glicemia de jejum (GJ), colesterol total (CT), colesterol HDL (HDL), colesterol LDL (LDL), triglicerídeos (TG), tireotrofina (TSH) e tiroxina livre (T4l). Estes dados foram comparados com os de estudos populacionais representativos. Resultados: Os pacientes tinham idade média de 61,9 anos, sendo 215 do sexo feminino. A prevalência da GJ alterada na população geral é de 26%; no grupo com zumbido foi de 35,08%. O perfil lipídico tem prevalência na população geral de acordo com a faixa etária analisada de: CT elevado 8,6%, LDL elevado 8,2%, HDL baixo 23,2% e triglicerídeos elevados 22,7%; no grupo com zumbido de: CT elevado 22,1%, LDL elevado 17,6, HDL baixo 19,2% e triglicerídeos elevados 17,4%. A prevalência de hipotireoidismo na população geral é 4,6% e de hipertireoidismo é 1,3%
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 362
sendo maior no sexo feminino e em idades avançadas. No grupo com zumbido houve prevalência de 14,8% para hipotireoidismo e 4,83% para hipertireoidismo. Conclusão: Assim, as altas taxas de prevalência de distúrbios metabólicos e endocrinológicos apresentadas, embora possam ser parcialmente explicadas pela faixa etária média da amostra, nos levam a crer que estas alterações possam estar ligadas à patogênese do zumbido ou pelo menos que possam ter influência sobre este sintoma.
CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DO ZUMBIDO EM PACIENTES COM E SEM HIPOACUSIA
CAROLINE PERSCH ROYER;CARINA SANVICENTE; FABÍOLA DE SOUZA; RODRIGO PHILIPPSEN; TAIANE SAWADA; FERNANDA NAZAR; CINARA BOSSARDI;KISSY COREZOLA; LETICIA ROSITO SCHMIDT; CELSO DALL IGNA
Introdução: O zumbido, percepção de um ruído na ausência de uma fonte sonora externa, tem associação bem conhecida com a perda auditiva; de acordo com estudos, 85 a 96% dos pacientes com zumbido apresentam algum grau de perda auditiva. Objetivo: Comparar as características clínicas do zumbido nos pacientes com audição normal e com hipoacusia. Materiais e métodos: Selecionou-se 293 pacientes do Ambulatório de Zumbido do HCPA, que na avaliação inicial responderam a um protocolo médico e realizaram audiometria. Foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo, idade, duração do zumbido em anos, localização (OE, OD, bilateral, não localiza), hipersensibilidade auditiva, exposição ao ruído, vertigem, tontura, cefaléia, cervicalgia, distúrbios temporo-mandibulares, consumo de álcool e tabagismo. Foi realizado estudo transversal analisando as características clínicas em ambos os grupos. Para classificar os pacientes em com ou sem hipoacusia, foi definido como limiar de perda auditiva, segundo a classificação de Davis e Silverman, registros menores que 25 dB na via aérea. Resultados: Dos 293 pacientes, 50 tinham audiometria normal e 243 tinham perda auditiva. Quando comparados os grupos, observou-se que o grupo com audição normal tinha média de idade menor que o grupo com hipoacusia.
PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM ZUMBIDO CRÔNICO
CINARA BOSSARDI;CAROLINE ROYER, FABÍOLA SOUZA, RODRIGO PHILIPPSEN, CARLOS EDUARDO BASTIANE, TAIANE SAWADA, FERNANDA NAZAR, LETICIA ROSITO SCHMIDT, CELSO DALL IGNA
Introdução: O zumbido é a sensação de percepção sonora de um ruído na ausência de um estímulo sonoro externo. Afeta cerca de 14% da população em geral, sendo mais frequente em idosos, causando diminuição importante na qualidade de vida de muitos pacientes. A associação do zumbido com a perda auditiva já é bem conhecida; entretanto, parece haver muitos outros fatores associados à fisiopatologia desse sintoma, entre os quais parecem estar envolvidas as disfunções metabólicas. Objetivos: Determinar a prevalência de Síndrome Metabólica (SM) entre os pacientes com zumbido crônico. Metodologia: Foram avaliados 143 pacientes consecutivos com zumbido crônico que realizam acompanhamento ambulatorial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sessenta e cinco por cento dos pacientes eram do sexo feminino e a média de idade foi de 58,2±13,3 anos. Estes pacientes foram avaliados quanto à presença dos fatores que, segundo a definição do Third Report of National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evoluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults – Adult Treatment Panel III – (ATP III), participam do diagnóstico de SM. Prevalência de critérios diagnósticos para SM na população estudada. glic alt/dm HDL baixo TG altos Cintura maior HAS 36,36% 12,58% 13,28% 63,63% 48,25%. Resultados: Entre os pacientes avaliados, 15,4% não apresentam nenhum critério diagnóstico para SM; 30% apresentam um critério, 30% apresentam dois critérios e 25,5% apresentam três ou mais critérios. Os últimos podem receber o diagnóstico de SM. Conclusão: A prevalência de SM em pacientes com zumbido é 25,5 %, semelhante a da população geral.
EMISSÕES OTOACÚSTICAS EM PACIENTES COM ZUMBIDO CRÔNICO E AUDIÇÃO NORMAL: ESTUDO DE CASO E CONTROLE
CINARA BOSSARDI;CELSO DALL IGNA, LETICIA ROSITO SCHMIDT, FERNANDA NAZAR, TAIANE SAWADA, RODRIGO PHILIPPSEN, FABÍOLA SOUZA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 363
Introdução: O zumbido é definido como a percepção do som na ausência de estímulo sonoro externo. É um sintoma altamente associado à perda auditiva, embora 10% dos pacientes tenham audição normal. Objetivos: Estudar emissões otoacústicas (EOA) produto de distorção em pacientes com queixa de zumbido e audição normal. Metodologia: Dos 250 pacientes estudados, apenas 26 preencheram os critérios de inclusão e tinham limiares na audiometria tonal em 25 dB ou menos em todas as freqüências. Eles foram comparados com 27 controles normais. Os dois grupos foram avaliados através de EOA produto de distorção. Resultados: Entre os casos, 63% eram do sexo feminino e a média de idade foi de 40,5 + 13,3 anos; entre os controles, 73% eram do sexo feminino e a idade média foi de 34,7 + 8,2. Não houve diferença significativa de sexo e idade entre os grupos. Os pacientes com zumbido tiveram uma prevalência maior de alterações nas EOA em pelo menos uma das orelhas do que os controles (76% vs 38%). O odds ratio foi de 3,21 (IC 1,04-9,9). Conclusão: Pacientes com zumbido têm uma chance três vezes maior de apresentar EOA alteradas em pelo menos uma das orelhas do que os controles. Nosso estudo corrobora uma das hipóteses que tenta explicar a patogênese do zumbido, que é a do desbalanço entre as células ciliadas externas (CCE) e internas (CCI). As CCE, mais sensíveis ao dano, falhariam na inibição que exercem sobre as CCI, quando este ocorre. Esta perda de inibição resultaria em zumbido.
MEDIDAS PSICOACÚSTICAS DO ZUMBIDO E REPERCUSSÃO NA QUALIDADE DE VIDA: EXISTE ASSOCIAÇÃO?
CINARA BOSSARDI;CELSO DALL IGNA, LETICIA ROSITO SCHMIDT, FERNANDA NAZAR, TAIANE SAWADA, RODRIGO PHILIPPSEN, CARLOS EDUARDO BASTIANI
Introdução: Zumbido é uma sensação auditiva não proveniente do meio externo. A acufenometria engloba um conjunto de técnicas audiológicas que encontra na audiometria tonal um tom puro que se aproxima do tom do zumbido do paciente. É pouco conhecida a relação entre o possível tom puro do zumbido e o seu grau de incômodo. Objetivos: Correlacionar o tom puro do zumbido, por acufenometria, com a repercussão na qualidade de vida do paciente. Metodologia: Foram selecionados 204 pacientes consecutivos com zumbido crônico, que responderam ao Tinnitus Handcap Inventory (THI) e realizaram exames audiológicos. Realizou-se um estudo transversal correlacionando pontuação do THI com intensidade e frequência do zumbido segundo a acufenometria. O THI varia de 0 a 100, sendo que quanto mais alto o valor, maior a repercussão do zumbido. Para análise dos dados foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: Entre os 204 pacientes analisados, 60,3% eram do gênero feminino e a média de idade foi de 58 anos. A intensidade média do zumbido foi de 54,14±17,03 dB, a freqüência média foi de 3994,82±2840,96 Hz e o valor médio do THI foi de 43,9 ± 26,2. Não foi encontrada correlação entre a intensidade do zumbido e o THI nem entre a freqüência do zumbido e o IQV. Conclusão: Os nossos resultados corroboram a hipótese de que a repercusssão do zumbido na qualidade de vida do paciente não está associada as suas medidas psicoacústicas.
ANÁLISE COMPARATIVA DE DUAS TÉCNICAS DE IMPLANTE COCLEAR: ESTUDO DE COORTE COM RESULTADOS EM LONGO PRAZO
MANOELA CHITOLINA VILLETTI;MICHELLE LAVINSKY WOLFF; LUIZ LAVINSKY; CELSO DALL IGNA; VANESSA HARTMANN; JOEL LAVINSKY
Introdução:A via de acesso tradicional ao implante coclear foi proposta por William House em 1961,e técnicas alternativas tem sido propostas por outros autores.A Técnica de Acesso Combinado(CAT) é uma variação da abordagem tradicional por mastoidectomia e timpanotomia posterior que usa uma cocleostomia por via transcanal combinada a uma mastoidectomia e a uma timpanotomia posterior pequenas,para a inserção dos eletrodos. Objetivo:Comparar e avaliar os resultados em longo prazo sobre segurança, efetividade e conservação da audição residual entre CAT e o acesso tradicional de mastoidectomia e timpanotomia posterior(MPTA). Materiais e métodos:Um estudo de coorte foi realizado com pacientes com perda auditiva profunda sem benefício com aparelhos de amplificação sonora individual, submetidos a implante coclear (IC) no HCPA de maio de 2003 a dezembro de 2006. Resultados:Setenta e cinco pacientes foram incluídos; 44 usando CAT e 31, MPTA.Não houve complicações como paralisia facial, mastoidite, colesteatoma ou fístula após uma média de 3,4±1,0 anos.A mediana do número de eletrodos fora da cóclea foi 0 no grupo CAT(percentil 25=0; percentil 75=1) versus três no grupo MPTA(percentil 25 =1; percentil 75=4; P0,05).Todos os pacientes
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 364
apresentaram alguma perda da audição residual no pós-operatório(P0,05). Conclusão:Os dados com seguimento em longo prazo demonstraram que CAT é uma abordagem alternativa segura e efetiva à cirurgia de IC.Futuros ECRs devem ser conduzidos para confirmar esses achados,incorporando protocolos cirúrgicos padronizados conservadores para audição residual e novas tecnologias de IC disponíveis.
TÉCNICA DE ACESSO COMBINADO AO IMPLANTE COCLEAR: EXPERIÊNCIA EM 50 CASOS
MANOELA CHITOLINA VILLETTI;MICHELLE LAVINSKY WOLFF; LUIZ LAVINSKY
Introdução: A via de acesso tradicional ao implante coclear foi inicialmente proposta por William House em 1961, e técnicas alternativas vem sendo propostas por vários outros autores. A Técnica de Acesso Combinado (TAC) é uma variação da abordagem tradicional por mastoidectomia e timpanotomia posterior que usa uma cocleostomia por via transcanal combinada a uma mastoidectomia pequena e a uma timpanotomia posterior, também pequena, para a inserção dos eletrodos. Objetivos: Apresentar uma descrição detalhada desse procedimento alternativo, relatando a experiência com 50 casos; além de contribuir com informações relacionadas a possíveis implicações e vantagens do uso da cocleostomia transcanal. Material e métodos: Pacientes e local de realização: pacientes com surdez severa ou profunda bilateral, com desempenho insuficiente com aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) e submetidos a implante coclear usando a TAC no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) desde maio de 2003. Desenho: série de casos. Resultados: A mediana do seguimento foi de 29 meses. Em todos os casos o implante foi bem sucedido usando a TAC. Não houve complicações maiores, como paralisia ou paresia facial, meningite, colesteatoma ou fístula. Conclusão: Em nossa experiência, a TAC se mostrou uma variação efetiva e segura da cirurgia de implante coclear, sendo especialmente vantajosa na presença de calcificação ou malformação coclear e quando a posição do nervo facial dificulta a abertura ampla do recesso facial.
USO DE DOSES ADICIONAIS DE SEDAÇÃO DURANTE VENTILAÇÃO MECÂNICA E DESENVOLVIMENTO DE ESTENOSE SUBGLÓTICA PÓS INTUBAÇÃO EM CRIANÇAS COM BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA
KIZZY LUDNILA COREZOLA;FERREIRA, PG; GOMES, KW; KAHLER, S; RÉ, C; SCHWEIGER, C; SMITH, MM; MANICA, D; MAROSTICA, PJC; CARVALHO, PRA; KUHL, G
Introdução: São muitas as indicações de intubação e vários são seus benefícios, porém ela pode trazer seqüelas graves, como a estenose subglótica. Objetivo: Avaliar lesões de laringe secundárias à intubação endotraqueal por bronquiolite viral aguda, determinando sua incidência e possíveis fatores de risco. Métodos: Foram elegíveis crianças de 0 a 1 ano internadas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e submetidas à intubação endotraqueal por mais de 24 horas. Foram excluídas aquelas com história de intubação, traqueostomia passada ou atual, doença laríngea prévia ou consideradas terminais pela equipe assistente. As incluídas realizaram nasofibrolaringoscopia em até 8 horas após extubação. Na primeira avaliação, foram divididas em dois grupos: NA – exame normal ou alterações leves; AA – alterações laríngeas moderadas ou graves. As crianças sintomáticas do grupo NA e todas do grupo AA foram submetidas a novo exame em 7-10 dias. Nessa segunda avaliação, foram classificadas em dois novos grupos: NC – sem alterações crônicas; ESG – estenose subglótica. Resultados: Foram incluídas 58 crianças. Dessas 20 (34%) foram classificadas no grupo AA e 6 (10,34%) no grupo ESG. Todas as crianças que desenvolveram ESG eram provenientes do grupo AA. O número de dias de intubação, o número de reintubações e os dias de mobilização do tubo não demonstraram diferenças significativas entre os grupos. Crianças que desenvolveram ESG, no entanto, necessitaram de doses extras de sedação. Conclusão: Encontramos uma alta incidência de estenose subglótica pós intubação. A necessidade de doses extras de sedação, provavelmente relacionada ao nível de agitação dos pacientes, parece ser fator determinante para o desenvolvimento de estenose subglótica.
INCIDÊNCIA DE ESTENOSE SUBGLÓTICA PÓS-EXTUBAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 365
CAMILA DA RÉ;PRISCILLA G. FERREIRA, KELLI W. GOMES, KIZZY L. COREZOLA, DENISE MANICA, CLAUDIA SCHWEIGER, MARIANA MAGNUS SMITH, PAULO ROBERTO ANTONACCI CARVALHO, GABRIEL KUHL, PAULO JOSÉ CAUDURO MAROSTICA
Introdução: Durante a ventilação mecânica, o tubo endotraqueal pode ocasionar lesões diversas no trato respiratório, sendo a estenose laríngea a mais grave e mais temida. Objetivos: Avaliar a incidência de estenose subglótica pós-extubação. Material e Métodos: Foram selecionadas crianças de 0 a 4 anos internadas na UTIP do HCPA, necessitando intubação endotraqueal por mais de 24 horas. Foram excluídas aquelas com história de intubação, patologia laríngea prévia, presença de traqueostomia atual ou no passado e pacientes considerados terminais pela equipe assistente. As crianças incluídas foram acompanhadas diariamente e realizada fibronasolaringoscopia (FNL) em até 8 horas após a extubação. De acordo com a severidade dos achados do exame, os pacientes foram divididos em 2 grupos: grupo 1 (exame normal ou com alterações leves) e grupo 2 (alterações moderadas ou graves). Foi realizada FNL de revisão em todas as crianças do grupo 2 em 7 a 10 dias e nas do grupo 1 que desenvolveram sintomas. Resultados: Dos 96 pacientes incluídos, 30 (31,25%) foram classificados no grupo 2. Na FNL de revisão, no grupo 2, 33,3% (n=10) apresentaram estenose subglótica, o que corresponde a 10,41% do total da amostra. Das crianças do grupo 1 que desenvolveram sintomas e foram à FNL de revisão, todas tinham exame normal. Conclusão: Encontramos uma incidência alta de estenose subglótica pós-extubação, quando comparado com a literatura. No entanto, acreditamos que a prevalência descrita nos outros estudos esteja subestimada já que, pela nossa busca bibliográfica, essa é a primeira coorte prospectiva pediátrica em estenose subglótica pós-extubação, que mantém o seguimento prolongado dos pacientes e realiza FNL pós-extubação em todas as crianças independentemente de sintomas.
OTITE MÉDIA CRÔNICA COLESTEATOMATOSA: DESCRIÇÃO DAS RETRAÇÕES DA MEMBRANA TIMPÂNICA NA ORELHA CONTRALATERAL
THAÍS HELENA GONÇALVES;FRANCIELE DARSIE DAHMER, FABIO ANDRÉ SELAIMEN, SADY SELAIMEN DA COSTA, CRISTINA DORNELLES, LAURA MAZZALI DA COSTA
INTRODUÇÃO: A otite média crônica (OMC) caracteriza-se por alta prevalência e distribuição mundial. Apesar de vários estudos publicados a respeito, ainda não há, na literatura, consenso sobre a sua patogênese. Uma das hipóteses é a que apresenta a OMC como uma série de eventos contínuos, onde insultos iniciais desencadeiam uma cascata de alterações. Partindo da hipótese do continuum e da bilateralidade das alterações iniciais, pesquisamos a orelha contralateral (OCL) de indivíduos com diagnóstico otite média crônica colesteatomatosa (OMCC). OBJETIVOS: Descrever as retrações da membrana timpânica da OCL de pacientes com OMCC. METODOLOGIA: Foram estudados 196 pacientes com colesteatoma em pelo menos uma das orelhas através da análise de videotoscopias e descrição das alterações encontradas. A análise estatística foi feita através dos testes de Chi-quadrado e ANOVA. RESULTADOS: Dos 196 pacientes estudados, 84 (42,9%) deles apresentavam retração moderada ou severa na OCL. 51,2% eram do gênero masculino, média de idade de 30,37 ± 18,9 anos. Nos pacientes com colesteatomas epitimpânicos posteriores na orelha principal, 85,7% deles apresentavam retração restrita à parte flácida na orelha contralateral e 14,3% tanto em parte flácida quanto em parte tensa. Nos com colesteatomas mesotimpânicos posteriores 46,4% apresentavam retrações restritas à parte tensa, 14,3% restritas à parte flácida e 39,3% em ambas. Nos colesteatomas com ambas vias de formação, foi observada retração envolvendo tanto a parte flácida quanto a tensa em 75% das OCL. Quanto avaliamos somente os epitimpânicos posteriores, observamos que 100% das retrações na OCL envolviam a região da parte flácida. Por outro lado, nos mesotimpânicos, 85,7% das retrações envolviam a região da parte tensa, sendo o restante restrito à parte flácida. Esta diferença foi significativa (P<0,0001). CONCLUSÃO: As retrações timpânicas na OCL de pacientes com OMCC se comportam seguindo a mesma via de formação dos colesteatomas da orelha principal na grande maioria dos casos, corrobando a hipótese de esta seja uma doença bilateral, com diferentes formas de apresentação.
PEDIATRIA
PREVALÊNCIA DE SEPSE NEONATAL PRECOCE EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO PESO DE NASCIMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 366
FAIRUZ HELENA SOUZA DE CASTRO;LUCIANA TEIXEIRA FONSECA, ANA PAULA VARGAS, ANA PAULA ROSIAK, RITA DE CÁSSIA SILVEIRA, RENATO SOIBELMANN PROCIANOY
Introdução: A sepse neonatal é a maior causa de morbidade e mortalidade em neonatos, principalmente em recém-nascidos de muito baixo peso de nascimento (RNMBP). Sabe-se que as duas fontes principais de infecção no recém-nascido são a mãe e o ambiente do berçário, e que a infecção pode ser adquirida da mãe por via transplacentária ou no momento do parto.Objetivo: Estabelecer a prevalência de sepse neonatal precoce em RNMBP internados no Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Materiais e métodos: Delineamento: Estudo de prevalência. População: Recém-nascidos prematuros de muito baixo peso (peso de nascimento menor ou igual a 1500g) internados no Serviço de Neonatologia do HCPA no período de novembro de 2008 a maio de 2009. Resultados: Uma análise prévia dos dados de 39 RNMBP, nascidos no HCPA entre novembro de 2008 e maio de 2009, revelou que 91,3% apresentaram sinais clínicos de sepse, sendo que 10,25% apresentavam relação I/T superior a 0,2 e somente 1 caso apresentou aumento da Proteína C Reativa indicando sepse precoce laboratorialmente. Nenhum caso apresentou hemocultura positiva nas primeiras 72 horas de vida. O exame anatomopatológico da placenta foi realizado em somente 23% dos casos, apresentando corioamnionite em 44% das peças placentárias analisadas. Conclusão: Ainda não podemos inferir a real prevalência de sepse neonatal precoce em prematuros de muito baixo peso na população do HCPA. Observamos que o diagnóstico clínico parece superar de forma relevante o diagnóstico laboratorial, e que o exame anatomo-patológico da placenta não tem sido um exame rotineiro no nosso meio.
NÍVEIS DE PROLACTINA EM PACIENTES PRÉ-PÚBERES DO SEXO FEMININO COM ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL: COMPARAÇÃO ENTRE PACIENTES FAN POSITIVO E FAN NEGATIVO
FABIANA COSTA MENEZES;SANDRA HELENA MACHADO, ANDRÉ ANJOS DA SILVA, CAROLINE VIEIRA PINHEIRO, RICARDO MACHADO XAVIER, JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL
Introdução: a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é uma das doenças reumáticas autoimunes mais comuns em crianças, principalmente do sexo feminino, sendo definida como artrite crônica manifestada antes dos 16 anos, com evolução persistente mínima de 6 semanas, nas quais se descartam outros diagnósticos. Possui uma prevalência que varia de 16 à 150 por 100000. Estudos têm demonstrado uma relação entre a positividade do FAN (Fator Antinuclear) em pacientes pré-púberes do sexo feminino com um maior nível de prolactina no sangue quando comparadas com pacientes pré-púberes que possuem FAN negativo. Objetivo: avaliar e comparar a relação entre FAN positivo e maiores níveis de prolactina em pacientes pré-púberes do sexo feminino acompanhadas no ambulatório de reumatologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Materiais e Métodos: foi realizado um estudo prospectivo histórico do prontuário de 45 pacientes levando em conta os critérios de diagnóstico do Colégio Americano de Reumatologia (ACR). Os parâmetros avaliados foram: sexo, positividade do FAN e níveis de prolactina. Resultados: Dos 45 pacientes analisados, 26 eram do sexo feminino (57,78%), sendo que 14 eram pré-púberes (53,84%). Dessas 14 pacientes, 4 possuíam FAN positivo, o que corresponde à 28,57% da amostra. Foi calculada a média dos níveis de prolactina no sangue das 4 pacientes pré-púberes com FAN positivo e encontrou-se o valor de 10,17 ng/ml, sendo esse maior do que o encontrado nas pacientes pré-púberes com FAN negativo, que foi de 7,46 ng/ml, uma diferença de 26,65%. Conclusão: nessa amostra observamos que os resultados encontrados em relação aos níveis de prolactina e a positividade do FAN em pacientes pré-púberes do sexo feminino portadoras de AIJ são semelhantes aos descritos na literatura.
PREVALÊNCIA DO GENE CAGA DO HELICOBACTER PYLORI EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SUBMETIDOS À ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
ANNA CAROLINA SARAIVA CAMERINI;JULIANA GHISLENI DE OLIVEIRA; CRISTINA HELENA TARGA FERREIRA; CAROLINA ALBANESE NEIS; MARINA ROSSATO ADAMI; FERNANDA TREICHEL KOHLS; LUÍSE MEURER; THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA
Introdução: O Helicobacter pylori (Hp) está associado à gastrite, à úlcera péptica e ao câncer gástrico em adultos e crianças. Embora gastrite seja um achado praticamente universal nos pacientes infectados pelo Hp, somente uma minoria desenvolve desfechos clínicos desfavoráveis, possivelmente pela virulência diversa das cepas de Hp. A presença do gene cagA do Hp parece estar
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 367
associada à resposta inflamatória do hospedeiro mais exuberante. Já quanto à gravidade de evolução clínica na presença do gene cagA os resultados são conflitantes, embora grande número de estudos tenha demonstrado desfechos clínicos mais desfavoráveis na presença deste gene. Objetivo: Descrever a prevalência do gene cagA do Hp em crianças e adolescentes submetidos à endoscopia digestiva alta (EDA). Material e Métodos: Estudo transversal descritivo contemporâneo com uma amostra de crianças e adolescentes submetidos à EDA no HCPA e no Hospital Moinhos de Vento de março de 2008 a fevereiro de 2009. Pacientes que apresentaram Hp através de exame histológico de fragmento de biópsia de antro gástrico e ou através do teste da urease tiveram outro fragmento da mesma região submetido à pesquisa de Hp e do gene cagA pela técnica polimerase chain reaction (PCR). Resultados: Foram diagnosticados 32 casos Hp positivo pela histologia. Destes, apenas 19 se confirmaram Hp positivo pela técnica de PCR (59,3%). Foram identificados 5 casos Hp positivo com presença do gene cagA (26,3%). 60% dos casos cagA positivos e 42,8% cagA negativos apresentavam gastrite nodular na EDA. Conclusão: A prevalência do gene cagA em crianças e adolescentes parece ser menor em relação aos adultos. Há necessidade de se estudar maior número de casos Hp positivo para entender melhor o comportamento desta infecção em crianças e adolescentes
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS (PMDC) NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE: FREQUÊNCIAS E FATORES DE RISCO
LUIZA BRUSIUS RENCK;CYNTHIA GOULART MOLINA; BÁRBARA MEDEIROS; BEATRIZ LEITE; BIANCA SARTURI FERNANDES; CAROLINA SOARES DA SILVA; CHRISTINE OLIVEIRA; ELISA CORDEIRO; FERNANDA FISCHER; FLÁVIA OHLWEILER PINHEIRO; FRANCIELE WEILER; JOANINE SOTILLI; JÚLIA RIBAR; XIMENA ROSA; LAURA DORNELLES; RENATA BERNARDI; MARÍLIA REINHEIMER; RODRIGO GHUYER; JÚLIO CÉSAR LOGUERCIO LEITE; ROBERTO GIUGLIANI
INTRODUÇÃO: O Programa de Monitoramento de Defeitos Congênitos (PMDC), em funcionamento no HCPA desde 1982, está vinculado ao Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC) e à Organização Mundial da Saúde (OMS), como centro colaborador. OBJETIVOS: Praticar o monitoramento da prevalência de defeitos congênitos (DC) ao nascimento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), visando à investigação clínica e epidemiológica de fatores associados à etiologia das anomalias congênitas. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo de caso-controle em andamento desde 1985. Todos os recém-nascidos vivos (RNV) e natimortos (NM) com mais de 500g são avaliados através de exame físico e/ou necropsia. Para cada RNV com diagnóstico de DC há um RNV seguinte, do mesmo sexo, como controle. As mães dos casos e dos controles respondem voluntariamente a um questionário aplicado por acadêmicos do curso de Medicina/UFRGS treinados. Os fatores de risco investigados incluem tabagismo, alcoolismo, diabetes mellitus prévia, idade materna, gemelaridade e consanguinidade. RESULTADOS: No período avaliado, 91.876 nascimentos foram registrados no HCPA, sendo 90.381 RNV e 1.501 NM. Obtiveram-se dados de 4.274 RNs com defeitos congênitos e 4.471 controles. Cerca de 5% dos RNV e aproximadamente 14% dos NM apresentaram defeitos congênitos. DM anterior à gestação, gemelaridade e idade materna associaram-se a discreto aumento na ocorrência de DC. CONCLUSÕES: O estudo PMDC/ECLAMC é fundamental para o controle da prevalência e fatores de risco para DC na nossa população. A monitorização permanente auxilia a implantação de medidas públicas de saúde com a finalidade de prevenir o nascimento de recém-nascidos portadores de defeitos congênitos e assim reduzir a taxa de mortalidade infantil.
USO DA MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL PARA PREDIZER OBESIDADE EM PRETERMOS DE MUITO BAIXO PESO AO NASCER
NAYANE FERNANDES CLIVATTI;LUCIANA ALONZO HEIDEMANN; RITA DE CÁSSIA SILVEIRA; LUCIANA TEIXEIRA FONSECA
INTRODUÇÃO: A obesidade, a grande epidemia mundial, também está atingindo a faixa etária sob cuidado dos pediatras. É fundamental realizar um diagnóstico precoce, já que a obesidade está associada a importantes repercussões metabólicas (diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares), que são dependentes de sua duração e gravidade. Estes distúrbios metabólicos não dependem apenas do grau de obesidade, mas principalmente da distribuição da gordura corporal. Estudos mostram que
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 368
a circunferência abdominal é um melhor indicador de gordura visceral do que o Índice de Massa Corporal em crianças. É visto também uma associação positiva entre baixo peso ao nascer e IMC elevado e síndrome metabólica na idade adulta. OBJETIVO: Verificar se existe alteração na medida da circunferência abdominal aos dois anos de idade corrigida em crianças nascidas prematuras de muito baixo peso (PN<1500g). MÉTODO: Foi realizada a aferição da circunferência abdominal em todas as crianças que fazem acompanhamento no ambulatório de seguimento de prematuros do Hospital de Clínicas de Porto Alegre ao completarem dois anos de idade corrigida. Valor maior ou igual ao percentil 90 para o sexo e a idade é considerado alterado. RESULTADOS: Cento e vinte crianças nascidas entre Novembro de 2003 e Dezembro de 2006 foram analisadas. Destas, vinte e quatro apresentaram circunferência abdominal maior ou igual ao percentil 90 (20%). CONCLUSÃO: Um aumento da circunferência abdominal já se mostra presente na fase pré-escolar das crianças nascidas prematuras. É imprescindível a busca desta alteração nesta faixa etária, o que nos permite intervir para minimizar problemas futuros.
PERFIL DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS DE MÃES COM PRÉ-ECLÂMPSIA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
ANA PAULA VARGAS;ANA PAULA ROSIAK;FAIRUZ HELENA SOUZA DE CASTRO;FABRÍZIA FAULHABER;RITA DE CÁSSIA SILVEIRA; RENATO PROCIANOY
Introdução: Recém-nascidos de mães com pré-eclâmpsia apresentam risco aumentado de complicações neonatais, como prematuridade,alterações hematológicas e sepse neonatal. Descrições também apontam neutropenia e trombocitopenia ao nascimento. Objetivos: Descrever as alterações hematológicas, ocorrência de sepse neonatal em recém-nascidos prematuros de mães com pré-eclâmpsia. Materiais e Métodos: Coorte de recém-nascidos prematuros de mães com pré-eclâmpsia, nascidos no HCPA no período de março de 2008 a março de 2009. Exclusão: malformações congênitas, síndromes cromossômicas, peso de nascimento (PN)> 2000 gramas. Estudo aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Instituição. Teste T student, qui-quadrado, percentuais.: p<0.05, foi significativo. Resultados: Foram estudados 31 prematuros, com idade gestacional (IG) de 32.5± semanas e PN de 1421± gramas. Parto cesáreo ocorreu em 90% (28/31) dos casos, ROPREMA em 13% e infecção ovular/ITU em 16% dos casos. Antibioticoterapia utilizada por 51% dos prematuros (16/31). Hemocultura positiva em 9.7% (3/31). Trombocitopenia em 48% (15/31) ,e necessidade de transfusão de plaquetas em 2 casos. Neutropenia ocorreu em 29% (9/31), prescrito filgrastima em 6 prematuros. Transfusão de concentrado de hemácias em 35% (11/31) dos prematuros. A mortalidade foi de 22.5% (7/31) e destes, 100% possuíam alterações hematológicas, transfundiram hemoderivados e usaram antibióticos, sendo que apenas 1 recém-nascido apresentava hemocultura positiva. O PN e IG foram significativamente menores entre os óbitos (PN= 935± g e IG= 30.5 ± semanas). Conclusão: Recém-nascidos prematuros filhos de mães com pré-eclâmpsia apresentam elevada incidência de alterações hematológicas e estas podem associar-se a morbidades e maior mortalidade.
TENDÊNCIAS SECULARES DO BAIXO PESO AO NASCIMENTO E DE NASCIMENTOS PRÉ-TERMOS E SUAS REPERCUSSÕES NO RETARDO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO EM PORTO ALEGRE
ALESSANDRA RIVERO HERNANDEZ;MARILYN AGRANONIK; MARCELO ZUBARAN GOLDANI; CLÉCIO HOMRICH DA SILVA
Introdução: O baixo peso de nascimento (BPN) e a prematuridade têm sido considerados fatores de risco para a morbi-mortalidade infantil, afetando os padrões de saúde e doença durante o curso de vida. Objetivo: avaliar as tendências seculares de BPN e dos nascimentos de pré-termos e suas contribuições para a taxa de restrição de crescimento intrauterino (RCIU) em Porto Alegre nos últimos 15 anos. Materiais e Métodos: O estudo teve como base as Declarações de Nascidos Vivos, através das quais foram analisadas as variáveis: peso de nascimento e idade gestacional de todos os recém-nascidos únicos maiores de 500 gramas entre 1994 e 2008. Por meio de regressão linear, avaliou-se as tendências de BPN e das taxas de nascimento de pré-termos. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Resultados e Conclusões: Ocorreram 312.662 nascimentos de parto único observando-se uma redução expressiva (23,5%) do número total de nascidos vivos entre 1994 e 2008. Verificou-se um aumento
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 369
significativo na taxa de BPN e na taxa de nascimento de pré-termos, de 8.7% para 9.2% e de 7.0% para 9.8%, respectivamente (p = 0,015; p < 0,001). Enquanto isso houve reduções importantes na taxa de BPN entre os nascidos à termo (4,8 para 3,8%) e pré-termo (60,7 para 58,4%). Estes resultados indicam que Porto Alegre encontra-se em transição demográfica e epidemiológica, caracterizada por uma diminuição importante no número de nascidos vivos. Também observa-se um aumento do BPN devido à elevação significativa na taxa de nascimentos de pré-termos associada a uma redução na taxa de RCIU, principalmente entre nascidos a termo (p < 0,001). Este panorama sinaliza para prováveis modificações nos padrões de saúde e doença na vida em adultos no futuro.
PERFIL DO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS CEREBROVASCULARES DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
SÓCRATES SALVADOR;RICARDO DE MORAES RIBEIRO;FLAVIA OHLWEILER PINHEIRO; LUIZA VIEIRA DA SILVA MAGALHÃES; LAURIZE PALMA HENDGES; LYGIA OHLWEILER; MARIA ISABEL BRAGATTI WINCKLER; JOSIANE RANZAN; RUDIMAR DOS SANTOS RIESGO
Introdução: As doenças cerebrovasculares estão entre as dez principais causas de mortalidade na infância e, além disso, têm elevada morbidade. Acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) e trombose de seio venoso (TSV) são suas maiores representantes. O AVCI é a patologia cerebrovascular mais prevalente e sua incidência varia de 2,2 – 13 casos/ 100.000 crianças/ano. No período neonatal, a prevalência do AVC é de 1/4000 nascidos vivos. A etiologia do AVCI é, na maioria das vezes, multifatorial, ao contrário do ACVH. Apesar dos avanços na medicina, o AVC na infância ainda é subdiagnosticado no nosso meio. Objetivo: Descrever a prevalência dos tipos de doenças cerebrovasculares, o sexo e a idade no momento do evento, dos pacientes atendidos no ambulatório . Pacientes e Métodos: Foram incluídos pacientes com idades de zero a 18 anos com diagnóstico de doença cerebrovascular, confirmados por neuroimagem, em acompanhamento no Ambulatório de Doenças Cerebrovasculares da Infância no período de março/2002 a junho/2009. Resultados: Do total de 137 pacientes, 86.1% tiveram AVCI, 6.6% AVCH, 5.8% TSV e 1,5% apresentaram outras patologias vasculares. Em relação ao sexo, 53% da amostra total são meninas. Dos pacientes com AVCI a mediana da idade encontrada é de 7 meses enquanto que a média é de 27,8 meses. No AVCH e na TSV as medianas foram respectivamente, 56,5 meses e 0 meses (menos de 30 dias de vida). No período de acompanhamento, houve entre os pacientes estudados, 4 óbitos nos casos de AVCI e 1 óbito nas TSVs. Conclusão: O resultados obtidos ressaltam a importância da doença cerebrovascular na investigação dos quadros neurológicos da infância, especialmente, do AVCI nos primeiros anos de vida.
MANIFESTAÇÕES INCOMUNS DA PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN: RELATO DE CASO
KAREN REGINA ROSSO SCHONS;VANESSA VALESAN; FERNANDA VARGAS BIZOTTO; MARIA SONIA DAL BELO; SAIONARA ZAGO BORGES
A Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) é a vasculite sistêmica mais comum da infância, caracterizada por púrpura não-trombocitopênica palpável, que predomina em membros inferiores e nádegas. Sua incidência é de aproximadamente 10 casos por 100.000 crianças ao ano. Comprometimento gastrintestinal é freqüente (50-85%), enquanto que manifestações neurológicas (2-8%) e envolvimento testicular (2-38%) são excepcionais. O objetivo do relato é atentar para algumas manifestações incomuns da PHS. Menino de dois anos iniciou o quadro com erupção maculopapular purpúrica, simétrica, predominantemente em membros inferiores e em tronco, acompanhada de artralgias e edema periorbitário e de couro cabeludo, na ausência de plaquetopenia. Evoluiu com sangramento digestivo importante, quadro de escroto agudo por orquiepididimite e acometimento neurológico. O enfoque do tratamento foi a corticoterapia, e após 22 dias de internação teve alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial, sem recidivas até o momento. O diagnóstico de PHP foi estabelecido conforme os critérios do Colégio Americano de Reumatologia (dois ou mais critérios perfazem sensibilidade de 87.1% e especificidade de 87.7%). A PHS ocorre principalmente em meninos, entre os cinco e 15 anos. As lesões cutâneas classicamente aparecem de modo simétrico nem nádegas e face extensora dos membros inferiores. O edema do couro cabeludo e face é característico das crianças menores. É fundamental que o envolvimento testicular, mesmo sendo
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 370
incomum, seja lembrado como parte do quadro da vasculite, evitando conduzir o paciente a procedimentos invasivos desnecessários. Além disso, como a doença pode recidivar, ainda que com menor freqüência que no adulto, faz-se necessário seguimento ambulatorial, com especial atenção para o acometimento renal.
IMPACTO DE MEDIDAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO USO DE CONDOM NA SEXARCA POR ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE PORTO ALEGRE
MANOELA CHITOLINA VILLETTI;ROBERTA FERLINI; KIZZY LUDNILA COREZOLA; ALBERTO SCOFANO MAINIERI
Introdução: Frente ao aumento do número de gestações não planejadas e doenças sexualmente transmissíveis entre adolescentes, faz-se necessário a identificar medidas eficazes que conduzam os adolescentes a usarem condom. Objetivo: Avaliar o impacto de ações sequenciais educativas de valorização da vida no uso de condom entre jovens. Métodos: Entre os anos de 2002 e 2005, foram realizadas 6 oficinas anuais de educação sexual com jovens entre 10 e 18 anos, alunos de uma escola estadual de Porto Alegre. Um questionário padrão, auto-aplicável, foi preenchido pelos estudantes, de forma individual e sigilosa, em 2002 e em 2005, após os encontros terem ocorrido. Em 2008, esse mesmo questionário foi aplicado a alunos da mesma faixa etária e da mesma escola, os quais não haviam participado de nenhuma oficina. Um estudo transversal prospectivo foi então realizado, para avaliar as três amostras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética do HCPA. Resultados: A porcentagem de jovens sexualmente ativos que usaram condom na sexarca em 2002, 2005 e 2008 foi respectivamente 14,3% , 93,3% e 60,0%. A porcentagem em 2002 é significativamente menor que em 2005 e a de 2008 não difere estatisticamente dos outros dois anos. Conclusão: Entre os jovens avaliados, houve um aumento significativo no uso de condom na sexarca entre os anos de 2002 e 2005. Em 2008, houve uma redução nesta taxa, embora não retornando aos níveis encontrados em 2002. Frente a esses resultados, pode-se inferir que um trabalho educativo seqüencial interativo e estruturado, visando mudanças comportamentais e no grau de conhecimento dos adolescentes sobre aspectos sexuais, tem impacto positivo no uso de condom na sexarca.
HÁBITOS DE VIDA DE ESCOLARES APÓS UM PROGRAMA DE INCENTIVO A PRÁTICAS SAUDÁVEIS
GABRIELA KOGLIN;MARIUR GOMES BEGHETTO; CRISTIANE FRANCO DE OLIVEIRA; GABRIELA FEIDEN; ELZA DANIEL DE MELLO
Introdução: Práticas saudáveis de vida devem ser adotadas o mais precocemente possível. O aconselhamento profissional provê informações coerentes e de fácil assimilação pelas crianças. Objetivo: Verificar a melhora no estilo de vida de escolares após a participação em um programa de incentivo à adoção de práticas de vida saudável. Materiais e métodos: Foram avaliadas crianças de 5ª, 6ª e 7ª séries de um colégio privado de Canoas, RS. Elas participaram ao longo do ano letivo de 2008 de aulas sobre hábitos saudáveis de vida e responderam o mesmo questionário padronizado sob orientação dos pesquisadores ao início e ao final do programa. As variáveis foram descritas conforme sua distribuição. O projeto foi aprovado pelo CEP/HCPA. Resultados: Os alunos tinham 11 ± 1 anos no início do programa, sendo predominantemente meninos (55,8%). A maioria referiu morar com os pais e irmãos (41,6%). Muitos já praticavam esporte (73,2%) e/ou faziam alguma atividade física (88,9%) à primeira avaliação, o que foi mantido na segunda (P= 1,00 e P= 0,75), com 11,3% e 5,6% a mais das crianças passando a realizar, respectivamente, essas atividades. Com relação ao tempo gasto com televisão, videogame e computador, não houve diferença estatística significativa (P= 0,072), porém, a mediana reduziu de 8h (5 - 12) para 7h (4 - 8). A quantidade de crianças que referiu dormir à tarde também não mudou estatisticamente (P= 0,383), mas a quantidade de horas sim (P= 0,027). Mesmo sem significância estatística (P= 0,145), as horas de sono à noite aumentaram de 7:52h (7 – 8:15) para 8h (7:25 – 8:30). Conclusão: Apesar do conhecimento exposto durante as aulas, a mudança na rotina foi pequena. Este fato pode ser explicado pelo pouco tempo de seguimento e os resultados podem não ser devido às intervenções.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 371
EVOLUÇÃO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PRIVADA DE CANOAS, RS
GABRIELA KOGLIN;MARIUR GOMES BEGHETTO; CRISTIANE FRANCO DE OLIVEIRA; GABRIELA FEIDEN; ELZA DANIEL DE MELLO
Introdução: Os hábitos de vida das crianças têm se modificado nas últimas décadas. A má alimentação, associada à inatividade física pode contribuir para obesidade infantil e aparecimento de doenças crônicas. Objetivo: Avaliar a evolução de parâmetros antropométricos após um programa de incentivo à adoção de alimentação saudável e atividade física. Materiais e Métodos: Foram submetidas à avaliação crianças de 5ª, 6ª e 7ª séries de uma escola privada de Canoas, RS. As medidas antropométricas foram coletadas no primeiro e no segundo semestre do ano letivo de 2008, antes e após serem ministradas aulas sobre hábitos saudáveis de vida e de alimentação. As variáveis foram analisadas através de testes não-paramétricos. O projeto foi aprovado pelo CEP/HCPA. Resultados: Foram avaliadas 73 crianças com idade de 11 ± 1 anos. O Índice de Massa Corporal permaneceu proporcional à primeira avaliação (P=0,445), sendo que 9,58% das crianças passaram a ser eutróficas e nenhuma foi classificada como desnutrida. A Relação Cintura-Quadril não mostrou significância estatística (P=0,941). Por outro lado, a comparação da Circunferência Muscular do Braço foi significativa (P=0,000), com mediana de 18,26cm (17,09 – 20,02) na primeira avaliação e 17,59cm (16,20 – 18,96) na segunda avaliação. Houve redução da Pressão Arterial (P=0,021), com nove crianças não sendo mais classificadas como hipertensas. Elevado percentual de gordura corporal foi encontrado em 93,2% e 84,9% das crianças em cada avaliação (P=0,031). Conclusão: Devido à fase de crescimento, era esperado que medidas como peso, altura, cintura e quadril se modificassem ao longo do ano. O percentual de gordura e a pressão arterial sofreram redução significativa, mostrando uma possível melhora devido a práticas saudáveis adotadas.
MOTIVO DE ADMISSÃO DE PACIENTES INTERNADOS EM UTI PEDIÁTRICA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO TERCIÁRIO AO LONGO DE CINCO ANOS
FELIPE GUTIÉRREZ CARVALHO;FERNANDA SCARPA;MICHEL GEORGES HALAL;ELIANA DE ANDRADE TROTTA;PAULO ROBERTO ANTONACCI CARVALHO
Introdução. Os motivos de admissão em UTI variam em função de inúmeras demandas, como características das populações assistidas e especificidades das unidades consideradas: ensino, assistência terciária, referência especializada e tratamento de alta complexidade. Objetivo. Descrever os motivos de admissão mais prevalentes entre os pacientes internados na UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre ao longo de cinco anos. Material e Métodos. Estudo transversal, observacional, baseado no registro de admissões e no banco de dados daquela unidade, incluindo todas as crianças admitidas na UTI pediátrica no período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2006. Foram consideradas as variáveis sexo, idade, doença de base, motivo de admissão, tempo de permanência, probabilidade de morte na admissão (PIM – Pediatric Index Mortality) e desfecho. A classificação dos motivos de admissão foi baseada no primeiro registro médico da situação determinante da necessidade de cuidados intensivos. Resultados. Foram avaliadas 2494 admissões de pacientes (média = 499/ano), com mediana de idade de 1,4 anos (IQ: 0,42-5,17), 54,6% do sexo masculino, mediana do PIM 1,94% (IQ:1,0-6,76) e mediana de permanência na UTI 3 dias (IQ: 2-7). Os motivos de admissão mais prevalentes no período foram: disfunção respiratória - 36%, pós-operatório – 18%, sepse – 9,5% e choque – 9%. Conclusão. A distribuição dos pacientes nos grupos de motivo de admissão mostrou nítida redução naqueles de sepse e de meningite / meningococcemia, leve aumento naqueles de pós-operatório e de insuficiência hepática e não alteração naqueles de disfunção respiratória, de choque e de crises convulsivas.
DOENÇA DE BASE DE PACIENTES ADMITIDOS EM UTI PEDIÁTRICA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO TERCIÁRIO AO LONGO DE CINCO ANOS
FELIPE GUTIÉRREZ CARVALHO;FERNANDA SCARPA;MICHEL GEORGES HALAL;ELIANA DE ANDRADE TROTTA;PAULO ROBERTO ANTONACCI CARVALHO
Introdução. O avanço da Medicina nas últimas décadas resultou em crescente morbidade de pacientes que no passado não teriam sobrevivido. O desenvolvimento de centros de referência para
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 372
inúmeros grupos de doenças decorreu da necessidade de cuidados diferenciados desses segmentos da população. Objetivo. Descrever os grupos de doença de base mais prevalentes entre os pacientes admitidos na UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre ao longo de cinco anos. Material e Métodos. Estudo transversal, observacional, baseado no registro de admissões e no banco de dados daquela unidade, incluindo todas as crianças admitidas na UTI pediátrica no período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2006. Foram consideradas as variáveis sexo, idade, doença de base, motivo de admissão, tempo de permanência, probabilidade de morte na admissão (PIM – Pediatric Index Mortality) e desfecho. A classificação em grupos de doença de base levou em consideração o comprometimento prévio de sistema orgânico. Resultados. Foram analisadas 2494 admissões de pacientes (média = 499/ano), com mediana de idade de 1,4 anos (IQ: 0,42-5,17), 54,6% do sexo masculino, mediana do PIM 1,94% (IQ:1,0-6,76) e mediana de permanência na UTI 3 dias (IQ: 2-7). De 14 a 24% dos pacientes admitidos apresentava doença de base na admissão. Os grupos de doença de base mais prevalentes no período foram: neurológica 40%, respiratória 23%, onco-hematológica 18% e digestiva 11%. Conclusão. Ao longo de cinco anos, a distribuição dos pacientes nos grupos de doença de base por sistemas mostrou tendência de aumento naqueles de doença neurológica e digestiva, tendência de redução naqueles de doença genético-metabólica e onco-hematológica e não alteração naqueles de doença respiratória e cardiovascular.
PERFIL DE GRAVIDADE DOS PACIENTES ADMITIDOS EM UTI PEDIÁTRICA UNIVERSITÁRIA TERCIÁRIA AO LONGO DE CINCO ANOS
FELIPE GUTIÉRREZ CARVALHO;FERNANDA SCARPA;MICHEL GEORGES HALAL;ELIANA DE ANDRADE TROTTA;PAULO ROBERTO ANTONACCI CARVALHO
Introdução. Comparar gravidade de pacientes em UTIs é uma tarefa desafiadora entre os intensivistas. Têm sido utilizados índices que incluem variáveis fisiológicas dos pacientes ou tipos e quantidade de terapias utilizadas, os quais indicam a probabilidade de morte para grupos de pacientes. Objetivo. Avaliar a variação no perfil de gravidade dos pacientes admitidos na UTI pediátrica do HCPA no período de 2002 a 2006. Material e métodos. Estudo transversal, observacional, baseado no registro de admissões e no banco de dados daquela unidade, incluindo todas as crianças admitidas na UTI pediátrica no período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2006. Foram consideradas as variáveis sexo, idade, doença de base, motivo de admissão, tempo de permanência, probabilidade de morte na admissão (PIM – Pediatric Index Mortality) e desfecho. Os pacientes foram classificados em cinco categorias de risco de morte: <1%, 1-5%, 5-15%, 15-30% e >30%. Resultados. Foram analisadas 2494 admissões de pacientes (média = 499/ano), com mediana de idade 1,4 anos (IQ: 0,42-5,17), 54,6% do sexo masculino e mediana de permanência na UTI 3 dias (IQ: 2-7). A probabilidade geral de morte estimada pelo PIM no período foi de 7,2%, enquanto a taxa de morte observada foi de 10,2%. Comparando os anos de 2002 e 2006: o PIM médio das admissões foi de 8,0% e 8,85%, enquanto a taxa de óbitos observada foi de 8,3% e 13,6%, respectivamente; na categoria de menor gravidade (PIM < 1%) houve redução de 55% da população enquanto na de risco médio (PIM 1-5%) houve aumento de 45%. Conclusão. Ao longo de cinco anos, houve aparente aumento na gravidade dos pacientes admitidos na UTI pediátrica do HCPA, de acordo com a taxa de probabilidade de óbito na admissão e a taxa de óbitos observados na internação.
HEPATITE DE CÉLULAS GIGANTES ASSOCIADA À ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE RESPONSIVA À IMUNOSSUPRESSÃO
MIRELLA CRISTIANE DE SOUZA;PAULA XAVIER PICON, MARINA ROSSATO ADAMI, FERNANDA TREICHEL KOHLS, MÁRCIO PEREIRA MOTTIN, CRISTINA TARGA FERREIRA, SANDRA MARIA GONÇALVES VIEIRA, CARLOS OSCAR KIELING, JORGE LUIZ DOS SANTOS, HELENA AS GOLDANI
Introdução:Hepatite de células gigantes (HCG) associada à anemia hemolítica autoimune é uma desordem rara, grave, de início na infância e cuja patogênese parece estar relacionada a fenômenos autoimunes. Habitualmente, a doença evolui de forma progressiva, havendo baixa resposta ao uso de imunossupressores. Objetivo: Descrever a evolução de um caso de hepatite de células gigantes associado à anemia hemolítica autoimune responsivo ao uso de corticosteróide e azatioprina. Métodos e Resultados:Menino, 10meses, negro, internou com 1mês de vida em outro hospital por
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 373
colestase, anemia e hepatoesplenomegalia. Excluiu-se diagnóstico de atresia de via biliar e detectou-se anemia hemolítica, coombs positivo. Internou no HCPA para avaliação diagnóstica aos 3meses. Exames complementares: sorologias virais negativas, alfa -1- antitripsina sérica 192, Hb 9,0g/dL, AST 902 U/L, ALT 282 U/L,BT 28,9mg/dL , BD 21,2mg/dL FA 299 U/L, GGT 38 U/L, albumina 3,9 g/dL, LDH 526, reticulócitos 4,81%, FAN negativo. Realizou biópsia com histologia compatível com transformação giganto-celular difusa. Iniciou tratamento com prednisolona 2mg / kg /dia e, após 2 meses de tratamento, apresentava Hb 9,1g/dL, AST 144 U/L, ALT 69U/L, BT 6,9mg/dL , BD 4,9mg/dL, FA 367U/L, GGT 80U/L,albumina 3,7g/dL. Após 2 meses de tratamento, iniciou com azatioprina e retirada simultânea gradual do corticóide.Atualmente, após 4 meses de tratamento com azatioprina (5mg / dia) e prednisolona (1mg/ kg/ dia), mantém melhora clínica e laboratorial (AST 57 U/L; ALT 26U/L ; BT 2,6mg/dL ;BD 1,6mg/dL; Hb11,3g/dL) Conclusão: São raros os relatos de HCG e anemia hemolítica auto-imune, nem todos responsivos à terapia imunossupressora. No presente caso, houve resposta satisfatória ao uso de corticóides e azatioprina no período observado.
DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG: RELATO DE CASO
HENRIQUE OLIANI JÚNIOR;CARLOS ORLANDO FETT SPARTA DE SOUZA, ROGER HEISLER
Introdução:A Doença de Hirschsprung ( Megacólon Congênito ) é causada pela falha na migração das células ganglionares colônicas durante a gestação. É caracterizada por obstrução funcional do intestino, com incapacidade peristáltica propulsora, que levará a uma distensão do intestino proximal e hipertrofia de suas paredes. A complicação mais freqüente é enterocolite. Objetivo: Fazer um relato de caso clínico e breve revisão bibliográfica. Material e métodos: Revisão prontuário da paciente e busca no portal Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde. Resultados: Paciente de 1 ano e 6 meses, feminino, acompanhado de sua mãe, que refere como queixa principal constipação. Esteve internado previamente em abril de 2009. Trazida a Emergência naquela ocasião por estar prostrada, febril, com tosse produtiva, abdome muito distendido e constipação que não respondia a enemas. Para o quadro, foi administrado ATB e realizada biópsia retal, após outros exames, diagnosticando Doença de Hirschsprung. Após nascer, ficou 7 dias sem evacuar. Evacuava dias intercalados, no entanto com uso concomitante de supositório até 3 vezes por semana, prescrito pelo médico do posto ao nascimento. Suas fezes são secas, duras e, eventualmente, com pequena quantidade de sangue. Nega vômitos. No entanto, aos 6 meses de idade, o supositório não lhe trazia mais “alívio”. No posto de saúde, também foi solicitada interconsulta com a gastroenterologia pediátrica, mas foi marcada somente para quase um ano depois. Desde então, vem acompanhando somente no posto. Internou em agosto para cirurgia corretiva da Doença de Hirschsprung ( abaixamento de cólon por via sagital posterior ). Conclusão: A Doença de Hirschsprung representa enfermidade rara. O Diagnóstico definitivo é feito pela biópsia da parede retal. O tratamento é cirúrgico e se resume na retirada do segmento denervado, com reconstrução imediata do trânsito intestinal.
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM CRIANCA PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO E IMUNOSSUPRESSAO COM TACROLIMUS
MARINA ROSSATO ADAMI;FERNANDA T. KOHLS; MÁRCIO P. MOTTIN; PAULA X. PICON; MIRELLA C. SOUZA; SANDRA M. G. VIEIRA; JORGE L. DOS SANTOS; HELENA GOLDANI; CRISTINA T. FERREIRA; CARLOS O. KIELING; MARIA L. ZANOTELLI
OBJETIVO: A exacerbação da doença inflamatória intestinal (DII) ou seu desenvolvimento após transplante (Tx) é relatada em adultos e pode relacionar-se com uso de imunossupressores e infecção por citomegalovirus (CMV); no entanto esta associação e incomum em criancas. Descrevemos um paciente com diagnostico de DII após Tx hepático por atresia de vias biliares extra-hepatica (AVBEH). METODO E RESULTADO: Menina, 9 anos, internou com epigastralgia, vômitos e emagrecimento há 2 meses. Tx hepático por AVBEH há 8 anos e primoinfecção por CMV 1 ano pós-Tx. Imunossupressão com tacrolimus. História familiar: pai com doença de Crohn. Exames durante internação: Ecografia abdominal - espessamento de paredes cecais, sem apendicite. Laboratório: Hb 10; VSG 60; PCR 63,6. Trânsito intestinal: atenuação do relevo mucoso e leve estreitamento no íleo terminal. Ceco e cólon ascendente com estenose de calibre irregular. Colonoscopia: estenose próxima ao ângulo hepático; transverso, descendente e sigmóide com ulcerações. Histologia compatível com doença de Crohn. Pesquisa de BAAR e fungos negativas. Iniciado tratamento com azatioprina (2,5 mg/kg/dia) e prednisolona (2 mg/kg/dia), mantido tacrolimus. Atualmente esta
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 374
assintomática em redução de prednisona e com provas hepáticas normais. CONCLUSÕES: Descrevemos a associação de doença de Crohn e transplante hepático em um paciente pediátrico que apresentava como fatores de risco o uso de tacrolimus como imunossupressor primário, infecção por CMV e historia familiar de DII. O conhecimento da relacao entre o desenvolvimento de doenças imunes no curso do transplante de órgãos sólidos ainda é limitado; entretanto, o uso de imunossupressão poderia interferir na tolerância da microflora nativa (Verdonk et al., 2006; Hampton et al., 2008).
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-DEMOGRÁFICAS DOS PACIENTES DO REGISTRO DE CÂNCER INFANTIL DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
MARYELLE LIMA GAMBOA;JOELMA FREITAS; JONATAN BAPTISTA; VIVIAN HOFFMANN; ALGEMIR LUNARDI BRUNETTO
Introdução: No Brasil, o câncer infantil é considerado a terceira maior causa de mortalidade entre crianças e adolescentes. Com base nesta informação, a importância dos dados coletados nos registros hospitalares serve como fonte complementar para o conhecimento desta neoplasia. Objetivo: Descrever as características clínico-demográficas dos pacientes atendidos pelo Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Método: Estudo descritivo retrospectivo realizado através da revisão do banco de dados do Registro de Câncer Infantil incluindo 1.259 pacientes atendidos na instituição no período de Nov/1990 a Jun/2009. Resultados: Entre os pacientes analisados, há predomínio do sexo masculino (59.7%), da raça branca (94.5%) e da faixa etária dos 0 a 21 anos de idade. A maioria dos pacientes é proveniente do estado do Rio Grande do Sul (96.6%), sendo que destes 72.2% são do interior do Estado e 24.4% são da Capital. Os tipos mais freqüentes de câncer infantil são leucemias seguidos de linfomas, tumores do sistema nervoso central, sarcomas de partes moles e tumores ósseos. A análise dos dados mostrou que 78.9% dos pacientes encontram-se vivos e 21.1% evoluíram a óbito. Conclusão: De acordo com outros estudos retrospectivos na literatura, o sexo masculino, a raça branca e o diagnóstico de leucemia também são as principais características clínico-demográficas entre pacientes portadores de câncer infantil. Além disso, como a maior parte destes pacientes é oriunda do interior do Estado e necessita permanecer em Porto Alegre para o tratamento, o Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre conta com o apoio e a assistência do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul para assegurar a continuidade deste tratamento. Os altos índices de sobrevida representam avanços no diagnóstico e tratamento disponíveis em centros de referência para a especialidade.
CONVULSÃO FEBRIL: SEGUIMENTO NEUROLÓGICO E RISCO PARA EPILEPSIA
LUIZA VIEIRA DA SILVA MAGALHÃES;CAMILA DOS SANTOS EL HALAL; SÓCRATES SALVADOR; DAISE MARIA DALBONI ROCHA; SUELI MARIA TELES; JOSIANE RANZAN; LYGIA OHLWEILER; MARIA ISABEL BRAGATTI WINCKLER; RUDIMAR SANTOS RIESGO
a) Introdução: As crises febris ainda hoje permanecem com interrogações quanto ao manejo e prognóstico, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de epilepsia. Sabe-se que 5% de todas as crianças entre 3 meses e 5 anos de idade podem ter uma crise febril e destas até 7% podem apresentar epilepsia no futuro. b)Objetivos: Avaliar características da primeira crise febril e os possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de epilepsia em nosso meio. c) Material e métodos: Crianças de 3 meses a 5 anos são encaminhadas ao ambulatório após a primeira crise febril, onde os pais leem e preenchem o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo respondido um formulário no qual se indicam variáveis como características demográficas, tipo de crise, antecedentes gineco-obstétricos, desenvolvimento neuropsicomotor, história familiar, exame neurológico e exames complementares. O seguimento é de, no mínimo, 2 anos com avaliações a cada 3 ou 6 meses, com o intuito de detectar recorrências de crises febris e/ou não-provocadas. Está recebendo auxílio do FIPE. d) Resultados e conclusões: Até o momento foram avaliadas 77 crianças, na faixa de 3 a 48 meses, com predomínio do sexo masculino (52%). As crises febris simples representaram 84%. Todas as crianças apresentaram desenvolvimento neuropsicomotor normal no seguimento. O índice de recorrência de crises febris foi de 60% e de crises não provocadas 14%. Sessenta e quatro por cento dos casos realizaram eletroencefalograma e destes, 26% apresentaram alterações. O ambulatório de seguimento de crises febris contribui para esclarecer o que ocorre com
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 375
estes pacientes para que, mesmo sob a ideia de benignidade, se possa demonstrar as crises de prognóstico mais reservado.
AVALIAÇÃO DAS NUTRIÇÕES PARENTERAIS PRESCRITAS PARA RECÉM-NASCIDOS
ROBERTA FERLINI;MARIUR BEGHETTO; ELZA MELLO
Introdução: A terapia nutricional com nutrição parenteral (NP) é essencial no tratamento intra-hospitalar do recém-nascido (RN). Para tanto, torna-se fundamental ajustá-la às necessidades calóricas do RN. Objetivo: Caracterizar a NP de RN de um hospital de referência para esta terapêutica. Materiais e método: Entre maio e julho de 2008, um investigador treinado acompanhou e revisou prontuários de RN deste hospital. Resultados: Foram acompanhados 39 RN com idade mediana de 6 (IQ: 4–11) dias, sendo 41% meninos, 10,3% gemelares e idade gestacional de 33±4,3 semanas. O peso mediano foi 1965 (IQ: 1090-2395)g, sendo 46,2% entre 1500-2000g, 15,4% entre 1000 e 1500g e 15,4% abaixo de 1000g. Foram realizados procedimentos cirúrgicos em 38,5% dos RN e 7,7% submeteu-se a mais de uma cirurgia. Os RN usaram NP por 17,2 (IQ: 9,6-27,7) dias, recebendo 57±12cal/Kg/d em uma proporção média de proteínas de 17,5±2,7, de lipídeos de 30,3±7,9 e de glicose de 52,3±7,6, a despeito do uso de NP exclusiva ou não. NP exclusiva foi usada por 33,3% dos RN. Baixo peso e NPO prolongado (33,4% cada) foram as principais indicações de NP. Quatorze RN usaram mais de um cateter e PICC foi o mais usado no 1º (64,1%) e 2º (57,1%) cateteres. Os cateteres foram inseridos em veias de membros superiores (46,2%) e inferiores (30,8%), subclávia e jugular (15,4%) e umbilical (7,7%). O acompanhamento foi descontinuado por suspensão da NP (64,1%), óbito (30,8%) ou transferência (5,1%). Na internação, 46,2% dos RN apresentou alguma infecção e 6 RN apresentaram 2 ou mais eventos infecciosos. Conclusão: Apesar da apropriada indicação de uso, baixa densidade calórica está sendo ofertada pela NP.
CEFALÉIA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA REALIDADE LOCAL
DAISE MARIA DALBONI ROCHA;EDUARDO MONTAGNER DIAS; NORMA MARTINS DE MENEZES MORAIS; LAURIZE PALMA HENDGES; MARIELE OICHENAZ; RICARDO DE MORAES RIBEIRO; SÓCRATES SALVADOR; JOSIANE RANZAN; MARIA ISABEL BRAGATTI WINCKLER; LYGIA OHLWEILER; RUDIMAR SANTOS RIESGO
Introdução: Cefaléia é uma queixa frequente nos atendimentos pediátricos. A grande preocupação é fazer o diagnóstico correto entre cefaléias primárias ou secundárias. Objetivos: Descrever os casos de cefaléia na infância e adolescência, atendidos no ambulatório de Neuropediatria do HCPA, frente a seus diagnósticos. Materiais e métodos: Foram revisados os protocolos dos pacientes acompanhados no referido ambulatório, de jun/2007 a jun/2009. As variáveis estudadas foram idade, sexo, história familiar e diagnóstico do tipo de cefaléia, e os pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo com a faixa etária, conforme a OMS. Resultados: Foram incluídos 125 pacientes de 4 a 19 anos, sendo 54% meninas e 46% meninos, com 22 pacientes ainda em investigação diagnóstica. A maioria (83%) tinha história familiar positiva para cefaléia, entre parentes de 1º e 2º graus. Entre crianças e adolescentes, 63% tiveram diagnóstico de migrânea; 20% de cefaléia tensional; 2% de outras cefaléias primárias; e 15% de cefaléia secundária. Quando subdividimos os diagnósticos por idade, os grupos A (4 a 9 anos) e B (10 a 19 anos) eram compostos, respectivamente, por 47% e 69% com migrânea; 25% e 18% com cefaléia tensional; 3% e 1% com outras cefaléias primárias; e 25% e 12% com cefaléia secundária. Conclusão: Nesta amostra de pacientes, o diagnóstico mais encontrado foi de migrânea, contrapondo dados da literatura, onde o tipo de cefaléia mais prevalente é a cefaléia tensional. Isto pode ser explicado por se tratar de um serviço de referência e por ser a migrânea uma doença que interfere mais na qualidade de vida dos pacientes, sendo causa importante de absenteísmo escolar, por exemplo. É por este motivo que é importante o diagnóstico precoce e instituição imediata de tratamento adequado.
ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM FÓRMULAS ESPECIAIS EM RELAÇÃO A PACIENTES COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS
PATRICIA PICCOLI DE MELLO;MARÍLIA ALONSO MOTA;ELZA DANIEL DE MELLO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 376
Introdução:A implementação do Centro de Referência para Assessoria de FNE realizada em 2005, convênio entre HCPA e SES/RS, objetiva implementar protocolos de tratamentos e emitir avaliações técnicas-científicas. A indicação de Fórmulas Nutricionais Especiais (FNE) para pacientes pediátricos com problemas neurológicos é justificada pela frequência de desnutrição, pela impossibilidade de alimentação via oral ou por outros motivos encaminhados ao CR. Objetivos: Descrever características das solicitações de FNE de crianças e adolescentes com problemas neurológicos durante o período de funcionamento do CR. Material e Métodos: Estudo transversal, no qual informações foram coletadas de banco de dados SPSS 13.0 que mantinha registro atualizado das solicitações recebidas entre fev/05 e dez/08. Resultados: Foram analisadas 4.121 solicitações de FNE, dessas, 238 (5,77%) tinham diagnóstico de doença neurológica. A maioria desses pacientes estava na faixa etária entre 10-14 anos (19,7%), era masculina (56,3%) e do interior do RS (62,2%). Motivos clínicos mais freqüentes: impossibilidade de alimentação via oral (66,8%), desnutrição (3,4%), ambos (12,8%) e outros (17,6%). FNE mais solicitadas: dieta enteral (49,1%), suplemento alimentar (13,9%) e hidrolisado protéico (11,3%). Foram liberadas 9,2% das solicitações devido a dados antropométricos faltantes ou inadequação do uso da FNE. Conclusão: Durante este período, tentou-se otimizar o tratamento clínico dos solicitantes de FNE. Entretanto, nota-se grande quantidade de processos incompletos, devido a condição clínica desses pacientes.
AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES CORTICAIS EM CRIANÇAS COM TDAH
NORMA MARTINS DE MENEZES MORAIS;RICARDO DE MORAES RIBEIRO; LUIZA VIEIRA DA SILVA MAGALHÃES; DAISE MARIA DALBONI ROCHA; JOSIANE RANZAN; MARIA ISABEL BRAGATTI WINCKLER; LYGIA OHLWEILER; RUDIMAR DOS SANTOS RIESGO
Introdução: O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) se caracteriza por um nível inapropriado de atenção em relação ao esperado para idade, levando a distúrbios motores, perceptivos, comportamentais e cognitivos, com comprometimento funcional de diversas áreas. Objetivo: Avaliar as funções gnósicas, práxicas e capacidade para realização de cálculos de crianças com diagnóstico de TDAH. Métodos: Foram revisados os protocolos dos pacientes com diagnóstico de TDAH, com idade de 7 a 14 anos, atendidos no Ambulatório de Dificuldade de Aprendizagem do HCPA, de jun/06 a set/08. Foi avaliado o exame de funções corticais quanto a gnosia espacial, gnosia auditiva, praxia construtiva e capacidade de realização de cálculos simples e complexos. Resultados: Foram incluídas 86 crianças com TDAH. Verificou-se que grande parte das crianças avaliadas apresentava alterações nas áreas estudadas, sendo que 57% tinham comprometimento da gnosia espacial, 42% da gnosia auditiva, 55% da praxia construtiva e 56% tinham alguma dificuldade para realização de cálculos. Conclusão: Estes dados mostram que é fundamental avaliação e acompanhamento multidisciplinares nesta doença, uma vez que a falta de atenção e a hiperatividade comprometem funções imprescindíveis para a aprendizagem e com o tratamento medicamentoso isolado não se obtém o resultado esperado.
ACOMPANHAMENTO 2006-2008 DA PREVALÊNCIA DE SOBREPESO-OBESIDADE, NUM GRUPO DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS DE 2 A 7 ANOS, RESIDENTES EM DIFERENTES BAIRROS DE PORTO ALEGRE
SARA BRUNETTO;NOEMIA PERLI GOLDRAICH; CARMEM PILLA; SARA BRUNETTO; SAMANTA DE ROSSI; DÉBORA SIMONE KILPP
Introdução: Obesidade na infância assume proporções de epidemia e está relacionada com diferentes doenças crônicas. Objetivo: Estudar o comportamento da prevalência de sobrepeso-obesidade (SO) de crianças saudáveis, matriculadas em escola de educação infantil, que recebe alunos de 35/78 bairros de Porto Alegre. Material: Em 2006, 216 crianças iniciaram o estudo. Em 2007, foram matriculadas mais 123 e em 2008, 137. Destas, 248 foram seguidas por 2 anos e 119, por 3 anos. Total: 476 crianças (idades: 2,05-7,24 anos, média: 5,3+1,04 anos; 49,8% meninas). Método: Determinaram-se peso (balança digital), altura (estadiômetro de parede); calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC).Interpretação do IMC: tabelas do Centers for Disease Control and Prevention (2000). Foram realizadas palestras, seminários e oficinas com as crianças, pais e profissionais da escola, com ênfase no IMC, alimentação e estilo de vida saudáveis. Resultados: Menores de 5 anos- Prevalências de SO: na inclusão, 21%, 35% e 40%, em 2006, 2007 e 2008; no seguimento: 24% e 32%, em 2007 e 2008: As prevalências de SO na inclusão apresentaram aumento significante (c
2
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 377
tendência linear: P=0,021), mas não se alteraram no seguimento (Cochrans‟Q: P = 0,311). Maiores de 5 anos: Prevalências de SO: na inclusão, 32%, 39% e 43%, em 2006, 2007 e 2008; no seguimento, 32% e 28%, em 2007 e 2008. Na inclusão, não houve diferença significante (c2 tendência linear: P = 0,110), apesar das prevalências estáveis no grupo acompanhado (Cochrans‟Q: P = 0,926). Conclusão: Os resultados sugerem que o grupo-alvo para prevenção de SO são crianças menores de 5 anos e que o programa desenvolvido poderá ser uma estratégia para enfrentar esta epidemia. É necessário um período maior de observação para concluir sobre a eficácia da intervenção.
VARIANTES POLIMÓRFICAS DA UGT1A1 EM RECÉM-NASCIDOS ICTÉRICOS NO SUL DO BRASIL
CLARISSA GUTIÉRREZ CARVALHO;SIMONE MARTINS CASTRO, ANA PAULA SANTIN, LAURA ALENCASTRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA SARAIVA PEREIRA, ROBERTO GIUGLIANI
Introdução: A icterícia neonatal é geralmente benigna, mas desfechos desfavoráveis podem ocorrer e identificação dos casos de maior risco seria útil. Alguns fatores de risco conhecidos, como a prematuridade, a desidratação, o aleitamento materno e a incompatibilidade sanguínea; alterações na conjugação hepática de bilirrubina devido a polimorfismos da UGT1A1 também podem contribuir para esse maior risco. Nesses casos, ocorre variação na seqüência da região promotora do gene da enzima, com adição ou exclusão de pares de base TA. Objetivo: Estimar a freqüência dos alelos e dos genótipos da região promotora do gene da enzima UGT1A1 em recém-nascidos ictéricos e avaliar sua associação com hiperbilirrubinemia grave. Casuística e métodos: Estudo prospectivo, observacional, de casos e controles, com todos os recém-nascidos admitidos para fototerapia no Serviço de Neonatologia do HCPA. Incluídos RNs com mais de 35 semanas de idade gestacional e peso superior a 2000g, de março a dezembro de 2007. Realizado PCR com eletroforese capilar e análise no programa GeneMapper®. Resultados: Detectados genótipos polimórficos em 16% dos pacientes, sendo que 84% foram classificados como portadores de genótipos que não predispoem à icterícia, e identificados 7 dos 10 genótipos possíveis. Maior prevalência dos polimorfismos em negros e pardos em relação aos brancos. Recém-nascidos com (TA)5/(TA)6 e (TA)7/(TA)8 apresentaram bilirrubinemia mais elevada; houve 1 caso de (TA)6/(TA)8 com internação prolongada. Conclusões: nesta amostra de recém-nascidos as variantes polimórficas da UGT1A1 não foram associadas à hiperbilirrubinemia grave, observando-se prevalência e freqüências alélicas semelhantes a outras populações. Devido a grande miscigenação que ocorre nesta área do Brasil, outros fatores e interações gênicas devem ser procurados para explicar a hiperbilirrubinemia neonatal grave, incluindo possivelmente o estudo de outros polimorfismos.
DEFICIÊNCIA DE G6PD E SUA CORRELAÇÃO COM OUTROS FATORES DE RISCO EM RECÉM-NASCIDOS ICTÉRICOS NO SUL DO BRASIL
CLARISSA GUTIÉRREZ CARVALHO;DEFICIÊNCIA DE G6PD E SUA CORRELAÇÃO COM OUTROS FATORES DE RISCO EM RECÉM-NASCIDOS ICTÉRICOS NO SUL DO BRASIL
Introdução: A icterícia neonatal é geralmente benigna, mas desfechos desfavoráveis podem ocorrer e a identificação dos casos de maior risco seria muito útil. Alguns fatores são bem conhecidos, como a prematuridade, a desidratação, o aleitamento materno e a presença de incompatibilidade sanguínea. A deficiência de G6PD também pode contribuir para esse maior risco, pela hemólise mas principalmente por conjugação hepática ineficiente. Objetivo: Estimar a prevalência de deficiência de G6PD em recém-nascidos e avaliar sua associação com hiperbilirrubinemia grave. Casuística e métodos: Estudo prospectivo, observacional, de casos e controles, com todos os recém-nascidos admitidos para fototerapia no Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foram incluídos RNs com mais de 35 semanas de idade gestacional e peso superior a 2000g, entre março e dezembro de 2007. Realizado triagem enzimática da atividade de G6PD com confirmação da mutação por PCR. Resultados: Foi detectada prevalência de 4,6%, com odds ratio de 1,5 (IC= 0,63 - 3,6). A relação menino - menina foi 3:1 em ictéricos. Nenhum bebê ictérico com incompatibilidade ABO tinha deficiência de G6PD. Houve maior proporção em afro-descendentes ictéricos. Nenhum neonato com mutação Mediterrânea foi encontrado. Conclusões: nesta amostra de recém-nascidos do sul do Brasil nem a deficiência de G6PD, nem sua associação com a variante polimórfica da UGT1A1 se relacionaram com hiperbilirrubinemia grave, observando-se prevalência semelhante à
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 378
verificada em outras populações, com maior freqüência em negros e pardos ictéricos. Talvez pela grande miscigenação que ocorre nesta área do Brasil, outros fatores e interações gênicas devam ser investigados para explicar a hiperbilirrubinemia neonatal grave, incluindo possivelmente o estudo de outros polimorfismos.
PNEUMOLOGIA
ACHADOS POLISSONOGRÁFICOS E PREDITORES DE DESSATURAÇÃO DURANTE O SONO EM PACIENTES ADULTOS COM FIBROSE CÍSTICA
FERNANDA CANO CASAROTTO;CHRISTIANO PERIN; SIMONE CHAVES FAGONDES; ALESSANDRA BERTOLAZZI; SERGIO S. MENNA-BARRETO; PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: Os pacientes com Fibrose Cística (FC) são predispostos a apresentar diminuição da qualidade do sono e distúrbios respiratórios durante o sono. Contudo, estudos sobre o assunto são escassos na literatura. Objetivos: Avaliar a arquitetura e os distúrbios respiratórios do sono em pacientes adultos com FC e correlacionar esses dados com informações clínicas, funcionais e ecocardiográficas. Métodos: Foram avaliados, prospectivamente, 35 pacientes adultos com FC e 20 pacientes hígidos controlados por idade, sexo e variáveis antropométricas. Todos os indivíduos foram submetidos a uma polissonografia de noite inteira e preencheram questionários de qualidade de sono: Escala de sonolência de Epworth (ESE) e Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI). Resultados: Dados da macroestrutura do sono não diferiram significativamente entre os grupos. Contudo, pacientes com FC apresentaram maior índice de microdespertares durante o sono e maiores escores na ESE e no PSQI em relação aos controles. O índice de apnéia-hipopnéia (IAH) foi semelhante entre pacientes com FC e controles. Dessaturação significativa da oxihemoglobina durante o sono (DS) foi muito mais comum nos pacientes com FC em relação aos controles (37,1% vs. 0%). Escore clínico de Shwachman-Kulczycki, VEF1, SpO2 em vigília e a velocidade de regurgitação tricúspide foram as variáveis que se correlacionaram significativamente com a DS sendo a SpO2 em vigília a melhor variável preditora de DS. Conclusões: Pacientes com FC apresentam diminuição da qualidade do sono a despeito de uma arquitetura do sono pouco alterada. A dessaturação durante o sono é comum nos pacientes adultos com FC e não está associada a eventos obstrutivos durante o sono. A SpO2 em vigília foi a melhor variável preditora de DS.
ACTINOMICOSE PULMONAR EM CAVIDADE SIMULANDO BOLA FÚNGICA RELATO DE UM CASO
NATALIA BITENCOURT DE LIMA;TALYZ WILLIAM RECH; KARINA CARVALHO DONIS; INAJARA SILVEIRA DOS SANTOS; LUIZ CARLOS SEVERO
Introdução: A actinomicose é uma infecção bacteriana causada por Actinomyces sp, que apresenta nos tecidos microcolônias que são filamentos radiados Gram-positivos. Esta infecção está relacionada com má higiene oral, mas não com imunodepressão e pode se apresentar das seguintes formas: cérvico-facial, torácica e abdominal podendo raramente evoluir para doença disseminada, e tem por características a formação de fístulas com drenagem purulenta e lesões que não respeitam barreiras anatômicas. Objetivo: Relatar um caso raro de uma mulher de 45 anos que foi diagnosticado actinomicose pulmonar. Método: foi realizado acompanhamento do caso e revisão do prontuário da paciente. Resultados: a paciente apresenta-se com hemoptise de grande volume há 5 meses. Começou com queixas gripais há um ano, escarro com raias de sangue e expectoração purulenta fétida. Ao exame físico estava taquicárdica, ritmo regular e PA 190x100mmHg. Na ausculta pulmonar, estertores crepitantes em terço superior e médio de ambos os pulmões, mais intensos à direita. Realizado Raio-X, evidenciou consolidação no seguimento posterior do lobo inferior direito, aparentemente cavitada. Durante a evolução, a paciente foi empiricamente tratada com tetraciclina, realizou BAAR de escarro (resultado negativo). Demais radiogramas mostraram-se inespecíficos para o diagnóstico, TC de tórax sugeriu bola fúngica. Punção biópsia em LSD mostrou grãos de enxofre, que se apresentavam como filamentos ramificados, delgados, Gram-positivos, não álcool-acido resistentes mostrando actinomicose. Recebeu alta hospitalar em tratamento com penicilina G e acompanhamento ambulatorial. Conclusão: a raridade desta infecção em nosso meio e a possível confusão de bola fúngica com actinomicose justifica esse trabalho.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 379
ESTUDO CLÍNICO E ETIOLÓGICO DA COLONIZAÇÃO PULMONAR INTRACAVITÁRIA POR ASPERGILLUS SPP. : UMA SÉRIE DE 55 CASOS
LEONARDO SANTOS HOFF;ANDRÉ DIAS AMÉRICO; JOÃO REINHARDT VICENZI; LUCIANA SILVA GUAZZELLI; ALESSANDRO COMARÚ PASQUALOTTO; LUIZ CARLOS SEVERO
Introdução: A colonização pulmonar intracavitária ou bola fúngica (BF) é a doença mais comum causada pelos fungos do gênero Aspergillus. O conhecimento do perfil desta doença na população brasileira é pouco descrito. Objetivo: definir sob o ponto de vista clínico e etiológico os casos de BF por Aspergillus spp. diagnosticados no Laboratório de Micologia do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre no período de 1980 a 2007. Materiais e Métodos: estudo descritivo e retrospectivo. Os dados são obtidos através da revisão dos prontuários destes pacientes. Resultados: foram analisados 55 casos consecutivos, sendo 64,8% do sexo masculino e a idade média no diagnóstico de 48,3 anos (DP 13,1). As queixas principais foram hemoptise (64,8%) e dispnéia (14,8%). 88,9% sofreram internação hospitalar relacionada à BF, permanecendo uma média de 27,3 (DP 16,3) dias internados. As condições predisponentes mais freqüentes foram tuberculose (81,5%), DPOC (24,1%) e diabetes (18,5%). Os achados clínicos mais comuns foram tosse (88,9%), expectoração (81,5%), hemoptise (77,8%) e dispnéia (66,7%). Os exames microbiológicos com a maior taxa de resultado positivo foram a análise direta da peça cirúrgica (25,9%) e a cultura do escarro (22,2%). A radiografia mostrou BF principalmente nos lobos superiores (29,6% cada), com espessamento pleural em 67,3% e derrame pleural em 7,1%. A etiologia foi A. fumigatus em 85,2%, A. niger em 7,4%, Aspergillus spp. 5,6% e um caso de A. flavus. 63,5% realizaram algum tratamento cirúrgico, sendo a segmentectomia o mais freqüente. 22,2% utilizaram itraconazol. 5,7% sofreram óbito relacionado à doença. Conclusões: este estudo permite o melhor conhecimento das características da BF por Aspergillus na nossa população e indica semelhanças aos dados da literatura.
DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS RELACIONADOS AO SONO EM PACIENTES COM HIPERTENSÃO PULMONAR
LEONARDO SANTOS HOFF;ALESSANDRA NAIMAIER BERTOLAZI; SIMONE CHAVES FAGONDES
Introdução: A hipertensão pulmonar(HP) é definida como um aumento na pressão arterial pulmonar. Alguns distúrbio respiratórios do sono(DRS) têm sido descritos em pacientes com HP, como a respiração de Cheyne-Stokes(RCS) e a Apnéia do Sono de Origem Central(ASC), mas não há na literatura uma prevalência da Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva do Sono(SAHOS) em pacientes com HP. Objetivo: Determinar a prevalência e os fatores de risco para DRS em pacientes com HP. Comparar as características do grupo portador de DRS com o grupo sem DRS. Metodologia: Estudo transversal com pacientes atendidos no ambulatório de circulação pulmonar do HCPA de 2007-2009. Foi realizada anamnese, polissonografia (PSG), exames de função pulmonar, ecocardiograma transtorácico e cateterismo cardíaco direito. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as características dos pacientes com e sem DRS. Resultado: 20 pacientes realizaram PSG, sendo 70% do sexo feminino, idade média de 51 anos, IMC 30,5Kg/m2, circunferência cervical 38,9cm, 35% diabéticos. As causas mais comuns de HP foram tromboembolismo crônico (25%), HIV (20%) e idiopática (20%). 14 apresentaram DRS, incluindo 12 (60%) com SAHOS, 3 com Síndrome da Obesidade-Hipoventilação, 2 com RCS e nenhum com ASC; 3 tinham dois diagnósticos. Os grupos com e sem DRS diferiram apenas no IAH da PSG (p=0,01); não diferiram significativamente quanto à idade, escore na escala de sonolência de Epworth, pressão na artéria pulmonar e demais testes realizados. Conclusão: há muitos portadores de DRS nesta amostra de pacientes com HP. A alta prevalência de SAHOS pode ser explicada, em parte, pelo perfil antropométrico (IMC elevado) e pela presença de outros fatores de risco, como circunferência cervical aumentada e mulheres em idade pós-menopausa.
MEDIDA DA DIFERENÇA DE POTENCIAL NASAL NO HCPA
ELENARA DA FONSECA ANDRADE PROCIANOY;BRUNO ROCHA DE MACEDO; JULIANA MARCON SZYMANSKI; JOANINE ANDRIGUETTI SOTILLI
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 380
Introdução: O teste da medida de diferença de potencial nasal (DPN) avalia a voltagem do epitélio mucoso que é basicamente controlada pelos fluxos de sódio e cloro. O DPN tem sido utilizado para diagnóstico de casos atípicos de fibrose cística (FC) onde a medida é cerca de 2 vezes maior. Objetivo: Medir a DPN basal em portadores de FC e comparar com os valores normais. Material e Métodos: A DPN foi medida em 7 pacientes adultos com FC clássica(idade de 16 a 51 anos; 4 masc e 3 fem) e 6 voluntários sem FC (idade de 21 a 33 anos; 1masc e 5 fem) utilizando-se a técnica modificada descrita por Leal et all. Posiciona-se o eletrodo de referência sobre a pele do antebraço após escarificação e o de medida em uma sonda de Foley modificada que é posicionada na narina. Após estabelecimento da DPN basal são instiladas seqüencialmente na narina: 1) solução padrão;2)sol. padrão com amiloride; 3) sol. sem cloro+com amiloride; 4)solução sem cloro+amiloride+isoproterenol. A DPN é registrada continuamente por um milivoltimetro de forma que os dados obtidos formam uma curva de resposta. Em geral, as 2 narinas foram analisadas. Resultados e Conclusões: A média da DPN basal entre os grupo FC e sem FC foi diferente, sendo -27mV (variação -8 a -41mV) e -12mV (variação de -7 a -13 mV), respectivamente. O resultado -8mV no grupo FC ocorreu em paciente com cirurgia nasal prévia nesta narina e a medida na outra narina foi -23mV. A mediana no grupo FC foi -30mV e no sem FC -15mV. Embora não sejam suficientes para análises estatísticas maiores, os dados puderam diferenciar os grupos, conforme relata a literatura.
DIFERENÇA DE POTENCIAL NASAL - ANÁLISE DA RESPOSTA AO AMILORIDE E AO ISOPROTERENOL
ELENARA DA FONSECA ANDRADE PROCIANOY;BRUNO ROCHA DE MACEDO; JOANINE ANDRIGUETTI SOLTILLI, JULIANA MARCON SZYMANSKI
Introdução: A medida da diferença de potencial nasal (DPN) pode ter valores sobrepostos aos normais. Testes de resposta ao amiloride, que inibe o sódio, e ao isoproterenol, que estimula o cloro, além de auxiliar no diagnóstico podem ter significado prognóstico, uma vez que avaliam uma possível função residual do CFTR. A resposta ao amiloride reflete a inibição da hiperabsorção de sódio que ocorre na FC. A resposta ao isoproterenol reflete o estímulo à secreção do cloro Objetivo: Avaliar a DPN após infusão de amiloride e isoproterenol em portadores de FC e comparar com os valores normais. Material e Métodos: A DPN foi medida em 7 pacientes adultos com FC clássica e 6 voluntários sem FC utilizando-se a técnica modificada descrita por Leal et all. Posiciona-se o eletrodo de referência sobre a pele do antebraço após escarificação e o de medida em uma sonda de Foley que é posicionada na narina. Após estabelecimento da DPN basal, são instiladas seqüencialmente na narina: 1) solução padrão;2)sol. padrão com amiloride; 3) sol. sem cloro+com amiloride; 4)solução sem cloro+amiloride+isoproterenol. A DPN é registrada continuamente por um milivoltimetro de forma que os dados obtidos formam uma curva de resposta. Em geral, as 2 narinas foram analisadas. Resultados e Conclusões: A média da DPN basal no grupo FC foi -27mV (variação -8 a -41mV), pós-amiloride -10mV (-31 a +4mV) e pós-isoproterenol -14mv (-31 a +7mV). No grupo sem FC a média foi -12mV (-7 a -13 mV), pós-amiloride -5,44 (-11 a +12mV) e pós-isoproterenol -14,22mv (-27 a +10mV ). A maior queda do DPN ao amiloride diferenciou os grupos e a resposta mais variada ao isoproterenol entre os FC provavelmente reflete os diferentes graus de gravidade da doença. Os resultados são semelhantes aos relatados na literatura.
EDUCAÇÃO EM ASMA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA - O PACIENTE ASSUMINDO O CONTROLE DA SUA DOENÇA
MEIRI ANDRÉIA MARIA DA SILVA;FRANCISCO ARSEGO; VERA VIEIRA; KASSIO GIORDANI TOMAZELLI; LEONARDO ZANUZ; TATIANA ALINE BERGER; ANGELA BEN; ROGER HEISLER; EVANDRO LUCAS DE BORBA
Introdução A asma é uma doença crônica muito prevalente. No RS, a taxa aproxima-se de 10% e é responsável por cerca de 7% dos atendimentos infantis nas unidades básicas de saúde (UBS). No entanto, esses dados podem estar subestimados dificultando o planejamento e a execução de políticas de prevenção, gerando custos sociais e econômicos elevados. Objetivos O Programa de Educação em Asma em Atenção Primária à Saúde – O Paciente Assumindo o Controle da sua Doença objetiva educar e orientar os pacientes portadores de asma de forma que eles próprios estejam habilitados a ter uma postura mais ativa em relação à sua doença. Essa estratégia, além de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 381
reduzir a busca por emergências, diminui custos com saúde pública e o grau de sofrimento dos pacientes e familiares frente à doença. Métodos Uma equipe multidisciplinar foi estruturada ao nível da Atenção Primária cujas atividades consistem em: consultas individuais com os pacientes sob supervisão dos professores; acompanhamento da enfermagem; atividades em grupo; temas em sala de espera; participação em projetos de pesquisa vinculados ao Programa. A equipe atende cerca de 60 pacientes e são realizadas em média 6 consultas semanais. Resultados Os resultados são ainda parciais. Contudo, a evolução de cada paciente é registrada em um banco de dados cujas informações serão futuramente processadas e analisadas, dando origem a um novo trabalho a ser divulgado. Conclusão Atividades integradas de educação à saúde são extremamente vantajosas, pois contribuem para reduzir o índice de internação hospitalar e o custo sócio-econômico, proporcionando maior qualidade de vida aos pacientes. Além de dedicar atenção continuada à rede pública de saúde, o Programa desenvolve habilidades médicas no aluno, contribuindo para sua formação acadêmica.
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA DISPNÉIA EM INDIVÍDUOS NORMAIS
GLAUCO KONZEN;BRUNA ZIEGLER, ANDRÉIA KIST FERNANDES, PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES, DANTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ANDRÉ FROTTA MÜLLER, PAULO RICARDO OPPERMANN THOMÉ, ROSEMARY PETRIK PEREIRA, SÉRGIO SALDANHA MENNA-BARRETO, PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: O estudo objetivo da percepção da dispnéia poderia contribuir para melhor compreensão desse sintoma e para aprimorar o manejo dos pacientes com doença respiratória. Objetivo: Estudar a percepção da dispnéia, avaliada através de sistema de carga resistiva inspiratória, em indivíduos normais, estabelecendo associações com sexo, idade e índice de massa corporal (IMC). Métodos: Estudo transversal e prospectivo, realizado em indivíduos sadios com idade ≥ 18 anos. A percepção da dispnéia foi avaliada através de um sistema de carga resistiva inspiratória, utilizando sistema previamente descrito que compreende uma válvula unidirecional de Hans-Rudolph e um circuito de reinalação. A sensação de dispnéia foi mensurada durante ventilação através da válvula de Hans-Rudolph com resistências inspiratórias lineares progressivas de 0 (controle), 6,7; 15; 25; 46,7; 67 e 78 L/s/cmH2O (para um fluxo de 300 mL/s). Após respirar em cada nível de resistência por um minuto, o indivíduo expressava sua sensação de dificuldade na respiração (dispnéia) usando a escala de Borg modificada. Resultados: Foram estudados 29 indivíduos (8 masculinos e 21 femininos), com idade média de 36,9±11,8 anos, com IMC médio de 23,4±3,3 kg/m2,sendo 28 da raça branca. A mediana dos escores de Borg nas diferentes resistências foram, respectivamente: 0, 0,5, 1,2, 2, 2,5, 3 e 1. Na análise pelo modelo linear para medidas repetidas, não se observou associação da percepção de dispnéia nos diferentes momentos e sexo (p=0,789), idade (p=0,997), e IMC (),516). Conclusões: Em indivíduos adultos normais, a percepção da dispnéia, avaliada por um sistema de carga resistiva inspiratória, cresce progressivamente com o aumento da carga resistiva, não havendo associação com sexo, idade ou IMC.
REPRODUTIBILIDADE DA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA DISPNÉIA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE CARGA RESISTIVA INSPIRATÓRIA
GLAUCO KONZEN;ANDRÉIA KIST FERNANDES, BRUNA ZIEGLER, PAULO ROBERTO STEFANI SANCHES, DANTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ANDRÉ FROTTA MÜLLER, PAULO RICARDO OPPERMANN THOMÉ, ROSEMARY PETRIK PEREIRA, SÉRGIO SALDANHA MENNA-BARRETO, PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: O estudo da percepção da dispnéia poderá contribuir para melhor compreensão desse sintoma e para aprimorar o manejo dos pacientes com doença respiratória. Um sistema para avaliar a percepção da dispnéia foi adaptado da literatura. Objetivo: Estudar a reprodutibilidade da percepção da dispnéia, avaliada através de sistema de carga resistiva inspiratória, em indivíduos normais. Métodos: Estudo transversal e prospectivo, realizado em indivíduos sadios com idade ≥ 18 anos. A percepção da dispnéia foi avaliada através de um sistema de carga resistiva inspiratória, utilizando uma válvula unidirecional de Hans-Rudolph com resistências lineares progressivas de 0, 6,7; 15; 25; 46,7; 67 e 78 L/s/cmH2O, retornando à resistência de 0, durante ventilação. Após respirar em cada nível por um minuto, o indivíduo expressava sua sensação de “falta de ar” usando a escala de Borg modificada. Os indivíduos foram submetidos a dois testes em intervalo de tempo de 2 a 3 dias. Os
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 382
resultados do escore de Borg obtidos foram analisados pelo teste de Bland-Altman. Resultados: Foram estudados 15 indivíduos (3 Masc. e 12 Fem.), com idade média de 37,1±13,9 anos, com IMC médio de 22,4 kg/m2, sendo 80% da raça branca. A mediana dos escores de Borg nas diferentes resistências (15 e 46,7L/s/cmH2O) foram, respectivamente de: 1,5 e 3,0 no primeiro dia do teste e de 1,0 e 2,0 no dia da repetição . A diferença nos dois momentos foi de 0,6 pontos para o nível de pressão 15 L/s/cmH2O (limite de concordância entre -1,6 a 2,8 pontos) e de 0,8 pontos para o nível de pressão de 46,7 L/s/cmH2O (limite de concordância entre -1,9 a 3,5 pontos). Conclusões: Em indivíduos adultos normais, a avaliação da percepção da dispnéia através de um sistema de carga resistiva inspiratória é reprodutível. Entretanto, é necessário o estudo de um maior grupo de pacientes em diferentes faixas etárias para melhor avaliação da reprodutibilidade.
EDEMA PULMONAR
RAQUELI BISCAYNO VIECILI;DR. SERGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Edema agudo de pulmão (EAP) constitui urgência clínica e motivo freqüente de internação hospitalar. O paciente apresenta-se extremamente dispnéico, cianótico e agitado, evoluindo com rápida deterioração para torpor, depressão respiratória e, eventualmente, apnéia com parada cardíaca. De diagnóstico essencialmente clínico, é fundamental, portanto, que o socorrista esteja habilitado a reconhecer e iniciar o tratamento de tão grave entidade. Este estudo foi realizado através da revisão da literatura atual, nacional e internacional dos últimos anos, sobre o edema pulmonar. O Edema Pulmonar (EP) é uma das mais sérias urgências clínicas a desafiar a equipe de saúde, o EP necessita de diagnóstico e tratamento imediatos; a presença constante ao lado do paciente até a completa reversão do quadro é mandatória. Pelas sérias implicações prognósticas, todo o esforço deve ser envitado não só no controle clínico da descompensação aguda, mas, também, na identificação de possíveis causas reversíveis, tais como isquemia miocárdica, taquiarritmias, defeitos valvares agudos, etc.
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA.
JORGE DIEGO VALENTINI;LEANDRO GAZZIERO RECH; DENISE ROSSATO SILVA; ANELISE DUMKE; ANA CLÁUDIA COELHO; MARLI MARIA KNORST
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) se caracteriza por limitação crônica ao fluxo aéreo e ocorre em cerca de 14,7% dos adultos. O comprometimento funcional, a dispnéia e a disfunção muscular periférica podem ter um impacto no desempenho das atividades de vida diária (AVDs). Objetivo: Estudar a relação entre AVDs e capacidade funcional em pacientes com DPOC. Material e Métodos: Estudo transversal, no qual pacientes com DPOC responderam o questionário de AVDs London Chest Activity of Daily Living (LCADL), que possui quatro domínios (cuidados pessoais, atividades domésticas, físicas e de lazer). Foram realizados exames de função pulmonar e teste de caminhada de 6 minutos (TC6m). A dispnéia foi avaliada pela escala Modified Medical Research Council (MMRC) e a gravidade da doença pelo índice BODE. Foi usado o teste de correlação de Pearson e p < 0,05. Resultados: Dos 95 pacientes avaliados, 62 eram homens (65,3%). O VEF1 médio foi de 1,05 ± 0,43 litros (DP), 40,7 ± 15,9% prev. A distância percorrida no TC6m foi de 385,5 ± 114,9 m. A média do MMRC foi de 2,5 ± 1,3 e do BODE 4,32 ± 2,31. A pontuação total média do LCADL foi de 23,4 ± 12,2 pontos. A pontuação total do LCADL mostrou correlação negativa com a distância da caminhada (r = -0,506; p < 0,001) e positiva com o MMRC (r = 0,501; p < 0,001) e com o índice BODE (r = 0,462; p < 0,001). O VEF1 apresentou relação significativa negativa apenas com o domínio cuidados pessoais do LCADL (r = -0,228; p < 0,005). Conclusões: Houve uma correlação moderada entre distância caminhada, dispnéia, BODE e a pontuação média do LCADL. Estes resultados sugerem que sintomas e capacidade de exercício influenciam o desempenho de AVDs em pacientes com DPOC.
COMPARAÇÃO DOS VALORES PROGNÓSTICOS DE BIOMARCADORES SÉRICOS E DO ESCORE SOFA NA PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA MORTALIDADE
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 383
CARINA TORRES SANVICENTE;RAMOS-LIMA, LUÍS FRANCISCO; OLIVEIRA, VIVIAN DO A.; PACHECO, ELYARA F.; SARTORI, JULIANA; ROSA, KAROLINE D; RESTELATTO, LUCIANE M.F.; KRETZER, SILVIA DE S.; MARTINS, VITOR M; SELIGMAN, RENATO
Introdução: Biomarcadores séricos como a Copeptina (proAVP), pró-Peptídeo Natriurético Atrial MR (MR-proANP) e Procaciltonina (PCT) têm níveis elevados em diversos quadros infecciosos. O escore SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) avalia a disfunção dos principais sistemas orgânicos. Ambos estão associados com severidade e são descritos como preditores de desfechos desfavoráveis. Objetivos: Comparar o valor preditivo de Procalcitonina (PCT), MR-proANP, Copeptina e escore SOFA no dia do diagnóstico (D0) de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) e no quarto dia de tratamento (D4) para mortalidade. Métodos: PCT, MR-proANP, Copeptina e escore SOFA nos D0 e D4 foram obtidos de 71 pacientes, incluídos em estudo de coorte retrospectivo, com diagnóstico de PAV. Pacientes que morreram antes do 28º dia foram considerados não-sobreviventes. A acurácia dos biomarcadores para predizer mortalidade foi determinada pela curva ROC. Resultados: Todos os biomarcadores e o escore SOFA mostraram alto valor preditivo para mortalidade no D4. PCT: para limiar de 0,47 mg/L, a sensitividade foi 0,90 e a especificidade 0,74 (AUC=0,86). MR-proANP: para limiar de 465,5 pmol/L, a sensitividade foi 0,75 e a especificidade 0,72 (AUC=0,73). Copeptina: para limiar de 43,0 pmol/L, a sensitividade foi 0,80 e a especificidade 0,60 (AUC=0,72). SOFA: para limiar de 6 pontos, a sensitividade foi 0,57 e a especificidade 0,82 (AUC=0,72). Conclusão: Os valores preditivos para PCT, MR-proANP, Copeptina e escore SOFA foram maiores no D4 do que no D0. PCT em D4 mostrou o maior valor preditivo para mortalidade. Os resultados no D4 demonstram os estágios da resposta biológica dos pacientes e a performance da terapia empírica antimicrobiana empregada.
BOLA FÚNGICA CAUSADA POR UMA VARIANTE ALBINA DE ASPERGILLUS FUMIGATUS
ANDRÉ DIAS AMÉRICO;LUCIANA SILVA GUAZZELLI, LEONARDO SANTOS HOFF, JOÃO REINHARDT VICENZI, CECÍLIA BEITTENCOURT RIBEIRO, INAJARA SILVÉRIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS SEVERO
INTRODUÇÃO: Aspergilose é doença fundamentalmente do trato respiratório. A apresentação clínica depende do estado imune do paciente, doença de base e tamanho do inóculo fúngico. A bola fúngica (BF) é composta por uma massa fúngica no seu interior, sendo o Aspergillus fumigatus, fungo oportunista, o principal agente etiológico. O fator predisponente mais comum é a presença de cavidade pré-existente no pulmão secundária à tuberculose. O sintoma mais freqüente da doença é hemoptise, além de tosse, expectoração mucopurulenta, perda de peso, astenia, dor torácica e dispnéia. OBJETIVO: Apresentar um caso de BF pulmonar causada por uma rara variante albina de A. fumigatus. RELATO DO CASO: Paciente masculino, 24 anos, internou apresentando hemoptise, tosse com expectoração purulenta e anemia. Aos raios-x de tórax apresentou cavidade no lobo superior direito parcialmente preenchida com importante espessamento pleural apical o diagnóstico foi feito no Laboratório de Micologia, Santa Casa-Complexo Hospitalar de Porto Alegre através de imunodifusão radial dupla, exame micológico direto e cultivo de fragmentos de BF. No isolamento à 37ºC cresceu uma colônia branca, com aspecto microscópico de A. fumigatus, sugerindo uma variante albina, sendo comprovada a identificação no Centers for Disease Control and Prevention (CDC)-Atlanta. Na histopatologia do lobo superior do pulmão direito, foi observado a presença de granuloma tuberculóide com necrose caseosa. O paciente após pneumonectomia apresentou evolução favorável. JUSTIFICATIVA: A variedade albino de A. fumigatus é o resultado de uma mutação no gene alb-1, que causa efeitos sobre a morfologia e a virulência do fungo. Relatar um caso raro de BF pulmonar causada por uma variante albina de Aspergillus fumigatus justifica esse trabalho.
BIOPSIA PULMONAR CIRÚRGICA NAS DOENÇAS PULMONARES PARENQUIMATOSAS DIFUSAS: IMPORTÂNCIA NO MANEJO DOS PACIENTES E COMPLICAÇÕES INTRA-HOSPITALARES
ADRIANA DE SIQUEIRA CARVALHO;MARCELO BASSO GAZZANA, SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO, SABRINA B. GARCIA, RICARDO T. C. MENEZES, DÉBORA C. DA SILVA, JORGE ALAN SOUZA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 384
Introdução: as doenças pulmonares parenquimatosas difusas (DPPD) constituem um grupo de doenças caracterizadas por infiltrações pulmonares de graus variados de inflamação e fibrose, não atribuídas a nenhum processo agudo e bem definido. A biopsia pulmonar é considerada o padrão-áureo para a obtenção do material anatomopatológico. Objetivos: avaliar o rendimento das biopsias pulmonares cirúrgicas na avaliação das DPPD, na obtenção do diagnóstico definitivo e modificação de tratamento; avaliar as complicações e fatores de risco; determinar a mortalidade intra-hospitalar geral e relacionada às biopsias; determinar os principais diagnósticos patológicos obtidos. Métodos: estudo de coorte histórica, de janeiro de 2000 a janeiro de 2009. Resultados: Foram incluídos 50 pacientes, 56% homens. Comorbidades mais frequentes: imunossupressão (23,3%), DPOC (12,8%) e Doenças do Tecido Conjuntivo (12,8%). Sinais e sintomas mais comuns: dispneia (84,2%), tosse (78,9%) e creptantes (44,7%). 89,6% dos pacientes realizaram TC de tórax, com os principais achados: vidro fosco (46,9%), espessamento de septos (32,7%) e nódulos (22,4%). Principais diagnósticos: pneumonias de hiperssensibilidade e bronquiolites (22%), doenças intersticiais idiopáticas (20%), infecção (14%), enfisema e doenças císticas (12%), dano alveolar difuso (6%), neoplasias (4%), pneumoconioses (2%), vasculites (2%), e 18% diagnósticos inespecíficos. Ocorreu mudança no tratamento em 68% dos casos, a mais comum foi o acréscimo de corticóide. Complicações mais comuns: VM prolongada (34,1%) e pneumonia (13,6%). A mortalidade intra-hospitalar foi de 24% e relacionada às biopsias de 4%. A mortalidade foi superior nos pacientes internados na CTI (66,7%). Conclusões: A biopsia pulmonar cirúrgica é uma importante ferramenta na avaliação das DPPD. A correlação entre aspectos clínicos, radiológicos e patológicos é essencial para um melhor rendimento. A mortalidade intra-hospitalar é consideravelmente elevada.
CRIPTOCOCOSE PLEURAL: RELATO DE 4 CASOS
GEISON LEONARDO FERNANDES PINTO;CECÍLIA BITTENCOURT SEVERO; JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI; PATRÍCIA VANNY; ALEXANDRA FLÁVIA GAZZONI; ALEXANDRE FRANZ; INAJARA SILVEIRA DOS SANTOS; LUCIANA SILVA GUAZZELLI; LUIZ CARLOS SEVERO
Criptococose é uma micose sistêmica causada por duas espécies do basidiomiceto encapsulado, Cryptococcus neoformans e C. gattii, que causam infecção em indivíduos imunocomprometidos e em hospedeiros imunocompetentes, respectivamente. Pacientes com deficiência em células T são mais suscetíveis. A infecção inicia por lesões pulmonares assintomáticas e a doença disseminada frequentemente cursa com menigoencefalite. Através de um estudo retrospectivo, analisando 900 casos de criptococose diagnosticados no Laboratório de Micologia da Santa Casa de Porto Alegre (1981-2008), identificaram-se quatro casos de criptococose pleural. Nos quatro pacientes a idade variou de 24 a 72 anos, sendo 50% (2/4) do sexo masculino. As condições predisponentes foram HIV+ (1/4), Aids e neutropenia (1/4), nenhuma (2/4). As manifestações clínicas incluíram febre (3/4), emagrecimento (3/4), cefaléia (2/4), dor em hemitórax esquerdo (1/4), dor em hemitórax direito ventilatório-dependente (1/4), dor abdominal (1/4), tosse seca (1/4), tosse produtiva (1/4), dispnéia (1/4), hemiparesia à direita (1/4), convulsões (1/4), fadiga (1/4), disúria (1/4) e hematúria (1/4). Radiologicamente observou-se infiltrado pulmonar, derrame pleural, consolidação e atelectasias. A espécie C. neoformans foi isolada do líquido pleural nos quatro pacientes. Detectou-se criptococose disseminada em 50% dos casos (2/4) e somente criptococose pulmonar nos outros 50% dos pacientes (2/4). Os tratamentos utilizados foram a associação de Anfotericina B, 5- Fluorocitosina e Fluconazol (1/4); Lobectomia e Cetoconazol (1/4); Fluconazol (1/4). Todos os quatro pacientes receberam alta hospitalar. Apesar do pulmão ser a porta de entrada do Cryptcoccus, em raras circunstâncias a criptococose acomete a pleura, o que justifica este estudo.
TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS COM SUPRIMENTO DE O2 CONTÍNUO
MARIA ÂNGELA MOREIRA;MÁRCIO COSTA ÁVILA;DIEGO VANTI;PAULO STEFANI SANCHES:SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO
O Teste da Caminhada de 6 minutos (TC6) é um teste de exercício submáximo, utilizado para avaliação funcional respiratória dinâmica. Avalia a distância caminhada, a freqüência respiratória (FR), a freqüência cardíaca (FC) e a oximetria de pulso (SpO2), de forma não invasiva. Não há normas estabelecidas para a realização do teste em pacientes já dessaturados em repouso. OBJETIVO: Avaliar o comportamento dos parâmetros do TC6 em pacientes cujo teste foi realizado com suprimento contínuo de O2. METODOLOGIA: Analisamos os exames de pacientes com SpO2
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 385
abaixo de 92% na avaliação inicial. O teste foi realizado com O2 fornecido por óculo nasal., a partir de um torpedo pequeno de alumínio,conduzido por um técnico, caminhando atrás do paciente, com interferência mínima na marcha deste. O monitoramento da FC e da SpO2 foi simultâneo por telemetria. Consideramos dessaturação significativa uma variação de 4% e excessiva uma queda da SpO2 abaixo de 80%. RESULTADOS: Incluímos 43 testes de pacientes com DPOC, realizados em 2008. A média de idade dos pacientes foi 64 anos(±11.18), 20 homens e 23 mulheres, com IMC médio de 28,51(±7,05). Do total, 7(16%) pacientes não completaram os 6 minutos devido a dispnéia ou dessaturação excessiva. A média da SpO2 basal sem O2 foi 86%(±3,97) atingindo 94%(±2,28) com o uso de O2, mas 30(70%) dessaturaram com um valor médio final de 88% (±5,76) (queda média: 9%). A média do BORG inicial foi 0,6 e final foi 2,44 (variação média de 1,84), sendo que 10(23%) pacientes apresentavam Borg acima de 4 no final. A média da FR inicial foi 24(±4,81) e final 33(±7,7). A FC inicial foi 86(±12,84) e final 111(±13,54). A distância média percorrida foi de 325 metros(±103) e 23(53%) não atingiram 350m.O aumento da FC, o aumento da FR e a queda da SpO2 foram significativos (p<0,01). Estas variações não tiveram correlação a distãncia caminhada. CONCLUSÃO: Apesar do uso de O2, a maioria dos pacientes dessaturaram, mas apenas uma minoria apresentou dispnéia forte(Borg acima 4), sugerindo uma capacidade de adaptação à dessaturação ou uma contribuição positiva do O2 à sintomatologia.
DISPOSITIVOS INALATÓRIOS NA ASMA: AINDA POUCO CONHECIDOS?
MARIA ÂNGELA MOREIRA;KONRADO DEUTSCH, LUCIENE OLIVEIRA, MARCEL DORNELLES, RUI D AVILA, CAROLINA BARONE, SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Os medicamentos para tratamento da asma são administrados preferencialmente por via inalatória pois há uma melhor relação de risco-benefício do que as demais, devido à ação direta sobre a mucosa respiratória. A deposição pulmonar média de um aerossol é de aproximadamente 10% da dose inalada e depende essencialmente do dispositivo utilizado e da técnica correta. Objetivo: Avaliar o conhecimento de acadêmicos de medicina sobre os dispositivos inalatórios. Metodologia: Montamos um conjunto composto de 4 dispositivos inalatórios: Aerolizer(A), Tubohaler(TH), Diskus(D) e Aerossol Dosimetrado(AD) e 1 inalador. O entrevistador solicitava ao aluno demonstração do uso de cada um, sem interferir. Resultados: O questionário foi aplicado a 61 acadêmicos de medicina não asmáticos entre o 4º e 7º semestre. Do total, 16(26%) conheciam o TH mas destes apenas 4(25%) sabiam como usar, 29(47%) conheciam o A, mas destes apenas 16(55%) sabiam como usar e 32(52%) conheciam o D, mas destes apenas 16(50%) sabiam como usar. Todos conheciam o AD, mas apenas 25(41%) utilizava de forma correta o dispositivo. O espaçador foi adaptado corretamente por 36(59%) dos entrevistados, mas a a justificativa para o seu uso estava correta em 26 respostas. Conclusão: Nossa amostra evidencia o pouco conhecimento dos alunos da graduação de medicina sobre os dispositivos inalatórios das medicações da pneumologia. O conhecimento da técnica de uso correta é uma etapa fundamental para sucesso do tratamento.
CÓDIGO DE CORES EM UM AMBULATÓRIO DE ASMA
MARIA ÂNGELA MOREIRA;KONRADO DEUTSCH, LUCIENE OLIVEIRA, MARCEL DORNELLES, RUI D AVILA, CAROLINA BARONE, SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas cujo tratamento deve ser ajustado de acordo com a gravidade e o controle da doença É fundamental um seguimento regular do paciente bem como a utilização da medicação de forma corret. Objetivos: Aumentar a adesão dos pacientes asmáticos ao tratamento e adequar o fluxo de atendimento à gravidade da asma, no ambulatório de Educação em Asma do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Metodologia: Pacientes em acompanhamento no Ambulatório tem a gravidade de sua doença estabelecida por anamnese, exame físico, espirometria e questionários de dispnéia, associando a classificação inicial a cores: vermelho-grave, amarelo-moderada e verde-leve ou intermitente. Em todas as fichas e envelopes do paciente há uma tarja com a sua cor e as reavaliações são planejadas de acordo com as cores, os vermelhos retornam a cada mês, amarelos 2 em 2 meses e os verdes a cada 3 meses. As medicações também são marcadas com cores: verde para medicação de manutenção (uso diário), vermelho para as crises (uso de resgate) e amarelo para medicações extras (como antialérgicos e antibióticos). A cada reconsulta, revisa-se o nome do medicamento em uso e sua cor, a fim de aferir o que mais facilmente o paciente recorda. Resultados: Já foi implementado o sistema de cores no
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 386
ambulatório. Estamos testando esta metodologia de atendimento em 36 pacientes, 7 homens e 29 mulheres, com uma média de idade de 53 anos. Os corticóides inalatórios e os BD de longa duração recebem tarja verde, os BD de curta duração e o corticóide oral tem tarja vermelha e as xantinas, antibióticos e antialérgicos traja amarela. O Projeto está na fase de implementação. Conclusões: O sistema de cores tornou mais visual e prático o atendimento no ambulatório, facilitando seu fluxo e organização.
CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO ANESTÉSICO PARA MODELO DE TRANSPLANTE PULMONAR EM RATTUS NOVERGICUS
SHEILA BEATRIZ LAURINDO BERNARDES;FERNANDO BARRETO MARTENS; MAURÍCIO GUIDI SAUERESSIG; ELAINE APARECIDA FELIX
O rato é a espécie utilizada em maior escala na experimentação direcionada à biomedicina. Porém, poucos são os protocolos anestésicos adequados à grande variedade de procedimentos realizados. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protocolo anestésico que leve em consideração analgesia, hipnose, miorrelaxamento e ausência de resposta a estímulos cirúrgicos necessários para um procedimento de transplante pulmonar (TX). Foram utilizados 14 ratos Wistar, pesando 220-300 gramas. Como medicação pré-anestésica receberam morfina 2,5mg/Kg (IM). Após 15 minutos, cetamina 90mg/Kg e xilazina 5mg/Kg (IP). Passados 15 minutos, pré-oxigenação (O2 100%) e indução com isoflurano sob máscara. Os animais foram intubados com cateter intravenoso 16G e conectados a um circuito anestésico composto por um aparelho de anestesia Narcosul com vaporizador não calibrado acoplado a um ventilador Harvard-683 (FR 70cpm e VC de 8mL/Kg) com fluxo de gases frescos de 0,1L/min. A manutenção anestésica foi realizada com isoflurano ao efeito. A adequacidade do plano anestésico foi monitorada pela ausência dos reflexos palpebral, interdigital, caudal e estabilidade da FC. As cirurgias de TX tiveram duração média de 120 minutos e, ao final, os animais foram submetidos à eutanásia. O protocolo utilizado mostrou-se satisfatório ao complexo procedimento cirúrgico, sem desfechos de óbito ou mudanças de condutas durante o procedimento. Na literatura, são raros os relatos de protocolos de anestesia para TX de pulmão em ratos. Nosso trabalho obteve sucesso, durante os procedimentos, com a anestesia inalatória em todos os animais intubados e mecanicamente ventilados. Entretanto, para continuação do trabalho, a monitorização deve ser incrementada com dados de ECG, pressão invasiva, oximetria e hemogasometria.
EFEITO DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA SOBRE A ATIVIDADE MIOELÉTRICA DO ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO E ESCALENO EM PORTADORES DE DPOC
DANNUEY MACHADO CARDOSO;RENAN TREVISAN JOST; ANDRÉIA PAIXÃO; ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE; DULCIANE NUNES PAIVA
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por obstrução crônica ao fluxo aéreo, o que ocasiona sobrecarga aos músculos respiratórios e uma maior ativação dos músculos acessórios da respiração. Acredita-se que a pressão positiva expiratória (EPAP) reduza o trabalho respiratório, produzindo menor ativação dos músculos acessórios da inspiração. Objetivo: Avaliar a atividade mioelétrica dos esternocleidomastóideos (ECMs) e escalenos em resposta a aplicação da EPAP em portadores de DPOC. Materiais e Métodos: Ensaio clínico, composto por portadores de DPOC (Grupo DPOC, n=12) e por indivíduos hígidos (Grupo Controle, n=13) de ambos os gêneros, idade entre 40 e 70 anos. A EPAP por máscara facial (Vital Signs
®, USA) de 15 cmH2O
foi aplicada por 25 min, havendo o registro eletromiográfico (MIOTEC®, Brasil) dos músculos ECMs e
escalenos na condição pré-EPAP, a cada 5 min de aplicação (momento 1, 2, 3, 4 e 5) e 10 min pós-EPAP. Resultados: Observou-se que a atividade mioelétrica dos ECMs no Grupo DPOC, mostrou variação apenas quando comparamos o momento 5 com a condição pós-EPAP (18,7 %RMS para 11,6 %RMS, p=0,038), sendo que a atividade mioelétrica dos escalenos mantivesse inalterada. Quanto ao Grupo Controle, houve redução da atividade mioelétrica dos ECMs no momento 3 em relação a condição pós-EPAP (25,1 %RMS para 13,3 %RMS, p=0,007) e do momento 6 para a condição pós-EPAP (33,0 %RMS para 21,0 %RMS, p=0,044), nos músculos escalenos. Conclusão: Apesar da EPAP não ter produzido redução estatística da atividade mioelétrica de ECMs e escalenos, é importante ressaltar que os níveis de atividade muscular pós-EPAP, mostraram uma tendência à redução em ambos os grupos e músculos, evidenciando assim uma significância clinica.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 387
COMPORTAMENTO DO VOLUME CORRENTE E DOS SINAIS VITAIS EM PORTADORES DE DPOC SOB O USO DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS (EPAP)
DANNUEY MACHADO CARDOSO;RENAN TREVISAN JOST; ANDRÉIA PAIXÃO; ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE; DULCIANE NUNES PAIVA
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) promove alteração do volume corrente, dispnéia e redução da capacidade de exercício. Diversas modalidades de pressão positiva, como a utilizada na fase expiratória (EPAP), promovem aumento do volume pulmonar, porém os efeitos da EPAP aplicada através de máscara facial sobre os sinais vitais, ainda não estão bem descritos. Objetivo: Observar possíveis repercussões sobre os sinais vitais e volume corrente em portadores de DPOC quando submetidos à EPAP. Materiais e Métodos: Ensaio clínico, composto por portadores de DPOC (Grupo DPOC, n=12) e por indivíduos hígidos (Grupo Controle, n=13) de ambos os gêneros, idade entre 40 e 70 anos. Avaliou-se os volumes pulmonares através da espirometria (EasyOne
®,
USA) e os sinais vitais, como a freqüência respiratória (FR), a pressão arterial sistólica (PAS), a pressão arterial diastólica (PAD), a freqüência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio (SpO2) e o volume corrente (VC) na condição basal. Posteriormente a EPAP (Vital Signs
®, USA) de 15
cmH2O foi aplicada através de máscara facial por 25 min, sendo registradas as variáveis descritas os 15 e 20 min de aplicação da pressão positiva. Resultados: Houve aumento do VC nos primeiros 15 min de aplicação da EPAP (642,2 ml para 1.494,2 ml, p=0,002) no Grupo Controle. No Grupo DPOC houve apenas elevação da PAS, também nos primeiros 15 min de aplicação da EPAP (121,2 mmHg para 132,9 mmHg, p=0,046). Conclusão: Infere-se que a não elevação do VC nos portadores de DPOC secundário ao uso da EPAP de 15 cmH2O deva-se provavelmente ao mecanismo de hiperinsuflação pulmonar presente nestes indivíduos. E que a elevação da PAS seja tenha ocorrido devido a ansiedade gerada pela adaptação da máscara facial.
FATORES RELACIONADOS À GRAVIDADE DA SÍNDROME DA APNÉIA-HIPOPNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO
GIOVANA GARZIERA;EDUARDO WALKER ZETTLER
Introdução: A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono é um transtorno respiratório caracterizado pela obstrução parcial ou total das vias aéreas altas durante o período do sono. Objetivo: estudar a relação entre a gravidade da Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva do Sono e o nível do ronco, índice de massa corporal, saturação mínima de oxigênio e escore de sonolência diurna em pacientes submetidos à Polissonografia. Métodos: estudo transversal no qual foram analisados 446 pacientes submetidos à Polissonografia, no Hospital São Lucas da PUC-RS no período de dezembro de 2005 a dezembro de 2008. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, nível do ronco, IMC, Satm, Escala de Sonolência de Epworth(ESE) e índice de apnéia-hipopnéia(IAH). Resultados: 446 pacientes (58,4% homens) foram estudados (idade média = 47,01 ± 15,12 anos). As médias de IMC, Satm e IAH foram: 30,39 ± 8,00 Kg/m
2, 79,27 ± 10,59% e 23,71 ± 23,06 eventos/h, respectivamente. O IAH foi superior
nos homens (vs. mulheres: 27,33 vs. 17,66 eventos/h, (p<0,0001) e nos pacientes com ronco moderado ou alto (vs. ausência de ronco ou ronco leve, (p<0,0001). A idade, o IMC e a ESE se correlacionaram com o IAH (respectivamente, r = 0,1968; r = 0,4385 e r = 0,2026; todos com (p<0,0001), enquanto a Satm se correlacionou inversamente (r = -0,6175; p<0,0001).
EFEITO DA CESSAÇÃO DO TABAGISMO SOBRE A FUNÇÃO PULMONAR
GILBERTO BRAULIO;DANIELA DE SOUZA FERREIRA; ANELISE SZORTYKA; SOLANGE KLOCKNER BOAZ; MARLI MARIA KNORST (ORIENTADORA)
Introdução: O tabagismo é a principal causa evitável de morbidade e morte prematura. São poucos os estudos que avaliaram os efeitos da cessação tabágica sobre a função pulmonar. Objetivos: Estudar o impacto da cessação do tabagismo sobre as variáveis espirométricas. Material e métodos: Foram estudados pacientes selecionados para abordagem cognitivo-comportamental do tabagismo. Os pacientes realizaram espirometria antes e depois da participação no grupo de cessação tabágica. Os dados são apresentados como média e desvio padrão do valor absoluto e da % em relação ao previsto do volume expiratório forçado (VEF1), da capacidade vital forçada (CVF) e da relação VEF1/CVF. A variação quantitativa foi avaliada pela diferença entre o valor pós-grupo e o valor pré-
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 388
grupo. Resultados: Foram estudados 36 pacientes, sendo 77,8% mulheres. A média de idade foi de 55,7 ± 9,5 anos; a mediana do índice tabágico foi de 58,5 (35,5 – 84,37) maços-ano; a média do teste de Fageström foi de 6,45 ± 2,1; a média da CVF foi de 2,68 ± 0,80 l, 84,4 ± 16,9 % do previsto, do VEF1 foi de 1,91 ± 0,69 l, 71,1 ± 20,4 do previsto e da relação VEF1/CVF foi de 71,1 ± 12,9. A taxa de abstinência do tabagismo foi de 57,1%. Não houve diferença nos valores basais de função pulmonar entre o grupo que parou de fumar e o grupo que persistiu fumando. Não houve diferença significativa na variação do VEF1, CVF e relação VEF1/CVF entre os pacientes que persistiram fumando e nos que descontinuaram o tabagismo (p maior 0,05). Conclusões: A cessação do tabagismo não apresentou impacto nas medidas espirométricas, na amostra estudada. É necessário aumentar o tamanho amostral, com análise de outros desfechos funcionais, para uma avaliação mais detalhada dos efeitos da cessação tabágica sobre a função pulmonar.
TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA EM PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL: RELATO DE CASO
MARCELO BASSO GAZZANA;ADRIANA REGINATO RIBEIRO, ANGELA BEATRIZ JOHN, LUIZ HENRIQUE DUSSIN, AMARILIO DE MACEDO NETO, ROBERTO CERATTI MANFRO, SERGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Introdução: A tromboendarterectomia pulmonar (TE) é o tratamento de escolha para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTC). A insuficiência renal é um fator de risco de complicação no pós-operatório. A descrição deste procedimento em indivíduos transplantados renais é escassa. Objetivo: Relatar o caso de um paciente transplantado renal com HPTC submetido a TE. Metodologia: Relato do caso através da revisão do prontuário e a descrição do atendimento deste paciente pelos autores. Resultados: Homem, 45 anos, diabético, submetido a transplante renal de doador vivo há 3 anos, com Cr basal 2,3 mg/dL (DCE estimada 32,8 ml/min), teve diagnóstico de HPTC. Queixava-se de dispnéia aos mínimos esforços (classe funcional III). Ecocardio demonstrou PMAP 52 mm Hg (estimada por Tac) e angio-TC de tórax com extensos trombos em artérias pulmonar principais e lobares. Cateterismo cardíaco direito confirmou hipertensão pulmonar (HP) grave (PMAP de 48 mm Hg, PSAP de 80 mm Hg, DC 6,7 l/min, RVP 4,7 W). Foi submetido a TE bilateral sob circulação extracorpórea de 195 minutos e parada circulatória total de 26 min. No pós-operatório apresentou fibrilação atrial transitória e disfunção grave de laringe. Não houve piora da função renal no perioperatório, sendo Cr na alta de 1,7 mg/dL. Três meses após a cirurgia paciente estava em classe funcional I, recuperação quase completa da disfunção laríngea e Cr estável em 1,9 mg/dL (DCE 40,9 ml/min). Ecocardio 6 meses após a cirurgia mostrou grande melhora da HP (PMAP estimada 25 mm Hg). Conclusão: A tromboendarterectomia pulmonar para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica pode ser tratamento eficiente e relativamente seguro em pacientes transplantados renais, sem ocasionar piora da função do enxerto.
EMBOLECTOMIA POR CATETER NO TRATAMENTO DO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: EXPERIÊNCIA INICIAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
MARCELO BASSO GAZZANA;LEANDRO ARMANI SCAFFARO, MARCIO AVILA, FÁBIO MUNHOZ SVARTMAN, ANGELA BEATRIZ JOHN, SERGIO MENNA BARRETO
Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma condição grave. A embolectomia por cateter (EC), com ou sem o uso de trombolítico intrapulmonar, é uma alternativa em pacientes com TEP persistente apesar da terapia padrão ou que tem contra-indicação a recebê-la (Chest 2006; 129:1043). Objetivo: Relatar a experiência dos Serviços de Pneumologia e de Radiologia Intervencionista no tratamento da TEP com EC. Metodologia: Estudo de casos retrospectivo, de janeiro de novembro de 2008 a junho de 2009 de todos os pacientes que realizaram EC. Revisou-se os prontuários através de formulário padronizado. Análise estatística foi somente descritiva. Resultados: Foram realizadas cinco (05) EC no período do estudo. Os pacientes tinham média de idade de 64,8 anos (45 a 84 anos), sendo 3 (60%) do sexo masculino. O diagnóstico de TEP nestes pacientes foi realizado em todos por angio-TC. A indicação da EC foi TEP extenso em 2, instabilidade hemodinâmica em 2 e TEP persistente apesar de heparina em 1. Embolectomia mecânica (fragmentação) foi realizada em todos os casos e uso de trombolítico intrapulmonar (alteplase) em 3. Em 4 dos 5 casos (80%) houve melhora clínica significativa. Não houve mortalidade intrahospitalar. Filtro de veia cava foi colocado em paciente 1 paciente e trombólise farmacológica sistêmica em 2 (1
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 389
antes e outro após a EC). Complicações ocorreram em 2 pacientes, sendo sangramento grave (hematoma mamário) em 1 e não grave em outro (hematúria). Conclusão: A embolectomia por cateter é um procedimento que pode ser uma alternativa para tratamento efetivo da TEP em pacientes selecionados, que não respondem ou tem contra-indicação ao uso de antitrombóticos.
POSITIVIDADE NO TESTE TUBERCULÍNICO EM CANDIDATOS A TRANSPLANTE HEPÁTICO E USO DA QUIMIOPROFILAXIA
MARCELO BASSO GAZZANA;DANIEL SPADER, DIEGO BONIATTI, ANGELA BEATRIZ JOHN, ALEXANDRE DE ARAUJO, MARIO REIS ÁLVARES DA SILVA, SERGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Introdução: A tuberculose (TBC) é altamente prevalente no nosso meio. Pacientes submetido a transplante hepático (TxH), pelo estado de imunossupressão, podem apresentar reativação da TBC no período pós-transplatante, o que pode ser devastador. A quimioprofilaxia, nos pacientes reatores ao teste tuberculínico, pode ser uma intervenção eficaz. Objetivo: Descrever a prevalência de positividade no TT em pacientes candidatos a TxH e o padrão de uso da quimioprofilaxia. Metodologia: Estudo de casos retrospectivo, de janeiro de 2005 a junho de 2009 de todos os pacientes candidatos a TxH que foram encaminhados para o Ambulatório do Serviço de Pneumologia para avaliação pré-transplante. Foi realizada revisão do prontuário através de formulário padronizado. Análise estatística foi somente descritiva. Resultados: No período do estudo, dos 164 pacientes avaliados para transplante hepático, 137 (83,5%) realizaram TT. A média da idade dos pacientes foi de 55,6 anos (11,2 ± anos), sendo 60,3 % (n=99) do sexo masculino. As causas principais da cirrose foram alcoólica em pacientes 66 (40,2%) e hepatite crônica por vírus C em 103 (62,8%). A classificação de Child-Pugh foi A em 29 pacientes (17,6%), B em 83 (50,6%) e C em 45 (27,4%). A positividade no TT foi de 37,9% (n=52), sendo a média da reação de 5,9 mm (± 8,1 mm). O TT foi reator forte em pacientes 45 (32,8%), fraco reator em 7 (5,1%) e não reator em 85 (62,0%). A quimioprofilaxia foi empregada em 23 pacientes (51,1% do pacientes com TT forte reator). A medicação utilizada foi isoniazida em todos os casos. Não houve hepatotoxicidade. Conclusão: A prevalência de positividade ao teste tuberculínico é alta em pacientes candidatos a transplante hepático, sendo a quimioprofilaxia com isoniazida segura, mas ainda subutilizada.
TROMBÓLISE FARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO GRAVE: EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
MARCELO BASSO GAZZANA;MARIA ANGÉLICA PIRES FERREIRA, MARCIO AVILA, FÁBIO MUNHOZ SVARTMAN, ANGELA BEATRIZ JOHN, SERGIO MENNA BARRETO
Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo grave é uma condição alta mortalidade. O uso da trombólise farmacológica (TF), apesar do risco de sangramento, pode ser salvador neste grupo de pacientes (Curr Opin Pulm Med 2008; 14:422). Objetivo: Relatar a experiência do Serviços de Pneumologia e Radiologia Intervencionista no tratamento da TEP com TF. Metodologia: Estudo de casos retrospectivo, de janeiro de 2006 a junho de 2009 de todos os pacientes que realizaram TF para tratamento da TEP. Foi realizada revisão do prontuário através de formulário específico. Análise estatística foi somente descritiva. Resultados: Trombólise farmacológica foi realizada em 27 pacientes no período do estudo, sendo uso sistêmico em pacientes 25 e intrapulmonar em 3 pacientes. Estreptoquinase foi utilizada em 86,3% e alteplase em 13,7% dos casos. Os pacientes tinha média de idade de 48 anos (7,4 ± anos ), sendo 51,8 % do sexo masculino. O diagnóstico de TEP nestes pacientes foi realizado por angio-TC em 84,8% e cintilografia pulmonar em 15,2%. A indicação da EC foi TEP extenso em 26% e instabilidade hemodinâmica em 74%. Resposta favorável ocorreu em pacientes 83,5%. Tratamento adicional foi realizado em pacientes 9, sendo filtro de veia cava em 6 pacientes, embolectomia por cateter em 3 e embolectomia cirúrgica em 3. Complicações ocorreram em pacientes 7, sendo as mais comuns sangramento em 13,8% e hipotensão em 8,2 %. A mortalidade intra-hospitalar destes pacientes foi de 13,4%. Conclusão: A trombólise farmacológica é uma alternativa efetiva e segura no tratamento do TEP aguda grave.
TUBERCULOSE EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL: PREVALÊNCIA E DESCRIÇÃO DOS CASOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 390
MARCELO BASSO GAZZANA;ADRIANA REGINATO RIBEIRO, ALESSANDRA GHELLER, DENISE ROSSATO SILVA, PAULO DE TARSO ROTH DALCIN, ROBERTO CERATTI MANFRO, LUIZ FELIPE GONÇALVES
Introdução: A tuberculose (TBC) é altamente prevalente no nosso meio. Pacientes submetido a transplante renal (TxR), pelo estado de imunossupressão, podem apresentar reativação da TBC no período pós-transplante, o que tem o potencial de afetar a morbimortalidade. Objetivo: Determinar a prevalência da tuberculose em pacientes submetidos a TxR e descrever estes casos. Metodologia: Estudo de retrospectivo, de janeiro de 1996 a junho de 2009 de todos os pacientes submetidos a TxR. Foi realizada revisão do prontuário através de formulário padronizado. Análise estatística descritiva. Resultados: No período do estudo, foram realizados 702 transplantes renais. Houve 22 casos de TBC, conferindo uma prevalência de 3,1%. A média de idade dos pacientes com TBC foi de 47,2 anos (± 3,7 anos), sendo 81,8 % (n=18) do sexo masculino. As principais causas da insuficiência renal foram glomerulonefrite em 6 pacientes, hipertensão arterial em n=4 e diabete em 3. A tuberculose foi de forma pulmonar em 54,5% (n=12), extra-pulmonar em 31,8 %(n=7) e ambas em 13,6 %(n=3). Das formas extra-pulmonares, ocorreram casos de TBC do sistema nervoso central em 4 pacientes, pleural em 2, intestinal em 2, sinusite em 1 e renal em 1. O diagnóstico foi estabelecido por escarro espontâneo em em 31,8% (n=7), métodos broncoscópicos em 22,7% (n=5) e outros métodos em 54,5% (n=12). Todos pacientes iniciaram o tratamento com isoniazida, rifampicina e pirazinamida. O desfecho dos pacientes foi óbito em 2 (9%), cura da TBC em 19, sendo que 1 ainda está em tratamento. Três pacientes (13,6%) perderam o enxerto. Conclusão: A prevalência da tuberculose em transplantados renais é relativamente baixa para uma zona endêmica, sendo freqüente a forma extra-pulmonar.
ESTUDO DA PERMEABILIDADE DO EPITÉLIO PULMONAR ATRAVÉS DA DEPURAÇÃO DO RADIOAEROSSOL DIETILENOTRIAMINOPENTACÉTICO (DTPA) COM O USO DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS (EPAP)
ISABELLA MARTINS DE ALBUQUERQUE;DULCIANE NUNES PAIVA, GENOCIR FRANKE, PAULO RICARDO MASIERO, BERNARDO LEÃO SPIRO, DANNUEY MACHADO CARDOSO, SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Introdução: A taxa de depuração pulmonar do 99m
Tc-DTPA se constitui em um excelente índice da permeabilidade pulmonar. A pressão positiva expiratória (EPAP) promove aumento do volume pulmonar. Objetivos: Avaliar o padrão da depuração pulmonar do radioaerossol do
99mTc-DTPA com
o uso da EPAP e comparar os achados da depuração pulmonar do 99m
Tc-DTPA em níveis diferentes de EPAP (10 cmH2O, 15 cmH2O e 20 cmH2O). Material e Métodos: Realizou-se um ensaio clínico randomizado, unicego, no qual os voluntários foram submetidos à cintigrafia pulmonar com radioaerossol de
99mTc-DTPA em duas etapas: cintigrafia em respiração espontânea e respiração sob
suporte ventilatório por EPAP (RHDSON Vital Signsâ, New Jersey, EUA). Foram estudados 30
indivíduos hígidos adultos jovens (15 do sexo feminino, média de idade 28,26 ± 5,40 anos) que constituíram o Grupo 1 - EPAP 10 cmH2O (n = 10); Grupo 2 - EPAP 15 cmH2O (n = 10) e Grupo 3 - EPAP 20 cmH2O (n = 10). O radioaerossol
99mTc-DTPA foi administrado durante três minutos através
de um aparelho portátil específico para inalação pulmonar de aerossóis radioativos (Aerogama®,
Medical, Porto Alegre, RS, Brasil). A contagem sequencial da radioatividade de tórax foi realizada através de uma gama-câmara de cintilação tipo Anger (Starcam 4000i, GE, EUA). Resultados: Observou-se o aumento da taxa de depuração do
99mTc-DTPA (T1/2) quando 15 cmH2O
de EPAP foi aplicada (p = 0,001), porém com o emprego de 10 cmH2O (p = 0,097) e 20 cmH2O de EPAP (p = 0,124) não houve alteração do T1/2
99mTc-DTPA. Conclusão: Esses resultados podem
refletir o efeito da insuflação pulmonar sobre a perfusão dos capilares pulmonares alveolares e extra-alveolares o que afeta diretamente a depuração do radioaerossol de
99mTc-DTPA.
FATORES DE DESENVOLVIMENTO DE MULTIRRESSISTÊNCIA BACTERIANA E MORTALIDADE EM PACIENTES COM PNEUMONIA ADQUIRIDA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
LUÍS FRANCISCO RAMOS-LIMA;VIVIAN DO AMARAL OLIVEIRA; CARINA T SANVICENTE; ELYARA F PACHECO; JULIANA SARTORI; KAROLINE D ROSA; LUCIANE MF RESTELATTO; SILVIA DE S KRETZER; VITOR MAGNUS MARTINS; RENATO SELIGMAN
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 391
Introdução: A Pneumonia Adquirida no Hospital (PAH) é a segunda causa mais freqüente de infecção hospitalar, correspondendo a 15% destas e afetando de 0,5 a 2% dos pacientes hospitalizados. A multirresistência bacteriana é importante fator de estudo em relação à PAH, podendo influenciar na mortalidade dos pacientes internados. Objetivos: Avaliar fatores de determinação de multirresistência bacteriana e mortalidade em relação à PAH no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Métodos: Estudo de coorte retrospectivo com 71 pacientes internados no HCPA diagnosticados com PAH com germe identificado, nos anos de 2007 e 2008. Resultados: Foram observados idade, sexo, tipo de internação (clínica / cirúrgica), presença de fatores de risco (DPOC, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, neoplasia, imunosupressão), tabagismo, presença de infecção extra-pulmonar, dias de internação até o diagnóstico de PAH, total de dias de internação e status séptico no diagnóstico. A presença de DPOC foi determinante para a ocorrência de multirresistência (OR = 3,03; IC 95% 1,10 – 8,35). Os tipos de internação observados apresentaram diferença, favorecendo a internação clínica em relação ao óbito (OR = 5,86; IC 95% 1,85 – 18,56). Neoplasias também estiveram mais associadas com mortalidade (OR = 3,41; IC 95% 1,28 – 9,08). A presença de sepse no diagnóstico de PAH foi significativa na mortalidade desses pacientes (OR = 4,38; IC 95% 1,26 – 15,19). Conclusões: A multirresistência bacteriana está relacionada com a presença de DPOC, doença que pode ocasionar infecções de repetição e surgimento de bactérias multirresistentes. Em relação à mortalidade, a neoplasia surge como associada; internações clínicas e desenvolvimento de sepse no diagnóstico também são importantes fatores relacionados.
MORTALIDADE EM PACIENTES COM TUBERCULOSE INTERNADOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO
DENISE ROSSATO SILVA;DIEGO MENEGOTTO; LUIS FERNANDO SCHULZ; MARCELO BASSO GAZZANA; PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: Apesar da disponibilidade de tratamento curativo, uma grande proporção de pacientes com tuberculose (TB) ainda é hospitalizada. A mortalidade intra-hospitalar de pacientes com TB permanece alta, particularmente em pacientes internados em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Objetivos: Descrever as características de pacientes com TB com necessidade de cuidados intensivos. Além disso, procuramos identificar os fatores de risco para mortalidade intra-hospitalar em uma cidade com incidência intermediária a alta de TB (aproximadamente 100 casos/100.000 habitantes) e com uma alta taxa de coinfecção TB-HIV (41,5%). Material e Métodos: Realizamos um estudo de coorte retrospectivo, entre novembro de 2005 e novembro de 2007. Os pacientes com TB com necessidade de internação em UTI foram incluídos e os fatores de risco para mortalidade foram avaliados. O desfecho primário foi a mortalidade intra-hospitalar. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital. Resultados: Durante o período do estudo, 67 pacientes com TB internaram na UTI. Destes, 62 (92,5%) tinham insuficiência respiratória aguda e necessitaram de ventilação mecânica (VM). A média de idade de todos os pacientes foi de 43,2 anos (DP: 14,1 anos). Coinfecção com HIV estava presente em 46 (68,7%) pacientes. Ao todo, 44 (65,7%) pacientes morreram, sendo que 38 (56,7%) morreram na UTI e 6 (8,9%) morreram após transferência para a enfermaria. Internação precoce na UTI (internados diretamente ou dentro de 4 dias da internação) e pneumonia associada à VM foram independentemente associados com mortalidade intra-hospitalar. Conclusão: Neste estudo, encontramos uma alta taxa de mortalidade em pacientes com TB criticamente enfermos, especialmente naqueles com uma internação precoce na UTI.
INFECÇÃO VIRAL RESPIRATÓRIA EM ADULTOS ATENDIDOS EM SALA DE EMERGÊNCIA - RESULTADOS PRELIMINARES
DENISE ROSSATO SILVA;VINÍCIUS VIANA; ANA CLÁUDIA COELHO; MARIANA ALVES FONSECA; FERNANDA DUARTE TORRES; LUISE POITEVIN; FERNANDO LIVI; LUIZ ANTÔNIO NASI; MARCELO BASSO GAZZANA; AFONSO LUÍS BARTH; PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: Infecções respiratórias virais são responsáveis por níveis significativos de morbidade e mortalidade. Vários vírus podem causar infecções respiratórias em adultos. O VSR e o vírus influenza A são dois dos patógenos virais mais comumente identificados em idosos e pacientes de alto risco hospitalizados por sintomas respiratórios agudos nos meses de inverno, acarretando custos consideráveis, devido ao aumento do número e da duração das hospitalizações. Objetivos: Descrever a prevalência de infecção viral respiratória em adultos atendidos na sala de emergência. Material e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 392
Métodos: Estudo transversal, incluindo pacientes adultos com sintomas respiratórios há menos de 5 dias. Foi coletado aspirado de nasofaringe e o material foi enviado para a identificação de vírus respiratórios através do teste de imunofluorescência indireta (IFI). Resultados: No período de 12 de novembro de 2008 a 30 de abril de 2009 foram atendidos 7845 adultos na emergência do HCPA. Destes, 1403 foram atendidos por sintomas respiratórios. Foram incluídos no estudo 72 pacientes que apresentavam sintomas respiratórios há menos de 5 dias. A média de idade dos pacientes foi de 53,7 anos (DP: 17,5 anos). Quarenta e cinco (62,5%) eram do sexo feminino e havia 51 (70,8%) brancos. As comorbidades mais comuns foram HAS (23 pacientes, 31,9%), DPOC (14 pacientes, 19,4%) e asma (21 pacientes, 29,2%). Os sintomas mais comumente relatados foram: tosse, dispnéia, dor torácica, sibilância, febre e coriza. A IFI foi positiva em 3 pacientes (2 parainfluenza tipo 3 e 1 parainfluenza tipo 2) (prevalência 4,2%). Conclusões: Considerando os resultados parciais, encontramos até o momento uma prevalência de infecção viral respiratória menor do que a encontrada em estudos prévios.
PERFIL DOS USUÁRIOS DE PRESSÃO POSITIVA EM VIA AÉREA PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS DURANTE O SONO EM NÍVEL AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
ALESSANDRA HOFSTADLER DEIQUES FLEIG;SIMONE CHAVES FAGONDES, ÂNGELA BEATRIZ JOHN, LEONARDO SANTOS HOFF, DANIEL LUNARDI SPADER, DIEGO BONIATTI RIGOTTI, SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Introdução: Os transtornos respiratórios durante o sono (TRS) são caracterizados pela ocorrência repetida de episódios de obstrução completa ou parcial ao fluxo aéreo durante o sono. Entre os TRS se destacam a síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) e as síndromes de hipoventilação alveolar, relacionadas à obesidade ou a doenças neuromusculares. O uso da pressão positiva em vias aéreas (PAP) constitui seu principal tratamento, mas tem como limitação em nosso meio o elevado custo. Objetivos: Descrever o perfil de usuários de PAP do ambulatório do Sono do Serviço de Pneumologia do HCPA em acompanhamento no período de 2005 a 2008. Métodos: Foram analisados as características clínicas e o perfil epidemiológico dos pacientes, o tempo para a confirmação do diagnóstico, o tempo até aquisição do aparelho de PAP e inicio do tratamento, o modo de obtenção, assim como complicações relacionadas ao seu uso. Resultados: Foram identificados 68 usuários de PAP (94,1% de CPAP e 5,9% de BIPAP), sendo 42 (61,8%) homens. Todos eram portadores de SAHOS e 6 pacientes (8,9%) apresentavam hipoventilação concomitante. As médias de idade, índice de massa corporal e escala de sonolência de Epworth foram, respectivamente, 54,38+10,7 anos, 33,7+7,1 Kg/m
2 e 14,56+5,4 pontos. O tempo da primeira
avaliação até o diagnóstico e o início do tratamento foi de 369+468 dias e 852+603 dias, respectivamente. O principal modo de obtenção do aparelho de PAP foi através da Secretaria Municipal de Saúde (62,9%). As principais complicações do uso de PAP foram ressecamento nasal (22%), cefaléia (9%) e reações cutâneas (16%). Conclusão: A maioria dos pacientes avaliados apresentava SAHOS e estava em uso de CPAP. As principais complicações foram nasais e cutâneas. A demora entre o diagnóstico e o início do tratamento evidenciam a necessidade de intervenções com objetivo de reduzir o tempo para aquisição do aparelho.
REVISÃO DE LITERATURA: CONTUSÃO PULMONAR
JANDIRA RAHMEIER ACOSTA;GABRIELLE AMARAL NUNES, HELOÍSA TEZZONI RODRIGUES, LUCIANA HOFFMANN, KAROLINE GABRIELA DALLA ROSA, RAFAELA DA SILVA VIATROSKI, WILLIAM SANTORINI, ERICO AUGUSTO CONSOLI
Introdução: Contusão pulmonar é a lesão mais comum associada com trauma torácico e ocorre em 30 a 75% dos pacientes com lesões torácicas mais sérias. A taxa de mortalidade varia de 6 a 25%, geralmente devido à sobreposição com pneumonia ou à síndrome do desconforto respiratório. Objetivo: Revisar na literatura a fisiopatologia e quadro clínico da contusão pulmonar no trauma torácico. Materiais e métodos: Revisão de literatura através do MedLine. Resultados: A fisiopatologia ainda não é totalmente esclarecida, existindo 3 mecanismos propostos: 1) efeito da implosão, que resulta do aumento da expansão dos gases após passarem por um gradiente de pressão, levando à dilaceração alveolar; 2) o efeito da inércia, que ocorre quando alvéolos menos densos são comprimidos pelas estruturas hilares mais densas; 3) efeitos de ruptura na interface gás-
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 393
líquido do alvéolo. O dano leva a perfusões desiguais na ventilação e diminuição da complacência pulmonar. Dispnéia, taquipnéia, hemoptise, cianose, hipotensão, dor torácica e inquietação são freqüentes. Clínica e radiologicamente, as contusões se desenvolvem em 1-2 dias. Esse período pode ser marcado por insuficiência respiratória progressiva, podendo passar despercebida inicialmente e se apresentar até com síndrome do desconforto respiratório. A história clínica e achados físicos do trauma de parede torácica, especialmente na presença de fraturas ou afundamento torácico, aumentam as chances de lesão subjacente. Conclusão: Pacientes com contusão pulmonar devem ser hospitalizados para monitoramento cuidadoso pela possibilidade de evoluírem para insuficiência respiratória. Assim como no afundamento torácico, o tratamento primário é de suporte e medidas complementares são dirigidas para a disfunção respiratória que a contusão produz.
RELAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E FORÇA MUSCULAR DE QUADRÍCEPS NA CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
DANIEL LUNARDI SPADER;ANDRÉIA TERESINHA DA SILVA; MARLI MARIA KNORST; SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO; ANELISE DUMKE; DAIANE FALKEMBACH; ADRIANE SCHIMIDT PASQUALOTO; DIEGO BONIATTI RIGOTTI
Introdução: Os portadores de DPOC apresentam alterações da função pulmonar, dispnéia e disfunção dos músculos esqueléticos periféricos, levando à limitação da produtividade diária e piora da qualidade de vida. Objetivo: Estudar a relação entre força muscular respiratória e força muscular de quadríceps na capacidade de exercício em pacientes com DPOC. Métodos: Estudo transversal, observacional, onde foram incluídos os pacientes com diagnóstico clínico e funcional de DPOC moderado à grave. Os que apresentaram exacerbações até quatro semanas antes dos testes ou algum tipo de doença cardíaca, ortopédica e reumatológica, foram excluídos. Todos realizaram espirometria e avaliação da força muscular respiratória. A força muscular e a resistência de quadríceps foram avaliadas através do teste de uma repetição máxima (1RM) e o teste senta-levanta de 1 minuto (TSL1). A capacidade de exercício foi avaliada através do teste de caminhada de 6 minutos (TC6). Resultados: Nesta análise, foram incluídos 15 indivíduos (9 homens, 64,4 ± 8,2 anos). A média da capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1), e VEF1/CVF foram 70,7 ± 16,9%, 42,6 ± 19,5%, e 47,2 ± 13,6%, respectivamente. A média da pressão inspiratória máxima (PImáx) foi – 78,2 ± 24,4 cmH2O, e a pressão expiratória máxima (PEmáx) foi 98,5 ± 26,4 cmH2O. A média dos valores do teste de 1RM e do TSL1 foram 17,2 ± 7,4 Kg e, 26,4 ± 5,1 repetições, respectivamente. A média da distância caminhada teve correlação moderada com a PImáx (r= 0,615; p= 0,01) e com PEmáx (r= 0,641; p= 0,01). Não houve correlação entre a distância caminhada e a força muscular de quadríceps (p= 0,50). Conclusão: As pressões respiratórias máximas estão relacionadas com a capacidade de exercício avaliada através do TC6 em pacientes com DPOC. Não houve associação entre força muscular de quadríceps e capacidade de exercício no estudo.
PERFIL DO PACIENTE COM PNEUMONIA ADQUIRIDA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE NO BIÊNIO 2007 - 2008: ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVO
VIVIAN DO AMARAL OLIVEIRA;RAMOS-LIMA, LUÍS FRANCISCO; SANVICENTE, CARINA T.; PACHECO, ELYARA F.; SARTORI, JULIANA; ROSA, KAROLINE D; RESTELATTO, LUCIANE M.F.; KRETZER, SILVIA DE S.; MARTINS, VITOR M; SELIGMAN, RENATO.
Introdução: A Pneumonia Adquirida no Hospital (PAH) é definida como aquela que ocorre após 48 horas da admissão hospitalar. É a segunda causa mais freqüente de infecção hospitalar, correspondendo a 15% destas e afetando de 0,5 a 2% dos pacientes hospitalizados. Objetivos: Definir o perfil do paciente com PAH e a incidência de multirresistência bacteriana da doença no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Métodos: Estudo de coorte retrospectivo com 71 pacientes internados no HCPA diagnosticados com PAH com germe identificado, nos anos de 2007 e 2008. Resultados: A média de idade foi de 63,7 (DP = 15,2); 52 pacientes (73,2%) são do sexo masculino. 49 indivíduos (69,0%) realizaram internação clínica e 22 (31,0%) cirúrgica. O tempo médio de internação foi de 47,4 dias (DP = 32,1); em média, o tempo de permanência hospitalar até o diagnóstico de PAH foi de 21,2 dias (DP = 20,1). Em relação aos principais fatores de risco para PAH,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 394
25 pacientes (35,2%) tem diagnóstico de DPOC; 12 (16,9%) de ICC; 14 (19,7%) de insuficiência renal crônica; 39 (54,9%) de neoplasia maligna e 13 (18,3%) estão imunossuprimidos (excetuando-se origem neoplásica e doenças infectocontagiosas). 53 pacientes (74,7%) tem entre 1 a 2 fatores de risco; apenas 9 (12,7%) possuem 3 fatores concomitantes. 29 indivíduos (40,8%) revelam hábito tabágico. Em relação ao perfil de resistência antimicrobiana, 33 pacientes (46,5%) tiveram identificados microrganismos multirresistentes. 17 indivíduos (23,9%) possuíram quadros sépticos (sepse ou choque séptico) na ocasião do diagnóstico de PAH. 36 pacientes (50,7%) evoluíram a óbito. Conclusões: Pacientes que desenvolveram PAH no HCPA apresentavam pelo menos 1 a 2 comorbidades crônicas, tendo importante risco de multiresistência bacteriana e alta mortalidade.
NOCARDIOSE SISTÊMICA EM PACIENTE IMUNOSSUPRIMIDA
INAJARA SILVEIRA DOS SANTOS;KARINA CARVALHO DONIS; NATÀLIA BITENCOURT DE LIMA; TALYZ RECH; LUIZ CARLOS SEVERO
Introdução: Nocardiose é uma doença associada a várias espécies de nocardia, são bactérias aeróbias filamentosas gram- positivas que compõem os Actinomicetos do meio ambiente podendo infectar o homem por traumatismo ou inalação. A aspiração do microorganismo pode causar nocardiose pulmonar e disseminação para outros tecidos. A Nocardia pseudobrasiliensis está associada ao pulmão, SNC e doença disseminada em imunocomprometidos. Objetivo: Relatar um caso raro de nocardiose pulmonar sistêmica ocorrida em paciente imunossuprimida. Relato de Caso: mulher, branca, 83 anos, teve Linfoma cutâneo há 10 anos, em tratamento com corticoterapia sistêmica, apresentou lesões degenerativas na coluna lombar por osteoporose e HAS. Ao exame clínico, queixou-se de forte dor na região esternal e na coluna torácica, perda de força em MsIs, sem alteração da sensibilidade. Apresentou febre, tosse seca, sudorese, nódulos subcutâneos em MsIs e MsSs. Ao raio-X torácico evidenciou-se lesão nodular escavada em LSE, submetida à bópsia e posteriormente à análise laboratorial; citopatológico e anatomopatológico negativos para células malignas, fungos e bactérias. Ao evoluir seu quadro para tosse produtiva, o escarro foi analisado e demonstrou filamentos gram- positivos ramificados e em cultivo isolado N. pseudobrasiliensis. A RNM de crânio e coluna lombar mostrou múltiplas áreas com imagens nodulares, compatível com comprometimento sistêmico por nocardia. Iniciou-se tratamento com sulfametoxazol + trimetoprim apresentando melhora clínica, tendo alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial. Houve regressão completa das lesões cutâneas, pulmonares e parcial das lesões ósseas. Justificativa: Se faz importante o diagnóstico da nocardiose devido ao pior prognóstico em imunossuprimidos.
PREVALÊNCIA DOS PRINCIPAIS DESENCADEADORES DE CRISE ASMÁTICA NOS PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ASMA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA CECÍLIA DE PORTO ALEGRE
ROGER HEISLER;MEIRI ANDRÉIA MARIA DA SILVA; EVANDRO DE LUCAS BORBA; LEONARDO ZANUZ; KÁSSIO GIORDANI TOMAZELLI; TATIANA ALINE BERGER; ÂNGELA JORNADA BEN; MARGERY BOHRER ZANETELLO; VERA BEATRIZ GUIRLAND VIEIRA; FRANCISCO JORGE ARSEGO QUADROS DE OLIVEIRA
Introdução: A asma é uma patologia de alta prevalência. Assim, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cecília conveniada ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) possui um programa específico para atender as demandas com referência a tal doença por parte da população residente na localidade próxima à UBS: Programa da Asma. O controle dos fatores desencadeadores de crises asmáticas é a primeira iniciativa terapêutica para esses pacientes. Objetivos: Estabelecer uma prevalência dos principais desencadeadores de crises asmáticas nos pacientes pertencentes ao Programada Asma. Materiais e Métodos Revisão dos prontuários e fichas dos pacientes com vínculo ao programa. Ao todo são 51 pacientes entre 0 a 68 anos de idade acompanhados entre janeiro de 2008 até junho de 2009. Resultados: Os desencadeadores podem estar presentes concomitantemente e suas prevalências são: 70,59% Frio/Umidade; 56,86% Poeira Domiciliar; 47,06% Infecções; 45,10% Fumo; 41,18% Cheiros; 39,21% Fumaça; 37,25% Exercícios; 37,25% Pêlos; 37,25% Emoções; 27,45% Mofo; 21,57% Pólen; 7,84% Fármacos; 5,9% Ambiente Profissional; 0% Alimentos. Conclusões: Frio/Umidade, Poeira Domiciliar, Infecções e Fumo foram os desencadeadores com maior prevalência no grupo de pacientes do Programa da Asma. Assim, eles devem ser evitados a fim de proporcionar uma melhor terapêutica aos pacientes do programa.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 395
O EFEITO DE UM PROGRAMA EDUCATIVO DE CURTA DURAÇÃO NO MANEJO DA ASMA.
MARIANA ALVES FONSECA;VINÍCIUS PELLEGRINI VIANA; GLAUCO LUÍS KONZEN; DENIS MALTZ GRUTCKI; PAOLA PAGANELLA LAPORTE; PAULA BORGES DE LIMA; SAMUEL MILLÁN MENEGOTTO; ROSEMARY RICARDA PETRIK PEREIRA; PAULO DE TARSO ROTH DALCIN
Introdução: O processo educativo é fundamental para o manejo da asma. Os programas convencionais de educação em asma possuem uma duração prolongada e abrangem um número restrito de pacientes. As evidências da efetividade de programas de curta duração no manejo da asma ambulatorial são precárias. Objetivo: Avaliar o efeito de um programa educativo de curta duração sobre o manejo ambulatorial da asma. Métodos: Estudo de coorte, antes e depois de um programa educativo de curta duração, em pacientes com diagnóstico de asma, atendidos ambulatorialmente. Os dados clínicos foram registrados utilizando questionário padronizado. Foram realizadas medida do pico de fluxo expiratório (PFE) e espirometria. O grau de controle da asma foi aferido de acordo com o proposto pela Global Iniative for Asthma (GINA). Todos os pacientes receberam uma orientação educativa de curta duração, imediatamente após o atendimento ambulatorial de rotina para tratamento da asma. Em reconsulta de rotina, os pacientes foram submetidos a uma nova avaliação. Resultados: Foram estudados 111 pacientes, 30 masculinos e 81 femininos, com idade média de 53,0 ±15,3 anos. Na avaliação inicial, a asma era controlada ou parcialmente controlada em 35 pacientes e não-controlada em 76 pacientes; enquanto na reconsulta era controlada ou parcialmente controlada em 39 pacientes e não-controlada em 72 (p=0,026). O uso efetivo do corticóide inalatório aumentou significativamente de 101 pacientes para 105 pacientes (p<0,001). Na consulta inicial, 11 pacientes utilizavam o dispositivo spray e 36 o dispositivo em pó de forma correta em todas as etapas, enquanto que, na reavaliação, 18 pacientes utilizavam adequadamente o dispositivo spray (p=1,00) e 42 o dispositivo em pó (p=1,00). A medida do PFE no momento inicial foi de 62,5% do previsto e de 60,1% na reconsulta (p=0,143). Conclusões: Um processo educativo de curta duração após uma consulta médica ambulatorial teve impacto positivo sobre o grau de controle da asma e sobre a utilização efetiva do corticóide inalatório. É necessário estudar um número maior de pacientes analisando os efeitos desse programa de acordo com gravidade da doença, forma de aquisição da medicação, grau de instrução e nível sócio-econômico.
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES TABAGISTAS EM PROCESSO DE CESSAÇÃO
BRUNO MENDONÇA RIBEIRO;SOLANGE KLOCKNER BOAZ; MARLI MARIA KNORST
Introdução: O tabagismo é a maior causa de morte evitável. Estudos sobre qualidade de vida (QV) em tabagistas são escassos. Objetivos: Avaliar a QV de tabagistas, comparando possíveis diferenças entre os gêneros. Material e métodos: Estudo transversal para avaliar QV (SF-36), níveis de depressão (BDI) e ansiedade (BAI), índice tabágico (IT) e dependência à nicotina (Teste de Fagerström) em tabagistas em cessação. Os dados foram analisados através do SPSS. Resultados: A idade dos 180 pacientes foi de 51,6 ± 9,5 anos, 68,3% eram mulheres. O IT foi 57,8 ± 35,0 maços-ano, o TF foi 6,23 ± 2,3, o BDI foi 15 (8-21), o BAI 16 (8-24) e os valores médios dos 8 domínios do SF-36 variaram entre 44,8 e 63,1. As mulheres apresentaram níveis mais altos de ansiedade comparadas aos homens (p=0,01). No entanto, estes tiveram impacto maior na qualidade de vida, em especial nos quesitos capacidade funcional (p=0,047) e limitação por aspectos emocionais (p=0,043). Houve correlação positiva, porém fraca, entre o índice tabágico e os níveis de depressão (r=0,217; p=0,005) e ansiedade (r=0,254; p=0,001). O índice tabágico apresentou correlação significativa negativa fraca com 7 dos 8 domínios do SF-36 (maior r=-0,338). Os níveis de depressão e ansiedade se relacionaram com a qualidade de vida. O BDI apresentou correlação mais forte com os domínios aspectos sociais (r=-056), saúde mental (r=-052) e estado geral de saúde (r=-050). O BAI se relacionou mais fortemente com a capacidade funcional, dor e limitação por aspectos emocionais (r=-0,48). Conclusões: A QV de pacientes tabagistas está comprometida, mais acentuadamente nos homens. Níveis maiores de ansiedade foram observados nas mulheres. Estes achados são importantes na abordagem dos pacientes durante o processo de cessação tabágica.
PROTOCOLO DE ANESTESIA BALANCEADA COM VENTILAÇÃO MECÂNICA EM RATUS NOVERGICUS PARA CIRURGIAS DE BYPASS GÁSTRICO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 396
FERNANDO BARRETO MARTENS;SHEILA BEATRIZ LAURINDO BERNARDES; MAURÍCIO JACQUES RAMOS; ELAINE APARECIDA FELIX
O rato está entre as espécies mais utilizadas em experimentação animal. Entretanto, para procedimentos cirúrgicos cruentos e de longa duração, a devida importância não é dada à qualidade da anestesia. Este trabalho objetiva descrever o protocolo anestésico utilizado em pesquisa cirúrgica de bypass gástrico em ratos. Foram utilizados 20 ratos com pesos entre 318 e 536 g. Como medicação pré-anestésica receberam morfina 2,5 mg/kg (SC). Após 10 minutos, cetamina 90 mg/kg e xilazina 5 mg/kg (IP). Passados 15 minutos, indução em máscara com isoflurano vaporizado em O2 a 100%. Procedeu-se a intubação orotraqueal com cateter intravenoso 16G. O animal foi conectado a um ventilador Harvard 683 acoplado a um aparelho de anestesia Takaoka Fuji Maximus. A manutenção da anestesia foi realizada com isoflurano ao efeito. O ventilador foi ajustado com Vc 5 ml/kg e FR 75 cpm. O plano anestésico foi monitorado pela ausência dos reflexos podal, caudal e palpebral. As cirurgias tiveram duração média de 1h30min. Os animais foram aquecidos durante todo o procedimento. Ao fim da cirurgia os animais receberam cetoprofeno 5 mg/kg (IM), dipirona 200 mg/kg (SC) e solução de NaCl aquecida 20 ml (IP). O procedimento anestésico demonstrou-se adequado ao procedimento cirúrgico. Os animais mantiveram plano anestésico estável e a TR dentro dos valores fisiológicos. Não ocorreram óbitos no trans e pós-cirúrgico imediato. A recuperação anestésica teve uma duração média de 30 min. É essencial o desenvolvimento de protocolos anestésicos, planejados de acordo com os procedimentos a serem realizados. Novas pesquisas quanto à monitorização anestésica e metodologias de avaliação da dor devem ser realizadas para avaliar com maior precisão a eficiência de tais protocolos.
PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO PULMONAR EM PACIENTES COM TIREOIDOPATIAS: RESULTADOS PRELIMINARES
DENISE ROSSATO SILVA;DÉBORA RODRIGUES SIQUEIRA; MARCELO BASSO GAZZANA; ÂNGELA BEATRIZ JOHN; ANA LUIZA SILVA MAIA; SÉRGIO SALDANHA MENNA BARRETO
Introdução: Estudos recentes têm sugerido uma associação entre hipertensão pulmonar (HP) e hipotireoidismo/ hipertireoidismo. Os possíveis mecanismos envolvidos são a influência direta dos hormônios da tireoide e a auto-imunidade. Objetivos: Descrever a prevalência de HP em pacientes com hipo e hipertireoidismo, e avaliar a reversibilidade da HP após tratamento da doença da tireoide. Material e Métodos: Estudo prospectivo, incluindo pacientes com diagnóstico recente de hipo ou hipertireoidismo. Ecocardiograma transtorácico foi realizado antes do início do tratamento da tireoidopatia. Diagnóstico de HP: velocidade de regurgitação tricúspide (VRT) maior ou igual a 2,5 m/s. Após o tratamento da tireoidopatia, o ecocardiograma foi repetido. Resultados: Até o momento, foram incluídos no estudo 19 pacientes com doenças da tireoide. Destes pacientes, 9 (47,4%) tinham HP pelo ecocardiograma. Entre estes, 4 tinham hipertireoidismo (Doença de Graves em 3) e 5 tinham hipotireoidismo (tireoidite de Hashimoto em todos). A média de idade de todos os pacientes foi de 51,5 anos (DP: 13,4 anos). As médias da VRT e da pressão sistólica estimada da artéria pulmonar (PSAP) foram 2,7 m/s (DP: 0,13 m/s) e 37,0 mmHg (DP: 7,2 mmHg), respectivamente. Todos os pacientes com hipotireoidismo foram tratados com hormônios da tireóide e os com hipertireoidismo, com metimazole e/ou
131I. Em 5 pacientes, os testes de função da tireoide não normalizaram ainda.
Nos outros 4 casos, a VRT e a PSAP normalizaram em 1, reduziram sem normalização em 2 e aumentaram em 1 paciente. Conclusões: Descrevemos uma alta prevalência de HP em pacientes com tireoidopatias. A HP nestes pacientes é geralmente leve e transitória, com normalização ou redução dos sinais ecocardiográficos de HP na maioria dos pacientes.
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
DENISE ROSSATO SILVA;JONATHAS STIFFT; HUGO CHEINQUER; MARLI MARIA KNORST
Introdução: Alguns estudos têm sugerido que a infecção crônica pelo HCV tem efeitos diretos e indiretos no tecido pulmonar, incluindo um declínio acelerado do VEF1. É necessário conhecer o quão prevalente é esta infecção nos pacientes com DPOC, o que pode justificar o rastreamento do HCV nesta população. Objetivos: Determinar a prevalência de infecção pelo HCV em uma amostra de pacientes com DPOC e um grupo controle de doadores de sangue. Comparar as características
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 397
clínicas e funcionais entre os pacientes HCV-positivos e HCV-negativos. Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal. Foram incluídos no estudo 187 pacientes ambulatoriais com diagnóstico de DPOC. A positividade ao exame anti-HCV era determinada e confirmada pelo HCV-RNA. Resultados: A prevalência de infecção pelo HCV nos pacientes com DPOC foi de 7,5% (95% CI 6,52-8,48) e nos doadores de sangue foi 0,41% (95%CI 0,40-0,42). Os pacientes HCV-positivos tinham um VEF1 pós-broncodilatador (% do previsto) menor (média: 34,7; DP: 8,6) que os pacientes HCV-negativos (média: 42,7; DP: 16,5) (p = 0,011). Todos os pacientes HCV-positivos foram classificados nos estádios III e IV, de acordo com os critérios do GOLD. O escore de dispnéia na escala MMRC foi maior nos pacientes HCV-positivos (mediana = 4) do que nos pacientes HCV-negativos (mediana = 2) (p = 0,023). O índice BODE foi maior nos pacientes HCV-positivos (mediana = 6) do que nos pacientes HCV-negativos (mediana = 4) (p = 0,027). Conclusões: Nossos resultados sugerem uma alta prevalência de infecção crônica pelo HCV em pacientes com DPOC em comparação com os doadores de sangue. Os pacientes HCV-positivos tinham achados sugestivos de uma doença mais grave.
PREVALÊNCIA DE OSTEOPOROSE EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
DENISE ROSSATO SILVA;ANA CLÁUDIA COELHO; ANELISE DUMKE; JORGE DIEGO VALENTINI; JULIANA NUNES DE NUNES; CLARICE LUISA STEFANI; LÍVIA FONTES DA SILVA MENDES; MARLI MARIA KNORST
Introdução: A osteoporose tem sido reconhecida como uma das manifestações sistêmicas da DPOC. A etiologia da osteoporose é provavelmente complexa e vários fatores podem contribuir para a sua patogênese. Objetivos: Determinar a prevalência de osteoporose em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica atendidos no ambulatório de DPOC do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas. Comparar as características clínicas e laboratoriais dos pacientes portadores de DPOC com e sem osteoporose. Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal. Foram incluídos no estudo 95 pacientes ambulatoriais com diagnóstico de DPOC. O diagnóstico de osteoporose foi realizado através da densitometria óssea. Além disso, os pacientes responderam questionário para avaliação de fatores de risco para a osteoporose, questionário de frequência alimentar, e questionários de atividade física (London e IPAQ). Resultados: A prevalência de osteoporose nos pacientes com DPOC foi de 42,1% (40/95). Osteopenia também estava presente em 42,1% (40/95) dos pacientes. Os pacientes com osteoporose tinham VEF1 pós-BD (L), CVF pós-BD (L), CI e CI/CPT significativamente menores que os pacientes com massa óssea normal. A altura foi significativamente menor em pacientes com osteoporose. Além disso, a osteoporose foi mais prevalente em não-brancos. Não houve diferença estatisticamente significativa com relação ao tempo/dose de corticóide inalatório/sistêmico, ingesta diária de cálcio e nível de atividade física medido pelas escalas London e IPAQ. Conclusões: Nossos resultados sugerem uma alta prevalência de osteoporose e osteopenia em pacientes com DPOC. Muitos fatores podem estar associados com redução da massa óssea nesses pacientes.
PSICOLOGIA
REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DO TRATAMENTO EM CRIANÇAS CANDIDATAS A TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA (TMO)
VIVIANE ZIEBELL DE OLIVEIRA;CAROLINE DE OLIVEIRA CARDOSO; ROBERTA LOUZADA SALVATORI
O Transplante de Medula Óssea (TMO) vem se constituindo como alternativa de tratamento para doenças Onco-Hematológicas, garantindo maior sobrevida aos pacientes. Trata-se de um procedimento complexo e agressivo, que acaba produzindo profundos efeitos psicológicos tanto nos pacientes, como nos seus familiares. No entanto, todas essas reações emocionais podem ser mais intensas quando a pessoa que está doente é uma criança. Neste sentido, o trabalho em questão propõe-se a demonstrar os mecanismos de defesa e os aspectos emocionais envolvidos no processo de transplante através do Teste das Fábulas (Cunha & Nunes, 1993). Tal instrumento avalia estes aspectos a partir de pequenas histórias que servirão de estímulos para investigar os conflitos inconscientes das crianças. A utilização deste instrumento como ferramenta para intervenções
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 398
psicológicas faz parte da avaliação psicológica rotineira realizada com os pacientes, pré e pós-transplante. Neste sentido, esta apresentação se caracteriza como um recorte do trabalho realizado pela Psicologia ao longo do tratamento destes pacientes. A administração do instrumento em questão foi realizada em diferentes momentos. O levantamento dos protocolos foi feito através de uma análise qualitativa de conteúdo (Bardin, 1977), a partir das verbalizações dadas ao Teste das Fábulas por quatro crianças, com idades entre cinco e oito anos, candidatas a TMO. Desta forma, constatou-se que mecanismos de defesas como projeção e regressão, bem como estados emocionais de tristeza, culpa e abandono, estão presentes nestes pacientes. Além disso, foi constatado também que tais aspectos modificam-se na medida em que o tratamento destas crianças também muda. Ou seja, existem diferenças emocionais no que diz respeito aos momentos pré e pós-TMO.
PSICOLOGIA DE TRABALHO E ORGANIZACIONAL
SOB O PESO DOS GRILHÕES: UM ESTUDO SOBRE A SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DE UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
LAÍS BROCH TRENTINI;CLÁUDIA MAGNUS; CAMILA BACKES; ÁLVARO ROBERTO CRESPO MERLO
Esta pesquisa busca compreender a dinâmica do trabalho realizado por profissionais de saúde mental do Hospital Psiquiátrico São Pedro e suas implicações em relação ao sofrimento e ao prazer. Os objetivos são: analisar a organização do trabalho; identificar a relação de sofrimento e prazer; conhecer as estratégias coletivas de defesa/saúde produzidas por estes trabalhadores. A metodologia utilizada foi a da Psicodinâmica do Trabalho, aplicada de forma strictu sensu em suas etapas de desenvolvimento. Os dados foram obtidos através da pré-pesquisa e dos encontros realizados com o grupo de trabalhadores, formado por profissionais que atuam em unidades de internação de pacientes agudos, cujo perfil está mudando para usuários de drogas. Estes trabalhadores estão em um espaço de transição, que vai trazer implicações no processo de trabalho e de saúde. Notou-se que eles utilizam estratégias coletivas de defesa, como: afastamento, endurecimento e reclamação; e estratégias coletivas de saúde: as trocas e ajuda, oxigenação e mudanças possíveis. Essas estratégias, no entanto, não alteram o modo pelo qual o trabalho está organizado, porém, permitem minimizar o sofrimento e obter algum prazer. O estudo constata a existência de „grilhões‟, que agravam o sofrimento no trabalho: o peso da loucura, os atravessamentos políticos, o sucateamento dos recursos, as condições e a forma de organização do trabalho e a precariedade dos vínculos relacionais com os colegas. Fica evidenciada a importância de se constituir, no HPSP, um espaço de discussão, que possibilite fomentar a força coletiva do grupo. Assim, acredita-se ser possível fomentar o reconhecimento e a construção de um significado para o trabalho, que tragam mais prazer aos trabalhadores e que viabilizem saúde a quem trata da saúde.
A DINÂMICA SAÚDE/SOFRIMENTO PSÍQUICO DOS TRABALHADORES DA ENFERMAGEM EM UMA EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO
LAÍS BROCH TRENTINI;FERNANDA LUZ BECK; CAMILA BACKES; ÁLVARO ROBERTO CRESPO MERLO
Esta dissertação teve como tema a saúde/sofrimento psíquico dos trabalhadores da saúde e propôs-se a analisar a psicodinâmica das situações de trabalho a partir da relação entre o prazer e o sofrimento dos trabalhadores da enfermagem. O campo de pesquisa escolhido foi a unidade de emergência do Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. A pesquisa teve como objetivo geral verificar os efeitos da organização e dos processos de trabalho sobre a dinâmica saúde/sofrimento psíquico dos trabalhadores da enfermagem. Como objetivos específicos pretendeu conhecer a psicodinâmica das situações de trabalho da equipe de enfermagem; investigar os modos de organização do trabalho em relação aos seus processos e os modos de produção de saúde da enfermagem na emergência desse hospital e identificar as estratégias de defesa que este grupo constrói para enfrentar as dificuldades que seu trabalho lhes apresenta. Por isso, é necessário compreender que o trabalho é uma relação social, histórica e intersubjetiva que merece ser colocada em análise quando acompanhamos mudanças no modo de produção nos tempos atuais. Dessa forma, o trabalho tem uma função psíquica enquanto constituidor do sujeito e os aportes teórico-metodológicos de análise e interpretação da dinâmica de trabalho na relação subjetividade e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 399
objetividade técnica fazem-se necessários, pois é nesta relação que o conflito capital X trabalho se coloca. A metodologia para realização da pesquisa foi a da Psicodinâmica do Trabalho, ou seja, a análise dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pelo confronto do sujeito com a realidade do trabalho, essa constituída de mecanismos de defesa. Então, a análise deteve-se no entendimento dos processos intersubjetivos e interativos que se desenvolvem nos ambientes de trabalho.
A DINÂMICA PRAZER/SOFRIMENTO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: O RECONHECIMENTO NO GRUPO GEM (GRUPO ESPECIAL MOTORIZADO) DA GUARDA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
CAMILA BACKES DOS SANTOS;LAIS TRENTINI;THIELE DA COSTA MULLER; ALVARO CRESPO MERLO
Esta pesquisa justifica-se pela importância da compreensão da dinâmica prazer/sofrimento psíquico encontrado nas relações de trabalho. Os trabalhadores pesquisados são guardas municipais (gms) que têm como atividade a segurança urbana, tendo como campo de intervenção o GEM (Grupamento Especial Motorizado), da Guarda Municipal de Porto Alegre - GMPA. Os objetivos são perceber como se colocam as relações entre prazer e sofrimento psíquico, baseando-se na perspectiva do reconhecimento de suas atividades. Assim como investigar as estratégias individuais e coletivas construídas para o enfrentamento do cotidiano do trabalho, em relação ao reconhecimento. Dejours (2005) ressalta a relação com o outro, no coletivo do trabalho, como um elemento indispensável de suporte psíquico oferecendo reconhecimento e identificação. A retribuição esperada pelo trabalhador não passa de um reconhecimento de natureza simbólica, que pode ser pensada em duas dimensões: no sentido de constatação ou no sentido de gratidão. O primeiro vem falar da contribuição individual para com a organização do trabalho, enquanto que o segundo será uma gratidão destinada aos trabalhadores, em relação à contribuição destes para a organização. Para que haja o reconhecimento é necessária uma reconstrução dos julgamentos acerca do trabalho realizado, isto é, será destinado ao trabalho feito, e não à pessoa enquanto sujeito.Optou-se pela Metodologia em Psicodinâmica do Trabalho e a coleta e análise dos dados têm o propósito de envolver os conteúdos manifestos e latentes que surgem através da linguagem verbal e não verbal. Ao todo realizaram-se 12 encontros semanais com duração de 1 hora, contando com aproximadamente 10 gms. Nas falas dos gms percebemos que eles sentem falta de indicadores de produção, o que não existe por não se trabalhar, como eles mesmos dizem, com tijolos que vão se empilhando um em cima do outro e no final do dia tem-se um resultado palpável e concreto.
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
A IMPORTÂNCIA DA RELIGIOSIDADE NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
MILENE OLIVEIRA DE FREITAS
Em virtude de mudanças físicas, psicológicas e sociais impostas pelo processo natural do envelhecimento, as pessoas idosas tendem a sofrer perdas de papéis sociais, perdas motoras e afetivas, que podem gerar sentimentos de frustração, depressão e solidão. Segundo Santos et al. (2002), a religião auxilia o idoso a enfrentar as alterações impostas pelo envelhecimento, pois permite manter um elo entre as suas limitações e o aproveitamento de suas potencialidades ou, quando isso não ocorre, ajuda-o a vencer com mais facilidade essa última etapa da vida. O presente estudo objetivou verificar se os idosos praticam atividades religiosas e qual a influência que estas exercem em sua vida. A pesquisa descritiva com enfoque qualitativo contou com a participação de 10 idosas frequentadoras do Programa Maior Idade, em São Leopoldo, que tinham mais de 68 anos de idade. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada e interpretados pela análise de conteúdo contido nas falas das pesquisadas. O estudo observou os aspectos éticos e normas para pesquisa em saúde. Os resultados mostraram que a maior parte das entrevistadas exerce algum tipo de atividade ou prática religiosa, sendo associado à sensação de bem-estar e equilíbrio emocional. O hábito de frequentar a igreja também foi citado como motivador pela possibilidade de encontrar amigos. Para Carvalho e Fernandez (2002), a prática religiosa pode exercer influência benéfica como suporte emocional, amparo, redução de estresse e promoção de convívio social. Concluiu-se que a religiosidade auxilia o idoso no enfrentamento de turbulências morais e sociais da atualidade, no
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 400
sentido de ter um objetivo de vida, além de um envolvimento maior com as pessoas, podendo melhorar sua satisfação na vida.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA REALIZAÇÃO DA LIGADURA TUBÁRIA COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO
CLÁUDIA SIMONE SILVEIRA DOS SANTOS;TIAGO ZANATTA CALZA
A Ligadura Tubária é um método contraceptivo considerado definitivo. Atualmente, tem-se verificado um número significativo de mulheres que solicitam esse procedimento. Com base na Lei 9.263/96 que trata do Planejamento Familiar, a paciente deve passar por uma avaliação multiprofissional frente à escolha de tal método.Foram avaliadas 124 mulheres no período de 12 meses, que manifestaram o desejo de realizar a Ligadura Tubária como método contraceptivo. As idades variaram entre 21 e 46 anos, sendo que 78,2% destas foram liberadas pela equipe de psicologia para realização da Ligadura Tubária, principalmente casos onde ficou evidente o número elevado de filhos, a falta de condições financeiras, situações de risco de vida em nova gestação. Esta avaliação consta de 3 entrevistas, onde em pelo menos em uma delas ocorre a participação do companheiro. Desta forma, pode-se avaliar melhor a decisão do casal. Entre as não liberadas, 21,8%, os principais motivos para a não liberação foram a escolha por outro método, como por exemplo o DIU, a pouca informação com relação a outros métodos, a não concordância do companheiro e a associação da Ligadura Tubária como forma de não manter mais os cuidados básicos com a saúde ginecológica.
PSIQUIATRIA
6-SULFATOXIMELATONINA COMO PREDITOR PARA EFICÁCIA DE ANTIDEPRESSIVO
CRISTIANE KOPLIN;JULIO PEZZI; GIOVANA DANTAS; FABIANA GUARIENTI; TALITA ZANETTE; MAYARA MAYER; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES; WOLNEI CAUMO; REGINA MARKUS; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
A depressão é um distúrbio relacionado à noradrenalina, serotonina e dopamina. Uma vez que a transmissão noradrenérgica regula asecreção de melatonina, tem-se a hipótese de que antidepressivos podem alterar níveis de melatonina. Objetivo: estabelecer o valor preditivo da concentração urinária de aMT6 como indicativo de resposta terapêutica aos antidepressivos tricíclicos. Métodos: 22 pacientes foram avaliadas através da escala HAM-D antes do uso de nortriptilina, duas e 8 semanas após. A coleta de urina ocorreu antes e depois da administração do fármaco. As alíquotas de cada paciente foram reunidas de acordo com o horário de micção: 06:00-12:00, 12:00-18:00, 18:00-24:00 e 24:00-06:00. Resultados: Houve diferença na HAM-D duas semanas após o tratamento (17,91 + 1,51) quando comparado com a HAM-D antes do tratamento (23,96 + 1,05; P = 0,01; Teste-t pareado); houve correlação inversa entre HAM-D (17,91 + 1,51) duas semanas após o tratamento e a excreção de aMT6s (52.51 + 21.36 mg/mg creatinina) no horário 00:00 h - 06:00 h (r = -0,416, P = 0,016). Quando a amostra foi dividida em dois grupos, HAM-D <18 e HAM-D> 18, duas semanas após a administração de nortriptilina, observou-se que pacientes com menor pontuação na HAM-D apresentaram maior excreção de aMT6s no horário 00:00 h - 06:00 h (HAM-D < 18 = 80.80 + 37.23 mg/mg creatinina, N = 12; HAM-D > 18 = 18.56 + 8.68 mg/mg creatinina, N = 10, P = 0.039, Teste não-paramétrico de Mann-Whitney). Pacientes menores escores na HAM-D aumentaram em 51% a excreção de aMT6s. Houve deiferença na HAM-D 8 semanas após o tratamento (13,77 + 1,30) quando a HAM-D antes do tratamento (23,96 + 1,05; P = 0,01; Teste-t pareado). Conclusão: A concentração urinária de aMT6 pode ser preditiva de resposta terapêutica aos antidepressivos tricíclico.
TRANSTORNO DE PÂNICO E AGORAFOBIA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA
FERNANDO FERREIRA DE SOUZA;CARLOS ALBERTO ANDRADE FRANCO; GEISON LEONARDO FERNANDES PINTO; GUSTAVO VERGANI; LEONARDO GAZZI COSTA; RODRIGO CASAGRANDE TRAMONTINI; ROGER HEISLER
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 401
Introdução: O transtorno de pânico é definido pelo aparecimento espontâneo de ataques de pânico (períodos distintos de medo intenso que variam de vários ataques por dia a poucos por ano). O ataque de pânico costuma ser acompanhado de agorafobia (medo de freqüentar locais públicos, especialmente aqueles nos quais seria difícil encontrar uma saída em caso de um ataque de pânico). A prevalência durante a vida é de 1,5 a 5% para trantorno do pânico e de 3 a 5,6% para ataques de pânico. Objetivos: Evidenciar aspectos clínicos do ataque de pânico. Materiais e métodos: Revisão da literatura disponível na biblioteca da FAMED e busca de artigos no PubMed. Resultados: Todo o paciente que chega à sala de emergência com sensação de morte iminente deve ter sua história colhida, ser examinado e ter exames de screening coletados. Após se excluir uma condição orgânica que ameace a vida, o diagnóstico é de transtorno do pânico. O responsável pelo paciente deve estar atento à presença de causas de tireóide, paratireóide e adrenal, causas respiratórias, bem como causas relacionadas ao uso de substâncias. Sintomas como dor torácica, principalmente em pacientes com fatores de risco cardíaco (hipertensos, obesos...) podem impor testes cardíacos adicionais. Entre os transtornos mentais, o diagnóstico diferencial do transtorno de pânico inclui simulação, transtorno factício, hipocondria, transtorno de despersonalização, fobia social e específica, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos depressivos e esquizofrenia. Conclusão: O diagnóstico do primeiro ataque de pânico em um paciente com transtorno do pânico é realizado por exclusão. Pacientes já diagnosticados costumam informar sua condição psiquiátrica, facilitando o diagnóstico e o manejo clínico.
RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS SÉRICOS DAS SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITURICO (TBARS) E A DOSE DE ANTIPSICÓTICO EM PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS
WAGNER POTTER;BRISA FERNANDES, DAVID LUCENA, FABIANA MIGLIAVACCA, DALTON MEDEIROS, KEILA MARIA CERESÉR, CLARISSA SEVERINO GAMA, FLÁVIO KAPCZINSKI
Introdução: Há forte evidência de que as espécies reativas de oxigênio são relevantes na fisiopatologia da esquizofrenia (SZ). A Peroxidação lipídica, medida através dos níveis séricos das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), encontra-se aumentada nos pacientes com SZ. Objetivos: Esclarecer se o tipo e a dose dos antipsicóticos participam do estresse oxidativo na SZ. Material e Métodos: Foram avaliados os níveis séricos de TBARS em 30 pacientes com SZ fazendo uso crônico de medicação, dos quais 10 pacientes se tratavam com clozapina, 10 com risperidona e 10 com haloperidol – todos de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-IV. O grupo controle foi composto de 10 indivíduos saudáveis. Resultados: Os níveis séricos de TBARS estavam aumentados em pacientes com SZ. Os níveis séricos de TBARS nos grupos em uso de clozapina e haloperidol estão aumentados em comparação com o grupo controle. Os níveis séricos de TBARS encontrados no grupo da risperidona não possuem diferença em relação aos controles. Há uma moderada correlação positiva entre os níveis séricos de TBARS e a dose de antipsicóticos (mg) nos equivalentes clorpromazínicos. Ao analisarmos os pacientes com SZ em um modelo ANCOVA ajustado para doses de antipsicóticos em mg/dia e idade, não foi encontrada diferença entre os níveis séricos de TBARS nos grupos estudados. Conclusão: O TBARS está positivamente correlacionado com a dose do antipsicótico. Nosso estudo acrescenta à literatura o conceito de que a dose do antipsicótico é mais importante do que o tipo no aumento do TBARS em pacientes com SZ.
O PAPEL DA DEPRESSÃO NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
PAULA VENDRUSCOLO TOZATTI;PATRÍCIA RIVOIRE MENELLI GOLDFELD;WALDOMIRO CARLOS MANFROI; LAURA VARGAS DORNELLES; LUCIANA DA SILVA SOARES E BRUNO SCHNEIDER DE ARAUJO
Introdução: Em estudo de metanálise, Nicholson e cols. (2006) incluíram estudos etiológicos e prognósticos, totalizando 146.538 sujeitos, encontrando que a avaliação incompleta ou com viéses para o ajuste dos fatores de risco convencionais promoveu uma variação de até 48% do risco relativo entre os estudos e concluíram que depressão ainda não está bem estabelecida como um fator de risco independente para DAC. Em outra metanálise mais recente, Van Der Kooy e cols. (2007) concluíram que depressão parece um fator de risco independente para uma ampla gama de doenças cardiovasculares, embora esta evidência esteja relacionada com um alto nível de heterogeneidade entre os estudos, e identificaram o Transtorno Depressivo Maior como o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de DAC. Objetivos: Avaliar os níveis de depressão em
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 402
sujeitos portadores de Infarto Agudo do Miocárdio e compará-los com sujeitos sem comprometimento coronário. Materiais e Métodos: Estudo de caso-controle com uma amostra de 105 casos e 100 controles. Foram selecionados e entrevistados, entre os indivíduos submetidos a cateterismo cardíaco na unidade de Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia do HCPA, aqueles com história de Infarto recente (até um mês) e aqueles com as coronárias normais. Para a avaliação dos aspectos clínicos, foram coletadas informações sobre dados pessoais, incluindo fatores de risco para DAC, dados do exame físico e do cateterismo cardíaco. Para a avaliação da depressão foi aplicado o Inventário de Depressão de Beck (BDI). Resultados e Conclusões: O trabalho encontra-se em fase de análise dos dados e ainda não podemos apresentar os resultados. Estes estarão disponíveis na época da apresentação do pôster.
PREVALENCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS E CEFALÉIA EM UMA POPULAÇÃO DO SUL DO BRASIL
ANA CLÁUDIA DE SOUZA;ROSA MARIA LEVANDOVSKI; GABRIELA LASTE; ALICIA DEITOS; LUCIANA FERNANDES; CARLA KAUFFMAN; GIOVANA DANTAS,KARLA ALLEBRANDT; IRACI LUCENA DA SILVA TORRES; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO; WOLNEI CAUMO
Objetivo: Sintomas depressivos e cefaléia são entidades clínicas comuns e com impacto considerável no âmbito pessoal, sociocultural e economico. No entanto a relação entre essas patologias parece ser mais complexa visto que sintomas depressivos e cefaléia podem ter etiologia multifatorial. A depressão é freqüentemente abordada em trabalhos que avaliam quadros de dor crônica. Identificar corretamente cefaléia e depressão dominando estratégias terapêuticas constitui não só um desafio, mas também uma oportunidade de melhoria na qualidade de vida da população. Este trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência de sintomas depressivos e de dor de cabeça em uma população rural do Sul do Brasil. Métodos e Resultados: estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (08/087). Foram avaliados sintomas depressivos (Beck), cefaléia (HIT-6) de 1707 sujeitos moradores de 5 municípios do Vale do Taquari, localizado na região centro-leste do RS. A prevalência de sintomas depressivos leve, moderada e grave foi de 9,6% (164), 4,3% (73) e 0,2% (3), respectivamente. A prevalência de cefaléia foi de 10,8% (185). Os resultados demonstram correlação positiva entre sintomas depressivos e cefaléia (g
2
P<0,001- CI 2,425-6,796). Adicionalmente, observamos uma correlação inversa entre escolaridade e cefaléia (g
2 P=0,013- CI 1,111-2,167). Conclusões: na população em estudo, essencialmente rural, foi
encontrada associação positiva entre depressão e cefaléia caracterizando estas como um problema de saúde pública. Estudos longitudinais que abordem a relação causal entre depressão e cefaléia, bem como as formas pelas quais esta população é tratada tornam-se importantes instrumentos para a organização do sistema de atenção à saúde de forma racional.
NÍVEIS SÉRICOS DE BDNF E S100B EM UM MODELO ANIMAL DE MANIA INDUZIDO POR D-ANFETAMINA
GABRIEL RODRIGO FRIES;LAURA STERTZ; SAMIRA S. VALVASSORI; ANA CRISTINA ANDREAZZA; MARINA CONCLI LEITE; BIANCA WOLLENHAUPT DE AGUIAR; BIANCA PFAFFENSELLER; KEILA MARIA CERESÉR; CARLOS ALBERTO GONÇALVES; JOÃO QUEVEDO; FLÁVIO KAPCZINSKI
INTRODUÇÃO: Estudos in vivo mostram um envolvimento do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e da proteína S100B no transtorno de humor bipolar, e seus níveis séricos têm sido estudados como potenciais biomarcadores em humanos. O uso de modelos animais é uma das maneiras de se estudar a modulação da expressão dessas proteínas por estabilizadores de humor e o seu potencial transporte através da barreira hematoencefálica. OBJETIVO: Avaliar os níveis séricos de BDNF e S100B e o efeito dos tratamentos com lítio (LI), valproato de sódio (VPA) e butirato de sódio (BUT) em um modelo animal de mania induzido por D-anfetamina (AMPH). MÉTODOS: Ratos Wistar machos foram submetidos a dois diferentes tratamentos: no modelo de prevenção, os ratos (n=10 por grupo) foram tratados IP com LI, VAL, BUT ou salina por 14 dias e, entre o dia 8 e o dia 14, receberam também salina ou AMPH. No modelo de reversão (n=10 por grupo), os ratos receberam injeções IP diárias de AMPH ou salina por 14 dias, e entre o dia 8 e o dia 14, receberam também LI, VPA, BUT ou salina. O sangue total foi coletado por punção intracardíaca e o soro foi armazenado após processamento. As dosagens dos níveis de BDNF e S100B foram
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 403
realizadas por ELISA, e os dados obtidos foram analisados por ANOVA de uma via, sendo um p inferior a 0,05 considerado significativo. RESULTADOS: Não houve diferenças nos níveis séricos de BDNF e S100B em nenhum dos tratamentos no modelo de reversão e prevenção. CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que as alterações nestas proteínas induzidas pelo LI, VPA, BUT e AMPH não são detectáveis perifericamente. Futuros estudos são necessários para avaliar se as drogas induzem alterações no SNC, e se há uma correlação entre os níveis de BDNF e S100B no SNC e na periferia de ratos.
ESTUDO DOS CRONOTIPOS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PASSO FUNDO, RS, BRASIL
VINICIUS SOUZA DOS SANTOS;MÁRCIA LACERDA DE MEDEIROS SCHNEIDER, GIOVANA DANTAS, WOLNEI CAUMO,MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
O impacto da dimensão de matutinidade-vespertinidade pode afetar o comportamento social e a saúde do indivíduo. O objetivo do presente estudo foi determinar o cronotipo de estudantes do 6º semestre de cursos de turno integral da Universidade de Passo Fundo- Rio Grande do Sul-Brasil- e avaliar a influência dos parâmetros de comportamento. Material e Método:Os instrumentos usados no estudo foram: um questionário demográfico, IQSP para avaliar a qualidade do sono, MEQ para determinar o cronotipo, SRQ-20 para avaliar distúrbios psiquiátricos menores; ESE para sonolência diurna; AUDIT para uso de álcool..372 estudantes participaram do estudo. 66,7% eram mulheres e 33,3% eram homens. Resultados: A média de idade foi de 21,6+ 3.08. 90% não fumam, 24,8% praticam atividade física e 36,3% mostraram tendência a abuso de álcool. 9,7% relataram trabalhar no 3º turno.: Em relação à prevalência dos cronotipos, foram encontrados 56,1% de cronotipos indiferenciados, 31% de vespertinos moderados, 8,4% de vespertinos, 4.3% de matutinos moderados e 0,3% de matutinos. Houve correlação entre sexo masculino e cronotipo vespertino (r=0.13, P=0.01). Foi encontrado 65% de prevalência para boa qualidade de sono em um ponto de corte > 5 na IQSP, sem diferença significativa quando comparados sexo, idade e o curso que o indivíduo estudava. Foi observada associação entre má qualidade de sono e vespertinidade (r = -0.23, P<0.001). Vespertinidade também foi associada com desordens de humor (r=-0.15, P<0.001) e sonolência diurna (r =-0.11, P<0.001). Conclusão: O cronotipo vespertino foi relacionado com má qualidade de sono, desordens de humor e sonolência diurna na população estudada. Esse estudo aponta a necessidade de ações preventivas e educativas para essa parte vulnerável da população.
MORTES NO TRÂNSITO DE PORTO ALEGRE
GUILHERME LUÍS MENEGON;FLAVIO PECHANSKY; RAQUEL DE BONI; DANIELA BENZANO; TANARA SOUSA; MARIANE STAMPE
Introdução: No mundo, há cerca de 50 milhões de vítimas não fatais e 1,2 milhão de vítimas fatais no trânsito por ano, e parte dessas está relacionada ao álcool; uma das circunstâncias de risco, SVN (single-vehicle night-time), é considerada indicativo de uso de álcool. Objetivo: Verificar fatores associados à mortalidade entre vítimas de acidentes de trânsito em Porto Alegre (2007). Materiais e Métodos: Estudo transversal com dados secundários obtidos na Empresa Pública de Transporte e Circulação. Foram comparados, através de regressão logística, o grupo de vítimas fatais e o de não fatais quanto a sexo, idade, situação da vítima, condições meteorológicas e SVN. Resultados: A base de dados contém 7700 acidentes, sendo 2% com vítimas fatais e 95,7% com não-fatais. Ser do sexo masculino (OR 2,06; IC95% 1,37-3,07; p<0,001), pedestre (OR 2,51; IC95% 1,76-3,59; p<0,001) e SVN (OR 2,62; IC95% 1,78-3,84; p<0,001) foram associados a óbito. Conclusões: O fator mais associado a morrer no trânsito foi SVN, um indicativo de acidente relacionado ao álcool estabelecido na literatura. Isso pode sugerir que os acidentes relacionados ao álcool tendem a ser mais graves. Além disso, ser pedestre (população vulnerável) e ser do sexo masculino também foram importantes fatores associados à mortalidade. A falta de dados objetivos de alcoolemia nas bases de dados brasileiras compromete a compreensão da relação do beber e dirigir e a adequação de medidas de prevenção.
EFEITO DE SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS NO IMPACTO DA CEFALÉIA CRÔNICA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 404
MARCELO GREGIANIN ROCHA;DENISE CAMARGO VASCONCELOS, LILIANE VIDOR, ROSA LEVANDOVSKI, MIRELA O. TASCH, MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO, WOLNEI CAUMO
Introdução : Problemas afetivos são apontados como um dos diversos fatores relacionados ao impacto da cefaléia. Pode inclusive servir como um melhor preditor de desabilidade que a própria dor relacionada a cefaléia. Apesar desta relação ter sido investigada em pacientes ambulatoriais, ela ainda não foi estudada em pacientes mais jovens na comunidade. Objetivo :O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de desordens psiquiátricas menores no impacto da cefaléia crônica em estudantes universitários. Materiais e Métodos :Um total de 372 estudantes universitários sem o dignostico de disordens psiquiatricas, 121 com cefaléia diária ou quase diária no ultimo ano [Cefaléia crônica diária de acordo com o international headache society], e 251 sem diagnóstico de cefaléia crônica responderam o short-form headache impact test (HIT-6) e o self-reporting questionnaire (SRQ-20) para avaliar disordens psiquiátricas menores (sintomas somáticos, humor depressivo, pensamentos depressivos e energia diminuida). Foram também avaliadas fatores como qualidade do sono, sonolência diurna, uso de alcool, nível de satisfação e performance escolar. Resultados :A análise realizada por regressão logística mostrou que disordens psiquiátricas menores determinaram uma chance aumentada para se relatar um impacto mais severo da cefaléia, com um odds ratio de 2,58. Outros co-fatores independentes associados com um impacto mais severo de cefaléia foram a própria cefaléia crônica (6,39), gênero feminino (2,26), altos níveis de sonolência diurna (2,06), má qualidade de sono (2,08), baixa performance escolar (1,92), e o baixo nível de escolaridade da mãe (anos) (1,03). Conclusão : A identificação de uma associação entre DPM e a severidade da desabilidade da cefaléia crônica pode ser de grande utilidade para investigações futuras que avaliem o impacto negativo da cefaléia em desordens psiquiátricas maiores, e performance acadêmica e profissional.
ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DE TABACO E SINTOMAS DEPRESSIVOS
FABIANE DRESCH;ROSA MARIA LEVANDOVSKI, ALÍCIA DEITOS, GABRIELA LASTE, JANAINA DA SILVEIRA, ANA CLAUDIA DE SOUZA, CARLA KAUFFMANN, LUCIANA CARVALHO FERNANDES, GIOVANA DANTAS, KARLA ALLEBRANDT, WOLNEI CAUMO, IRACI LUCENA DA SILVA TORRES, MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
INTRODUÇÃO: O tabagismo está associado à alta morbimortalidade, sendo responsável por aproximadamente 5 milhões de mortes ao ano e considerado pela Organização Mundial da Saúde a maior causa de morte evitável e de maior crescimento no mundo. O uso de tabaco e comorbidades psiquiátricas vem sendo um tema amplamente estudado nos últimos tempos e faz-se necessário a contribuição científica para encontrarmos resultados mais contundentes a este problema de saúde pública. O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre sintomas depressivos e consumo de tabaco na população estudada. METODOLOGIA: estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética do HCPA (08/087), realizado em dez municípios do Vale do Taquari, localizado na região centro-leste do Rio Grande do Sul e abrange 37 municípios essencialmente rurais. Foram coletados dados sóciodemográficos, consumo de tabaco e sintomas depressivos (Beck), totalizando 5002 entrevistados. Os dados foram analisados através do programa SPSS 16 for Windows utilizando estatística descritiva o teste de l
2 . RESULTADOS: a amostra foi composta de 67 % mulheres, com
idade média de 45 anos + 12,9. A prevalência de sintomas depressivos foi de 15,5% e 13,2% fazem uso de tabaco. Entre os indivíduos com sintomas depressivos 22% utilizam tabaco versus 14,6% dos indivíduos sem sintomas depressivos (l
2 p< 0,001). CONCLUSÃO: comorbidades psiquiátricas são
fatores a serem considerados na avaliação de tabagistas em razão de sua alta prevalência. Os tabagistas têm mais prejuízos na qualidade de vida, desta forma apresentam escores mais elevado de sintomas depressivos. Estudos que abordem a relação entre depressão e uso de tabaco tornam-se importantes instrumentos para a organização do sistema de atenção à saúde de forma racional. Agradecimentos: FIPE HCPA; PNPD/CAPES; PROBRAL
MELHORA DOS SINTOMAS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ESQUIZOFRENIA COM MEMANTINA COMO TERAPIA ADJUVANTE À CLOZAPINA NÃO ESTÁ RELACIONADA COM NÍVEIS SÉRICOS DE BDNF: RESULTADOS DE UM ESTUDO DUPLO-CEGO RANDOMIZADO CONTROLADO COM PLACEBO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 405
CAMILA LERSCH;BRISA FERNANDES; DAVID DE LUCENA; MAURICIO KUNZ; GABRIEL RODRIGO FRIES; LAURA STERTZ; BIANCA AGUIAR; BIANCA PFAFFENSELLER; CLARISSA SEVERINO GAMA
Introdução: Estudo recente demonstrou que memantina como terapia adjuvante à clozapina melhora os sintomas negativos e positivos em pacientes com esquizofrenia refratária (SZ). Objetivos: Examinar níveis séricos de BDNF em pacientes com SZ antes e após a utilização da memantina como terapia adjuvante à clozapina e avaliar BDNF sérico como um possível preditor de resposta à memantina. Métodos: Pacientes com SZ refratária segundo critérios do DSM-IV foram randomizados para receber 20 mg/dia de memantina (n=10) ou placebo (n=11), além de clozapina, por 12 semanas. Analisamos os níveis séricos de BDNF com kit de ELISA sanduíche antes e após 12 semanas do tratamento. A medida de desfecho primário foi a pontuação total da escala BPRS e suas subescalas de sintomas positivos e negativos. A resposta à memantina foi definida como diminuição de pelo menos 50% na BPRS. Utilizamos teste t pareado para avaliar diferença nos níveis séricos de BDNF antes e após tratamento com memantina ou placebo e teste t não pareado para avaliar diferença nos níveis séricos de BDNF conforme resposta ao tratamento com memantina. Resultados: 21 participantes completaram o estudo, sendo incluídos na análise. Melhoras significativas (p <0,01) sobre a pontuação total da BPRS e suas subescalas de sintomas positivos e negativos foram observadas com memantina comparada com placebo. Níveis séricos de BDNF não diferiram antes e após o tratamento com memantina ou placebo. Conclusão: A memantina como terapia adjuvante à clozapina foi associada à melhora dos sintomas positivos e negativos em pacientes com esquizofrenia refratária. Os níveis séricos de BDNF não diferiram entre os pacientes que responderam ao tratamento e aqueles que não responderam, nem aumentaram depois do tratamento.
USO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA(RTMS) EM PACIENTES PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA
DANILO RCOHA DE JESUS;PAULO BELMONTE DE ABREU;GABRIELA FAVALLI;MARIA INÊS LOBATO;ALEXEI GIL
Introdução: Esquizofrenia é um distúrbio psicótico complexo e heterogêneo que envolve uma gama de sintomas incluindo delírios, alucinações, distúrbio de pensamento, alteração de afeto e disfunção cognitiva. Alucinações auditivas estão presentes em 50% a 70% dos pacientes portadores de esquizofrenia. Para uma grande porcentagem destes pacientes este sintoma é de extremo desconforto, principalmente quando as alucinações são de conteúdo negativo ou intrusivo. Objetivo: O estudo tem como objetivo principal avaliar a eficácia da ETMr de baixa freqüência sobre a qualidade de vida de pacientes esquizofrênicos refratários com alucinações auditivas resistentes ao tratamento com clozapina. Num segundo plano tem como objetivo avaliar a eficácia deste tratamento na redução das alucinações auditivas e outros sintomas psicóticos destes pacientes. Material e Métodos: Desenho do estudo: Ensaio clínico randomizado duplo-cego, comparando a ETMr de baixa freqüência ao sham de baixa freqüência, aplicados na região temporoparietal esquerda de pacientes esquizofrênicos que apresentam alucinações auditivas resistentes ao tratamento com clozapina. Procedimento: Será realizado um ensaio clínico prospectivo, controlado, duplo-cego randomizado. Os pacientes selecionados que preencherem os critérios de inclusão assinarão o consentimento pós-informação e serão alocados randomicamente para receber EMTr ativa ou EMTr inativa (sham) por um período de 20 sessões.Resultados:O estudo encontra-se em andamento. Até o momento os pacientes do grupo que recebeu a EMTr ativa mostraram uma redução das alucinações auditivas e de sua qualidade de vida quando comparados ao grupo placebo(sham).Conclusões:Mostra-se necessário o término deste estudo para que se possa verificar se o benefício da EMTr nos pacientes portadores de esquizofrenia com alucinações refratárias confirma-se num maior número de pacientes.
EXPRESSÃO GÊNICA DO FATOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DO CÉREBRO NA REGIÃO DA AMÍGDALA EM UM MODELO ANIMAL DE REVERSÃO E PREVENÇÃO INDUZIDO POR D-ANFETAMINA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 406
BIANCA WOLLENHAUPT DE AGUIAR;BIANCA PFAFFENSELLER; GABRIEL RODRIGO FRIES; LAURA STERTZ; SAMIRA S. VALVASSORI; HUGO BOCK; BRISA FERNANDES; KEILA MARIA CERESÉR; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA; FLÁVIO KAPCZINSKI
INTRODUÇÃO: Estudos evidenciam a alteração dos níveis de expressão de fatores neurotróficos na patofisiologia do Transtorno de Humor Bipolar (THB), sendo o Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) o mais estudado membro desta família. Por estes atuarem na plasticidade e sobrevivência celular no sistema nervoso central (SNC), estudos em tecidos cerebrais se mostram de grande relevância. O uso crônico de estabilizadores de humor demonstrou alterar os níveis séricos de BDNF em pacientes com THB. OBJETIVOS: Avaliar a expressão gênica de BDNF na região da amígdala em um modelo animal de mania induzido por D-anfetamina (AMPH), e o efeito dos tratamentos com lítio (LI), valproato de sódio (VPA) e butirato de sódio (BUT). MATERIAIS E MÉTODOS: Ratos Wistar machos foram submetidos a dois tratamentos diferentes: no modelo de prevenção, os ratos (n de 6 por grupo) foram tratados intraperitonealmente (IP) com LI, VAL, BUT ou salina (SAL) por 14 dias e, entre o dia 8 e o dia 14, receberam também SAL ou AMPH. No modelo de reversão, os ratos (n de 8 por grupo) receberam injeções IP diárias de AMPH ou SAL por 14 dias, e entre o dia 8 e o dia 14, receberam também LI, VPA, BUT ou SAL. Após, os ratos foram sacrificados e a amígdala submetida a um protocolo de extração de RNA total com Tri Reagent. A análise foi feita em PCR Tempo Real utilizando o kit One-Step RT-PCR. Os dados obtidos foram analisados por ANOVA de uma via. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Não houve diferença significativa (p maior que 0,05) na expressão gênica do BDNF em nenhum dos tratamentos no modelo de reversão e prevenção. Mais estudos são necessários para avaliar se há uma correlação da expressão com os níveis de BDNF na periferia e no SNC de ratos e para avaliar se as medicações poderiam induzir alterações no SNC.
RELAÇÃO ENTRE RITMO SOCIAL E CRONOTIPO
TALITA ZANETTE;REGINA LOPES SCHIMITT; GIOVANA DANTAS; ROSA LEVANDOVSKI; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
Introdução: A investigação dos mecanismos por trás dos ritmos biológicos destacou o papel de dois sincronizadores exógenos: a luz e as interações sociais. O MCTQ distingue horário de ir para a cama, horário em que se decide dormir e início do sono, que é o tempo que a pessoa leva para pegar no sono uma vez que decida dormir. Objetivo: O presente estudo pretende correlacionar ritmo social e as variáveis cronobiológicas. Métodos: Participaram do estudo 145 funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com idades de 18 a 60 anos. Para a avaliação das variáveis cronobiológicas foi utilizado o MCTQ. Para a avaliação do ritmo social foi utilizada SRM-17. Resultados: Quanto mais tarde as pessoas vão para a cama nos dias de trabalho, menor é o escore de ritmo social (r=-0,265; p<0,01). Essa correlação inversa aumenta quando se trata do horário em que a pessoa está pronta para dormir (r=-0,305; p<0,01) e início do sono (r=-0,284; p<0,01) e não aparece nos dias livres. Da mesma forma, quanto maior o intervalo entre a hora de acordar e a de levantar nos dias livres, mais baixo o escore de ritmo social (r=-0,387; p<0,01), correlação que não aparece em dias de trabalho. Conclusão: Neste estudo a regularidade das atividades sociais mostrou correlação positiva com exposição à luz e com o fenótipo matutinidade.
TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E DESEMPENHO COGNITIVO EM CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO OU NEGLIGÊNCIA
JOANA BÜCKER;MÁRCIA KAUER-SANT¿ANNA; BRISA FERNANDES; ANA CRISTINA ANDREAZZA; LOURENÇO JAKOBSON; WAGNER POTTER; JOANA NARVAEZ; NATÁLIA KAPCZINSKI; FLÁVIO KAPCZINSKI
Introdução: A exposição a eventos traumáticos durante a infância está associada ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta. Escores de inteligência (QI) superiores têm sido sugeridos como um fator de proteção. O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é uma neurotrofina importante para a neuroplasticidade. Objetivo: O objetivo deste estudo é verificar se os transtornos psiquiátricos em crianças vítimas de abuso ou negligência estão associados com escores de QI mais baixos, e com menores níveis de BDNF. Material e Métodos: 25 crianças de um programa de proteção foram recrutadas. A avaliação incluiu uma entrevista sócio-demográfica, WISC-
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 407
III (QI), e um diagnóstico psiquiátrico (K-SADS-E). Os níveis de BDNF foram avaliados através do teste de ELISA. Resultados: Todas as 25 crianças, com idades entre 4 a 12 anos, tinham sido expostas a algum tipo de trauma repetido na infância, como abuso sexual (n=3), maus tratos (n=15) e negligência (n=25). A média de duração do abuso/negligência foi de 3,35 ± 2 anos. O diagnóstico positivo de sintomas psiquiátricos estava presente em 64% da amostra, incluindo depressão maior (n=2); irritabilidade (n=8); mania (n=1); sintomas de ansiedade (n=5); enurese (n=1), déficit de atenção e hiperatividade (n=2); uso de drogas (n=1); transtorno de conduta (n=7). As crianças com algum transtorno psiquiátrico mostraram baixos escores de QI quando comparadas àquelas sem diagnóstico psiquiátrico (92,67 ± 8,42 vs 102,86 ± 11,12, respectivamente, p=0.027), mesmo após o ajuste para sexo e idade. Não houve correlação entre QI e níveis séricos de BDNF (r=0,08, p=0,72). Conclusões: Existe uma alta prevalência de transtornos psiquiátricos em crianças vítimas de abuso ou negligência. Há uma associação entre transtornos psiquiátricos e pior desempenho cognitivo (escores de QI), No entanto, essa associação não parece envolver alterações dos níveis séricos de BDNF.
UM NOVO MODELO PARA DEFINIR MELANCOLIA NOS TRANSTORNOS DEPRESSIVOS: ANÁLISE DE 200 PACIENTES
FERNANDA LUCIA CAPITANIO BAEZA;MARCO ANTÔNIO KNOB CALDIERARO, DIESA OLIVEIRA PINHEIRO, MARCELO PIO DE ALMEIDA FLECK
O DSM trata a melancolia apenas como um especificador do Episódio Depressivo Maior, considerando aspectos como humor não reativo, anedonia, insônia terminal, culpa, alterações psicomotoras e de apetite/peso. Segundo alguns autores, a população identificada como melancólica pelo DSM forma um grupo de características heterogêneas. Parker e cols. dividem categoricamente os transtornos depressivos em melancólicos e não melancólicos. Melancolia é definida como transtorno do humor e do movimento, sendo o último necessário e suficiente para defini-la. Pacientes deprimidos identificados como melancólicos segundo este modelo formariam uma população homogênea, mostrando melhor resposta a tricíclicos e pouca relação com fatores psicossociais. Parker desenvolveu o CORE, instrumento diagnóstico de melancolia que avalia alterações psicomotoras observáveis. Objetivos: comparar o diagnóstico de Episódio Depressivo Maior com características melancólicas de acordo com DSM com o modelo desenvolvido por Parker. Método: MINI e CORE foram aplicados em 201 pacientes que tivessem diagnóstico de Episódio Depressivo Maior pelo MINI. Resultados: a média no CORE foi de 5,9(DP:4,9) em pacientes melancólicos pelo MINI e 3,1(DP:3,4) para os sem características melancólicas (IC95%:1,43–4,15). Com o MINI como referência, a sensibilidade do CORE é de 32% e a especificidade 87%. Conclusões: O CORE não teve bom desempenho em identificar pacientes com depressão com características melancólicas de acordo com o DSM, já que os instrumentos partem de pressupostos teóricos diferentes, e portanto parecem falar de duas entidades distintas quando se referem a melancolia. O CORE se mostrou também menos abrangente (portanto mais específico) em definir pacientes como melancólicos. Mais estudos sobre o novo modelo podem trazer mudanças no entendimento da etiologia e tratamento dos transtornos depressivos.
RELAÇÃO ENTRE RITMO SOCIAL E SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS
FABIANA AMARAL GUARIENTI;REGINA LOPES SCHIMITT; GIOVANA DANTAS; CRISTIANE KOPLIN; MARIA PAZ LOAYZA HIDALGO
A capacidade dos zeitgebers sociais de sincronizarem ritmos biológicos vem sendo estudada desde os primórdios da cronobiologia. A descoberta de que indivíduos deprimidos apresentam uma falha no seu sistema temporizador que pode levar a uma disfunção circadiana acabou por interrogar a cronobiologia acerca do papel dos sincronizadores exógenos (entre eles as pistas sociais) na etiologia dos transtornos de humor. O presente estudo investigou a existência de uma correlação entre ritmo social e transtornos mentais leves utilizando uma versão brasileira da escala de ritmo social e o SRQ-20 junto a uma amostra de 145 funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi encontrada uma correlação inversa significativa entre os escores de SRQ-20 e os dois índices da escala de ritmo social: o índice de ritmicidade e o índice ALI.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 408
DISQOL BRASIL: QUALIDADE DE CUIDADO X DEPRESSÃO
CLÁUDIA FRANZOI FAM;VANESSA WITTER, JULIANA BREDEMEIER, MARCELO PIO DE ALMEIDA FLECK
INTRODUÇÃO: A OMS estima haver hoje em torno de 600 milhões de pessoas fadadas a conviver com deficiências dos mais variados tipos e o número segue crescendo em função do aumento de doenças crônicas, acidentes, violência e envelhecimento. O projeto Dis-QOL, desenvolvido pela OMS, tem como público alvo justamente esta população e vislumbra identificar aspectos positivos e negativos que influenciam na qualidade de vida, qualidade de cuidado e atitudes frente às incapacidades. OBJETIVO: Verificar a correlação entre a percepção de qualidade de cuidado e a existência de depressão. METODOLOGIA: Pacientes portadores de deficiência física ou doença crônica, definida como condição vinculada a prejuízo funcional e/ou emocional por mais de 6 meses, foram angariados em diversas instituições, dentre elas o Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas da PUC e Hospital Conceição, no período de março a agosto de 2008. Os pacientes foram submetidos a diversos instrumentos do projeto Dis-QOL Brasil e alguns instrumentos adicionais, como o inventário de depressão de Beck (BDI). RESULTADOS: Cento e sessenta e dois pacientes foram recrutados, sendo que 98 eram do sexo feminino (60,5%). A mediana de idade foi de 47 anos, variando de 18 aos 75 anos. Em geral, a satisfação com os cuidados recebidos foi avaliada positivamente. Aproximadamente 30% da amostra apresentou pontuação elevada no BDI. Dentre os pacientes não deprimidos, a taxa de satisfação com o cuidado recebido ficou em torno de 80%, contudo, no grupo dos potencialmente deprimidos a taxa caiu para 31%. DISCUSSÃO: As doenças crônicas e incapacidades podem acarretar em condições favoráveis ao aparecimento de quadro ou sintomas depressivos. Esta análise identifica mais um fator preditor de depressão nessa população de modo a facilitar o seu reconhecimento, principalmente entre aqueles insatisfeitos com o cuidado recebido.
PACIENTE COM ANOREXIA NERVOSA E IMC 8: SEGUIMENTO DE 4 ANOS
LAURA MAGALHÃES MOREIRA;RACHEL MONTAGNER; CAROLINE MACHADO; CAROLINE MACHADO; CAROLINA MOSER; EMI THOMÉ; EVERTON SUKSTER; LÍVIA S. MENDES; MIRIAM G. BRUNSTEIN
VMO, 22 anos, F, diagnóstico de anorexia nervosa aos 15 anos. Início de restrição alimentar e sintomas depressivos associados a divórcio dos pais e desilusão frente o sonho de ser modelo. Aos 19 anos interna na UTI do HPV com IMC 8. Vinha há 2 anos com pouca vida de relação, estando há 1 ano com SNE, afônica e sem deambular. Após 1 mês é transferida para o HCPA. Além da farmacoterapia e da recuperação de peso, o enfoque do tratamento foi trabalhar a expressão de seus sentimentos. Alta com IMC 18, seguindo no ambulatório de Transtornos Alimentares do HCPA (PTA) e em psicoterapia. Evoluiu nos aspectos psíquicos e de independização, mas perdeu 4kg sendo reinternada 1 mês após. Após 1 ano, nova internação por perda de peso - restrição e purgação - e por sintomas depressivos com ideação suicida. As queixas físicas investigadas não mostraram alterações clínicas significativas, embora mantivesse osteoporose, amenorréia e comprometimento dentário. Na alta, seguiu no PTA e em psicoterapia, além de ser encaminhada ao CAPS/HCPA. Pós-alta consegue concluir o ensino médio. Em 2009, interna pela 4ª vez no HCPA, por baixo peso e infecções de repetição. Atingiu o IMC 19, máximo conseguido desde início da doença. Iniciada clozapina, pois permanece com funcionamento psicótico refratário a outras medicações, além de dismorfismo corporal e pensamentos obsessivos. Segue o plano de acompanhamento no CAPS e no PTA. A anorexia nervosa é um transtorno grave que exige atendimento de equipe multidisciplinar. Esse é um caso de gravidade e complexidade extremas cujos desafios para a equipe são lidar com risco de vida constante, complicações de desnutrição crônica, conflitos psicodinâmicos e pensamento delirante, e necessidade de trabalhar com uma família desestruturada e pouco efetiva nos cuidados.
EXPRESSÃO DO BDNF NA REGIÃO CA3 DO HIPOCAMPO E CÓRTEX PRÉ-FRONTAL EM UM MODELO ANIMAL DE MANIA INDUZIDO POR D-ANFETAMINA
BIANCA PFAFFENSELLER;BIANCA WOLLENHAUPT DE AGUIAR; GABRIEL RODRIGO FRIES; LAURA STERTZ; SAMIRA S. VALVASSORI; HUGO BOCK; BRISA FERNANDES; KEILA MARIA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 409
CERESÉR; MARIA LUIZA SARAIVA-PEREIRA; FLÁVIO KAPCZINSKI; CLARISSA SEVERINO GAMA
INTRODUÇÃO: Estudos têm demonstrado que o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) está envolvido na patofisiologia do Transtorno de Humor Bipolar, sendo que seus níveis protéicos estão diminuídos perifericamente durante episódios maníacos e depressivos. Como o BDNF está envolvido no desenvolvimento, sobrevivência e plasticidade de células nervosas, o estudo em tecido cerebral é fundamental. Além disso, o estudo da expressão gênica do BDNF é relevante para se correlacionar com seus níveis protéicos e verificar a modulação deste processo por estabilizadores de humor. OBJETIVO: Analisar a expressão gênica do BDNF na região CA3 do hipocampo e córtex pré-frontal em um modelo animal de mania induzido por D-anfetamina (AMPH) e o efeito dos tratamentos com lítio (LI), valproato de sódio (VPA) e butirato de sódio (BUT). MÉTODOS: Ratos Wistar machos (n=8 por grupo) foram tratados com injeções IP diárias de AMPH ou salina por 14 dias e, entre o dia 8 e o dia 14, receberam LI, VPA, BUT ou salina. Após a última injeção, os ratos foram sacrificados e os tecidos cerebrais extraídos e submetidos a um protocolo de extração de RNA total por Trizol. Em seguida, o RNA extraído foi tratado com DNAse e a análise da expressão gênica do BDNF foi feita através de PCR em tempo real, utilizando o kit One Step RT-PCR. Os dados obtidos foram analisados por ANOVA de uma via, considerando significativo um p menor do que 0,05. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Não houve diferença no nível de expressão gênica de BDNF (p maior que 0,05) nos diferentes tratamentos e nem entre os tecidos utilizados neste modelo. Mais estudos são necessários para avaliar se a medicação pode alterar a expressão gênica do BDNF in vivo e se existe uma correlação desta expressão com os níveis deste na periferia e no SNC de ratos.
DISFUNÇÃO ERÉTIL E SUAS CAUSAS PSICOLÓGICAS
JANDIRA RAHMEIER ACOSTA;LUCIANA HOFFMANN, RAFAELA VIATROWSKI
INTRODUÇÃO: É a incapacidade persistente para iniciar e/ou manter uma ereção suficiente para efetuar a penetração e a realização do coito até a ejaculação. Pode ser causado por condições médicas gerais, psicológicas ou mistas. OBJETIVO: Revisão na literatura sobre as causas psicológicas da disfunção erétil. MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão de literatura através do MedLine e capítulos de livros. RESULTADOS: As causas psicológicas mais comuns são: 1) Preocupação excessiva com a falha: o medo do fracasso causa ansiedade, que inibe o reflexo erétil,se renovando a cada enfrentamento sexual; 2)Educação familiar: pais exercem forte ação modeladora sobre a vida sexual de seus filhos, enraizando as bases de futuras disfunções através de suas proibições, deformações e desinformações sexuais; 3) Religião: através de suas crenças, há fortes linhas morais que orientam o comportamento humano, principalmente sobre a sexualidade, originando ou reforçando conflitos entre o desejo e as influências religiosas e familiares. 4) A falta de comunicação sobre as preferências sexuais; 5) Vivências destrutivas como violência sexual e vivência desastrosa das primeiras relações sexuais. 6) Hostilidade pela mulher: pode concentrar profundo sentimento de hostilidade, involuntariamente inibindo seu próprio reflexo eretivo, negando a esposa o ato sexual desejado. 7) Conflito entre desejo e satisfação através do sexo e de barreiras inconscientes. A disfunção se originaria do embate entre o desenvolvimento pleno da sexualidade e o medo ( da punição) por fazê-lo, tornando-se prisioneiro desses medos. CONCLUSÃO: A capacidade de reconhecer suas próprias deficiências, a autocrítica diante de uma projeção neurótica e manutenção de um atitude terapêutica são necessárias para quem lida com problemas sexuais.
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA SCREEN FOR CHILD ANXIETY RELATED EMOTIONAL DISORDERS VERSÃO INFANTIL (SCARED-C) EM UMA AMOSTRA COMUNITÁRIA DE ESCOLARES DE PORTO ALEGRE
JANDIRA RAHMEIER ACOSTA;GIOVANNI SALUM JUNIOR, LUCIANO RASSIER ISOLAN; ANDRÉA GOYA TOCCHETTO; CHRISTIAN KIELING; ELZA MEDEIROS GONÇALVES SPERB; MARIA HELENA PEREIRA; ESTÁCIO AMARO; STEFANIA PIGATTO TECHE; CAROLINA BLAYA; GISELE GUS MANFRO
Introdução: No nosso meio, há uma carência de instrumentos de diagnósticos e de triagem que possam avaliar apropriadamente a sintomatologia ansiosa em crianças e adolescentes. Objetivo: Avaliar propriedades psicométricas da escala Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders –
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 410
versão infantil (SCARED-C), utilizada para medir sintomas de ansiedade, em uma amostra comunitária de 2 escolas de Porto Alegre. Método: 1622 alunos responderam à SCARED-C, sendo que 1570 (96,8%) foram considerados válidos. Destes, 160 (10,2%) foram encaminhados para avaliação cegada para triagem através do K-SADS-PL e 58 (36,3%) compareceram. A Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) foi usada para validade concorrente. A área sob a curva ROC foi utilizada como índice da acurácia diagnóstica e o índice J de Youden na escolha do melhor ponto de corte. O teste t de Student avaliou validade discriminante e o coeficiente de correlação de Pearson a validade concorrente. Resultados: Os itens da escala possuem boa consistência interna (α de Cronbach=0,871). O ponto de corte mais adequado pelo índice J é o de 23 pontos (Área sob a curva=0,721; IC95% 0,576 a 0,867; p=0,011), com sensibilidade de 75% e especificidade de 56,4%. A escala possui boa validade concorrente com a MASC (r=0,734; p<0,001). Além disso é capaz de diferenciar os pacientes ansiosos de deprimidos sem comorbidade com ansiedade (37,6±9,68 vs. 21,0±14,6; p=0,002) ou com TDAH não comórbido (37,6±9,68 vs. 24,19; p<0,001), respectivamente. Conclusão:Embora os resultados sejam preliminares, observa-se que a escala tem parâmetros psicométricos aceitáveis, em se tratando de um grupo de quatro transtornos psiquiátricos, além de boa validade concorrente e discriminante.
A UTILIZAÇÃO DA ESCALA BAYLEY NA AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS NO AMBULATÓRIO DE INTERAÇÃO PAIS-BEBÊ
FERNANDA MUNHOZ DRIEMEIER;FERNANDA NIENDICKER CALDAS JARDIM, MARIA LUCRÉCIA SCHERER ZAVASCHI
A Bayley Scales of Infant Development –III(Bayley, 2006), é um instrumento que permite uma medida adequada dos progressos no desenvolvimento de bebês até 42 meses e é extremamente utilizada em investigações científicas a nível mundial.Os resultados podem ser utilizados para identificar aspectos esperados, mas ainda não amadurecidos no bebê, oportunizando intervenções adequadas quando necessárias, tanto sob a forma de tratamento quanto de prevenção de dificuldades desenvolvimentais futuras.Para isso, podem ser avaliadas as áreas cognitivas, linguagem, motoras, sócio-emocional e comportamentais.A escala de linguagem avalia o comportamento, comunicação pré-verbal, o entendimento, o vocabulário e as expressões.A escala cognitiva verifica as capacidades sensório-perceptivas, de memória, de resolução de problemas, exploração e manipulação, entre outras.A escala motora verifica o grau de controle de movimentos corporais, planejamento motor e coordenação psicomotora.As escalas de comportamento adaptativo e social-emocional avaliam a capacidade de contato social, relação e ligação afetiva. A pontuação alcançada pelo bebê é convertida em índices de desenvolvimento e idades equivalentes. Estes índices possibilitam a classificação do nível de desenvolvimento de cada criança em atraso significativo(69 ou menos), atraso médio(70 a 84), normal(85 a 114) ou acelerado(115 ou mais).Sua utilização em nosso meio ainda não dispõe de padronização para a nossa população, tendo em vista as características próprias de nossa cultura.No Ambulatório de Interação Pais-Bebê do HCPA a escala Bayley é aplicada em todas as crianças que ingressam, com o objetivo de avaliar seu desempenho nas áreas do desenvolvimento, e consequentemente facilitar um adequado tratamento terapêutico.Serão apresentados resultados da eficácia da utilização do referido teste na avaliação de crianças pequenas.
BEBER E DIRIGIR NAS RODOVIAS FEDERAIS: A CONSCIÊNCIA DO BRASILEIRO ANTES E DEPOIS DA LEI SECA
CAMILA DA RÉ;LUCAS ARAUJO, RAQUEL DE BONI, DANIELA BENZANO BUMAGUIN, CARL LEUKEFELD, FLAVIO PECHANSKY
Introdução: A relação entre o uso de álcool e acidentes de trânsito (AT) já é bem estabelecida na literatura. O consumo de qualquer quantidade de álcool afeta as habilidades cognitivas necessárias para dirigir com segurança, sendo que consumo episódico pesado é fortemente associado a AT. Objetivos: Avaliar a consciência do brasileiro em relação a beber e dirigir antes e depois de Lei Seca. Materiais e Métodos: Motoristas de rodovias federais de zonas metropolitanas próximas às 27 capitais brasileiras foram convidados a participar de inquérito epidemiológico aninhado dentro de uma ação policial de rotina. Policiais rodoviários abordaram randomicamente motoristas privados e profissionais entre 12 e 24 horas de sextas e sábados e os convidam a participar de entrevista
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 411
realizada por coletadores treinados; além disso, realizam etilometria com os próprios policiais. Resultados: Dos 2490 entrevistados, 72% ingeriram álcool no último ano; 12,7% disseram ter bebido no dia da coleta, sendo que destes, 55,2% acham que sua habilidade para dirigir foi afetada; 4,7% tiveram etilometria positiva; 4,5% sofreram acidentes após beber 3 doses de álcool; 61% foram passageiros de alguém que bebeu; 10,2% já haviam sido parados para realizar teste do bafômetro; 392 relataram ter bebido quantidade de álcool suficiente para dirigir ilegalmente, sendo que 67,6% o fizeram antes da lei, 11,7% depois e 20,7% em ambos. Conclusão: Pudemos notar um alto consumo de álcool na população, contrastado com a baixa proporção de alcoolemias positivas. Este fato pode estar associado a um efeito da lei de tolerância zero e a uma maior conscientização da população em relação a beber e dirigir; o horário da coleta também pode ter repercussões no resultado.
PADRÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL POR MOTORISTAS DAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
CAMILA DA RÉ;LUCAS ARAUJO, RAQUEL DE BONI, DANIELA BENZANO BUMAGUIN, CARL LEUKEFELD, FLAVIO PECHANSKY
Introdução: Acidentes de trânsito são um grave problema de saúde pública no Brasil, e apesar da alta estimativa de que muitos ocorrem sob influência do álcool, existem poucos dados sobre essa associação e sobre o padrão de consumo na população brasileira. Objetivo: Estimar o padrão do consumo de álcool entre motoristas de estradas federais que cruzam a área metropolitana das capitais brasileiras. Métodos: motoristas de 27 capitais brasileiras foram randomicamente convidados por policiais rodoviários a serem entrevistados por coletadores treinados entre 12 e 24 horas de sextas e sábados, além de serem bafometrizados pelos próprios policiais. Resultados: 12,7% disseram ter bebido no dia da coleta, e 4,7% apresentaram etilometria positiva. 72,2% dos entrevistados beberam álcool no último ano. Destes, 4,1% consumiram entre 16-25 doses de álcool em um dia de consumo normal no último ano, 58,8% entre 7-15 doses, e 37% entre 1-6 doses. A freqüência de consumo no último ano foi ≥ 4 vezes por semana em 3,7%, entre 2 vezes por mês e 2 vezes por semana em 17,7%, e ≤ 1 vez por mês em 78,6%. No último ano, 1,6% tiveram “binge” ≥ 4 vezes por semana, 25,1% entre 2 vezes por semana e 2 vezes por mês, e 73,3% ≤ 1 vez por mês. Conclusão: Foi evidenciado padrão de alto consumo de álcool no último ano pelos motoristas brasileiros. Apesar de o número de etilometrias positivas ter sido menor do que o esperado, deve-se considerar a recentemente implantada lei de tolerância zero e o horário das coletas.
BULLYING ESCOLAR ESTÁ ASSOCIADO À DIMINUIÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM UMA AMOSTRA DE ESCOLARES DE PORTO ALEGRE
LEONARDO GONÇALVES;RAFAELA BEHS JARROS, ELIZETH HELDT, DANIELA KNIJNIK, MARIA AUGUSTA MANSUR, LUCIANA BATISTA DOS SANTOS, GRAZIELA ZOTTIS, JANDIRA ACOSTA, GIOVANNI SALUM, GISELE GUS MANFRO
Introdução: Bullying é um comportamento agressivo extremamente comum nas escolas que pode afetar a qualidade de vida de quem o sofre. Objetivos: Avaliar se existe associação entre Bullying e medidas de qualidade de vida em escolares de 10 a 17 anos em uma amostra comunitária de escolas públicas de Porto Alegre Material e métodos: Todas as crianças e adolescentes pertencentes às escolas com mais de 500 alunos que se encontram dentro da área de captação da unidade básica de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram investigadas com a Escala de Bullying (Kim et al) e a Youth Quality of Life Instrument – Research version (YQOL-R). A análise estatística foi realizada com teste t de Student, considerando um α=0,05, bi-caudal. Resultados: Um total de 255 crianças responderam aos questionários sobre bullying e qualidade de vida, sendo que 114 (44,7%) já tinham sofrido Bullying ao menos uma vez na vida e 54 (21,2%) tinham sofrido no último ano. As crianças que já haviam sofrido Bullying no último ano apresentaram menores escores na escala de qualidade de vida se comparados aos que não haviam sofrido (68,1±16,4 vs. 74,6±15,5; p=0,007), bem como em cada uma das subescalas da YQOL-R: pessoal (59,6±17,1 vs. 66,6±16,2; p=0,006), de relacionamentos (61,4±20,8 vs. 70,4±16,7; p=0,004) e ambiental (73,8±17,2 vs. 80,7±16,5; p=0,008). Conclusão: O bullying está estatisticamente associado à uma diminuição na qualidade de vida de crianças e adolescentes pertencentes a escolas públicas e, portanto, deve ser encarado como um problema de saúde pública a ser prevenido nessa faixa etária.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 412
BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF): POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES DIAGNÓSTICAS NOS QUADROS DEPRESSIVOS
LOURENÇO ALVAREZ JAKOBSON ;BRISA FERNANDES, CLARISSA SEVERINO GAMA, MARCIA KAUER-SAN ANNA, MARIA INÊS LOBATO, PAULO BELMONTE-DE-ABREU, FLÁVIO KAPCZINSKI
Introdução: entre as doenças psiquiátricas mais importantes, merecem destaque o Transtorno Bipolar (TB) e a Depressão Maior (DM). A apresentação destas duas patologias é indistinguível do ponto de vista clínico, resultando em uma dúvida diagnóstica importante, pois o tratamento não é o mesmo. Objetivo: Valer-se de um recurso laboratorial como auxílio no correto diagnóstico entre DB e DM. Materiais e Métodos: foram recrutados 10 pacientes com DM, 40 com TB e 30 controles para serem incluídos em um estudo exploratório. Todos os pacientes estavam em episódio depressivo. O método de dosagem do BDNF sérico foi feito por ELISA. Através da receiver operating characteristics (ROC) curve, foi determinada a sensibilidade, especificidade e acurácia do BDNF para DB e DM. Resultados e Conclusões: a comparação do BDNF sérico entre os grupos mostra que nos pacientes com depressão bipolar estava diminuído em relação ao dos com depressão unipolar e grupo controle (0.15 ± 0.08, 0.35 ± 0.08, e 0.38 ± 0.12, respectivamente, p<0.001). A area under the ROC curve de depressão bipolar vs. depressão unipolar foi de 0.95 (0.89 - 1.00). Com um ponto de corte para o BDNF sérico de 0.26, resulta em uma sensibilidade de 88.0% e especificidade de 90.0%. A acurácia do BDNF como método de diferenciar a depressão unipolar e bipolar foi de 95%. Estes dados demonstram uma possível função de biomarcador que o BDNF sérico pode ter em diferenciar os episódios depressivos bipolares dos unipolares. A partir destes resultados preliminares, o BDNF passa a ser visto como um possível teste laboratorial para a distinção de episódios depressivos de maneira mais acurada. O seguimento destes pacientes faz-se necessário para a confirmação destes achados do estudo.
AUMENTANDO A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO / HIPERATIVIDADE: UMA INTERVENÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR
ANA PAULA AGUIAR;RENATA GONÇALVES; CHRISTIAN KIELING; ADRIANA COSTA; BEATRIZ DORNELLES; VANESSA VIDOR; LUIS AUGUSTO ROHDE
Introdução: Os transtornos de aprendizagem (TAP) e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) são dois dos principais transtornos de saúde mental da infância e adolescência. Ambos têm grande impacto em sala de aula, trazendo prejuízos para a criança, sua família e comunidade. Embora o reconhecimento do TDAH tenha aumentado no Brasil, os TAP são ainda pouco reconhecidos por professores. Objetivos: Investigar o nível de suspeição espontânea de TAP e TDAH por professores; avaliar a acurácia de 2 estratégias diferentes de detecção de casos suspeitos de TDAH e TAP em sala de aula: por suspeição espontânea e por aplicação de instrumento de triagem; implementar e avaliar a aceitabilidade de um programa de conscientização sobre TAP e TDAH para professores; e avaliar o desempenho deste programa no aumento da conscientização e da capacidade de detecção de casos suspeitos de TDAH e TAP nas escolas. Materiais e métodos: A amostra será composta por 12 professores e cerca de 360 alunos de 3ª série de 4 escolas da rede pública de Porto Alegre aleatoriamente selecionadas. O projeto tem 4 fases: avaliação do nível de suspeição dos professores para TAP e/ou TDAH; implementação do programa de conscientização; replicação dos procedimentos da fase 1 após a intervenção nas escolas; confirmação diagnóstica e investigação de comorbidades psiquiátricas. Resultados: Espera-se disponibilizar instrumentos de triagem calibrados para detecção de TDAH e TAP, e oferecer um programa de conscientização que auxilie na detecção de TDAH e TAP em sala de aula. Conclusão: A adequada detecção de TAP e TDAH por professores da rede básica de ensino pode contribuir para a redução do estigma e a melhora da qualidade de vida e da saúde mental das crianças com esses transtornos.
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO LÍTIO, VALPROATO E BUTIRATO DE SÓDIO SOBRE A ATIVIDADE DA HISTONA DESACETILASE NA REGIÃO DA AMÍGDALA E NOS LINFÓCITOS DE RATOS EM UM MODELO ANIMAL DE MANIA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 413
BARBARA ZAMBIASI MARTINELLI;LAURA STERTZ; GABRIEL R. FRIES; SAMIRA S. VALVASSORI; BIANCA W. AGUIAR; GABRIELA COLPO; KEILA M. CERESÉR; JOÃO QUEVEDO; FLÁVIO KAPCZINSKI
Introdução: Estudos recentes têm relatado o envolvimento de mecanismos epigenéticos na patofisiologia do transtorno de humor bipolar (THB) e no mecanismo de ação dos estabilizadores de humor. A enzima histona desacetilase (HDAC), a qual tem um importante papel no remodelamento da cromatina, pode ser inibida in vitro pelo butirato de sódio (BUT) e pelos estabilizadores de humor lítio (LI) e valproato de sódio (VPA).Objetivos: Investigar o efeito do LI, VPA e BUT sobre a atividade da HDAC na região da amígdala e nos linfócitos de um modelo animal de mania induzido por d-anfetamina (AMPH).Materiais e Métodos: Ratos Wistar machos (n=12 por grupo) receberam injeções intraperitoniais diárias de AMPH ou salina por 14 dias e, entre o dia 8 e o dia 14, receberam também LI, VPA, BUT ou salina. Após o tratamento, foram extraídos linfócitos e a região da amígdala. Ambos foram submetidos a um protocolo de extração de proteínas nucleares e o extrato nuclear foi utilizado na dosagem da atividade da HDAC por um kit fluorimétrico. Os dados referentes à amígdala foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido de Mann-Whitney, e os dados referentes aos linfócitos foram analisados por ANOVA de uma via, seguido de Tukey. Foram considerados significativos os valores de p< 0,05.Resultados e Conclusões: Em linfócitos, não foram encontradas diferenças significativas na atividade da HDAC em nenhum dos tratamentos (p>0,05). Na região da amígdala, todos os tratamentos aumentaram significativamente a atividade da enzima HDAC quando comparados ao grupo salina+salina (p<0,001). Esses resultados sugerem que a ação dos estabilizadores de humor provavelmente é tecido-específica e que há o envolvimento de um mecanismo epigenético no efeito do Li, VPA, BUT e AMPH na região da amígdala de ratos.
ANÁLISE DE PSICOFÁRMACOS NOS NÍVEIS SÉRICOS DE NEUROTROFINA 3 (NT-3) EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR
CAROLINA DE MOURA GUBERT;BRISA SIMÕES FERNANDES; CLARISSA SEVERINO GAMA; JULIO C. WALZ; KEILA MARIA CERESÉR; GABRIEL RODRIGO FRIES; GABRIELA COLPO; BIANCA AGUIAR; BIANCA PFAFFENSELLER; MARCIA KAUER-SANT¿ANNA; FLAVIO KAPCZINSKI
INTRODUÇÃO: O Transtorno de Humor Bipolar (THB) é uma doença crônica caracterizada pelos episódios maníacos e depressivos. Estudos anteriores apontam transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos de humor, como condição que altera as neurotrofinas. Assim como o Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF), que é a mais estudada, a neurotrofina-3 (NT-3) também é alterada; entretanto, é questionado se tal alteração é devida ao estado de humor ou à medicação. Diante desta limitação e da carência de estudos de NT-3, o presente estudo propõe uma comparação de níveis séricos de NT-3 em pacientes com THB tipo I medicados e drug-free, durante episódios maníacos e depressivos. OBJETIVOS: Avaliar a interferência de psicofármacos nos níveis séricos de NT-3. MÉTODOS: Foram recrutados 20 pacientes medicados e 20 drug-free assim como 20 controles. Os pacientes preencheram critérios do DSM-IV e SCID-I para THB tipo I e a gravidade do estado foi analisada usando as escalas YMRS e HDRS. Apenas o soro foi analisado, sendo o NT-3 quantificado através do método ELISA. A análise estatística foi realizada usando SPSS 16,0 para Windows, pela análise de variância ANOVA e correção de Tukey. Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significativos. RESULTADOS: Os níveis séricos de NT-3 em drug-free e medicados estão aumentados comparados aos controles. Já entre medicados e drug-free, o nível sérico de NT-3 não difere. Além disso, o presente estudo demonstrou que o uso de psicofármacos não altera por si os níveis de NT-3, levantando a possibilidade de tal neurotrofina ser usada futuramente como biomarcador de THB.
ENURESE ESTÁ ASSOCIADA AO TRANSTORNO DE ANSIEDADE DE SEPARAÇÃO EM ESCOLARES DE UMA AMOSTRA COMUNITÁRIA COM ALTA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS ANSIOSOS
ESTÁCIO AMARO DA SILVA JÚNIOR;LUCIANO RASSIER ISOLAN; ANDRÉA GOYA TOCCHETTO; ELZA G.M. SPERB; CAMILA MORELATTO; STEFANIA PIGATTO TECHE; JANDIRA ACOSTA; GIOVANNI ABRAHÃO SALUM JR; GISELE GUS MANFRO
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 414
Introdução: Existe déficit de estudos sobre a possível correlação de transtornos de excreção com sintomas ansiosos. Objetivo: Avaliar se existe associação entre transtornos de excreção e transtornos de ansiedade em escolares. Método: Crianças foram investigadas com a Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders – versão infantil (SCARED-C). As crianças com percentil>75 (p75) e aproximadamente 10% dos demais estratos desta escala (p0-p25, p26-p50, p51-p75), escolhidos aleatoriamente, foram encaminhados para avaliação diagnóstica com psiquiatras treinados na versão brasileira do Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged-Children (K-SADS-PL), utilizado para estabelecer os diagnósticos de enurese e encoprese e de transtornos de ansiedade na infância e adolescência. A análise estatística foi realizada através do teste exato de Fisher e teste t de Student, considerando um α=0,05, bi-caudal e IC95%. Resultados: Dos 144 pacientes avaliados pelo K-SADS-PL apenas 9 (6,3%) apresentaram transtornos de excreção ao longo da vida, sendo que os 9 (6,3%) apresentaram enurese e apenas 1 (0,7%) apresentou encoprese. Transtorno de ansiedade de separação ao longo da vida associou-se estatisticamente ao diagnóstico de enurese (OR=5,46; IC95% 1,3 a 22,4; p=0,028). Nenhum outro transtorno de ansiedade associou-se àqueles. Pode-se observar uma tendência na comparação da sub-escala de ansiedade de separação da SCARED-C entre os pacientes sem e com história de enurese na vida respectivamente (6,6±3,0 vs. 8,6±4,0; p=0,059). Conclusão: Embora os resultados sejam limitados por uma pequena prevalência de enurese na amostra, pode-se observar que parece haver uma associação entre enurese e transtorno de ansiedade de separação em escolares.
EXPOSIÇÃO AO HIV EM UMA AMOSTRA DE ADOLESCENTES BRASILEIRAS
ANA MARGARETH SIQUEIRA BASSOLS;RAQUEL DE BONI, FLÁVIO PECHANSKY
RESUMO a) Objetivo: Descrever fatores de risco para infecção pelo HIV numa amostra de adolescentes do sexo feminino de um país em desenvolvimento. b) Método: Num estudo transversal, 258 adolescentes do sexo feminino foram avaliadas em relação ao seu estado sorológico para o vírus HIV e comportamentos de risco utilizando-se a versão brasileira da escala Risk Assessment Battery (RAB). c) Resultados: A taxa geral de soropositividade foi de 7.4%. As jovens soropositivas tiveram significativamente mais relações sexuais em troca de dinheiro, história de gravidez e aborto prévio, bem como iniciação sexual mais precoce do que as adolescentes soronegativas. Nas análises multivariadas, com a inclusão de 2 variáveis compostas (“sex-risk” e “drug-risk” ), apenas “drug risk” estava associada com o estado sorológico HIV positivo (OR= 4.178 IC 95%= 1.476 – 11.827). d) Conclusão: Nossos achados indicam que a alta soropositividade encontrada nas jovens adolescentes que procuraram testagem evidencia a necessidade de que se desenvolvam medidas de intervenção preventivas especialmente dirigidas para comportamento de risco em mulheres adolescentes para evitar a disseminação da infecção HIV nos países em desenvolvimento.
BEBER E DIRIGIR EM RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA
LUCAS CAMPOS DE ARAUJO;CAMILA DA RÉ, RAQUEL DE BONI, DANIELA BENZANO BUMAGUIN, CARL LEUKEFELD, FLAVIO PECHANSKY
Introdução: As estratégias nacionais de saúde no trânsito são baseadas em dados subestimados tanto sobre o número de acidentes quanto sobre a quantidade destes nos quais o álcool se encontra envolvido. Não existem grandes estudos que comparem a prevalência do beber e dirigir nos diferentes estados e regiões brasileiras. Objetivo: Estimar a prevalência de etilometrias positivas entre motoristas de rodovias federais que cruzam a área metropolitana das capitais brasileiras. Método: Motoristas das capitais brasileiras foram randomicamente convidados por policiais rodoviários a ser entrevistados por coletadores treinados entre 12 e 24h de sextas e sábados, além de serem bafometrizados pelos próprios policiais. Resultados: Foram realizadas 2.053 etilometrias no total. A região Centro-oeste apresentou a maior taxa (6,74%) de etilometrias positivas, sendo o estado de Goiás o que mais apresentou testes positivos (8,25%). O Nordeste teve 5,68% de positivos, tendo Sergipe a maior taxa (11,45%). O Norte teve 4,25% de positivos, tendo Roraima a maior taxa (6,79%). A região Sul teve 3,71% de positivos, sendo Santa Catarina o estado com maior taxa (4,25%). Sudeste foi a região de menor taxa de positivos (2,05%), sendo Espírito Santo o estado com menor taxa (1,86%). Conclusão: Observaram-se diferenças entre a prevalência de beber e dirigir entre as regiões e estados brasileiros. Tal fato é importante para melhor planejamento de políticas nacionais de saúde no trânsito, a fim de tentar diminuir o número de acidentes de trânsito.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 415
BDNF SÉRICO DIMINUÍDO EM PACIENTES BIPOLARES MEDICADOS E NÃO-MEDICADOS
BRUNA SCHILLING PANIZZUTTO;GISLAINE OLIVEIRA, KEILA MARIA CERESÉR, BRISA FERNANDES, GABRIEL RODRIGO FRIES, LAURA STERTZ, BIANCA AGUIAR, BIANCA PFAFFENSELLER E FLÁVIO KAPCZINSKI
INTRODUÇÃO: O transtorno bipolar tem sido associado com anormalidades na plasticidade neuronal, e estudos anteriores sugerem um importante papel do BDNF na sua patofisiologia. OBJETIVO: Analisar se pacientes não-medicados têm níveis diferentes de BDNF sérico, quando comparados a pacientes medicados e controles. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram inclusos no estudo vinte e dois pacientes medicados e não-medicados diagnosticados com transtorno bipolar pelo DSM-IV-Axis I Disorders (SCID-I), avaliados pelas escalas Young Mania Rating Scale e Hamilton Depression Rating Scale, e comparados com 22 controles hígidos. Cinco mililitros de sangue foram coletados por punção venosa, centrifugados, e o soro armazenado a -80°C até a dosagem. Os níveis séricos de BDNF foram medidos por ELISA sanduíche, usando kit comercial. Os dados foram comparados por ANOVA de uma via, seguido de Tukey quando significativo ou pelo Teste T de Student. O coeficiente de Pearson foi utilizado para avaliar associação entre estados de humor e níveis de BDNF. RESULTADOS: Os níveis séricos de BDNF apresentaram-se diminuídos em pacientes medicados e não-medicados quando comparado aos controles (p<0, 001). Não houve diferença entre pacientes medicados e não-medicados. Quando analisados de acordo com o humor (mania ou depressão), os níveis de BDNF sérico apresentaram-se diminuídos durantes ambos os episódios quando comparados a controles saudáveis (p<0, 001). Verificou-se uma correlação negativa entre gravidade da mania e os níveis de BDNF quando pacientes medicados e não-medicados foram analisados juntos (r= -0.45, p= 0.002), porém quando analisados separadamente pacientes medicados apresentaram apenas uma tendência a correlação (r= -0.30, p= 0.008) enquanto pacientes não-medicados apresentaram uma correlação um pouco maior (r= -0.56, p= 0.001). A mesma correlação negativa foi verificada em pacientes deprimidos analisando medicados e não-medicados juntos (r= -0.33, p= 0.036), novamente com pacientes não-medicados apresentando uma correlação maior (r= -0.50, p= 0.004)e pacientes medicados com uma tendência (r= -0.23, p= 0.21). CONCLUSÃO: O estudo demonstra que o nível de BDNF sérico está diminuído em pacientes depressivos ou maníacos, medicados e não-medicados.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TRANSTORNO BIPOLAR E ESQUIZOFRENIA ATRAVÉS DAS SUBTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO (TBARS)
FABIANA MORAIS MIGLIAVACCA;BRISA FERNANDES; ANA CRISTINA ANDREAZZA; WAGNER POTTER; CLARISSA GAMA; MARCIA KAUER-SANT'ANNA
Introdução: o Transtorno Bipolar(TB) e a esquizofrenia(SZ) são duas importantes patologias psiquiátricas. Os episódios maníacos com sintomas psicóticos do TB e a SZ são situações de difícil diferenciação clínica, representando um desafio no diagnóstico. As substâncias reativas ao acido tiobarbitúrico(TBARS) sérico podem ser uma ferramenta valiosa no diagnóstico diferencial dos sintomas psicóticos agudos, sendo um possível candidato ao desenvolvimento de um teste diagnóstico. Objetivo: verificar se o TBARS sérico possui propriedades para diferenciar episódio maníaco do TB de SZ. Método: 30 pacientes com TB em episódio atual maníaco, 60 com SZ e 30 controles foram incluídos em um estudo exploratório. TBARS sérico(nmol/ml) foi aferido através do método de Wills. As propriedades do TBARS sérico para discriminar TB e SZ foram determinadas pela análise da receiver operating characteristics(ROC) curve com suas respectivas sensibilidade, especificidade e acurácia. Resultados: os níveis séricos do TBARS nos pacientes com TB e SZ estavam aumentados quando comparados aos dos controles(7.73±1.63, 4.84±1.37 e 3.79±1.40, respectivamente, p<0.001). Para um ponto de corte proposto >6.0 nmol/ml, as sensibilidade e especificidade do TBARS para discriminar mania de SZ são de 82%(95% IC 65-93%) e 80%(95% IC 67-89%), respectivamente. A area under the ROC curve(AUC) da análise de TB em episódio maníaco e SZ foi de 0.89(95% IC 0.83-0.96, p=0.0001). Conclusões: os resultados preliminares deste estudo demonstraram que o TBARS sérico possui propriedades promissoras a um futuro teste para diferenciar episódio maníaco do TB de SZ, promovendo um diagnóstico acurado dos sintomas psicóticos nessas patologias. Um estudo de fase II torna-se necessário para confirmar os achados do presente estudo.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 416
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO E PESQUISA EM TRANSTORNOS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM ADULTOS (PTA) DENTRO DO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA DE ADULTOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
CAROLINA MEIRA MOSER;EMI THOMÉ; LÍVIA FONTES MENDES; MARLI PEÇANHA; VANESSA C ZANATTO; ANA CAROLINA F. DOS SANTOS; CARMEN RUSSOWSKY; JÚLIA RIBAR; MIRIAM GARCIA BRUNSTEIN
Introdução: Os transtornos alimentares (TA) são síndromes psiquiátricas extremamente graves, cujo atendimento requer alta complexidade, com o envolvimento de profissionais treinados de diversas áreas da saúde como psiquiatras, psicólogos, clínicos, nutricionistas, enfermeiras e terapeuta de família. No Brasil os transtornos alimentares também vêm apresentando destaque, derrubando um dos antigos preconceitos acerca da inexistência desses quadros em países em desenvolvimento e da idéia de não ser necessário o atendimento especializado na rede pública. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é o hospital universitário ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, desde sua criação, a unidade de internação psiquiátrica é referência no estado para a hospitalização de casos de TA pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, até 2006 não havia equipe especializada no atendimento de pacientes adultos, na internação ou em nível ambulatorial. Objetivos: Descrever o desenvolvimento do Programa de Atendimento e Pesquisa em Transtornos do Comportamento Alimentar em Adultos (PTA) dentro do Serviço de Psiquiatria de Adultos do HCPA. Apresentar as rotinas de ensino, pesquisa e atendimento na internação e ambulatório. Material e Métodos: Estudo descritivo Resultados: O PTA iniciou em outubro de 2006 com a constituição de uma equipe fixa para prestar atendimento especializado aos pacientes com TA pelo SUS. Na internação psiquiátrica o programa conta com 2 leitos para pacientes com diagnóstico primário de TA. Em atendimento ambulatorial temos atualmente 21 pacientes, sendo que desde sua criação já foram atendidos 50 pacientes. Conclusão: O desenvolvimento de um programa de assistência específico a pacientes com TA em um hospital universitário como o HCPA possibilita um atendimento mais adequado às suas necessidades e reafirma a importante demanda desses casos em países em desenvolvimento.
AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS ALIMENTARES ATENDIDOS EM UM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
CAROLINA MEIRA MOSER;MIRIAM GARCIA BRUNSTEIN; DIOGO LARA; FLÁVIO KAPCZINSKI; VANESSA C. ZANATTO; EMI THOMÉ; LÍVIA FONTES MENDES; ANA CAROLINA F. DOS SANTOS; JÚLIA RIBAR; MARIA INÊS LOBATO
Introdução: Os transtornos alimentares (TA) são síndromes psiquiátricas extremamente graves, cujo atendimento requer alta complexidade, com o envolvimento de profissionais treinados de diversas áreas da saúde. Uma questão de grande relevância clínica ainda pouco estudada em TA é o grau de disfunção dos pacientes. Mesmo aqueles que conseguem o controle de seus sintomas alimentares, apresentam dificuldades persistentes em vários aspectos de suas vidas. O conceito de funcionalidade é complexo e envolve diferentes domínios como as capacidades para trabalhar, viver independentemente, divertir-se, ter uma vida social, estudar, entre outros. A Escala Breve de Funcionamento (FAST) foi desenvolvida em pacientes bipolares com o objetivo de suprir as deficiências na avaliação de pacientes psiquiátricos Visa ser uma escala de fácil aplicação, rápida e objetiva, capaz de avaliar as reais dificuldades no funcionamento psicossocial apresentadas. Nesses pacientes as médias da FAST foram de 18,55 para eutímicos; 40,44 em maníacos e 43,01 em depressivos. Objetivo: avaliar a funcionalidade em pacientes femininas com TA Material e Métodos: estudo de prevalência com a aplicação da escala FAST nas pacientes em atendimento no ambulatório de TA em adultos do HCPA. Resultados: Foram avaliadas 17 pacientes com diagnósticos de anorexia restritiva, anorexia purgativa e bulimia. As médias da FAST foram de 26,0 em anorexia restritiva, 37,5 em anorexia purgativa e 28,3 em bulimia. Conclusões: Há prejuízo na funcionalidade das pacientes com TA, sendo que aquelas com anorexia purgativa apresentam os maiores prejuízos. Por ser uma avaliação ao mesmo tempo simples e abrangente, sua aplicação em pacientes com TA pode ser relevante no acompanhamento da evolução clinica dessa população. Sugerimos estudos com grupos maiores de casos e também comparação com controles.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 417
COMORBIDADES DOS TRANSTORNOS ANSIOSOS EM AMOSTRA COMUNITÁRIA DE ESCOLARES DE PORTO ALEGRE
ELZA SPERB;STEFANIA PIGATTO TECHE;RAFAELA BEHS JARROS; LEONARDO GONÇALVES; JANDIRA ACOSTA; MARIANNA DE ABREU COSTA; LUCIANO ISOLAN; ANDRÉA GOYA TOCCHETTO; GIOVANNI ABRAHÃO SALUM JUNIOR; GISELE GUS MANFRO
Introdução: Os transtornos ansiosos encontram-se entre os mais prevalentes em crianças e adolescentes acarretando prejuízos no aprendizado, na interação social e no desenvolvimento. Tais prejuízos podem ser ainda maiores quando outro transtorno psiquiátrico está presente.Objetivo: Descrever o padrão de comorbidades relacionadas aos transtornos ansiosos (Transtorno de Ansiedade Generalizada-TAG, Transtorno do Pânico-TP, Transtorno de Ansiedade de Separação-TAS, Fobia Social-FS ) em escolares e avaliar, através de um modelo multivariado, essa associação. Método: Um total de 1622 alunos provenientes de 2 escolas públicas da área da unidade básica de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre responderam à Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders – versão infantil (SCARED-C). As crianças com percentil>75 (p75) e aproximadamente 10% dos demais estratos desta escala (p0-p25, p26-p50, p51-p75), escolhidos aleatoriamente, foram encaminhados para avaliação diagnóstica com psiquiatras treinados na versão brasileira do Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged-Children (K-SADS-PL). Resultados: Foram avaliados 140 indivíduos, sendo que 77 (55%) apresentavam pelo menos um dos transtornos de ansiedade acima descritos. Encontrou-se entre esses casos que 61 (79,2%) apresentavam TAG; 37 (48,1%) FS; 14 (18,2%) TAS; 5 (6,5%) TP. As comorbidades mais freqüentes, em ordem decrescente de prevalência, foram: Fobia Específica (FE) 38 (49,4%); Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 27 (35,1%); Transtorno de Oposição Desafiante 14 (18,2%); Transtornos Depressivos 10 (13,2%); Transtorno de Tiques 7 (9,1%) e Transtorno de Estresse Pós-traumático 4 (5,2%). No modelo multivariado de regressão logística apenas a FE permaneceu significativamente associada aos transtornos ansiosos como um grupo (OR=6,42; IC95% 2,75 a 15,0; p<0,001). Conclusão: Evidenciamos uma elevada taxa de comorbidades em crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade. A FE mostrou-se fortemente associada aos transtornos de ansiedade como grupo, aproximando esse transtorno dos demais transtornos ansiosos do ponto de vista fenomenológico.
ESTABELECIMENTO DE UM MODELO ANIMAL DE ALTERAÇÃO DA NEUROGÊNESE PARA O ESTUDO DA ESQUIZOFRENIA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE METILAZOXIMETANOL (MAM) EM RATAS PRENHES
ANA CAROLINA SILVA E VALLS;PAULA BARROS TERRACIANO; ELIZABETH OBINO CIRNE-LIMA; PAULO SILVA BELMONTE-DE-ABREU
Justificativa: O grande prejuízo da esquizofrenia, para pacientes, famílias e sociedade, aliado à modesta resolutividade dos tratamentos farmacológicos e psicossociais existentes, motiva à execução de estudos sobre tratamentos inovadores. Objetivos: O presente projeto, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, visa estabelecer, em nossa Universidade, o modelo animal, já descrito, para a esquizofrenia, através da injeção intra-peritoneal de acetato de metilazoximetanol (MAM) em ratas Wistar prenhes. Após confirmação, será efetuada intervenção com novos tratamentos, e observado efeito anatomopatológico, imunohistoquímico e comportamental. Metodologia: O MAM foi administrado no 17º dia de prenhez, na diluição e método descritos por Moore (2006). Os animais foram eutanasiados aos 3 meses de vida de acordo com princípios éticos descritos por Andersen (2004), necropsiados e mantidos em formol a 10%, blocados em parafina e cortados em micrótomo. As lâminas foram selecionadas de acordo com o Atlas Paxinos (Plate 12, 30 e 38). Foram estudados os filhotes machos de 5 MAM e 1 controle. Resultados: A análise anatomopatológica evidenciou diferenças histológicas características de esquizofrenia, ao comparar a prole de ratos MAM e controle. Nos cortes coronais dos indivíduos MAM foi observada uma diminuição da zona cortical e dos ventrículos e áreas com falhas de migração neuronal. Os dois grupos apresentaram degeneração neuronal, porém mais proeminente nos casos. Não foi observada agenesia nem disgenesia nos grupos, somente desorganização e degeneração de alguns neurônios, confirmados nos cortes sagitais. Discussão: Foi possível validar o modelo MAM de esquizofrenia
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 418
quanto a efeitos sobre estrutura cerebral. O modelo, agora, será submetido à análise de comportamento.
RADIOLOGIA MÉDICA
ARTEFATOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
GUSTAVO DA ROSA SILVA;EDGAR SANTIN; FELIPE VÉRAS ARSEGO; LUIZ FELIPE TEER DE VASCONCELLOS; JOSÉ MAURO ZIMMERMANN JÚNIOR; MATHEUS BRUN COSTA; TIAGO RIBEIRO LEDUR; VINÍCIUS LEITE GONZALEZ.
INTRODUÇÃO: Um problema eventualmente encontrado na prática médica é a inconclusividade de métodos diagnósticos de imagem para os fins a que foram solicitados. Entre os motivos para tanto, pode-se incluir a falta de envio de informações clínicas ao radiologista e a frequente indisponibilidade de tempo para a discussão de casos a fim de restringir diagnósticos diferenciais elaborados puramente a partir de imagens. Partindo-se do pressuposto que o raciocínio diagnóstico exige a análise conjunta de dados clínicos, laboratoriais e radiológicos para estabelecimento de condutas, cabe ao médico assistente julgar se a interpretação das imagens está de acordo com o restante das informações. Nesse contexto, a tentativa de analisar imagens de tomografia computadorizada por médico não habituado pode induzir a erros. OBJETIVOS: Descrever os principais artefatos gerados a partir de aquisições e reconstruções de imagens de tomografia computadorizada. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada síntese de informações a partir de artigos de revisão pesquisados no PubMed e seleção de imagens de exemplificação através de busca eletrônica, extração das próprias referências e acervos particulares dos autores. RESULTADOS: Foram descritos 11 artefatos de imagem, divididos didaticamente em três categorias: dependentes da física, dependentes do paciente e dependentes do equipamento. CONCLUSÃO: Os artefatos podem mimetizar entidades patológicas não existentes ou mesmo ocultar doença realmente presente. O conhecimento destes artefatos pode ser uma ferramenta valiosa no arsenal diagnóstico do médico assistente para evitar erros de avaliação e, em última análise, de conduta. Cabe também ressaltar que, em caso de dúvida, a melhor solução é sempre a discussão multidisciplinar.
CINTILOGRAFIA COMO ELEMENTO DIAGNÓSTICO DE METÁSTASE ÓSSEA EM NEOPLASIA PROSTÁTICA - RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
CAROLINE MACHADO MELLO;RAFAEL CARVALHO IPÊ DA SILVA; BRUNO CAMPOS FONTOURA
Introdução: O adenocarcinoma de próstata – neoplasia mais frequente entre o sexo masculino – representa crescente problema de saúde pública nas sociedades ocidentais. Os exames de imagem são indispensáveis na caracterização da doença, assim como na sua resposta à terapia. A presença ou não de metástases no osso, local mais comum de disseminação hematogênica do câncer de próstata, à época do diagnóstico é dado fundamental que direciona o tratamento. Objetivo: Delinear a importância atual da realização de cintilografia óssea da neoplasia prostática em fase diagnóstica. Materiais e Métodos: Analisamos o caso de um paciente de 53 anos com quadro de dor proximal em membros superiores há cerca de um mês, associada a inapetência e perda ponderal. Utilizou-se a base de dados on line MEDLINE, aplicando-se os termos “neoplasia prostática” e “cintilografia óssea” para os artigos publicados nos últimos cinco anos, além da literatura já consagrada em relação ao tema. Conclusões: A maioria das morbidades e mortalidade nesta neoplasia, quando avançada, deve-se direta ou indiretamente ao comprometimento ósseo metastático. A cintilografia óssea, pela possibilidade de confirmação visual, é o método de imagem mais apropriado para detectar metástases múltiplas no esqueleto. Além da vantagem de visualizar as mestástases de toda a estrutura óssea em um só estudo, identifica as lesões que causam sintomas e também avalia áreas com risco potencial de fraturas. Ainda, permite acessar sítios de metástase visualizados com maior dificuldade por outros meios. A habilidade de detectar mudanças funcionais antes que a alteração estrutural ocorra continua a preservar a cintilografia óssea como um excelente método na investigação de metástases ósseas na neoplasia prostática.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 419
APRESENTAÇÃO CINTILOGRÁFICA NA OTITE EXTERNA MALIGNA
MARIA CECÍLIA DAMBROS GABBI;CAROLINE MÜLLER MAYER; ILZA VASQUES DE MORAES; MARCOS PRETTO MOSMANN; DOLORES HELOISA DE CAMPOS LUDWIG; PAULO RICARDO MASIERO
Introdução: A Otite Externa Maligna (OEM) é uma infecção progressiva e invasiva que acomete principalmente imunocomprometidos, em especial diabéticos. Imagens que provem a extensão da infecção para estruturas ósseas são geralmente necessárias para estabelecer o diagnóstico, e a Tomografia Computadorizada (TC) e a Cintilografia óssea com Ga-67 e Tc-99m são os métodos preconizados. Objetivos: Demonstrar a utilidade do método cintilográfico de imagens em casos de OEM. Materiais e Métodos: Análise retrospectiva da história clínica e de imagem de paciente de 52 anos, diabética, internada para investigação de OEM. Resultados: A TC de crânio mostrou níveis hidroaéreos em células da mastóide; velamento do CAE com abaulamento da membrana timpânica e comprometimento da cavidade da ATM direita. Cintilografia óssea com 99mTc-MDP: aumento da captação óssea do traçador ao nível do mastóde direito, compatível com envolvimento ósseo por OEM. Cintilografia com Ga-67: aumento de concentração no mastóide direito, podendo estar relacionado à remodelação óssea com componente infeccioso de menor magnitude no momento. Conclusões: A TC deve ser utilizada para localizar e detectar a extensão da doença ao osso. Cintilografia óssea utilizando Tc-99m pode ser útil no diagnóstico de osteomielite precoce, porém não deve ser utilizada como follow-up, pois o remodelamento ósseo persiste mesmo após a resolução do quadro infeccioso. Já a Cintilografia com Ga-67 é capaz de evidenciar inflamação e deve ser utilizada no seguimento e controle da cura, pois os achados regridem com a redução do quadro inflamatório/infeccioso. O caso demostrou que a correta utilização desses três métodos de imagem combinados é capaz de detectar a extensão do comprometimento ósseo pela OEM.
IMPACTO FINANCEIRO COM EXAMES RADIOLÓGICOS POR ESPECIALIDADE NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
FELIPE VERAS ARSEGO;LUIZ FELIPE TEER VASCONCELLOS; EDGAR SANTIN; GUSTAVO ROSA DA SILVA; VINÍCIUS LEITE GONZALEZ; MATHEUS BRUN COSTA; JOSÉ MAURO ZIMERMANN JÚNIOR; TIAGO RIBEIRO LEDUR
Introdução: A solicitação de exames radiológicos é uma prática crescente com finalidades diagnósticas, complementares e de controle terapêutico. Porém, seu uso racional é recomendado, tendo em vista o risco adicional ao paciente e a onerosidade do SUS. Os exames de melhor custo-efetividade devem ser priorizados. Objetivo: Demonstrar o aumento do impacto financeiro com exames de imagem em diversas especialidades do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) de 2005 a 2008. Material e métodos: O número de solicitações e o custo dos exames radiológicos do HCPA foram comparados entre clínica médica, cirurgia, pediatria, obstetrícia, outras clínicas, psiquiatria e enfermagem. Os dados de janeiro de 2005 a dezembro de 2008 foram obtidos no serviço de arquivo médico e informações e saúde do HCPA. Resultados: No período avaliado, o custo total investido em exames radiológicos aumentou 119% para um incremento de apenas 11% nos pedidos totais de exames. Dentre as especialidades, aumentaram as solicitações de exames em clínica médica (18%), cirurgia (38%) e psiquiatria (8%), sendo o custo adicional de 143%, 126% e 151%, respectivamente. Reduziram-se solicitações em Pediatria (2,5%), obstetrícia (55%), outras clínicas (24%) e enfermagem (21,5%); entretanto, o custo aumentou em 47%, 79%, 73% e 45%, respectivamente. Conclusão: Observou-se um aumento de custos com exames radiológicos em todos os grupos avaliados, inclusive nos que diminuíram as solicitações. Diante desta tendência, exames radiológicos devem ser indicados seguindo critérios racionais com a finalidade de desonerar o Sistema Único de Saúde sem diminuir a qualidade do serviço médico.
QUANTITATIVE PERFUSION LUNG SPECT: CORRELATION WITH ALVEOLAR VOLUME
PAULO RICARDO MASIERO;MAYER CM; MOSMANN MP; GABBI MC; MORAES IV; MENNA BARRETO SS
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) may result in poorly perfused areas on perfusion single-photon emission computed tomography (SPECT). These areas are not included on
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 420
SPECT measurements of perfused lung volume. On the other hand poorly ventilated areas are not included in volumes being measured by gas diffusion techniques. Purpose Our objective was to evaluate if the perfused lung volume correlates to alveolar volume measured by a single breath maneuver in smokers.Methods: A group of fourteen smokers was evaluated (8 male and 6 female; mean age 58 years, ranging from 31 to 80). Alveolar volume measured by single-breath maneuver during carbon monoxide diffusion test and lung volume derived from perfusion SPECT was recorded. Results: Nine patients had obstructive lung disease and 5 patients had restrictive lung conditions. Perfused lung volume derived from QPLS had a strong correlation with alveolar volume (r = 0.871, p < 0.001). Perfused lung volume was significantly smaller than alveolar volume (0.548 ± 0.608 ml, p = 0.005). Patients with restrictive lung conditions had smaller alveolar volume compared to the obstructive lung disease patients (1.733 ± 0.328 ml, p < 0.001). Perfused lung volume was also smaller in restrictive patients compared to obstructive lung disease patients (1.372 ± 0.158 ml, p < 0.001). Conclusion: Perfused lung volume strongly correlates with alveolar volume. A significant difference in lung volume between restrictive and obstructive lung disease groups was also detected.
MENSURAÇÃO DO MAIOR EIXO RENAL PELA CINTILOGRAFIA CORRELACIONADA COM A MEDIDA ECOGRAFICA
CAROLINE MÜLLER MAYER;MARIA CECÍLIA DAMBROS GABBI; ILZA VASQUES DE MORAES; MARCOS PRETTO MOSMANN; PAULO RICARDO MASIERO
INTRODUÇÃO: A detecção de lesões corticais renais através de técnicas radioisotópicas é amplamente utilizada no campo da medicina nuclear. O radiofármaco mais utilizado é o ácido dimercaptosuccinico (DMSA) marcado com
99mTc que é captado pelas células tubulares da pars recta.
Indicações comuns incluem a detecção de cicatrizes, infartos renais, rim em ferradura, rins ectópicos e detecção de pielonefrite aguda. As imagens são rotineiramente avaliadas de forma qualitativa e semi-quantitativa, mas também podem fornecer dados relacionados as dimensões renais. OBJETIVO: Avaliar a mensuração do maior eixo renal em imagens cintilográficas. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal com enfoque diagnóstico. Foram mensuradas as imagens renais de 18 casos consecutivos (35 rins). O maior eixo mensurado pela cintilografia foi comparado com a medida ecográfica utilizando-se o coeficiente de correlação de Spearman e teste t de Student. RESULTADOS: Rim Esquerdo (RE): 0.97 (P= 0,021). Rim direito (RD): 0.92 (P= 0,021). Para o RE a cintilografia subestimou o tamanho renal em 0,44cm (-0,7 - -0,09; P= 0016). A média do tamanho do RE na cintilografia foi 8 cm e na ecografia foi 8,44 cm. Para o RD a cintilografia subestimou o tamanho renal em 0,53 cm (-1,49 – 0,43; P= 0,26 ). A média do tamanho do RD na cintilografia foi de 7,59 cm e na ecografia foi de 8,12 cm. CONCLUSÃO: A mensuração cintilográfica do maior eixo renal apresenta ótima correlação com a mensuração ecográfica. Houve uma tendência de a cintilografia renal com o DMSA subestimar o comprimento do eixo longo dos rins em comparação com a ecografia.
ACHADOS DA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA NA CARDIOMIOPATIA HIPETRÓFICA, À PROPÓSITO DE UM RELATO DE CASO
CAROLINE MÜLLER MAYER;MARIA CECÍLIA DAMBROS GABBI; MARCOS PRETTO MOSMANN; ILZA VASQUES DE MORAES; ROBERTO T. F. LUDWIG; PAULO RICARO MASIERO
INTRODUÇÃO: A cardiomiopatia hipertrófica é uma hipertrofia ventricular concêntrica (sem a presença de HAS ou estenose aórtica) associada a uma função sistólica hiperdinâmica, de etiologia desconhecida, ocorre em 0,2% da população geral. Mais diagnosticada na quarta e quinta décadas de vida. Os principais sintomas são dispnéia (90%), angina (70%), síncope e fadiga. Nas crianças, a presença de síncope aumenta a incidência de morte súbita. O diagnóstico é feito pelo ecocardiograma. A cintilografia de perfusão miocárdica, pode ser útil, já que a isquemia pode ter importância prognóstica nesta patologia. OBJETIVO: O valor da cintilografia miocárdica no diagnóstico diferencial de dor torácica. MATERIAS E MÉTODOS: Análise retrospectiva da história clínica da paciente. Revisão da literatura pelo pubmed com as palavras-chaves: Hypertrophic Cardiomyopathy, Septal Stunning, Gated Myocardial SPECT. RELATO DO CASO: Criança com 12 anos de idade interna para investigar episódios de dor torácica associada à dispnéia e síncope. Realizou ecocardiograma que demonstrou achados compatíveis com miocardiopatia hipertrófica e cintilografia miocárdica que evidenciou assimetria septal, sem isquemia miocárdica, na vigência de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 421
dor no peito. CONCLUSÃO: Em crianças, na presença de dor torácica e síncope deve-se investigar a ocorrência de cardiomiopatia hipertrófica através do ecocardiograma para estimar a gravidade, o tipo morfológico e a presença ou não de gradiente pressórico. A cintilografia desempenha um papel fundamental na avaliação da presença de isquemia, ou defeitos fixos (áreas de fibrose), sua extensão e a função sistólica, evitando submeter esses pacientes a procedimentos invasivos.
REUMATOLOGIA
PREVALÊNCIA DE PSICOSE EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMTOSO SISTÊMICO (LES) DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ANDRÉA ABÊ PEREIRA;JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL; TAMARA MUCENIC; MARIA GABRIELA LONGO; KELIN CRISTINE MARTIN; JULIANE VARGAS; MARÍLIA REINHEIMER; RENATA SCHULZ; AMANDA KLEIN DA SILVA PINTO
Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune crônica e multissistêmica. Existem diversas manifestações neuropsiquiátricas, das quais, a psicose, juntamente com a convulsão, faz parte dos critérios diagnósticos da doença. Na literatura, a prevalência de psicose em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico varia entre 2,3 a 20%, ocorrendo no primeiro ano da doença em até 80% dos casos. Objetivo: Avaliar a prevalência de psicose na população de pacientes lúpicos acompanhados no serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal com informações colhidas em um banco de dados de 376 pacientes acompanhados na internação e no ambulatório de LES do HCPA de dezembro de 2006 até fevereiro de 2009. Resultados e Conclusões: Dos 376 pacientes, 26 apresentaram psicose em algum momento após o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico. A prevalência de psicose em pacientes lúpicos do serviço de Reumatologia do HCPA foi de 6,91%, não diferente da encontrada na literatura.
ASSOCIAÇÃO ENTRE DILATAÇÃO ESOFÁGICA NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ALTA RESOLUÇÃO (TCAR) E ANORMALIDADES CLÍNICAS EM PACIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMICA
RAQUEL KUPSKE;ALESSANDRA FERRARI; MALU VITER DA ROSA BARBOSA; FRANCIELE SABADIN BERTOL; EDUARDO HENEMANN PITREZ; GEORGE HORTA; JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL; RICARDO MACHADO XAVIER; MARKUS BREDEMEIER
Introdução: a esclerose sistêmica (ES) é uma doença difusa do tecido conjuntivo caracterizada por fibrose cutânea e visceral, acometendo freqüentemente o esôfago. Há poucos estudos relacionando características clinicas com anormalidades esofágicas observada na TCAR. Objetivos: testar a associação das alterações clínicas com a presença de dilatação e níveis hidroaéreos observados na TCAR em pacientes com ES. Materiais e métodos: setenta e cinco pacientes com ES foram avaliados num estudo transversal prospectivo realizado no Serviço de Reumatologia do HCPA. Realizou-se avaliação clínica, medida do escore cutâneo (Rodnan modificado) e TCAR. Os maiores diâmetros infra e supra-aórticos do esôfago no plano coronal foram registrados, e um diâmetro maior ou igual a 10 mm foi considerado indicativo de dilatação esofágica. Resultados: a prevalência de dilatação infra-aórtica foi de 64,0% e de dilatação supra-aórtica foi de 25,3%. Não houve associação estatisticamente significativa entre dilatação esofágica e sintomas como disfagia, pirose e regurgitação. Níveis hidroaéreos infra-aórticos foram observados em 86,7% dos casos, enquanto níveis supra-aórticos foram vistos em 60% dos casos, sendo esses associados à queixa de disfagia (P = 0,03). O escore cutâneo correlacionou-se significativamente com os diâmetros infra e supra-aórticos (RS = 0,23, P = 0,045 e RS = 0,44, P <0,001, respectivamente). Não houve associação de fibrose pulmonar (na TCAR), duração e subtipo de doença (forma difusa ou limitada) com dilatação esofágica. Conclusão: Não observamos associação significativa entre sintomas e dilatação esofágica na TCAR. Entre os parâmetros clínicos estudados, somente o escore cutâneo correlacionou-se significativamente com a dilatação do esôfago.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO AMBULATÓRIO DE ESPONDILOARTROPATIAS DO HCPA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 422
LAURA CORSO CAVALHEIRO;CHARLES LUBIANCA KOHEM; ANDRESSA CARDOSO DE AZEREDO; ÂNGELA MASSIGNAN; BRUNO BLAYA BATISTA; ELISSANDRA MACHADO ARLINDO; GABRIEL FURIAN; LÚCIA COSTA CABRAL FENDT; MIGUEL BONFITTO; PRISCILLA MARTINELLI; RENATA ROSA DE CARVALHO; STEPHAN ADAMOUR SODER; CLAITON VIEGAS BRENOL; JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL; RICARDO MACHADO XAVIER
Introdução: As Espondiloartropatias compartilham manifestações clínicas (inflamação do esqueleto axial e oligoartrite assimétrica) e associação com o HLA-B27. Objetivos: Descrever dados epidemiológicos em pacientes do ambulatório de Espondiloartropatias do HCPA. Material e métodos: Estudo transversal com a aplicação de questionário padrão (como parte integrante do Registro Brasileiro de Espondiloartropatias) e revisão de prontuários no período de janeiro a dezembro de 2008. Resultados: Foram analisados 115 pacientes em acompanhamento regular no ambulatório: 40,8 por cento têm o diagnóstico de Espondilite Anquilosante, 27,9 por cento de Artrite Psoriásica, 6,9 por cento de Artrite Reativa, 2,6 por cento de Artrite Enteropática e 18,3 por cento de Espondiloartropatia Indiferenciada. A população do sexo masculino corresponde a 59,1 por cento do total, enquanto 40,9 por cento é do sexo feminino; 92,2 por cento são caucasóides, 7,8 por cento são não-caucasóides. Um total de 107 pacientes tem história familiar conhecida, sendo positiva em 19,6 por cento dos casos. A proporção de pacientes com HLA-B27 é de 37,4 por cento. A média de idade dos pacientes é de 50,3 anos e o tempo médio de acompanhamento desde o diagnóstico é de 11,6 anos. Dentre as manifestações clínicas destacaram-se a sinovite assimétrica de MsIs e a dor axial inflamatória. Em relação ao tratamento, 47,0 por cento utilizam AINEs, 20,9 por cento usam corticosteróides, 41,7 por cento fazem uso de metotrexato, 13 por cento de sulfassalazina e 1 paciente (0,9 por cento) faz uso de agente biológico. Conclusões: O perfil epidemiológico de nossos pacientes se assemelha à descrição da literatura internacional, exceto pela média de idade mais elevada, o que pode se dever ao atraso no referenciamento ao especialista.
ENVOLVIMENTO MUSCULAR EM MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITE
VIVIAN DE OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA;LIDIANE FILIPPIN, PATRÍCIA G. OLIVEIRA, RICARDO MACHADO XAVIER
A artrite reumatóide (AR) é uma doença autoimune com significativa prevalência. A fraqueza e a atrofia muscular são descritas como sinais secundários da AR, sendo pouco estudadas, mas tem um profundo impacto funconal. Modelos experimentais de artrite são uma importante ferramenta para o estudo da doença. O objetivo desse trabalho foi descrever o envolvimento muscular em um modelo experimental de artrite. Foram utilizados ratos Wistar, 4-6 semanas de vida, fêmeas. Poliartrite foi induzida com duas injeções de colágeno tipo II, dissolvido em ácido acético e misturado com adjuvante completo de Freund. Os animais foram mortos no 21° dia após a primeira imunização, por overdose de anestesia. Os músculos gastrocnêmicos e articulações tíbio-társicas foram dissecados e colocados em vidros com formol tamponado a 10% e encaminhados à patologia para estudo histoquímico nas seguintes colorações: hematoxilina-eosina (HE), tricromo de gomore modificado (TG), Periodic Acid Schift (PAS), hematoxilina fosfo-tungística (HFT). A artrite foi confirmada pela histologia da articulação tíbio-társica. Foi identificada uma redução do diâmetro de fibras musculares perifasculares, especialmente do tipo II; pequeno infiltrado celular perimisial e no endomísio; edema; e rarefações sarcoplasmáticas. Essas características são relacionadas ao início da atrofia muscular e degeneração das fibras musculares. As distribuições das fibras musculares do rato são equivalentes ao humano permitindo a extrapolação dos achados. Por isso, os modelos experimentais de artrite podem ser usados para estudo da doença, bem como para avaliar possíveis terapias que possam beneficiar os pacientes acometidos com essa doença e minimizar as seqüelas da atrofia na funcionalidade.
REDUÇÃO DOS CUSTOS ATRAVÉS DO COMPARTILHAMENTO DE INFLIXIMABE ENTRE PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE: RESULTADOS APÓS 17 MESES DE ACOMPANHAMENTO EM CENTRO DE REFERÊNCIA
ANDRESSA CARDOSO DE AZEREDO;PENÉLOPE ESTHER PALOMINOS; ÂNGELA MASSIGNAN; ELISSANDRA MACHADO ARLINDO; LAURA CORSO CAVALHEIRO; LUCIA COSTA CABRAL FENDT; MIGUEL BONFITTO; PRISCILLA MARTINELLI; RENATA ROSA DE CARVALHO; CLAITON
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 423
VIEGAS BRENOL; PAULO PICON; RICARDO MACHADO XAVIER; JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL
Introdução: o uso de infliximabe (IFX) no tratamento da Artrite Reumatóide (AR) apresenta alto custo ao sistema público de saúde. O objetivo desse estudo foi avaliar a redução de custos através do compartilhamento de frascos de IFX entre os pacientes. Materiais e métodos: estudo prospectivo com 23 pacientes com AR que receberam pelo menos uma infusão de IFX entre agosto de 2007 e janeiro de 2009. IFX foi prescrito em dose de 3mg por kg nas semanas 0, 2, 6 e depois a cada 8 semanas. Pacientes eram avaliados através do DAS28, CDAI e HAQ. Caso o DAS28 permanecesse maior ou igual a 3,2, a dose de IFX era aumentada ou o intervalo entre as infusões era reduzido. As infusões eram realizadas em um mesmo horário, possibilitando o compartilhamento dos frascos. A medicação excedente de um paciente era usada para complementar a dose de outro paciente. O número de frascos usados foi comparado ao consumo teórico sem compartilhamento. Resultados: 91,3% dos pacientes eram mulheres, com uma média de 52,2 (dp 13,4) anos de idade e uma média de 12,6 (dp 6,5) anos de doença. A média de infusões por paciente foi de 6,8 (dp 3,2). Oito pacientes (34,8%) descontinuaram o tratamento e quatorze (60,8%) precisaram aumentar a dose ou reduzir o intervalo entre infusões. O intervalo médio de acompanhamento foi de 43,2 (dp 24,9) semanas. O valor médio do CDAI ao final do estudo (16,63 dp 12,33) em relação ao valor antes do uso de IFX (25,62 dp 13,29) foi significativamente menor (p de 0,16), mas o DAS28 e o HAQ não mostraram diferença significativa. No fim do estudo, 395 frascos foram usados dos 450 previstos e, após 17 meses, 120.422,00 reais foram economizados. Conclusão: o desenvolvimento de centros com compartilhamento de ampolas permite importante redução dos gastos com terapia com infliximabe.
COEXISTÊNCIA DE ARTERITE DE TAKAYASU E RETOCOLITE ULCERATIVA - UM RELATO DE CASO
LUCIA COSTA CABRAL FENDT;ANDRESSA DE AZEREDO; ÂNGELA MASSIGNAN; ELISSANDRA ARLINDO; LAURA CAVALHEIRO; MIGUEL BONFITTO; PRISCILA MARTINELLI; RENATA DE CARVALHO; YASSER EL BADAD; BRIELE KEISERMAN; ODIRLEI MONTICIELO; JOÃO C. T. BRENOL; RICARDO M. XAVIER
Introdução: A arterite de Takayasu (AT) é uma panarterite granulomatosa que acomete a aorta e seus ramos. Afeta mulheres (80%) entre 10 e 40 anos. A retocolite ulcerativa (RCU) freqüentemente acompanha outras doenças auto-imunes, mas a associação com AT é extremamente rara. Relatamos aqui um caso de diagnóstico simultâneo de AT e RCU. Relato do Caso: Mulher 28 anos, inicia com cefaléia, odinofagia e cervicalgia com posteriores artralgias e episódio de pré-síncope. Desenvolveu cólica e diarréia muco-sanguinolenta após uso de AINE. Ao exame, assimetria de pulsos em membros superiores (E>D) e VSG de 55mm/h. Eco-doppler mostrou obstrução de 50% da a. carótida comum E. Na angio-TC, estenose da a. carótida comum E de cerca de 70% e da a. subclávia D ao nível dos escalenos. Colonoscopia mostrou enantema, úlceras e friabilidade, e à biópsia, infiltrado neutro-eosinofílico, hiperplasia linfóide e abscessos crípticos. Cirurgia vascular indicou manejo clínico para as estenoses, com prednisona 60mg/dia e mesalazina 800mg TID e, posteriormente, acrescentado metotrexato 20mg/semana com boa resposta. Seis meses após, reativou RCU, tratada com aumento do glicocorticóide e Azatioprina 100mg/dia. Exames radiológicos não demonstraram progressão. Discussão: A RCU e a AT são patologias raras, sendo sua associação descrita em poucos casos, a grande maioria em populações japonesas. Sugere-se uma fisiopatologia comum devido à alta prevalência de HLABw52 e DR2 nesses pacientes. Alguns trabalhos correlacionam anormalidades imunológicas como desencadeante de complexos imunes na AT que induziriam RCU em pacientes suscetíveis ou vice-versa, sendo a AT uma manifestação extra-intestinal da RCU. Conclusão: A relação entre AT e RCU permanece obscura. A associação deve ser lembrada em pacientes com vasculite sistêmica e sintomas sugestivos de doença intestinal inflamatória. Estudos na área de imunologia, incluindo a expressão de genes, são necessários para um melhor entendimento.
SOBREPOSIÇÃO DE ARTRITE REUMATÓIDE (AR) EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) E POSSÍVEIS MARCADORES BIOLÓGICOS ASSOCIADOS
MARIA GABRIELA LONGO;MARIA GABRIELA LONGO, ANDREA ABE PEREIRA, JULIANE VARGAS, TAMARA MUCENIC, JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 424
Introdução: O LES e a AR são doenças difusas do tecido conjuntivo, com mecanismos fisiopatológicos e manifestações clínicas distintas. Sabe-se que no LES há uma tendência em ter uma menor produção de Proteína C Reativa (PCR). Objetivo: Identificar a prevalência de AR em coorte de pacientes com LES. E verificar se há associação direta entre o valor da PCR com a prevalência da sobreposição. Métodos: Foram selecionados todos os paciente em acompanhamento no ambulatório de LES do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre dezembro de 2006 e março de 2009, que tinham pelo menos uma aferição de PCR. Optou-se por utilizar a PCR mais alta. Os dados clínicos foram coletados simultaneamente à consulta, e armazenados em base eletrônica de dados; os valores de PCR foram coletados através de revisão de prontuário. Como os valores de PCR não obedeceram a uma distribuição gausiana normal, optou-se por realizar teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis comparando as médias dos valores de PCR entre os pacientes lúpicos com ou sem sobreposição. Resultados: Foram selecionados 327 pacientes: 294 (91,4%) eram mulheres, 24,7% não brancos, idade média no diagnóstico de 32 anos. A prevalência de AR foi de 2,5%. Em relação a uma PCR aumentada (acima de 5,0) não houve diferença estatisticamente significativa entre os pacientes lúpicos com e sem sobreposição com AR (P=0,979).Conclusão: A prevalência da sobreposição de LES e AR de 2,5% foi um pouco abaixo ao encontrado em outras coortes (3,6%), e superior ao esperado ao acaso (1,2%). A diferença entre as PCRs não se demonstrou significativa, isso pode ser devido ao marcador ser pouco específico, alterando-se em outros momentos da doença, com infecção e também ao pequeno número de pacientes com AR, que diminui o poder do estudo.
PREVALENCE OF AUTOANTIBODIES COMMONLY FOUND IN CONNECTIVE TISSUE DISEASES (CTD) IN AN ELDERLY POPULATION IS NOT AFFECTED BY SERUM LEVELS OF 25(OH)D
ROSANA SCALCO;PRISCILA SCHMIDT LORA; MELISSA ORLANDIN PREMAOR; RICARDO MACHADO XAVIER; TANIA W FURLANETTO
Introduction: The presence of vitamin D receptor (VDR) in cells of the immune system suggests that vitamin D (VD) could have immunoregulatory properties. Vitamin D deficiency (VDD) has been linked with many CTD including systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Objective: The goal of this study was to evaluate the prevalence of autoantibodies commonly found in CTD in an elderly population with a high prevalence of VDD. Material and Methods: A cross-sectional study was carried out, and serum 25(OH)D levels were assayed by chemoluminescence (Liaison), anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) (Scimedx ANCA IFA), rheumathoid factors (RF) (N Latex RF), ANA by Indirect Immunofluorescence in HEp-2 cells. VDD was defined as serum 25(OH)D levels lower than 20 ng/mL, in despite that, VD level required to maintain optimal immune system homeostasis has not yet been established. Results and Conclusions: 100 patients were studied, VDD was found in 83%. Speckled nuclear immunofluorescence was the most frequent ANA pattern in both subjects with deficiency and normal VD levels. ANA HEp-2 was reagent in 33.7% of the subjects with VDD and 30.8% of the subjects without VDD. In subjects with VDD, speckled nuclear immunoflorescence was the most frequent 24% and these antibodies were positive in the majority of cases when the serum was diluted to 1/160 and 1/320. RF presented the same frequency in both groups 42.9%. ANCA was positive only in one subject in the VDD group. As the prevalence of VDD was very high in this group, it is possible that the VD level required to maintain an optimal immune system homeostasis is higher than 20 ng/mL. In conclusion, there was no difference in the prevalence of ANA HEp-2, ANCA and RF in elderly with VDD or not.
OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA SEM VASCULITE: UMA RARA MANIFESTAÇÃO DA GRANULOMATOSE DE WEGENER
PRISCILLA MARTINELLI;LUCIA COSTA CABRAL FENDT; LAURA CORSO CAVALHEIRO; ELISSANDRA MACHADO ARLINDO; ÂNGELA MASSIGNAN; ANDRESSA CARDOSO DE AZEREDO; RENATA ROSA DE CARVALHO; MIGUEL BONFITTO; PENÉLOPE ESTHER PALOMINOS; BRIELE KEISERMAN; YASER EL BADAD; PEDRO GUILHERME SCHNEIDER; RAFAEL TESCHE; ODIRLEI ANDRÉ MONTICIELO; RICARDO MACHADO XAVIER; JOÃO CARLOS TAVARES BRENOL
INTRODUÇÃO: Manifestações oculares ocorrem em 30-50% dos pacientes com Granulomatose de Wegener (GW). Oclusão de veia central da retina sem vasculite é uma manifestação rara da doença,
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 425
com apenas 6 casos descritos. RELATO DO CASO: Homem, 24 anos, com Granulomatose de Wegener, cANCA positivo e IRC por glomerulonefrite prévia, vinha em remissão há 1 ano e meio, sem imunossupressores, quando apresentou dor súbita e perda de visão em olho direito. Fundoscopia revelou hemorragias na retina, dilatação e tortuosidade de vasos retinianos, opacidades vítreas, disco óptico normal e ausência de vasculite. A tonometria mostrava pressão intraocular elevada, indicando glaucoma secundário a oclusão de veia central da retina. Não havia indícios de atividade da vasculite sistêmica em outros órgãos e investigação para hipercoagulabilidade foi negativa. Foi submetido a ciclocrioterapia e recebeu imunossupressão com ciclofosfamida e prednisona 1mg/kg com controle da dor ocular e recuperação parcial da visão. DISCUSSÃO: Apenas 6 casos de oclusão de veia retiniana foram relatados até o momento e nenhum paciente apresentava achados inflamatórios intra-oculares ou vasculite de retina. É interessante ressaltar que vários pacientes estavam em remissão da doença sistêmica no momento em que as queixas oculares iniciaram. CONCLUSÃO: Oclusão de veia retiniana é uma manifestação rara da GW. Alguns autores sugerem que granulomas extracapilares poderiam ser responsáveis por esta complicação, mas a presença de um fator trombogênico ainda não identificado também é uma hipótese considerada.
RC-3095, UM ANTAGONISTA ESPECÍFICO DO RECEPTOR DO PEPTÍDEO LIBERADOR DA GASTRINA, COMO TERAPIA ANTI-INFLAMATÓRIA NA ARTRITE INDUZIDA POR COLÁGENO (CIA)
PATRICIA GNIESLAW DE OLIVEIRA;PINTO, G.L.; GRESPAN, R.; MEURER, L.; ROESLER, R.; SCHWARTSMANN, G.; CUNHA, Q.F.; BRENOL, J.C.T.; XAVIER, R.M.
Introdução: O peptídeo liberador da gastrina (GRP) é o homologo mamífero da bombesina (BN). Ambos GRP e seus receptores têm sido encontrados na sinóvia de pacientes com artríte reumatóide. GRPR pode ser considerado como um alvo terapêutico para doenças inflamatórias. RC-3095 é um antagonista do receptor de GRP. Objetivo: Avaliação dos efeitos do RC-3095, um antagonista específico do receptor do GRP, como terapia anti-inflamatória na CIA. Métodos: 30 camundongos machos de DBA/1J divididos em: não-imunizado (sem manipulação), veículo do tratamento (5 ml/kg, s.c., salina) e tratados com RC-3095 (0.3mg/Kg ou 1mg/kg, s.c.). A artrite foi induzida com 50 µl de emulsão com 200 mg de colágeno bovino tipo-II em adjuvante completo de Freund´s (CIA). Os animais foram monitorados diariamente para os sinais clínicos da artrite: edema, escore articular e hipernocicepção. Análise articular: tornozelos – histologia articular e imunohistoquímica para o GRPR e joelhos – dosagem das citocinas – IL-17, IL-1β, TNF. Resultados: RC-3095 (0.3mg/kg ou 1mg/kg) melhoram significativamente os sinais da CIA em todas análises clínicas. Animais tratados com RC-3095 obtiveram uma inibição dose-dependente nos achados histológicos. A imunohstoquímica demonstrou uma marcada diminuição da expressão do GRPR nos grupos tratados com RC-3095. RC-3095 (1mg/kg) reduziu a produção de citocinas inflamatórias (IL-17, IL-1β, TNF) na articulação dos camundongos artríticos. Conclusões: RC-3095 foi capaz de melhorar a artrite experimental - Diminuição das características inflamatórias clínicas; Atenuou o dano articular; Diminuição do nível articular de IL-17, IL-1β e TNF. RC diminuiu a expressão de GRPR na articulação. Estes resultados indicam que a interferência com o caminho do GRP é uma potencial nova estratégia para o tratamento da artrite. Nossos achados fornecem uma forte razão para a eficácia do RC-3095 (1mg/kg) para futuros testes no tratamento da AR.
PERFIL DOS PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA EM UM HOSPITAL GERAL EM PORTO ALEGRE - RS
MARCELO CAMPOS APPEL DA SILVA;FERNANDO APPEL DA SILVA; ELISA SFOGGIA ROMAGNA
Introdução: o conhecimento do perfil dos pacientes atendidos em um serviço médico é importante para o planejamento de ações curativas e preventivas. As doenças reumáticas são um bom exemplo desse cenário, visto que na maioria das localidades não existe assistência médica especializada e, associado a desinformação por parte dos pacientes quanto às mesmas, pode levar ao atraso na procura por atendimento médico, prejudicando diagnóstico precoce e tratamento. Objetivos: verificar o perfil dos pacientes adultos atendidos no ambulatório de reumatologia do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre-RS. Métodos: estudo transversal descritivo, realizado através da
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 426
aplicação de questionário na primeira consulta de pacientes atendidos no ambulatório de Reumatologia da Santa Casa, em período de 6 meses. Resultados: foram entrevistados 276 pacientes com média de idade de 52,5 anos, 77,5% do sexo feminino e 56% procedentes de Porto Alegre. O tempo de ocorrência das queixas era de mais de um ano em 34,8% dos questionados, sendo que 12,7% tinham doença por tempo maior do que cinco anos. Trinta e quatro porcento dos pacientes já haviam buscado reumatologista previamente, sendo que 37,5% destes já haviam consultado cinco ou mais vezes pela mesma queixa. Médicos de outras especialidades foram procurados por 66%, sendo os traumatologistas os mais prevalentes (52%). Em relação ao referenciamento para o médico especialista, foi observado que em 57% dos casos este era feito por outro médico. Conclusão: percebe-se, através da análise dos dados, a elevada morbidade a que os pacientes estão expostos, com longo tempo de espera para consultar com um reumatologista, passagem por médicos de outras especialidades e retardo no início do tratamento. Conhecer o perfil dos pacientes que buscam assistência médica para tais problemas é fundamental para o planejamento de ações preventivas e curativas, investimento em educação e qualidade de vida.
SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE ASSOCIADA COM MASSA VENTRICULAR
JULIANE VARGAS;MARIA G. LONGO; MARÍLIA REINHEIMER; RENATA SCHULZ; AMANDA K.S. PINTO; TALITA L. SILVA; JANE CRONST; KELIN C. MARTIN; ANDRÉA A. PEREIRA; BRIELE KEISERMAN; ODIRLEI A. MONTICIELO; JOÃO C.T. BRENOL
Introdução: A síndrome do anticorpo antifosfolipídeo (SAAF) é uma doença auto-imune sistêmica caracterizada por eventos tromboembólicos, morte fetal recorrente na presença de anticorpos antifosfolipídeos, aterosclerose acelerada, doença valvular, endocardite, disfunção ventricular, hipertensão pulmonar e trombos intracardíacos. Relatamos o caso de paciente com trombo intracardíaco onde houve importante dificuldade diagnóstica e de manejo. Objetivo: Reportar um caso de SAAF em paciente com dispnéia e massa ventricular. Material e Método: Paciente de 19 anos, masculino, branco, com dispnéia progressiva há 1 ano. Inicialmente, realizou-se ecocardiograma evidenciando massa em ventrículo direito de 3 cm
2. Detectou-se alterações no coagulograma sem
evidências clínicas de sangramentos. Apresentou fotossensibilidade, rash malar e Raynaud e, laboratorialmente, anemia hemolítica, plaquetopenia, FAN 1:1280 nuclear pontilhado fino, consumo de complementos, anticoagulante lúpico e anticardiolipinas IgG e IgM. Em AngioTC de tórax, extenso trombo na origem da artéria lobar inferior direita e trombos no interior das artérias segmentares dos lobos superior e inferior esquerdo. Devido suspeita clínica de SAAF, iniciou-se anticoagulação e prednisona(1mg/Kg). Houve normalização das provas de coagulação com piora funcional, dilatação de VD e aumento da pressão sistólica na artéria pulmonar (PSAP=73-78mmHg). Após cirurgia, a avaliação anatomopatológica mostrou nódulo benigno calcificado proveniente de trombo intramural. No pós-operatório apresentou síndrome pós-pericardiotomia. Optou-se manter a anticoagulação, iniciou-se colchicina e AINE. Evoluiu com melhora clínica e ecocardiográfica, alta hospitalar permanecendo anticoagulado. Conclusão: O diagnóstico de SAAF deve ser considerado mesmo em situações clínicas com apresentação atípica. Neste caso, a correta avaliação cardiológica associada a suspeita clínica foram fundamentais para o desfecho favorável observado.
PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DOS PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
JULIANE VARGAS;MARÍLIA REINHEIMER; RENATA SCHULZ; AMANDA K.S. PINTO; TALITA L. SILVA; JANE CRONST; ANDRÉA A. PEREIRA; ODIRLEI A. MONTICIELO; TAMARA MUCENIC; RICARDO M. XAVIER; JOÃO C. T. BRENOL
Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória sistêmica, auto-imune, com envolvimento de fatores genéticos, ambientais, hormonais e imunológicos. Seu diagnóstico baseia-se na presença de 4 dos 11 critérios propostos pelo ACR. Objetivo: Avaliar a frequência dos critérios diagnósticos do ACR nos pacientes com LES acompanhados no ambulatório de reumatologia do HCPA. Material e Método: Estudo transversal com preenchimento de ficha clínica dos pacientes a partir da revisão de prontuários e acompanhamento ambulatorial. Resultados: Foram avaliados 373 pacientes, dos quais 281 eram caucasóides (75,3%), sendo 342 mulheres (91,7%). Do total de pacientes, encontrou-se artrite em 305 (82%), alterações hematológicas em 291 (78,4%),
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 427
fotossensibilidade em 276 (74,2%), rash malar em 199 (53,5%), nefrite em 157 (42,3%), úlceras orais/nasais em 136 (36,6%), serosite em 117 (31,5%), rash discóide em 54 (14,5%) e alterações neurológicas em 44 (11,9%). O FAN foi positivo em 368 (99,5%) e alguma alteração imunológica (anti-DNA, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico ou anti-Sm positivo) foi encontrada em 245 (66,6%). Conclusão: Os 4 critérios mais prevalentes, encontrados em 70% dos pacientes foram: fotossensibilidade, FAN positivo, artrite e alterações hematológicas. Fotossensibilidade obteve uma diferença de aproximadamente 22 pontos percentuais comparando caucasóide com não-caucasóide, sugerindo diferenças nas manifestações cutâneas em decorrência da pigmentação da pele. No entanto, esta diferença pode ter sido influenciada pela maior facilidade em detectar essa alteração clínica em caucasóides. Demais dados assemelham-se aos da literatura e contribuem para melhor entendimento do perfil clínico e laboratorial dos pacientes lúpicos do nosso ambulatório.
PAPEL DE POLIMORFISMOS DA LECTINA LIGADORA DA MANOSE EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
JULIANE VARGAS;MARIA G. LONGO; MARÍLIA REINHEIMER; RENATA SCHULZ; AMANDA K.S. PINTO; TALITA L. SILVA; JANE CRONST; KELIN C. MARTIN; ANDRÉA A. PEREIRA; ODIRLEI A. MONTICIELO; TAMARA MUCENIC; RICARDO M. XAVIER; JOÃO C.T. BRENOL
Introdução: Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica auto-imune, envolvendo fatores genéticos, hormonais, imunológicos e susceptibilidade ambiental. O gene que sintetiza a Lectina Ligadora da Manose (MBL), MBL-2, tem emergido como candidato para o desenvolvimento de LES devido ao papel da MBL no sistema imune inato e possível associação entre sua deficiência e doenças auto-imunes. Objetivos: Examinar potenciais associações dos alelos G57E, G54D, IVSnt5, R52C e R52H do gene MBL-2 com susceptibilidade ao desenvolvimento de LES e com expressões clínicas e laboratoriais desta doença em pacientes lúpicos acompanhados no HCPA. Material e Métodos: 327 pacientes do HCPA com diagnóstico de LES e 165 controles saudáveis da mesma região geográfica, foram genotipados por Restriction Fragment Length Polymorphism-Polimerase Chain Reaction (RFLP-PCR) para os polimorfismos G57E, G54D, IVSnt5, R52C e R52H do gene MBL-2. Resultados: Diferença estatisticamente significativa na frequência do alelo R52C foi observada em Euro-descendentes com LES quando comparados com os controles (9,6% vs. 3,3%, P=0,001), odds ratio 3,01, 95% IC 1,582-6,060, P<0,05). As frequências dos alelos G54D e G57E não diferiram entre pacientes e controles (G54D:15,9%) vs. 18,8%, P=0,317 e G57E:3,6% vs. 3,0%, (P=0,796). IVSnt5 e R52H não foram encontrados neste estudo. Não houve diferença entre os achados clínicos e laboratoriais de acordo com a presença ou ausência das variantes alélicas. Conclusão: O risco de desenvolvimento de LES em indivíduos com o alelo R52 é 3 vezes maior em relação aos controles. Nossos dados não suportam a associação entre qualquer polimorfismo do gene da MBL com expressões clínicas e laboratoriais do LES nesta população.
PRINCIPAIS CAUSAS INFECCIOSAS EM PACIENTES INTERNADOS COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO REGISTRADOS NO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
JULIANE VARGAS;MARIA G. LONGO; MARÍLIA REINHEIMER; RENATA SCHULZ; JANE CRONST; KELIN C. MARTIN; BRUNO I. SPLITT; ANDRÉA A. PEREIRA; ODIRLEI A. MONTICIELO; TAMARA MUCENIC; RICARDO M. XAVIER; JOÃO C. T. BRENOL
Introdução: Infecções são as maiores causas de morbidade e mortalidade em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES).Estima-se que ao menos 50% dos pacientes lúpicos desenvolverão, no mínimo, uma infecção grave durante o curso da doença. Estas complicações ocorrem principalmente em decorrência da imunossupressão imposta pelo tratamento, mas pode ocorrer ambém devido aos mecanismos fisiopatológicos da própria doença.Objetivo: Avaliar as principais causas de infecções em pacientes com LES internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entre 1989 e 2008.Material e Método: Estudo transversal. Revisão do registro de internação do Serviço de Reumatologia do HCPA.Resultados: Foram avaliados 226 pacientes com LES e infecção associada, com 5,8% de óbito. Complicações pulmonares/respiratórias foram responsáveis por 14,2% das infecções encontradas, seguido sepse (8%), celulite (7,1%), varicela Zoster (6,6%) e infecção do trato urinário (5,8%). Sinusite foi 2,2%. Pleurite, pericardite e peritonite correspondem a 5,7% do total de infecções. Entre fungos e parasitos, Cryptococcus neoformans, Candida, Sarcoptes scabiei somam
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 428
3,2%, enquanto Varicela Zoster Vírus (VZV), Herpes Simplex Vírus (HSV), Citomegalovírus (CMV) correspondem às principais causas virais com 9,3%. Tuberculose tem importante participação na mortalidade de pacientes com LES e foi diagnosticada em 4,4%. Úlceras e abscessos corresponderam a 3% enquanto que outras complicações cutâneas como erisipela, impetigo e piodermite somam 1,7%.Conclusão: Os resultados encontrados neste trabalho estão de acordo com a literatura e nos permite estimar os principais agentes e causas infecciosas responsáveis por internações de pacientes lúpicos em nosso meio. A partir desse e de outros estudos, pode ser possível o aprimoramento de medidas preventivas e, conseqüentemente, a redução do número de internações e de óbitos por causas infecciosas.
SAÚDE COLETIVA
PERFIL DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MÃES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PORTO ALEGRE
LIDIANE BERNARDY;BOETTCHER CL; LEITES GT; TREVISAN ML ; CHIOCHETTA G; LIMA CHL; BELLO HMR
A maternidade é um período no qual surgem muitas dúvidas e inseguranças em relação a esta nova etapa. Com intuito de levar informações que auxiliem as mães e seus familiares na adaptação a esta fase criou-se o Grupo de Mães no Hospital São Lucas da PUCRS pela equipe multiprofissional do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. Este estudo busca mostrar o perfil das participantes deste grupo no período de setembro a dezembro de 2008. Trata-se de um estudo transversal descritivo e os dados foram coletados nos prontuários das pacientes e através de instrumentos elaborados pela equipe. Os grupos aconteceram de forma operativa, realizados duas vezes por semana com duração de 40 minutos. Os temas abordados versavam sobre a gestação, o puerpério e suas implicações, além de buscar fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e bebê e oferecer estratégias de enfrentamento e adaptação à maternidade. Participaram do grupo 101 mulheres, 6,93% são gestantes e 93,07% puérperas, 100% usuárias do SUS. A faixa etária variou entre 13 a 45 anos, com média de 26,6±7,4 anos. O número de gestações é de 2,4±1,36 e de partos é de 2,1±1,3. Das participantes 68,9% tiveram parto normal e 31,1% parto cesáreo. 93,1% fizeram acompanhamento pré-natal. 69,4% possuem companheiro. 53,4% são de cor branca 26,1%pardas e 20,5%negras. A maioria, 41,8% possui apenas ensino fundamental incompleto. O tema mais abordado nos encontros foi a amamentação, seguido dos cuidados com o bebê. Os grupos operativos com gestantes e puérperas possibilita a troca de experiência entre os profissionais e as participantes, auxiliando-os a vislumbrar estratégias para o enfrentamento das dificuldades que poderão surgir neste novo período, além de promover a integração e a interação entre o conhecimento técnico e o popular.
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DA EJA EM RELAÇÃO AOS MICRORGANISMOS: SEMPRE PERIGOSOS À SAÚDE?
RENATA CARON VIERO;DANIEL DERROSSI MEYER;KARINA DA SILVA HECK;CAROLINA SOUZA GUSATTI;KATIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA
O ensino sobre Microbiologia nas escolas geralmente acontece de forma superficial, sem uma relação com a saúde e o meio ambiente. Um dos principais objetivos desse trabalho, realizado em uma escola da rede pública do município de Porto Alegre, RS, foi avaliar a percepção dos alunos em relação aos microrganismos, questionando-os quanto aos benefícios e aos malefícios desses seres vivos em relação à saúde. Foram realizadas oficinas com duas turmas de 3° ano do Ensino Médio (Ensino de Jovens e Adultos – EJA), totalizando 23 alunos que responderam a um questionário. Dos resultados em relação aos microrganismos, 22% responderam que a maioria causa doenças; 57% concluíram que a grande maioria são benéficos (importância humana e ecológica) e uma pequena parcela causa doenças; 4% disseram que todos são prejudiciais à saúde; outros 4%, que o ser humano não apresenta microrganismos em sua pele e intestino; 13% não responderam a questão. Ao perguntar se existem microrganismos importantes para a indústria de alimentos, 39% responderam que sim; 9% que não e 52% não souberam responder. Diante disso, embora alguns alunos tenham noção básica sobre os conhecimentos microbiológicos, muitos concluem o Ensino Médio sem a percepção que a grande maioria dos microrganismos é benéfica à saúde, atuando como probióticos e
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 429
produtores de iogurtes, antibióticos, medicamentos. Assim, a desinformação sobre esse assunto pode ser um fator limitante para a promoção da saúde, uma vez que é importante saber, por exemplo, em que situação e como um antibiótico deve ser utilizado. Portanto, essas oficinas foram importantes para coletar dados sobre os conhecimentos dos alunos, corrigindo alguns conceitos equivocados, a fim de esclarecer dúvidas, melhorando a qualidade de vida e as práticas cotidianas.
A PRESENÇA DO CUIDADOR NOS IDOSOS FRÁGEIS
CAMILA BITENCOURT REMOR;MARIA CRISTINA WERLANG; ÂNGELO JOSÉ GONÇALVES BÓS
INTRODUÇÃO: a fragilidade é considerada síndrome biológica, de diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e resistência aos estressores, resultando em declínios cumulativos nos sistemas fisiológicos, provocando vulnerabilidade, sendo a incapacidade resultado ou conseqüência mais provável (HEKMAN, 2006), determinando a necessidade de um cuidador. OBJETIVO: verificar a presença do cuidador nos idosos frágeis e se existe algum grau de parentesco entre ambos. MATERIAL E MÉTODOS: estudo prospectivo, transversal, quantitativo. Realizado com cem idosos do ambulatório de Geriatria de um hospital universitário, selecionados por conveniência, no momento em que se apresentavam para ser atendidos. Os dados foram coletados de abril a maio de 2009, por meio de entrevista individual, com perguntas fechadas, referentes à caracterização da fragilidade, presença do cuidador e grau de parentesco entre ambos. A análise foi realizada no Epi-info e as variáveis foram descritas por meio de freqüência. Este estudo faz parte de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS. RESULTADOS: a fragilidade foi identificada em 84% dos idosos. Em relação à presença do cuidador, 90,9% dos idosos com alguma característica de fragilidade possuíam cuidador. Foi observada maior freqüência de idosos cuidados por seus filhos (68,2%), seguidos de cuidadores não pertencentes à família (18,2%), do cônjuge (9,1%) e do irmão (2,3%). CONCLUSÃO: nesta população, verifica-se a existência de um cuidado à saúde do idoso, prestado pela família, por meio da presença do cuidador na maioria dos idosos frágeis. A presença dos familiares como principais cuidadores remete ao vínculo formado pelo idoso com seus familiares ao longo de sua vida e relações vivenciadas por ambos.
PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: AÇÕES INTERSETORIAIS ENTRE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E A ESCOLA
MARCIELLI LILIAN TREVISAN;LIDIANE BERNARDY; CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA; CÁSSIA LUISE BÖETTCHER; GABRIELA TOMEDI LEITES; GABRIELA CHIOCHETTA; HELOÍSA RECKZIEGEL BELLO
Introdução: Os altos índices de gravidez, as infecções das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e o uso de drogas na adolescência, demandam ações intersetoriais de promoção da saúde que articulem a educação e a saúde. Objetivo: Promover ações de cunho educativo sobre o tema “Sexualidade na Adolescência” com alunos do ensino fundamental, pertencentes a uma escola da área de abrangência de uma Unidade de Saúde de Porto Alegre-RS. Materiais e Métodos: Realização de oficinas em dinâmicas de grupo voltadas ao tema sexualidade, por uma equipe multiprofissional de saúde com alunos do ensino fundamental de uma escola estadual de Porto Alegre. Foram atendidas, semanalmente, no período de abril a junho de 2009 quatro turmas de 5ª série, três de 6ª série, duas de 7ª série e uma 8ª série, totalizando 176 alunos com faixa etária de 11 a 19 anos. Cada turma teve quatro encontros de 50 minutos. As atividades desenvolvidas tiveram o consentimento da direção da escola e responsáveis pelos alunos. Resultados: A dinâmica participativa possibilitou aos profissionais da saúde e aos alunos a reflexão e a elaboração de sentimentos, comportamentos e conhecimentos compartilhados face à sexualidade. Os temas referentes à anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo, as mudanças biopsicossociais da puberdade, a gravidez na adolescência, os métodos contraceptivos e as DSTs foram abordados num contexto mais amplo possibilitando uma ressignificação dos sentidos atribuídos à sexualidade. Conclusões: A articulação entre o serviço de saúde e a escola, enquanto proposta intersetorial, possibilitou uma melhor aproximação da realidade dos alunos. A efetivação das oficinas, propiciou um espaço de reflexão sobre assuntos relacionados a sexualidade, num processo de prevenção e promoção da saúde.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 430
O QUE É LIXO PARA TI? - PERSPECTIVAS DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A GERAÇÃO DE RESÍDUOS
KARINA HECK DA SILVA;DANIEL DERROSSI MEYER KÁTIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA
O aumento populacional, crescimento urbano e aumento da produção e consumo de bens, favorecem a geração de resíduos sólidos. A falta de alternativas de tratamento faz com que sejam destinados, em sua maioria, aos aterros sanitários e lixões, o que provoca grande impacto ambiental e na saúde pública, pois a disposição do lixo a céu aberto atrai vetores de doenças. A alternativa mais favorável, rentável e menos impactante é a separação dos resíduos para a destinação de reciclagem. O objetivo deste trabalho, realizado por extensionistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi estimular a comunidade escolar da periferia de Viamão – RS a tratar os resíduos domésticos. O trabalho foi desenvolvido em 2007, em complemento com a Educação Ambiental já realizada pela comunidade para a preservação do Arroio Feijó, situado no entorno da escola, e tratado depois de sofrer degradação da poluição dos moradores. Através do levantamento feito a cerca de 140 alunos de faixa etária entre 9-12 anos, sobre a importância do tratamento de resíduos e o conceito de “lixo”, tivemos que 50% das crianças consideram o tratamento dos resíduos importante para a preservação do meio; 33% defendem a finalidade para a preservação da saúde e bem-estar; 13% para fins de reciclagem de materiais e preservação de recursos naturais; 2% para obtenção de adubo orgânico e 2% para geração de renda. Relativo à questão do conceito de “lixo”, os resultados apontaram que 38% dos alunos dizem ser resíduos diários; 29% restos de alimentos; 18% sujeiras e 15% inutilidades. A importância da informação e esclarecimento de questões de preservação do ambiente torna-se produtiva quando levada ao ambiente escolar, uma vez que crianças são potenciais difusores de informações.
ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM UM GRUPO PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
GABRIELA TOMEDI LEITES;CAROLINE HELENA LAZZAROTTO DE LIMA; MARCIELLI LILIAN TREVISAN; GABRIELA CHIOCHETTA; CÁSSIA LUISE BÖETTCHER; LIDIANE BERNARDY; HELOÍSA RECKZIEGEL BELLO
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher incentiva o compromisso com a implementação de ações de saúde que reduzam, entre outras, a morbidade por causas preveníveis e evitáveis incluindo as doenças crônicas não transmissíveis como a incontinência urinária (IU). A IU é definida por perda involuntária de urina, constituindo-se um problema social ou higiênico, repercutindo nos âmbitos biopsicossocial, sexual, ocupacional e econômico da mulher e seus familiares. Descrição da experiência Este trabalho descreve as atividades desenvolvidas por uma equipe multiprofissional (fisioterapeuta, enfermeira e assistente social) em um grupo voltado à educação para saúde, à prevenção e ao tratamento da IU em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de outubro de 2008 a junho de 2009. As mulheres tomaram conhecimento do grupo através dos profissionais da UBS e de cartazes informativos. Realizou-se à entrevista inicial e exame físico individuais. Utilizou-se a metodologia de dinâmica de grupo aberto. Os encontros ocorreram semanalmente com duração de 60 minutos. Iniciavam-se com a apresentação das participantes e da proposta de trabalho, seguido de um espaço de discussão, suporte e troca de experiências sobre a IU. Após, realizava-se a cinesioterapia visando à reeducação do assoalho pélvico. 18 mulheres participaram, com idade entre 35 a 79 anos. Conclusão O grupo com enfoque interdisciplinar favoreceu uma visão ampliada da saúde através do atendimento integral e humanizado à mulher. As atividades propiciaram a troca de experiências e a construção de conhecimento sobre a IU entre equipe e participantes. Houve relatos de redução dos sintomas da IU e melhora no desempenho sexual. Além disso, o trabalho em grupo é uma maneira viável, pouco onerosa e prática de acesso às informações.
AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO PERFIL LIPÍDICO EM HOMENS DO MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
ERICKSEN MIELLE BORBA;ARIELLA PHILIPI, FILIPE NASCIMENTO, ALEXANDRE COSTA GUIMARÃES, ROBERTA BOFF, PATRÍCIA SPADA, CLÁUDIA FUNCHAL, CAROLINE DANI
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 431
Introdução: As dislipidemias são consideradas um dos principais fatores determinantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Elevadas concentrações de triglicerídeo plasmático (TGL), colesterol total (CT) e sua fração LDL-c (low-density lipoprotein, cholesterol), associadas à diminuição nos valores de HDL-c (higher-density lipoprotein cholesterol), aumentam a probabilidade do desenvolvimento dessas enfermidades. No Brasil, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morbimortalidade, acontecendo em idade precoce e, por conseguinte, levando a um aumento significativo de anos perdidos na vida produtiva. Objetivos: Avaliar o Perfil Lipídico em homens do município de Flores da Cunha, RS. Materiais e Métodos: Foram coletados dados através de um questionário para obter informações sócio-demográficas e coleta de amostras de sangue total de 302 homens. As análises bioquímicas foram realizadas no laboratório de Bioquímica da instituição. Resultados: A idade teve média de aproximadamente 49 anos. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão: Colesterol Total 209,6 mg/dL padrão ±63,1; Triglicerídeos, 170,7 mg/dL ±136; HDL, 45,8 mg/dL ±16,2; e LDL, 129,6 mg/dL ± 64,4. Conclusão: A média de resultados mostrou-se preocupante; a média do valor para Colesterol Total e de Triglicerídeos ficaram na região limítrofe, onde o indicado são valores abaixo de 200 mg/dL e 150 mg/dL, respectivamente. Para os valores de HDL, os valores estão próximos ao nível baixo que é de 40 mg/dL; e para os valores de LDL, os valores encontram-se na faixa de valores desejáveis. Estes resultados apontam para a necessidade da disseminação de estudos que não apenas avaliem a prevalência das dislipidemias, como também realizem atividades de cunho preventivo e educacional.
PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS GERADORES DE MAIORES DESPESAS ASSISTENCIAIS EM UMA EMPRESA DE MEDICINA DE GRUPO DO RIO GRANDE DO SUL
ROGER DOS SANTOS ROSA;LINONROSE VIEIRA DA SILVA
Introdução: O desempenho do setor de saúde suplementar no Brasil tem se caracterizado pela cobertura de eventos curativos e crescimento das despesas assistenciais. Objetivo: apresentar o perfil dos beneficiários geradores de maiores despesas assistenciais na unidade administrativa de Porto Alegre (RS) de uma operadora de medicina de grupo. Métodos: Os dados foram obtidos dos sistemas de cadastro e faturamento da organização de 1999 a 2003. Foram analisadas as despesas por sexo, faixa etária e nosologia, e classificadas por ordem decrescente de valor. Resultados: De 15.084 beneficiários, 353 (2,3%) foram responsáveis por R$ 6,87 milhões (35%) das despesas assistenciais. Houve participação elevada nas despesas dos beneficiários de 60 ou mais anos (31%) e das doenças neoplásicas (29%) e cardiovasculares (20%). Ocorreram 67 casos de neoplasia (R$ 1,98 milhões) cujas maiores despesas corresponderam a dois casos de doença de Hodgkin (R$ 307,5 mil) e dois por leucemia (R$ 209,2 mil). Logo após, 9 beneficiárias (idade média 50 anos) com câncer de mama geraram um gasto de R$ 167 mil. A doença isquêmica do coração (DIC) acometeu o maior número dentre os beneficiários (27 casos) gerando um gasto de R$ 544,8 mil, com predominância no sexo masculino (67%). Os clientes que já haviam declarado condição de morbidade pré-existente ao aderir ao plano foram 38 (10,7%). Conclusões: Apesar de, até o presente, se desconhecer estratégias preventivas eficazes para as duas primeiras colocações entre as neoplasias, os casos de câncer de mama e de DIC permitiriam uma atuação intensa neste sentido. Enfatiza-se a importância das práticas preventivas e de promoção da saúde aos consumidores do plano de saúde cujo resultado impactará significativamente nas despesas assistenciais.
ASPECTOS ESTÉTICOS, SOCIAIS E EMOCIONAIS DA ALOPÉCIA EM UMA PESSOA SUBMETIDA A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
IZOLINA DE FÁTIMA BUENO ALVES;CLAUDIA CAVALLARI MARACIULO
Este trabalho partiu do aspecto estético da alopecia para pessoas que são submetidas a tratamento com drogas quimioterápicas, perpassando também por questões sociais e emocionais, buscando a simbologia do belo numa situação de doença. Buscou-se os conceitos de alopecia, quimioterapia e aspectos estético, sociais e emocionais que interfere tanto no cotidiano da pessoa que esta passando por esta situação que para as equipes de saúde não é o efeito de maior relevância, mas para a pessoa que esta com alopecia devido ao tratamento de uma doença grave se reflete num sinal devastador da presença constante da doença. Tem como objetivos conhecer qual a percepção da alopecia por uma pessoa em tratamento de quimioterapia, Identificar as causas da alopecia de quem faz uso de quimioterapia, buscar quais os aspectos estéticos, sociais e psicológicos da alopecia para
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 432
uma pessoa que em tratamento quimioterapico e por fim elencar maneiras de amenizar os efeitos estéticos da alopecia. Para desenvolver este trabalho foi realizado um estudo de caso, com perguntas semi-estruturadas, com a paciente I. S., 70 anos que foi submetida a um tratamento de quimioterapia devido a um tumor de ovário no ano de 2004. Identifiquei com este trabalho que nos seus sentimentos em relação a alopecia durante o tratamento, a mesma mostrou sinais de medo de não voltar a ter cabelos, a insegurança por não se adaptar aos métodos de proteção do couro cabeludo, medo de enfrentamento social com a alopecia mas finalmente mostrou um exemplo de superação aceitando temporariamente a sua situação e mostrando-se muito feliz quando voltou a nascer os seus cabelos. A alopecia por efeitos de quimioterápicos é um assunto de relevância para a Estética e Cosmetologia, justificando o aprofundamento das pesquisas nesta área.
PRAZER E SOFRIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO TRABALHO
PATRÍCIA BITENCOURT TOSCANI GRECO;DENISE MARIA QUATRIN LOPES; CARMEM LÚCIA COLOMÉ BECK; JULIANA PETRI TAVARES; FRANCINE CASSOL PRESTES; ROSÂNGELA MARION DA SILVA; PAOLA DIAZ
As vivências de prazer e sofrimento são dialéticas e inerentes a todo o contexto de trabalho (DEJOURS, 1999). Tais vivências podem ser evidenciadas nos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma vez que moram na comunidade de sua prática de trabalho, além disso, são elo de interlocução entre equipe e usuário. Esta pesquisa tem como objetivo de estudo identificar e mensurar as manifestações de prazer e sofrimento dos ACS relacionados ao trabalho. Pesquisa caracterizada como exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. A população do estudo será composta por uma amostra representativa, prevendo-se um erro amostral de 10%, de aproximadamente de 58 Agentes comunitários de saúde. Foram selecionados três instrumentos de coleta de dados quais sejam: um questionário de levantamento de dados sócio-demográficos, a Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no trabalho (MENDES et al, 2007) e a técnica de grupo focal. Os dados qualitativos receberão tratamento conforme a análise de conteúdo temática e os quantitativos serão analisados por meio dos programas Statistical Analisys System e Statistica. Será aplicado o coeficiente alfa de Cronbach a fim de verificar a confiabilidade/ fidedignidade das respostas. Os indicadores de prazer-sofrimento serão comparados e analisados em função dos dados sociodemográficos utilizando técnicas estatísticas para a comparação de médias. O nível de significância empregado nas análises será de 5%. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa e obteve parecer favorável para a sua execução. Sequencialmente será realizada a coleta dos dados. Acredita-se que os resultados poderão contribuir para aprofundar as questões relacionadas ao prazer, ao sofrimento e a utilização de estratégias defensivas no dia a dia do ACS.
TENDA DO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO CÂNCER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE E CUIDADO HUMANO
PRISCILA KEGLES KEPLER;RICARDO ALEXANDRE M. MONTEIRO,ALESSANDRA COMIN FURLAN,CIBELI PRATES E LUCILA LUDMILA GUTIERREZ
Síntese: O Programa de Extensão Saúde e Cuidado Humano, do Centro Universitário Metodista, tem por objetivo a prevenção, promoção e atenção à saúde. Este trabalho trata-se de um relato de experiência da atividade intitulada “Tenda do dia mundial do combate ao câncer”, desenvolvida pelo Programa citado acima. O câncer é uma doença multifatorial que apresenta crescimento desordenado de células e possuiu altas taxas de incidência e mortalidade no Brasil. Esta atividade teve por objetivo divulgar o dia mundial do combate ao câncer, bem como atentar sobre o câncer de colo de útero, mama e laringe, visando uma prevenção precoce e educação em saúde dos participantes através de orientações sobre a doença. Esta atividade foi realizada no dia 17 de maio de 2009, na qual a tenda foi localizada na praça de alimentação do campus central IPA. Participaram da tenda 115 pessoas, sendo 70 do sexo feminino e 45 do sexo masculino, compreendidos entre as faixas etárias de 17 e 47 anos, de 18 cursos da instituição. Os cursos que mais compareceram à tenda foram Direito, Fisioterapia, Enfermagem e Serviço Social. Foram distribuídos folderes informativos sobre câncer de colo de útero, mama e laringe. A tenda do combate ao câncer proporcionou a experiência de vivenciar a relação entre o ensino, pesquisa e extensão e aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na Universidade. Através desta atividade realizamos educação em saúde e evidenciamos a carência de informações sobre a doença bem como
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 433
prevenção, tratamento clínico e cirúrgico. Obteve-se um resultado satisfatório e com uma boa adesão dos participantes na tenda.
CIÊNCIAS E BIOLOGIA: DUAS DISCIPLINAS COMO PROMOTORAS DA EDUCAÇÃO SEXUAL E DA SAÚDE PREVENTIVA DO ESCOLAR
DANIEL DERROSSI MEYER;KARINA HECK DA SILVA; KÁTIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA
As disciplinas de Ciências e de Biologia dão ao escolar a oportunidade de se deparar com os conteúdos sobre Reprodução Humana e Doenças Sexualmente Transmissíveis. Essas duas disciplinas, aliadas ao comprometimento do professor, poderão atuar como importantes promotoras da Educação Sexual e da Saúde Preventiva do escolar (AMARAL, 2000). Os principais objetivos do trabalho, realizado em um curso pré-vestibular popular em Porto Alegre, RS, foram avaliar quais as contribuições das disciplinas de Ciências e de Biologia sobre a Educação Sexual dos vestibulandos e perguntar a eles sobre qual etapa do desenvolvimento do ser humano é mais adequada para começar a discutir sobre Educação Sexual na escola, a partir das disciplinas em questão. Foram visitadas duas turmas de um curso pré-vestibular popular, totalizando 51 vestibulandos entrevistados. Dos resultados sobre a relevância das disciplinas de Ciências e de Biologia na Educação Sexual, 50% dos alunos disseram que elas ajudaram com muita relevância (21%) ou relevância (29%), enquanto que a outra parcela dos entrevistados disse que as duas disciplinas não ajudaram tanto na sua formação (ajudaram razoavelmente (28%); ajudaram pouco (11%) ou não ajudaram nada (11%)). Ao perguntar sobre a partir de qual série a Educação Sexual deveria ser discutida na escola, os vestibulandos responderam: desde o início do desenvolvimento (15%); 4 série (19%); 5ª série (30%); 6ª/7ª séries (30%) e 1° ano Ensino Médio (6%), justificando suas respostas. Desse modo, mesmo com os resultados apresentados, as disciplinas de Ciências e de Biologia apresentam um importante papel, oportunizando o desenvolvimento de discussões e de debates sobre Educação Sexual na escola, a fim de prevenir, principalmente, a gravidez indesejada e a AIDS.
OFICINAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL E DE ANIMAIS PEÇONHENTOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS): DIRECIONANDO OFICINAS E SOLUCIONANDO PROBLEMAS COM A AJUDA DOS AGENTES DE SAÚDE
DANIEL DERROSSI MEYER;KARINA HECK DA SILVA, KÁTIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA
A melhora da qualidade de vida e a promoção da saúde não se fazem apenas remediando doenças e acidentes pessoais, mas principalmente prevenindo-os através da informação. O objetivo desse trabalho foi, a partir da discussão e de oficinas com os agentes de saúde em Unidades Básicas de Saúde (UBS), procurar os problemas enfrentados na comunidade e levar a informação adequada para que os agentes de saúde pudessem multiplicá-la na comunidade. Foram realizadas oficinas em uma UBS da periferia do município de Viamão, RS, em 2006 e 2007, atendendo cerca de 40 agentes de saúde. A partir disso, constatou-se que a comunidade carecia de oficinas sobre Animais Peçonhentos e Educação Sexual, devido aos problemas apontados pelos agentes de saúde, como registros de picadas por serpentes e desinformação da população jovem sobre a higiene íntima, causando doenças. Diante disso, depois de se ouvirem os problemas, foram aplicadas palestras com discussão, a fim de tentar mitigar os problemas enfrentados na comunidade para esses dois assuntos. Obtivemos sucesso ao escolher agentes de saúde como público alvo da informação, visto que eles são potenciais multiplicadores da informação e sabem, de uma forma mais global, dos problemas de saúde coletiva enfrentados pela comunidade do entorno. Devido a essa resposta positiva dos resultados obtidos, existem perspectivas de explorar o projeto em outras UBS, para 2009, no município de Xangri-lá, RS, no qual apresenta um percentual de comunidades carentes bastante elevado. Não há dúvidas que prevenir acidentes e doenças, por intermédio da informação, torna os custos com saúde pública menores, melhorando os benefícios, como o aumento da qualidade de vida da população, sobretudo, a carente.
OFICINAS SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO: MITIGANDO OS RISCOS EM CASO DE ACIDENTES
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 434
DANIEL DERROSSI MEYER;KARINA HECK DA SILVA; KATIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA
Os acidentes com animais peçonhentos, quando ocorrem, podem-se agravar, devido à falta de conhecimento sobre como proceder nessa situação. Muitos acidentes podem ocorrer em áreas periféricas de cidades e longe dos centros urbanos – o que põem em risco à vida do paciente, devido à demora ao encontrar um atendimento médico qualificado para remediar o problema. Os objetivos da oficina foram mostrar os principais animais peçonhentos encontrados na região; o que fazer em caso de acidentes e direcionar o enfermo a um atendimento competente. No ano de 2006, foram realizadas oficinas no município de Viamão e de Porto Alegre, RS, atendendo cerca de 200 escolares da 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, e em uma UBS do município de Viamão, RS, totalizando 20 agentes de saúde presentes. Ao perguntar se alguém próximo do aluno fosse picado por um animal peçonhento, qual seria atitude dele diante dessa situação, 78% dos escolares levariam a vítima ao hospital/chamariam uma ambulância, enquanto que o restante (22%) estaria preocupado em matar o animal, sugar o veneno ou utilizar a técnica de torniquete. Ao perguntar sobre a existência do Centro de Intoxicações Toxicológicas (CIT/RS), foi unânime o desconhecimento tanto dos alunos quanto dos agentes de saúde. Portanto, embora a maioria das respostas dos participantes da oficina tenha sido coerente frente aos acidentes que possam ocorrer em relação a animais peçonhentos, as palestras e as oficinas tiveram um papel-chave na conscientização do que fazer e do que não fazer em caso de ocorrência desses acidentes. Dessa forma, explicando a função do CIT/RS e divulgando o telefone da instituição, é uma forma de tentar diminuir a demora no atendimento médico e mitigar as conseqüências que isso pode gerar para a vítima.
SAÚDE MATERNO INFANTIL
O FLUXO PELO FORAME OVAL ESTÁ ALTERADO EM FETOS COM CRESCIMENTO INTRA-UTERINO RESTRITO.
JULIA SCHMIDT SILVA;ÂNGELA LESTON; LUIZ HENRIQUE NICOLOSO; ANTÔNIO PICCOLI JR; JOÃO LUIZ MANICA; MARINA MORAIS; PATRÍCIA PIZZATO; LUCIANO BENDER; MARCELO PIZZATO; PAULO ZIELINSKY
Introdução: O crescimento intra-uterino restrito (CIUR), causado ou não por insuficiência placentária, é acompanhado de disfunção diastólica precoce. Já foi demonstrado que existe aumento da impedância ao fluxo pelo forame oval, avaliada pelo índice de pulsatilidade (IPFO), em fetos de mães diabéticas com hipertrofia miocárdica, mas ainda não foi estudado o comportamento deste fluxo em fetos com CIUR. Objetivo: Testar a hipótese de que fetos com CIUR têm índice de pulsatilidade maior do que fetos com crescimento adequado para a idade gestacional (AIG), tanto de mães normais como de mães hipertensas. Métodos: Trata-se de um estudo transversal controlado, em uma amostra composta de 40 fetos, dividida em três grupos: 15 fetos com percentil de peso abaixo de 10% (CIUR, grupo I), 12 fetos com peso adequado para a idade gestacional de mães hipertensas (grupo II) e 13 fetos com peso AIG de mães normais (grupo III). Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey, com alfa crítico de 0,05. Resultados: A idade gestacional (31±4 semanas) não diferiu entre os grupos (p=0,52), mas a idade materna foi maior no grupo II (31±4,6 anos) do que nos grupo I (24,4±4,7 anos) e III (22,2±5,6 anos) (p<0,0001). A média do IPFO foi significativamente maior no grupo I (3,7±0,99) do que nos grupos II (2,84±0,69) e III (2,77±0,44) (p=0,004). Quando os grupos foram comparados em pares, a diferença foi significativa entre o grupo I e os grupos II (p=0,021) e III (p=0,009), mas não entre os grupos II e III. Conclusão: A impedância ao fluxo pelo forame oval está aumentada em fetos com CIUR quando comparados com fetos com peso AIG, independentemente da presença de HAS materna. Este comportamento reflete comprometimento da função diastólica ventricular conseqüente à restrição do crescimento fetal.
TENDÊNCIA SECULAR DE RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO INTRA-UTERINO E DA TAXA DE MUITO BAIXO PESO AO NASCER NO SUL DO BRASIL
SHEILA DE CASTRO CARDOSO;DA SILVA CH, AGRANONIK M,SILVEIRA PP, GOLDANI MZ
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 435
Introdução: A forte associação de muito baixo peso - VLBW (<1500g), com a mortalidade infantil é bem conhecida embora não há dados sobre a tendência do VLBW no Brasil. Objetivo: O objetivo foi avaliar a tendência secular de VLBW e seus fatores de risco na cidade de Porto Alegre durante 12 anos. Materiais e Métodos: Trata-se de estudo baseado em registros de nascimento dos nascidos vivos, na cidade de 1994 a 2005. As variáveis analisadas foram: VLBW como variável dependente, idade e escolaridade materna, tipo de parto, tipo de hospital, a idade gestacional, o sexo do recém-nascido. A Proporção da taxa de incidência (TIR) foi calculada utilizando Poisson para identificar tendências nas taxas VLBW. Regressões logísticas múltiplas foram realizadas, com o objetivo de avaliar a influência de algumas variáveis independentes sobre VLBW. Resultados: O total de 257.740 de recém-nascidos únicos, durante o período, nota-se com redução do número total nascidos vivos por ano. Ocorreu significativo aumento de VLBW (P para tendência = 0,049). Há uma tendência significativa para adequação da idade gestacional pelo peso ao nascer, sugerindo uma redução das taxas de restrição do crescimento intra-uterino (IUGR). Nuliparidade foi fator de risco, juntamente com o tipo de interação entre o hospital e o tipo de parto apontando para menor risco de nascimentos representado em hospital privado, aumentando progressivamente a partir de hospitais mistos para os hospitais públicos. Conclusão: Estes resultados mostram que o Brasil está no meio de transição demográfica, caracterizada por uma diminuição significativa do número de nascimentos vivos associados com pequeno aumento das taxas de VLBW e diminuição das taxas de IUGR.
USO DE MEDICAÇÕES DURANTE A LACTAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DO SIAT
FABIANA COSTA MENEZES;ANDRÉ ANJOS DA SILVA; FERNANDA SALES LUIZ VIANNA; LAVÍNIA SCHÜLER-FACCINI; MARIA TERESA VIEIRA SANSEVERINO; ALBERTO MANTOVANI ABECHE; EQUIPE SIAT
Introdução: O uso de medicamentos e outras substâncias durante a gravidez ou lactação é um evento extremamente comum: quase 80% das gestantes ou nutrizes fazem uso de pelo menos um fármaco. É de extrema importância que o médico saiba manejar essas situações, principalmente no intuito de manter o aporte de leite materno para o bebê sempre que possível. Objetivos: apresentar as consultas sobre fármacos usados durante a lactação feitas ao Serviço de Informações sobre Agentes Teratogênicos (SIAT) e avaliar quais desses oferecem riscos para o lactente. Materiais e Métodos: as consultas relacionadas à amamentação registradas no SIAT no período 28/07/2000 à 15/04/2009 foram analisadas quanto à classe farmacêutica, indicação de uso e segurança, conforme a literatura. Resultados e Conclusões: nesse período foram realizadas 93 consultas referentes ao uso de medicamentos durante a lactação, com um total de 75 diferentes fármacos pesquisados. Observamos que os motivos de consultas mais freqüentes foram os psicofármacos (44,8%) e, dentre eles, os antidepressivos (53,57%) foram os mais prevalentes. Os antimicrobianos foram a segunda classe de medicamentos mais pesquisada (13,6%). Dos 75 fármacos, um total de 13 (17,3%) devem ser evitados na lactação por produzirem efeitos adversos no bebê e outros 15 (20%) não têm dados conclusivos sobre seu uso, sendo considerados contra-indicados por muitos especialistas, mas que devem obedecer a relação risco versus benefício de seu emprego. Com esses dados, concluímos que a maioria dos fármacos pesquisados são compatíveis com a amamentação. Assim, o SIAT presta um serviço fundamental para médicos e pacientes, contribuindo para tornar a lactação mais segura e tranqüila e evitar a interrupção desnecessária do aleitamento materno.
AVALIAÇÃO DAS CONSULTAS SOBRE VACINAÇÃO REALIZADAS AO SIAT
ANDRÉ ANJOS DA SILVA;LAVÍNIA SCHÜLER-FACCINI; FABIANA COSTA MENEZES; CLARISSA MOREIRA BORBA; FERNANDA SALES LUIZ VIANNA; MARIA TERESA SANSEVERINO; ALBERTO MANTOVANI ABECHE
Introdução: Algumas doenças infecciosas têm sua prevalência aumentada em mulheres em idade fértil, ou estão associadas a infecções congênitas graves, e por isso muitas campanhas de vacinação são dirigidas a essa população. A exposição a vacinas no período gestacional é um motivo freqüente de preocupação para médicos e gestantes, pela possibilidade de infecção embrio-fetal. Objetivo: avaliar as consultas relacionadas à vacinação durante a gestação através do Serviço de Informações sobre Agentes Teratogênicos (SIAT), além de divulgar sua segurança nesse período. Material e Métodos: foram analisadas as consultas entre 30/05/2000 e 30/05/2009 quanto ao tipo de vacina e trimestre gestacional da vacinação. Resultados e Conclusões: No período pesquisado foram
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 436
realizadas 197 consultas sobre exposição a vacinas, representando 4,5% das consultas. As consultas sobre vacina contra a rubéola foram as mais frequentes (65,5%), seguidas pelas da febre amarela (17,7%), da gripe (5%) e da hepatite B (5%). Outras vacinas consultadas foram tétano, hepatite A, tríplice viral, sarampo e anti-rábica. Gestantes do primeiro trimestre foram as consulentes mais frequentes (67%), seguidas pelas de segundo (7,2%) e terceiro (6%) trimestres. Pacientes planejando gestação responderam a 5% das consultas e pesquisas em geral sobre o assunto somaram 13,7%. É importante ressaltar que embora exista contra-indicação das vacinas com vírus vivo atenuado em gestantes, não há evidência de risco aumentado de malformações congênitas associado a elas, e por isso pode ser preferível a vacinação ao contágio da doença. Assim, o SIAT presta uma assistência fundamental para médicos e pacientes, contribuindo para tornar a gestação mais segura e tranqüila.
AVALIAÇÃO DAS CONSULTAS AO SIAT DE GESTANTES VACINADAS CONTRA RUBÉOLA
CAROLINA CASANOVA MENEGHETTI;KARINA DONIS, FERNANDA SALES LUIZ VIANNA, ALBERTO MANTOVANI ABECHE, MARIA TERESA VIEIRA SANSEVERINO, LAVÍNIA SCHÜLLER-FACCINI
Introdução: A síndrome da rubéola congênita (SRC) é a infecção do feto pelo vírus da rubéola causando malformações (oftalmológicas, cardíacas, auditivas e neurológicas) quando adquirida pela gestante no 1° trimestre da gravidez. Em 2008, foi realizada uma grande campanha de vacinação contra a rubéola no Brasil, e muitas gestantes que não se sabiam grávidas foram vacinadas, havendo um risco teórico de infecção fetal, já que trata-se de uma vacina com vírus vivo. Contudo, não há na literatura evidências que associem a vacina aplicada durante a gravidez ou periconcepcional a um risco de desenvolver a SRC. Objetivo: avaliar a possível ocorrência da SRC nos filhos de gestantes vacinadas contra a rubéola. Material e Métodos: Foi realizado um questionário, através de telefonema, com as gestantes vacinadas inadvertidamente durante a campanha de vacinação de 2008 e que entraram em contado com o SIAT (Sistema Nacional de Informação sobre Teratógenos). Resultados e Conclusões: foram recebidas 22 ligações de gestantes vacinadas contra rubéola, sendo que 14 responderam ao questionário. A vacina foi aplicada em 12 gestantes no 1° trimestre e em duas no período pré-concepcional. Dos 14 recém-nascidos, 2 faleceram, e apresentaram malformações de fechamento de tubo neural; 1 apresentou icterícia e taquipnéia; 1 hipoglicemia e 1 apresentou truncus arterioso, fenda lábio-palatina, laringo traqueo malácia e genitália.ambígua. Os outros tiveram alta hospitalar em boas condições. Esses dados corroboram os estudos anteriores do SIAT e da literatura científica, que não apontam a ocorrência de SRC em expostos intra-útero à vacina. Os defeitos mencionados aqui não têm relação com a SRC, e, portanto, podem ser atribuídos ao risco de malformações congênitas na população em geral, que é de 3%.
IMPACTO DA PARIDADE NA TAXA DE MUITO BAIXO PESO AO NASCER NO SUL DO BRASIL
CLÉCIO HOMRICH DA SILVA;MARILYN AGRANONIK; ANTÔNIO AUGUSTO M. SILVA; HELOÍSA BETTIOL; MARCO ANTÔNIO BARBIERI; MARCELO ZUBARN GOLDANI
Introdução: Há uma associação significativa do muito baixo peso ao nascer – MBPN (<1.500 g) com primiparidade. No Brasil existem apenas alguns estudos que mostraram um aumento nas taxas de BPN (< 2.500 g). Objetivo: Avaliar o impacto da paridade na tendência secular de MBPN em Porto Alegre e os seus potenciais determinantes no período de 1994 a 2005. Materiais e Métodos: Série temporal baseada nas informações do SINASC. Variáveis analisadas: MBPN (dependente) e paridade (independente). Idade e escolaridade materna, tipo de parto e hospital, número de filhos vivos, idade gestacional e o sexo do recém-nascido foram covariáveis. Realizou-se regressão de Poisson para avaliar a influência das variáveis independentes no MBPN e a taxa da relação da incidência (IRR) para identificar as tendências da paridade e das taxas de MBPN. Resultados e Conclusões: Ocorreram 257.740 nascimentos únicos com uma redução constante de nascidos vivos por ano. Houve um pequeno aumento nas taxas de MBPN (p = 0.049) com uma tendência significativa para recém-nascidos adequados para a idade gestacional sugerindo uma redução nas taxas de restrição do crescimento intra-uterino. O risco relativo bruto do MBPN por o ano confirma o seu aumento significativo associado com baixa escolaridade materna, partos em hospitais públicos, primiparidade e multiparidade. Após o ajuste, a primiparidade permaneceu como fator de risco e o parto vaginal nos hospitais privados como fator de proteção. O parto cesáreo mostrou associação com taxas elevadas de MBPN. Esses resultados mostram que Porto Alegre encontra-se em meio à
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 437
transição demográfica com uma redução significativa do número de nascidos vivos por ano associada com um aumento nas taxas de primiparidade o que contribui efetivamente para o aumento nas taxas de MBPN.
DIAGNÓSTICO PREDITIVO PARA SÍNDROME DE LI-FRAUMENI NA INFÂNCIA: IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
PATRICIA ASHTON-PROLLA;NETTO CBO; BUENO LMS; SANSEVERINO MT; PROTAS JS; GALVÃO C; ROTH DE, GOLDIM JR; ASHTON-PROLLA
Introdução: A Síndrome de Li-Fraumeni (SLF) tem herança autossômica dominante, é causada por mutações germinativas em TP53 e predispõe os afetados a vários tumores em idade jovem. A penetrância é elevada, com risco de 90% de desenvolver câncer ao longo da vida. Algumas mutações apresentam penetrância parcial e menor risco de tumores na infância, como a mutação R337H, uma mutação fundadora que acomete cerca de 1:300 indivíduos no Sul do Brasil. Apesar de incertezas associadas ao risco atribuível desta mutação para tumores no adulto, há clara associação com carcinoma adrenocortical nos primeiros anos de vida, um tumor agressivo cujo prognóstico está diretamente relacionado ao diagnóstico precoce. Objetivo: Discutir os aspectos positivos e negativos do teste preditivo para câncer hereditário em lactente com risco 50% de ser portador da mutação TP53 R337H. Metodologia: Revisão da literatura quanto às diretrizes para diagnóstico preditivo para SLF na infância e discussão multidisciplinar. Análise detalhada dos fatores que influenciam a tomada de decisão nestas situações e dos aspectos positivos e negativos de cada abordagem, testar VS. não testar, para a criança e a família. Resultado: O resultado da discussão multidisciplinar foi favorável à realização do teste e a família optou pela mesma conduta. Conclusões: A discussão multidisciplinar acerca da realização de teste preditivo nesta situação, em que (a) os aspectos de penetrância da mutação ainda são pouco definidos e (b) a realização de teste genético preditivo para SLF em menores não está amplamente discutida, facilitou a comunicação da equipe com a família e fortaleceu a integração entre os diferentes profissionais envolvidos no manejo do caso.
INDICADORES DE INFECÇÕES EM PARTOS POR CESARIANA E PARTOS NORMAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E DO HOSPITAL FÊMINA DE PORTO ALEGRE
JULIANE VARGAS;BRUNO P.CORTE; JOANA A.CHANAN; MARIZA KLÜCK
INTRODUÇÃO: O aumento de cesarianas é discutido com freqüência em nosso meio e na literatura internacional . Um dos motivos é o risco de morte e complicações maternas e neonatais associados à cesária. Tal tema tem hoje validade questionada por avaliar casuísticas de décadas atrás.OBJETIVOS: Avaliar e comparar a quantidade total de partos e a taxa de infecções relacionadas à cesarianas e à partos normais e a taxa de infecção hospitalar e puerperal no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entre 2001-2009 e a taxa de infecções relacionadas à cesarianas e à partos normais no Hospital Fêmina de Porto Alegre (HF) entre Janeiro e Maio/2009. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudou-se uma coorte retrospectiva entre 2001-2009 quanto às taxas de infecção hospitalar e puerperal, partos normais e cesarianas infectadas e não infectadas no HCPA. Dados: obtidos pelo sistema de Informações Gerenciais do Hospital (IG/HCPA); dados do HF, pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HCPA. RESULTADOS: 2001 apresentou 11,3% de cesarianas infectadas, um número 1,62% superior ao de infecções hospitalares em geral. 2002, aquela taxa foi de 1.18% inferior a essa; 2003, essa diferença aumentou 4.11%. A taxa de infecções relacionadas à cesáreas no HCPA foi de 2.11% comparada com 1,45% no HF entre Jan- Maio/2009, uma diferença de 0.66%. Ainda, o HF realizou, no mesmo período, quase o dobro de partos por cesária em relação ao HCPA, sendo que o HCPA teve quase o dobro de infecções relacionadas à cesária em relação ao HF. CONCLUSÕES: Cesarianas causam maiores riscos de infecção do que partos normais embora muitas mulheres as realizem de forma eletiva. O HCPA apresenta número maior de infecções relacionadas à partos comparado ao HF. Supõe-se diferença relacionada a maior controle de infecções no HCPA, após implementação do sistema informatizado(2001). Assim, é comum hospitais com baixo controle apresentarem índices de infecção semelhantes a hospitais de primeiro mundo.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 438
SAÚDE PÚBLICA
CUSTO-EFETIVIDADE DO USO DE IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA E DE PLASMAFERESE PARA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ EM HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITÁRIO
PAOLA PANAZZOLO MACIEL;ALEXANDRE PAULO MACHADO DE BRITTO; MARIA ANGÉLICA PIRES FERREIRA; LEILA BELTRAMI MOREIRA
Introdução: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neurite inflamatória aguda auto-imune. A incidência varia de 0,6 a 1/100.000 por habitante ao ano. Para o tratamento é recomendado imunoglobulina intravenosa (IgIv) ou plasmaferese (PE). Ambas terapias apresentam eficácia semelhante, elevado custo financeiro e não possuem custos iguais nos serviços públicos onde são empregadas. Portanto, a proposta é demonstrar qual a terapia mais custo-efetiva para os pacientes tratados em um hospital público universitário. Objetivo: Comparar as relações de custo-efetividade de duas terapias, Imunoglubulina Intravenosa (IgIV) e Plasmaferese (PE), no tratamento da Síndrome de Guillain-Barré sob a perspectiva do sistema público. Métodos: estudo transversal com análise econômica de pacientes tratados por SGB no período de junho de 2003 a junho de 2008 em um hospital público universitário. Foi realizado análise de custo-efetividade do emprego de IgIV e de PE nestes pacientes, pelo método de minimização de custos, considerando somente os custos diretos sanitários. Resultados: O custo total do tratamento de um paciente com SGB em tratamento com PE foi de R$10.603,88 (± 2.978,12) e o tratamento do que recebeu IgIV foi de R$ 32.103,00 (± 21.454,24). O custo total da internação foi de R$45.027,14 (± 32.750,45) para os tratados com PE e de R$ 60.844,28 (±48.590,52) para os que receberam IgIV. Conclusão: Quando comparados os custos médios das duas opções terapêuticas, uma delas aparece claramente com menor custo. Quando comparados os desfechos, após o emprego de cada opção terapêutica, estes não revelam diferença. Concluímos que, neste hospital público universitário, a opção pelo procedimento plasmaferese é mais custo efetiva do que o emprego da imunoglobulina intravenosa.
TAXA DE REINTERNAÇÃO EM 28 DIAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
FERNANDO RIBAS FEIJÓ;DANIEL LUNARDI SPADER; LEONARDO ELMAN MEYER; RAFAEL DA VEIGA CHAVES PICON
Introdução: O aumento das taxas de internações e reinternações nas últimas décadas trouxe a necessidade de um aprofundamento sobre o tema. O interesse pela reinternação consiste na hipótese de que a melhora no cuidado hospitalar levaria a uma redução no número de reinternações, reduzindo gastos. Além disso, estima-se que elas podem representar mais de 50% de todas internações. Objetivo: Verificar as taxas de reinternação em 28 dias do HCPA no período de 01/2002 a 09/2007, a fim de fornecer dados concretos aos gestores de saúde. Material e Método: Para o cálculo da Taxa de Reinternação em 28 dias, utilizou-se a razão entre quantidade de reinternação de urgência em 28 dias no HCPA e quantidade de saídas médicas do mesmo local, representando os expostos multiplicado por 100. Os dados analisados foram obtidos através do sistema informatizado do HCPA, abrangendo o período de janeiro de 2002 a setembro de 2007. Resultados: Verificou-se uma estabilidade ao longo dos anos na taxa de reinternação, sem variações sazonais. A Clínica Médica representou o maior percentual de reinternações(44%). Após vem a clínica Pediátrica(27%), cirúrgica(16%), Obstétrica(12%) e Psiquiátrica(1%). Verificou-se queda de 50% da taxa no Serviço de Oncologia Pediátrica no período de 2002 a 2007. Doenças do aparelho respiratório, sistema nervoso e neoplasias foram responsáveis cada uma por 11% das reinternações em 28 dias. O Serviço de Oncologia pediátrica teve a maior taxa de reinternação(24,3%). Conclusões: Estabilidade dos valores da taxa pode refletir que não houve alterações de qualidade assistencial ou de população significativas. Alto número de reinternações na Clínica Médica se justifica pelo número de pacientes que essa área abrange. Queda de 50% na taxa de reinternação da Oncologia Pediátrica pode ser justificada pelo avanço dos tratamentos oferecidos e por uma melhora da qualidade do serviço. Entretanto, ela ainda tem uma taxa alta devido a maior gravidade dos pacientes.
ESTUDO SOBRE O TABAGISMO E SUA INFLUÊNCIA NO PERFIL LIPÍDICO DE PESSOAS DIABÉTICOS
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 439
ROGER SANTOS DOS SANTOS;SANTOS R; GAUBER G; MASCARENHAS M
O Diabetes mellitus que alteram o metabolismo da glicose interferem no metabolismo lipídico, sofrendo influência de fatores modificavéis. Neste trabalho procurou-se comparar os níveis séricos de lipídeos (triglicerídeos e colesterol total) e lipoproteínas de alta densidade (HDL-colesterol) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL-colesterol), entre indivíduos diabéticos fumantes e não fumantes. Foi observado que, comparado ao grupo controle, os indivíduos diabéticos fumantes apresentaram aumentos similares nos triglicerídeos. Em relação ao colesterol total, HDL-Col e ao LDL-Col, os diabéticos fumantes tiveram um aumento mais expressivo que os diabéticos não fumantes. Os dados mostram que, ocorreram alterações significativas no colesterol total e suas frações em diabéticos fumantes. Essas alterações devem contribuir para aumentar o risco de desenvolvimento de aterosclerose.
CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DA CRUZ VERMELHA/RS
ROGER SANTOS DOS SANTOS;PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS; MARILENE ALVES; ANA PAULA JACOBUS; MARCELLO DE ÁVILA MASCARENHAS
Objetivo: Traçar o perfil dos usuários de substâncias psicoativas atendidos em ambulatório de dependência química. Métodos: Estudo observacional transversal realizado com usuários de substâncias psicoativas atendidos no ambulatório de Transtorno Aditivo ênfase em Dependência Química da Cruz Vermelha Brasileira filial do Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo o período de 2005 à 2007. A coleta de dados ocorreu através da análise dos prontuários de pacientes (n=1469), com levantamento de dados demográficos, socioeconômicos e de uso de drogas. Na análise estatística foi utilizado freqüência, média, desvio padrão e teste qui-quadrado, com um nível de significância de p<0,05. Resultados: O perfil predominante dos usuários de substâncias psicoativas foi de jovens na faixa etária de 21 a 30 anos, sexo masculino, solteiros, cor branca, com baixo nível de escolaridade, baixa condição socioeconômica e sem vínculos empregatícios. Encontrou-se maior consumo de tabaco (86,0%) entre as substâncias lícitas, com predomínio de uso pelas mulheres, e crack (83,3%) entre as ilícitas. O uso de tabaco, maconha e inalantes demonstrou-se, significativamente, associado aos jovens. Conclusões: Os resultados contribuem para a elaboração de programas de intervenção, que abordem uma articulação multidisciplinar, numa ofensiva contra a problemática do uso indevido de drogas.
ESTUDO DA RELAÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E ACIDENTES DE TRÂNSITO
ROGER SANTOS DOS SANTOS;GRAZHIELA WEECK MEDEIROS; MARCELLO MASCARENHAS
Objetivo: Este artigo tem como objetivo avaliar a relação de consumo de álcool por condutores de automóveis, por sua alta prevalência, incidência e conseqüências em termos de saúde pública. Método: Realizou-se uma revisão das publicações sobre o tema, utilizando-se sites/revistas de publicação de artigos científicos; cobrindo o período de 2000 a 2008. Foram consultados artigos e livros sobre o tema, em diversas fases da pesquisa. Conclusão: O consumo de álcool tem imenso peso como causa de morbi-mortalidade no mundo, é citada como o terceiro maior fator de risco para problemas de saúde na maioria das nações. Existem vários fatores que contribuem para altos índices de problemas relacionados ao álcool e aos acidentes de trânsito. Mundialmente, estima-se que 1,2 milhões de pessoas são mortas em colisões rodoviárias em cada ano e com 50 milhões de feridos. No Brasil, o consumo de álcool é responsável por mais de 10% de seus problemas totais na área de saúde; entretanto, o álcool está envolvido nas quatro primeiras causas de mortes no trânsito entre indivíduos na faixa de 10 a 24 anos, mas dados epidemiológicos da ocorrência de acidentes de trânsito relacionados ao uso de bebidas alcoólicas são carentes, apesar do alto índice de ocorrência. Os acidentes automobilísticos ocupam papel proeminente nas estatísticas, pois, em todo o mundo, entre um quarto e a metade dos acidentes de trânsito com vítimas fatais estão associados ao uso do álcool por algum dos responsáveis pela ocorrência. Nos Estados Unidos, mais de 40.000 mortes são provocadas por veículo automotor.
TAXA DE MORTALIDADE GERAL: UM OLHAR VIVO PARA O HCPA
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 440
THEO HALPERN FAERTES;MARIANNA DE BARROS JAEGER; TIAGO FRANCO MARTINS
Introdução: A taxa de mortalidade hospitalar considera apenas os pacientes que estejam internados no hospital, e pode ser calculada dividindo-se o número de óbitos pelo número de saídas, em determinado período. Hospitais terciários costumam apresentar taxas de mortalidade superiores às de centros primários de atenção à saúde. Objetivos: Analisar as taxas de mortalidade geral no HCPA ao longo dos últimos anos e em comparação com as taxas de outros grandes hospitais brasileiros. Materiais e métodos: Revisamos, através do sistema de Informações Gerenciais (IG), os dados sobre internações ocorridas no HCPA de janeiro de 2002 a maio de 2009. Dados de outros hospitais foram obtidos na internet. Resultados: No período pesquisado, a taxa de mortalidade geral no HCPA foi de 4,8% (9.861 óbitos; 204.999 saídas). Houve pequena variação na análise por mês (0,93%), com maiores taxas nos meses de fevereiro (5,4%) e maio (5,1%), e a menor em dezembro (4,5%), o que associa-se a taxas mais elevadas no primeiro semestre (4,9%) em relação ao segundo (4,8%). Os serviços que apresentaram as maiores taxas foram os de Oncologia (20,2%) e de Medicina Interna (15,7%). As taxas no sexo masculino e feminino foram, respectivamente, 5,9% e 4,0%. De 2005 a 2008, observamos um crescimento constante das taxas anuais de mortalidade. Hospitais terciários de Porto Alegre apresentaram taxas semelhantes às do HCPA. Conclusão/Discussão: A diferença entre os sexos pode ser atribuída às internações obstétricas (29.515), que contribuíram para as menores taxas no sexo feminino. As taxas de mortalidade devem ser consideradas no contexto da alta complexidade do atendimento que é prestado no HCPA, com qualidade assistencial equiparável a de outros hospitais terciários de Porto Alegre.
MÉDIA DE PERMANÊNCIA NO HCPA
ALINE VITALI DA SILVA;ALINE RODRIGUES DA SILVA NAGATOMI, ELIZA DALSASSO RICARDO, LILLIAN GONÇALVES CAMPOS, ROBERTA REICHERT
Introdução: A média de permanência (MP) hospitalar é um indicador que permite avaliar desde a eficiência de uma determinada unidade hospitalar, até servir como base para mensurar o número de leitos necessários para o atendimento da população de uma área. Objetivo: Comparar a MP do HCPA com hospitais brasileiros e entre especialidades médicas. Métodos: Os dados foram retirados do Departamento de Informática do SUS, Sistema de Indicadores Padronizado para Gestão Hospitalar, Sistema IG Assistencial do HCPA e Estatística/HC-UNICAMP. Foram incluídos todos os pacientes que permaneceram no hospital por pelo menos 24h e os que faleceram antes de completar 24h de permanência. Os dados foram analisados em Microsoft Excel calculando-se a MP através da soma dos dias de internação dividido pelo número de saídas do hospital. Resultados: A MP, em dias, no ano de 2007 no Brasil foi 5,8, na Região Sul 5,6, Rio Grande do Sul (RS) 5,9, Porto Alegre 7,8 e HCPA 8,6. A MP no Hospital de Clínicas da Unicamp no mesmo ano foi 8,44 dias. Entre diferentes especialidades no HCPA a psiquiatria teve a maior MP (30,29 dias) e a obstetrícia a menor MP (3,98 dias). A MP do HCPA teve uma tendência à queda a partir de 2002, com 8,81 dias neste ano e 8,59 dias em 2007. Discussão: A MP do HCPA é a maior comparada com Porto Alegre, RS, região sul e Brasil, o que se justifica pelo grau de complexidade do hospital e perfil dos pacientes atendidos. Ao compararmos a MP do HCPA com um hospital também terciário encontramos valores semelhantes, o que indica uma a qualidade assistencial também semelhante. Já a MP entre especialidades pode variar muito devido às características das doenças tratadas. O HCPA mostra um declínio na média de permanência, sendo indicativo de melhora na qualidade assistencial.
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SEGUROS E EFICAZES
KARINE KRINDGES;AMANDA OCHOA LUCCA; ANGÉLICA DA SILVA; CAMILA SIMON ZANOVELLO; CAMILA SOLIGO; TAMARA KOPS MACHADO
O consumo de medicamentos manipulados vem crescendo no Brasil, bem como o número de estabelecimentos para este fim. Analisar as farmácias de manipulação e verificar se estão seguindo às leis estabelecidas pela ANVISA para o seu funcionamento é se suma importância para a manipulação correta e com qualidade do produto. Em virtude disso e da pouca preocupação com a qualidade dos produtos, e muito pelo menor preço pagado por eles, cabe analisar o que o Brasil vem tentando regulamentar acerca destes medicamentos, para que possam ser mais eficientes e eficazes, objetivando evitar que as pessoas venham a ter problemas de saúde ou até morram em função de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 441
seu consumo. Objetivo: Visitar as farmácias de manipulação da cidade de Chapecó–SC avaliando a rotina de trabalho nestes estabelecimentos e, se estes cumprem as normas estabelecidas pela ANVISA para seu funcionamento, analisando a eficiência e a eficácia dos medicamentos manipulados nestes locais. Metodologia: Análise quantitativa e qualitativa acerca do funcionamento das farmácias de manipulação com base nas legislações previstas pelo MS representado pela ANVISA. Resultados e conclusões: foi possível perceber que os estabelecimentos seguem a maioria das exigências para a manipulação dos medicamentos, garantindo assim, uma melhor eficiência e eficácia dos produtos comercializados para seus clientes. É de suma importância a realização de trabalhos de fiscalização destes estabelecimentos. Entretanto, o controle de qualidade é mais eficaz quando feito em produção de larga escala, por apresentar uma amostra maior. Foi perceptível também, a importância do trabalho de fiscalização dos estabelecimentos de manipulação de medicamentos para garantir a qualidade do produto, bem como a orientação sobre estes, para a população.
INTOXICAÇÃO POR DROGAS COMO CAUSA DE MORTE ENTRE HOMENS HOSPITALIZADOS NO RS, 2002-2004
ROGER DOS SANTOS ROSA;JULIA QUINTANA MORAES; JACQUELINE OLIVEIRA SILVA
Contexto: A facilidade de acesso às drogas, dada a posição sócio-cultural do homem e a demora em buscar auxílio nos serviços de saúde, são características do uso de drogas pelo sexo masculino potencializando a severidade das intoxicações. Objetivo: descrever as mortes hospitalares por intoxicação de narcóticos e alucinógenos (CID-10 T40) (heroína, opiáceos, cocaína, cannabis e derivados, LSD, etc) no Rio Grande do Sul entre 2002-2004. Metodologia: análise das internações hospitalares de residentes do RS na rede pública deste estado a partir do Sistema Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Resultados: Entre 2.702 internações por intoxicação medicamentosa (IM), 1.020 (37,7%) foram do sexo masculino. Destas, tiveram CID-10 T40 como diagnóstico principal 163 (11%), o terceiro em representatividade, com 8 óbitos (letalidade 5%). Apesar da distribuição sexual semelhante nas internações por T40, este foi o único CID-10 por IM com diferença expressiva quanto a óbito entre sexos por inexistência de mulheres. As faixas etárias de maior concentração dos óbitos foram de 25-29 (3 casos) e de 55-59 (2 casos). Ingressaram em Unidade de Tratamento Intensivo 23 homens (14,1%). Dos 8 óbitos, 6 (75%) ocorreram antes do ingresso na UTI. Conclusões: A morte hospitalar por intoxicações por narcóticos e alucinógenos foi caracterizada como um problema masculino. Não foi possível, dada a fonte, estabelecer relações causais. Entretanto, no Rio Grande do Sul as tentativas de suicídio respondem por 42% das intoxicações humanas segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas e que estes têm maior prevalência entre os homens. Os autores sugerem estudos sobre a relação entre mortes por narcóticos e alucinógenos, suicídios e condição masculina.
INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE IDOSOS PELO SUS EM PORTO ALEGRE, 1999-2004
ROGER DOS SANTOS ROSA;CHRISTIANE NUNES DE FREITAS; RONALDO BORDIN; JACQUELINE OLIVEIRA SILVA
Contexto/Objetivo: Considerando o envelhecimento da população brasileira, objetivou-se analisar as internações hospitalares pelo SUS em Porto Alegre, focalizando a população de 60 anos ou mais, no período de 1999 a 2004. Métodos: Foram utilizados os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Resultados: Observou-se 7,3% de aumento de internações em todas as faixas etárias e apenas 6,2% no repasse de recursos e 5,5% dos leitos SUS no período. Ocorreram 229.560 hospitalizações de idosos, das quais 42,7% de residentes de outros municípios (25% de dez municípios da região metropolitana). Predominaram internações do sexo feminino (51,2%) e mortalidade hospitalar no sexo masculino (51,6%). Por CID-10, as doenças do aparelho circulatório foram a maior causa de internação (30%) e de óbito hospitalar (23%). Entretanto, a letalidade foi maior nas doenças infecto contagiosas (34%), seguidas pelas doenças respiratórias (18%) e neurológicas (12%). A média de permanência geral foi de 9,6 dias. As instituições psiquiátricas foram as que apresentaram maior média de dias de internação. Os dias de permanência das hospitalizações que evoluíram para óbito representaram 11,5% do total dos dias de permanência das internações. Conclusões: As internações hospitalares de idosos pelo SUS em Porto Alegre apresentam o perfil de outros municípios e regiões brasileiras e reforçam a necessidade
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 442
de políticas públicas para a região metropolitana, direcionadas à população idosa e aos serviços de saúde que a terceira idade demanda.
A HIGHLY PREVALENT TP53 MUTATION PREDISPOSING TO MULTIPLE CANCERS IN THE BRAZILIAN POPULATION: CASE FOR NEWBORN SCREENING?
PATRICIA ASHTON-PROLLA;HAINAUT P; ACHATZ MIW
Introduction: The unusual high population frequency of a germline TP53 mutation (R337H) predisposing to early cancer has led to mass newborn testing for this mutation in the State of Paraná, Southern Brazil. Newborn screening (NBS) for inherited cancer risk is complex and controversial. Methods: Here we discuss justifications for NBS in the light of medical and scientific evidence on this mutation and according to the original criteria of Wilson and Jungner for inclusion of a test in NBS (1969). Results: R337H has been identified in Brazilian families with Li-Fraumeni or related syndromes (LFS/LFL) predisposing to cancers in childhood (brain, renal, adrenocortical carcinoma), adolescence (soft tissue and bone sarcomas) and young adulthood (breast, others). R337H has also been detected in childhood adrenocortical carcinoma patients without documented cancer familial history. The mutation is estimated to occur in about 0.3% of the population of Southern Brazil and is associated with increased cancer risk throughout life. Cancer patterns in R337H families suggest strong genetic modifying effects, making it difficult to predict individual risk. Conclusions: Since protocols for cancer risk management in LFS/LFL are a matter of debate, extreme care should prevail in predictive testing of minors for R337H. Detailed evaluation of risks, benefits and costs are needed to ensure that medical, social and ethical justifications for NBS are met.
OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE: POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES ENFRENTADAS NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA DAS CIDADES DE PEQUENO PORTE
ROGER HEISLER;ANDRÉA HEISLER; ANA LUÍSA MARTINS ETCHEVERRY; FABIO RAFAEL WASEM LOPES; PAULO EDUARDO KRAUTERBLUTH SOLANO; HENRIQUE OLIANI JÚNIOR; CARLOS ORLANDO SPARTA DE SOUZA; GEISON LEONARDO FERNANDES PINTO
Introdução: Os Consórcios Públicos (CPs) proporcionam que os pequenos municípios, que sozinhos não teriam como atender às demandas de suas populações (principalmente serviços especializados de saúde), possam promovê-los com maior efetividade. A lei 11.107/05 regula-os e estabelece que os CPs envolvendo saúde devem obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). Pela limitação de recursos do SUS e pela superutilização de hospitais nas grandes cidades, deu-se a criação da lei dos CPs a fim de promover certo grau de independência das cidades menores em relação às maiores. Objetivos: Discussão sobre os CPs, enfocando seus sucessos e adversidades. Materiais e Métodos Busca de artigos relacionados ao Consórcio de Penápolis (CISA), composto de sete municípios e com 58 mil habitantes (IBGE/2008), correlacionando-o a um estudo da estrutura jurídica dos CPs no Brasil. Resultados: Segundo a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP), em 1993, cerca de 16% da população da região esteve internada, superando os 9% previsto pelo SUS. 93,2% das internações foram feitas a partir do SUS; 3,5% por particulares e 3,3% por meio de convênios. A Santa Casa de Penápolis foi a principal referência hospitalar da região, com 74,4% das internações; o Hospital S. João de Alto Alegre com 7,8% e o Hospital Espírita de Penápolis (Psiquiatria) com 3,8%. Esses serviços concentraram 86% das internações na área geográfica do CISA.Conclusões: O CISA é um modelo, pois garante consultas especializadas e não sobrecarrega os hospitais da Capital do Estado; porém, precisa superar desafios: conflitos de territorialidade com a SES-SP; problemas de repasses do SUS; ingerência, pela restrita autonomia financeira e flexibilidade para compras e contratação.
A FILANTROPIA: FATOR DECISIVO PARA A CRISE NA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL E PARA O CAOS DA SAÚDE PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 443
ROGER HEISLER;JOICE KLEIN; CLARICE BATISTA; HENRIQUE OLIANI JÚNIOR; CARLOS ORLANDO SPARTA DE SOUZA; GEISON LEONARDO FERNANDES PINTO; PAULO EDUARDO KRAUTERBLUTH SOLANO; RAPHAEL VIEIRA MEDEIROS; LUCAS CAMPOS DE ARAÚJO
Introdução: No segundo semestre de 2008, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) passa pela sua maior crise financeira desde a sua fundação. Quando foi criada, sua meta era a educação; porém, foi diversificando sua área de atuação entre saúde, esporte, rádio, tv e laboratório farmacêutico, além de ter ocorrido uma expansão de sua estrutura física por diversos Estados do Brasil, utilizando-se da modalidade de Entidade Filantrópica (EF) para isenção de impostos. Objetivos: Analisar a questão filantrópica desta Universidade e os reflexos de tal crise para o atendimento à saúde pública (SP) na região metropolitana de Porto Alegre. Materiais e Métodos: Busca de artigos relacionados, além de consulta à legislação vigente. Resultados: Uma EF não tem finalidade de lucro, presta serviços à sociedade e não cobra os serviços prestados a beneficiários carentes, sendo que os objetivos são específicos para determinada área de atuação. A Ulbra afastou-se de suas metas celebradas no certificado de EF por investir em diversas áreas, conseqüentemente, acabou perdendo seu enquadramento como EF. Assim, impostos na ordem de cerca de 2 bilhões de reais em dívidas com o Governo Federal (GF), além de mais empréstimo de cerca de 270 milhões de reais, endividaram a Ulbra. Assim, devido à crise, Hospital Independência, Luterano e Universitário/Canoas fecharam suas portas, transferindo sua demanda para outros hospitais como Pronto Socorro/POA, Cristo Redentor, e outros, provocando o caos na SP. Conclusão: Gestão irresponsável e desvio dos objetivos prioritários da Ulbra como EF, levaram ao atual quadro. A reabertura dos hospitais da Ulbra, pelo Complexo Hospitalar Santa Casa e Hospital de Clínicas de Porto Alegre pode ser alternativa para o caos na saúde. Pacote do GF para crise é aguardado.
ESTUDO DA VIABILIDADE DA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UMA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL
LÚCIA MUNARETTO ZIMMERMANN;JOÃO WERNER FALK, PAULO EDUARDO MAYORGA BORGES
Introdução: O setor magistral brasileiro sofreu muitas transformações nos últimos anos impulsionado, principalmente, pelas resoluções editadas pela ANVISA. Diante disso, as Farmácias Magistrais Brasileiras necessitaram se adequar em um curto espaço de tempo. Tais mudanças não puderam ser realizadas na Farmácia Municipal de Osório-RS e o Laboratório da Farmácia foi desativado. Objetivo: Comparar os custos de aquisição dos medicamentos, na forma farmacêutica semi-sólida, via Sistema de Registro de Preços e os custos estimados da manipulação dos mesmos. Material e Métodos: A fonte de dados utilizada foi o Sistema Integrado de Saúde da Prefeitura Municipal, o Registro de Preços nº 16/2008 e a pesquisa de preços das matérias-primas e do controle de qualidade. Resultados: A análise dos custos de manipulação versus os de licitação revelou que a aquisição dos mesmos por manipulação apresentou um custo superior ao de licitação. Conclusão: Apesar da análise de custos ter revelado ser mais dispendioso manipular medicamentos do que adquiri-los por licitação, a existência de um Laboratório na Farmácia Municipal possibilitaria a prestação de serviços hoje indisponíveis aos prescritores e usuários, como a personalização da terapêutica em concordância com as orientações específicas do profissional prescritor.
TRATAMENTO DIRETAMENTE SUPERVISIONADO (DOTS): ESTRATÉGIA PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE
MICHELI REGINA ETGES
A tuberculose (TB) consiste num problema prioritário de saúde pública no Brasil. Anualmente são notificados cerca de 90.000 casos, mas em virtude da subnotificação acredita-se que tal número alcance 129.000 casos. A taxa de cura gira em torno de 70% e a de abandono de tratamento em 10%. A meta, segundo o Plano de Controle da Tuberculose é curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados e reduzir a taxa de abandono para menos de 5%. Trata-se de uma revisão de literatura sobre a utilização do DOTS como estratégia para a redução das taxas de abandono no tratamento da TB. O Tratamento Diretamente Supervisionado consiste na supervisão da ingestão dos medicamentos em uma única dose diária que deve ser realizada no local de escolha do paciente, por um profissional de saúde ou familiar devidamente orientado para essa atividade. Preconizado para
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 444
pacientes que se submeterão ao tratamento I e IR, a supervisão da ingestão da medicação deve ser feita 3 vezes por semana nos dois primeiros meses de tratamento e duas vezes por semana nos quatro meses seguintes. Um dos principais objetivos do DOTS consiste na adesão ao tratamento e consequente redução do risco de transmissão da doença na comunidade. Estudos realizados em serviços de saúde no Brasil, e em outros países, demonstraram que a utilização do DOTS diminuiu a taxa de abandono do tratamento, aumentou a taxa de pacientes curados e diminuiu o número de resistências adquiridas. Dessa forma, pode-se dizer que o DOTS apresenta vantagens para o paciente, para os profissionais e para a saúde pública. Podendo ser uma importante estratégia para o controle da TB no Brasil, sua utilização deve ser disseminada nos serviços de saúde de forma a qualificar o tratamento direcionado aos pacientes com TB e diminuir o número de novos casos no país.
ANÁLISE DOS INDICADORES DE FATURAMENTO E GASTOS DIRETOS DISCRIMINADOS POR PAGADOR NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
MARCIO ARALDI;EVLYN ISABEL EICKHOFF; LAURA CORSO CAVALHEIRO; MILTON FEDUMENTI ROSSI; MARIZA MACHADO KLUCK
INTRODUÇÃO: No início de 2009, foi movida, pelo Ministério Público Federal, uma ação contra o HCPA, exigindo que todos os leitos e serviços prestados pelo Hospital fossem direcionados exclusivamente ao SUS. Seguiram-se discussões com o intuito de demonstrar a importância do atendimento não SUS na geração de fundos capazes de sustentar a qualidade e a excelência de atendimento para todos os usuários. Este trabalho se propõe a trazer dados para esta discussão. OBJETIVO: Analisar a diferença entre gastos e faturamento do HCPA com atendimentos SUS e de convênios e particulares. MATERIAL E MÉTODOS: Foram buscadas no Sistema de Informações Gerenciais do HCPA planilhas de faturamento geral, discriminado por pagador, gastos diretos e de ocupação de leitos, de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2008. Para análise foi utilizado o Microsoft Office Excel. RESULTADOS: A taxa de ocupação para os dois grupos no período foi de 87,77% entre os pagadores SUS e 70,79% para as unidades de convênio. A média de gastos dos pagadores SUS foi de 80% (DP±1,4) e dos pagadores não SUS foi de 20% (DP±1,4). A média de faturamento dos pagadores SUS foi de 79,28% (DP±0,757) e dos pagadores não SUS foi de 20,32% (DP±0,8). O valor médio pago por internação pelos pagadores não SUS é 2,54 vezes maior do que o valor médio pago por internação geral, e 3,09 vezes maior que o valor médio pago por internação pelo SUS. CONCLUSÃO: Considerando a proporção de leitos SUS e não SUS do faturamento total e gastos diretos observa-se que as diferenças são proporcionais. No entanto, os valores de gastos indiretos não puderam ser avaliados discriminadamente, impossibilitando a estimativa da representatividade de cada pagador. Contudo, através dos valores médios pagos por internação vê-se a importância do faturamento não-SUS.
CONVIVÊNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE - PET-SAÚDE XANGRI-LÁ
LOUISE DE CASSIA FERREIRA BERTOLI;MÁRCIA CANÇADO FIGUEIREDO; ADRIANE VIENEL FAGUNDES; LUIZ MAKITO OSAWA GUTIERREZ; TACIANA FERRONATO; RENATA D AMORE; EDUARDO LOMBARDO; LUCIANA MARIA BRANCHER; JULIANA SOUZA ROSA; JÃO DURIGON; JASPER SCHUTZ; MAURÍCIO OURIQUES; KARINA HORN
Introdução: O PET-Saúde Xangri-Lá foi estruturado em etapas, incluindo ações que vão ao encontro dos objetivos pré-estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Município de Xangri-Lá, RS, bem como a formação proposta pelas diretrizes curriculares do Ministério da Educação, de inserir o acadêmico da área da saúde na interdisciplinaridade. Metodologia: As atividades são executadas em Xangri-Lá e seguem um cronograma previamente proposto para 12 meses. Essas buscam metodologias e novos procedimentos que são realizados através da interação entre o ensino, pesquisa, extensão e serviço com a realidade local através de levantamentos dos dados extraídos diretamente dos cadastros oficiais do Município e das fichas individuais de cada pessoa que freqüenta uma das quatro Unidades Básicas da Saúde-UBS locais. Tais dados serviram para identificação dos problemas de saúde da população para que programas específicos possam ser traçados, planejados e executados com eficiência. Resultados: No contato com a população os acadêmicos da Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Medicina e Medicina Veterinária confrontaram a teoria com a prática, gerando
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 445
aprendizado mútuo e novos questionamentos do real significado do ensino, pesquisa e da extensão.Conclusão: O grupo tem adquirido maturidade, bem como um certo grau de crescimento no que tange à formação das equipes interdisciplinares e multiprofissionais, visualizando o processo saúde-doença em todas as suas dimensões, considerando o cidadão, a família e a comunidade integrados à realidade epidemiológica e social com as quatro Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Município de Xangri-Lá,RS com as quais trabalhou-se.Sem dúvida alguma, não se sabe qual dos elementos incluídos tem sido o mais beneficiado.
FUNÇÕES ESSENCIAS DE SAÚDE PÚBLICA NO CURRÍCULO DE ENFERMAGEM DA UFRGS
CARLA DAIANE SILVA RODRIGUES;REGINA RIGATTO WITT
O referencial das Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP) foi desenvolvido pela Organização Panamericana da Saúde para melhorar o desempenho da saúde pública, sendo uma das preocupações desta Organização a formação profissional. Foi realizado um estudo de caso com o objetivo de verificar a inserção das Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP) no Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados, foram definidas palavras-chave a partir das definições das onze FESP estabelecidas, procedendo-se à busca nos planos de ensino das disciplinas obrigatórias do Currículo. Verificou-se inserção de dez FESP, sendo as de maior ocorrência as que se referem ao desenvolvimento de recursos humanos e capacitação em saúde pública (20%), promoção da saúde (18%), análise da situação de saúde da população (14%) e políticas e gestão em saúde pública (12%). A FESP menos verificada foi a que se refere à promoção do acesso eqüitativo da população aos serviços de saúde necessários (2%). Conclui que o Currículo em estudo contempla algumas FESP de forma mais intensa, o que deve propiciar a formação de enfermeiros capazes de contribuir para o desempenho de algumas FESP e que é necessário inserir as demais, contribuindo para o bom desempenho da saúde pública pelos profissionais formados na instituição.
PREVALÊNCIA DOS MOTIVOS DE CONSULTA EM ACOLHIMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA
VINÍCIUS LEITE GONZALEZ;GUSTAVO DA ROSA SILVA; JOSÉ MAURO ZIMMERMANN JÚNIOR; ANA LÚCIA CORVETTA DA SILVA
INTRODUÇÃO: A classificação internacional para assistência primária (CIAP) classifica as razões que levaram as pessoas a pedir assistência, vistas da perspectiva do paciente. A informação que se classifica é a que se obtém no início do contato do provedor com o paciente, antes que se disponha de informação suficiente para a formulação do diagnóstico. O atendimento ao público na forma de acolhimento tem como princípios: 1) atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal; 2) reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu eixo central do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de acolhimento –, que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde; e 3) qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania. OBJETIVOS: Analisar a prevalência dos motivos de consulta em acolhimento de atenção primária, tendo como base a CIAP. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de prevalência em que foram registradas todas as queixas principais de pacientes que procuraram um posto de saúde, na forma de acolhimento, no período de 01/06/08 a 30/06/08, classificadas conforme a CIAP. RESULTADOS: Durante o período analisado, houve 154 atendimentos, com idade média de 27 anos sendo 63% mulheres. A queixa mais prevalente foi tosse (38,3%), seguida por febre (24,6%) e espirro/congestão nasal (21,4%). CONCLUSÕES: Postos de saúde da família são a porta de entrada do sistema de saúde. Estimar a prevalência das queixas que motivaram o atendimento baseada em uma classificação voltada para a perspectiva do paciente auxilia no planejamento das ações preventivas e de promoção da saúde da comunidade.
NÍVEIS DE MORTALIDADE INFANTIL NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
FERNANDO RIBAS FEIJÓ;DANIEL LUNARDI SPADER; DIEGO BONIATTI RIGOTTI; MARCOS MÜLLER ÁVILA; NATALIA FURLAN; PEDRO DE MENDONÇA LIMA HECK
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 446
Introdução: O maior risco de mortalidade a que as pessoas estão expostas ocorre em seu primeiro ano de vida. A maior suscetibilidade dos lactentes às condições ambientais tem conferido ao coeficiente de mortalidade infantil(CMI) o papel de indicador não apenas de saúde, mas, também, do nível de vida da população, além de ser um marcador da qualidade dos serviços. As precárias condições socioeconômicas e ambientais, aliadas à dificuldade de acesso à saúde são os principais fatores determinantes dos óbitos infantis. Objetivo: Analisar os óbitos dos menores de 1 ano no HCPA, ocorridas no período de janeiro de 2002 a setembro de 2007, a fim de fornecer dados concretos aos gestores de saúde. Material e Método: Para o cálculo do CMI hospitalar utilizou-se a razão entre o número de mortes de menores de um ano que ocorreram no HCPA e o total de internações de menores de um ano no mesmo local, representando os expostos ao risco multiplicado por 100. Os dados analisados foram obtidos através do sistema informatizado do HCPA. Resultados: De 2002 a 2005, apenas em três meses a taxa de mortalidade ultrapassou os 5%. Em 2006 essa taxa foi ultrapassada 4 vezes. Já 2007 também apresentou quatro meses com taxa superior a 5%. Desde 2002 há uma nítida tendência de crescimento da MI, acentuando-se no ano de 2006, onde a taxa foi 50% superior à de 2002. A maior mortalidade em números absolutos está concentrada na neonatologia e na pediatria. No entanto, percentualmente, a taxa de mortalidade não chega a 5%. Apenas na gastro-pediatria a taxa ultrapassa os 10%. Mais de 90% dos pacientes menores de um ano, que falecem no HCPA, vão a óbito em unidades de terapia intensiva. Conclusões: Há uma discrepância nas taxas de MI do HCPA em relação aos número de Brasil, RS e Porto Alegre. Isso pode estar relacionado a melhora nos serviços de informação e a melhora e expansão dos serviços de Atenção Primária, o que remeteria ao HCPA apenas casos mais complexos.
DIAGNÓSTICO DO VÍRUS RÁBICO EM MORCEGOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2008 A JUNHO DE 2009
SAMUEL PAULO CIBULSKI; HELTON FERNANDES DOS SANTOS; HIRAN CASTAGNINO KUNERT FILHO; ANA PAULA MUTERLE VARELA; THAIS FUMACO TEIXEIRA; DIOGENES DEZEN; SUZI MISSEL PACHECO; JOSÉ CARLOS FERREIRA; HELENA BEATRIZ DE CARVALHO RUTHNER BATISTA; JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA ROSA; PAULO MICHEL ROEHE
Introdução: A ocorrência de raiva em morcegos não hematófagos tem sido cada vez mais reportada em nosso País. Além das diversas zoonoses que podem ser transmitidas por morcegos, nos últimos anos eles foram os principais transmissores da raiva para o homem no Brasil. Existem no país aproximadamente 140 espécies de morcegos, sendo que o vírus rábico (VR) já foi detectado em pelo menos 36 delas, na maioria dos casos em morcegos habitantes de centros urbanos. Objetivos: Reportar a casuística da raiva em quirópteros no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de janeiro de 2008 a junho de 2009. Metodologia: Foram computados os resultados dos exames diagnósticos para raiva em quirópteros realizados no IPVDF empregando-se a metodologia diagnóstica recomendada pela organização mundial da saúde (imunofluorescência direta e a inoculação em camundongos lactentes). Resultados e conclusões: No período analisado, foram recebidas 475 amostras de morcegos para análise, das quais 17 foram positivas. O VR foi detectado em 4 espécies de morcegos (Tadadida brasiliensis, Myotis nigricangs, Histiotus velatus e Molossus molossus, ambos insetívoros), perfazendo um total de 3,58% de positivos para a raiva. A predação de morcegos por animais domésticos gera um potencial risco de transmissão da raiva para humanos e um importante elo entre o ciclo rural e o ciclo urbano da doença, ao qual se deve dar a máxima atenção, o que salienta a importância da manutenção de uma vigilância epidemiológica constante.
PREVENÇÃO DE PARASITOSES: CAPACITANDO AGENTES DE SAÚDE
KARINA HECK DA SILVA;DANIEL DERROSSI MEYER, KÁTIA VALENÇA CORREIA LEANDRO DA SILVA
Doenças relacionadas com parasitoses constituem-se em um problema de saúde pública, e tornam-se agravadas quando ocasionadas por falta de higiene ou cuidados com o manuseio e preparo de alimentos. As maiores incidências de parasitoses ocorrem em países de terceiro mundo, mais especificamente em regiões de periferia de centros urbanos e cidades do interior. A eficácia de campanhas de combate a doenças parasitárias depende, em grande parte, da mediação de agentes de saúde com a comunidade. O objetivo deste trabalho foi levar uma oficina de capacitação de agentes de saúde, abordando temas de parasitoses e seus cuidados, para uma Unidade Básica de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 447
Saúde do município de Viamão – RS. Foi promovido um diálogo entre mediadores – extensionistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – e agentes de saúde que atendem à comunidade do Jari, apontando as principais causas de parasitoses humanas, bem como os principais pontos preventivos, como o uso de água tratada, o correto manuseio e preparo de alimentos, noções básicas de higiene das mãos e correto armazenamento de recipientes que acumulam águas. Com a promoção do diálogo entre os interativos, as oficinas de extensão contribuíram para que os agentes de saúde tornassem-se mais aptos e seguros ao atendimento e esclarecimento de dúvidas da população e a campanhas de prevenção de doenças. Cabe ressaltar que a atualização de informações entre os profissionais de saúde e sua constante capacitação, funcionam como importantes medidas preventivas, e devem ser estimuladas por órgãos competentes da Secretaria da Saúde.
PREVALÊNCIA E PERFIL BIOQUÍMICO DA HEPATITE C EM PACIENTES HEMODIALISADOS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO
ROGER SANTOS DOS SANTOS;FROSI S.; LAMPERT C; STOLL B; GALL M; SIMONETTI A; MASCARENHAS M
Com o objetivo de conhecer a prevalência e o perfil bioquímico da infecção pelo vírus da hepatite C em pacientes hemodialisados do Hospital Independência de Porto Alegre-RS, foram avaliados os 79 pacientes em hemodiálise e considerado apenas os 52 pacientes com mais de 1 ano de tratamento. Dos 52 pacientes, 28 eram reagentes para o anti-HCV e 24 eram não reagentes. A análise do perfil baseou-se no levantamento dos dados de 20 diferentes tipos exames laboratoriais realizados mensalmente por estes pacientes. Foram comparadas as médias dos resultados dos pacientes reagentes com os resultados de uma amostra de 50% dos pacientes não reagentes ao anti-HVC. Para cada paciente foi avaliado a idade, sexo, tempo em diálise e os exames laboratoriais. Entre os pacientes reagentes 57% eram do sexo masculino e 43% eram do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi 54 anos. Concluiu-se, através da análise de 13.568 resultados laboratoriais que, 53% dos pacientes com mais de 1 ano de tratamento em hemodiálise tiveram resultados reagentes para o anti-HCV e os perfis dos exames analisados destes pacientes apresentaram alterações significativas quando comparadas aos anti-HCV não reagentes.
AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO E PROSTÁTICO EM HOMENS DO MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA.
FILIPE VALVASSORI DO NASCIMENTO;ERICKSEN BORBA; ARIELLA PHILIPI; ALEXANDRE COSTA GUIMARÃES; ROBERTA BOFF; SUZANA DE FREITAS; PATRÍCIA SPADA; ADRIANA COITINHO; CLÁUDIA FUNCHAL; CAROLINE DANI
Introdução: O fígado é o mais complexo órgão do sistema gastrointestinal e exerce diversas funções essenciais. No início, as patologias hepáticas são silenciosas, o que pode causar um diagnóstico tardio e irreversível. A avaliação da função hepática se dá através da dosagem de enzimas que quando alteradas sinalizam o mau funcionamento do fígado. Já a próstata é uma glândula exclusivamente masculina e pode ser afetada basicamente por três tipos de patologias: inflamações, hiperplasias benignas e carcinomas. Níveis séricos alterados de PSA são um importante indicativo de alguma alteração prostática. Objetivos: Avaliar o Perfil Hepático e Prostático em homens do município de Flores da Cunha, RS. Materiais e Métodos: Foram coletados dados através de um questionário para obter informações sócio-demográficas e coleta de amostras de sangue total de 302 homens. As análises bioquímicas foram realizadas no laboratório de Bioquímica da instituição. Resultados: A idade média foi de aproximadamente 49 anos. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão: AST: 23 U/L ± 11, ALT: 13 U/L ± 11, GGT: 47 U/L ± 46 e PSA: 0,72 ng/mL ± 0,92. Conclusões: As dosagens de AST, ALT e PSA estão dentro dos padrões de normalidade. Já os valores obtidos nas dosagens de GGT nos trazem um dado preocupante, já que a maioria dos homens está apresentando resultados maiores que o normal. Como a GGT se altera com facilidade devido ao uso de álcool e medicamentos, os resultados sugerem provavelmente o elevado consumo destas substâncias, o que pode gerar graves riscos futuros. O trabalho mostra uma necessidade de conscientização da população quanto aos malefícios causados pelas substâncias hepatotóxicas.Apoio financeiro: Centro Universitário Metodista IPA e Prefeitura Municipal de Flores da Cunha.
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 448
INTRODUÇÃO: DE ACORDO COM DONABEDIAN, O ESTUDO DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA É A MELHOR FORMA DE MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO
CAMILA ZAMBAN DE MIRANDA;DRA. CRISTINA ROLIM NEUMANN; DR. ERNO HARZHEIM; ÂNGELA JORNADA BEN; VANESSA SCHIERHOLT SILVA; CINTIA JUNGES; GRAZIELA MASSOCHINI; RAFAELA PICCOLI; FABIAN NICKEL; VERENA ROVIGATTI; ARIEL CAMARGO; LARISSA GARCIA; TIAGO LEÃO; MARIANA GOMES; BRIGIDA OLIVEIRA; WALESKA PETTERLE
Introdução: De acordo com Donabedian, o estudo do processo de assistência é a melhor forma de melhorar a qualidade do serviço. Objetivos: Avaliar a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares (FRC) em área do Programa Saúde da Família HCPA; a qualidade do cuidado preventivo; a afiliação ao serviço e a autopercepção de saúde (APS). Métodos: Foram incluídos homens > 45 e mulheres > 55 anos e pessoas com pelo menos um FRC independente da idade: hipertensão, diabetes, miocardiopatia isquêmica e doença cerebrovascular. Os pacientes foram selecionados por conveniência para entrevista domiciliar e foram questionados sobre doenças passadas, auto-percepção de saúde, hábitos e cuidados com saúde e doenças familiares. Foram aferidos medidas antropométricas e pressão arterial. A análise foi descritiva e foram usados o Coeficiente de Spearman e Qui-Quadrado para avaliar autopercepção de saúde e FRC.Resultados: Foram visitados 94 domicílios e incluídas 82 pessoas. Houve correlação entre o número FRC e APS (r:-0,29, p<0,009). O único FRC ligado a baixa APS foi IDH. Trinta e três pessoas (40,2%) eram afiliados ao SAP - HCPA. Quanto a avaliação do cuidado preventivo nesse serviço: 100% dos hipertensos tiveram sua pressão arterial medida na última consulta, 11(77,7%) diabéticos tiveram sua hemoglobina glicosilada aferida no último ano. Todos os fumantes referiram ter sido advertidos para parar de fumar; 23(69.7%) e 27(81.8%) referiram ter recebido orientações sobre atividades físicas e alimentação saudável respectivamente. Conclusões: A prevalência de FRC, principalmente obesidade e sedentarismo, é alta com baixa percepção de risco. Os afiliados ao Serviço de Atenção Primária à Saúde HCPA têm boa qualidade de assistência.
ATIVIDADES REALIZADAS NA FASE I PELO NÚCLEO TELESSAÚDE-RS DO PROJETO TELESSAÚDE BRASIL
MILENA RODRIGUES AGOSTINHO;ENO DIAS DE CASTRO FILHO; EVELIN GOMES ESPERANDIO; PAULO FONTANIVE; SOTERO S. MENGUE; ERNO HARZHEIM.
Introdução: O Projeto Telessaúde Brasil, apoiado pelo Ministério da Saúde, é um estudo piloto que contribui para consolidar e qualificar a Estratégia Saúde da Família. Após dois anos de atividade, o núcleo Telessaúde-RS termina a Fase I e aprimora seus serviços de teleassistência e teleeducação. Objetivo: Apresentar as atividades realizadas pelo núcleo Telessaúde-RS na primeira fase do projeto. Métodos: As unidades de Estratégia Saúde da Família vinculadas ao projeto receberam kit multimidia (microcomputador, impressora multifuncional e webcam). Equipes multiprofissionais dessas unidades foram capacitadas para utilizar o portal do Telessaude-RS, por meio do qual podiam realizar cursos de educação a distância, revisar conteúdos teórico de protocolos e materiais educativos baseados na melhor evidência científica disponível e apropriada à Atenção Primária à Saúde (APS), ler dúvidas em APS solicitadas por outros profissionais e solicitar consultorias por vídeo ou texto. Resultados: Cadastrou-se no projeto, entre dezembro de 2007 e junho de 2009, 137 equipes de ESF de 48 cidades do Rio Grande do Sul (RS) compondo uma equipe multiprofissional de 1450 integrantes. Foram solicitadas 1525 consultorias (520 por vídeo e 1005 por texto). Além disso, o portal contém materiais e protocolos educativos sobre: Doenças Respiratórias, Práticas preventivas em Crianças e Adultos, Manejo de Feridas e Curativos, Atividades de Educação em Saúde em Grupos e Traumatismo Dentário. Conclusão: A Fase 1 do Projeto Telessaúde_RS efetivou a implantação do projeto piloto e ampliou seus serviços de teleassistência e teleeducação contribuindo, portanto, para a qualificação dos serviços de APS.
O PARADOXO DA DESCENTRALIZAÇÃO NO FINANCIAMENTO PARA AS AÇÕES DE DST/AIDS: VISÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS EM MUNICÍPIOS SELECIONADOS DO RIO GRANDE DO SUL
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 449
ROGER DOS SANTOS ROSA;CARLOS ALBERTO EBELING DUARTE; JACQUELINE OLIVEIRA SILVA
Contexto/Objetivo: Considerando o processo de descentralização das ações em DST/HIV/AIDS, buscou-se analisar a visão das Organizações Não-Governamentais que trabalham na área (ONG/AIDS) em municípios selecionados do Rio Grande do Sul e a percepção delas sobre a Política de Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de DST/AIDS (PI-PN-DST/AIDS). Métodos: realização de entrevistas com questionário semi-estruturado com 8 ONG/AIDS no Rio Grande do Sul (4 da capital e 4 do interior) em 2008. Foram escolhidas ONGs que trabalham com travestis e transexuais; homossexuais, homens que fazem sexo com homens e outros gays; profissionais do sexo e moradores de rua. No interior do RS, foram selecionados 4 entre 39 municípios qualificados na PI-PN-DST/AIDS (Santana do Livramento, Santo Ângelo, Pelotas e Rio Grande) com base em ter ONG atuante no Fórum de ONG/AIDS do RS e atuação em Conselhos de Saúde ou Comissões de DST/AIDS. Resultados: Uma das diretrizes do SUS é a descentralização. Contudo, a definição das políticas de saúde muitas vezes é feitas através de Políticas de Incentivo Federais. Apesar de existir uma PI-PN-DST/AIDS, as ações nos municípios variam muito de acordo com determinações políticas, sociais e culturais dos gestores e dos grupos sociais mais influentes muitas vezes não considerando as necessidades específicas das populações mais atingidas pela AIDS e historicamente discriminadas. Conclusões: Evidenciaram-se dificuldades da sociedade civil em ter suas demandas transformadas em ações concretas junto aos Planos de Ações e Metas e de garantir ações para as populações mais atingidas pela epidemia de AIDS. As populações historicamente excluídas continuam com dificuldades de acesso aos serviços de saúde em função do preconceito e da discriminação de que são alvos.
USO RACIONAL E SEGURO DA ÁGUA EM SAÚDE PÚBLICA: ABORDAGEM NA PRÁTICA FARMACÊUTICA
CYNTHIA ISABEL RAMOS VIVAS PONTE;GUSTAVO FEITEIRO DIEHL
Garantir o suprimento seguro e disponível de água é preocupação mundial e prioridade constante em saúde pública. A utilização segura da água requer tratamento primário ou secundário, envolvendo operações unitárias e seus equipamentos, que são responsáveis pela purificação obtida em conformidade com padrões de qualidade determinados pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nosso trabalho tem por objetivos conhecer operações unitárias e equipamentos utilizados no tratamento de água na prática farmacêutica e discutir a relação custo-benefício frente ao consumo e qualidade deste bem finito. Foram realizadas visitas técnicas nos setores: farmácias de manipulação, setor acadêmico e hospitais, totalizando vinte quatro locais. O levantamento de dados foi realizado através da aplicação de ficha técnica para conhecer o sistema de purificação utilizado, rendimento e avaliação do sistema. As principais operações unitárias encontradas foram destilação, deionização, ultrafiltração e osmose reversa. A maioria dos setores utilizava a destilação para a purificação. Esta operação apesar de eliminar contaminantes da água, apresenta como desvantagens baixo rendimento, alto custo energético e desperdício de água. Vem sendo substituída por outras operações que propiciam a mesma qualidade em função de seu custo-benefício. Para a escolha de um sistema de purificação, devem-se levar em consideração às características apresentadas pela água a ser purificada e qual o padrão de qualidade exigido. Conhecendo estes dados, podemos escolher operações unitárias e equipamentos adequados para a purificação desejada. Isso significa utilizar a água de forma racional, evitando assim, comprometer direta ou indiretamente a saúde pública.
SERVIÇO SOCIAL
A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO
SANDRA ANGELO BISSONI;GENEVIEVE LOPES PEDEBOS; LÚCIA ZELINDA ZANELLA
A doença nunca é esperada, quando chega traz limitações, angústias e causa transtornos no convívio familiar. Por esta razão, faz-se necessária a intervenção do Serviço Social à família da criança
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 450
hospitalizada, mais especificamente nos paciente submetidos ao Transplante de Medula Óssea Autólogo (TMO) na Unidade de Oncologia Pediátrica do HCPA. A realização do TMO causa muita ansiedade nos familiares que ficam na expectativa do tratamento e suas consequências, em especial, em relação ao local adequado para o retorno do paciente após a alta. O presente projeto tem como objetivo promover o acolhimento às famílias visando o fortalecimento no processo de pré e pós-transplante autólogo, bem como, proporcionar orientação frente ao cuidado e adaptações no ambiente domiciliar. Participaram do estudo 11 famílias de crianças e adolescentes submetidos ao TMO no período de outubro/08 à junho/09. Através da entrevista buscamos proporcionar o acolhimento a família e ao paciente estabelecendo uma relação de confiança e respeito. No decorrer dos atendimentos usamos de diálogos para enfatizar sobre os procedimentos no hospital, os direitos do usuário, as informações sobre a alta. Desenvolvemos um folder com observações, para o domicílio, que devem ser realizadas, principalmente, no decorrer do primeiro ano de transplante. Entramos em contato com instituições/redes. Realizamos visita domiciliar. Evidenciou-se a diminuição da ansiedade da família frente às adaptações do domicílio, a procura por seus direitos e o envolvimento da rede local para o pós alta. É de grande importância esse trabalho pois percebeu-se o aumento na demanda de transplantados e assim a necessidade de estar mais presente auxiliando nos procedimentos de organização e manutenção do domicilio para o retorno do paciente e também aprofundar-se nesse tema que esta aumentando gradativamente e tem sido um desafio para os diversos profissionais.
MENINOS DE RUA E DROGADIÇÃO
SUZANE LIMA DA SILVA;ROCHELE LUZ DA SILVA; SABRINA SILVA DA COSTA, FERNANDA BRENNER MORES, JULIANA MENDES JOSÉ, DANIELA FERREIRA
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa visa fornecer informações acerca da realidade dos meninos e meninas de rua, que tem de sobreviver a margem de um sistema capitalista que não fornece a possibilidade de uma vida digna, justa, tendo que sobreviver junto a lares onde prevalece a violência, a miserabilidade, o medo, a falta de carinho.METODOLOGIA: Utilizou-se técnicas como entrevista aos técnicos da instituição. E os meninos(as) de rua, foram realizados questionários, que objetivaram responder sobre suas relações familiares, os motivos os levaram a rua e sobre o uso de drogas.RESULTADO: Constatou-se que os meninos(as) buscam a rua para o uso de drogas, e tanto a rua quanto as drogas, são um refúgio pela violência doméstica sofrida. Mas mesmo assim não perdem o contato com a sua família, mesmo que seja eventual. Eles se identificam com a instituição, constituindo um vínculo, através das oficinas realizadas e da liberdade que lá possuem. As drogas mais utilizadas são: o álcool, a maconha, o cigarro e o crack. Na rua, eles experimentam a liberdade e também através do uso de drogas, experimentam novas sensações, prazeres, emoções e etc. CONSIDERAÇÕES FINAIS:Vimos então, que esses meninos(as) chegam a rua geralmente pelo uso de drogas, mas por detrás do uso destas substâncias existem famílias em situação de miserabilidade, violência doméstica e etc. Na rua buscam a liberdade, encontram seus iguais e com uso de droga matam sua fome, seu frio, seus medos e buscam sensações de euforia, alegria, novas sensações de prazer. Na rua a identidade desses meninos(as) É fragilizada, sendo um dos objetivos das casas de acolhimento, o fortalecimento, o resgate da sua auto-estima e garantir seus direitos. Verificamos então a necessidade de conhecer essa realidade de sua raiz, quais são suas causas, de contextualizá-la, para estar intervindo na raiz do problema e diminuir este índice de meninos que vivem em situação de rua.
PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS EM ATIVIDADES GRUPAIS
RAQUEL DA SILVA PAVIN;LEONIA CAPAVERDE BULLA; ERIKA SCHEEREN SOARES;ROSANE KIST
O espaço grupal à disposição do idoso torna-se, para muitos, uma atividade significativa, de lazer, de aprendizagem, alternativa para lidar com a solidão, além de ser uma possibilidade de inserção social.Em decorrência deste contexto, a pesquisa objetiva identificar a importância da abordagem grupal junto a grupos de convivência, buscando identificar como ocorre a participação e integração dos idosos no processo e a contribuição dessa prática para a garantia de protagonismo dos sujeitos.O estudo é de caráter quanti-qualilitativo.Para a obtenção das informações foi realizado um levantamento dos grupos de convivência de idosos de Porto Alegre.Após, passou-se para a fase de
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 451
realização de entrevistas com roteiro semi-estruturado com profissionais responsáveis pelos espaços de abordagem coletiva, e com idosos aleatoriamente dos grupos. Para o tratamento dos dados quantitativos, estão sendo utilizados procedimentos estatísticos.Para o tratamento qualitativo, a análise de conteúdo.Com a realização desta pesquisa observamos que o grupo significa para os idosos um local de convívio com amigos, onde tem a oportunidades de expressão e troca de idéias e entrosamento com pessoas, assim acesso a direitos sociais. Percebeu-se que esses espaços de inserção são de grande importância na vida dos idosos.Nesses espaços, eles podem expressar-se livremente.São oportunizadas trocas de experiências, sentimentos, além de estreitamento das relações sociais.
OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS NAS EXPERIÊNCIAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA VINCULADOS À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
GISELE SELISTRE RAMON;LEONIA CPAVERDE BULLA; CAROLINE GOERCK; ERIKA SCHEEREN SOARES
Experiências alternativas de geração de renda não são práticas novas, contudo o número de associações e cooperativas aumentaram devido a maior incentivo da sociedade civil e de ONGs. Também com a redução dos empregos formais os empreendimentos surgem como forma de resistência da classe trabalhadora ao desemprego. A Economia Popular Solidária expressa formas cooperativistas de produção, prestação de serviços, comercialização e consumo. Possui como princípios a posse coletiva dos meios de produção, a participação, autogestão, solidariedade e divisão de renda. O objetivo geral é: Analisar os processos de trabalho desenvolvidos nas experiências de geração de trabalho e renda, na região metropolitana de Porto Alegre, com vistas a contribui para o aprimoramento desses empreendimentos de economia popular solidária. Esta pesquisa utiliza o método dialético-crítico. A dialética tem como categorias historicidade, totalidade e contradição. Primeiramente fez-se uma revisão do referencial teórico das categorias da pesquisa: Processo de Trabalho, Cooperativismo, Economia Popular Solidária e Autogestão. Após a revisão teórica foram contatadas as instituições que assessoram empreendimentos solidários. Estas repassaram uma lista de empreendimentos que estão sendo entrevistados. Baseados nas entrevistas com lideranças e trabalhadores estes afirmaram que a gestão da cooperativa é realizada de forma que todos participam das decisões. Os entrevistados consideram importante a participação uma vez que só assim poderão estar decidindo acerca do trabalho no empreendimento solidário. Conclui-se, preliminarmente, que a Economia Popular Solidária surge como possibilidade de transformação da realidade possibilitando integração econômica de seus trabalhadores estimulando a geração de renda. Dessa maneira, essas experiências passam a valorizar os sujeitos envolvidos e seu trabalho possibilitando a construção de sua autonomia.
OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL E SEU IMPACTO NA IDENTIDADE E ESTRUTURA FAMILIAR
ROSSANA ALMEIDA;LEONIA CAPAVERDE BULLA; JANE CRUZ PRATES; JUSSARA MARIA ROSA MENDES; DANIELE ROCHA RODRIGUES; THYELLE VIDAL FONSECA
A emigração crescente de brasileiros para o exterior evidencia as situações de exclusão vivenciadas pelos que saem do País em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Entendendo o processo migratório como uma realidade consolidada surge a pesquisa sobre migrações, onde pretende-se investigar as diferentes formas de manifestação do fenômeno migratório e seu impacto sobre as condições e modos de vida das famílias dos emigrantes que permanecem no Brasil. O estudo se fundamenta no método dialético-crítico. Para o tratamento dos dados, está sendo utilizado o tratamento estatístico simples, para dados quantitativos e a análise de conteúdo, para dados qualitativos. Para a realização de entrevistas, está sendo utilizado um formulário semi-estruturado, com questões abertas e fechadas. No Rio Grande do Sul, está sendo pesquisada a região metropolitana de Porto Alegre. Nas entrevistas pode ser confirmado que parte dos emigrantes são jovens que viajam com o objetivo de aperfeiçoar o idioma, bem como adquirir experiência para ter uma melhor colocação no mercado de trabalho no Brasil e também para buscar melhor qualidade de vida em outro país. Em Santa Catarina foram realizadas quinze entrevistas, onde constatou-se que grande parte do fluxo migratório que há se deve ao fato de a maioria de seus habitantes terem dupla
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 452
cidadania italiana, o que facilita a entrada desses brasileiros, de forma legalizada, em outros países. Conclui-se, pelos dados analisados até o momento, que um dos fatores que contribuem para o crescente fluxo migratórios de brasileiros para o exterior é a falta de oportunidades, materializadas pela desigualdade social, desemprego e desvalorização do trabalho (baixa remuneração). O que faz muitos brasileiros buscarem na migração melhores condições de vida.
SERVIÇO SOCIAL APLICADO
A PROTEÇÃO SOCIAL E A SAÚDE DO TRABALHADOR NAS CIDADES DE FRONTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL COM A ARGENTINA E URUGUAI
CAROLINE PEREIRA SANTOS;JUSSARA MARIA ROSA MENDES; DOLORES SANCHES WÜNSCH; PRISCILA FRANÇOISE VITACA RODRIGUES; MARTHA HELENA WEIZENMANN; VÉRA LÚCIA CARVALHO VILLAR
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como objetivo contextualizar a rede de atenção à saúde do trabalhador, identificando o trabalho e os sistemas de proteção social nos municípios fronteiriços do estado do Rio Grande do Sul que fazem divisa com a Argentina e Uruguai, a fim de contribuir para a realização do diagnóstico situacional em saúde do trabalhador no contexto do MERCOSUL. Utilizou-se a análise de conteúdo (MORAES, 1999) nos formulários de entrevistas semi-estruturadas com o gestor municipal de saúde, trabalhadores/profissionais e trabalhadores/usuários dos serviços de saúde; e análise documental das fontes secundárias. Os dados analisados desvelam uma realidade marcada pela precarização crescente das condições de trabalho, demarcado especialmente pelas situações de adoecimento e acidentes de trabalho que ocorrem na região. A rede de serviços de saúde é caracterizada por relações formais e informais entre os municípios, no entanto, essa é uma particularidade da região fronteiriça não se tratando de uma prática comum no âmbito do MERCOSUL. Constata-se a presença de iniciativas isoladas voltadas à Saúde do Trabalhador na gestão dos municípios brasileiros ainda não legitimadas como política pública. Os resultados parciais demonstram o quadro de assimetrias existentes no território fronteiriço e a necessidade de implementação de políticas que atendam esta diversidade de demandas advindas deste contexto. Referências MENDES, J. M. R, et al. Projeto: A Proteção Social e a Saúde do Trabalhador nas cidades de fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai. Porto Alegre: NEST/PUCRS, 2008. MORAES, R. Análise de Conteúdo. In: Educação: Epidemiologia e Ciências da Educação família e educação. Ano XXII nº 37. Porto Alegre: Faculdade de Educação – PUCRS, 1999.
TRATAMENTO E PREVENÇÃO PSICOLÓGICA
QUALIDADE DE VIDA, FUNCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO: ESTUDO PRELIMINAR
KARINA DA SILVA TOMASINI;MONICA CRISTINA DA SILVA MADEIRA
INTRODUÇÃO: Qualidade de vida tem como conceito a percepção do individuo de sua posição no contexto da cultura e sistemas de valores pelos quais vive em relação aos seus objetivos, preocupações e expectativas, associados a outros fatores. OBJETIVO: Verificar a percepção de qualidade de vida entre idosos relacionando-a com a motivação para o autocuidado e a capacidade funcional. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo descritivo transversal, com abordagem quantitativa, nesse estudo preliminar foram captados por sorteio 18 idosos moradores das áreas A e C, com mais de 60 anos, lúcidos, orientados. A coleta de dados foi realizada por meio de um inquérito domiciliar, utilizando como instrumento Whoqol bref, whoqol old, Ecdac e Barthel. Os dados foram analizados pelo teste qui-quadrado e o coeficiente de correlação de Pearson R com intervalo de confiança de 95 %. RESULTADOS E CONCLUSÕES: No que se refere à funcionalidade e à motivação para o autocuidado, respectivamente, 50% eram independentes e 50% apresentaram comportamento motivacional positivo. Nos domínios do Whoqol bref obteve-se maior média relações sociais 74,07% e no Whoqol old não ter medo da morte 80,21%. O que teve maior evidência foi o que esteve associado à funcionalidade e a motivação para o autocuidado, pois ao ser relacionado obteve-se como resultado
29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Rev HCPA 2009; 29(Supl.) 453
que quanto maior for à funcionalidade, ou seja, capacidade funcional maior será a motivação para o autocuidado.
ÍNDICE DE AUTORES
Abarno, Clarissa Pitrez 175 Abdala, Carlos Coradini 71 Abrahão, Luiza 285 Abreu, Gabriela Pilau de 66 Abud, Jamile 286 Acosta, Jandira Rahmeier 392, 409 Adami, Marina Rossato 373 Agostinho, Milena Rodrigues 448 Agostini, Ana Paula 30 Aguiar, Ana Paula 412 Aguiar, Bianca Wollenhaupt de 405 Aguilera, Nair Cristina Fortuna 210 Aita, Lucas Nicoloso 80 Alberton, Daniele Lima 304 Albuquerque, Isabella Martins de 95, 390 Alcorta, Nycolas Kunzler 216 Alencastro, Mariana Gascue de 328 Almeida, Eduardo Dytz 44 Almeida, Fernando Kude de 118 Almeida, Rossana 451 Alves, Izolina de Fátima Bueno 431 Amaral, Robson Henrich 251 Américo, André Dias 383 Ananias, Patricia de Castro 81 Andrade, Camila Mariana 190, 221 Andrades, Michelle 160 Antonio, Ana Carolina Peçanha 95 Antonio, Juliana Peçanha 344, 345 Antunes, Denise de Borba 317 Antunes, Luciana da Conceição 326 Antunes, Michele 196, 214 Araldi, Marcio 271 Aranda, Bruno Carlo Cerpa 259 Araujo, Bruno Schneider de 41 Araujo, Gustavo Neves de 52, 124, 233 Araujo, Lucas Campos de 414 Arenson-Pandikow, Helena Maria 13, 14, 15, 17, 18 Arregino, Deise Simão 132, 153, 224 Arsego, Felipe Veras 419 Artigalás, Osvaldo Alfonso Pinto 295 Artusi, Elisa Aita 238 Arus, Moacir Assein 18 Ashton-Prolla, Patricia 437, 442 Atik, Diana Monti 239 Azambuja, Juliana de 98 Azeredo, Andressa Cardoso de 422 Baeza, Fernanda Lucia Capitanio 407 Bajotto, Halim Roberto 59 Baldin, Cícero de Campos 311 Baldo, Guilherme 288 Barone, Carolina Rocha 92, 317 Baronio, Diego Moura 315 Bassani, Tayron 231 Bassols, Ana Margareth Siqueira 414 Bastianelli, Luciana Vieira 236 Batassini, Erica 143, 163 Batista, Bruno Blaya 72 Batista, Carla de Cassia Cascaes 313 Bauer, Jefferson André 61 Becker, Carolina Fischer 37 Bender, Fernanda 296 Bender, Luciano Pereira 55 Bergamin, Jorge Augusto 90, 91 Bergamin, Letícia Scussel 24
Bernardes, Sheila Beatriz Laurindo 386 Bernardi, Karoline 145 Bernardy, Lidiane 164, 428 Berneira, Daniel 237 Berto, Denise Cardoso 172 Bertol, Franciele Sabadin 55 Bertoli, Louise de Cassia Ferreira 349, 444 Bertoluci, Carolina 89 Berwig, Letícia Löff 243 Biancini, Giovana Brondani 26 Biasi, Lidiana Aparecida 240 Birkhan, Oscar Augusto 276 Bissoni, Sandra Angelo 449 Bittar, Camila Matzenbacher 35, 332 Bizarro, Bruno Lompa 321, 322 Bochi, Guilherme Vargas 27 Bock, Hugo 287 Bolson, Patricia Borchardt 103 Bona, Silvia 256 Bonilha, Vanessa de Souza 179 Borba, Camila 153 Borba, Ericksen Mielle 430 Borba, Evandro Lucas de 117 Bordinhão, Rosane Costa 215 Boschetti, Patryck Stangl 332 Bossardi, Cinara 88, 362, 363 Boza, Juliana Catucci 103 Bragança, Ana Carolina Costa 275 Bragatto, Gabriele Jongh Pinheiro 207 Brahm, Marise Márcia These 209 Braulio, Gilberto 38, 387 Braun, Sandra Vanessa 264 Braz, Joanalize Murari 164 Brondani, Letícia de Almeida 124 Brunetto, Sara 376 Bücker, Joana 406 Buógo, Miriam 208 Bustamante Filho, Ivan Cunha 21 Camargo, Eduardo 126 Camargo, Maximiliano Dutra de 195 Camerini, Anna Carolina Saraiva 366 Campos, Carolina Wiltgen 352 Campos, Lillian Gonçalves 42, 308 Canterji, Melina Braude 302 Caran, Juliana Zanrosso 304 Cardoso, Ariella Philipi 277 Cardoso, Dannuey Machado 386, 387 Cardoso, Sheila de Castro 81, 434 Carrion, Juliana Zimmermann 351 Carrion, Rodrigo Previdello 353, 354 Carvalho, Adriana de Siqueira 383 Carvalho, Andreia Tanara de 188 Carvalho, Anelise Miglioranza de 252 Carvalho, Clarissa Gutiérrez 377 Carvalho, Felipe Gutiérrez 371, 372 Carvalho, Raissa Ribeiro Saraiva de 210 Casarotto, Fernanda Cano 378 Cassol, Cristiane Maria 53 Castro, Fairuz Helena Souza de 365 Cauduro, Kaline Lígia Feitosa 325 Cavagnolli, Gabriela 22 Cavalheiro, Laura Corso 421 Cechinel, Angélica Bauer 238 Ceolato, Juliana Casagrande 289
Chanan, Joana Amaral 91 Chaves, Patrícia Lemos 139 Cibulski, Samuel Paulo 230, 314, 446 Ciocari, Joana 308, 309, 313 Clivatti, Nayane Fernandes 68, 82, 367 Coelho, Rafael Correa 31 Cogo, Ana Luísa Petersen 194 Cohen, Carolina Rodrigues 43 Cola, Caroline Miotto Mnenegat 320 Comerlato, Juliana 26, 297 Comiran, Henrique Heinceck 230 Conceição, Gláucia Mostardeiro 270 Corezola, Kizzy Ludnila 64, 360, 364 Corrêa, Ana Paula Almeida 222 Correia, Jaqueline Driemeyer 11 Cortes, Renan Xavier 109 Cossio, Silvia Liliana 293 Costa, Amanda Lucas da 335, 336 Costa, Laura Mazzali da 358 Costa, Samara Greice Röpke Faria da 160 Costa, Tiago Gnocchi da 352, 353 Coutinho, Ana Paula 311, 312 Crescente, Lara Villanova 136 Cristovam, Rafael do Amaral 306 Cronst, Jane 16 Cruz, Carolina Uribe 293 Cunha, Maira Jaqueline da 26 Cunha, Vivian Trein 40, 280 Cury, Gabriela Kampf 294 Czepielewski, Mauro 255, 260 Dalbem, Giana Garcia 161 Dallé, Jessica 130 Dalpiaz, Tiago 315 Day, Carolina Baltar 46, 137, 198, 199 Debarba, João Antonio 21 Deitos, Alícia 243 Deutsch, Konrado Massing 300 Dias, Rodrigo Gonçalves 339 Diedrich, Maria Carla Barbosa 312 Diefenbach, Grassele Denardini Facin 179, 186 Dipp, Thiago 57 Doi, Katsuy Meotti 147 Donis, Karina Carvalho 97, 342, 357 Dornelles, Alícia Dorneles 291 Dornelles, Marcel de Almeida 50 Dovera, Themis Silveira 191 Dresch, Fabiane 346, 404 Driemeier, Fernanda Munhoz 410 Duarte, Aline dos Santos 136 Dullius, Diego Paluszkiewicz 100 Eibel, Bruna 110 Eickhoff, Evlyn Isabel 328 Eifer, Diego André 329, 330 Ely, Gabriela Zenatti 167, 174, 175, 184, 187, 190 Emmel, Vanessa Erichsen 282 Esperandio, Evelin Gomes 232 Espiridião, Vera Lucia de Souza Soares 138 Etcheverry, Ana Luísa Martins 226 Etges, Micheli Regina 201, 443 Ewald, Ingrid Petroni 287 Fachinelli, Taís de Souza 155, 159 Faertes, Theo Halpern 439 Faganello, Cláucia Piccoli 107 Fam, Cláudia Franzoi 408 Farenzena, Maurício 91
Farias, Lucas Brandolt 109, 350 Feijó, Fernando Ribas 30, 332, 438, 445 Feldens, Leticia 88 Fendt, Lucia Costa Cabral 51, 254, 273, 423 Ferlini, Roberta 375 Fernandes, Márcia Santana 108 Ferreira, Bruna Pellni 48, 49 Ferreira, Daiane Nicoli Silvello dos Santos 50 Ferreira, Daniela Gonçalves 171 Ferreira, Junara Nascentes 202 Ferreira, Priscilla Gueiral 356 Ferreira, Stephani Amanda Lukasewicz 223 Ferreira, Vanessa Müller Rodrigues 234 Figueiró, Fabrício 23 Fiori, Cintia Zappe 59 Fischer, Márcia Kraide 58 Fleig, Alessandra Hofstadler Deiques 392 Fonseca, Mariana Alves 395 Fontanella, Roberta Assoni Dullius 10 Fontoura, Juarez 120 Fontoura, Maurício Lima da 82 Forgiarini Junior, Luiz Alberto 79 Forner, Edson Evair 178 Fracasso, Guilherme Loureiro 70, 333 Fraga, Lucas Rosa 281 Franciscatto, Andre Cerutti 334, 335 Frare, Felipe 128 Freitas, Kelly Ribeiro de 176 Freitas, Milene Oliveira de 162, 218, 399 Freitas, Vera Lorentz de Oliveira 36 Frezza, Raquel Beiersdorf 296 Fries, Gabriel Rodrigo 402 Fuck, João Augusto Brancher 158 Fumegalli, Eduardo Barcellos 321 Fürstnow, Graciele 229, 230 Furtado, Gabriel Vasata 278 Fusieger, Márcia Piccoli 168 Gabbi, Maria Cecília Dambros 419 Gama, Bianca Lenise Gehlen da 142 Gamboa, Maryelle Lima 374 Garcia, Cristina da Silva 250 Garcia, Lucas frança 108 Garziera, Giovana 387 Gatiboni, Tanira 36, 37 Gazzana, Marcelo Basso 330, 388, 389 Gemelli, Tanise 24 Gerhardt, Moises 61 Gheno, Jociele 219 Gheno, Tailise Conte 286 Giacomazzi, Cristiane Mecca 268 Giacomazzi, Juliana 29 Giacomelli, Fabiane Bregalda 219, 220 Gianotti, Giordano Cabral 18 Gil, Beatriz Chamun 329 Godinho, Fernanda Marques de Souza 296 Goetze, Thayse Bienert 269 Golbert, Marcelo Blochtein 351 Goldim, José Roberto 94 Gomes, Eduardo Correa 327 Gomes, Roberto Opitz 150, 200, 201, 221, 226 Gonçalves, Debora Hexsel 187 Gonçalves, Fabiany da Costa 354 Gonçalves, Jane 176 Gonçalves, Katia Garbini 321 Gonçalves, Leonardo 411 Gonçalves, Mariane Hanke 292
Gonçalves, Thaís Helena 365 Gonzalez, Vinícius Leite 66, 67, 74, 445 Gorczevski, Iulek 50 Gorziza, Roberta Petry 284 Greco, Patrícia Bitencourt Toscani 139, 170, 185, 189, 192, 195, 196, 225, 432 Grutcki, Denis Maltz 316 Guarienti, Fabiana Amaral 407 Gubert, Carolina de Moura 413 Guimarães, Julia Goulart 116, 117 Haas, Gelline Maria 350 Heisler, Andrea 336, 337 Heisler, Roger 394, 442 Herber, Silvani 282 Hernandez, Alessandra Rivero 368 Herrera, Linda Betina 237 Hillebrand, Ana Caroline 255 Hinsching, Adrian 51 Hoefel, Heloisa Helena Karnas 147, 148 Hoff, Leonardo Santos 379 Holanda, Felipe Colombo de 64, 84, 85, 86 Hundertmarck, Katiele 166, 173, 204, 205 Huve, Felipe da Costa 80 Izetti, Patrícia 284 Jacoby, Thalita Silva 241 Jakobson, Lourenço Alvarez 412 Jesus, Danilo Rcoha de 405 Jesus, Marta Ines Almeida de 196 Jesus, Patrícia Silva de 149, 154, 212 Joelsons, Gabriel 283 Jost, Marielli Trevisan 146 Jost, Renan Trevisan 266 Joveleviths, Dvora 325 Justo, Jonatan William Rodrigues 68 Kaminski, Renata Schenkel Rivera 52 Kengeriski, Milena Frichenbruder 10 Kepler, Priscila Kegles 149, 432 Kerber, Michele Dias 206 Kiehl, Mariana Fitarelli 289 Kieling, Carlos Oscar 276 Kingeski, Luanda Cesar 217 Kobavashi, Danielle Yuka 301 Koch, Lucas Vinícius 80, 333 Koehler-Santos, Patrícia 290 Koglin, Gabriela 370, 371 Konkewicz, Loriane Rita 233, 234 Konzen, Glauco 381 Koplin, Cristiane 400 Kottwitz, Carla Cristiane Becker 165 Krindges, Karine 158, 221, 233, 440 Kupske, Abraão 271 Kupske, Raquel 98, 421 Lacchini, Annie Jeanninne Bisso 156, 157, 172, 182, 202, 203 Lacerda, Denise dos Santos 242 Laste, Gabriela 187, 198 Ledur, Priscila dos Santos 41 Leistner, Luiz Alfredo Ceneteno 249 Leite, Carine 271 Leites, Gabriela Tomedi 265, 266, 430 Lersch, Camila 404 Licks, Francielli 256 Lima, Jéssica Hilário de 159, 182 Lima, Márcia Gabriela Rodrigues de 137, 167 Lima, Mauren Pimentel 128, 161 Lima, Natalia Bitencourt de 378
Lima, Patricia Ponce de Leon 275 Longaray, Vanessa Kenne 133 Longo, Maria Gabriela 423 Lopes, Alexandra Nogueira Mello 219 Lopes, Roberta Manfro 184 Lubianca, Luiza Marsiaj 12 Lubini, Juliana 244 Luca Jr., Giuseppe de 355 Lucena, Amália de Fátima 212 Macedo Junior, Luis Joeci Jacques de 143 Macedo, Bruno Mussoi de 114 Macedo, Isabel Cristina de 241 Machado, Fernanda Rossatto 28 Machado, Tamara Kops 177 Maciel, Paola Panazzolo 438 Magalhães, Amanda 135, 146 Magalhães, Luiza Vieira da Silva 374 Maidana, Rosa Lucia Vieira 109 Mantovani, Vanessa Monteiro 143 Marchi, Maressa Claudia de 163 Marcolin, Éder 257 Marian, Renata Biachi 93 Marodin, Gabriela 94 Marona, Daniela dos Santos 208 Martens, Fernando Barreto 395 Martens, Simone Barreto 303 Martinbiancho, Jacqueline Kohut 248 Martinelli, Barbara Zambiasi 412 Martinelli, Nidiane Carla 42 Martinelli, Priscilla 424 Martini, Marcio Roberto 111 Martino, Vanessa Nogueira 206 Martins, Ana Cláudia Magnus 300 Martins, Ana Isabel 134 Martins, Daniela Gonzaga 19 Martins, Fabiana Zerbieri 151 Martins, Fabiola Fernandes 88 Martins, Tiago Franco 96 Masiero, Paulo Ricardo 419 Massierer, Daniela 307 Mattei, Fabricio Nicolao 121 Mattos, Larissa Poglia 184 Mayer, Caroline Müller 420 Mayer, Fabiana Quoos 290 Medeiros, Bárbara Patrício 323, 324 Medeiros, Liciane Fernandes 253 Medeiros, Rodrigo Madril 141, 145 Mello, Caroline Machado 93, 106, 418 Mello, Filipe Martins de 99 Mello, Patricia Piccoli de 375 Mendonça, Marcos Vinícius Ambrosini 31 Mendonça, Taís Burmann de 349 Menegatti, Paula Kalinka 96 Meneghetti, Carolina Casanova 436 Menegon, Guilherme Luís 403 Meneses, Clarice Franco 32, 33 Menezes, Fabiana Costa 366, 435 Meotti, Analine Piccoli 175 Merker, Aline Juliana Schneider 348 Meyer, Daniel Derrossi 433 Mezzalira, Bruna 252 Mezzomo, Jeniffer 192, 215 Migliavacca, Fabiana Morais 415 Miranda, Camila Zamban de 448 Mobarack, Aline Frezingueli Bellotto 261 Monteiro, Daiane da Rosa 140
Moraes, Evelize Maciel de 179 Moraes, Gisele Silva de 302, 303 Morais, Marina Resener de 101, 102 Morais, Norma Martins de Menezes 376 Moreira, Laura Magalhães 408 Moreira, Maria Ângela 384, 385 Moreira, Roberta Martins Costa 122 Moreira, Thaís Rodrigues 327 Morellato, Adriana 347 Moro, Gisele Barbieri 11, 12 Moser Filho, Humberto Luiz 113 Moser, Carolina Meira 416 Mosmann, Marcos Pretto 63 Moura, Bianca Hocevar de 105 Moysés, Felipe dos Santos 250 Muller, Andre Frotta 227 Nagatomi, Aline Rodrigues da Silva 102, 103 Nalin, Tatiéle 279, 346 Nascimento, Filipe Valvassori do 447 Nascimento, Letícia Nunes 269 Nascimento, Márcia Elaine Costa do 223 Naue, Wagner da Silva 267 Negeliskii, Christian 194 Negrini, Paulo Caetano 227 Nery, Rosane Maria 111 Niemeyer, Fernanda 139, 140 Nogare, Aline de lima 330 Nogueira, Juliana Fontoura 323 Nunes, André Görgen 65 Nunes, Gabrielle Amaral 106, 305 Oliani Júnior, Henrique 87, 318, 319, 373 Oliveira Junior, Nery José de 133, 141, 226 Oliveira, Aline Marcadenti de 63 Oliveira, Brigida Schembida de 337 Oliveira, Fernanda dos Santos de 277, 280 Oliveira, Patricia Gnieslaw de 425 Oliveira, Vivian do Amaral 393 Oliveira, Viviane Ziebell de 397 Onofrio, Fernanda de Quadros 97, 272 Ortiz, Cristiane Silveira 170 Ott, Tatiane Rosa 214 Otton, Letícia Muner 326 Pacheco, Elyara Fiorin 65 Paim, Matheus Luciano Bortoloto 264 Palma, Humberto Moreira 355 Paniz, Lucas Guazzelli Paim 75, 76 Panizzutto, Bruna Schilling 415 Pasin, Marta 299 Pasin, Simone 15, 211 Patricio, Marcelo Coelho 41 Paula, Fernanda Cubas de 325 Pauletti, Glaunise 161 Pavin, Raquel da Silva 450 Paz, Ana Helena da Rosa 259 Pedreira, Maikon Luiz Paullin 110 Pedroso, Ana Paula da Silva 20 Pereira, Adriana Duval 229 Pereira, Andréa Abê 421 Pereira, Betina Feijó 120 Pereira, Camila Teixeira 304 Pereira, Cleide Márcia Silva 169 Pereira, Cristina Faleiro 131, 193 Pereira, Diego Fraga 348 Pereira, Fernanda dos Santos 291 Pereira, Leone Ferreira 132 Pereira, Rita Langie 104
Perini, Luiza Scola 89 Petersen, Sara Chamorro 69 Pfaffenseller, Bianca 408 Philippsen, Rodrigo 358, 359 Piardi, Diogo Silva 45 Pias, Caroline Macedo 225 Piazenski, Isabel 163 Picon, Paula Xavier 87 Pilla, Carmen 301 Pinto, Geison Leonardo Fernandes 274, 384 Pinto, Lana Catani Ferreira 114, 115, 116 Pinto, Rafaela Dorneles de Oliveira 176 Pires, Flávio Luz Garcia 122 Pitroski, Carlos Eduardo Ferreira 285 Pivatto Júnior, Fernando 76 Pizzato, Marcelo E. 53 Pizzato, Patrícia Ely 54 Poloni, Soraia 289, 345 Poltronieri, Lara Rech 301 Ponte, Cynthia Isabel Ramos Vivas 449 Posada, José Alberto Cuadro 310 Potter, Wagner 401 Prettes, Marina Teixeira 183 Pretto Neto, Angelo Syrillo 74 Primon, Luana da Piedade 10 Procianoy, Elenara da Fonseca Andrade 379, 380 Queiroz, Karine Silva p. 168 Raddatz, Michele 142, 155 Rahmeier, Laura 49 Ramires Junior, Arthur 13 Ramon, Gisele Selistre 451 Ramos, Nayara Goulart 193 Ramos, Ramon Bossardi 122 Ramos-Lima, Luís Francisco 390 Ré, Camila da 299, 364, 410, 411 Rech, Leandro Gazziero 71 Reinheimer, Marília 60 Reis, Cíntia 127 Remor, Camila Bitencourt 217, 429 Renck, Luiza Brusius 367 Restelatto, Luciane Maria Fabian 38 Reus, Lucia Helena 131 Ribeiro, Alice Tagliani 279 Ribeiro, Bruno Mendonça 319 Ribeiro, Roberto Vanin Pinto 47, 318 Riegel, Fernando 186 Rocha, Daise Maria Dalboni 375 Rocha, Ennio Paulo Calearo da Costa 121 Rocha, Marcelo Gregianin 403 Rodenbusch, Ana Cristina Laste 314 Rodrigues, Carla Daiane Silva 156, 445 Rodrigues, Clarissa Garcia 56 Rodrigues, Graziella 257 Rodrigues, Heloisa Tezzoni 338 Romagna, Elisa Sfoggia p. 113, 340, 341 Romani, Ricardo Filipe 67, 68 Rosa, Annelise Ribeiro da 308 Rosa, Darlan Pase da 260 Rosa, Priscila Raupp da 43 Rossato, Mariane 138, 147, 152, 208 Rossi, Milton Fedumenti 73, 77, 78 Rossoni, Caroline sallon 265 Roth, Daniela Elaine 35 Rovaris, Diego Luiz 292 Rovira, Amanda dos Santos 190 Royer, Caroline Persch 360, 361, 362
Rozales, Franciéli Pedrotti 239 Rozisky, Joanna Ripoll 342, 343 Ruas, Nicole 254 Rycembel, Camila Medeiros 56 Saccani, Raquel 262, 263, 264 Saffi, Marco Aurelio Lumertz 144 Salles, Felipe Borsu de 73 Salvador, Sócrates 369 Sanches, Paulo Roberto Stefani 228 Sanchotene, Maria Luiza Conceição 107 Santin, Edgar 62, 70 Santos, Alice Martins dos 189 Santos, Ana Luiza Teixeira dos 343 Santos, André Onofrio dos 100, 104, 105, 283 Santos, Camila Backes dos 399 Santos, Caroline Pereira 452 Santos, Cláudia Simone Silveira dos 400 Santos, Inajara Silveira dos 394 Santos, José Luís Guedes dos 151, 157, 171, 197 Santos, Luciana Batista dos 132, 213 Santos, Maitê Telles dos 246 Santos, Natalia Gomes dos 23, 135 Santos, Rodrigo Pires dos 235 Santos, Roger Santos dos 245, 438, 439, 447 Santos, Tiago Marcon dos 22 Santos, Vera Beatriz Delgado dos 191 Santos, Vinicius Souza dos 403 Sanvicente, Carina Torres 382 Sarmento, Rossana Machado 9 Sartori, Juliana Mastella 45 Scain, Suzana Fiore 158, 193 Scalco, Rosana 424 Schafer, Dafne 270 Schäfer, Franncklyn Mathias 237 Schardosim, Juliana Machado 166 Schlatter, Rosane Paixao 8, 9 Schmalfuss, Joice Moreira 170 Schmidt, Débora p. 232 Schmitz, Felipe 25 Schneider, Felipe Lahuski 105 Schneider, Larissa 123 Schons, Karen Regina Rosso 369 Schroder, Valquíria 305 Schuh, Artur Francisco Schumacher 341 Schwerz, Joana Callai 119 Sebastiani, Camila Maisa Zaleski 125 Sebben, Vanise 260 Secco, Francine Letícia da Silva 129, 211 Seganfredo, Deborah Hein 154 Selaimen, Fábio André 231, 357 Selistre, Simone Geiger de Almeida 34 Severo, Luiz Edinardo Prates 249 Siebert, Marina 283 Silva Junior, Danton Pereira da 228 Silva Júnior, Estácio Amaro da 413 Silva, Alessandra Analu Moreira da 172, 197, 222 Silva, Aline Vitali da 339, 440 Silva, Ana Carolina Teixeira da 324 Silva, André Anjos da 435 Silva, Annelise Martins Pezzi da 310 Silva, Clécio Homrich da 436 Silva, Daiana dal Forno 162 Silva, Denise Rossato 391, 396, 397 Silva, Emilia da 165 Silva, Flávia Moraes 347 Silva, Flávia Pacheco da 156
Silva, Gabriel Veber Moisés da 46 Silva, Guilherme Machado da 261 Silva, Gustavo da Rosa 418 Silva, Julia Schmidt 434 Silva, Karina Heck da 430, 446 Silva, Luciele Pereira da 166, 174, 207 Silva, Luiz Carlos Almeida da 356 Silva, Marcelo Campos Appel da 95, 425 Silva, Meiri Andréia Maria da 380 Silva, Pamela Portela da 316 Silva, Rafael Carvalho Ipe da 30 Silva, Raquel Guerra da 240, 245 Silva, Rodrigo da 32 Silva, Simone Tatiana da 169 Silva, Stella Marys Rigatti 180 Silva, Suzane Lima da 450 Silva, Thiago da 178 Silveira, Janaína da 346 Silveira, Luana 199 Silveira, Luiziane Paulo 200 Silveira, Simone da Luz 28 Sitta, Angela 294, 295 Smidt, Luis Felipe Silva 39, 40, 60 Soares, Ariana Aguiar 127 Soares, Caroline Bello 217 Soder, Stephan Adamour 46 Solano Junior, Paulo Eduardo Krauterbluth 83 Sotilli, Joanine Andrighetti 99 Souza, Aline Francielle Damo 258 Souza, Ana Claudia de 338, 402 Souza, Andressa de 253 Souza, Fernando Ferreira de 400 Souza, Jeane Cristine de 150 Souza, Jorge Luiz dos Santos de 111 Souza, Mirella Cristiane de 372 Spader, Daniel Lunardi 393 Sperb, Elza 417 Sperb, Fernanda 292 Speroni, Katiane Sefrin 134 Splitt, Bruno Ismail 69 Steiger, Claudia Maria Pedezert 209 Stein, Cinara 267 Stich, Greice Camila 57, 58 Stoll, Paula 309 Suksteris, Mauricio Leichter 99 Suzuki, Daniele Sayuri 350 Tacca, Jolcimara Amrein 249 Tadielo, Bruna Zucheto 181 Tagliari, Ana Paula 27 Tanaka, Raquel Yurika 92, 273 Tavares, Angela Maria Vicente 47, 48 Teixeira, Amélia Dias 19 Teixeira, Andreia Barcellos 148, 224 Teixeira, Janaína Espinosa 252 Teixeira, Rafael Gambino 112 Teixeira, Vivian de Oliveira Nunes 422 Tetelbom, Pedro S 123 Tieppo, Juliana 258 Tomasini, Karina da silva 452 Torres, Bruna Moser 188 Torriani, Mayde 248 Townsend, Roberta Zaffari 101 Tozatti, Paula Vendruscolo 401 Treiguer, Alberto 58 Tremea, Roberta 244 Trentini, Laís broch 398
Trevisan, Marcielli Lilian 429 Valentini, Jorge Diego 382 Valim, Vanessa de Souza 307 Valls, Ana Carolina Silva e 417 Vanzin, Camila Simioni 25 Vargas, Ana Paula 340, 368 Vargas, Juliane 72, 83, 84, 426, 427, 437 Vecchia, Andréia Dalla 298 Veronese, Andrea Márian 144 Vianna, Fernanda Sales Luiz 281 Viecili, Raqueli Biscayno 306, 382 Vieira, Daniele Trindade 177, 180, 181, 206 Vieira, Fernando Marciano 331 Vieira, Rosmari Wittmann 20 Vieira, Tatiane Alves 297, 298 Viero, Renata Caron 428 Viero, Sinara de Almeida 236
Vietta, Giovanna Grunewald 278 Villetti, Manoela Chitolina 363, 364, 370 Vizzotto, Silvana 135, 173, 183 Volpato, Nadja Machado 274 Wayhs, Carlos Alberto Yasin 29 Winckler, Juliane meira 8 Winter, Juliana da Silva 247 Wittke, Estefania Inez 62 Xavier, Alice de Castro Menezes 317 Yamaguchi, Halley Makino 125 Zampieri, Juliana Fischman 118 Zanchet Junior, Fernando Luiz 54 Zanelatto, Daiana Maggi 151 Zanette, Talita 406
Zimmermann, Lúcia Munaretto 443