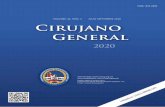ABHR2013Texto Completo GRArduini
Transcript of ABHR2013Texto Completo GRArduini
Uma abordagem comparativa entre quatro autorescariocas da década de 1920: Jackson de Figueiredo,Jônathas Serrano, Hamilton Nogueira e Leonel Franca
Guilherme Ramalho Arduini1
Resumo
O objetivo do artigo é comparar as trajetórias de quatroautores cariocas da década de 1920, selecionados porapresentarem algumas características em comum. Talvez a maisimportante fosse a participação na empreitada aberta peloCardeal Sebastião Leme, de conferir a um grupo restrito deleigos bem formados a missão de atuarem na defesa dosinteresses da Arquidiocese do Rio de Janeiro (e de uma formaindireta, de toda a Igreja Católica no Brasil) noefervescente meio político e cultural da então capital dopaís. Além disso, estes personagens estavam nos anos iniciaisde sua vida profissional, eram migrantes na capital federal econciliavam uma carreira de profissionais liberais com aocupação de cargos públicos em escolas, universidades eórgãos de administração escolar. Seus escritos partilhavam deuma necessidade sentida por todos eles de traduzir suasconvicções católicas nas suas produções a respeito daestética, política ou ciência. Diante dos critériosutilizados, destacam-se os nomes de Jackson de Figueiredo,Jônathas Serrano, Hamilton Nogueira e Leonel Franca. O artigopretende examinar como foram as trajetórias familiares destesautores, suas escolhas de curso universitário e a carreiraprofissional que tiveram. Por fim, desenvolve em linhasgerais a reação aos escritos destes personagens na imprensacarioca do período. Isso permitirá constituir com maiornitidez o conjunto de fatores que ajudam a explicar suasobras, isto é, saber em que medida faz sentido escrever sobrea figura do “intelectual católico” no Brasil dos anos 1920 e
1
Mestre em História pela Unicamp. Doutorando em Sociologia pela USP.1
quais seriam as suas características.
Introdução
A década de 1920 vê se consolidar um grupo de
intelectuais cuja identidade nasce da confluência de
interesses em atender ao chamado do Cardeal Sebastião Leme
por um novo papel do laicato, especialmente do grupo de
letrados, que deveriam assumir para si a tarefa de atuar
sobre o meio artístico e literário do país, então
majoritariamente contrário aos católicos.2 A bibliografia a
respeito tem claramente apontado o Cardeal como o catalisador
que permitiu aos jovens interessados em defender a fé
encontrar seu espaço de atuação. Resta, no entanto, a
compreender quem respondeu positivamente a esse chamado e
porque o fez. Quais as condições para a emergência de um tipo
de intelectual para o qual o fato de ser católico pudesse
representar algo de importante? Como isso se manifestou nos
temas e nas ideias desenvolvidas em seus escritos? Para esse
artigo, foram escolhidos quatro representantes deste grupo
cujos textos dialogam entre si, fato que permite perceber
como os contemporâneos ao autor leram seu texto. Além disso,
estes são os autores do grupo cujas trajetórias sociais são
mais bem conhecidas, fato que permite comparações entre eles
2 Cabe aqui apenas a menção à Carta Pastoral de Dom Leme ao assumir aDiocese de Olinda e Recife em 1916, arquiconhecida como uma espécie demomento fundante dessa estratégia, que viria ser posta em prática duranteseu período como bispo e depois Cardeal do Rio de Janeiro.
2
a fim de estabelecer pontos comuns e singularidades que
reverberem em suas trajetórias.
O principal espaço de convivência entre estes autores
foi a revista A Ordem, publicada mensalmente. Seu nome dá o tom
de suas doutrinas, sobre as quais há estudos consolidados
(RODRIGUES, 2006). Foi para prover a revista de artigos e de
ajuda financeira que se criou o Centro Dom Vital, o projeto
mais forte de união entre estes personagens. Embora Leonel
Franca tenha assumido o papel de diretor espiritual da
instituição apenas após a morte de Jackson, ele acompanhou de
perto a iniciativa pioneira dos outros três, na qualidade de
confessor e amigo íntimo de Figueiredo. Dado que a instalação
do Centro e seu funcionamento interno já foram um texto deste
mesmo autor (ARDUINI, 2012), o enfoque aqui será mais
compreender o modo como as trajetórias pessoais se cruzam
dentro da instituição e menos as maneiras pelas quais a
instituição molda os indivíduos que passam por ela.
Outro ponto de contato das trajetórias diz respeito aos
temas que os motivaram a pegar na pena durante a década de
1920. Entre os autores escolhidos, Figueiredo foi aquele que
publicou mais obras: Afirmações e Do nacionalismo na hora presente
(ambos de 1921); Pascal e a inquietação moderna e Reação do Bom Senso
(ambos de 1922) e Literatura reacionária (1924). Dois dos livros
são voltados ao comentário sobre a situação política do país
no período. Os outros três versam sobre filosofia e
literatura. Existe, porém, uma linha contínua que percorre
3
todas as obras: a percepção de que tudo está em crise – o
país, o mundo, as artes e a filosofia. E que a solução para
esse estágio de crise estaria na volta a certos valores
tradicionais, esquecidos pela modernidade, dos quais o mais
importante seria a religião católica.
Leonel Franca redige nesse período suas diferentes
edições das Noções de História da Filosofia, a última das quais data
de 1928 e aponta para o retorno da metafísica e da
preocupação com a transcendência como as tendências da
filosofia contemporânea. É também desse período outro livro
seu bastante comentado pelos críticos, mas do qual o artigo
se ressente da falta de acesso para conhece-lo: A Igreja, a
Reforma e a Civilização. Os outros dois autores compartilham o
costume de escrever biografias de nomes famosos dentro da
cena católica brasileira, uma estratégia que serviria tanto
para confirmar a importância de seu objeto de estudo quanto
para se afirmar como escritores. Serrano publica Júlio Maria em
19243, enquanto Nogueira faz aparecer seu Jackson de Figueiredo em
1928. Embora não tivesse sido concebido por este motivo, o
livro acabou coincidindo com a morte do biografado. Poucos
meses depois, já pensado desde o início como uma homenagem
póstuma, A Ordem publica um número especial a seu respeito,
que também fará parte de nossas fontes pesquisadas.
3 Júlio Maria foi um promotor público que decidiu tornar-se padre ao finaldo Império, sendo ordenado em 1891. Tornou-se um pregador itinerante deconsiderável sucesso na defesa dos valores do catolicismo em umasociedade que vivia a separação oficial entre Igreja e Estado.
4
Algumas biografias sobre os personagens nos ajudarão a
selecionar elementos importantes dessas trajetórias, mas elas
serão utilizadas por motivos distintos entre si. A obra de
Hamilton Nogueira e o volume especial d’A Ordem podem ser
compreendidos em suas diversas camadas, isto é, tanto como
fonte de informação sobre o biografado quanto sobre o próprio
autor e o momento em que ela foi escrita, ainda dentro de
período de interesse desse artigo. As outras biografias foram
redigidas em contextos bastante distintos desse, por pessoas
que não necessariamente conviveram com os biografados, mas
que desejavam homenageá-lo. Apesar destas limitações, aportam
informações relevantes para a pesquisa.
Para cumprir seus objetivos, este texto se dividirá em
duas partes, logo após essa introdução. Na primeira delas,
estarão em pauta as trajetórias sociais destes personagens:
sua origem social e familiar, seus estudos (até a
universidade) e a ocupação profissional anterior e
concomitante à atuação na imprensa e nos livros. Na segunda
parte, será a vez dos livros produzidos pelos próprios
personagens citados, que nos permitem enxergar a posição
destes autores em alguns dos debates mais importantes do
período. Para fechar o texto, as considerações finais
apresentam algumas interpretações mais gerais.
Parte I: Perfil comparativo dos personagens
5
Todos os quatro nomes citados nasceram entre 1885 e
1897, 4 o que implica em dizer que na década de 1920 eram
jovens em busca de afirmação social e profissional. Apenas
Jônathas Serrano é natural do Rio de Janeiro, embora todos
tenham exercido sua carreira nessa cidade. Hamilton Nogueira
nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro e criou-se em
Niterói. Jackson de Figueiredo nasceu e cresceu no Sergipe e,
por fim, Leonel Franca nasceu no extremo sul do país, mas
viveu boa parte de sua infância na Bahia até perder a mãe e
ser acolhido, graças ao auxílio de um tio religioso, no
colégio dos jesuítas em Nova Friburgo. Ele não foi o único
com histórias de crise familiar: Serrano foi criado pela mãe
e pela avó materna e Figueiredo vinha de duas famílias em
franco processo de decadência financeira. Seu avô materno
perdeu toda a fortuna da família e seu pai teve de trocar a
faculdade de Medicina pela de Farmácia, pois não tinha
condições de arcar com as despesas do curso. Durante a
infância de Jackson, Luiz Figueiredo teve de deixar este
emprego por conta de uma doença grave e atuou como professor.
Este aspecto é importante para compreender a dificuldade
deste autor se instalar no Rio de Janeiro, de onde escrevia
cartas a seus amigos nas quais frequentemente reclamava da
falta de perspectivas de melhorias por não ter contatos que
pudessem ajudá-lo nem uma fortuna capaz de lhe oferecer a
4 Por ordem cronológica, as datas de nascimento são: 1885 -- JônathasSerrano; 1891 -- Jackson de Figueiredo; 1893 – Leonel Franca e 1897 –Hamilton Nogueira.
6
tranqüilidade necessária para trabalhar seus próprios textos.
(FERNANDES, 1989) (Outra influência possível, mas muito mais
difícil de comprovar taxativamente, é de que a instabilidade
do pai tivesse ajudado a fazer crescer em Jackson uma
personalidade igualmente instável, dada a exageros de um lado
e a crises de saúde física e mental, de outro.) Além desses
traços em comum, Serrano e Figueiredo possuem o fato de que
ambos são formados em Direito, mas nunca exerceram profissão
que fosse ligada ao título que obtiveram.
A ausência do apoio da figura paterna marcou, portanto,
as carreiras destes personagens, limitando em certa medida o
leque de opções disponíveis de empregabilidade, ao mesmo
tempo em que os forçou a migrar com destino à capital federal
em busca de mais oportunidades. Franca constitui um caso à
parte porque se tornou clérigo e cursou as faculdades de
Filosofia e de Teologia em Roma, o que equivale a dizer que
foi escolhido para desfrutar da melhor formação possível. Seu
exemplo confirma a lógica descrita por Sergio Miceli (2001)
para os seminários católicos, que sempre contaram entre seus
numerosos alunos do período com alguns que receberam o apoio
de alguma autoridade eclesiástica para formarem a elite
clerical.5 A oportunidade foi bem aproveitada, a ponto de
5 No caso de Dom Leme, foi essencial a figura de Dom Duarte Leopoldo eSilva, então bispo de São Paulo. Este grupo estava em oposição a outrosseminaristas, que na sua tentativa de ascender ao episcopado e outroscargos cobiçados contavam com o auxílio das suas poderosas famílias deorigem, geralmente ligadas ao controle político e econômico de algumestado da federação.
7
Franca ter sido convidado a permanecer em Roma como professor
do mesmo instituto onde estudara. Entretanto, obteve a
permissão de voltar ao Brasil como desejava, em grande medida
por conta de sua saúde frágil. (D’Elboux, 1956) Sobre o
período de estudos de Hamilton Nogueira, pouco se sabe,
exceto que cursou Medicina na capital federal e logo depois
de formado foi trabalhar em Muzambinho, onde conheceu
Figueiredo.
Em termos de reconhecimento social e profissional, os
quatro encontravam-se em níveis bastante desiguais no começo
da década de 1920. Leonel Franca já havia escrito no final da
década de 1910, durante seu primeiro período de estudos em
Roma, seu compêndio Noções de Filosofia, que seria reeditado com
acréscimos duas vezes durante a década seguinte. Por este
motivo, era nome já reconhecido nos meios católicos
brasileiros. Figueiredo também havia obtido algum destaque
por suas obras e por sua participação na imprensa, mas estava
longe de ser consensual. Optou por um caminho distinto de
Franca ao dedicar-se aos artigos de jornal e pequenas obras,
em geral publicadas por editoras sem grande renome. Seu
estilo agressivo de escrita e sua necessidade confessada de
publicar às pressas para cobrir necessidades financeiras
contribuíam para diminuir o apego a seu nome, mas estes dados
não lhe impediram de ser a principal liderança do laicato
católico até sua morte, em 1928.
8
Serrano havia se formado em Direito, em 1909, e desde
então exercera o magistério. Publicara um livro sobre o
notariado em 1917 e um manual de Filosofia do Direito em
1920, mas nenhum deles conheceria o mesmo sucesso de seus
manuais de História da década de 1930, cujas vendas
desdobraram-se em diversas edições. Assim que Hamilton
Nogueira regressou ao Rio de Janeiro, em 1921, obteve um
cargo no Hospital D. Pedro II e se tornou professor
universitário de Medicina, dando início a uma longa carreira.
Mas seu primeiro livro seria a biografia publicada em 1928.
Nos quatro casos, suas carreiras estiveram parcial ou
totalmente ligadas ao ramo da educação. Serrano foi professor
de História e participou da reforma educacional empreendida
por Fernando Azevedo na capital federal em 1928. Figueiredo
atuou como professor de ensino secundário e superintendente
das instituições escolares do Ministério da Agricultura;
Nogueira fez brilhante carreira no ensino de Biologia e
Medicina em diversas instituições. A partir de 1929, foi
livre-docente na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Leonel Franca esteve sempre ligado ao ensino no colégio de
sua ordem no Rio de Janeiro. O resultado desse envolvimento é
que nas décadas seguintes eles participariam de projetos de
faculdades e universidades confessionais, especialmente
Leonel Franca, a quem se deve em grande medida a fundação da
PUC-RJ, a primeira de seu gênero no país. Não há como dizer,
portanto, que eles estivessem alheios aos interesses da
9
Igreja no ramo educacional, embora nesse momento não
estivessem necessariamente ligados a tais projetos
diretamente.
O início da vida profissional destes quatro personagens
se deu, portanto, em um período marcado pela abertura de uma
nova frente de atuação para a Igreja Católica e, em especial,
a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Este projeto incluía tanto
a inauguração de uma rotina de produção intelectual quanto à
fundação de mais escolas e, a partir da década de 1930,
universidades católicas. Com a exceção de Figueiredo, cujo
acidente fatal em 1928 interrompeu subitamente a carreira,
todos os outros estiveram diretamente envolvidos neste
processo. É relevante levar isso em conta no momento de
analisar sua produção escrita, visto que os textos e as ações
são duas faces da mesma trajetória.
10
Parte II: Os livros
Em Afirmações, Figueiredo analisa a história da literatura
brasileira e termina por avaliar certos autores de seu tempo,
como Xavier Marques6. Dedica seu livro a Alceu Amoroso Lima e
se diz consciente de que o único critério adotado para
avaliar as obras foi a certeza de que tudo que existe de
positivo na civilização ocidental é criação da Igreja
Católica. Desse modo, Machado de Assis é classificado como
estéril por sua ironia cética e materialista, em oposição a
Xavier Marques, tido como exemplar. Mas o livro não trata
exclusivamente de literatura; a política aparece através da
discussão sobre o papel das revoluções na história dos
países. A palavra “revolução” é compreendida nesse contexto
como os movimentos de independência das colônias americanas
frente às metrópoles européias. Figueiredo apresenta uma
avaliação ambígua a esse respeito, baseado em Charles
Maurras:
Desde já o que é preciso determinar é a nossatradição, a tradição realmente brasileira, paraque nos guie o verdadeiro espírito histórico danossa nacionalidade. Não tem pouca razão CharlesMaurras quando observa que a verdadeira tradiçãode um povo não pode ser a das suas revoluções,por mais felizes que se nos apresentem. Dadas,
6 Xavier Marques nasceu na Bahia, em 1861, e destacou-se como jornalista eescritor. Foi deputado estadual na Bahia de 1915 a 1921 e federal de 1921a 1924. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1919. Faleceuem 1942.
11
porém, as condições especiais em que se formaramos povos americanos, é força confessar que arevolução nem sempre pode ter para nós o caráternegativo com que aparece na história das naçõeseuropeias. (FIGUEIREDO, 1921a, p. 160)
Charles Maurras, citado no trecho acima, foi um pensador
francês da última década do século XIX e primeira metade do
século XX, com quem Figueiredo mantém uma relação de
admiração e afastamento, ao mesmo tempo. A admiração ocorre
por conta do elogio que este autor faz do papel da autoridade
como mantenedora da ordem. E o afastamento se dá a partir da
polêmica condenação do politique d’abord -- lema central no
pensamento maurrasiano, que exprime sua crença de que todos
os aspectos da vida social (inclusive o religioso) nascem da
política. A ideia apresentada no trecho acima exprime outra
tônica comum a diversos escritos de Figueiredo: no caso dos
países latino-americanos, o nacionalismo se define em relação
à luta contra as consequências da colonização europeia.
Para Figueiredo, esta não seria uma luta inconclusa no
caso do Brasil, e por isso se tornaria o tema de seu livro
seguinte: Do nacionalismo na hora presente (1921). Nele procura
explicar as razões de seu sentimento antilusitano. Não se
trata de condenar a colônia portuguesa, mas de exigir dos
brasileiros uma postura mais firme contra os privilégios que
esta colônia possuía em nosso meio. Segundo Figueiredo, os
portugueses dominavam o comércio e a imprensa no Brasil e
sufocavam as possibilidades de os brasileiros se12
desenvolverem de forma autônoma. Ainda, o patriotismo seria
algo natural e perfeitamente católico, e se trabalhado por
uma elite bem preparada poderia se transformar em um
movimento de ideais superiores, o nacionalismo.
O livro deixa claro que nem toda influência dos
portugueses foi ruim. Os brasileiros deveriam respeito aos
portugueses por sua herança em nosso meio, e não menos
importante pela religião católica deles herdada. Mas
Figueiredo considera os portugueses residentes no Brasil tão
estrangeiros como quaisquer outros povos, ou como são os
brasileiros em outras terras. Caberia às autoridades
brasileiras prezar pelo que é do país. Portanto a crítica se
dedicaria mais aos próprios brasileiros que não sabem cuidar
do que é seu do que aos portugueses.
A obra seguinte de Figueiredo foi Pascal e a inquietação
moderna, ensaio de filosofia no qual seu autor desejava se
estabelecer na cena intelectual ao promover a imagem de
Pascal. O objetivo do livro é definido nos seguintes termos:
Busquei mostrar somente o que, no individualismomoderno – note-se bem a repetição, porque não merefiro só ao contemporâneo – em suas diversasmanifestações, religiosidade, filosofia, poesia,mais se ressente da influência do grande pensadorfrancês. A meu ver, nada também nos interessamais a nós, brasileiros, de cultura tãoacentuadamente francesa, que a lição do martírioespiritual daquela raça, de ideias e sentimentosmodelados pela força benéfica da Igreja, domomento em que rompeu violentamente o quadro de
13
tradições da sua atividade intelectual.(FIGUEIREDO, 1922a, 10-1)
A aposta (para usar um termo pascaliano) de Figueiredo é
de que a preocupação religiosa do autor francês poderia
interessar à cena intelectual brasileira de seu período e,
dessa forma, trazer o centro do debate para um terreno que
lhe fosse favorável. Em certa medida, descreve a si próprio
ao definir a imagem de Pascal como um filósofo que pecou por
alguns excessos, como o jansenismo, mas que nunca deixou de
acreditar na Igreja Católica como a realidade última do
homem. Figueiredo quer convencer seu leitor de que Pascal não
foi um filósofo individualista nem acreditou que a realidade
última do mundo fosse trazida pela razão. Portanto, ele se
encontraria do lado oposto a Descartes, base da filosofia
moderna.
Outra forma de compreender este ensaio é compará-lo ao
título Noções de filosofia moderna7, de Leonel Franca, na medida em
que ambos são tentativas de fundar os cânones a partir dos
quais os filósofos ditos “católicos” deveriam produzir. Mais
precisamente, eles cumprem tarefas complementares: Franca
fornece as linhas gerais, isto é, de uma visão global da
história da filosofia. Isso inclui indicar quais são os
7 A versão que analisaremos algumas páginas abaixo será a de 1928, mas aprimeira e a segunda publicações datam respectivamente de 1918 e 1921,portanto anteriores ao livro de Figueiredo.
14
“bons” autores, de quem se pode extrair alguma lição ou ao
contrário quais devem combatidos.
Depois de Franca apontar a trilha a seguir, restava a
Figueiredo ocupar seu espaço através de um trabalho mais
intensivo sobre uma filosofia específica. Sua escolha se deu
por um filósofo posterior a Descartes, portanto em diálogo
com a filosofia moderna. Outros nomes fundamentais da
doutrina católica, como Santo Agostinho ou Santo Tomás, não
atenderiam a este critério, o que poderia ajudar a
compreender a escolha por Pascal. Com isso ele permanece
inscrito nos cânones filosóficos já estabelecidos, mas aberto
a uma interpretação favorável ao projeto de tornar a Igreja
Católica a legitimadora de todas as esferas sociais no Brasil
dos anos 1920. Também trabalha a favor dessa escolha o fato
de se tratar de um autor francês, país tido como modelo do
pensamento filosófico no Brasil. Pela soma de todos esses
fatores, o resultado é que Pascal é considerado como o
filósofo que respondia à angústia do homem moderno:
Pascal e a angústia são o elemento que maisvivamente agita a consciência contemporânea,sendo causa de primeira ordem, não só da reaçãoespiritualista que vai estrangulando omaterialismo moderno, mas também da já tão notadarenascença, senão católica de um a outro extremo,pelo menos, cristã, entre as camadas intelectuaissuperiores, em todo o Ocidente. (FIGUEIREDO,1922a, 159)
15
Nessa perspectiva, o último capítulo é carregado de
citações a autores estrangeiros influenciados por Pascal --
como Renouver, Sully Prod’homme, Goethe, Lamartine e Bergson
– aos quais se acrescenta o nome de Auguste Comte, sobre o
qual afirma: “(...) foi, na verdade, um descendente de
Pascal, a quem faltou simplesmente um pouquinho mais da
verdadeira humildade cristã. Cético na ordem intelectual,
ninguém mais do que ele se revelou crente do sentimento, da
ordem afetiva.” (FIGUEIREDO, 1922a, 196)
A citação é ainda mais importante se levarmos em conta
que os positivistas consistiam, para Figueiredo, no principal
inimigo dos católicos e que voltariam a ser o tema de outros
livros, como a Reação do Bom Senso (1922), coletânea de artigos
publicados em O Jornal. A maioria dos artigos tem temas
relacionados à eleição presidencial de 1922, durante a qual
surgiu a malfadada campanha contra Arthur Bernardes. Ele foi
alvo de uma série de cartas supostamente falsas atribuídas a
ele e que desprezariam a importância do Exército. O quadro
traçado nos artigos escritos durante a campanha é de um país
à beira do abismo do caos por ação de alguns desordeiros no
Exército, inspirados por teses “positivóides”.
Por este termo, Figueiredo pretende diferenciar os
verdadeiros positivistas, para os quais reservava o respeito,
dos que interpretam de forma equivocada os preceitos de uma
crença que teria tudo para ser conservadora. Outros alvos da
crítica são: Nilo Peçanha (opositor de Artur Bernardes na
16
eleição de 1922), Edmundo Bittencourt (dono do Correio da
Manhã) e Oldemar Lacerda, que foi um dos inventores das
cartas atribuídas a Artur Bernardes, nas quais o presidente
em exercício teria demonstrado falta de consideração pelas
forças armadas. Parte dos militares apoiou a campanha de Nilo
Peçanha, que contou também com o suporte de oligarquias
descontentes com o status quo – como era o caso da Bahia, Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro – e a realização de comícios
populares.
Todas as práticas da Reação Republicana foram duramente
criticadas por Figueiredo, inclusive o envolvimento dos
militares na subversão. Um tema recorrente no livro é de que
os militares deveriam manter-se em suas casernas e deixar de
fazer política. Para Figueiredo, existe uma continuidade
entre o liberalismo da Reação Republicana, o apego à
maçonaria que ele identifica em Nilo Peçanha e o
“positivoidismo” dos militares. Tudo concorreria para a
destruição da ordem pública e da Autoridade legalmente
constituída, em benefício de uma democracia popular que
levaria ao caos.
É relevante destacar que Jackson não mistura a
democracia popular com o regime republicano. Este não é
condenado; seus erros são os mesmos do Império, tais como a
Igreja subjugada ao poder civil e a maçonaria/liberalismo
contaminando a cultura nacional. Críticas também sobravam
para os principais apoiadores da Reação Republicana, como é o
17
caso de José Joaquim Seabra (presidente da Bahia e vice na
chapa de Nilo Peçanha) e de Borges de Medeiros (presidente do
Rio Grande do Sul, apoiou Nilo Peçanha). A coletânea é
resultado da reunião de textos publicados em O Jornal,
interrompida de forma abrupta, com uma “Nota Final”
reproduzida no livro que não explica muito bem o porquê do
final da colaboração no jornal. Ela apenas afirma que a
revolução estava derrotada depois do levante de julho de
1922, rapidamente sufocado por Epitácio Pessoa.
O livro permite enxergar um Figueiredo totalmente imerso
nas disputas políticas nacionais, o que confere outra cor às
suas ideias. Os nomes de Joseph de Maistre e De Bonald são
constantemente citados, além de Santo Tomás de Aquino,
principal referência para argumentar que a obrigação de todos
os descontentes era resistir aos desmandos dentro da
legalidade, sem contestar a ordem estabelecida. Mas a maior
parte do livro são comentários diretos sobre a vida política
partidária brasileira, produzidas sob o impacto dos
acontecimentos.
Em Literatura Reacionária, reunião de diversos artigos
publicados na imprensa carioca ao longo do ano de 1924,
Figueiredo volta suas atenções para os nomes que povoam seu
universo de referências e de modelos de pensamento. Com
Ronald de Carvalho e Tristão de Athayde, o debate é sobre a
função da arte e a necessidade de que ela esteja relacionada
à moral e à defesa da ordem. Figueiredo também mira na
18
literatura portuguesa, comentando os trabalhos de Antonio
Sardinha e Fialho de Almeida, e na literatura francesa,
comentando autores católicos como Paul Bureau e Henri Massis.
Seus colegas de Centro Dom Vital também não deixam de ser
citados, a começar por Leonel Franca, cujo elogio ao à
segunda edição de Noções de História da Filosofia o eleva ao estatuto
de obra criadora de uma tradição da filosofia católica no
Brasil:
O padre Leonel Franca é, como disse, autor de uma“História da Filosofia”, de que a segunda ediçãoconstituía, por assim dizer, a sua revelação aomundo das letras brasileiras. (...) talvez só pormodéstia não deu em volume à parte as últimas cempáginas que são, realmente, a primeira tentativaséria de uma história das ideias no Brasil, deuma história e de uma crítica dessas mesmasideias, do ponto de vista de um sistema comdireito de cidade no mundo da filosofia, no caso,graças a Deus, o da filosofia tradicional,católica. (FIGUEIREDO, 1922a, 29)
Jonathas Serrano também merece comentários pela sua obra
a respeito de Júlio Maria. Ela é considerada como uma
conquista para o mundo das letras católicas brasileiras,
tendo em vista a capacidade de seu autor de saber aliar seu
apego ao tema com uma capacidade de análise objetiva do
pensador. Nestes e nos demais artigos, a sustentação da
definição do que consiste uma obra católica – de literatura,
filosofia ou história -- se dá por meio da ideia de que toda
obra possui em si um conceito de moral e de ordem. E que,
19
portanto, nem a arte é indiferente aos problemas concernentes
a estas duas ordens de valores. Para Figueiredo, é impossível
que uma ação humana seja moralmente neutra – ou ela é boa ou
é ruim – e isso vale também para a obra de arte. E para saber
se a obra é moralmente boa, o único guia confiável é a
própria Igreja Católica, cuja doutrina moral se mostra
igualmente válida, hoje e sempre. A conclusão é de que toda
obra de arte precisa satisfazer igualmente os requisitos
impostos por uma estética – que Figueiredo não define qual –
e pela doutrina católica.
Essa ideia se torna mais evidente ao longo da crítica ao
francês Henri Massis, que vem em auxílio à sua definição de
arte. Se toda atividade humana é moral, logo ela expressa a
ordem moral presente na consciência de seus autores. Mas
também é necessário que tenha senso estético, que persiga o
belo. Ora, o belo, o bom e a verdade se identificam; se a
realidade mais profunda das coisas é aquela proferida pela fé
católica, logo, ela deveria estar presente nessa realidade
mais profunda. Portanto, para o crítico católico não basta
que uma obra seja esteticamente bela; é preciso que ela
expresse, de algum modo, a verdade da única fé verdadeira.
Figueiredo aplica um raciocínio semelhante à sociologia, a
partir das considerações de Bureau, parâmetro para medir como
deveria ser um bom sociólogo cristão, em consonância com a
ideia de que a sociologia – assim como a arte – tem seu
aspecto moral que precisa ser valorizado:
20
Bureau, para quem a ciência era sempre amoral,julgava que a sociologia poderia ser organizadacomo outra qualquer ciência, mas “completada”pela “arte social”, “a arte de conduzir asinstituições sociais”, de “dirigir a açãohumana”, porque o espírito humano – dizia ele –“jamais fica inteiramente separado das aplicaçõespráticas”. 8
O acerto de Bureau estaria no equilíbrio deste novo
conceito de sociologia, capaz de evitar dois extremos. Entre
as teses que conferiam um peso exagerado a forças impessoais
e outras a proclamar a força das grandes individualidades
como formadoras de uma sociedade, Bureau teria permanecido
“no meio termo aconselhado há séculos pela Igreja Católica
(...) afirmando ainda a existência de uma lei moral
transcendente.”9
Em seu compêndio de Filosofia, Leonel Franca estabelece
uma hierarquia entre os filósofos. No Brasil, por exemplo,
tudo que teria sido escrito antes deste período era digno de
reprovação, como é o caso de Sylvio Romero. Para Tobias
Barreto, existe até uma cerca condescendência tendo em vista
que ele aceita a presença de um padre em seu leito de morte.
Essa ato é entendido como uma aceitação de Barreto da
validade da religião. Ao contrário destes autores, Farias
Brito é visto como o modelo de intelectual a ser reproduzido,
pois seu sistema filosófico permite conceber ligações com a
8 Pp. 162-3.9 Pp. 162-3.
21
metafísica religiosa e transformar a filosofia em antesala da
teologia.
A estrutura de Júlio Maria é feita de duas partes: a
primeira se dedica ao promotor e a segunda ao padre. Em sua
curta vida política, ocorrida no final do Império, o promotor
não se envolveu com o abolicionismo e nem com o
republicanismo. Jonathas Serrano descreve-o como alguém que
encontrou o princípio do liberalismo na ação do partido
coservador, mas que em nenhum dos partidos conquistou o apoio
necessário para tornar-se deputado. A justificativa de
Serrano para o fato de Júlio Maria não fazer parte dos
abolicionistas era a de que ele era favorável a uma abolição
lenta e gradual, que ficasse para as gerações seguintes.
(Vale dizer que era essa a opinião mais conservadora no
cenário político). Sobre sua vida de padre, o clímax do livro
são suas palestras realizadas em Belém do Pará no ano de
1902. A imprensa local confere grande espaço aos artigos de
opinião de militares positivistas, mas também abre espaço
para defensores de Júlio Maria, como é o caso de Farias
Brito. Neste e em todos os outros fatos narrados pelo livro,
a tentativa de Serrano é chamar a atenção para a capacidade
de Júlio Maria em converter sua erudição e sua habilidade
retórica em benefício das pregações que realiza. Ele
simbolizaria, portanto, a união perfeita entre fé e
inteligência, servindo como modelo a todos os católicos
daquele momento. A primeira semente estaria lançada pelo
22
exemplo, mas a plantação deveria continuar com a ação de
novos filósofos e teólogos, pois Serrano faz questão de
enfatizar que nem Júlio Maria nem Farias Brito poderiam ser
considerados verdadeiramente filósofos. Antes do que isso,
eles teriam iniciado incursões no mundo intelectual que
deveriam ser sucedidas pelos esforços de outros, como deixa
perceber a seguinte passagem:
Cabe aos intelectuais a reação que Júlio Mariachamou a “revolução do pudor”, usando daexpressão de Lamartine para o movimento políticofrancês de 1848. É oportuno reler o que, em 1909pregava o eloquente orador da Catedral:“Eia, homens de letras! Eia, também, artistas!Iniciai no Brasil a revolução do pudor; queninguém vos saia ao encontro com fórmulas vãs,romantismo ou realismo, na prosa, parnasianismoou simbolismo; no verso; fórmulas vãs, repito. Sóhá duas literaturas: a literatura honesta e aliteratura imoral. Contra esta, quanto antes, avossa campanha, a qual será mais do que um troféupara vossos talentos; será um impulso àreconstrução cristão do Brasil. 10
Essa passagem possui uma afinidade com a discussão sobre
a fé e as artes propiciada por Jackson de Figueiredo em
passagem já citada acima e mostra o grau de entrosamento
entre estes autores.
A respeito desse personagem, em especial, existe a
biografia publicada por Hamilton Nogueira, na qual são
constantes as digressões sobre temas como os destinos
10 Pp. 118-9. 23
políticos do Brasil, os problemas sociais, de filosofia e de
arte, nas quais Nogueira expõe sua própria opinião ou cita a
de Jackson por longos trechos. Por essa natureza do livro, é
possível levantar a hipótese de que se trata na verdade de
uma aposta de Nogueira para entrar no hall dos autores
católicos consagrados. A escolha do tema ajudaria nesse
sentido, embora a vida de Figueiredo também já tivesse
merecido um livro de Perillo Gomes. Segundo Nogueira, o livro
de Gomes teria enfoque maior em seu pensamento político.
Posteriormente, Tasso da Silveira também escreveria uma
biografia a respeito de Figueiredo. O dado de que os três
autores de biografias de Figueiredo sejam membros do Centro
Dom Vital é relevante na medida em que comprova sua
importância na formatação dos temas e gêneros de interesse
das pessoas que o freqüentaram.
A influência do Centro também ocorria no modo como estes
autores enxergaram Figueiredo, sempre com vistas a considerá-
lo um modelo de intelectual, com base em características
distintas. No livro de Hamilton Nogueira, ele é descrito
ainda como uma figura perpassada por dilemas morais e
filosóficos que comprometiam sua saúde e se coadunavam com a
incerteza de sua vida profissional no Rio de Janeiro.
Figueiredo encontra remédio para esses problemas em suas
amizades com o círculo de amigos, especialmente Farias Brito,
a quem trata com admiração e de quem esposará uma das filhas.
24
Ou seja, ele se torna um modelo de convertido para a causa
católica, exemplo que os leitores são convidados a seguir.
Depois da conversão, sua obra conhece uma grande
popularidade nesse meio, sendo inclusive comentada por
revistas católicas de outros países, como a francesa Études, a
qual publica uma resenha de seu livro sobre Pascal. Depois
que as certezas essenciais da vida foram adquiridas,
Figueiredo torna-se um pensador requisitado por um vasto
público, outra marca de incentivo das novas gerações à
conversão de seus escritos em benefício de fins apologéticos.
Essa imagem do Jackson que traz para dentro de si as dúvidas
e as processa antes de tornar-se o grande pensador que foi é
essencialmente diferente da imagem construída pelo texto
publicado em sua homenagem póstuma pela revista A Ordem. Nessa
última, não há espaços para concessões a dúvidas e medos
interiores: Figueiredo é apresentado como um bloco
monolítico, dotado de todas as características que fazem dele
o líder da corrente católica. Vários nomes são chamados a
escrever textos curtos de apresentação de algum aspecto de
sua vida, tais como “O Filósofo”, “O Apologeta”, “O
Sociólogo” e assim por diante.
COMENTAR TAMBÉM OS ARTIGOS DE NOGUEIRA, SERRANO E LEONEL
FRANCA NO JORNAL DO RIO PARA CITAR INTERTEXTUALIDADE
O volume se abre com alguns textos inéditos de
Figueiredo. Há dois capítulos de uma obra que Figueiredo
pretendia escrever sobre Joseph de Maistre. A obra pretendia
25
mostrar como o problema da revolução francesa e toda a
negação da tradição católica eram na verdade oriundos do
período do humanismo, no meio da idade moderna. Ao primeiro
raiar da ideia de que as liberdades individuais deveriam ser
superiores as de autoridade (da Igreja em primeiro lugar, e
em seguida do Rei), todo o arcabouço que permitia uma boa
sociedade estava em perigo. Este era um artigo que se
pretendia de teoria política centrado exclusivamente em
Joseph de Maistre, mas com algumas citações de Berdiaeff e
Maritain. Todos os autores são mobilizados com o objetivo de
demonstrar que toda a filosofia de Descartes em diante
constituiu uma grande decadência.
O artigo seguinte é uma resposta a um dossiê organizado
por Augusto Fredericho Schmidit sobre a situação da
literatura brasileira naquele momento. Figueiredo arrisca-se
a dizer que a geração do presente era aquela que mais sofria,
mais do que a que proclamou a independência, por exemplo. Os
problemas brasileiros resultavam da inclusão de um pensamento
social estrangeiro no país, desviando-os de seus valores
clássicos de catolicidade. A literatura poderia contribuir
justamente para a retomada destes valores católicos.
Em carta endereçada a Amoroso Lima e transcrita neste
volume, os dois discutem o problema da autoridade em um
momento de aparente desordem no país. Figueiredo afirma que
diante desse quadro julgado como caótico, a única resposta
possível seria refazer o senso de autoridade, mesmo que isso
26
representasse abrir mão de algumas características suas
cristãs, para não perder o essencial. O problema político
era, em sua visão, a manifesta preocupação do século XX e
fora da Igreja não haveria solução possível para esse
conflito.
A característica do “bloco monolítico” atribuído a Figueiredo
é perceptível desde o primeiro artigo a seu respeito, uma
biografia escrita por Olegário Silva. Este afirma que o jovem
Figueiredo era perseguido por alguns professores e por isso
tinha que mudar de colégio. No tempo de universidade, manteve
um estilo de vida de fausto e pouco regramento.
Diante dessa parte espinhosa na vida de quem se pretende
transformar em exemplo hagiográfico, Olegário Matos resolve o
problema com o seguinte argumento: Figueiredo sempre havia
sido admirado pelos colegas pela bravura e lealdade aos
companheiros. Por estes motivos, sua coragem de praticar atos
maus não seria o contrário de uma natureza boa a qual ele
teria, mas um desejo de viver intensamente que poderia
resultar em grande vantagem para a Igreja, depois que
Figueiredo se convertesse.
A ideia de um “santo moderno” é continuada pelos artigos
seguintes, como o de Perillo Gomes, que o apresenta como um
apologeta cuja força retórica era mais forte do que a força
de suas ideias. Sua conclusão é de que este seria o tipo de
apologia possível na idade contemporânea. Na apresentação de
Jackson como filósofo, Alexandre Correia destaca como Pascal
27
conseguiu abraçar o ideal de alma moderna e faz de Jackson um
defensor das ideias do filósofo de Port-Royal. Antes disso,
porém, faz uma alusão de algumas páginas ao livro de Leonel
Franca (Noções de Filosofia) em defesa da tese presente no livro
de que haveria apenas dois filósofos brasileiros: Tobias
Barreto e Farias Brito. Para Correia, Brito teria sido mais
filósofo, isto é, mais autoral e teria encontrado a fé ao
final de sua vida, assim como Jackson a encontrou depois de
um período nas trevas.
O ápice do volume é o texto de Félix Contreras
Rodrigues, que escreve sobre o lado sociológico de
Figueiredo, o mais denso entre eles. Aponta em Figueiredo um
monarquista que aceitou a imposição de Leão XIII de se
aceitar a República francesa como se valesse também para o
Brasil. (É importante lembrar que o mesmo Papa teve relações
muito mais tensas com a República italiana). Portanto, a
discussão não deveria ser qual o melhor regime político para
o país e sim como recristianizá-lo, independentemente do
regime.
Em primeiro lugar, significaria dar a devida importância
à Igreja, centro da tradição brasileira. Para Figueiredo, as
pátrias são criadas por desejo divino; no caso do Brasil, por
exemplo, a religião esteve presente desde o início de sua
formação história. A religião seria um dogma nacional, cujo
desprezo condenaria qualquer regime instalado no país à
decadência. Desse dogma nacional decorrem as conseqüências
28
que voltariam a formar a pauta de reivindicações nos anos
1930: a escola com ensino religioso, o casamento religioso
com efeito civil e o privilégio da Igreja como a religião
oficial do país. O artigo não pretende indicar em Figueiredo
um intolerante das outras religiões, mas Figueiredo pensa que
a Igreja deveria ser tratada com privilégios.
A partir dos elementos empíricos apresentados até o
momento nesse artigo, já é possível tecer algumas
considerações finais.
29
Considerações finais
Este artigo pretendeu demonstrar como é possível
compreender em seu conjunto a produção bibliográfica de
quatro autores cariocas: Jônathas Serrano, Jackson de
Figueiredo, Hamilton Nogueira e Leonel Franca. Tal comparação
permite enxergar como seus textos dialogam entre si
constantemente e por diversas formas. A primeira delas é que
todos defendem certos valores em comum, apresentados como
essenciais ao catolicismo e vistos como a salvação do país.
Todos os quatro se confirmam uns aos outros na iniciativa de
defender uma organização social muito distinta daquela
propalada por outros grupos do mesmo período como a solução
para o Brasil. Em certos momentos, escrevem diretamente uns
sobre os outros, em manifesto apoio às teses dos colegas.
Existe também uma especialização na produção entre os
autores. Leonel Franca era o responsável pela filosofia,
enquanto Figueiredo assumia o papel de porta-voz político do
grupo. Nogueira e Serrano forneciam hagiografias, alimentando
o panteão católico.
A trajetória pregressa dos quatro ajuda a compreender os
motivos de sua proximidade durante os anos 1920. Com a
exceção de Nogueira, sobre quem não há maiores informações
disponíveis, todos os outros viveram dramas familiares para
os quais o apego à estrutura da Igreja Católica proporcionou
respostas psicológicas e financeiras. Tal auxílio veio da
30
Ordem dos Jesuítas ou da Arquidiocese do Rio de Janeiro, esta
última impulsionada pelo comando revigorador do Cardeal
Sebastião Leme, condição primordial para o amadurecimento das
carreiras destes pensadores. Se o papel do Cardeal foi
significativamente reconhecido desde os anos 1940, resta
ainda o esforço por compreender as condições sociais de
emergência do intelectual católico e o que ele representou em
termos de produção intelectual. Este artigo espera ter dado
uma pequena contribuição neste sentido.
31
Bibliografia
LivrosARDUINI, Guilherme Ramalho. “O Centro d. Vital: estudo decaso de um grupo de intelectuais católicos no rio de janeiroentre os anos 1920 e 1940” EM: PAULA, Christiane Jalles &RODRIGUES, Candido Moreira. Intelectuais e Militância Católica no Brasil.Cuiabá: FAPEMAT/Editora UFMT, 2012. D’ELBOUX, Luiz Gonzaga da Silveira. O Padre Leonel Franca. Rio deJaneiro: Agir, 1953.FERNANDES, Cléa de Figueiredo. Jackson de Figueiredo: uma trajetóriaapaixonada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.FIGUEIREDO, Jackson. Affirmações. Rio de Janeiro: Centro D.Vital/Tipografia Anuário do Brasil, 1921a._____. Do nacionalismo na hora presente. Rio de Janeiro: LivrariaCatólica, 1921b._____. Pascal e a inquietação moderna. Rio de Janeiro/Lisboa. CentroD. Vital/Anuário do Brasil/Renascença Portuguesa, 1922.FIGUEIREDO, Jackson. Reação do bom senso. Contra o demagogismo ea anarquia militar: artigos publicados “n’O Jornal” do Rio deJaneiro (1921-1922). Rio de Janeiro: Annuario do Brasil.MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia dasLetras, 2001.NOGUEIRA, Hamilton. Jackson de Figueiredo. Rio de Janeiro/SãoPaulo: Hachette/Loyola, 1976 (1ª ed. 1928).RODRIGUES, Cândido Moreira. A Ordem: uma revista de intelectuaiscatólicos. Belo Horizonte/São Paulo: Autêntica/FAPESP, 2006.SERRANO, Jonathas. Júlio Maria. Rio de janeiro: Livraria BoaImprensa, 1941 [1ª Ed. 1924].ZANATTA, Regina Maria. Jonathas Serrano e a escola nova no Brasil: raízescatólicas na corrente progressista. [Tese de doutoramento] São Paulo:Faculdade de Educação/USP, 2005.
Verbetes de dicionário“Hamilton Nogueira” EM: BELOCH, Israel. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003.“Jônathas Serrano” EM: RIBEIRO FILHO, João de Souza. Dicionáriode escritores cariocas. Rio de Janeiro: Livraria Brasiliana, 1965.
32