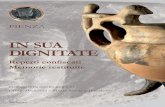A Superaventura: da narratividade e sua expressividade à sua potencialidade teológica
Transcript of A Superaventura: da narratividade e sua expressividade à sua potencialidade teológica
A SUPERAVENTURA:
DA NARRATIVIDADE E SUA EXPRESSIVIDADE
À SUA POTENCIALIDADE TEOLÓGICA
Iuri Andréas Reblin
2012
© Daniel Chan
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA
IURI ANDRÉAS REBLIN
A SUPERAVENTURA: DA NARRATIVIDADE E SUA EXPRESSIVIDADE
À SUA POTENCIALIDADE TEOLÓGICA
São Leopoldo
2012
IURI ANDRÉAS REBLIN
A SUPERAVENTURA: DA NARRATIVIDADE E SUA EXPRESSIVIDADE
À SUA POTENCIALIDADE TEOLÓGICA
Tese de Doutorado Para obtenção do grau de Doutor em Teologia Escola Superior e Teologia Programa de Pós-Graduação Área de concentração: Religião e Educação
Orientadora: Laude Erandi Brandenburg
São Leopoldo
2012
Dedicado a
Lorival Reblin,
Nadir Behling Reblin,
Mônica Reblin,
Kathlen Luana de Oliveira,
Ezequiel de Souza,
Jerry Siegel,
Joe Shuster,
C. C. Beck,
Bill Parker,
Christopher Reeve,
Rubem Alves,
Stan Lee,
Geoff Johns,
Samicler Gonçalves,
Emir Ribeiro,
William Hanna e Joseph Barbera,
Alfred Gough e Miles Millar,
aos grandes contadores de estórias, aos quadrinistas brasileiros,
e a tantos outros que
alimentaram meus sonhos
e me conduziram,
de uma forma ou outra,
à realização desta pesquisa.
AGRADECIMENTOS
À minha família,
por buscar entender que todo herói tem sua jornada;
À minha companheira, Kathlen Luana de Oliveira,
por estar sempre ao meu lado, sendo, muitas vezes, a super-heroína que salva o dia
nos bastidores deste estudo;
À professora Laude Erandi Brandenburg, por me acompanhar nesta pesquisa e incentivar a ir além;
Ao professor Remí Klein,
por me apoiar ao longo de minha trajetória acadêmica;
Ao professor Valério Guilherme Schaper, por ser um interlocutor no diálogo entre teologia e quadrinhos nas horas vagas;
Aos professores Nildo Viana, Waldomiro Vergueiro e Júlio Cezar Adam,
por se disporem a avaliar o resultado desta caminhada;
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por subsidiar financeiramente esta pesquisa.
Muitos gostariam de viver histórias que ou-tras pessoas contam, e isso me leva a amar
cada vez mais a ficção e a aventura, dese-jando estar lado a lado sempre com elas.
Sandro Marcelo Farias
Campana # 1
Já que a ficção parece mais confortável que a vida, tentamos ler a vida como se fosse
uma obra de ficção.
Umberto Eco Seis passeios pelos bosques da ficção
RESUMO
Uma leitura teológica do gênero da superaventura sob a perspectiva do papel da narrativa na invenção e na manutenção do mundo humano, mediante a abordagem de seus aspectos midiáticos, suas convenções primárias e sua estrutura mítica, con-siderada sua trajetória histórica e crítica. A primeira parte resgata a trajetória históri-ca do gênero da superaventura sob o enfoque da crítica especializada, apresentan-do as argumentações do psiquiatra Fredric Wertham, a criação do código de ética e autocensura dos quadrinhos e um panorama da pesquisa científica na atualidade. A segunda parte aborda a importância da narrativa na criação e na manutenção de universos de sentido e na invenção do ser humano. As narrativas são leituras de mundo que simultaneamente expressam os medos, os anseios, as esperanças e os sentidos do ser humano e sugerem como interpretar esse mundo. Em seguida, a pesquisa apresenta aspectos elementares das histórias em quadrinhos enquanto locus vivendi da superaventura, as convenções primárias que atribuem à superaven-tura sua razão de ser e os significados e as implicações de sua forma mítica. A ter-ceira parte introduz a discussão acerca da teologia do cotidiano e realiza uma leitura teológica de duas histórias do gênero: Superman: Paz na Terra e Shazam: O Poder da Esperança. A superaventura torna-se palco da teologia do cotidiano, quando, por meio da forma do mito, é expressão de um senso teológico comum. A pesquisa en-cerra indicando aproximações temáticas, metodológicas e ideológicas entre teologia e superaventura. Teologia e superaventura lidam com os valores caros ao ser hu-mano, com a estrutura mítica e com a faculdade humana de conceber o ideal e de acrescentá-lo ao real. Palavras-chave: Superaventura. Super-Herói. Histórias em Quadrinhos. Teologia do cotidiano. A forma do mito.
ABSTRACT
A theological reading of the superadventure genre from the perspective of the role of narrative in the creation and maintenance of the human world through the approach of its media aspects, its primary conventions and its mythic structure, considered its historical and critical background. The first part recalls the historical trajectory of the superadventure genre from the focus of critics, presenting the arguments of psychia-trist Fredric Wertham, the creation of the comics code and an overview of the current scientific research. The second part discusses the importance of narrative in the cre-ation and maintenance of universes of meaning and the invention of the human be-ing. The narratives are readings of the world that simultaneously express fears, anxi-eties, hopes and senses and suggest how to interpret this world. Then the study pre-sents key issues of comic books as the locus vivendi of the superadventure, the pri-mary conventions that gives to superadventure its raison d’être and the meanings and implications of its mythical form. The third part introduces the discussion on the theology of daily life and makes a theological reading of two superhero stories: Su-perman: Peace on Earth and Shazam: The Power of Hope. Superadventure be-comes a stage of the theology of daily life, when, by the mythical form, it is an ex-pression of a theological common sense. The research ends by indicating thematic, methodological and ideological approaches between superadventure and theology. Both theology and superadventure deal with the high values for the human being, the mythic structure and the human faculty of conceiving the ideal and adding it to the real. Keywords: Superadventure genre. Superhero. Comics. Theology of daily life. The form of the myth.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: A origem do Superman .............................................................................. 69
Figura 2: A invenção do mundo humano e do ser humano ....................................... 80
Figura 3: Clareza e persuasão ................................................................................ 100
Figura 4: Estereótipos nas histórias em quadrinhos ................................................ 102
Figura 5: A predominância do gênero do super-herói ............................................. 123
Figura 6: Um gênero transmidiático ........................................................................ 123
Figura 7: Sistema semiológico do mito de acordo com Roland Barthes ................. 134
Figura 8: A origem do Capitão Marvel ..................................................................... 149
Figura 9: Superman e a árvore de Natal ................................................................. 160
Figura 10: Superman diante do Congresso Nacional Estadunidense ..................... 161
Figura 11: Superman alimentando o povo africano ................................................. 162
Figura 12: Superman, Paz na terra e entre os homens de boa vontade ................. 163
Figura 13: Superman, o semeador .......................................................................... 165
Figura 14: Semeando com o pai ............................................................................. 169
Figura 15: Sobre o Cristo Redentor ......................................................................... 172
Figura 16: Superman fracassa? .............................................................................. 175
Figura 17: Ensinando a semear .............................................................................. 176
Figura 18: Capitão Marvel contendo um vulcão em erupção .................................. 182
Figura 19: Capitão Marvel lê cartas de admiradores ............................................... 183
Figura 20: Capitão Marvel em audiência com o Mago Shazam .............................. 184
Figura 21: Capitão Marvel passeia com as crianças ............................................... 185
Figura 22: Capitão Marvel, alento nas horas difíceis ............................................... 186
Figura 23: Ele pode ser um amigo para aqueles que realmente precisam ............. 190
Figura 24: Capitão Marvel e as crianças ................................................................. 191
Figura 25: Jesus e as crianças ................................................................................ 191
Figura 26: Parceiro nos jogos da vida ..................................................................... 196
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 19
1 SUPERAVENTURA: CONTROVÉRSIAS DO ESTUDO DE UM GÊNERO ........... 25
1.1 A Sedução do Inocente e as suas consequências .......................................... 34
1.2 O Comics Code Authority e o desprestígio acadêmico .................................... 45
1.3 O estudo do gênero da superaventura hoje ..................................................... 56
INTERLÚDIO: A ORIGEM DO SUPERMAN ............................................................. 69
2 SUPERAVENTURA: DA NARRATIVA AO GÊNERO ............................................ 71
2.1 As narrativas na invenção do mundo humano ................................................. 76
2.2 Uma narrativa contemporânea: a superaventura ............................................. 94
2.2.1 Uma arte de contar histórias ..................................................................... 97
2.2.2 Um gênero narrativo próprio ................................................................... 106
2.2.3 Uma mitologia contemporânea ............................................................... 128
INTERLÚDIO: A ORIGEM DO CAPITÃO MARVEL ................................................ 149
3 SUPERAVENTURA: UM GÊNERO SOB O OLHAR DA TEOLOGIA ................... 151
3.1 Os Maiores Super-Heróis do Mundo ............................................................. 157
3.1.1 Superman: Paz na Terra ......................................................................... 160
3.1.2 Shazam: O Poder da Esperança ............................................................. 182
CONCLUSÃO .......................................................................................................... 197
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 205
Anexo A1 – Comics Code Authority (1954) ............................................................. 217
Anexo A2 – Code for Comics (1948) ....................................................................... 221
Anexo B1 – Linha do Tempo das Histórias em Quadrinhos .................................... 223
Anexo C1 — A Origem do Superman ..................................................................... 237
Anexo C2 — A Origem do Capitão Marvel .............................................................. 245
INTRODUÇÃO
A proposta dessa pesquisa se iniciou muito antes de ser arquitetada dentro
das quatro paredes que formam o espaço da academia; ela é uma daquelas coisas
que são evocadas quando se percorre as ruínas de sua biblioteca pessoal a fim de
encontrar aquilo que faz alguém ser como se é. Jorge Larrosa já dizia que, para se
compreender como alguém é quem é, torna-se necessário percorrer os recantos das
bibliotecas particulares para lá identificar as histórias recebidas que foram sendo
adaptadas, transformadas e incorporadas na biografia de cada um. Cada ser huma-
no se inventa e é continuamente inventado a partir de uma justaposição transitiva de
histórias herdadas, recebidas, que, nos recantos de sua biografia em diálogo com a
biografia da humanidade, tecem uma teia de sentidos e significações que servem
para, nem que por um momento, abrigar sua própria humanidade.
A teologia e a superaventura caminham nessa direção, pois ambas são duas
artes de se contar uma história, de se entender no mundo e, dessa forma, de abrigar
retratos de humanidade e concepções de mundo. A teologia tem sempre a ver com
o lado mais íntimo de cada pessoa na tentativa de estruturar seu universo simbólico
e de organizar o mundo na perspectiva do amor. Ela lida com o sentido de viver e
morrer; ela adquire contornos por meio das estórias contadas, estórias que, diferen-
temente das histórias que acontecem no passado, são invocações da vida, falam
sobre o sentido de viver e de morrer por meio de símbolos de beleza. A teologia não
é apenas “coisa de Igreja”, “coisa de academia”. Muito antes de se vincular a esses
espaços, a teologia se imiscui no cotidiano e emerge como atividade humana na
busca por sentido. Essa é a chamada teologia do cotidiano, esse senso teológico
comum que pode ser percebido nas mais diferentes produções culturais. Natural-
20
mente, nem sempre a reflexão teológica, ao longo de sua história particularmente
vinculada ao cristianismo teve abertura para “as coisas do mundo”. A reflexão teoló-
gica que possibilita essa abertura e esse diálogo com a vida social cotidiana é, de
maneira em geral, bastante recente. Em grande medida, ela ainda sofre resistência
por parte das academias tradicionais e da teologia tradicional que possui dificulda-
des em se reconhecer como produção humana. Nessa direção, o presente estudo já
parte de uma reflexão teológica contemporânea. A leitura e a importância da teologia
do cotidiano e de um diálogo fronteiriço foram percebidas no curso da pesquisa que
antecede esta, a partir do estudo do pensamento teológico de Rubem Alves, no
mestrado em teologia.1 A teologia é uma arte, um jeito de se contar histórias/estórias
e, ao fazê-lo, de estruturar um universo simbólico.
A superaventura, por sua vez, é uma narrativa própria da era contemporâ-
nea. Enquanto tal, ela se constitui de uma rede imbricada de relações que compre-
endem desde a dinâmica e os processos narrativos até os interesses e as caracte-
rísticas de uma sociedade e de uma estrutura social que nasceu após a Revolução
Industrial. Ao mesmo tempo em que ela integra o conjunto de histórias/estórias que
as pessoas contam para si mesmas e sobre si mesmas, ela está condicionada às
estruturas atinentes ao mercado: precisa vender e, para vender, precisa seduzir; ela
precisa ser um locus que expressa valores, anseios, compartilhados por uma coleti-
vidade, mesmo que alguns destes valores possam ter sido induzidos pela própria
indústria que publica as histórias dos super-heróis. A conjuntura, entretanto, se
complexifica mais, porque, mesmo que se sustente uma postura crítica, não é possí-
vel saber exatamente os diferentes usos que as pessoas no dia a dia possam fazer
dessas narrativas. E a suspeita de Nildo Viana e a de que as pessoas são atraídas a
partir dos anseios do inconsciente coletivo manifestados pelos sonhos de liberdade
e de poder compartilhados por essas narrativas. O fato, em todo o caso, é que a su-
peraventura é uma narrativa impregnada no imaginário popular contemporâneo.
1 Publicada em: REBLIN, Iuri Andréas. Outros cheiros, outros sabores... o pensamento teológico de
Rubem Alves. São Leopoldo: Oikos, 2009. 223p.
21
Os super-heróis são um fenômeno cultural mundial. Enquanto narrativa, a
superaventura é uma leitura de mundo e, assim como a teologia, busca, por meio de
suas estórias, dizer algo ao ser humano sobre si mesmo e sobre o mundo em que
vive. Superaventura e teologia são artes, jeitos, de se contar estórias. E, nessa dire-
ção, a proposta dessa pesquisa é perceber como essas artes, por vezes tão distan-
tes uma da outra, e por vezes tão próximas, se entrelaçam na tentativa de dar um
sentido para a jornada humana ou, ao menos, de corresponder a sentidos social-
mente instituídos, ou, ainda, de reafirmá-los. A ênfase é adentrar na história da su-
peraventura, perceber como funciona sua dinâmica interna, o que faz ela ser o que
é, e como ela pode ser um locus da teologia do cotidiano.
Para tanto, esta pesquisa se divide em três partes:
Em primeiro lugar, ela se ocupa em esboçar um retrospecto da trajetória his-
tórica e crítica da superaventura. Desde que surgiu na primeira metade do século
passado nos Estados Unidos, e tão logo conquistou o globo, a superaventura foi al-
vo de ataques especializados, sobretudo, do psiquiatra alemão naturalizado ameri-
cano Fredric Wertham. O psiquiatra foi um dos críticos mais ferrenhos das histórias
em quadrinhos, o locus vivendi da superaventura. Independente de ter ou não fun-
damentado cientificamente suas argumentações, o fato é que suas críticas, aliadas a
um contexto, à demanda de mercado, influenciaram diretamente o comportamento
das histórias da superaventura. Sob o risco de falência, empresas criaram associa-
ções e um código de ética e autocensura para regulamentar o tipo de conteúdo das
narrativas, o que potencializou ainda mais a visão crítica negativa sobre o gênero e,
antes ainda, sobre o ambiente específico deste gênero: as histórias em quadrinhos.
Esta parte se encerra delineando um panorama da diversidade de pesquisas con-
temporâneas das histórias em quadrinhos em geral e do gênero da superaventura
em particular. Ambas conquistaram seu espaço e se consolidaram como uma forma
de expressão relevante, rica, típica, artística e cultural da era contemporânea.
22
Em segundo lugar, a pesquisa se concentra em recuperar a importância e o
papel das narrativas no processo de constituição do mundo humano e de invenção
do próprio ser humano. A narrativa é o meio primordial pelo qual o ser humano se
faz humano. O processo de socialização, de antropologização do mundo, de fazer e
ter uma história acontece por meio do ato de contar histórias (aqui entendido no sen-
tido amplo, tal como idealizado pelos gramáticos), mediado pela linguagem, habilita-
do pela faculdade imaginativa, de conceber o ideal e de ser capaz de acrescentá-lo
ao real, como apontou Durkheim. O próprio ser humano se constitui enquanto sujeito
(e sujeito de sua história) a partir das histórias herdadas e recebidas, a partir do
momento em que ele é capaz de dizer o que pensa, acredita, espera, teme e de di-
zer o seu porquê. A superaventura participa deste processo, ela é uma expressão
deste processo.
Esta etapa da pesquisa se concentra ainda em verificar noções e compreen-
sões específicas da superaventura que importam na perspectiva dessa necessidade
humana de dizer a sua história, a qual é o ponto inicial de encontro entre a teologia e
a superaventura, à medida que ambas querem dizer a história humana. Nessa dire-
ção, torna-se imprescindível verificar quais são os elementos principais de seu locus
vivendi, as histórias em quadrinhos; isto é, enquanto meio de comunicação, importa
ressaltar aspectos a respeito de como as histórias em quadrinhos contam suas his-
tórias e expressam seus significados. Um passo adiante é compreender as caracte-
rísticas próprias da superaventura, as convenções primárias do gênero e suas apro-
ximações da forma do mito. Mais que um romance de folhetim, a superaventura é
uma narrativa mítica que conta uma história de salvação protagonizada por um he-
rói, que é ritualisticamente rememorada e atualizada aos novos contextos. Enquanto
tal, a superaventura reitera exemplarmente valores e concepções de mundo e traz
23
as características atinentes ao mito. Todo esse exercício de leitura parte e se apro-
funda a partir de uma pesquisa precedente.2
Por fim, em terceiro lugar, a pesquisa retoma concepções elementares da
teologia do cotidiano que servem de pressuposto, enquanto considerações prelimi-
nares, para uma leitura das histórias da superaventura. Aqui a pesquisa se ocupa
em realizar um exercício de leitura de duas histórias específicas: Superman: Paz na
Terra e Shazam: O Poder da Esperança, a fim de verificar como concepções religio-
sas ou argumentações de uma teologia do cotidiano, se articulam e se revelam, ora
de forma explícita, ora de forma mais sutil, nas narrativas da superaventura. Não se
trata de realizar um estudo exegético ou semiológico, mas de estabelecer um diálo-
go e de identificar aproximações entre a teologia e a superaventura. Delineadas as
etapas desta pesquisa bibliográfica exploratória, resta agora virar a página e iniciar a
aventura. Portanto, Para o alto e avante! Para o infinito e além! Ou, se preferir, diga
a palavra e sinta o poder: Shazam!
2 Publicada em: REBLIN, Iuri Andréas. Para o alto e avante: uma análise do universo criativo dos
super-heróis. Porto Alegre: Asterisco, 2008. 128p.
1 SUPERAVENTURA: CONTROVÉRSIAS DO ESTUDO DE UM GÊNERO
As narrativas heroicas possuem uma história que é tão antiga quanto o estabelecimento da socialização humana.
Angela Ndalianis.3
O processo de criação da superaventura é um processo consciente no qual o criador envia uma mensagem na maioria das vezes axiológica.
Nildo Viana.4
Logo nas primeiras páginas de Apocalípticos e Integrados,5 Umberto Eco
ressalta a necessidade do pesquisador acadêmico se debruçar sobre os bens cultu-
rais da chamada “cultura de massa”, a cultura da era contemporânea. Na ocasião,
ele atenta para a recorrência de uma necessidade imanente, mesmo que pratica-
mente desnecessária hoje,6 do pesquisador se justificar pela escolha de seu objeto
de estudo à comunidade acadêmica, sobremaneira, quando este objeto integra a
“cultura de massa”. Segundo Eco, essa necessidade de justificação estaria relacio-
3 NDALIANIS, Angela. Comic Book Superheroes: An introduction. In: NDALIANIS, Angela (Ed.). The
Contemporary Comic Book Superhero. New York/London: Routledge, 2009. p. 3. (p. 3-15) (Routledge Research in Cultural and Media Studies; 19): “Heroic narratives have a history that’s as old as that of the establishment of human socialization”. (Tradução Própria)
4 VIANA, Nildo. Heróis e Super-heróis no mundo dos quadrinhos. Rio de Janeiro: Achiamé, 2005. p. 61. 5 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. 6 ed. 1. reimpr. São Paulo: Perspectiva, 2004. 386p. 6 Segundo Waldomiro Vergueiro, “História em quadrinhos é Arte. E ponto final. Isso quer dizer que
não é mais necessário pedir desculpas por estudar os quadrinhos academicamente, que desen-volver tal atividade deixou de representar qualquer tipo de heresia ou atentado contra a seriedade da pesquisa universitária” [VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo. Introdução. In: VERGUEI-RO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). Muito Além dos Quadrinhos: análises e reflexões sobre a 9ª arte. São Paulo: Devir, 2009. p. 7. (p. 7-12) Grifo no original].
26
nada à divulgação de conceitos genéricos aplicados ao fenômeno cultural da era
contemporânea, os quais acabaram por condicionar e reger a visão da comunidade
acadêmica (e não apenas desta) sobre tais produções culturais. Nessa direção, o
principal desafio a ser enfrentado pelo pesquisador não seria o estudo em si de de-
terminado bem cultural, mas saber driblar os conceitos genéricos, chamados de
conceitos-fetiche, que delinearam a visão da academia sobre tais bens: massa, ho-
mem-massa, indústria cultural, sociedade de massa, cultura de massa.
Esses conceitos-fetiche foram propagados por dois grupos de linhas de pen-
samento não concorrentes, mas complementares, que Eco chamou de “apocalípti-
cos” e “integrados”. O apocalíptico seria o crítico da cultura de massa que identifica-
ria na cultura de massa a erosão de um ideal cultural calcado na erudição e na aris-
tocracia. Nesse processo, os bons valores da intelectualidade se desvaneceriam
diante da obtusidade do ser humano ordinário; a unicidade de legítimas obras de
arte daria lugar à reprodução em série e à derrocada do valor artístico. Por sua vez,
o integrado seria aquele que identificaria na cultura de massa a socialização de in-
formações e a ampliação da própria cultura por meio da variedade de bens culturais
disponibilizada a todos. Ao passo que o apocalíptico teorizaria sobre a decadência
da cultura e dissentiria da cultura de massa, o integrado a operaria, produziria e emi-
tiria sua mensagem por meio dela.7 “A imagem do Apocalipse ressalta dos textos
sobre a cultura de massa; a imagem da integração emerge da leitura dos textos da
cultura de massa”.8 Nessa direção, apocalípticos e integrados não seriam opostos
que se autoexcluem, mas atitudes complementares e dinâmicas que permeiam as
posições da crítica da cultura popular e estão imbricadas na complexidade das rela-
ções dos bens culturais com as pessoas no dia a dia. Ambos são responsáveis pela
difusão e pela sedimentação de conceitos incapazes de expressar a complexidade
do fenômeno cultural contemporâneo.
7 ECO, 2004, p. 9. 8 ECO, 2004, p. 9.
27
Para Umberto Eco, apocalípticos e integrados revelam a sinuosidade dos
entrelaçamentos sociais atinentes aos bens culturais da era contemporânea. Por um
lado, a assim denominada “cultura de massa” é um reflexo da universalização do
acesso aos bens culturais, possibilitados pelo desenvolvimento dos processos indus-
triais. Embora esses bens tivessem em sua origem a intenção de pacificar, provocar
sentimentos específicos e divertimento evasivo, eles contribuíram para a alfabetiza-
ção e o “nascimento do igualitarismo político e civil”.9 Por outro lado, a “cultura de
massa” não se refere apenas aos bens culturais produzidos popularmente, a cha-
mada “cultura popular”, mas, sobretudo, àquela confeccionada e imposta vertical-
mente e propagada pelos veículos de comunicação a consumidores indefesos.10 “A
existência de uma categoria de operadores culturais que produzem para as massas,
usando na realidade as massas para fins de lucro, ao invés de oferecer-lhes reais
ocasiões de experiência crítica, é um fato assente”.11 Nessa direção, a tensão entre
o apocalíptico e o integrado acontece na relação dialética de ambos os pensamen-
tos: Por um lado, o apocalíptico está aí para denunciar a má fé por trás da ideologia
otimista do integrado. Por outro lado, o integrado está aí para lembrar ao apocalípti-
co a integração e a universalização de informações, de bens culturais; de que a
“massa” é agora protagonista da história. Nessa dinâmica, a posição de Eco é a
mesma assumida por Marx e Engels (citado de forma livre em Apocalípticos e Inte-
grados) diante dos teóricos da massa: “Se o homem é formado pelas circunstâncias,
devemos tornar humanas as circunstâncias”.12 Em outras palavras, Eco defende que
é necessário sustentar uma leitura crítica que dê conta da ambiguidade e da com-
9 ECO, 2004, p. 14: “Mesmo porque não é casual a concomitância entre civilização do jornal e civili-
zação democrática, conscientização das classes subalternas, nascimento do igualitarismo político e civil, época das revoluções burguesas. Mas por outro lado também não é casual que quem lidera profunda e coerentemente a polêmica contra a indústria cultural faça o mal remontar não à primei-ra emissão de TV, mas à invenção da imprensa; e, com ela, às ideologias do igualitarismo e da soberania popular. Na realidade, o uso indiscriminado de um conceito-fetiche como esse de ‘in-dústria cultural’, implica, no fundo, a incapacidade mesma de aceitar esses eventos históricos, e —com eles — a perspectiva de uma humanidade que saiba operar sobre a história”.
10 ECO, 2004, p. 24-27. 11 ECO, 2004, p. 19. 12 MARX apud ECO, 2004, p. 19. Trata-se de uma frase do texto escrito em conjunto com Friedrich
Engels em A Sagrada Família ou a crítica da Crítica crítica: contra Bruno Bauer e consortes. Cf. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família ou A crítica da Crítica crítica: contra Bruno Bauer e consortes. São Paulo: Boitempo, 2003. p. 149.
28
plexidade da “cultura de massa”, expressas na relação dialética entre integrados e
apocalípticos.13 Em todo o caso,
O universo das comunicações de massa é — reconheçamo-lo ou não — o nosso universo; e se quisermos falar de valores, as condições objetivas das comunicações são aquelas fornecidas pela existência dos jornais, do rádio, da televisão, da música reproduzida e reproduzível, das novas formas de comunicação visual e auditiva. Ninguém foge a essas condições, nem mesmo o virtuoso, que, indignado com a natureza inumana desse universo da informação, transmite o seu protesto através dos canais de comunicação de massa, pelas colunas do grande diário, ou nas páginas do volume em paperback, impresso em linotipo e difundido nos quiosques das estações.14
Por serem bens culturais da “cultura de massa” e participarem ativamente do
universo das comunicações de massa, as narrativas dos super-heróis sempre pro-
vocaram na comunidade acadêmica perguntas acerca da relevância do estudo de
suas narrativas e, em um contexto maior, das histórias em quadrinhos em geral.
Desse modo, desde o seu surgimento, as histórias em quadrinhos como um todo e,
nelas, as narrativas dos super-heróis estiveram envoltas em polêmicas e debates
científicos que as condenaram tanto enquanto produto artístico, cultural e literário
quanto ao tipo de narrativa que ela sustenta; isto é, narrativas que têm a intenção de
13 Nas páginas 33 a 67 de Apocalípticos e Integrados, Umberto Eco desenvolve as arguições em
torno da cultura de massa, debruçando-se sobre a argumentação de Dwight MacDonald e suas consequências, o qual distinguiu três níveis intelectuais da cultura e equilibrou o debate sobre a cultura de massa. Além disso, ele contrapõe os argumentos dos críticos e dos defensores da cul-tura de massa. Por um lado, a argumentação dos críticos — dos apocalípticos — acusa a cultura de massa e a comunicação de massa de a) homogeneizarem gostos; b) aniquilarem as caracterís-ticas culturais de cada povo; c) estarem direcionadas a um público que não tem consciência de si; d) serem conservadoras; e) provocarem sensações específicas; f) condicionarem preferências por meio das leis de mercado; g) reduzirem o impacto e h) nivelarem os bens culturais “superiores”; i) promoverem uma visão acrítica do mundo; j) entorpecerem a consciência histórica; k) atraírem a-penas superficialmente a experiência estética; l) imporem e criarem símbolos e mitos universais; m) reafirmarem o senso comum; n) desenvolverem e propagarem modelos oficiais; e, por fim, o) se apresentarem como instrumentos educativos destituídos de criticidade. Por outro lado, a cultura de massa é resultado de uma sociedade industrializada e não, necessariamente, de uma socieda-de capitalista; ela não aniquilou uma “cultura superior”, mas, antes, se propagou pela parcela da população que não tinha acesso aos bens culturais. A cultura de massa escancara a ideologia a-ristocrática de quem a critica; os produtos de entretenimento não são necessariamente um sinal da decadência de costumes; o acervo de informações que ela disponibiliza não possui critérios de discriminação; a cultura de massa não é conservadora, ela inova estilística e culturalmente e ela dá acesso a bens culturais antes inalcançáveis. (Cf. ECO, 2004, p. 44-48). É importante salientar que este texto não tem por foco polemizar a problemática em torno da “cultura de massa”, tema suficientemente discutido em outros trabalhos, mas sim verificar como a superaventura tem se comportado enquanto “cultura de massa”. Segundo Eco, o problema elementar da “cultura de massa” é que “ela é hoje manobrada por ‘grupos econômicos’ que miram fins lucrativos, e realiza-da por ‘executores especializados’ em fornecer ao cliente o que julgam mais vendável, sem que se verifique uma intervenção maciça dos homens de cultura na produção”. (ECO, 2004, p. 50-51).
14 ECO, 2004, p. 11.
29
provocar sentimentos específicos em seus leitores e suas leitoras, de forjar uma mo-
ralidade oficial por meio do divertimento evasivo e da divulgação de estereótipos, tal
como argumentado pelos apocalípticos.
Mesmo que a partir da década de 1960 as histórias em quadrinhos começa-
ram paulatinamente a ser percebidas sob outro enfoque, nitidamente mais positivo
que o anterior, por parte de estudiosos da cultura, a resistência de se ocupar com
esse objeto nas academias das ciências humanas ainda persiste. Quando tal estudo
ocorre, sustenta-se a preferência por produções que escapam das leis de mercado
— os quadrinhos independentes, autorais — ou por aqueles que possuem um reco-
nhecimento mais cult, subversivo ou contestador, tal como os quadrinhos europeus,
a Mafalda de Quino, o Minduim de Charles Schulz, ou quadrinhos com outras finali-
dades.15 Isso não acontece com as narrativas dos super-heróis, justamente pelo fato
de elas terem sido as responsáveis por consolidar as histórias em quadrinhos en-
quanto produto de consumo lucrativo autônomo (ou seja, definitivamente, não mais
como encarte de jornal). Isto é, as narrativas dos super-heróis são vistas como uma
expressão de tudo aquilo que os apocalípticos alvejam.16 Entretanto, na leitura de
Umberto Eco, a pesquisa científica e o debate crítico sobre determinado bem cultural
não devem ser definidos e avaliados a partir do objeto, mas a partir do método.17
Uma das objeções que se movem a pesquisas desse gênero [...] é a de te-rem acionado um aparelhamento cultural exagerado para falarem de coisas de mínima importância, como uma estória em quadrinhos do Superman ou uma cançoneta de Rita Pavone. Ora, a soma dessas mensagens mínimas que acompanham nossa vida cotidiana constitui o mais aparatoso fenômeno cultural da civilização em que somos chamados a atuar. Do momento em que se aceita fazer dessas mensagens objeto de crítica, não haverá instru-
15 Essa diferenciação entre os quadrinhos da indústria cultural e os demais quadrinhos também é
uma percepção de Waldomiro Vergueiro: “(seria possível até argumentar que os objetivos do uni-verso de produção não massiva são muito mais nobres do que os da indústria, mas aí se mergu-lharia numa discussão interminável [...])” [VERGUEIRO, Waldomiro. Quadrinhos e educação popu-lar no Brasil: considerações à luz de algumas produções nacionais. In: VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). Muito Além dos Quadrinhos: análises e reflexões sobre a 9ª arte. São Paulo: Devir, 2009. p. 84. (p. 83-112)].
16 MOYA, Álvaro de. “Os quadrinhos criaram a mitologia do século XX”. Entrevista com Álvaro de Moya. IHU On-Line: Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, ano 7, n. 243, p. 7-11, 12.11.2007. p. 8.
17 ECO, 2004, p. 30.
30
mento inadequado, e elas deverão ser experimentadas como objetos dignos da máxima consideração.18
As narrativas dos super-heróis são um bem cultural da era contemporânea.
Elas são “cultura de massa” e, como tal, elas ocupam diversos espaços da vida so-
cial, e a maioria desses espaços está vinculada ao entretenimento e ao consumo.
Filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos, parques de diversões, brin-
quedos, fantasias e uma infinidade de produtos com a marca dos personagens mais
queridos estão à disposição das pessoas. As pessoas se divertem lendo ou assistin-
do suas histórias, encenando batalhas em convenções ou feiras, comprando roupas,
acessórios, brinquedos, souvenires e qualquer coisa relacionada às narrativas ou,
antes, aos personagens. As narrativas dos super-heróis permeiam ecleticamente o
ambiente do cotidiano. Elas participam ativamente da gama cultural da era contem-
porânea. Isso significa que, mesmo que existam pessoas que desconheçam as nar-
rativas dos super-heróis ou os personagens em si, a probabilidade de nunca terem
se esbarrado com algum produto cultural ou bem de consumo que carregue a marca
de um super-herói é muito remota. Segundo Richard Reynolds, os super-heróis são
os personagens fictícios mais conhecidos mundo afora, sobretudo, por terem sido
transportados pelos filmes e pela televisão.19 Já Danny Fingeroth chega a afirmar
que “o super-herói se envolveu em nossa consciência coletiva ao ponto onde pode
não mais nos interessar de onde o conceito originalmente veio”.20 Numa perspectiva
um pouco distinta, Christopher Knowles assevera ainda que “toda cultura tem seus
super-heróis”.21 Portanto, as narrativas dos super-heróis estão “por aí”; elas se inse-
rem no conjunto de produções (culturais, artísticas, de consumo) que integram a vi-
da social cotidiana.
18 ECO, 2004, p. 29-30. 19 REYNOLDS, Richard. Superheroes: a modern mythology. Jackson, MS: University Press of Mississip-
pi, 1992. p. 7. 20 FINGEROTH, Danny. Superman on the couch: what superheroes really tell us about ourselves and
our society. New York/London Continuum, 2008. p. 45: “The superhero has evolved in our collec-tive consciousness to the point where it may not even matter where the concept originally came from”. (Tradução Própria)
21 KNOWLES, Christopher. Nossos deuses são super-heróis: a história secreta dos super-heróis das histórias em quadrinhos. São Paulo: Cultrix, 2008. p. 43.
31
Se, pois, as narrativas dos super-heróis são uma expressão nítida da cultura
da era contemporânea e, como tais, transitam pelos meios de comunicação de mas-
sa e carregam uma mensagem (são histórias que contam algo); elas também estão
envolvidas nas polêmicas que tensionam e formam a crítica acerca dos bens cultu-
rais da era contemporânea. Conforme já indicado, as narrativas dos super-heróis
não fogem dos debates entre apocalípticos e integrados e, nessa direção, elas não
se tornam apenas alvos ou ilustrações de arguições. Os próprios argumentos, o en-
torno das polêmicas, suas consequências e seu impacto social influenciam as narra-
tivas e a sua elaboração, por causa da complexidade das relações que se imbricam
na constituição desses bens culturais. Isto é, não se trata apenas de uma história
que cativa intencionalmente uma audiência; é uma história que é modificada conti-
nuamente de acordo com o feedback que ela gera, tanto por parte da crítica quanto
por parte do público. Uma produção seriada como uma história em quadrinhos, uma
novela ou um seriado de televisão sofre alterações contínuas para manter sua cor-
respondência com o interesse de uma audiência; isto é, ela é suscetível às dinâmi-
cas da lei de mercado, que, por sua vez, tenta driblar continuamente as críticas tanto
de intelectuais quanto de consumidores em geral.
Nesse sentido, o debate acerca do impacto, do lugar, da influência das nar-
rativas dos super-heróis na vida social cotidiana e das consequências dessa influên-
cia percorreu diversos âmbitos do saber e repercutiu significativamente no compor-
tamento das pessoas e da academia diante dessas narrativas. E um dos catalisado-
res desse debate foi, sem dúvida, a publicação do livro A Sedução do Inocente, em
1954, do psiquiatra alemão Fredric Wertham.22 O livro foi a coroação das críticas
que Wertham vinha fazendo contra as histórias em quadrinhos desde o final da dé-
cada de 1940. Estas críticas desencadearam uma repercussão enorme nos Estados
Unidos e, em parte, em outros países consumidores de histórias em quadrinhos.
Nos Estados Unidos, exemplares chegaram a ser queimados em público, e muitos
22 WERTHAM, Fredric. Seduction of the Innocent. 2. ed. New York/Toronto: Rinehart & Company,
1954. 397p.
32
distribuidores devolveram o material às editoras. Inclusive, uma subcomissão de in-
vestigação das histórias em quadrinhos foi instituída pelo Congresso dos Estados
Unidos para averiguar o conteúdo que estava sendo publicado.23 Especificamente,
tratava-se do Subcomitê sobre Delinquência Juvenil do Senado dos Estados Unidos
da América.24 Essa repercussão estava associada tanto às críticas diretas do livro
do psiquiatra (assim como outros artigos menores e entrevistas) que acusavam as
histórias em quadrinhos de serem as causadoras da delinquência juvenil, quanto à
sua reputação na sociedade estadunidense.25 De acordo com Bart Beaty, Fredric
Wertham era “um especialista bem conhecido e amplamente respeitado nas áreas
de psiquiatria, criminalidade, delinquência juvenil e direitos civis”,26 reconhecimento
resultante de anos de pesquisa e de dedicação para desvendar os segredos do cé-
rebro e do comportamento humano. Como Wertham acusou diretamente as histórias
em quadrinhos de serem responsáveis pela erupção da delinquência juvenil no perí-
odo pós-guerra, o Subcomitê concentrou sua investigação sobre elas, sobretudo,
sobre os quadrinhos de crime e horror, principal alvo de Wertham e sucesso de ven-
da na época.
Wertham não influenciou apenas o governo dos Estados Unidos. Diversos
especialistas, pais e professores assumiram para si os argumentos do psiquiatra,
condenando as histórias em quadrinhos e proibindo seus filhos e suas filhas de le-
rem-nas. As consequências foram diversas. Por um lado, as editoras cancelaram
23 OPPERMANN, Álvaro. O doutor que odiava heróis. Superinteressante, São Paulo: Abril, edição
201, p. 32, jun. 2004. p. 32. 24 TRINDADE, Levi. DC e a Era de Ouro. In: COLEÇÃO DC 75 ANOS. São Paulo: Panini, 2010, v.1.
p. 6-8. p. 8. 25 Segundo Bart Beaty, Fredric Wertham nasceu na Alemanha em 1885 e se tornou médico pela
Universidade de Würzburg em 1921. Realizou pós-graduação em psiquiatria em Viena, Londres e Paris e se tornou assistente do professor Emil Kraepelin, um dos grandes especialistas da fisiolo-gia cerebral nos estudos da psicopatologia. Wertham mudou-se para os Estados Unidos em 1922 e recebeu cidadania estadunidense em 1927. Foi o primeiro psiquiatra a receber nos Estados Uni-dos uma bolsa de estudos do Conselho Nacional de Pesquisa. Lecionou em diversas academias estadunidenses e se tornou também diretor da Clínica de Saúde Mental Bellevue, de Nova York, e, mais tarde, diretor da psiquiatria do Centro Hospitalar do Queens, onde permaneceu até se a-posentar em 1952. Atuou como especialista em julgamentos criminais e publicou diversos estudos nas áreas de fisiologia cerebral e psiquiatria forense. BEATY, Bart. Fredric Wertham and the cri-tique of mass culture. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2005. p. 16-17.
26 BEATY, 2005, p. 3: “[…] well-known and widely-respected expert in the areas of psychiatry, crimi-nality, juvenile delinquency and civil rights”. (Tradução Própria)
33
diversos títulos, tiveram que repensar sua linha de publicações e criaram inclusive
um código de ética e autocensura do que seria publicado, o Comics Code Authority,
com o intuito de recuperar paulatinamente o prestígio de suas publicações junto ao
público-leitor. Por outro lado, o debate gerou uma percepção ambígua das histórias
em quadrinhos como um todo e das narrativas dos super-heróis em específico entre
os estudiosos e o público-leitor. Há tanto aqueles que assumiram uma postura simi-
lar ao pensamento de Fredric Wertham quanto há aqueles que o contestaram. Mais
estudos foram desenvolvidos ao longo dos anos que se sucederam à publicação do
livro, e o posicionamento científico se alterou significativamente com o surgimento
dos Estudos Culturais na Inglaterra. O panorama contemporâneo é muito mais posi-
tivo que o de décadas atrás.
Diante disso, o objetivo deste capítulo é delinear um panorama do debate
acerca da superaventura ao longo de seu quase um século de existência, a fim de
verificar como a relação entre a crítica às narrativas dos super-heróis e a dinâmica
editorial foi se estabelecendo ao longo dos anos e transformando tanto o gênero da
superaventura quanto a visão sobre ele. Esse panorama também ilustra como as
narrativas da superaventura vão se constituindo enquanto bem cultural da era con-
temporânea até se firmarem como um gênero próprio, como parte do imaginário cul-
tural. Para tanto, o capítulo se divide em três partes: Na primeira, o texto se debruça
sobre o conteúdo do livro A Sedução do Inocente, de Fredric Wertham, abordando
os temas elementares atinentes às narrativas dos super-heróis e sua repercussão. A
segunda parte introduz a criação do código de ética das histórias em quadrinhos, o
Comics Code Authority, e indica como este contribuiu para o desprestígio acadêmico
desencadeado pelo debate sobre o conteúdo e a política de autocensura. Por fim, o
capítulo apresenta algumas possibilidades de análise que vão sendo desenvolvidas,
a partir do instante em que os Estudos Culturais foram modificando paulatinamente
a forma de se perceber e de se abordar os bens culturais da era contemporânea.
Esse panorama é importante para a preparação de uma leitura crítica que dê conta
da ambiguidade e da complexidade imbricadas no gênero da superaventura, tal co-
34
mo proposta por Eco, tornando possível vislumbrar como acontece a tensão criativa
em torno de um produto da “cultura de massa” como a narrativa dos super-heróis.
1.1 A SEDUÇÃO DO INOCENTE E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS
Em seu livro A Sedução do Inocente, redigido numa linguagem relativamente
simples e persuasivamente descritiva, repleto de relatos de conversas com crianças,
jovens e pais, Fredric Wertham assevera que as histórias em quadrinhos e, nelas, as
narrativas dos super-heróis promovem delinquência juvenil, homossexualidade, vio-
lência, crime, sadismo, uso de drogas. Segundo o psiquiatra, as histórias em quadri-
nhos e, particularmente, as histórias de crime e horror modelam o comportamento e
as preferências de crianças e jovens. Estas estão à mercê do conteúdo propagado
por esse tipo de mídia e sujeitas a serem seduzidas por esse conteúdo pela forma
com que é difundido. Nesse sentido, as histórias em quadrinhos se tornam extre-
mamente antieducacionais. Mais ainda, elas interferem na saúde mental das crian-
ças.27 O fato de as crianças passarem duas a três horas diárias lendo histórias em
quadrinhos recheadas de cenas de violência e de propaganda bélica é preocupante,
pois as crianças podem sucumbir às sugestões propostas nas narrativas.
Muitos adultos pensam que os crimes descritos nas histórias em quadrinhos estão distantes da vida das crianças, que, para as crianças, eles são mera-mente algo imaginativo ou fantástico. Mas nós achamos que isso é um grande erro. Quadrinhos e vida estão conectados. Um assalto a banco é fa-cilmente traduzido para o furto de uma loja de doces. Delinquências restritas anteriormente a adultos estão sendo cada vez mais cometidas por jovens e crianças. 28
Quando isso acontece, a punição decorrente do delito aplicada a uma crian-
ça se torna, muitas vezes, muito pior que a punição de um adulto, pois as crianças
condenadas judicialmente por crimes são afastadas de suas famílias e encaminha-
27 WERTHAM, 1954, p. 89ss. 28 WERTHAM, 1954, p. 25: “Many adults think that the crimes described in comic books are so far
removed from the child's life that for children they are merely something imaginative or fantastic. But we have found this to be a great error. Comic books and life are connected. A bank robbery is easily translated into the rifling of a candy store. Delinquencies formerly restricted to adults are in-creasingly committed by young people and children”. (Tradução Própria)
35
das a reformatórios. E a estrutura dos reformatórios e as situações de confronto e de
crueldade que podem ocorrer neles são capazes de causar danos permanentes a
crianças e adolescentes.29 “As histórias em quadrinhos não são um espelho da men-
te da criança; elas são um espelho do ambiente da criança. Elas são parte da reali-
dade social”.30 Para Wertham, as histórias em quadrinhos são prejudiciais por não
haver uma agência de censura que fiscalize as produções.
Embora Wertham aborde as histórias em quadrinhos em geral, as narrativas
dos super-heróis recebem um enfoque significativo ao lado das histórias de crime e
de horror, o principal objeto de discussão do psiquiatra. Isso não apenas porque as
narrativas dos super-heróis abrangem temas que englobam o suspense, a ficção
científica, o policial, o sensual, o sobrenatural e até mesmo, em alguns casos, o hor-
ror; mas sim por se tratar de um gênero relacionado ao gênero do crime e por ser
responsável por uma grande fração do mercado de quadrinhos. “O grupo Superman-
Batman-Mulher Maravilha é uma forma especial de quadrinhos de crime. Os anún-
cios de armas são elaborados e realistas”.31
Uma das diferenças significativas das narrativas dos super-heróis para as
histórias de crime é o fato de os personagens não apenas possuírem superpoderes,
mas de usarem disfarces e de estarem, por ambos os motivos, acima da lei. Mesmo
que os super-heróis respeitem as leis nacionais, o uso de máscaras impede que es-
tejam sujeitos às mesmas leis. Wertham critica a ação dos personagens de realizar a
justiça “com as próprias mãos”, isto é, de atuar à margem dos sistemas sociais de
justiça ou de garantia da ordem e, assim, desacreditar a moral e o direito democráti-
co. “A forma em que esta desconfiança do direito democrático e da moralidade, ao
tomar a punição — ou, antes, a vingança — em suas próprias mãos, fez mais dano
29 WERTHAM, 1954, p. 10-13. 30 WERTHAM, 1954, p. 117: “Comic books are not a mirror of the individual child's mind; they are a
mirror of the child's environment. They are a part of social reality”. (Tradução Própria) 31 WERTHAM, 1954, p. 33: “This Superman-Batman-Wonder Woman group is a special form of crime
comics. The gun advertisements are elaborate and realistic.” (Tradução Própria)
36
ao desenvolvimento ético de jovens é a presunção do Superman”.32 Mais adiante,
ele explica: “A presunção do Superman dá a meninos e meninas a sensação de que
a ação cruel de ir e pegar baseada na força física ou no poder de armas ou máqui-
nas é a forma desejável de se comportar”.33
Para Wertham, o fato de os super-heróis atuarem paralelamente aos instru-
mentos de controle e de justiça do Estado e de não se sujeitarem a esses, por meio
do uso de máscaras que escondem a pessoa do super-herói, é prejudicial para a
manutenção de princípios e regras que regem uma coletividade, uma sociedade.
Afinal, mesmo que os princípios do super-herói estejam baseados em uma moral
constituída coletivamente, sua ação é regida por seus próprios princípios. No final de
tudo, é o próprio super-herói quem decide o que é certo ou errado e é ele quem de-
cidirá o futuro da pessoa — criminosa, no caso — que está em suas mãos. Isso é
evidente em algumas histórias do Demolidor, nas quais o personagem — que atua
como advogado durante o dia — caça os criminosos que conseguem driblar o siste-
ma judiciário e são inocentados pela corte.34
Na realidade, o Superman (com o grande S no seu uniforme — nós deverí-amos, eu suponho, estar agradecidos que não seja um S.S.) precisa de uma corrente interminável de novos sub-homens, criminosos e pessoas de “aparência estranha” para não apenas justificar sua existência, mas mesmo para torná-la possível. É essa característica que gera nas crianças ou uma ou outra de duas atitudes: ou elas se imaginam como super-homens, com preconceitos concomitantes contra os sub-homens, ou ela os torna submis-sas e receptivas aos agrados de homens fortes que resolverão todos os seus problemas sociais por elas — por meio da força.35
32 WERTHAM, 1954, p. 96: “The form in which this distrust for democratic law and the morality of
taking punishment — or rather vengeance — into one's own hands has done most harm to the eth-ical development of young people is the superman conceit”. (Tradução Própria)
33 WERTHAM, 1954, p. 97: “The superman conceit gives boys and girls the feeling that ruthless go-getting based on physical strength or the power of weapons or machines is the desirable way to behave”. (Tradução Própria)
34 Essa situação também é reproduzida no filme de 2003. Após uma perseguição, o criminoso cai sobre os trilhos do metrô e morre atropelado pela composição. O super-herói não faz nada para resgatá-lo. Cf. JOHNSON, Mark Steven. Demolidor: O Homem sem Medo. EUA: Twentieth Cen-tury Fox/Regency Enterprises/Marvel Enterprises, Inc./ New Regency/Horseshoe Bay: Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2003. DVD Video (103min). Edição Especial com 2 discos.
35 WERTHAM, 1954, p. 34: “Actually, Superman (with the big S on his uniform – We should, I sup-pose, be thankful that it is not an S.S.) needs an endless stream of ever new submen, criminals and ‘foreign-looking’ people not only to justify his existence but even to make it possible. It is this feature that engenders in children either one or other of two attitudes: either they fantasy them-selves as supermen, with the attendant prejudices against the submen, or it makes them submis-sive and receptive to the blandishments of strong men who will solve all their social problems for them – by force.” (Tradução Própria)
37
Para Wertham, ao atuarem como vigilantes na sociedade, os super-heróis
não provocam apenas a descrença na moral e no direito democrático, eles também
podem instigar o preconceito e a passividade. As pessoas deixariam de assumir
uma determinada postura e passariam a esperar que alguém fizesse isso por elas.
Segundo o autor, elas também não se importariam mais com a forma com que as
atitudes seriam tomadas. Em outras palavras, haveria o princípio maquiavélico “o fim
justifica os meios” implícito.
Além disso, os super-heróis distorcem as leis da física, por meio do uso de
seus superpoderes. “Superman não apenas desafia as leis da gravidade, a qual seu
grande poder torna imaginável; em adição, ele dá às crianças uma ideia completa-
mente errada de outras leis básicas da física”.36 As incongruências extremas entre
as narrativas e as leis das ciências naturais ilustradas por Wertham são as ações do
Superman de erguer um prédio enquanto ele está voando e de parar um avião em
pleno voo.37 Essa crítica sobre a inverossimilhança científica nas histórias não é di-
recionada apenas ao Superman, mas a inúmeros personagens com superpoderes
que executam proezas impossíveis segundo as leis das ciências naturais.38 Nesse
sentido, as histórias dos super-heróis seriam totalmente desinformativas.
Wertham questiona ainda o papel das histórias em quadrinhos na represen-
tação do masculino e do feminino. Ele contra-argumenta a afirmação de que as his-
tórias em quadrinhos expressam uma equidade entre o papel social de homens e
mulheres. Para o psiquiatra, não existe nenhuma compreensão avançada do mascu-
36 WERTHAM, 1954, p. 34: “Superman not only defies the laws of gravity, which his great strength
makes conceivable; in addition he gives children a completely wrong idea of other basic physical laws.” (Tradução Própria)
37 WERTHAM, 1954, p. 34. 38 O tema da plausibilidade científica no universo dos super-heróis é um assunto recorrente de tem-
pos em tempos em publicações especializadas ou periódicos de entretenimento, em todo o caso, sem o acento crítico utilizado por Wertham, mas como curiosidade. Nessa direção, uma das pes-quisas mais recentes é o livro de Lois Gresh e Robert Weinberg. (GRESH, Lois; WEINBERG, Ro-bert. A Ciência dos Super-heróis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. 230p.) O livro tem a pretensão de provocar o leitor a imaginar o funcionamento das leis das ciências naturais caso os super-heróis existissem de fato. Uma resenha pode ser conferida em: REBLIN, Iuri Andréas. Entre o possível e o impossível: a ciência dos super-heróis. Revista Espaço Acadêmico, Maringá, n. 81, fev. 2008. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/081/81res_reblin.htm>. Acesso em: 02 abr. 2011.
38
lino e do feminino, mas um retrocesso perverso.39 Mais ainda, as histórias em qua-
drinhos estimulam (e aqui o tom é de acusação) as relações homoafetivas masculina
e feminina, representado na relação entre Batman e Robin e nas histórias da Mulher
Maravilha.
Para Wertham, as histórias da assim chamada Dupla Dinâmica seriam um
retrato de uma relação homoafetiva, expressa tanto nos diálogos quanto nos dese-
nhos das narrativas. Os argumentos que justificariam essa asseveração seriam o
fato de Batman e Robin viverem situações de perigo extremo e de eles poderem
contar com a dedicação um do outro para se livrarem das armadilhas dos inimigos e
de Bruce Wayne (alterego de Batman) não se interessar realmente por nenhuma
personagem feminina específica. Na verdade, a personagem feminina recorrente
seria a vilã Mulher-Gato, descrita por Wertham como “antifeminista”.40 O rótulo pre-
conceituoso do homossexualismo aplicado a Batman e Robin se consolidou.
Já as histórias da Mulher Maravilha seriam uma espécie de uma “versão fe-
minina” das histórias de Batman. Se o tom nas histórias deste é “antifeminino”, nas
histórias daquela é “antimasculino”,41 sobretudo, pelo fato da dinâmica nas histórias
se concentrar na relação da personagem com seu círculo de seguidoras. O desen-
volvimento da narrativa prioriza a relação entre os personagens principais, os super-
heróis e seus sidekicks (parceiros) que são, geralmente, do mesmo sexo. Os side-
kicks são parceiros de ação que conhecem a identidade secreta do super-herói, o
39 WERTHAM, 1954, p. 233. 40 WERTHAM, 1954, p. 191: “O tipo de história do Batman pode estimular fantasias homossexuais
nas crianças, de natureza que elas podem ser inconscientes. Em adolescentes que as percebem, elas podem dar um estímulo e um reforço adicionais”. [“The Batman type of story may stimulate children to homosexual fantasies, of the nature which they may be unconscious. In adolescents who realize it they may give added stimulation and reinforcement”. (Tradução Própria)].
41 WERTHAM, 1954, p. 193: “Para os meninos, a Mulher Maravilha é uma imagem assustadora. Para as meninas, ela é um ideal mórbido. Onde o Batman é antifeminino, a atraente Mulher Mara-vilha e as suas contrapartes são definitivamente antimasculinas. A Mulher Maravilha possui suas próprias seguidoras. Todas elas são continuamente ameaçadas, capturadas e quase postas para a morte. Existe um grande acordo de resgate mútuo, o mesmo tipo de fantasias de salvamento que em Batman”. [“For boys, Wonder Woman is a frightening image. For girls she is a morbid ideal. Where Batman is anti-feminine, the attractive Wonder Woman and her counterparts are definitely anti-masculine. Wonder Woman has her own female following. They are all continuously being threatened, captured, almost put to death. There is a great deal of mutual rescuing, the same type of rescue fantasies as in Batman” (Tradução Própria)].
39
que possibilita outro tipo de relação em termos de estrutura da narrativa. São perso-
nagens próximos e cúmplices. Enfim, para o psiquiatra, nas histórias em quadrinhos,
quando não há uma relação homossexual envolvida, os homens são geralmente as-
sexuados em sua relação com as mulheres,42 e as mulheres são “[...] exatamente o
oposto daquilo que as meninas deveriam querer ser”.43 Nas palavras do autor,
Quanto à “feminilidade avançada”, quais são as atividades nas histórias em quadrinhos nas quais as mulheres “entram em pé de igualdade com os ho-mens”? Elas não trabalham. Elas não são donas de casa. Elas não carre-gam uma família. O amor maternal é totalmente ausente. Mesmo quando a Mulher Maravilha adota uma menina, há conotações lésbicas. Elas são ou supermulheres voando pelo ar, pouco vestidas ou uniformizadas, levando a melhor sobre nativos hostis, animais ou homens impiedosos, atuando tal como a Mulher Maravilha num cenário fascista-futurista; ou elas são prosti-tutas ou prêmios a serem empurrados e sadisticamente abusados. Em ne-nhuma outra literatura para crianças a imagem da mulher foi tão degrada-da.44
E, mais adiante, o psiquiatra continua, ao afirmar que
O protótipo da supermulher com a “feminilidade avançada” é a Mulher Ma-ravilha. A Mulher Maravilha não é uma filha natural de uma mãe natural, nem nasceu como Atenas da mente de Zeus. Ela foi inventada como uma fórmula de venda. Seu criador, um psicólogo mantido pela indústria [de quadrinhos], a descreveu assim: “Quem quer ser uma menina? E esse é o ponto. Nem mesmo as meninas querem ser meninas... A solução óbvia é criar uma personagem feminina com toda a força do Superman... Dê (aos homens) uma mulher sedutora mais forte que eles mesmos para eles se submeterem [a ela] e eles ficarão orgulhosos em se tornar seus escravos dispostos”. Nem o folclore, nem a sexualidade normal ou mesmos os livros de criança vão por esse caminho. Se fosse possível traduzir uma figura de
42 WERTHAM, 1954, p. 233. 43 WERTHAM, 1954, p. 34: “[…] the exact opposite of what girls are supposed to want to be”. O con-
texto completo desta afirmação é igualmente interessante: “A supermulher (Mulher Maravilha) é sempre um tipo de horror. Ela é fisicamente muito poderosa, ela tortura homens, tem suas pró-prias seguidoras, é a mulher ‘fálica’ cruel. Enquanto ela é uma figura assustadora para os meni-nos, ela é um ideal indesejável para as meninas, sendo exatamente o oposto daquilo que as me-ninas deveriam querer ser”. [“Superwoman (Wonder Woman) is always a horror type. She is physi-cally very powerful, tortures men, has her own female following, is the cruel, ‘phallic’ woman. While she is a frightening figure for boys, she is an undesirable ideal for girls, being the exact opposite of what girls are supposed to want to be.” WERTHAM, 1954, p. 34. Tradução Própria].
44 WERTHAM, 1954, p. 234: “As to the ‘advanced femininity’, what are the activities in comic books which women ‘indulge in on an equal footing with men’? They do not work. They are not home-makers. They do not bring up a family. Mother-love is entirely absent. Even when Wonder Woman adopts a girl there are Lesbian overtones. They are either superwomen flying through the air, scantily dressed or uniformed, outsmarting hostile natives, animals or wicked men, functioning like Wonder Woman in a fascistic-futurist setting, or they are molls or prizes to be pushed around and sadistically abused. In no other literature for children has the image of womanhood been so de-graded.” (Tradução Própria)
40
papel como a Mulher Maravilha para a vida, todo jovem rapaz normal de espírito saberia que existe algo de errado com ela.45
De acordo com Wertham, a representação das mulheres (bem como de seu
papel social) nas histórias em quadrinhos, particularmente, nas histórias da Mulher
Maravilha, é antes uma deturpação masculinizada que confunde o desenvolvimento
humano e moral de meninos e meninas. Para o psiquiatra, a defesa da representa-
ção de uma equidade no papel social de homens e mulheres nas narrativas da Mu-
lher Maravilha é equivocada, pois não há nem um retrato da maternidade, nem do
trabalho doméstico e nem do trabalho fora de casa. Em sua perspectiva, a Mulher
Maravilha é uma afronta à moral e aos bons costumes (cristãos) por não trazer um
ideal de família ou uma divisão clara (equitativa ou não) dos papéis masculinos e
femininos ou mesmo uma atribuição natural do papel que a mulher deveria desem-
penhar na sociedade. Na verdade, entretanto, a Mulher Maravilha foi realmente ino-
vadora, pois ela levantou a suspeita sobre a naturalização dos papéis sociais. E,
mesmo que as histórias não expressassem adequadamente a igualdade de gênero,
reproduzissem o ideal difundido propositalmente pela “indústria cultural” e estereoti-
passem a luta feminista,46 elas possibilitaram questionar o papel corrente. O fato é
que a personagem foi criada para inspirar as leitoras de uma época, e as suas histó-
rias do período da Segunda Guerra foram consideradas verdadeiramente represen-
45 WERTHAM, 1954, p. 234-235: “The prototype of the super-she with ‘advanced femininity’ is Won-
der Woman [...] Wonder Woman is not the natural daughter of a natural mother, nor was she born like Athena from the head of Zeus. She was concocted on a sales formula. Her originator, a psy-chologist retained by the industry, has described it: ‘Who wants to be a girl? And that's the point. Not even girls want to be girls... The obvious remedy is to create a feminine character with all the strength of Superman... Give (men) an alluring woman stronger than themselves to submit to and they'll be proud to become her willing slaves.’ Neither folklore nor normal sexuality, nor books for children, come about this way. If it were possible to translate a cardboard figure like Wonder Wom-an into life, every normal-minded young man would know there is something wrong with her”. (Tra-dução Própria)
46 Para Selma Regina Nunes Oliveira, as histórias da Mulher Maravilha foram ao encontro tanto dos interesses da indústria cultural da época, a qual intentava moldar a mulher como sexo frágil, pro-genitora, cuja realização máxima é a vida doméstica e a constituição de uma família, quanto dos estereótipos da luta feminista, isto é, de que o resultado da luta pela independência seria a solidão Para se casar com Steve Trevor, a Mulher Maravilha teria que abrir mão de seus poderes. Ou se-ja, ou ela decide por uma vida pacata ao lado da pessoa que ama, ou ela decide continuar sozinha combatendo o mal. (OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Mulher ao Quadrado: as representações femininas nos quadrinhos norte-americanos: permanências e ressonâncias (1895-1990). Brasília: Editora da UnB/FINATEC, 2007. p. 107ss).
41
tativas da luta feminista.47 Na interpretação de Fernanda Furquim, “[...] Wertham a-
cusou a Mulher Maravilha de ser lésbica, pois em sua concepção, uma mulher que
luta pela independência feminina só poderia ser homossexual”.48
De qualquer forma, para Wertham, tanto mulheres quanto homens são retra-
tados inadequadamente nas histórias em quadrinhos. E a esse retrato torto e impre-
ciso somam-se o sadismo, a violência, o homossexualismo e a distorção da moral e
das regras de convívio social. E a questão elementar em torno das histórias em
quadrinhos é que a mentalidade expressa em suas narrativas não é “uma condição
individual das crianças, mas uma condição social dos adultos”.49 Em outras palavras,
as histórias em quadrinhos são um sintoma do que está acontecendo no mundo em
termos de comportamento social.50 Assim sendo, as histórias em quadrinhos não
estimulam apenas a delinquência juvenil, elas são igualmente um reflexo dela. As
histórias em quadrinhos não moldam apenas os comportamentos e as preferências
de crianças e jovens, elas os mantêm. “As mesmas forças sociais que fazem os
quadrinhos de crime cometerem outros males sociais e as mesmas forças sociais
que sustentam os quadrinhos de crime mantêm os outros males sociais do jeito que
estão. Até mesmo os argumentos para defendê-los são os mesmos para ambas”.51
47 Nas palavras de Mike Madrid, “A Mulher Maravilha não era a primeira, mas ela é considerada por
muitos a super-heroína mais reconhecida e emblemática. Ela desencadeou uma onda de popula-ridade através da década de 1940, e os fãs reverenciam suas aventuras dos anos da guerra como os primeiros quadrinhos verdadeiramente feministas dos Estados Unidos” (MADRID, Mike. The Supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the history of comic book heroines. [Minneapolis?]: Ex-terminating Angel Press, 2009. p. 48: “Wonder Woman was not the first, but she is considered by most to be the most recognized and iconic female superhero. She rode a wave of popularity throughout the 1940's, and fans revere her adventures from the war years as the first truly feminist comics in America”. Tradução Própria).
48 FURQUIM, Fernanda. As maravilhosas mulheres das séries de TV. São Paulo: Panda Books, 2008. p. 87.
49 WERTHAM, 1954, p. 394: “[…] not an individual condition of children, but a social condition of adults”. E o contexto dessa constatação é igualmente interessante: “Eu aprendi que não é uma pergunta pelos quadrinhos, mas pela mentalidade da qual os quadrinhos saltam, e que essa não é a mentalidade das crianças, mas a mentalidade dos adultos. O que eu encontrei não foi uma condição individual das crianças, mas uma condição social dos adultos” (“I had learned that it is not a question of the comic books but of the mentality from which comic books spring, and that it was not the mentality of children, but the mentality of adults. What I found was not an individual condition of children, but a social condition of adults”. WERTHAM, 1954, p. 394. Tradução Própria).
50 WERTHAM, 1954, p. 395. 51 WERTHAM, 1954, p. 395: “The same social forces that make crime comic books make other social
evils, and the same social forces that keep crime comic books keep the other social evils the way they are. Even the arguments to defend them are the same for both”. (Tradução Própria)
42
Enfim, para Wertham, as histórias em quadrinhos são nocivas para o desen-
volvimento e a manutenção da vida social. E o psiquiatra encerra as páginas de seu
A Sedução do Inocente com um toque leve de uma esperança de que, algum dia, as
histórias em quadrinhos deixariam de existir, que os pais não as veriam mais como
um “mal necessário” e que o processo democrático se reafirmaria.52 O mundo esta-
ria livre das histórias em quadrinhos. Nas palavras do autor, “nós precisamos apren-
der que a liberdade não é algo que alguém possa ter, mas é algo que alguém preci-
sa fazer”;53 ou seja, a extinção das histórias em quadrinhos se iniciaria pela ação de
cada pessoa em deixar de comprá-las.
Independente ou não de ter morrido (em 1981) desacreditado pelos estudio-
sos das histórias em quadrinhos, e mesmo de ter asseverado no final de sua vida
que as histórias em quadrinhos poderiam realmente possuir algo construtivo,54 seus
argumentos e sua linha discursiva perduraram durante muito tempo; e resquícios
ainda podem ser percebidos quando se aborda as histórias em quadrinhos ou as
narrativas dos super-heróis não apenas nas academias, mas inclusive em outros
espaços de ensino e na vida social cotidiana. Ao final de tudo, Fredric Wertham e
seu A Sedução do Inocente desencadearam uma percepção ambígua das histórias
em quadrinhos, o que também ocorreu em sentido inverso, isto é, outros críticos e
estudiosos questionaram os argumentos de Wertham e de sua obra. Assim, se, por
um lado, essa percepção sustentou fortes críticas às histórias em quadrinhos por um
longo tempo, por outro lado, ela também estimulou o desenvolvimento de aborda-
gens criativas e diferenciadas do estudo da cultura, bem como uma relativização
quase total do pensamento de Wertham. Na leitura de Bart Beaty,
As bases teóricas de Wertham na psiquiatria reformista e na tradição políti-ca liberal progressista permitiram que seu trabalho fosse duplamente des-prezado pelo cientista social. Primeiro, a obra de Wertham foi criticada co-mo não científica e impressionista devido a sua incapacidade de fiar-se nas metodologias de pesquisa experimental dominantes. Segundo, a política re-formista de Wertham permitiu críticas ao caracterizá-lo antes como um cru-
52 WERTHAM, 1954, p. 395. 53 WERTHAM, 1954, p. 395: “We must learn that freedom is not something that one can have, but is
something that one must do”. (Tradução Própria) 54 OPPERMANN, 2004, p. 32.
43
zado moral que como um pesquisador. Seus detratores sugeriram que ele não havia realizado nenhuma pesquisa legítima ou científica, mas mera-mente auxiliou a promover um pânico moral, um medo irracional causado por uma mudança social. Assim, pesquisadores nas ciências sociais come-çaram a se desvencilhar dos intelectuais críticos cujas denúncias da cultura de massa ajudaram a gerar o campo dos estudos de cultura popular. Ao ca-racterizar Wertham e os intelectuais como cruzados morais e estetas, esse campo finalmente se definiu como uma área distinta de estudos com um conjunto único de metodologias de pesquisa que pudessem ser usadas pa-ra entender a mídia.55
Naturalmente, todas essas transformações no campo dos estudos da cultura
de massas não aconteceram instantaneamente, mas foram se constituindo na medi-
da em que o debate continuava. Além disso, o crédito da campanha contra as histó-
rias em quadrinhos não pode ser atribuído exclusivamente a Wertham. A campanha
contra as histórias em quadrinhos não é decorrente apenas da reputação do psiquia-
tra ou da repercussão de seu A Sedução do Inocente; ela também é resultado de
um contexto. Além do aumento da delinquência juvenil no período Pós-Segunda
Guerra, segundo Álvaro de Moya, uma histeria anticomunista do período pós-guerra
e da Guerra Fria se alastrou não apenas pelos Estados Unidos, mas, consequente-
mente, pelo mundo ocidental, atingindo a arte em geral (cinema, literatura, música,
etc.).56 Isso porque havia uma corrente comunista nos Estados Unidos durante a
guerra (o Partido Comunista dos Estados Unidos da América) que, mesmo perdendo
força a partir de 1947, influenciou significativamente uma grande parcela da popula-
ção e teve um papel também na Indústria do Entretenimento. Muitos artistas, intelec-
tuais, funcionários públicos eram simpatizantes dos ideais comunistas. Com o fim da
Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, houve uma verdadeira “faxina” a
55 BEATY, 2005, p. 12-13: “Wertham’s theoretical foundations in reformist psychiatry and
progressivist liberal political traditions allowed his work to be doubly discounted by social scientist. First, Wertham’s work was assailed as nonscientific and impressionistic because of its failure to re-ly on the dominant experimental and survey methodologies. Second, Wertham’s reformist politics allowed critics to characterize him as a moral crusader rather than a researcher. His detractors suggested that he had done no scientific or legitimate research but had merely helped to foster a moral panic, an irrational fear caused by social change. Thus, researchers in the social sciences began to disengage themselves from the critical intellectuals whose denunciations of mass culture had helped to spawn the field of popular culture studies. By characterizing Wertham and the intel-lectuals as moralizing crusaders and aesthetes, this field ultimately marked itself as a distinct area of study with a unique set of research methodologies that could be used to understand the media”. (Tradução Própria)
56 MOYA, 2007, p. 9.
44
fim de conter a influência da antiga União Soviética nos Estados Unidos e nos paí-
ses circunvizinhos.
[...] o anticomunismo não ficou restrito ao discurso e foi efetivamente utiliza-do para justificar intervenções armadas em várias regiões. Internamente, a preocupação em conter a influência do Partido Comunista nos EUA levou a uma verdadeira “caça as bruxas” durante a década de 1950. O instrumento utilizado foi uma comissão do senado chefiada pelo obscuro senador Joseph McCarthy que investigou e, principalmente, levantou suspeitas so-bre a lealdade de inúmeras pessoas aos “verdadeiros valores americanos”. Essa histeria anticomunista teve como saldo final a ruína da carreira de mui-tos intelectuais, funcionários públicos e artistas dos EUA, além disso, outros menos afortunados acabaram nas prisões. O Macartismo ainda foi o res-ponsável pela execução do casal Julios e Ethel Rosenberg.57
Enfim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, “vários profissionais tive-
ram que se afastar dessa linguagem de quadrinhos porque era um período em que
as pessoas não [...] a aceitavam e diziam que essa forma de expressão era deleté-
ria, porque fazia com que as crianças ficassem preguiçosas mentalmente”.58 Esse
aspecto prejudicial das histórias em quadrinhos é, pois, resultado da soma das críti-
cas que acompanharam o pensamento de Wertham e podem ser condensadas nos
argumentos dos desenhos imperfeitos, dos temas nocivos, da linguagem imprópria,
do atraso do processo de abstração e do desestímulo do hábito da leitura, como sa-
lientou Azis Abrahão.59 Esses argumentos começaram a ser questionados apenas
anos mais tarde, quando os europeus se interessaram pelos quadrinhos. Até lá, um
longo caminho haveria de ser percorrido.
57 FAGUNDES, Pedro Ernesto. Anticomunismo, Guerra Fria e a América Latina: o caso da Nicará-
gua. Contemporâneos: revista de artes e humanidades, São Paulo, n.6, p. 1-9, maio./out. 2010. p. 4-5. Disponível em: <http://www.revistacontemporaneos.com.br/n6/artigo2_anticomunismo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2011.
58 MOYA, 2007, p. 10. Ezequiel de Azevedo demonstra como a Editora Brasil-América Ltda. (EBAL) procurou driblar as críticas e as consequências desencadeadas pela publicação do livro A Sedu-ção do Inocente de Fredric Wertham (AZEVEDO, Ezequiel de. Ebal: Fábrica de Quadrinhos: guia do colecionador. São Paulo: Via Lettera, 2007. 128p. p. 21.)
59 ABRAHÃO, Azis. Pedagogia e Quadrinhos. In: MOYA, Álvaro de. Shazam! 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977. p. 138-139. (p. 137-170)
45
1.2 O COMICS CODE AUTHORITY E O DESPRESTÍGIO ACADÊMICO
Não há como negar que o livro de Fredric Wertham marcou época e real-
mente alterou a maneira como as histórias em quadrinhos eram e passaram a ser
percebidas. Suas críticas dividiram a opinião pública e sua repercussão desencade-
ou uma investigação do Congresso dos Estados Unidos sobre o conteúdo publicado
nas histórias em quadrinhos, sobretudo, nos quadrinhos de crime e de horror. Estes
eram extremamente populares na época; vendiam mais que os quadrinhos de super-
heróis, os quais, após o boom no início da década de 1940, com vendagens absur-
damente elevadas,60 haviam sido superados pelos quadrinhos de crime e de horror
no período pós-guerra (final da década de 1940 até a primeira metade da década de
1950). O fato é que a repercussão e a publicidade dessa investigação do Congresso
e de seu entorno abalaram significativamente a vendagem dos quadrinhos de crime
e de horror.61 Cenas de violência e de afronta aos valores morais da sociedade es-
tadunidense foram proibidas. A repercussão do livro de Wertham causou o cancela-
mento de muitos títulos e desestabilizou o mercado editorial, sobretudo, a Entertai-
ning Comics, de William Gaines, considerado o bode expiatório da investigação.62
Essa situação hostil aos quadrinhos de crime e de horror desencadeou, por sua vez,
a recuperação dos super-heróis:
Nitidamente, o clima mudou. A Detective Comics (DC) decidiu expandir sua pequena lista de quadrinhos de super-heróis que tinha encolhido, no início da década de 1950, a não mais que Superman, Batman e Mulher Maravilha.
60 Como já indicado, os quadrinhos de super-heróis são os responsáveis pela difusão das histórias
em quadrinhos enquanto produção cultural (MOYA, 2007, p. 8). Na época áurea, algumas revistas chegaram a vender até 2 milhões de exemplares, sendo que a média por edição era meio milhão de cópias vendidas. Atualmente, os campeões de venda atingem em média 125 mil exemplares vendidos por edição (em geral de periodicidade mensal). É por essas razões que as histórias em quadrinhos se consolidaram como produto cultural autônomo. Cf. FINGEROTH, 2008, p. 169ss. E cf. VERGUEIRO, Waldomiro. Charles Clarence Beck e o Capitão Marvel. Omelete, 15.08.2000. Disponível em: <http://www.omelete.com.br/quadrinhos/charles-clarence-beck-e-o-capitao-marvel/>. Acesso em: 30 jan. 2011.
61 NYBERG, Amy Kiste. Seal of Approval: the history of the Comics Code. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 1998. p.104-128.
62 GUEDES, Roberto. Quando Surgem os Super-heróis. Vinhedo: Ópera Gráfica Editora, 2004. p. 42ss. A Entertaining Comics produzia, sobretudo, quadrinhos de horror e terror. Com toda a reper-cussão do debate contra as histórias em quadrinhos, William Gaines teve que cancelar toda a pro-dução. “Para não fechar a editora de vez e perder todos aqueles talentosos colaboradores, Gaines criou a revista de humor Mad.” (GUEDES, 2004, p. 46). Cf. NYBERG, 1998, p.104-128.
46
Um renascido e recustomizado Flash (1956) pavimentou o caminho para o retorno do Lanterna Verde (1959), de uma nova heroína, a Supergirl (1959) e então de um time inteiro de super-heróis na forma da Liga da Justiça da América (1960). Sob a editoração de Stan Lee, a Marvel Comics reingres-sou no mercado de super-heróis com novos títulos como O Quarteto Fan-tástico (1961), Homem-Aranha (1963) e os X-Men (1964). Deuses nórdicos foram adicionados ao gênero com O Poderoso Thor e o horror, unido ao formato de super-herói em O Incrível Hulk. Os personagens da Era de Ouro tais como o Capitão América e o Príncipe Submarino foram trazidos de sua aposentadoria. Esse é o período usualmente referido como a Era de Prata, datado a partir do renascimento do Flash em 1956. 63
Se, por um lado, a investigação do Subcomitê sobre Delinquência Juvenil do
Senado dos Estados Unidos da América sobre as histórias em quadrinhos ocasio-
nou a recuperação dos quadrinhos de super-heróis e o surgimento da chamada Era
de Prata, por outro, ela alardeou as editoras, que foram obrigadas a redefinir seus
produtos. Temendo que o próprio governo estadunidense interferisse na regulamen-
tação do conteúdo das histórias e, ao mesmo tempo, visando a recuperação do
mercado editorial, as editoras se organizaram, fundaram uma associação, a Comics
Magazine Association of America, e criaram um código de ética e autocensura, o
Comics Code Authority.64 Este proibiu estritamente quaisquer argumentos narrativos
ou imagens relacionadas à nudez, à violência, ao horror ou à veiculação de quais-
quer atos criminosos que pudessem promover a desconfiança na lei e na justiça.
Suas regras de observância se tornaram bem mais exigentes ou detalhistas que as
dos códigos que serviram de modelo.
63 REYNOLDS, 1992, p. 8-9: “Clearly, the climate had changed. Detective Comics (DC) decided to
expand their small list of superhero comics which had, in the early 1950s, shrunk to no more than Superman, Batman and Wonder Woman. A re-born and re-costumed Flash (1956) paved the way for the return of the Green Lantern (1959), a new heroine, Supergirl (1959) and then a whole su-perhero team in the shape of the Justice League of America (1960). Under the editorship of Stan Lee, Marvel Comics re-entered the superhero market with new titles such as The Fantastic Four (1961), Spider-Man (1963) and the X-Men (1964). Norse Gods were added to the genre with The Mighty Thor, and horror wedded to the superhero format in The Incredible Hulk. Golden Age char-acters such as Captain America and the Sub Mariner were brought back out of retirement. This is the period usually referred to as the Silver Age, dating from the revival of the Flash in 1956.” Tra-dução Própria. Segundo Levi Trindade, embora a reformulação do personagem Flash seja aceita pela maioria dos historiadores como o início da Era de Prata dos Quadrinhos, há quem defenda a surgimento do Caçador de Marte (novembro de 1955) ou do Capitão Cometa (junho de 1951) co-mo marco inicial, em todos os casos, personagens da DC Comics. [TRINDADE, Levi. DC e a Era de Prata. In: COLEÇÃO DC 75 ANOS. São Paulo: Panini, 2010, v.2. p. 7. (p. 6-11)].
64 Na verdade, nenhuma resolução punitiva foi deferida por parte do comitê encarregado do caso. Esse fato, entretanto, não evitou a queda das vendas e a falência de editoras (OLIVEIRA, 2007, p. 92). O Código criado em 1954 está reproduzido no Anexo A1 – Comics Code Authority (1954).
47
A história do Comics Code não se inicia, entretanto, com a publicação do li-
vro de Wertham. A Sedução do Inocente foi o ápice do ataque lançado contra as
histórias em quadrinhos no período pós-guerra. O Comics Code foi o resultado da
evolução de um contexto histórico que foi se delineando em pouco mais de uma dé-
cada, cujo acento eclodiu apenas no final da década de 1940, a partir de 1948, pre-
cisamente. Embora o livro tenha sido publicado apenas em 1954, a crítica às histó-
rias em quadrinhos foi assumindo contornos mais definidos no decorrer da década
de 1940, quando artigos sobre as histórias em quadrinhos começaram a emergir
paulatinamente em diversos periódicos especializados. A expansão acelerada da
indústria dos quadrinhos e as vendagens absurdas do período pós-guerra, ultrapas-
sando 45 milhões de cópias ao mês em 1946, por exemplo, geraram uma preocupa-
ção sobre a qualidade da literatura infantil. “Apesar de a pesquisa em andamento ter
tendido a concluir que não havia diferenças sérias entre crianças que liam quadri-
nhos excessivamente e aquelas que não as liam de modo algum, o tom dos artigos
sobre quadrinhos tendeu cada vez mais para o pânico moral”.65 Artigos pitorescos
sobre crianças agindo com violência por influência dos quadrinhos percorreram a
mídia.
A partir daí foram publicados artigos cada vez mais exagerados sobre a ne-
cessidade de se banir os quadrinhos e, em 1948, ocorreu a queima (no sentido literal)
de quadrinhos em cidades como Chicago, Nova Yorque, Binghamton. Uma medida
menos extrema sugeria que se constituíssem organizações que lutassem por uma
nova legislação para controlar a publicação de quadrinhos.66 É nesse mesmo ano que
dois artigos (um sobre Wertham e um do próprio Wertham) são publicados e causam
um impacto tremendo no debate sobre histórias em quadrinhos. Em reação aos ar-
gumentos expressos nos artigos, não muito distintos daqueles contidos em A Sedução
do Inocente, 14 editoras de quadrinhos formaram a primeira associação, a Association
65 BEATY, 2005, p. 116: “Despite ongoing research that tended to conclude that no serious differ-
ences existed between children who read comic books excessively and those who read them not at all, the tone of articles about comic books increasingly tended toward moral panic”. (Tradução Pró-pria)
66 BEATY, 2005, p. 116.
48
of Comics Magazine Publishers (ACMP), no dia 1º de julho de 1948. Esta lançou o
primeiro código de autocensura, intitulado Code for Comics.67 “Embora possa ter sido
modelado a partir do código para filmes, o código da ACMP era aproximadamente
idêntico a um código interno utilizado pela [Editora] Fawcett vários anos antes”.68 A
iniciativa, entretanto, não deu certo por uma série de razões, entre elas, o fato de a
maioria das editoras não aderir à associação, preferindo, ao invés disso, utilizar seu
próprio código interno de controle de conteúdo, elaborado sob a consulta de uma e-
quipe composta por educadores e psiquiatras.69
Quase que imediatamente, entretanto, a associação teve problemas. Muitas das maiores editoras se recusaram a aderir à associação porque elas senti-ram que seus códigos internos estavam adequados e porque elas não que-riam estar associadas a algumas das editoras mais marginais da indústria. Algumas editoras acharam muito caro se submeter ao código e abandona-ram sua afiliação. [...] Ainda outras simplesmente saíram dos negócios, não por causa dos padrões do código, mas por causa do mercado altamente competitivo e saturado de quadrinhos. Não demorou muito para que a ACMP não pudesse mais sustentar o pessoal necessário para a revisão da prévia da publicação dos quadrinhos, e o sistema de revisão por meio do código foi gradualmente abandonado.70
A tensão do debate contra as revistas em quadrinhos aumentou ao longo
dos anos seguintes e se tornou insustentável após a publicação de A Sedução do
Inocente em 1954. Isso fez com que uma nova associação e um novo código emer-
gissem. A iniciativa partiu de William Gaines, editor da E. Comics, que conseguiu
reunir 38 editores, e, juntos, formaram a então Comics Magazine Association of A-
merica no dia 7 de setembro de 1954. Embora William Gaines tivesse a intenção de
67 BEATY, 2005, p. 118s. Um artigo era de autoria de Judith Crist sobre o perfil de Fredric Wertham,
intitulado Horror no Berçário, publicado na Collier’s Magazine. O outro era o artigo do próprio Wer-tham, intitulado Os quadrinhos... Muito engraçado!, publicado no Saturday Review of Literature, em 1948, cuja versão condensada foi republicada na revista Reader’s Digest. O Code for Comics de 1948 está reproduzido no Anexo A2 – Code for Comics (1948).
68 NYBERG, 1998, p. 104: “While it may have been modeled on the film code, the ACMP code was nearly identical to an in-house code adopted by Fawcett several years earlier”. (Tradução Própria)
69 BEATY, 2005, p. 119-120 e NYBERG, 1998, p. 104ss. 70 NYBERG, 1998, p. 105-106: “Almost immediately, however, the association ran into trouble. Many
of the largest publishers refused to join the association because they felt their in-house codes were adequate and because they did not want to be affiliated with some of the more marginal publishers in the industry. Some publishers found subscribing to the code too expensive and dropped their membership. […] And still others simply went out of business, not because of the code standards but because of the highly competitive and glutted comic book market. It was not long before the ACMP could no longer afford the staff necessary for prepublication review of comic books, and the code review system gradually was abandoned”. (Tradução Própria)
49
contratar especialistas na área da delinquência juvenil para pesquisarem os efeitos
da leitura dos quadrinhos e, desse modo, dar uma resposta imediata ao Subcomitê
do Senado, os demais desejavam uma solução mais rápida: adotar um código.71
Esse código se responsabilizaria por regulamentar tanto o conteúdo editorial quanto
a publicidade nas revistas.72 Além disso, um símbolo foi escolhido para estampar as
capas de todas as revistas revisadas e aprovadas pelo código, o qual era operado
por uma comissão independente, a fim atribuir seriedade e credibilidade às revistas
publicadas com o selo.73 Assim, as histórias em quadrinhos passaram a utilizar um
selo de aprovação do respectivo código de ética nas capas das revistas, e muitos
editores passaram a publicar apenas revistas com o selo, a fim de recuperar a confi-
ança do público. Como a repercussão do debate e das críticas às histórias em qua-
drinhos era global, no Brasil, editores também se reuniram, criaram um código e a-
plicaram um selo similar.74 Enfim, o Comics Code “visava garantir a pais e educado-
res que o conteúdo das revistas não iria prejudicar o desenvolvimento moral e inte-
71 NYBERG, 1998, p. 109: “Enquanto a redação exata do código precisaria ser trabalhada, o con-
senso era que os livros de terror e horror teriam que ser sacrificados como prova de que a indús-tria se referia a negócios. Como Gaines notou anos mais tarde: ‘ e isso foi sempre uma coisa irôni-ca para mim que eu fui o cara que iniciou a maldita associação e eles se viraram e a primeira coi-sa que eles fizeram foi banir as palavras estranho, horror e terror de qualquer revista em quadri-nhos... aquelas eram as minhas três maiores palavras” (“While the exact wording of the code would need to be worked out, the consensus was that the horror and terror books would have to be sacrificed as proof that the industry meant business. As Gaines noted years later: ‘ And it was al-ways an ironic thing to me that I was the guy who started the damn association and they turned around and the first thing they did was ban the words weird, horror and terror from any comic mag-azine… those were my three big words”. Tradução Própria).
72 O Comics Code exerceu sua influência até janeiro de 2011, quando foi oficialmente abolido com a saída da DC Comics no dia 21 de janeiro de 2011 e, em sequência, da Archie Comics no dia 25 de janeiro de 2011. A Marvel Comics já havia abandonado o sistema classificatório de conteúdo em maio de 2001, quando não concordou com os argumentos que acompanharam a reprovação de uma edição da revista X-Force n. 116. Ao contrário do método de censura empregado pelo Co-mics Code (em que um material prévio — esboço dos desenhos, roteiro — era examinado, avalia-do e devolvido às editoras para então ser impresso ou modificado — NYBERG, 1998, p. 114) as editoras passaram a utilizar um código próprio baseado na recomendação da faixa etária adequa-da para a leitura das publicações. Cf. CODESPOTI, Sérgio. DC Comics abandona sistema classi-ficatório da Comics Code Authority. Universo HQ, 21.01.2011. Disponível em: <http://www.universohq. com/quadrinhos/2011/n21012011_10.cfm>. Acesso em 20 fev. 2011.
73 NYBERG, 1998, p. 109-110. 74 VERGUEIRO, Waldomiro. O Uso das HQS no ensino. In: RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomi-
ro (Orgs.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed. 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2007. p. 16. (p. 7-29) (Coleção como usar na sala de aula)
50
lectual de seus filhos e alunos”.75 Para isso, editores e seus roteiristas e desenhistas
tiveram que repensar suas narrativas e seus traçados.
Esse remodelamento narrativo e estético das histórias em quadrinhos em
geral acabou prejudicando-as em dois aspectos, segundo Waldomiro Vergueiro. Por
um lado, as narrativas se tornaram relativamente pobres em termos de enredo, de
conteúdo. As tramas se tornaram simples e despretensiosas. Nessa direção, Rober-
to Guedes ilustra como as mudanças ocasionadas pelo cumprimento das exigências
do Comics Code e pela pressão de mercado alteraram o comportamento editorial: “A
National [atual DC Comics] teve de suavizar as histórias de Batman, deixando-as por
demais infantilizadas. O Vigilante de Gotham passou a viver situações que fugiam
ao seu status quo, beirando mesmo o surrealismo”.76 Além disso, Batgirl e Batwo-
man foram criadas para se tornarem os possíveis interesses românticos da chamada
Dupla Dinâmica, Batman e Robin.
Entretanto, mesmo que as narrativas haviam se tornado infantilizadas e axio-
lógicas, sobretudo, por causa da defesa da “boa moral”, imposta pelo Comics Code,
essa situação não persistiu durante tanto tempo assim e, de qualquer forma, não
impediu o avanço das histórias de super-heróis. Apenas anos mais tarde, já na Era
de Bronze (1970-1985), o Código provaria sua ineficiência, quando a Marvel Comics
publicaria uma história sobre o uso de drogas e suas consequências sem o respecti-
vo selo e, portanto, sem o aval do órgão avaliador do Comics Code. Tratava-se de
uma história do Homem-Aranha dividida em três partes, intitulada “O renascimento
do Duende Verde”, e publicada nas edições 96 a 98 (Maio-Julho de 1971) de Ama-
zing Spider-Man. Na história, Harry Osborn sofre uma overdose de LSD. Meses de-
pois, a DC Comics publicaria uma história do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde
dividida em duas partes, a qual revela Ricardito como um viciado em drogas, agora
com o selo do Comics Code, uma vez que este passa por uma revisão no intervalo
entre ambas as publicações. “A verdade é que ambas as tramas [da Marvel e da
75 VERGUEIRO, 2007. p. 13. 76 GUEDES, 2004, p. 45-46.
51
DC] renderam muitos elogios por parte da crítica e de várias entidades educacionais,
embora, à época, a trilogia de Stan Lee [da Marvel Comics] tenha tido muito mais
impacto na indústria dos quadrinhos”.77 Embora houvesse alguns insights no decor-
rer da Era de Prata em termos de estrutura narrativa, desenvolvimento temático (re-
ferindo-se aqui aos quadrinhos da indústria cultural e não aos underground comics78
que justamente emergiram nessa época) sem mencionar o surgimento de uma gama
de personagens, uma oxigenação das histórias emergiria mesmo apenas na Era de
Bronze, período considerado por alguns como um dos mais ricos das histórias em
quadrinhos e, em particular, das narrativas dos super-heróis.79 Entretanto, até isso
acontecer, não apenas as narrativas precisariam de uma oxigenação, mas também
o prestígio das histórias em quadrinhos precisaria ser recuperado.
Se, por um lado, o Comics Code empobreceu as narrativas das histórias em
quadrinhos, consequentemente, por outro lado, esse mesmo empobrecimento res-
saltou o desprezo por esse tipo de arte e, em geral, sentenciou possíveis aborda-
gens acadêmicas das narrativas.80 “Em praticamente todos os países nos quais os
quadrinhos eram editados, manifestações contrárias partiram de representantes do
mundo cultural, educativo e científico”.81 Mesmo que as editoras estivessem paulati-
namente recuperando seu prejuízo financeiro com as readequações ao Comics Co-
de e com a venda satisfatória das histórias dos super-heróis, as histórias em quadri- 77 GUEDES, Roberto. A Era de Bronze dos Super-heróis. São Paulo: HQ Maniacs, 2008. p. 26. O
sucesso de venda e crítica da história do Homem-Aranha provocou uma revisão do texto do Co-mics Code Authority em 1971. O próprio Stan Lee comenta a repercussão da obra de Wertham, a criação do Comics Code Authority e a crítica a este código, por meio da publicação da história do Homem-Aranha em seu livro autobiográfico. Cf. LEE, Stan; MAIR, George. Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee. New York: Fireside/Simon & Schuster, 2002. p. 90-102.
78 Os underground comics ou ainda comix (com x) são quadrinhos independentes, autorais (criados, geralmente, por uma única pessoa) que emergiram nas décadas de 1960 e de 1970 para contras-tar com os quadrinhos típicos da “indústria cultural” e contra a imposição das regras do Comics Code. Nas palavras de Nadilson Manoel da Silva, ”As circunstâncias que marcaram o [sic] anos 60 e início dos 70 favoreceram o surgimento e a proliferação de um outro tipo de quadrinho denomi-nado de underground, vinculado estritamente ao que se procura abarcar sob o conceito de contra-cultura [...] Apesar de ressaltar algumas características que os diferenciam dos tradicionais, é qua-se impossível sumarizar todos os aspectos tratados e a diversidade de estilos e fantasias elabora-das. O que permeia todos esses aspectos é um sarcasmo feroz contra o ‘american way of life’.” (SILVA, Nadilson Manoel da. Fantasias e Cotidiano nas Histórias em Quadrinhos. São Paulo: An-nablume; Fortaleza: Secult, 2002. p. 21).
79 Cf. GUEDES, 2008. 80 VERGUEIRO, 2007, p. 13. 81 VERGUEIRO, 2007, p. 14.
52
nhos perderam o prestígio artístico e, na visão de muitos, acabaram sendo conside-
radas não mais que um produto de consumo. Assim, não havia a possibilidade de se
abordar as histórias em quadrinhos com seriedade acadêmica, sem que isso provo-
casse comentários estapafúrdios sobre o estudo.
Para o quadrinista Francisco Marcatti Jr., o preconceito relativo às histórias
em quadrinhos estaria relacionado tanto a uma questão editorial que considera os
quadrinhos como produtos de consumo descartáveis quanto a uma questão de de-
sinteresse por produtos da “indústria cultural”, resquício da polêmica contra os qua-
drinhos. Entretanto, segundo Marcatti Jr., esse desinteresse das pessoas se rompe
quando estas se deparam com os quadrinhos autorais. Para o quadrinista, além de
não participarem da fabricação massiva da indústria cultural, os quadrinhos autorais
apresentam frequentemente um material qualitativo superior e põem em xeque a
generalização da preferência ou não às histórias em quadrinhos.82 Para o sociólogo
Nildo Viana, entretanto, o preconceito e a desvalorização das histórias em quadri-
nhos, particularmente, no meio acadêmico, decorre antes de uma visão elitista e ra-
cionalista sobre as produções culturais. Nas palavras do sociólogo,
As HQ são consideradas como tema infantil, juvenil, não muito sério. São menosprezadas por muitos, que as consideram uma espécie de cultura infe-rior. Seu “público” é considerado a “massa”, que seria amorfa, acrítica, in-fantil. Sem dúvida, este preconceito tem razões e também conseqüências sociais. A desvaloração das HQ é realizada a partir de uma visão elitista e racionalista. A sociedade contemporânea é dominada pela razão instrumen-tal, uma razão fria que desvaloriza a imaginação, os sentimentos, a fantasia, o inconsciente, pois busca o controle sobre as relações sociais e a natureza e sobre a própria mente humana. Logo, cria uma censura social sobre as formas de manifestações psíquicas não consideradas racionais, o que está de acordo com os interesses do produtivismo e da produção capitalista. O elitismo é produto de setores mais intelectualizados da sociedade que to-
82 MARCATTI JR., Francisco. História em quadrinhos: a produção do pensamento livre. Entrevista
com Francisco Marcatti Jr. IHU On-Line: Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, ano 7, n. 243, p. 20-22, 12.11.2007. p. 22. Nas palavras do autor, “A generalização já não faz mais tanto sentido. Tem soado estranho se dizer que não se gosta de histórias em quadrinhos tanto quanto é absurdo alguém afirmar que não gosta de filmes de cinema. Pode-se detestar filmes de ação, outros desprezam o gênero de terror, e alguns abominam comédias românticas. Mas é raro alguém dizer que não gosta de cinema” (MARCATTI JR., 2007, p. 22).
53
mam seus valores e gostos como superiores e os demais como inferiores e opõem a “alta cultura” e a “baixa cultura”.83
Na perspectiva de Nildo Viana, portanto, as histórias em quadrinhos sofrem
uma desvaloração por parte dos setores intelectualizados da sociedade que, por sua
vez, possuem o poder de legitimar suas preferências como um ideal social comum.
Assim, as histórias em quadrinhos participariam do conjunto de objetos ignóbeis na
hierarquia social dos objetos de estudo identificada por Pierre Bourdieu; isto é, trata-
se daqueles assuntos de pesquisa considerados desinteressantes por mecanismos
ideológicos que, por sua vez, legitimam um “silêncio científico” sobre tais pesqui-
sas.84 Esta é a razão pela qual os pesquisadores necessitam justificar seu apreço
por estudar as histórias em quadrinhos ou as narrativas atinentes a elas.85 Esse
desprezo das histórias em quadrinhos em geral pela “elite pensante” também é a-
bordada por Waldomiro Vergueiro:
Apesar de sua imensa popularidade junto ao público leitor — composto principalmente por jovens e adolescentes — e das altíssimas tiragens das revistas, a leitura de histórias em quadrinhos passou a ser estigmatizada pelas camadas ditas “pensantes” da sociedade. Tinha-se como certo que sua leitura afastava as crianças de “objetivos mais nobres” — como o co-nhecimento do “mundo dos livros” e o estudo de “estudos sérios” —, que causava prejuízos ao rendimento escolar e poderia, inclusive, gerar conse-qüências ainda mais aterradoras, como o embotamento do raciocínio lógico, a dificuldade para apreensão de idéias abstratas e o mergulho em um am-biente imaginativo prejudicial ao relacionamento social e afetivo de seus lei-tores.86
Em sua percepção, Vergueiro acentua as arguições depreciativas dos estu-
diosos a respeito das histórias em quadrinhos, isto é, que as histórias em quadrinhos
atrapalhavam o raciocínio lógico e o desenvolvimento cognitivo como um todo. Natu- 83 VIANA, Nildo. O que os quadrinhos dizem? Sociologia ciência e vida, São Paulo: Escala, ano 2, n.
18, p. 62-69, 2008. p. 63. 84 BOURDIEU, Pierre. Método científico e hierarquia social dos objetos. In: ______. Escritos de Edu-
cação. [Organizado por Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani]. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 35 (p.35-38): “A hierarquia dos objetos legítimos, legitimáveis ou indignos é uma das mediações através das quais se impõe a censura específica de um campo determinado que, no caso de um campo cuja independência está mal afirmada com relação às demandas da classe dominante, po-de ser ela própria a máscara de uma censura puramente política. A definição dominante das coi-sas boas de se dizer e dos temas dignos de interesse é um dos mecanismos ideológicos que fa-zem com que coisas também muito boas de se dizer não sejam ditas e com que temas não menos dignos de interesse não interessem a ninguém, ou só possam ser tratados de modo envergonhado ou vicioso.” (Grifo no original)
85 VIANA, 2008, p. 63. 86 VERGUEIRO, 2007, p. 16.
54
ralmente, muitas dessas arguições são decorrentes daquele debate desencadeado
pelos argumentos de Fredric Wertham no âmbito acadêmico, já apresentada anteri-
ormente, e, num espectro mais amplo, do duelo entre apocalípticos e integrados,
para recuperar aqui o pensamento de Umberto Eco. Esse preconceito percorreu o
posicionamento da “elite pensante”, de especialistas e ecoou na opinião pública du-
rante anos. Nas palavras de Vergueiro,
De uma maneira geral, durante os anos que se seguiram à malfadada cam-panha de difamação contra elas, as histórias em quadrinhos quase torna-ram-se as responsáveis por todos os males do mundo, inimigas do ensino e do aprendizado, corruptoras das inocentes mentes de seus indefesos leito-res. Portanto, qualquer idéia de aproveitamento da linguagem dos quadri-nhos em ambiente escolar seria, à época, considerada uma insanidade. A barreira pedagógica contra as histórias em quadrinhos predominou durante muito tempo e, ainda hoje, não se pode afirmar que ela tenha realmente deixado de existir. Mesmo atualmente há notícias de pais que proíbem seus filhos de lerem quadrinhos sempre que as crianças não se saem bem nos estudos ou apresentam problemas de comportamento, ligando o distúrbio comportamental à leitura de gibis.87
Nessa direção, o pesquisador que se debruça sobre as narrativas dos super-
heróis se encontra na contramão do estudo acadêmico ortodoxo. Isso acontece em
decorrência não apenas da hierarquia social dos objetos de estudo, para recuperar-
mos aqui o pensamento de Pierre Bourdieu, mas da própria disputa interna entre os
agentes do campo científico, que, por sua vez, legitimam a própria hierarquia dos
objetos. Dentro de um campo de estudos, aqueles pesquisadores que possuem
mais capital simbólico detêm o monopólio sobre o respectivo campo, podendo legi-
timar ou desprezar determinados bens simbólicos, no caso aqui, a hierarquia dos
objetos de estudo. Naturalmente, os campos de estudo estão em tensão constante e
nada impede que, em algum momento, ocorra uma descoberta científica e uma in-
versão total das forças que agem no campo.88 Em todo o caso, o fato é que, durante
muito tempo, as histórias em quadrinhos foram desprezadas por quem dominava
certos campos científicos, deslegitimando, por sua vez, aqueles pesquisadores que
abordavam o tema e exigindo destes um esforço para defender seu objeto de estu-
87 VERGUEIRO, 2007, p. 16. 88 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico.
São Paulo: UNESP, 2004. 86p. (especialmente, p. 17-48)
55
do. E o resultado dessa disputa repercutiu na vida social cotidiana, ao influenciar
pais, professores e, inclusive, leitores, por meio da publicação e da divulgação mi-
diática das pesquisas científicas hegemônicas. Apesar disso, as narrativas dos su-
per-heróis continuaram sendo consumidas, ora mais, ora menos, e elas persistiram
durante as diferentes eras que definiram e continuam definindo sua história. Desse
modo, como caracterizou Richard Reynolds,
Para o estudioso da cultura, os quadrinhos de super-heróis apresentam um número de paradoxos imediatos: uma forma de arte popular tradicionalmen-te conhecida por seus textos aparentemente hegemônicos e, às vezes, ex-plicitamente autoritários; um gênero de publicação que começou a ganhar um grau de respeitabilidade cultural por se tornar ‘underground’, pelo me-nos, parcialmente por causa de sua distribuição; uma forma de arte que tem sido tratada (se em absoluto) com desdém pelo establishment literário, e a-inda assim construiu seu próprio discurso crítico heurístico e vigoroso atra-vés do que ainda é bastante erroneamente conhecido como a ‘imprensa dos fãs’; e, finalmente, um corpo de mitologia contemporânea da qual a televi-são e Hollywood tem usurpado um material tão diverso quanto o exagerado seriado do Batman da década de 1960, a aparente singeleza do ciclo do Superman de Christopher Reeve, e a bravura gótica extenuada do filme do Batman de 1989.89
Ao final disso tudo, importa salientar o seguinte: Apesar de todas as trans-
formações que as histórias em quadrinhos e, em especial, as narrativas dos super-
heróis passaram ao longo dos anos de sua existência, quer seja em termos de estilo
ou estética, quer seja em termos de tema ou conteúdo, a criação do Comics Code e
todas as críticas associadas, antecedentes e descendentes, não conseguiram extin-
guir nem a mídia, nem o gênero. As histórias em quadrinhos e as narrativas dos su-
per-heróis continuaram desafiando os críticos, cativando pesquisadores e fascinan-
do leitores e leitoras do mundo todo. As narrativas dos super-heróis emergiram es-
trondosamente no final da década de 1930, e, após um período de declínio, foram
reavivadas nos meados da década de 1950 e reinventadas a partir da década de
89 REYNOLDS, 1992, p. 7: “For the cultural student, superhero comics present a number of immedi-
ate paradoxes: a popular art-form traditionally known for its apparently hegemonic and sometimes overtly authoritarian texts; a publishing genre which began to gain a degree of cultural respectabil-ity by ducking ‘underground’ at least partially for its distribution; an art-form which has been han-dled (if at all) with disdain by the literary establishment, and yet has built up its own lively and heu-ristic critical discourse through what is still rather misleadingly known as the ‘fan’ press; and, finally, a body of contemporary mythology from which television and Hollywood have plundered material as diverse as the campy 1960s Batman TV show, the apparent artlessness of the Christopher Reeve Superman cycle, and the overwrought gothic bravura of the 1989 Batman movie.” (Tradu-ção Própria)
56
1970, quando aqueles que cresceram lendo suas histórias integraram a redação das
grandes editoras.90 E a situação ambígua e paradoxal do estudioso da cultura, des-
crita por Reynolds acima, é reflexo do alvoroço, do fascínio e da repulsa que essas
narrativas causam tanto nos leitores quanto nos acadêmicos. Vale ressaltar que,
assim como as narrativas dos super-heróis foram reinventadas (e continuam sendo
a cada nova geração) para uma nova audiência por aqueles que cresceram lendo
suas histórias, assim também aconteceu na academia. Muitos pesquisadores que
defendem as narrativas dos super-heróis como objeto de estudo válido e buscam
alternativas metodológicas e epistemológicas para a pesquisa do gênero foram leito-
res de quadrinhos no passado (e continuam sendo no presente). Isso é, em grande
parte, perceptível pela leitura dos prefácios e das introduções das publicações a
respeito. São fãs que se tornaram pesquisadores. E esse fator também foi significa-
tivo para que uma visão mais positiva da mídia e do gênero se consolidasse hoje,
balançasse e redefinisse, ao longo dos últimos anos, a estrutura da hierarquia social
dos objetos de estudo até então.
1.3 O ESTUDO DO GÊNERO DA SUPERAVENTURA HOJE
Estudos sobre as narrativas dos super-heróis têm conquistado cada vez
mais espaço desde o início deste século e despertado o interesse de pesquisadores
das mais diferentes áreas do saber, não apenas nos Estados Unidos, mas também
no Brasil. Claro que a quantidade de estudos especificamente acerca das narrativas
dos super-heróis à disposição é reduzida em relação às pesquisas sobre as histórias
em quadrinhos como um todo. Como já asseverado, pesquisadores sustentam antes
uma preferência pela análise de quadrinhos autorais, independentes, undergrounds
90 Roberto Guedes caracteriza o surgimento da Era de Bronze (1970-1985) justamente a partir do
instante em que novos autores começam a trabalhar na redação das editoras. “[...] foi somente a partir de 1970 que uma nova onda de autores ‘invadiu’ em peso as redações das editoras. Até en-tão, com raríssimas exceções, os quadrinhos eram produzidos pelas pessoas que haviam ‘inven-tado’ o gênero, os mesmos profissionais dos anos 1940/50 que, por um motivo ou outro, não mi-graram para outras paragens, como a publicidade, a charge ou a animação.” (GUEDES, 2008, p. 8) Já a Era Moderna das histórias em quadrinhos se iniciaria com a segunda geração de fãs.
57
que pelas narrativas dos super-heróis. Entretanto, o quadro acadêmico atual é bem
mais promissor para as narrativas dos super-heróis que décadas atrás. Nos Estados
Unidos, há uma infinidade de publicações disponíveis sobre o tema, redigida por di-
versos especialistas. Afinal, narrativas de super-heróis são praticamente um sinôni-
mo para quadrinhos estadunidenses.91 Embora o Brasil não tenha exatamente uma
tradição em quadrinhos de super-heróis, e mesmo havendo uma comunidade de
quadrinistas brasileiros autônomos que inventam e reinventam super-heróis nacio-
nais, produzindo suas próprias revistas; o fato é que o Brasil foi e tem sido um gran-
de importador de cultura ao longo de quase um século de histórias em quadrinhos.92
No Brasil, pesquisadores têm percebido que as narrativas dos super-heróis podem
ser muito mais interessantes que aparentam.
Uma consulta simples no portal virtual da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM) revela que, de uma média de 11
pesquisas apresentadas no congresso nacional anual da sociedade em grupos de
trabalho direcionados às histórias em quadrinhos desde o início do século (2001)
pelo menos uma delas tematizou as narrativas dos super-heróis.93 Se a amostragem
tem como partida o ano de 2006, o número de apresentações de pesquisas sobre o
tema por congresso duplica. Naturalmente, essa é uma amostragem ilustrativa de
apenas uma das conferências anuais que ocorrem no Brasil, excluindo ainda outros
91 BROWN, Lyn Mikel; LAMB, Sharon; TAPPAN, Mark. Packaging Boyhood: saving our sons from
superheroes, slackers, and other media stereotypes. New York: St. Martin’s Press, 2009. p.154. 92 A questão da importação de bens culturais estadunidenses, particularmente, de quadrinhos, e a
criação de super-heróis nacionais foram abordadas em REBLIN, 2008, p.64-79. O livro de Ezequiel de Azevedo fornece um panorama de como os quadrinhos em geral e também os qua-drinhos estadunidenses se firmaram e cativaram o leitor brasileiro, por meio de um olhar à trajetó-ria de Adolfo Aizen e de sua Editora Brasil-América Ltda., considerada uma das mais importantes editoras de histórias em quadrinhos do país. (AZEVEDO, 2007).
93 A amostra refere-se aos congressos nacionais da INTERCOM realizados a partir de 2001. Distri-buídos no esquema “Evento-Ano (quantidade de artigos sobre histórias em quadrinhos/quantidade de artigos sobre as narrativas dos super-heróis)” os dados são os seguintes: INTERCOM-2001 (6/0); INTERCOM-2002 (18/3); INTERCOM-2003 (23/1); INTERCOM-2004 (10/0); INTERCOM-2005 (10/0); INTERCOM-2006 (11/2); INTERCOM-2007 (9/2); INTERCOM-2008 (11/2); INTER-COM-2009 (15/2); INTERCOM-2010 (1/0). É importante ressaltar aqui que, a partir de 2010, os Grupos de Trabalho do congresso nacional foram remodelados e reduzidos. Até 2009, havia um Grupo de Trabalho específico sobre histórias em quadrinhos. Os anais de todos esses eventos es-tão disponíveis pelo mesmo portal virtual da Intecom. Disponível em: <http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1081&Itemid=125>. Acesso em: 20 jan. 2011.
58
eventos da área e de áreas afins que pesquisam igualmente comunicação, arte,
produções culturais; a existência de núcleos de pesquisa, artigos de periódicos, pu-
blicações de livros. Independente disso, essa amostragem expressa que aproxima-
damente 10% das pesquisas sobre histórias em quadrinhos no Brasil são sobre as
narrativas dos super-heróis. Essa motivação ascendente do estudo dessas narrati-
vas começa a ser um percurso natural desde a ascensão dos Estudos Culturais,94
dado ainda o espaço que essas narrativas ocupam nas diversas mídias mundo afora
e no mercado nacional.95 Nessa direção, estudos acadêmicos das narrativas dos
super-heróis, assim como as demais publicações a respeito do gênero, têm surgido
em diversas vertentes.
As abordagens mais comuns das narrativas dos super-heróis são aquelas de
perspectiva historiográfica ou documental ou ainda catalográfica. São abordagens
que recontam a trajetória das narrativas dos super-heróis, descrevem o contexto,
apresentam as evoluções dos conceitos, narram entrevistas, reportam as mudanças
das políticas editoriais e da equipe criativa ou ainda são aquelas que possuem o ob-
jetivo de reunir dados diversos sobre as narrativas ou os personagens. Apesar do
caráter documental, essas abordagens são importantes para se entender as narrati-
94 Estudos Culturais é uma corrente de pesquisa interdisciplinar e multifocal da cultura que surgiu na
Inglaterra na década de 1960 e teve como precursores Raymond Williams e Richard Hoggart. Os Estudos Culturais possuem a finalidade de “abstrair, descrever e reconstituir, em estudos concre-tos, as formas através das quais os seres humanos ‘vivem’, tornam-se conscientes e se sustentam subjetivamente” (JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O que é, afinal, Estudos Culturais? 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p.7-132. p. 29). Os Estudos Culturais têm se ocupado com as produções culturais da era contemporânea. Cf. também MATTELART, Armand; NEVEU, Érik. Introdução aos Estudos Culturais. São Paulo: Pará-bola, 2004. 215p. (Na ponta da Língua; 7)
95 O Brasil é apontado como um dos principais consumidores de histórias em quadrinhos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, do Japão, da França e da Itália. Segundo Sidney Gusman, a-pesar da venda de quadrinhos no Brasil não ser auditada pelo Instituto de Verificação de Circula-ção (ICV) é possível asseverar que os quadrinhos de super-heróis ocupam a terceira fatia do mer-cado nacional, atrás apenas das publicações de Maurício de Souza (segundo lugar) e dos quadri-nhos japoneses, os Mangás (primeiro lugar). GUSMAN, Sidney. Re: Estatísticas super-heróis [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <[email protected]> em 19.01.2011. A edi-ção n. 253 de fevereiro de 2010 da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios apresenta uma reportagem de Rafael Farias Teixeira sobre o “mercado nerd” (leia-se cultura pop em geral – vide-ogames, quadrinhos, séries de TV, etc.). A matéria revela o crescimento do segmento no mercado nacional e as vantagens de se abrir um negócio especializado no produto. Segundo a reportagem, baseada num indicador da FNAC Brasil, a venda de quadrinhos cresceu 10% em 2008/2009. (TEIXEIRA, Rafael Farias. O poderoso mercado nerd. Pequenas Empresas Grandes Negócios, São Paulo: Globo, n. 253, p. 32-37, fev. 2010. p. 35.)
59
vas dos super-heróis em seu locus enquanto produto de uma “indústria cultural” e
sujeito às leis de mercado. São obras que narram com detalhes os meandros do que
veio a ser definido como A Era de Ouro, A Era de Prata, A Era de Bronze e A Era
Moderna das histórias em quadrinhos. São textos escritos frequentemente por edito-
res ou ex-editores de histórias em quadrinhos ou jornalistas, em todos os casos, fãs
de quadrinhos. Nesse sentido, no Brasil, as obras de Roberto Guedes merecem des-
taque por sua intensa e, por vezes, exaustiva pesquisa e resgate bibliográficos.96
Além disso, merece destaque a publicação de uma revista brasileira especializada
no universo dos super-heróis. Essa revista, intitulada Mundo dos Super-heróis, de
circulação bimestral desde meados de 2006, abrange não apenas as narrativas dos
super-heróis nas histórias em quadrinhos, mas todo o âmbito midiático que tais nar-
rativas alcançaram ao longo dos anos. Assim, filmes e desenhos animados (carto-
ons) sobre os super-heróis são apresentados em dossiês extensos, entrevistas, re-
servando também um espaço para a história de super-heróis brasileiros.
Ao lado das publicações historiográficas estão as produções analíticas das
narrativas dos super-heróis. Nesse conjunto, concentram-se a maioria das pesqui-
sas acadêmicas atuais, tanto de discentes quanto de docentes-pesquisadores. Em
geral, essas publicações compreendem-se de uma coletânea de textos de pesqui-
sadores de diversas áreas.97 Nesses textos, escritos frequentemente em uma abor-
dagem interdisciplinar, os autores estabelecem uma relação com as narrativas ou
96 São respectivamente duas publicações que abordam as narrativas dos super-heróis estaduniden-
ses e uma que documenta a trajetória dos super-heróis brasileiros: Quando surgem os super-heróis (GUEDES, 2004); A Era de Bronze (GUEDES, 2008) e A Saga dos super-heróis brasileiros (GUEDES, Roberto. A Saga dos super-heróis brasileiros. Vinhedo, SP: Editoractiva Produções Ar-tísticas, 2005. 111p.).
97 Ao contrário dos Estados Unidos, onde as publicações acadêmicas sobre os super-heróis têm conquistado um espaço significativo nas prateleiras das livrarias, no Brasil, particularmente, elas ainda estão em quantidade reduzida. Muitas obras que ocupam as livrarias brasileiras são antes traduções das publicações estadunidenses. As obras de Christopher Knowles (KNOWLES, 2008), Lois Gresh e Robert Weinberg (GRESH; WEINBERG, 2005) as coletâneas coordenadas por William Irwin (quatro sobre super-heróis) e publicadas pela Editora Madras merecem destaque a-qui. Livros brasileiros sobre super-heróis a serem mencionados são Spawn – O Soldado do Infer-no: mito e religiosidade nos quadrinhos, de Cristina Levine Martins Xavier (XAVIER, Cristina Levine Martins. Spawn – O Soldado do Inferno: Mito e religiosidade nos quadrinhos. São Caetano do Sul: Difusão, 2004. 352p.); Heróis e Super-heróis no Mundo dos Quadrinhos, de Nildo Viana (VIANA, 2005) e Para o alto e avante: uma análise do universo criativo dos super-heróis (REBLIN, 2008).
60
com os personagens a partir de suas motivações específicas. Desse modo, eles
buscam respostas às perguntas e às provocações que são postas em diálogo com
as narrativas dos super-heróis: Por que os super-heróis são bons? Qual a relação da
Mulher Maravilha com o movimento sufragista? Qual é o perfil psicológico do Su-
perman? Por que os grandes criadores dos super-heróis e os principais editores são
judeus? Qual é princípio ético que está contido no lema do Homem-Aranha? Assim,
filosofia, psicologia, mitologia, arte, educação, comunicação, literatura e, inclusive,
religião são perspectivas de leituras e de análises das narrativas dos super-heróis.
Todas essas perspectivas e possibilidades de análises subentendem uma constata-
ção elementar. Elas partem do pressuposto de que,
Ora, as histórias em quadrinhos (e, por conseguinte, o gênero da supera-ventura) são produções humanas e, tal como qualquer outra produção cultu-ral, estão envolvidas nas relações sociais: são constituídas socialmente e exercem uma influência nos indivíduos e, por conseguinte, também nas re-lações sociais. Assim, observar os valores e as idéias manifestados nas his-tórias em quadrinhos é tão importante quanto analisar qualquer outra pro-dução cultural, além de a análise do processo social de constituição das his-tórias em quadrinhos também ser importante. Assim, é extremamente rele-vante a análise das histórias em quadrinhos, inclusive para compreender a sociedade e suas manifestações culturais.98
As narrativas dos super-heróis são interessantes particularmente para a
pesquisa acadêmica nas áreas de ciências humanas (além, claro, de outras áreas
das ciências sociais aplicadas) porque elas são produções culturais. Enquanto pro-
duções culturais, elas estão sujeitas às dinâmicas que envolvem toda produção cul-
tural: não apenas sua constituição social e seu exercício de influência como afirmou
Nildo Viana, como também seu poder de representação, seu grau de comunicabili-
dade e o processo hermenêutico do destinatário. As narrativas dos super-heróis são
expressões do universo simbólico do ser humano, seus significados, seus princípios,
suas crenças. Como afirmado em outro momento,
O fato é que os super-heróis fazem parte da cultura em que vivemos. Eles são resultado dela. Fazem parte do nosso imaginário. Estão presentes na arte que contemplamos e nas mercadorias que consumimos. Como produto
98 VIANA, Nildo. Prefácio: Um Processo de Superação Intelectual. In: REBLIN, Iuri Andréas. Para o
alto e avante: uma análise do universo criativo dos super-heróis. Porto Alegre: Asterisco, 2008. p.9-15. p. 12-13.
61
cultural, isto é, como expressão de nosso universo simbólico, de significa-dos e de valores, os super-heróis trazem em suas narrativas tudo aquilo que nós conhecemos, acreditamos, pensamos, aspiramos, imaginamos e espe-ramos, ora de forma mais intensa, ora menos. As tecnologias existentes e projetadas, os princípios éticos e morais, a vida em sociedade, a moda e os costumes, tudo pode ser encontrado nas histórias dos super-heróis.99
Nessa mesma direção, Matthew P. McAllister, Edward H. Sewell, Jr. e Ian
Gordon defendem a importância de se estudar a ideologia presente nas histórias em
quadrinhos e, implicitamente, nas narrativas dos super-heróis. Segundo os autores,
a importância reside, em primeiro lugar, na própria constituição da arte, isto é, na
junção de textos e imagens que dá forma às histórias em quadrinhos tais como elas
são definidas. Por um lado, sua forma pode induzir o artista ou o escritor a utilizar
estereótipos para transmitir suas informações de maneira rápida e eficiente e, por
outro lado, ela pode igualmente possibilitar uma interpretação polissêmica.100 Em
segundo lugar, a importância reside no impacto social das histórias em quadrinhos,
isto é, na importância que elas adquirem para seus leitores:
Embora os quadrinhos sejam frequentemente repudiados como “passatem-pos”* insignificantes, eles são também altamente envolventes para muitos leitores, crianças e adultos. [...] Com os quadrinhos, a cultura dos fãs, culti-vada nas cartas publicadas ao editor, nas convenções de quadrinhos e nas lojas de varejo é um indicativo da diversa e interpretativa “comunidade de leitores”, que debatem com paixão a interpretação de vários tópicos das his-tórias e de habilidades dos personagens. Portanto, para muitas pessoas, os quadrinhos são completamente importantes para suas vidas.101
99 REBLIN, Iuri Andréas. Os super-heróis e a jornada humana: uma incursão pela cultura e pela reli-
gião. In: VIANA, Nildo; REBLIN, Iuri Andréas (Orgs.). Super-heróis, cultura e sociedade: aproxima-ções multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida, SP: Idéias e Letras, 2011. p. 55-91. p. 56.
100 McALLISTER, Matthew P.; SEWELL, JR., Edward H.; GORDON, Ian. Introducing Comics and Ideology. In: McALLISTER, Matthew P.; SEWELL, JR., Edward H.; GORDON, Ian (Ed.). Comics and Ideology. New York: Peter Lang, 2006. p. 3-4. (p. 1-13) (Popular Culture – Everyday Life; 2)
* Nota da tradução: A palavra funnies, traduzida aqui como passatempo, também é um sinônimo para as histórias em quadrinhos, em especial, os quadrinhos cômicos, as tirinhas de jornal. Cf. REBLIN, 2008, p. 38ss e cf. também ANSELMO, Zilda Augusta. Histórias em Quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1975. 178p.
101 McALLISTER, Matthew P.; SEWELL, JR., Edward H.; GORDON, Ian, 2006, p. 4: “Although often comics are dismissed as the insignificant ‘funnies,’ they are also highly ego-involving for many readers, children and adult. […] With comic books, the ‘fanboy’ culture cultivated in published let-ters to the editor, comic book conventions, and retail shops are indicative of diverse interpretative ‘reading communities’ that debate with passion the interpretation of various story threads and char-acter assets. Thus for many people the comics are quite significant to their lives.” (Tradução Própria).
62
Esse grau de importância atribuída às histórias em quadrinhos e, particular-
mente, às narrativas dos super-heróis revela não apenas um fenômeno social, mas,
na visão de muitos pesquisadores (curiosamente não teólogos), um movimento reli-
gioso. Mais ainda, segundo esses mesmos autores, essas narrativas são não ape-
nas um movimento religioso, mas uma expressão religiosa. É nessa direção que
Christopher Knowles vai traçar paralelos entre as narrativas mítico-religiosas e as
histórias dos super-heróis, descrevendo as principais correntes religiosas protestan-
tes e místicas que influenciaram autores de histórias em quadrinhos em seu Nossos
Deuses são super-heróis.102 Sua hipótese, construída exageradamente sobre uma
analogia demasiadamente otimista, é a de que “os super-heróis representam para
nós o papel antes representado pelos deuses nas sociedades do passado”.103 E ele
justifica asseverando que “quando vê fãs vestidos como seus heróis prediletos em
convenções de histórias em quadrinhos, você está testemunhando o mesmo tipo de
adoração que havia no antigo mundo pagão, onde os celebrantes se vestiam como o
objeto de sua adoração [...]”.104 Naturalmente, não se trata aqui do mesmo tipo de
adoração. Em todo o caso, além de traçar diversos paralelos entre as histórias míti-
co-religiosas e descrever as influências religiosas nas biografias de quem elabora e
desenha as narrativas dos super-heróis, Knowles desenvolve cinco arquétipos que
teriam sua inspiração na religião: o mago, o messias, o gólem, a amazona e as ir-
mandades. Enfim, para o autor, os super-heróis ocupam o vazio deixado pela religi-
ão (que não consegue fornecer um “mito viável de salvação”) e pela cultura secular
(que não tem espaço para o encantamento).105 É numa perspectiva similar, mas de-
finitivamente distinta, que Greg Garrett também discute a religião e as narrativas dos
super-heróis, tecendo paralelos de temas religiosos e referências bíblicas e com as
histórias em quadrinhos;106 e que Danny Fingeroth apresenta uma relação explícita
102 KNOWLES, 2008. 103 KNOWLES, 2008, p. 36. 104 KNOWLES, 2008, p. 36. 105 KNOWLES, 2008, p. 238. 106 GARRETT, Greg. Holy Superheroes! Exploring the sacred in comics, graphic novels, and film.
Revised and Expanded edition. Louisville/London: Westminster John Knox Press, 2008. 141p.
63
dessas narrativas e sua produção com o judaísmo e de como judeus se utilizaram
dessas narrativas para se adequarem à sociedade estadunidense.107
Independente da atual variedade de abordagens possíveis das narrativas
dos super-heróis, o que importa destacar aqui é a pergunta formulada no início deste
capítulo, apresentada a partir da proposta de Umberto Eco; isto é, se essas leituras
recentes das narrativas dos super-heróis e de seu conteúdo ainda conseguem lidar
com a tensão dialética entre apocalípticos e integrados, ou melhor, entre a crítica
aos bens culturais da era contemporânea e a visão otimista das potencialidades des-
tes bens. E a impressão que ressalta diante da leitura desses diversos estudos é
uma preocupação em acentuar as potencialidades dessas narrativas na compreen-
são do mundo contemporâneo e de como elas espelham (ora de forma mais nítida,
ora de forma mais distorcida) a vida social cotidiana em suas nuances (isto é, uma
leitura entusiasta). Em grande parte, essa visão otimista das narrativas dos super-
heróis é um contrabalanço das críticas que perduraram ao longo das décadas que
seguiram à campanha contras as histórias em quadrinhos desencadeada por Wer-
tham. Entretanto, a leitura exclusiva dessas abordagens recentes pode descaracteri-
zar essas narrativas como um bem cultural contemporâneo, e, portanto, imbricado
na ambiguidade e na complexidade das relações que estão compreendidas na cons-
tituição de tal bem.
Nessa direção, a pesquisa recente de Lyn Mikel Brown, Sharon Lamb e
Mark Tappan sobre como a publicidade e a mídia vendem para os adolescentes e
para os seus pais um ideal de adolescência merece uma nota. A pesquisa foi reali-
zada separadamente em dois momentos e publicada em dois volumes distintos:
Embrulhando a Adolescência Feminina: resgatando nossas filhas dos esquemas dos
marqueteiros108 e Embrulhando a Adolescência Masculina: salvando nossos filhos
107 FINGEROTH, Danny. Disguised as Clark Kent: Jews, Comics, and the Creation of the Superhero.
New York/London: Continuum, 2007. 183p. Uma relação entre a religião e as narrativas dos super-heróis também foi estabelecida em REBLIN, 2008, p. 96ss.
108 LAMB, Sharon; BROWN, Lyn Mikel. Packaging Girlhood: rescuing our daughters from marketers’ schemes. New York: St. Martin’s Press, 2007. 336p.
64
de super-heróis, preguiçosos e outros estereótipos da mídia.109 Embora se ocupe
particularmente com a psicologia e o comportamento dos adolescentes no processo
de formação e de como a mídia em geral e a publicidade influenciam nesse proces-
so, a pesquisa sobre a adolescência masculina indica o tipo de informação que as
narrativas dos super-heróis podem transmitir a seus leitores. É um trabalho cuja di-
vulgação resultou em uma recepção desconfiada do público e reacendeu a discus-
são acerca do preconceito perante as narrativas dos super-heróis.
A primeira impressão, de fato, é de uma releitura de Wertham, de acordo
com os métodos científicos vigentes, para recuperar aqui a explicação de Bart Beaty
sobre os argumentos dos críticos ao texto do psiquiatra. O livro critica as narrativas
dos super-heróis, sobretudo, os filmes realizados a partir deste século, como disse-
minadores de uma mentalidade de vingança através de um enredo superficial, con-
centrado em cenas de violência, agressão, explosões e em personagens estereoti-
pados. Ao descrever que, nos filmes, a vulnerabilidade de cada super-herói se es-
conde atrás de seu superpoder e é guardada em segredo, Brown, Lamb e Tappan
afirmam que os filmes “ensinam que o caminho para desfazer a vulnerabilidade é
através da provação de sua superioridade e de seu poder, e, aqui, de um poder a-
gressivo”.110 Em outras palavras, é necessário esconder a vulnerabilidade porque
ela é humilhante.111 Esta seria a mensagem primordial dessas narrativas. “Enquanto
que é importante para todas as crianças saberem o que significa persistir a despeito
das dificuldades, é a mentalidade de ‘eu vou mostrar para eles’ que nos incomoda
mais sobre esses filmes”.112 Além disso, essas narrativas trariam papéis estereotipa-
dos das boas e das más garotas e da necessidade de correspondência dos filhos às
expectativas de pais ausentes. Entretanto, também ressalta que essas narrativas
abordam mensagens morais importantes como a responsabilidade pelo uso dos po-
109 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009. 340p. 110 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 90: “They teach that the way to undo vulnerability is through
proving their superiority and their power, and aggressive power at that”. (Tradução Própria) 111 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 90. 112 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 90: “While it’s important for all children to know what it means
to persists in spite of hardships, it’s the ‘I’ll show them!’ mentality that bothers us most about these movies” (Tradução Própria)
65
deres (como em Homem-Aranha) e a dificuldade em permanecer bom e íntegro
(como no segundo filme do Batman: O Cavaleiro das Trevas).113
Em relação aos quadrinhos de super-heróis, os autores ressaltam a comple-
xidade das narrativas e que a violência intermitente não é uma prerrogativa dessas
narrativas, o que é bom, embora isso se altere quando entram em pauta as novelas
gráficas ou as revistas com restrições de faixa etária.114 Os autores assumem a tese
de Danny Fingeroth em seu Disfarçado de Clark Kent: Judeus, quadrinhos e a cria-
ção do super-herói115 de como os super-heróis foram importantes para que judeus
se sentissem acolhidos na sociedade estadunidense por meio da identificação com
um “ser superior”, do fato de viver uma vida dupla, possuir um disfarce, uma identi-
dade secreta.116 Segundo Fingeroth, a maioria dos criadores dos super-heróis e
mantenedores da indústria dos quadrinhos é constituída por imigrantes judeus. En-
tretanto, os estereótipos como o traço voluptuoso das super-heroínas permanecem.
Enfim, apesar da polêmica que o livro despertou, acentuada pela veiculação
midiática, o livro possui um olhar externo às narrativas dos super-heróis, quase su-
perficial, sem realizar uma verdadeira análise de conteúdo. Além disso, o propósito
do livro é mais amplo que abordar os super-heróis em si, considerando que apenas
cerca de dez por cento da obra aborda as narrativas dos super-heróis. O livro tam-
bém reconhece que “os bilhões de dólares gastos para entreter e comercializar a
garotos não produz somente lixo”.117 Entretanto, quer alertar didaticamente os pais
que “muitas dessas imagens maravilhosas estão embrulhadas com uma história de
identidade que envolve valores e comportamentos que não são tão grandiosos —
festejar, aliciar, brincar com as pessoas, e folgar”.118 O livro ressalta um elemento
importante que deve ser preservado na medida correta e considerado dentro da 113 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 91ss. 114 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 154ss. 115 FINGEROTH, 2007. 116 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 155-156. 117 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 1: “The billions of dollars spent to entertain and market to boys
doesn’t produce only trash.” (Tradução Própria) 118 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. 1: “But many of these wonderful images are packaged with an
identity story that involves values and behaviors that are not so great – partying, pimping, playing people, and slacking. (Tradução Própria)
66
complexidade desse fenômeno cultural ao se ocupar com ele: os bens culturais da
era contemporânea, da “cultura de massa”, estão vinculados às leis de mercado e
são elaborados visando o lucro. Nas palavras dos autores,
Entretanto, nós observamos muito bem quando pesquisamos Embrulhando a Adolescência Feminina que a mídia e o marketing são bem mais insidio-sos e penetrantes. O impacto tem tanto ou mais a ver com a repetição sutil de imagens e mensagens que atravessam todas as formas de mídia e se tornam uma parte do conhecimento público quanto tem a ver com qualquer um ou dois produtos óbvios ou sensacionalistas ou celebridades que as cri-anças estão enamoradas. De fato, a mídia e os marqueteiros ouvem o que os garotos e seus pais querem, mas o objetivo não é um desenvolvimento sadio; é vender algo. E, por causa disso, as histórias que eles contam e as imagens que eles servem refletirão apenas alguns poucos aspectos do que “os garotos querem” e mais raramente ainda o que os pais querem para seus filhos.119
Nessa direção, a pesquisa do sociólogo e filósofo Nildo Viana apresenta al-
guns insights instigantes para o estudo das narrativas dos super-heróis ao tensionar
ideologia, ou, como ele prefere, axiologia (referindo-se especificamente aos valores
da classe dominante) e inconsciente coletivo. Segundo o sociólogo, por um lado,
enquanto uma manifestação cultural contemporânea, as narrativas dos super-heróis
reproduzem os valores da classe dominante. Estes se manifestam na defesa da mo-
ral e dos bons costumes, na propagação de situações e reações modelares repre-
sentadas no enredo.120 Por outro lado, mesmo que as histórias sejam planejadas em
reuniões burocráticas, que tenham uma intencionalidade mercadológica — que pode
estar tanto nas inserções publicitárias quanto no frisson provocado pela narrativa e
na consequente necessidade de adquirir a edição subsequente — tanto a sua pro-
dução artística quanto sua leitura posterior estão relacionadas com o inconsciente
coletivo. Para Viana, a vida numa sociedade marcada pela burocratização e pela
mercantilização nas relações sociais provoca o desejo reprimido por liberdade. E a
119 BROWN, LAMB, TAPPAN, 2009, p. x: “However, we saw all too well when researching Packaging
Girlhood that media and marketing are far more insidious and pervasive. The impact has as much or more to do with the subtle repetition of images and messages that cross all forms of media and become a part of public knowledge than it has to do with any one or two obvious or sensationalized products or celebrities that kids are enamored of. Sure, media and marketers listen to what boys and their parents want, but the goal is not healthy development; it’s to sell something. And because of that, the stories they tell and the images they serve up will reflect only a few aspects of “what boys want” and even more rarely what parents want for their sons.” (Tradução Própria)
120 VIANA, 2005, p. 37-56.
67
leitura de uma história dos super-heróis é atrativa justamente pelos elementos fan-
tásticos que ela expressa, pois são esses elementos que condensam os desejos
reprimidos de leitores e criadores: o desejo de liberdade, o desejo de poder.121
O processo de criação da superaventura é um processo consciente no qual o criador envia uma mensagem na maioria das vezes axiológica. Porém, nenhuma produção cultural é somente consciente e junto com o processo consciente caminha o processo inconsciente. No caso da ficção isto é ainda mais forte. Na superaventura a imaginação ganha autonomia na narrativa e isto permite uma manifestação mais forte do inconsciente. Porém, além do inconsciente individual derivado da repressão individual que se manifesta em cada obra individual, também se manifesta o inconsciente coletivo, deri-vado da repressão coletiva. Tal repressão coletiva é a do mundo burocrático e mercantil em que vivemos. Se lembrarmos que a produção da superaven-tura é uma forma de manifestação da criatividade, que é uma potencialidade humana reprimida em nossa sociedade, então podemos supor que ela é, para os criadores, um momento de liberdade e de realização. Porém, de-vemos reconhecer que tal criatividade se manifesta mas de forma controla-da. Os criadores de superaventuras não são livres para produzirem o que quiserem e como quiserem. Eles estão submetidos às grandes empresas que controlam esta produção, seja a Marvel Comics, a DC, a Image, ou qualquer outra. Tais empresas são tão burocráticas e mercantis quanto qualquer outra. A partir disto se conclui que tal controle é um dos elementos que originam tal produção. [...] Mas, de qualquer forma, tanto os produtores quanto os consumidores da superaventura manifestam o desejo inconscien-te de liberdade em resposta ao mundo burocrático e mercantil fundamenta-do na repressão.122
Enfim, todos esses argumentos e perspectivas ilustram a diversidade de in-
cursões científicas possíveis nas histórias em quadrinhos como um todo e, especi-
almente, nas narrativas dos super-heróis. Nessa mesma direção, tanto as aborda-
gens críticas quanto as leituras apologéticas respondem no fundo à pergunta acerca
da relevância do estudo dessas narrativas. Postas em diálogo, essas diferentes
perspectivas revelam as imbricações que compreendem as relações na vida social
cotidiana. Mais ainda, vale ressaltar que as histórias em quadrinhos em geral não
apenas conquistaram respeito, mas se tornaram igualmente uma proposta educa-
cional no Brasil. Desde a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional e da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, as histórias
em quadrinhos passaram a ser consideradas importantes para o ensino, tanto na
transmissão de informações, vocábulos, quanto no desenvolvimento do hábito da
121 VIANA, 2005, p. 57-64. 122 VIANA, 2005, p. 61-63.
68
leitura.123 E esse fato caminha ao encontro da percepção indelével de que esses
bens culturais pertencem à era contemporânea e que, entre apocalípticos e integra-
dos, urge a necessidade de se tensionar as relações para aprender como tais bens
abordam as vicissitudes da vida humana. Em suma, as histórias em quadrinhos em
geral, e as narrativas dos super-heróis em especial, estão se consolidando como um
objeto de estudo importante para a construção de conhecimento e para a própria
compreensão da vida em sociedade nas mais diferentes áreas das ciências huma-
nas e das ciências sociais aplicadas.
123 VERGUEIRO, 2007, p. 16-29. Dos estudos que lançam possibilidades de abordagem das histórias
em quadrinhos em sala de aula, duas publicações recentes merecem destaque: A coletânea de textos organizada por Waldomiro Vergueiro e Ângela Rama intitulada Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula (VERGUEIRO, RAMA, 2007) e o livro de Paulo Ramos intitulado A Lei-tura dos Quadrinhos [RAMOS, Paulo. A Leitura dos Quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009. 157p. (Coleção Linguagem & Ensino)].
INTERLÚDIO: A ORIGEM DO SUPERMAN
Figura 1: A origem do Superman
Fonte: DINI, Paul; ROSS, Alex. Superman: Paz na Terra. In: ______. Os Maiores Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini, 2007b. [s.p.]
“O Planeta Krypton estava condenado. Pouco antes da destruição, um cientista colocou seu único filho em um pequeno foguete e o enviou para a salvação. Eu era essa criança. O Fo-guete caiu na Terra, onde fui encontrado por um simpático casal, os Kents. Eles me batiza-ram de Clark e me criaram como um filho. Já na infância eu sabia que era diferente de todos ao meu redor. Com seu amor e conselhos, meus pais adotivos me ensinaram a usar e com-preender meus dons especiais. Quando cresci, acabei descobrindo que era capaz de desa-fiar a gravidade. Eu podia ser mais veloz do que qualquer coisa criada pelo homem. Minha força era descomunal e meu corpo, invulnerável. Mais tarde me tornei repórter para estar perto das pessoas quando elas precisassem. Sempre que surgem problemas, eu me trans-formo no Superman. Jurei lutar pela liberdade e pela justiça para proteger o mundo que me aceitou como um filho de Krypton e me abraçou como um dos seus”.
2 SUPERAVENTURA: DA NARRATIVA AO GÊNERO
Talvez [nós] os homens não sejamos outra coisa que um modo particular de contarmos o que somos. E, para isso, para contarmos o que somos, talvez
não tenhamos outra possibilidade senão percorrermos de novo as ruínas de nossa biblioteca, para tentar aí recolher as palavras que falem para nós.
Jorge Larrosa124
Afinal de contas, por que todo mundo parece se render ao fascínio exercido pelos super-heróis, esses seres poderosíssimos em roupas extravagantes,
donos de um palavreado dramático e de ações incabíveis?
Roberto Guedes125
O capítulo anterior apresentou um panorama da evolução da superaventura
na perspectiva do debate acadêmico e científico desencadeado pelos argumentos
do psiquiatra Fredric Wertham, cujas repercussões ecoaram na sociedade estaduni-
dense e global, bem como nas produções editoriais do gênero, sobretudo, na cria-
ção do código de ética e autocensura dos quadrinhos. Ele ilustrou a influência cres-
cente que a superaventura exerceu ao longo dos anos e que continua a exercer no
século XXI tanto pela discussão intermitente sobre suas produções quanto pela
transposição do próprio gênero para outras mídias, consolidando-se como parte in-
tegrante do imaginário popular. A partir de sua abordagem, o capítulo indicou a su-
peraventura como um bem cultural da era contemporânea e a necessidade de uma
124 LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. 4. ed. 3 reimpr. Belo Hori-
zonte: Autêntica, 2006. p. 22. 125 GUEDES, Roberto. No céu de Retro City há um sinal. In: DIAS, Maurício. Retrocity: almanaque
1039. São Paulo: HQ Maniacs/Dínamo Studio, 2010. p.7.
72
leitura crítica que compreenda as narrativas dos super-heróis dentro de sua ambi-
guidade e de sua complexidade. Esse panorama foi importante para perceber os
contornos gerais e as tessituras que ajudaram a definir tanto as narrativas dos su-
per-heróis ao longo de sua existência quanto a formar uma opinião pública e aca-
dêmica diversificada e até contraditória sobre essas histórias. Ele é um indicativo de
que alguma coisa está acontecendo para que tantas pessoas em diversas esferas
da sociedade se mobilizem em torno dessas histórias. E é a partir da leitura desse
panorama que as principais perguntas começam a ser formuladas.
As perguntas emergentes após esse retrospecto panorâmico são aquelas
que ressoam precisamente nas palavras de Roberto Guedes expressas na epígrafe
deste capítulo: “Afinal de contas, por que todo mundo parece se render ao fascínio
exercido pelos super-heróis, esses seres poderosíssimos em roupas extravagantes,
donos de um palavreado dramático e de ações incabíveis?”. Em outras palavras, por
que as pessoas se envolvem de tal maneira com os super-heróis e as suas narrati-
vas, ao ponto desse envolvimento provocar manifestações, discussões e ações a
seu respeito? Por que as pessoas lotam os cinemas para assistirem essas histórias?
Por que pesquisadores e especialistas insistem em dizer o que pensam e como ava-
liam o conteúdo dessas histórias? Para compreender esse movimento diversificado
e contraditório em torno da superaventura, é necessário entender o que é a supera-
ventura, quais são os seus elementos, como ela se constitui e como interpretá-la. O
objetivo, pois, deste capítulo é dar um passo adiante e ir além da visão panorâmica
acerca da superaventura; é mergulhar em seus meandros para descobrir os seus
segredos. E a primeira indicação para essa incursão está na afirmação mais sim-
ples: a superaventura é uma narrativa. É, pois, a partir desse fato que a superaven-
tura precisa ser primeiramente percebida, lida, ouvida e até mesmo interpretada.
A superaventura é uma narrativa. Ela conta uma história. E o fato é que o
ser humano conta histórias desde os tempos mais remotos de sua biografia. As gra-
vuras, as imagens pictográficas encontradas em cavernas, paredes e vasos em ex-
73
pedições arqueológicas, o imaginário popular da narração de histórias ao redor de
uma fogueira, difundido pela literatura, pelo cinema, ilustram o quanto o ser humano
está atrelado ao ato de contar histórias. O que são os livros, os escritos sagrados
das religiões, as fotografias, os desenhos, os jornais, os filmes, os diários, as grava-
ções de áudio, senão um jeito particular de se contar e de se preservar histórias re-
cebidas e inventadas? As narrativas, pois, ocupam um lugar central na vida humana
e na constituição de seu universo simbólico.
Nessa direção, um dos temas recorrentes e elementares no pensamento do
teólogo mineiro Rubem Alves é justamente a importância das narrativas no processo
de constituição do mundo humano, do universo simbólico. Em seu livro Variações
sobre a Vida e a Morte,126 Alves dedica um de seus capítulos para explorar a relação
entre a teologia e a narração de histórias, isto é, de estórias. Para o teólogo mineiro,
a tarefa da teologia é contar e repetir estórias. E aqui, nesse caso, a despeito da re-
comendação dos gramáticos de se utilizar apenas um termo, história, para se referir
a qualquer tipo de conto ou narrativa, a diferença entre história e estória é crucial
para o teólogo mineiro. Segundo Alves, “‘História’ é aquilo que aconteceu uma vez e
não acontece nunca mais. ‘Estória’ é aquilo que não aconteceu nunca porque acon-
tece sempre. A ‘história’ pertence ao tempo; é ciência. A ‘estória’ pertence à eterni-
dade; é magia”.127 A história seria antes aquele saber legitimado por meio do qual os
pesquisadores buscam compreender o presente e o passado a partir de suas heran-
ças, seus documentos, seus artefatos. É a história enquanto fato. A estória é antes a
“invocação da vida”, porque “as estórias têm o poder mágico de mexer fundo dentro
126 ALVES, Rubem. Variações sobre a vida e a morte ou o feitiço erótico-herético da teologia. São
Paulo: Loyola, 2005c. 127 ALVES, Rubem. O amor que acende a lua. 11. ed. Campinas: Papirus, 2005a. p. 203-204. Em
outra ocasião, o teólogo mineiro indica: “‘História’ refere-se a coisas que aconteceram realmente no passado e nunca mais acontecerão, como o naufrágio do Titanic, que pertence à ‘história’ e nunca mais acontecerá. Mas a parábola do Bom Samaritano nunca aconteceu. Foi uma ‘estória’ contada por um mestre contador de estórias chamado Jesus. As estórias são contadas no passa-do, mas elas não têm passado. Só têm presente. Estão sempre vivas. Quando as ouvimos fica-mos ‘possuídos’, rimos, choramos, amamos, odiamos – embora elas nunca tenham acontecido.” (ALVES, Rubem. Perguntaram-me se acredito em Deus. São Paulo: Planeta, 2007. p. 16-17).
74
da alma, atingindo os lugares onde os risos, as lágrimas e as fúrias se aninham”.128
Enquanto a primeira carrega a pretensão pela verdade, a segunda carrega a prima-
zia da vida e da busca pelo sentido. Assim, segundo Alves, a tarefa da teologia é
contar e repetir estórias, porque seu compromisso não repousa sob a pretensão da
verdade, mas sobre a primazia da vida.
Mas quando a estória se inicia um outro mundo vem a ser: o relato é curto, contado para quem está a caminho; a linguagem é direta e poética, fazendo dançar um sem-número de sentidos possíveis; e, de forma semelhante ao chiste, ele termina numa armadilha, que desarma sobre o interlocutor, no inesperado da conclusão. E ele repentinamente descobre que a estória não fala sobre um objeto, mas é uma rede que o agarra, obrigando-o a uma pa-lavra que seja uma confissão ou uma decisão. A estória não fala sobre algo. Não pertence ao mundo do isso. Ela fala com alguém, estabelece uma rede de relações entre as pessoas que aceitam conspirar, co-inspirar em torno do fascínio do que é dito...129
Alves refere-se aqui às estórias ou, melhor, às histórias de ficção ou ainda
àquelas histórias que, mesmo que se prendam a algum aspecto ou acontecimento
da realidade, não carregam em seu texto a pretensão nítida dos livros científicos de
história utilizados em escolas, academias, isto é, livros analíticos resultantes de pes-
quisas apuradas e condizentes com o rigor científico de uma investigação documen-
tal ou bibliográfica (a história com “h” maiúsculo). O teólogo se refere aqui aos con-
tos orais, aos mitos, aos contos de fadas, aos romances, às parábolas bíblicas, às
poesias e às novelas; isto é, ele alude às histórias que, de uma forma ou de outra,
acabam sempre revelando um pouco mais sobre o ser humano e sobre como ele
entende o mundo em que vive. Para Alves, essas histórias de ficção são capazes de
estabelecer uma rede de relações entre aquelas pessoas que se envolvem com su-
as narrativas. E elas são capazes disso por causa do que dizem. E o que elas dizem
não parte do princípio de verdade calcado pela ciência positivista e lapidado pelo
rigor epistemológico, mas da busca por sentido e da reiteração de que a vida está aí
para ser vivida.130 É nessa direção que Umberto Eco também vai entender o porquê
128 ALVES, 2005c. p. 101. 129 ALVES, 2005c, p. 107. Grifos no original. 130 ALVES, 2005c, p. 97-109 e Cf. também REBLIN, 2009, p. 166-169.
75
de as pessoas contarem histórias ao longo de suas vidas, de as pessoas lerem, ou-
virem ou assistirem contos de ficção:
As crianças brincam com boneca, cavalinho de madeira ou pipa a fim de se familiarizar com as leis físicas do universo e com os atos que realizarão um dia. Da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através do qual da-mos sentido à infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer no mundo real. Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansie-dade que nos assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo.
Essa é a função consoladora da narrativa – a razão pela qual as pessoas contam histórias e têm contado histórias desde o início dos tempos. E sem-pre foi a função suprema do mito: encontrar uma forma no tumulto da expe-riência humana.131
Desse modo, quando se sugere uma leitura que dê conta da ambiguidade e
da complexidade das narrativas dos super-heróis, o que há nas suas entrelinhas é
exatamente isto: enquanto histórias de ficção, as narrativas dos super-heróis estão
relacionadas à criação e à manutenção do universo simbólico do ser humano. Isso
significa que, para responder à pergunta proposta, isto é, por que os super-heróis
fascinam tanto, é imprescindível, em primeiro lugar, recuperar algumas noções da
relação entre as narrativas e o processo de constituição do universo simbólico do ser
humano. Em outras palavras, qual é a importância das narrativas na criação do
mundo humano? Em segundo lugar, é importante resgatar algumas compreensões
atinentes ao específico das narrativas da superaventura, isto é, às características
que definem sua peculiaridade enquanto narrativa e enquanto gênero narrativo. Es-
sas informações serão importantes para a identificação de perspectivas possíveis de
análise e de interpretação.
131 ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. 9. reimpr. São Paulo: Companhia das Le-
tras, 2006. p. 93.
76
2.1 AS NARRATIVAS NA INVENÇÃO DO MUNDO HUMANO
No primeiro bloco da coletânea de ensaios que constituem sua “Pedagogia
Profana”, Jorge Larrosa se ocupa com o tema “como se chega a ser o que se é”.
Neste bloco, a sua preocupação reside na formação, ou melhor, na invenção do ser
humano; isto é, Larrosa procura compreender como o ser humano vai se constituin-
do ao passo que vai vivendo sua vida, experimentando situações e estabelecendo
relações com o ambiente (pessoas, lugares) a sua volta. E essa constituição do ser
humano não caminha para uma formação no sentido de atingir uma formatação fixa,
pré-determinada, concluída ou acabada; mas ela adquire contornos a partir do pro-
cesso contínuo de encontros e desencontros que caracterizam a própria vida huma-
na. Nas palavras do filósofo da educação, “não há um caminho traçado de antemão
que bastasse segui-lo, sem desviar-se, para se chegar a ser o que se é”.132 Como já
lembrou Paulo Freire em sua “Pedagogia da Autonomia”, o ser humano enquanto
ser vivente é um ser inacabado, inconcluso, em constante processo de busca e a-
prendizagem: “Onde há vida, há inacabamento”.133 Essa percepção é explorada sin-
gularmente por Rubem Alves em sua filosofia da religião.134
Para Rubem Alves, o ser humano se distingue especialmente de outros se-
res vivos por não estar biologicamente programado para viver num nicho específico.
Isso não significa que o ser humano possa viver sob quaisquer condições climáticas
e ambientais; significa que seu organismo lhe diz muito pouco — se é que lhe diz
algo — sobre o que comer e vestir, sobre como se comportar, agir ou reagir a de-
terminadas situações;135 isto é, faltam-lhe informações que orientem sua vida. Se
não há algo biologicamente pré-fixado, o ser humano necessitará criar as condições
132 LARROSA, 2006, p. 9. 133 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2008. p. 50. 134 A compreensão alvesiana da constituição do mundo humano e do próprio ser humano é um dos
pontos de partida desta pesquisa. Sua abordagem foi realizada detalhadamente na pesquisa de mestrado (REBLIN, 2009, p. 91-136) e apenas seus pontos cruciais serão retomados aqui.
135 “De fato, a programação biológica continua a operar. Mas ela diz muito pouco, se é que diz algu-ma coisa, acerca do que iremos fazer por este mundo afora. O mundo humano, que é feito com trabalho e amor, é uma página em branco na sabedoria que nossos corpos herdaram de nossos antepassados.” (ALVES, Rubem. O que é religião? 6. ed. São Paulo: Loyola, 2005b. p. 19).
77
que tornem sua vida possível; e isso não implica apenas na invenção dos itens bási-
cos ligados diretamente à sobrevivência (utensílios, abrigos, roupas), mas estende-
se à esfera do sentido.136 Nessa direção, Rubem Alves vai identificar a vida humana
na tensão entre fatos e valores, isto é, “as coisas tais como são e as coisas tais co-
mo poderiam ser”.137 Em outras palavras, na perspectiva do teólogo mineiro, a vida
humana é marcada pelo sentido e pela possibilidade.
Como podemos explicar tal variedade de produtos, provenientes da mesma estrutura biológica? A resposta é simples. O homem não está programado pelo seu corpo. Sua vida pregressa não o torna cativo. Os animais, contro-lados pelo seu passado, são fechados. Com o homem isto não ocorre. Ele é um experimento inacabado. Apesar de condicionado pelo seu passado não está condenado a repetir e a atuar da mesma forma, num modelo rígido e repetitivo. Possui a possibilidade única de usar o seu passado como instru-mento para a criação de um futuro qualitativamente novo. A natureza física do homem não significa, por conseguinte, que ele se encontra determinado pelo seu organismo. Seu corpo é criativo. Possui o poder de se superar e de fazer nascer algo que antes não existia.138
Ao viver no mundo e interagir com ele, o ser humano é capaz de ir além. Ele
anseia o sentido, o ausente, imagina a possibilidade e antropologiza a natureza no
processo de constituição de seu mundo, isto é, o ser humano transforma e organiza
o mundo a sua volta segundo sua vontade.139 E essa transformação e essa organi-
zação do mundo, por sua vez, gestarão e criarão o mundo humano, elas não se res-
tringem ao uso e à invenção de tecnologias, mas envolvem a criação de um universo
136 “O homem precisa tanto de tais fontes simbólicas de iluminação para encontrar seus apoios no
mundo porque a qualidade não-simbólica constitucionalmente gravada em seu corpo lança uma luz muito difusa. Os padrões de comportamento dos animais inferiores, pelo menos numa grande extensão, lhes são dados com a sua estrutura física; fontes genéticas de informação ordenam su-as ações com margens muito mais estreitas de variação, tanto mais estreitas e mais completas quanto mais inferior o animal. Quanto ao homem, o que lhe é dado de forma inata são capacida-des de resposta extremamente gerais, as quais, embora tornem possível uma maior plasticidade, complexidade e, nas poucas ocasiões em que tudo trabalha como deve, uma efetividade de com-portamento, deixam-no muito menos regulado com precisão. [...] Não dirigido por padrões culturais — sistemas organizados de símbolos significantes — o comportamento do homem seria virtual-mente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de explosões emocionais, e sua ex-periência não teria praticamente qualquer forma. A cultura, a totalidade acumulada de tais pa-drões, não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para ela — a principal base de sua especificidade”. (GEERTZ, Clifford. A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, [1989]. p. 33).
137 ALVES, 2005b, p. 35. 138 ALVES, Rubem. A gestação do futuro. 2. ed. Campinas: Papirus, 1987. p. 164. (Grifo no original). 139 ALVES, Rubem. O suspiro dos oprimidos. 5. ed. São Paulo: Paulus, 2003. p. 12.
78
simbólico dentro do qual o ser humano possa se orientar e se inventar.140 O elemen-
to fundamental nesse processo de constituição do mundo humano e do ser humano
em si (isto é, de tornar possível a este dizer a si mesmo quem ele é) reside na capa-
cidade do ser humano de “conceber o ideal e de acrescentá-lo ao real”.141 O ser hu-
mano é o que é, faz o que faz por possuir capacidade imaginativa. Para o teólogo
mineiro, “a imaginação é a forma mais fundamental de operação da consciência hu-
mana. Os animais não têm imaginação. Por isto nunca produziram arte, profetas ou
valores. Por isto também nunca puderam produzir religião”.142 A imaginação possibi-
lita ao ser humano ir além dos limites de seu corpo. Ele é capaz de criar mundos. E
é nessa direção que a cultura, o universo de sentido e os valores emergem.
Assim, a cultura começa com o corpo, mas depois o transfigura — mais precisamente, o corpo se transfigura a si mesmo. A música que me faz rir ou chorar, a comida que me dá prazer ou indigestão, o contato que me pro-duz alegria ou tristeza: tudo isto está relacionado às minhas raízes culturais, às minhas aspirações e àquelas formas específicas de sentir a vida que são peculiares à cultura à qual pertenço.143
Essa argumentação se aproxima e pode ser complementada com a perspec-
tiva de Clifford Geertz. Para o antropólogo estadunidense, a cultura deve antes ser
entendida como um “mecanismo de controle” similar aos programas de computador,
criado para reger o comportamento humano. A cultura, segundo Geertz, “é melhor
vista não como complexos de padrões concretos de comportamento — costumes,
usos, tradições, feixes de hábitos — [...] mas como um conjunto de mecanismos de
controle — planos, receitas, regras [...] — para governar o comportamento”.144 É a
cultura que possibilita a vida humana, ela é a condição para sua existência. “Sem os
homens certamente não haveria cultura, mas, de forma semelhante e muito signifi-
cativamente, sem cultura não haveria homens”.145
Pensar consiste [...] num tráfego [...] de símbolos significantes — as pala-vras, para a maioria, mas também gestos, desenhos, sons musicais, artifí-
140 ALVES, 2003, p. 12. 141 DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989. p. 499. 142 ALVES, Rubem. O enigma da religião. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006. p. 42. 143 ALVES, 1987, p. 170. Cf. também GEERTZ, [1989], p. 36. 144 GEERTZ, [1989], p. 33. 145 GEERTZ, [1989], p. 36.
79
cios mecânicos como relógios, ou objetos naturais como jóias — na verda-de, qualquer coisa que esteja afastada da simples realidade e que seja usa-da para impor um significado à experiência. Do ponto de vista de qualquer indivíduo particular, tais símbolos são dados, na sua maioria. Ele os encon-tra já em uso corrente na comunidade quando nasce e eles permanecem em circulação após a sua morte, com alguns acréscimos, subtrações e alte-rações parciais dos quais pode ou não participar. Enquanto vive, ele se utili-za deles, ou de alguns deles, às vezes deliberadamente e com cuidado, na maioria das vezes espontaneamente e com facilidade, mas sempre com o mesmo propósito: para fazer uma construção dos acontecimentos através dos quais ele vive, para auto-orientar-se no “curso corrente das coisas ex-perimentadas”, tomando de empréstimo uma brilhante expressão de John Dewey.146
Portanto, o mundo humano se constitui a partir do instante em que o ser
humano recusa a realidade tal como esta se apresenta a ele e imagina aquilo que
não existe. A imaginação se funde ao desejo de que aquilo que não existe venha a
existir. E é nessa relação, com o auxílio das mãos (ação), que uma nova realidade
se instaura, a cultura nasce e o mundo humano é criado. E a cultura, isto é, o mundo
humano, este universo de sentido e valores e todo o seu entorno, emerge e se sus-
tenta mediado pela linguagem.
A linguagem é a memória coletiva da sociedade. É ela que provê as catego-rias fundamentais para que certo grupo social interprete o mundo, ou seja, para que ele diga como ele é. Mas exatamente por causa disso, por deter-minar a interpretação, a linguagem determinará também a maneira pela qual a referida comunidade irá organizar a sua ação. É lógico. Um sujeito (homem ou comunidade) age em resposta a determinado estímulo. Mas se o mundo, donde vêm os estímulos, é mediado pela linguagem, esta irá, de uma forma ou de outra, condicionar a resposta.147
Aqui é importante ressaltar o seguinte: a linguagem é o meio pelo qual o
mundo humano se dá, isto é, o meio pelo qual o mundo humano é criado, se man-
tém e se perpetua. É a linguagem que torna possível ao ser humano dizer a si mes-
mo, ao seu grupo e aos outros, quem ele é e por que ele é quem é. É a linguagem
que organiza o mundo humano na perspectiva dos valores de um grupo, de uma
sociedade e, como tal, condiciona sua percepção, também, à medida que as novas
gerações já nascem inseridas nessa organização. Assim, é a linguagem que possibi-
lita igualmente ao ser humano ter uma história. As criações humanas não são elabo-
146 GEERTZ, [1989], p. 33. 147 ALVES, 2003, p. 15-16. Grifos no original.
80
radas a cada nova geração, mas são transmitidas, ensinadas, aprendidas e trans-
formadas de geração a geração (com algumas adaptações, supressões e adições).
Enquanto “memória coletiva da sociedade”, a linguagem torna possível ao ser hu-
mano manter suas criações (costumes, estilos de vida, comportamentos, valores,
conhecimentos, experiências, invenções, respostas específicas para determinados
estímulos ou situações-problema, etc.) às gerações vindouras. Essa compreensão
da constituição do mundo humano e da invenção de si mesmo pode, pois, ser ilus-
trada da seguinte maneira:
Figura 2: A invenção do mundo humano e do ser human o
Fonte: elaborado a partir de REBLIN, 2009, p. 91-136.
Essa ilustração sugere como acontece a criação do mundo humano e como
nesse ato criacional o ser humano se inventa e se torna quem ele é num contínuo
fazer e refazer-se. Esse processo não é cíclico, mas antes pode ser compreendido
como uma espiral, visto que o ser humano nunca parte de um zero; ele já é apresen-
tado a um mundo ao inserir-se nele, ao nascer. E essa compreensão traz alguns
pressupostos significativos: essa relação e essa invenção do mundo e de si mesmo
não acontece numa etapa final de um processo de evolução biológica do espécime
humano, isto é, a cultura não emerge após o ser humano estar concluído enquanto
ser vivo, mas ela brota concomitantemente a esse processo. Nas palavras de Ge-
81
ertz, “a cultura, em vez de ser acrescentada, por assim dizer, a um animal acabado
ou virtualmente acabado, foi um ingrediente, e um ingrediente essencial, na produ-
ção desse mesmo animal”.148 Em outras palavras, “isso sugere não existir o que
chamamos de natureza humana independente da cultura”;149 ou ainda, “nós somos
animais incompletos e inacabados que nos completamos e acabamos através da
cultura — não através da cultura em geral, mas através de formas altamente particu-
lares de cultura”.150 É nessa direção que “todos nós começamos com o equipamento
natural para viver milhares de espécies de vidas, mas terminamos por viver apenas
uma espécie”.151
Aqui é importante reiterar que essas criações humanas — os universos sim-
bólicos, de sentido, as receitas e as instruções — não são uníssonas, mas diversifi-
cadas, distintas, controversas, plurais, porque as experiências dos diferentes grupos
que constituem a sociedade o são. São as experiências distintas em diversos con-
textos, as diferentes maneiras de responder aos desafios que emergem durante a
vida, nos mais variados tempos e espaços que fornecem as formas e as cores do
caleidoscópio que é a vida humana. O ser humano é itinerante, transita entre dife-
rentes universos culturais e são suas experiências diante de situações-problema —
e aqui se referindo à experiência entendida no sentido que lembrou Jorge Larrosa,
como “algo que nos acontece”, isto é, como algo que se experimenta numa relação
marcada por uma abertura ou disposição de pôr-se à prova, pôr-se em perigo, diante
do desconhecido152 — seu aprendizado em determinados grupos sociais, as esco-
lhas que ele faz no decorrer de sua vida, que vão continuamente fazendo-o fazer-se
e refazer-se. É nessa perspectiva que Geertz vai asseverar que
Quando vista como um conjunto de mecanismos simbólicos para controle do comportamento, fontes de informação extra-somáticas, a cultura fornece
148 GEERTZ, [1989], p. 34. 149 GEERTZ, [1989], p. 35. 150 GEERTZ, [1989], p. 36. 151 GEERTZ, [1989], p. 33. 152 LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e saber de experiência. Revista Brasileira
de Educação, Campinas, n.19, p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbedu/n19/n19a03.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011.
82
o vínculo entre o que os homens são intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um. Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós nos tornamos individuais sob a direção dos padrões cul-turais, sistemas de significação criados historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas. O homem não po-de ser definido nem apenas por suas habilidades inatas, como fazia o ilumi-nismo, nem apenas por seu comportamento real, como o faz grande parte da ciência social contemporânea, mas sim pelo elo entre eles, pela forma em que o primeiro é transformado no segundo, suas potencialidades gené-ricas focalizadas em suas atuações específicas. É na carreira do homem, em seu curso característico, que podemos discernir, embora difusamente, sua natureza e, apesar de a cultura ser apenas um elemento na determina-ção desse curso, ela não é o menos importante. Assim como a cultura nos modelou como espécie única — e sem dúvida ainda nos está modelando — assim também ela nos modela como indivíduos separados. É isso o que temos realmente em comum — nem um ser subcultural imutável, nem um consenso de cruzamento cultural estabelecido.153
Embora Geertz não explore outros elementos importantes na constituição do
mundo humano e do ser humano em si, tais como a imaginação e a esfera do dese-
jo, dos sonhos, elementos trazidos pelo pensamento interdisciplinar de Alves, sua
argumentação igualmente não os exclui. Isso porque, segundo Geertz, a cultura faz
a ponte entre quem o ser humano é e quem ele pode vir a ser. Nessa direção, a par-
tir de Alves, a cultura acaba se tornando igualmente tanto o meio através do qual a
imaginação e o desejo atuam quanto a própria consequência dessa atuação. A ima-
ginação e o desejo somam-se à percepção da cultura como uma rede simbólica, de
significado, tecida pelo ser humano — e à qual ele está sujeito — em sua tentativa
de encontrar uma “ordem amorosa” capaz de suprir sua ânsia de sentido. Agora, o
que Alves, por sua vez, percebe é justamente a dinâmica entre o perigo da absoluti-
zação da cultura, do mundo da linguagem, na vida humana, e a possibilidade de se
“quebrar o feitiço” da linguagem e de se ter seu mundo reorganizado.154 Enquanto
inacabado, o ser humano persiste em sua busca por uma ordem que supra sua ne-
153 GEERTZ, [1989], p.37-38. 154 ALVES, 2006, p. 117-164. Essa dinâmica entre o absoluto e o provisório do mundo humano e a
possibilidade de reestruturação é abordada significativamente no ensaio “A metamorfose da cons-ciência: conversão”. Neste ensaio, ao buscar as origens históricas do fenômeno religioso, Rubem Alves explora a dinâmica do cotidiano sob a tensão da repetição, da lógica e da ontologia e como a linguagem contribui para “enfeitiçar” os fatos sociais tornando-os absolutos. Entretanto, mesmo que o ser humano se esqueça da precariedade das realidades sociais e se prenda a elas para vi-ver sua vida, há a possibilidade de se “quebrar o feitiço”. Isso porque o ser humano “não vive num mundo de fatos brutos, mas num mundo de valores. [...] O mundo humano — queiramos ou não — se estrutura em torno dos nossos sonhos, e um ‘mundo de sonhos que se organiza em função do sucesso ou da frustração dos desejos que constituem a sua essência”, assevera Rubem Alves, reportando-se a John Dewey (ALVES, 2006, p. 148).
83
cessidade por sentido. E essa capacidade de desejar e imaginar o ausente e de tor-
ná-lo real, quer seja por meio da criação simbólica, quer seja por meio das mãos,
quer seja por ambas, torna possível ao ser humano reorganizar o mundo à medida
que este se tornar ineficiente, opressivo ou mesmo não funcional.155 Para o teólogo
mineiro, o ser humano não se satisfaz com suas criações culturais: “É possível dis-
cernir a intenção do ato cultural, mas parece que sua realização efetiva escapa para
sempre àquilo que nos é concretamente possível”.156 Assim, o mundo humano e o
ser humano em si vão se constituindo num processo infindável de (re)elaboração. O
que leva, pois, o ser humano a ser quem ele é, isto é, o caminho que o conduz a si
mesmo, está sempre para ser inventado, quer seja a partir das escolhas, experiên-
cias, aprendizagens, quer seja a partir das relações que ele vai estabelecendo com
o universo em que está inserido.
O itinerário que leve a um “si mesmo” está para ser inventado, de uma ma-neira sempre singular, e não se pode evitar nem as incertezas nem os des-vios sinuosos. De outra parte, não há um eu real e escondido a ser desco-berto. Atrás de um véu, há sempre outro véu; atrás de uma máscara, outra máscara; atrás de uma pele, outra pele. O eu que importa é aquele que e-xiste sempre mais além daquele que se toma habitualmente pelo próprio eu: não está para ser descoberto, mas para ser inventado; não está para ser realizado, mas para ser conquistado; não está para ser explorado, mas para ser criado.157
O que faz, pois, o ser humano chegar a ser quem ele é encontra-se no ca-
minho que ele trilhará no decorrer da vida, marcado pelas sinuosidades, encruzilha-
das, vicissitudes, experiências, pelos encontros e desencontros, pelas escolhas e
situações que caracterizam a caminhada. É justamente na relação, na situação de
encontro, confronto, perigo e abertura que caracteriza a experiência que o ser hu-
mano chega a ser quem ele é. Agora, essas relações, essas situações de encontros 155 ALVES, 2005b, p. 22-23: “A sugestão que nos vem da psicanálise é de que o homem faz cultura a
fim de criar os objetos do seu desejo. O projeto inconsciente do ego, não importa seu tempo nem seu lugar, é encontrar um mundo que possa ser amado. Há situações em que ele pode plantar jardins e colher flores. Há outras situações, entretanto, de impotência em que os objetos do seu amor só existem por meio da magia da imaginação e do poder milagroso da palavra. Juntam-se assim o amor, o desejo, a imaginação, as mãos e os símbolos, para criar um mundo que faça sen-tido, que esteja em harmonia com os valores do homem que o constrói, que seja espelho, espaço amigo, lar... Realização concreta dos objetos do desejo ou, para fazer uso de uma terminologia que nos vem de Hegel, objetivação do Espírito”. (Grifos no original)
156 ALVES, 2005b, p. 23. Grifos no original. 157 LARROSA, 2006, p. 9.
84
e desencontros não acontecem “fora do mundo”, ou na introspectividade do eu. Ru-
bem Alves já lembrou que “não é a minha estória que dá sentido à história. É a histó-
ria que dá sentido à minha estória. Não sou o horizonte do mundo. Eu me encontro
no mundo e sou eu que tenho necessidade de horizontes”.158 Ou como asseverou
Larrosa, “o indivíduo não pode encontrar o valor e o sentido de sua própria existên-
cia, não pode afirmar que vive uma vida plenamente sua, e só pode viver expatriado
de um mundo composto por estruturas anônimas e impessoais”,159 o que não é pos-
sível justamente por sua habilidade e sua necessidade de humanizar o mundo. Por-
tanto, essas relações e essas situações de encontros e desencontros, o caminho a
ser trilhado para se chegar a ser quem se é acontecem no mundo; não no mundo
físico e orgânico, mas no mundo simbólico, cultural que se constitui continuamente e
é apresentado a cada ser humano ao nascer; é o mundo no qual cada ser humano
vive, o mundo que é mediado pela linguagem. É por isso que “somos o que somos
em virtude dos «outros relevantes» com quem conversamos”.160 E é nessa direção
que é possível afirmar igualmente que o ser humano é, no final das contas, constitu-
ído de um conjunto de palavras herdadas, recebidas, lidas, encontradas, agregadas,
ignoradas, transformadas, que o farão chegar a ser quem ele é.
Desse mesmo modo, que podemos cada um de nós fazer sem transformar nossa inquietude em uma história? E, para essa transformação, para esse alívio, acaso contamos com outra coisa a não ser com os restos desorde-nados das histórias recebidas? E isso a que chamamos autoconsciência ou identidade pessoal, isso que, ao que parece, tem uma forma essencialmen-te narrativa, não será talvez a forma sempre provisória e a ponto de desmo-ronar que damos ao trabalho infinito de distrair, de consolar ou de acalmar com histórias pessoais aquilo que nos inquieta? É possível que não seja-mos mais do que uma imperiosa necessidade de palavras, pronunciadas ou escritas, ouvidas ou lidas, para cauterizar a ferida.161
Chegar a ser quem se é não é, pois, um processo com início, meio e fim,
mas um contínuo “estar sendo” sob a perspectiva de um contínuo “vir a ser”. O itine-
rário continua a ser inventado, o “chegar a ser” continua acontecendo enquanto a
158 ALVES, 2006, p.30. 159 LARROSA, 2006, p. 9. 160 ALVES, 2006, p. 28. 161 LARROSA, 2006, p. 22.
85
vida continua sendo vivida. E isso, mais uma vez, não acontece em isolamento total
do mundo — como se tal empreendimento fosse de fato possível — mas na compa-
nhia de outros, imerso num mundo, numa estrutura de valores mediada pela lingua-
gem, à qual o ser humano é apresentado ao nascer, sob a qual está condicionado e
dentro da qual vive. É justamente para apresentar o mundo às novas gerações, para
dizer algo de si mesmo para si mesmo, para revisitar sua história, para manter e
perpetuar experiências e “receitas” de como viver e de como reagir a certos desafi-
os, mais ainda, é justamente, em sua tentativa de encontrar um sentido que o ser
humano conta histórias ou, melhor, histórias de ficção, ou ainda, estórias (para man-
ter aqui a distinção proposta por Rubem Alves) desde os tempos mais remotos de
sua existência.
O homem constrói o universo mediante a função que lhe pertence exclusi-vamente: a chamada função simbólica. A linguagem é por excelência o ins-trumento da função simbólica. O universo das histórias é o universo real on-de a simbolização que elas contêm espelham a relação do ser humano com o mundo. Por isso ninguém pode dizer que as histórias não são reais. Con-tinuam, desde sempre, tão reais que os seres humanos, na peleja da vida, são capazes de se orientar por elas.162
As narrativas inserem-se na vida humana como uma expressão da atividade
humana de buscar incansavelmente um sentido, um lar, ou, como diria Rubem
Alves, da tentativa incessante de humanizar o mundo.163 Ao narrar, o ser humano
diz para si mesmo como o mundo se apresenta para ele, como interpretá-lo. Ao con-
tar, ler ou ouvir uma narrativa, o ser humano se depara com um retrato da sociedade
na qual ele está inserido, dos valores que ele compactua, das angústias que o per-
seguem. Ao fazê-lo, o ser humano não apenas compartilha desse retrato, como é
capaz de reafirmá-lo, incorporá-lo, negá-lo e mesmo transformá-lo. É nessa direção
que Jorge Larrosa asseverou que “talvez [nós] os homens não sejamos outra coisa
que um modo particular de contarmos o que somos”, como está expresso na epígra-
fe deste capítulo. E, continua ele, “para contarmos o que somos, talvez não tenha-
162 GIORDANO, Alessandra. Contar histórias: um recurso arteterapêutico de transformação e cura.
São Paulo: Artes Médicas, 2007. p. 73. 163 ALVES, 2003, p. 12ss.
86
mos outra possibilidade senão percorrermos de novo as ruínas de nossa biblioteca,
para tentar aí recolher as palavras que falem para nós”. Assim, se, por um lado, sua
busca por sentido vai adquirir expressão nas histórias que o ser humano conta; por
outro, é nas histórias que ele conta, lê ou ouve que ele buscará esse sentido. Por-
tanto, o ser humano se configura e se inventa a partir das histórias que conta, ouve
ou lê.
Cada um deles configura o que ele próprio é, sua própria história, a partir dos fragmentos descosidos das histórias que recebeu. Incorporando-as e, por sua vez, negando-as, desconfiando delas e transformando-as de manei-ra que ainda possam ser habitáveis, que ainda conservem uma certa capa-cidade de pô-los de pé e abrigar, seja por um momento, sua indigência.164
O ser humano é, pois, em seu íntimo, uma justaposição transitiva de histó-
rias herdadas e recebidas que, em algum momento e a todo o momento, lhe dizem
algo sobre si mesmo e sobre o mundo e sobre sua forma de compreender e com-
preender-se no mundo. São histórias vividas e ficcionais — particularmente ficcio-
nais, já que, como lembrou Umberto Eco, “tentamos ler a vida como se fosse uma
obra de ficção”165 — que vão se somando umas às outras (se justapõem) e que não
são completas por si só (transitivas). Elas continuam incessantemente agregando-se
a outras, sendo transformadas, negadas, incorporadas. É nesse sentido que tanto
Larrosa quanto Alves asseveram que o ser humano é um palimpsesto, isto é, “como
um desses antigos pergaminhos que eram apagados para se escrever em cima,
mas nos quais ainda eram legíveis os restos das escritas anteriores”.166
Somos palimpsestos, escritura sobre escritura, esquecidas, apagadas, mas indelevelmente gravadas no tecido, prontas a ressurgir, se a encantação correta for feita. Dentro de cada corpo mora uma escritura. Estória. Mais corretamente: escrituras, estórias....167
164 LARROSA, 2006, p. 22. 165 ECO, 2006, p. 124. Em outro trecho, Eco questiona: “Mas, se a atividade narrativa está tão inti-
mamente ligada a nossa vida cotidiana, será que não interpretamos a vida como ficção e, ao inter-pretar a realidade, não lhe acrescentamos elementos ficcionais?” (ECO, 2006, p. 137).
166 LARROSA, 2006, p. 25. 167 ALVES, Rubem. Mares Pequenos — Mares Grandes (para começo de conversa). In: MORAIS,
Regis de (Org.). As razões do mito. Campinas: Papirus, 1988. p. 13-21. p. 17.
87
Para o teólogo mineiro, o segredo das estórias é precisamente este: “As es-
tórias delimitam os contornos de uma grande ausência que mora em nós. Em outras
palavras: elas contam um Desejo. E todo Desejo é verdadeiro”.168 Assim, se, por um
lado, não é possível ao ser humano apagar os vestígios das palavras que configu-
ram quem ele é; por outro, as histórias inventadas e criadas sempre trarão, de uma
forma ou outra, traços daqueles que as escreveram. Nas palavras de Larrosa, “toda
escritura pessoal, enquanto escritura, contém vestígios das palavras e histórias re-
cebidas”.169 Expresso de outra maneira, o universo criado ficcionalmente nas histó-
rias de ficção é inspirado no universo no qual seu autor está inserido. Assim “muitas
histórias contam não apenas episódios de uma história imaginária, mas muita coisa
sobre nós mesmos”.170 Não é por acaso que, no mundo contemporâneo, as histórias
de ficção têm conduzido cada vez mais pessoas às livrarias e aos cinemas.
Enfim, é nesta direção que as frases de Jorge Larrosa e Roberto Guedes se
entrelaçam como epígrafes deste capítulo: o ser humano não apenas se configura a
partir das palavras que recebe e que enuncia sobre si mesmo, a partir das histórias
que lê, ouve ou conta, ele é atraído e fascinado por elas; mais ainda, ele precisa de-
las, porque é por meio delas que ele se (re)inventa. “E, assim, é fácil entender por
que a ficção nos fascina tanto. Ela nos proporciona a oportunidade de utilizar infini-
tamente nossas faculdades para perceber o mundo e reconstituir o passado.”171 A
constituição de uma narrativa está vinculada à invenção do ser humano, ao poder e
à necessidade de ele compilar suas realizações, crenças e esperanças para pensar
sobre elas, para viver ou para poder criar a partir delas. Enfim, a constituição de uma
narrativa está vinculada à necessidade do ser humano de estruturar um universo
simbólico em que ele possa se sentir em casa, um universo simbólico que esteja aí
quando as novas gerações nascerem; é o seu legado, a sua memória, a sua história.
Narrar histórias (vividas e ficcionais) é a forma com que o ser humano diz para si
168 ALVES, 1988, p. 14. 169 LARROSA, 2006, p. 25. 170 GIORDANO, 2007, p. 26. 171 ECO, 2006. p. 137.
88
mesmo quais são os seus medos, as suas esperanças, como o mundo se apresenta
para ele e como interpretá-lo. São por essas razões, pois, que o ser humano cria e
compartilha histórias desde os tempos mais remotos de sua biografia.
O ato de contar histórias faz, pois, parte da vida humana. É uma atividade
inerente ao ser humano. Faz parte de seu comportamento social e se emaranha nas
teias simbólicas da cultura. É por isso que as histórias estão por todo lugar. A cada
novo nascimento, o ser humano é inserido em uma história: a história de um povo, a
história de seus pais, a sua própria história. E cada nova vida que emerge tece sua
história, fundindo-a e confundindo-a com outras lidas, ouvidas, ensinadas; imiscuin-
do-se com histórias vividas e inventadas que se cruzaram e que se fizeram cruzar.
Como reiterou Roland Barthes, “a narrativa começa com a própria história da huma-
nidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativa; todas as classes, todos
os grupos humanos têm suas narrativas”.172 Se Clifford Geertz afirmou que não há
nem cultura sem ser humano nem ser humano sem cultura, o mesmo é possível a-
firmar em relação às histórias. As histórias contadas, vividas, inventadas e reinter-
pretadas são parte integrante da cultura, das tessituras e nuances que a forjam, uma
marca indelével da vida humana. A narratividade — a atividade, o ato de narrar — e
as narrativas ocupam um lugar e desempenham um papel crucial na vida humana.
O ato de contar histórias está enraizado no comportamento social dos gru-pos humanos — antigos e modernos. As Histórias são usadas para ensinar o comportamento dentro da comunidade, discutir morais e valores, ou para satisfazer curiosidades. Elas dramatizam relações sociais e problemas de convívio, propagam idéias ou extravasam fantasias.173
Há uma infinidade de narrativas, gêneros, estilos literários e maneiras de se
contar uma história: suspense, terror, comédia, ficção, épico, drama, policial, fanta-
sia, poesia, prosa, cordel, chiste, conversa de boteco, carta de amor, filme, novela,
histórias em quadrinhos, música, reportagem de jornal, mito; assim como há uma
infinidade de intenções ao se contar uma história: educar, comunicar, infligir medo, 172 BARTHES, Roland. Introdução à análise estrutural da narrativa. In: BARTHES, Roland et al. Análi-
se Estrutural da Narrativa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 19-62. p. 19. 173 EISNER, Will. Narrativas gráficas: princípios e práticas da lenda dos quadrinhos. 2. ed. rev. e amp.
São Paulo: Devir, 2008. p. 11.
89
entreter, relatar ideias, abstrair conceitos, despertar curiosidade, trapacear, instigar o
pensamento, vender um produto. Portanto, histórias podem causar fascínio, temor,
propagar o conhecimento, entreter; podem reafirmar ou discutir valores a partir de
situações específicas, desafiar. Tudo depende da intenção de quem quer contá-las.
E toda história possui uma intencionalidade. Isso significa que “não há, pois, uma
narração objetiva e neutra. Toda narração pressupõe e cria um alinhamento e uma
parcialidade, assumindo uma dimensão ideológica”.174 Isso porque, como já asseve-
rado, as histórias sempre trarão, de alguma forma, os pensamentos, as concepções,
os valores daqueles (pessoas, grupos) que as criaram e as histórias que fizeram de-
les quem eles são. Ao contar uma história, cada participante (narrador e audiência
— leitor, espectador ou ouvinte) torna-se, de alguma forma, parte dela e ela se torna
uma parte de cada participante em sua busca por descobrir mais sobre si mesmo.
Ouvindo mais e mais histórias, as pessoas tornam-se mais conscientes de ‘sua’ própria história. É comum a experiência de se ler ou ouvir uma história e de se perceber a ‘sua’ própria vida de forma mais vívida e intensa por meio dela. A experiência de rir ou chorar no cinema é a experiência de rir ou chorar acerca de si mesmo. Percebe-se, assim, que a própria pequena his-tória pessoal é parte de uma grande história. Este é um dos principais cami-nhos por meio do qual uma pessoa elabora e assimila significados, constrói sua identidade e descobre quem ela é.175
A identificação com o que a narrativa enuncia e a experiência da interlocu-
ção entre a história e a audiência são possíveis porque as histórias são sempre ba-
seadas na realidade. E esse embasamento no real não se refere apenas à utilização
dos signos que interconectam o mundo da linguagem para se criar as histórias. É
evidente que uma história, para ser uma história, precisa fundamentalmente comuni-
car, que o sucesso de uma narrativa depende da qualidade da relação e do grau de
comunicabilidade, realizada pela utilização de um conjunto de signos e significados
partilhados por uma mesma comunidade. O embasamento no real das histórias en-
volve também a descrição e a caracterização de pessoas e lugares, de um conjunto
174 KLEIN, Remí. A criança e a narração. Protestantismo em Revista, São Leopoldo, v. 24, p. 42-61,
jan./abr. 2011. p. 48. Disponível em: <http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp/article/viewFile/137/169>. Acesso em: 30 out. 2011.
175 KLEIN, 2011, p. 49.
90
de visões de mundo, crenças e valores que definem a própria sociedade que as nar-
ra, dentro da intencionalidade da narrativa. Ao criar um mundo ficcional futurista, por
exemplo, o narrador descreve diferenciando e comparando com elementos do mun-
do real. Por mais fantasiosa e imaginária que uma narrativa seja, ela sempre apre-
sentará seu universo baseando-se no mundo real. “E, assim, temos de admitir que,
para nos impressionar, nos perturbar, nos assustar ou nos comover até com o mais
impossível dos mundos, contamos com nosso conhecimento do mundo real. [...]
precisamos adotar o mundo real como pano de fundo”. 176
Segundo Umberto Eco, “isso significa que os mundos ficcionais são parasi-
tas do mundo real. [...] tudo aquilo que o texto não diferencia explicitamente do que
existe no mundo real corresponde às leis e condições do mundo real”.177 É a partir
dessa relação entre o conhecimento do real da audiência e a descrição embasada
nesse real da narrativa, seu grau de comunicabilidade, a disposição do leitor em re-
lação à história, que torna possível a identificação e o envolvimento com as histórias.
É nessa direção que Klein e Alves afirmam, respectivamente, que “as histórias ‘re-
presentam’ uma cadeia de significados e levam a pessoa para dentro deles”178 e que
uma história é capaz de evocar memórias, experiências, “se a encantação correta
for feita”,179 isto é, se elas forem capazes de despertar o desejo. Assim,
Narrativas funcionam, outrossim, como símbolos evocativos. Suscitando i-maginação, as narrativas levam a recordar “para além de”. Por meio dos personagens e de suas histórias, as pessoas vivenciam sentimentos e idei-as e resgatam memórias, tendo acesso a significados não facilmente expe-rimentados e alcançados de outra maneira. Pode-se dizer que cada perso-nagem e fato de uma história revelam algum aspecto da realidade, podendo tocar sentimentos profundos no ouvinte ou leitor. Por outro lado, cada per-sonagem e fato contribui para um todo, sendo a história mais do que a so-ma das suas partes.180
Ao descrever a experiência cinematográfica, Maria de Lourdes Beldi de Al-
cântara afirma que há uma disposição da audiência em se envolver com as histórias
176 ECO, 2006, p. 89. 177 ECO, 2006, p. 89. 178 KLEIN, 2011, p. 50. 179 ALVES, 1988, p. 17. 180 KLEIN, 2011, p. 50.
91
narradas nos filmes quando as luzes se apagam. “Neste momento ocorre o desliga-
mento do real e portanto do mundo, estamos abertos e preparados para entrarmos e
compartilharmos as imagens criadas pelo filme”.181 Essa disposição e essa abertura
não acontecem apenas nas narrativas cinematográficas, mas igualmente em outros
tipos de narrativas. O envolvimento e a identificação com as narrativas contam com
a “empatia” da audiência. Ao ler, assistir ou ouvir uma narrativa, uma história de fic-
ção, há uma disposição da audiência em se envolver com a história que é contada.
Não é, portanto, apenas a familiaridade com os elementos narrativos — o embasa-
mento no mundo real, o grau de comunicabilidade por meio da partilha de signos e
significados comuns — que torna as histórias interessantes, atraentes ou envolven-
tes, mas a empatia que a audiência cria com a própria história contada. “Essa pecu-
liaridade [a empatia] pode ser usada [e frequentemente é] como o principal condutor
na transmissão de uma história”.182 Para Eisner,
Empatia é uma reação visceral de um ser humano ao empenho de outro. A habilidade de ‘sentir’ a dor, o medo ou a alegria de alguém dá ao narrador a capacidade de despertar um contato emocional com o leitor. Nós vemos uma ampla evidência disso nas salas de cinemas, onde as pessoas choram por causa da tristeza de um ator que está fingindo estar vivendo uma coisa que não está realmente acontecendo.183
Já Paulo André Passos de Mattos retoma o conceito da catharsis aristotélica
para explicar o envolvimento que a audiência estabelece com as narrativas:
A narrativa ficcional, em sua criação da realidade, por meio da ação de per-sonagens imaginários, numa trama também imaginária, torna possível a ca-tharsis: emocionar-se frente à obra, impactar-se com ela, recriá-la, produ-zindo um momento único, em que vidas imaginárias adquirem força sufici-ente para iluminar vidas reais, possibilitando, mesmo por breves instantes, conhecê-las.184
Naturalmente, existem diversos catalisadores na narrativa e na relação entre
audiência e narrador que potencializam esse envolvimento com as histórias: a sur-
181 ALCÂNTARA, Maria de Lourdes Beldi de. Cinema, Quantos Demônios!. Cultura Vozes, Petrópolis,
ano 89, n.1, p. 23-31, 1995. p. 23. 182 EISNER, 2008, p. 51. 183 EISNER, 2008, p. 51. 184 MATTOS, Paulo André Passos de. Entre a história, a vida e a ficção – artes do tempo. Educação
& Realidade, Porto Alegre, v. 28, n. 2, p. 55-67, dez. 2003. p. 60.
92
presa, o impacto e o próprio “acordo”, por parte do público, de que o narrador conte
uma história compreensível e, por parte do narrador, de que o público compreenda o
que ele conta.185 Além disso, para Umberto Eco, quando se lê ou se ouve uma histó-
ria, é necessário também “[...] aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge
chamou de ‘suspensão da descrença’. O leitor tem de saber que o que está sendo
narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está
contando mentiras”.186 A partir desse acordo ficcional, “a obra de ficção nos encerra
nas fronteiras de seu mundo e, de uma forma ou de outra, nos faz levá-la a sério”.187
Esse acordo ficcional entre a narrativa e a audiência promove a abertura ao diálogo
e possibilita a experiência relacional entre a narrativa e a audiência e, inclusive, des-
tas com o narrador, o autor. A partir dessa disposição e dessa abertura para a narra-
tiva, a audiência se transporta para dentro da história, se identifica com os diversos
símbolos presentes nas narrativas e pode “[...] muito bem utilizar cada experiência e
cada descoberta para aprender mais sobre a vida, sobre o passado e o futuro”.188
As pessoas aprendem através de histórias. Estas são um estímulo à imagi-nação, criam consciência pessoal e social e apontam para realidades não facilmente comunicáveis de forma conceptual. Crenças, valores e padrões são formados e transformados por meio de histórias narradas.189
Para Alessandra Giordano,
[...] as histórias têm condições de simplificar as situações de vida que apa-rentemente são complicadas, usando personagens bem definidos, repre-sentantes da bondade e da maldade, oferecendo oportunidade para que o audiente possa projetar-se nos personagens e viver a aventura narrada co-mo se fosse sua própria vida.190
Toda narrativa fala de algo ou sobre algo com alguém. E o segredo de toda
narrativa está no jeito, na arte de se contá-la. A utilização frequente de símbolos que
assumem a função de figuras de linguagem como metáforas e metonímias; as arti-
manhas da linguagem para segurar a trama, o suspense; as lacunas deixadas para
185 EISNER, 2008, p.53ss. 186 ECO, 2006, p. 81. 187 ECO, 2006, p. 84. 188 ECO, 2006, p. 16. 189 KLEIN, 2011, p. 49. 190 GIORDANO, 2007, p. 24.
93
a audiência preencher, a analogia e a comparação; tudo isso são artifícios para se
contar uma boa história. E, ao utilizar fenômenos e situações conhecidas para expli-
car, compartilhar ou relatar ideias e conceitos desconhecidos, instigar novas percep-
ções do mundo, como explicou Eisner,191 as histórias se tornam um “meio seguro de
expressar idéias e sentimentos sobre assuntos difíceis”.192 Todas as histórias apre-
sentam personagens e situações com as quais é possível algum tipo de identifica-
ção. Em praticamente todas elas há um herói, um vilão, um problema a ser retrata-
do, encarado e superado. Naturalmente, histórias mais simples trazem personagens
mais definidos. Entretanto, quanto mais complexas as narrativas se tornam, tanto
mais elas podem trazer as sutilezas e as tessituras da vida humana.
A narratividade é um caldeirão de possibilidades, e cada narrativa se torna
um reflexo dessas possibilidades. Mesmo que a criação de uma narrativa implique
em delimitações e escolhas a serem tomadas pelo narrador, toda narrativa pode
transportar a audiência para significados e sentidos que transcendem o sentido ori-
ginal da narrativa ou aquilo que o autor pensou. Além disso, muitas histórias conce-
dem a possibilidade da audiência realizar aquilo que Umberto Eco chamou de “pas-
seios inferenciais” ao sustentar um clima de suspense. Isso não acontece apenas
em romances de folhetim, filmes comerciais, seriados de TV, histórias em quadri-
nhos, mas em vários estilos e gêneros narrativos. Passeio inferencial se refere ao
movimento de vasculhar “as ruínas de sua biblioteca” — suas experiências, as histó-
rias que ouviu, incorporou — que a audiência realiza a fim de tentar imaginar a con-
tinuidade da história para além da própria história, especialmente quando o autor
não revela tudo.193 “O processo de fazer previsões constitui um aspecto emocional
necessário da leitura que coloca em jogo esperanças e medos, bem como a tensão
resultante de nossa identificação com o destino das personagens”.194 Nessa direção,
as narrativas deixam de ser meras narrativas e se tornam palco de experiências hu-
191 EISNER, 2008, p. 15. 192 MELLON, Nancy. A arte de contar histórias. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. p. 119. 193 ECO, 2006, p. 56. 194 ECO, 2006, p. 58.
94
manas. É assim que as histórias não apenas “[...] têm o poder de formar e transfor-
mar indivíduos em sua visão de mundo e em seus estilos de vida”, como elas podem
de fato fazê-lo.195 É por razões assim que as narrativas desempenham um papel
crucial na invenção e na renovação do ser humano e de seu mundo.
2.2 UMA NARRATIVA CONTEMPORÂNEA: A SUPERAVENTURA
Abordar a superaventura significa lidar com um tipo particular de narrativa e
com uma arte específica de se contar histórias; muito embora esta arte tenha se
ampliado e se diversificado ao longo do desenvolvimento e da trajetória da supera-
ventura, transcendendo desde cedo seu Sitz im Leben, seu lugar vivencial: as histó-
rias em quadrinhos. Como reiterado no primeiro capítulo, a história da superaventura
se confunde com a história das histórias em quadrinhos, entre outras razões, pelo
fato de a primeira ter consolidado a segunda no mercado editorial, tornando-a defini-
tivamente independente dos suplementos dominicais e das edições especiais, sendo
um dos catalisadores da produção em série — a periodização — das histórias em
quadrinhos. Mesmo que narrativas de personagens heroicos, de seres superpodero-
sos, de deuses se façam presentes desde os primórdios da história da humanidade,
através dos mitos e das conversas de fogueira, a superaventura enquanto tal surgiu
dentro de um contexto particular e dentro de um estilo muito próprio de se contar
histórias. Por sua vez, como consequência desse contexto, das mudanças sociais e
da emergência e do aprimoramento da combinação de texto e imagem, a supera-
ventura criou a demanda para que o mercado editorial de histórias em quadrinhos se
firmasse. Assim, não é possível abordar a superaventura sem resgatar algumas
compreensões elementares acerca do locus vivendi primordial dessas narrativas. No
bom português: não dá para falar de histórias de super-heróis sem falar das histórias
em quadrinhos. Isso não significa necessariamente trazer à tona toda a história das
origens da chamada nona arte, seu processo de produção (artística e industrial), a
195 KLEIN, 2011, p. 49.
95
crítica dos críticos da “cultura de massa” — assuntos suficientemente já abordados
por inúmeras publicações da área, inclusive, pela pesquisa que precedeu esta.196
Significa, entretanto, recuperar alguns elementos das histórias em quadrinhos que
interessem especificamente como subsídio para este estudo, isto é, para a compre-
ensão da superaventura a partir de sua narratividade e do que esta expressa, per-
cepções mediadas pelo olhar da teologia.
Além disso, ao longo de sua evolução, a superaventura assumiu caracterís-
ticas tão peculiares que estudiosos começaram a considerá-la como um gênero pró-
prio, distinguindo-o da fantasia, da ficção, do policial. As histórias dos super-heróis
não são necessariamente policiais, ficcionais, dramáticas, cômicas, assustadoras;
na maioria das vezes, elas são tudo isso ao mesmo tempo e, às vezes, nada disso.
Sua proximidade com os mitos antigos tanto em termos de estrutura narrativa, ao
contar uma narrativa fantástica recheada de “deuses” e seus grandes feitos, ao ser
uma história exemplar, quanto na representação da jornada do herói reforçam a i-
deia de que as histórias dos super-heróis são mais que histórias; elas são também
— em termos narrativos — um jeito particular de se contar histórias. Essa compre-
ensão reflete na terminologia conceitual utilizada para se referir atualmente às histó-
rias dos super-heróis: “história de super-herói”, “gênero dos super-heróis”, “supera-
ventura”. Aqui se torna imprescindível adentrar no cerne da superaventura: quais
são, afinal, as características — os elementos da narrativa — que delinearam os
contornos deste gênero narrativo? Como são constituídas as histórias dos super-
heróis? Quais são as suas constantes? Afinal, o que é a superaventura e o que faz a
superaventura ser o que ela é?
O surgimento dos super-heróis em seu momento específico não desembo-
cou apenas na criação de um novo tipo de narrativa ou gênero, mas na erupção de
toda uma mitologia contemporânea que permeia aquilo que se tem chamado de cul-
tura pop — ou, para retomar um dos conceitos-fetiche discutidos por Eco no início
196 REBLIN, 2008.
96
de seu Apocalípticos e Integrados, a chamada “cultura de massa”, ou ainda, como
prefere, os mass media. Não é por menos que as histórias dos super-heróis são co-
nhecidas, de maneira geral, ao redor de todo o globo terrestre, inspirando produções
culturais regionais, criando fóruns de discussão, motivando diálogos, movimentos
sociais e até mesmo, como sugeriu Christopher Knowles, uma espécie de devo-
ção.197 As narrativas dos super-heróis são mitos contemporâneos. Isso adquire ra-
zão de ser, entre outros, pelo fato dos personagens viverem para além da história
que os criou. Os super-heróis existem independentemente de suas histórias. Eles
fazem parte do imaginário popular do mundo contemporâneo. Como lembrou Um-
berto Eco, “Quando se põem a migrar de um texto para o outro, as personagens fic-
cionais já adquiriram cidadania no mundo real e se libertaram da história que as cri-
ou”.198 Além disso, muitos artistas se inspiraram nas próprias mitologias antigas para
criarem seus personagens,199 sendo a Mulher Maravilha, o Capitão Marvel e o Thor
algumas das expressões mais explícitas dessa inspiração. Portanto, para se com-
preender a superaventura, torna-se imprescindível resgatar algumas ponderações
acerca do significado dessas narrativas enquanto mitos contemporâneos.
Abordar a superaventura não significa, pois, apenas discutir um gênero nar-
rativo como o suspense ou o épico, quer seja por meio de uma análise do discurso,
de uma análise estrutural da narrativa, da teologia da cultura, quer seja por qualquer
outro meio científico ou não científico; isto é, independentemente que seja por estu-
do ou prazer, abordar a superaventura significa muito mais que um exercício de in-
terpretação. Abordar a superaventura significa explorar o coração da cultura con-
temporânea (uma parte dela, ao menos) e sua dinâmica interna, sua pulsação, e
acompanhar o emaranhado de interconexões e junções nos quais e para os quais
essa pulsação reverbera, bem como seus efeitos.
197 KNOWLES, 2008, p.35ss. 198 ECO, 2006, p. 132. 199 REYNOLDS, 1992, p. 53.
97
Diante disso, o estudo das narrativas dos super-heróis realizará aqui uma in-
cursão em três movimentos: em primeiro lugar, debruçar-se-á sobre o entorno da
superaventura, retomando pensamentos e arguições sobre seu locus vivendi, as his-
tórias em quadrinhos. Como já reiterado, não se trata aqui de recuperar toda a histó-
ria das histórias em quadrinhos, mas de apresentar uma leitura que contemple os
propósitos desta pesquisa. Em segundo lugar, ocupar-se-á com o cerne da supera-
ventura, isto é, com o que a faz ser o que ela é, isto é, como a superaventura se
constitui como um gênero próprio, quais são as suas principais características. Por
fim, torna-se imprescindível realizar um movimento centrípeto, para fora, e pensar
sobre as consequências, o impacto, o contexto maior da superaventura; especifica-
mente, importa aqui verificar o significado e as implicações da superaventura en-
quanto mitologia contemporânea. A abordagem desses três movimentos possibilitará
um olhar amplo e atento à superaventura, considerando suas nuances, vicissitudes,
tessituras e suas dinâmicas dentro do complexo cultural no qual o ser humano está
inserido. Estes três movimentos serão abordados a seguir.
2.2.1 Uma arte de contar histórias
As histórias em quadrinhos são a conjunção bem sucedida de uma série de
tendências e transformações correntes no início do século XX: a aproximação cada
vez maior entre texto e imagem na literatura, a emergência de uma cultura de con-
sumo típica de uma sociedade pós-Revolução Industrial, a lógica de mercado mar-
cada pela livre concorrência, nesse caso especial, entre dois jornais nova-iorquinos,
o New York World e o Morning Journal, os quais apostaram nas tiras de quadrinhos
nos suplementos dominicais para atrair a atenção do público leitor.200 O interesse
crescente pelas tiras de quadrinhos dominicais provocou a publicação de volumes
200 Como atestam inúmeras publicações na área: MOYA, Álvaro de (Org.). Shazam! 3. ed. São Paulo:
Perspectiva, 1977; ANSELMO, 1975, p. 32-99; MENDO, Anselmo Gimenez. História em Quadri-nhos: impresso vs. WEB. São Paulo: UNESP, 2008. p. 9-28; MARNY, Jacques. Sociologia das Histórias aos Quadrarinhos. Porto: Civilização, 1988; cf. também REBLIN, 2008, p. 38-43 e tam-bém Anexo B1 – Linha do Tempo das Histórias em Quadrinhos.
98
especiais, reunindo tiras de sucesso, até que editores, sendo muitos deles emergen-
tes, resolveram apostar em quadrinhos novos e histórias inéditas. Não demorou mui-
to também para que os super-heróis debutassem no mercado, e o que se consistia
de cerca de meia dúzia de revistas nas bancas todo mês no início da década de
1930 saltou para quase duas centenas de publicações mensais na década seguinte.
Assim, as histórias em quadrinhos, ao lado do cinema, se encontraram no centro da
revolução da “era de massa”, particularmente, por concentrarem praticamente todas
as características que definem os bens culturais da era contemporânea.
As revistas em quadrinhos podem ser consideradas como um exemplo típi-co do que se procura denominar sob o conceito de cultura de massa. Seu consumo está associado a um grande público, que chega a milhões de leito-res, e seu processo de produção/distribuição segue à risca o que Adorno procurou denominar sob o conceito de indústria cultural. Com o surgimento dos quadrinhos e do cinema temos uma espécie de revolução no que se poderia considerar como sendo arte: os conceitos estéticos tradicionais tive-ram que ser repensados, já que se abalava um de seus pilares, que é a questão do original. A partir daí, inaugurou-se o que se poderia chamar de a época do reprodutível inserido na dinâmica do consumo.201
Embora haja quem relacione o surgimento das histórias em quadrinhos ao
artifício milenar de se contar histórias por meio de imagens, seja referindo-se à era
em que o ser humano pré-histórico riscava na parede de suas cavernas, seja aludin-
do igualmente aos hieróglifos egípcios ou aos ideogramas chineses, a “pré-história”
das histórias em quadrinhos é usualmente definida a partir das produções europeias
de 1820 em diante (Péllerin, Topffer, Busch, Thomas, entre outros) e seu lugar de
nascimento atribuído aos Estados Unidos (dado o amplo e repentino desenvolvimen-
to que essa mídia alcançou naquele país, consolidando-se como tal naquele contex-
to). Na verdade, o que se sugere ao remeter a origem das histórias em quadrinhos
ao período pré-histórico é antes uma acentuação na capacidade humana de criar e
de se comunicar por meio de imagens e na relação tênue entre o ser humano en-
201 SILVA, 2002, p. 17.
99
quanto produtor de imagens e as imagens que produz; isto é, remete-se à imagem
enquanto linguagem e seu potencial de significação simbólica.202
À parte de sua trajetória histórica, o fato é que as histórias em quadrinhos se
consolidaram tanto enquanto meio de comunicação de massa quanto enquanto arte,
elas se constituíram tanto como uma forma de linguagem quanto como bem cultural
passível de ser consumido e colecionado.203 Talvez seja até possível afirmar que
nenhuma outra produção artístico-cultural e midiática tenha se revelado de forma tão
dinâmica, controversa (por provocar as reações mais adversas no público-leitor e
nos estudiosos e críticos da cultura) abrangente e variada ao longo de sua trajetória.
Apenas o cinema e suas variações audiovisuais (novelas, desenhos animados, etc.)
se equipariam às histórias em quadrinhos em termos de possibilidades, estruturas e
estilos narrativos.204 É diante disso que Nobu Chinen vai asseverar que as histórias
em quadrinhos são difíceis de serem definidas:
O fato é que as histórias em quadrinhos são complicadas de se definir por-que nenhum de seus elementos constitutivos é obrigatório, ou seja, podem existir HQs sem balões, sem textos e mesmo sem os quadrinhos. Podem ter várias vinhetas ou apenas uma, o que as aproximaria do cartum. O impor-tante é que todas, sem exceção, contêm uma narrativa e é isso é o que todo autor de quadrinhos precisa ter em mente.205
O que faz uma boa história em quadrinhos é antes de tudo uma boa história.
Em linhas gerais, poder-se-ia afirmar que uma história em quadrinhos não se sus-
tenta sem uma boa história. Entretanto, nos quadrinhos, a história não se resume a
uma simples narrativa, mas a um enredo que se constitui pela justaposição de texto
e imagem. As histórias em quadrinhos são uma arte peculiar de se contar histórias
202 Nessa direção, um trabalho interessante sobre a criação dos processos de significação pode ser
conferido na obra de Fayga Ostrower. Cf. OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Cria-ção. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
203 FEDEL, Agnelo. Os Iconográfilos: teorias, colecionismo e quadrinhos. São Paulo: LCTE Editora, 2007.
204 Em seu clássico, “Para ler os quadrinhos: da narrativa cinematográfica à narrativa quadrinizada”, Moacy Cirne apresenta uma série de paralelos e insights instigantes entre quadrinhos e cinema, por meio de uma análise semiótica de suas estruturas narrativas, o uso da imagem, etc. Cf. CIR-NE, Moacy. Para ler os quadrinhos: da narrativa cinematográfica à narrativa quadrinizada. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1975.
205 CHINEN, Nobu. Aprenda e Faça Arte Sequencial: Linguagem HQ: Conceitos Básicos. São Paulo: Criativo, 2011. p.7.
100
por meio da sobreposição de texto e imagem.206 Isso significa que, para se contar
uma boa história, não basta apenas cuidar da trama. É necessário um equilíbrio en-
tre momentos, enquadramentos, palavras, imagens e fluxo narrativo; isto é, são ne-
cessários uma série de escolhas e de artifícios narrativos para se comunicar uma
história com clareza e para persuadir o leitor a manter-se interessado até o final.207
Figura 3: Clareza e persuasão
Fonte: McCLOUD, 2008, p. 53.
Assim, texto e imagem conspirarão para que uma história seja contada da
melhor maneira possível. Segundo Will Eisner, “o sucesso ou fracasso desse méto-
206 EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Seqüencial. 3. ed. 1 reimpr. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 8: “A
configuração geral da revista de quadrinhos apresenta uma sobreposição de palavra e imagem, e, assim, é preciso que o leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais. As re-gências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A leitura da revista de quadri-nhos é um ato de percepção estética e de esforço intelectual”.
207 McCLOUD, Scott. Desenhando Quadrinhos. São Paulo: M.Books, 2008. p.8ss.
101
do de comunicação depende da facilidade com que o leitor reconhece o significado e
o impacto emocional da imagem. Portanto, a competência da representação e a uni-
versalidade da forma escolhida são cruciais”.208 Para o quadrinista estadunidense,
as imagens utilizadas nas histórias em quadrinhos são majoritariamente impressio-
nistas e “representadas de maneira simplista com o intuito de facilitar sua utilidade
como uma linguagem. Como a experiência precede a análise, o processo digestivo
intelectual é acelerado pela imagem fornecida pelos quadrinhos”.209 A maneira sim-
plista de se retratar uma imagem, entretanto, não significa necessariamente uma
representação desprovida de detalhes. Na verdade, a construção de mundos e a
ampliação dos quadros (a utilização de um cenário panorâmico, ao invés de um en-
quadramento fechado) promovem mais que um cenário mais rico em detalhes. Para
McCloud, às vezes, quanto mais detalhado for um desenho, tanto mais pode envol-
ver o leitor. “Derramar suor nesses detalhes pode ser a diferença entre desenhar
uma página em seis horas e desenhá-la em vinte, mas para seus leitores isso pode
fazer a diferença entre saber onde sua histórica [sic] acontece e estar lá”.210 Em
qualquer circunstância, uma coisa é certa: a imagem impressionista, ora mais rica
em detalhes, ora menos, para comunicar de forma clara e eficiente, será sempre
composta a partir de uma ideia estereotipada. Nas palavras de Eisner,
A arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis da conduta humana. Seus desenhos são o reflexo no espelho, e dependem de experiências armazenadas na memória do leitor para que ele consiga visua-lizar ou processar rapidamente uma idéia. Isso torna necessária a simplifi-cação de imagens transformando-as em símbolos que se repetem. Logo, estereótipos.
Nos quadrinhos, os estereótipos são desenhados a partir de características físicas comumente aceitas e associadas a uma ocupação. Eles se tornam ícones e são usados como parte da linguagem na narrativa gráfica.
Nos filmes tem-se muito tempo para desenvolver um personagem dentro de uma ocupação. Nos quadrinhos, temos pouco tempo ou espaço. A imagem ou caricatura tem de defini-lo instantaneamente.211
208 EISNER, 2001, p. 14. 209 EISNER, 2008, p. 19. 210 McCLOUD, 2008, p. 159. 211 EISNER, 2008, p. 21-22.
102
Portanto, para transmitir uma mensagem, contar uma história, os produtores
de histórias em quadrinhos frequentemente farão uso de certos conceitos e arquéti-
pos imagéticos que permeiam o imaginário cotidiano. Assim, transmite-se ou, antes,
reforça-se a ideia de que o bem é belo, o mal é feio; o que também é expresso pela
associação comum do bem com tonalidades azuladas (as quais, por sua vez, tam-
bém aludem ao divino) e pela representação do mal por meio de tons avermelhados
e escuros. Para McCloud, por sua vez, é possível também brincar com o estereótipo:
Figura 4: Estereótipos nas histórias em quadrinhos
Fonte: McCLOUD, 2008, p. 73.
103
Aqui é importante ter claro o seguinte: as histórias em quadrinhos enquanto
forma de linguagem e expressão artístico-cultural são representações de uma com-
preensão de mundo inserida na teia complexa de relações que constituem o univer-
so simbólico dos bens culturais contemporâneos. Por um lado, as histórias em qua-
drinhos estão sujeitas à dinâmica mercantil de produção simbólica: enquanto produ-
to de consumo, elas precisam fazer sucesso, vender bem, manter o leitor interessa-
do (quer seja por meio de uma narrativa envolvente, quer seja por meio de sua esté-
tica). Para isso, elas precisam se nutrir nos anseios de seu público-leitor, no seu uni-
verso cotidiano, e ser uma expressão destes mesmos anseios, deste mesmo univer-
so. Independente da finalidade de uma história em quadrinhos (entreter, educar) ela
sempre será representação de algo, e uma representação duplamente forjada, pois
se constitui não apenas por uma narrativa, mas igualmente por uma imagem.
Nessa direção, vale recuperar aqui a observação de Nildo Viana: as histórias
em quadrinhos podem expressar tanto os valores axiológicos (isto é, de uma classe
hegemônica, de uma elite pensante, do produtor de capital simbólico) quanto os an-
seios do inconsciente coletivo.212 Desse modo, certos valores, sobretudo aqueles
relacionados ao estilo de vida da sociedade de massa (a tensão entre consumo e
status quo, por exemplo, a frustração devido ao condicionamento do mundo burocrá-
tico e mercantilizado) podem ecoar nas histórias em quadrinhos; afinal, trata-se do
mundo em que o público-leitor, a audiência, está inserido. A questão é, entretanto,
como esse mundo é retratado e apresentado. Isso não significa que as histórias em
quadrinhos são ruins ou passíveis de serem categorizadas nos critérios de bom e
mal, justamente porque o pano de fundo da discussão é bem mais complexo que um
debate entre “apocalípticos” e “integrados”.
Se, por um lado, as histórias em quadrinhos estão sujeitas aos critérios que
regem e movem a indústria dos quadrinhos, por outro lado, existe nas histórias em
quadrinhos um potencial transgressivo e subversivo que é próprio de uma produção
212 VIANA, 2005, passim.
104
artístico-cultural, independente aqui se “de massa ou não”. Produções como fanzi-
nes, que escapam um tanto da ótica de mercado (mas não impreterivelmente da re-
presentação da sociedade de massa, do desejo de transcendência, etc.), as revistas
underground, as chamadas Comix, que buscaram um movimento contracultura, ou
mesmo quadrinhos integrados num princípio de “indústria cultural” como os Peanuts
de Charles M. Schulz, a Mafalda de Quino, e tantos outros que buscaram contestar
conceitos, valores e visões de mundo, são exemplos disso. Em outras palavras, uma
história em quadrinhos não precisa indispensavelmente manter-se atrelada a uma
indústria e, se atrelada, ela não precisa, sem escapatória, não ter uma postura críti-
ca. A visão crítica clássica de Ariel Dorfman e Manuel Jofré213 e a pesquisa de Paulo
Ramos sobre os quadrinhos argentinos,214 por exemplo, são evidências analíticas de
como os quadrinhos podem transgredir suas fronteiras e corresponder àquilo que
comumente se espera que toda obra de arte (de massa ou não) realize: provocar o
encontro do ser humano consigo mesmo, um encontro com o transcendente, provo-
car pensamentos diferentes, o questionamento da ordem social, por meio do riso.215
Revela-se aí um potencial altamente criativo e formativo, do qual as histórias
dos super-heróis podem, por um lado, ser o reflexo mais pobre, justamente por se-
rem um dos carros-forte da indústria dos quadrinhos, particularmente, a estaduni-
dense, e por estarem muito mais condicionados axiologicamente, quer seja devido à
utilização das estruturas míticas, quer seja por integrar a cultura romanesca como 213 DORFMAN, Ariel; JOFRÉ, Manuel. Super-Homem e seus amigos do peito. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1978. 214 RAMOS, Paulo. Bienvenido: um passeio pelos quadrinhos argentinos. Campinas: Zarabatana Bo-
oks, 2010. 215 Segundo os irmãos Janson, a obra de arte e o artista que a produz atuam com um grande poten-
cial retórico. (JANSON, H. W. & JANSON, Anthony E. Iniciação à História da Arte. 2. ed. São Pau-lo: Martins Fontes, 1996) “Certamente, uma das razões pelas quais o homem cria é um impulso ir-resistível de reestruturar a si próprio e ao seu meio ambiente de uma forma ideal. A arte represen-ta a compreensão mais profunda e as mais altas aspirações de seu criador; ao mesmo tempo, o artista muitas vezes tem a importante função de articulador de crenças comuns. Eis por que uma grande obra contribui para nossa visão de mundo e nos deixa profundamente emocionados” (JANSON & JANSON, 1996, p. 6). Para Rubem Alves, essa possibilidade retórica e de transgredir o dado é um dos principais objetivos da educação. Cf. ALVES, Rubem. Por uma educação român-tica. 7. ed. Campinas: Papirus, 2008. O potencial educativo dos quadrinhos também pode ser con-ferido em: SANTOS NETO, Elýdio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da (Orgs.). Histórias em Qua-drinhos & Educação: formação e prática docente. São Bernardo do Campo: UMESP, 2011 e tam-bém: VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). Quadrinhos na Educação. São Paulo: Contexto, 2009.
105
será visto adiante. Por outro lado, justamente por estarem mais condicionadas axio-
logicamente, as histórias de super-heróis podem contribuir para se perceber as arti-
manhas que sedimentam e difundem determinados valores sociais e visões de mun-
do. Isso também não significa que as histórias dos super-heróis não possam servir
como objeto de contestação ou questionamento, ser uma expressão de anseios de
seus artistas ou uma coletividade ou mesmo ter um fim didático, como a abordagem
de temas polêmicos, tais como a questão das drogas, da AIDS, por exemplo, embo-
ra tais situações tenham se evidenciado serem pontuais. Em todo o caso, as histó-
rias em quadrinhos enquanto produto artístico-cultural, e sua junção primorosa e
harmoniosa entre texto e imagem, são uma leitura e uma produtora de significação
simbólica. Aqui vale o que Janson e Janson reiteram acerca da arte:
A arte nos dá a possibilidade de comunicar a concepção que temos das coi-sas através de procedimentos que não podem ser expressos de outra for-ma. Na verdade, uma imagem vale por mil palavras não apenas por seu va-lor descritivo, mas também por sua significação simbólica. Na arte, assim como na linguagem, o homem é sobretudo um inventor de símbolos que transmitem idéias complexas sob formas novas. Temos de pensar na arte não em termos de prosa do cotidiano, mas como poesia, que é livre para reestruturar o vocabulário e a sintaxe convencionais, a fim de expressar significados e estados mentais novos, muitas vezes múltiplos.216
Enfim, é nessa direção que as histórias em quadrinhos possuem um imenso
potencial criativo, comunicativo, expressivo e representativo, como atentam igual-
mente os trabalhos de Paulo Ramos,217 Will Eisner,218 Scott McCloud,219 Nobu Chi-
nen220 e tantos outros. É evidente que a exploração desse potencial dependerá mui-
to de quem produz as histórias em quadrinhos (editores, artistas) e da tensão contí-
nua entre seus interesses particulares (do artista, da política editorial) e do compro-
misso mercadológico. Em todo caso, há infinitas maneiras de se criar histórias em
quadrinhos e de se contar uma boa história. E o que importa aqui é evocar a aten-
ção para o seguinte: as histórias em quadrinhos são tanto um meio de comunicação
216 JANSON & JANSON, 1996, p. 7. 217 RAMOS, Paulo. A leitura dos quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009. 218 EISNER, 2001 e EISNER, 2008. 219 McCLOUD, Scott. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2005; McCLOUD, Scott.
Reinventando os Quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2006 e McCLOUD, 2008. 220 CHINEN, 2011.
106
de massa quanto um bem cultural contemporâneo e, como tais, elas estão sujeitas
às tensões que moldam o contexto e o universo simbólico-cultural deste tempo. Isso
significa que, ao mesmo tempo em que intenta contar uma boa história, provocar
uma reflexão ou apenas entreter, ter seu afã artístico, sua intencionalidade pode ser
influenciada (e, na maioria das vezes é, sobretudo, nos quadrinhos de super-heróis)
por estratégias comerciais e pelos artifícios de persuasão ou sedução do público-
leitor, além, claro, da utilização de recursos convencionais que diminuem o ruído na
comunicação, como o emprego de estereótipos visuais e mesmo discursivos, que
podem, por sua vez, reafirmar certos preconceitos. Afinal, quais seriam os elementos
que atrairiam a atenção de um consumidor? A disposição das imagens? Os nomes
dos artistas? A editora? O personagem? A premissa da trama? Qual é o público-alvo
desse produto? Enfim, todas essas questões evocam a atenção para as tessituras e
a rede complexa de relações que fazem das histórias em quadrinhos o que elas são
hoje e que determinam a relação do público-leitor com este bem cultural.
2.2.2 Um gênero narrativo próprio
Durante muito tempo, as histórias dos super-heróis quase sempre foram en-
tendidas como uma derivação do gênero da ficção científica. Em parte, muitos ele-
mentos próprios das narrativas de ficção científica como espaçonaves, viagens no
tempo, formas de vida extraterrestres, viagem a outros planetas, criaturas submari-
nas, aparatos tecnológicos — e muito technobabble221 — integram as narrativas dos
super-heróis e se inserem no cotidiano vivido por seus personagens. As histórias do
precursor dos super-heróis, o Superman, por exemplo, são nitidamente alicerçadas
na ficção científica, o que não as torna necessariamente uma derivação do gênero.
221 Technobabble é um recurso narrativo e argumentativo que se utiliza de palavras familiares para
fazer uma teoria surreal soar verossímil. “Inventada em 1981 para descrever o jargão técnico usa-do em Star Trek [Jornada nas Estrelas], a palavra refere-se a qualquer tecnologia bizarra, seja fu-turista, alienígena ou de origem indeterminada. Technobabble é melhor quando usa palavras fami-liares de modos novos e desconhecidos. Como a maioria dos papos-furados, ela precisa soar ve-rossímil e talvez até mesmo ter alguma pequena relação com a tecnologia que supostamente des-creve. Mas precisa permanecer à parte de qualquer coisa que tenha a ver com o verdadeiro signi-ficado dos termos empregados”. GRESH; WEINBERG, 2005, p. 51. Cf. também: REBLIN, 2008.
107
Essa identificação com a ficção científica não se restringe à história de origem do
super-herói — uma criança proveniente de uma civilização cientificamente avançada
de um planeta moribundo enviada por seus pais em uma espaçonave — mas abarca
as tramas e a galeria de vilões que foram sendo incorporados ao longo dos anos. Na
verdade, um dos fatores que contribuiu significativamente para a associação das
histórias dos super-heróis com a ficção científica foi o fato de essas descenderem
diretamente das pulps e destas influenciarem na criação dos personagens.
As pulps eram revistas baratas de ficção que foram publicadas aproxima-damente de 1900 até 1955. Os preços iam de US$ 0,05 a US$ 0,50, com a maioria custando um dime, US$ 0,10. Havia pulps lidando com todo tipo i-maginável de ficção, de western a romance, passando por esportes e misté-rio, até ficção científica. ’Pulp’ referia-se não apenas ao estilo ou tipo de his-tória publicada nas revistas, mas ao papel barato de polpa de madeira usa-do nas publicações para manter os custos baixos. O elo comum em toda ficção pulp não era violência, sangue ou mesmo vingança. As histórias eram escritas para entreter, e por cinco décadas e milhões de leitores foi isso que elas fizeram. Nos anos 1930, quase uma centena de diferentes pulps lota-vam as bancas. Apesar de ridicularizadas por conterem uma fórmula de fic-ção inculta, as pulps eram lidas por milhões de consumidores todos os me-ses. Mais importante para nós, as pulps das décadas de 1920 e 1930 foram o lar da maior parte da literatura de ficção científica e fantasia dos Estados Unidos. E dessas raízes pulps surgiram os gibis de super-heróis.222
Nessa direção, vale lembrar que Jerry Siegel e Joe Shuster, os criadores do
Superman, eram fãs absolutos das pulps, as quais tiveram alguns de seus maiores
expoentes em personagens como Tarzan e Buck Rogers, este último lançado numa
pulp exclusiva de ficção científica, intitulada Amazing Stories.223 Anos antes de con-
seguirem vender a história do Superman, Siegel e Shuster “publicavam um fanzine
mimeografado de ficção científica que chamaram de Science Fiction”.224 Foi nessa
revista que surgiu a primeira versão do Superman, na ocasião, um gênio do mal, em
janeiro de 1933. Segundo Lois Gresh e Robert Weinberg, com o Superman, o objeti-
vo de Siegel e Shuster era justamente “vender uma tira de ficção científica para os
222 GRESH; WEINBERG, 2005, p. 12. 223 GRESH, WEINBERG, 2005, p. 12. 224 GRESH, WEINBERG, 2005, p. 14. Gerard Jones apresenta em seu “Homens do Amanhã” uma
versão biográfica bem detalhada e levemente romanceada da trajetória de Siegel e Shuster. De-monstra o quanto as pulps e o contexto da época influenciaram e contribuíram para o surgimento do Superman. Cf. JONES, Gerard. Homens do Amanhã: geeks, gângsteres e o nascimento dos gibis. São Paulo: Conrad, 2006. Especialmente p. 86-153.
108
jornais, muito parecida com Buck Rogers”.225 Não seria atípico, portanto, se as histó-
rias do Superman possuíssem elementos decorrentes desse gênero literário.
Superman, entretanto, não foi inspirado apenas nas aventuras espaciais de
Buck Rogers, mas igualmente em outras pulps de sucesso estrondoso na época
como o policial O Sombra, do qual Siegel era fã incondicional, o aventureiro Doc Sa-
vage e, principalmente, o personagem Hugo Danner, da pulp Gladiador;226 isto é, a
história do Superman congregou diversos elementos que deram certo em outras a-
venturas, isso sem mencionar aqui a influência de personagens mítico-religiosos
como Hércules e Sansão e a alusão a elementos da tradição judaica. Na verdade,
segundo Peter Coogan e, igualmente Randy Duncan e Matthew J. Smith, o Super-
man é o resultado da fusão de três estilos ou temas narrativos muito comuns nas
primeiras décadas do século XX: o Super-Homem da ficção científica (corporificado
por personagens como Frankenstein e Hugo Danner); o Übermensch de Nietzsche
(representado por personagens como Tarzan e Doc Savage) e os vigilantes de dupla
identidade (cujos expoentes mais significativos foram Zorro, Pimpinela Escarlate, O
Sombra e O Fantasma).227 Em todo o caso, ao passo que o Superman estava base-
ado na ficção científica, outros personagens como o Capitão Marvel, por exemplo,
que surgiu nas páginas da Whiz Comics aproximadamente 18 meses após o debute
do Superman, estavam fortemente enraizados, por sua vez, na magia. Outros ainda,
como o Espectro, tiveram suas origens no sobrenatural, como lembra Gresh e Wein-
berg.228 Isso significa, portanto, que não é a presença de elementos da ficção cientí-
225 GRESH, WEINBERG, 2005, p. 14. 226 “Tanto o desenhista quanto o roteirista eram fãs das pulps daquela época. Deste modo, não foi
surpresa o fato de seu Super-Homem manter sua identidade secreta utilizando um alter ego — exatamente como os bem conhecidos personagens das pulps, como o Sombra, o Spider, e o Whisperer. Certa ocasião, Siegel afirmou em uma entrevista que Clark Kent recebeu esse nome por causa do popular ator de cinema Clark Gable. Entretanto, parece muita coincidência que dois dos mais populares heróis das pulps dos anos 1930 se chamassem Clark Savage Jr. (Doc Sava-ge) e Kent Allar (O Sombra). E, ao passo que Super-Homem era chamado de “o Homem de Aço”, Doc Savage era freqüentemente descrito em sua revista como “o Homem de Bronze”. GRESH, WEINBERG, 2005, p. 14-15. (Grifos no original) Cf. Também: JONES, 2006, p. 86-111 e DUNCAN, Randy; SMITH, Matthew J. The Power of Comics: History, Form & Culture. New York: Continuum, 2009. p. 221ss e COOGAN, Peter. Superhero: the secret origin of a genre. Austin: MonkeyBrain Books, 2006. p. 175ss.
227 COOGAN, 2006, p. 185-189 e DUNCAN; SMITH, 2009, p. 222ss. 228 GRESH, WEINBERG, 2005, p. 16.
109
fica em algumas histórias de super-heróis que as tornam necessariamente uma vari-
ação, um subproduto, do gênero da ficção científica. E esse fato deixa uma lacuna a
ser preenchida: O que são, afinal, as histórias dos super-heróis? De qual gênero lite-
rário elas decorrem? Ou é possível classificar essas histórias como um gênero pró-
prio? E, se é possível considerá-las um gênero próprio, quais são os elementos, as
convenções primárias que concedem a essas narrativas uma identidade própria?
Para Peter Coogan, as histórias dos super-heróis não são uma variação da
ficção científica ou de outro gênero literário. Elas se constituem um gênero próprio
que ele chama de “o gênero do super-herói”.229 Para o especialista em estudos ame-
ricanos, “essa confusão do gênero do super-herói com outros gêneros surge de uma
percepção equivocada da distinção e da definição do gênero [do super-herói]” 230 e,
em consequência, do próprio personagem, visto que é a caracterização do persona-
gem que dá nome ao gênero.231 O autor defende que o gênero do super-herói pos-
sui características particulares, uma pré-história e seu próprio ciclo evolutivo. Perce-
ber uma característica genérica e definir uma categoria exclusiva ao conjunto dessas
histórias não é exclusividade da pesquisa de Coogan. Outros autores, como Richard
Reynolds, já buscaram reunir as convenções primárias que concedem a essas nar-
rativas um caráter único.232 Entretanto, é Coogan quem sela definitivamente a dis-
cussão. Para ele, determinar o gênero dos super-heróis é importante, pois “definir
um gênero pode servir como base para avaliar como o gênero narrativo anima e ri-
tualisticamente resolve conflitos e contradições culturais básicas”.233 Nessa direção,
segundo Coogan, um dos conflitos e contradições que o gênero do super-herói re-
solve é vincular garotos à vida social, ao narrar histórias de heróis que utilizam seus
poderes em favor da sociedade:
229 COOGAN, 2006, p. 23: “the superhero genre”. (Tradução própria). 230 COOGAN, 2006, p. 23: “This confusion of the superhero genre with other genres comes out of a
misperception of the genre’s distinctiveness and definition”. (Tradução própria). 231 COOGAN, 2006, p. 24. 232 REYNOLDS, 1992. 233 COOGAN, 2006, p. 24: “Defining a genre can serve as the basis for examining how the genre nar-
rative animates and ritualistically resolves basic cultural conflicts and contradictions”. (Tradução própria).
110
As histórias de origem dos super-heróis contam como garotos egoístas se tornam homens altruístas — literalmente no caso da transformação do ven-dedor de jornais Billy Batson no Capitão Marvel, e figurativamente no caso da transformação de Peter Parker no Homem Aranha. [...] Histórias de Su-per-heróis como esta da origem do Homem Aranha exploram o conflito en-tre o eu e a sociedade e mostram o perigo do egoísmo ao se retirar do gru-po e se recusar a utilizar suas habilidades para ajudar os outros.234
Ensinar jovens a se inserirem na dinâmica da vida social, a usar suas habili-
dades em benefício de um grupo social — o que, entre parênteses, poderia ser iden-
tificado, por um lado, como uma mensagem extremamente capitalista ou axiológica
— seria uma resolução e, portanto, uma característica própria do gênero do super-
herói. Entretanto, para que seja possível reconhecer e afirmar categoricamente que
as histórias dos super-heróis constituem por si só um gênero próprio, são necessá-
rios dois movimentos, um externo e outro interno. Em primeiro lugar, as histórias dos
super-heróis teriam que ser exteriormente percebidas como gênero próprio. Isso
significaria identificar essas narrativas por quatro vias: nomeação, isto é, as histórias
dos super-heróis teriam que ser percebidas e nomeadas como um gênero próprio;
paródia, isto é, as convenções primárias dessas narrativas teriam que estar suficien-
temente enraizadas na mente de produtores e consumidores ao ponto da caricatura
e o sentido da piada se tornar possível; imitação e repetição, isto é, um gênero tor-
na-se também um gênero quando o conjunto interno de seus elementos — as suas
definições particulares — pode ser reproduzido.235 Imitação e repetição, entretanto,
não remetem apenas a uma “simples reprodução”, a uma “cópia barata”, mas ao
processo de padronização e diferenciação. Ou seja, considerando que um gênero é
sempre uma classificação de um conjunto de histórias, é necessário tanto a preser-
vação de certos padrões, isto é, de elementos comuns que concedem àquele con-
junto de histórias sua característica única, quanto uma diferenciação suficiente, ca-
paz de permitir a diversidade das histórias.
234 COOGAN, 2006, p. 24-25: “Superhero origin stories tell of selfish boys made into selfless men—
literally in the case of newsboy Billy Batson’s transformation into Captain Marvel, and figuratively in the case of Peter Parker becoming Spider-Man. […] Superhero stories like that of Spider-Man’s origin explore the conflict between self and society and show the dangers of selfishly withdrawing from the group and refusing to use one’s abilities to help others”. (Tradução própria).
235 COOGAN, 2006, p. 24-29.
111
A fim de atrair uma audiência, entretanto, os produtores precisam percorrer uma linha tênue entre copiar o que alguém outro publicou e deixar de pre-encher as expectativas que a audiência traz para o gênero. Para satisfazer essas expectativas, o ingresso em um gênero precisa atender a uma pa-dronização para combinar com as convenções do gênero perto o suficiente para ser reconhecido como pertencente ao gênero. Nos quadrinhos de es-pada & feitiçaria, os quais se tornaram populares na década de 1970, isso significa uma história apresentando um herói espadachim robusto que va-gueia por uma terra exótica e confronta guerreiros adversários e criaturas míticas. Em equilíbrio com a padronização, entretanto, precisa haver a dife-renciação , ou as inovações trazidas pela série ou narrativa individual. Em nosso exemplo de espada & feitiçaria, o popular Conan o Bárbaro da Marvel Comics é ambientado na antiga “Era Hiboriana”, um tempo descrito como ocorrido entre a queda da mítica Atlântida e o início da história registrada. Como distinção, na série O Guerreiro da DC Comics, o piloto contemporâ-neo Travis Morgan sofre uma aterrissagem forçada em Skartaris, um mundo que existe abaixo da Terra e é habitada por feiticeiros e dinossauros. Esses dois cenários são semelhantes em alguns aspectos — ambos possuem fei-ticeiros e criaturas fantásticas perambulando nele — mas são diferentes o suficiente para distinguir as duas séries (entre outras considerações do gê-nero). Como exercício, atingir um equilíbrio entre cumprir as convenções do gênero e introduzir inovações permite que séries novas esculpam um nicho em um mercado lotado.236
Para Coogan, as histórias dos super-heróis preenchem esses requisitos.
Como o gênero do super-herói é definido pelo seu personagem principal, o super-
herói — tal como acontece com outros gêneros, como o policial, por exemplo — o
primeiro passo é identificar quando o termo surge como referência a esse tipo de
história (nomeação). O autor nota quando o termo “super-herói” estampa pela pri-
meira vez a capa de personagens específicos como o Thor em Journey into Mystery
# 83, de agosto de 1962, nomeando o personagem nórdico como “O mais excitante
super-herói de todos os tempos”.237 Em outras palavras, naquela época já se sabia
236 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 198-199: “In order to appeal to an audience, though, producers have to
walk a fine line between copying what someone else has published and neglecting to fulfill the ex-pectations that an audience brings to the genre. In satisfying these expectations, an entry in a gen-re must attend to standardization to match the conventions of the genre closely enough to be rec-ognized as belonging to the genre. In the sword-and-sorcery comics, which also became popular in the 1970s, this means a story featuring a stalwart sword-wielding hero who roams an exotic land and confronts opposing warriors and mythical creatures. Balanced against standardization, though, must be differentiation, or the innovations brought to the individual narrative or series. In our sword-and-sorcery example, Marvel Comics’ popular Conan the Barbarian is set in the ancient ‘Hyperbo-rean Age,’ a time described as occurring between the fall of mythical Atlantis and the beginning of recorded history. As a matter of distinction, in DC Comics’ Warlord series, contemporary pilot Travis Morgan crash-lands into Skartaris, a world which exists below the earth and is populated by sorcerers and dinosaurs. These two settings are similar in some regards—both have sorcerers and fantastic beasts roaming about—but different enough to distinguish the two series (among a gen-re’s considerations). As a matter of practice, striking a balance between fulfilling a genre’s conven-tions and introducing innovations allows new series to carve out a niche in a crowded market-place”. (Tradução própria)
237 COOGAN, 2006, p. 26.
112
nitidamente o que era um super-herói. Entretanto, o autor vai mais além e constata
que, já em 1942, os produtores de histórias em quadrinhos já sabiam o que era um
super-herói e o que ele significava.
Abnel Sundell, um escritor da era de ouro da MLJ e Fox Publications, escre-veu um guia para vender roteiros de super-heróis chamado “O choque dos quadrinhos” que surgiu em O Anuário dos Escritores de 1942. Nele, ele dis-cute o herói e como ele deveria ser tratado, como criar bons vilões, como fazer o enredo de uma história, e como submeter roteiros. Mais importante para meus propósitos, Sundell nunca define o termo super-herói, e ele o usa por todo o artigo sem explicação ou qualificação; mais ainda, todos os he-róis que ele discute são nitidamente super-heróis [...] Assim, o nome do gê-nero, como entendido e usado por seus produtores, pode ser datado de 1942. Mas o uso casual de Sundell do super-herói indica que o público en-tendia o que o termo significava porque sua audiência não eram criadores de quadrinhos, mas criadores de quadrinhos em potencial — pessoas que poderiam estar interessadas em vender seu trabalho para editores de qua-drinhos. Sundell devia ter certeza que sua audiência iria compreender o que era um super-herói e o que um super-herói significava.238
Aqui vale um breve parêntesis: antes de Superman estampar as páginas de
Action Comics #1 em junho de 1938 e inaugurar o gênero que viria a ser chamado
de “gênero do super-herói”, o termo “super-herói” já era conhecido da audiência das
pulps. Apesar de não ter estampado nenhuma capa de revista ou de ter sido descrita
no enredo de qualquer narrativa, o termo estava presente em propagandas de Doc
Savage e O Sombra, os quais eram referidos como super-heróis. Doc Savage era
referenciado, inclusive, como Super-Homem, muito embora o sentido empregado ao
personagem aventureiro tivesse um uso distinto daquele empregado no gênero do
super-herói.239 Em todo o caso, foi esse termo – Super-Homem – que também atraiu
a atenção de Jerry Siegel, conforme lembrou Gerard Jones:
238 COOGAN, 2006, 26-27: “Abnel Sundell, a Golden Age writer and editor at MLJ and Fox Publica-
tions, wrote a guide to selling superhero scripts called “Crash the Comics” that appeared in The Writer’s 1942 Yearbook. In it he discusses the hero and how he should be treated, how to create good villains, how to plot a story, and how to submit scripts. More importantly for my purposes, Sundell never defines the term superhero, and he uses it throughout the article without explanation or qualification; moreover, all the heroes he discusses are clearly superheroes […] So the name of the genre, as understood and used by its producers, can be dated to 1942. But Sundell’s casual use of superhero indicates that the public understood what the term meant because his audience was not comics creators, but potential comics creators—people who might be interested in selling their work to comics publishers. Sundell must have been certain that his audience would under-stand what a superhero was and what superhero meant.” (Tradução própria)
239 COOGAN, 2006, p. 190.
113
Poucas semanas após a remessa daquela edição de Science Fiction, o mundo pulp deu sinais de que a imaginação de Jerry estava indo pelo cami-nho certo. Ele folhava a última edição do Sombra quando uma palavra em negrito saltou a seus olhos: “Super-Homem”. Logo abaixo havia a figura de um homem musculoso lutando contra um atirador, e a legenda “Doc Savage – mestre da mente e do corpo”. Era o primeiro anúncio do novo super-herói da Street and Smith.240
Sobre a paródia, a imitação e a repetição, Coogan atesta que as histórias
dos super-heróis foram parodiadas, imitadas e repetidas desde a década de 1940. A
primeira paródia de super-herói aconteceu em All-American Comics #20 de novem-
bro de 1940, numa história escrita por Sheldon Mayer.241 A história traz uma série de
referências a personagens super-heroicos e um personagem se caracteriza como
super-herói no final da trama, de forma similar como acontece atualmente e espora-
dicamente em revistinhas da Turma da Mônica, da Disney, e em seriados cômicos
como Os Trapalhões, Casseta & Planeta, etc.. Já a imitação e a repetição podem
ser evidenciadas na avalanche de personagens que emergiram logo após a primeira
aparição do Superman. A percepção dessas quadro vias — nomeação, paródia, imi-
tação e repetição — só é possível por causa das convenções primárias que atribu-
em às histórias de super-heróis sua característica única. E este é o segundo ponto
crucial para o reconhecimento das histórias de super-heróis como gênero próprio.
Se, por um lado, o que garante a existência de um gênero é o grau de enrai-
zamento de seus elementos na cultura e no senso comum de uma audiência, de
produtores e consumidores, e até mesmo de uma sociedade, expresso pelas quatro
vias descritas acima, por outro, é a sua coesão interna, suas características reduzi-
das a um mínimo necessário que concedem sustância ao próprio gênero e a seu
enraizamento cultural. Assim, torna-se imprescindível verificar o que faz as histórias
dos super-heróis serem histórias de super-heróis. Quais são, afinal, as definições
particulares que fazem das histórias dos super-heróis um gênero próprio? Para res-
ponder essa pergunta, segundo Peter Coogan, o primeiro passo é entender o que é
um super-herói. Embora o conceito já esteja diluído no conhecimento geral — isto é,
240 JONES, 2006, p. 109. 241 COOGAN, 2006, p. 27-28.
114
“todo mundo” sabe o que é um super-herói, sabe que Batman, Superman, Mulher
Maravilha, Homem-Aranha são super-heróis e que James Bond, Robin Hood, o Pato
Donald não são, tanto que é possível entender uma piada sobre a sexualidade do
Batman ou identificar o “S” estilizado do Superman numa estampa de camiseta —
torna-se necessário buscar uma definição acerca do personagem.
A resposta mais simples é a de que são majoritariamente heróis com super-
poderes. Nildo Viana, por exemplo, distingue o herói do super-herói indicando que
“heróis possuem habilidades excepcionais mas humanamente possíveis enquanto
que os super-heróis possuem habilidades sobre-humanas”.242 Mais ainda, Viana as-
severa que um super-herói apenas existe em função e no interior de uma narrativa
que compreenda outros personagens equivalentes, isto é, no universo que o soció-
logo conceitua como “superaventura”. “Só pode existir um super-herói no interior de
uma superaventura, ou seja, no interior de uma aventura extraordinária envolvendo
outros seres extraordinários”.243 Viana já indica, portanto, que o super-herói existe
no interior de uma narrativa específica que lhe conceda sua razão de ser:
Um super-herói só é um super-herói quando tem que colocar em prática seus poderes e isto só pode ocorrer havendo uma população de seres po-derosos num mundo em que ele vive e combate, ou seja, o super-herói só pode existir, ao contrário do herói, em constante relação com supervilões e com outros super-heróis. Em poucas palavras, o super-herói só pode existir havendo um mundo habitado por seres superpoderosos.244
Na mesma direção segue a definição proposta por Fingeroth:
O reino dos super-heróis é ocupado por indivíduos com poderes fantásticos (seja baseado na magia ou na ‘ciência’), assim como pessoas que lutam suas batalhas com tecnologia avançada (frequentemente diferenciado da magia somente por causa do autor dizer desse modo) ou pessoas que são simplesmente corajosas/loucas/sortudas.245
Will Eisner, por sua vez, em Narrativas Gráficas, define o super-herói como
242 VIANA, 2005, p. 38. 243 VIANA, 2005, p. 38-39. 244 VIANA, 2005, p. 38. 245 FINGEROTH, 2008, p. 16: “The realm of superheroes is occupied by individuals with fantastic
powers (whether magic or ‘science’ based), as well as people who fight their battles with advanced technology (often differentiated from magic only because the author says so) or people who are just plain brave/crazy/lucky”. (Tradução própria)
115
[...] um estereótipo dos quadrinhos inerente à cultura americana. Vestido com uma roupa derivada da clássica vestimenta dos homens fortes dos cir-cos, ele é adotado em histórias que enfocam vingança e perseguição. Esse tipo de herói geralmente tem poderes super-humanos que limitam as possi-bilidades do roteiro. Como ícone, ele satisfaz a atração popular nacional pe-lo herói que vence mais por sua força do que pela malícia.246
Já Jeph Loeb e Tom Morris conceituam o super-herói como aqueles que
“possuem poderes e habilidades muito além da capacidade dos mortais comuns. E
eles buscam a justiça, defendendo os oprimidos, ajudando os indefesos e vencendo
o mal com a força do bem”.247 Loeb e Morris problematizam essa definição, similar
em muitos pontos às de Viana e Eisner, resgatando uma vertente moral atinente ao
conceito clássico de herói. Para os autores, “o super-herói é um herói com poderes
sobre-humanos, ou pelo menos habilidades sobre-humanas, o [sic] que se desen-
volveram a um nível super-humano”. E essa superioridade qualitativa envolve um
grau de nobreza (moral), uma postura ativa em favor do outro (altruísmo) que não
está condicionada ao caráter deste outro — é por isso que super-heróis, em geral,
não matam, a não ser por extrema necessidade ou fatalidade. Isso não significa que
não realizam atos de violência, mas que eles conhecem os limites da ação violenta,
caso necessitem usá-la, “sem deixar que tal atitude saia do seu controle ou repercu-
ta de forma negativa em seu caráter”.248 — um sacrifício, uma autodisciplina e uma
devoção pelo bem e uma determinação para continuar suas batalhas:
Mesmo com seus superpoderes, o maior dos super-heróis às vezes só ven-ce a adversidade por causa daquilo a que os filósofos chamam de virtudes clássicas, e algumas neoclássicas também, como a coragem, a determina-ção, a persistência, o trabalho em equipe e a criatividade. Eles não aceitam a derrota. Nunca desistem. Eles acreditam em si mesmos e em sua causa, e não medem esforços para atingir suas metas.249
Diante dessa variedade de conceituações, com suas similaridades e particu-
laridades, Peter Coogan elabora a sua definição geral de super-herói, com o intuito
246 EISNER, 2008, p. 78. 247 LOEB, Jeph; MORRIS, Tom. Heróis e Super-heróis. In: IRWIN, William (Coord.). Super-heróis e a
filosofia: verdade, justice e o caminho socrático. São Paulo: Madras, 2005. p. 23-31. p. 24. 248 LOEB; MORRIS, 2006, p. 23-31. 249 LOEB; MORRIS, 2006, p. 28.
116
de condensar um significado capaz de sustentar a autonomia, reunir os contornos
gerais e garantir as características elementares de um gênero próprio:
Su*per*-*he*rói (super’ er’Ǥj) n., pl. – róis. Um personagem heroico com uma missão pró-social altruísta; com superpoderes — habilidades extraor-dinárias, tecnologia avançada ou capacidades físicas, mentais ou místicas altamente desenvolvidas; que tem uma identidade de super-herói corporifi-cada em um codinome e em uma fantasia icônica, a qual expressa tipica-mente sua biografia, seu caráter, seus poderes, ou sua origem (a transfor-mação de uma pessoa comum em um super-herói); e que é genericamente distinto, i.e. pode ser diferenciado de personagens de gêneros relacionados (fantasia, ficção científica, detetive, etc.) por uma preponderância de con-venções genéricas. Frequentemente super-heróis possuem duplas identida-des, sendo uma comum que é normalmente um segredo bem guardado. — super-heroico , adj.250
Coogan reúne em sua conceituação as convenções primárias do gênero do
super-herói. Para o autor, as características determinantes que diferenciam o gênero
do super-herói de outros são a missão, os poderes e a identidade.251 Super-heróis
possuem uma missão e esta é geralmente pró-social e altruísta. “A convenção da
missão é essencial para o gênero do super-herói porque alguém que não atua al-
truisticamente para socorrer outros em tempos de necessidade não é heroico e, por-
tanto, não é um herói”.252 Coogan lembra, entretanto, que, embora essencial ao gê-
nero, a missão não está restrita ao gênero do super-herói. Outros gêneros que pos-
suem personagens heroicos podem igualmente apresentar a missão como caracte-
rística própria. O herói é sempre um ideal de moral e perfeição, um exemplo a ser
seguido.253 Nessa direção, Duncan e Smith ressaltam ainda que até mesmo as vari-
ações imperfeitas do herói, o herói trágico — como o Hulk, o Monstro do Pântano — 250 COOGAN, 2006, p. 30: “Su*per*he*ro (soo’per hîr’o) n., pl. – roes. A heroic character with a self-
less, pro-social mission; with superpowers—extraordinary abilities, advanced technology, or highly developed physical, mental, or mystical skills; who has a superhero identity embodied in a code-name and iconic costume, which typically express his biography, character, powers, or origin (transformation from ordinary person to superhero); and who is generically distinct, i.e. can be dis-tinguished from characters of related genres (fantasy, science fiction, detective, etc.) by a prepon-derance of generic conventions. Often superheroes have dual identities, the ordinary one of which is usually a closely guarded secret. —superheroic , adj. Also super hero, super-hero. ” (Tradução própria). Vale ressaltar que existe uma distinção sutil nos termos de língua inglesa. Ao passo que super hero e super-hero referem-se a um “herói que é super”, é o termo superhero (escrito junto, sem hífen) que se refere aos protagonistas do gênero do super-herói. Cf. COOGAN, 2006, p. 61.
251 COOGAN, 2006, p. 30ss. 252 COOGAN, 2006, p. 31: “The mission convention is essential to the superhero genre because
someone who does not act selflessly to aid others in times of need is not heroic and therefore not a hero”. (Tradução própria).
253 LOEB; MORRIS, 2005, 23-31.
117
e o anti-herói — como o Wolverine, o Justiceiro — violentos e amargurados, “[...]
irão, no final, ‘fazer a coisa certa’ e servir a causa da justiça”.254
Segundo Coogan, os superpoderes, por sua vez, são a característica mais
determinante e identificável do gênero do super-herói. Todo super-herói possui qua-
lidades elevadas a um nível sobre-humano, quer sejam essas qualidades “físicas,
mentais ou místicas”. E essas qualidades podem se tornar sobre-humanas em de-
corrência de uma fonte externa ou interna: externa como o acidente químico que
transformou Barry Allen no Flash ou o contato de Billy Batson com o mago que lhe
concedeu poderes, ou interna como a autodeterminação do Batman em preparar-se
física e psiquicamente ou ainda interna ao nível genético como os X-Men. Em outras
palavras, os superpoderes podem ser inatos (quando deuses, alienígenas, mutan-
tes) ou provenientes da magia (como no caso do Capitão Marvel e da Zatanna) da
tecnologia (como Batman) ou ainda do contato com uma fonte de energia (como a
picada radioativa que transformou o Homem-Aranha, por exemplo).255 Em contrapo-
sição, como recurso dramático da narrativa, todo super-herói possui uma fraqueza
específica, a qual pode igualmente porvir de uma força externa (como a kryptonita,
no caso do Superman) ou interna (a angústia e o autoquestionamento do Homem-
Aranha, o orgulho do Thor, o alcoolismo do Homem de Ferro, etc.).256 De qualquer
forma, embora os superpoderes sejam o aspecto mais marcante, não se pode es-
quecer de que não são os superpoderes que fazem o super-herói, mas justamente
sua disposição de desprendimento, autossacrifício e sua luta “pelo que é certo”.
Por fim, todo super-herói possui uma identidade. A identidade compreende
um codinome e uma fantasia. Diferentemente do que acontece com outros persona-
gens heroicos, nos super-heróis, o codinome e a fantasia exteriorizam sua identida-
de de super-herói. Como lembram Duncan e Smith, “geralmente, o nome do super-
254 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 226: “Yet even the tragic heroes and the anti-heroes, while bitter, an-
gry, or otherwise tainted, will, in the end, ‘do the right thing’ and serve the cause of justice”. (Tradu-ção própria.
255 VIANA, 2005, p. 38-40. Cf. também REBLIN, 2008, p. 21ss. 256 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 227.
118
herói está relacionado aos poderes do herói (Flash), a sua atitude (Demolidor)*, ou
papel [que desempenha] (Capitão América). A fantasia é geralmente uma externali-
zação destes aspectos do personagem”.257 Nas palavras de Coogan, “a fantasia de
super-herói remove detalhes específicos da aparência comum do personagem, dei-
xando apenas uma ideia simplificada que é representada nas cores e no design da
fantasia”.258 A fantasia geralmente apresenta cores primárias e sólidas (vermelho,
azul, verde, amarelo, branco) que desempenham um papel importante na moldagem
do caráter icônico do traje e um distintivo, uma insígnia,259 a qual “[...] enfatiza o co-
dinome do personagem e é por si mesma uma declaração daquela identidade”.260
Além disso, há a identidade secreta ou dupla identidade, comum, mas não impres-
cindível ao gênero ou à construção do super-herói, que se torna a contraparte do
codinome. Para Duncan e Smith, “a dupla identidade é também um meio para a
pessoa comum se identificar com esses personagens extraordinários”.261 Ou como
afirmou Viana, ampliando essa identificação ao gênero em si, os super-heróis “são
aqueles que fazem o que gostaríamos de fazer mas não fazemos: desafiar o mundo.
* O personagem batizado de Demolidor, no Brasil, chama-se originalmente nos Estados Unidos de
Daredevil (Demônio ousado) e suas características peculiares adquirem expressão icônica no tra-je, um colante vermelho com um par de chifres na testa, e na atitude, um vigilante que age na es-curidão, caçando criminosos impunes pela lei.
257 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 227-228: “Generally, the superhero name relates to the hero’s powers (Flash), attitude (Daredevil), or role (Captain America). The costume is often an externalization of these aspects of the character” (Tradução própria)
258 COOGAN, 2006, p. 33: “The superhero costumes removes the specific details of a character’s ordinary appearance, leaving only a simplified idea that is represented in the colors and design of the costume”. (Tradução própria)
259 Peter Coogan utilize o termo chevron porque “é um termo mais conciso que símbolo do peito, es-cudo do peito, insígnia, ícone, ou qualquer um dos vários termos utilizados para indicar um símbo-lo icônico que indica as identidades dos super-heróis. Ele também permite discutir a insígnia da fantasia que não está localizada no peito do personagem, como a caveira do Fantasma ou o alvo do Mercenário, embora tais exemplos sejam raros. Embora o termo carregue a conotação de um símbolo em forma de V, também indica uma classe ou serviço em uniformes militares e policiais” (COOGAN, 2006, p. 254-255: “It is a more concise term than chest symbol, chest shield, insignia, icon, or any of the various terms used to indicate the iconic symbols that indicate superhero identi-ties. It also enables one to discuss costume insignia that are not located on the character’s chest, such as the Pantom’s skull or Bullseye’s target, although such examples are rare. Although the term carries the connotation of a v-shaped symbol, it also indicates rank or service in military and police uniforms”. Tradução própria)..
260 COOGAN, 2006, p. 33: “[…] emphasizes the character’s codename and is itself a simplified state-ment of that identity”. (Tradução própria)
261 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 228: “The dual identity is also a way for the ordinary person to identify with extraordinary characters” (Tradução própria)
119
[...] A superaventura significa a carta de alforria imaginária do ser humano escravi-
zado no mundo da burocracia e da mercadoria”.262
Para Coogan, portanto, os elementos que moldam o super-herói e que, por
sua vez, delimitam os contornos do gênero são a missão, os poderes e a identidade.
Ainda assim, esses elementos não são determinantes para se identificar o gênero ou
mesmo seu principal protagonista, pois pode haver tanto super-heróis cujas narrati-
vas não preenchem totalmente esses elementos, quanto heróis que apresentam to-
das essas características e, nem por isso, se inserem no gênero. Segundo o pesqui-
sador de cultura americana, para poder identificar precisamente se um personagem
é ou não um super-herói e, respectivamente, se uma determinada história é ou não
participante do gênero da superaventura, torna-se necessário verificar como as dis-
tinções genéricas se articulam e se tornam preponderantes na narrativa. Essa ne-
cessidade se aproxima da definição proposta por Viana (e exposta anteriormente) ao
condicionar a existência do personagem à existência de um universo específico. “Em
poucas palavras, o super-herói só pode existir havendo um mundo habitado por se-
res superpoderosos”.263 Super-heróis geralmente possuem uma origem ou uma his-
tória de origem (referidas como tais) que condensa os elementos que os fizeram ser
quem são e lutarem pelo que lutam. Histórias de super-heróis geralmente possuem
personagens coadjuvantes ou coprotagonistas como os parceiros (os sidekicks) e os
arqui-inimigos ou supervilões, os quais não são exclusivos do gênero, embora de-
sempenhem um papel fundamental na narrativa deste. Histórias de super-heróis
possuem continuidade. Esta não é referida aqui tanto ao estilo de folhetim, o famoso
“continua...”, mas à participação de personagens distintos nas histórias de outros,
isto é, o cruzamento de histórias pertencentes ao mesmo gênero, o famoso crosso-
ver — a participação do Superman numa história do Batman, por exemplo. Assim,
mesmo que os elementos centrais atinentes ao super-herói, e, consequentemente,
às suas histórias, sejam a missão, os poderes e a identidade, eles não garantem
262 VIANA, 2005, p. 62-63. 263 VIANA, 2005, p. 38.
120
impreterivelmente que determinado personagem seja um super-herói e que sua his-
tória se insira no gênero do super-herói. É a preponderância das convenções do gê-
nero, sua semelhança com outras histórias do gênero, sua articulação com outros
elementos narrativos que caracterizam o personagem e que definem sua pertença
no gênero. Nas palavras de Coogan,
As similaridades entre instâncias específicas de um gênero são semânticas, abstratas e temáticas, e decorrem da constelação das convenções que es-tão tipicamente presentes na oferta do gênero. Se um personagem basica-mente se encaixa na definição de missão – poderes – identidade, mesmo com qualificações significativas, e não pode ser posto facilmente em qual-quer outro gênero por causa da preponderância das convenções do gênero do super-herói, o personagem é um super-herói” [...]
Se um personagem de qualquer grau se encaixa nas qualificações de mis-são – poderes – identidade da definição, mas pode ser firmemente e sensi-velmente posto dentro de qualquer outro gênero, então o personagem não é um super-herói. Tipicamente a convenção da identidade (codinome e fanta-sia) desempenha o maior papel dos três elementos no auxílio para incluir ou excluir personagens do gênero.264
Para Richard Reynolds, todos os elementos particulares e centrais das histó-
rias e do gênero do super-herói foram estabelecidos nas páginas do precursor do
gênero, o Superman. Está lá a questão da orfandade (isto é, ou os super-heróis são
órfãos ou possuem relações complicadas com seus pais); a tensão entre o divino e o
humano (isto é, a presença de relações e alusões mítico-religiosas nas narrativas –
tanto no enredo quanto na dramatização visual); a luta pela justiça (o motivo ou mis-
são do super-herói de lutar a favor de necessitados, oprimidos, injustiçados); a rela-
ção entre o ordinário e o extraordinário (isto é, se sustenta o contraste entre o ser
superpoderoso e o indivíduo medíocre); a identidade secreta (a qual revela novas
facetas da personalidade dividida do super-herói, quando tensionada pelo triângulo
amoroso na narrativa); o tema da relação entre os superpoderes e a política (isto é,
264 COOGAN, 2006, p. 40; 47: “The similarities between specific instances of a genre are semantic,
abstract, and thematic, and come from the constellation of conventions that are typically present in a genre offering. If a character basically fits the mission-powers-identity definition, even with signifi-cant qualifications, and cannot be easily placed into another genre because of the preponderance of superhero-genre conventions, the character is a superhero. If a character to some degree fits the mission-powers-identity qualifications of the definition but can be firmly and sensibly placed within another genre, then the character is not a superhero. Typically the identity convention (codename and costume) plays the greatest role of the three elements in helping to rule characters in or out of the genre”. (Tradução própria). Acerca do papel desempenhado pela identidade, cf. também REYNOLDS, 1992, p. 26ss.
121
de que a lealdade e o patriotismo do super-herói superam sua devoção à lei, o que
conduz a uma reflexão sobre qual ordem deve reger a vida social); e a abordagem
da ciência, tratada como magia.265 Para Reynolds, estes tópicos são suficientes para
se elaborar os elementos centrais do gênero do super-herói, quais são:
1. O herói é caracterizado como fora da sociedade. Ele frequentemen-te atinge maturidade sem ter uma relação com seus pais.
2. Pelo menos alguns super-heróis serão como deuses presos à terra em seu nível de poderes. Outros super-heróis com poderes inferio-res irão acompanhar facilmente essas divindades presas à terra.
3. A devoção do super-herói pela justiça supera até mesmo sua devo-ção pela lei.
4. A natureza extraordinária do super-herói será contrastada com a or-dinariedade de seu entorno.
5. De forma semelhante, a natureza extraordinária do herói será con-trastada com a natureza mundana de seu alterego. Determinados tabus irão reger as ações desses alteregos.
6. Embora esteja, em última análise, acima da lei, super-heróis podem ser capazes de um patriotismo e de uma lealdade moral ao Estado consideráveis, embora não necessariamente à letra de suas leis.
7. As histórias são míticas e usam ciência e magia indiscriminadamen-te para criar um senso de maravilha.266
Para Duncan e Smith, as histórias do gênero do super-herói sustentam de-
terminados padrões narrativos que as distinguem de outras histórias. À parte do fato
de as histórias de super-heróis — referindo-se aqui a uma história progressiva, isto
é, que possui uma continuidade e que, junto com outras histórias, constituem uma
mitologia — sempre se iniciarem com uma “história de origem”, as histórias de su-
per-heróis geralmente seguem a estrutura mítica descrita por Campbell: separação,
iniciação e retorno.267 Essa estrutura era facilmente identificada nas histórias das
265 REYNOLDS, 1992, p. 12-16. 266 REYNOLDS, 1992, p. 16: “1. The hero is marked out from society. He often reaches maturity with-
out having a relationship with his parents. 2. At least some of the superheroes will be like earth-bound gods in their level of powers. Other superheroes of lesser powers will consort easily with these earthbound deities. 3. The hero’s devotion to justice overrides even his devotion to the law. 4. The extraordinary nature of the superhero will be contrasted with the ordinariness of his sur-roundings. 5. Likewise, the extraordinary nature of the hero will be contrasted with the mundane nature of his alter-ego. Certain taboos will govern the actions of these alter-egos. 6. Although ulti-mately above the law, superheroes can be capable of considerable patriotism and moral loyalty to the state, though not necessarily to the letter of its laws. 7. The stories are mythical and use sci-ence and magic indiscriminately to create a sense of wonder”. (Tradução própria)
267 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Círculo do Livro, [19--]. Cf. também: SCHA-PER, Valério Guilherme. Ética e heroísmo: uma reflexão a partir das histórias em quadrinhos. In: VIANA, Nildo; REBLIN, Iuri Andréas (Org.). Super-heróis, cultura e sociedade: aproximações mul-tidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Idéias e Letras, 2011. p. 171-184.
122
primeiras décadas, na Era de Ouro.268 Naturalmente, como todo gênero evolui e se
complexifica com o passar dos anos, outros autores identificaram tendências que se
destacaram na estrutura narrativa do gênero do super-herói. Nessa direção, Duncan
e Smith apresentam as tendências que Nat Gertler identificou no gênero dos super-
heróis: 1) heróis que se empenham em neutralizar a maldade (primeira geração); 2)
por que heróis se empenham em neutralizar a maldade (segunda geração); 3) as
consequências de heróis se empenharem em neutralizar a maldade (terceira gera-
ção); 4) heróis são atacados por vilões (quarta geração).269 Os autores ressaltam
que há, entrementes, aqueles que defendem que as histórias dos super-heróis não
possuem padrões narrativos definidos, por se tratarem de “romances de folhetim”.
Enquanto “romances de folhetim”, os padrões narrativos do gênero frequen-
temente entram em colapso devido ao peso da própria história (isto é, do conjunto
de histórias acumuladas que juntas constituem “a” história do personagem): “Conti-
nuidade é o grau de relacionamento entre personagens e eventos mencionados que
habitam o mesmo universo ficcional, e pode se colocar como um problema para cri-
adores ao tentarem lidar com décadas de história de fundo”.270 Aqui a continuidade
reúne a questão do cruzamento de personagens e eventos como pertencentes a um
mesmo universo ficcional e o acúmulo histórico das narrativas. Devido à continuida-
de, as histórias dos super-heróis possuem uma linha do tempo. Em todo caso,
mesmo que uma adaptação ou uma contextualização se torne necessária,271 é pos-
sível identificar no gênero do super-herói certos temas recorrentes (tais como a pos-
tura ética, a importância da justiça, a persistência do herói), bem como um padrão
visual estabelecido (heróis musculosos, o traço erótico das fantasias colantes, a dis-
posição pictográfica ritualística do poder, o uso de cores brilhantes); visto que os
268 DUNCAN; SMITH, 2009, p.231s. 269 DUNCAN; SMITH, 2009, p.232-233. 270 DUNCAN; SMITH, 2009, p.233: “Continuity is the relatedness among characters and events said
to inhabit the same fictional universe, and it can pose a problem for creators trying to deal with decades of backstory”. (Tradução própria. Grifo no original.)
271 Vale lembrar que enquanto contínuas, as narrativas precisam, de tempos em tempos, se adaptar e se contextualizar para manter o interesse do leitor e, consequentemente, a demanda de mercado.
123
super-heróis surgiram e têm se mantido primordialmente em um meio visual, as his-
tórias em quadrinhos,272 sendo um dos gêneros mais consumidos do meio.
Figura 5: A predominância do gênero do super-herói
Fonte: McCLOUD, 2006, p. 111.
Como já asseverado em outras ocasiões, a história do gênero do super-herói
se confunde com a própria história das histórias em quadrinhos, o que não significa
impreterivelmente que eles “foram feitos um para o outro”. Com afirma Scott Mc-
Cloud, “não acho que haja algo intrínseco nos quadrinhos que os restrinja a tais fan-
tasias de superpoder”.273 Nas palavras de McCloud,
Figura 6: Um gênero transmidiático
Fonte: McCLOUD, 2006, p. 118.
272 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 236. 273 McCLOUD, 2006, p. 118.
124
A predominância do gênero do super-herói no mercado de histórias em qua-
drinhos não é, pois, o fator condicionador para a existência da mídia. Em todo o ca-
so, é nas histórias em quadrinhos, entretanto, que o gênero dos super-heróis se sus-
tenta primordialmente e mantém registrado seu ciclo evolutivo. Nessa direção, co-
mumente, à parte da pré-história do gênero, que reúne principalmente histórias de
determinados personagens de pulps (como Frankenstein, O Sombra, O Fantasma,
Tarzan, Gladiador, Jim da Selva, Doc Savage, isto é, as três tendências narrativas
predominantes até então — o Super-Homem da Ficção Científica, o Super-Homem
do Nietzsche e os vigilantes de dupla identidade), quatro eras têm sido usualmente
definidas para o gênero: A Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era
Moderna. Nildo Viana propõe uma classificação distinta, menos precisa e, por vez,
menos axiológica: “a) a época do nascimento, que vai da criação do Superman até o
final da Segunda Guerra Mundial; b) a época da crise, que vai de 1945 até o final da
década de 1950; c) a época da retomada e renovação, que ocorre a partir do final da
década de 1950 até o final dos anos 1960; d) a época do ‘envelhecimento’ dos su-
per-heróis, que vai do final da década de 1960 até 1980; e) a época da reorganiza-
ção e inovação, que vai de 1980 até os dias de hoje”.274 E, claro, se a reformulação
do universo DC — desencadeada em setembro de 2011, com a reinicialização de
todas as séries (não necessariamente de todas as “mitologias”) e a reunificação de
todos os personagens em um só universo ficcional — se consolidar, pode-se estar
presenciando o início de uma nova era do gênero: a Era Pós-moderna. Em todo o
caso, cada uma dessas eras possui suas próprias características tanto em termos de
estrutura narrativa textual e gráfica quanto em termos de enredo e sua relação com
o contexto. 274 VIANA, 2011, p. 17. Peter Coogan, por sua vez, propõe uma divisão mais precisa: a Era Antidiluvi-
ana (que é a pré-história do gênero, a partir de 1818 com o surgimento de Frankenstein); a Era de Ouro (1938-1956; isto é, de Action Comics n. 1 até Plastic Man n. 64); a Era de Prata (1956-1971; isto é, de Showcase n. 4 até Teen Titans n. 31); a Era de Bronze (1971-1980; isto é, de Superman n. 233 até Legion of Super-Heroes n.259); a Era de Ferro (de 1980 a 1987, no caso da DC, e de 1980 a 2000, no caso da Marvel; isto é, de DC Comics Presents n. 26 até Justice League of Ame-rica n. 261 e até ao fracasso da Marvel em imitar a Image) e a Era do Renascimento (a partir de 1987 ou de 2000 até o presente; isto é, a partir de Justice League n. 1, no caso da DC Comics, ou a partir de The Sentry n. 1, no caso da Marvel). COOGAN, 2006, p. 193-194; cf. Também todo o capítulo: p. 193-230.
125
Diante de tudo isso, portanto, é possível reconhecer que as histórias dos super-
heróis reúnem um conjunto de convenções primárias que permitem classificá-las como
um gênero narrativo autônomo. As histórias dos super-heróis surgiram em um contexto
específico e em uma mídia inovadora na época, caracterizada pela junção harmoniosa
entre texto e imagem, muito embora tenham tão logo se expandido para outras mídias
como o rádio e o cinema, transformando-se, assim, num fenômeno transmidiático. As
histórias dos super-heróis retratam a jornada do herói contemporâneo, bem distante
dos personagens sobre-humanos épicos como Perseu, Hércules e outros, pelo fato de
emergir numa sociedade industrializada centrada no indivíduo e habitar, de certa forma,
num mundo visivelmente mais simplista: mundo onde o bem e o mal resumem as as-
simetrias e a luta pela justiça, muitas vezes, se concentra na manutenção da mesma
ordem social responsável pela injustiça.275 Ainda assim, as histórias dos super-heróis
sempre retratam e, ao mesmo tempo, respondem ao contexto do qual emergem, de-
senvolvendo-se com o passar dos anos, apresentando temas cada vez mais comple-
xos e polêmicos. Elas podem ser tanto reflexo quanto projeção de um tipo de indivíduo,
sociedade e comportamento. Ao passo que o herói enquanto personagem é sempre,
em geral, uma expressão dos valores mais nobres e estimados de um grupo ou socie-
dade, as narrativas dos super-heróis sempre terão o potencial de servir de horizonte,
exemplo, ideal a ser alcançado; isto é, assim como elas possuem o potencial de ex-
pressar quem o ser humano é, elas possuem o potencial de revelar quem ele deseja e
pode vir a ser. Naturalmente, toda essa dinâmica entre ser e vir a ser, entre retratar e
projetar não acontece distante da ótica do mercado que prima por uma narrativa atrati-
va que, na perspectiva de seus produtores, pode e deve ser comercializada e consumi-
da. Em todo o caso, não há dúvidas de que as histórias dos super-heróis são um jeito
peculiar de se contar aventuras de personagens heroicos, seja pelos elementos intrín-
secos atinentes à constituição do personagem e às estruturas gerais do enredo, seja
pelos elementos extrínsecos como a nomeação, a paródia, a imitação e a repetição.
275 VIANA, 2005, p. 37-56. Cf. também: VIANA, Nildo. Breve história dos super-heróis. In: VIANA,
Nildo; REBLIN, Iuri Andréas (Org.). Super-heróis, cultura e sociedade: aproximações multidiscipli-nares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Idéias e Letras, 2011. p. 15-53.
126
Não menos importante, um último ponto precisa ser considerado aqui. Embora
o termo atribuído no contexto estadunidense a esse jeito particular de se contar histó-
rias seja “gênero do super-herói” e tenha se consolidado como tal, o sociólogo Nildo
Viana propõe outra nomenclatura baseada na própria definição de super-herói: supera-
ventura. Como já indicado anteriormente, o super-herói é um herói com superpoderes,
isto é, com habilidades humanamente impossíveis. Essa definição mantém um equili-
bro entre as partes, “herói” e “super”, e vai ao encontro do que se tem discutido até
aqui, isto é, de que, apesar da existência impreterível dos superpoderes, não são estes
que “fazem” o super-herói. Um super-herói é, antes de tudo, um herói. “Nem todo fan-
tasiado combatente do crime é um herói, nem todo indivíduo que possua poderes so-
bre-humanos é necessariamente um super-herói”. 276 Segundo Danny Fingeroth, as
características mais óbvias que definem um herói são: “alguma espécie de força de
caráter (embora esta possa estar enterrada), algum sistema de (geralmente pensado
para ser) valores positivos e uma determinação em, não importa o quê, proteger esses
valores”.277
Segundo Viana, enquanto personagem de ficção típico de uma sociedade in-
dustrializada,278 o herói emerge nos primórdios das histórias em quadrinhos, no gênero
da aventura, cujo expoente é o Tarzan. O gênero da aventura surge no final da década
de 1920 e é caracterizado pelo traço mais realista, que substitui o caricato, e pela com-
plexidade das narrativas em termos de enredo, cenário, tramas, etc.279. “O gênero
aventura se caracteriza pela aventura, uma narrativa seqüencial longa, realizada por
um herói, um indivíduo com capacidades humanas extraordinárias (força física, atribu-
276 LOEB; MORRIS, 2005, p. 26. 277 FINGEROTH, 2008, p. 17: “Then most obvious things are: some sort of strength of character
(though it may be buried), some system of (generally-thought-to-be) positive values, and a deter-mination to, no matter what, protect those values.” (Tradução própria).
278 Aqui vale uma observação: os super-heróis surgem dentro do contexto da cultura americana, an-glo-saxã protestante. São, portanto, frutos de um contexto específico, tanto que o gênero possui dificuldades significativas de vingar em outros contextos (como o brasileiro, por exemplo). A rela-ção com a cultura americana não será pormenorizada aqui. Para maiores informações, consulte REBLIN, 2008, p. 69ss. e VERGUEIRO, Waldomiro. Super-heróis e cultura americana. In: VIANA, Nildo, REBLIN, Iuri Andréas (Orgs.). Super-heróis,cultura e sociedade: aproximações multidiscipli-nares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Idéias e Letras, 2011. p. 143-170.
279 VIANA, 2005, p.19ss.
127
tos morais etc.), que deve realizar uma missão: lutar pela justiça”.280 Na perspectiva
delineada pelo autor, o termo “aventura” não se refere essencialmente a um tipo espe-
cífico de narrativa ambientada em selva, etc., mas alude primordialmente à “jornada” do
herói, tanto é que, nessa direção, o sociólogo atribui os gêneros como ramificação (e,
portanto, subgêneros) da aventura.281
Sem polemizar essa categorização, o fato é que as narrativas dos super-heróis
não deixam de ser aventuras que retratam a jornada de um herói, que sustenta todos
os atributos típicos do herói (força, coragem, atributos morais), mas com superpode-
res.282 Além disso, ao conceituar o gênero do super-herói como superaventura, a ênfa-
se não recai sobre o personagem — o que não significa necessariamente que este é
subtraído na trama ou que se torna menos importante para ela — mas na aventura, isto
é, no desenvolvimento da história que se desenvolve, da qual o super-herói é o perso-
nagem singular. Essa ênfase é crucial, pois potencializa a percepção do enredo, das
diferentes aventuras com as quais o super-herói se depara a cada nova edição ou
filme, e consequentemente de como ele, naquela trama, se superará ou resolverá os
conflitos emergentes, ao invés de restringir essa percepção ao personagem. Não obs-
tante, e a indústria cinematográfica ressalta isso, e mesmo a dos quadrinhos, ao no-
mear as revistas com o nome dos personagens, o público tenderá a identificar-se com
o herói, o indivíduo. Em ambas as circunstâncias, o termo “superaventura” ou “gênero
da superaventura” traduz melhor a ideia conceitual por trás das histórias dos super-
heróis.
280 VIANA, 2005, p. 26. 281 VIANA, 2005, p. 32: “As aventuras policiais marcam o nascimento de um subgênero no interior do
gênero aventura, fazendo emergir a figura do ‘herói policial’, segundo expressão de Marny, sem ter o brilho que os demais possuem por suas limitações devido [à] sua ligação com a figura real do policial, inclusive aparência física, que, segundo alguns, encaixaria muito bem nos vilões. Outros subgêneros, expressando outros tipos de heróis, como o herói das selvas (Tarzan, Jim das Sel-vas, Ka-Zar, Tantor), o herói cômico (Popeye, Lucky Luke), o herói fantástico (Mandrake, Tabu – Feiticeiro da Floresta), o herói de ficção científica (Buck Rogers, Brick Bradford, Flash Gordon), o herói cowboy (Red Ryder, Bronco Bill – ex-Bufallo Bill Jr., Lone Ranger – O Zorro, como ficou co-nhecido no Brasil) entre outros, manifestam, sob formas diferentes, as características básicas do gênero aventura.”
282 VIANA, 2005, 37ss.
128
2.2.3 Uma mitologia contemporânea
Os super-heróis emergiram no período anterior à Segunda Guerra Mundial,
caracterizado pela Depressão americana, ocasionada pela quebra da bolsa de Nova
York em 1929, com a publicação de Action Comics n.1, de junho de 1938, edição
que introduziu o Superman ao universo ficcional das narrativas contemporâneas.
Não é mais novidade que o até então “último sobrevivente do planeta Krypton” inau-
gurou uma nova era para a indústria dos quadrinhos, para a indústria do entreteni-
mento em geral e para a própria cultura pop, ou “cultura de massa”. Na verdade, os
super-heróis provaram ser exemplos perfeitos de como o fenômeno cultural contem-
porâneo, pós-revolução industrial, se articula e se molda continuamente.
Os super-heróis surgiram num meio específico, em sedimentação no merca-
do e no conglomerado de meios de comunicação de massa de então, e tão logo mi-
graram para outros meios, tornando-se um fenômeno transmidiático, como já asse-
verado. Superman estreou em junho de 1938; em fevereiro de 1940, conquistou o
rádio; em 1941, foi o protagonista de uma série de desenho animado de seis minu-
tos de duração e, em 1948, de um filme estrelado por Kirk Alyn e, posteriormente, de
uma série de televisão, de 1951 a 1958, estrelada por George Reeves. Capitão Mar-
vel, por sua vez, estreou em Whiz Comics n. 2, em fevereiro de 1940 e, já em 1941,
protagonizou no cinema um seriado em 12 capítulos de uma média de 16 minutos
de duração cada (à exceção do episódio piloto, de cerca de 30 minutos), sendo o
primeiro super-herói adaptado para as telas do cinema.283 Além disso, Superman e
Capitão Marvel, assim como inúmeros outros, imprimiram seus temas, jargões e tre-
jeitos na audiência de tal forma que tais se tornaram conhecimento popular, “senso
comum”. A palavra mágica que transforma Billy Batson em Capitão Marvel, “Sha-
zam”, é amplamente conhecida mundo afora, tornando-se relativamente gasta e reu-
tilizada numa infinidade de filmes sobre gênios, feiticeiros, bruxos ou mesmo como
alívio cômico em filmes de outros super-heróis. Como lembrou Danny Fingeroth, ex-
283 Cf. REBLIN, 2011, p. 70-78.
129
pressões como “Quem ele pensa que é, o Superman?” ou “meu sentido de aranha
está tilintando!” fazem parte do uso cotidiano da linguagem. Em outras palavras,
“não há dúvidas de que o super-herói se tornou um produto básico do entretenimen-
to popular e, através dele, da consciência de massa”.284
Como já mencionado, nas palavras de Umberto Eco, “Quando se põem a
migrar de um texto para o outro, as personagens ficcionais já adquiriram cidadania
no mundo real e se libertaram da história que as criou”.285 Mesmo que Umberto Eco
tenha se referido aqui a personagens ficcionais que supostamente deixaram de ser
exclusivamente ficcionais — isto é, personagens acerca dos quais há confusão e
questionamentos sobre sua existência real na história humana, tais como Sherlock
Homes, Robin Hood, Rei Arthur, o que nunca aconteceu com personagens como os
super-heróis — a assertiva pode ser transportada para o contexto da superaventura
na seguinte perspectiva: os super-heróis se tornaram mais que simples histórias de
ficção com o propósito de entreter; eles se tornaram parte integrante, indelével e in-
dissolúvel do imaginário popular contemporâneo; mais ainda, os super-heróis se tor-
naram verdadeiras mitologias contemporâneas.
A caracterização da superaventura como mitologia contemporânea não é a-
típica. Histórias de super-heróis são frequentemente referidas como mitos contempo-
râneos.286 Christopher Knowles, por exemplo, relaciona os super-heróis com arqué-
tipos extraídos de tradições e lendas mítico-religiosas: messias, o gólem, a amazo-
na, a irmandade e o mago.287 Já Duncan e Smith sugerem que os super-heróis se-
jam considerados mitos modernos por causa da sua imersão no imaginário popular;
por emergirem em uma época de crise e serem capazes de salvar a humanidade de
sua mediocridade; servirem de exemplos morais e incorporarem a ideologia do con-
texto do qual e para o qual são criados.288 “Os contos de super-heróis não são tanto
284 FINGEROTH, 2008, p. 18: “There’s no doubt that the superhero has became one of the staples of
popular entertainment and, through that, of mass consciousness”. (Tradução própria) 285 ECO, 2006, p. 132. 286 REYNOLDS, 1992; KNOWLESS, 2008; FINGEROTH, 2008; REBLIN, 2008. 287 KNOWLES, 2008. 288 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 242-243.
130
um preenchimento ou um desejo por poder quanto são uma declaração otimista a-
cerca do futuro e um ato de provocação em face à adversidade”.289 Nesse sentido,
os super-heróis tornam-se um símbolo que motiva a humanidade a ir adiante. Essa
característica simbólica não é aleatória ou artificial, mas deve-se à inspiração dessas
narrativas na própria tradição mítico-religiosa que a antecedeu e que se mantém,
embora não mais com a mesma força, impregnada no imaginário popular. O estudo
de Flávio Kothe sobre o herói através das eras contribui no sentido de perceber es-
sas influências.290 De qualquer forma, o fato é que há uma associação visual e nar-
rativa das histórias dos super-heróis com personagens e histórias mítico-religiosas
que serviram de base para a própria criação dos super-heróis:
Assim como outros gêneros dos quadrinhos têm se apropriado de mitologi-as narrativas existentes (o Oeste Selvagem, o antropomorfismo, o horror) assim Siegel e Shuster criaram Superman a partir de um material já à mão: os mitos de Sansão, Hércules e assim por diante. Há, indiscutivelmente, uma tendência para os criadores de quadrinhos em legitimar suas criações, enfatizando sua semelhança com heróis lendários ou deuses: uma estratégia para dar a seu meio sem compromisso um grau de elevação moral e intelectual.291
Ao explorarem histórias ou modelos exemplares, ao serem uma versão atua-
lizada das lendas e heróis do passado, embasada nos mitos antigos, ao apresenta-
rem os valores elevados, isto é, aquilo que conduz e inspira a humanidade a ir adi-
ante, as histórias dos super-heróis se tornam mitos; pois, em suma, os mitos são
justamente histórias originárias geradoras de cultura que visam manter e reafirmar a
identidade de um grupo, sustentar sua coesão interna, inspirar e dar sentido e lidar
com aspirações, valores e projeções.292 Nessa perspectiva, mitos são narrativas que
encantam (no duplo sentido: tanto enfeitiçam quanto maravilham) e, ao encantar sua
289 DUNCAN; SMITH, 2009, p. 243: “Superhero tales are not so much a fulfillment of a wish for power
as they are an optimistic statement about the future and an act of defiance on the face of adversi-ty”. (Tradução própria)
290 KOTHE, Flávio R. O Herói. São Paulo: Ática, 1985. 291 REYNOLDS, 1992, p. 53: “Just as other genres of comics have appropriated existing narrative
mythologies (the Wild West, anthropomorphism, horror) so Siegel and Shuster created Superman from material already to hand: the myths of Samson, Hercules and so on. There has arguably been a tendency for comic creators to legitimize their offspring by stressing their resemblance to legend-ary heroes or gods: a strategy to give their disregarded medium a degree of moral and intellectual uplift.” (Tradução própria)
292 REBLIN, 2008, p. 33.
131
audiência, reencantam seu mundo. “A função primária da mitologia e dos ritos sem-
pre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se
àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás”.293
Para Campbell, os mitos seriam uma evocação despersonalizada de uma dimensão
de profundidade do ser humano:
Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstân-cias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos. Não seria demais considerar o mito a aber-tura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito.294
Para Campbell, os mitos possuem uma pretensão universal que é a de indi-
car um horizonte, ser modelo de vida e prover as respostas para determinados pro-
blemas fundamentais. O mito tem quatro funções básicas: uma função mística, de
promover a consciência do mistério; uma função cosmológica, de mostrar não ape-
nas a forma do universo, sem subtrair a percepção do mistério neste universo; uma
função sociológica, de fornecer um suporte e de validar ordens sociais existentes de
determinados grupos ou sociedades e uma função pedagógica, de introduzir as no-
vas gerações na história da humanidade, de conceder uma experiência de viver e de
estar vivo que seja uma referência.295 Assim, os mitos transmitem uma compreensão
da história humana, em termos valorativos, universais, não factuais, que mantém
uma abertura ao mistério, à transcendência, e possibilitam a apreensão dessa com-
preensão, atuando como modelos e sabedorias de vida. Os mitos “são os sonhos do
mundo. São sonhos arquetípicos, e lidam com os magnos problemas humanos. [...]
O mito me fala a esse respeito, como reagir diante de certas crises de decepção,
maravilhamento, fracasso ou sucesso”.296 “O mito o ajuda [o indivíduo] a colocar sua
293 CAMPBELL, [19--], p. 21. 294 CAMPBELL, [19--], p. 15. 295 CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. O Poder do Mito.São Paulo: Palas Athena, 1990. p. 32-33. 296 CAMPBELL; MOYERS, 1990, p. 16.
132
mente em contato com essa experiência de estar vivo”.297 Ao manter-se “vivo”, isto
é, presente nas sociedades contemporâneas, segundo Mircea Eliade, o mito “forne-
ce modelos para o comportamento humano e, por isso mesmo, confere significado e
valor à existência”.298 Embora se ocupe primordialmente com os mitos de origem na
perspectiva da história das religiões, essa percepção do filósofo romeno acerca da
função do mito pode ser transportada para o estudo da superaventura.
Para Eliade, inclusive, os super-heróis são versões modernas dos heróis mi-
tológicos e folclóricos e corporificam determinados tipos de comportamentos míticos
que representam e expressam anseios e projeções de uma coletividade. As histórias
míticas sempre se revestem de uma aura de sacralidade. E, nessa direção, vale re-
tomar a afirmação de Rubem Alves de que “o que ocorre com freqüência é que as
mesmas perguntas religiosas do passado se articulam agora, transvestidas, por
meio de símbolos secularizados”.299 Em outras palavras, enquanto narrativas míti-
cas, as histórias dos super-heróis seriam uma nova roupagem para antigos mitolo-
gemas. Como asseverado em outro momento,
Como mito, os super-heróis regulamentam e reafirmam os princípios norte-adores de uma sociedade e satisfazem “as nostalgias secretas do homem moderno que, sabendo-se condenado e limitado, sonha revelar-se um dia como uma ‘personagem excepcional’, um ‘herói’.” Os super-heróis nascem na mente do ser humano, em seus anseios e em seus desejos de transcen-der suas próprias barreiras, seus próprios limites, em superar seus proble-mas existenciais, físicos e imediatos. Os super-heróis “encarnam a tal ponto o ideal de uma grande parte da sociedade que as eventuais correções ao seu comportamento, ou, pior ainda, à sua morte, provocam verdadeiras cri-ses entre os leitores; estes reagem violentamente e protestam enviando mi-lhares de telegramas aos autores”.300
Sob uma perspectiva e influência junguiana, Campbell defende que os sím-
bolos míticos não são inventados artificialmente, mas emergem dos recônditos da
“alma humana”, da psique. Ou seja, o surgimento dos super-heróis está relacionado
a uma necessidade deles. A ausência de referenciais “em carne e osso”, o contexto
incerto após a queda da bolsa de Nova York, a instabilidade mundial do período pré-
297 CAMPBELL; MOYERS, 1990, p. 6. 298 ELIADE, Mircea. Aspectos do Mito. Lisboa: Edições 70, 1986. p. 10. 299 ALVES, 2005b, p. 12. 300 REBLIN, 2008, p. 41. Com trechos de ELIADE, 1986, p.155.
133
guerra, entre outros fatores, tudo isso despertou a necessidade imaginária de heróis,
como lembra Viana.301 Isto é, diante das adversidades criou-se um desejo de supe-
ração; diante das repressões e das limitações provocadas pela vida contemporânea,
emerge um desejo por liberdade. E a “fórmula mitológica universal da aventura do
herói”302 preenche essa necessidade por superação e liberdade porque ela se cons-
titui sumariamente de uma tensão dinâmica entre as adversidades e a superação
destas, tensão imiscuída na fórmula separação — iniciação — retorno.303 Essa fór-
mula é válida tanto para contos populares quanto para contos mítico-religiosos. A
distinção, de acordo com Campbell, é uma distinção em termos de proporção do al-
cance e das proezas do herói. Ao passo que o herói dos contos populares, dos con-
tos de fadas, realiza sua ação física e atinge um triunfo microcósmico, pontual, a
ação do herói mítico-religioso é apresentada como uma atitude moral, a partir da
qual ele conquista um triunfo macrocósmico, isto é, de proporções histórico-
universais. Nessa direção, os super-heróis reuniram em suas narrativas tanto as
proezas do herói do conto popular, quanto as proezas do herói mítico-religioso. O
combate entre Superman e seu arqui-inimigo Lex Luthor, ou mesmo com um crimi-
noso qualquer, mesmo localizado, assume sempre a pretensão universal, ao passo
também que as próprias cidades ficcionais tornam-se uma metáfora para qualquer
metrópole existente.
As histórias dos super-heróis são primordialmente histórias e, enquanto tais,
elas sempre contam algo a alguém. Entretanto, não é o que elas contam que as tor-
na mitos, como lembrou Roland Barthes em seu clássico Mitologias, mas como elas
contam. “O mito não se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira co-
mo a profere: o mito tem limites formais, mas não substanciais”.304 Isso não significa
que o conteúdo não é importante, mas que o mito é constituído por uma forma pecu-
liar. Nas palavras de Barthes, “[...] o mito é um sistema de comunicação, é uma
301 VIANA, 2005, p. 57ss. 302 CAMPBELL, [19--], p. 29. 303 CAMPBELL, [19--], p. 36. 304 BARTHES, Roland. Mitologias. 4. ed. São Paulo: Difel, 1980. p. 131.
134
mensagem. Eis por que não poderia ser um objeto, um conceito, ou uma idéia: ele é
um modo de significação, uma forma”.305 Não é, pois, o enunciado que condiciona
ou define um mito, nem o tipo de linguagem (entendida aqui num sentido macro, isto
é, qualquer síntese significativa: imagem, filme, texto, discurso oral, música) pela
qual esse enunciado se articula, mas o modo como ele é expresso. O mito se distin-
gue de outros discursos por ser uma metalinguagem. Enquanto tal, ele se apropria
de signos definidos, despe-os de seu sentido, sem, entretanto, eliminá-lo, antes o
deforma, esvazia, e reapresenta-os dentro de uma nova estrutura de significação
ambígua e interpelatória visando uma intencionalidade.306 Considerando que os sig-
nos, na linguagem, segundo Barthes, em termos formais, compreendem a junção
definitiva de um significante com um significado, no mito, o significado, ou o sentido,
do signo é subtraído (não extinguido) para dar lugar a um novo significado, ou con-
ceito, que dará significação ao mito. Isso significa que, no mito, o signo é o ponto de
encontro de dois sistemas semiológicos: ele é tanto a etapa final na linguagem quan-
to a etapa inicial no mito, conforme pode ser demonstrado no gráfico abaixo:
Figura 7: Sistema semiológico do mito de acordo com Roland Barthes
Fonte: baseado em e adaptado de BARTHES, 1980, p. 133-148, esp. p. 137s.
305 BARTHES, 1980, p. 131. 306 BARTHES, 1980, p. 131-148.
135
Para Barthes, essa percepção implica em três tipos possíveis de recepção,
leitura e interpretação do mito:307 a perspectiva do produtor do mito, a perspectiva do
decifrador, isto é, do mitólogo, e a perspectiva do leitor. Na perspectiva do produtor
do mito, a ênfase está no conceito, isto é, na intencionalidade, na mensagem. A for-
ma do mito, seu significante é esvaziado para dar lugar ao conceito. Na perspectiva
do estudioso do mito, a ênfase reside na percepção da diferença entre o sentido e a
forma do signo, do significante do mito. Já o leitor do mito observará ou lerá o mito
na perspectiva de seu significado. O leitor identifica a ambiguidade existente na di-
nâmica entre o significante do mito (isto é a “totalidade inextricável de sentido e for-
ma”308) e seu significado. A primeira leitura é intencional, visa criar um exemplo, um
símbolo, e é, por isso mesmo, cínica, pois descaracteriza propositalmente o sentido
de um signo em virtude do conceito que se quer transmitir. A segunda leitura é des-
mistificadora, porque percebe a distância entre o sentido do signo e o sentido que
ele assume no mito. Por fim, a terceira leitura “é dinâmica, [porque] consome o mito
segundo os próprios fins da sua estrutura: o leitor vive o mito como uma história si-
multaneamente verdadeira e irreal”.309 Uma vez constituído, justamente por causa
da tensão entre o sentido, a forma e o conceito atribuído à forma, por mais que se
queira dar uma explicação ao mito, o significado do mito sempre escapa; sua forma
sempre dará margem a interpretações diversas; seu significado não se esgota:
O mito é um valor, não tem a verdade como sanção: nada o impede de ser um perpétuo álibi: basta que o seu significante tenha duas faces para dispor sempre de um “outro lado”: o sentido existe sempre para apresentar a for-ma; a forma existe sempre para distanciar o sentido. E nunca há contradi-ção, conflito, explosão entre o sentido e a forma, visto que nunca estão no mesmo ponto. [...] é ainda esta duplicidade do significante que vai determi-nar os carateres da significação.310
Há, aliás, uma comparação que pode exemplificar a significação mítica: ela não é nem mais nem menos arbitrária do que um ideograma. O mito é um sistema ideográfico puro onde as formas são ainda motivadas pelo conceito que representam, sem no entanto cobrirem a totalidade representativa des-se conceito. E assim como, historicamente, o ideograma abandonou pro-gressivamente o conceito para se associar ao som, tornando-se assim cada
307 BARTHES, 1980, p. 149. 308 BARTHES, 1980, p. 149. 309 BARTHES, 1980, p. 149. 310 BARTHES, 1980, p. 144-145. (Grifos no original)
136
vez mais imotivado, assim a usura de um mito se reconhece pelo arbitrário da sua significação: Molière inteiro num “colarinho” de médico.311
Essas explicações podem ser exemplificadas da seguinte maneira: indepen-
dentemente das aspirações subjetivas e individuais que levaram Siegel, Marston,
Parker e tantos outros a criarem seus personagens, em linhas gerais (visto que cada
história pode revelar uma mensagem e uma perspectiva distinta acerca da mitologia
de um personagem) o super-herói carrega em seus princípios duas características
elementares: por um lado, ele é moldado pelo heroísmo e pelo que este representa,
em termos clássicos, a luta pelo bem, a jornada para uma autodescoberta, um auto-
conhecimento; por outro lado, ele carrega, ao menos ilustrativamente, os elementos
das entidades mítico-religiosas clássicas, aqui representados exemplarmente pelos
superpoderes. Portanto, a “ideia” ou o “conceito” ou, melhor, o signo “super-herói”
alude tanto às características do heroísmo, quanto às características, personalidade,
atitude, dos personagens mítico-religiosos de histórias clássicas (Hércules, Sansão,
Perseu, etc.). Como lembra Umberto Eco, em seu estudo acerca do mito do Super-
man,312 com essas características, um super-herói como o Superman, por exemplo,
poderia lidar com problemas globais como as assimetrias sociais: “De um homem
que pode produzir trabalho e riqueza em dimensões astronômicas ao fim de poucos
segundos, poderíamos esperar as mais estonteantes revoluções da ordem política,
econômica, tecnológica do mundo”.313 Ao invés disso, Superman concentra suas
atividades no combate do crime (geralmente pontual, visto que atua geralmente nu-
ma cidade específica, Metrópolis) e, uma vez ou outra, combate vilões intergalácti-
cos; nada tão preocupante que não termine, ao final do arco de histórias, nos braços
da amada Lois Lane (ação recorrente até antes do reboot da DC). A ação do Su-
perman se concentra, portanto, na defesa da propriedade privada, na manutenção
da ordem social, uma vez que os crimes são geralmente atentados a esta. Em ou-
tras palavras, aplica-se ao personagem “super-herói” o conceito de que lutar pelo
311 BARTHES, 1980, p. 148. 312 ECO, 2004, p. 239-279. 313 ECO, 2004, p. 275.
137
bem é defender a propriedade privada, é manter a ordem social. Esvazia-se assim o
sentido do signo clássico do heroísmo e das personagens mítico-religiosas tradicio-
nais, representado no signo do super-herói — sentido condensado na fórmula de
separação, iniciação, retorno, explicada por Campbell, na qual o personagem sai de
um contexto, inicia uma jornada de descoberta e retorna posteriormente ao contexto
do qual partiu, superando os desafios encontrados pelo caminho e com uma apren-
dizagem ou uma contribuição para este contexto — para inserir neste signo um con-
ceito determinado, no caso, a compreensão de que a luta pelo bem é a defesa da
propriedade privada. Esta seria, pois, uma possibilidade de como o mito do super-
herói poderia ser elaborado e interpretado na perspectiva proposta por Barthes.
O signo do super-herói vai carregar tanto o significado empobrecido, mas la-
tente, do heroísmo clássico quanto a proposta aplicada pelos criadores do persona-
gem. É nessa direção que “o sentido [heroísmo] existe sempre para apresentar a
forma [super-herói]; a forma existe sempre para distanciar o sentido”,314 visto que é
conceito (defesa da propriedade privada) aplicado à forma (super-herói) que lhe for-
necerá uma nova significação, sua significação mítica. O sentido, entretanto, não é
extinto, mas suprimido, atribuindo ambiguidade ao significado do mito. Agora, como
esse mito pode ser percebido segundo Barthes? Da seguinte forma: Para o produtor
do mito, o signo “super-herói” é apenas um veículo para transmitir o conceito da “de-
fesa da propriedade privada”. É uma maneira que ele encontrou para falar do con-
ceito. Já o estudioso do mito identificará a distinção entre o sentido e a forma. Ele
perceberá a deformação existente no super-herói, isto é, de que o heroísmo é ape-
nas um álibi para a defesa da propriedade privada, destruindo assim o significado do
mito. Por fim, o leitor do mito lidará com a ambiguidade do signo do “super-herói”.
Ele identificará o “heroísmo” e a “defesa da propriedade privada” como uma totalida-
de de significado atribuído ao super-herói. Em outras palavras: para o leitor, “ser he-
rói é defender a propriedade privada”. Isso não significa necessariamente que o lei-
tor seja totalmente ingênuo e não possa se aperceber do truque embutido no signo 314 BARTHES, 1980, p. 145. (Grifos no original)
138
mítico. Ao lidar com o mito do super-herói, o leitor poderá tranquilamente considerar,
por um lado, o contexto de produção do gênero da superaventura, a lógica do mer-
cado, e, por outro, as aspirações dos artistas, o contexto cultural da sociedade, na
qual estes se encontram inseridos; ele poderá identificar tanto o heroísmo quanto a
axiologia dos produtores e mesmo do contexto para o qual a história se destina. Ao
lidar com a ambiguidade do mito, entretanto, o consumidor de mitos identificará esse
jogo de duplo sentido como algo natural. Ao mesmo tempo em que ele vê no super-
herói os elementos do heroísmo clássico — a moral, a luta pelo bem, a jornada de
autoconhecimento — ele perceberá o conceito da “defesa da propriedade privada” e
concluirá: “esse é o tipo de herói do nosso tempo, próprio deste contexto social”.
Atingimos assim o próprio princípio do mito: transforma a história em natu-reza. Compreende-se agora por que, aos olhos do consumidor de mitos, a intenção, o apelo dirigido ao homem pelo conceito, pode permanecer mani-festo sem no entanto parecer interessado: a causa que faz com que a fala mítica seja proferida é perfeitamente explícita, mas é imediatamente petrifi-cada numa natureza; não é lida como móbil mas como razão. [...] para o lei-tor do mito, a saída é totalmente diferente: tudo se passa como se a ima-gem provocasse naturalmente o conceito, como se o significante criasse o significado [...] o mito é uma fala excessivamente justificada.315
Outro aspecto dos mitos é a possibilidade de serem recontados (e, no caso
dos super-heróis, de serem reinventados) sem que se desgastem; os mitos são in-
consumíveis. Segundo Fingeroth, ao contrário de outros personagens ficcionais em
geral, que possuem uma história clássica, fixada, terminada, os super-heróis são
continuamente reinventados.316 Cada nova trama acrescenta um novo capítulo na
história maior do personagem. As aventuras dos super-heróis não cessam, mas con-
tinuam sendo contadas, adaptadas, inventadas e atualizadas. Elas sempre respon-
dem a um contexto e mudam para corresponder ao contexto do qual e para o qual
emergem.317 “Isso significa que o que, digamos, o Superman simboliza muda atra-
vés do tempo. Nos anos 1950, ele pode ter caçado comunistas. Nos anos 1970, ele
315 BARTHES, 1980, p. 150-151. 316 FINGEROTH, 2008, p. 20. 317 FINGEROTH, 2008, p. 17.
139
pode ter livrado um pacifista de um sistema judicial corrupto”.318 O ato de se recontar
ou de se reinventar as histórias dos super-heróis faz parte da própria adaptação ou
atualização do mito. Entretanto, em todo o caso, embora as histórias dos super-
heróis possam mudar através do tempo, afirma Fingeroth, “o herói faz sempre a coi-
sa certa. Talvez, mais importante, ele sabe o que é a coisa certa ”.319 E essa, po-
der-se-ia dizer, é a característica essencial, um dos mitologemas (elementos básicos
de todo mito) constituintes do mito do super-herói.
Nessa direção, ao tentar responder a pergunta acerca do fascínio e da im-
portância dos super-heróis para a sociedade contemporânea (particularmente esta-
dunidense), Fingeroth sugere que as narrativas dos super-heróis sejam versões se-
cularizadas dos mitos religiosos e da função desempenhada por estes: “talvez o con-
texto não religioso dos super-heróis os tornam perfeitos para uma sociedade multir-
religiosa como a nossa”.320 O autor constata que a devoção às narrativas da supera-
ventura acompanha as demais alternativas seculares para a experiência religiosa,
como a psicanálise e o “culto” às celebridades midiáticas. Os super-heróis são um
tipo de mito que a sociedade “reconta” sobre si mesma e a partir do qual vive.
Um avô pode contar para você sempre de novo seus longos anos de difíceis batalhas para alcançar o sucesso atual, sabendo muito bem que você ouviu várias vezes essa história. Mas ele sabe que seus ouvintes adoram ouvir histórias repetidas, e que cada narração é recebida num tempo diferente da vida do ouvinte, e com um significado diferente percebido de cada audição. O laço familiar é reafirmado a cada contar e ouvir. De uma maneira similar, nós coletivamente contamos a nós mesmos o mesmo tipo de histórias a guisa de entretenimento. No fim, o bem triunfará sobre o mal.321
318 FINGEROTH, 2008, p. 17: “That means that what, say, Superman symbolizes changes over time.
In the 1950s, he may have been hunting commies. In the 1970s, he may have been clearing a framed peace activist against a corrupt judicial system”. (Tradução própria)
319 FINGEROTH, 2008, p. 17: “Either way— the hero does the right. Perhaps more importantly, he knows what the right thing is ”. (Tradução própria. Grifo no original)
320 FINGEROTH, 2008, p. 23: “Perhaps the nonreligious context of the superheroes makes them per-fect for a multireligious society like ours”. (Tradução própria)
321 FINGEROTH, 2008, p. 24: “A grandfather may tell you again and again of his long years of bitter struggle to achieve present-day success, knowing full well that you have heard the story over and over again. But he knows his listeners love to hear the stories repeated, and that each telling is re-ceived at a different time in the listener’s life, and with different meaning gleaned from each hear-ing. The family bond is reaffirmed with each telling and listening. In a similar manner, we collective-ly tell ourselves the same sorts of stories in the guise of entertainment. In the end, good will tri-umph over evil”. (Tradução própria)
140
Mesmo que a superaventura possa promover essa leitura (um tanto ufanista)
de suas próprias narrativas, é imprescindível resgatar aqui o desenvolvimento até
sutil de uma dinâmica mais complexa explorada nas histórias da superaventura. Os
super-heróis continuam sendo reinventados porque são super-homens de massa. O
super-homem de massa, do qual fala Eco em seu livro homônimo, é o herói carismá-
tico, individual, protagonista típico dos romances de folhetim (dentro dos quais se
incluem as histórias em quadrinhos e, por sua vez, o gênero da superaventura) pro-
duzido e comercializado como modelo para uma massa de leitores.322 O super-
homem de massa está e atua à margem da sociedade e da lei. Ele torna-se um sím-
bolo de poder, na medida em que concede a ilusão de poder a seus leitores, e atua
como consolador destes diante das assimetrias que constituem a sociedade con-
temporânea.323 Nas palavras de Eco, “O Super-homem é a mola necessária para o
bom funcionamento de um mecanismo consolatório; torna imediatos e imprevisíveis
os desfechos dos dramas, consola rápido e consola melhor”.324 Por trás do super-
homem de massa, imiscuem-se a dinâmica das estruturas narrativas, as questões e
os interesses ideológicos (ou axiológicos, como prefere Viana) e a lógica do merca-
do.325 Para funcionar, o romance de folhetim buscará sempre temas universais como
violência, crime, amor, sexo, intriga, drama, isto é representações pontuais da vida
social e individual apresentados na forma de uma situação-problema a ser superada
por seu protagonista. No fundo, mantém-se a estrutura básica de uma narrativa sim-
ples (contextualização, problema, resolvendo o problema, solução),326 mas com a
diferença do fato deste protagonista ser um modelo que é cuidadosamente projeta-
do, para corresponder aos anseios de seus leitores.
Desse modo, os super-heróis são sempre reinventados, não tanto pelo que
aparentam representar, mas, sobretudo, pelo que escondem em sua representação;
e, claro, os super-heróis continuam sendo reinventados para continuar vendendo.
322 ECO, Umberto. O Super-Homem de Massa. São Paulo: Perspectiva, 1991. p. 14. (Debates; 238) 323 ECO, 1991, p. 62ss e 92ss. 324 ECO, 1991, p. 63. 325 ECO, 1991, p. 14. 326 EISNER, 2008, p. 13.
141
Não apenas o mito precisa continuar vivo como simultaneamente a estrutura que o
produz e que se mantém por meio dele. Enquanto romances de folhetim e, portanto,
condicionados aos interesses do mercado, as histórias dos super-heróis precisam
continuamente atrair o interesse do leitor. Para isso, essas histórias e esses perso-
nagens são moldados a partir da tensão entre uma mitopoiética espontânea e uma
mitopoiética dirigida; o que seria algo similar a uma das teses da teoria dos campos
de Pierre Bourdieu, isto é, quando uma elite, uma classe hegemônica, um produtor e
detentor de capital simbólico, expropria uma produção popular, transveste-a e rea-
presenta-a irreconhecível para atender a “demanda de sentido”.327 Essa dinâmica
tensional é abordada por Eco por meio da ilustração da mitificação das imagens ar-
quitetada pela Igreja Cristã:
A “mitificação” das imagens era, portanto, um fato institucional, que partia de cima, codificado e decidido por homens da Igreja como o Abade Suger, que, por seu lado, se apoiavam num repertório figural fixado por séculos de hermenêutica bíblica, e finalmente vulgarizado e sistematizado pelas gran-des enciclopédias da época, pelos bestiários e lapidários. É verdade que quem fixava o valor e o significado dessas imagens de certa maneira inter-pretava tendências mitopoiéticas que vinham de baixo, colhendo o valor i-cônico de certas imagens arquétipos e tomando de empréstimo a toda uma tradição mitológica e iconográfica elementos que agora, na fantasia popular, caminhavam associados a certas situações psicológicas, morais, sobrenatu-rais; e também é verdade que essas identificações simbólicas passavam a fazer parte da sensibilidade popular de modo tão profundo que a certo ponto se tornou difícil estabelecer uma discriminação entre mitopoiética “dirigida” e mitopoiética “espontânea” (e a iconografia das catedrais medievais está cheia de exemplos do gênero); mas, indiscutivelmente, todo o assentamen-to desta última repousava sobre algumas coordenadas de unidade de uma cultura, que haviam sido fixadas e se fixavam nos concílios, nas summae, nas enciclopédias, e eram transmitidas pela atividade pastoral dos bispos, pela atividade educativa das abadias e dos conventos.328
De acordo com Umberto Eco, a sociedade contemporânea, da era da massi-
ficação dos meios de comunicação e dos bens culturais, é marcada pelo desenvol-
vimento de símbolos subjetivos calcados em bases populares que visam atender a
327 Cf. BOURDIEU, 2004; BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2005, p. 27-98; OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. A teoria do trabalho religioso em Pi-erre Bourdieu. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia da Religião: enfoques teóricos. Petrópo-lis: Vozes, 2003. p. 177-197 e cf. também REBLIN, Iuri Andréas. Poder & Intrigas, uma novela teo-lógica: considerações acerca das disputas de poder no campo religioso à luz do pensamento de Pierre Bourdieu e de Rubem Alves. Protestantismo em Revista, São Leopoldo, v. 14, p. 14-31, set.-dez. 2007. Disponível em: <http://www3.est.edu.br/nepp/revista/014/ano06n3_02.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011.
328 ECO, 2004, p. 240.
142
uma demanda de sentido. Tais símbolos subjetivos repousam sob um processo de
mitificação que intenta (e de fato consegue) atribuir uma impressão de universalida-
de ao símbolo, justamente por partir dos anseios e das aspirações de bases popula-
res, de uma coletividade, embora seja proposta “de cima” (de uma elite pensante, de
detentores de capital simbólico).329 Para Eco, as histórias em quadrinhos são um
exemplo perfeito dessa dinâmica, “porque aqui assistimos à co-participação popular
de um repertório mitológico claramente instituído de cima, isto é, criado por uma in-
dústria jornalística, porém particularmente sensível aos caprichos do seu público,
cuja exigência precisa enfrentar”.330 De fato, por vezes, a tensão entre leitores e
produtores é tão intensa que há casos em que a participação e a interação da audi-
ência (que responde com elogios, críticas, sugestões, bem como por meio de vota-
ção inclusive) determinam inclusive a morte de personagens, como aconteceu com
Jason Todd, o segundo Robin.331 Além disso, é necessário considerar que o gênero
da superaventura se insere no “âmbito de uma civilização do romance” e que a es-
trutura mítica é adaptada para dentro dos moldes desse âmbito. Se, nas civilizações
antigas, o mito era narrado na perspectiva de uma história concluída, e sua reconta-
gem devia-se antes a uma rememoração, a uma nova vivência de uma experiência,
ora com mais floreios novelescos, ora menos, na civilização do romance, a narrativa
é direcionada para a imprevisibilidade. Nas palavras de Eco,
329 ECO, 2004, p. 243: “[...] um automóvel se torna símbolo de status não só por tendência mitificante,
que parte inconscientemente das massas, mas porque a sensibilidade dessas massas é instruída, dirigida e provocada pela ação de uma sociedade industrial baseada na produção e no consumo obrigatório e acelerado”.
330 ECO, 2004, p. 244. Para Umberto Eco, essa relação tensional entre os autores, produtores e a audiência, consumidores só possível porque a própria dinâmica do contexto contemporâneo, da sociedade de massa, dos meios de comunicação de massa produzem o próprio indivíduo que irá consumir as histórias que os autores produzirão, indivíduo este que Umberto Eco chama de “ho-mem heterodirigido”. “Um homem heterodirigido é um homem que vive numa comunidade de alto nível tecnológico e particular estrutura social e econômica (nesse caso baseada numa economia de consumo), e a quem constantemente se sugere (através da publicidade, das transmissões de TV, das campanhas de persuasão que agem sobre todos os aspectos da vida cotidiana) o que de-ve desejar e como obtê-lo segundo certos canais pré-fabricados que o isentam de projetar perigo-samente e responsavelmente. Numa sociedade desse tipo a própria opção ideológica é ‘imposta’ através de um cauteloso controle das possibilidades emotivas do eleitor, e não promovida através de um estímulo à reflexão e à avaliação racional” (ECO, 2004, p. 261). Nessa direção, os super-heróis, mais que um bem cultural de consumo e entretenimento poderiam ser um “instrumento pe-dagógico” desse “programa de persuasão axiológica” (aqui subentendendo os valores de uma classe hegemônica, como propõe Viana. Cf. VIANA, 2005, p. 44s).
331 GUEDES, 2008, p. 97s.
143
A tradição romântica (e aqui não importa se as raízes dessa atitude se im-plantaram bem antes do romantismo) oferece-nos, ao contrário, uma narra-tiva em que o interesse principal do leitor é deslocado para a imprevisibili-dade do que acontecerá, e portanto, para a invenção do enredo, que passa para primeiro plano. O acontecimento não ocorreu antes da narrativa: ocor-re enquanto se narra, e, convencionalmente, o próprio autor não sabe o que sucederá. [...]
Essa nova dimensão da narrativa é contrabalançada por uma “mitificabilida-de” menor da personagem. A personagem do mito encarna uma lei, uma e-xigência universal, e deve, numa certa medida, ser, portanto, previsível, não pode reservar-nos surpresas; a personagem do romance, pelo contrário, quer ser gente como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é tão imprevi-sível quanto o que nos poderia acontecer. Assim, a personagem assumirá o que chamaremos de uma “personalidade estética”, espécie de co-participabilidade, uma capacidade de tornar-se termo de referência para comportamentos e sentimentos que também pertencem a todos nós, mas não assume a universalidade própria do mito, não se torna o hieróglifo, o emblema de uma realidade sobrenatural, que é o resultado da universaliza-ção de um acontecimento particular. [...]
A personagem mitológica da estória em quadrinhos encontra-se, pois, nesta singular situação: ela tem que ser um arquétipo, a soma de determinadas aspirações coletivas, e, portanto, deve, necessariamente, imobilizar-se nu-ma fixidez emblemática que a torne facilmente reconhecível (e é o que a-contece com a figura do Superman); mas, como é comerciada no âmbito de uma produção “romanesca” para um público que consome “romances”, de-ve submeter-se àquele desenvolvimento característico, como vimos, da per-sonagem do romance. 332
Para Eco, os super-heróis, enquanto personagens, somente são mitos pelo
fato de estarem condicionados às mesmas situações de vida e morte que sua audi-
ência. Diferentemente dos mitos clássicos, que são inconsumíveis justamente por já
terem sido consumidos por completo (pelo fato de sua saga estar concluída e esta
poder ser recontada sempre) os super-heróis são consumíveis, envelhecem porque
novas histórias continuam sendo inventadas e narradas. Assim, enquanto mitologia
inserida numa cultura romanesca, os super-heróis estariam numa situação muito
particular: ao mesmo tempo em que necessitam ser inconsumíveis (justamente para
evocar a soma das aspirações de uma coletividade, para sustentar uma identificação
em sua audiência), eles precisam se consumir. Essa tensão entre ser inconsumível e
consumir-se é resolvida na elaboração do enredo das histórias. Segundo Eco, as
histórias do gênero da superaventura são narradas numa espécie de “tempo oníri-
co”, no qual nunca se tem a linha do tempo pormenorizada da vida do personagem,
332 ECO, 2004, p. 249-251.
144
apenas trechos são revelados a cada conto.333 Nessa direção, importa ressaltar
também que, sempre que uma narrativa tende a perder o encanto mítico e tornar-se
“um romance qualquer”, utiliza-se algum recurso narrativo para se reinicializar a mi-
tologia. As várias Crises da DC Comics, e agora o novo reboot, exemplificam isso.
O Superman só se sustenta como mito se o leitor perder o controle das re-lações temporais e renunciar a raciocinar com base nelas, abandonando-se, assim, ao fluxo incontrolável das estórias que lhe são contadas e mantendo-se na ilusão de um contínuo presente. Uma vez que o mito não é isolado exemplarmente numa dimensão de eternidade, mas, para ser compartilhá-vel, tem que estar inserido no fluxo da estória em curso, essa estória em curso é negada como fluxo e vista como presente imóvel.334
Enfim, as histórias dos super-heróis, o gênero da superaventura em si, são
mitologias contemporâneas imbricadas na teia complexa que constitui os bens cultu-
rais contemporâneos. Se, por um lado, elas expressam as aspirações e as buscas
do ser humano contemporâneo, resgatam e representam valores enraizados na cul-
tura, resquícios de uma tradição, que são caros a esse ser humano, revestindo sím-
bolos secularizados com uma aura sagrada, por outro lado, elas se inserem na di-
nâmica cultural da sociedade pós-industrial: participam de uma cultura romanesca
que intenta seduzir o leitor por meio da difusão de um super-homem de massa, obe-
decendo aos interesses de uma classe hegemônica produtora de sentido e, conco-
mitantemente a essa classe, a lógica do mercado. Para Eco, as narrativas dos su-
per-heróis seriam tanto um fenômeno do entretenimento evasivo quanto símbolos de
poder, e essa caracterização tanto como “válvula de escape” quanto como ilusão de
poder (caracterização que se resume na ideia de consolo, abordada anteriormente
acerca do super-homem de massa) se utiliza das estruturas míticas para alcançar
sucesso. O poder que o consumidor dessas histórias almeja e não consegue alcan-
çar é conquistado por meio da identificação com o personagem, expressa, sobretu-
333 ECO, 2004, p. 256ss. 334 ECO, 2004, p. 260-261.
145
do, em sua humanidade (quer seja por meio da identidade secreta, quer seja pelo
seu “calcanhar de Aquiles”, seus pontos fracos, sejam estes externos ou internos).335
Uma última consideração, um tanto excursiva ao tema deste tópico, merece
ser posta em discussão: a questão acerca das histórias dos super-heróis não pode
ser resolvida pela dicotomia simplória entre “bem” e “mal”. Diante desse contexto
complexo e multifacetado, a pergunta não é se os bens culturais da sociedade con-
temporânea (a “cultura de massa”) é “boa” ou “má”. Os meios de comunicação de
massa, a “cultura de massa” está aí, ela faz parte do contexto contemporâneo. Um-
berto Eco não consegue mais imaginar a extinção dos meios de comunicação de
massa e seus produtos culturais, vivendo dentro desse contexto pós-Revolução In-
dustrial. Assim, para Umberto Eco, a pergunta acerca dos bens culturais da “era de
massa” precisa nortear uma abordagem crítica dos bens culturais contemporâneos
(e, nesse caso, da superaventura). Desse modo, a pergunta a ser formulada é “qual
a ação cultural possível a fim de permitir que esses meios de massa possam veicular
valores culturais?”.336 Além disso, é importante ressaltar que Umberto Eco não ex-
plora em sua argumentação a tese desenvolvida por Michel de Certeau; isto é, não
explora a ideia de que, de maneira similar aos produtores de bem simbólico, que
utilizam com certa liberdade os recursos à disposição para persuadir o público-
consumidor, este público usa de certa liberdade para consumir esses mesmos pro-
dutos. Nas palavras do teólogo e historiador francês,
335 ECO, 2004, p. 247-248: “Mas numa sociedade particularmente nivelada, onde as perturbações
psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem do dia; numa socieda-de industrial onde o homem se torna número no âmbito de uma organização que decide por ele, onde a força individual, se não exercitada na atividade esportiva permanece humilhada diante da força da máquina que age pelo homem e determina os movimentos mesmos do homem — numa sociedade de tal tipo, o herói positivo deve encarnar, além de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão comum nutre e não pode satisfazer. [...] Narrativamente, a dupla identida-de do Superman tem uma razão de ser, porque permite articular de modo bastante variado a nar-ração das aventuras do nosso herói, os equívocos, os lances teatrais, um certo suspense próprio do romance policial. Mas, do ponto de vista mitopoiético, o achado chega mesmo a ser sapiente: de fato, Clark Kent personaliza, de modo bastante típico, o leitor médio torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes; através de um óbvio processo de identificação, um accoun-tant qualquer de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade.”
336 ECO, 2004, p. 50.
146
A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, baru-lhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de “consu-mo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubi-quamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma or-dem econômica dominante.337
A visão de Michel de Certeau complexifica o já complexo emaranhado sim-
bólico-cultural do qual as narrativas da superaventura participam e dá vazão ainda a
outras possibilidades para a percepção da tensão entre a intenção dos produtores e
artistas e a leitura da audiência. Mesmo que se presuma um leitor-modelo na criação
de determinada história,338 não se pode ignorar os usos possíveis e imprevisíveis
que os leitores farão desta respectiva história, quer seja pelo interesse maior pelos
aspectos fantásticos das narrativas, como reiterou Nildo Viana,339 quer seja por uma
das “mil maneiras” de se reinventar ou de se usar o que lhes é imposto, como suge-
riu Michel de Certeau.340 Mesmo que, em determinados momentos, a audiência sim-
plesmente reproduza o que lhes é apresentado, por vezes, segundo a intencionali-
dade dos produtores de histórias, por outras, segundo suas próprias intencionalida-
des, não é possível presumir que a “massa” de leitores, ouvintes ou telespectadores
seja totalmente submissa, sem opinião, enfim, que esteja à mercê dos produtores de
bens simbólicos. Há um movimento clandestino e subterrâneo que se apropria, a-
dapta e é capaz de transformar (geralmente em uso tático e astucioso, como afirmou
Certeau) as informações e as concepções difundidas por uma elite pensante, uma
classe hegemônica, enfim, e seu capital simbólico produzido e comercializado.
Desse modo, poder-se-ia formular ainda outras questões acerca da relação
que a audiência estabelece com as narrativas da superaventura: como essa audiên-
cia lida com a ambiguidade do sentido do mito que se apresenta diante dela? Qual é
o uso que essa audiência faz desse sentido? Seria apenas uma válvula de escape
ou um símbolo de poder diante de uma vida frustrada e limitada; um consolo fatalista
337 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
p. 39. 338 ECO, 2006, p. 7-31. 339 VIANA, 2005, p. 65. 340 CERTEAU, 1994, p.37ss.
147
para uma vida atrelada à lógica e à dinâmica que rege a sociedade contemporânea?
Em que medida os comix, os fanzines não seriam uma “maneira de empregar”, de se
apropriar dos mitos da superaventura? Nessas produções autorais, “subterrâneas”, o
que seria assimilação, apropriação ou expressão de uma operação cotidiana de um
sujeito “invisível” a esses produtores de bens simbólicos? Sem se ater a essas ques-
tões, carentes de uma investigação posterior, esses apontamentos revelam ou, an-
tes, sugerem que a questão das narrativas da superaventura não se dissolve numa
leitura reducionista ou simplória. É necessário observar o conjunto de elementos que
se articulam e constituem não apenas o sentido do mito, mas igualmente o contexto,
as tessituras que formam o gênero e dão a ele suas características elementares,
assim como a recepção de uma audiência, etc.
Enfim, independente das diversas perspectivas de análise, das ênfases e
dos critérios escolhidos a serem observados nessas narrativas e, portanto, longe de
exaurir o tema, o fato é que as narrativas das superaventuras são mitologias con-
temporâneas e se emaranham no conjunto de bens que dão forma e cor à cultura
própria deste tempo. Com as informações fornecidas até aqui é possível, pois, verifi-
car como concepções e símbolos teológicos são articulados e apresentados nessa
amálgama de interconexões entre universos de sentido, intencionalidades, valores,
símbolos e conceitos que constituem e forjam as narrativas da superaventura.
INTERLÚDIO: A ORIGEM DO CAPITÃO MARVEL
Figura 8: A origem do Capitão Marvel
Fonte: DINI, Paul; ROSS, Alex. Shazam: o Poder da Esperança. In: ______. Os Maiores Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini, 2007a. [s. p.]
“A humanidade trava uma eterna guerra contra as forças soturnas que almejam destruí-la. Durante milhares de anos, empreguei os poderes de deuses e heróis ancestrais na luta pela virtude. Porém, quando meu tempo no plano mortal tornou-se escasso. Procurei um novo campeão para me substituir. Contemplei ao longe o jovem Billy Batson, uma criança de bom coração, expulsa de casa por seu cruel tio. Embora abandonado, Billy perseverou em vez de lastimar-se. Dentro dele, pude sentir a alma digna que eu tanto buscava. Enviei então meu emissário místico que o trouxe à minha presença. Foi quando revelei a Billy a grande bata-lha para salvar a alma da humanidade. Se aceitasse minha oferta, ele receberia poder sufi-ciente para defender os pobres e indefesos. Uma dádiva que lhe permitiria corrigir injustiças e esmagar o mal onde quer que o encontrasse. A partir das iniciais de meus ancestrais, for-mei o meu próprio nome. Ao invocá-lo, o menino se tornaria o mais poderoso herói do mun-do”. “Diga o meu nome!”. “Shazam!”. “E assim nasceu o Capitão Marvel”.
3 SUPERAVENTURA: UM GÊNERO SOB O OLHAR DA TEOLOGIA
Afirmo que essa é a única questão que interessa à teologia: qual é a palavra (musical) que tem o poder de fazer amor com a carne?
Qual é a palavra que ressuscita os mortos?
Rubem Alves341
Há significações e experiências que são melhor articuláveis pela arte, pela poesia, pelo mito, pela mística;
caminhos nem sempre lembrados pela teologia.
Kathlen Luana de Oliveira342
O caminho percorrido até aqui revelou que o gênero da superaventura é um
gênero próprio da era contemporânea não apenas por surgir neste tempo pós-
Revolução Industrial, mas por expressar e ser um representante dos valores e prin-
cípios que moldam e regem a dinâmica social. A superaventura é constituída por
uma rede complexa de relações que vão desde a incorporação de elementos míti-
cos, heroicos, passando pela cultura romanesca, pelo super-homem de massa, pela
axiologia, pelos anseios de uma coletividade (induzidos ou evocados), culminando
num trânsito por diferentes mídias; muito embora as histórias em quadrinhos tenham
sido desde sempre seu locus vivendi fundamental. A percepção desses entrelaça-
mentos, entretanto, não facilita o desembaralhar dos nós que os constituem. Isso
porque a superaventura é uma narrativa; suas histórias querem contar uma história,
341 ALVES, Rubem. Lições de Feitiçaria. São Paulo: Loyola, 2000. p. 11. 342 OLIVEIRA, Kathlen Luana de. Por uma política da convivência: teologia, direitos humanos, Han-
nah Arendt. Passo Fundo: IFIBE, 2011. p. 35.
152
entreter, chamar a atenção, por vezes transmitir uma mensagem que sirva de hori-
zonte, forneça uma visão de mundo, que apresente e represente uma perspectiva da
realidade, reitere princípios, enfim, que seja capaz de fornecer um sentido.
Como asseverado no capítulo anterior, o ato de contar histórias, orais, escri-
tas ou audiovisuais, ficcionais, inspiradas ou baseadas em histórias ou experiências
de vida é uma das operações fundamentais da experiência humana de viver, de criar
um universo simbólico, uma memória, enfim, de construir sua própria história. É por
isto que os seres humanos de uma maneira em geral são fascinados por histórias:
“não deixamos de ler histórias de ficção, porque é nelas que procuramos uma fórmu-
la para dar sentido a nossa existência”.343 Se, por um lado, esse é o princípio ele-
mentar de toda boa história, de ficção ou não, e da intencionalidade em contá-la,
não há como ignorar também a dinâmica (por vezes, preponderante) sedutora e
mercadológica que habita nas entrelinhas dos contos modernos, particularmente,
nos romances de folhetim, reafirmando determinadas visões de mundo e estereóti-
pos.344 Todos esses elementos abrem infinitas possibilidades para uma leitura das
histórias em quadrinhos em geral e do gênero da superaventura em especial. Isso
significa também que uma determinada perspectiva de análise e leitura dessas histó-
rias jamais excluirá outras, da mesma forma que uma mesma história — apesar de
sua intencionalidade sedutora — também pode despertar reações, motivações ou
atitudes diferentes em cada leitor, ao entrar em contato não apenas com a experiên-
cia coletiva, mas com a experiência pessoal deste mesmo leitor. Como sublinhou
Eco, ao se debruçar sobre o super-homem de massa,
343 ECO, 2006, p. 145. 344 Como Umberto Eco afirmou em outra ocasião,“O que nada mais é do que repetir o que já se sabe,
isto é, que o arquétipo do romance popular [...] nasce exatamente como produto de uma nova in-dústria da cultura, voltada para novos compradores, para uma burguesia citadina [...] que pede ao romance a substituição dos valores religiosos, aristocráticos e populares; que pede a ativação do sentimento em lugar da fé, da imaginação exercida sobre o real possível e não da consciência e-xercida sobre o sobrenatural não-experimental; que pede a integração na ordem dada, como ga-rantia de harmonia, chamamento à produtiva cautela do contrato social” (ECO, 1991, p. 27).
153
[...] às vezes o Super-homem, oferecido para sonharmos de olhos abertos, estimulou igualmente leituras mais produtivas e até mesmo tomadas de consciência por parte dos sonhadores. Daí porque também minha leitura do super-homem de massa deve ser vista como uma das leituras possíveis.345
Assim, após a jornada pela trajetória da superaventura ao longo dos últimos
capítulos, pelo seu impacto na sociedade mediado pela repercussão entre os críticos
das produções culturais e pelo desenvolvimento de estudos especializados, pela sua
constituição enquanto gênero e mito contemporâneo, importa agora definir sob quais
princípios e critérios este estudo realizará uma das leituras possíveis dessas histó-
rias a partir de uma perspectiva teológica. Para tanto, uma última consideração ne-
cessita ser destacada antes de se verificar como elementos teológicos são articula-
dos na superaventura: a discussão acerca da teologia do cotidiano.
A teologia do cotidiano346 se insere na discussão à medida que as concep-
ções e símbolos religiosos articulados e apresentados nas narrativas da superaven-
tura emergem do cotidiano; isto é, não se trata de argumentações de teólogos ou
discursos de instituições religiosas que transparecerão nas narrativas, a menos, cla-
ro, que uma determinada narrativa seja produzida por um teólogo ou um clérigo de
uma determinada instituição com o objetivo de transmitir uma mensagem específica.
O que se encontrará nas histórias da superaventura serão antes elementos ou ela-
borações provenientes de uma religiosidade popular, de um imaginário religioso co-
letivo, atrelado ao contexto social de onde e para onde a história se destina, à religi-
ão civil tal como identificada por Robert Bellah (no caso do contexto estaduniden-
se),347 às motivações e angústias dos artistas que a criam, etc. Em outras palavras,
o que se encontrará nas diferentes narrativas, ora em maior, ora em menor propor-
ção, são elementos teológicos resultantes de experiências de vida, sujeitos tanto à
intencionalidade da narrativa quanto aos valores e às crenças do próprio autor. Aqui 345 ECO, 1991, p. 17-18. 346 A “teologia do cotidiano” é um termo que surgiu no final do curso de mestrado em teologia e, por-
tanto, precedente a esta pesquisa e pressuposto dela. Ela está calcada no pensamento de Rubem Alves (de quem se empresta igualmente o termo), Ivone Gebara, Pierre Bourdieu, Michel de Cer-teau, Cliffort Geertz, entre outros e pode ser conferido em REBLIN, 2009 e REBLIN, 2008. Sem polemizar ou pormenorizar a discussão aqui serão recuperados apenas seus pontos cruciais.
347 BELLAH, Robert N. The broken covenant: American civil religion in time of trial. New York: Sea-bury Press, 1975.
154
vale lembrar que a teologia do cotidiano não é uma nova teologia, nem outra corren-
te teológica, mas um termo formal que alude à percepção de uma teologia que se
imiscui nos meandros da vida cotidiana; trata-se de uma teologia constituída pelo
sujeito ordinário no dia a dia e expressa das mais diferentes maneiras. Em outras
palavras, as pessoas em sua vida diária não “apenas” têm experiências e vivências
religiosas, mas procuram elaborar para si e para outros, argumentativamente, o que
essas experiências significam.348
As pessoas estão continuamente se esbarrando em valores, símbolos, mo-
delos de comportamento e histórias em suas relações diárias que podem ou não lhe
dizer algo sobre como viver, como resolver determinadas situações-problema, como
expressar sua busca por sentido. Na verdade, desde o nascimento, o ser humano se
encontra inserido num determinado universo cultural, a partir do qual aprende mode-
los e receitas (que podem provir da educação, da memória, da tradição, de institui-
ções, da mídia, das relações interpessoais) de como lidar com os desafios que sur-
gem diante de si. Ao confrontar-se com determinada situação-problema, ele astucio-
samente manipula esse repertório em construção contínua, adaptando, suprimindo,
adicionando, transformando, misturando valores, símbolos, histórias, a fim de res-
ponder, resolver e sair de tal situação. É nessa direção que o ser humano irá estru-
turar seu universo simbólico de forma que lhe apraz melhor. Os modelos e as recei-
tas apreendidos, adquiridos vão sendo continuamente moldados a fim de correspon-
der aos anseios, a sua busca por sentido, sendo relevantes enquanto cumprirem seu
propósito.349 A teologia do cotidiano é a teologia que brota, pois, das entranhas dos
corpos humanos diante de e mediante suas experiências de vida e as nuances e as
sutilezas atinentes a elas. Trata-se de uma teologia que é forjada fora das academi-
as de teologia, das paredes institucionais, dos debates conciliares; trata-se de uma
teologia inacabada e em constante processo de elaboração que lembra à teologia
“oficial” a preocupação primeira e elementar de toda teologia, de toda atividade teo-
348 REBLIN, 2009, p. 191. 349 REBLIN, 2009, p. 193.
155
lógica, enfim, a sua razão de ser: responder a ânsia por sentido, lidar com o viver e o
morrer na experiência humana. Como afirmou Rubem Alves,
Digo isto para sugerir que para aqueles que a amam a teologia é uma fun-ção natural como sonhar, ouvir música, beber um bom vinho, chorar, sofrer, protestar, esperar... Talvez a teologia nada mais seja que um jeito de falar sobre tais coisas dando-lhes um nome e apenas distinguindo-se da poesia porque a teologia é sempre feita com uma prece... Não, ela não decorre do cogito da mesma forma como poemas e preces. Ela simplesmente brota e se desdobra, como manifestação de uma maneira de ser: “suspiro da criatu-ra oprimida” — seria possível uma definição melhor?350
Como já reiterado em outro momento, Rubem Alves universalizou e antropo-
logizou o conceito de teologia ao transformar a teologia numa atividade inerente ao
ser humano enquanto ser social, cultural, enfim, enquanto ser que se (re)constitui e
se (re)inventa continuamente e, nesse processo, (re)cria seu próprio mundo. Assim,
se a teologia remete ao mais íntimo de cada ser humano e de uma coletividade, se
ela lida com a escatologia, a esperança e as possibilidades ausentes (a reestrutura-
ção da realidade, do universo de sentido, de “conceber o ideal e de acrescentá-lo ao
real”), ela poderá ser encontrada imiscuída nas produções simbólicas, nas histórias
que são narradas, nas diferentes facetas que moldam o mundo humano. Isso não
significa que essa teologia do cotidiano será expressão direta e explícita de determi-
nada tradição religiosa; é o contrário: a teologia do cotidiano é uma amálgama de
experiências, histórias, símbolos, por vezes contraditórios, sincréticos, maniqueístas,
pragmáticos, secularizados,351 mas que correspondem de uma maneira ou outra a
determinados anseios de uma coletividade. Isso também significa que não existe
uma teologia do cotidiano, mas infinitas maneiras de se conceber, de se compreen-
der e de se expressar as experiências religiosas na vida cotidiana. E é aqui que os
pensamentos de Rubem Alves e Kathlen Luana de Oliveira, expressos como epígra-
fes deste capítulo, se encontram: se, por um lado, o que importa à teologia é a pala-
vra capaz de reverberar no coração humano, por outro lado, essa palavra reverbe-
350 ALVES, 2005c, p. 21. 351 REBLIN, 2009, p. 194-195. “A teologia fala sobre o sentido da vida. Afirmação que pode ser inver-
tida: sempre que os homens estiverem falando sobre o sentido da vida, ainda que para isso não usem aquelas contas de vidro que trazem as cores tradicionais do sagrado, estarão construindo teologias: mundos de amor em que faz sentido viver e morrer” (ALVES, 2005c, p. 144-145).
156
rada adquire contornos mais nítidos em manifestações e significações que escapam
do mero espaço do racional, espaços tais como a arte, a poesia, o mito, a mística.
Assim, enquanto narrativa que retrata a experiência humana de vida e seu
entorno, a superaventura torna-se palco para a atuação da teologia do cotidiano.
Mais ainda, é possível sugerir que essa atuação se intensifica ou pode se tornar
mais explícita na superaventura por este gênero lidar com personagens heroicos,
míticos, que agem como figuras salvadoras num contexto de opressão, violência,
cerceamento da liberdade e de necessidade de superação desses desafios. Lidar
com uma narrativa assim, imiscuída no cotidiano e simultaneamente expressão des-
te, implica em “fugir do convencional”; isto é, a leitura da teologia do cotidiano em
uma narrativa contemporânea precisa igualmente buscar recursos fora de seu âmbi-
to disciplinar, estabelecer um diálogo de fronteira. Portanto, ao mesmo tempo em
que o exercício de verificar como concepções e símbolos teológicos são articulados
e apresentados nas narrativas da superaventura atenta para uma teologia do cotidi-
ano, a existência dessa mesma teologia cotidiana impulsiona uma abordagem teoló-
gica transversal e interdisciplinar da teologia. Em outras palavras, a investigação da
teologia do cotidiano implica uma “teologia de fronteira”, isto é, uma postura teológi-
ca que atue e promova a construção de conhecimento na fronteira dos saberes.
Diante desse panorama, a proposta aqui é realizar um exercício de leitura
inspirado no esboço genérico recomendado para se investigar a teologia do cotidia-
no, delineado na pesquisa realizada acerca do pensamento teológico de Rubem Al-
ves. Na ocasião, a sugestão se resumia a (1) localizar um símbolo ou um conjunto
de símbolos; (2) compreender esses símbolos no diálogo entre a história de um gru-
po e o contexto maior no qual este grupo está inserido; e, a partir disso, (3) verificar
em que medida esses símbolos são uma recusa ou uma manutenção da realidade,
averiguar a tensão entre os anseios de um grupo e seu contexto.352 É evidente, en-
tretanto, que a trajetória percorrida até aqui tornou possível entender melhor as arti-
352 REBLIN, 2009, p. 210.
157
manhas e os entrelaçamentos que dão forma à superaventura, quer seja na pers-
pectiva de seu contexto, quer seja na investigação de suas características peculia-
res. Esse processo ampliou o leque de possibilidades de abordagem do gênero, mas
também permitiu realizar adequações, definir ênfases, provocando um rearranjo do
esboço inicialmente proposto para a investigação da teologia do cotidiano.
A partir de uma leitura do contexto (passo 1) e do gênero (passo 2) foi pos-
sível perceber a centralidade do mito nas histórias da superaventura. Isso porque é
justamente no mito e no emprego de suas estruturas que se condensam os princí-
pios romanescos atrelados às intencionalidades da “indústria cultural”, o super-
homem de massa, a jornada do herói, os anseios dos artistas, o retrato da vida soci-
al, a expressão de valores, crenças, visões de mundo. Isso indica que os elementos
religiosos e teológicos presentes nas histórias estarão vinculados ao sentido atribuí-
do ao mito nessas narrativas (o sentido da história), bem como a forma com que es-
se mito se comporta a partir dos recursos narrativos (aqui a história em quadrinhos)
de que dispõe. Considerando, pois, a partir de Roland Barthes, que o sentido do mi-
to apresenta uma inflexão, uma deformação do sentido de seu significante, a pro-
posta de leitura da superaventura é investigar a deformação ou até mesmo a refor-
ma dos significantes religiosos empregados na narrativa (passo 3). A escolha dessa
abordagem não exclui, evidentemente, outras possibilidades incursivas nos mitos
contemporâneos, nem tenta aqui exaurir o tema.
3.1 OS MAIORES SUPER-HERÓIS DO MUNDO
A superaventura é um romance de folhetim. Suas histórias são publicadas
há quase um século e compreendem arcos narrativos que podem se estender por
muitas edições. De tempos em tempos, as mitologias constituídas pelo conjunto
dessas narrativas sofrem uma atualização, são reinicializadas e diversos elementos
criados ao longo dessas histórias são condensados e transformados em mitemas e
mitologemas. Trata-se de um recurso que tem a intenção de “amarrar pontas soltas”,
158
recolocar a história do universo da superaventura de volta nos trilhos e, naturalmen-
te, adaptar a narrativa ao novo contexto, atrair novos leitores, alavancar as vendas.
Isso também significa que alguns mitemas e mitologemas podem ser suprimidos en-
tre uma atualização e outra e outros podem continuar integrando a mitologia. Como
a superaventura é um fenômeno transmidiático, muitos desses mitemas e mitologe-
mas podem provir de outras mídias, sobretudo, do cinema e da televisão. Exemplos
disso são o design da fortaleza da solidão e do planeta Krypton (recentemente extra-
ído do filme estrelado por Christopher Reeve em 1978), o idioma alienígena (extraí-
do do seriado Smallville, estrelado por Tom Welling) a kryptonita (extraída do pro-
grama de rádio da década de 1940) elementos estes incorporados às histórias em
quadrinhos do Superman, sendo alguns desses perenes e outros, ocasionais. De-
bruçar-se sobre a superaventura a fim de verificar como ela conta uma história re-
quer, portanto, uma delimitação, a escolha de uma narrativa específica.
Nessa direção, o projeto desenvolvido por Alex Ross e Paul Dini na virada
do último século merece destaque. O projeto foi concebido originalmente para abar-
car quatro histórias protagonizadas pelos arquétipos perfeitos de super-heróis, se-
gundo Alex Ross: Superman, Batman, Capitão Marvel e Mulher-Maravilha. Para o
desenhista, esses quatro personagens simbolizam cada qual um dos temas comuns
à superaventura, respectivamente, ciência, mistério, magia e mito. “Praticamente
todos os personagens que vieram depois foram moldados pelas inovações que eles
trouxeram ao gênero”.353 No decorrer do projeto, duas outras histórias foram incluí-
das (originalmente pensadas como uma só) envolvendo todo panteão de super-
heróis da DC Comics, a Liga da Justiça. Essas seis histórias foram posteriormente
compiladas e republicadas numa única edição, intitulada “Os Melhores Super-Heróis
do Mundo”. Elas tiveram a finalidade de apresentar a essência dos protagonistas
das histórias na perspectiva de seus primeiros contos, ao introduzi-los lidando com
problemas humanos (fome, criminalidade, guerra, morte, doença).
353 ROSS, Alex. A Gênese do Projeto. In: DINI, Paul; ROSS, Alex. Os Maiores Super-Heróis do Mun-
do. São Paulo: Panini Books, 2007. [s. p.]. Lamentavelmente, a edição brasileira lançada pela Pa-nini Books não apresenta nenhuma indicação de página.
159
Esse projeto foi pensado com a intenção de atribuir aos super-heróis um
grau de verossimilhança em termos de comportamento humano e de imersão no
mundo humano. A ideia dos autores foi “entrar na mente desses personagens tão
icônicos” e “ver o mundo através de seus olhos”,354 e, desse modo, possibilitar ao
leitor ver o mundo através dos olhos dos super-heróis. A narração do texto em pri-
meira pessoa, o visual de graphic novel, a arte fotorrealista de Alex Ross, o tamanho
gigante das publicações (33 cm x 25 cm) contribuiu para atribuir ao projeto uma ca-
racterística única. Por serem edições especiais, com o intuito de “dar uma contribui-
ção memorável à forma como esses super-heróis serão vistos pelas novas gera-
ções”,355 essas histórias não possuem uma conexão direta com o que acontece no
universo da superaventura da DC Comics.
Para a análise proposta, duas histórias dessa coletânea foram selecionadas
após uma leitura prévia: Superman: Paz na Terra (originalmente publicada em janei-
ro de 1999) e Shazam: o Poder da Esperança (originalmente publicada em janeiro
de 2001). A escolha dessas duas histórias se deve, por um lado, à identificação mais
explícita com temas teológicos. Isso não significa que as outras histórias apresentam
necessariamente menos elementos de uma teologia do cotidiano. Possivelmente, os
temas das outras histórias dessa coletânea podem revelar muito sobre o universo de
sentido, os valores, as compreensões existentes no mundo humano, e poderão ser
lembradas à medida que interessarem à discussão. Por outro lado, o que contribuiu
também para a escolha das duas histórias é o fato de haver certa semelhança na
forma com que os protagonistas das histórias do Superman, do Batman e da Mulher
Maravilha lidam com o problema proposto pela narrativa e resolvem seus conflitos.
Nessa direção, as histórias do Superman e do Capitão Marvel apresentam os con-
trastes mais interessantes. Nunca é exaustivo lembrar também que Superman e Ca-
pitão Marvel foram uns dos super-heróis que fizeram mais sucesso na primeira fase
da superaventura (a chamada Era de Ouro), atingindo vendagens absurdas, trans-
354 DINI, Paul. Olhando para o mundo com visão de raios x. In: DINI, Paul; ROSS, Alex. Os Maiores
Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini Books, 2007. [s. p.]. 355 ROSS, 2007, [s. p.].
160
pondo desde cedo as histórias em quadrinhos, integrando o imaginário popular, dis-
putando diretamente a atenção do leitor.356 Em todo o caso, a seleção dessas duas
histórias cumpre os requisitos para o exercício proposto.
3.1.1 Superman: Paz na Terra
Figura 9: Superman e a árvore de Natal
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
É inverno em Metrópolis. A história se inicia com Superman trazendo a árvo-
re de Natal para o início das celebrações e comemorações típicas da época na cida-
de de Metrópolis. Diante da multidão que está lá para acompanhar o acendimento
das luzes da árvore, Superman percebe uma jovem moça desmaiando. Ao socorrê-
la e levá-la a um lugar seguro, ele nota que ela está desnutrida. Superman carrega-a
até um abrigo, o qual se encarrega de providenciar uma sopa nutritiva e uma cama
quente. A jovem moça toma conta de seus pensamentos, e Superman, sob a pele
do repórter Clark Kent, sugere uma reportagem sobre desabrigados no Natal ao seu
editor. Clark Kent se debruça sobre o problema da fome mundial: causas, efeitos e
356 Como pode ser visto em REBLIN, 2011.
161
soluções possíveis, e decide fazer algo como Superman, com a esperança de inspi-
rar outras pessoas a seguirem seu exemplo, de acordo com suas possibilidades.
Figura 10: Superman diante do Congresso Nacional Es tadunidense
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]
Diante disso, Superman participa de uma audiência no Congresso Nacional
dos Estados Unidos para falar sobre o problema da fome mundial. Como alternativa
aos trabalhos que já são realizados no combate à fome, Superman se propõe a dis-
tribuir o excedente produzido em solo americano ao redor do mundo para quantas
pessoas ele conseguir em um único dia. Superman consegue a aprovação do Con-
gresso Nacional e passa os dias seguintes reunindo as colheitas para o dia D. A no-
tícia se espalha, outros países concordam em participar da empreitada e concedem
seu excedente, voluntários aparecem para auxiliar a ensacar a comida.
162
Figura 11: Superman alimentando o povo africano
Fonte: DINI, ROSS, 2007b, [s. p.]
Superman inicia a distribuição: sudoeste americano (a região dos desertos),
continente sul-americano (representado pelas favelas do Rio de Janeiro), os países
devastados pelas guerras no oeste europeu, os países pobres do continente asiático
e africano e, não por último, o Oriente Médio. Ao visitar todas essas regiões, Super-
man se depara com diferentes reações: há aqueles que o recebem bem, por alimen-
tar a esperança de dias melhores, além de trazer a comida; há aqueles que aceitam
a comida, mas são marcados pelo sofrimento e pelo olhar apreensivo e desconfiado;
há regiões em que déspotas (a imagem do personagem e do cenário lembra Hugo
Chávez) impedem a distribuição do alimento sob a ameaça de ferir pessoas inocen-
tes; há outros lugares em que o medo domina e o alimento acaba nutrindo ratos; há
outras regiões ainda (a imagem sugere a Rússia) em que as pessoas se recusam a
aceitar o auxílio do Superman sob o rótulo de ativismo político estadunidense; e, por
fim, há ainda lugares em que “a fome roubou a identidade do povo” e outros (a ima-
163
gem sugere o Oriente Médio) que entram em confronto direto com o Superman, pre-
ferindo envenenar toda a comida, anulando a ação do super-herói, a distribuí-la en-
tre os famintos da região. Diante disso, Superman vê sua atitude fracassar diante de
seus olhos. E encerra sua missão com o seguinte depoimento:
Como sabem, eu sempre procurei ajudar os necessitados, os que sofrem, os que têm medo. Muitas vezes pensei em tomar atitudes mais radicais pa-ra ajudar o mundo, mas percebi que tais medidas poderiam ser mal interpre-tadas e desastrosas. Tentei aliviar a fome do planeta, mas encontrei uma pobreza angustiante, não só nas favelas e terras áridas do mundo como também na alma de homens egoístas. Vejo agora que assumir essa res-ponsabilidade foi ambicioso demais para um único homem, mesmo sendo um super-homem. O bem-estar da Terra e de todo o seu povo será sempre minha maior preocupação. Mas, se houver uma solução para o problema da fome, ela deverá surgir no coração do ser humano e se estender ao seu próximo. Como diz um velho ditado “Se der um peixe a um homem, ele co-merá por um dia. Se ensiná-lo a pescar, ele terá alimento para a vida intei-ra”. Essa simples mensagem pede para que o homem evolua com sabedo-ria, ajude os necessitados e inspire outros a fazer o mesmo. Esta é a maior necessidade da vida e sua dádiva mais preciosa. Peço a todos que compar-tilhem o que tiverem com aqueles que precisam. Seu conhecimento. Seu tempo. Sua generosidade. Especialmente com os jovens, pois neles está o nosso futuro. E toda a esperança de uma verdadeira paz na Terra.357
Figura 12: Superman, Paz na terra e entre os homens de boa vontade
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]
357 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
164
Essa história é moldurada por uma narrativa breve que intervém na narrativa
principal em três momentos: no início, atuando como um prólogo; no meio, como
fator motivador da missão do Superman ou, antes, como argumento ético-moral, e
no final, como um epílogo. As duas primeiras intervenções acontecem como flash-
back, no qual Clark relembra o tempo com seu pai adotivo, Jonathan Kent, fazendei-
ro e grande conhecedor da terra. O tom sépia utilizado na retratação dessas ima-
gens potencializa o caráter mítico dessa narrativa.
Na primeira parte desta breve narrativa, Clark relembra particularmente o
tempo em que ele e seu pai semeavam a terra juntos, com seu pai ensinando-o pa-
cientemente a semear: “‘É preciso cuidado’, ele dizia. ‘Espalhe só algumas semen-
tes de cada vez. Não jogue aos montes. Faça com que sejam distribuídas igualmen-
te nos sulcos. Dê-lhes espaço. Essa é a maneira certa’”.358 Esse prólogo já prepara
o leitor para a segunda intervenção e para o tema da história principal: a questão da
fome, uma vez que a semeadura contrasta com a falta de alimento. De acordo com
a própria narrativa, as sementes servem de metáfora para os seres humanos e a
diversidade inerente a eles: alguns se desenvolvem rapidamente, outros exigem
maior atenção. Essa alusão às pessoas é o gancho para o tema da segunda parte
da breve narrativa, a qual servirá de inspiração para o Superman decidir iniciar seu
programa “o mundo sem fome por um dia”.
Na segunda parte, Clark relembra que seu pai argumentava que “o mundo
era capaz de prover sustento para todas as criaturas. Mesmo hoje em dia, com uma
população muito maior, há comida suficiente para todos”.359 O problema da fome
mundial estaria na dificuldade das pessoas em compartilhar, isto é, o problema da
fome mundial estaria no egoísmo do coração humano. A solução para isso seria a
existência de alguém especial “sem interesses pessoais, para fazer todos percebe-
rem o que o mundo tem a oferecer. Alguém que colocasse de lado as próprias ne-
358 DINI; ROSS, 2007b. [s. p.]. 359 DINI; ROSS, 2007b. [s. p.].
165
cessidades em nome do bem maior”.360 Em outras palavras, um herói precisaria e-
mergir para servir de inspiração para as outras pessoas.
A última intervenção, por sua vez, tem a função de epílogo. Ela recupera a
ação de semear a terra, mas com Clark Kent ensinando crianças e adolescentes a
semear, retomando os ensinamentos que aprendera de seu pai quando criança:
“Pacientemente e com cuidado, ensino a outros como espalhar as sementes, só al-
gumas de cada vez, distribuindo-as igualmente nos sulcos, dando-lhes espaço”.361 A
mininarrativa que emoldura a história principal começa e termina com a mensagem
de que “nem todas [as sementes] vingarão, mas todas merecem a chance de cres-
cer”.362 No fundo, toda a história de Superman: Paz na Terra, ou seja, tanto a histó-
ria principal quanto a história que catalisa e dá sustância à história principal, sua jun-
ção harmoniosa é, intencionalmente ou não, uma releitura da parábola do semeador:
Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar de muita pedra e, quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. (Lc 8.5-8)363
Figura 13: Superman, o semeador
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]
360 DINI; ROSS, 2007b. [s. p.]. 361 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]. 362 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]. 363 Texto segundo a tradução da A BÍBLIA SAGRADA. Tradução na Linguagem de Hoje. São Paulo:
Sociedade Bíblica do Brasil, 1997. A parábola integra o conjunto de ditos sinóticos.
166
A parábola é um dito sapiencial ou uma narrativa alegórica com finalidade
didática e pedagógica muito comum no judaísmo antigo, que geralmente utilizava
referências e imagens do cotidiano das pessoas para transmitir sua mensagem. Ela
se diferencia da alegoria comum pelo fato de nela seus elementos (geralmente com
intencionalidade comparativa e não metafórica) apontarem para um único tema cen-
tral, para um único ensinamento específico.364 Isto é, “embora a parábola possa ter
muitos detalhes, estes não têm significados independentes [como na alegoria], mas
apenas servem para esclarecer seu ensinamento principal”.365 A parábola do seme-
ador pertence ao conjunto de ditos e ensinamentos de Jesus. Enquanto tal, ela é
expressão da mensagem central de Jesus: a vinda do Reino de Deus.
Segundo Roberto Fricke S., “precisamente a parábola do semeador é conta-
da por Jesus para desmentir o sentido de derrota. Parece ser que a ideia central da
parábola é a de que, apesar dos fracassos na semeadura, aguarda uma grande co-
lheita”.366 Há uma concordância entre os estudiosos de que Jesus alude a si mesmo
enquanto semeador e que os propósitos da instauração do Reino de Deus não serão
frustrados, apesar dos obstáculos. Uma variação dessa interpretação sugere que “a
semente é a palavra (o evangelho), a recepção da palavra varia segundo as condi-
ções em que a palavra é semeada pelo semeador”.367 Aqui vale recuperar que a
centralidade da mensagem de Jesus é a instauração e a necessidade da instaura-
364 FRICKE S., Roberto. Las Parábolas de Jesús: una aplicación para hoy. El Paso, TX: Mundo His-
panico, 2005. p.13-29. e Cf. Também MACKENZIE, John. L. Dicionário Bíblico. São Paulo: Pauli-nas, 1983. p. 691s.
365 FRICKE S., 2005, p. 28. “Aunque la parábola puede tener muchos detalles, estos no tienen signifi-cados independientes, sino sólo sirven para aclarar la enseñanza principal”. (Tradução própria)
366 FRICKE S., 2005, p. 36: “Justo la parábola Del sembrador es contada por Jesús para desmentir tal sentido de derrota. Parece ser que la idea central de la parábola es que pese a los fracasos en la siembra, aguarda una gran cosecha.” (Tradução própria)
367 FRICKE S., 2005, p. 37: “La semilla es la palabra (el evangelio), la recepción de la palabra varía según las condiciones en que la palabra sea sembrada por el sembrador.” (Tradução própria) Es-sa compreensão está expressa nos evangelhos sinóticos logo após o texto, como explicação à pa-rábola. A pesquisa indica, entretanto, que essa perícope não se refere diretamente a um dito de Jesus, mas se trata de uma inclusão da Igreja Primitiva, no sentido de fazer um apelo às comuni-dades para que atentassem para a pregação do evangelho. No fundo, o que acontece é uma des-caracterização da parábola, pois se subtrai a ênfase na ação do semeador a fim de atribuir um ca-ráter pedagógico à narrativa. (Cf. FRICKE S., 2005, p. 38).
167
ção de uma nova ordem social numa sociedade teocêntrica.368 A necessidade da
instauração de uma nova ordem social anunciada por Jesus denuncia a injustiça so-
cial que acontece mascarada pela doutrina religiosa (obediência à lei).
Esta injustiça social (o roubo, a fraude, o maltrato dos indefesos, a arrogân-cia dos políticos que levaram à ruína de seus súditos, o suborno), nunca foi simples e declaradamente um problema de ordem social. Ao invés disso, esses crimes eram, por sua vez, pecados, porque eram violações da lei de Deus. Tal lei, expressa desde o tempo de Moisés e atualizada em cada é-poca, governava a relação entre o homem hebreu e seu Deus. A promoção ativa da injustiça social não era apenas um problema social; era classica-mente um problema religioso. Esta amálgama do social com o religioso se percebe na legislação hebraica desde as etapas mais primitivas da nação, mas foi durante o profetismo clássico que alcançou a sua expressão máxi-ma. Uma e outra vez os profetas clássicos condenaram as práticas injustas dos hebreus e as classificaram como ofensas diretas contra a pessoa de Deus. Com essas práticas ofensivas, destruíam sua relação com Javé. Esta mesma ênfase sobre a relação entre a ética e a religião nós contemplamos no ensino e na pessoa de Jesus.369
Portanto, numa sociedade teocêntrica, os problemas sociais não são apenas
de ordem social, mas de ordem religiosa. Diante das injustiças, Jesus propõe uma
reforma religiosa que acarretará numa reforma social. Ambas se entrelaçam. A pa-
rábola do semeador remete a esse duplo sentido: de um lado, essa nova ordem so-
cial acontecerá independentemente dos obstáculos, de outro lado, há entre os ouvin-
tes (os diferentes tipos de solo) aqueles que não compreendem essa mensagem, tal
como indica o teólogo George Eldon Ladd:
Os judeus pensaram que a vinda do Reino significaria o exercício do extra-ordinário poder de Deus perante o qual nenhum indivíduo poderia permane-cer. O Reino de Deus iria abalar as nações sem Deus (Daniel 2:44). O do-mínio dos governantes ímpios seria destruído e o Reino seria dado aos san-tos do Deus Poderoso, de forma que todas as nações os serviriam e obede-ceriam (Daniel 7:27). Numa aparente discordância com as promessas do
368 MACKENZIE, 1983, p. 787ss. Cf. Também LADD, George Eldon. Teologia do Novo Testamen-
to.São Paulo: Hagnos, 2001. p. 55-126. 369 FRICKE S., 2005, p. 24-25: “Esta injusticia social (El robo, la estafa, el maltrato dado a los inde-
fensos, la soberbia de los políticos que desembocaba en la ruina de sus súbditos, el cohecho), nunca era simple Y llanamente un problema de índole social. Más bien, estos crímenes eran a su vez pecados ya que eran violaciones de la ley de Dios. Semejante ley, expresada desde el tiempo de Moisés y actualizada en cada época, gobernaba la relación entre el hombre hebreo y su Dios. La activa promoción de la injusticia social no era solamente un problema social; era clásicamente un problema religioso. Esta amalgama de lo social con lo religioso se nota en la legislación hebrea desde las etapas más primitivas de la nación, pero era durante el profetismo clásico que llegó a su expresión máxima. Una y otra vez los profetas clásicos condenaban las prácticas injustas de los hebreos y las clasificaban como ofensas directas contra la persona de Dios. Con estas prácticas ofensivas destruían su relación con Yahveh. Este mismo énfasis sobre la relación entre la ética y la religión lo contemplamos en la enseñanza y la persona de Jesús.” (Tradução própria)
168
Velho Testamento, as quais foram elaboradas com grandes detalhes nas expectações apocalípticas da época, Jesus declarou que o Reino de fato havia se manifestado aos homens, mas não com o propósito de abalar as estruturas do mal. Ele agora não é manifestado por uma demonstração de poder apocalíptico irresistível. Pelo contrário, o Reino, em sua atuação pre-sente, é como um fazendeiro lançando as sementes.370
Numa época de Natal, portanto, Superman percebeu a fome como um dos
grandes problemas da humanidade, ao se deparar com uma jovem desnutrida. En-
quanto herói e detentor de poderes sobre-humanos, e sob inspiração da jovem moça
desnutrida e dos ensinamentos de seu pai, Superman propõe uma ação global: dis-
tribuir o excedente dos países ricos (inicialmente, os Estados Unidos) entre a popu-
lação dos países pobres. Ele acreditava que, com sua ação, ele pudesse inspirar
outros a fazerem o mesmo. No entanto, ele vê seus planos se frustrarem, ao se de-
parar com os interesses particulares de povos, governos e tiranos. Incapaz de sanar
a fome do mundo por causa do egoísmo do coração humano, o herói decide se i-
miscuir na realidade humana e, discretamente, lutar contra esse egoísmo fazendo o
movimento contrário: partilhando (e, ao fazê-lo, ensinando a partilhar, servindo de
exemplo) os conhecimentos que aprendera com seu pai.
À primeira vista, a história impressiona pelo que expressa: ela sugere que
cada um, motivado pelo espírito natalino, faça sua parte e reparta o que tem, “dentro
de suas possibilidades”, partilhe seus conhecimentos e ajude a transformar o mundo
num lugar melhor. O espírito natalino expresso na história sugere a superação do
egoísmo (um tópico frequentemente discutido na esfera da religião), da mesquinhez,
propondo a solidariedade, a caridade, onde ricos ajudam pobres, onde todos são
iguais, possuem as mesmas chances de crescer. É um discurso sedutor e atraente,
que dificulta qualquer discordância. E as referências religiosas implicadas na narrati-
va — a alusão à parábola do semeador, o altruísmo, o uso dos dons a favor do pró-
ximo, atinentes à figura do herói e à sua missão de salvar a humanidade — poten-
cializam isso. Uma leitura atenta do papel desempenhado pelo protagonista no con-
texto da narrativa, da forma com que a história caminha para seu desfecho e dos
370 LADD, 2001, p. 90-91.
169
temas teológicos imbricados na história revela como a narrativa expropria elementos
religiosos e teológicos para transmitir sua mensagem. Destacam-se aqui a referência
à parábola do semeador, a atribuição de um papel divino ao Superman e a questão
da partilha como proposta de solução da desigualdade social.
Figura 14: Semeando com o pai
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]
A alusão à parábola do semeador na história de Superman: Paz na Terra se
evidencia na medida em que Superman assume a função de semeador. Ele reúne
os grãos excedentes, colhe o que estava sujeito a estragar e decide espalhar esses
grãos ao redor do mundo. Como versa a parábola, alguns caíram à beira do cami-
nho, outros viraram comida de passarinhos, outros caíram num lugar de muita pe-
dra, em meio aos espinhos e alguns caíram em terra boa. As diferentes situações
que o Superman encontra em sua missão refletem uma dinâmica muito similar: os
desertos do Oriente Médio ou as pedras com as quais os russos acertam o Super-
man remetem ao lugar com “muita pedra”; as regiões de conflito no Oriente, na Ásia
Menor e mesmo a região noroeste da América do Sul podem ser identificadas como
os lugares “em meio aos espinhos” (os “espinhos” do governo estadunidense). Há
ainda a alusão ao pisoteamento das pessoas, ao virar comida de animais e também
170
à terra boa, isto é, aos lugares onde os grãos são bem recebidos: Sudoeste dos Es-
tados Unidos, América do Sul e África.
Assim como sugere a parábola do semeador, Superman também visa uma
mudança na ordem social. Com sua ação, o super-herói quer que as pessoas mu-
dem seu comportamento seguindo seu exemplo de colocar seus dons a serviço do
próximo, a compartilhar. Diferente da parábola, no entanto, na qual se realizam as
intenções do semeador apesar dos obstáculos, em nenhuma das imagens de Su-
perman: Paz na Terra é possível identificar uma alusão direta ao verso “As plantas
cresceram e produziram cem grãos para cada semente”. Talvez seja possível esta-
belecer uma relação deste verso com a intencionalidade do super-herói: inspirar ou-
tras pessoas a compartilhar, mas a história termina sem que se veja o resultado da
ação do super-herói. A história termina destacando o fracasso da missão do super-
herói. Ele não consegue vencer os obstáculos que encontra pela frente, as políticas
e os interesses dos diferentes governos, os quais sobrepõem seus interesses às
necessidades da população. Superman não é capaz de resolver o problema da fome
mundial nem por um único dia. A solução “deverá surgir no coração do ser humano
e se estender ao seu próximo”.371 Em outras palavras, não se resolvem os proble-
mas da humanidade externamente a ela. A caridade não pode resolver o problema
da humanidade. Nessa direção, a história deixa claro que forças externas, extra-
humanas são inúteis na resolução do problema da fome. Tal compreensão contrasta
com o pensamento teológico protestante, o qual tem como premissa que é justa-
mente algo de fora que modifica as pessoas. A salvação não pode ser encontrada
se buscada dentro de si mesmo:
Se vamos nos engajar nesta conversação que se chama teologia cristã, te-mos de compreender que não somos nós que estabelecemos as regras pa-ra o jogo. Podemos entrar nele com uma alta dose de criatividade, mas há certas regras que não podem ser quebradas — por que caso contrário o jo-go seria um outro — e não teologia. Creio que a regra fundamental, de que todas as outras dependem, é que a fim de nos libertarmos do cor incurva-tum in se ipsum [um coração encurvado em si mesmo] a nossa estória não pode ser o critério final do jogo. Não é a minha estória que dá sentido à his-
371 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
171
tória. É a história que dá sentido à minha estória. Não sou o horizonte do mundo. Eu me encontro no mundo e sou eu que tenho necessidade de hori-zontes. Sem horizontes não temos senso de direção. E sem senso de dire-ção entramos na esfera da insanidade.372
Superman busca assumir ser esse horizonte, ser esse referencial extra nos
capaz de inspirar as pessoas a saírem de seu círculo vicioso. E, ao associar essa
intenção do super-herói com a função do semeador, configura-se aqui uma primeira
expropriação teológica. Ao assumir a função do semeador, Superman assume, na
verdade, o lugar de Jesus na narrativa análoga à parábola, mas com um significado
oposto: ao falhar em sua missão, ele afirma que nenhuma divindade, ninguém exte-
rior à humanidade é capaz de resolver o problema. Nessa direção, poder-se-ia até
entender, mais a título de provocação, que toda a proposta social de Jesus também
fracassou no final da história, porque, como descreve um jargão teológico, “Jesus
queria o Reino, mas, no lugar do Reino, veio a Igreja”. A história de Superman: Paz
na Terra realmente brinca com a ideia de que nenhuma força exterior é capaz de
resolver o problema da fome, ao descrevê-la, em seu íntimo, como um problema do
“egoísmo do coração humano”. Em outras palavras, ao passo que no pensamento
teológico é justamente uma força exterior que é capaz de tirar o ser humano de seu
cor incurvatum in se ipsum, na história, isso não é possível. É o próprio ser humano
que precisa “evoluir com sabedoria”, como propõe a narrativa. A primeira impressão
dessa leitura é, portanto, que o ser humano está só no mundo, jogado à própria sor-
te e depende dele mesmo para sair dessa situação.
Desdobrando a analogia com a parábola do semeador, está o segundo des-
taque de Superman: Paz na Terra: a atribuição de um papel divino ao Superman. É
bem verdade que o Superman se tornou um grande ícone americano, condensando
não apenas todos os arquétipos clássicos do heroísmo, os ideais de uma sociedade
em ascensão — o trinômio clássico: verdade, justiça e estilo de vida americano —
como incorporando, desde cedo, muitos elementos religiosos. Isso foi potencializado
ao longo da história do personagem, à medida que sua mitologia foi sendo elabora-
372 ALVES, 2006, p. 30.
172
da. Assim, Superman passou de um personagem que saltava longas distâncias para
um semideus que voa pelo espaço e é praticamente indestrutível, podendo, inclusi-
ve, enxergar e ouvir tudo, beirando à onisciência. E à medida que essa mitologia foi
sendo constituída, pareceu cada vez mais óbvio a associação com personagens re-
ligiosos como Moisés e também Jesus Cristo.373
Figura 15: Sobre o Cristo Redentor
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
Naturalmente, o fato de o Superman ter sido criado por dois judeus, e de os
judeus terem sido, durante muito tempo, a maioria na indústria dos quadrinhos (pra-
ticamente os inventores)374 contribuem para isso. Como afirmou Greg Garrett: “Em
tempos de tribulação, os judeus, como todas as pessoas, se lembraram de histórias
reconfortantes”.375 E essa rememoração, num contexto de incertezas, foi traduzida
373 O último filme produzido sobre o Superman, Superman – O Retorno (2006), dirigido por Bryan
Singer e estrelado por Brandon Routh no papel do super-herói, apresenta relações imagéticas ex-plícitas com Jesus Cristo, por exemplo. Cf. SUPERMAN O RETORNO. Bryan Singer. EUA: Warn-er Bros. Pictures/Legendary Pictures/Jon Peters : Warner Home Video, 2006. DVD Vídeo (154 min.) (Edição especial com 2 discos).
374 Como atestam JONES, 2006, passim e FINGEROTH, 2007, passim. 375 GARRETT, 2008, p. 18: “In times of trouble, Jews, like all people, have remembered reassuring
stories”. (Tradução própria)
173
na história do personagem. Não só o nome de batismo do Superman é religioso
(Kal-El significa “tudo isso é Deus” do hebraico) como também é possível tecer inú-
meros paralelos com a história de salvação clássica do judaísmo:
Existem outros empréstimos óbvios da história e situações judaicas na ori-gem e na criação do Superman: Kal-El é um refugiado, um dos poucos so-breviventes da diáspora de seu planeta, Krypton; sua salvação como um bebê em uma espaçonave é imediatamente associada a Moisés, que flutu-ou pelo Rio Nilo num bote salva-vidas similar; ele chega a uma terra estran-geira, onde ele precisa conciliar a tensão entre seu desejo de se encaixar — se tornar como os nativos com que se assemelha — e a evidência nítida que há dentro de si coisas que o fazem diferente, alienígena. É estranho pensar no Superman como um super-herói judeu, mas diferente de muitos dos heróis arianos totalmente-americanos que se seguiram — considere o Capitão América/Steve Rogers da Marvel, por exemplo — ele claramente atraiu para si desejos, medos e esperanças compartilhados por seus criado-res, e aqueles começos foram uma parte do mito que continuou.376
Nem todos os super-heróis possuem uma comparação tão clara e nítida com
elementos religiosos quanto o Superman. Como já sugerido em outra ocasião, Su-
perman é expressão tanto das esperanças messiânicas quanto do destino manifes-
to, isto é, da ideia imbricada na cultura americana de que o povo estadunidense é o
salvador do mundo.377 É por apresentar essas características, entre outras, que
Christopher Knowles afirma que Superman é o personagem que expressa de forma
mais nítida o arquétipo de messias. Para o autor, referindo-se à pesquisa de Les
Daniels, Jerry Siegel provavelmente percebeu também as comparações com Jesus
Cristo, analogias estas que se tornaram cada vez mais frequentes e enraizadas no
imaginário popular. A história “A morte do Superman”, na década de 1990, na qual o
super-herói é morto por um monstro chamado de “Dia do Juízo Final” e ressuscita
posteriormente, é um dos exemplos mais claros dessas analogias.378
376 GARRETT, 2008, p. 19: “There are other obvious borrowings from Jewish history and situations in
Superman’s creation and origin: Kal-El is a refugee, one of the few survivors of the diaspora from his planet, Krypton; his salvation as a baby in a spaceship is immediately reminiscent of Moses, who floated in a similar life raft on the River Nile; he comes to a foreign land, where he must recon-cile the tension between his desire to fit in—become like the natives he resembles—and the clear evidence that inside, there are things that make hum different, alien. It’s strange to think of Super-man as a Jewish superhero, but unlike many of the Aryan All-American heroes who followed—consider Marvel’s Captain America/Steve Rogers, for example—he clearly drew on the shared wishes, fears, and hopes of his creators, and those beginnings were a part of the continuing my-thos”. (Tradução própria)
377 REBLIN, 2008, p. 100ss. 378 KNOWLES, 2008, p.140ss.
174
Essas observações são importantes para ressaltar que o Superman, en-
quanto super-herói, representa o heroísmo dentro do arquétipo de messias. Isso
significa que os ângulos e as disposições dos desenhos vão ressaltar o caráter divi-
no do herói. Textualmente, essas características divinas se apresentam não apenas
na disposição em fazer o bem e em colocar os interesses de uma coletividade à
frente de seus interesses pessoais, mas, curiosa e particularmente nesta narrativa,
no fato de o Superman não precisar se alimentar. Como o protagonista mesmo afir-
ma, “não preciso comer. Nunca vou saber o que é fome. Nem imagino o que sentem
as vítimas da desnutrição”.379 Essa característica do Superman realça a sua identifi-
cação com as divindades, reforça a ideia do Superman como ser divino. Esse fato
contrasta diretamente com o tema da narrativa (o combate à fome).
A princípio, pode-se questionar: de que forma alguém que nunca passou fo-
me e nem imagina “o que sentem as vítimas da desnutrição” pode se empenhar de-
cididamente na causa da fome? Afinal, um herói sempre emerge de um contexto real
de sofrimento e opressão para lutar de forma desprendida pela superação desses
males. O fato de não sentir fome pode tornar o Superman apático e distante da hu-
manidade, aproximando o personagem do âmbito do divino. Afinal, qual é o ser vivo
que não precisa se alimentar de alguma forma? Nessa direção, a história apresenta
inicialmente o Superman como um Deus apático, distante, não imiscuído na realida-
de cotidiana e — considerando a primeira ponderação — incapaz de ser um referen-
cial externo para a humanidade. É a partir do contato com a moça desnutrida, em
meio ao espírito natalino, entretanto, que Superman percebe a fome. É nessa dire-
ção que ele vai se lembrar do enunciado de Charles Dickens, que afirmou, remeten-
do à época de Natal, que “a carência é profundamente sentida e a abundância, fes-
tejada”.380 A partir daí, Superman começa a pesquisar e a refletir sobre a fome e no-
ta como uma multidão de famintos, desabrigados, passa despercebida na socieda-
de: “Infelizmente, a primeira parte deste enunciado costuma ser ignorada, como se o
379 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]. 380 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
175
reconhecimento dos desafortunados entre nós ofuscasse a alegria das festivida-
des”.381 A narrativa sugere que é justamente a partir do contato com a jovem que
Superman inicia sua missão e justifica também o fato de ele não ter se empenhado
antes: porque ele não precisa se alimentar. Agora, se, por um lado, essa caracterís-
tica divina pode indicar uma apatia inicial diante do problema da fome, por outro la-
do, o fracasso de sua missão não implica necessariamente em uma desistência do
Superman. Por compreender que ele não tem a capacidade de resolver esse tipo de
problema nessa proporção, Superman decide mudar sua abordagem.
Figura 16: Superman fracassa?
Fonte: DINI; ROSS, 2007, [s.p.]
Enfrentar o problema da fome é diferente do que enfrentar um supervilão,
porque não há um mal personificado contra o qual o super-herói pode lutar. Diferen-
temente de uma narrativa típica da superaventura, na qual o super-herói, represen-
tante do bem, combate o supervilão, representante do mal, e a humanidade é a víti-
ma, nessa história, o mal não é retratado em um vilão, ele está, na verdade, no co-
381 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
176
ração das pessoas. Isso significa que, no duelo entre bem e mal nesta narrativa, a
humanidade não é apenas a vítima, mas a coadjuvante e até mesmo a antagonista
de si mesma da narrativa. Superman identifica que o problema e a solução residem
nas próprias pessoas. Ele não tem como entrar em combate contra as pessoas com
as quais ele se sente comprometido a defender. Nessa direção, Superman não de-
siste de sua missão. Ele muda sua estratégia. Ao invés de agir verticalmente, “de
cima para baixo”, ele decide agir “entre as pessoas”, através do ensinamento. Aqui a
narrativa explora novamente a parábola bíblica, porque ela retoma a tarefa do se-
meador. De maneira análoga, Superman continua assumindo o papel de Jesus Cris-
to na narrativa ao se dispor, enquanto Clark Kent (e não enquanto Superman), a en-
sinar a semear e, desta forma, a ensinar a compartilhar.
Figura 17: Ensinando a semear
Fonte: DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]
Superman não perde o status de ser divino. Quando ele percebe, no entan-
to, que ele não pode resolver o problema da fome enquanto Superman, ele se hu-
maniza. E aqui se revela outra expropriação teológica: Superman não se revela co-
mo um Deus que está fora, mas como um Deus que caminha junto com a humani-
dade. Na compreensão judaico-cristã, Deus não é um Deus apático e distante, mas
um Deus extremamente envolvido com a sua criação e sua história. Esse é o sentido
177
de sua revelação na história da humanidade.382 Na tradição cristã, essa revelação
atinge o ápice na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a prova que Deus participa e age
na história da humanidade. É, em Jesus, que o ser humano se defronta com um
Deus concreto; isto é, não com um Deus abstrato e separado em sua divindade e,
simultaneamente, não com o ser humano enquanto Deus para si mesmo:
Precisamente em Jesus Cristo, como nos é testemunhado na Santa Escritu-ra, defrontamo-nos, por certo não abstratamente, com o ser humano, não com o ser humano que, com sua migalha de religião e de moral religiosa, pudesse, sem Deus, satisfazer a si mesmo e, assim, ser Deus para si mes-mo. Tampouco, porém, nos defrontamos em Jesus Cristo abstratamente com Deus, não com um Deus somente separado em sua divindade do ser humano, distante e estranho a ele e, assim, não humano ou até mesmo de-sumano. Em Jesus Cristo não há um fechamento do ser humano para cima, assim como não há um fechamento de Deus para baixo.383
É justamente como filho de fazendeiro que Superman percebe que sua ação
pode ter algum resultado. É como filho de fazendeiro que ele ensina a semear. Aqui
a história atribui duplo sentido na divindade do Superman: se, por um lado, ele é a-
presentado como divino pelo fato de não precisar se alimentar, por outro, ele é retra-
tado como divino ao se humanizar, ao nivelar-se à condição humana e ensinar a
semear, isto é, a compartilhar seus dons, seu conhecimento e, dessa forma, servir
de exemplo. Há, nesse sentido, uma alteração sutil no significado da revelação divi-
na na história da humanidade na perspectiva delineada em Superman: Paz na Terra:
o Superman não se revela na pessoa de Clark Kent. Claro, ele o faz aos olhos do
leitor, mas, aos olhos dos outros personagens da narrativa, Clark Kent é apenas ou-
tro ser humano fazendo a sua parte para um mundo melhor. Desse modo, novamen-
te, retoma-se a compreensão de que a solução se encontra na própria humanidade
e não fora dela. Há aqui, pois, uma expropriação teológica que reforça a anterior.
Essa expropriação, entretanto, não se dá no mesmo nível que a primeira. Permane-
ce certa ambiguidade: a caridade se converte em ação pedagógica, e o Superman
não perde seu caráter de herói por assumir e compreender que a humanidade preci-
382 SPONHEIM, Paul R. O conhecimento de Deus. In: BRAATEN, Carl E.; JENSON, Robert W. (Ed.).
Dogmática Cristã. São Leopoldo: Sinodal/IEPG, 2002. p. 203-272. 383 BARTH, Karl. A humanidade de Deus. In: ______. Dádiva e Louvor. 2. ed. São Leopoldo: Sino-
dal/IEPG, 1996. p. 389-405. p. 394.
178
sa ser ensinada. E ele assume essa tarefa enquanto herói. Nesse sentido, continua
sendo alguém exterior à humanidade que se encarrega em atuar a favor dela. Su-
perman continua a dispor seus dons a serviço do próximo. Ensinar a semear é aqui
outra forma de expressar a necessidade de se compartilhar.
Toda a história de Superman: Paz na Terra se estrutura em torno do tema
da fome e da necessidade de partilhar. A fome é um dos reflexos da desigualdade
social, reflexo sugerido pela própria narrativa, à medida que descreve a situação da
jovem moça desnutrida salva pelo Superman: “No abrigo, pergunto pela moça. A
Dra. Mason diz que o nome dela é Jodie e que fugiu de sua casa numa cidade pobre
do sul. Achou que conseguiria melhores oportunidades em Metrópolis. Sem empre-
go ou amigos, só lhe restou mendigar”.384 A partilha enquanto proposta de solução
da desigualdade social é um tema teológico. Tanto a teologia veterotestamentária
quanto a teologia neotestamentária entendem Deus como aquele que atua a favor
do pobre. E ambas expressam que uma nova ordem social começa a emergir a par-
tir do momento em que se combate a disparidade social. Há inúmeros ditos e pará-
bolas de Jesus que se referem diretamente à questão da partilha e da renúncia à
riqueza como critério de acesso ao Reino de Deus.385 No século XX, a Teologia da
Libertação retoma essa ênfase ao insistir que toda ação eclesial deve ser uma op-
ção preferencial pelos pobres. Ela traduz-se como práxis compromissada e atuante
(militante) a favor das lutas de libertação da opressão, das amarras sociais e da
promoção imediata de uma nova ordem social, do Reino de Deus. Trata-se de um
pensamento teológico que atua na fronteira dos saberes, em diálogo com as ciên-
cias sociais, a economia, a política, a educação.386
Como já reiterado, observando a história de Superman: Paz na Terra de
uma maneira em geral, trata-se de uma narrativa totalmente harmônica e atraente:
384 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.]. 385 MACKENZIE, 1983, p. 729ss. 386 GIBELLINI, Rosino. A Teologia do Século XX. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002. p. 347-382. Ao lon-
go da história da Teologia da Libertação, o conceito de pobre foi se ampliando, abarcando a ques-tão do gênero, dos povos africanos, etc. Cf. SUSIN, Luiz Carlos (Org.). Sarça ardente: Teologia na América Latina: prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2000.
179
as pessoas ricas ajudam as pobres, compartilhando sua riqueza, seu alimento, no
Natal e esse alimento, quando compartilhado, é capaz de saciar o mundo inteiro.
Resumindo dessa maneira, esse escopo da narrativa é capaz de remeter, inclusive,
ao milagre da multiplicação dos pães (Mt 14.13-21). Não obstante, há aqui uma dife-
rença sutil entre o tema teológico da partilha e a proposta sugerida pelo Superman.
Se a teologia insiste na necessidade de se abdicar da riqueza, em partilhar o
que se tem como um critério para uma nova ordem social sob o governo de Deus,
em Superman: Paz na Terra, a partilha não se refere a partilhar o que se tem, mas o
que sobra, o excedente. E o excedente pode ser interpretado de diversas formas:
ele pode ser o lucro ou pode ser o lixo, o que é descartado. Sem cerimônia, a histó-
ria indica qual é o sentido aplicado: “Há safras que não estão sendo colhidas em
campos abandonados e outras que irão apodrecer em armazéns. A América produz
mais comida do que é capaz de consumir e não tem os meios para transportá-la até
os necessitados”.387 Naturalmente, o excedente enquanto lucro não vai ser dividido,
porque isso abalaria a estrutura e os princípios do capitalismo, o qual se sustenta
basicamente pelo princípio da “mais valia”. A história propõe justamente o contrário:
dar o que está sobrando, mais ainda, o que sobra como “lixo”. Desse modo, uma
reflexão sobre o sentido lato da história — na qual Superman, ao final de sua mis-
são, desiste de distribuir e muda de estratégia — indica que aquilo que pode virar
lixo, virará lixo.
O excedente pode deflagrar aqui uma reflexão profunda, mas pode muito
bem mascarar antes uma axiologia, justamente porque o excedente não é questio-
nado; isto é, não se questionam aqui os mecanismos de produção de capital en-
quanto produtores de desigualdade e fome: Por que esses países, essas regiões,
são mais pobres que os demais? Assim, torna-se, inclusive, absurdo imaginar: como
as pessoas que estão passando fome não aceitam pacificamente uma doação de
comida? Nessa direção, a história parece promover uma aversão a governos rebel-
387 DINI; ROSS, 2007b, [s. p.].
180
des, ditatoriais, porque eles podem prejudicar a própria população, ao transformar o
alimento em fundamento de seu poder, da sustentação da soberania nacional, da
autoridade. Todos esses lugares hostis aparentam ter governos fracos ou baseados
na tirania, nas relações de medo, comando, domínio, obediência.
Aqui convém ressaltar também que Superman não deixa de ser (na narrativa
e fora dela, isto é, no imaginário coletivo) um representante dos Estados Unidos. E
suas ações na história refletem as relações daquele país com o mundo. Isso tam-
bém pode ser percebido nas inúmeras reações que diferentes nações manifestam
diante da ação do super-herói. Além disso, Superman age sob a tutela do governo
estadunidense, ao passo em que ele “tramita” sua ideia no Congresso antes de pô-la
em prática. A ação do Superman não deixa de ser uma ação política dos Estados
Unidos da América, mesmo que caridosa e, aparentemente, cheia de boas inten-
ções. Para um leitor brasileiro, a narrativa se torna curiosa, pois pode ou incomodar,
por ter a pobreza das favelas escancarada numa mídia global, ou dar orgulho, ao ser
descrito como um país pacífico, receptivo, que não se contrapõe a uma atitude de
intervenção americana. Nas palavras do protagonista,
Em seguida, vôo para o sul, rumo a países onde quase não existe meio-termo entre a riqueza e a pobreza. A grande cidade abaixo [Rio de Janeiro] é um doloroso exemplo desse abismo. Daqui de cima, ela parece uma jóia, linda e brilhante. Olhando mais de perto, vejo as favelas: cortiços superpo-voados, onde crianças se banham em água de esgoto, famílias vivem em caixas de papelão e ratos correm abertamente pelas ruas. É fácil olhar para o outro lado, fingir que o problema não existe ou esperar que alguém o re-solva. Mas pelo menos hoje as pessoas verão que alguém está olhando por elas. Que alguém resolveu agir e, juntamente com a comida, trouxe espe-rança de dias melhores para que sigam em frente. A cada minuto tenho mais certeza de que tomei a decisão correta.388
O ápice da expropriação do caráter teológico da parábola se dá quando Su-
perman transfere a discussão acerca da fome para a esfera moral. O super-herói
culpabiliza indivíduos, governos e moraliza amplamente a fome. Do ponto de vista
teológico, especialmente a partir da Teologia da Libertação, os aspectos estruturais
de opressão e de exclusão precisam ser combatidos. A história, por sua vez, morali-
388 DINI, ROSS, 2007b, [s. p.]
181
za a questão e ignora todos os outros elementos: a história, o contexto, as relações,
as condições estruturais que consolidam a fome enquanto problema mundial e loca-
lizado. Em outras palavras: Superman: Paz na Terra ignora os porquês da fome ha-
bitar esses lugares, resumindo suas razões para o egoísmo humano, e, desse mo-
do, possibilitando a interpretação de que “se todos tivessem uma consciência altruís-
ta como os EUA, a fome não existiria”. A história reconhece também a pobreza in-
terna do país, ao retratar a jovem desnutrida como um das muitas pessoas que ar-
riscam tentar a vida na cidade grande. No entanto, a história indica também que o
país tem as condições para solucionar o problema. Em todo o caso, esses retratos
descaracterizam os problemas sociais, moralizando-os, o que harmoniza com o mo-
te que inicia e encerra a narrativa do Superman: a ideia de que todos possuem a
mesma chance, mas, por n razões, não se desenvolvem em condições iguais.
E é nessa direção que se revela o sentido do mito e o caráter pernicioso do
mito nessa narrativa, isto é o processo de naturalização da deformação: não se
questiona as coisas como estão, a organização como está dada. Na respectiva pa-
rábola que serve de referência, o problema do semeador que lança sementes ao
vento é o contexto (a terra árida, a terra com pedras, com espinhos), ao passo que
em Superman: Paz na Terra, o problema são as “sementes”, as pessoas. O proble-
ma da fome perde seu caráter social e se transforma num problema do indivíduo.
Inverte-se assim o sentido da parábola pela máxima do liberalismo, à medida que a
narrativa afirma que “todos possuem a mesma chance”. Em outras palavras, a narra-
tiva moraliza toda a desigualdade social e naturaliza a organização social. Aquilo
que é, na verdade, artificial, um fato social, é transformado em “coisa”, induzindo o
leitor a uma compreensão de que “é assim que a sociedade funciona”. E a deforma-
ção se revela quando os valores religiosos resumidos na relação entre o divino e o
humano (a relação de Deus com a humanidade) no princípio e na prática do altruís-
mo são, no fundo, usados para justificar o contexto atual da fome, naturalizando o
significado da história.
182
3.1.2 Shazam: O Poder da Esperança
Figura 18: Capitão Marvel contendo um vulcão em eru pção
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
A história inicia com uma transmissão de rádio narrando os últimos aconte-
cimentos, as últimas ações do Capitão Marvel para garantir o bem-estar da popula-
ção: contenção de catástrofes naturais, assaltos a banco, fuga de animais do zooló-
gico; uma infinidade de atividades que demonstram que o Capitão está sempre por
perto para aqueles que precisam dele. A locução é realizada pelo alterego do super-
herói, o adolescente Billy Batson, o qual atua como repórter e locutor da Rádio Whiz.
Ao término da transmissão e do expediente de trabalho, a história revela que Billy
Batson está cansado diante da dificuldade em conciliar a vida de super-herói com a
vida de criança e com os compromissos da vida adulta: “Não é nada mole preservar
uma vida secreta de super-herói. Principalmente quando a ela se acrescentam a es-
cola e uma promissora carreira de radialista”.389 O fardo de ser o Capitão Marvel se
acentua quando a secretária de seu chefe pede que Billy leve várias cartas destina-
das ao Capitão Marvel, as quais foram deixadas na redação, motivadas pelos notici-
389 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
183
ários. “[...] o dono da rádio, Sr. Morris, achou que seria errado deixar as cartas sem
resposta, e pediu que cada um de nós levasse um pouco pra casa e redigisse uma
resposta gentil em nome do Capitão”.390
Figura 19: Capitão Marvel lê cartas de admiradores
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
Após ler inúmeras mensagens, entre pedidos de casamento, favores e con-
tratos comerciais, Billy se depara com uma carta destinada não ao Capitão, mas a
ele. Nela, uma médica do Hospital Infantil Municipal pede se Billy “conseguiria con-
vencer o Capitão a visitar as crianças internadas que tanto o admiram”.391 Mesmo
cansado, Billy não consegue resistir ao ver os desenhos das crianças e decide visi-
tá-las. Antes, porém, ele comparece perante o Mago, na Pedra da Eternidade.
390 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.]. 391 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
184
Figura 20: Capitão Marvel em audiência com o Mago S hazam
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
Num piscar de olhos, eu estava na Pedra da Eternidade. O Mago me co-nhece melhor do que eu mesmo. Antes que eu diga qualquer coisa, ele a-firma saber que chegaria o dia em que as responsabilidades do Capitão Marvel pesariam em minha mente e alma. “É nessa hora que você deve ser mais forte. Não apenas por si próprio, mas por todos aqueles que encon-tram inspiração em tudo que o Capitão Marvel representa.” “As crianças são as mais impressionáveis, porque são elas que acreditam fervorosamente.” “Tal qual uma pequena chama, a fé das crianças arde resplandecente. Po-rém, ela deve ser acalentada para não se apagar.” O Mago revela ter pre-visto uma ocasião em que uma criança especial cairia em desespero e, em busca de esperança, se voltaria ao Capitão Marvel. Quem é, e quando eu vou conhecer essa criança, o ancião não comenta.392
Capitão Marvel visita as crianças internadas no hospital que escreveram a
carta para ele e se dispõe a passar alguns dias com elas: “Neste fim de semana,
vocês são os chefes. Só precisam me dizer o que mais gostariam de fazer, e a gente
vai fazer”.393 Todas as crianças parecem felizes ao receber a visita do Capitão, que-
rem voar com ele, participar de suas aventuras. Aos poucos, o Capitão se empenha
392 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.]. 393 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
185
em realizar cada um dos pedidos: ele conta histórias de seus feitos às crianças, traz
um médico do Japão que teria condições de operar uma criança que teve a visão
lesionada, realiza sobrevoos pela cidade e constata, inclusive, que não está mais
apreensivo em utilizar seus poderes apenas para divertir as crianças. A doutora en-
carregada de cuidar das crianças lembra ao Capitão que o contato humano é tão
importante quanto os remédios na recuperação de pacientes.
Figura 21: Capitão Marvel passeia com as crianças
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
Uma criança, entretanto, se mantém afastada das demais e não participa
das aventuras do Capitão Marvel. Suspeitando que esta criança poderia ser aquela
da qual o mago falava, ele busca conversar com ela, mas o menino se recusa. Capi-
tão Marvel percebe que seus machucados não provêm de um acidente, mas haviam
sido infligidos por outra pessoa. Como o menino se sente coagido diante de sua pre-
sença, Marvel resolve se transformar em Billy Batson para conversar com ele. Logo
percebe que os machucados são resultado de uma agressão doméstica empreendi-
186
da pelo pai do menino. Billy decide conversar com ele, mas não obtém sucesso. Até
que o Capitão Marvel intervém e oferece uma única chance de reconciliação.
Figura 22: Capitão Marvel, alento nas horas difícei s
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
Capitão Marvel visita ainda o centro de terapia intensiva e percebe que “há
momentos em que os poderes de Marvel não me ajudam a salvar vidas, por mais
que eu tente”. O super-herói se sente impotente quando tudo o que ele tem a ofere-
cer se resume a palavras de conforto e um ombro amigo diante do sofrimento e da
morte. Ao término dos dias com as crianças do hospital, o Capitão retorna à Pedra
da Eternidade, local onde habita o Mago que lhe concedera seus poderes:
Ele pergunta se meu período entre as crianças foi proveitoso. Sou obrigado a admitir que não tenho certeza. É gratificante saber que pude levar um pouco de felicidade a muitos dos garotos, mas parte de mim ainda se sente impotente porque não fui capaz de ajudar todos eles. Gentilmente, o ancião me diz: “Existem batalhas que nem mesmo o Capitão Marvel pode vencer”. “É verdade, senhor. Mas não será isso que me fará desistir. Parte de mim vai sempre tentar travar essas batalhas. Parte de mim anseia estar presente pra ajudar os desesperados. Como ajudei aquelas crianças”. O Mago me-neia a cabeça, em sinal de aprovação. “Você deu a elas esperança, uma força grandiosa. Um poder que eu receava estar se perdendo num jovem que tanto prezo. Ainda não sabe a quem me refiro?”. “Diacho!”. O Mago sor-ri fraternamente. “Sobre os ombros do Capitão Marvel foram depositadas as
187
responsabilidades tanto de um jovem quanto de um adulto. É um fardo ex-traordinário, meu jovem. Eu sabia que, com o tempo, ele desafiaria até mesmo a sua alma generosa”. “Contudo, você se empenhou altruisticamen-te por aquelas crianças, que vislumbram no Capitão Marvel um símbolo de seus sonhos e esperanças. Você ofertou a elas o coração benevolente de um homem e, em troca, elas restituíram a esperança ao menino dentro de você. Você se saiu muito bem, meu filho”.394
A história termina com o Capitão Marvel voando para casa, sob a certeza de
estar apto a lidar com todo e qualquer desafio que possa emergir diante de si. E es-
sa sensação se sustenta ao colocar-se ao lado dos necessitados. O Capitão conclui
que nem todos os desafios requerem habilidades ou poderes sobre-humanos para
serem superados. Às vezes, ser um ombro amigo ou ser alguém para compartilhar
alegrias e afastar a solidão pode ser o caminho adequado.
A história de Shazam: O Poder da Esperança narra, portanto, a jornada do
Capitão Marvel na qual ele renova a esperança e o espírito alegre que comumente o
caracterizam em suas histórias. A narrativa parte da abordagem da fase de transição
do herói-criança tornando-se adulto e tendo que conciliar o tempo em sua tripla jor-
nada de trabalho: a ação como super-herói, a escola (a vida de criança/adolescente)
e o trabalho (a vida de adulto); isto é, ela parte do fardo de lidar com os compromis-
sos e as responsabilidades da vida adulta e da necessidade de se recuperar a jovia-
lidade, a esperança, a fé que se esmaece diante das sobrecargas da vida. Ao mes-
mo tempo em que o Capitão visita as crianças no hospital e quer alimentar a chama
da fé e da esperança que existe nelas, ele realiza uma jornada de efeito retroativo.
Ao alimentar a fé e a esperança das crianças, ele, após a conversa final com o ma-
go, tem seu próprio espírito renovado. Ao atuar junto às crianças hospitalizadas, o
super-herói percebe que ele pode ser mais que um herói que emerge em situações
limítrofes; que ele pode ser “o amigo de todas as horas”. Em outras palavras, a his-
tória sugere que novas relações humanas precisam ser estabelecidas para que a fé,
a esperança, os sonhos da humanidade, expressos nos olhares e nos sorrisos das
crianças, não se desfaleçam diante da correria da vida adulta. Destacam-se aqui o
papel das crianças, a importância da fé e da esperança diante de situações de so- 394 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
188
frimento e a necessidade do estabelecimento de novas relações humanas pautadas
na amizade.
As crianças desempenham um papel crucial na narrativa por elas serem o
ponto de encontro dos temas implicados na história. O Capitão Marvel é uma crian-
ça/adolescente que vive a tensão entre a vida infanto-juvenil e a vida adulta. Ele en-
contrará nas crianças que ajuda o espírito que sempre definiu quem ele é e que se
encontrava suprimido diante do fardo dos compromissos e das responsabilidades
exigidos pelo manto do herói. Diferente do Superman, que compreende a ação do
super-herói como um dever, o Capitão Marvel é frequentemente lembrado pelo seu
bom humor, sua jovialidade e sua alegria, por uma disposição em estar ao lado dos
que necessitam. E a impressão é que o Capitão Marvel se diverte sendo um super-
herói, talvez, por ser, na verdade, uma criança, um adolescente. Quem disse que ser
herói não pode ser divertido também? Isso se expressa também na forma como ele
descreve suas ações e a si mesmo sob o ofício de locutor do Rádio: “Pessoalmente,
amigos, só o fato de saber que ele está aí fora já torna mais emocionante a minha
vida”.395 E, ao indicar essa possibilidade — de que ser um herói não se restringe ao
dever e que envolve outras esferas da vida humana — a história estabelece um con-
flito entre o ideal da vida humana que ela quer transmitir e a estrutura narrativa usual
das histórias da superaventura.
O Capitão Marvel demonstra esse conflito entre ser o herói moldado sob a
aura de uma moralidade, uma ética — expressa na máxima: “nunca utilizar seus
dons para fins próprios, somente para ajudar os outros”, que se aproxima da com-
preensão de carisma396 — e ser um herói que, ao mesmo tempo, extrapola essa au-
ra moral. Isso pode ser evidenciado no contraste dos pensamentos do herói: 1) Ao
receber a tarefa de ler as cartas destinadas ao Capitão Marvel, Billy afirma: “Bem
que eu queria dizer a palavra mágica neste exato momento! Que tentação... mas é
395 DINI; ROSS, 2007a, [s .p.]. 396 LADD, 2001, p. 496ss.
189
melhor não abusar do privilégio”.397 2) Logo em seguida, ele confessa: “já burlei as
regras quando, como Capitão Marvel, vesti roupas de uma pessoa normal e me pas-
sei por pai de Billy Batson pra assinar o contrato do aluguel. Afinal, ninguém seria
louco de alugar apartamento pra uma criança”.398 3) Por fim, ao ajudar as crianças,
ele afirma: “[...] quando reúno outro ansioso grupo para uma excursão a um parque
nacional, eu já nem estou mais hesitante a respeito de usar meus poderes só para
divertir a garotada”.399
Praticamente todas as histórias da superaventura são acerca de situações
emergentes e urgentes, com ações malignas e mirabolantes sendo arquitetadas por
gênios do crime, por um supervilão, ou envolvem catástrofes acidentais ou inciden-
tais de grandes proporções. A batalha a ser enfrentada pelo super-herói é sempre
uma luta contra um mal que pode acabar com a vida humana. E a suspeita que se
pode levantar é que a ação do super-herói, em geral, não interfere no cotidiano, na
vida das pessoas. Emerge uma situação limítrofe, o super-herói aparece, e, depois,
as pessoas continuam vivendo suas vidas normalmente. Há a impressão de que os
super-heróis só se ocupam com as situações últimas.
É nessa direção que também é possível entender aquilo que Nildo Viana in-
dica: de que o super-herói só existe para a missão, na qual ele faz uso de seus po-
deres, e não tem razão de ser após a missão.400 Pensando na dinâmica da narrativa,
a impressão que se tem é que se trata de uma questão de seleção. São seleciona-
das as situações mais importantes e emergentes que correspondem ao poder e a
força que esses personagens possuem. Em outras palavras, na superaventura, há
sempre uma proporção entre o herói e a ameaça que ele precisa enfrentar. Em Sha-
zam: O Poder da Esperança há, entretanto, uma reconfiguração da missão. Ao pas-
so que, em Superman: Paz na Terra, se evidencie a ineficácia do herói, em Shazam:
O Poder da Esperança, se percebe inicialmente que herói pode ser mais que um
397 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.]. 398 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.]. 399 DINI; ROSS, 2007a, [s. p.]. 400 VIANA, 2005, p.20ss e 37ss.
190
salvador de última hora. Ao final (e isso é a proposta de todo o projeto de Dini e
Ross), ambas as histórias assumem a mesma posição: humanizar. Os super-heróis
terminam por realizar aquilo que pessoas comuns fazem em seu dia a dia: semear,
ser amigo. A extraordinariedade se dilui na ordinariedade. E as crianças desempe-
nham um papel fundamental nisso.
Figura 23: Ele pode ser um amigo para aqueles que r ealmente precisam
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
Se, por um lado, a história provoca um questionamento da estrutura típica da
superaventura, ao apresentar o personagem principal como alguém que está em
conflito com os compromissos do manto do herói e precisa, em sua jornada, recupe-
rar ou renovar seu “espírito de criança”, por outro, ela exacerba esse questionamen-
to na representação desse “espírito”. A história caracteriza as crianças como aque-
las que acreditam fervorosamente; não possuem o olhar desconfiado do adulto; pos-
suem grande poder de recuperação e conseguem encarar as dificuldades com mais
facilidade que os adultos. E se não há nenhuma alusão religiosa explícita, tal como
em Superman: Paz na Terra, existe aqui uma alusão iconográfica à postura de Je-
sus em relação às crianças:
191
Figura 24: Capitão Marvel e as crianças
Fonte: DINI; ROSS, 2007a, [s. p.].
Figura 25: Jesus e as crianças
Fonte: http://www.faithaudiokids.com/?attachment_id=283
De acordo com a narrativa bíblica descrita nos evangelhos sinóticos, ao ver
que seus discípulos repreendiam as crianças que queriam vê-lo, Jesus convida as
192
crianças para perto de si e anuncia: “Deixem que as crianças venham a mim e não
as proíbam, porque o Reino de Deus é dos que são como estas crianças. Lembrem-
se disto: Quem não receber o Reino de Deus como uma criança nunca entrará nele”
(Mc 10.14-15). A exegese bíblica sugere que Jesus estava sempre rodeado por cri-
anças quando ensinava e contava histórias para pessoas. E o fato de os evangelis-
tas aludirem a elas, sobretudo, em duas passagens específicas (Mc 9.33-37 e Mc
10.13-16 e paralelos) de maneira alguma se deve ao fato de as crianças serem “ino-
centes”, mas ao fato de elas estarem excluídas da sociedade e, sobretudo, serem
dependentes de seus pais.401 A situação de dependência é explorada por diversos
teólogos como crucial para a esfera da fé e da religião,402 mas o teólogo mineiro Ru-
bem Alves propõe ainda outra interpretação para a centralidade da infância, da ne-
cessidade de “ser como criança”, como condição para o Reino de Deus:
[...] quando ele [Jesus] afirma que devemos nos tornar crianças, não está propondo o desamparo. Está, sim, convidando-nos ao jogo da liberdade e criatividade, pré-condições da integridade humana e do renascimento soci-al. A dança, a comemoração e a alegria, substâncias do sábado celestial — o dia em que a produtividade é proibida e tudo é um jogo — são agora so-mente esperança. Elas constituem o material de uma utopia. Na verdade, enquanto agimos devemos incorporar tal esperança — expressando-a e ce-lebrando-a. [...] Os valores do brinquedo requerem a abolição do mundo a-dulto. Pode o jogo ser desprezado só porque é jogado pelos sem-poder? Apenas se você chama de insanidade as tentativas de voar empreendidas por um pássaro de asas feridas. O que é insano não é o seu sofrimento, os seus desajeitados esforços para voar, e sim é insana a mão que lhe partiu as asas. A verdade do jogo se tornará história quando a impotência se con-verter em poder e o que agora é poder for reduzido à impotência. “A menos que você se torne uma criança, jamais entrará no reino dos céus.” A menos que você desista da lógica dominante da presente ordem de coisas e se torne criativo, não viverá para ver o futuro. Estará condenado à extinção.403
Embora a narrativa possa dar margem à possibilidade de subversão à ordem
dominante, ao contrapor a vida de adulto à vida de criança, o peso da responsabili-
401 WEBER, Hans-Ruedi. Jesus e as crianças: subsídios bíblicos para estudo e pregação. São Leo-
poldo: Sinodal, 1986. 402 Friedrich Schleiermacher, por exemplo, fala sobre “o sentimento de dependência absoluta” (Cf.
SCHLEIERMACHER, Friedrich D. F. Sobre a religião. São Paulo: Novo Século, 2000.) e Rudolf Otto, por sua vez, discorre a respeito do “sentimento do estado de criatura” (Cf. OTTO, Rudolf. O Sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007.). Sem incorrer no risco de reduzir a fé a termos sentimen-tais ou psicológicos, Paul Tillich vai definir a fé como “estar possuído por aquilo que nos toca in-condicionalmente” (TILLICH, Paul. Dinâmica da Fé. 6. ed. São Leopoldo: Sinodal, 2001).
403 ALVES, 1987, p. 107.
193
dade e dos compromissos ao coração leve, ao poder de recuperação, a história não
explora essa possibilidade subversiva. Ela apenas projeta uma idealidade da vida
infantil, do “espírito de criança”, para ajudar a enfrentar o corre-corre da vida cotidia-
na. Não há a indicação de uma contestação da ordem social, antes uma sugestão
para sobreviver melhor a ela. Essa leitura crítica sugere uma deformação do “espírito
de criança”, ou antes, a naturalização de uma idealização.
Ainda em relação às crianças, a narrativa destaca seu envolvimento nas his-
tórias que o Capitão Marvel conta para elas. À parte do fato de o Capitão Marvel as-
sumir aqui a função de Jesus (não explícita, mas passível de identificação mediante
um olhar teológico) enquanto contador de histórias e brincalhão, a narrativa destaca
que as crianças realmente se sentem vivendo as aventuras do super-herói. Elas
querem fazer parte do que é o Capitão Marvel. E aqui acontece novamente o con-
traponto à vida adulta, tal como pode ser identificada por Rubem Alves:
As crianças, como já indiquei, estão sempre conscientes de que não apenas assumem o brinquedo, mas que também são autoras do script. Elas não se esquecem das origens humanas de seus jogos, sentindo-se sempre livres para acabar com eles. Permanecem senhoras da situação, o que significa que esta pode ser reorganizada à vontade. Implantam um modelo de orga-nização social no qual as estruturas são definidas pela liberdade humana.
Os adultos igualmente assumem papéis. Porém, não se recordam que o jo-go foi criado por pessoas; esquecem-se de suas origens humanas. Como conseqüência disto, tendem a considerá-lo como sina. Convertem-se naqui-lo que fazem. Não criam os papéis e, por conseguinte, não são os autores das marcações de cena. Ao invés de serem senhores da situação, são por ela dirigidos. O jogo se torna ontologia — um negócio sério que não pode ser modificado. Ele é então batizado como “verdade” e “realidade”. Uma vez que o homem defina o seu jogo como realidade, começa a agir no sentido de forçar os outros a serem realistas, ou seja, a se comportarem de acordo com as regras deste jogo.404
A narrativa sugere um contraponto próximo ao exposto por Alves, ao colo-
car, de um lado, o protagonista amarrado às suas obrigações e, de outro lado, as
crianças vivendo as aventuras que só o super-herói pode viver. Elas não têm como
sair de sua situação de sofrimento, situação esta que pode ser abrandada pelas a-
ções do super-herói. Numa situação de sofrimento, as pessoas (adultas) costumam
se voltar para sua própria situação de dor; são realistas. As crianças, ao contrário, 404 ALVES, 1987, p. 99-100.
194
querem viver as aventuras e combater o mal ao lado de seu herói. E, nesse proces-
so de combate ao mal exterior, existe, claro, igualmente uma relação metonímica
com sua própria situação. Elas buscarão sentido, inspiração no Capitão Marvel.
Mesmo que a história lide com situações ordinárias, comuns, essas situações se
tornam especiais para essas crianças que vivem em hospitais. Entretanto, mais inte-
ressante ainda na narrativa — e aqui se revela um potencial teológico — é que a
esperança das crianças é alimentada pelos jogos da imaginação (por meio do ato de
contar histórias), pelas brincadeiras e passeios, pela disposição do super-herói em
estar ao seu lado, mesmo quando nada mais resta a ser feito.
A esperança nasce quando se torna possível contestar as coisas como são,
quando se torna possível subverter a ordem dada por meio da imaginação e da cria-
ção de símbolos de beleza; ela nasce em protesto ao mundo, mediante o vislumbre
de um mundo novo. É nessa direção que esperança e fé se entrelaçam. Como afir-
mou Rubem Alves: “A esperança consiste em ouvir-se a melodia do futuro. A fé, em
dançá-la”.405 E aqui entra em jogo a questão do sofrimento, porque não se questiona
e se clama por novas ordens sociais sem o sofrimento: “O sofrimento surge quando
descobrimos a existência de uma oposição insuperável entre os nossos próprios va-
lores e aqueles do mundo no qual vivemos. Ele nasce no momento em que chega-
mos à conclusão de que não temos um lar”.406 É do sentimento de impotência diante
de situações de sofrimento, de situações de morte que a esperança emerge.
E aqui vale um breve parênteses porque a teologia nasce justamente dessa
dinâmica entre sofrimento, esperança, impotência e imaginação. A teologia é um
jogo que se joga quando a vida está em jogo. Ela nasce justamente da recusa em
aceitar o mundo como ele é. É a aclamação de uma nova ordem da realidade:
É sobre isso que fala a teologia, qualquer teologia que cresça das entranhas dos homens: o sentido da vida e o sentido da morte. E essa é a razão por que suas contas de vidro não são apenas contas de vidro: elas são pão. Os símbolos são devorados, prestam-se para comer, dão vida. [...] A teologia fala sobre o sentido da vida. Afirmação que pode ser invertida: sempre que
405 ALVES, 1987, p. 187. 406 ALVES, 1987, p. 137.
195
os homens estiverem falando sobre o sentido da vida, ainda que para isso não usem aquelas contas de vidro que trazem as cores tradicionais do sa-grado, estarão construindo teologias: mundos de amor em que faz sentido viver e morrer. E quem não será então que, de vez em quando, provavel-mente no silêncio das insônias ou naqueles momentos em que a vida de um ente querido se dependura sobre o abismo, quem não será, quem não terá sido meio teólogo, invocador de coisas divinas, mágico?...407
Apesar de buscar resolver várias questões atinentes às crianças, desde
passeios, a promover acessibilidade a recursos médicos, lidar com os problemas de
violência doméstica, há o instante em que o super-herói se sente impotente: quando
ele se depara com a situação de morte. Capitão Marvel percebe que não adianta
nada possuir todos os poderes que possui, pois todos eles se revelam inúteis diante
da morte. De certa maneira, essa situação também é percebida em Superman: Paz
na Terra, onde todos os poderes do herói não são capazes de resolver o problema
da fome. E se, no início da narrativa de Shazam: O Poder da Esperança, é possível
perceber uma ruptura com a estrutura clássica do gênero — com a missão — essa
ruptura é novamente evidenciada diante da impotência do herói.
Enfim, toda a história de Shazam: O Poder da Esperança expressa a angús-
tia que super-herói sente, a qual é associada à sobrecarga da vida diária, aos com-
promissos excessivos, à responsabilidade e à impotência diante de situações para
as quais não existem soluções pragmáticas. Esses componentes são identificados
como componentes da vida adulta, cujo contraponto se revela no “coração leve”. A
história aponta que o Capitão Marvel, ao dar esperança às crianças, ao estar ao lado
delas em seus momentos de dificuldade, acaba por renovar sua própria esperança.
E, ao fazê-lo, ele percebe que o mais importante não é necessariamente o que ele
faz enquanto super-herói (e como consequência, enquanto adulto), mas o que ele
pode fazer enquanto menino: ser um parceiro nos jogos da vida. E ser um parceiro
nos jogos da vida, aqui, não é jogar o jogo que os adultos jogam, mas o jogo que as
crianças jogam: o jogo que é feito como imaginação, criatividade, amizade.
407 ALVES, 2005c, p. 144-145.
CONCLUSÃO
Após a jornada ao longo destes capítulos e pelas histórias de Superman:
Paz na Terra e Shazam: O Poder da Esperança é importante resgatar algumas con-
siderações gerais acerca da relação entre teologia e superaventura. Estas conside-
rações podem abrir caminhos para outras análises, de outras histórias do gênero,
sob outros enfoques. Aqui a pergunta específica é por que, afinal de contas, existe
uma proximidade entre a teologia e as narrativas da superaventura? E a resposta
emerge em três perspectivas: temática, metodológica e ideológica (ideal teológico e
não bíblico ou eclesiástico).
Há uma proximidade temática entre a teologia e a superaventura. Em pri-
meiro lugar, porque toda história da superaventura aborda temas preciosos para a
teologia: morte, injustiça, a esperança, o Bem. Toda narrativa da superaventura é,
em geral, uma história de salvação. Há, entretanto, o deslocamento que mantém a
distinção entre ambas. A superaventura identifica o sujeito da ação no super-herói; a
teologia, em Deus, Jesus ou outra divindade de outra religião.
Em segundo lugar, tanto a superaventura quanto a teologia lidam com a
questão da presença do mal e como ele interfere na vida cotidiana. Ao passo que a
superaventura comumente identifica o mal, a violência, fora da humanidade ou situ-
ada em personagens ou grupos específicos, a teologia entende que o mal, chamado
de pecado, pode decorrer de qualquer indivíduo. Nas histórias da superaventura, o
mal geralmente é representado por um supervilão ou uma catástrofe, e a ação do
super-herói é focalizada no combate do supervilão ou na superação da catástrofe.
Os maiores vilões dos super-heróis são frequentemente seres extraterrestres, aliení-
genas, que querem destruir a humanidade, o que dá margem a entender o mal como
198
algo que vem de fora. Mesmo as psicopatologias de certos vilões (como o Coringa,
por exemplo) reforçam a ideia de mal situado ou fora da humanidade. Já para a teo-
logia, especialmente, a protestante, o mal se estende a toda a humanidade, isto é
todos os seres humanos são capazes de realizar maldade.
Em terceiro lugar, a proximidade temática reside na questão do relaciona-
mento e do compromisso que se estabelece entre o herói e a humanidade. Essa mo-
tivação que faz o herói fazer o que faz também encontra associações na teologia.
Por que o super-herói faz o que faz? Pensando teologicamente, por que existe um
Deus que é comprometido com a humanidade? Nessa direção, a resposta teológica
é mais fácil: Deus é comprometido com a humanidade e se relaciona com ela por-
que ele é o criador de todas as coisas. Ele (ou ela) ama sua criação. Já na supera-
ventura as respostas variam: o Homem-Aranha, por exemplo, se compromete com a
humanidade a partir de um princípio ético-moral: “com grandes poderes vêm gran-
des responsabilidades”; Batman, por sua vez, se torna herói por causa da tragédia.
Já o Capitão Marvel se torna herói a despeito da tragédia. A superaventura implica
em um compromisso do super-herói com a humanidade. De forma semelhante, as
histórias de salvação, as sagas e as lendas religiosas sempre expressam uma rela-
ção, um compromisso de Deus com a humanidade. Há, portanto, uma proximidade
temática entre a superaventura e as histórias de salvação de religiões, atinentes, na
verdade, à característica mítica que permeia ambas as narrativas. Entretanto, as
explicações que as teologias e o gênero da superaventura fornecem são diferentes.
Aqui se torna interessante ressaltar a dinâmica da teologia do cotidiano. Às
vezes, não importa qual é a explicação teológica racional que procure responder
como o mundo ou a vida humana são. As pessoas religiosas terão explicações acer-
ca do Bem e do Mal de forma semelhante àquilo que as histórias da superaventura
(e outras histórias também) comunicam. O personagem que quer destruir a humani-
dade vai ser identificado com o mal. A pessoa religiosa identificará nitidamente que o
egoísmo é a razão para a fome, tal como sugere Superman: Paz na Terra. Ela iden-
199
tificará a importância de se manter aceso o “espírito de criança” para não se viver
uma vida adulta infeliz. Em outras palavras, há uma argumentação religiosa compac-
tuada pelas pessoas “comuns” em sua vida diária. Há uma teologia que permeia o
cotidiano que é compartilhada nas histórias em quadrinhos, na superaventura. Isso
não significa impreterivelmente que se trata de algo negativo. É antes pragmático,
reconfortante, consolador, que tem a intenção de sustentar um sentido que seja váli-
do para uma coletividade, mesmo que esse sentido possa reiterar certos valores, ser
conformador, limitado, por carecer de reflexão, etc.
Essa teologia do cotidiano se torna interessante para a investigação à medi-
da que ela possibilita refletir a teologia a partir da representação que é realizada pelo
outro (que não é nem uma instituição religiosa, nem uma academia de teologia). De-
bruçar-se sobre a teologia do cotidiano implica justamente em verificar como esse
“senso teológico comum” interpenetra as mais diferentes narrativas e linguagens que
permeiam a vida social cotidiana, o mundo humano. Nessa direção, as histórias em
quadrinhos em geral e a superaventura em especial se tornam um locus único.
Para os-as teólogos-as que já identificaram uma desintegração da lingua-gem tradicional da fé e da Teologia na esteira da crise da metafísica ociden-tal, a literatura torna-se um campo relevante na medida em que pode ofere-cer à Teologia “linguagens de empréstimo” [...]408
Além de uma proximidade temática, existe uma proximidade metodológica
entre a teologia, as histórias religiosas, e a superaventura. Esse é o aspecto da nar-
rativa, enfatizado no decorrer dos capítulos desta pesquisa até aqui. Trata-se da
forma com que se apresentam os temas. Se, por um lado, as formas de se apresen-
tar a superaventura são distintas (filme, histórias em quadrinhos, etc.), por outro, há
uma “proximidade ritualística”. A vivência teológica e religiosa é sempre um ritual,
uma anamnese, uma rememoração de uma história de salvação que é atualizada
para um novo contexto. Conta-se uma ação extraordinária em prol da humanidade
que não é só histórica, mas que continua nos dias atuais. Enquanto narrativa mítica, 408 CAMPOS, Mônica Baptista. Possibilidade de encontros teológicos-poéticos a partir da mística na
obra de Adélia Prado. In: ROCHA, Alessandro; YUNES, Eliana; CARVALHO, Gilda (Orgs.). Teolo-gias e Literaturas. São Paulo: Fonte Editorial, 2011. p. 61-77. p. 73.
200
o gênero da superaventura é basicamente isso. No fundo, ela conta sempre a mes-
ma história: surge uma ameaça, um herói emerge, uma batalha pelo destino da hu-
manidade acontece, ocorrem vitórias e derrotas parciais e o herói salva o dia no fi-
nal. Ao ser recontada, essa narrativa é enriquecida de elementos da atualidade, quer
sejam inseridos como ornamento (a foto do presidente Barack Obama num cenário)
quer sejam inseridos como elementos principais da narrativa (as histórias sobre o 11
de setembro, por exemplo). Em todo o caso, os mesmos conflitos, angústias, medos,
valores (com algumas supressões, adaptações, transformações) costumam apare-
cer. Há uma tensão constante entre história e atualidade.
Por fim, há uma proximidade ideológica entre a superaventura e a teologi-
a. Essa proximidade ideológica não se refere aqui à inclusão dos elementos axioló-
gicos, mas à intencionalidade que existe na superaventura e na teologia, talvez,
mais na teologia e, especialmente, na Teologia da Libertação, que nas histórias da
superaventura. De uma maneira em geral, teologia e superaventura são expressões
dessa necessidade ou habilidade humana apontada por Durkheim de “conceber o
ideal e de acrescentá-lo ao real”. Entretanto, ao passo que a superaventura visa
uma salvação paliativa, a teologia almeja uma salvação permanente, perene. Não se
trata da supressão de catástrofes, ameaças e mortes, mas da instauração de uma
nova ordem social. Essa é a ideia do Reino de Deus. Trata-se de uma promessa e
também da instauração de uma realidade na qual sofrimento e violência não existem
mais. A superaventura, por sua vez, também procura trazer o ideal para suas repre-
sentações, embora, muitas vezes, ela se restrinja a reiterar a estrutura tal como ela
é. Em todo o caso, tanto a teologia quanto a superaventura querem instaurar uma
nova realidade por meio da concepção e da expressão de um ideal.
Uma das dificuldades encontradas do decurso dessa pesquisa foi a proble-
mática em torno da legitimidade do objeto de pesquisa no âmbito acadêmico. Mes-
mo que essa legitimidade vem sendo construída a partir das inúmeras pesquisas
emergentes acerca das histórias em quadrinhos em geral e do gênero da supera-
201
ventura em particular, desenvolvidas em diversas áreas do saber, da sociologia à
arquitetura, ela ainda não está consolidada. Se, por um lado, se reconhece as histó-
rias em quadrinhos enquanto arte e cultura, a caminhada acadêmica ainda está para
ser explorada. Há muitas possibilidades incursivas a serem delineadas; muitos se-
gredos a serem descobertos. Enquanto produto artístico-cultural, as histórias em
quadrinhos e o gênero da superaventura são riquíssimos em termos de possibilidade
expressiva e analítica, quer seja pelas estruturas narrativas das quais se apropriam,
quer seja pela junção harmoniosa entre texto e imagem e as possibilidades infinita-
mente ricas que as imagens promovem enquanto representação e apresentação da
realidade e de sonhos de uma coletividade.
Para a teologia enquanto área de conhecimento, saber acadêmico, essa
possibilidade analítica ainda não foi nitidamente explorada. As sugestões emergen-
tes acerca dos vínculos e das afinidades possíveis entre a teologia e a superaventu-
ra, independentemente da ênfase e do método de análise, são realizadas por jorna-
listas, linguistas, que, frequentemente por motivações pessoais, buscam paralelos
entre a teologia e a superaventura. Em outras palavras, são antes não teólogos que
se ocupam com os diálogos possíveis entre teologia e histórias em quadrinhos. Isso
não significa que a teologia nunca se ocupou com a arte e a cultura, mas antes que
a teologia tenha se voltado antes para uma arte e uma cultura elitizada: pinturas,
músicas eruditas, filmes considerados Cult e que, portanto, escapam da esfera da
vida ordinária, comum, confundida com as produções da cultura de massa. E isso se
traduz em entraves na medida em que o olhar teológico está viciado em certos pa-
radigmas e não consegue perceber as expressões religiosas que escapam a certas
categorizações. Assim, torna-se bastante complicado debruçar-se sobre a supera-
ventura e até mesmo sobre outras produções culturais da chamada “cultura pop”
dentro de uma academia de teologia, além de envolver um exercício constante de
enumerar justificativas que pudessem amenizar o desconforto dessa tensão.
202
O que muitas vezes corrobora com essa dificuldade em legitimar as histórias
em quadrinhos e o gênero da superaventura enquanto objeto de pesquisa é o fato de
que as histórias em quadrinhos estão envoltas na dinâmica da cultura de massa. En-
quanto tal, elas participam da produção industrial seriada, da lógica e das estratégias
de comercialização atinente ao modo de vida que se consolidou na sociedade capitalis-
ta pós-Revolução Industrial. Isso incomoda determinadas instâncias ou círculos do
saber, à parte, talvez, dos Estudos Culturais, porque se considera que as histórias em
quadrinhos são pouco críticas. Não é, entretanto a ausência de aspectos axiológicos
que tornariam os quadrinhos críticos. É justamente o contrário: a presença de aspectos
axiológicos nas histórias em quadrinhos, enquanto retrato da vida social, pode possibili-
tar ao leitor refletir sobre seu tempo. Assim como a história de Superman: Paz na Terra
pode sugerir que o egoísmo humano é a razão da fome no mundo e mascarar as estru-
turas sociais que corroboram com a desigualdade social, ela também pode sugerir que
é justamente o egoísmo dos países ricos, associado a uma rede imbricada de relações
e interesses, a razão da fome no mundo. Não há uma idealidade perfeita, uma repre-
sentação perfeita nas obras de arte. Toda obra artística é sempre reflexo de um tempo,
retrato de aspectos da sociedade, aspectos de um ideal que permeia essa sociedade,
ou, antes, o artista, e é justamente isso que torna as histórias em quadrinhos um locus
exemplar para se compreender a vida contemporânea. As histórias em quadrinhos
refletem a dinamicidade entre sonhos, preconceitos, visões de mundo de uma coletivi-
dade. Não é satisfatória a alegação de que as histórias em quadrinhos ou a superaven-
tura não mereçam atenção acadêmica por se tratar de “cultura de massa”.
Nesse sentido, partir para uma leitura da superaventura sob uma perspectiva
interdisciplinar — a proposta não foi fazer um tratado teológico, mas antes realizar um
exercício de fronteira na leitura de uma produção cultural que é expressão da vida
humana e, enquanto tal, um emaranhado complexo de concepções, idealizações, este-
reótipos que constituem essa vida — mediada e embasada no pensamento teológico
de Rubem Alves, foi ousado. Pressuposto nesta pesquisa, o pensamento teológico de
Rubem Alves foi fundamental tanto para a interdisciplinaridade quanto para escapar do
203
olhar viciado da teologia. Ao mesmo tempo em que mantém a especificidade da teolo-
gia, o teólogo mineiro amplia o conceito, ao atribuir-lhe uma ênfase antropológica. É a
partir dessa compreensão que também se torna possível reconhecer a importância de
se perceber e se ler a teologia do cotidiano. Assim, houve um duplo desafio: ter que
lidar tanto com o processo de legitimação das histórias em quadrinhos e, mais ainda,
do gênero da superaventura, quanto com a dificuldade ou, antes, a falta de hábito da
teologia em se envolver nessas discussões.
A jornada até aqui indicou o quanto o ser humano está atrelado às histórias
que herda e recebe, lê e ouve, assiste e conta e como a superaventura participa e é
expressão desse processo. E isso também revela o quanto a teologia, enquanto ativi-
dade humana que busca um sentido, se imiscui e pode ser expressa nas mais diferen-
tes produções artísticas e culturais que envolvem e são frutos da vida humana. Mais
ainda, indica o quanto a teologia enquanto saber humano pode ser expropriada, mani-
pulada e até deformada nas histórias de ficção. Em especial, foi possível perceber que
teologia e superaventura lidam com os valores caros ao ser humano, com a estrutura
mítica e com a faculdade humana de conceber o ideal e de acrescentá-lo ao real. Para
o pensamento teológico, revela-se aqui uma possibilidade incursiva, porque não se
trata de perceber os graus de teologicidade de determinadas produções artístico-
culturais tal como usualmente se tem feito a partir do método de correlação. Trata-se
antes de perceber as imbricações, as nuances, as vicissitudes e as tessituras que dão
forma e cor à vida cotidiana, onde a teologia se encontra igualmente imiscuída.
Diante disso, algumas perspectivas de estudos futuros se delineiam no horizon-
te: Por um lado, torna-se interessante analisar os quadrinhos brasileiros e a superaven-
tura no Brasil para verificar até que ponto eles são mera reprodução americana e até
que ponto eles transgridem as fronteiras, bem como qual é o potencial teológico que aí
se revela. É possível perceber um “senso teológico comum” na superaventura brasilei-
ra? Outra abordagem interessante é a utilização das histórias em quadrinhos numa
perspectiva educativa. Há atualmente muito material sendo elaborado pelo governo
204
brasileiro e outras instituições que utilizam os quadrinhos como recurso midiático, es-
tratégia comunicativa. Como esses quadrinhos comunicam? Por outro lado, torna-se
interessante observar o comportamento do consumidor brasileiro das histórias em
quadrinhos. Quais são os usos que esses consumidores fazem dessas histórias? Há
um movimento crescente de sociabilização desencadeado pela cultura pop, movimento
do qual os eventos cosplay são um dos exemplos mais expressivos, que não pode ser
ignorado. Enfim, estas são algumas perspectivas dentro de um caldeirão de possibili-
dades.
Ao final dessa trajetória, o importante é ter claro que a leitura dos quadrinhos
precisa encontrar um equilíbrio saudável entre a inocência e a crítica fatalista, dentro
da tensão entre apocalípticos e integrados identificada por Umberto Eco ou da tensão
entre o produtor do mito e do mitólogo tal como identificada por Roland Barthes. Sem-
pre existirão tensões entre a intencionalidade e a representação nas narrativas, nos
desenhos, nos processos de expropriação ou de inflexão de elementos religiosos,
políticos, sociais, culturais. É necessária a habilidade de poder questionar as naturali-
zações e as inflexões expressas nas múltiplas realidades dos quadrinhos, mas, ao
mesmo tempo, é necessária uma sensibilidade capaz de entender a totalidade da as-
sociação entre conceito e imagem e de que uma produção artística nunca esgota por
completo todas as suas possibilidades representativas. As histórias em quadrinhos e o
gênero da superaventura não devem nem ser tratados com inocência, nem serem
descartados. O fato é que os quadrinhos podem ser tanto um reflexo da realidade
quanto expressão de sonhos e ideais que não são realidade. E a intenção humana, ao
final de tudo, sempre será não a de viver na fantasia dessas representações utópicas
(não reais), mas sim a de querer que essas representações se tornem uma realidade
no contexto em que vive, parafraseando aqui Rubem Alves. Se o ser humano sonha
com super-heróis que voam, dão esperança, combatem o ódio, a violência, a fome,
isso não significa que ele deseja viver nesse mundo representado, mas que esse mun-
do representado possa vir a ser uma realidade no mundo em que vive.
REFERÊNCIAS
A BÍBLIA SAGRADA. Tradução na Linguagem de Hoje. São Paulo: Sociedade Bíbli-ca do Brasil, 1997.
ABRAHÃO, Azis. Pedagogia e Quadrinhos. In: MOYA, Álvaro de. Shazam! 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977. p. 137-170.
ALCÂNTARA, Maria de Lourdes Beldi de. Cinema, Quantos Demônios!. Cultura Vo-zes, Petrópolis, ano 89, n.1, p. 23-31, 1995.
ALVES, Rubem. A gestação do futuro. 2. ed. Campinas: Papirus, 1987.
______. Lições de Feitiçaria. São Paulo: Loyola, 2000.
______. Mares Pequenos — Mares Grandes (para começo de conversa). In: MO-RAIS, Regis de (Org.). As razões do mito. Campinas: Papirus, 1988. p. 13-21.
______. O amor que acende a lua. 11. ed. Campinas: Papirus, 2005a.
______. O enigma da religião. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006.
______. O que é religião? 6. ed. São Paulo: Loyola, 2005b.
______. O suspiro dos oprimidos. 5. ed. São Paulo: Paulus, 2003.
______. Perguntaram-me se acredito em Deus. São Paulo: Planeta, 2007.
______. Por uma educação romântica. 7. ed. Campinas: Papirus, 2008.
______. Variações sobre a vida e a morte ou o feitiço erótico-herético da teologia. São Paulo: Loyola, 2005c.
ANSELMO, Zilda Augusta. Histórias em Quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1975.
206
AZEVEDO, Ezequiel de. Ebal: Fábrica de Quadrinhos: guia do colecionador. São Paulo: Via Lettera, 2007.
BARTH, Karl. A humanidade de Deus. In: ______. Dádiva e Louvor. 2. ed. São Leo-poldo: Sinodal/IEPG, 1996. p. 389-405.
BARTHES, Roland. Introdução à análise estrutural da narrativa. In: BARTHES, Ro-land et al. Análise Estrutural da Narrativa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 19-62.
______. Mitologias. 4. ed. São Paulo: Difel, 1980.
BEATY, Bart. Fredric Wertham and the critique of mass culture. Jackson, MS: Uni-versity Press of Mississippi, 2005.
BELLAH, Robert N. The broken covenant: American civil religion in time of trial. New York: Seabury Press, 1975.
BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspecti-va, 2005.
______. Método científico e hierarquia social dos objetos. In: ______. Escritos de Educação. [Organizado por Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani]. 7. ed. Petrópo-lis: Vozes, 2005. p.35-38.
______. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: UNESP, 2004.
BROWN, Lyn Mikel; LAMB, Sharon; TAPPAN, Mark. Packaging Boyhood: saving our sons from superheroes, slackers, and other media stereotypes. New York: St. Mar-tin’s Press, 2009.
CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Círculo do Livro, [19--].
CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. O Poder do Mito.São Paulo: Palas Athena, 1990.
CAMPOS, Mônica Baptista. Possibilidade de encontros teológicos-poéticos a partir da mística na obra de Adélia Prado. In: ROCHA, Alessandro; YUNES, Eliana; CAR-VALHO, Gilda (Orgs.). Teologias e Literaturas. São Paulo: Fonte Editorial, 2011. p. 61-77.
207
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
CHINEN, Nobu. Aprenda e Faça Arte Sequencial: Linguagem HQ: Conceitos Bási-cos. São Paulo: Criativo, 2011.
CIRNE, Moacy. Para ler os quadrinhos: da narrativa cinematográfica à narrativa quadrinizada. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1975.
CODESPOTI, Sérgio. DC Comics abandona sistema classificatório da Comics Code Authority. Universo HQ, 21.01.2011. Disponível em: <http://www.universohq. com/quadrinhos/2011/n21012011_10.cfm>. Acesso em 20.02.2011.
COOGAN, Peter. Superhero: the secret origin of a genre. Austin: MonkeyBrain Books, 2006.
DINI, Paul. Olhando para o mundo com visão de raios x. In: DINI, Paul; ROSS, Alex. Os Maiores Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini Books, 2007. [s. p.].
DINI, Paul; ROSS, Alex. Shazam: o Poder da Esperança. In: ______. Os Maiores Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini, 2007a.
DINI, Paul; ROSS, Alex. Superman: Paz na Terra. In: ______. Os Maiores Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini, 2007b.
DORFMAN, Ariel; JOFRÉ, Manuel. Super-Homem e seus amigos do peito. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
DUNCAN, Randy; SMITH, Matthew J. The Power of Comics: History, Form & Cul-ture. New York: Continuum, 2009.
DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989.
ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. 6 ed. 1. reimpr. São Paulo: Perspectiva, 2004.
______. O Super-Homem de Massa. São Paulo: Perspectiva, 1991.
______. Seis passeios pelos bosques da ficção. 9. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
208
EISNER, Will. Narrativas gráficas: princípios e práticas da lenda dos quadrinhos. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: Devir, 2008.
______. Quadrinhos e Arte Seqüencial. 3. ed. 1 reimpr. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ELIADE, Mircea. Aspectos do Mito. Lisboa: Edições 70, 1986.
FAGUNDES, Pedro Ernesto. Anticomunismo, Guerra Fria e a América Latina: o caso da Nicarágua. Contemporâneos: revista de artes e humanidades, São Paulo, n.6, p. 1-9, maio./out. 2010. p. 4-5. Disponível em: <http://www.revistacontemporaneos.com.br/n6/artigo2_anticomunismo.pdf>. Acesso em: 20 out. 2011.
FEDEL, Agnelo. Os Iconográfilos: teorias, colecionismo e quadrinhos. São Paulo: LCTE Editora, 2007.
FINGEROTH, Danny. Disguised as Clark Kent: Jews, Comics, and the Creation of the Superhero. New York/London: Continuum, 2007.
______. Superman on the couch: what superheroes really tell us about ourselves and our society. New York/London Continuum, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
FRICKE S., Roberto. Las Parábolas de Jesús: una aplicación para hoy. El Paso, TX: Mundo Hispanico, 2005.
FURQUIM, Fernanda. As maravilhosas mulheres das séries de TV. São Paulo: Pan-da Books, 2008.
GARRETT, Greg. Holy Superheroes! Exploring the sacred in comics, graphic novels, and film. Revised and Expanded edition. Louisville/London: Westminster John Knox Press, 2008.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, [1989].
GIBELLINI, Rosino. A Teologia do Século XX. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002.
209
GIORDANO, Alessandra. Contar histórias: um recurso arteterapêutico de transfor-mação e cura. São Paulo: Artes Médicas, 2007.
GRESH, Lois; WEINBERG, Robert. A Ciência dos Super-heróis. Rio de Janeiro: Edi-ouro, 2005.
GUEDES, Roberto. A Era de Bronze dos Super-heróis. São Paulo: HQ Maniacs, 2008.
______. A Saga dos super-heróis brasileiros. Vinhedo, SP: Editoractiva Produções Artísticas, 2005.
______. No céu de Retro City há um sinal. In: DIAS, Maurício. Retrocity: almanaque 1039. São Paulo: HQ Maniacs/Dínamo Studio, 2010. p.7.
______. Quando Surgem os Super-heróis. Vinhedo: Ópera Gráfica Editora, 2004.
GUSMAN, Sidney. Re: Estatísticas super-heróis [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <[email protected]> em 19.01.2011.
INTERCOM. Anais. Disponível em: <http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1081&Itemid=125>. Acesso em: 20.01.2011.
JANSON, H. W. & JANSON, Anthony E. Iniciação à História da Arte. 2. ed. São Pau-lo: Martins Fontes, 1996.
JOHNSON, Mark Steven. Demolidor: O Homem sem Medo. EUA: Twentieth Century Fox/Regency Enterprises/Marvel Enterprises, Inc./ New Regency/Horseshoe Bay: Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2003. DVD Video (103min). Edição Es-pecial com 2 discos.
JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O que é, afinal, Estudos Culturais? 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p.7-132.
JONES, Gerard. Homens do Amanhã: geeks, gângsteres e o nascimento dos gibis. São Paulo: Conrad, 2006.
KLEIN, Remí. A criança e a narração. Protestantismo em Revista, São Leopoldo, v. 24, p. 42-61, jan./abr. 2011. p. 48. Disponível em:
210
<http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp/article/viewFile/137/169>. Acesso em: 30 Out. 2011.
KNOWLES, Christopher. Nossos deuses são super-heróis: a história secreta dos super-heróis das histórias em quadrinhos. São Paulo: Cultrix, 2008.
KOTHE, Flávio R. O Herói. São Paulo: Ática, 1985.
LADD, George Eldon. Teologia do Novo Testamento.São Paulo: Hagnos, 2001.
LAMB, Sharon; BROWN, Lyn Mikel. Packaging Girlhood: rescuing our daughters from marketers’ schemes. New York: St. Martin’s Press, 2007.
LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e saber de experiência. Re-vista Brasileira de Educação, Campinas, n.19, p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbedu/n19/n19a03.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011.
LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. 4. ed. 3 reimpr. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
LEE, Stan; MAIR, George. Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee. New York: Fire-side/Simon & Schuster, 2002.
LOEB, Jeph; MORRIS, Tom. Heróis e Super-heróis. In: IRWIN, William (Coord.). Su-per-heróis e a filosofia: verdade, justice e o caminho socrático. São Paulo: Madras, 2005. p. 23-31.
MACKENZIE, John. L. Dicionário Bíblico. São Paulo: Paulinas, 1983.
MADRID, Mike. The Supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the history of comic book heroines. [Minneapolis?]: Exterminating Angel Press, 2009.
MARCATTI JR., Francisco. História em quadrinhos: a produção do pensamento livre. Entrevista com Francisco Marcatti Jr. IHU On-Line: Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, ano 7, n. 243, p. 20-22, 12.11.2007.
MARNY, Jacques. Sociologia das Histórias aos Quadrarinhos. Porto: Civilização, 1988.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família ou A crítica da Crítica crítica: contra Bruno Bauer e consortes. São Paulo: Boitempo, 2003.
211
MATTELART, Armand; NEVEU, Érik. Introdução aos Estudos Culturais. São Paulo: Parábola, 2004. 215p. (Na ponta da Língua; 7)
MATTOS, Paulo André Passos de. Entre a história, a vida e a ficção – artes do tem-po. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 28, n. 2, p. 55-67, dez. 2003.
McALLISTER, Matthew P.; SEWELL, JR., Edward H.; GORDON, Ian. Introducing Comics and Ideology. In: McALLISTER, Matthew P.; SEWELL, JR., Edward H.; GORDON, Ian (Ed.). Comics and Ideology. New York: Peter Lang, 2006. p. 1-13. (Popular Culture – Everyday Life; 2)
McCLOUD, Scott. Desenhando Quadrinhos. São Paulo: M.Books, 2008.
______. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2005.
______. Reinventando os Quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2006.
MELLON, Nancy. A arte de contar histórias. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
MENDO, Anselmo Gimenez. História em Quadrinhos: impresso vs. WEB. São Paulo: UNESP, 2008.
MOYA, Álvaro de (Org.). Shazam! 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977.
______. “Os quadrinhos criaram a mitologia do século XX”. Entrevista com Álvaro de Moya. IHU On-Line: Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, ano 7, n. 243, p. 7-11, 12.11.2007.
NDALIANIS, Angela. Comic Book Superheroes: An introduction. In: NDALIANIS, An-gela (Ed.). The Contemporary Comic Book Superhero. New York/London: Routledge, 2009. p. 3-15. (Routledge Research in Cultural and Media Studies; 19)
NYBERG, Amy Kiste. Seal of Approval: the history of the Comics Code. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 1998.
OLIVEIRA, Kathlen Luana de. Por uma política da convivência: teologia, direitos hu-manos, Hannah Arendt. Passo Fundo: IFIBE, 2011.
OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. A teoria do trabalho religioso em Pierre Bourdieu. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia da Religião: enfoques teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 177-197.
212
OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Mulher ao Quadrado: as representações femininas nos quadrinhos norte-americanos: permanências e ressonâncias (1895-1990). Brasí-lia: Editora da UnB/FINATEC, 2007.
OPPERMANN, Álvaro. O doutor que odiava heróis. Superinteressante, São Paulo: Abril, edição 201, p. 32, jun. 2004.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. 24. ed. Petrópolis: Vo-zes, 2009.
OTTO, Rudolf. O Sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007.
RAMOS, Paulo. A Leitura dos Quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009. (Coleção Linguagem & Ensino)
______. A leitura dos quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009.
______. Bienvenido: um passeio pelos quadrinhos argentinos. Campinas: Zarabata-na Books, 2010.
REBLIN, Iuri Andréas. Entre o possível e o impossível: a ciência dos super-heróis. Revista Espaço Acadêmico, Maringá, n. 81, fev. 2008. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/081/81res_reblin.htm>. Acesso em: 02.02.2011.
______. Os super-heróis e a jornada humana: uma incursão pela cultura e pela reli-gião. In: VIANA, Nildo; REBLIN, Iuri Andréas (Orgs.). Super-heróis, cultura e socie-dade: aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida, SP: Idéias e Letras, 2011. p. 55-91.
______. Outros cheiros, outros sabores… o pensamento teológico de Rubem Alves. São Leopoldo: Oikos, 2009.
______. Para o alto e avante: uma análise do universo criativo dos super-heróis. Porto Alegre: Asterisco, 2008.
______. Poder & Intrigas, uma novela teológica: considerações acerca das disputas de poder no campo religioso à luz do pensamento de Pierre Bourdieu e de Rubem Alves. Protestantismo em Revista, São Leopoldo, v. 14, p. 14-31, set.-dez. 2007. Disponível em: <http://www3.est.edu.br/nepp/revista/014/ano06n3_02.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011.
213
REYNOLDS, Richard. Superheroes: a modern mythology. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 1992.
ROSS, Alex. A Gênese do Projeto. In: DINI, Paul; ROSS, Alex. Os Maiores Super-Heróis do Mundo. São Paulo: Panini Books, 2007. [s. p.].
SANTOS NETO, Elýdio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da (Orgs.). Histórias em Quadrinhos & Educação: formação e prática docente. São Bernardo do Campo: UMESP, 2011.
SCHAPER, Valério Guilherme. Ética e heroísmo: uma reflexão a partir das histórias em quadrinhos. In: VIANA, Nildo; REBLIN, Iuri Andréas (Org.). Super-heróis, cultura e sociedade: aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Apa-recida: Idéias e Letras, 2011. p. 171-184.
SCHLEIERMACHER, Friedrich D. F. Sobre a religião. São Paulo: Novo Século, 2000.
SILVA, Nadilson Manoel da. Fantasias e Cotidiano nas Histórias em Quadrinhos. São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secult, 2002.
SPONHEIM, Paul R. O conhecimento de Deus. In: BRAATEN, Carl E.; JENSON, Robert W. (Ed.). Dogmática Cristã. São Leopoldo: Sinodal/IEPG, 2002. p. 203-272.
SUPERMAN O RETORNO. Bryan Singer. EUA: Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures/Jon Peters : Warner Home Video, 2006. DVD Vídeo (154 min.) (Edição es-pecial com 2 discos).
SUSIN, Luiz Carlos (Org.). Sarça ardente: Teologia na América Latina: prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2000.
TEIXEIRA, Rafael Farias. O poderoso mercado nerd. Pequenas Empresas Grandes Negócios, São Paulo: Globo, n. 253, p. 32-37, fev. 2010.
TILLICH, Paul. Dinâmica da Fé. 6. ed. São Leopoldo: Sinodal, 2001.
TRINDADE, Levi. DC e a Era de Ouro. In: COLEÇÃO DC 75 ANOS. São Paulo: Pa-nini, 2010, v.1. p. 6-8.
______. DC e a Era de Prata. In: COLEÇÃO DC 75 ANOS. São Paulo: Panini, 2010, v.2. p. 6-11.
214
VERGUEIRO, Waldomiro. Charles Clarence Beck e o Capitão Marvel. Omelete, 15.08.2000. Disponível em: <http://www.omelete.com.br/quadrinhos/charles-clarence-beck-e-o-capitao-marvel/>. Acesso em: 30.01.2011.
______. O Uso das HQS no ensino. In: RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomiro (Orgs.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed. 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2007. p. 7-29. (Coleção como usar na sala de aula)
______. Quadrinhos e educação popular no Brasil: considerações à luz de algumas produções nacionais. In: VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). Muito Além dos Quadrinhos: análises e reflexões sobre a 9ª arte. São Paulo: Devir, 2009. p. 83-112.
______. Super-heróis e cultura americana. In: VIANA, Nildo; REBLIN, Iuri Andréas (Orgs.). Super-heróis, cultura e sociedade: aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Idéias e Letras, 2011. p. 143-170.
VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). Quadrinhos na Educação. São Paulo: Contexto, 2009.
______. Introdução. In: VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). Muito A-lém dos Quadrinhos: análises e reflexões sobre a 9ª arte. São Paulo: Devir, 2009. p. 7-12.
VIANA, Nildo. Breve história dos super-heróis. In: VIANA, Nildo; REBLIN, Iuri André-as (Org.). Super-heróis, cultura e sociedade: aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Idéias e Letras, 2011. p. 15-53.
______. Heróis e Super-heróis no mundo dos quadrinhos. Rio de Janeiro: Achiamé, 2005.
______. O que os quadrinhos dizem? Sociologia ciência e vida, São Paulo: Escala, ano 2, n. 18, p. 62-69, 2008.
______. Prefácio: Um Processo de Superação Intelectual. In: REBLIN, Iuri Andréas. Para o alto e avante: uma análise do universo criativo dos super-heróis. Porto Ale-gre: Asterisco, 2008. p.9-15.
WEBER, Hans-Ruedi. Jesus e as crianças: subsídios bíblicos para estudo e prega-ção. São Leopoldo: Sinodal, 1986.
215
WERTHAM, Fredric. Seduction of the Innocent. 2. ed. New York/Toronto: Rinehart & Company, 1954.
XAVIER, Cristina Levine Martins. Spawn – O Soldado do Inferno: Mito e religiosida-de nos quadrinhos. São Caetano do Sul: Difusão, 2004.
ANEXO A1 – COMICS CODE AUTHORITY (1954)
[Extrato do livro de Amy Kiste Nyberg. Seal of approval: the históry of the Comics Code. Jackson: Univer-
sity Press of Mississippi, 1998. p. 166-169. Tradução própria]
Associação das Revistas em Quadrinhos da América Código dos Quadrinhos 1954 CÓDIGO PARA QUESTÕES EDITORIAIS Padrões Gerais — Parte A
1. 1.Crimes nunca deverão ser apresentados de forma a criar simpatia pelo criminoso, a promover desconfiança das forças da lei e justiça, ou a inspirar outros com o dese-jo de imitar criminosos.
2. Nenhuma história em quadrinhos deverá apresentar explicitamente detalhes e méto-dos específicos de um crime.
3. Policiais, juízes, oficiais do governo e instituições respeitadas nunca deverão ser a-presentadas de forma a criar desrespeito pela autoridade estabelecida.
4. Se um crime é descrito, ele deverá ser enquanto uma atividade sórdida e desagra-dável.
5. Criminosos não deverão ser apresentados de modo a serem tornados glamorosos ou a ocupar uma posição que cria um desejo por rivalidade.
6. Em qualquer instância, o bem deverá triunfar sobre o mal e o criminoso, punido por seus delitos.
7. Cenas de violência excessiva devem ser proibidas. Cenas de tortura brutal, disputas excessivas ou desnecessárias de faca ou arma, agonia física, crimes sangrentos e horríveis deverão ser eliminados.
8. Nenhum método específico ou atípico de esconder armas deve ser mostrado. 9. A morte de oficiais de instâncias de execução da lei como resultado de atividades
criminais devem ser desencorajadas. 10. O crime de sequestro não deverá nunca ser retratado em qualquer detalhe, nem de-
verá ser revertido para o seqüestrador qualquer lucro. O criminoso ou o seqüestrador precisa ser punido em qualquer circunstância.
11. As letras da palavra “crime” nas capas das revistas de histórias em quadrinhos não deverão ser nunca sensivelmente maiores em dimensão que as outras palavras con-tidas no título. A palavra “crime” nunca deverá aparecer sozinha na capa.
12. A limitação no uso da palavra “crime” nos títulos e subtítulos deverá ser exercida.
218
Padrões Gerais — Parte B
1. Nenhuma revista de história em quadrinhos deverá usar a palavra horror ou terror em seu título.
2. Todas as cenas de horror, de derramamento de sangue, de crimes sanguentos ou horríveis, depravação, luxúria, sadismo, masoquismo não deverão ser permitidas.
3. Todas as ilustrações repugnantes, escabrosas e horríveis deverão ser eliminadas. 4. A inclusão de histórias lidando com o mal deverá ser utilizada ou ser publicada so-
mente onde a intenção é ilustrar uma questão moral e em nenhum caso o mal deve-rá ser apresentado de forma sedutora de modo a injuriar as sensibilidades do leitor.
5. Cenas que lidam com, ou instrumentos associados a, mortos-vivos, tortura, vampi-ros, vampirismo, fantasmas, canibalismo e lobisomens são proibidas.
Padrões Gerais — Parte C
Todos os elementos e técnicas não mencionadas especificamente aqui, mas que são contrárias ao espírito e à intenção do Código, e são consideradas violações da boa sensibilidade ou decência, deverão ser proibidas.
DIÁLOGO
1. Profanação, obscenidade, vulgaridade, ou palavras e símbolos que adquiriram um significado indesejável são proibidos.
2. Preocupações especiais para evitar referências a sofrimentos físicos ou deformida-des deverão ser tomadas.
3. Embora gírias e coloquialismos sejam aceitos, o uso excessivo deve ser desencora-jado e sempre que possível a boa gramática deverá ser empregada.
RELIGIÃO
Ridicularizar ou atacar qualquer grupo religioso ou racial não é permitido. FANTASIA
1. A nudez em qualquer forma é proibida, é atentado ao pudor ou indevido. 2. Ilustrações sugestivas e devassas ou posturas sugestivas são inaceitáveis. 3. Todos os personagens deverão ser descritos na vestimenta razoavelmente aceita
para a sociedade. 4. As mulheres deverão ser desenhadas de forma realística, sem exageros de nenhu-
ma qualidade física. NOTA: Deve ser reconhecido que todas as proibições relativas à fantasia, ao diálogo e aos trabalhos artísticos se aplicam tanto especificamente à capa da revista de his-tórias em quadrinhos quanto ao seu conteúdo.
219
CASAMENTO E SEXO
1. O Divórcio não deve ser tratado humoristicamente nem representado como desejá-vel.
2. As relações sexuais ilícitas não são nem para ser insinuadas nem retratadas. Cenas de amor violento assim como anormalidades sexuais são inaceitáveis.
3. O respeito aos pais, ao código moral, e ao comportamento honrável deve ser fomen-tado. Um entendimento simpático dos problemas do amor não é uma permissão para uma distorção mórbida.
4. O tratamento das histórias de romance-amor deverá enfatizar os valores do lar e a santidade do casamento.
5. A paixão ou o interesse romântico não deverá nunca ser tratado no sentido de esti-mular emoções baixas e vis.
6. Perversão sexual ou qualquer inferência ao mesmo é extremamente proibida. CÓDIGO PARA QUESTÕES DE PUBLICIDADE
Estes regulamentos são aplicáveis para todas as revistas publicadas pelos membros da Associação de Revistas de Histórias em Quadrinhos da América. O bom gosto deverá guiar os princípios na aceitação de propaganda.
1. Propagandas de bebidas e cigarros não são aceitáveis. 2. Propagandas de sexo ou de livros sobre instrução sexual são inaceitáveis. 3. A venda de cartões postais de imagens, “pin-ups” “estudos artísticos” ou qualquer
outra reprodução de nudez ou imagens seminus são proibidas. 4. Propagandas para a venda de facas, armas ocultáveis ou imitações de armas realís-
ticas são proibidas. 5. Propaganda para venda de fogos de artifício é proibida. 6. Propagandas referentes à venda de equipamento de jogos de azar ou imagens im-
pressas relativas aos jogos de azar não são aceitas. 7. Nudez com propósitos meritórios ou posturas devassas não serão permitidas nas
propagandas de quaisquer produtos; personagens vestidas não deverão nunca ser apresentadas de modo a ofender ou contrariar o bom gosto ou a moral.
8. Cada editor deverá dar o melhor de si para assegurar que todas as declarações fei-tas nas propagandas estão em conformidade com o fato e evitam interpretações e-quivocadas.
9. Propagandas de produtos médicos, de saúde ou de higiene de natureza questionável são para ser rejeitados. Propagandas de produtos médicos, de saúde ou de higiene aprovados pela Associação Médica Americana, ou pela Associação Odontológica Americana, devem ser considerados aceitáveis se eles estão em conformidade com todas as outras condições do código de publicidade.
ANEXO A2 – CODE FOR COMICS (1948)
[Extrato do livro de Amy Kiste Nyberg. Seal of approval: the históry of the Comics Code. Jackson: Univer-
sity Press of Mississippi, 1998. p. 165. Tradução própria]
Associação dos Editores de Revistas em Quadrinhos
Código dos Quadrinhos
1948
A Associação dos Editores de Revistas em Quadrinhos, percebendo sua responsabilidade para com milhões de leitores de revistas de histórias em quadrinhos e para com o público em geral, exorta seus membros e outros a publicar revistas de histórias em quadrinhos con-tendo somente entretenimento ou educação boa e saudável, e, em nenhum caso, incluir em qualquer revista de histórias em quadrinhos aquilo que possa, de alguma forma, diminuir os padrões morais daqueles que as leem. Em especial:
1. Histórias em Quadrinhos devassas e sexies não devem ser publicadas. Nenhum de-senho deve mostrar uma mulher exposta de maneira indecente ou indevida, e, em nenhum caso, mais nua que em um traje de banho comumente usado nos Estados Unidos da América.
2. Crimes não devem ser apresentados de forma a lançar simpatia contra a lei e a justi-ça ou a inspirar outras com o desejo por imitação. Nenhuma história em quadrinhos deverá mostrar detalhes e métodos de um crime cometido por jovens. Policiais, juí-zes, oficiais do governo, e instituições respeitadas não devem ser retratadas como estúpidas ou ineficientes, ou representadas de modo a enfraquecer o respeito pela autoridade estabelecida.
3. Nenhuma cena de tortura sádica deve ser mostrada.
4. Linguagem obscena e vulgar não deve ser usada nunca. As gírias devem ser manti-das no mínimo e usadas somente quando forem essenciais à história.
5. O divórcio não deve ser tratado humoristicamente nem representado como glamoro-so ou sedutor.
6. Ridicularizar ou atacar qualquer grupo religioso ou racial não é permitido nunca.
ANEXO B1 – LINHA DO TEMPO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
[Extrato do livro de Zilda Augusta Anselmo. Histórias em Quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1975. p. 48-62]
A PRÉ-HISTÓRIA E O PERÍODO INICIAL DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
PERÍODO DA PRÉ-HISTÓRIA: 1820 A 1895. 1820 — Jean Charles Péllerin publica as Estampas de Épinal, na França. 1846-1847 — Rodolf Topffer publica Histoires em estampes, ainda na França, contendo as
aventuras de Monsieur Vieux Bois, de Monsieur Cryptogame e de Monsieur Jabot. 1865 — Wilhelm Busch cria, na Alemanha, Max und Moritz (Juca e Chico). 1884 — F. Thomas, na Inglaterra, cria Ally Sloper. 1889 — Georges Colomb (Christophe) lança a família Fènouillard, na França. 1895 — A Bonne Presse, na França, edita Le Nöel. PERÍODO INICIAL: 1895 A 1909. 1895 — Outcault faz surgir o Yellow Kid no jornal new York World (jornal de Pullitzer). Apa-
rece o primeiro verdadeiro “balão” das HQ. 1897 — Rudolph Dirks cria os Katzenjammer Kids (Os Sobrinhos do Capitão, no Brasil), no
New York Journal. 1902 — Surge uma nova criação de Richard Outcault: Buster Brown, um garoto louro, es-
perto e bem vestido, sempre acompanhado de seu fiel cão Tige, personagem publica-do no New York Herald, onde Outcault passara a trabalhar.7
1903 — Charles Kahles, com Sandy Highlyer e, mais tarde, em 1906, com hairbreadth Har-ry, inicia a HQ de aventuras (Sandy era um jovem valente cujas aventuras tinham o germe das histórias da aviação do futuro).
— Gustave Verbeck, ilustrador e gravador holandês, cria os upside Downs. Esta série conta as aventuras de Little Lady Lovekins e Old Man Mufaroo. Sua importância está no fato de que após ler cada história, basta virá-la de cabeça para baixo para que a ação con-tinue sem interrupção.
1904 — George McManus inicia histórias de famílias com The Newlyweds no jornal World, histórias de um garotinho que está sempre chorando, a despeito dos esforços dos pais para vê-lo feliz.
— Surge a primeira tira diária no Américan de Chicago, por Clara Briggs (A Piker Clerk). Essa tentativa não foi muito feliz. Em 1907, seria repetida com sucesso por Bud Fi-sher.
7 Buster Brown chegou ao Brasil como Chiquinho, tendo sido publicado pela revista O Tico-Tico, de 1905, até a década de 50. Este personagem, além de nos dizer muito por ter sido altamente difundido entre nós, ganhou grande fama em seu país de origem pela influência que exerceu sobre a publicida-de, servindo de propaganda para sapatos de crianças, botões, chapéus, cigarros e uísques. Em Nova Iorque existe o “Museu Buster Brown” (119 East 36th Street). No Brasil, Chiquinho tornou-se famoso juntamente com seus companheiros inseparáveis, o pretinho Benjamim e o cachorro Jagunço.
224
1905 — Winsor McCay cria a HQ Little Nemo in Slumberland (O Pequeno Nemo no País do Sonho), verdadeira obra-prima de elegância, simplicidade e poesia.8
— Na França, surge Bécassine, uma bretã ingênua criada por Languerau (Cauméry), editor da revista La Semaine de Suzette, e por Pinchon. Bécassine erra sempre, levada por sua vontade de praticar o bem e é sempre perdoada pelas mesmas razões.
1906 — Lyonel Feininger, mais tarde um pintor célebre, de nacionalidade alemã, cria para as tiras diárias do Chicago Tribune várias histórias das quais a mais conhecida é a Kin-der-kids. Um garoto magricela e seu amigo gordo viajam ao redor do mundo, em busca de aventuras cômicas ou fantásticas.
1907 — Bud Fisher, retomando a tentativa frustrada de Clara Briggs, publica a primeira HQ diária autêntica (daily strip), com as aventuras de A. Mutt, turfista malandro pouco re-comendável que sempre termina com uma sugestão para as corridas do dia seguinte. Em 1908, Mutt encontra seu companheiro num asilo de loucos e a história toma seu tí-tulo definitivo de Mutt e Jeff.9 Após a morte de Fisher a série vem sendo desenhada por Al Smith.
1908 — Louis Forton cria na França um dos clássicos do gênero: Les Pieds Nickelés, no jornal L’Épatant, lançado em 1907 pela Société Parisienne d’Éditions. É a história de três comparsas, ladrões, trapaceiros, ricos em invenções. Além do desenho terrível, Forton coloca texto sobre os quadrinhos, completando muitas vezes com os balões. Aí são encontradas, segundo os franceses, as primeiras onomatopéias. Embora tendo aparecido num jornal infantil, realmente é uma história para adultos, por suas sátiras políticas e moral abalada.
— É lançado na Itália o Corriere dei Piccoli e então a Itália começa a criar personagens para as HQ. Atilio Mussino cria Bilbolbul, negrinho que sofre desilusões na África, povoada de fantasias em suas produções. Não havia balões nessa história, mas versos sob os desenhos, criação eminentemente italiana.
1909 — O cinema e as HQ (comics) unem-se, quando se realizou o primeiro desenho ani-mado de valor: Gertie, o dinossauro, criação de Winsor McCay.
Encerra-se aqui o Período de 1895 a 1909, considerado por alguns estudiosos
como o período de ouro da HQ, por ser uma época de introdução de grandes inova-ções e de liberdade para a expressão do talento e da originalidade dos desenhistas.
O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO E A DÉCADA DE 30
PERÍODO DE ADAPTAÇÃO: 1910 A 1928.
Este período recebe do anterior uma multiplicidade de estilos de HQ, então nas-cente. Caracteriza-se pela coexistência de duas correntes opostas entre desenhis-tas: a) a dos humoristas que vêem na HQ apenas um divertimento e um entreteni-mento. b) a dos estudiosos, que pretendem intelectualizar os quadrinhos, exploran-
8 Toda noite Little Nemo é levado ao país do sonho. Encontra-se com Flip, anão careteiro que o arras-ta em suas aventuras mais perigosas; Impy, o canibal; Silvers, o cão; o Doutor Pill; a Princesa e seu pai, o rei Morpheus. Toda manhã ele desperta com uma queda da cama (conclusão de todas as his-tórias), que o traz de volta, bruscamente, à realidade. 9 A HQ americana, tornando-se diária, multiplicou sua influência, tomando cada vez mais a força de um verdadeiro fenômeno social.
225
do-os formal e narrativamente. As histórias e os personagens marcantes desse perí-odo acham-se indicados a seguir. 1911 — George Harriman lança Krazy Kat narrando as aventuras de um eterno triângulo: a
gata Krazy Kat, apaixonada por um camundongo, Ignatz, que a detesta e a castiga habitualmente com tijoladas, e o cão de guarda Ofissa B. Pupp, enamorado de Krazy. O cão persegue constantemente Ignatz, a quem sistematicamente agarra para atirá-lo numa cadeia. Harriman é lídimo representante da tendência intelectualizante desse período. Krazy, no dizer do próprio Harriman, é “exploradora vagabunda das regiões da ilusão, que só os ventos percorrem durante o dia e o luar durante a noite”.
1912 — Prossegue nesta época a rivalidade entre Hearst e Pullitzer. Em 1912, quando Ru-dolph Dirks, criador dos Katzenjammerkids, sai do Journal para o World, Hearst não permite que o mesmo leve os personagens por ele criados para o World. No tribunal, foi decidido que Dirks teria o direito de desenhar seus personagens no World, com um novo título, Hans e Fritz, como os chamou inicialmente, para, mais tarde, denominá-los de The Captain and the Kids, nome que é mantido até hoje, inclusive no Brasil (Os Sobrinhos do Capitão). O Journal teria direito aos mesmos personagens e ao título o-riginal da história, que passaria a ser desenhada por outro profissional. O substituto de Dirks foi Harold Knerr que, com seu talento, foi suficientemente capaz de prosseguir as historietas com o máximo de semelhança tornando-se imperceptível a substituição do desenhista.
Como conseqüência do processo Hearst-Pullitzer, mais um passo decisivo foi da-
do para a história das HQ. Organiza-se o comércio das HQ, e Hearst funda o primei-ro grande sindicato distribuidor das HQ: o Internacional News Service, que, em 1914, tornar-se-á o famoso King Features Syndicate. 1912 — Cliff Street cria Polly and her palls, que conta as aventuras da filha de uma família
(as girls strips). 1913 — Criada por George McManus, surge nos EUA a HQ mais marcante desta época,
Bringing up the Father com Jiggs (Pafúncio) como protagonista principal, um trabalha-dor que enriqueceu repentinamente, acompanhado de Maggie (Marocas), sua esposa, ex-lavadeira que rapidamente se torna snob e egoísta, esquecendo suas origens, o que não ocorre com Pafúncio. Os conflitos familiares são tão bem explorados por Mc-Manus que Pafúncio e Marocas10 constituiu a primeira HQ que se tornou internacio-nalmente famosa. O tema da vida em família, a partir de então, passou a ser explora-do por grande número de HQ que a ela se seguiram.
1914 — Na França, é lançado o primeiro número de Bernadette, pela Maison de la Bonne Presse.
— Na Inglaterra, H. S. Foswell lança The Bruin Boys, animais humanizados, vestidos como garotos em trajes britânicos.
1917 — Sydney Smith, seguindo a mesma linha de McManus, lança The Grumps, nos EUA. 1919 — Frank King introduz nos EUA uma nova séria: Gasoline Alley com uma inovação
importante: o envelhecimento progressivo dos personagens, no mesmo ritmo de seus leitores.
— Billy De Beck cria Barney Google, homenzinho de polainas e chapéu-coco que passeia pelos EUA acompanhado de um cavalo de corrida. Um personagem secundário, o
10 Convém lembrar que os nomes dos personagens de quadrinhos às vezes sofrem variações, no Brasil, de uma publicação para outra ou de uma época para outra. Marocas, por exemplo, foi “Sisse-buta” na antiga revista Pan, durante a década de 30; “Henry” é não somente “Pinduca” como também “Carequinha”. Nesta cronologia, limitamo-nos a mencionar o nome pelo qual o personagem é mais conhecido no Brasil.
226
camponês Snuffy Smith, acabará por destronar Barney do papel principal da história. Snuffy aparece no Brasil com seu próprio nome ou mudado para “Zé Fumaça”.
— Milt Gross e R. Goldberg exploram o tema das peripécias de um louco escapado de um asilo em Count Screwloose of Toulouse.
— Elzie C. Segar lança o Thimble Theatre (Teatro do Dedal), série que conta a aventura de uma família maluca.
— A. B. Payne cria Pip (o cachorro), Squeak (o pingüim) e Wilfred (o coelho), animais hu-manizados publicados no daily Mirror.
1920 — Ainda na mesma tendência da exploração do tema família, surge Winnie Winkle, criada por Martin Branner.
— Mary Tourtel cria Rupert, ursinho herói da série The Adventures of the little lost Bear. Os animais que vivem como seres humanos ganham, assim lugar definido nas HQ.
1921 — J. Millar Watt lança, na Inglaterra, no Daily Sketch, a série humorística em quadri-nhos Pop.
1922 — Ed Wheelan lança Minute Movies, série injustamente esquecida, que explorando temas de aventuras emprestados de Ivanhoé e Ilha do Tesouro introduziu o close up na apresentação dos personagens, mesmo antes de sua introdução no cinema.
1924 — Na França, o criador de Pieds Nickelés, Forton, apresenta um novo personagem, Bibi Ficotin, garoto de rua ao estilo francês.
—Pat Sullivan desloca do desenho animado para a HQ um gato triste, solitário, faminto e melancólico que não consegue sequer ser feliz no país dos sonhos, de onde em geral é expulso a pontapés. Trata-se do Gato Félix.
—Harold Gray lança as desventuras de uma órfã na série Little Orphan Annie. Gray, segun-do alguns autores, teria introduzido na HQ uma nova tendência: a HQ que reflete cla-ramente uma ideologia política (de extrema direita, neste caso), representada pela en-carnação simbólica do capitalismo triunfante, por Papai Warbucks, riquíssimo industrial que sempre protege a órfã Aninha.
—Roy Crane cria Wash Tubbs (Tubinho, no Brasil), ponto inicial das HQ de aventuras. Tubi-nho ganhará mais tarde, um amigo, que acabará “roubando” o papel principal da histó-ria, o Capitão César.
1925 — Importante série de aventuras é lançada pelo mestre das HQ na França. Alain Sa-int-Ogan, jornalista que se transfere para as HQ, criando para o Dimanche Illustré dois heróis, um gordo e ruivo e outro magro com cabelos ruivos, Zig e Puce, aos quais em 1926 ele junta Alfred, um pingüim. Zig e Puce marcam uma época importante para as HQ francesas por empregar seu criador exclusivamente os balões e, em geral, um ce-nário tirado ao vivo para os quadrinhos, fixando os lugares por onde viajavam os per-sonagens.
1928 — Surge nos EUA o desenho animado de Mickey Mouse por Walt Disney. O rato mais célebre do mundo entrará em 1930 para as HQ.
O PERÍODO DOS ANOS 30: EXPLOSÃO DOS QUADRINHOS
A renovação da HQ americana, que começa a aparecer no mundo inteiro, proces-
sa-se realmente nos anos 30, sendo antecedida de produções características já em 1929. Nesta década as adventure strips (HQ, de aventura) iriam ganhar uma grande independência. 1929 — Harold Foster coloca em quadrinhos o tema da selva e do homem macaco em Tar-
zan (desenhado por Foster até 1937 e, a seguir, por Burne Hogarth). O personagem romanceado de Edgard Rice Buroughs ganhou maior importância nos quadrinhos e no
227
cinema. (Observe-se que Foster nunca empregou os balões em Tarzan, mas uma nar-rativa direta incorporada aos quadrinhos).
— Concebido por John F. Dille, escrito e adaptado por Nowlan e desenhado por Dick Cal-kins, surge Buck Rogers, antigo tenente da aviação americana que é transportado pa-ra o século XXV. Buck entra em luta na terra, no mar e no espaço contra seu rival Kil-ler Kane cujo sonho é roubar Wilma, noiva de Buck Rogers, e subjugar a terra inteira. Esta foi a primeira história a tratar de forma interessante os temas de ficção científi-ca.11
— Elzie Segar cria seu personagem mais original e duradouro: um marinheiro caolho, de antebraços hiperatrofiados, por consumir muito espinafre, cujo nome era Popeye, que, tendo sido introduzido como personagem secundário, em breve passou a ser o perso-nagem central do Timble Theatre (Teatro do Dedal). Popeye mal sabe ler e ignora bo-as maneiras, mas é dotado de um nobre coração. Isto o leva a apaixonar-se pela feia Olívia Palito. Popeye está sempre às voltas com rivais que querem roubar Olívia, mas consegue sempre vencê-los graças ao espinafre. Em torno de Popeye, há um bom número de personagens interessantes, além de Olívia Palito, tais como: Popa Popeye (o pai centenário), seu filho Swe-pea (Procopinho), Jeep (animal que sabe e diz sem-pre a verdade) e Wimpy (Dudu), intelectual parasita com enorme apetite por hambur-ger. Após a morte de Segar em 1938, a história continuou com Tom Sims, Bela Zaboly e Bub Sagendorf.
— Georges Remi (Hergé) cria na Bélgica, no suplemento semanal do diário Le Vingtième Siècle, o personagem que será o valete da HQ européia: Tintin, escoteiro adolescente, acompanhado de seu cachorrinho Milou, do capitão Haddock, o biruta Tournesol e os bobocas Dupont e Dupont com suas trapalhadas cômicas. Em 1930, Hergé publica seu primeiro álbum: Tintin au pays dês soviets.
1930 — Murat Bernad Young, ou Chic Young, nos EUA, explorando novamente o tema da vida em família, cria Blondie, série que realmente se define quando a heroína Blondie se casa com seu rico e desajeitado admirador Dagwood Bumstead em 1933. Nascem os filhos do casal, Baby Dumpling e Cookie. Esta série, pela sua simplicidade e oti-mismo, conquistou grande popularidade internacional.
— Darrell Mc Clure lança as aventuras de uma menina, Little Annie Rooney, e seu fiel com-panheiro, o cão Zero.
— O camundongo Mickey Mouse, de Walt Disney, é introduzido nos quadrinhos. — Surge Joe Palooka (Joe Sopapo), de Ham Fisher, história de um boxeador com punhos
de aço e coração de ouro. — Nöel Sikles continua a desenhar Scorchy Smith, criado por John Terry. Foi quem utilizou
pela primeira vez o desenho a pincel. 1931 — Chester Gould cria Dick Tracy, herói de aventuras policiais. Dotado de exemplar
honestidade, Dick Tracy foi criado em traços exagerados por Gould, num estilo quase caricatural, com nariz em forma de bico de águia e queixo quadrado, desempenhando a função de um agente policial sempre em luta contra o crime.
1932 — Frank Godwin, um dos melhores desenhistas desse período, criou várias histórias entre as quais a mais marcante é a de Connie, jovem dinâmico, retratado em suas a-venturas sentimentais, policiais e fantásticas.
— Martha Orr cria a série Apple Mary. Esta série será mais tarde confiada a Allen Saunders e Ken Ernst, que a transformarão numa das mais famosas HQ dos Estados Unidos: Mary Worth, uma espécie de conselheira familiar e sentimental.
— Carl Anderson lança Henry (Pinduca ou Carequinha).12 1933 — William Ritt e Clarence Gray criam um cavaleiro do espaço: Brick Bradford (conhe-
cido no Brasil com esse mesmo nome ou como Dick James). Suas aventuras são ora
11 A Folha de São Paulo publica ainda hoje [1975], em tiras diárias, as Aventuras de Buck Rogers. 12 Pinduca é publicado no Suplementos Dominicais da Folha de São Paulo. Anderson faleceu na dé-cada de 40; apesar disso, as historietas, que passaram a ser desenhadas por John Liney, continua-ram a sair até há pouco tempo com a assinatura de Anderson.
228
policiais, ora fantásticas, ora de ficção científica. Viaja através do espaço e do tempo à procura de um tesouro de piratas ou de uma civilização do futuro, buscando penetrar os segredos do átomo.
— Alex Gillespie Raymond, aquele que é tipo como o “mais completo de todos os grandes criadores de HQ”, cria Flash Gordon, uma série de ficção científica; O Agente X-9, his-tória de aventuras policiais; e Jim das Selvas (Jungle Jim), história de aventuras exóti-cas. O Agente X-9 nasceu em resposta a Dick Tracy, em colaboração com o romancis-ta americano Dick Hammet. X-9 é um agente do F.B.I. que combate o crime insinuan-do-se entre os criminosos e utilizando seus hábitos e até seus métodos. O fato de não ter um nome e sim um código (X-9) aumenta o seu caráter misterioso. Bradley, o Jim das Selvas, é um caçador de feras e explorador da África e do Oriente Médio que, sempre junto de seu servidor hindu Kolu e de sua companheira Lil, consegue sobrepu-jar inimigos, traficantes, piratas e agitadores. Sua história aproxima-se da de Tarzan. Na série Flash Gordon, três personagens principais do Planeta Terra, Flash, sua noiva Dale e o professor Zarkov, chegam ao Planeta Mongo e aí se vêem às voltas com o Imperador Ming. É grande o poder de imaginação de Raymond, que apresenta paisa-gens maravilhosas do reino das sombras, da cidade submarina, do país dos homens azuis. Flash Gordon sempre triunfa sobre Ming, a encarnação do mal, depois de com-bates violentos. Em Raymond há uma unidade perfeita entre a imagem e a ação e um estilo incisivo e claro que lhe garantiram o sucesso obtido.
1933 — É lançada Funnies on Parade, primeira revista de HQ, distribuída a título de propa-ganda, pela sociedade Procter and Gamble (produtora de produtos de beleza). Em vir-tude do sucesso dessa edição, publicaram-se várias outras, tais como Famous Funni-es em 1934 (reproduzindo, como a primeira revista publicada, as séries aparecidas na imprensa) e New Fun, em 1935, a primeira revista original de HQ.
— Lançamento de On the Wing (posteriormente denominada Smilin’ Jack), de Zack Mosley, que narra as aventuras de um herói aviador, o capitão Jack. No Brasil, a história apa-receu como Jack do Espaço.
1934 — Milton Caniff, desenhista excepcional, lança Terry e os Piratas, história de um jovem audacioso e vivo e seu amigo Pat Ryan, em busca de uma mina de ouro em algum lu-gar da China. Além de desenhista talentoso, Caniff apresenta em seu estilo uma har-monia entre o diálogo e a ação, entre a narração e a ilustração, o que torna o seu esti-lo, de acordo com alguns especialistas, o estilo clássico das HQ.
— Lee Falk e Phil Davis criam Mandrake, o Mágico que, com sua cartola e sua capa verme-lha e preta, passeia por toda a parte acompanhado por Lothar, africano de grande for-ça física. Mandrake hipnotiza seus adversários, vencendo-os com relativa facilidade, porém encontra um adversário dotado de poderes de magia negra, O Cobra, que lhe cria os maiores problemas no setor da fantasia.
— Al Capp (Alfred G. Caplin) cria L’il Abner (Ferdinando, no Brasil) com um humor bem dife-rente do que existia até então, satirizando aspectos da vida e da sociedade americana. Com sua ingenuidade e inocência, Ferdinando triunfa sobre todos os inimigos, mas sucumbe à corte de sua namorada, Daisy Mae, com quem é obrigado a se casar (1952), por pressão da opinião pública americana. Ele vive em Dogpatch (Brejo Seco), vilarejo pobre sem eletricidade nem água encanada, com seus pais, monstruosos a-nões, e toda a sua família. Al Capp foi apontado pelo romancista americano John Ste-inbeck como o maior escritor contemporâneo e por este indicado à consideração da comissão do Prêmio Nobel, de 1953.
— Aparece o Reizinho (The Little King), de Oto Soglov, criado originalmente na revista The New Yorker.
— Vincent T. Hamlin cria Alley Oop (Brucutu), à semelhança do Popeye. Trata-se de um homem das cavernas que, montado em seu dinossauro, consegue estabelecer a or-dem no reinado de Mu. Por sua noiva Ula, bate-se incessantemente e quando está cansado dos tempos pré-históricos, a imaginação de Hamlin permite que o herói se valha da máquina do tempo do Professor Papanatas, chegando à época de Cleópatra ou das Cruzadas.
229
— Na França, A. Daix cria um personagem arquitradicional distraído e com muitas piadas também tradicionais — O Prof. Nimbus.
1935 — Fred Harman lança o rude e autêntico western com Bronco Piler (mais tarde Red Ryder, ou o Cavaleiro Vermelho) como personagem central.
— Na mesma linha de ação no Oeste, mas com características policiais, aparecem outras duas séries: uma criada por Allen Dean, The King of the Royal Mounted (O Rei da Po-lícia Montada), e outra criada por Flanders, The Lone Ranger (O Zorro).
1936 — Associado a Ray Moore, Lee Falk cria um justiceiro mascarado que reina em selvas longínquas e pertence a uma dinastia estabelecida no século XVII: The Phantom (O Fantasma).
1937 — Inspirado nos romances de cavalaria, Harold Foster cria um novo personagem, que lhe dará o título de representante da tradição clássica na HQ: trata-se do Príncipe Va-lente, filho de um rei destronado de Thule, que se refugia na corte do Rei Arthur. Pelo amor à sua dama (Aleta) e a serviço de seu suzerano, Valente trava combates com dragões e bruxas, com os vikings e os hunos. É a Idade Média representada nas HQ pelo talento de Foster.
— René Pellos, na França, inicia uma série de HQ para adultos: Futurópolis. — Nos EUA é lançada uma revista consagrada inteiramente às histórias de aventuras: De-
tective Comics. 1938 — No Action Comics, criação de Jerry Siegel e desenho de Joe Schuster, surge o Su-
per-Homem, o último sobrevivente do longínquo planeta Krypton. É capaz de voar e é dotado de poderes sobrenaturais com sua visão de raio X. Sem sua capa com o famo-so S, ele nada mais é do que Clark Kent, repórter comum que não é reconhecido se-quer por Louis Lane, colega de redação de quem ele gosta e a quem salvou numero-sas vezes como Super-Homem... O sucesso do Super-Homem foi muito grande, in-centivando o aparecimento de uma legião de super-heróis.
— Apesar da invasão dos mais diversos tipos de aventuras e heróis nas HQ, o humor sem-pre tem seu lugar. É neste ano que Donald Duck (Pato Donald), personagem famoso dos desenhos animados de Walt Disney, vai para os quadrinhos.
— Alfred Andriola, inspirado no personagem de Earl Derr Biggers, passou Charlie Chan para os quadrinhos. É a história de um detetive chinês e seu auxiliar Kirk Barrow, que per-seguem os malfeitores em todo o mundo, em aventuras com suspense e imprevistos.
1939 — Bob Kane cria Batman, o homem morcego, que será “um verdadeiro delírio” nos EUA, por volta de 1965.
Ao finalizar a década de 30, a HQ americana se apresenta em pleno desenvolvi-
mento, exportando as grandes séries para vários países do mundo, que não conse-guiram acompanhar o ritmo explosivo de crescimento que os quadrinhos apresenta-ram nos EUA. Repetindo o caráter cíclico que os grandes fenômenos sociais apre-sentam (o período de apogeu sempre se fazendo seguir de um período de declínio e este sempre antecedendo um novo período de apogeu) a HQ americana também vai encontrar no período de 1940 a 1948 uma fase crítica que Coupèrie (1970) chama de “a crise dos anos 40”.
A DÉCADA DE 40 E A RENOVAÇÃO POSTERIOR
PERÍODO DE 1940 A 1948
230
Este período transcorre sob a influência da 2ª Grande Guerra Mundial, que provo-ca “grande agitação não somente nos comics, mas na vida de seus criadores” (Coupèrie, 1970).
Alguns fatos que desencadearam essa agitação foram: 1º) A proibição das HQ americanas em 1938 na Itália e posteriormente na França, Alemanha
e URSS, gerando uma série de imitações medíocres de personagens e histórias que haviam se difundido por toda a parte. Na Itália, em substituição a “Topolino”, o rato Mic-key, apareceu “Tuffolino”, um garoto; na França não-ocupada, são prestigiados heróis nacionais como Duguesclin, Jean Bart, Jeanne D’Arc, Montcalm, sem nenhum atrativo peculiar; na França ocupada, uma revista nazita, Le Téméraire (O Temerário), procura doutrinar seus leitores para o nazismo.
2º) Na França, organizações religiosas e escolares, confundindo todas as HQ com a proibi-ção política que havia sido feita dessas mesmas histórias, opuseram-se contra toda e qualquer publicação de revistas de HQ. O partido comunista apresentou projeto de lei que visava a proibição de toda HQ estrangeira, projeto esse que foi rejeitado e retoma-do de forma mais suave pelos católicos, que criaram uma comissão de fiscalização das produções em quadrinhos em 1949.
3º) Problemas e obstáculos econômicos, tais como falta de papel e tinta, dificultavam a pro-dução das HQ na Europa.
4º) Mesmo antes da entrada dos EUA na Guerra, e, até mesmo antes de se ter desencade-ado o conflito europeu, alguns desenhistas já haviam tomado posição sobre a questão que eclodiria na Segunda Grande Guerra Mundial. Vêem-se, por exemplo, os heróis de Milton Caniff lutando contra os japoneses, o agente secreto X-9 perseguindo uma rede de espiões dirigida por um capitão alemão, outros heróis se enquadrando na RAF para combater os hunos, ou, de forma mais explícita, um Joe Sopapo lançando um veemente apelo para que os EUA interviessem na guerra e abandonassem sua posição de neutra-lidade.
5º) Com a entrada dos EUA na Guerra, a 8 de dezembro de 1941, os desenhistas de HQ colaboraram com o governo americano, transformando seus personagens e suas histó-rias em verdadeiras armas de propaganda. Joe Sopapo, Jim das Selvas, Dick Tracy, Scorchy Smith, Charlie Chan, Tarzan, O Super-Homem13, Terry e outros entraram em luta contra os japoneses, desfizeram intrigas inimigas, derrotaram espiões e sabotado-res, estabeleceram bases secretas na África, enfim, tomaram parte ativa na Guerra.
6º) Além das HQ se destinarem a civis, muitas delas foram especialmente dedicadas aos militares, verdadeiras sátiras narrando acidentes e peripécias da vida militar como Priva-te Breger, com G. I. Joe14 de D. Breger, ou Sad Sack de George Baker, que tiveram grande sucesso tanto na frente de guerra como na retaguarda. Milton Caniff foi chama-do para produzir uma história especialmente para os “G.I’s”, e então criou Male Call com Miss Lace, como heroína, uma garota pouco tímida e pouco vestida que se entre-gava a aventuras inocentes com os militares. Para dizer da popularidade de Miss Lace, basta lembrar que sua imagem foi encontrada em vários acampamentos militares ao la-do das fotos de Rita Hayworth e Lana Turner.
7º) Alguns desenhistas, afastados de suas funções para se alistarem nas forças armadas, interromperam sua produção. Esta foi entregue a outros desenhistas, nem sempre tão talentosos. É o caso de Bert Christman, um dos desenhistas de Scorchy Smith, e de A-lex Raymond, criador de Jim das Selvas e Flash Gordon.
13 O Super-Homem desmantela uma muralha de submarinos no Atlântico, preparando a invasão alia-da. Esta façanha forçará Göbels, enraivecido, a exclamar em plena sessão do Reichstag: “O Super-Homem é um judeu” (Coupèrie, 1970). 14 G. I. Joe criou o termo “pracinha”, que passou a designar o soldado americano.
231
8º) Mesmo depois de cessada a Guerra, que custou 30.000.000 de vidas humanas, a situa-ção de declínio das HQ não melhorou tão rapidamente. Havia um “certo constrangimen-to dos humoristas em serem engraçados”, o que é muito fácil de se compreender.
Sob a influência desses fatores é que as HQ se desenvolveram de 1940 a 1948, o
que torna sua evolução nessa fase bastante lenta e bem menos explosiva do que no período anterior. Ver-se-á a seguir, em síntese, o que emergiu desse período tor-mentoso, além da utilização dos heróis para a causa militar. 1942 — Aparecem as já citadas criações: G. I. Joe, Sand Sack e Male Call. — Alfred Andriola, o criador de Charlie Chan, lança Kerry Drake, um detetive que vive aven-
turas inverossímeis. — Crockett Johnson produz Barnaby, um garoto de inteligência viva, que habita um mundo
fantástico de elfos, gnomos, duendes como Lancelot, McSnoyd, um duende irônico, Gus, um tímido fantasma, e Gordon, um assustado cão falante. Esta história, pelo seu assunto contrastante com a época, é uma exceção na tendência dos quadrinhos des-ses tempos. No Brasil, Barnaby apareceu como tira diária de O Estado de São Paulo.
1943 — Roy Crane cria Buzz Sawrey (Jim Gordon), piloto da aviação naval com suas aven-turas no Pacífico.
— Walt Kelly lança o personagem Pogo, que ganhará relevo mais tarde numa HQ que é sátira à sociedade norte-americana, através de animais humanizados.
1944 — Frank Robbins lança Johnny Hazard, piloto que realiza suas aventuras nos quatro cantos do mundo.
1946 — Alex Raymond cria Rip Kirby, antigo comandante dos fuzileiros navais que, de volta à vida civil, se torna detetive particular. Kirby resolve inteligentemente seus casos e não apenas com sua força física. Trata-se de um herói intelectual.15
— Para incentivar a produção das HQ, a National Cartoonists Society (N.C.S.), associação encarregada de defender os interesses artísticos e profissionais dos desenhistas, lan-çou nos EUA o “Reuben” (espécie de “Oscar” dos comics, no dizer de Moya, 1970). Trata-se de uma estatueta que representa um quarteto de horrendos gnomos, fazendo ginástica. O Reuben deveria ser entregue ao melhor desenhista do ano.16
— Na Bégica, aparece o semanário Tintin, que retoma o personagem criado por R. Velter, antes da guerra: Spirou, um jovem de roupa vermelha que se tornou um dos mais co-nhecidos heróis da Europa.
— Na Bélgica, Morris cria Lucky Luke, cowboy cheio de bom humor. 1947 — Milton Caniff cria Steve Canyon, antigo capitão da Força Aérea, diretor de uma
companhia de aviação, em constante perigo de falência, o que obriga Canyon a acei-tar missões perigosas.
1948 — Na Itália, G. Borelli e A. Gallopini lançam Tex Willer, em aventuras no Oeste. — Na Inglaterra, o Daily Mirror lança HQ para adultos com Buck Ryan, de Jack Monk, série
de ficção científica; Garth de Steve Dowling (desenho achuriado) e Jane de Pett, per-sonagem criada em 1932, e que fazia de 12 em 12 quadrinhos um strip-tease. (Perry & Aldridge, 1971).
Esse tempo realmente representa um período de declínio para as HQ, que encon-
tra, a seguir, na década de 50, um período de renovação.
15 Kenneth Rexroth, crítico americano, diz que “as histórias de aventuras podem ser reduzidas a dois protótipos: a Ilíada e a Odisséia. Alex Raymond criou Flash Gordon que certamente representa o Aquiles das HQ e quis criar Ulisses, com Rip Kirby” (Coupèrie, 1970). 16 O desenhista premiado em 1946 foi Milton Caniff, sendo vencedores em anos seguintes, entre ou-tros, Al Capp, Chic Young, Alex Raymond, Hall Foster, Walt Kelly, Jules Feiffer, Schulz.
232
O PERÍODO DE RENOVAÇÃO DAS HQ
Após os problemas encontrados na década de 40, a HQ americana irá esbarrar com um novo obstáculo ao seu desenvolvimento: o ataque feito contra as HQ por algumas pessoas de prestígio — psiquiatras, educadores, psicólogos e outros. Es-ses ataques se acentuaram nos anos 50.
A HQ foi acusada de representar para os jovens uma perda de tempo e de aten-ção, de desenvolver a preguiça mental, de não ter nenhuma sutileza, de tornar as coisas demasiadamente fáceis, de falta de estilo e de moral, de humorismo imbecil ou de reduzir as maravilhas da linguagem a grosseiros monossílabos. Com o au-mento da delinqüência juvenil após a Segunda Grande Guerra, esses ataques se tornaram mais violentos e as acusações de psicólogos e pedagogos culminaram com a publicação da obra do psiquiatra Wertham (1954), The Seduction of the Inno-cent (A Sedução dos Inocentes). Nesse estudo, com exemplos de algumas HQ (apenas as más), Wertham aponta a HQ, numa generalização abusiva, como “a fonte de todos os problemas america-nos”.17 Vários estudiosos, todavia, analisaram o problema de forma mais racional e refutaram argumentos como o de Wertham, mostrando que, na realidade, “as HQ não exerciam sobre as crianças uma influência mais nociva do que aquela dos con-tos de fadas ou das histórias de mocinho e bandido”.18
Apesar das sucessivas defesas das HQ, os sindicados norte-americanos subme-teram os desenhistas a uma rigorosa censura. Isto acentuou a crise pela qual pas-savam as HQ, que já vinham sofrendo com a concorrência da TV americana. A essa época, atacantes da HQ prenunciavam sua queda e até o seu desaparecimento, prognóstico totalmente errado, pois não levou em conta a enorme vitalidade e o di-namismo conquistado pelos comics. Assim é que as HQ americanas continuaram no seu desenvolvimento e difusão pelo mundo. 1949 — Walt Kelly apresenta em tiras diárias seu Pogo, surgido anteriormente (1943) numa
revista de quadrinhos. São fábulas que se servem de animais para instruir os homens. Vários são os personagens apresentados: um urso irreverente, Barnstable; uma rapo-sa pérfida, Seminole Sam; um mocho cientista, pseudo-intelectual e charlatão, o Dr. Howland; um cão de capa que perdeu o faro, Beauregard; um porco-espinho, Porky; uma vamp gambá, Miss Mam’zelle Hepzibah, e os dois personagens principais: Albert, um jacaré de personalidade marcante, e Pogo, pequeno sarigüê racionalista e huma-nista que contrapõe seu pensamento rigoroso ao romantismo e lirismo de Albert. To-dos esses personagens habitam o pantanal de Okefenokee, na Geórgia. Coupèrie (1970) assim se refere a Walt Kelly: “mais um filósofo do que um artista, com suas HQ aborda as grandes questões morais, sociais e políticas de sua época. Isso lhe valeu numerosos inimigos, inclusive o Senador MacCarthy, que foi por ele violentamente a-tacado na figura de um chacal, mas também granjeou-lhe o respeito e a admiração
17 Essa campanha contra as HQ se espalhou por quase todos os países que a consumiam, atingindo também o Brasil na década de 50. 18 No Brasil, a EBAL publicou nessa ocasião um folheto, “Reino Encantado”, com uma coletânea de artigos em defesa das HQ.
233
dos intelectuais, contribuindo assim para a reabilitação das HQ”.19 A linha intelectualis-ta criada por Kelly não tardou a ser seguida por vários outros desenhistas e argumen-tistas. Estava lançada a HQ com uma série de intenções, desígnios, preconcepções, alusões políticas, filosóficas e metafísicas.
— Aparece Big Bem Bolt, história de um boxeador, escrita por Elliott Caplin (irmão de Al Capp) e desenhada por John Cullen Murphy.
1950 — Surge Charles Schulz, que se tornará imortal com os Peanuts (Minduim, no Brasil). 900 jornais nos EUA e 100 no estrangeiro publicam suas aventuras, segundo os estu-diosos das HQ. Schulz inicia uma linha de caráter psicológico e metafísico para os seus personagens. Mostra crianças que raciocinam e agem como adultos, em situa-ções “em que a comédia é apenas um véu sobre a tristeza latente, a crueldade que se esconde sob o riso, dando aos Peanuts um caráter doce-amargo e uma sutil ambigüi-dade às vezes desconcertante” (Coupèrie, 1970). Seus principais personagens são Charlie Brown, líder descrente da natureza humana; Lucy van Pelt, menina cínica, cujo irmão Linus, intelectual precoce e frágil, vive preocupado com um cobertor que sempre leva consigo; Schroeder, cujo maior prazer é tocar Beethoven em seu piano de brin-quedo; Pig-Pen, o sujinho, e vários outros personagens. Merece citação especial o ca-so de Snoopy (Xereta, no Brasil), um cão filósofo que, em sua casa, tortura-se com considerações metafísicas. Os Peanuts, como os homens, têm fracassos, fazem per-guntas que não sabem responder, mas... a vida continua.
Charles Schulz é um dos criadores de HQ mais comentados nos EUA por psicó-
logos que analisam as neuroses e fracassos de seus personagens. Schulz é citado até por teólogos, em obras como a de Robert Short, O Evangelho Segundo os Pea-nuts, que estabelece correspondências entre essas aventuras e os textos da Escritu-ra (Marny, 1970). Os traços de Schulz são simples, usando pouco para expressar qualquer alteração psicológica de seus personagens, mas fazendo-o com tal propri-edade que tem sido chamado nos EUA “O Freud dos Comics”. Com Kelly e , logo a seguir com Schulz, renasce com grande vigor a HQ americana com características intelectuais. As histórias humorísticas e de aventuras, no entan-to, continuam a ser produzidas, paralelamente às de caráter intelectual. 1950 — Mort Walker lança Beetle Bailey (Recruta Zero), um soldado desajeitado, e seu
companheiro Killer, o feroz sargento Sarge e os oficiais superiores, todos satirizados com a vivacidade e competência de seu criador.
— É lançada nos EUA a E. C. Horror Comic, com histórias de vampiros e monstros diversos. 1951 — Hank Ketcham mostra com Dennis, the Menace (Pimentinha) a vitalidade da história
de garotos com as aventuras de um menino despenteado e muito vivo, que, com sua falsa inocência, conquista o conformismo de suas vítimas adultas inábeis e impoten-tes.
— Na Argentina, José Luís Salinas cria Cisco Kid, um cowboy. 1952 — Harvey Kurtzmann lança nos EUA a revista MAD, que satiriza personagens das HQ,
modificando o estilo de humor nos EUA e no mundo todo. 1953 — Stan Drake cria The Heart of Juliet Jones (O Coração de Julieta), com as aventuras
romanescas de Julieta e de sua irmã Eva. 1954 — Na Inglaterra, Sidney Jordan cria Jeff Hawke, série de ficção científica. 1956 — Jules Feiffer inicia a primeira série de anti-heróis da HQ, com a história intitulada
Feiffer. O universo de Feiffer é pessimista e depressivo. Nele encontramos Bernard Mergendeiler, um fracassado, devorado por tiques e complexos, além de um grande
19 Acrescente-se que realmente Walt Kelly passou a ser lido pelos universitários americanos e foi quem realmente “pôs os quadrinhos a pensar”.
234
número de jovens sem destino e mulheres neuróticas. Em Feiffer não encontramos sequer cenários. Os personagens, verdadeiros robôs em grandes solilóquios, contam seus infortúnios. É realmente uma “anti-história em quadrinhos”.
— Morre Alex Raymond, e John Prentice passa a desenhar Rip Kirby, “o detetive com ócu-los”.
1957 — Mel Lazarus usa o mesmo ponto de partida de Schulz: crianças inteligentes como personagens centrais. Mas em sua história, Miss Peach, os adultos também encon-tram seus papéis. Na verdade os adultos (Miss Peach, a professora, e o Sr. Grimmis, o diretor da Escola Kelly) são ignorantes, estúpidos e de visão curta, em contraste com o conhecimento superior e a vivacidade das crianças: Márcia, a garota agressiva, Francine, a coquete, Arthur, o desengonçado, e Ira, o tímido.
— Leonard Starr cria Mary Perking on stage (Glória), história de uma atriz, com roteiros ori-ginais e diálogos preciosos que lhe asseguram o lugar de uma das melhores HQ da época.
1958 — Johnny Hart lança B. C. (A. C., Antes de Cristo) com personagens pré-históricos que passam a maior parte de seu tempo em especulações sobre o progresso do mun-do e o futuro das civilizações, servindo-se de seu binóculo pré-histórico e satirizando a sociedade contemporânea.
1959 — Albert Uderzo e René Goscinny criam Vercingètorix, que depois se torna Astérix. Trata-se de uma história gaulesa que pretende perpetuar a tradição francesa da histó-ria em quadrinhos históricos e defender seu folclore, com personagens característicos e uma boa coleção de piadas que inclui até os balões em hieróglifos. Um inquérito rea-lizado na França demonstrou que dois franceses em cada três leram Astérix, o que diz de seu sucesso nesse país.
1962 — Kurtzmann e Elder criam Little Fanny e lançam-na na revista Playboy. Essa história é uma mistura da personagem em quadrinhos, Aninha a pequena órfã, com o primeiro nome de Fanny Hill, antigo romance pornográfico. Little Annie Fanny é um misto de Marilyn Monroe e Brigitte Bardot. Com esta história inicia-se uma tendência erótica nas HQ que não falta nas histórias de aventuras, aparecendo de forma velada e implícita (os eternos noivos, com suas vestes justas, muitas vezes rasgadas, presos seminus e submetidos a torturas). O erotismo se inicia agora, no entanto, de forma explícita e a-berta.
1962 — Jean Claude Forest cria Barbarella, na França. O êxito da série é explicado por ter sido a primeira HQ desenhada por adultos na França, além da beleza de traços dos desenhos. Com Barbarella, a mulher se torna objeto erótico porque ela é o erotismo personificado em mulher.
1962 — Quino (Joaquim Lavados) lança na Argentina Mafalda, personagem que protesta continuamente contra a guerra, as injustiças sociais, os meios de comunicação, a vida rotineira de sua mãe e até contra a “sopa”, que, apesar de detestar, é obrigada a to-mar. Nota-se nitidamente em Quino a influência de Schulz e dos Peanuts. Mafalda vi-ve com amigos, todos crianças, os problemas psicológicos de “adultos”. Contrariamen-te aos Peanuts, Mafalda possui, no entanto, uma consciência política bastante desen-volvida. (Masotta, 1970).
1964 — Na mesma linha dos B. C., surge nova história criada por Brant Parker (desenhista) e Johnny Hart, que se incumbe do texto: The Wizard of I. D. Desta vez a Idade Média foi escolhida para contestar nossa sociedade. Trata-se da história de um rei baixote, pessimista e mau, que habita um castelo com súditos não menos maus, arrogantes e trapaceiros. Prestam-lhe serviços um mágico de capacidade duvidosa e um cavaleiro ardiloso e covarde, que, no entanto, apesar de suas mazelas e defeitos, são as únicas pessoas capazes de demonstrar humanidade. Em The Wizard of I. D. nada vale a pe-na e nada se modifica.
1964 — É lançada na França a revista Chouchou, revelando novos desenhistas franceses como Paul Gillon, com Náufragos do Tempo.
1965 — Peter O’Donnell e Jim Haldaway lançam na Inglaterra Modesty Blaise, série de a-venturas.
235
1965 — É lançada na França a 1ª reedição luxuosa de Pieds Nickelés. — Surge na Itália a revista Linus. — Nos EUA são publicadas Eerie e Creepy, revistas de terror de alto nível. 1966 — É lançada a revista Francesa Phènix, com estudos sobre HQ. 1966/1967 — Guy Pellaert e Pierre Bartier criam, na França, Jodelle (expressão em quadri-
nhos de Sylvie Vartan, segundo Marny) e Pravda (representação de Françoise Hardy, segundo o mesmo autor). (Marny 1970). É o início da pop-art nos quadrinhos, com e-rotismo acentuado.
1967 — Guido Crépax desenha Neutron na revista Linus e depois Valentina, personagem erótica que conquista o público italiano e se difunde por vários países.
1968 — Nicolas Devil cria na França a Saga de Xam. Surgindo num misto de ficção científi-ca e de erotismo, Saga coloca problemas raciais, violência e não-violência. É uma ex-traterrena que vem à Terra a partir de outro planeta, em épocas diferentes, encarrega-da pela Grande Senhora do Planeta Xam, onde vive, de estabelecer na Terra uma pro-teção psíquica contra os invasores do seu planeta. Mas na Terra deixa-se seduzir e ganha os vícios dos homens. Quer assenhorear-se do poder e tornar Xam um planeta forte e vigoroso, mas quer fazê-lo sem violência, pois na realidade Saga se apresenta como uma mensagem de paz e amor.
1969 — R. Crumb apresenta Zap Comix, quadrinhos underground e pornográficos. Percor-rendo o passado da HQ, é relativamente fácil reconhecer que a HQ “não é uma série incoerente de desenhos mas a forma autêntica dos sonhos, das aspirações, das gran-dezas e misérias do nosso século”. (Coupèrie, 1970).
ANEXO C1 — A ORIGEM DO SUPERMAN
[Reprodução de Superman # 1, de Julho de 1939] [Extraído de: SUPERMAN CRÔNICAS. São Paulo: Panini Books, 2007, v.1. p. 196-203]
ANEXO C2 — A ORIGEM DO CAPITÃO MARVEL
[Reprodução de Whiz Comics # 2, de Fevereiro de 1940] [Extraído de: COLEÇÃO DC 75 ANOS: A ERA DE OURO. São Paulo: Panini Comics, 2010 p. 43-55]