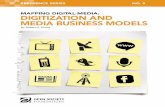A representação da delinquência juvenil nos media noticiosos: estudo de caso do Público e do...
Transcript of A representação da delinquência juvenil nos media noticiosos: estudo de caso do Público e do...
Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciêncîas Sociais e Humanas
Mestrado
Ciências da Comunicacão
Estudos dos Media e de Jornalismo
A representagão da delinquência juvenil nos media noticiosos:
Estudo de caso do Público e do Correio da Manhã (1993-2003)
Maria José Lisboa Brites de Azeredo
Lisboa 2007
Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Mestrado
Ciências da Comunicagão
Estudos dos Media e de Jornalismo
A representagão da delinquência juvenil nos media noticiosos:
Estudo de caso do Púbtico e do Correio da Manhã (1993-2003)
Maria José Lisboa Brites de Azeredo
Dissertagão orientada por: Prof. Dra. Cristina Ponte
Dissertacão co-orientada por: Prof. Dr. Nelson Lourenco
_AJ-> »u?m
Lisboa 2007
Agradecimentos
São várias as sensacôcs ncsta recta final de um caminho tracado nos últimos anos. hoi uma
viagem longa e enriquecedora. O resultado tcria sido impossível sem o apoio de algumas pessoas. a
quem agradeco.
Em primciro lugar, como não poderia deixar de ser, deixo uma palavra de estima aos meus
oricntadores. Â professora Cristina Ponte. por tudo. pela forma entusiasta como ensina e pela
presenca constantc. coníianca e ensinamentos. Ao protessor Nclson Lourenco pelo olhar
multifacetado sobrc o Mundo pcla acutilância e pragmatismo indispensáveis.
Momentos importantcs ncste percurso foram as reuniôes e as contribuicôes dos membros do
projecto de investigacão Crianqas e Jovens em Xotícia (POCI COM 60020 2004). Entre os seus
elementos. agradcco especialmente å Maria João Leote, pela generosidade na transmissão do seu
saber, e â Bruna Atbnso. incansável com o SPSS.
Deixo ainda um agradecimento muito particular aos entrcvistados. sem os quais parte do
trabalho não seria possivel. e ainda â Hemeroteca de Lisboa c â Biblioteca da Câmara Municipal a
Maia.
Aos que estiveram comigo ao longo desta viagem e também nos outros trajectos paralelos da
minha vida deixo aquele beijo amigo.
\
6. Noticiabilidadc das delinquências juvenis em Portugal
Síntese
Síntesc dos dois primeiros capítulos e idenlificacão de perguntas
Capítulo III
Orientacôes Metodolôgieas
1 . Tempos em análise: uma escolha intcncional
2. Análise de conteúdo e análise de discurso
3. Entrevista
4. Condicôes para recolha do corpus
4. 1 . Jornais
4. 2. Protocolo de anáiise cie conteúcio
II Parte
Análise Empírica
Capítulo IV
Jornalismos e Delinquências Juvcnis.
Rnfoques do Pítblico e do Correio cia Manhci
1 . l,ma primeira abordagem aos jomais
2. Algumas consideracôes iniciais sobre as vozes encontradas
3. Algumas consideracôes iniciais sobre os jovens delinquentes e suas
envolvências
Síntcse
Capitulo V
Representacôcs Mediáticas em Tomo das Delinquências Juvcnis,
Rnfoques do Público e do Correio da Manhâ
1. "Portas dc cntrada,, e jomalistas socialmente activos
2. 1 993, uma marca na década
3. 1998, a ,Iusti<;a em discussâo
4. 2000, uma cobertura extraordinária: 2001, ainda com eobertun
Indice de Conteúdos
Introducâo '
I Parte
Fundamentos teôricos e aproximacâo â temática
Capítulo I
Olhares sobre as Juventudes, os seus Desvios e Contcxtos
1 . Ju\ entudes. suas representacôcs c práticas de la/er 8
2. Nos caminhos da delinqucncia 14
3. Evolucão legislativa 16
/. /. Xormas fcice ã Comttnicacåo Social 20
4. As etiquelas e os seus desvios - 1
5. O gcncro. um interesse recentc 26
6. Os gangs e as suas formas29
7. Urbanidades e favorecimento de delinquências 3 1
8. Sentimento dc inseguranca e as delinquencias 33
S. I. Meclo e vitimacâo 39
Síntcse 42
Capítulo II
Pesquisas sobre as Reprcsentacôes
da Cobertura Jornalistica das Delinquências Juvenis 43
1 . As faces do pânico moral 44
/. /. O pcinico moral e os media noticiosos47
1.2. Opánico moral e as temáticas cle risco
2. Enquadramentos da cobertura jornalístiea
2.1. Enquaclramentos cla coberturajornalística: exemplos do olhar episáciico
e cio temátieo
3. Causas e solucôcs ^8
4. Como são noticiados os jovens e os scus actos (~-
5. As vozes das notícias 64
48
\ n
extraordinária, mas mais estável
4.1. 2000. uma cobertwa extra-rotina
4.2. 2001. Público regressa â rotina e CM mantém índi
5. 2003, dez anos depois: o fecho do ciclo
6. Algumas culturas de redaceão
Dcz anos em síntesc
Conclusôes
Bibliografia
Apêndices
índice de quadros e gráfieos
Quadro I: Unidades de redaccâo por anos e por jornais
Quadro II: Localizacão no jomal em páginas abertas
Quadro III: As scccôes de interior
Quadro IV: Géncros Jornalisticos
Quadro V: Assinatura
Quadro VI: Hicrarquia relativa na página
Quadro VII: Valorizacão gráfica e imagem
Quadro VIII: Fontes
Quadro IX: A variaeåo por idade
Quadro X: O modo de actuacão
Quadro XI: O tipo dc crimes
Quadro XII: Local de agressâo
Quadro XIII: País onde ocorre agressão
Gráfico 1 : Evolucâo dc unidades de redac<;ão cntrc Julho de 2000
eJunhode2001
índice de imagens
Imagem 1 : primeira página de O Independente, de 3 de Setembro
Imagem 2: primeira página do Púhlico de 4 de Setembro dc 1993
Imagem 3: primeira página do Público de 5 de Sctcmbro de 1993
Imagem 4: página 14 do Público de 29 de Janeiro de 1998
Imagem 5: página 2 do Público de 1 de Junho de 1998
Imagem 6: página 3 do Públieo dc 1 de Junho de 1998
Imagem 7: página 4 do Público de 1 de Junho de 1998
Imagem 8: primeira página do CA/de 7 de Fevereiro 1998
Imagem 9: primeira página do Público de 2 dc Junho de 2000
Imagem 10: primeira página do Pûblico de 21 de Julho dc 2000
Imagem 1 1 : primeira página do CMch 21 Julho de 2000
Organizámos o trabalho em duas partes principais. Na I Parte damos conta do
enquadramento teorieo. Primeiro. debrucamo-nos sobre a soeiologia da juvcntude. entrando
naturalmente nos caminhos ca delinquência. apresentada de fonna multifacetada. sem se confinar
apenas â sua definicâo legal. Neste primciro capítulo. damos ainda conta da urbanidade incrcnle c
de uma maior tendência dc aceâo grupal, .aetorcs que potenciam scntimentos de inseguranca e
estigmas sociais.
Num segundo capítulo, avancamos com tendências de cobertura noticiosa da delinqucncia.
com abordagem eentrada no pânieo moral, scndo que para nôs a utilizaeao áo tenno pânico moral
não signilîca que considcrcmos que os acontecimentos são unicamcnte ampliados e quc não existem
cnquanto factor de risco re-1. As tendências de cobertura encontradas na revisâo de literatura
mostram uma opcâo por encuadramentos jornalisticos episôdicos. centrados em acontceimentos.
por oposicao aos temáticos, que advêm de trabalhos jornalísticos mais profundos onde
inteiTogaeôes como "porquc" c "como" são apreciadas. A fomia como os jovcns sao noticiados e
quais os ilícitos mais divulgados, bcm como a identificacâo das vo/es mais vczes citadas nas
noticias sobre delinquência, constituem matérias em considcraeao.
No terceiro capítulo adiantamos as indicacocs das orientacôes metodolôgicas. Comccamos
por determinar os períodos em análise e justificar as suas escolhas. Nesta matcria, convém dizer que
inicialmente a recolha do eorpus foi fcita a pensar em extensôes dc um ano. Porém, depois dc uma
análise cuidada a dois anos. chegámos â conclusâo de que seria possívcl reduzir cada um dos
períodos a scis meses. sem dcturpar ou memorizar a pesquisa. O primeiro pcriodo tem iníeio em
1993 e o último em 2003. cncontrando-se aqui um ciclo de 10 anos. Num momcnto seguinte.
ccntramo-nos na rc\ isao teôrica das mctodologias: análisc dc conteiCdo (mais quantitativa). dc
discurso (mais qualitativa) e entrevistas. técnicas ås quais não poderia ser dissociado o esforco de
contexto de cada um dos períodos em \ isionamento. Dc scguida. surge a indicac.ao das eondivoes dc
recolha do corpus c das categorias da análise dc conteúdo.
A II Parte desta dissertayão centra-se na análise empírica dos dados. A obsenacão inicial,
no quarto capitulo, concentra-se num olhar longitudinal sobre os dois periôdicos nos dilercntes
períodos em análise. Esta primcira abordagcm empírica foi ainda complementada com cxccrtos das
entrevistas.
No último capítulo, a pesquisa espccillca cada um dos períodos, fazendo uma ligaeão. que
nos pareceu útil, já no decorrcr da investigav'ão, cntre os scis últimos meses de 2000 e os primeiros
seis meses de 2001 para percebermos de que modo o Caso C'RLCL afecou a cobertura noticiosa da
delinquência juvcnil nos dois pcriôdicos. Por fim, e de forma a complementar a infonnacao sobre os
modos dc produ^ao jornalistica. bcm como a obscrvacão incidcntc sobrc os jornais, criou-sc um
i
Introducâo
Os olhares dos media testemunham o estado dc uma sociedade e também contribuem para a
construcão dessa multipluralidade social. A forma como uma soeiedadc se posieiona em relaeâo aos
jovcns e em particular em relacão aos seus jovens mais problemáticos indica os sinais dos tempos.
Esscs sinais são potcnciados pcla cobertura noticiosa que leva a palavra a milhares de pessoas.
Ao olhannos para a forma como a dclinquência juvenil é veiculada pclos med'ta noticiosos
podercmos melhor compreender a nossa soeiedade. pois julgamos que os media reflectem a
socicdade que temos, mas também a condicionam. numa espiral de relacôcs e argumentacôes. As
cxpressôes, a linguagem e o enquadramcnto noticioso sobre a delinquência juvcnil formatam
conceitos e ideias, constrocm a realidadc, mas também a rcflectem.
Partindo destcs prctextos, quisemos saber como a delinquéncia juvenil c rcpresentada cm
dois jornais de âmbitos diferentes. um de referência. o Público, e um popular. o Correio da Manha.
Ao longo desta pesquisa. entendemos a dclinquência juvcnil no seu sentido plural, partindo do
pressuposto de que há várias delinquéncias e várias juvcntudes, quc vão des.ĩlando pelas páginas
dos jornais. As dclinquêneias, julgamos, podcm eonstituir apenas pontos de partida para
enquadramentos jornalísticos de âmbitos dcscoincidentes. de níveis divcrsos. desde o social ao
político. e. serão. por \ ezcs amplificadas pcla cobertura noticiosa.
A escolha de dois jornais teve também o propôsito de aferir a continuidade c a
dcscontinuidade das duas agcndas. Na senda desse intento. foram seleccionados cinco períodos
distintos de análise. sendo eada um deles cseolhido por um motivo diferente. para eonseguirmos
perccber até que ponto eertos episôdios e inputs sociais e mediáticos podem alterar a cobertura
noticiosa de cada um dos jomais. Conscientcs de que. entre os meios de eomunicaeão social. as
televisoes são um veíeulo importantíssimo de infonnacão, chegámos a considerar a possibilidadc de
analisar um eanal de televisão. pela visibilidade que a violcncia em geral tem nestes meios de
comunicacâo. mas acabámos por nâo o fazer de\ ido a condieionalismos que se prendem com a talta
de condicôes de investigaeâo por esta via em Portugal.
() interesse desta análise prcnde-se, assim, com a vontade de melhor entendermos a
sociedade e a fonna como olhamos e pensamos o outro, atravcs da fonna como os media cobrem a
delinqucncia juvenil. Nâo sendo os únicos actores sociais. os media acabam por vcicular conccitos
que, independentemente de se traduzirem na transmissão em rigor da rcalidade soeial, podem ser
analisados de forma a perceber quais as represcntacôes sociais em si cristalizadas.
Por isto mesmo, espcramos quc a presente disserlaeão sirva da melhor forma estes
propôsitos.
1
campo para reafinnar e expor culturas de redaccíio que inevitavclmente condicionam as diferentcs
cobenuras jomalísticas, mas que também as possibilitam.
I. Juventudes, suas rcpresenta^ôe.s e práticas de lazei
A represcntaC/ão social das crianpas e jovens foi progrcdindo ao longo da historia. Deixaram
de ser vistas apenas como filhos. como cstudiosos ou. ainda. rclacionados com outras gcracoes. por
isso "as várias narrativas da juventudc cmergem em difcrcntes momentos políticos c histôricos e
necessitarâo semprc dc ser imaginadas ou mostradas" (Griffin. 2001: 161). O olhar sobre esta
evolucão tambcm vai dcsvendar como foi cssa mesma socicdade,
Assim, são divcrsas as questôcs colocadas. em culturas e momcntos histôrieos distintos. "O
que é de faeto a juvcntude? [...] Como as demais épocas da vida, cla é uma construcao social e
cultural. Situa-se entre a dependência infantil c a autonomia da idade -dulta [...] é uma 'época da
vida' quc nao pode ser delimitada com clareza" (Dick. 2003: 24).
Picrrc Boudieu apresenta uma das frases que pareeem melhor condensar todas esta^
indefmieoes que o conceito juventude acarreta: "A 'juvcntude' não é mais do que uma palavra"
(Bourdieu, 1980: 143). () autor refcrc-se a cste grupo soeial apontando para a existência de um
universo de juventudes. "o mesmo é dizer de irrcsponsabilidade provisôria: esses 'jovens' situam-se
numa espécie dc tcrra de ninguém. onde sâo adultos para umas coisas e criancas para outras"
(Bourdieu. 1980: 145). Ksta juventude, segundo Bourdieu, enfrenta um jogo de forcas de geracoes
no qual muitas vezes os jovens e os mais velhos sc digladiam na .ransmissao de poder e de
privilégios fazendo também prolongar os limites das juventudes c das veihices.
() olhar para a aclividade desenvolvida pelo jovcm também podc inlluenciar e detcrminar as
balizas dc idade. Mas nâo facilita a delĩnicão do quc c ser joven;. Por excmplo. ser jo\ em agrieultor
em Portugal signifiea ter até 40 anos. Pois bem. assim comprcende-se ciesde logo a dificuldade em
apresentar demarcacôes etárias onde cabe o se:•
jovem. Apesar de tudo. c possível indicar clementos
que compôcm, que constituem e dcfincm o que é ser jovem, em diversos contcxtos, desde os legais,
aos sociolôgicos. passando pelos mediáticos. por exemplo.
Sprinthall e Collins recordam quc noutros momentos historicos os 12 ou 13 anos eram
eonsiderados os marcos da passagem á idade adulta. â idade em que ou.ras responsabilidades eram
pedidas a uma crianca ou a um jovem. () alargamento da escolaridade obrigatoria coiUribuiu
também para o "aumento" da idadc considerada ainda não adulta (2003: 39).
F.mbora em contcxlos difcrentcs. e em fases mais ou menos avancadas. os jo\ens vão
adquirindo uma certa indcpcndcncia face aos mais velhos, embora nâo ^e descartem totalmente das
vantagens de sercm jovens:'
Os jovcns |...| muitas \czes adquirem uma certa indepcndêneia da
geracão mais \elha. mesmo que apenas parcialmente ao morar se -íaradamente dos pais. por
1
\o firiyjiu.1 "ki jeunosse n'est íjii'dh miM".
N
Capítulo 1
Olharcs sobre as Juventudes, os scus Desvios e Contcxtos
'Ví pesquisa sobre a 'juventude'
diz-nos pelo menos tanto sobre cts preocupacoes sociais.
psicotôgicas e polítieas da sociedade adulta quanto nos diz sobre os práprios jovens e a sua
diversidade" (Gn\Tm,200\: 149)
Ao longo das prôximas páginas. pretendc-se dar conta de diversos factorcs que cstâo
intimamente associados âs juventudes. principalmcnte centradas no desvio e na delinquência c em
alguns aspectos cssenciais para a análise empirica. Em cada momento, os olhares direccionados âs
juventudes c os olhares quc elas mesmas dcvolvem. acrcditamos. reilcctcm a evolucão da prôpria
sociedade.
Em primeiro lugar, surge uma partc dcdicada a uma juventude no scntido mais lato do
tenno, embora dando conta de que esta é uma fase da vida muito centralizada em comportamentos
de rcsistência, pelo menos assim são percepcionados pelos adultos.
Na segunda parte, avanca-se para a delinquência propriamente dita. com uma abordagem ã
norma, ao desvio e âs sancôes provenientes da dialéctica entre a norma e o desvio. As subculturas
dclinquentes e as relacôes familiares e entre parcs mostram-sc factores importantes na evolucão das
dclinquências. O terceiro ponto incide num aspecto primordial para a delimitagão da delinquência: a
lcgislacâo aplicada a crianyas c jovcns em perigo. com a abordagcm sumária da Lei de Proteccâo dc
Criancas e Jovens em Perigo (LPCJP) e da Lei Tutelar Lducativa (LTE). As etiquctas que a
sociedade cncontra e coloca a situacôes. pessoas ou grupos são alvo de uma abordagem no quarto
ponto destc trabalho. Parece ser fundamental. tendo em conta a complexidade existente ao nívcl de
relacôes entre infractorcs e não infractores e também pelo facto de cste trabalho pretender, na parte
cmpírica, abordar a forma como os media noticiosos observam e marcam a dclinquêneia.
Prccisamente uma das variáveis a analisar na abordagem empírica é o gcncro e. como tal.
esse c alvo de atengão no ponto cinco. Segue-sc a atencão aos gangs e dá-se algumas indicacôes do
que é um gang. A sctima grande rubrica centra-se nas questôes das urbanidadcs. uma vez que a
dclinquência. embora não scja exclusiva das cidades. é fundamentalmcnte urbana, o mesmo
aconteccndo com o scntimento de inseguranva e a vitimacão. alvo de atenyão sumária no final desta
abordagem sociolôgica da delinqucncia.
7
outro extremo. o jovem operário que não chega sequer a ter uventuce. encontramos hoje toda a
espceie de figuras intennédias" (Bourdieu. 1980: 145). Neste contcxto. as culturas jmenis são
culturas dc classe. eompreendidas como um rcsultado das relacoes amagônieas de classe e. como
tal. vistas como "culturas de resistcncia" (Pais. 2003: 61 ).
Porém, apesar de náo ser possível ncgar a capacidadc explicativa. em dctcrminados
contextos dc análisc, das teorias classistas. certo é quc a juncjk) dc jovcns de divcrsas proveniências
sociais a valores relativamente semelhantes e dificilmente explicávcl pela teoria de classcs (Pais.
2003: 63). Estc sociôlogo cor.sidera ainda que nâo c cxacto que a condicão social estabclega cntre
jovens pertencentes a uma mesma classe soe.al -
uma homogeneidadc eultural ou modos dc vida
cntre esses mesmos jovens.
Em suma, a juvenlude tem sido tomada como um conjunto honogcneo, mormente quando
definida em termos etários. c como heterogcnca, com atributos sociais que diferenciam os jovens
uns dos outros (Pais. 2003: 44). Porém, Machado Pais aponta para uma outra \ ia, onde é nceessário
olhar para a socicdade através do quotidiaiu, dos jovens. para melhor entender os paradoxos da
juventude, e tambcm perccber de que modo a sociedade se traduz na vida dos individuos. As
creneas e as representayôes sociais que os jovens experimertam e conhecem fazem parte dos
contextos vivenciais ou quotidianos (Pais, 2003: 71 ). São. como tal, muitas as heterogeneidades que
constrocm as juventudes.
Por isto mcsmo, será mais correcto manter-sc a ideia da existência de juventudes e ni\o de
uma juvcntude. A scgmentaeao do trajecto da vida em contínuas fases. onde se inclui a juventude. é.
em eonscquência, produto de um eomplcxo processo de "constructio soeial" (Pais. 2003 c Fine:
2004).
() cnfoque sobre o conceito de juventudc não pode ser dissoeiado dc meios de comunicacão.
como os media noticiosos. quc divulgam imagens sobre o mundo e, partieularmente, sobre a
juvcntudc. F.sta "é um mito ou quase um mito que os prôprios media ajudam a difundir. e as notícias
que estcs \eiculam a propôsito da cultura iuvcnil ou de aspeetos fragmentados dcssa cultura
(manifestacôes, moda, delinqjência. etc.) cncontram-se afectadas pela fonna como a tal cultura c
socialmentc defmida" (Pais. 2003: 34 c 35).
F.ste é mais um elemento quc contribui para a já apresentada concepeâo de heterogeneidade
e diversidade relativamcnte â cultura juvcnil, dada a amostra fragmenlada que os media divulgam:
"As eondutas Tiomogcncas* dos jovcns acabarâo. entâo. por ser heteronomas. na exacta medida em
que sáo sugeridas pelos mas.s media, pelo discurso político c por intervenvôcs administrativas de
vária ordem" (Pais. 2003: 34 e 35). Especialmente no contexto do presente trabalho, e sem esquecer
que existem outras juventudes, ê dc rclembrar que os meciia propocm uma coneepcâo dc juventude
10
cxemplo, mcsmo quando os pais continuam a pagar o seu alojamento. Os jovens ainda não vivem
totalmente os papéis de adultos" (Galland. 2003: 168).
Actualmenle. as diferencas entre os jovens que se tornam adultos mais cedo ou mais tarde
sao evidcntes, por cxemplo, sc se pensar nas disparidades culturais cxistcntes entre os paíscs do
Norte e do Sul da Europa, sendo neste último caso mais comum que os filhos vivam durante mais
tempo junto dos pais (Galland, 2003: 1 80).
Ao longo dos séculos, a nocão de que existe uma fasc entre a infância e a idade adulta sofreu
mutacôes. avancos e recuos. A mera defmicão de juventude como uma fase em que já nâo sc c
crianca está ultrapassada e a juventude passou a ter um estatuto, a scr uma nova fasc dc vida com
características prôprias. O jovem é um sujeito temporariamente desadaptado do mundo interior -
quc o anima e precnche totalmcnte em relacão ao mundo real (Galland. 2004: 37). Essa
dcsadaptacão cstá intimamcnte ligada a trcs imagens típicas: o sentimentalismo c idealismo: a
intolerância e o espírito de sistema: e a melancolia. I: um estado com excesso de sentimentos, de
cnergia e de idealismo (Galland, 2004: 38).
"A nocâo de juventudc somente adquiriu uma ccrta consistêneia social a partir do momento
em que. cntre a infância e a idade adulta. se comecou a verificar um prolongamento com os
consequentcs 'problemas sociais' daí derivados - dos tcmpos de passagem que hoje em dia
continuam a caracterizar a juventude. quando aparecc rcferida a uma fase da vida" (Pais. 2003: 40).
Fsta ideia da juventude como fasc da vida, que constitui uma cvolucão relativamente a concepcôes
anteriores. relaciona-se com uma das tcorias estruturalistas da sociologia da juvcntude. a corrcnte
geracional.
Segundo esta corrcntc. "os indivíduos experimcntariam o seu mundo, as suas circunstâncias
e os seus problemas como membros de uma geracão. e não. por cxcmplo. como membros de mna
elasse social (como defende a corrente classista)" (Pais, 2003: 50 e 51). De acordo com Machado
Pais, a mais forte erítica que podcria ser feita ã corrente geracional teria a ver com o facto de esta
mostrar a juvcntude como uma entidade homogénea. ICsta abordagem mostra-se dcsajustada. por
exemplo. quando se abordam problemáticas como os "comportamentos desviantes" dos jovens.
scndo a juventudc "marginal" tomada como toda a jmentude (Pais. 2003: 54 e 55).
Relativamentc å corrente classista, Machado Pais alcrta para o lacto de. ncsse contexto, a
transicão dos jovcns para a vida adulta ser sempre pautada por desigualdades sociais. Neste sentido.
o sistcma educativo c a classe social dos jovens acabariam por destinar. por exemplo, que os filhos
dos operários seriam também operários (Pais, 2003: 56). () sociôlogo francês Pierrc Bourdieu aflora
a existência de figuras extremadas assoeiadas ao estado da juventude diferenciado pelas suas
categorias sociais e profissionais: "Entre estas duas figuras extremas, o cstudante burguês e, no
9
proporcionadas por cspacos de lazer que se prolongam com o aumento da escolaridade e também
pclo atraso que existc na entrada no mcrcado de trabalho.
A época da juventude está ligada a práticas dc sociabilidade e de lazer específicas e. por
vezes, exclusivas (Galland. 2004: 213). () reagrupamcnto sistemático e prolongado dos jovens no
universo escolar acaba por gerar gostos prôprios deste meio. A csta ideia. e no contcxto específieo
dcstc trabalho. podcr-sc-ia acrescentar que os grupos estão para alem da eseola. muitas vezes
confinados aos colegas\ izinhos. também eles igualmente importantes c inter-relacionados eom as
atitudes de eada um dos scus elcmentos.
A juventude é mareada por um inicio de uma vida social. quc comcca a ser independcnte.
com as idas ao cinema. â discoteca. a conccrtos rock. a festas e a jogos desportivos (Galland. 2004:
228). Os espacos de lazer são preenchidos de diversas formas e frequentemcnte na presenca de
colcgas. "A impoiláncia que. de uma mancira geral. os joveis atribuem â eonvivialidade pode
interpretar-sc. neste caso. como um signo geracionct/ prôprio das culturas juvenis" (Pais. 2003:
398).
A vida social dos jovcns está associada aos seus pares'colcgas. sendo que existem atributos
que caracterizam os jovcns e os grupos em que se insercm, alguns deles contrastantes com as
nonnas sociais.
As condutas de grupos de jovens designados por tribos" "sao vistas como desalinhadas.
confrontativas. exôtieas. Dc facto, a designa<;ão dc "tribc juveniF é usada para traduzir
sociabilidadcs juvenis quc pautam vivências considcradas 'desestrutuI•adas',' (Pais e Blass. 2004:
14). "Muitos comportamentos das Mribos1 sao vistos como "anômicos', sem scntido. Isso acontece
porque as sociedades adquirem uma rclativa estabilizacao em torno de valores com os quais sc
julgam a si mcsmas" (Pais e Blass. 2004: 17). Robcrt 19 Park aventura-se a dizer que os gangs
exerccm maior poder sobre os jovens que os compôem do que a igreja, a escola ou oulras
instituic6es(Park. 1984: 112).
Assoeiado â ideia de tribo urbana estao determinados conceitos que se passa a eonsidcrar.
Uma "tribo urbana constitui-se como um conjunto de regras específicas (difereneiadoras) ãs quais o
jovem decidc confiar a sua imagem parcial e global. com diferentes mas sempre elevados níveis
de implicacão pcssoaf* (Costa et al. 2000: 91). As tribos pressjpocm ainda que os seus membros
constituam eom relativa elaridade uma imagem. dcsignadamente ao nivel das roupas e da
linguagcm. e um esqucma de atitudcs, sendo o seu conjunto jma menoridade urbana. vedada a
indi\íduos considerados normais. que actuam de acordo com as regras dominantes.
'
"rribo é um clcinento de ci.ii..pusii;_.o dc palavr;i> quc expninc a ideia de olritu (tl.i L_rego 'iihc). isto c. a icsi^lêiicia de c<irpns .|uc sc opôcin
quando sc conlronlani Hsla dimcnsâo de lesi^iciĸia iinipal. siihstantivamente ligada a ideia de atriio. cncontra-se prescntc nt> rcnonieiio tlas
iribos urbanas' (l'ais e l.lass, ^1)04: 14).
12
como um problcma ameacador para a socicdade (Alvcs. 2002: 104). Por cxemplo, em Portugal, nos
finais da década de 1990, e em boa parte fruto de alguns casos mediáticos de criminalidade juvenil,
surgiu uma preocupacão crescente com a delinquência juvenil (Sousa Santos: 2004. 1 ).
Tem também sido alvo dc atencão o facto de o conceito dc juventudc não provir, cm larga
escala, dos seus constituintes, os jovcns. São os adultos, designadamente os pais, a escola, os media
das principais fontes de conhccimento e de criagão de conccitos de juventudc. conceitos esses que
ncm scmpre reflcctem as idcias que os jovens têm de si mcsmos. Para os adultos. os jovens são
muitas vezes caracterizados como irresponsáveis. eom tendência para não cumprirem as regras,
designadamcnte as dos adultos, e de terem uma certa tcndcncia para sercm transgressorcs, ainda quc
isso não signifique quc scjam delinqucntes. com propcnsão para qucbrar regras.
"As reprcsentacôes [cia /uventudej são muilas vezes submetidas ás injluências
ideolôgicas tola/mente exteriores a prôpria juventude. que. pouco a pouco. constifuiu
ttma categoria privilegiada através da qual se exprimem os medos e os fantasmas da
sociedade. Mas as imagens que uma época dci d sua juventude têm sempre qualquer
coisa a ver com a realidade soeictí" (Galland, 2004: 57).
A categoria social juvcntude é fundamcntal para compreender variadas caracteristicas das
sociedades modernas. o funcionamento delas e as suas transformacoes (Dick, 2003: 27). Esta
interaecão social vai fazer com que a análise dos jovens projecte em si imagens que também
rcsultam do que sâo os adultos e do cstádio evolutivo dcssa socicdade e das suas políticas dc
juventude.
As relacôcs sociais são complexas e com divcrsas proveniências c pontos dc chegada. A
forma como são vistos os jovens pelos adultos acaba por influenciar os seus comportamentos e a
forma eomo também eles se posicionam pcrante os outros. Os jovens ajustam as suas atitudes ao
modo como são notados c tratados pclos adultos e instituicôes adultas, bem como pela ibnna como
são vistos e tratados pelos scus amigos e pclo modo como sc querem olhar (Fine, 2004: 2).
A sociedade, dc certa fonna, aprecia os jovens como indivíduos a qucm é dado um certo
crcdito, durantc um período de tempo. para que consigam preparar-sc para o futuro e também para
cometcrem os excessos que depois não serão tolerados. "Trata-se de pensar a juventude como um
pcríodo da vida em quc alguém cstá na posse de um excedente temporal e de um crédito [...]. Ser
jovem e tcr um capital temporal [...]. É o que se chamada 'moratôria vitaF. um facto incgávcl"
(Dick, 2003: 27), caracterizada por um gosto pclo perigo, pelo desafio e pela audácia.
1 1
cspccialmente intcrcssante para laborar sobre os fenômcnos d_\ estiliz_:cão. "A música é o assunto
que mais interessa aos jovens com mais de 15 anos. novc cm cada dez dizem falar de música na
companhia dos scus amigos" (Pasquicr, 2005: 67 e 6S), sendo os estilcs mais aprcciados os quc se
enquadram nos estilos dc "músicas actuais". como o rap e o hip hop. estilos musicais que tambem
acarretam toda uma tendência propria de vcstir de pentcar e de estar na escola. nos grupos e na
socicdade.
Os momentos de lazer são tambcm preenchidos pelas comunica<;oes ã distância, que
implicam interlocutores que podem ser prôximos, de relaeoes simples e também pessoas totalmente
desconhecidas (Pasquier. 2005: 108). "As mudancas dccorrentes do uso do cluit configuram um
caso particular. Conlrariamentc aos e-mails -
e mesmo aos sms . implieam mudancas mais
prôximas do modelo de conversacâo telelonica" (Pasquier. 2005: 137).
Todos estes momentos de lazcr. embora haja outros. prcvavelmente menos visívcis. como a
leitura. fazem parte do ser jovem. A questão é que mcsmo cstas práticas são viveneiadas de forma
diferente e mais ou mcnos in.ensa consoante se lala de jovens de meios sociais onde cstas prátieas
são possívcis e onde existe uma menor supervisâo parcntal. A família teni sido um elemento tĸlo
como basilar. no scnlido cm que podc potenciar ou diminuir .. preponderância dos elementos de
risco e. ainda. serve ela mesma. consoantc a forma como se constitui e actua. de elcmento de
prcvisão dessc mesmo risco.
2. Nos caminhos da delinquência
Do nosso ponto de . ista. são várias e multiíaectadas as or gens dos comportamcntos
delinquentcs. Neste momento. como se perccbe, entra-se numa abordagem de uma juventude
marcadamente des\ iante c delinquente.
O desvio. segundo Giddens. "pode scrdefmido como não-conformidade a eertas normas que
são aceites por um número significante de pessoas numa conunidade ou sociedade. Nenhuma
sociedade pode ser dividida de uma forma simplista entrc aquclcs que sáo desviantes e os quc são
conlbnnes âs nonnas" (1998: 173). As normas sociais sao assistidas p.r sanvoes que promovcm a
conformidade c quc protegem da i.âo-conformidade (Giddens. 1998: 17-1).
Robert K. Meiion defcndcu que a sociedade encoraja o indivíduo a fugir â norma. Segundo
o autor, a socicdade espera que o sujeito tenha sueesso. mas nâo ofereee as condicoes necessárias
para que isso se concrctize. "() processo pclo qual a exaltacão do lĩm gera uma lileral
desmoralizavao. isto é. desinstitucionali/acão dos meios. ocorre em muitos grupos" (Mcrton. I96S:
19
Até aos anos 50, as subculturas juvenis foram identificadas sobrctudo com os fenômenos da
delinquência. Na década scguinte. ccntrou-se atencôcs nos conflitos gcracionais e na de 70 foram
reconhecidas pela capacidade de resistir mediante rituais. Esta última perspectiva cstá associada å
luta de classcs e â reaccio dos jovens da classe trabalhadora â cultura dominante. usando rituais
idcntificativos de grupos e também estilos prôprios como fonnas dc vestir e adopeão de símbolos
(Costae/a/,2000:70e7I).
As tribos urbanas pressupôcm ainda factores que potenciam a desordcm urbana. Uma das
sintomatologias das atitudes agressivas tem a vcr com a inegável imagem de marca quc c fácil de
identificar e que funciona como fonte de orgulho (Costa et al. 2000: 91 e 92). De qualquer modo.
esta qualificacâo de tribos não mostra coincidência cntre as entidades atribuídas a esses grupos dc
jovens e as entidades rcivindicadas (Pais e Blass, 2004: 48). "Os jovens são o que são. mas também
sao (sem que o scjam) o que dcles se pensa, os mitos que sobre eles se criam. [. . . j é quc as palavras
também nos tribalizam. Há um podcr mágico nas palavras, uma vez que representam coisas" (Pais e
Blass, 2004: 13).
Os grupos juvenis têm uma tcndcncia -
que os toma mais apelativos para se situarem â
margcm da rotina social e do quc "pode considcrar-se oficiaî numa cultura" (Costa et al. 2000: 27).
Fstes grupos possuem regras prôprias. que mesmo não sendo faladas sâo conhecidas c se deslocam
no tempo. Em termos simbôlicos. cstabelece-se um círculo "claramente dclineado, que une os que
estâo dentro e separa dos que ficam dc fora. Criam duas identidadcs: a prôpria e a dos outros"
(Costa etah 2000. 2S).
Um dos cxemplos mais evidentcs das manifcstacoes juvenis que podem scr transgressoras é
o easo dos grafftters. "Os grafftters têm um papel duplamente transgressivo e artístico. associacũo
que é encontrada em muitos movimentos estélicos. Mas não é o tipo de exprcssão artística,
enquanto conteúdo. que toma o graffiti transgressivo. mas sim as 'telas' onde o graffiler pinta e
risca" (Gameiro e Dantas, 2000: 310). Nos artigos 212 c 213 do Codigo Penal. há referências que
inibem a concretizacâo de graffuis. A esta punicão legal junta-se a penalidade social dos que
condenam o surgimento de graffiti no espago público. Porém. para alcm desta vertente do graffiti,
há também uma outra que nâo vive å margem da lei. sendo convidados a fazerem trabalhos em
pavilhôes. lojas ou. por excmplo. diseotccas.
Estes jovens olhados como problemáticos e caractcrizados por tcrem condutas de risco,
apresentam gostos musicais. fonnas dc se veslirem e de criarem que. por vezes. os rotulam
precisamcnte por saírem dos parâmetros dos adultos, como a frequência de raves. sâo os hip
hoppers, os rappers enraizados em conceitos quc sc autonomi/.am face ås normas de vestir. de
música e de expressão artísticas dos adultos. Pasquicr considcra que a música é um modelo
13
a pequena eriminalidade eomo o furto e que. eventualmenle. pocierci terminar em
formas mais graves de associacdo ao crime" (Lourcnco e Lisboa. 1992: 14).
Parece incontornável que a família c a eseola cstâo no meio da discussâo cm torno da
delinquência juvenil. Estc enfoquc na família c na escola nasce da certeza de quc a dclinquência c
resultado da incapacidade dcssas duas estruturas de socializacão conseguirem. em muitos casos.
levar a bom porlo as responsabilidades e os deveres que Ihes compctc concrctizar (Moura 1 erreira,
1997: 913). Scgundo o mesmo autor, "a delinquência é \ista como uma falta de controlo. uma
dcmissâo do mundo adulto das suas rcsponsabilidadcs em re!ac;ão å gcracâo mais nova" (1997:
913).
A partir do momento cm que se passa para a sociaiizacão sccundária. bascada na eseola e
nas relayôes grupais entre pa:cs. está-se perante um nível em que comeea a haver um aumento de
exposicoes c infiuências. "Esta cxposigão é nonnalmente vista como uma razao para a emergcneia
da delinquência" (Moura Fcrreira. 1997: 924).
Em Portugal, a nível legislativo a delinquência juvcnil está delimitada cntrc os 12 e os 16
anos. mas há países ondc essa baliza etária é diferente. De qualquer nuxlo. a ní\ el soeiolôgico. ha
também outras referências. ficando apenas uma pequena indicacão. uma ve/ que nem sempre é
concordante. "A frequcncia da actividadc anti-social parece aumentar foilemente entre os 1 2 e os 17
anos, apôs o que se verifica um declínio, bastantc acentuado" (Negreiros. 2001: 46). As
manifestaeôes dc desvio tendem a revclar incidência dc actos infractores por volta dos 11-12 anos,
ao que se segue um crescimerto e um declínio aos 16-17 (Moura Fcrreira. 2000: 55).
A um certo nível, a delinqucncia juvenil é dclimitada a partir da lcgislacão. mas tambcm
pode ser detenuinada ao nível do comportamento que os jovjns cstabeleeem com a família, os
amigos e outros adultos nos espacos onde a delinqucncia desponta (Moura Ferreira, 1997: 916). "()
termo 'delinquentc juvcniF. _omo o tcrmo criminoso, não sc refere apenas a uma denominaeâo
jurídiea. Tem também uma signiíĩcacão dcntro do sistema de regras nao escritas quc podcmos
dcsignar como 'codigo social da vida quotidiana'" (Cohcn. 1971 : 70).
3. Evolucão legislativa
Apcsar dc as questôes jurídicas nâo serem as únicas em accão quando sc l'ala de
delinquência juvcnil, são decisi\as e como veremos mais â frente, no deeorrer da análise empírica,
fundamentais para balizar conceitos.
16
72). Fsta desnivelacão. instabilidade e desorganizacão social anomia3 - vcm forcar o indivíduo a
desviar-se da norma e optar por comportamentos delinquentes. de forma a tentar alcancar os tais
objectivos. que podem ser ter um telemôvel topo de gama. Assim, para Merton. o desvio é uma
consequência das difcrcncas econômicas. A hipôtesc central de Mcrton assenta no pressuposto de
quc "o comportamento desviante pode ser eonsidcrado sociologicamente como um sistema de
dissociacâo entre as aspiracôes culturalmente prcscritas e as vias socialmente estruturadas para
realizar essas aspiracôes" (Merton. 1968: 207).
A estrutura cultural pode ser definida como o conjunto de valores normativos que
administram o comportamcnto eomum dos membros de uma determinada sociedade ou grupo e a
estrutura social é o conjunto organizado de relacôcs sociais no qual os membros são compromctidos
de várias formas (Mcrton, 1968: 236). Se a estrutura social c cultural estivcrem mal intcgradas
com a primeira a demandar um comportamento que a outra ditĩculta , há uma lcnsâo que conduz
ao rompimento das nonnas ou ao seu completo desprczo (Merton. 1968: 237)
Na mesma linha dc Mcrton e das assinaladas difcrencas econômicas. Cohen aponta para o
facto de a escola não dar oportunidadcs iguais aos jovens de classes mais baixas. dando origcm a
uma subcultura4 delinquente. Todas as socicdades sâo difcreneiadas internamentc por diversos
subgrupos. Cada um dclcs apresenta maneiras dc pensar e fazer quc Ihe sâo inerentes e que so
podem ser alcancadas por quem fizer partc dcsscs mesmos subgrupos (Cohen. 1971a: 12). "A
subcultura delinquente constitui uma forma para lidar com os problcmas de ajustamento [...]. Esscs
problcmas são principalmente de estatuto: a algumas criancas é negado o estatuto numa sociedade
rcspeitável porque eles não consegucm atingir os critcrios de um sistema respcitável" (Cohen.
1971a: 121).
Segundo Giddens. as sociedades modernas compôem-se de muitas subculturas c
comportamentos que. mesmo conformes ås normas. podem ser considerados como desviantes pelos
que estâo dc fora desscs grupos subculturais (Giddcns, 1998: 176).
"O delinquente ndo é ttm easo isoiado na família, pelo contrário. num número
signifieativo. ele segue a experiência cie delinquêneia do pai. da mâe ou de uin irmão.
Estes jovens parecem integrar-se ou aproximar-se do que se designa por subcultura
dct de/inquência, expressdo que pretende traduzir um modo cle vicla. relacionado com
1
"A anomia é então coneebida como uma ruptura na estnitura cultural, ocorrendo. particularmentc. quando há uma disjuncâo aguda cntrc as
normas e metas culturais e as capacidades socialmente cstruturadas dos mcmbros do grupo em agir de acordo com as primeiras" (Merton.
WdS: 236 c 237). A anomia rcsulta da impossibilidade de satisfazer aspiraeôes (Moura Fcrreira. 2()00a: ^-\~)4
Nas subculturas. as nonuas são panilbadas apenas pelos actores que dc alguma forma podem beneficiar delas (Cohcn. I()7la: 65).
15
E preciso não se dissociar a I.TE da I.PC.IP no sentido cm quc "há problcmas identitícados
qucr a montante quer a jusanle do processo tutclar cducativo, cuja soiucão depende de um eficaz
funcionamento daquela lci. bem como da existência. na prática. dc fortcs mecanismos de articulacão
entre o sistema tutelar educativo c o sistema de promocâo e proxecũo" (Sousa Santos, 2004: XXV).
O mesmo autor refere-se ao mccanismo existcntc no arligo 43° da L 122: "Pese cmbora a dislincâo
entre criancas em perigo e jovens delinquentes, o legislador não dci.xou de criar pontes de
articulacao entre as duas situacocs. Assim. cabc ao Ministério Público participar âs entidades
competentes a situacão do jovem que earccu de proteccâo social" (2004: 159).
Depois dc sc aludir ao mecanismo de aceao, aqui fica transcrita essa partc da I.'I'E, quc
permitc um cru/amento entrc o regime de proteccão e o tutelar: "1 lCm qualquer fasc do processo
tutelar educati\o. nomeadamente em caso dc arqui\amento. o Ministcrio Público: a) Participa as
cntidades competentcs a situacão dc menor que eareca de proteceão social: b) Toma as iniciativas
proccssuais que sc justificarem relativamentc ao exercício ou ao suprimento do podcr paternal; c)
Requer a aplieacâo de medid_s de proteccâo" (43". no n" 1. LTE).
Mas. afinal. a qucm se destina a LTF2.' () artigo 1° da LTE refcre: "A prátiea. por menor com
idadc comprcendida entre os 12 e os 16 anos\ de facto qualificado pela lci como cruue dá lugar â
aplicacâo de medida tutelar edueativa em conformidade com as disposicoes da presenic lei".
Segundo o disposto no artigo 2", n.'T, da L 1 19 as medidas tutelares cducativas lêm como
objcctivo "a edueacão do menor para o direito e a sua insercâo. de íbrma digna e responsavel. na
vida em comunidade". Para alcm disso, o legislador preocupou-sc em assegurar o princípio tla
intervencâo mínima: "A I.ci Tutelar Educativa aprcsenta os princípios dc adequabilidade,
intervencão mínima. da adesão (dos jovens c dos pais). da proporcionalidade e da leualidade,"
(Sousa Santos. 2004: 183).
De uma Ibnna gencrka. a lei expôe medidas lutelares sem ou com intemamento (sendo esta
úllima medida dc menor aplieacao), no artigo 4", n" 1 : "a) A admoestaeão; b) A privacão do dircito
de condu/ir ciclomotores ou de obter permissao para condu/ir ciclomotores; e) A rcparacão ao
ofendido; d) A realizacao de prestacôes econômicas ou de tarefas a favor da comunidade: e) A
imposicão de regras de conduta; f) A imposicâo de obrigaeecs: g) A frequência dc programas
fonnativos; h) () acompanhamcnto educativo; i) () mtemamento er.i centro educativo". E dc
assinalar que a mcdida i) sô c aplicada em última instcância. sendo a rnedida de internamento em
eentro educativo aplicada cm três tipos de rcgimes, de acordo com o n" 3 do artigo 4":"
a) Rcgimc
aberto; b) Rcgime semiabeilo: c) Regime fechado'2
"
l:xislc ainda o Kegime I special Penal para Jovens com Idade ('ompteeiĸlida entrc os 16 c os 21 Anos (decrelo-I ci n" 401 S2 de 23 dc
Setcmbro). que tamhem ê importante assinalar. unia vc?. que na analisc empirica l.á refcivncia a jovcns que sc incluen. em faixas ctárias quec\lravasain as idndes entrc os 12 e os lfi aaos da III
1S
A nível histôrico. algumas Ordcnacôes já previam "ainda que de forma imperfeita c
rudimentar, normas de proteccão dc criancas c jovens em relacâo ao direito penal" (Sousa Santos.
2004: 127). Mas foi apenas no scculo XX que Portugal comccou a dar mostras da intcrvencão
protcctora do Estado. Essa tendência foi inicialmente protagonizada. ainda que de forma não
absolutamente definida. pela I.ei de Proteceâo da Infåncia, dc 27 de Maio de 1911. quc apresenta
um conjunto dc regras de direito espcciais para menores. Foi cstc decreto quc introduziu na
ordcnacâo jurídica nacional os primeiros tribunais dc menores, as tutorias de infância (Sousa
Santos. 2004: 128). De assinalar. quc cste foi um ordenamento quc comecou por vigorar apenas cm
Lisboa. scndo aprovado em 1912 para o Porto e apenas cm 1925 estendido ao resto do país.
Somente décadas mais tardc, em 1962, é quc se compilou num so texto legal as normas relativas a
criancas com comportamcntos delinquentcs ou outros problemas. dando-se origcm â Organizacâo
Tutelar de Menorcs (OTM). quc viria a scr reformulada em 1978, sendo fortalecido o modelo
intervencionista do F.stado.
Em 2001, abriram-se duas vias dejustica, através da entrada em vigor. a 1 de Janeiro, da Lei
dc Proteccâo dc Criancas c Jovens em Perigo (LPC.IP) (Lci n.° 147/99 de 1 Sctcmbro) e da Lei
Tutelar Educativa (L'l'E) (I.ei n.° 166.99. dc 14 de Setcmbro), separando desta forma o
ordenamento de intervencâo jurídica para as crianvas e jovens em situacôes de perigo c para jovens
que passam ao patamar de vitimadores. embora sem deixar de tcr em atencão "a necessidade de
educacão para o direito e, quando seja caso disso, a aplicacão da medida. Tendo cm conta a
vulnerabilidade dos jovens, em cspecial perante os riscos dc cstigmatizacâo por um processo
judicial [. . .] sô uma decisão rápida pode ter cfcitos pedagôgicos" (Gersão. 2003: 1 50).
Considerando quc a delinquência juvenil é um problema jurídico mas também social.
Boavcntura Sousa Santos aponta para a importância do papel da intervencão da sociedade. ()
mesmo autor. aludindo a Eliana Gersão. considera que a ETFC "rompeu profundamente, do ponto de
vista processual. com o estabelecido na Organizacâo Tutelar de Mcnores. que previa um processo
muito dcsformalizado. privando os jovens de garantias fundamcntais. o quc era incompatível com
os princípios de um Estado de Direito Democrático" (Cit. in Sousa Santos. 2004: 154 e 155).
Quebrou-sc a tradicão dc um modelo paternalista, que favorecia qualquer intcrvencâo do Estado em
favor da ordem social. A entrada em vigor da LTE veio introduzir profundas mudancas na árca da
legislacâo para menorcs em risco. Maria Joâo Leote relembra a inadequacão do modelo
"protcccionista" cm vigor até 2000. assinalando que "a intervencão tutelar terá hojc outra razão de
scr cm funcâo das profundas transformacoes ocorridas nos modos de vida cm toda a sociedade"
(Carvalho, 2003:5).
17
pessoal ou prejudiciais d sua formacdo ou desenvolvimento; ej Está sujeita. de forma
directa oĸ indireclct. a eomportamentos que afectem gravemente a sua seguranca ou o
seu equilíbrio emocivnai; f) Assume comportamentos on se enfrega </ ctclividades 011
consumos que ateetem gravemente a sua saúde, seguranca. fbrma^do. educacdo ou
desenvolvimento sem que os pais. o rcprescntante legal ou quem tenha a guarda de
facto se Ihes oponham de modo adequado a remover essa situacâo" (art" 3". n" 2 a) a
0. LPC.IP).
/. /. Xormas face á Comunicacão Social
Tendo em conta o cnfoque deste trabalho. onde se faz uma análise da forma eomo os meciia
noticiosos reprcsentam aspectos da delinquência juvenil, impona balizar quc. no âmbito da LTE, o
artigo 41° tem disposigocs relativas ao sigilo: "I O proccsso tjtelar é secreto até ao despacho quc
designar data para a audiência preliminar ou para a audiénei... sc aquela não tiver lugar. 2 A
publicidadc do processo faz-sc com respeito pela pcrsonalidade do menor e pela sua vida privada.
devendo, na medida do possível. preservar a sua identidade". líste ordcnamento nâo se dcstina
apenas å comunicacão social. De qualquer modo, a mesma lci tambcm tcm cspecifieidadcs para a
actuacão dos jornalistas. "O juiz, oficiosamente ou a requerimcnto, pocie detcrminar. por despacho
fundamcntado, que a comunicacâo social, sob cominacão de desobediêi.cia, não proceda â narracao
ou ã reproducão dc certos actos ou peeas do processo ncm divulgue a identidadc do menor. 4 A
leitura da decisao é sempre pública^ (art° 97°. n" 3. I.TE).
A proteccão da intimidade cstá prevista no artigo 1 76° para menorcs em centros educati\os:
"/ Os menores inlernados em centro educativo tém o direito a ndo ser
fotografados ou jilmados. bem como a nao presiar deeiaracoes ou a dar entrevistas.
contra a sua vonlade. a árgdos de informacdo; 2 - [ ...} os menores têm o direito a ser
inequivocamenfe inforniados. por um responstivei do centro educaiivo. do teor. sentido
e ohjectivos do pedido de entrevista quc Ihes for dirigido. 3 -
Independentemente do
consentimento dos menores. sdo proihidas: a) Entrevistas que incidam sohre a
factualidade que determinou a intervencdo tute/ar; h, A divulgacdo. por qualquer
meio. de imagens ou de registos fonogrcificos que permitam a identificacdo da sna
pessoa e da sua sifuacdo de intcrnamenio" (art° 1 76, l.TIC).
20
Como já se viu, a LTE possui um enquadramento lcgal para a idade dos jovens vitimadores
que, na prática, deixa de fora muitas situacôes, sendo esta uma problemática amplamente debatida
quando se fala na globalidade do sistcma de ordenamento jurídico de jovens cm risco, ao abrigo da
E'I'E e da I.PCJP. Há, de tacto. um vazio legal no que respeita â resposta que pode scr dada a
mcnores que cometem factos que não cabem na LTE, quer seja por não terem idade ou por não
serem factos considerados crime. cmbora sejam desviantes, sendo por isso avancada por muitos a
necessidadc de um rcgime intermcdio (Sousa Santos. 2004: 292). "As instituicôes (â excepcâo das
da LTE) não estão nem vocacionadas, nem dispostas a receber criangas com comportamentos
dificcis. com comportamentos pré-delinquentes, que carecem de intervencão articulada para que
scjam efectivamente protcgidas. quc carecem dc ponderacão das componcntes pedagbgicas e de
educacão para o dircito" (CACDLG - SIO. 2006: 3 1 ).
A FTF significa o fim da linha c. de certa forma, a necessidade da sua aplicacão revela a
falcncia da aplicacâo a LPCJP. quer no sentido em que o jovem não tenha chegado a ser abrangido
por ela quer porque face a uma intervencão ao abrigo da LPCJP, esta se tenha revclado insuficicnte
c incapaz para evitar quc a crianca em perigo passasse a vitimadora. "Muitas das criancas
abrangidas pela LTE estiveram numa situacão de risco. mas muitas vezes a interveneão nessa área
nâo foi adcquada ou bcm sucedida" (CACDLG SIO. 2006: 42).
Por isso mesmo-
e também porque e.xiste o artigo 43" da LTE e porque os jovcns
delinquentes, tendencialmente, sâo ou já foram \ ílimas -, é importante fazer uma ineursão, ainda
quebreve, å EPCJP:
".-1 intervencåo para promocão dos direitos e proteccão da crianca e do jovem
em perigo tem lugctr quando os pais. o representante iegal ou quem tenha a guarda de
facto ponhctm em perigo a sua seguranca. saúde. formacdo. educacão ou
desenvolvimento. ou quando esse perigo resulte de accdo ou omissdo de tcrcciros ou
da prôpria crianca ou do jovem a que aqueles ndo se oponham de modo adequado a
removê-lo" (art" 3", n'T, LPC.IP).
A EPCJP tipifica situacôes em que as criancas e jovens podem estar em perigo:
~'a) Está abandonada ou vive entregue a si prôpria;
b) Sofre maus-tratos fisicos ou psíquicos ou é vitima de abusos sexuais: c) \do recebe
os euidados ou a afeicão adequados d stta idade e situacdo pessoal; d) E obrigada a
actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados â sua idacie. dignidade e situacao
19
psicolôgieos) e sô tem. quando muito, implicac-ocs marginais na estrutura psíquiea ôo prôprio
indivíduo" (Lemert, 1978: 41). Segundo o autor. o desvio nâo c sign ficante até cstar organizado
dc forma subjectiva c transfonnado em papéis activos (Lemcrt. 1978: 411). 0 desvio secundário
ocorre quando há uma reaegâo social organizada dc rotulagem dos des\ lantcs, que tcm elcs prôprios
que rcorganizar o seu papel na sociedadc. comecando eles mesi'ios a assumircm-sc como
desviantes. "Quando uma pessoa comeea a empregar o scu comportamento desviantc. ou papel
baseado ncssc comportamento, como meio de defesa, ataque ou dc ajustamcnto aos problemas
criados pcla conscquente reaceão social. o seu desvio lorna-se seeundário" (Lemcrt, 197S: 41 2)f\
Os grupos sttciais ou os indi\ íduos que são alvo de controlo e de rotulagem social adoptam.
com maior faeilidade. um tipo de des\ io secundário eomo fonna dc re. eyfio prôpria (I erreira et .//.
1995: 445). lísta estigmatizacåo irá condicionar o comportamento dos desviantes. que podcrao
scntir-se mais ã vontadc eom semelhantes do que eom os quc o estigmatizam. através de uma
identidade análoga. que pcrmita melhor resistir âs pressôes e controlos suciais externos.
Outro autor incontornável quando se fala da teoria da rotulagcm' c Hovvard Rccker. Para
Bcckcr, o desvio e.xistc. porque há indivíduos (oufsiders*) que não se identificam com as nonnas e
os papéis determinados por uma dada sociedade. num dado momento.
"Tocios os grupos estahelecem regras e tentam. algumas vezes e sob
determinadas circunstáncias, reforcá-las. As regras soeiais definem situacoes e
tipos de comportamento apropriados. especijicando algumas uccocs como correctas
e proihindo outras consideradas erradas. Quando uina -wegra é reforcada. a pessoa
que se supôe fê-la quebrado pode deixar de ser merecedora da confianca de viver
segundo as regras esiabelecidas peio grupo. E vista eomo um outsider. Mas. essa
pcssoa que foi etiquetada pode apenas ler u/na opinido difrrente do assunto"
(Becker. 1991: 1).
Segundo Bccker. as normas acabam por alimentar o cstigma negativo quc conduz. ao desvio.
Os grupos sociais alimcntam o desvio ao dctcrminarem nonnas cuja ĩnfracyao constilui desvio
"
I emert fixou uma série ^k' etapas que transportam o indi\idiu> do desvio primáno ao secui.dári.-: "(1) des\io primáno: (2) penali/acãosocial; (3) mono dcsvio primário; (4) reforco da penali/acão c rejeicão. (5) mais desvios. provavehiicnle com hosiilĸladcs c iceepcâo paracom os que pcnali/am; (ft) [. . ,] comunidade estigmati/a o dcs\ lantc: (7) reforvo da comlutn dcsviante em relacão ao cslicma c a penali/acão.(S) aceitacã<> do cstatuto de desviante social" {Lemert. 1 1>7X: 412). hsta espiral acaha por dcscmbocai. scguiulo I cmert, numa situavão cm
que o desviante ^inali/ado assumc o scu papel de desviantc, assumc a sua etiqucla.
Na edicão dc 1441 de Oulsnlcr\ ipnmeira data de 1%.U, foi incluido um no\o capitulo alusivo á teona da rolulageni. rcsuliantc de uin
papcr de \')1\. Inicialn.ente. o autor discorda do termo leoria da rotulagcm etiquetagem. prefenndo chamar-lhe teon.i interaccionista di>
dcs\io (Beckcr. 1491: 1>1).
"0 tenno 'tintĸnh'rs'
refere-se ás pcssoas t|ue são julgadas por oatros quc as cousidcram i es\iantcs c. comu tal. peiiiiaiaccin t'ora úo circulo'
iĸ»mial'
dos memhros do grupo" { f.cckcr. 1 49 1 : 1 5 ).
1 ~>
Já a LPCJP define no artigo 4° princípios orientadores de intervencão como o interesse
superior da crianca c do jovem. a intervenclo precoce e. particulanuente importanle. na relacão com
os mcios de comunicacão social. a pri\ aeidadc: "A promocao dos dircitos e proteccão da crianca e
do jovem deve scr efectuada no respeito pela intimidade. direito â imagem e rescrva da sua vida
pri\ada"(art"4". b). LPCJP).
Esta matéria é alvo de maior acuidade no artigo 90°. relativo â comunicacão social. onde se
cspecifica quc não se podem idcntificar, nem transmitir designadamente sons ou imagens que
pennitam a sua identificaeão. Mesmo assim, é possível transmitir o contcúdo dos actos públicos do
proccsso judicial dc promocâo e proteceão.
Saindo da legislacão dc mcnores. intercssa. no presente quadro. lembrar o Côdigo
Deontolôgico dos Jornalistas Portugueses, que apresenta disposieoes consideradas importantes no
contcxto das vivências dc criancas e jovcns em riseo: "7. [...] () jomalista não deve identificar,
directa ou indirectamente. as vítimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de idade. assim
como deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor. 8. 0 jomalista deve rejeitar o
tratamento discriminatôrio das pessoas em fijncâo da cor, raca. crcdos, nacionalidade ou sexo".
4. As etiquetas e os seus desvios
Os comportamentos sociais dos indivíduos cstão constantcmente a scr codificados pelos
seus interlocutores, fazendo com quc as accôes sejam uma consequência daquilo quc c esperado
socialmente e do que é eonstruído soeialmcnte. designadamente através dos mass media.
Neste sentido, o desvio não será apenas um acto em si mesmo, mas o resultado de uma
ctiquctagem colocada pela sociedade e que pode ser retirada e novamente colocada. confonne
evolucm os tempos. "A divergcncia transforma-sc em des\ io quando suscita uma rcaccão negativa.
[ . . .] 0 desvio c 'objeetivado" a partir dc actos que infringem nonnas legais e de outros considerados
consensualmente como errados" (Moura Ferrcira, 2000: 57). Assim, não pode ser observado apcnas
a partir das caractcrísticas dos indivíduos c dos grupos. mas. principalmente, tendo em conta um
processo social interactivo. que conta com os papcis dos desviantes e dos que não o sâo (Fcrreira et
al. 1995:444).
A denominada teoria da ctiquetagem foi desenvolvida inicialmente por aulorcs como Edwin
Lemcrt. Howard Becker e Erving Goffman e depois scguida por muitos outros. como Giddens.
Edwin Lemcrt apontou os conceitos de desvio primário c de desvio secundário. "()
comportamento dcsviado primário é produzido cm contcxtos variados (sociais. culturais c
21
pode mais facilmente ser considerada pclos quc a rodeiam. dcsignadaincnte os professores, como
uma pcssoa na qual nâo devc ser dcpositada qualquer confianga (Giddcr.s. 1998: 1 78).
'
... a diversiaade dos desvios considerados altamente disfuncionais para a
soeiedade. eomo act.nfeee coin a delinquência juvenil, [...[ ncio sdo um mero
prodttto cle transgressdo de indivíduos e grupos 'anormais'. mcts formas cie recu\do
social que provêm, muitas vezes. da prôpria nalureza do controlo soeial que <>s
estigmatiza e rotula ile forma negativa, os desviantes eonstrorm os seus espacos
sociais de identidade pessoal e colectiva. Os mecanismos de conlrolo social tém a
capacidade de forcar a mudanca dos indivíduos. rofulando-os e levando-os a
assumir uma idenfidade desviante (actionando. ctssim. uma profrcia auto-
-realizadorci)" (Ferreira et al. 1995: 444).
A estigmatizacâo c um processo que se expandc fundamentalmente no seio das relacoes
intcrpessoais (Cusson. 1998: 164) e condu/. ao aumento da possibilidade de cxposieão å intluência
dos pares delinquentcs e, como tal. "tende a amplificar o desvio" (Cusson. 1 998: 1 65).
Relativamente ao estudo da transmissao dos estereôtipos a nívcl social, considera-se que
"tanto a observaeão directa das diferencas entre os vários grupos. quanto as intlucncias indirectas
exercidas pelos media são os principais responsáveis pela evolaeâo c transmissao dos estereôtipos
que. neste sentido. deveriam ser entendidos como uma parte consti.uinte do prôprio ambiente
social"(Pereira. 2002:97).
A imagem que a sociedade tem dos jovens e em especial dos jovens com comportamentos
dcsviantes em muito é divulgada pelos media. principalmcntc quando aeentuam o pânico público".
A catcgori/a^ao do oufro. mais prccisamente da fonua como ele é olhado, indiea eategorias.
cstigmas e constmcôes quc confundem o significado com a significacao. Ou seja. por excinplo
quando são atribuídos significados indiscriminados como bando, gang ou tribo a um dado
agrupamento de jovens transporta-se uma série dc significados para o imaginário colectixo que
pode não conesponder å definicão rcal desses mesmo termos. "Quando os mass media se referem a
alguns grupos dc jovens como a alcunha afrondoso de bandos, gangs ot tribos. estamos perante um
exemplo típico de definicôes verbais" (Pais e Blass, 2004: 12). José Machado Pais distingue
"defmicoes reais" de "definicoes verbais", coj-.sidcrando que estas últim.is dão conla da signiilcacão
"() pánico puhlico é facilmente induzi_.ii por empolgamcntos nolicii>sos de akuns nicJiii. Vmii cas caractcri^ticas das multidôes é a dc
produ/ircm sonoridades simples, unissonas. 0ua|1do se csta iniluiido do espiiiu> de mullid.o. as dú\idas dão facilmcnte luiiar as coiimcvôcs"
(l'aise Hhiss. 2l.ni I \}).
24
c ao aplicarcm cssas regras a detenninados indivíduos e ao rotularcm-nos de malfeitores (Becker.
1991: 9). Dcste ponto de vista, o desvio não se apresenta como uma qualidadc do acto praticado.
mas sim como a consequência da aplicacão. por parte dos outros, das nonnas e sancôes ao
"ofensor". "O desviante é alguém a quem a etiquetagem foi aplieada com sucesso" (Becker. 1991:
9). Para Becker. o desvio não é uma qualidade intrínseca ao prôprio comportamento. resulta. isso
sim, da interaccão cntre o autor e os que respondem ao desvio (Beckcr, 1 991 : 14).
O mesmo autor afinna que as regras tendem a ser aplicadas com maior veemência a umas do
que a outras pessoas (Bcckcr, 1991: 12). rcportando-se, designadamente, ã dclinquência juvenil e â
forma dissemelhante como rapazes dc diferentes classcs podem ser tratados pela polícia. em
situaeoes scmclhantcs.
Falar dc jovens delinquentes é, também, falar de esligmas c de identidadcs sociais. Nesta
matcria. importa recordar uma obra já muitas vezes citada mas que tem a sua pertinência. Estamos a
referir o Estigma, de Erving Goffman, que logo na parte inicial. nas nocôes preliminares. apresenta
a seguinte frase: "A socicdade estabelccc meios de catcgorizar as pessoas e o total de atributos
considerados como comuns c naturais para os mcmbros de cada uma dessas eategorias. Os
ambientcs sociais determinam as categorias de pessoas quc têm probabilidade de sercm neles
encontradas" (Goffman, 1988: 11 c 12).
() estigma, por nonna, é utilizado para apontar para uma forma dcpreciativa de olhar para
alguém que é catalogado ou rotulado porque "possui um estigma, uma característica diferente da
que havíamos previsto. Nôs e os que não se afastam negativamente das expcctativas particulares em
questão serão por mim chamados de normais" (Goffman, 1988: 14). Lm dos tipos de estigma
apontados por Goffman tem a ver eom as questôes étnicas". que por vezes andam associadas â
dclinquência.
A teoria da etiquctagcm apresenta-sc como uma das mais signilieativas para a comprcensão
do que é a criminalidade e a violência. Como já foi dito. para os scguidores desta teoria. o desvio é
interpretado como um processo de interaccão entre os desviantes e os não-desviantes. indo além da
associacão a uma série de earacterísticas pessoais. Assim scndo, são as sociedades. a forma como
evolucm, os seus medos c as reaccôes a esses medos quc cstabelecem o que é crimc (Giddens.
1998: 178 e 180)"1. O estigma coloca um indivíduo ou grupo å margem. advindo um tratamento
com suspcicão ou hostilidade (Giddens, 1998: 127). O mesmo autor apresenta um exemplo
concreto: Quando uma crianca é etiquetada como delinqucnte. é cstigmatizada como criminosa e
"
'As distmcôcs étnicas raramentc são neutrais" (Giddens. 199S: 212i.
'"Já Durkheim ha\ia considcrado que nôs não reprovamos um acto porque ele é criminoso. mas que ele é criminoso porque nôs o
reprovamos.
23
De qualqucr inodo, importa deixar claro que todo este processo dc estigmati/aeAo nao podc
significar. nem significa. quc não existcm problemas soeiais. ce divcr>a índole. que atravcssam as
diferentes trajectôrias delinquentes.
"Os esiudos recenfes enfatizam a importdncia cto contexto sbcio-econbmico e
familiar dos jovens. nomeadameníe a relacîio entre a deHnquência juvenil. o
crescimento urhanistico desordenado, sobretudo nas periferias dos grandes centros
urhanos, e a exe/usdo sociai. econômica e eulíural. nrm contexfo de sociedades de
elevados padrôes de consumo e ascensdo de sucesso ĸocittl. Sub/inham. também. as
fragilidades das insfancias de socializacdo: família e i'scoia" (Sousa Santos. 2004:
644).
A teoria da etiquetagem é marcantc e esseneiai. uma vez que parte da ideia de que nenhum
aeto é inlrinsecamente criminoso (ou normal). "Porém, esta teoria ncccssita de ser suplemcntada
com uma pcrgunta: o que catsou o comportamento quc foi cliquetado eomo dcsviante?" (Giddcns.
1998: 207). F, também. indispensável não esquccer que o facto de alguém estar "etiquctado" nao
fa/ necessariamente com que essa pessoa vá aumentar e reforeai os seus comportamentos
desviantes.
Em suma. ao avaliar e desvio e, em concreto. a delinquéncia juvenil. é preciso ter em conta
quc existem uiu sem nũmero de factorcs que determinam a existência dos comportamentos
desviantcs designadamente a fonna como os individuos que cstão fora do grupo rolulam as aceoes
dos membros do grupo . mas também é preciso nao esquecer que nao se pode redu/ir as aceôes a
uma etiqucta, que pode encobrir rcalidades e trajectôrias desviantes.
5. () género, um interesse recente
Durantc muito teiupo, a investigacao não prcstou atcncâo âs questôes dc gcMicro associadas á
delinqucncia feminina, porque este semprc foi considerado essencialmente um mundo masculino.
liderado por rapazes. scndo as raparigas apenas suas discípulas. list. ctiqueta relativamcnte ao
gcnero também tem vindo a ser desmistificada, pois o papcl desenvolvido pelas raparigas no scio
dos grupos juvenis e a sua associacao á delinquência comeca a ter novos scmblantes.
A importância concedida cãs qucstôes de géncro c as imilicacûes que podem ter quando se
pensa a dclinquência juvenil estão cada vcz mais no centro das prcocupacûes quando se discule a
26
dos nomes (Pais c Blass. 2004: 12). Todas cstas definicoes construídas condu/em å criacão de
realidades sociais.
""Elas [deftnieôes verbaisj traduzem uma notável capacidade de criar
eĩiquetas. Este processo de etiquetagem origina realidades representacionais.
discursivas. mitiftcadas. Devem as ciências sociais fazer oreĩha mouca dessas vozes
que apregoam eîiquetas em tudo o que é rea/idade? Xdo me pareee. e a razdo e
simpies. E que as etiquefas criam realidades sociolôgicas. O que ndo significa aceitar
que a etiqueta identifique legitimamente o que designa" (Pais e Blass. 2004: 12).
Esta abordagem inicial aponta para uma séria neccssidade de não dcscurar a importância dc
que a forma como olhamos para a sociedade podc condicionar as accôes dessa mesma socicdade.
"Em Portugal, um gnapo de jovcns negros tendc a ser mais facilmente etiquctável do que um grupo
de jovens brancos [...]. O pânico público em rclacão â delinquência que aparece associada a
algumas tribos juvcnis nâo tem necessanamcnte correspoi.dcncia com a realidade. apresar do
alarido do media" (Pais e Blass. 2004: 12).
Sprinthall c Collins (2003. 459) apontam para o facto dc a denominada delinqucncia juvenil
estar associada ao factor classe, uma vcz que o rôlulo cabe mais a jovens oriundos de classes mais
desfavorecidas. ICm situacôes de assalto a automôveis. por exemplo. "os jovens das classes
trabalhadoras e das minorias são presos, sendo efectuados registos policiais dessas ocorrências. ao
passo que os íĩlhos de classe mcdia e média-alta. que tomam parte em actividades semelhantes, são
elcvados a casa da família por um agente da polícia e têm apcnas uma eonversa com os pais"
(Sprinthall e Collins. 2003: 459).
Os estcreôtipos foram deíhiidos ainda como: "Crencas sobre atributos típicos dc um gmpo,
quc contêm informacôes não apenas sobre estcs grupos. como tambcm sobre o grau com quc tais
atributos são compartilhados" (Pereira. 2002: 45). São estruturas que contcm o conhecimento. as
crencas e as expcctativas em relacão a algum gmpo humano, sendo os estereôtipos tambcm
associados a juízos de valor e crencas partilhados em relacao a comportamentos de detcrminadas
pessoas e gmpos (Pcreira, 2002: 45 e 46).
O preconceito pode ser intcrpretado como o resultado de uma "estratégia psicossocial
adoptada com a fmalidade de alcancar uma identidadc social positiva com o ingroup. tomando
como parâmetro os valores ncgativos atribuídos ao outgroup" (Pereira. 2002: 39).
25
'duras' nas suas formas mais eomplexas. Jci os rapazes. [...[ saiientam-se nos ilicitos
conlra o patrimbnio e no iráftco cie droga. desen.'olvendo habilualmente uma
actuacdo concretizada ent pequeno grupo. quase sempre junto cle pares" (Carvalho:
2003. 242).
As ra/ôes tcndencialmente invocadas para a concrctizaeao das accôcs estao muito
associadas â vontade dc obtencão de estatuto. "Apesar de pe.petrarem menos roubos c\o que os
rapazes. tanto uns como os outros expressam razôes similares para se cn\olvcrem em roubos"
(Chcsney-Eind e Paramore. 2001: 145). A obtencâo de dinheiro e de artigos quc coníerem estatuto
sao factores apontados para a actuacâo de ambos os scxos (Chcsncy-Eind e Paramore. 2001 : 145).
As condicocs sociais. a divulgacão publicilária e a nccessidade de competir. até a propbsito
dos bcns associados ã moda. também contribuem para que a violêneia aumcnte. mesmo por parte
das raparigas. A eultura juvenil que detennina a valorizaeâo de uma marca de roupa. de uma pc\*a
dc ouro e dc um qualquer aparelho dispendioso quc muitas vezes aparta os que os têm dos que
não os tcm -
parece ter um papel basilar, particularmcntc na conducão a aetos de roubo juvenil. 0
estatuto juvenil, associado â narginalidadc cconômiea e a uma juventude urbana. cria um ambicnte
propício ao roubo (Chesney-Lind e Paramore. 2001: 145).
A dclinquência manifesta-se. igualmentc, para subme:er outros do mesmo sexo c criar
hierarquias intemas. "As ofcnsas \ iolentas de ambos os sexos apareeem primeiramentc como meios
de criar hierarquias na relaeao eom os outros do mesmo sexo [...]. Pareccm ser um meio para
subordinar as outras raparigas. como os rapazes subordinam outros rapazes" (Pettcrsson. 2005:
247). A tendcncia das raparigas para assaltarem outras raparigas podc scr avaliada como uma forma
dc colocar as outras companheiras no seu lugar c subordiná-las (Pettcsson. 2005: 262: Chesney-
I.mdeParamorc. 2001: 162).
Os roubos juvcnis sâo gerahuente comctidos por dois ou mais jovens (Chesney-Eind e
Paramore. 2001: 145). Ilá mais raparigas em gangs do qie sugerem as estatísticas oilciais
(F.sbensen et _//. 1999: 38), mas a proporcão de cpisodios delinquentes que envolvem mais de dois
participantes tem sido considerada muito maior entre os rapa/es (Cohen. 1971: 46). As raparigas
actuam predominantemente de modo individual (Carvalho: 2003. 242).
Parece ser incontornável assinalar que as raparigas já não actuam apenas á sombra dos
rapazes e que cada \ez mais oroeuram lugares que as destaquen. å semelhanca do que sueede em
divcrsos campos da socicdade.
28
delinqucncia juvenil e há quem pense que são fundamentais. "A violência juvcnil é primeiramcnte
um problema de género. Os homens são mais vezes autores e também vítimas de violência juvenil.
Os jovens masculinos tcm mais tendência para serem \ iolcntos do que as rapangas. \o que toca a
serem vítimas. [...] os cstudos existcntes apontam para uma preponderância dc vitimas do sexo
masculino em comparacão com as do feminino, fatais ou não" (Hardiman et _//. 2004: 3 1 ).
Cohen nos idos anos 70 constatava que a delinquência masculina era pelo mesmo quatro
vezes mais usual do que a feminina. Mas, também apontava para um facto importante e capaz de
alterar rcsultados e estatísticas e que rctlccte uma socicdade onde as qucstôes de gcnero eram. e
muitas vezes ainda sâo, olhadas com preconceito e scndo tomadas accôes ein funcâo de se estar
perante raparigas ou rapazcs. "É provável quc alguns tipos dc ofensas, quando cometidas por
raparigas, serão menos refcridas ã polícia c aos tribunais do quc se fossem pratieadas por rapazes,
por isso serâo menos encontradas nas estatísticas oficiais" (Cohen,1 97 la: 45).
Com o decorrer dos anos. o papcl das raparigas. c o que Ihe era atribuido. comecou a altcrar-
se. Foi nos anos 90, que as raparigas viram abertas as portas, de fonna substancial. para fazerem
parte dos gangs das cidadcs norte-americanas. Nesta nova faccta, encontraram a possibilidadc de
adquirirem um estatuto, através das actividades nos gangs e da violência inerente ((îiddens, 1998:
194).
As estatísticas recentemcnte têm mostrado um aumento dramático das deteneoes de
raparigas. principalmente por ofensas tradicionalmente associadas a homens (como os assaltos e
roubos). o que mostra que as raparigas estão a tomar-se mais violcntas (Chesney-Eind e Paramorc,
2001: 142). As actividadcs ilcgais cometidas por raparigas são muito semelhantes âs dos rapazes.
embora difiram no que respeita ao volume de crimc praticado. pois as raparigas cometem menos
crimes do que os rapa/cs (Esbensen et al, 1999: 40). "Os rapazcs são mais dclinquentes do que as
raparigas. mas as raparigas estão longc de serem espcctadores inocentes" (Esbenscn et .//, 1999:
41).
Há autorcs que defendem que as raparigas são bastante violentas. até pelo facto de a
violência ser socialmcntc mais desculpada quando comctida por elas. Apcsar de subsistirem
difcrcncas relativamente a níveis de ofensas. os padrôes de ofensas violentas cncontradas entrc
rapa/es e raparigas são muito semelhantcs (Pettersson, 2005: 247).
"... as raparigas [...] tenclem a estar mais representadas na prdfica de ilicitos
contra as pessoas, com uma forte ineidêneia para as ocorrências em espaco escolar.
sendo geralmente detectadas nestes aetos em idades mais avancadas do que os
rapazes. [...] As tnesmas destacam-se ainda na associacão ao eonsumo de drogas
2"
Uma minoria de jovens pertence "a grupos orierlados para as ruas nos quais o
comportamento ilegal c eomum. esses grupos são referenciados eomo 'jovens gangs' ou "grupos de
jovens problemáticos'. lCstes grupos constitucm um fenômcno muito conhecido nos Estados Unidos
e recentcmcnte num número de paises europcus" (Esbensen e Wccnnan. 2005: 5).
Permanecc o debatc sobre o que pode scr definido como gang. sendo usados diferentes
critérios por distintos pesquisadores. scndo este um campo mais complicado quando sc l'ala de
perspectivas inter-países:
"Lma razao apontada e que as pa/avras e lermos usados para gangs fem
diferentes significados e cargas emoeionais diferentes em diferenies línguas. Ouira
razdo prende-se com o facto de tnuitos ndo-americanos compararem os seus grupos
juvenis com esferebfipos e ideias tipo dos gangs altamer.te organizados de C 'hicago 011
/.../ de Los Angeles. Com este enquctdramenlo. normalmente concluem que esse t'tpo
de gangs ndo existem nos seus paises" (Fsbensen c Weeman, 2005: 7).
Tem sido identilicadc quc os jovens que ingressam num gang, particularmcnte os rapa/cs.
passam a cometer mais delilos. A violência criminal é muito sensivel å pertenca aos gangs. na
medida em que os jovens têm neles uma participagâo activa. cometerdo por csta via, cm mcdia,
duas ve/es mais crimcs violentos (Cusson, 2006: 146 e 147). Para além disso, a quase lotalidade
dos jovens dclinquentes persistentes têm amigos que também enfrentam problcmas com a justica.
"Quanto maior for o númerc de amigos delinquentes. maior sera a tendência para o adolescente
cometer delitos" (Cusson, 2006: 145), sabe-sc que a cullura de pares fomece modelos delinqucntcs
e é tolerantc com os actos delmqucntcs ou desviantcs (Bcmburg e Thorlindsson, 1999: 446).
Um faeto que tcm surgido como preponderante ein muitos estudt)s sobre gangs e
delinquência juvcnii norte-americanos c a etnicidade, sendo este um factor intimamente associado a
estc fenômeno. Mas parcce que na Europa as coisas podcm ser diferentes, tendo em conta o estudo
de Esbcnscn c Weennan (2005: 25). que aponta para a nâo existêneia dc desproporcionalidade entre
os membros de gangs não holandescs c holandeses, o que é intcressante. se se pensar que é comum
dizer-sc que os membros de gangs são os individuos de origem cstrangeira.
30
6. Os gangs e as suas formas
0 crime de gangs ganhou o estatuto de scr um dos mais importantes problemas soeiais dos
finais do scculo XX. se se pcnsar que os cidadâos em gcral c os fazcdores de políticas se
cmpenharam em lutar contra a possibilidade de mais jovens significarem ainda mais crimc e gangs
(Lane, 2002: 437). Porém. a definicão de gang continua a não ser constantc cntrc os espeeialistas.
Um gang pode ser um grupo de jovens que se dedica a aetividadcs delituosas. acentuando a
difcrenca entre os que pertencem ao grupo e aos quc cstao de fora dele, podendo ser composto por
adultos, têm uma base territorial e podem ter um líder forte, mas sem dúvida que se opôem a regras
de conformidade (Cusson, 2006: 160 e 161). "A participacão num gang satisfaz as necessidadcs
normais de reconhecimento, de pertenca c de estatuto que os adolcscentes têm, e que diiieilmcnte
encontram a resposta nas zonas urbanas socialmente desorganizadas" (Cusson. 2006: 162). Um
gang ou um grupo problemático é tendencialmente \ isto como durávcl e orientado para a rua. com
uma idcntidade ligada ao envolvimento em actividades ilcgais (Esbensen c Weerman, 2005: 8:
Bjerrcgaard, 2002:37).
O número de elcmentos quc compoem um gang é controverso: "Admitc-se que é preciso que
tenha pelo menos três elementos c que os 'verdadeiros' bandos sejam organizados e hierarquizados"
(Roehé, 2001: 64). Um grupo pode ser considerado um gang quando os scus membros têm uma
faixa etária que se situa entre os 10 e os 20 anos e. por outro. quando os seus membros tomam
atitudes de violacão da lei ou. pelo menos, têm comportamentos "imprudcntcs" (Esbcnsen et al:
2001. 106). Os mcsmo autores. porcm, advogam que os gangs são maioritariamente de cidadcs c de
minorias masculinas. sendo também assumido que aquilo que se sabe sobre delinquência urbana
provém cssencialmcnte do estudos dos gangs.
Os gangs que se encontram espalhados pela maior parte das grandes cidades também estão a
desenvolver-se nas áreas citadinas de mcnor dimensão (Bjerregaard. 2002: 32). Ilá um facto
incontomável que é a ideia enraizada de que o gang acarrcta conotacôes ncgativas. sendo este um
traco rclevante de defmicâo. Outro aspecto decisivo tcm a ver com a estrutura organizacional do
gang, havendo encontros com alguma regularidade cntre os seus membros, o que potencia o sentido
de territôrio. O gang costuma tcr um nome e é distinto. no sentido de ser identificado pelos quc não
sâo seus membros. e por vezes apresenta critérios de vestuário semelhantes (Bjerregaard, 2002: 36).
Segundo Bjerregaard, os jovcns quc se eonsideram membros de grupo não apresentaram com tanta
frequcncia um nome de gmpo. ao contrário do que sucede com que fazem parte de gangs
(Bjcrregaard. 2002:44)
29
não sc conhecem c o anonimato introduz uma vulnerabilidadc adicional (Roché, 2001: 12). "Uma
das grandcs transformacôcs associadas å urbanizacâo parece tcr a \er com o abrandamento dos
controlos sociais. Com efeito. os espaeos locais. em espccial nos grandes centros urbanos. eslão
cada vcz mais separados pcr funcôcs, dando lugar a uma vasta populacão anônima em que as
pessoas nâo sc eonhecem" (1-rias. 2002: 52).
Neste conlexto, é de assinalar. por exemplo. uma tendência para a quebra das relacocs de
vi/.inhanca. quc podem contribuir para a diminuicâo das possibilidadcs de integracao dos
indiv 'íduos. sendo cste foco de desestabili/acão csscncialmcntc cxtcrior is relacôes familiares.
""0 desenraizamento das eomunidades de vizinhanca e a rapidez da
expansdo do fenbmeno da urbanizacao sob impulso da indusirializacâo csfdo na
base das ruptttras e a'as fraeas capacidades de infegracdo dos grupos primários e.
parficularmente. da família. A génese da desorganizacdo é assim exterior aos
indivíduos e ds prbprias familias. A sua eventual cristalizacdo ntun dado territbrio
ao longo do tempo é. por sua vez. indissoeidve/ dos t)rocessos de seleccdo e de
desagregacdo qtte se desenroiam no espaco urbano" (Queiroz e Gros. 2002: 131 e
132).
Por outro lado, é tambcm nesses territôrios fragmentados das cdades que se encontram os
guetos urbanos. dcsignadameiitc criados para servirem dc porto de contluência de determinadas
minorias. Os mcmbros de um grupo minoritário mostram-sc cri dcsvantagem quando eomparados
com a maioria da populacão. pelo quc apresentam um sentido de solidariedade de grupo e de
pertenca conjunta. Eles proprios vêcm-se como pcssoas â margem da maioria c são física e
socialmente isolados da maicria da comunidade. conccntrando-se em eertos locais dc vizinhanya.
cidades ou regiôcs de um país (Giddens. 1 998: 211).
Nos paiscs da Europa Ocidenlal, os guctos urbanos muitas ve/cs resultam das políticas
destinadas ao aumento da concentracão espacial de certos grupos da populacãn. designadamentc
imigranles. Sâo, por este meio, criados dcntro do cspaco urbfjio da cidade locais apartados dos
cspacos ondc habitam sectores menos problcmáticos da socicdade. na realidadc, os ditos normais.
Os ambicntes urbanos são receptores dc categorias e de mcmbros sinalizados "A catcgoria
*africano, passa entao a ser usada pcla sociedade reccptora para referir-se ao imigrante ncgro e aos
seus lilhos", (Ciusmao, 2004: 139). de forma a etiquetá-los no quotidiano e nas suas vivêneias.
la/endo dclcs estrangeiros. Por isso mcsmo, tambcm sc desenvolvem olharcs negativos dentro dos
prôprios grupos. que aeeitam a sua etiqueta. cmbora. por \ c/cs. se sintam mal com cla.
32
7. Urbanidades e favorecimento de dclinquências
A Escola de Chicago desenvolveu uma explicacão para o crime associada ao facto de os
laeos sociais de coesão cxistentes atc â industrializacão tercm sido afectados pelo aumento da
urbanizacâo e pela criacâo de condicôes para o enfraquecimento dc relacôes familiares e
comunitárias favoreccndo o aparccimento de focos dc delinquência, bem como de gmpos
delinquentes. associados a factorcs como a degradaeão econômica e étnica.
O fundador da Escola de Chieago, Robert Park centrou-sc, deste modo, no estudo da sua
cidade para analisar o desvio e o controlo social. "O problcma social c fundamentalmente um
problema urbano: trata-se de chegar, na liberdade intrínseca ã cidade. a uma ordem a um controlo
social equivalentes ao quc sc desenvolvcu naturalmcntc na íamilia, no clã e na tribo. [...] Como foi
na cidade que nasceu o problema político é na eidade que é prcciso estudá-lo" (Cit. in l;erreira et _//,
1995:437).
Segundo Robert Park. a cidadc é muito tnais do quc uma aglomcrado de infra-estmturas,
compôe-se dc elementos vivos. "A cidade c um estado de espírito, um corpo dc costumes e
tradicôes. de atitudes e scntimentos organizados, inerentes dos costumes e transmitidos com a
tradicão. A cidade não é. por outras palavras. um mero mecanismo físico e uma construcâo
artificiar (Park, 1984a: 1).
De qualquer modo, importa esclareccr desde logo que não são apenas as cidades e os
ambientes urbanos. muitas vezes. cm oposicão â imagem dos meios rurais. quc dctenninam
comportamentos. uma vez que existe uma vasta complexidade e muldimensionalidade sociais. "As
fonnas espaciais não induzcm direclamcnte cultura ou comportamento social. Nao é por [...] estar
numa cidadc que se comporta de uma certa forma. A matriz eultural total e a interaecâo social. as
manciras de pensar. dependcm da classe, do género, da cultura, da expericncia pessoal, incluindo a
padronizacão espacial como fonna dc experiência. mas transcendem largamente a simples
dicotomia entrc rural e urbano" (Castells e Ince, 2004: 71 e 72).
Neste contcxto, ao ccntrar-se a delinquência no meio urbano. isso nâo signitica que nâo
cxiste delinqucncia juvenil no meio rural. O quc acontece c que esta delinquência do meio rural é
menos intensa e menos visíveL pois este cspaco tem maior capacidade para incluir os membros quc
apresentem de forma ocasional um comportamcnto desviantc c, para alcm disso. também é um íacto
que a dclinquência urbana coloca questoes mais alargadas de inscguranca (Santos. 2004: 13).
Ao nível da convivência nas cidades. há muitos estudos que indieam algumas tendências.
designadamentc no que respcita âs relacoes de anonimato que se estabeleccm e que facilitam formas
de actuacâo, fa/endo com quc os seus autores sejam difíceis de identiíicar. Nas cidadcs as pessoas
31
num plano normativo: c a questão global de ordcm social c política desejada que está cm causa"
(Roché. 1993:23).
A gravidadc da situacão. assim como a importâneia que a soeiedade lhe confere num dado
momento. sao faclores detenuinantes para que estcjamos perante um acto delinquente ou uma accão
violenta. não punida legalmentc Dc qualquer forma. o facto de um acto scr "catalogado" como
delinqucnte num dado momento nâo qucr dizer quc ele passou a existir a partir desse momenlo
enquanto tal. mas quc socialmente e lcgalmente tcm outro peso. Sabe-sc que os discursos c\o medo
da delinqucncia são recorrcntcs e que "o discurso da inseguranca produz. portanto, uma visâo do
mundo dividido entre 'Nôs' e "Eles'. idcntiíicando. de lbnna sistemática, o eriminoso com a
imagem do 'outro'. em tudo diferente do cidadâo comum" (Machado, 2004: 278).
Quando sc fala de delinquência juvenil e do sentimento de inseguranca não se podc abordar
o tcma de uma fonna apcnas jurídica, no scntido em que há actos cometidos por jovcns que podem
estar apenas ao nível de incivilidades quc suscitam o medo, apesar de até não screm punidas
legalmentc 0 grau dc desvio ã norma é um factor importantc para detcrminar o castigo a quc deve
estar sujcito, assim como a importância que tem na sociedade: "A análisc da violcncia e áo crimc
rcfere-se a um campo social regido por valores e regras eolecivas cu a transgrcssâo. considerada
como podendo pôr em causa o equilibrio precário da estrutura social. c susceptível de ser punida
com maior ou menor severidade" (Lourenco e Lisboa. 1996: 45).
Esta teia complexa- com normas. dcsvios e punicôcs - detcrmina ainda um outro factor
cada vez mais importante nas nossas socicdades: a scguranca. Fsta é uma socicdade do bem-estar e
ao mesmo tcmpo um local onde prolifera uma maior vulnerabilidade do Ilomem íace ao mundo que
o rodeia e.xistem cada vez mais apclrcchos quc scrvem de extensao ûs neccssidades c\o homem,
quc quando estão á sua disposicao o tornam mais seguro, coiuo armas c vacinas. por cxcmplo, mas
quc a falta deles. por vc/cs. podc trazer sentimentos de inseguranca. quc condicionam com maior ou
menor intcnsidade a vida em comum.
As prcocupacoes com a inseguranca es.ão instaladas na agcnda p;)lítica c na agenda social:
"
í qttesfdo da inseguranca. utiiizada pelo poder polifico para designar c/uer
o medo cio erime. quer a fa/fa c/e adesdo ao sislema normutivo c/a sociedade.
ascendeu d categoria dc preocupacdo naeionai. assoeiada ao '■ccrudescimento de
um sentimento cie inseguranca, isto é. a manifcstiicôes de inquietacdo. de
perturbacdo oti de medo. quer individuais. quer coleeiivas, ci istalizadas sobre o
crime" (Lourenvo e Lisboa. 1996: 46 e 47).
34
Dcsde os anos 70, a perifcria de I.isboa assumiu contomos particularcs com "bairros de lata"
ou "barracas". eom diferentes formas dc organizar a vida c o espaco físico/social prôprio da
imigracao (Gusmão, 2004: 130). Esses cspacos concentram variadíssimos problemas sociais, tais
como o dcsemprego, o analfabetismo. o insucesso escolar ou o abandono da cscola por parte dos
maís jovcns, que também se iniciam na toxicodependcncia (Gusmão, 2004: 131).
A desertificacão do centro das cidades. como Lisboa. acompanhada pclo envelhccimento
demográfico, conduz ao aumento desregulado das periferias, fundamentalmente ligadas ao conceito
de "cidades-dormitbrio". "A esta forma de repovoamcnto avolumam-se os problcmas sociais.
nomcadamentc a pobreza, o desemprego e a proliferacão de subsistemas de cconomia subterrânca
que configuram casos de exclusão social" (Caravalho. 2000: 35).
As conexôes entre os diferentcs grupos sociais que constituem uma mesma sociedade estão
sujeitas a uma relacâo de forcas. que coloca a delinquência de um dos lados: "A delinquência faz-sc
acompanhar de 'desordens civis'. ou 'incivilidades', cada vez mais frequentes. Os gestos obscenos.
insultos, ameacas c detcrioracôcs que constituem o quotidiano das grandcs cidadcs têm uma
ressonância social" (Roché. 1996: 1 1 ).
Actos dc vandalismo. como o ataque a transportes públicos e a actuacjio de gangs juvenis
oriundos de locais pobrcs a atear fogo a automôveis. constituem novas fonnas de violência. "As
tribos urbanas cometem roubos com violência ou premissas comercias. intimidando pessoas com
facas c vandalizando a propriedade pública" (CEP. 2004: 27). Os ccntros comcrciais constituem-sc
também como locais de la/cr preferencial de criancas e jovens. que muitas ve/es ali pennanecem
sozinhos ou em grupo. scm acompanhamento de qualquer espécie (Sprinthall e Collins. 2003: 386),
acabando também. por vezes, por sc tomarcm locais dc conllito.
()s meios urbanos possuem formas de controlo, grupos e espacos que favorecem o desvio,
que no sentido da delinqucncia é manifestamente urbana e urbanizada. A falta de controlo inclusive
entre habitantes das mesmas áreas residenciais uma vez que as pessoas nâo se conhccem - e a
centralizaeão de grupos e de subgrupos em espacos espccíticos c scparados com muros virtuais. que
os afastam da sociedade dita nonnalizada, vcm criar rivalidades, muitas vezes resolvidas com
recurso å violência.
8. Sentimcnto de inseguran^a e as delinquências
O sentimento de inseguranva é provocado por um desvio å nonna, desvio esse que pode
assumir contomos mais ou menos graves: "A preocupacâo com o crime. a lci c a ordem situa-sc
33
para a prôpria pessoa que poderá ser afectada com normas que restrinjam a sua liberdade e ate
tornar-se mais isolada do mundo que a rodeia. A socicdade acaba, scmprc, por ser afectada de
alguma forma. Isto. contudo. nâo signitica que as conscqucncias estejam imbuídas de um sentido
apenas negativo. Desta dialcctica cntre nonna e desvio surge a dinâmica soeial. que permite a
evoluc^ão. eom avancos e recuos succssivos. mais ou mcnos intcnsos cm tennos de amplitude e de
frcqucncia.
As mcdidas "pessoais" de autodefesa surgem nesta cspiral quc é o scntimcnto dc
inscguranca. porque os individuos deixam de ter conlianca nas instituicôes judiciais. policiais e até
políticas. quem, de direito, deve tomar medidas a favor dc uma maior scguranca. Dando scguimento
a esta ideia. relembre-sc a scguinte frase: "Neste contexto de ansiedadc e de inscguranca. c
signiticativo refenr a pcrda de confianya na capacidade do Estado em assegurar um elima de
seguranca e ordem social" (Lourenco e I.isboa. 1996: 56).
Entre as medĸlas para combate â violência. cncontradas no Inqucrito Nacional ao
Scntimento de Inseguranca, SOCINOVA-UNF/MAI, 1999. é possívcl olhar para a tabcla quc lhe
está associada e facilmcnte perceber que o combate â droga (15.1%). o combale ao descmprego
(15.1%) c o pcdido de mais policiamento,'apoio âs autoridades (14.4%) são as mais destacadas.
Segucm-se educaeãVfonnaeâo.'ci\ ismo (10,5%) e agravamento/cumprimenlo integral das pcnas
(8.8%)(Frias 11:2002. 123).
Já no quc concerne a medidas que mais contribuem para aumentar a scgurani;a. considcra-se
que o factor mais importantc c a nceessidade de dotar as policias com mais meios léenicos (annas.
viaturas e outros equipamcntos) (56.S%). scguindo-sc o pcdido de policias pouco visívcis. mas
dotados dc meios técnicos que lhes pcnnitam tilmar as ruas e aparccer quando necessário (51.1%).
Outras medidas necessárias são: dotar as políeias com mais agcntcs (42,4%), ensinar desdc ccdo as
criancas a obcdcccr â autoridade do Estado (30.3%), polícias que patru 'hem frcqucntcmcntc as ruas
e que sejam conhecidos das pcssoas (23.6%). proibir as te-evisoes dc passar tilmcs violentos
(22.4°o), instituir a pena dc mortc para alguns crimes violentos (19.3%). aumentar a prisao
prcvcntiva (14,8%) c alargar a idade de deteneão e julgamcnto até aos 12 anos (13.5°«) (Frias II:
2002. 124).
As tendências dc investigacão têm moslrado quc por iruitas voltas que sejam dadas. parccc
nâo ser possívcl escapar â realidade de que "o sentimento de inseguranca é esscneialmente urbano"
(Lourcnco e Fisboa. 1996: 60). A gcografia do medo centra-sc principa.mente nas grandes cidadcs e
nos loeais mais urbanizados (Roché, 1994: 80). Apcsar da nseguranca ser um scntimento que
prevalece mais nas cidadcs. ondc o agrcssor não costuma ter um "rosto '. nos meios rurais este é um
scntimcnto quc tambcm comeea a ganhar alguma prcpondcrância. hnporta tambcm aqui rcportar
36
Para os mesmos autorcs "a preocupagâo pcla ordcm extravasa. assim. os limites da
criminalidadc, integrando no sentimento de inseguranca a prôpria no^ão dc violcncia" (1996: 57).
0 medo, provocado pelo sentimento de inscguranca. acaba por condicionar o plano
normativo, mas também o político, já que este é um tcma muito apctccido para uma classe, a dos
políticos. Pelo menos durante as campanhas clcitorais cstc constitui um manancial de possibilidadcs
para angariacâo de votos. 0 tema é apreciado pelo público (clcitores) c c visto de perspectivas
diferentes pelas várias tendências políticas. que fazcm da inscguranca/seguranca um elemento de
captacâo de atenyão e. se possível. de votos.
""A inseguranca designa as regras morais que guiam a vida em sociedade [...[.
Xo plano político. as reivindicacoes cie ordem prendem-se mais com umct forma
normativa: o legislador tem de estahelecer as normas de comportamento legal. A
inseguranca ndo é um crime extraordinário exibido pelos mcdia. é sobretudo uma
figura encamada pela necessidade de partiíhar certcts regras mínimas para a
coexistência em conjunto [...]. Xdo hd sociedade [...] sem marginais e sem excluidos"
(Roché, 1993: 17 e 18).
O sentimento de inseguranca é aprovcitado pelo poder público mais para designar o medo
do crime do que a ausência de adesão ås nonnas partilhadas. O Estado encarrcga-se da missão dc tcr
em conta as representacôcs dos indivíduos. mesmo que sejam de natureza emocional (Roehé, 1993:
10). 0 mesmo autor refere ainda: "As instituicôes e o Estado socorrcm-sc da inscguranga para
ordenar as suas accôes sobre a sociedade" (Roché. 1993: 13).
Rclativamentc ås forcas dc scguran^a, c.xiste um desfasamento entre os interesses destas e os
dos cidadâos. Para os cidadãos, um acto violento aprcscnta muito mais impacto do que para as
forcas de seguranga. por isso esses mcsmos cidadãos gostam dc vcr polícia nas ruas. "actuando
contra os crimes que mais a afectam. precisamente a média delinquência, e concebe a funcão da
polícia mais como uma cspécic dc trabalho social" (Frias, 2002: 133). Rcportando-sc ao Inqucrito
Nacional ao Sentimento de Inseguranca. SOCINOVA-UNL MAI, 1999. Graca Frias conclui que há
uma dcscontianca dos cidadãos cm relacão ås autoridades: "Apesar de a grande maioria dos
inquiridos alinnar contĩar pelo menos numa das autoridades (Polícia Judiciária, PSP GNR ou
tribunais), poucos refercm confiar cm mais do quc uma" (Frias, 2002: 148).
O sentimento de inseguranca, muitas vczes. esta na génese da reclamacão dc normas mais
"apertadas", destinadas a um bcneficio imediato. associado a uma maior sensacão de seguranea. ()
reverso da medalha. provavelmcntc mais prcsente a longo prazo. pode, contudo, ser penalizador
35
"As ineivilidades situam-se na interseccdo dos va/cres _/_/ ordem ././
auforidade (o laxismo dajustica. a demissdo cio papel de pais. quando esíes deixam
os filhos por prbpria conta. a inéreio do governo que tem faifa de vontade e de
punho e a desenvoltura dos professorcs) com os factos rrferenciados â sua volta. As
incivilidades sdo sinais de ameaca" (Roché, 1 993: 1 10).
O scntimcnto de inseguranca "c a exprcssão de uma reprcsentacâo social do meio. na sua
formacão cstejam prescntcs lôgicas dc indole diversa - identilárias, eulturais e situacionais quc
nâo apcnas as questôcs associadas â criminalidade" (Frias. 2002: 16). São, portanto, vários os
factorcs que contribuem para a inseguranca, desde os mais directos como a violêneia e o crime alé a
qucstocs associadas a polítiea. â justica. ås for?as de seguranca e aos media. estes últimos essenciais
no quadro do presentc trabalho.
0 mcdo do crime não é irracional, pois ele c bcm real para quem o vivencia dc tal modo quc.
como já foi rcferido, os indivíduos tomam mcdidas para prevenir e punir. substituindo-se aos ôrgâos
prôprios. "Ao contrário da tcsc da irracionalidade do medo do crime. que foca a desproporv'âo entrc
vitimacâo c mcdo. é mais aceitável perspcctivar o medo como sistcma dc leitura da realidadc
envolvcntc [...] que leva os indivíduos a desenvolverem comportamentos cautclares" (l.ourenco e
Lisboa. 1996: 58).
As representacocs sociais"
e a construe-ão social da realidade detenuinam o que é a
"realidade". já que constituem o quc o cidadão \c e sente. peio qi.e o medo do crime não é
irracional, mas sim racional, decorre do que é percepeionado. do que c representado. "Enquanto
manifestacâo dc inquictacâo. de perturbacão ou de medo. o sentimcnto de inseguranya expressa-se
atravcs de um complexo sistema de representacocs c práticas sociais" (Lourcnco e Eisboa, 1996:
56).
Os meciia eontribucm frequentemente para esta construcão da realidade. Os meios de
comunicacâo social mostram a um público mais vasto o que dc outra íonna sô seria do
conheeimento de alguns: Para o cidadão eomum. os mass media sao as principais fontcs sobrc
crimc. criminosos, polítieas de controlo do erime e sobre sistema de justi'ca (Potter e Kappeler.
1908: 3).
No que se refcre ao sentimento de inseguranca. a infiuência dos media pode reali/ar-se
atravcs da divulgacão. mais ou mcnos sistemática, de notícias de crimes. Esta difusao em massa e
muitas vezes repetitiva acaba por ampliar o crime. contribuinCo para o aumento do sentimento dc
Rcpivscnt_.i;iK's stĸiais um.i cxprcssão cada \c/ mais uiitÍ7ada nas cicncias sociais sãu iinav;ci.s ,|uc coiulcnsam varins siunitlc.ĸlns.
A|iivscniam-se como nnm conjnnio dc sistcmas quc possibilit.un a inteiprctacão do quc \cmos . do quc ivivcpcionamos. Servcm paraclassil.car circunstãncias, individuos ou ohjcctos. Tradu/em uma Ibrma de pensar e interpretar a realidade quolidiana
38
uma situacão que tem a ver com a circunstância de a não existência de um "rosto" facilitar a queixa,
mas também fazer com quc a accão policial csteja mais dilicultada. Os transportes públicos sâo "um
lugar dc fixagâo dc inquictudc, porquc simbolizam a cidade anônima e complcxa" (Roché. 1994:
58).
Na aldcia, a cxistência de um ivrosto" também tem a ver com o facto dc cada habitantc tcr a
sua honra a preservar e o facto de se conhecerem uns aos outros actua como inibidor dc
determinados actos. o que já não acontece em meios com maior dcnsidade populacional. onde as
pessoas nâo sc conhecem ncm sentem necessidade de dar satisfaeôes ao vizinho do lado, quc muitas
vezes nem conhecem.
As chamadas incivilidades. atitudes que provoeam o sentimento de inseguranca, que nâo
constituem crime. também afectam o cidadâo no dia-a-dia. Este tenno é usado para designar
comportamentos que não sfio necessariamente ilcgais no scntido jurídico, mas quc cstâo
sistematicamente associados a questôes de inseguranca. "Encontram-se. por vezes. a delinqucncia
contra as pcssoas. alguns crimes violentos que alimentam os fait divers, mas também as
incivilidades, esses actos de vandalismo, de negacão da ordcm social" (Rochc. 1 996: 1 8).
As incivilidades constituem actos muito prôximos. que podem ocorrer å entrada do
autocarro ou a caminho dc casa, c que alimentam o sentimento de inseguranca:
"Chamo de ineivilidades cis rupturas da ordem na vida quotidiana. o que os
actores comuns consideram como a lei e ncio o qtte as instituicôes qualificam como
ordem <as infraccbes). Xote-se quais sdo as suas encarnacbes: as degradacdes cle
caixas do correio, os odores de urina nos vdos cias escadas. os barulhos. os vidros
partidos. os grupos de/ovens indelieados" (Rochc, 1996: 47).
Estes actos de vandalismo. bcm como o scu caráctcr muitas vezes gratuito. faz com quc
sejam incompreensíveis e por vezes mais intolerávcis do quc aclos criminosos, como roubar
(Roché. 1996: 55). Pela ineverência associada. algumas dcstas accôcs estão muito ligadas a gmpos
de jovens. muitas vezes. dos chamados gangs: "De uma maneira geral. os jovens estão dispostos a
comcter um maior númcro dc incivilidades. Com cfeito, um jovcm explora naturalmcnte o seu
campo de accao, a sua margem de manobra e o seu lugar no mundo e na ordem desse mundo"
(Roché, 1996: 58).
As incivilidades eslão muito lidadas ao sentimento dc inseguranca também porque se
associam a problcmas mais globais. como o facto dc os pais não assumircm plenamcnte as suas
competências enquanto pais.
32
maior mcdo do crime. isto apesar de as estatisticas revelarcm que s_Co os menos afectados pelo
crime.
Os pesquisadores há muito que sabem que as taxas de crime e de riseo de \ itimacao não sao
indicadores de medo, pois. durantc anos. os cstudos demonstram que as mulhcres e os mais \elhos
sc apresentaram como os mais temerosos (I.ane, 2002: 438; Roché. 1994: 56). apcsar de os homens
c dos jovens serem mais susceptíveis de vivcnciar o crimc c as criancas sc apresentarem como
\ ulncráveis. com necessidade de serem protcgidas (Potter. 2003: 83).
Ilá autores que confumam a relaciĩo directa cntrc a vitimacâo c o medo, mas scgundo
Roché. c diticil de provar que a vitimaeão fa/ aumentar o medo co crimc "o medo tcndc a
autonomizar-sc do crime" (Roché. 1993: 46) c "dissuade a exposicão" (Cloché. 1993: 51 ).
''Ptira quc se pudesse aftrmar de forma rigorosa. que a vithnacdo aumenia o
mecio seria neeessário que os actos de violência tivesscm o mesmo significado. o que
frequentemente ndo acontece. E também necessário ter cn~ conta que o medo
reivindicado iogo apos a experiência da vitimacdo, e por isso momenfúneo. deve ser
disfingttido do constante (uma angûstia estável e permanente) e que os inquéritos
enfrentam iimitacbes neste campo de análise. nct medicla em que sb podem dar conta
do li/titno" (Frias. 2002: 69).
A vítima, apesar dc muitas vezcs scr rclcgada para segundo plano. scndo a invcstigacao
sobre a vitimaeão recente. datando de meados do século passado. é furdamental, uma vez quc se a
vítima nâo existissc tambcm nâo existiria. por exemplo. a tentaeão do roubo c do furto, a tentacão
da apropriacão dc bcns de outrem (C'usson, 2006: 163). Síio várias as consequências da vitimacao e.
em princípio. quanto mais violenta é a accão Jo \ itimador mais as vítimas sc sentcm pcrturbadas. a
nível tlsico, psicolôgico c social. podcndo csse sofrimento interferir nas suas relacbcs sociais. As
vítimas quc vivem sozinhas ou têm menor apoio por partc dc família ou anngos tendem a scntir
mais o impacto da agressão (/edner. 1997: 592).
Os inquéritos de \ itimacâo mostraram-se fundamentais para o <:\anco da criminologia. uma
vez que complementam as cstatísticas criminais (Cusson, 2006: 165). pois as vítimas nem sempre
partieipam os aclos dc quc foram alvo á polícia, com a justitîcacão de que o acto nâo cra
suficientementc grave. a políeia já nada poderia fazer ou não tcria feito nada, cra inoportuno chamar
a polícia ou a prôpria vítima opta por resolver o assunto (Cusson. 2006: 1 76).
40
inseguranca. "O corrcspondente aumento da coberlura [dos crimes violentosj nos media despertou
um incremento do mcdo dos cidadâos. apesar da realidade do crime não se ter alterado" (Potter e
Kappeler. 1998:6).
Os media actuam como amplilicadores dando uma dimensâo muito grande ao crime.
repctindo. muitas vezes, a mesma infonnacão, pelo que acaba por conferir uma dimensão aos
assuntos que de outra fonna não teriam. Para além disso, sâo uma voz que socialmente tem mais
repercussôes do quc outras vozes que nâo têm acesso a meios de difusão de infonnacâo em larga
escala. Os media servcm para estimular o interessc no crime: "Em adicão â producâo ou â
rcproducão de idcologia. os media também actuam como 'amplificadores'" (Potter e Kappeler,
1998: 18).
A influência dos mass media e a sua capacidade de contribuir para o sentimento de
inseguranca é inegávcl. porém. resta saber até que estádio esse domínio conscgue chcgar, até
porque depende do rcccptor. viClaro quc os media são apcnas uma mcladc da cquacão. A outra
metade é a audiência. As audiêneias são constituídas por indivíduos passivos que absorvem a
propaganda ideolôgica dos jomais. televisão. íilmes e revistas'? Claro que nao" (Potter e Kappeler.
1998: 19), pois tambcm entram cm jogo outras cxpericncias.
Ao contrário dc algumas teorias mediáticas que colocavam todo o poder da comunicacão no
emissor. o receptor tem vindo a conquistar terreno, mostrando que ncm todos os reccptorcs
constituem uma massa anônima. no sentido de serem incapazes de tcr uma opinião c dc rcagir
âquilo quc lhc é transmitido pelos media. O argumento da "cxposicão selectiva" é muito importante.
na medida em que reconsidera a interpretacão do conteúdo mediático e a interpretacão da audiência,
lembrando que a audiência não é passiva c igualitária (Sparks. 1997 : 95).
8. 1. Medo e vitimaeâo
Por sentimento de inseguranca também sâo entendidas as manifestacbcs de medo pessoal ou
de prcocupacão com a ordem verbal. comportamental. individual ou colectiva (Roché. 1993: 135).
"O sentimento de inseguranca pode ser definido como uma inquietude cristalizada sobre um objecto
(o crimc num sentido lato) c sobrc os scus autores" (Roché, 1993: 136).
Assim sendo. para além das questbes extemas ao prôprio indivíduo. existcm factores
intrínsccos que podem pcnnitir uma maior penneabilizacão ao sentimento de inseguranca. A idade
e o sexo são dois factores muito importantes no que respeita â inseguranca e ao medo dc que o
crime bata â nossa porta c não å do lado, os mais idosos c as mulheres são grupos onde o sentimento
de inscguranca conscguc implantar-sc mais facilmentc Por exemplo. os idosos são o gmpo com
29
Síntese
As desigualdades sociais. os sistcmas cducativos. as condicbes lamiliares e as rclacbes entre
pares são factores a considerar, quando sc olha para difcrentes juventudes. modos de convivio e
trajectos diferenciados dcssas mesmos jovens. Parecc ser incontornável que as clivagens provocam
culturas dc rcsistência.
As imagcns cxistentes sobre a juventude são em grandc mcdida responsabiiidade dos media
noticiosos, que lancam fragmentos áo que é ser jovem, contr buindo também, c ccrto. para uma
ideia heterogénca da juventudc onde prevalecc uma imagem de pertcnca a dctenninadas tribos
urbanas. marcadas por rcgras particulares c diferenciadoras. muito associadas a um quotidiano
cspecitico. A iinagem que a sociedade tem dos jovcns, e cm cspecial do> jovens com
comportamentos desviantcs. cm muito é divulgada pclos media. principalmente quando accntuam o
pånico público.
As subculturas e os subgrupos fazem parte da socicdade e nonnalmente feeham-se em si
mesmas. iniciando-se muitas vczcs aqui uma trajectôria de subcu'tura delinquente, ligada a
problcmas de ajustamento c de estatuto. Problemas esses quc podem ser reforcados por cstigmas e
rcgras que tendem a scr aplicadas com maior inlensidadc a uns do que a outros jovens. Scm querer
contomar problemas existentes na socicdadc também não é possível deixar de i'alar em fenômenos
de estigmatizacão c\o "outro". Sabe-sc que os discursos do medo da delinquência sfio rccomentes e
eonduzcm a um mundo fraccionado entre "nôs" e "'elcs". sendo os delir.qucntcs idcntificados com a
imagcm do "outro".
Os sentimentos de inseguranca e a vitimacão são csscncialmente urbanos, embora nem os
discursos da vitimacao e da inseguranca scjam coincidentes. Certo parecc scr o facto dc serem
ambos aivo da atencão dos políticos. que aqui encontram uma ibnna dc se demarearem da
inseguranca e de conquistarem simpatias.
Iniciar a exposicão teôrica por estas considcracbcs parecc sc importante para enlrar no
prôximo capítulo, quc atcnta mais especiíicamente nas reprcsentacôcs e práticas mediáticas sobrc a
delinquência juvenil.
4 2
Quando as vítimas decidem apresentar queixa. fazem-no porque querem uma
rcparacão/indemnizacão/recuperacão do bem. proteccão face ao vitimador, retribuicão e defesa
social, no sentido de cumprirem com um dever cívico (Cusson. 2006: 1 78).
Cusson estudou as distribuicoes da vitimacâo e concluiu que kia vitimacão é um fenômeno
tão generalizado que podc atingir qualqucr um; [...] ela é muito mais frequente cm certas categorias
sociais. o que significa quc não sc distribui ao acaso na populaeâo" (Cusson, 2006: 166). O mesmo
autor refere que certos grupos étnicos são gravcmcnte afectados pclo crime, assim como os solteiros
cm relaeão aos casados e. como já se dissc os jovens (Cusson, 2006: 167). "As ocasiôes de
contacto entre delinquentes potenciais e vitimas potenciais são, portanto. condicionadas pelos
modos de vida. [...] a probabilidadc dc um dclito varia em funcâo do encontro, no tempo e no
espaeo, dc um delinqucntc motivado e de um alvo que possa interessá-lo" (Cusson, 2006: 168). Por
aqui se perccbe que os jovens solteiros muitas vezes possuem hábitos quotidianos de proximidade
dos dclinquentes. muitos deles com o mesmo estado civil (Cusson, 2006: 170).
Para além da proximidadc tambcm a vulncrabilidadc potencia a vitimacão, designadamente
através da fragilidadc dos sistcmas dcfcnsivos. como a forca tĩsica, a vigilância e os alannes.
Rclativamente ao vandalismo. o Inquérito de Vitimaeão de 1994 rcvcla que "a grandc
maioria das vítimas (83%) não conseguiu aperceber-se do género dos autores. o que e um mdicador
da natureza muito anônima do autor" (CiEPVI.I, 1995: 149). o que entra em consonância com a
também já referenciada idcia das auscncias dc rosto.
A prcssão política tcm acentuado a necessidade de corresponder âs necessidades das vítimas,
o perigo que pode existir é o de que essa preocupacâo possa ser usada para justificar o reforco da
punicâo (Zedner, 1 997: 607). o que pode a seu tempo provocar mais vitimacôes.
41
1. As faces do pânico moral
lintrc a literatura cstrangcira relativa á cobertura noticiosa da violência juvenil, um marco
incontornávcl c a análisc iniciada nos comecos dos anos 70 por Stanley Cohen sobre as lutas
ocorridas nos anos 60 cntrc dois subgrupos juvenis. os mods c os rocke>:s]\ numa pequena cstância
balncar cm Clacton. Cohen, na época doutorando na London School of Economics. interessou-se
pclo assunto, rccolheu ai*tigos que saíram nos jornais. criou grupos de discussão c realizou uma
scric dc cntrevistas a jovcns. jornalistas e líderes de opinião loeais. para conseguir compreender
melhoro fenomeno na sua globalidadc
Em Mods anci Rockers: the Inventory as Manufcictured .Ye.r.v, Cohen aborda esta (cmática.
() título c. aliás, explicado pelo prôprio autor. quando fa/ notar que a;3Ôs um desaslrc ou crise se
segue um período de resposta não organi/ada e uma lase de "in\ cntário" (balanco), na qual rumores
e pereepebes ambíguas eonstitucm a base de interprctacão da situacão (Cohen. lc)88: 226).
Ncsta obra. Cohcn sistcmatiza o conceito de pânico moral' . associado ås ideias da
ctiquetagem, do interaccionismo c da teoria do desvio (Thompson, 1998: i.x). () pânico moral surge
quando uma ou várias pcssoas ou cpisbdios emergcntcs são dcfmidos. designadamentc pclos media
c pclos actores politicos, como uma amcaca aos valores e aos interesscs da sociedadc sendo
estercotipados pelos media. Normalmente. o tenno pânico moral é aplicado a cxpressbes de
ansiedade e alamic geral em grande escala, assoeiadas a (supostas) ondas de violência. ICssas
cxpressbes podem ser excessivamentc alarmistas e incentivadas pelos .nedia. que contribuem para
tal, com tendência para ampliticar c sobrevalorizar as situaebes que provocam ansiedadc
Por isto mesmo. Cohen mostrou-se prcocupado com a fonna como os acontccimcntos de
Clacton foram interprctados dcsdc início pclos media. pois considerava que era atravcs deste meio
que as pessoas tomavam contacto com os desvios e os desastres. Segundo o autor, "as pessoas
ficam indignadas ou furiosas. lbnuulam teorias c planos. fazem discursos. cscrevem eartas aos
jomais. A apresentacão c o invcntário por parte dos media do que aeonteceu entre os mods e os
rockers é crucial para detemunar os estados mais tardios de reaceio" (Cohen. 1988: 227).
() inventário mcdiálieo verilieado por Cohcn na lcitura dc jomais quc cobriram as lutas
juvcnis permitiu identiticar trcs componentes: exagero/distorcão, previsao c simbolizacao.
O cxagero c a distorcâo verifícam-sc nas manchetcs sensacionalistas. no vocabulário
mclodramático e na ampiiacâo de alguns elementos da histôria dos mods c dos rockers. Pstes
Apcsar dc os acoi.tecimci.tos dc Clacton icrcm sido \iolcntos c adquirido contonios t.raxes, os mtĸls c os nn L r\ i.âo são considcrados
suhculturas juwnis violentas Amhos (^s unipos reinonlam ao- anos 60 e sâo originários dc I.ondres. Os innth rca\i\arani o csiih> <uthkrntstti
dos ano- -lo c 50 c são um yrupn com imagcm as^ociada ás vtcu/c/v. (ĸ nnkí-rs surgcri cni respc-.la ás im>J\. que se apre^enia\ani como
triho dominante. dctcndcndo os valorcs mais puros do mck Á- m!l c maiitcm-sc ainda hojc mais "vi\cs" do^ quc <>s nvais im,(i\"
( ) conccilo de pãnico inoral l'oi rct'crcnciado pcla primcira \c/ pelo sociôloyo Jock ^.'oiinii, cm 10?
94
Capítulo II
Pesquisas sobre as Representacôcs
da Cobertura Jornalístiea das Delinquências .luvenis
"Entendidos como um espaco discursivo. os media representam. talvez, a prineipal esfera
de producdo de sentidos na soeiedade contemporánecr
(Rosa. 2005)
Estc capítulo apresenta uma revisâo de estudos sobrc a cobertura da delinquência juvenil,
ccntralizando-se na fonna como os meios dc comunicacâo pensam esta temática. aprofundando
pistas que já íbram sendo aprcscntadas no capítulo anterior.
() primciro olhar direcciona-se para os conceitos de pânico moral, com incidência na
tcorizacão de Stanley Cohen, a propbsito dos jovens mods e rockers. Neste ãmbito. aborda-sc a
temática. muitas vezes dissonante, do papel mais ou menos presente e activo dos media na
divulgacâo do pânico moral. com frequência associado a tcmáticas de risco, como é o caso da
dclinquência juvenil.
Os enquadramcntos noticiosos são, também eles, alvo do olhar c, ncstc caso, o tenno olhar.
tantas vczcs utilizado neste trabalho. revela-se assertivo. na medida em que enquadrar pressupôe um
olhar. que também constrôi a(s) rcalidade(s). Neste âmbito, o realce vai para o cnfoque tebrico de
enquadramentos. episodicos e temáticos. que vão ser objecto de estudo na análise cmpírica.
Os jovens e as representaybes de que são objecto cm diferentes partes do globo são aqui alvo
dc um cnfoque mais especílico, no quc diz rcspeito â forma como são noticiados.
As vozes das notícias constituem outros elcmcntos incontomáveis, para sc pcrccber quem
constrôi as imagens das delinqucncias e dos jovens.
Por último. traca-se uma panorâmica sobre estudos portugueses que abordam ou incidem
sobre a delinquência juvenil c os medict.
43
Brian Simpson considcra quc "a afronta ou preocupacão social se podc direecionar para
certos grupos sociais, atravcs da representacao de imagens negativas nos media" ( 1997: 9). () autor,
ao reportar-se ao papel que os media tcm relativamente å criacâo dc pânico moral, avanca com a
concepcão de que muitas vez.es o prineipal objectivo das rcportagens c a captacâo dc audicneias e
nâo a análise ponderada dos aconteeimcntos. Para alcm disso, sustenta que o prbprio acto dc
noticiar os assuntos podc ampliíicar os comportamentos rcponados c eonscqucntemente. o pânico
moral (Simpson. 1997: 12).
Cohen identificou factores que considerou tercm influenciado a naturc/a. a amplitude e o
dcsenvolvimento c\o desvio. FC o caso da tcndcncia para o reforco dc quc vai acontecer algo. usando
rumores e criando símbolos identiticados culturalmcnte e que legitimam aecbcs de punicao. ()
rcforco da dicotomia e da estrutura de eada um dos grupos e a polarizocão dos dcsviantes contra a
comunidadc conduz a um relbrco c å ampliacao da espiral de desvio. O desvio. a norma c a reaccao
a ambos vao tazcndo com que haja altcracbcs na sociedade. eori novos controlos. desvios e criaeao
de esterebtipos \
Iambém Chas Critcher realinna a necessidade de clefmir o signifícado quc deve ser
atribuído â palavra "moral". já que estc c um tenno que pode ser enlendido de diversas formas. No
âinbito do pânico moral, o termo moral podc scr comprcendido de .rês modos: "Centrar-se no
desvio, eomo condicao ou actividade inerentc a um grupo; cnvolver uma ameaca â ordem moral
como um todo c não apcnas como um problcma localizado: moldar esta ameaca em termos de bem
c mal" (Criteher. 2003: 144).
intimamenle associadas ao pânico moral estao duas caractcrístieas. Por um lado. cste
conceito significa quc vai crcscer o nível de preocupaeao relat:vamente ao comportamento de um
grupo ou pessoas individuais. fazcndo com quc lambém crcsca a hostilidade, pois os desviantes sao
vistos como uma ameaga. Por outro, este olhar negativo face ao outro pode scr desproporcionado e
voiátil (Thompson. 1998: 9).
Fste último termo. desproporcionalidade, eonvoca. mais uma vez. uma implícita talta de
proporcionalidade, ou a simples possibilidade, entre a realidadc por um lado. e a ampliacão e
dimensâo de um acontecimento. por outro. como inicialmente íbra avancado por C'ohen.
Judith Bessant. especialisla australian;. cm csiudos da juvcnuide quc ircmos rctcrir adiantc. cntua contudo o quadro lcorico dc ('ohen
rclativo ao pánico moial. designadamenle no que conccmc ao lacto dc os iuik ./fv./.v cntcndidos como demonios sociais. indi\iduos
marginalizados. que nâo têm credihilidadc ncin mcios para contraporcm a rcacgão social que provocam serem aprc-^cntados com pouco
rcalismo, sem oriyens ncm ohjcctnos. lcvando a quc possa pcnsar-se que as repoilaiicns sohre aleun>. ._irup<ts de jovcns são meros cxeiviciiw
tantásticos coin pouca rclacão com a realidailc (I.cssant. I^1'": 25).
46
constituem componentes de deformacâo visíveis na análise efectuada å cobertura jornalística dos
desentendimentos cntre os dois grupos dejovens ingleses (Cohen, 1988: 228). Tennos encontrados
nas páginas dos jomais. como "motim". "orgia da destmicão". "batalha", "ataque" e "cerco", foram
expostos como tendo contribuído para a transmissão da imagem de uma cidade sitiada (Cohen,
1988:228).
Outro principio que acentua o pânico moral c que constitui um elemento do inventário é a
prcvisão. Cohen atentou sobre tennos que apontavam para a possibilidade de cxistência de uma
repeticão da situacâo ou de outra semelhante, ou seja, esteve atento aos enquadramentos escolhidos
pelos jornalistas onde se colocava a hipôtese dc a histôria voltar a aconteccr, projectando a sua
provável recorrcncia. A dúvida levantada prendia-se apenas com a neccssidade de perceber quando
e onde c quc os mods e os rockers iriam enfrentar-se outra vez. As previsôes surgidas no período de
inventário são feitas em forma de declaracôes das figuras locais, como comerciantcs. autarcas e os
porta-vozes da polícia, que opinam sobre o que dcvc ser feito quando a situacão se voltar a repetir
(Cohen, 1988:234).
Cohen refere-se å simbolizacão, â relevância c ao poder que os estercbtipos têm na
comunicacâo mediática e â sua dependência das palavras e das imagcns (Cohen, 1988: 235). Por
exemplo, a palavra "gang" vai apelar para uma série de signifícados de cariz negativo, o que
podcria não acontecer com outras designacôes, tais como "gmpo". O mesmo se passa quando a
referência é feita a acontecimentos que têm uma carga negativa. como Pearl Harbour e Hiroxima.
que não são associados apenas â geografia. "Através da simbolizacão, e dos outros tipos de exagero
e distorcão, são criadas imagens mais deíinidas do que a realidade" (Cohen, 1988: 238).
Outros autores vieram a atribuir importância â simbolizacão na linguagem das notícias. Chas
Critcher, professor de Comunicacão na Universidade de Sheffield Flallam. considera que um tema
sc toma um assunto de pânico moral quando a um dado problema é atribuído um nome pelo qual o
acontecimento passa a ser conhecido. designacâo cssa com detenninada conotacâo e que o vai
identiliear, assim como a toda a simbolizacão a cla ligada (2005: 1 84).
"Os mass media aprcsentam imagens e estercbtipos com os quais as situacôes ambíguas
podem ser reestruturadas. [...] Essas imagens providenciam as bases para os rumores acerca dos
acontecimentos 'ocasionais'" (Cohen, 1988a: 363). O autor avanca ainda com a concepcâo de que
os ''mass media c a exploracão ideolbgica do dcsvio- reforcam a polarizacão: entre os mods e os
rockers, por um lado. e a comunidade adulta por outro" (Cohen, 1988a: 366), dando aqui conta de
uma íragmentaeão por vezes existente entre o que são os jovens e o que são as imagens quc os
adultos tcm deles, como já foi rcfcrido no capítulo anterior.
45
Nos anos posteriores aos primeiros estudos de Cohen sobre o conceito de pânico moral,
desenharam-se duas grandes tendências.
Por um lado. especialmcnte nos Estados L'nidos. as pesquisas foram marcadas pela
perspectiva de que os inedia nâo são encarados como os únicos actores; pclo eontrário. sao um
elemento entre outros. alguns dos quais orgamzados. que funcionam a montantc dos media e que os
inlluenciam. Segundo csta linha, os problcmas sociais sâo construídos cm assuntos importantes
públicos, requercndo a accâo das autoridadcs.
Por outro lado, uma segunda tendência. principalmentc britânica. atribui o papel principal
aos media como elcmentos de criacâo do pânico moral. scndo mcnos depcndcntcs das campanhas
orquestradas a montante (Critcher, 2005: 178).
1.2. O pânico moral e as temúticas ite risco
Ainda mantendo a atencâo voltada para o pânico morai. Critcher associa-o ao risco e ao
discurso em si mesmo:
"
As nossas preocupaebes com o riseo e a teoria clo discurso sdo especificas.
O conceiio cie risco pode aj'udar a identifiear eomo grupos específicos cle pessoas.
objeelos ou aetividades sdo definidos como constiluinics de riseo para a ordem
moral oit i/uminar a evidéncia retbriea cia análise de diseurso sobre o risco Pode
até ser úiil repensar o pânico moral como um discurso sobre o risco"
(Critcher.
2003: 164).
Ao longo de anos. várias foram as temáticas associadas ao pânieo moral: crime. juventudes
ameaeadoras da nonna instalada e vistas como potcncialmente imorais. muggers, erianeas a
matarem crianeas, SIDA e pedofilia são apenas alguns exemplos. Algumas das fonnas e contextos
que distinguem as questbcs dc pânico moral dos assuntos sociais ligados aos movimentos sociais c
por excmplo, aos grupos de pressão são as earacterísticas episôdicas dos acontecimentos ligados por
desilusão e histcria colectiva. rumores. lendas. desastrcs c os processcs de convergência quc Ihes
sao associados, multidbes e difamacão cm massa (Thompson, 1998: 14). () autor aponla o faeto de,
no Reino Unido. continuar a haver um enfoque especial da análise sociolbgica do pânieo moral nas
culturas juvenis, apontando a juvcntude como o grupo etário mais associado ao risco.
No livro Youth. Crime and the Media (1997). reportando-se â Austrália. Bessant refere quc
não é certo quando é quc os media do país comecaram a usar termos norte-americanos para se
49
/./. O pânico moral e os niedia noticiosos
Recorde-se que Cohen atribuiu um papel preponderantc aos media no desenvolvimento do
pânico moral. Ao analisar a cobcitura dos mod.s e os rockers, scntiu necessidade de evocar que
entraram na agenda jomalística num contcxto que sugeria tercm comccado a existir nesse momcnto.
dc fonna a justiiicar a súbita e cntusiasta noticiabilidadc, quando. na realidade. já existiam
anterionnente (Cohen. 1988: 240).
Nos media. durante um dctemnnado período de tempo, mais ou menos longo. costumam ser
apresentados assuntos sobrc a fonna de campanhas (cruzadas). Há um apelo âs pessoas mais
alannadas com a fragmentacão da ordem social. o quc as deixa em situacâo dc risco. Muitas vezes
são os políticos e os media que lideram a eampanha e reclamam a supressâo da ameaca (Thompson.
1998: 3). O pânico moral, dcsignadamcnte em tomo da delinqucncia que afecta os mais
desprotegidos socialmcntc tcm facilitado o apoio da socicdade civil para a implemcntacâo de
medidas coercivas do Estado, para que a sociedadc sc mantenha disciplinada. O pânico moral
funciona como legitimador do controlo. Dc facto. esta busca dc lcgitimacâo acaneta uma crítica ao
pânico moral, na mcdida cm que gmpos de pressâo podcm acentuar marcas de pânico moral em
acontecimcntos que não são abordados na sua pluralidade de valores e complexidades. mas apenas
de fonna a legitimarem accbcs.
Atendendo â agenda e âs implicacbcs quc aprcsenta numa situacâo dc pânico moral. Chas
Critchcr considera que a agenda é. simultaneamentc a defmicão do problema e a prescricão da
solucão. As situacôcs dc pânico moral acarretam a necessidade de accâo. como scjam as mudancas
na lei e na sua aplicaeâo (Critcher, 2005: 181: Welch. 2002. 10). Importa assinalar que não são
apenas as alteracbes legislativas a surgir quando é necessário repor a ordem. pois o reforco da accão
policial é muitas ve/es convocado. Os agentes do controlo social chegam a considerar que para
novos problemas são neccssários novos remédios, mesmo que isso iniba liberdades ((ioode e Ben-
Yehuda. 1998:32).
Chas Critcher sumaria cinco factores que cstão associados ao pânico moral: "reconhecer a
existência de um problema social novo e amcacador; etiquetar, definir e intcrpretar o problema c os
seus perpetradores; desenvolver uma agenda sobre o problema-
as suas causas e resolucbes;
legitimar os pontos de vista dos experts; e exigir accbes relevantcs por parte das elitcs políticas"
(Critcher. 2005: 179). Para cstes processos se reali/arcm. é ncccssário o papel dos media, que pode
variar. e contar com prcsenca de grupos dc intercssc. scndo o crimc um dos temas quc simbolizam
uma ameaca de maiores proporcbcs (Critcher. 2005: 180).
47
James Bulger. de dois anos. foi morto por dois rapazes dc 10 anos. de novo com mencbcs
bipolarizadas entre vítima.agressores. o bemmal. boasmás famílias e boa iná mae. De assinalar
aqui a simbolizacão na construcâo de ideias. com a prcscnca de analogias entre diferentes casos' .
Depois do Folk Devi/s and Moral Panics de Cohen. o trabalho de Stuart Hall e dos seus
colcgas de Binningham sobre o mugging, datado dos finais da década de 70, é dos mais importantes
sobre o pânico moral. O mugging, um termo que referc, normalmcnte. assaltos na rua quc podem.
ou nao, envolver violência tisica e psicolbgica c quc sao destin.ĸlos a pessoas mug. ou seja \ ítimas
fáccis, saltou para as páginas dos jornais em 1972. a propbsito dc um assalto perpetrado por três
jovcns idcntilicados como "negros"-
a um idoso, quc acabou por scr apunhalado (Thompson.
1998: 63). Seguiram-se imagens lelevisivas, por exemplo. de jovens sem grandcs possibilidadcs dc
lazer e como tal idcntiticados como fontes de perigo. agravando-se esse fenômeno pelo dcclínio da
família tradicional e dos valores de disciplina. No inicio. este fenônieno tcve características de
singularidade. "0 mugging rompe coino uma "estbria's' dcvido ã sua singularidadc, â sua novidade.
Isto encaixa-sc na nocâo do singular como valor-notícia principal: a maior parte das 'estbrias'
parecc necessitar, em primeiro lugar. de algum elcmento novo para sercm levadas å visibilidade
noticiosa: o mugging não foi excepcâo" (Hall et .//. 1999: 242). Olhando o mugging eoino pretexto
para a análise do jornalismo, em A producdo social cias notícias: o mttgging nos media. podc lcr-se:
"os valorcs-notícia fomecem critérios nas práticas de rotina do joriaiismo que pennitem aos
jornalistas, editores e agenles noticiosos decidir rotineira c regulanncrte sobrc quais as 'esibrias'
que sao 'noliciáveis' c quais não são" (Hall et _//, 1999: 225). Outro aspecto é identificado como
importantc mais directamente relacionado com a eonstmcão da notíeia:
"Se o munc/o ndo é para ser represenlado como uma confusdo de
acontecimentos. ciesordenados e eabticos. enfdo esses aeontecimentos devem ser
identificados (isto é. designados. definidos. relacionados com oufros aconfeeimentos
cio conhecimento público) e inseridos num contexio social iisio é. num quadro de
significados familiares ao púbiico)" (Hall et a/. 1999: 225 e 2269
()s acontecimentos considerados problemáticos rompcm com o ,'uc sc espera no quotidiano
e, por isso mesmo. sâo tidos como amcacadores para uina sociedade que se centra na prefcréneia do
t'rilcl.cr tanihem alenlou sohre a l'orna como os maiia noticiosos enlati/aram a cumplicidadc enlic a inlancia e os viJca iuishc.
I ncontrou relercncias ao caso Bulger (Ttoinpson Uh>S: Springhall, UW.St, abordando a lcmática do pânico moral relacionado com os viJcn
nasth v, idenlil.cados co.mo tendo inlluenciado o< rapa/cs. já quc tinham assistido ao .Itigu Jc Criaiica _>' (("rilcher. 2003: ô7 c dSt1
"I)i/cr que uma noticia c uma 'csiona' não ê de modo nenl.um rcbaixar a noticia. neni acusá-la de scr llctícia. Melhor. alerta-nos para o
lacio Je a nolicia |...| ser uma realidade conslruída possuidora da sua propria validade intcrna. (K rclatos noticiosos. ntats uma realidade
sc!ecti\a do quc uma reahdade smtctica. como acoi.tccc na litcratura. e\islcm poi si s<2 I lcs são documentos públicos que colocam um
mundo a mw-a frente'* (I uchman, \ĸ'')'): 2^2).
50
referircm å experiência australiana, mas aponta os últimos anos da década de 80 (apesar dc haver
excmplos anteriores a cssa data). Entre os tennos adoptados, encontra-se a palavra "selvagem fĩ".
associada a adolescentes, que também são olhados como desviantes, perigosos e membros de uma
subcultura oposta â cultura social vigente (Bessant, 1997: 25). como se lc cm título do Sydney
Moming Herald (22 dc Janciro dc 1983): "Jovens descncantados fonnam tribos urbanas para
sobreviverem num mundo com crescente descmprego e diticuldades cconbmicas". Estas
parangonas demonstram uma representacão mcdiática das subclasses juvenis associadas a unidades
e diferencas promovendo antagonismos. "A situacâo toma-se particulanncntc evidente quando se
observam as linhas de demarcacão quc classificam e distinguem 'elcs dc nbs'". destaca Bessant
(idem: 26). As subclasses são idcntiticadas por elcmentos que as tomam diferentes de nbs e as
transfonnam em outros.
Os estudos empíricos australianos tcm abordado o crime relacionado com jovens aborígenes.
vistos como os outros por excelcncia, face ã comunidade "branca" australiana. Os problemas
econbmicos dos anos 70 c 80 são ligados ao dcsemprcgo, em particular o juvenil. associado ao
aumento da pobrcza. Comecou. assim, a cmcrgir uma percepcâo criada pclos media que acentua o
problcma do desemprego como amcaca para a ordem social. com incidência na figura dos jovens
aborígenes (Hill, 1997: 68). Esta situacâo conduziu a um aumento de medidas políticas punilivas. O
artigo rcforca a ideia de uma incidência nos media dos problemas juvenis associados aos
aborigenes, com emcrgcncia do pânico moral.
Há ainda expressbes que condicionam locais quc podem scr considerados mais pcrigosos:
"crimes de rua", "áreas de crimc" e "zonas de erimc" (Hill, 1997: 68). Para melhor dar a conhecer a
situacão, é analisada a forma como foi rctratada a delinquência juvenil numa pequena comunidade
mral, Ayr, cntre 1992 e 1994. cm acontccimentos que captaram a atencão dos media australianos.
Encontraram-se refercncias a "ondas de crime" juvenil, "comportamentos ilegais", "tenor de gangs
juvenis". "um gang de jovens negros sem respeito pela autoridade" (Hill, 1 997: 69 c 70). "A análise
ås notíeias sobre o 'problema do crime juvenil' em Ayr. desenhou uma série de conexbes cntrc as
representacôes simbblicas da comunidade como 'crime hot spof e as accôes dos jovens negros"
(Hill. 1997: 73).
No mesmo livro. em alusão ao retrato que a imprensa australiana faz dos "rapazes quc
matam". recorda-se o caso de dois rapazes. de 13 e de 14 anos. que roubaram e apunhalaram um
taxista. em 1995. e onde os media cstabeleceram paralelos com o caso britânico dc 1993. quando
"'hm "Moral panic over voitfh violcncc: wihling and ihe mamikiciitrc of mcnacc in liic malia" lan^a-se um olhar sobre a cohertura de um
ataque por um grupo de jovens rapazcs da cidade a uma mulher que fazta jogping no Central Park (Nova Iorque). que loi violada e deixada a
morrer. em U'S^. C'omo revê cste estudo. a pala\ra "sclvagem". quc enfati/a\a o prôprio actojá de si sullcientemente forte. acabou por ser
repetidamente usada pelos mcJia, lam;ando o pãnico e o medo sobre ns cĸladâos (Welch cl al ,2002: 3).
49
No primeiro caso, existe uma logica segundo a qual "quanto mais ampliíicado é o
acontecimenlo mais possibilidades tem a notícia de ser notada, seja pcla amplilicacao do acto, do
interveniente ou das supostas consequências do acto" (Traquina. 2002: 199). Por dramatizacão
entendc-sc o reforco do lado emocional e da natureza do conflito. De assinalar ainda que o valor-
-notícia da personalizacâo, factor igualmente importante de noticiabilidade.
"A notícia relata um facto que foi distinguido. um facto notáve9 Mas o facto notável nâo c
observado num ambiente neulro. F.-o, pelo contrário, num meio ambiente activo. que constrbi a sua
prbpria ideia do que é notávcl e do que deve aceder ao estaluto de notícia" (Cornu, 1 994: 294).
2. Eiiquadramentos da cobertura jornalístiea
Os enquadramentos jornalísticos foram trabalhados por Gaye Tuchman quc de uma forma
gcnérica, afinna: "As notícias são uma janela para o mundo. [...] A panorâmica alravcs de uma
janela dependc de esta ser larga ou estreita. de ter muitas ou poucas traves. do vidro scr opaco ou
transparente, do facto de a janela dar para uma rua ou para um quintal" (Tuchman, 1980: 1). A
autora considera que a producão de notícias constitui um acto de construcâo da rcalidade e não uma
imagem da realidade (Tuchman, 1980: 12). Hsta reflexâo é partilhada por vários investigadorcs.
sendo rccomcnte em muilos estudos: "Embora as notícias não sejam ficcão, sâo uma 'cstbria' sobrc
a realidade, não a realidade em si" (Bird c Dardcnne, 1999: 276).
Na obra de Tuchman encontra-se a ideia de quc "como frames as 'eslbrias' oferecem
definicbes da realidadc social" (1999: 259). Frving Goffman considera que "as definicbes de uma
situacâo são construídas de acordo com princípios dc organizacâo que govemam os acontecimentos
- pelo menos os sociais -
e o nosso envolvimento subjectivo neles: o enquadramento c a palavra
que eu uso para me referir a estes clcmcntos básicos que consigo identilicar,, (Goffman. 1986. 10 c
11).
Robert Entman. que estudou o racismo para se debruear sobre os enquadramentos. numa
pesquisa que contemplou a análise de pecas televisivas, vcrificou quc em acontecimentos que
envolveram jovens de diferentcs etnias "a perspectiva branca do acontecimento dominou a histbria"
(1997: 284). Na eategoria de crime, "a vitimacão dos brancos através dos actos dos negros mostrou
ter grande prioridadc Ao longo da semana estudada. a estbria de vitimacão branca que obtevc mais
destaque foi a de quatro raparigas brancas agrcdidas e esfaqueadas por duas raparigas negras. num
percurso de autocamo cm Chicago" (Entman. 1997: 284). O autor -
quc apurou quc as duas
raparigas identificadas como "negras" nunca foram citadas considera quc, "nas esibrias
52
conscnso, da ordem e da rotina. A insercao de acontecimcntos problemáticos na agenda contribui
para reafírmar o que a sociedade tem de convencional (Hall et ah 1999: 228). Por isso mesmo, os
autores afirmam que "o crime é, entâo, 'notícia' porque o seu tratamento cvoca ameacas mas
também reafirma a moralidade consensual da sociedade" (Hall et al, 1999: 237).
A importância do crime enquanto valor-notícia revela-se essencial: "Um ponto especial do
crime como notícia é o estatuto particular da violência enquanto valor-notícia. Qualquer crime podc
ser destacado se a violência lhe estivcr associada, visto a violéncia scr talvez o supremo exemplo
das 'consequências negativas dos valores-notícia'" (Hall et al, 1999: 238).
A abordagem do risco em matéria de delinqucncia comec-a também a ser marcada pelo
género, que tcm recebido mais atencão por parte dos estudos que analisam a cobertura mediática.
Apesar dc haver uma maior atencão ås actividades das raparigas nos estudos sobre culturas juvcnis,
clas "continuavam a aparecer como dbceis e sem serem o foco principal do pânico moral. Este não é
o caso do pânico moral que se iniciou nos anos 90 acerca do aumento da violência feminina nos
gangs" (Thompson. 1998: 111). Um dos episbdios mais mediatizados e que preencheu as primeiras
páginas do periôdicos ingleses envolveu a actriz Flizabeth I Iurley, atacada em Chelsea (zona rica de
Fondres) por quatro raparigas adolescentes. O acontecimento foi amplamente coberto pelos media e
serviu de ponto de partida para a especulaeão sobrc os gangs de raparigas e o aumento da violência
entre as mulheres.
Sendo a noticiabilidade o eonjunto de clementos através dos quais um brgão de
comunicacão social gere e controla o número e a tipologia dos acontecimentos, a seleccão das
notícias passa, tambcm, pclo seu valor-notícia, por aquilo que contribui para a sclcccão noticiosa.
"Os valorcs-notícia são um elemento básico da cultura jomalística, partilhado pelos membros desta
comunidade inteipretativa. Scrvcm de 'bculos' para ver o mundo e para o construir" (Traquina,
2002: 203). Os valores-notícia variam dc jornal para jornal, de época para época. Para Wolf, os
valores-notícia pcrpassam todo o processo produtivo, desde que se selecciona a notícia até ao
momento cm qtie se constrôi a mesma. Os valores-notícia já fazcm parte das rotinas, "dcvem
permitir que a seleccão do material seja executada com rapidez, de um modo quase 'automático'. e
que essa seleccão se caracterize por um ccrto grau de flexibilidade" (Wolf, 2003: 197-198). Hntre os
valores-notícia de seleccâo, é possível identificar a morte, a notoriedade, a proximidade, a novidadc,
a actualidadc a efeméridc a notabilidade (muito voltada para acontecimentos específicos e não
tanto para problemáticas), a quantidade, o inespcrado, a controvérsia, o escândalo. o desvio. Nos
valores-noticia de construcão, isto é, os quc são incluídos na elaboracão da peca, é de assinalar dois
com especial relcvância no presente trabalho: a ampliacão e a dramatizacão.
51
semelhantes. que cnfatizam questôes como "porquê" c "ccmo", e:n eontraste com as pccas
episbdicas que se ccntram num único acontecimento, respondcndo ao "o quc" aconteccu a um
micronível (McManus e Dorfman, 2000: 6).
Na verdade, a agenda mcdiática é marcada por rotinas. apcsar dc as exeepcbes ås práticas
habituais constituírem momcntos altos da producâo noticiosa. É também ineontomávcl que a
repeticâo de dctenninados factos c incvitavelmente uma fonna de dommio na agenda. 0 fenbmeno
do crime parece inserir-se nestc âmbito: "Claro que as noticias dc crimes não apresentam de modo
uniforme esta natureza dramática. Muito c rotina e sumário, porque o volumc dos crimcs é sô por si
visto como rotina. O crime é entendido como um fenômeno pennanentemente reincidente c por
isso, é inspeccionado pclos media de uma fonna igualmentc rotineira" (Hall et .//. 1999: 238).
Nestas fonnas rotineiras. as pccas são habitualmente desprovidas dc cnquadramentos temáticos.
Importa ainda referenciar um estudo de lyangar, sobre a agenda mediática da ABC, da CBS
c da NBC entre 1981 e 1986, contemplando os enquadramentos episbdicos e temáticos sobre
tcrrorismo. crime, pobreza, descmprego e desigualdade racial. Iyengar veriiicou quc as estbrias
sobre crime se apresentaram essencialmente com cnquadramer.tos episbdicos. concluindo quc "no
caso do crime, o enquadramcnto episbdico dominante fez crescer as atribuiebcs de responsabilidade
individual [...]. Tendo em conta que o crime e simultaneamente um assunto ameacador e carregado
emocionalmente [...], é curioso que haja uma quantidade relativamcnt.. modesta de notícias sobre
drogas ilcgais, crime branco ou negro c processos em justieu" (lyengar, 1991 : 45).
Se o crimc teve um processo de enquadramento prcdominantemente episbdico (o mcsmo
acontecendo com o terrorismo e com a pobreza). é interessantc veritlcar que pecas ligadas ao
desemprego tiveram uma cobertura com oricntacâo lemática acentuada (Iyengar. 1991: 47).
chegando o investigador â conclusão de que esta orientacão tcmática salienta as responsabilidadcs
sociais cm oposicâo âs individuais da cobertura episbdica (Iyengar, 1991 : 67). Por cxemplo. quando
as notícias televisivas mostram a pobreza de forma temática. os telespectadores apresentam um
scntido dc responsabilidadc social mais forte, "enquanto os enquadramentos indivíduo/vítima
produzem um maior sentido de responsabilidade individual" (lyengar, 1997: 281).
Por tim, a desigualdadc racial teve uma cobertura temática, cnbora se lenha mostrado a
mais complcxa e multifacetada, sem uma cisâo acentuacia entrc uma c outra fonna dc
enquadramento (lyengar, 1991: 48).
54
analisadas. o crime reportado mostrou os negros como particulannente ameacadorcs" (Entman.
1997: 286). Reforcando esta mcsma ideia, outros autorcs consideram que "as notícias típicas sobre
crime consistem em dois 'scripts: o crime é \ iolento e os criminosos são nâo-brancos" (Gilliam Jr.
eral. 1997:288).
Inevitavelmentc a construeão do olhar c feita através de perspectivas veiculadas a cada
minuto. designadamentc através dos media: "Os cnquadramentos sâo significados pelos quais um
sentido particular c dado a um assunto" (Dcaring c Rogers, 1996: 64). Estas constmcbes defincm
parâmetros, significados e simbolismos. Os enquadramentos noticiosos são de tal fonna importantes
que podem dctenninar a fonua como um detenninado problcma ou assunto é encarado.
"A SIDA foi inicialmente enquadrada peios media como um assunto gay
[...[. Porém. mais tarde perceheu-se que o vírus pocíia ser transmitido através de
transfusbes sangttineas. cie eontactos heferossexuciis e pela parti/ha de seringas.
assim como por contacto homossexua/. Assim. os media passaram a enquadrar a
SIDA como um problema que afecíava algttns segmentos da popuiacão norte-
amerieana. mas ndo como uma ameaca para lodos" (Dearing e Rogers, 1996: 33).
Os enquadramentos podem tomar um ponto de vista mais importante e, assim, cnfatizar uma
causa particular desse fenbmcno. "O conceito de enquadramcnto refere-se a uma alteracão subtil na
indicacão ou aprcscntacâo de julgamentos c cscolha de problemas" (lyengar. 1991 : 11).
Intcrcssa-nos agora paitir para a obra Is Anyone Responsibie? , de Shanto Iyangar. que dá
indicaebes sobre enquadramentos lemálicos c cpisbdicos. centrados no recorte noticioso escolhido.
"Os enquadramentos noticiosos cpisbdicos focam acontecimentos específicos ou casos particulares.
enquanto os temáticos colocam os assuntos políticos e os acontecimentos num enquadramcnto
geral" (iycngar. 1991: 2). Conforme se poderá veriticar. vários estudos apontam para o facto de os
cnquadramentos episbdicos estarem mais associados a cobertura de rotina.
A diferenca fundamental entrc enquadramentos episbdicos e temáticos tem a ver com o
facto de os primeiros abarcarem aconteeimcntos concretos que ilustram assuntos, enquanto os
segundos apresentam uma evidcncia colectiva ou geral (lycngar. 1991: 14).
Para completar a definicão destcs enquadramcntos. sâo dc convocar as propostas do
Berkeley Vlcdia Studies Group (FUA). um dos centros dc investigacâo intcmacionais que mais
atencâo tem votado â temática da violência juvenil e que tem trabalhado os enquadramentos
temáticos (análise e contcxtualizacão. oricntados para um assunto) versus episbdicos (focados no
acontecimento). As estbrias temáticas são as que olham para as relacbes entre acontecimentos
seleccão de um jornal ao acaso todos os 13 dias durantc um ano dc Juivio de 1998 a Vlaio de 1999.
enquanto a outra rcuniu os scte dias de Ahril de 1999. depois do tiroteic na escola. Veriticou-se que
apenas dois tbpicos dominavam a cobcrtura juvenil em períodos de rotina: a educacão e a violência.
scndo que as pecas sobre violência ocupavam 25'9, da cobertura. A violéncia foi o tôpico dominante
na semana a seguir a Columbine. atingindo 67r9. da cobcrtura (McVlanus c Dorfman, 2000: 4 e 5).
Quanto á l'orma eomo são reportadas a> estbrias sobrc violência juvcnil. escrevem os autores
que se coloca a seguinte questão: Se se perguntar a um jornalista que motivos podem estar na
origem da violência, diíieilmente este respondcrá quc isso sucede apenas porque algucm dccidc
magoar algucm. "Sabcmos quc os jornalislas respondem com a complexidade apropriada. porque
foi o que fizeram na cobertura do tirotcio cm Columbinc Porém, a maior parte dessa eomplexidadc
é deixada de lado durante um ano de cobertura jornalístiea da violencia juvcnif' (McManus e
Dorfman, 2000: 6).
Da amostra recolhida ao longo de um ano, os invcstigadores cliegaram â conclusão de que
cerca de dois tercos das peeas tinha um enquadramento cpisod co c apenas um tereo aprcsenta um
cnquadramcnto tcmático. \'a semana apbs Columbine. as perecntagcns inverteram-se com as peeas
com enquadramentos temáticos a crescercm atc aos 60% e os enquadramcntos episbdicos a caírem
para os 40";.. Na altura de Columbine. as estbrias desdobraram-se assim em enquadramentos
temáticos (VlcManus e Dorfman. 2000: 6).
Ainda desta investigacâo resultou um outro artigo de John McManus c Lon Dorfman. no
Xewspaper Research Journal. com o título "Youth vioienee siories focus on events. not causes",
sublinhando cssas duas coberturas: na amostra de um ano. cerca dc dois tercos dos artigos estavam
estruturados eomo cpisôdios (cvcntos discretos) e uin terco ca trataco sob a fonna de análises.
Mas. na amoslra pbs-Columbine houve uma inversão. Scssenia por cento das pecas tinham uma
expressão predominantemente temática. o que em muito adve:o de a jobertura de Columbine ter
sido extensiva e em cada dia se apresentar v árias estbrias ( VlcManus c Dorfman, 2002: 13).
I'.m ")outh and violence on locaî television news in California". concluiu-se que "o
enquadramento episôdico sobre violência foi cinco vczcs mais utilizado do que o temático. ICntre as
estbrias lematicas. que assocam a violência a factorcs alargados. foram raras as quc ineluíam uma
perspeetiva enquadrada da violcncia como assunto de saúde pública. com pcrspectiva das causas c
das soluebes" (Dorfman et .//.. 1997: 1314). Ncsle artigo, os autores consideram que é mais positiva
a divulgacão das noticias sobre violência juvenil numa perspjctiva dc saúde pública cm vez da
optica da justica criminal. pois podc contribuir para aprcsentacao dc solucbes altemativas ã punicâo
pura e simples (Dorfman ei ai. 1997: 131 1 ). O conlcxto cm que a violcncia ocorre é ignorado ou
minorado em S4"o dos easos. uma conclusao que se aproxima dos estudos que apontam para uma
56
2.1. Enqaadramentos da cobertnra jornalísticu: exemplos do olhar episádico e do
temútico
A literatura sobre a cobcrtura mediátiea da delinqucncia'violência juvenil rcflecte a
crispacão do tema verilicada sobrctudo a partir dos anos 90. dccada em que o assunto conquistou
maior noticiabilidade, como sc pbde verifĩcar cm praticamente todos os estudos aqui indicados. A
representacâo mcdiática dos jovens como um problcma não constitui novidadc mas a partir dos
anos 90 esscs jovens problemátieos passaram a estar associados âs "classes perigosas" (Bessant e
Hill. 1997:3).
Esta transposicao para agenda mediática devcu-sc também ao íacto de terem ocorrido
acontecimentos mais mediáticos, designadamentc nos Estados Unidos, nos tinais dos anos 90, como
o tiroteio numa escola em Columbinc"".
Aliás. eomo será possívcl vcriticar. uma grandc partc dos estudos tiveram como ponto de
partida estc caso ou pelo menos focam-no. Comecaram a ter maior rcpresentatividade algumas
pcsquisas que procuram sabcr sc há diferencas de enquadramcnto noticioso em momcntos de rotina
e quando ocoitc uma acontecimento extraordinário.
Na investigacão "Youth and violencc in California newspapers". ôo Berkeley Media Studies
Group, realizada apbs o tiroteio de Columbinc, cm três jomais (Los Angeles Times, San Francisco
Chronicle e Sacramento Bee), a amostra foi recolhida de forma a quc se comparasse a cobertura de
rotina e com a daquele acontecimento cxtraordinário. Assim. uma das amostras contemplou a
|vA referéncia a delinquência. violência é propositada. uma vez que a tendência geral dos estudos e para se relerir a \iolência e não tanto a
delinquência. pelo que se decidiu. denlro do possnel. mantcr a> terminologias usadas. A ulleracão dos codigos legais em diferentes épocas e
diferentes paises podcrá estar na origem desta dissonância. até porque elaramenle há accôes que tém um enquadramenlo penal. a luz da
legislacão portuguesa. mas que são apcnas referenciadas como violcntas.:"No dia 20 de Abril dc U)<)9 Dylan Klebold e hric llarris entraram numa escola de ( olumbinc (Littlelon, Colorado) com armas de fogo e
mataram mais de uma dczena de eolegas e uma professora. tendo provocado lerimentos em outras pessoas. Depois de terem concluido aquclc
que lîcou conhecido como o massacre de ( olumbinc c quc c lido como o niais violento tiroteio numa cscola nos Fslados Unidos da Amcrica.
osjovens suicidaram-se.
Dada a repercussão que este acon.ecimento tcve ao nivel da investigacão sobre a cobcrtura da delinquéncia juvenil. pareceu ser importante
no contexto do presente trabalho cspreitar o Púhlico e o C<>rrei,> ./.. Munhã iCM). dc 20 a 26 de Abril de 1<W9. incidindo assim sobre a
semana em que ocorreram as mortcs na escola do Colorado.
Para comecar. podemos venficar quc nas edicôes de dia 20. numa altura em quc ainda não tinha sido noticiado o tiroteio i.os periodicos
portugue^, sd o C.\l apresentou uma breve sobre delinquência juvenil. fcila na delegacâo do Porto. que relatava um roubo perpetrado por
três jovens toxicodependentes. quc coi.M-guiram l'ugu.
\'o dia 21. os dois jornais dão conta. na última página. do tiroteio em Columbine. Inquanto o ('../ atribui o crime a "dois homens'". o Púhlico
refere-se a "trés adolesccntes'*. A confusâo sobre o que efectivamcntc tinha acontecido era evidente. Podemos ainda dizer que a noticia do
CM deveria ser proveniente de agéncia noticiosa. não cstando a->sinada. sendo que a do Pithlico tinha a assinalura de Bárbara Reis. em N'o\a
Iorque.A 22. cstc tema foi destacado na primeira pagina do Púhlico. ocupando metade da mesma c cmpregando o seguinte título: Scria possivcl cm
Portugal'.' . A resposta no ittterior indica quc não. embora sc assuma que Itá casos de violencia de alunos. especialmcntc nas escolas. t.stc
tema foi o destaque do Pithlico. que Ihe deu um enquadramenlo temático. ocupou duas páginas e Ibi assinado. No CM. que te\c uina
cobertura episodica. cont uma página c o contcúdo proveio de agência noticiosa cstrangcira.
tm jeito de resumo. ao longo dcsta scmana. foram encoimadas seis unidades dc redacvão no Pithlicu e cmeo no ( \/ dedicadas a
delínquência juvenil. sendo que no Pithlico apenas duas pecas tinham a vcr com ocorrências em Portugal e as outras quatro com o tiroteio de
("olumbine. já no CM três pecas eram referentes a Portugal e duas a ('olumbine. Pode concluir-sc que Columbine foi mais dcstacado no
Pûhlico do que no CM.
S^
de problemas. assuntos e tcndcncias. com referências substanciais a factores extcmos ao evento.
enquanto 39% sâo episbdicas (histôria com enfoque em eventos ou incidentes especificos). Já nas
de língua mglesa. 17% são temáticas e 83% episbdicas. invcrtendo-se as posicbcs. ()u seja. os
resultados da análise de conteúdo "rcvclam quc as notícias sobre jovens e/ou violência na tclevisão
local de língua espanhola são cnquadradas tematicamente (com contexto social, político e
cconbmico) 3.5 vezes mais do que nas notícias da televisâo íocal de língua inglesa" (Chávez e
Dorfman. 1996: 121).
"O.v editores de noíícias da televisdo de língua espanhola estdo mais
sensibilizados pctra divuigar assuntos deforma contextualizada do qite para os tratar
como aconfecimenfos singuiares. [...] (jeralmenfe, os jornalistas cias televisbes loeais
de iíngua espanhola, assim como os da rádio e os cla imprensa. vêem-se imbuídos de
responsabiliciades sociais" (Chávez e Dorfman, 1996: 135).
Estcs rcsultados fazem pensar que há assuntos quc sâo mais prbximos dos prbprios
jomalistas e editores e, como tal, acabam por ter um tratamento mais aprofundado,
independentemenle de se estar a cobrir rotinas. Neste caso, há uma responsabilizacâo dos jornalistas
dc língua espanhola para com os seus semelhantes, uma vez que nesta matéria jornalistas c
retratados pertencem a um grupo minoritário, cm relacâo ao maioritário. este último o original do
país onde se cncontram.
Esta última proposta não invalida. porem, as apresentacbes anteriores, atc porque o presente
trabalho centra-sc em jornais de infonnacão generalista. Por isso, é preciso ter em conta os estudos
que indicam que o tratamcnto da violência se baseia na apresentacao dc casos pontuais, onde a
investigacão c uma visão mais abrangente e profunda dos fenbmenos ficam amedadas das linhas dos
jomais. Os autores e cstudos indicados apontam para que as pccas são predominantemente
descrilivas, não têm contextualizacão nem procuram causas de violência ou mcsmo apresentam
tentativas de cncontrar solucbes.
3. Causas e solucôes
As pesquisas sobre a cobertura da delinquência juvenil rcfiectem a notada ausência dc peeas
que apontem eausas e solucbes para a delinquêneia, cmbora considerem quc apontar causas e
natureza episôdica da difusão de notíeias. "Mesmo as pecas sobrc violcncia que apareceram
contextualizadas. foram-no principalmentc pcla perspectiva das 'notícias que pode usar'- accbcs
que as pessoas podem tomar para se protcgerem-
e não pcla perspectiva da apresentacão dc
factores de risco ou percursores da violcncia" (Dorfman et af. 1997: 1314).
Do mesmo continente. mas dc um país de origens portuguesas. do Brasil. surge uma
pesquisa. com o título Balas Perdidas2] . A ANDI. Agéncia de Notícias dos Dircitos da Infância, do
Brasil. analisa a fonna como a imprensa brasileira se comporta quando dá conta da violência a
diversos níveis. com um olhar sobre as erianeas c os adolescentes como vítimas ou agentes de
violência. Ao longo dcsta investigacao, de ccrta fonna propôem-se leituras sobre a natureza dos
enquadramcntos. temáticos ou episbdicos. As conclusbcs são muito semelhantes aos estudos
antcriores. apesar das realidadcs sociais serem difercntcs. "80% de todas as insercbes analisadas
limita-se a descrever crimes. Em menos de 8% das reportagcns discute-se as causas do cvento
delituoso. 12 sô em um terco desses 8%> as eausas vêm acompanhadas de discussão de solucbes"
(Vivarta. 2001: 17).
Apesar de parecer até agora dominante a perspectiva dc o jomalismo se pautar mais por
coberturas episbdieas do que tcmáticas. importa assinalar outros resultados. onde as conclusbes
apontam noutro scntido. É preeiso, contudo. olhar para essas mcsmas descobertas com a idcia de
quc há formas de jomalismo dc proximidade quc podem tcr outras práticas.
Atente-se. assim, no estudo exploratbrio intitulado "Spanish language television new.s
portravls of vouth and violence in California" compara a forma como é retratada a juventude e a
violência nas noticias tclevisivas de diferentcs canais califomianos, emitidos nas línguas inglesa c
espanhola: ao incluir meios dc língua não inglesa, abrc assim uma porta para uma análise da
rcalidade multicultural c multilinguística destc cstado. como escrevcm os autores. Chávez e
Dorfman (1996: 122). A pesquisa apresenta três questbes de partida: la Como é que a juventude e a
violência são rctratadas nas notícias da televisâo de língua espanhola?; 2a A cobertura da violência
entre os jovens nas notícias dc telcvisão de lingua espanhola mostra a discussão de foimas de
prevencâo ou inclui os contextos soeiais. econbmicos e comunitários cm que os acontecimcntos
violentos ocorrcm'?; 3a Existem difercncas-chave entre a fonna como as notícias da televisão de
língua espanhola e as da tclevisão de língua inglcsa retratam os jovens c a violência? (Chávez e
Dorfman. 1996: 124 e 125).
Comparando os mcios de comunicacão social de cada língua. o cstudo demonstra que, nas
notíeias de língua espanhola. 61% das estbrias são temáticas. com cnfoque no contexto c nas causas
;'A expressão Balas PerJiJas refere-se ao í'acto de terem chcgado á conclusão de que são escassas as investigaeôes jomalisticas com uma
visão pluralista e divcrsiflcada sobre e^ta tcmatica da violência juvenil. São balas atiradas para o ar na medida cm que não atingem o
objectivo da boa cobertura noticiosa.
S7
Tendo analisado 282 artigos publicados em jornais de saúde pública e medicina de 1985 a
1995, que apresentavam a violência como um problema de saúde pública, Liana B. Winett deparou-
-se com a mencao dc várias causas dc violência. A que mais se destacou. como na pesquisa anterior.
foi o acesso a annas, seguida de abuso de droga c álcool, pobreza'desemprego. características do
autor e da vítima. testemunha de violência, cultura dc violcncia, dcscslruturaeão lamiliar. racismo.
violência dos media, o autor do acto violento ter sido vítima de violência c aprcsentar problemas
psicolbgicos. cntre outros factores (Winett. 1998: 502). Como recomendacbcs para intervencao.
encontramos vcctorcs eomo legislacão sobre annas, edueacâo pública. programas para modificacao
de comportamentos. scrvicos clinicos para as vitimas, me'horia cos sistemas de rccolha e
divulgacão de informac;ao, educacao dos profissionais dc saúdc, cnvolvi ncnto da comunidade. cntre
outros (Winett, 1998: 505 e 506). "Enquanto os factorcs de risco dcntificados nesles artigos
reflectem preocupacbcs sbcio-econbmicas, as principais intervencbes propostas - outras que nâo a
regulacão de annas - tendem a focar-sc nas mudancas de atiludes e de comportamento com base
nas políticas de saúde pública" (Winett, 1998: 506).
Também o Ccnter for Mcdia and Public Affairs, centro de pesquisa norte-americano que
conduz projectos de análise de notícias, é responsável por vários cstudos sobrc os media. Um deles.
"Vioience goe.s to school how TV new.s hcts covered sehool shootin^s". examina a cobertura na
ABC, na CBS e na NBC, de Outubro de 1997 a Maio de 1999. de oito dos mais visiveis tirotcios cm
escolas, sendo contempladas as nolícias da noite da primeira semana depois de cada um dos
acontecimentos, quando há mais atencão å violência na cscola. aos dcbates sobre delinquência
juvenil e ao controlo de annas. Sendo que as três estacbes deram uma atencâo geral em tcrmos de
tempo semelhante å temática. o tiroteio dc Littlcton foi o mais destacado, o que vem mais uma vez
confinnar o facto de este acontecimento ter despertado tanta atencão dos media c também dos
estudos sobre a cobertura mediática. Entrc as causas apontadas para a violência, a mais citada foi a
cultura pop (29%). seguida das annas (23%), da hierarquia das escolas, dos pais e das doencas
mentais. Quanto a solucbcs. cvidcncia-se por ordem decrescente o eontrolo de posse de armas. a
seguranca na escola, o envolvimento dos pais. o aconsclhamcnto. o reforco legislativo c o
envolvimento da cscola (CMPA, 1999).
O Balas Perdidas encontrou uma tabcla dc causas para a violência juvenil: Falta de
educacão no trânsito (10,3%); Desestmturacão familiar (8,6%); Ineficiência policial (8,6%); Falta
de seguranca na escola (6,9%); Falta dc seguranca em espacos de lazer públieos (6%);
Comportamcnlo violento da crianya/jovem (6%); Pobreza (desemprcgo. tcnsâo social) (3,4%):
Ausência de um plano nacional/política para a seguranca pública (3,4%); Falta de espacos dc lazer
públicos (2,6%); Inadequacão da família aos problcmas cnfrcntados pcla crianga/jovem (2.6%);
991
solucbes é relevante. Mas será que se pode reduzir a complexidade e a multidimensionalidade
sociais a categorias com ncxo de causalidade?
Raymond Boudon, um dos sociblogos que estudou a temática da causalidade na sociologia,
escreve: "De uma forma geral. a análise causal centra-se num paradigma; supbe que o fenbmeno
que se procura explicar resulta de um certo número de causas. Esta forma de análise c por vezes
apropriada [...] mas a análise pode complicar-se pcla presenca de fenômenos de causalidade
circular" (Boudon e Bourricard, 2002: 67 e 68). Em Dicionnaire Critique de la Sociologie, da
autoria deste sociblogo c também de Francois Bounicaud, apresentam-se exemplos para ilustrar a
posicão dos autores face ás relacôcs de causalidade, ilustrativos da complexidade e
interdependência das questôes sociais". Escrevem: "Procurar as 'causas' de um acontecimento,
conccbc-Io como o resultado de uma mistura de causas ou factores, significa optar por entrar num
paradigma que se pode revelar inutilmentc rígido. Este argumcnto c adequado se se tratar de um
acontecimcnto simples (o incêndio c a causa do pânico). É menos adequado se se tratar de um
acontecimento complcxo" (Boudon e Bourricard, 2002: 69). E recordam que alguns estudiosos dos
fenbmenos criminais se empenharam em tentar demonstrar quc quanto mais agravadas são as
penas, menor é a frcquência dos delitos cometidos. "Mas a interprctacão de uma comelacâo deste
tipo é incerta" (Boudon e Bourricard, 2002: 67).
Assim sendo, quando se fala no prescnte estudo de causas ou origens da delinqucncia nâo
existe a intencão de reduzir a multidimensionalidade social dos problemas associados âs
delinquências juvenis a uma noeão de causalidade, apenas se procura criar um quadro de referências
encontradas nas pecas jomalísticas, nas escassas vezes em que estas se reportam âs relacbes de
causalidadc
De qualquer modo, e até para transmitir a ideia da importância dada a esta vertente na
litcratura referenciada. aquela que é apontada como a descoberta mais notável da pesquisa "'Youth
and violence in CaUfomia newspapers"\ do Berkcley Media Studies Group. é precisamente a
ausência de quadros a apontar causas ou solucbes durante a cobertura anual de rotina, em contraste
com a "cxplosão" destes enquadramentos apbs os acontccimentos de Columbine. De assinalar que
numa realidade ainda distante da nossa, a causa mais mencionada ao longo do ano para a violência
juvenil foi o fácil acesso a annas; quanto a solucbes, a mais importante íbi a necessidade de maior
reforco da lei. As preocupacbes com outras causas tomaram-se mais frequentes apbs os
acontecimentos de Columbine (McManus e Dorfman. 2000: 8).
"
Os autores recordam que o aumento da taxa de natalidade em Inglatcrra cntre 1840 e 1870 pode ser visto como a caitsa do aumento da
populacão nesse período. Contudo, esta não seria uma causa necessária. pois podia. por exemplo. ter havido uma diminuieão da taxa dc
mortalidade, assinalam (Boudon e Bourricard. 2002: 60 e 61 ).
59
envolvimento da comunidade, o envolvimento dos pais. com solucocs tomadas pela prbpria tamília
e acebes da escola.
4. Como são noticiados os jovens e os seus aetos
Em estudos provenicntcs dc diferentes pontos do globo, cono a Austrália, os Estados
L'nidos, o Brasil e a Argentina, configuram-se esterebtipos, qucr pela íbnna como sao retratados os
autores qucr pclo tipo de delinquências em questao.
Tem sido referido que a cobertura mcdiátiea sobrc os jovcns frequcntemente exagera,
distorce e cstcreotipa os jovens como sinônimo de problemas c eomo tal, de amcaca para a ordem e
a nonna social. scndo essa cobertura pemiciosa para a imagcm desscs mesmos jovens. Neste
âmbito. Howard Sercombe apresenta um trabalho sobrc a constmcâo da juventude nos media,
recorrendo a uma base de análise de um projeeto dc rccolha diária de pecas sobre jovens durante
dois anos (Abril dc 1990 a Marco de 1992) no jornal H'est Australian. Entre os artigos
refcrenciados. 20.6'9, foram enquadrados na categoria dc "crime". sendo esta a mais coneorrida,
scguida dos 12.9% dc 'punicíio de crime*" iScrcombc 1907: 44). IC imperioso "prcstar alguma
atcncâo â dinâmica que conduz å representacão dos jovens, espeeialmcnte os jovens aborigenes.
como criminosos. e os efeiíos disso no lugar que os jovcns ocupam na sociedade". escreve
(Sercombc 1997:45).
A dclinqucncia juvenil parcce ser um factor de intercssc para os jornais. comparativaiuente
com a criminalidade pcrpetrada por adultos (Dorfman et -//.. 1997: 1311). Neste âmbito, são
intcressantes as opcoes que se cncontram em jornais de relerência. que podem nao cstar tão
vocaeionados para divulgar matérias de crimc. Isto Ibi o que ajonteceu em "/// between the lines:
how ihe Xew York Times frames vouth". através da análisc do The Xew York Times. um jomal de
referéncia mundial. ICstc cstudo. salientc-se, apresenta a singularidade de ter sido conduzido em
eolaboraeîîo entre o centro dc pcsquisa We Interrupt this Mcssage (fundado em 1996) e jovens do
Sul do Bronx. "() The Xew >'ork Times sobre-representa os jovcns eomo praticantcs de crimes e
sub-representa-os como vitimas. [...] O crime de jovens sobre jo\ jns Ibi coberto com mais
frcqucncia do quc o crime dc adullos sobre jovcns, apcsar dc ser mais eomum o erime de adultos
sobre jovens" (pág. 5).
Apcsar de não se ver uma marcada refercneia étnica nas peyas aralisadas no "/// between the
lines: how the Xew York Times frames youth". entre as quc idcntilicaram a etnia dos vitimadorcs,
cncontraram-se difcrencas no tratamento noticioso entre os que apclidam de "negros" e latinos e os
92
Ausência de uma política de saúde (2.6%): Inadequacâo da educacão escolar/familiar (1,7%):
Problemas psicolbgicos advindos da fase da vida (1.7%): Superlotacâo das casas de detencão
(1.7%); Questoes rclacionadas com annas (0.9%); Poueas ou mal estruturadas casas de detcncão
(0,9%) (Vivarta. 2001:27).
F.stc mcsmo esíudo brasileiro apresenta uma tabela de "solucbes para a violéncia" com os
seguintes resultados relativamente å sua presenca nas pccas jornalísticas apreciadas: solucbes a
serem tomadas pela prôpria família (14%); campanhas dc consciencializacâo pela paz (10.5%);
eficiência de gestão (9,3%)); aumento do policiamento (9,3); solucbcs a scrcm implementadas pela
escola (9.3%). Segucm-se outras com menor represcntatividade com 3.5% ou menos onde se
podem cncontrar solucbcs associadas a infra-estruturas/urbanismo. parcerias (ONG. govemo,
emprcsas. ctc), criacão dc espacos de lazcr e de desporto, trabalho na comunidade, projectos sociais
protagonizados por jovens. agravamento das penas. diminuicão da maioridade penal e política de
eultura (Vivarta, 2001: 28). Nas conclusbes. a ANDI aponta para quc salvo excepcbes. as
reportagens são desprovidas de contexto, nâo investigam as causas da violência e nâo encontram
solucbcs. Fazem ainda com que o fenbmeno da violência seja transfonnado em caso de polícia. pelo
destaque da lbntc oficial de ocorrcncia. Para além disso. denota-se falta de responsabilizacâo do
poder público e das suas falhas ao nível das políticas públicas (Vivarta, 2001 : 30).
A família aprcsenta-se, assim, como um dos pilares sociais quc tcm sido colocado cm causa
no que respcita â delinquência juvenil, sendo indicada como meio importante de cspaco de solucbes
c como fonte de problemas. De alguma literatura, sobressai a relaeão dc causalidade que tem sido
estabelccida com as drogas, assim como a "culpabilizacão dirccta ou indirecta da família, no caso
dos 'menores\ acompanhada de um excesso de valorizacão da tigura do pai" (Arfuch, 1997: 43).
Dcsta revisão de literatura. pode afcrir-se quc quando sâo apontadas causas para a
dclinquência juvenil. clas assumem um carácter muito disperso. no sentido de ser multifacctado. â
semelhanca do que sueede com os factores que lhe estao associados. O acesso a armas. o abuso dc
droga e álcool, a pobrcza e o descmprego. problemas psicolbgicos e doencas mentais. natureza
violenta do jovem, características do autor e da vítima. vivcncia de uma cultura de violência,
dcsestruturayão familiar. racismo, violcncia dos media, incficiência policial e falta de seguranca nas
escolas sâo das causas mais afcridas.
Relativamcntc a soluebes para os actos delinquentes, são tambcm diversificadas. oscilando
entre medidas punitivas ou de cariz mais cducativo e social c psicologicamentc interventivo. No
primeiro âmbito, destaque para a necessidade de maior retbrgo legislativo e da seguranca.
agravamento das penas. legislacâo sobrc arnias e o conlrolo dc posse dc anuas. No segundo,
encontra-se a nccessidade dc educacão pública, programas para modifieacão de comportamentos,
61
ampliando-sc o estudo com intennitência atc Agosto do mcsmo ano. Ao longo destes pcríodos. ibi
possível encontrar vários casos, como o Cav:ale e o Analía. os mais desenvolvidos. bem eomo o
Canas, os incidcntcs com os skinheads e o caso Mon (Arfueh. 1997:8). Nos dois primeiros. a
investigadora encontrou uma "presuncdo de culpabilidade", assistindo-sc a uma bipolarizacâo cntre
o "mal" juvenil e a "purcza" das vítimas, encontrando-se uma tipologia que aponta para a presenca
de uiua dislincâo entre um nbs distinto dos acusados, o que se eneontra presente em frascs como:
"ncnhum de nbs se dava bem com clc" (Arfucli, 1997:43). A autora detcctou cxemplos dc como os
jovens eram retratados: "dclinquentes precoccs", "ladrbcs precoces" e "ladrbes assassinos" (Arfuch,
1997:35). Os jovens são também identificados nas notícias como membros de grupos dclinquentes.
"Os "bandos' aparcccm. assim, desde há décadas, como sementcs dc delinquência juvenil, uma
"eseola da rua'. um espaco propício å dissolucao da responsabilidade individual em accbes quc
presumivelmentc dc outra fonna nâo se 001^01^^3111" (Arfuch, 1997:36).
5. \s \o/es das notíeias
Um dos enfoques de análise das pcsquisas sobre a cobertura da dclinqucncia juvenil é o das
Ibntes, as vo/es encontradas nas pccas em análisc Não scrá. por isso ircsiuo, errado dizer que cste
c um dos mais importantes pontos dc análisc. As regras profissionais da imparcialidadc e c\o
equilíbrio. assim como da separaeâo de factos e opinião "dâo origem ã prática de assegurar que as
alirmacbcs dos media sejam. onde quer que seja. lundamentadas cm afhmacbes 'objeetivas' e
'autorizadas' de fontes 'dignas de crédito'" (llall et ai. 1999: 229). Há. como tal. fontes
privilegiadas, que atestam de forma mais inequívoca estes parâmetros e quc como tal, estreitam as
vozes.
As íbntes de infonnaeão são clcmentos fundamentais da produyâo noticiosa. "A estratégia
seguida pela fonte é fazer cbegar aos jornalistas inlbnnacao julgada útil para a sua organizacão.
Apcsar de as regras habituais indicarcm que as fontes dcvcm ^rcstar infonnacão conecta. muitas
\ezes trabalham com dados falsos" (Santos. 2006: 75). Os jor lalistas prcfercm as fontes oficiais.
apesar de ncm scmpre sercm rápidas nas respostas (Santos, 2006: 77). Já as fontcs nâo oficiais
podem atingir a agenda noticiosa cm alturas específicas (Santos. 2006: 79) c, para além destas. é dc
assinalar as fontes cspeeialistas. que apresentam conhecimcntos váliJos sobrc um detemiinado
assunto. atestando informacôes mais cspccílieas e especializada^..
"Os jornalistas rcspcitam as suas fontes oíiciais. reporlando o que essas fontcs Ihcs contam.
[...] A ncccssidade dc atrair a audicncia e captar a sua atcncâo encoraja os jomalistas a dramatizar
64
jovcns de pele "branca". designadamentc ao nível das vozes indieadas. A título de exemplo. os
primeiros nunca foram directamente citados e os scus advogados dc defesa apenas foram citados
duas vezes. contra 13 dos advogados de defesa dos "brancos". Os dados biográlicos, como família e
hobhies, foram muito mais explorados no caso dos chamados jovens "brancos". Importa aqui
recordar quc atc a análise fotográfica pcnnitiu aferir que os "brancos" retratados estavam bem
vcstidos, com fatos e gravatas ou então com uma fotografia de curso. Dois dos trcs jovens "negros"
fotografados encontravam-se na sala do tribunal. Tal confinna o que Rosane Rosa. pesquisadora
brasileira. sublinha: "Os agressorcs de elassc baixa são desqualificados com tennos como:
'maníaco', 'monstro*. 'matador\ 'sinbnimo dc violência', enquanto os pertencentes å classe alta
reccbem atributos da linguagem jurídica: 'agrcssor*. 'criminoso"" (Rosa, 2005).
São frequentcs os equívocos mcdiáticos entre tcrminologias legais, dcsignadamente entre
furto e roubo. Quando o furto é confundido com o roubo amplia a gravidade do assunto (Vivarta,
2001: 13). Para além disso, o tipo de criminalidade reportada não se cingc apcnas a actos pouco
violentos. como poderá ser o vandalismo e os furtos. Pelo contrário. estes jovens são divulgados
como sendo muito \ iolentos.
"Cerca de 30%, cias reporiagens sobre violéncia envolvendo adoleseentes
refercm-se a cctsos de homicidio. Os roubos (10%) e as vioiacbes (3.2%) estdo com
frequência presentes. Os furtos, por outro lctdo. sdo meneionados em apenas 2%> das
matérias. A eonclusdo bbvia é que existe uma super-representae'do cfos easos de
crimes violentos contra a pessoa e uma sub-representacdo de crimes ndo-vioientos
eontra o patrimônio. Exactamente o inverso das estatístieas sobre violência"
(Vivarta. 2001: 15).
Sâo várias as explicacbes possíveis. mas certo é que no jornalismo conta o que é
cxtraordinário, o que foge â regra. Do ponto dc \ ista editorial, "é accitável que os casos graves. em
especial os que atentam contra a vida ou rcsultam em mortes, sejam mais notícia do que quaisquer
outros. [...] A constmcão do mito do perigo relaciona-se com o facto de essas notícias virem quase
semprc desacompanhadas de contexlualizacão" (Vivarta. 2001 : 15).
N'esta fasc do trabalho. e de convocar uma pesquisa realizada na Argentina. da autoria dc
I.conor Arfuch. com a chancela da UNICEF. Considerando que a Argentina assistiu a um
incremento notável das notícias sobre delinquência juvenil. em 1995. a scmibloga e professora na
Universidade de Buenos Aires analisou os três principais diários de circulacâo naeional c algumas
emissbes televisivas, num espaco de tempo de início de Fevereiro a início dc Marco de 1995,
63
referir quc os jovcns são muito raramcnte fontcs (Dorfman c Woodruff. 1998: 82 e 83). No "in
befween fhe lines: how the \ew York Times frames youfh", os jovens liveram vo/ 20 vezcs em 93
arligos. Porém. é interessantc vcrilicar que ccrca de metade dos jovcns que theram voz sao
idcnlificados como "brancos" e foram citados para darem inlbnnacâo biográlica sobrc outros
brancos acusados de algum acto violento (pág. 8).
IC prccisamente sobrc os jovcns enquanto fontes qLie sc eneoi.tr.im infonnacbes no trabalho
de Phil Cranc que aponta para a ausência dc vo/es jovens nos principais media. Normalmente nao
sao considerados fontcs com autoridade em assuntos que a eles mcsmos di/.em respeito. "Os jovens
e os que os advogam raramente têm aeesso âs reportagens dos principais media relacionadas com
temas de crime" (Bessant e ÍIill. 1997: 96). O case studv aprescntado por Phil Cranc alude a
primeira metadc dc 1994, altura em que foi rcportada uma vaga dc crime cm Queensland. Coin
elcicbcs marcadas para o ano seguintc este foi um período crucial para a agcnda de assuntos
eleitorais: a lei c a ordem. Ncstc caso, as vo/es dos jovens nâo se mostraram nas reprcsentayôes
mediáticas dos assuntos ligados a delinquéncia juvcnil, foram consideradas fontes sem autoridade.
Tenv I.aidler. comentador australiano da ABC Radio 3I.O. chamado a falar da sua
experiência na rádio. salienta: "Quando falamos de retratos de jovcns nos media. estamos a falar
sobrc o que os mais velhos dizcm sobre eles"" (Laidler. 1997: 105). Os adultos, mcsmo quando estão
de mente aberta. estão scmpre a l'alar de outras pessoas. mais novas, a conlar a histbria de outros.
rcconhccendo Terry Laidler quc no seu programa de rádio sao muito ccassas as vozes de 12 a 25
anos.
Os especialistas também são identitĩcados como fontes em Criancas em Xoticia, de Cristina
Ponte. sendo. neste caso. a opiniãu retirada das palavras de um jornalista. que atenta sobrc as fontes
ouvidas em situacbes que envoKcm enme e "miúdos":
"... nesfa.s aituras icntamos ser politicamenĩe correctos. vamos bu.scar
especialistas. ncio queremos ferir a lei nem o segredo de justica. Ãs vezes os
cspecialistas ndo lêtn nada para dizer. dizem banaiidades, ds vezes o /ornalisía tent
coisas mais interessantes para dizer mas é preciso ouvir o especialista... A
preocupacdo cio jornal nestas alturas é equilibrar as eoisas, ndo ir na derrcipagem"
(/"// Ponte: 2005. 177).
Certo e também que as notícias nem sempre eitam ou rcfercnciam fontes dc qualquer
naturcza. A auscncia de vozes podc fazer com quc as estbrias não sejam conladas
convcnicntcmente e certamcnte deixa o leitor scm saber qual e o au.or c consequentemcntc o
66
as estbrias. mas eles raramcnte o fazem quando se reportam a fontes oficiais de topo" (Gans, 2003:
46). Para este autor os jornalistas podem sentir-se desencorajados a avancar com estbrias sob o
"radar" das fontcs oficiais.
As fontes anbnimas. revelam os estudos. muitas vezes encobrem opinibes e considerandos
dos prbprios jornalistas. bem como fontes oficiais ou amigos do jomalista (Santos. 2006: 82).
Apesar de esta scr uma prática frequcnte. é desejávcl que sejam citadas. até para credibilizar a
informacão.
Quando sc trata de falar espccificamente de notícias que envolvem crime ou delinquência.
"os media parecem estar mais fortemenle depcndentes das instituicbes de controlo de crime para as
suas "estôrias'
do que praticamentc cm qualquer outra área. A polícia, os porta-vozes do Ministério
do Interior c os tribunais constituem um quasc monopblio como fontes de notícias de crimc nos
media" (Hall ct al. 1999: 239). Com uma forte presenca das fontcs institucionais, especialmentc as
policiais. são rclcgadas para um plano inferior fontes mais divcrsificadas, como as tcstemunhas
oeularcs (Hall et al, 1999: 239; Schlesinger e Tumbcr, 1994: 106). A informaeâo fomecida aos
jornalistas pelas fontes. muitas vczcs. já pressupbe um enquadramento implícito quc servc as
fmalidadcs da fonte (MeQuail. 2003: 348).
Nas matérias de delinquência juvenil. cntre as fontes mais destacadas, scgundo a ANDI.
encontram-se as policiais (25%). seguidas dos familiarcs das vítimas (1 1,1%). Todas as outras são
de menor importcâneia. mesmo quando agregadas em gmpos maiores. Na realidadc csta pcsquisa
aprescnta uma desagrcgacão muito grande de categorias, o que também não pennitc olhar
facilmente para grandes temáticas. como fontes políticas (por excmplo, executivo fedcral. executivo
estadual e executivo municipal). fontes judiciais (por exemplo. judiciário. ministcrio público c
lcgislativo municipal) e instituicbcs (por exemplo. organizacbes da sociedade civil, fundacbes e
associacbes). Ao nivel da dcsagregacão c de assinalar que, â semelhanca do que já foi vcrificado
noutros esludos. os jovens assim eomo as criancas sâo vozes mcnores: 1.1% e 0,2" o
respcctivamente (Vivarta, 2001 : 33).
Uma outra visao da importâneia de cada uma das fontes surge em "The roles of spcakers in
locai lelevision news siories on youth and violence". quc aponta para a existência de quatro grandes
gmpos de fontes noticiosas. Primciro. curiosamcnte. são anotadas como vozcs as das vítimas ou
testemunhas. incluindo os que representam a perspectiva da vítima, como amigos ou familiares
(24%), seguindo-se qualqucr pcssoa que se encontre no local. scjam vizinhos ou os que conscgucm
chegar å câmara de telcvisão (15%). L'm terceiro grupo de fontes mclui os representantes da lei.
como polícias, bombeiros. segurancas (14%), sendo também identiíicado o grupo dos
representantes dos tribunais c do sistema penal, como advogados c juízes (1 1%). Importa ainda
65
A um nível mais genérico, mas surgindo também como um estido pioneiro em Portugal no
que eonceme ao esludo da cobertura da violcncia. importa rcferir a investigacâo de Cristina
Cannona Penedo subordinada ao tema () Crime nos Media: o que nos ciizem as notícias quando nos
falam de crime. Nesta obra, que tem uma análise quantitativa c qualitativa do Correio ./_/ Manhd e
do Diário de Xoticias nos meses de Janeiro. Maio. Agosto e N'ovcmlvo de 2000. a autora dedica
algum espaeo aos assaltos na Circular Rcgional Extema de Lisboa CRLL (ocoiridos na
madrugada dc 19 para 20 de Julho de 2000. quando um grupo ce jovens lancou o pânico na CREL.
em I.isboa. ao cometer numa série de assaltos e agressôcs a pcssoas na via pública e nas bombas de
gasolina. L'ma das vítimas lbi a actri/ Lídia Franco). A autora vcrificou que "o caso dos assaltos na
CREL sobressai pcla cobertura de continuidade que mcreceu por parte dos dois diários em análise"
(Penedo. 2003: 109). dcsignadamentc eom manchetcs em ambos jornais. "Esta histbria surge como
corolário de um conjunto dc outros episbdios de violcneia. protagoni/ados por grupos dejovens, já
anterionnente sinalizados pcios media quc através do scu poder simbblico contribuiram para os
circunscrever enquanto nova realidade nas formas de exprcssao da eriminalidade na socicdade
portuguesa" (Pcnedo. 2003: 1 10).
Ainda em relaeao aos actos dclinqucntcs do Verao de 2000. é interessante convocar uma
citacão no livro de Cristina Pontc que aj)resenta uma imagcm pessoal/prolissional sobre o
tratamento do easo e as dúvidas e mclindres associados, nestc caso. do jornal Público:
"Somos um j'ornal de causas: mas nesse caso dos cr'iues de Verdo ndo
assumimos. Xdo andwnos a defender que erani neeessc'u ios mais policias. Tentc'imos
acalmar os cinimos. Oiscutimos: 'llá gctngs organizados ott ndo há?'
Havia um
reiatbrio da policia. do SIS. [...] dizia que havio gangs. ia na linha oficial. Xo ftm
aehou-se que os factos eram frágeis. Iloje a siluacuo pode ter mudado, Iĸi uma
maior exeiusdo soeial e vai confinuar a aumentar" (in Pontc 2005: 1 77).
Por entrc a análisc efeeluada á cobertura da iníãncia. a mcsma autora dá conta de alleracbes
na agenda mediática de 1995 para 2000: "o tratamento habilual da marginalidade juvenil e da
criminalidade (a sua eonstrueão como insblito. rclativamente raro e proveniente sobrctudo das
agéncias internacionais) dá lugar â cobertura de casos no cspaco nacional. em eidades e subúrbios'"
(Pontc, 2005: 253).
68
rcsponsável por aquilo quc está a ler (Cytrynblum. 2004: 20). A falta de fontes pode indicar tambcm
as diticuldades dos jomalistas em accdcrem âs vozes.
É de referir que a rclacão entrc os jomalistas e as fontes também está depcndente de factores
como as relacôes entrc a cmprcsa jomalística em que se insere e as fontes. As opressbes em demasia
podcm ser tão fortes quc levam a que o jomalista deixe de reílectir sobrc os critérios de selcccão da
notícia e do seu tratamcnto (Comu, 1994: 272 e 273).
6. Noticiabilidade das delinquêneias juvenis em Portugal
Em Portugal, já foram dados passos ao nível da investigacão sobrc a fonna como os media
noticiosos apresentam a violência juvenil, apcsar de as pesquisas ainda serem escassas.
Num estudo exploratôrio. cmbora profundo, "Imagens da delinquência j'uvenil na
imjyrensa". elaborado cm Portugal eom uma amostra de 103 artigos rclativos a oito jomais diários e
três semanários, com tiragem nacional. conespondentcs ao ano de 1999 -. Maria João Leote de
Carvalho atentou sobre a cobertura destes assuntos associados a violéncia perpetrada cm Portugal e
no estrangeiro. sobre a relevância dada å vítima. sobre as rcpresentacbes dos "gangs"■'grupos e sobre
a actuacão policial e a accâo do Instituto de Rcinsercão Social.
Tendo cm conta a relevância deste estudo exploratbrio pelo seu pioncirismo cm Portugal.
importa deixar aqui algumas das questbes orientadoras. as mais rclevantes para a prescntc pcsquisa:
Que tipo dc delinquêneia juvcnil c objccto preferencial nos artigos da imprcnsa que constituem o
eorpus de análisc? Quais as caractcrísticas ou atributos aprescntados na refercncia aos jovens
autores de actos violentos? (Carvalho. 2001 : 82 e 83).
Assim, as formas de delinquência encontradas neste corpus são: assaltos. furto de
autombvcl. roubos. ameacas/intimidacbes. agressbes. furtos, homicídio/tentativa de homicídio.
abuso sexual. vandalismo. trálico dc droga e incêndio, scndo a actuaeão em grupo a que mais
mencbcs ostenta (Carvalho, 2001: 120). Maria Joâo Leote de Carvalho verificou quc há um uso
indiferenciado de palavras que se rcportam å actuacao de jovcns em grupo, sendo elas: "gang".
bando. quadrilha e grupo. Isto acontece sem o dcvido esclarecimento do signiiicado concrcto de
cada uma delas. Por exemplo "gang" tcm um significado fortemente ncgativo c muitas vezes c
chamada a título (Carvalho. 2001 : 95).
As referências aos jovens são também frequentemente acompanhadas de tennos como
"pequenos assaltantes" e "larápios menores". que depois não sâo devidamentc justificadas
(Carvalho. 2001 : 9S). apontando-se também para uma violência perpctrada em meios urbanos.
67
Síntese dos dois nrimeiros eapítulos e identiiieaeão de perguntas
Enlbcar o olhar na dclinquência juvenil nâo significa de modo nenhum quc sc olha a
juvcntude apenas nesscs tennos. uma ve/ que partilhamos da ideia de que a juventude é um
conjunto heterogéneo. eom características sociais que diferenciam as várias juventudes. Lmbora
considerando que os jovens s.io o gmpo que mais facilmente se direcciona para o goMo pelo risco e
até pelos desvios. isso não signifiea que entrem necessariamente nas malhas da delinquência.
Porém, parte-se do princípio dc que a delinqucncia juvenil é ur.i i'acto incontornável. porquc cxiste
na nossa soeiedade, que prccisa dc ser olhado assim como as represenlacbes que são produ/idas â
sua volta. qtic criam mitos e estigmas. Sb assim sc poderá de forma consciente desmistiiicar esta
ideia. sabendo que os problemas sociais sao. como a cxpressâo indicia. difieuldades de todos os
elemcntos da sociedadc A forma como uma sociedade olha para os seus probiemas c os tcnta
resolver diz muito dessa mcsma sociedadc Os olhos dos media noticiosos são decisivos porque
contribuem para moldar a socicdade. Neste sentido. é decisiva a ideia da existêneia de /uvcntudcs.
Em Portugal, a delinquência juvenil está dclimitada legalmente entrc os 12 e os 16 anos.
mas no contexto do prescntc trabalho a delinquência juvenil vai ser encarada dc uma fonua mais
complcta, porque nos jornais assiste-sc a uma marca de idadcs que nem sempre se coaduna com o
cspartilho necessário ao dircilo.
Os ambientes sociais. as lbnnas dc estar dos jovcns e os seus modos de vida c dc
convivialidade acabam por marear os que sâo olhados como delinqucntes. os pcrtencentes a grupos
ctnicos minoritários. os dos bain-os. aqucles que sc movimenlam em cspaeos dc exterior. A
identilicacão da delinqucneia juvenil com os gangs c lambém uma idei.i mais ou menos enraizada,
sendo sempre mais temida uma actuacão grupal do quc individual. Ncsta perspectiva. importa
assinalar que a dclinquência cstá muito associada ao espaco urbano. í.os teiTÍtbrios fragmentados
das cidades. aos roubos, aos furtos c âs incivilidades.
Contribuiu assim a delinquência jiuenil para o aumcnto das fonnas de inseguranca
existentes nas cidades. mas não sâo apenas os indieadores de aumento, porque o medo da vitimucuo
nâo advcm apenas de ilícitos cometidos. mas igualmente de representavôes que existem dos ilieitos.
de quem os cotnete e da ideia de que podem vir a ser uma realidadc Por isso. o uso da expressao do
medo pode condicionar as normas c as decisbcs políticas.
Os medos são polenciados, entre outros l'actores. pelos media. pcla Ibrma como divulgam as
notícias. pelo cnquadramcnte que apresentam. A fbrmula que melhor expressa esta situavao c a
identificacão do pânico moral, ao qual sc assoeiam manifestacbes de c.agero.distorcão. previsão e
simbolizacão. Embora nâo sc prclcnda assinalar com isso que os media tabricam uma realidade que
70
Síntese
Uma das primeiras conclusôes a quc foi possível chegar tem a ver com o facto de os estudos
que dâo eonta da cobcrtura dos meciia notieiosos sobre a violcncia juvenil tercm uma forte
componcnte empírica c combinarem as análises quantitativa e qualitativa. Os pesquisadores tentam
também transportar as análiscs para a sociedadc civil, acabando por. através dos resultados obtidos,
tentar actuar de fonna preventiva e chamar a atcncâo para as prátieas profissionais dos jomalistas.
para cvitar a ampliacão do fcnbmeno social em causa.
Ao olhar para as diferentes pesquisas. cspecialmente as propostas do Berkcley Media
Studies Group, percebe-se quc há uma incidcncia cm dois tipos de amostras. Por um lado. os
recortes escolhidos dão conta dos acontccimentos não cxtraordinários c por outro. escolhem-se
pcríodos temporais que privilegiam uma época em que tcnha ocorrido um acontecimento
extraordinário que captc a atencão da agenda mcdiática, como o tiroteio dc Columbinc Foi ainda
recorrentc a utilizacão de dados estatísticos oliciais que de alguma fonna contradiziam as
perspectivas mediáticas encontradas pelas invcstigacbes nos media noticiosos analisados.
Este facto rcvcla-se de extrema importâneia sc sc pensar quc os cstudos apontam para uma
ampliacão c estereotipacâo dos jovens, enquanto indivíduos violentos. selvagcns c
consequcntemente marginalizados c conotados ncgativamente. A associacão da etnia â violência c
outro elemento transversal a praticamentc todas as pesquisas verilicadas. Esta constatacâo é
associada â utilizacâo de palavras e expressbcs como "gang" que apontam para imaginários
negativistas c que são usadas. mesmo quando não correspondem exactamcnte ao significado que
manifestam, como. aliás. é referido por Cohen e por Maria Joâo Leote de Carvalho.
Dc uma fonna geral, os estudos debrucaram-se sobrc as fontes usadas. sendo claro que os
jo\cns foram uma das vozes menos ouvidas nos diferentes media analisados. As fontes policiais.
judiciais e. em casos dc acontecimentos cxtra-rotina. as testemunhas oculares e os vizinhos
encontram-se entrc as vozes mais destacadas. A cscassez de cnquadramentos que dêem mais âs
nolicias do que um simplcs rclato de factos, apontando causas ou solucbes. também sc revelou
transvcrsal na análisc que os estudos referenciados propuseram. 0 fácil acesso a armas de fogo c
uma das causas possíveis para os fenbmenos dc violência cncontrados pelas diferentes pesquisas
nos meciia auscultados. cmbora aparentemente essc não seja o caso português.
Por último. é ainda de assinalar a dificuldade que ressaltou das diferentes pesquisas em
quantificar em tennos de idade o que é scr jovem e também a opeao gcncralizada cm considerar os
actos desviantes como violentos. uma palavra mais abrangente que inclui o que é considerado
delinquência e o que foge â norma mas que nâo constitui crimc
69
Intimamentc associadas aos enquadramentos está a apresentacão dc eausas e de soluv'bes.
Segundo a ANDI Agencia de Notíeias dos Direitos da Infância. do Brasil. no seu estudo
denominado Balas Perdidas. "a imprcnsa nao vê o contcxto po-que não discutc solueoes" (Vivarta.
2001: 27). Relativamcnte ás solucôes. a ANDI assume uma orientacâo que se matcrializa nesta
afumacão:
"O idcal seria que os factos (o crime, a violcncia) nunca Ibssem narrados
desprovidos de trajectbrias e histbrias de vida das vitimas c dos agressores. A
biogratia revela os detenninantes soeiais. culturais e econôiricos quc levam ao
encontro;desencontro entre agressor c vítima. Ou seja. a biografia da vítima c do
agressor podc revelar causas. contextos e factorcs eue os evam á violência"
(Vivarta. 2001:27).
Quais sâo. cntâo. os enfoques das notícias sobre delinqucncias juvenis?
/) A cobertura jornalística segue um enquadramento episôdico ol temálieo?
g) Pretcndc-sc ainda veriticar. por um lado. se em épocas cm que oeorre um determinado
acontecimento a delinqucneia juvenil adquirc uma prepondcrância diferente c por outro lado. se
esse acontecimcnto acaba por alterar a fonna como o assunto (que não deixa dc existir) eontinua a
ser noticiado. já depois do acontecimcnto extraordinário sc tcr esgotadc. Em que alturas é que esta
temática da dclinquência juvenil pennaneee na agenda?
h) Será que existe uma agenda partilhada, tendo em conta cue estamos pcrante media
noticiosos dc cariz diferente: jornal de referência e jornal popular?
/') Estao presentcs as três componentes de Cohen rclativas ao pânco moral?
72
não existe no sentido de que o desvio não existe. porquc, como diz o ditado popular. nâo há fumo
sem íbgo.
Certo é que há sempre um enquadramento noticioso, mesmo que ele seja o simples relato dc
um facto, porque, ao decidir apenas relatar. o jornalista já está a enfocar um ponto de vista. Por isso.
convoco as palavras de Bird e Dardenne. quando dizem que apesar de as notícias não sercm uma
ficcão, são dizcres sobre a realidade e nâo a realidade em si mesma, porque essa é uma realidade
concrela em movimento, como atesta Eduardo Meditsch.
Assim, é possívcl optar pela tenninologia de enquadramentos episbdicos e tcmáticos. sendo
que os primeiros mostram acontecimcntos coneretos que ilustram assuntos e os segundos confcrem
uma cvidência colectiva ou gcral. sendo orientados para um assunto. Inegavelmente, os segundos
sao muilo mais complexos. cxigem muito mais de qucm os invcsliga c cscreve. Nâo se pretende
reduzir a realidade ao rclativismo dc que há causas e solucbcs para tudo. mas é certo quc há
contcxtos que sc encontram a montante e jusantc
Também parece ser intuitivo retirar da revisão de literatura que a cobertura das questbes
associadas â delinqucneia juvenil é marcada pela ausência de fontes, destacando-sc cntre as
existentes as policiais.
Estas são apcnas algumas pistas que sobrcssaíram da rcvisâo de litcratura e que de algum
modo se cmzatn com as pcrguntas a colocar no trabalho.
Qucstbes para análise
Na análise a efcctuar sobrc a cobertura jomalística há algumas grandes
qucstbes/problemáticas que podem servir de ponto dc partida para a pesquisa:
a) Quais as características, designadamente étnicas. dos jovens dclinquentes nos media'!
b) Qual o tipo de delinqucncia juvenil veiculada pelos media noticiosos.
c) A seguranca, c a sua ausência, constitui uma das prcoeupacbes mais acutilantes da
socicdadc. A existcncia de tennos associados â inscguranca c a fonna eomo sao retratadas as foryas
policiais podem transmitir a ideia de inscguranca. Há presenva de factores associados â
inseguranca? Qual a rclacão da pcrcepcão da inscguranca com o periodo político cm qucstâo?
Como sao abordadas as \ ítimas?
d) Que tipo de fontes sao rcfcrenciadas'."
e) Outro facto a reter tem a ver com a ideia de quc as problcmáticas associadas a questbcs
como o crime ncm sempre possucm um enquadramcnto quc pennite percebcr os contextos.
71
I. Tempos em análise: uma escolha inteneional
O presente trabalho cenlra-se na análise da cobertura mediática da dclinquência juvcnil em
períodos dc cinco anos selcccionados de acordo com a existêneia dc factorcs mcdiáticos. sociais c
até jurídicos de alguma forma articulados com a delinquência juvenil em Portugal. A cscolha de
momentos marcantcs permitc cstudar o comportamcnlo dos media cm períodos de relcvância
sociolbgiea. associada a even.os ou a debates no seio das agendus mcdiática e polítiea oeorridos em
Portugal.
A opvão pcla análise de seis meses dc cada ano civil permite, tambcm, incluir na
invcstigavâo períodos de tcmpo em que o tema não constituiu um factor de excepeâo na agenda
mediática. Assim, pode ser feita a análise das épocas em que essc mcsmo acontecimento ocorrcu c
ainda das alturas quc o antecederam ou sucederam.
Ao fazer uma cscolha dcste tipo podcr-se-á melhor afcrir a sensibilidade mcdiaiica no
tratamcnto desta tcmática em diferentcs períodos (seis meses de eada um destcs anos: 1993. 1998.
2000. 2001 e 2003). que pennitem observar eiclos mais ou mcnos agitados.
A seleecao de einco anos que se encontram encaixados na amplitude de uma década tambcm
pode dar algumas pistas que apontam para a evolucão existcnte na cobertura mcdiática. na rcsposta
dada pela sociedade e. consequentemente, da relc\ância que a tcmatica adquiriu em Portugal
especialmentc a parlir os anos 90.
Pretende-sc que os episbdios escolhidos rellictam a varicdade de dimensbes que estão
implícitas na tcmática em análisc Para além da obscrvavão da dimensão temporal, importa indicar
quais Ibram os acontecimcntos que mais despcrtaram a atencão dos media. dada a diversidade de
factorcs sociais. políticos e juiidicos que foram ocorrendo ao longo dcste periodo.
Uma obscrvãncia deste género coaduna-sc com a abordagem prescnte na obra The
Constifution of Society. de Anthony Giddens, publicada em 1984. Neste livro. o autor aprescnta
uma visão sobrc a cvoluv'ão das socicdades e da historia em episbdios. com um olhar para as
práticas sociais de forma ordcnada no espaco e no tempo. Os episôdios sao dctinidos pelo autor da
seguinte forma: "()s cpisbdios sao sequências de mudanc-a tendo um inicio. um curso dc eventos e
resultados espeeilieáveis. que podem ser comparados. cm certo graa. abstraídos dc contextos
defmidos" (Giddens. 374: 1986).
No quinto capítulo do livro, com a designavâo de Mudanca. evoLicdo e poder, o que mais sc
adcqua ã presente abordagcm. (iiddens afirma:
~4
Capítulo III
Orientacôes ÍMctodologicas
"Se toda a vida social é contingente. toda a mudanca social é con/'untural. Quer dizer.
depende de conjuncbes de circunstcincias e eventos qtte podem diferir em natureza de aeordo
com as variacôes de eontexto (como sempre) e implica uma moniîorizacdo refiexiva. /?elos
agentes envolvidos. c/as condicôes em que eles fazem histbria"
(Giddens. 245: 1986)
"Uma análise retbrica Ucão podc ser completamente indepcndente de uma análise semántica e
ideolbgica do discurso jomalístico. Na realidadc [...] as opcracbes retbricas podem incluir todos os
níveisdeanálisedo discurso" (Van Dijk, 1990: 138)
Apbs a revisão dc literatura c a identiticacão das questbes para análisc segue-se estc terceiro
capítulo mais centrado nas orientacbes metodolbgicas.
Comccamos por identiticar e justificar a opcâo pelos períodos a analisar. dando conta de
uma primeira contcxtualizavâo dcssas mesmas cpocas.
Seguc-se uma incursão tebrica sobre as metodologias escolhidas para proceder â obscrvaeâo
empírica da cobertura mediática da delinquência juvenil, optando pelas análises dc conteúdo e dc
discurso e ainda pelas entrevistas.
Por último, aludimos ås condivbes pré-cstabelecidas para a recolha do eorpus, bem como
apresentamos sumariamentc os jomais a analisar e mostramos o protocolo de análise de contcúdo.
73
problema que a secreta ndo hesita em classificar c/e 'grave /xira a segurunca
interna '""'.
Logo no princípio do artigo. que foi a manchete dessa edieão do jornal que ainda tinha como
director Paulo Portas (que também assinou o cditorial sobrc o mesmo assunto). fazia-sc alusão a
antcriorcs relatbrios:
"Trcita-se do quarto memorando sobre a delinquêneia iuvenil cla autoria
deste organismo. ()s anteriores f'oram preparados a 19 deJuIho de 1992. a 29 de
Abril e a 7 cle Julho aeste ano. Islo porque é conviccdo dos invesfigadores que os
casos de vioiência desia natureza se multiplicam na época estivid"' .
A justiticavâo da notoriedadc que adquiriu o quarto documento tambcm é assinalada:
"Apesar de pronto há mais dc um mês, esle relatbrio ganhou agora maior aetualidadc em l'aee úo
reccnte surto de criminalidade que a Imprcnsa tem relatado"~\ Ojornal divulgou ainda: "t'erca de
melade do documcnto do SIS é dcdieada ao estudo das causas da violcncia urbana protagonizada
por minorias étnicas""'.
Com o título "\hio pesada", Paulo Portas assinou um cditorial. onde se destacava a seguinte
frase: "O que está em crise é o humanismo dc pacotilha, segundo o qual a sociedade c
tendencialmente boa. o delinquente é necessariamentc rccuperável e a funv'âo c\ã lei cstá em
cscolher a liberdadc contra a seguranva"" .
Em 1993 este trabalho de O Indepenciente teve repercussbcs na imprensa. De tal forma que
no dia seguintc a 4 de Sctcmbro. o Público publicou um artigo sobre a maténa de 0 independente
(coni o título "O Corvo'?'
e c. SIS"'' ). uma matéria sobrc a já nicncionada conferência de imprensa
de Dias Loureiro na qual cram incluídas, entrc outras. reacvôes de políticos do PS e do ( DS-PP
de associacbcs anti-racismo e lambém um editorial de Vicente Jorge Silva. N'estc editorial.
Vicente Jorge Silva versa essencialmcntc sobre o timing e a fonna como O Independente tratou o
assunto. "'O Independente' tcm todo o dircito de ser o quc e. embora se recuse a dar a eaia
""
O InJcpcnJenic, 1 J." Sctcmhro. pag. 2""
(> InJepcnJenlc, 3 Jc Setembto. p;'ig. 2'
O InJcpcnJcnlc.^ ile Setcmbro. pag. 2
""
() Int icpenJcnfe. . tle ^etentbro. påg. 2"
O InJcpeih/cnlc. 1 ile S.'icmhl'o. páu. 16"íl
l'tihlict). 4 cle Seîemhro. pág. ll>
76
"Tocia vida social é episbdica. e eu reservo a noqcio de episbdio. como a
maioria dos concei/os da teoria da estruturacdo. para aplicá-la a toda a gama cle
aetividade social. (...) Ao fcilcir cie episbdios em iarga escala refiro-me a sequêneias
identificdveis de mudanca, afecîando as principais instituicbes dentro cie uma
totalidade sociai ou envolvendo transic;bes entre tipos cie totalidade sociaF
(Giddcns, 244: 1986).
Uma das frascs que terá maior relevancia e sentido no prcscntc estudo é a seguinte: "Ao
analisar as origens de um episôdio, ou série dc cpisbdios cstudados dc modo comparativo. vários
tipos de consideracbes são frcqucntemente rclevantes" (Giddens, 245: 1986). Dc facto, um zoom in
sobre os acontccimentos c as naturezas dos mesmos que marcaram os anos escolhidos para análise
deverâo abrir perspectb as para o conhecimento de uma década da atenvão que os media deram a
momentos errantes dos jovens e a outros os factos a eles associados. A comparavão da relevância e
da fonna de tratamento do assunto ao longo destes anos marcados por detenninados acontccimentos
também pode fomecer uma panorâmica dos assuntos que se revelam mais mediálicos.
Sabendo nesta altura quais são os anos em questão, importa avancar para a justificacão
encontrada para a seleccão que. como já foi explicitado, não c aleatbria.
1 - O primeiro de todos os períodos cm análise, o eorpus de Junho a Novembro de 1993. foi
escolhido porque a 3 de Setcmbro de 1993 o jornal O Independente publicou um trabalho alargado.
que teve honras de primeira página. Dava conta de um relatbrio secrcto do Servico de Informacbes
dc Seguranea (SIS) sobre a violência na Grande Lisboa. O trabalho jornalístico surgiu um dia
depois de Dias Loureiro, na altura ministro da Administracão Intema do govemo social-democrata
dc Cavaco Silva. ter reunido o Conselho Coordenador de Seguranca e no dia cm que o mesmo
governante rcalizou uma confercncia de imprensa onde anunciou mcdidas de combate ao crime,
designadamcnte ao crime organizado.
No superleadáa peca de abertura de O Independente podia ler-sc:
"19 de Julho. Cavaco Silva recebe um relatbrio confidenciai cio SIS sobre
a violência na Grande Lishoa. O documento. a que () Independente teve acesso.
tem 16 páginas e diz tudo sobre <>s bandos de jovens negros que actuam na
Grancle Lisboct. Os nomes de guerrct. os chefes e os crimes que cometeram. Lm
75
que actuam nesta área. Como se lê no decreto "A Comissão cabcrá planificar a intervencão do
Estado, bem como a coordenavão. acompanhamcnto c avaliavâo da acvão dos organismos públicos
e da comunidade, em matéria de proteccao dc crianvas c jovens em risco". Esta comissao assume
assim um papel no que respeita designadamentc ao dcsempenho das comissbes de proteccâo de
criancas e jovens: "Acompanhar c apoiar as comissbes de proteccão de menores. pennitindo-Ihes
melhorar a qualidade do seu desempenho" (art. 1". n° 2. alínea i). A comissao reuniu-se pela
primeira vez a 1 de Junho de 1998.
3-0 terceiro período em análise cobre uma mancha tcmporal dc um ano, porque inciui os
últimos seis meses de 2000 e os primeiros seis meses de 2001.
No Verão de 2000, ocorreram fenbmenos tumultuosos associados a violência cometida por
jovcns actuando cm gmpo. (.) primeiro grande destaque foi para os assaltos nos comboios da linha
de Cascais. O Correio da Manhd de 17 dc Junho dc 2000 dava conta de um desses episbdios: "Um
gmpo de cerca de 50 indivíduos, de origem africana e idades eomprcendidas cntre os 15 c os 25
anos, cfcctuou na tarde dc quinta-feira um assalto organizado aos passageiros de um comboio da
linha de Cascais"'1'.
De qualquer modo, ainda estava para surgir o acontecimento que fcz o pais acordar ])ara
cstes fenbmenos. Na madrugada de 19 para 20 de Julho de 2000, um grupo de jovens langou o
pânico na Circular Regional Externa de Lisboa CREL, em Lisboa. ao perpetrar uma série de
assaltos e agressbes a pessoas na via pública e nas bombas dc gasolina. Uma das vitimas foi a actriz
Lídia Franco, tambcm ameacada com uma tentativa de violacão. O superlead da peca de abcrtura
do Públieo de 21 de Julho apontava para os factos passados e também para o que se avizinhava:
"Roubos vio/entos clesfilaram nas auto-estradas da Grande Lisboa. Todos
muito rápidos. Todos aterrorizadores. Todos limpinhos. Se'e a nove j'ovens
negros. Iransportados em carros velozes. roubaram três postos de abasteeimenlo,
cinco automobilisfas e uma 'roulotte'
de comes e bebes. Tudo em duus horas. Pelo
caminho a'tnda assaitaram pessoas e quase violaram uma aetri.:. A PSP. a P.I e a
GXR moníaram logo um cerco impressionante. Ouve perseguiebes d Ilol/ywood.
Mas os assa/tantes escaparam. A oposicdo pecliu a cabeca do ministro Fernando
('orreio Ja Manhã, 1 7 dc Junlio, pág. 4
78
frontalmente: um jornal de direita que inspira ou apoia as posicbes políticas do CDS. O que é
deontologicamente menos admissível é a credibilidade quc pretende emprestar â versâo racista"" .
A "apropriacão" das temáticas do crime por parte dos partidos políticos é uma problemática
que tem surgido de fonna mais menos regular, pelo mcnos quando associada ås questbcs da
inseguranca. No quadro da escolha do ano de 1993. é útil convocar um artigo de Filipe Estrada,
onde encara que há uma notbria diferenca na lbnna como o crime juvenil foi olhado pelos
diferentes campos políticos, na Succia. entre 1970 e 1979. "O crime é um problema social quc é,
antcs de tudo, colocado na agcnda pública pelos conservadores, quando os govcmos social-
dcmocratas estão no poder"0" (Estrada, 2004: 419). A parte empírica deste estudo vcrsou sobre
editoriais -
que abordavam o crime juvenil como um problema social dc jornais suecos de
tendências conservadoras (direita). liberais (ccntro) e social-democratas (csquerda), em períodos
eleitorais e não eleitorais. Uma das conclusbes da pesquisa aponta para o faeto de ser pouco usual
quc "um editorial conservador diga que o crime não está a subir ou que os medos das pcssoas são
exagerados. Revcrso desta posieão-
a visão dc que os níveis de crime juvcnil estão a aumentar. que
a situacão c muito séria e que as prcocupacbes públieas sâo justificadas- é expresso em cerca de
metade dos editoriais" (Estrada, 2004: 428).
Os editoriais dos brgãos social-democratas são o oposto. Os níveis de crime sâo
nonnalmcnte descritos como estáveis e apresentam causas para o crime juvenil, sendo que as mais
referenciadas estâo ligadas a factores sociais. como o dcscmprego, a segregacâo, c a heranca social
de cada um. aos pais. å escola e âs responsabilidades dos adultos para com as crianvas, os autores
raramcntc são identificados como criminosos e raramente existc uma defesa de medidas de controlo
(Estrada, 2004: 429). No centro, os liberais suecos apresentam uma posicão mais ambivalente
relativamente ao crime juvenil ao longo de todo o periodo de análise (Estrada, 2004: 430).
Num apontamento mais político, importa dizer quc não se veriticou que os anos de eleivbes
tivessem estado na origem de uma sobrc-representavâo do crime juvenil, o que pode sugerir quc o
crime juvenil não funciona como assunto mobilizador durante os anos eleitorais na Suécia (Estrada,
2004: 435 c 436).
2-0 período de Janeiro a Junho de 1998,no que respeita ao que se passou na sociedade
civil, é importante pois pelo Decreto-Lci 98/98 de 18 de Abril foi criada a Comissâo Nacional de
ProtecQão de Criancas e Jovens em Risco, onde são represcntadas as entidades públicas e privadas
""
Pithlico. 4 de Setembro. pág. 181,1
Os conservadores suecos estão inscridos no Partido Popular Europeu. cnquanto os »ocial-democratas ocupam as fileiras do Partido
Socialisla Europeu.
72
Depois de lodos cstcs acontecimentos de 2000. o início do ane de 2001 mostrou-se muito
prcenchido com novos faclos, que cstivcram intimamcnte associados ãs ocorrências dc 2000. Nesta
fase, scrá importante eonvocar outra vez as pa'avras de Anthony Giddcns:
"Um conjunto de mudancas reiativamente rápidas pode gerar um
momentum de desenvolvimento de longo prazo, senc/o este possivei somente se
certas transformacbcs institucionais essenciais forein realiradas inieialmente.
'Momcntum refere-sr d rapidez com que a mudanca ocorre em rcíacdo a formas
espeeifteas de caracterizacdo episbdica. enquanto 'fra/ectbria'
diz rcspeito ã
direccdo da mudanea" (Giddens. 246: 1 986).
Na realidadc ao longo de anos. tinha-se salientado a necessidadc de ultrapassar a
Organizavão Tutelar dc Menores c avancar para novas conliguravoes juridicas em relav'ão ás
crianvas c jovens em risco. Para muitos, como sc vcriíicou no número anterior. o avanco defmitivo
precisamente para csses novos formatos deu-sc cm consequência da pressâo exercida pelos
aconteeimentos do Vcrão de 2000. Segundo Anthony Giddens. as conjeeturas resultam da
intcracvâo dc forcas quc no tempo e no espavo. sao relevantes para uin dado episbdio (Giddens.
251: 1986).
Tendo em conta o quc já foi dito antcriormcntc. o momento seguidamente contemplado no
estudo sâo os primeiros scis meses de 2001. São dois os motivos íundamcntais. Dcsdc logo a
cntrada em vigor a 1 de Janeiro da Lei de Prulceeão de Criancas e Jovens em Pcrigo (Lei n." 147/99
de 1 Setembro) e da Lei Tutclar Educativa (Lei n.° 166 99. de 14 de Setembro). já abordada.s no
primeiro capítulo.
O segundo l'aclor de escolha prendc-se com a publicaeão a 9 de Janeiro de 2001 da
Resolucâo do Consclho dc Ministros n° 4/2001 que eriou o Escolhas Programa de Prevcneão da
Criminalidadc c Inscrvao dos Jovens dos Bairros mais Vulneráveis dos distritos de Lisboa. Setúbal
e Porto. O Escolhas foi prcparado pela Comissâo Nacional dc Protecvâo dc Criancas c Jo\ens em
Riseo c esteve activo até Dezembro de 2003. tcndo-lhe sucedido através da Resoluv'ão do Consclho
dc Ministros n° 60 2004 o Escolhas 2;| Geracao, que passou a cstar sob a alcada do Alto
Comissariado para a Imigracao c Minorias ICtnicas (ACIME), dcixando de estar dependentc dos
ministcrios da Administravac Interna. do Trabalho e da Solidariedade. da Justiva. da Educavão e da
Juventude e do Desporto. Esta situavâo \eio a levantar problemas de estigmatizavâo associada ao
facto de o programa passar a estar identiticado com os imigrantes e as minorias étnicas.
90
Gomes. Este respondeu que estavam a 'exacerbar' o fenbmeno do crime. E. num
- . , ""■. "•
passeio de comboio. anunciou polieiamento de excepcâo' "9
Scguiram-se dias verdadeiramente "quentcs" com o relato noticioso de outros casos de
violência urbana e com a oposivão a pedir a demissão dc Fcmando Gomes, ministro socialista que
ocupava a pasta da Administracão Intcrna. A evolucão dos acontecimentos nem sempre
correspondeu as preocupav'bes com a seguranca. Chcgaram a ser dadas notícias da dctencão de
jovens suspeitos dos assaltos. com dcsconfiancas que vieram a mostrar-se infundadas. Mcsmo
dentro do Partido Socialista comecou a scntir-sc a necessidade de "limpar" a imagem de Fernando
Gomes. "(.) Cioverno tcnta a todo o custo pôr um travão na alegada crise da seguranga. Para cvitar
mais dcslizes, Antbnio Costa saltou para a primeira lila da mediatizacâo pública. Tudo para quc
Gomes deixc de 'falar de mais"'v\ podia ler-se no Púhtico dc 28 dc Julho de 2000.
A nível político. uma das vozes mais prescntcs foi a de Paulo Portas, na altura presidenle do
Partido Popular. Defendeu medidas mais restritivas, designadamente a reducão dc 16 para 14 anos
da idade dc imputabilidade penas dos menores.
Nesta mesma cdicão dava-se conta, numa outra peca, que o Executivo havia avancado com a
ideia da reforma do dircito de menores. ficando registada a seguinte ideia:
"O Conselho de Ministros aprovou um Programa de Accdo para a entrada
etn vigor da reforma do direito de menores '. 0 programa prevê uma lista enorme de
medidas. algumas novas-- nomeadamente a reestruturacdo das Comissbes de
Proteccdo de Menores -
e outras preparadas e aguardadas hci /'d muito tempo.
Como, por exemplo, a que passa pela substituicdo da obsoleta Organizacdo Tufeiar
de Menores (de 1978) por dois novos dip/omas, a Lei de Proteccdo de Criancas e
Jovens em Perigo e a Lei Tutelar F.ducativa. aprovados jci etn Setembro de 1999.
mas cuj'a entrada em vigor continua dependente cie reguiamentacdo"' .
Ainda o Yerão estava longe de tcnninar c o Governo anunciou que a legislacâo de menores
cntraria em vigor em Janeiro de 2001. A época Ibi az.iaga para Fcmando Gomes que foi demitido
pelo primeiro-ministro Antbnio Gutcrrcs.
y-Púhlict>.2\ deJulho. p;ic. 2
"
Pithlico. 2S de Julho. pág. 4"*
Pithlico. 2N de Julho. pág 14
79
Apôs esta brevc c.xpnsicâo dos momentos que vao ser analisados. segue-se uma
aprescntavão das mctodologias a utilizar na pesquisa.
2. Análise de conteúdu e análise dc discurso
A análise de conteúdo matcrializa-sc numa série de categorias construídas para tentar dar
resposta a questbes que resultaram da revisão de literatura feita nos dois primeiros capítulos.
A análise de conteúdo, que/w si evidencia algumas limitavbes. resulta dessa eategorizav'ão
fcita. cnquanto cstutura-basc antcs da rccolha do corpu.s. embora ao longo da insercao dc dados na
base de SPSS se tenha procedido a algumas alteracbes quc sc considerou serem fundamentais para
que o "esqueleto" se fosse adequando a necessidades que surgiram, />or forma a não impor um
sistema de signilicados. quc dcixaria dc lado a rclev'cância dc novos contcúdos. Sb assim a
inlbnuacao que o corpus foi mostrando não se perdeu nem sc cspartilhou num modelo hennético e
pré-concebido. Para além deste eslbrco que foi feilo, também c certo que esta tccnica de análisc dc
conteúdo. que incidiu sobre lodas as unidadcs dc redaccâo, por si sb nâo é sufieiente.
Por isso. foi também necessário avancar para uma observav'ão mais qualitativa, centrada nos
titulos de primeira página, nas unidades de redaceâo no interior que Ihe correspondiam c amda nas
pecas de opinião. Por entrc um eorpus tão vasto, scria scmpre incvitávcl lazer escolhas e centrar a
análisc Como já foi dito. os titulos mostraram ser um bom ponto dc partida. pelo seu signiiicado
nas páginas dos jomais e também porque seria impossível mostrar no contexto do presente traballio
tudo o que continham as cerca dc 800 unidadcs dc rcdacvâo rccolhidas. I: possivel expressar os
temas através de títulos. que actuam como resumo da notícia (Van Dijk. 1990: 60 e 61 ). sendo quc
scmpre que se sentiu necessidade foi-se além dos títulos. Paralelamente, em casos pontuais. foram
analisadas unidades de redaccâo quc não rcsuitaram dc uma entrada na primcira página. mas que se
mostraram relcvantes.
O nosso ponto de visla, uma análise não anula a outra ncm a menoriza. as duas
complemcntam-sc. fazcndo eom que a análise de conteúdo se iclacione com outras estruturas mais
vastas e sociais. no sentido de elaboracåo de uma análise de discursc Há quem considerc que a
quanlificacao é inimiga da possibilidadc dc chegar a uma signilieavao e ha quem defcnda quc a
auscncia dc validac.ão numér.ca da análise de diseurso faca dela tão-sonente uma visão pessoal áo
investigador. que não pode traduzir eonhceimento cientitieo.
92
Foram identificados cinco dezenas de bairros dos três distritos já indicados para sercm
intervencionados. Um dos pontos mais inovadores da primeira fasc dcste programa foi a criacão do
conceito de mediadores jovcns urbanos. cuja formayão íicou a cargo do programa c tambcm do
Instituto Portugucs da Juventude. Como ficou estabclccido. cstcs mcdiadores dcvcriam scr
recrutados entrc os jovcns existentes nos prbprios bairros. Desta fonna, csta figura podia mais
facilmentc contribuir para uma reconstmciio de rclav'bcs no mcio cnvolvente. designadamcntc com
as escolas ou outros organismos e ainda na dinamizacão dos jovcns c junto das famílias. lĩntrc os 99
jovens quc assistiram âs aecbes de fonnavâo entao ministradas. 91 concluíram-na (Macedo, 2004:
111 c 112). N'uma obra de Alberto Macedo, o primeiro coordenador Nacional do Escolhas (ediv'ão
do autor). a figura dos mediadores é recordada da scguinte forma:
"O Programa Eseolhas e os técnicos que nele trabalharam ganharam muito
com a presenca dos Mediadores apesar das falhas iniciais quando se procedeu a
sinalizacdo, formacão e contratacdo dos primeiros elementos. E ganharam porque
sendo os Mediadores jovens que residiam nos bairros: o conhecimenío e a
experiência que trouxeram para as equipas ciesignadamente aqueles que, defacto,
tinham aceitacdo junto do.s seus pares e que quiseram assumir uma postura
diferente e alternafiva aos seus percursos de vida até entcio. foram factores de
importcincia decisiva para que as iniciativas desenvoividas junto dos jovens fossem
pertinentes e aeeites" (Macedo. 2004:1 11 c 112).
4 Por último, a prcscnte pesquisa contempla um período seis mescs dc 2003, de Junho a
Novembro. Verificou-se que o Relatbrio Anual de Seguranca Intema de 2003, no capítulo da
Delinquéneia Juvcnil, salienta-se que houvc um aumcnto global 5% da delinquência juvenil. de
2002 para 2003. Neste mesmo documcnto. aponta-se para o facto de a delinquência juvenil sc
caractcrizar por um fenbmeno de "espírito grupal". Estcs dados scrvem de pretexto para veriticar sc
o assunto tcve destaque nas páginas dos jornais cm 2003. apesar de não ter havido momcntos
especiais ou cspccíficos relacionados com a temática nos pcribdicos. Para além de todos estes
factores, a opcão pela análise deste período dc 2003 também possibilita o fecho de um ciclo dc uma
dccada dc cstudo iniciada dez anos antes. em 1993. daí terem sido escolhidos os mesmos meses em
cada um dcstes dois anos de ponta.
9 1
discurso. que dci conta de oufros sistemas de significado na cultura de origem"
(McQuail. 2003: 333 c 334).
A análisc de conteúdo prcssupbe, cada vez mais. um intra-cmzamento eom outras fomias de
análisc, ondc sc destaca â cabeva a análise de discurso.
"() principal oh/ecfivo ././ análise de discurso consistc em produzir
descricbes expiicitas e sistemcilieas de unidades cle ,iso ././ linguagem a que
denominamos de discurso. [...] As dimensbes textuais ddo conta ././s estruturas do
discurso em difcrcntcs nívcis de desericdo. As dimensbes contextuais relacionam
estas descricbes esíruíurais com diferenfes propriedades do confexto, como os
processos eognitivos e cts representacbes ou factores culturais" (Van Dijk. 1990:
45).
Com a análise de discurso é possível dar um maior sentido a uma informacão, que prccisa de
scr trabalhada c perspectivada para moslrar scntidos qucr nas pecas quer nos diseursos das
entrevistas.
A análise de discurso. pode dizer-se. permitc uma incursão em assuntos que mo são
passíveis de scrcm abordados com a análise de conteúdo e que também pennitem um
cnriquccimcnto da análise dos textos. "Do método de análise do diseurso faz partc a desericdo
linguística do texto linguístico, a interpreiacdo das relavoes entre os processos discursivos e os
proeessos sociais" (Fairlough. 1997: 83). Fairlough centra-se num método tridimensional de análise
do discurso: "0 discurso e qualquer exemplo concreto de pnitica discursiva é visto eomo scndo
simultaneamentc (i) um tcxto lingut'stico. oral ou cserito, (ii) prática discursiva (produv'ão c
intcrpretavâo de texto) e (iii) prática socioculturai" (Fairlough, 1997: 83). () cnraizamento dos
hábito diseursivos na prátiea soeiocultural é visivel em patamares difcrcntes. na situacao imediata,
no âmbito mais organizacional c por último, a nívcl societal.
A cvolucão do enfoque dc análise de discurso ascendeu a uma categoria de análise crítiea úo
discurso. onde são importantes as contextualizavbcs. também elas produtoras de signilieados e de
dcscodi licav'bcs discursi vas.
"A análise critica do discurso c um tipo de invcstigavâo de análise de discurso que estuda.
em primciro lugar, o modo como o abuso de podcr societal. a dominância e a desiguakhidc são
postos em prátiea, e igualmentc o modo como são rcproduzidos e o modo como sc Ihes assiste. pelo
texto c pcla l'ala. no contcxto social c político" (Van Dijk. 2005: 19). O mesmo autor reitcra um
S4
Como vcrcmos nos prbximos parágrafos muitos advogam quc o olhar sobrc os jornais e as
suas produvoes jomalísticas acarreta conhecimento e possibilita uma melhor compreensão do
jornalismo da sociedade cm que se insere. Esta é, scm sombra para dúvidas. a nossa posicåo, na
mcdida cm quc e possível de fonna conscienciosa analisar os discursos mediáticos e as suas
rctbricas.
A análise de conteúdo comecou por sc ccntrar no conteúdo manifesto, mais voltado para
dados que podem scr quantificados. mas o olhar foi evoluindo para outros pressupostos em quc a
observaeão sobre os contcúdos latcntcs é íundamental, sendo neeessário "identilicar c comprcendcr
o discurso particular sobrc o qual o texto é codifîcado" (McQuail. 2003: 329).
Olhando um pouco mais atentamente para a análise de contcúdo. é possível distinguir uma
série de delinivocs, cntrc as quais a seguinte: "0 propbsito da análise de conteúdo c quantificar
caractcrísticas salicntcs c manifestas de um largo número de textos c as cstatísticas sâo usadas para
fazer inferêneias alargadas aeerca de processos c políticas dc representacão" (Deacon et al. 1999:
116).
Lste dcve scr um método estmturado de forma a dar rcspostas a questbes problemáticas
constituídas previamente: "A análisc dc conteúdo é um método extremamente directivo: dá as
rcspostas ås qucstbes colocadas" (Deacon et ai. 1999: 1 1 7).
Estas respostas sao obtidas atravcs dc uma metodologia que pennite que as unidades de
redaeeao recolhidas possam ser analisadas: "A grande vantagcm da análisc dc conteúdo é o facto de
ser metbdica. Estipula que todo o material dentro dc uma amostra cscolhida deve ser submetido âs
mesmas categorias" (Dcaeon et a/. 1999: 133).
lCsta forma de análise dos textos jomalísticos deve. porém. scr complementada com outras
metodologias. sendo que a análisc de discurso Ihe está intimamente associada.
Os resultados provenientes da escolha dcsta mctodologia são indicadorcs imprescindíveis
para a análise de discurso. A quantidade de infonnav'âo e de signilicavâo que se pode reter das
quantificacbes de conteúdos é em si mesma um mananeial de infonnav'ão que deve ser trabalhado
num sentido de dar as primeiras rcspostas e os primeiros olhares sobre as problcmáticas jornalísticas
e tambcm sociais, no caso deste trabalho. onde existe um csforco de intercmzar as práticas
jomalísticas e as sociabilizacbcs quc as originam e que daí resultam.
"O futuro da anci/ise de conteúdo. de uma forma ou de oittra. fem de se
basear em relacionar 'o conteúdo'
com as esfruturas mais vastas cie sentido de
uma sociedade. Este caminho será taivez melhor seguido por via da análise do
83
A análisc retbrica e hennenêutica da diseursi\ idi.de jornalística contribui para a
comprcensão do discurso persuasivo e interpretativo. que cstá prcscnte na erítica: "A rctbrica do
discurso tcm a vcr com a forma como falamos. [...] o uso dc esuuturas rctbrieas na notícia dcpende
dos objectivos e dos efeitos procurados pela eomunicacâo" (Van Dijk. 1 990: 123).
Assim sendo, o modo como é elaborado e construído um dado texto detennina a sua eficácia
discursiva. "O recurso â retbrica não é ditado pclo contexto. Podc usar-se livrcmente sc o que se
pretende é fazer com que a mensagem seja mais efectiva" (Van Oijk, 1990: 123).
Na mesma linha de pensamento. importa ainda rctlectir sobre as seguintcs palavras: "As
estruturas relbricas que acompanham os actos de fala alinnativos. como os quc se desenrolam com
as notíeias. devem ser capazes de alimentar as crcnvas dos leitores unindo-se âs proposivoes
assertivas do tc.xto" (Van Dik. 1990: 124). ICste será um ponto fulcral que atesta a relevância da
comunicacão, cnquanto fonna persuasiva dc transmissâo dc opinioes c de saberes sobre uma
detenninada área do conhecimento.
3. LCntrevista
Defendo uma triangulacâo dos métocos. pareccu-nos fundamcntal scguir para uma outra
metodologia. a das cntrevistas abertas e em profundidade, que são mais uin contributo para melhor
entender a eobertura da dclinquéncia juvcnil. Esses discursos, como jã foi referenciado, servirao
para dar resposta a algumas dúvidas colocadas ao longo das análiscs quantitativas c qualitativas c
tambcm serao alvo de uma análise dc discurso.
A entrevista erê-sc assim. como uma metodologia importantc n.i decorrer deste trabalho. A
escolha dos entrcvistados resulta dos propbsitos da investigacão. scndo que as neeessidades
derivaram também de pontos que ficaram por esclareccr nas análises de conteúdos e de discurso
sobre o corpus.
Afigurou-sc a ncecssidade de falar com dois editores, na medida em quc cstão. pelas suas
funv'bes, habilitados para se pronunciarem obre as cscolhas e os enquadramcntos dccididos no
âmbito da cobertura da dclinqucncia juvenil. As cscolhas recaíram sobre os editores da seecão mais
vezes citada, a Soeicdade.
Infelizmenle, dado o facto de os anos em análise serem já um pouco distantes, não foi
possivel falar com todos os editorcs quc tomaram deeisbcs rcsses iromentos. porque já não se
cncontravam ncssas lunebes. Para além dos editores. seria neeessaiio falar coiu jornalislas. a
escolha reeaiu sobre um jomalista do CM, que tivesse trabalhado alguns anos no jornal, uma vez
96
ponto que nos parcce fundamental que tem a ver com a idcia dc quc a análise crítica do discurso
pressupôe uma relaeâo entre o conhecimento e a socicdadc onde se destaea a relavâo entre o
discurso e o podcr. numa abordagem multifacetada e multidiscilinar.
Van Dijk dá conta de que a complexidade da análise do discurso não sc limita â análisc de
texto. mas tcm cm atcncão as conectividades cntrc as cstmturas textuais e de fala e os seus
contextos divcrsos, ao nível social. cultural c histôrico (Van Dijk, 2005: 63). O dominio das
implicacbcs c importante. na medida em quc os discursos ncm sempre sao explícitos, mas possuem
uma dimensão simbblica, muitas vczcs associada a um conhecimcnto comum. Há palavras e
cxprcssbcs conotadas ncgativamcntc que em associav'ão a dctenninados grupos ou classes
minoritárias produzcm significadas. "Muitas das implicacoes idcolbgicas decorrem não sb do facto
de se dizer pouco, mas também do facto de sercm ditas demasiadas coisas irrclcvantes sobre os
actores das notícias. 0 exemplo bem conhecido dos relatos noticiosos sobre minorias é o uso de
rbtulos étnieos ou raciais irrelcvantes nas histbrias de crime" (Van Dijk. 2005: 66).
As palavras. as e.xpressbes. os contextos políticos e sociais produzcm canais de
comunicavão onde há codigos quc são mais ou menos entendidos por todos. mesmo quando nâo
estão explícitos. Por isso. as palavras podem ser tão perigosas. "Os cbdigos sâo sistemas de
significado cujas regras e convencbes sâo partilhadas pelos membros de uma cultura [...]. Damos
sentido ao mundo atravcs da nossa compreensão dos cbdigos c das convencbes comunicativas"
(McQuail, 2003: 355).
A eontexlualizavão prcvia dos fenbmenos é decisiva para um superior entendimento do
problema. Tcndo em conta esta premissa, fazcmos em qualquer um dos pcríodos uma
contextualizacão de cariz histbrico-social.
"A representacdo é o proeesso pelo qual os membros cie uma cultura usam a
linguagem [ ...[ para produzir sentido. Porém. esta definicdo acarreia uma importante
premissa segundo a qual as coisas- objectos. pessoas. acontecimentos. no mundo -
ndo têm qualquer signifwado fixo. final. ou verdadeiro. Somos nbs na sociedade.
com culfuras humanas que fazemos com que as coisas lenhatn senfidos" (Hall, 2003:
61).
Os scntidos surgem. assim. e por forca das vivências partilhadas de culturas. cm contextos e
cm scntidos. "A análise crítica do discurso associa a perspectiva sociolbgica e política sobre o
jornalismo como discurso social e a atencão articular â Iinguagem c ãs suas escolhas de realizacão
em actos de eomunicaeâo" (Ponte, 2004: 130).
cujos temas essenciais eonheecmos. mas quc nao consideramos suficientementc explicados num ou
noutro aspeeto" (Ghiglionc e Matalon. 2005: 66). cmbora também sjja ccrto que as cntrevistas
deverão servir para verificar dominios da in\ estigavao.
A entrevista scmidircctiva "intervcm a incio caminho entre un conhccimento completo c
anterior da situavao por parte do investigador, o que remete para a entrcvista directiva ou para o
questionário [...]. c uma ausência dc conhceimento. o que remete p.ua entrevista nâo direetiva"
(Ghiglione e Matalon. 2005: 88). Dc faeto, ncstc caso concreto, c invcstigador parte para a
realizavâo das entrcvistas com um quadro dc rcferêneias prévias. iras tendo em conta quc ha
sabcres que prccisam de ser aferidos.
Não existc um quadro prc-dciinido daquilo que podcm scr consideradas as respostas
correctas, apenas c pretendido sabcr qual a opinião relativamente ás questbes colocadas.
As entrcvistas no quadro do presentc trabalho sâo consideradas fundamentais para
aprofundar conheciiuentos sobrc as produv'bes jornalísticas. bem como as suas relavbes com as
fontes.
4. Condicôes para reeolha do corpus
Atravcs dcsta pesquisa pretende examinar-se o modo como a imprensa nacional diária trata
a dehnquencia juvenil. lendo eni conta o objecto cle cstudo, pareeeu lundamental olhar para dois
jornais com orientav'bes difcrentes. permitindo um estudo comparativo entre um título da imprensa
de referência (Público) c um da imprcnsa popular (Correio da Manhd). A vcrilicacão da fonna
como cada uma das publicav'bes representa e trata a delinquência juvenil pode contribuir para
melhor compreender até quc ponto as duas coberturas são diferentcs. ou não, c quais os parâmctros
c cnquadramcntos desenvolvidos cm cada um dos casos. Porque a televisâo c um meio imporlante,
senão mesmo decisivo. para a divulgaciío de informacão cm larga escala, não quisemos deixar dc
observar um telejornal da RTP coiTespondente ao dia de divulgavao dos assaltos ocorridos na
CREL. mas quc sb scrá tratado na análise qualitativa.
No estudo são considerados para análise os textos jornalisticos que eontenham termos coino
jovem c adolcscente na enunciav'ão dos jovens cnquanto autores. Apesar de estas catalogavoes
constituírem o principal factor em tennos dc sclcccâo das pecas. nao é possível descurar a idade cm
funvâo das diferentes intervcncbes administrativas e judiciárias quc a prática dcssc tipo dc actos
suscita cm funvâo c\o cscalão etário c\o seu autor. Assiin. também entram em análise unidadcs de
redacvâo que nâo tenham rcfcrcncia a jovcns ou adolesccntes, mas quc sc reportcm a dclinquentes
xs
que o editor tinha cntrado em fun<?ôcs há pouco tempo. ao contrário do que aconteceu com o editor
do Público.
As outras entrevistas resultam do facto de ser também importante contextualizar o tema e
pelo facto de todas elas serem fontes mais destacadas: as polícias.
Estcs entrevistados sâo rcpresentativos das suas individualidadcs mas também dos seus
incgáveis papéis sociais.
Esta técnica pcrmite uma análise em profundidade do tcma abordado ao longo da
dissertavão, porque os discursos individuais pennitem e contribuem para que se chcgue ao social.
Embora fosse sempre possível optar por outras entrevistas. designadamente a jovcns, estas parecem
ser dentro do quadro de objcctivos pretendidos e constrangimentos tcmporais e espavais existentes
as fundamentaís.
As entrevistas segucm um modelo aberto. com a inteneão de pennitir que os entrevistados
falcm abertamentc De um modo geral. as entrcvistas pressupôem um perfil inicial do entrevistado.
seguindo-se as perguntas directamentc centradas no tema. Entende-se aqui quc a entrevista e a
convcrsa tenham um propbsito detinido. que nao surge, portanto, ao acaso.
Pareceu também importantc quc as entrevistas rcsultassem de um guião previamente
estabclecido, mas com a possibilidade de havcr altcracbes no decorrer da conversa, na medida cm
que o objectivo é o de conseguir faz.er as entrevistas pcssoalmente. As entrevistas foram gravadas
para que fosse possívcl posteriormente recolher a informacão dc uma fonna mais fidedigna c
aproximada â conversa estabelecida (Dcacon et al. 1999: 297 c 298), partindo do pressuposto de
quc ncste caso o gravador nâo iria interferir com o discurso.
Embora haja um ponto de partida para entrevista sem que se adivinhem as rcspostas, é certo
que parcceu necessário ter um guiâo estmturado. na mcdida em que uma entrevista não directiva
poderia resultar cm dados menores. "... c um crro acreditar quc os métodos não directivos dao uma
maior liberdade ao entrcvistador. As regras são, para cstes. muito rigorosas. Em contrapartida, estes
métodos recorrcm fortemente â opinião do entrevistador" (Ghiglione e Matalon, 2005: 63).
De acordo com Ghiglione e Matalon. a entrcvista semidirectiva scrá a que mais se adcqua ao
que se pretendc fazer neste projecto, tcndo cm conta que a formulavâo e a ordem das perguntas foi
previamente fixada embora o cntrevistado possa respondcr tão longamcnte quanto quiser e pode ser
incitado pelo entrcvistador. De qualqucr foram, c possível dizer que o modelo seguido também não
está muito afastado da entrevista directiva.
Na elaboravâo do esquema de perguntas teve-se em atcncâo a possível neccssidadc de haver
uma adaptacão ao discurso do entrevistado. tendo sempre em conta quc qualquer uma das conversas
tcm um objectivo. que no caso passa muito pela neccssidade de "aprofundamento de um campo
87
Aquando do scu lan^amento apostou na criacâo dc suplementos diários temáticos quc,
contudo. postcriormcntc viriam a ser refonnulados para passarcm a sair em menos dias da semana.
O Público assumiu-se como um jornal sério e conquistou rapidamente o estatuto de
publicacao de referência no panorama português dos media. No quarto trimestre de 2006. de acordo
com a Associavão Portugucsa para o Controlo de Tiragem e Circulavâo, o jomal conseguiu uma
tiragem média de 57.132 unidadcs.
O gi"ande investimento fcito no jornal nâo teve o efeito dcscjado e em 1995 atravessou uma
grave crise financeira. Nessa altura Viccnte Jorge Silva abandonou a direccâo. scndo substituído por
Nicolau Santos e. em 1998, por José Manucl Fcmandes.
Ainda cm 1995 o Público passou a estar disponivel na Internet em www.publico.pt coin
acesso â edicâo imprcssa.
Correio da Manhã
O jornal diário Correio cia Manhd (CM) foi lancado a 19 de Ma:-co de 1979. em Lisboa. por
Vítor Direito. Nuno Rocha e Carlos Barbosa.
Assumiu desde o seu nascimento uma linha populis.a, baseando muita da infonnacao
prestada nas áreas do espcctáculo e do desporto. Considerado um jornal tablbide, sempre recorreu a
títulos destacados e em caixa alta para fazcr as manchetes. A estratégia resultou c cm pouco tcmpo
o Correio da Manhd tornou-se num dos jornais mais lidos e vendidos de Portugal. tendo apenas
disputado a Iĸleranca como o Jomal de Xotícias que superou os valores de circulacáo do Correio
da Manhd cm 2001 e em 2002, ano em quc o jomal passou para as mãos da Cofina c optou por uma
grande mudanca gráfica. Em 2007, João Marcelino foi substituído na Direccao por Octávio Ribeiro.
Segundo a Associacão Portuguesa para o Controlo de Tiragern e Circulavao. em 2006 o
Correio da Manhd foi lider, tendo tido uma tiragcm mcdia no quarto trimestre de 2006 de 145 438
unidades, quase o triplo da do Púhlico no mesmo período.
Dcsdc 1998 o Correio da Manhd cstá disponível na Internct na morada
www.coiTeiomanha.pt.
90
entre os 12 e os 16 anos, correspondendo ao actual critério em vigor dc classificacão da
delinquência juvenil previsto na Lei Tutelar Educativa. Os 16 anos con-cspondem å idade em que
dei.xa de ser considerado inimputável do ponlo de vista criminal deixando-se de estar abrangido por
um sistema judicial difcrenciado e específico- tutelar de menorcs -
para passar a estar sujeito ao
regime penal, distincbes etárias que podem ser factores relevantcs cm tennos de representacão
social do conccito cm Portugal. Este critério faz com que fíqucm de fora do corpus pecas que pelo
nosso olhar se rcferem â delinquência juvenil, mas que precisariam que fossemos nbs a afigurar essa
escolha. Mas. sempre que se julguc necessário para contextualizar e comparar os dois jomais, será
possível na análise de discurso olhar para pevas auscntcs do corpus.
Na recolha das pecas foi ainda prestada atencão å mancha gráfíca que envolve as unidades
de redacvâo rccolhidas nos termos já indicados. É analisada a infonnacão que disposta na página
fava parte desse todo gráfico e redaccional, dcstacando as pe^as de opinião relacionadas com a
delinquênciajuvenil.
O corpus de análise resulta de uma pesquisa página a página em cada uma das edic.ôes do
Público e do Correio da Manhd nos períodos cscolhidos, tendo sido a recolha concretizada pela
autora do trabalho, com a exceppão dos períodos de Janciro a Junho de 1998 c de Junho a
Novembro de 2003 no jornal Correio da Manhâ que foi efectuada pcla Hcmeroteca de I.isboa
(realizada com indicacbes muito precisas) e do dia 20 de .lulho de 2000 no que respeita â imagens
da RTP, que foram pesquisadas pelo servico de Arquivo. O olhar sobre a RTP, voltamos a reforcar,
é apenas indicativo, sem a pretensão de fazer uma comparavão cntre os dois meios, atc porque
estamos pcrante amostras muito difcrenciadas. desde logo em tennos de quantidadc.
A análise de discurso vai incidir sobrc as primeiras páginas e as pevas que Ihcs estão
associadas, embora semprc quc sc julgue necessário haja enfoques complemcntares. Estas
metodologias são, como já referido, complementadas com entrevistas.
4. 1. Jornais
Páhlico
O diário Públieo surgiu a 5 de Manpo de 1990. tendo sido o primeiro peribdico português a
ter em simultâneo uma edicão para Lisboa e outra para o Porto.
O jomal arrancou por iniciativa do cmpresário Belmiro de Azevedo e tcvc como primciro
dircctor Vicente Jorge Silva. Vários jomalistas consagrados foram contratados para os quadros do
Público que também sempre contou com um gmpo de notáveis colunistas.
89
5 - Título
6 - F.m páginas abertas Idcntifica a prcscnca nas primciras páginas e na última pagina.
scndo estes locais de destaquc no jornal.
I F manchete ou uma das pecas dc ma:or dcstaque na primcira página
2 E chamada dc primcira página
3 Aparcec na última página
4 I. chamada â primciva do Local
99 Nao se aplica (sem referéncia na primcira e.'ou última páginas do caderno geral ou a
primeira do Local, portanto localizado no intcrior)
7 - No interior do jornal - Identilica a seevao em que se inserc no interior do jornal.
1 Seccão de Dcstaque . 'I'ema de abertura. Actualidade (trabalhos de fundo sobrc o tema do
dia, num espaco prbprio do jornal. muitas vezes a abrir).
2 Nacional/Política
3 Páginas dc Opinião
4 Sociedade, Infonnacâo Geral (temas das várias csferas soeiais. como saudc educaeão,
ambiente, ciência, segLiranva, consumos. do país).
5 Regional, local (centrado em notícias de âmbito regional ou local)
6 Inlernaeional
97 Outras seccbes (cultura)
99 N'ao se aplica
8 -
Ilierarquia na página- Pennite aferir a importância espacial.
I Peca única na página
2 Pcva principal na página
3 Peva secundária zona superior
4 Pcva seeundária zona inferior
5 ( )eupa mais de uma página
6 Outra situacão
00 Não sc aplica
92
4.2. Protocolo de análise de conteádo
1 - Jornais
Foi pesquisado o corpo principal dos jomais Público e Correio da Manhd. sendo o do
Público correspondente â edivâo do Porto
1 Pttblico
2 Correio da Manhd
2 - Mês
1 Janciro
2 Fevereiro
3 Marco
4 Abril
5 Maio
6 Junho
7 Julho
8 Agosto
9 Setembro
1 0 Outubro
1 1 Novembro
1 2 Dezembro
3 - Dias do mês
1 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 - Períodos em análise
Blocos
1 - Junho a Novembro de 1993 (Púbîieo e Correio da Manhci)
2 - Janeiro a Junho de 1998 (Público e ( 'orreio cia Manhd)
3 - Julho de 2000 a Dezcmbro dc 2000 (Público e Correio da Manhd)
4 - Janeiro a Junho de 2001 (Piiblico e Correio da Manhd)
5 - Junho a Novembro de 2003 (Público e Correio da Mctnhd)
9 1
1 1 Cartoon
12 Tcxto dc primeira página
97 Outros
99 Não sc aplica
13 - Assinatura - A assinatura de uma peva rcvela a importância que a mesma tcm. aponta
para o estatuto de quem as assina e revela se há tcmas prcfcrcncialmente tratados por homens ou
mulheres.
1 Não assinada (nâo é possívcl identilicar o autor)
2 Dc agência de infonnayao
3 Assinada por jornalista homem (por extenso ou eom iniciais)
4 Assinada por jornalista mulher (por extenso ou com iniciais)
5 Peva de personalidadc extcrior ao jomal (colunista. espccialista) homem
6 Peva de pcrsonalidadc exterior ao jornal (colunista. cspeeialista) mulhcr
7 Peva de leitor
8 Pcva de leitora
9 Inieiais sem ser possível identiíĩcacan
10 Dc agência dc informagão -t jornalista homem
1 1 De agcncia dc infonnacao * jornalista mulher
12 Dois ou mais jornalistas
99 Não se apliea
14 - Se\o do(s) jovem(s) autores Pennite caracterizar o autor atravcs da identiticavão do
género. indicando a literatura que o género masculino c o mais dcstaeado na prãtica dc
delinquência.
1 Feminino (com marcas de feminilidadc)
2 Masculino (com marcas dc masculinidade)
3 Ambos
98 N'ão referenciado
15 -- Fai\a(s) etária(s) dos autores Permite sahe". por excmplo. sc a delinquência
retratada nos jomais corresponde â delinquência legal ou se, pelo cortrário. é mais abrangente e
pluridimencional do quc isso. c também serve para caracterizar o autor.
1 12-16 anos
04
9-Tamanho Peca
1 Parágrafo único
2 2 a 5 parágrafos
3 6 a 1 0 parágrafos
4 1 1 ou mais parágrafos
5 Outra situacik) (títulos primeira pág.)
99 Não se apliea
10 - Extensão hori/ontal da peea por eolunas
1 1 a 2 colunas
2 3 a 5 colunas
3 A toda a largura da página
4 Outra situacão (quando ocupa mais do que uma página)
99 Não se aplica
1 1 - Valorizacão gráfíca Permite saber se a lemática c ou não valorizada graficamcnte.
1 Tem imagem (foto, infografia. desenho)
2 Combina imagem e outros clcmentos de destaque
3 Sem elementos dc valorizacâo gráfica
4 Outros elementos de destaque (gráfico, tabela)
99 Não se aplica
12 - Género jornalístico
1 Brevc. responde âs questbes básicas de referência (quem, o quc, onde. quando)
2 Fotolegenda
3 Grande reportagem
4 Notícia
5 Rcportagem
6 Entrevista
7 Artigo de jornalista (análise, crítica e comentário, ccntrados na contextualizavão,
interpretavâo ou comentário de acontecimentos ou problemas)
8 Coluna ou artigo de personalidade externa
9 Editorial
10 Carta de leîtor
93
1 9 Pretos
20 Brancos
21 Espanhôis
22 Britânicos
23 Angolanos-
inglesa
24 Inglês + britânicos
25 Ilalianos
26 Ncgros- cabo-vcrdiano
27 Franccses
28 Brancos + pretos + mulatos
29 Guineenses
30 Africanos + europcus
31 Africanos + negi-os+ cabo-verdianos
98 Não há refcrcncia
17 -
Espa^o circundante dos jovens autores em imagem- Petmite saber se os jovens são
muito ou pouco retratados em imagem e cm que locais.
1 Doméstico
2 Interior de escola (instituicâo, . . .)
3 Espaeo inlerior não identificável
4 Exterior (ma, bairro, aldeia, loja)
5 Nâo identilicável
6 lntcrior dc cscola (institciigâo. ...) + Exterior (rua, bairro, aldeia, loja)
97 Outro (por ex, automovel)
96 Não existcntc (Sem elcmentos valorizavão gráfica)
99 Nâo se aplica (porque não aprescnta jovcns)
18 -
Tipologia de crimes6cometidos pelos autores (admite mais de uma resposta, uma
vez que numa peva podem ser referidos vários crimes) - Permite verificar se os crimes são
rcfcrcnciados e ainda quc tipo de crimes sâo mais vezes associados aos jovens delinquentes.
1 Homicídio
2 Tentativa de homicídio
As catcgorias relativas aos crimes loram encontradas tendo como rcferência o CoJigo Penal. Quando nos refcrinios a dano. cstamos a
incluir aqui aclos de vundalismo, alguns deles "incivilidades". que são punidos pclo CoJi^u Pcnal.
99
2 16-21 anos
3 Mistura de idades. incluindo abaixo de 12 anos
4 Maisde21 anos
5 Sem marcas de idadc, mas com marcas associadas a jovem ou adolescentc
6 Mistura de idades, incluindo acima de 21 anos
7 12-16+ 16-21
8 abaixo de 12
98 Nâo refereneiado (admissível apenas nos casos dc la página ou artigos de opinião
inscridos em trabalhos de fundo c dcstaques)
16 - Referência å origem étnica dos autores3"' (estas catcgorias de análise sâo feitas
cxclusivamente a partir das enunciacbes encontradas nas pecas)- Permite saber quando é que os
jomais estigmatizam ctnica e racialmente os autores.
1 Negros + pretos
2 Negros + brancos
3 Negros + brancos-
prctos
4 Negros
5 Africanos-
negros+ brancos
6 Athcanos-
ncgros
7 Africanos
8 Negros-
prctos- brancos + angolanos + cabo-verdianos + brasileiros < africanos +
eiganos
9 Negros + black boys
1 1 Ncgros + brancos + africanos
12 Ciganos
13 Russos
14 Norte-amcricanos
1 5 Ncgros + brancos + pretos + africanos
16 Pretos + cabo-vcrdianos +africanos
1 7 Africanos + negros+ afro-lusitanos + brancos + prctos + portugueses
+ europcus
1 8 Cabo-vcrdianos
'
Na sequéncia da II Cĩuerra Vlunilial. a l.NliSC O elaborou o Siaiemeni on Race (1950). um documen.o que esiabeleceu a existência dc
apenas uma única raca. a l.umana. Por islo mesmo. esta catcgoria é aqui colocada. embora sejam apenas inseridas referéncias retiradas das
pegas analisadas. O meMi.o acontece com a catcgoria que se reporta å otigcm ctnica das vítimas.
95
5 Espanha
6Brasil
7 Outros países da Europa
8 Outros países fora da Europa
98 Não há referêneia
21 - Referência a actuav'ão das for^as policiais- Pennite afcrir uma ideia de como c
transmitida a imagcm das forcas policiais, facto quc pode potcneiar a inseguranva.
I Actuaram/ou ideia dc actuaeão
2 Nao actuaram
3 Foram elas prôprias vítimas de violência
4 Sao elas mcsmas associadas a inseguranca
5 Polícia ainda procura autor
6 Foram elas prbprias vítimas de violêneia +■ actuaram
7 Rcforvo policial
8 Foram elas prúprias vítimas de violência i São clas mcsmas associadas a inscguranca
9 Actuaram/ou ideia de actuacão + Sao elas mesmas associadas a inscguranva
97 Outra situav'ao
98 Nao há referência
22 - Zona ^eo^ráfíea - Dcntro de uma configuravâo gcográlica, penuite saber quais são os
espacos mais assinalados. se os urbanos ou das pequenas localidadcs.
1 Centro urbano litoral
2 Centro urbano interior
3 Pequcnas localidades litoral
4 Pequenas localidades interior
5 Ccntro urbano litoral + Centro urbano/intcrior
6 Nao identiticávcl
98 Não há rcfcrência
23 - Local de a«ressão - Penuite saber quais são os locais dc rgressão mais referenciados.
podendo rccair sobre esses uma ideia de inseguranca.
1 Rua/cslrada
2 C'entro comercial
98
3 Coaccão sexual
4 Violacão
5 Furto
6 Roubo
7 Tráfico de drogas
8 Crimes de falsifícaeão
9 Ofensa contra a integridade fisica (agressão)
10 Agressão Desacato âs autoridades policiais
1 1 Intimidavão
12 Dano (pintura dc graffitis, vandalismo dc pncus. . . )
13 Provocar inccndios
14 Possc ilegal de annas
97 Outros (por ex. rapto. maus-tratos animais. infanticídio. conducâo sem licenva)
98 Nâo há referêneia
19 - Modo de actuacão dos jovens autores- Pcrmite saber se há refcrência â fonua de
aetuavâo c sc há uma associacão a actuavao colectiva ou individual.
1 Actuacão individual
2 Actuavão em gmpo: gang
3 Actuavão em grupo: bando
4 Actuavão em grupo: grupo
5 Actuavão em grupo: apenas número (2. 3...)
6 Gang + Grupo
7 Gang * Grupo + bando
8 Grupo- Bando
9 Gang + bando
97 Outra situav'ão (por excmplo quadrilha)
98 Não há referência
20 - País onde ocorre agressão
1 Portugal
2 EIJA
3 Reino l.'nido
4 Franca
97
4 Organizacôes e Inslituicbes ligadas aos jovens ou â delinquência (IRS, CNPCJR)
5 Outras Organizavbes e Instituicôes (ligadas âs minorias étnicas e aos pais)
6 Especialista: Psicblogo
7 Especialista: Sociblogo
8 Especialista: Especialista das Ciências da Educacão (professores, presidentes conselhos
directivos/cxccutivos, investigadores)
9 Outros cspccialistas (árca da saúde... .)
10 Documentais (estudos, estatisticas,...)
1 1 Testemunhas oculares
1 2 Vizinhos/moradores
1 3 Am i gos/fam i 1 iares
\4Media
1 5 Jovens
16 Judiciais
1 7 Autor
18 Vitimas
19 Fonte anbnima
97 Outras (por vezes, chefes de departamentos de lojas)
98 Nâo há referência
27 - Factores assoeiados â origem da delinquêneia - Esta lista baseia-sc nas variáveis
indicadas pela ANDI no estudo Balcts Perdidas (Vivarta. 2001 : 27).
1 Dcscstruturacão familiar
2 Ineficácia policial
3 Falta de seguranca na cscola
4 Falta de seguranca nos espavos de lazer públicos
5 Comportamento violento do jovem/dificuldades tempcramentais
6 Pobrcza (desemprego. más condivbes de vida)
7 Ausência dc um plano nacional/política para a scguranva pública
8 Falta de espa^os de lazer públicos
9 Inadequacão da família aos problcmas cnfrcntados pelos jovens
10 Ausência de uma política de saúde
1 1 Inadequavao da educacão escolar/familiar
12 Problemas psicolbgicos advindos da fasc da vida
100
3 Bombas dc gasolina
4 Escola
5 Casa
6 Transportes (ineluindo táxis)
7 Loja/estabelecimento comcrcial
8 Baimo
97 Outro (garagem. discoteca, banco. fábrica)
98 Nâo há rcfcrência
24 - Sexo da(s) vítimas dos jovens autores referida(s) no texto - Peimite identificar o
género das vítimas.
1 Feminino (com marcas de feminilidade)
2 Masculino (com marcas dc masculinidade)
3 Ambos
98 Não referenciado
25 - Referéncia â origem étnica das vítimas dos jovens autores (estas categorias de
análise sâo feitas exclusivamente a partir das enunciacbes encontradas nas pecas)
1 Turcos
2 Africanos
3 Brancos
4 Brasileiros
5 N'cgros
6 Alemães
7 Britânicos
8 Negi-os
9 Paquistaneses
1 0 Negros + pretos
98 Não há referência
26 - Fontes
1 Policiais
2 Govemamentais
3 Políticas
99
14 Intcrnamcnto (o internamento cm colégios surgc como a mclida indicada para eombatcr
a delinquencia)
1 5 Agravamento penal + políticas de integravão
16 Aumento do policiamento + Diminuicão da maioridade penal
17 Soluvoes a scrcm omadas pcla propria família + Solucbes a scrcm impleinentadas pcla
escola
18 Diminuicão da maioridade penal i Internamento •
políticasde intcgravao
19 Diminuicao da maioridadc penal■
Criar espavos de lazer e dc desporto
97 Outros
98 Não há refcrcncia
29 -
Fnfoque
I Divulgavão de pesquisas/eneontros aiusivos â tcmcática
2 Vítima
3 Agressor
4 Relato do acto violcnto (descricâo do modus operandi)
5 Aeto como escolha pcssoal (enfoea na ideia dc que o autor agiu assim. por sua livre
vontade, por fazer partc da sua natureza)
6 ('ausas possíveis do acto cm qucstâo (de acordo com as variáveis apresentadas em
vT"aetores associados â origem da delinquência")
7 Apontar solucbes (de acordo com as variáveis aprescitadas em "Fonnas indicadas eomo
solucbes")
8 Inseguranva (enfoque concreto na inscguranva, no medo ou na necessidade prcmente de
medidas de seguranca)
9 Agravamento penal (pcdido de endurccimcnlo da lei, quer ao rível da imputabilidade quer
da necessidade de locais de detenvao mais rigorosos)
10 Actuavao forgas da Lei
1 1 Julgamento
1 2 Vitima•
Relato do acto violcnto
1 3 Autor + Relato do acto \ iolento
14 Reforco de medidas (como policiamento)
1 5 Relbrvxi de medidas (como policiamento) + inseguraiiya
16 causas + solucbes
1 7 Actuaeâo forvas da Lei i inscguranva
102
13 Qucstbes relacionadas com annas
1 4 Locais de detenvâo pouco ou mal estmturados
15 Pressão social (há uma coaceâo da sociedade que origina a necessidade de fugir a cssa
nonna)
16 Tensão social (aponta para fenbmenos de tensão social em volta do jovens)
1 7 Desestruturaeao familiar + pobrcza
1 8 Dcscstruturaeâo familiar + Inadcquacão da educacâo- escolar familiar
19 Desestruturacâo familiar + mcdia
20 Pobreza (desemprego, más condivbcs de vida)-
Inadequacão da educacâo
escolar familiar * Tensâo social
21 Questbes relacionadas com a droga
22 Gucrras cntre grupos de jovens
23 Violência dos mcdia
24 Comportamento violento do jovem/dificuldades temperamentais+ Questbes relaeionadas
com annas
97 Outros
98 Não há referência
28 - Formas indicadas como solucôes - Esta lista baseia-se nas variáveis indicadas pcla
ANDI no esludo Balas Perdidas (Vivarta. 2001 : 28).
1 Solucbes a serem tomadas pela prbpria família
2 Aumento do polieiamento
3 Solucbes a serem implementadas pela escola
4 Infracstruturas/urbanismo (como espavos de habitacão)
5 Parcerias (ONG, governo, cmpresas. etc.)
6 Criar espavos de lazer c de desporto
7 Trabalho na comunidade
8 Projectos sociais prolagonizados por jovens
9 Agravamento penal (pedido dc cndurecimento da lei. por excmplo com a neccssidade de
Iocais de detcncão mais rigorosos)
10 Diminuicâo da maioridade penal
1 1 Política dc cultura
12 Polítieas de integracão
13 Política de saúde
101
18 Racismo (o racismo surge como pano dc fundo da delinqucncia. por exemplo quando se
estabelecem paralelismos entrc a actuav'ão e cor dc pcle)
97 Outro
30 -
Enquadramentos- Segundo os conceitos aprcsentados no capitulo II.
1 Episbdicos
2 Temáticos
103
1. LJma primeira abordagem aos jornais
Uma primcira abordagcm âs pecas encontradas no total do período em análisc pcrmite
perceber desde logo que o CM c o jomal que mais pevas apresenta com inclusão da temática
delinqucncia juvenil, uma \ez que das 762 unidades de redacv'ao' encontradas. 549 se encontravam
nas páginas do CM e 213 no Público. Em qualqucr um dos períodos em análise, o CM tem sempre
uma maior cobertura; em tennos de número total de pecas, do que o Píthlico. Estes números devem
contudo ser lidos com reservas, pois são apenas um indicador, que não tem em conta a dimensão
das pcvas, a sua posicão. o seu género jomalístico. Encontramos aqui então um primciro padrâo de
diferenca entre os dois jornais.
Ainda com base no quadro 1, vcrifica-sc que o momento de maior incidência em ambos os
jornais é o 2000. correspondente ao ano dos Assaltos na CREL. Para alcm dcsse facto, comecam a
descnhar-sc difcrentcs prioridades nos jomais.
Quadro I: l nidades de redacvão por anos e por jornais
Anos/Jornal P % CM % Total %
1993 43 20,2 83 15,1 126
112
~
16,5
1998 38 17.8 74 13.5 14,7
2000 77 36,2 163 29.7 240 31,5
2001 36 16.9 139 25,3
16,4
175 23,0
20Ũ3 19 8,9 90 109 14,3
Total 2'3 100 549 100,0 7Ô2 100,0
No Púhlico, encontramos valores percentuais prbximos, em 1993. 1998 e 2001. lissc padrâo
é contrariado em dois momentos: um claro pico regista-se em 2000 (que coiTesponde a 36.2%) e
uma quebra accntuada em 2003, muito abaixo de qualquer dos restantcs valorcs (apcnas 8,9% do
total das pecas). De notar que do 2° scmcstrc de 2000 para o 1° semestre de 2001 se regista uma
quebra muito significativa do número de pecas.
No CM. a situavâo aprescnta contornos diferentes. Encontramos menores diferencas
percentuais entre os anos com mais pecas (2000 c 2001 ). e os anos de 1 993, 1998 c 2003.
'l'al como no Púhlico, também neste jornal há uma quebra em 2003. rclativa ao semestre de
2001.
Coiisideraram-se lodas as primeiras pãyinas em separado. bem como as pegas de opinião e. no inlcrior. a delimitacâo da unidade de
redaccâo adveio da autonomia e unidade do seu conleúdo. idcntitlcado pelo tittilo da peea principal. Ao contrário do que acontecia liá aluuns
auos. em que. por exemplo. os lextos eram divididos por suhtíluios. actualmente podem ser composlos de lexlos divididos por suhiítulos, por
quadros. por pequenas caixas que quehram a rotina do icxto c que devem ser cntendidas como um todo.
108
Capítulo IV
Jornalismos e Delinquências Juvenis,
Enfoques do Páblico e do Correio da Manhã
"O jornalisfa inscreve-se na histbria. a sua interpretacdo do tempo presente insere-se num
contexto social e politico. É clesie confexto que trata a informaqão, naforma de notícias.
comentários. testemunhos"
(Comu. 1994:381)
Inicia-sc aqui a analisc cmpírica propriamente dita. onde se pretcndc comecar a dar resposta
ãs questbes levantadas antcrionnentc
O trabalho principia eom uma abordagem mais genérica cm aspcctos directamentc
relacionados com a estmtura dos jomais Púbiico e Correio da Manhd (C\f) -. ao nível da
quantidade de unidades de redaccão. dos gcneros jomalisticos. da opv'âo ou nâo pclas imagens e das
fonnas de actuavão dos jovcns delinquentes.
Procura vcrificar-se quais foram as opcbes jomalísticas em períodos distintos e se essa
cobcrtura registou mudancas signiticativas ao longo do tempo em análise, que cobre uma dccada.
Nesta primeira parte, recorrcmos a duas metodologias quc se cmzam: uma análise de cariz
quantitativo e ainda aos excertos das entrevistas rcalizadas e quc complementam a iníbimacâo
provcniente da análisc dc dados estatisticos.
107
dos acontecimentos. dar conta da infonnav'ão. embora com os cuidados quc a lei impbe á cobcrtura
de casos com menores:
"Deixe-me lci pensar nisso um hocadinho...
F.u acho que os jomais ndo devem fer u/na forina esnecial de tratar estc
assunto ou aquele assunto. Quer dizer. os assuntos devem ser tratados do ponfo de
vista jornaiístico. E iratc'i-los do pon:o cle vista /'ornalisiico significa. como hei-de
clizer. sem regras especiais para um caso ott o outro. Temo.s cie dizer aos leifores o
c/itc aconteceu. Confar-lhes o que aconteceu. Conlar-lhes uma h'stbria. Como c que a
delinquêneia juvcnil hci-de ser tratada de um inodo diferente de ttm outro crime
quaiquer? Bom. dir-me-ci. (rata-se de menores c é preciso ter mais a/gum cuidado.
Omitir a identidade. a imagetn. enfun, a identidade. protegê-his. Pareee-me que o
Correio da Manhâ ndo tratará a deiinquência juvenil de f'orma diferente da que fazem• -4(1
tntlros jorncus.
I ambém quanto â forma como o tema é tratado no Púhlico, a resposta de Luís Francisco é
diversa dcsta antcrior. Desde logo. assume que o Público tem uma capacidadc ímpar de olhar os
assuntos de Ibnna enquadrada c de os transportar. quando necessário, dc breves para gcneros
jornalísticos mais nobrcs. Para este editor, importa que manifcste "capacidctde de pensar":
"
... o que me pareee é que temos essa auto-eritica de estarmos muitas vezes
pouco atentos â criminalidade pequena, ao pequeno acontecimento. Mas temos ttma
capacidade. que ndo exisíe em mais lado nenhum na imprensa portuguesa. ou pelo
menos sc existe ndo demonstram muito. temos a capacidade cle quando pegamos no.s
assunlos os tratar de forma transversa/. sêria e sem scnsacionalismos nem
disparates. Muitas vezes. o problema connosco c i/tie o noticiário ./_/ delinquéncia
/'uvenil vem associado a pequenas breves. o fizeram isio e fizerom aquilo. e isso vem
normalmente numci seccdo que c o L'.ical; onde sc trata clas coisas de uina forma
mais transversal é na Socieciade.
Ricardo Marques. jornalisla duranle oilo anos no CM. foi cnlrevistado a 2K> de Ouluhro de 2000. Na resposta i. questão sohrc eonio o ( \/
co'ire a Jelinquenciajuvei.il. respondeu d.t seguintc forma: '<) valor ntiihia <ias coi\as nân \e pcnlc por c.\ccs\<'s ./. cuiJaJo. aite para mim
\<"t<> ntti h<H<tJ<< e\<iecr<t<itis. Icm-sc lanlti cttiJaJo quc não .</ Jiz as coisas. Xo ( 'orrcio Ja Manliã ,'v>.i não <icon!ccc. Xo ( '<<rrat> Ja Manhâ
csias <<>is<is v,.ií Jiios ctnn alguiiut ptmJcmcãa, mas Jizcm-sc as ctiisas t/ttc inleresstini."\«> quadro em apéndice M.hrc o cnl'oque noticioso. é possívc! \er que o relalo do acontecimenlo. do aclo violciuo. é ptedoininanic. coui
excepcão de 2000 no Pith/ico. Para além disM>. tamhém há uma rclevância do culoque na actuacão polieial. Dc icmo. cxiste uina ijraiĸle
dispersão de enloques. pelo quc c necessário perceher qualitativamentc o que sucede. ivmelcndo. por isso. alcncôes nesta malcna para o
capitulo scgumtc
1 10
Vendo estcs números a frio. c quase imcdiata a conclusão dc que o CM dá releváncia ao
tcma enquanto o Público não o considera importante. salvo em situagôes de excepcâo, como em
2000. O cm/.amento de metodologias vai mostrar. porém. quc cstes primeiros dados devem ser
encarados com alguma reserva. Principiando logo por cruzar infonnacao com as entrevistas.
podemos comccar a aferir que esta aíinnacão nâo corresponde exactamente ao que se passa nos
jomais.
Nas cntrevistas aos dois editores dos dois jomais. Luís Franciscoĸ
e Manuel Catarino . a
rcsposta â questão sobre se a delinqucncia juvcnil c um tema relevante para o jomal é sintomática
do papel que a cobcrtura da matéria tem em cada um dos periodicos.
Para o rcpresentante do Públieo, a dclinqucncia juvenil é um tema importantc. por ser aclual
e por permitir uma panbplia de abordagcns cm seu torno.
"É. Porque nbs nos preocupamos cotn ele e pelas p'tores razoes porque é um
tema que estc't sempre a aparecer na actualidade. [...] Para nos e um tema
importante. claro. [...] É tnctis cbmodo pensar que as coisas estdo arrumadas e que
ndo há problema nenhum. Se /á era um problema a delinqttência, a existência de
bairros degradados d voltct dos grandes centros urbanos. os problemas de
convivência. a prôpria conflitualidade que existe entre is.so é um sector tdo
importante como o cla educacdo e sempre nos deu critério cie actualidade. [...] E
pctra nbs um tema importante"
Lsta resposta. dada sem qualqucr tipo dc hesitacão. pode criar perplcxidade junto dc quem
cncara o crimc cm geral e a delinqucncia juvenil em particular como assuntos de jornais populares e
nâo de rcferâicia. eomo 6 o Público.
A rcsposta de Manuel Catarino Ibi tambcm cla surprcendente pela razão inversa, uma vez
que, sendo edilor de um jornal popular, poder-se-ia pcnsar que iria confirmar a iiuportância do
tema, sb quc a rcsposta tambcm surpreende: "Xao. Enfim. o relevo é dado peia importância do
caso. Qualquer histbria, qua/quer caso que tenha signifieado. obviamente terci reievo. Depende".
O mesmo editor do CM, quando questionado sobre a fonna como o tcma c tratado no jornal.
não Ihc confere importãncia ou necessidadc dc procedimcnto particular. O que convém c o relato
",xliditor de Soeiedade do Pûhlico. jornalista hã 20 anos. quando t'oi cnlrevistado. a 14 dc Outuhro de 2006. coiĸlu/ia esta seccâo há cerca de
sele anos. mas. entretanto. em 2007. assumiu funv-ôes de grande repôrter."'
Jomalista há 20 anos. era editor da seccao Portugal. onde sc enquadra a Socicdade. há cerca de dois anos, quando foi entrcvistado para este
trahalho. a 14 de Outuhro.
109
O inspector-chefe Olegário Sousa considera. igualmentc que esta é uma fonte inesgotável
de notícias c associa esta apetência jornalística a outros aspectos. como o facto dc sercm notícia os
dcsentcndimentos cntrc jovens e polícia.
"Eu penso que shn. porque para já estamos a falar Jc /'ovens. se se escrever que
a polícia actuou brutalmente para um grupo cíe /'ovens isto c nofícia. por esse ángulo
pode ser apetecível, mas também é apetecível porque os jovens de ho/'e sdo os adultos
de amanhd e sdo eles que vdo servir os meios de traha/lio e ser os elementos da
sociedade futura. Tamhém por es.se cingulo se eles forem esiigmatizados logo de
inicio. sc a polícia represenîar para aquelas pessoas algo que . /es ndo gostcun e quc
ndo querem e que reagem contra e/a. isso é umct hoa fonte dc nofícias. é uma hoa
f'onte dc rendimento para os patrbes dos jorna/istas. devido a es.sa dicotomia
interacíiva entre um lado e outro da sociedade: entrc os que tcm cle fazer eumprir a
lei e os que deviam obeciecer e ndo obedecem. [ ...[
Islo é mna fonie inesgotávei de noticias"
A apetcncia do jomalismo para a cobcrtura do insblito e do desvio. percebe-sc nestas
palavras, ainda é visível. () ii.speclor-cheíe Olegário Sousa aponta precisamente para csta
neccssidade de eobcrtura do que é negativo.
Quadro II: Locali/.avão no jornal em páginas abertas
1993 1998 2000 2001 2003
Pág. Abertas P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Fnmena Pagina 3 7,0 2 2,4 2 5,3 1 1,4 17 22,1 19 11,7
^896
3 8,3
0,0
8
"8
5.8
5,8
2 10,5 2 2.2
Ultima pag. 1 2,3 1 1,2 2 5,3 7 9,5 1 1,3 \~
76,6 ' 130
0 0,0 4
84
4,4
Outra st 39 90,7 80 96,4 34 89,5 66 89,2 59 79,8 33 91,7 123 88,5 17 89,5 93,3
Os manuais dc jornalismo costumam dizer que a primeir.i página c o espavo mais importante
num jornal e a rcalidade não andará longe disso. Assim, esta primeira análisc segue-se com um
olhar sobrc as chamadas páginas abcrtas do jornal: a primeira página (distinguindo manchetc ou
uma das principais pecas dc apenas chamada); a últiiua página e as chamadas å primeira do local
(ncste caso, sb possível no Públieo. que lem cadernos separados para o L.cal, neste easo o do Port(^).
Nesta matéria, comevam a surgir as primeiras suiprcsas na medida em que seria tahcv. de
esperar que o jomal com mais cobertura de pevas tivesse igualmente miis primeiras páginas eom o
Il2
Â.s vezes, es.sa passagem exige a/gum euidado. Para comecar. porque as
pessoas que trataram essas notíeias pequenas também têm de estar presentes no
fraba/ho quanc/o se f'az uma coisa maioi: Embora possa haver alguém na Sociedade
que lida com as Comissbes de Menores. é importante que o trabalho final reflicta a
capacidade depensar sohre o fenbmeno."
O mesmo editor, mesmo assim. também alerta para a necessidade de noticiar os cvcntos:
"É preciso que o lado do noticic'irio ndo fique a perder quando as pessoas fazem uma ancílise.
porque. easo eontrário. a.s pessoas vêem uma andli.se a cair-Ihe do ar."
N'esta primcira alusão ã forma como a imprcnsa cobre a delinquência juvenil. recorrcmos a
outras entrcvistas. â opiniao dc dois polícias. um da Polícia de Scguranva Pública, o subintcndente
Alcxandre Coimbra, c outro da Polícia Judiciária, o inspcctor-chefe da Polícia Judiciária, Olegário
Sousa42. sendo estas perspectivas de quem é fontc que contacta dircctamcnte com os jomais c de
quem c, simultaneamentc. alvo de notícias. Os dois consideram que este fenbmeno social é muito
apctccível para a comunicaeão social.
O subintendentc Alexandre Coimbra incide a sua abordagem no facto dc a ampliacão
noticiosa potenciar acvbes de carácter mimético por parte dos infractores. independentcmcntc da
sua origem étnica:
"O facto de os crime serem praticados por menores, o f'aeto também de
menores eada vez se demonstrarem mais vioientos e. muitas das vezes. repare. sb
fazem [os jomalistas] o seu trabalho de direito consíitucional a informcu: e eu ndo
estou a eriticar de maneira nenhuma esse direito. O que esioit a dizer é que. muitas
vczes. o facto de a comunieacâo social ser sensacionalista e alarmista acaba por
transmitir aos /ovens. i.sso estcí comprovado, a determinado tipo de grupo.s cpte
actuam eom mais vio/êneia a ideia de que se aqueie grupo teve repercussdo na
comunicacdo social daquela fortna nbs lambém queremos. I 'amos actuar com mais
violência. [...] E um fenbmeno mimético. Eu acho que a delinquência j'uvenil é um
fenbmeno muito apetecível para a comunicacão social. O crime de delinquência
/'uvenii, seja ele praticado por um jovem negro ou branco ou vermeiho. o facto de ser
jovem vem sempre revelar aspectos sociais que estdo por defrds ciis.so."
\mh>s cntre\istados a 16 de V>\cmhro de 2006. em 1 ishoa
1 11
I.stc cstudo das páginas abertas. em muito particular das "primeiras", revela-se de grande
importância, tanto mais que se anuncia uma das grandes surpresas dcste estudo. pois verificando
que um jornal tem muito mais unidades de rcdacvao do que o outro scria dc conjecturar que isso se
rcflcctisse na mcsma razâo de grandeza na quantidade de "primeiras".
Do nosso ponto dc vista. este é mais .im dado que atesta quc a delinquência juvenil é uma
matéria dc rclcvância para o jomal de referência Público.
Questionando Luís Francisco sobre a importância de "primeiras,, no Público, espeeialmente
em comparavão com o CM. rcspondeu prontamentc: "Fu acho que nbs somos mais selectivos.
Ouanclo é importante, é importanfe. Tem a ver com o t'tpo cie leiíor q,ic temos. eom o Irafamento
que damos â noticUF. I.uis Francisco salicnta o faclo de o seu jornal estar atento aos factos. dando-
Ihe a releváncia quc possam merecer. Indicia. ainda. nas entrelinhas. que o tratamento quc c dado ao
tcma tcndo em vista o seu tipo dc lcitor, é mais aprofundado.
Já Manuel Catarino teve uma rcacvâo de maior perplcxidadc cm relav'ão a esta dcscoberta.
tendo. inclusivc. nccessitado de fazer uma pausa para pensar e avanvar com a rcsposta:
"\unca tinha feito essa contabilidade e acho curiosa. Xcio sei o cjue Ihe cliga
sohre isso. \do sei. O que me apetece clizer é que o Público. e inesmo outros jomais,
tenciem a tratar a delinquência juvenil numa otitra prrspectiva, que é. ndo tanto
aquifo qtie se passou, mas mctis as razbes porque aquilo se pctssou. Xdo sei.
Provavehnenie. porque a primeira pcigina sdo a.s eoisas com mais interesse ou mais
importdneia da edicdo, ndo sei o que isso poderá querer dizei: /.../ .-. primeira
página é a montra do j'ornal. muita gente compra o /'ornai peio que vem na primeira
página. F esie é um assunto importante e que desperta a curiosulade c o interesse do
leitor."
Manuel Catarino. cvidenciando alguma surprcsa face aos números. não deixa de assinalar
que no Púhlico a delinquéncia juvenil é tratada mais numa pcrspcetiva das "ra/oes'* pov quc
acontece. deixando nas entrelinhas que o CM áá mais importância ao que acontece.
I 19
tema, mas não é assim (ver quadro II): ncste ponto os dois penbdicos estâo equilibrados, com
excepcão de 2001, em que o CM aprcscnta mais pecas nesse local de maior \ isibilidade. Em ambos
os jornais, o ano de 2000 surge de novo isolado, em visibilidade.
Esses valorcs da primeira página referem por vezes tratamentos diferenciados. Por exemplo,
em 1993, o Público, o jomal que tem menos pevas como vimos, aprcsenta duas manchctes ou pevas
de dcstaque e uma chamada, cnquanto as prescnc-as c\o CWsão apenas duas chamadas, Em 1998.
existe uma manchete ou peva de destaque em cada um dos jomais. mas o Púbiico também tem uma
chamada.
Em 2000. com valores absolutos elevados c muito prbximos note-se - a situacão de
equilíbrio de ambos peribdicos mantém-se, com ligeira vantagem para o CM. No Púhlico há scis
manchetes ou pecas de destaque. assim como o CM, sendo quc nas chamadas há uma diferenca dc
1 1 para 13. Neste ano, também nas primciras páginas, há um carimbo do Caso CREL, como iremos
ver.
N'o período seguinte. em 2001. já se assinalam difcrenvas signilĩcativas. O Público baixa aos
nívcis antenores a 2000. o CM também desce o número de primciras. mas conscgue valores
superiorcs aos veritîcados nos dois primeiros períodos. Este período de 2001 c ainda o único cm
quc sc denotam difcrcnvas significativas entre o número de "primeiras" dos dois jomais. O ciclo de
2003 volta a cquilibrar as primeiras páginas nos dois jornais. com presenca apcnas em duas vezes.
Estes indicadorcs estâo assim cm continuidadc com o que vimos no refcrente â distribuivcão
das pevas por anos nos dois jornais. com o C.l/a prolongar para 2001 o pico dc 2000.
A observacâo dc primeiras páginas vai ser alvo de um maior aprofundamento nas análiscs
especílĩcas dc cada período. Mas. para já, parccc ser importantc reter que a tendcncia de nâo haver
diferencas muito acentuadas entre os dois jomais no que respcita â quantidade das primeiras
páginas, eontrariamente ao que sucede na quantidade de pevas, pode indicar quc a cobertura dc
rotina da delinquência juvenil é mais associada ao CM e que a que não sc enquadra nas tcmáticas de
rotina já capta a atenvão dos responsáveis do Público para a chamarem å primeira página.
Relativamente ainda a páginas abertas. a quantidade de pevas na última página do eadcrno principal
c muito superior no CM. sendo csta uma página que é reservada muitas vezes para temas de última
hora que merecem dcstaque. Na linha do quc foi dito no parágrafo anterior, será possível continuar
a afirmar quc csta temática é \ alorizada na cobertura de rotina do CM.
113
Relativamente ãs páginas de opinião. também elas alojam poucas pevas. estando mesmo
"vazias" cm 1998 c 2003, em ambos os jomais.
Podc, portanto, dizer-se que. tirando o espavo do Destaquc quc por ve/.cs contém tcxtos dc
comentcário e o prbprio cditorial, o tema da dclinquência juvenil esteve fortemcnte auscntc dc
espavos de Política e Opiniâo.
Quadro IV: Géneros Jornalísticos
1993 1998 2000 2001 2003
G. Jornalistico P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Breve 17 39,5 45 54,2 11 28,9 38 51,4 10 13,0 59 36,2 7 19,1 72 51,8 6 42,1 28 31,1
Noticia 13 30,2 25 30,1 19 50,0 22 29,7 21 27,3 49 30,1 14 38,9 45 32.4 7 36,8 43 47,8
Report <'Gr
Repo' 8 18,6 10 12,0 5 13,2 13 17,5 22 28,6 31 19,0 11
1
30,'S ,2 8,6 1 5,3 17 18,9
Artigo Int./Ext. 1 2.3 0
0
0,0 1 2,6'
0 0,0 3 3,9 0 0,0 2,6 0 0,0 1
0
5,3 0 0,0
Editorial 1 2,3 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3.9 0 o.o 0 0,C 0 0,0 0,0 0
0
0
0,0
Carta de s tcr 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0
0
0,0 1 1,3 5 3,1 0 0,t 1 0,7 0 0,0 0,0
Entrevista c 0,0 0 0,0 0 0,0i
0,0 0 0,0 0 0,0 0 o,c 1 0,7 0 0,0 0,0
Outra sit 3 7,0 2 2,4 2 5,3 1 1,4 17 22,1 19 11,7 3 8,í 8 5,8 2 10,5 2 2,2
O gcnero jomalístico é também um importantc factor de medicao da importância mediática
atribuída a um assunto. Observando a sua distribuicão pelos dois jornais. verificamos difcrcncas
significativas entre os dois jomais.
Assim, no Público, as brcves apenas lideram nos "anos de ponta", em 1993 e 2003. Rm
todos os outros anos predomina ou a notícia (50% em 1998; 38.9% em 2001) ou a reportagcm c
grande reportagem. Em 2000. no "ano quente" com mais pecas reunidas c ondc as breves atingem o
scu ponto mais baixo, a reportagem lidera, com 28,6% das pevas. logo seguida da noticia, com
27.3%. As reportagens continuam com forte visibilidade cm 2001. ocupando o segundo lugar, com
30,6%, mas atingem o scu valor mínimo em 2003 (sb foi encontrada uma peca com essa
caracteristica).
Já no CM. as brevcs prcdominam, com valores frequentemcntc acima dos 50% (1993. 1998,
2001). Apenas em 2003 predomina a notícia (com 47,8%), num movimento contrário ao do
Público. As rcportagens têm uma presenva relativamcntc estabilizada, entre 10 e 20%. excepto em
2001 , onde atingem apenas 8,6%.
I 16
Quadro III: As seccôes de interior
1993 1998 2000 2001 2003
Secgão P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Destaque 3 7,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 8 10,4 1
0
0,6 2 5,6 0 0,0 0 0,0 1 1,1
Nac.'Política 0 0,0 0 0,0 0
0
13
0,0 0 0,0 4 5,2 0,0 2 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Opinião 0 0,0 1 1,2 0,0 0 0,0 3 3,9 5 3,1 1 2,8,
1 0,7 0 0,0 0 0,0
Scc edade 10 23,3 79 95,2 34,2 66 89,2 20 26,0 123 75,5 16 44,4 12' 87,1 6 31,6 83 '92,2
Local 18 41,9 0 0,0 12 31,6 0 0,0 18 23,4 0
34
0,0 1C 27,8 C 0,0 6 31,6 0 0,0
Outra sst. 12 27,9 3 3.6 12 31,6 8 10,8 24 31,2 20,9 5 13,9 17 12,2 7 36,8 6 6,7
Este é um dos parâmetros mais ditĩceis dc comparar. dada a grande difcren?a no modo como
os jornais organizam cditorialmcnte as suas seccbcs. Assim, enquanto o Público distingue a sccvâo
Sociedade da Scccão Local. esta não cxistc no C\f\ apresentando-se a informa?ão num espavo que
em 1993, 1998. 2000 e 2001 se situa principahnente nas primciras sete páginas. mais dedicadas ao
crimc. e em 2003 espccialmente na scevao Portugal. dedicada âs questbes de seguranva. E nesses
espavos de infonnacâo que se situa o grosso das pecas de cada jornal.
Se comparannos as secgôes Local c Socicdade. no Público, observamos quc a lideranva
nítida do Local ocorre apenas cm 1993. Nos restantes anos. a sccv'ão Sociedade lidera face ao
cspavo das notícias de âmbito local.regional. com valores em geral relativamente prôximos (1998.
2000), ou mcsmo coincidentes (2003). A cxcepc-ão c 2001 , ondc aquela se destaca.
O item "Outra situacão", que referc principalmente âs denominadas páginas abcrtas. com
valores relativamcntc clevados no Público (1993, 1998. 2000, 2003) e no CM, em 2000.
Identifîcados os cspacos principais, tcrá particular inlcressc ver outros espacos. quase
residuais. Ou scja, cm que seccbes escasscia o tratamcnto destc tcma.
Ainda que com valorcs não muito elcvados. note-se quc csta temática aparece com
frequência na scccâo de Destaque do Píthlico. o espaeo dc rclcvância nas primeiras páginas de
interior. Encontramos o tcma aí cm todos os anos do estudo. exeepto em 2003 (o ano em que foram
encontradas menos pccas neste jomal, rccorde-se).
Este dispositivo de abrir o interior do jornal eom um tema mais desenvolvido não tinha
correspondente na organizacão editorial do CM até muito rccentemente (por isso. aparece um
destaquc no CM apenas em 2003. aqui na secvao correspondcnte, quc sc chama Reportagem).
A secv'ão Nacional Poh'tica rcgista com frequência o mcsmo padrão de ausência de pecas
nos dois jornais. Apenas cm 2000 e 2001 eneontramos pecas no Público. em número escasso.
respectivamente quatro c duas.
iX
Nos primeiros quatro pcriodos cm análise foi diikil consĸlcrar uma -ccyão para o ('U. na medida em quc a* seccôes nåo estavam
assinaladas nos cabcvalhos, so em 20<U é quc isso acontcccu. sendo nessa altura a sccvão mais destacada a Portuual. que íbi incluída. como
estava prcvisio dcsde o início do traballio. na categona Sociedade Inlormacâo (jcral.
115
cm 2002) significaram um corte eom o passado. para melhor, designadamente com o reforco dc
pccas assinadas e no grafismo. "Assinar as pecas é fundamental, dá credibilidade. Ouem lê sahe
quefoi escrito por este e ndo por outro", salienta o editor.
Quadro VI: Hierarquia relativa na página
1993 1998 2000 2001 2003
Hierar. Pág. P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Pega úmca 1 2,3 0 0,0 4 10,5 1
16
15
1,4 9 11.7 3 1,8 2 5,6 0 0,0 0 0,0 1,1
Peca pnncipal 2 4,7 20 24,1 5 15,8 21,6 14 18.2 41 25,2'
25,0 22 15,8 5 26,3 . 28 31,1
Sec. Zon Sup 25
11
4
58,1 22 26.5 13 34,2 20,3 24 31,2 50 30,7 9 25,0 43 30,9 7
7
36,8 20
39
2
22,2
Sec Zon. Inf. 25,6 41 49,4 14 36,8 42
0
56,8 23 29,9 61 37,4 13
3
36,1 72 51,8 36,8 43,3
Mais uma pág. 9,3 0 0,0 1 2,6 0,0 7 9,1 8 4,9 8,3 2 1,4 0 0,0 2,2
A componente grálĩca é muito importantc num jornal, pois tan.bém define sc as pceus sao
dcstacadas ou não em tcnnos cditoriais. Aqui abordamos a hierarquia na página e a valorizacao
gráfica através da imagem (fotografia, desenho ou infografia) ou de gráfieos. quc nonnalmente
permitem o destaque de infonnavão.
Relativamente â hierarquia. é dc salientar que o facto dc um trabalho scr único na página,
ocupar mais de Lima página, ser o principal ou se eneontrar na panc supcrior da folha rcvcla
notoriedade. Assim, embora a colocacão em zona infcrior pareva scr a que mais sc destaea cm
tcnnos percentuais. a indicar que o assunto não tem relevância. julgamos que mostra sim quc cm
rotina há uma forte presenca dc brcvcs c notíc:as. como vimos. que fazem engrandcecr a quantidade
dc pccas em zonas sccundcárias e inferiores.
Se olhannos para o quadro VI. \crilĩeamos que a colocaeão de pecas em zonas sccundárias e
infcriores sô no CA/em 1998 e em 2001 ultrapassa os 50°o. Nos restantcs momentos. tal como no
Público. na maioria das vezes a pc\"a tcve um lugar mais importante do que cssc. ICm 2000. denota-
sc bcm que o tcma ganhou notoriedadc na labela hierárquica dos jomais.
No seu conjunto. prcdominam portanto pecas com visibilidade na página, entre pecas
únicas. principais. secundárias cm zona superior e com mais de uma página Assim sendo, é possível
considerar que a delinquência juvenil é uma tcmálica relevante quando aparece nas páginas.
118
Géncros pouco presentes são a cntrevista, artigos de jomalistas, colunas de personalidades
extcmas ao jomal, editorial e cartas de leitor. O itcm "Outra situavão" cngloba principaîmente os
textos ou títulos de primeira página.
Outro dado a fixar c que os artigos de opiniâo de jornalistas ou de personalidades cxternas
ao jornal e o editorial estão ausentes no CM. A instância extcrna exerce-sc pela voz dc leitores
comuns. nas suas cartas, mais presentes em 2000.
Quadro V: Assinatura
1993 1998 2000 2001 2003
Assinatura P % CM % P % CM % P % CM % P V. CM % P % CM %
Não assinada 29 67,4 77 92,8 25 65,8 55 87,8 37 48,1 131 80,4 14 38,9 129 92,8 11 57,9 31 34,4
Jornalista M/F 13 30,2 5 6,0 12 31,6 9 12,2 37 48,1 26 16,0 21 58,3 9 6,5 5 26,3 56 62.2
Pers. Extenor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 C 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,8 0 0,0 1 5,3 0 0,0
Leitor; e tora 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 1 1,3 5 3,1 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0
Outra sit 1 2,33 0 0,0 1 !2,6 0 0,0 2 2,6 1 0,6 0 0,0 0 0,0 2 10,5 3 3,3
A assinatura das matcrias jornalísticas confere autoria âs matérias e credibiliza-as. fazendo
com que tenham uma autoria. Mas esta nem sempre é a realidade que se encontra nas páginas dos
jomais. ICste tema é exemplo disso mesmo (vcr quadro V). onde as pecas nâo assinadas sobressaem
cm praticamente todos os períodos em análise.
issc padrão de peca nâo assinada é sobretudo vincado no CM, mas de novo se verifica uma
mudanca neste jornal em 2003, onde passam a predominar as pecas assinadas (62.2%).
Por seu lado. o prcdomínio de pecas não assinadas no Púhiico c interrompido cm 2000.
quando atinge 48.1% de pecas assinadas e também de pevas não assinadas. e em 2001. onde
prevalecem as pecas assinadas (58.3%). mas rctoma em 2003 o predominio de pevas nâo assinadas.
com valores elevados (57,9%).
Questbes de redescnho gi-áfico cm ambos os jomais podem ser responsáveis por estas
variacbes. Convém assinalar ainda que esta é uma matcria sobretudo tratada por jomalistas homcns
(exclusivamente homens em 1993) no CMc por homens e mulheres no Público.
Manucl Catarino, quc chegou ao jomal numa fase em que o diário já tinha uma política
preferencial dc assinatura das pccas. recorda que a mudanva dc Direceâo c de proprietário (Cofina
117
variacao entre os 17,8% c os 38.1%) c no CCl/com cspecial relevância em 1993 (62.0%) c cm I99N
(47,1%), embora nos outros trcs anos esta categoria também tenha valovs elevados. entre os 33.9%
e os 42.3%. Convém ainda assinalar que o ano dc 2000 foi aquele cm _juc, percentualmentc. o CM
tcvc mcnos pcvas sem vozes. Dc assinalar ainda o escasso recurso å "fontc anônima" e ã fonte
jovem. scndo quc neste último caso se confĩnna. como cm oulros estudos. que sâo os adultos quc
enquadram as imagcns dos jovens.
As fontes policiais são as mais rcpresentativas, nos dois periodicos eiu qualquer um dos
períodos (com exeepeâo do Público em 2003), o quc sc coaduna com autores como Schlesingcr c
1'umbcr, Hall e ANDI que apontam para que as fontcs policiais eslejam muito associadas âs notícias
de crimc c dc dclinqucncia.
A tabela das fonles suscita duas observavoes imcdiatas cm 1993. sc olhannos para outros
pormenores que não os antcriores. No Público, há l'ontes governamentais, políticas c de
organizacôcs. o que não sucede no CM. Yías no quc conceme as vozes mais prôximas dos
acontecimentos, cssas prcvalecem no CM. easo das testemunhas oculares, vizinhos moradores.
amigos familiares.
Fm 199N. olhando apenas para o Público, assinala-sc que o grupo constituído pelas fonlcs
governamenlais c polítieas aprescnta mais de 10% das fontes prcsentes. mantendo o padrão anterior,
c os especialistas atingem mais de 6%. Isoladamentc. a citacão dc outros tnedia como fontc ascende
a 1 5,5"9. c as fontes judiciais a <S,6%. Estas percentagcns podem parcccr irrelevantes, mas são as
mais destacadas depois das policiais.
No (C\/. o panorama é diferente. assinalando-se novamente a marca das fontes mais
prôximas ou do acontecimento. ou do autor ou da vítima. no fundo as fontes com quc o leitor
tambcm sc pode identificar. Individualmente e de assinalar os 6.9% de fontes vitimas e a juncâo dc
testemunhas oculares. vizinhos e amigos e familiarcs quc represent.i quase 7%. continuando a
superar o Púhlico.
() ano 2000. é entre os cinco períodos em análisc. é o mais divvrsificado no que respeita ás
vozes ouvidas. Obscrvando a anexavâo das goveniamentais c politie.s, ehega-se a pcrcentagens
muito parecidas nos dois periôdicos. ambos na ordem dos 10%. kstes números mostram quc o
período foi politizado. uma vez quc cm ciclos anteriorcs cstas Ibntes praticamente estiveram
ausentcs do CM O pcso dos especialistas também sc accntuou nestc espavo de tempo. com
perccntagens totais de N,5% no Púhiico e de 3.1% no CM. As vo/.cs dos vizinhos, amigos familiares
c testemunhas ocularcs atingiram os 10,9% no Púb/ico c os 10,7'lii no CC\/. O número. nestc caso. e
invulgar no Público. onde estas fontes têm tido um peso menor.
120
Quadro VII: \ alorizavão gráfica e imagcm
1993 1998 2000 2001 2003
V. Gráfica P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Tem imagem 7 16,3 18 21.7 2 5,3 16 21,6 22 28,6 47 28,8 10 27,8 23 16,5 4 21,1 40 44,4
Combina eiem 1 2,3 0 0,0 2 5,3 1 1,4 5 6,5 3 1,8 3 8,3 1 0,7 0 0,0 2 2,2
Sem .a grâfica 35 81,4 65 78,3 34 89,5 57 77,0 50 64,9 113 69,3 23 63,9 115 82,7 15 78,9 48 53,3
\o Público a valorizacão gráfica foi mais incidcnte em 2000 c 200 1 e no CM em 2000 e
2003, aqui com especial incidência dc imagens. Ambos os jomais coincidem cm 2000 numa maior
valorizacão gráfica, um registo quc nos vem confirmando que csse foi o dc um particular impacto
do tema na imprensa.
2. Algumas consideravôes inieiais sobre as vo/es encontradas
Um primeiro olhar para as fontes descobertas nos jornais comeca a revelar-se padrôes dos
dois jornais.
Quadro VIII: Fontes
1993 1998 2000 2001 2003
Fontes P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
m
P % CM %
Policiais 2~ 38,6 13 \M$ 14 24,1 21 m 22 17,1 52
14
i\™
8 17,8 47 3 14,3 30 $$Gcvemamentais 3 4,3 0 0,0 3 5,2 2 2,3 9 7,0 2 4,4 2 1,3 0 0.0 0 0,0
Pc- 'S.cas 2 2,9 0 0,0 3 5,2,
0 0,0 4 3,1 8 3,6 3 6,7 5 3,2 0 0,0 0 0,0
Org.e Institu 5 7,1 0 0,0 2 3,4 2 2,3 11 8,5 8 3,6 2 4,4 5 3.2 1 | 4,8 2 1.9
Especiaíisvas 3 4,3 4 ^ 4 6,9 1 1,1 11 8,5 7 3,1 0 0,0 2 1,3 1, 4,8 3 2,9
Testemunhas 0 0,0 2 21 2 3,4 2 2,3 1 0,8 9 4,0 1 2-2 1 0,6 0 0,0 1 1,0
Vizinhos/morad 1 1,4 4 4,3 ° 0,0 3 3,4 6 4,7 7 3,1 0 0.0 0 0,0 0 o.o S 8,6
Amigos/familiares 2 2,9 5 5* 0 0,0 1 1,1 7 5,4 8 3,6 3 6,7 2 1,3 0 0,0 3 2,9
Med a 5 8,6 C 0,0 9 15,5 0 0.0 8 6,2 3 1,3 3 6,7 4 2,6 4 19,0 1 1,0
Jovens 2 2,9 0 0,0 3 5.2 1 1,1 0 0,0 2
5
0,9 3 6,7 1 0,6 0 0,0 0 0,0
Judiciais 8 11,4 2 2,2 5
0
8,6 2 2,3 5 3,9 2,2 2 4,4 4 2,6 I 4,8 2 1.9
Autor 2 2,9 1 1,1 0,0 C 0,0 1 0,8 1 0.4 0 0,0 j 0,0 0 0.0 1 1,0
Vitimas 2 2,9 3 3,3 0 0,0 6 6.4 4 3,1 12 5,4 2 4,4 7 4* 1 4,8 6 V
Fonle anonima 1 1,4 0 0,0 3 5,2 3 3,4 4 3,1 6 2,7 0 0,0 5 3,2 1 4,8 6 5,7
Outras 2 2,9 1
57
1,1 2 3,4 2 2,3 8 6,2 6 2,7 8 17,8 5 3,2 1 4,8 3 2,9
Sem referência 4 5,7 62,0 8 13,8 41 47,1 23 21,7 76 33.9 8 17,8 66 42,3 8 38,1i
38 36,2
Um dos dados que mais ressalta numa primcira observacão é uma certa tendência para
auscncia de fontes. No Público, isso acontece com maior acuidade cm 2000, 200 1 c 2003 (com uma
l 19
tem de ser feita por quem tem algum tipo de conhecimenlo extra. quein tcm algum fipo de
trabalhos. uma vi.sdo sohre o assunto". salienta este coordcnador quc. apesar disso. rcconhece a
dificuldade de relacionamento entrc jornalislas e acadcmicos, na luta enlre a siniplificacao c o
rcceio de perda de informacão: "Simplifiear é um palavrdo para um académieo e para nbs é a
Bibiia. nbs teinos de simp/ifiear sempre". A demanda de aprofundamento dos tcmas segue uma
linha de actuavâo áo jomal quc procura fazer pensar: "Temos muita preocupucdo em ir buscar
pessoas que saibam fa/ar sohre o assunto e que ponham as pessoas a pensar sobre o assunto. [...]
h um Irabalho muito importante. porque um país que ndo pensa ndo evolui. Xos temos que pbr as
pessoas a pensar sohre um assunto de qtte andam a fctiai: porque assim podem falar um bocadinho
mais. F uma preocapacdo"'.
Porcm. este hábito jomalistico tambcm parece colocar interrogaeoes ao nivel da prática
jomalística no Púh/ieo. pelo nenos no que respeita a esta temåtica. sendo evidente o privilégio de
uma rcde de contactos quc lende. aparentemcntc. a sobrepor-sc ã rotina de ir ao local. ICstc modus
operandi acaba por ser um ponto de conflito na forma como o jomal posiciona as suas práticas dc
cobertura da delinqucncia juvenil.
"\do deveria ser assim, do meu ponto de visla. nbs ctqui tenfamos equilibrar as
ciuas coisas. porque ir ao terreno é uin trabalho di/icil e. quando faiamos de
delinquêneia j'uvenii. é dificil. c de estômago. é hrulai para as pessoas qttc o f'azcm, é
muito complieado. mas é preciso fazé-lo. F muito mais confortáve/ fazer um traha/ho
de gahinete. ter ciua.s ou três pessoas que olham para o assunto e clizemos que somos
um jomal fantásiico. Xao. Tem de have uma ligacdo â terra. caso contrário nao
funciona. Fvcntualmente. havcrci no Público uma sobreposicao do febrico sobre o
prcitico, que eu tento que na minlta seccâo nuo .sej\i fdo níiitla. Gostava que as coisas
estivessem equilibradas. Pelo menos icnfamos essa ligacdo d terra, ter as pessoas a
contar"
No CC\/. as práticas jomalísticas, nas palavras dc Manuel Catarino. parecem ser difcrentes. O
ponto comum é a necessidadc de ouvir as policias e o exercício dc uma rotina jomalíslica mais no
sentido da ida ao local para recolher testemunhos. desvalorizando os especialislas.
"Um /'orna/ como o Coneio da Manhã cpte é predomtnantcmente notieioso.
digamos assim. sabe o que se passou através da polícia. Os especiaiistas cntram depois
quando o menino é levaclo para o instituto, fala-se com o psicblogo. os psicblogos sb
1 22
Em 2001. existe uma grande dispersao de fontes c deixou de existir a diversidade dc vozes
encontradas no pcríodo antcrior.
As fontcs de infonnacão continuam a escassear no período de 2003. No Público, 38,1% das
pecas não tcm fontes c no CM os valores chegam aos 36.2%, sendo de referir, porcm. que nestc
caso estc é o segundo valor mais bai.xo relativamente a ausência dc fontes no CM. As fontes
policiais continuam a dominar percentualmcnte e no caso do Público é de assinalar como fontcs
outros media e no O/a juncão de testemunhas ocularcs. com vizinhos e amigos/fanhliares.
A catcgoria "'outra situavâo" tem percentagens mais significativas no Públieo dc 2000 e de
2001 pelo facto de neste quadro de síntese não estarem assinaladas as fontes documentais.
Quando sc pereebe da leitura das pecas que há indicavão do tipo de fontc contactada. as
policiais. de uma fonna geral, são imperiosas, no tratamento jornalístico da delinquência juvenil. Os
dois editores atestam este faeto, apesar de assinalarem também as difcrenvas existentcs no tipo de
fontes abordadas por cada um deles c que marcam as práticas jornalísticas.
Comevando pelo Piiblieo, Luís lrancisco rcconheee a importâneia ås fontes policiais.
embora fava questão dc frisar que têm de ser verificadas as suas infonnavôes, até pelo facto dc.
muitas vezes, sercm elas a origem dos textos. Percebe-se, ainda, que no Público as polícias também
são consideradas importantes por possuírem especialistas intemos. quc podem aprofundar os
assuntos tratados. ou seja. na idcntifĩcavão das razôes pclas quais os assuntos existem.
"Sim. Pcira comecar peio facio cie sercm eles [policiasj que estdo na ra'tz da
noticia, sdo eles que investigam. Ouando fazemos ttina noticia /'ci é a investigacdo que
está a aeontecer e depois. porque as poiicias têm especialistas em determinadas
cireas e. muittts vezes. permitem coniar histbrias que ndo sdo a histbria daquela mas
de outras. utna vaga de assaltos em bombas de gasolina. [...]
Agora. /)or ser uma fonte muito imporíante obriga-nos. entre aspas. a ndo
acredilar ou a ndo confiar apenas naquilo que eles cíizem. porque a polícia é uma
fonfe mui/o importante e. como tctl. faz passar as suas notícias para os /'ornais"
A prática no Público, confinna Luís Francisco, é a procura de espccialistas como fontes. 'Se
vamos ao locctl vamos ouvir o vizinho e o pai, mas o qtte pensamos é que se ttm assunto merece
uma reportagem é porque merece uma anciiise mais aprofundada e essa análise mais aprofundada
121
mais sensíveis. F preciso ter aincia mais eautela com as foutes. Fstou a falcir da
prátiea. E mai.s dificil chegar a uma histbria que envoiva menires do que a uma que
envolva adultos. Scio mais ciificeis porque ohrigam a mais trabclho. As fontes retraem-
sc mais. Os especialistas. enído. fogem a sete pés. Xao se querem compromefer com
nada. Sdo mais dificeis. mas ndo impossiveis"
Fsla relavão difícil. mas muitas \ezes imprescindível. com os cspecialistas c com os
cicntistas cstcvc presentc nas respostas de ambos os editores. Ainda há dificuldades. como já
mencionado. dc comunicacão cntrc estas fontes e o jornalista, cue tem de mediar a informacão que
chega ao público. "O /ornalista é muita.s vezes acusado pe/o académico de simpli/icar em excesso e
pefo público em geral de lermos posfo a fctlar um tipo que ndo se perceheu o que eie <lizia",
assinala l.uís Francisco.
3. Algumas eonsideravôes iiiiciais sobre os jovens delinquentes e suas envolvências
Coino primeiro olhar sobre os jovens delinquentes e as suas práticas desviantcs. apresentam-
sc estes quadros quc já são clucidativos de algumas das tendências e padroes que se vão encontrar
na decomposicão seguinte. ano a ano.
Quadro IX: A variavão por idade
1993 1998 2000 2001 2003
Idade P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
12-15 anos 1 2,3 8 9,6 7 18,4 6 8,1 ô 7,8 ■2 7,4 9 25,0 19 13.7 2 10.5 11 12,2
16-21 anos 16 37,2 31 37,3 9 23,7 31 413 12
30
12
15,6 38 23,3 4 11,1 56 40,3 8 42,1 47 52,2
S/ marcas
12-16 + 16-21
ô 14,0 16 19,3 3 7,9 13 17.6 39,0 33 20,2 13 36,1 22 15,8 3 15,8 11
13
12,2
14,43 7,0 4 4,8 7
12
18,4 13 17,6 15,6 33
47
20,2 2 5,6 20 14.4 1 5,3
Outra sit. 17 39,5 24 28,9 31,6 11 14,9 17 22,1 28,8 8 22,2 22 15.8 5 26,3 8 8,9
Relativamcnte ãs indicacûcs dc idade. quando cstâo prescntes. sobressai o facto dc havcr
uma forte incidência no cscalão etário 16-21 anos, que já se cncontr.i Ibra c\o âmbito legal que
baliza a dclinquência juvenil. A abordagem dos autorcs cnquanto jovcns (com prevalência cm
rclacâo â designacâo dc adolescentes) também é destacada. cspecialmente cm ambos os jornais cm
2000 cno Púhlicocm 200 1.
124
sabem depois. Mas. eomo disse hd pouco. nas histbrias marcantes há sempre uma ou
chtas caixinhas44 . com um psicbiogo, um sociblogo. Fazemos i.sso c i.sso cieve ser feito.
Quando é interessanle. ouvimos psicbiogos e sociblogos. Mas o psicb/ogo e o
socib/ogo e o especialista ndo é uma fonte. permite o enquadramentoC"
Com as vozes locais no topo- adnhtindo. aliás, que sem isso, sem a ida ao local, não se faz
jornalismo ,no C2\/. segundo Manuel Catarino. existc a consciência dc que. até pela relcvância quc
lhe é conferida. têm de ser cotejadas. para separar o trigo do joio. para que o jomalista saiba
disccmir sobre os factos.
"Mas, é a única prâtica fa ida ao local]. Porque. se quiser saber o que se
passou, fenho de falar eom as pessoas. com quem tomou conhecimento cio ca.so. com os
protagonistas da histbria, com quem conhece a.s vitimas, eom uina ida ao loeal. Por
isso, vizinhos. familiares, eneontram-se. ou ndo. a.s pessoas no iocal. [...[ Xb.s ncio
publicamos tudo o que dizem. Quem ouve as fontes. tem de ter o discernimento para
saber com quetn estci a lidar, ver <> que faz sentido e o que ncio faz senlido. E ndo se
fala apenas com uma f'onte. tudo é cotejado, fudo é avaîiado e o qtte nâo faz sentido é
posto de pctrte e o que é verosimil e eonfirmado é o que publieamos"
Apesar destas duas visôes existcntes sobre a importância dada a diferentcs tipos de fontes.
ccrta é a manifesta ausência dc mencão de fontes nos textos. especiahuentc no C \/. 0 tipo dc
géneros jomalísticos prefcrenciais. as brcvcs c as notícias. potenciam csta situavão, mas no que toca
â cobertura da delinquência juvenil, os dois editorcs concordam num ponto fundamental, que tcm a
ver com a dificuldade em encontrar fontes válidas que dêcm a cara pelo tcma.
Luís Francisco reconhece as dificuldades: "Xdo é dificii encontrar pessoas que saibam deste
assunîo. dificil é eneontrar pessoas que saiham deste assunto e que falem dele cie uma forma aberta
e clctra. Mas acho que peia prbpria exposicdo que assunto tem licio ao longo do tempo as pessoas
têm percebido que podem conftar mais nos /'orncilistas".
Manuel Catarino tambcm encontra entraves nas fontes, que dilĩcultam a cobertura da
delinquéncia juvenil:
"É mais dificii na delinquência /uvenil. Toda a gcntc se retrai um pouco. E
como estamos a fctictr cie menores cpte devem ser protegidos. o rigor.... sdo assuntos
l>(o sô acontece desde a mudanca unillca de 2002.
123
Costuma haver alguma rclutância em denominar detenuinados grupos como gangs. porque
cssa dcsignavão está eanegada de significados. mas o subintendentc Alexandre Coimbra não lem
reservas cm afinnar que os gmpos e gangs se tcm afinnado ao longo dos últimos anos c quc actuam
por mimctismo.
"Sdo grupos mais gangs, sem dúvida nenlnnna. Sdo grupos inais gangs.
Tccnica e policialmente falando. os grupos que existiam na ciécada de SO e início da
déccida de 9(1 sdo muito diferenfes dos grupos que há agora. Agora. /?_/ um lider hem
definido. hci um territbrio bem defmido. hci um controle da actividade criminosa hem
ciefinida e porlctnto tucio isso leva a que deferminados grupo.s, inelusive. acabem por.
por... por digamos .... digamos. ncio encontro a expressdo, mcis por se digladiarem
para controle por cleterminado tipo cie actividade criminosa ou por deferminado fipo
de lerritbrio. eoino os gangs dos Estados Unicios, ou c/o Brasil. isto comparando com
<is sociedades mais vio/entas:
E, efeetivamente, comecámos a ohservar is.so eá. Os gangs j'á têm essa
organiza^do, es.sa esîrutura e esses objectivos. que ndo tinhctm na clécada cle H(l ncm
nos iníeios clct dccacia de 90. Aí a meio da déeada cie 90 é que comecámos a ohservar
l.sso.
() inspeetor-chcfe Olegário Sousa. que tem contactado :\o longo dos anos com grupos quc
incluem faixas etárias muito hetcrogcneas, com mistura de menores de 16 anos c jovens de vinte e
poucos anos. apontando para as denominadas trajcctorias dclinquentes. também reconhccc cstc
fenômeno grupal: "Sim. raramenie cteluam sozinhos. Precisam de meio de transporte. impiica duas
pessoas, normahnente. no mínimo duas. Xdo quer dizer c/uc numa situacdo ou outra. e ai /'ci
estamos a faiar de toxicodependenfes. esses sim acfuam sozinhos. Por exemplo. entram num
minimercado e rouham a caixa. Tivemos aí duas ou tres sifuac'bes"
126
A categoria 12-16 anos não é muito saliente. mas cstc c o escalão quc define lcgahnente a
delinquência juvenil em Portugal. Podemos verifícar. porém. que em 1 99S c 2001. a categoria 12-16
teve algum destaque no Público. ondc recolhe valorcs percentuais mais elevados do que no CM
A categoria quc engloba os dois escalôes ctários refercnciados, o que também remete para as
trajectôrias delinquentes e para os grupos de parcs, que englobam vários clementos. assumc maior
destaque em 1998 (Piihlico) e em 2000 (CM).
É de assinalar que "outra situavão" c uma categoria aqui com alguma relevância, a apontar
para pecas com rcfcrência a idadcs abai.xo dos 12 anos, espccialmente em 1993, bem como mais dc
2 1 anos e ainda mistura de idadcs. incluindo acima dos 21 anos. nos cinco períodos.
Quadro \: () modo de actuavão
1993 1998 2000 2001 2003
Modo
actuagão P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P
i
t
% j CM %
Individua: 17 37,0 26 28,9 13 32,5 14 17,5 11 12,2 34 19,7 11 283 37 25,3 8 42,1 36 37-9
Gang 5 10,9 13 14.4 2 5,0 9 11,3 16 17,8 20 11,6 2 5,3 8 5,5 0 0,0 9 9,5
Bardo 2 4,3 4 4,4 1 2.5 3 3,8 8 8,9 9 5,2 2 5,3~
2,7 0 0,0 0 0,0
Grupo 4
14
8,7 11 12,2 5 12,5 13 16,3 16 :
17,8 31 17,9 7 18,4 32 21,9 1 5,3 13 13,7
Indi. numeral 30,4 33 36,7 11 27,5 37 46,3 23 25,6 49 28,3 10 26,3 53 36,3 5 26,3 35 36,8
Outra s;t. 4 8,7 3 3,3 8 20,0'
5,0 16 17,8 30!17,3 6 15,8 12 8,2 5 26,3 2 2,1
A marca da actuavâo colectiva é dominantc nas páginas dos jomais. se se considcrar o
agrcgado de gang. bando grupo c número. Por isso mesmo, nâo se pode olhar desgarradamente para
a categoria de actuaeão individual sem observar o quadro na sua globalidade.
A indicaeão dc actuaeão apcnas numeral. em comparacão com as outras catcgorias de
actuacâo colectiva. é a mais dcstacada no total dos periodos. especialmente em 2000. E também em
2000 que o Públieo mais referências tem aos "gangs". aos bandos e aos grupos.
Fm 2003, o ano em que cada um dos periôdicos, em tennos percentuais. mais indicavôes
têm facc â actuacão individual, há uma ausêneia da marca "gang* e bando no Público c dc bando no
CC\/. sendo estas as únicas cxclusôes ao longo dos cinco períodos em análisc.
Fm "outra situavâo". valor imponante no Púbiico em 1998. 2000, 200 1. 2003, no CM em
2000 corresponde quase na totalidade a unidades de rcdacvão onde não há rcfcrência â forma de
actuavão.
125
"Os crimes do caso prático da delinquência j'uvenil ... udo é o crime que leva a
pensar que o assunto é imporfanfe. a dimensdo pocie defutir alguma coisa. mas é a
repeticdo. a frequência eom que ele acontece. a normalidade quc e/e assume ds vezes.
ou a ptirticu/aridade [...]. Ou se/'a. c/uando esse crime tem particularidades que o
fornam notícia.
F/n fermos absolutos. eu ndo ando á procura de crimes cometidos por jovcns.
Xdo é a minha preocupacdo nem a linhti editorial dar destaque ao crime"
De qualquer modo, é dc referenciar quc há aqui uma certa dissonãncia cntre a
desvalorizacão do crimc cm si mesmo c o facto de no Piihlico se dar rclevo a crimes '■duros" eomo
o homicídio c a as ofensas contra a integridade fisica (agressâo).
N'o CC\/, segundo Manuel Catarino, o crime tem relevância. Fste editor distingue. porém. uns
tipos de delinquência de outros. que adquirem mais noticiabilidade: "llc't delinquência juvenil e há
delinquência /uvenil. Quero eu dizer. há delinqucncia juvenil do peque'io furlo, do pequeno rouho.
enfim. que ndo deve ser tratada da mesma maneira que um crime de vioiacdo. eometido por alguém
<Li mesma idade. Hc't aqui c/ualquer coisa que ndo funcioncí: No seguimento deste pensamento.
podemos dizcr, dc cariz mais securitário. o mesmo cdilor alerta: "Ohviamenfe que no tratamento
[orna/ístico des.sc caso temos cie dizer ãs pessoas e deixar c/aro que esie tipo que vio/oit durante
seis vezes sb o fez porque a justica ndo pbde acíuat; porque ndo potlr acfuai; ndo pode prender
se/'a em for com iciade inferior a 16 anos. Opúblieo tem de saber isfo".
O inspcctor-chefe da Polícia Judiciária \ê nestcs últimos cerca de 15 anos alteravoes na
actuacâo dos delinquentes juvenis e nas suas motivacoes.
"E assim, durante para aí talvez a últ'tma década. eslamos a fatar de 9(\ os
j'ovens qite andavam ai a furtar tinhatn a vcr qua.se sb com a toxicodependcncia. Ho/'e
/d ndo se assiste sb a isso. Comecou-se a assistir a um crescendo dos roubos com
armas hrancas e. depois. com armas cie fogo. cm que o mbhil /'./ nao é o ohter
dinheiro para o consumo. ma.s é obter clinheiro para eomprar nens cle consumo. tcr
um hom aspeelo ou, por exemplo. poder ter um bom cario"
O subintendente Alexandre Coimbra fa/ uma avaliacao cîos ilicitos que têm sido
encontrados pela PSP. centrando-se no crime contra o patrimonio e. nos últimos anos, no roubo com
reeurso a \ ioléneia:
128
Quadro XI: O tipo de erimes
1993 1998 2000 2001 2003
Crimes P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Homicidio 8 11,8 13 9,2 12 16^ 6 4,6 12 8,2 12 4,7 6 113 9 4 3 11,1 7 4,5
Violacão 5 7,4 5 3,5 3 4,2 5 3,8 2 1,4 5 2 0 0 0,4 1 3,7 0 3,8
Furto 10 14,7 28 1W 9 12,7 34 26 12 8,2 39 15,2 6 11,8 30 13,3 1 3,7 /'. 16,6
Roubo 8 11,8 35 24,8 7 9,9 32m
39 26,5~~
27,3 10 19,6 71 w 5 18,5 46
___
Tráfico de
drogas 8 11,8 7 5 4 5,6 6 4,6 13 8,8 17 6,6 3 5,9 10 4,4 4 14,8 5 3-2
Agressão 9 13,2 26 tøfc 11 15,5 23 17,6 10 6,8 32 ftfi 5 9,8 39 17,3 1 3,7 21Wn
Agr as policias 1 1,5R
3,5 2 2,8 9 6.9 6 4,1 17 6,6 1 2 7 3,1 1 3,7 8 5,1
Dano 1 1,5 8 5,7 6 8,5 4 3,1 5 3,4 7 2,7 7 13,7 11 4,9 1 3,7 5 3-2
8,3Pos Heg armas 6 8,8 8 5,7 6 8,5 5 3,8 '4 9,5 5 2,3 3 5,9 <3 5,8 3 11,1 13
Outra sit. 12 17,6 6 4,3 11 15,5 7 5,3 34 23,1 51 19,9 10 19,6 34 15,1 1 25,9 20 12,7
É mais difĩcil do que poderia pareccr å partida olhar para este quadro e perceber quais são os
crimes mais salientes quando indicados. No C.\/. em cada um dos momenlos. há três quc se
distingucm sempre: o roubo (o mais assinalado em 1993. 2000, 2001 c 2003). o furto e as agressôes
(ofensas conlra a integridade fîsica). Neste diário. c ainda de assinalar a presenva notôria de outros
crimes: em 1993 o homicídio. em 1998 e em 2000 as agrcssôes/desacatos âs autoridades policiais.
juntando-se a este ano o Iráfico de drogas.
No Público, csta é uma tarcfa mais complicada de realizar. porque cm cada pcríodo há
difercncas a assinalar. sendo notôrio que este jornal de certa forma não cncaixa tanto a cobertura
jornalística no clássico da associacao da dclinquência juvenil ao furto e ao roubo. Fm 1993.
destacaram-se o furto e as agressôes. sendo este úllimo delito e o homicídio os mais assinalados cm
1998. No ano 2000. o roubo. a possc ilegal de armas e o tráfico de drogas estivcram mais prcsentes.
No ano seguinte, voltou a dar-sc relevo ao roubo, ao furto e ao homicídio. bcm como ao dano (onde
se incluem por exemplo alguns actos dc vandalismo e de criavão de grafftties).
A apetcncia pelo crime e pelo acto dclinquente c encarada dc fonnas diferentes nos dois
jomais. de acordo com os dois editores. Luís Francisco garante que no Píthlieo a existcncia de crime
em si mesmo não signillca que scja rclevante do ponto de vista jornalístico. Na scnda do quc já foi
referenciado no início desta análise. Luís Francisco olha para a delinquência enquanto fenômeno
quc pennite um cnquadramento e que tcm um valor notícia bascado em outros condimentos. como a
sua frequência, a sua particularidade ou pclo local: as diferentes portas de cntrada.
127
Os locais de agressão dizcm também muito do modus operandi e são eleinentos importantcs
no que respeita â idenlificac^o dc locais potencialmcntc inscguros ou potenciadorcs de sentimentos
de inseguranca.
0 espavo aberto associado a rua ou estrada foi destacado em todos os pcríodos e nos dois
jornais.
No CC\/. as lojas sîio também apresentadas como locais de agressão prefcrenciais. em
qualquer um dos momentos. Nestc periôdieo. é dc assinalar. igualmento, o local casa (1993. 1998 c
2003). a escola (2001) e. em 2000. as bombas de gasolina, os transportes. os cstabclccimentos
eomerciais e os bain'os.
Já o Púh/ico, tambén. aprcscnta o espavo casa como local diferenvado de delitos cm 1993.
1998 e 2001. Em 2000. para .ilém do espaco rua'estrada. já assinalado. tomam significado diferente
as bombas de gasolina, os baiiros e os transportes. sendo esta uma configuravão muito semelhantc â
■\o CM no mesmo semestrc.
() Público é tambcm o jomal que mais pevas expôe sem rcfcrcncia a qualquer tipo de local,
atingindo esta cateijoria os valorcs mais elevados em 1998 e em 2003.
Fm 2000. os transportes públicos. potenciados pelos desacatos nos comboios da linha de
Cascais. foram muito noticiados como locais potcneialmente perigosos. Mas o subintendentc
Alexandre Coimbra deixa algumas reservas face a esle fenômcno mcdiático:
"Sdo. scio muito citados nas notícias [<>s transporfes púhiicos]. quancio ncio sdo
os loeais por exceiência. Cacia vez menos. liouve esse easo. lu.uve um caso em 2000.
em que eles lctmhém percorreram vcirias carruagens, ithis se formos ver as eslatisiicas
e a criminalidade eieciiva naquela linha ela é pouco expressiva. espcciaimente se
praticadct por j'ovens menores de 16 anos."
Curiosamcnte, os centros comerciais. refcrenciados por cstc rcsponsãvel como locais dc
maiorperigo, eseapam â noticiabilidade. quando comparados eum outros locais.
"Hci outros /ocais: as imedia(bcs dos bairros. os centror comerciais; onde eles
cictuam com muito mai.s acuidade, chcuneinos-lhe assim. Claro que se um mesmo f'acto
passar. permita-me a expressdo. 500 vczes na comunicacdo social cr'ta um grctnde
130
"... nos últimos 5 anos. mais recentemente. esies crimes. por exemplo, eontra
o patrimbnio. quer o j~equeno furto, o roubo na via púhlica mas com menor
expressdo, o vandalismo, comecaram a transformar-se em rotthos cacia vez com
maior violência, com a utiiizacdo de armas de fogo. coin a utilizacdo de armas
brancas, portanto, há efectivamente uma maior violência, uma maior agressividade"
Este responsável recorda estes últimos 1 5 anos da seguintc forma:
"Acima de tudo. o fenbmeno da delinquêneia j'uveni/ tem demonstrado uma
tendência ... erescente. nestes últimos 15 anos. é cctda vez mais um fenbmeno a que nbs
associamos d chamada violência urhana. em que embora em alguns anos o fenbmeno
por vezes regride e apresenta algumas diminuicbes, mas, se virmos a taxa méciia de
evolucdo anua! ciesde 15 anos. efectivamente. esiá a aumentai: [...] com uma maior
agressividade perante as vitimas e que acabam. talvez por isso, por ter um pouco uma
grande repercussdo nos meios de comunicacdo social e. portanto, é cada vez mais um
fenbmeno mediático."
Esta tcndência para um ilícito mais violento acaba por surtir um efeito espelho nos media
noticiosos. que encontram aqui uma fontc dc notícias.
Quadro XII: Local de agressão
1993 1998 2000 2001 2003
Local
agressão P % CM % P % CM % P % CM % P % CM % P % CM %
Rua'esfaca 13 27,7 10 M 12 27,3 27 33,3 30 28,6 49 27,1 10 27,0 53 37,1 4 21,1 23 24,5
Cen. Comerci. 1 2,1 1 1,1 0 o,ox
0 0,0 i 1,0 3 1,7 1 2,7 6 4,2 0 0,0 0 0.0
B gasolina 2 4,3 2 2,2 0 0,0 4 4,9 20 19,0 20 11,0 1 2,7 4 2,8 0 0,0 2 2,1
2scc:a"
2,1 6 6,6 3
5
6,8 2 2,5 6 5,7 7 3,9 2 5,4 14 9,8 0 0,0 7,4
Casa 6 12,8 15 17,6 11,4 12 1M 1 1,0 6 3,3 5 13,5 4 2,8'
5,3 12 1«
Transportes 1 2,1 4 4,4 0 0,0 6 7,4 r 10,5 13 7,2 1 2,7 5j 3,5 1 5,3 6 6,4
Loja 2 I 4,3 11 12,1 0 0,0 11 13,6 5 4,8 21 11,6 3 8,1 19 13,3 0 0,0 11 11.7
Bairro 1 2,1 4 4,4 1 2,3 3 3,7 7 6,7 14 7,7 0 0,0 9 6,3 1 5,3 5 5,3
Outro 3 6,4 11 12,1 1 2.3 5 6,2 2 1,9i
14 7,7 3 8,1 9 6,3 2 10,5 11 11,7
Não referência 17 36.2 26 28,6 22 50.0 11 13,6 22 21,0 34 18,8 11 29,7 20 14,0 10 , 52,6 17 18,1
129
Síntese
Em resumo. desta analise longitudinal sobressai em ambos os jornais uma maior relevâneia
dada ao segundo scmcstre de 2000. traduzida num maior número dc uridadcs de rcdacvâo, de mais
prcsencas em primeira página. de pevas colocadas com mais dcstaque no interior c\o jornal.
Rcssaltam também outras \ariavôes nos padroes jornalísticos de cada jornal, com o período mais
rcccntc, o semestre dc 2003, em análise, a indiciar variavôes importantes em cada um dos jornais de
sentidos oposlos: mais pevas assinadas e notícias no Púhlieo: mais pcvas nao asvinadas e mais
breves no CM,
A importância do tema na primeira página é outro dado proeminente. pois. ao contiário do
que se poderia supor. pelo facto de o CM tcr uma cobertura muito m.iis intensiva em número de
unidadcs de redaccao, o número de primeiras páginas é semelhante nos dois jornais-
por ve/es com
uma ligeira vantagem para o Público com exccpv'ão para 2001. mais acentuado no CC\/.
Estas difercncas sublinham a necessária cautela com quc tcmos de encarar cada um dos
títulos. Público e CC\/. como "organismos vivos". que se modifĩcam ao longo do tempo. e ondc
novas políticas cditoriais e novos desenhos gráficos podem trazer importantes alteravôcs nas fonnas
dc noticiar este tema.
132
aiarme social, Ou seja. a policia tem _/ nocão de que as vezes sdo as mensagens
erradas de inseguranqa em determinados locais. sb com base numa ocorréncia por
parte cla comunicacão social. e isso cria um grande alarme social. Quando. na
verdade. até é seguro ir dque/e îocal ou anciar no eomboio X. Mas a comunicaeão
social, por um episbdio. acaba repetidamenlc por estar a transmitir essa noticia vezes
sem conta e por vezes lamhém c a f'orma como é ahordada, com sensacionalismo. O
proprio /'ornalismo é muito alarmante. Quanto a nbs policias cria um sentimenío de
inseguranca que ds vezes ndo se /'ustifica e ndo corresponde á realidade"
Relativamente aos cenlros comerciais. que até têm seguranva intema, c preciso nâo csquecer
quc não são espacos propriamente privados e que, nonnalmente. possuem rclacôes públicas o que
de alguma forma também pode contribuir para uma filtragem da infonnaccão que transpôe as portas.
Quadro XIII: País onde ocorre agressão
1993 1998 2000 2001 2003
País P % CM % P % CM % P % CM % P % CM I % P % CM %
Portugai 32 74,4 76 91,6 27 71,1 7" 95,9 75 97,4 161 96,8 26 72,2 131 94,2 16 84,2 89 98,9
EUA 3 7,0 3 3,6 3 7,9 0 0,0 2 2,6'
0 0,0 4 11,1 6 4,3 2 10-5 0 0,0
Reino Unido 4 9,3 1 1,2 2 5,3 0 0,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Franga 1 2,3 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0 1 0,6 2 5.6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Espanna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 1 2,8 0 0.0 0 0,0 2 0,0
Brasi 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 1 1,1
Outra sit 3 7.0 2 2,4 4 10,5 2 2,7 0 0,0 0 0,0 3 8,3 2 1,4 0 0.0 0 0,0
Portugal é. de longe. o país mais ve/cs citado. quando se fala de delinquência juvenil. em
qualquer um dos jomais cm qualqucr um dos pcríodos. No C2\/, em termos perccntuais, não há
outro país a destacar. Já no Púhlico. em I998. 200 1 e 2003 é de rcferenciar pcrcentagens de pecas
sobre delinqucncia ligada aos Estados Unidos e em 1993 respeitantes ao Rcino Unido, uma
percentagcm influenciada pela cobcrtura do Caso Bulger.
"Outra situacâo" em 1993. 1 998 no Púbiico di/ rcspeito a outros paíscs da Europa. que nâo os
assinalados no quadro. e em 2001 a outros países fora da Europa c a situavôes em que não há
rcferência ao país.
131
1. "Portas de entrada" e jornalistas socialmente activos
Ainda antes de iniciarmos o olhar mais concentrado nos jomais. nos seus momentos. é
importante rcter alguns aspectos das cntrevistas dos dois editores que nos parecem rele\untes e. de
alguma íbnna, estruturantes da análise das páginas dos jomais.
Como veremos. especialmentc no Píthlico. a dclinquência juvenil e uma temática que revela
sentidos dc abordagem diversificados.
"Pode pegar-se na delinquência juvenil de mil e uma inaneiras c por mil c mn
sítios por mil e um aconíecimentos. é um tema muito rico. Ouanto maior for a riqucza
cle um tema. mais ele nos proporciona a possibilidade cle o desenvolvei; dc o ver de
diversos dngulos, de pegctr em coisas c depois se é um temct que c internacional c
nacional. Eu creio que sdo e.ssas tres coisas: ter relevdncia j'ornalisfica. ter
profundidade e de alguma Jbrma mexer co/n as pessoas, mexer com a consciência ou
coin a vida <las pessous"
Vluitas ve/es. os aetos ilícitos apenas sao usados eomo ponto de partida. para abordagem c\c
considcravôcs diversas. Para Luís Francisco. editor do Público. o jornal deve dar o tema num
conlexto político e social, sair do singular c dar-lhe um cnquadramento: "F importante c/ue esteja
assoc'tado a questbes políticas e sociais. apenas na medida etn que mn assunto que lenha. para
além cla sua carga sociaí. uma dimensdo política ganha dimensdo. Tem a ver com o núinero de
portas de entrada que podemos dar cis pessoas para entrarem no assunfo".
Luís Francisco. quc considera fundamental a intcrvenv'ão jorn_.lística no tecido social (ha
uma construcao do acto). encara ainda como fundamenlal que o jornalista no exercício da sua
actividadc seja socialmcnte activo, especialmente em matérias sensíveis. embora seiu ser aetivista:
"Socialmenfe activo, aeho que sim. F dcsejcivcl que o /'ornalisía se/a
socialmente activo. Eslc't a desempenhar o seu papel. Por um lado. a ehatear o poder e
por oulro a informar as pessoas, a dar-lhe entrelenimento se for caso disso, a dar
histbrias. O /'ornalisfa ê socialmenle activo e nesta área exiremamente sensivel o
simples fctcto de sefalar nela mexe com a consciêneia clcts pessoas. F <> nos.so papel. I'u
sinto-me e pen.so qur iodos os j'ornalistas se scntctn soeialmenle activos e nao
aetivistas. Xcio estamos aqui no senticlo de defender a eausa. mas aetivo no sentido em
que estoit a intervir no fecido sociai. E a nossa funcdo faze-lo"
19M
Capítulo V
Representaeôes Mcdiáticas em Torno das Delinquências Juvenis,
ICnfoques do Páblico e do Correio da Manhã
"Como representamos as pessoas e os lugares significativamente diferentes de nbs e dos
nossos' Porquê a 'diferenca'
ê um tema tdo compeiido. uma cirea das representaqbes tdo
disputada? O que é o fascinio secreto da 'aiteridade'
e porque a representaeão popuíar é tdo
frequentemente extraída dai?"
(Stuart Hall, 2003: 225)
Depois de iniciado no capítulo antcrior o dcbate em tomo da cobcrtura da dclinquência
juvenil, avanvamos agora para um olhar mais ponnenorizado sobre os jomais. principalmente sobre
o que nos transmitem as primeiras páginas, e seus desenvolvimentos intemos, cncontradas cm cada
uma das publieaeoes nos cinco períodos cm análise dos seguintes anos: 1993. 1998, 2000, 2001 c
2003.
A estrutura da exposivão da análisc e das reflexôes foi variando. porque em cada um dos
pcríodos foram descobcrtos enfoqucs e enquadramentos diferentes e. nesse scntido. optámos por
fazer uma estrutura de texto que tlzesse ressaltar cada uma dessas especificidades. De outra fonna.
julgamos que se perderia infonnavão particular, que poderia não cabcr num esquema pré-dclimitado
de exposicão daquilo que fomos vendo em cada um dos períodos.
Å scmelhanca do que fizcmos anleriormente. para além do olhar sobre as páginas dos
jomais. também retomámos algumas das percentagcns encontradas anterionnente e excertos das
entrevistas elaboradas no âmbito deste trabalho.
Por último. fazemos ainda uma incursão mais especíllca sobre os modos e as condiv'ôes em
que são produzidos os jomais. dando conta dc algumas culturas dc rcdacvâo quc sobressaíram das
entrevistas.
133
2. 1993, uma marca na década
( ontexto
O distantc ano de 1993 foi recheado dc acontecimentos, quer a nivel mtemacional qucr
doméstico. Aqui ficam apenas algumas referc'ncias, que vão dando a ideia dc que as agendas
mediáticas foram sendo ba'eadas com diversos tcmas. quc foram encontrados nas pesquisas
descnvolvidas.
Comecando pcia esfera internacional, c de reeuperar, novainente. o Caso Bulger. ICm
Fevereiro. em Liverpool. um rapa/ de dois anos. James Bulgcr. foi nntado num centro comercial
por dois rapazcs de 10 anos. quc o violentaram e o abandonaram nuira linha de comboio. Bulger
tnorreu, os dois autorcs foram condenados em Novembro dc 1993 c libcrtados em 2001. Como já
foi detcctado na revisao teôrica. este é um dos mais citados acontccime itos de delinquência infantil
c os cstudos refercnciam-no como um caso de pânico moral. Iremos vc que os seus ecos chegam ã
imprcnsa portuguesa neste período \
Já em Portugal, a segunda maioria absoluta do PSD (XII Govemo Constitucional de 1991 a
1995). lidcrada por Cavaco Silva. ia a mcio, c foi neste ano que o CDS se assumiu como PP, no
congresso de Vila do Conde.
Já estava no fmal a década dc vigência cavaquista e ainda nes.e ano surgiram rumorcs de
que Dias Lourciro, ministro da Administracão Intema, queria abandonar o (ĸnerno. I oi
precisamente esle o nhnistro quem assunhu a necessidade de ludo fazer para criar um país seguro.
Olhando para retrospectivas ieitas por jomais nestc ano, percebe-sc qce a acv'ão de Dias Loureiro
ficou marcada pela eorrida â seguranca, com o recurso a patrulhas em transportes públicos e em
bairros dcgradados e pelo combate aos gangs. A nível político, é ainda de assinalar, em Agosto, o
veto presidencial dc Mário Seares ao dccreto que autorizava o Ooverno a alterar o Regime de Asilo.
Esta foi uma matéria que em 1993 animou o debate político e também i sociedade civil. pelo facto
de se ter estabelecido paralelismos entre o asilo e a imigracão ilegal muilas vezes referenciada
como foco de inseguranca c de instabilidade social.
No que toea aos media, o ano de 1993 foi marcado pclas emissoes das novas televisocs
privadas, a SIC (havia iniciado emissão a 6 de Outubro de 1992) e a TYi (20 de Fevereiro de 1993).
Na in.prei.sa hritânica. o caso foi tratado de f'onna recorrente ĩio longo do ano. nos nicJia e no di scur>>o politico. scndo enquadrado nun.
lom de 'crisc dc intancia" (I'onlc, 2>>('~: 133). bcni como associado a uin desvio n.i institLiitpão Faniili i. Por partc ilas audiências edos meJia
noiiciosos, cstc passou a ser um tcma apeleci\el, pela randa.lc do aconlecimcnto. por este sei um crimc dilercntc c emolvido em
circunstâneias distintas dos mais reeorrentes. t'oino também relere l'onte (2005: 1351. deu-se eonta de eiu|uadramcnli'- _|iie associarain as
criancas a uma iniaucm de diaboli/acão. tradicionalmente mais ligada a uma lase de ser adulto. ()s autores foram icprocntados eomo o
oitim
136
Uma visão diferente tcm o editor do CM. Manuel Catarino vé o exercíeio do jomalismo.
pelo menos no CM. como um cumprimento de uma funvâo de "espelho" da realidade. Há uma
traducão dos acontecimcntos para as páginas do jornal que chcgará aos leitores.
"O jornaiista é um tradutor. Xdo é mai.s do que isso. iraduz os aconteeimentos e
os prohlemas para o leitor eomum. O Correio da Manhã ndo pode perder a sua
vocacdo diária cle jomal que clci notícias mas tem de arran/ar espaco para assuntos
passados ou reeentemente passados que sej'am tratados eomo num semanário. Contar a
histbria, o coniexto. as circunstdncias, eontar a histbria e ncio tanto o que aconteeeu
ontem."
Ricardo Marques reforca esta ideia do seu antigo editor:
"O Correio da Manhâ é umjomai que vive de notícias. Diga-se o que se disser. o
Público é um j'omai diferente, mais conceptual. mais c/e anci/ise. por isso tem menos
noticias. sdo mais alargadas. agora há essa preoeupacão de ir lc't independentemente
de eonseguir as coisas"
Manuel Catarino, rciativamente â eventualidade de se sentir ou não socialmente activo
quando aborda esta tcmática, considera que é importante ser socialmente activo. mas mostra uma
abordagem desapegada do tccido social, ccntrando-se na prestacão do servivo de infonnar o leitor.
"A nossa primeira preocupacâo ndo é tanto a sociedade em geral mas mais o
ieitor. a pessoa que nos vai lei: Se contribuimos com isso para mudar algumct eoisa
fudo hem. mas cie lacto a nossa primeira preocupacão ndo é mudar o mundo. é mais
informar cptem compra o jomal. Somos sociaimenfe activos. é evidente que um
/'ornalisia que produz e que dá informaedo tem um papel social aciivo. é um papcl
social de relevo. Uma sociedade mais informada e tnttis esciarecida é sempre de
louvai: Se o [ornalista contrihuir jĸtra isso estci a cumprir a sua tnissdo"
139
Pc idrbes de cohertura cios clois jornais
Recordemos alguns cos elementos da análise de conteúdo. En. 1993. o Púhlico. apesar de
ter cerca de metadc das pevas encontradas no 0/(83), tem trcs primeras páginas, enquanto o CM
tem duas. Ainda em termos grátícos, no que respcita å hierarquia das pc\as na página. no Pithlieo
há uma predominância de pevas secundárias em zona superior e no ou.ro jornal de sccundárias em
zona infcrior. No Púhlico, as seevôes mais destacadas são a Sociedade e o I.ocal. cnquanto no CM,
a utilizada c a Sociedade. Lin tennos dc gcneros há uma lidcranca da breve nos dois jornais. sendo
este um géncro percentualmentc mais importante no CM As fontes policiais sâo as mais marcadas
percentualmcntc nos dois jornais. cmbora no CM a rcgra (62,0%) seja a nâo referência de fontes.
()s jovens aqui representados são, sobretudo. enquadrados numa faixa etária de 16-21 anos e
são acusados principalmente de cometerem cnmes como furto, roubo e agressão.
Anúlise de casos
Pegando na prcscnga em primeira página, verificamos que no Púhlico se refere aos dois
momentos-ehavc que identificámos. o caso SIS e o julgamcnto Bulger. o que não ocoitc no CM.
Vejamos entao de quc forma os dois jornais configuraram cstes dois acontecimentos.
Caso Reiatbrio S/S
Poueos dias depois dos acontecimentos de Alhos Vedros. ALTA TFXSÃO Ibi o título da
imensa manchete de () Independente a 3 de Setcmbro de 1993. a apresentar um iclatôiio dos
scnicos sccretos. classificado como "assustador", sobre "gangs negros e violcntos*9 A ilustravâo
dcsta manchete aprcsenta\a em caricatura sujeitos negros, entatizando os seus travos étnicos e
sublinhando marcas de cultura juvenil (música. tecnologias) c annas, numa representav'ão de jovens
negros como claramente outros (com sugestôes dc animalidade. como "espécie de macacos".
diriamos), refereneiados no relatôrio.
129
Esta nova configuravão do audiovisual portugucs, dominado durante dccadas pela infonnavâo e
linguagem mais institucional da RTP. trouxe também novos fonnatos televisivos. Entrc os
programas de infonnacão nâo diária, assinalamos o Casos cie Poiícia, inicialmentc condu/.ido por
Carlos Narciso. tendo como dois dos participantes o sociôlogo José Manuel Paquete de Oliveira e
ex-inspector da Policia .ludiciária Francisco Moita Flores. Este constituiu um novo excmplo de
informavâo televisi\a. ondc o crimc comevou a scr analisado nas suas divcrsas facetas e até numa
perspectiva multidisciplinar, configurada pcio olhar dos cspecialistas. Na esfera do jomalismo
cscrito. O Independente. que havia sido lanvado em 1988, revolucionou a imprensa cm Portugal. O
jornal de Paulo Portas. muito associado å divulgacão de casos de comupvão política e econômica,
fez tremer ministros dos executivos de Cavaco Silva.
Apesar dc as estatisticas serem, por vezes. dificcis de desmontar e de nestc caso darcm
indicacôes dc dados de idades acima da delinquência legal. fontes policiais comecaram a sublinhar
o que consideravam scr um aumcnto da juvenilidade da criminalidade marcada por uma aevão
indiscriminada, onde se destacavam actos de vandalismo, roubos. agressôes fisicas e também
conlrontos gmpais. como vimos.
É nestc ambiente político, social e mediático que em finais de Agosto ocorrcm confrontos na
margem Sul. em Alhos Vedros (Vloita). entre eerca de meia ecntena de pessoas identificadas como
negros e moradores de Alhos Vedros. onde terão sido usadas armas de fogo. armas brancas e
"cocktails molotov". Na scmana seguinte, a 3 de Sctembro. Dias Loureiro dá uma confcrência dc
imprensa. onde anuncia medidas de seguranva e de combatc ao crime. N'o mesmo dia 3. foi revclado
por O Independente um relatorio secrcto do SIS. classilĩeado como confidencial. Dava eonta.
segundo este scmanário, do aumento da violência na Grande I.isboa c destacava a actuavâo de
grupos de jovens negros, Terá sido esta uma pura "caeluf jornalística ou conveniente fuga dc
informavão quc veio reforcar e sustentar a neccssidade das medidas do ministro da Administracão
lnterna:
Estes dois momentos-chave de cspecial importância em 1993. a revelavão do relatôrio do
SIS pelo Independente e o caso Bulgcr, suscitam uma primeira atenvão por pennitircm tcstar de quc
modos os dois jornais os eonfiguraram. Será o que faremos depois de uma brcve revisão aos
padrôes de cobertura cncontrados em cada um dos diários.
'"
Rccordcmos eomo Molotch e I ester chamam a atcncão para a exisiencia de promotores Ue nolíeias que tornam evidei.tes e rele\antcs
ocorrências que atc ai não seriam tâo ohscrvávei.s (l'W: 3S), A pronio(,;'io não é mais do que tornar uma ocorténcia pública para um gradc
númcro de pessoas. sendo o> mcJia canais que permitem dar uma dimensão aos acnuleeimentos que se não entrassem na auenda llcariam
confmados a espacos menos visivcis.
137
Imagem 2: primeira página do Público de 4 de Setembro de 1993
9 PIBLICO -
'
A imagem das forcas de seguranca. da primeira página: MAl reforca policiamenfo contra
crime organizado 9 combina-se com o título de citavâo "Coriur o mai pela raiz". que eneima a
peca principal. no interior. Contudo, a entrada dcsta peca contcm já um registo de distaneiaeũo do
jornal, caraeterizando a aevâo do ministro eomo tendo ocouido num "timing pcrfcito", e
apresentando-o como "bombciro-mor a apagar o fogo da inscguranv'a"ls
Este registo de ironia do jornal face ao momento coincidente da convocavão da confercncia
de imprensa e da manchetc de O Independente c acentuado no editorial. de Vieente Jorge Silva.
Seguranca e racismo , aqui deslocado do seu espaco habitual nas páginas de Opiniao. Vicente
Jorge Silva mostra indignacao pelo trabalho desenvolvido pcio jomal dc Paulo Portas. dcmarcando-
sc dc uma visão social que associa a delinquência juvenil e a inscgur mca a bandos de "pretos e
drogados". O início do editorial indispôe-se precisamente perante esta representacão dos "'gangs"
negros numa banda desenhada de íblciôricos gorilas". No cditorial pode ler-sc num veemente tom
crítico a esse contcúdo: "A tendcncia para reduzir a qucstão da inscguranca urbana â selvajaria dos
bandos dc "pretos e drogados1 não é nova. mas tornou-sc um clássico dc discurso mais reaccionário
da direiuf0' . Considera-se que csta associacâo cstá muito aliada a prátic.is policiais quc vfio "acirrar
i'úhtico. 4 dc Setembro. pát; 1
() "'timing' pcrfeito ". nas palavras irônicas do f'íthlict), faz pen.sar na sequcncia da seinana. c rccordar Molotch e l.esler. ""< ) irahallio dc
proino\er ocorrências ao cstatuto de acontecimento púhlico salta das neccssitlaJcs Jc uconlcciriioilti daqucles que la/ein a promocão"
(Moloicli e I ester. UJW; 37). H;j niedidas. como as de segurar.ca. que sãi> naturalmente polémicas. mas que podem ser inais ou menos
justitlcadas política c socialmenie pelos acomecunentos que as anteeedein. Muitas \e/es. situacôes dc risco e de alarmc social coiistituem o
moie e tornam o momento em quesião idcal para a aceão polítical'iihlit i>, 4 de Setemhro. pág. I S
l'íihlitt). 4 de Setemhro, pág. I S
14d
Imagem 1: primeira página de O Independente, de 3 de Setembro de 1993
u.,: h:,ui. ,n._Tr__=.
') ÍNDEPENDENTE■
m IISÍVO: fíEl~TÚ~IO SECREĨD SOBfíE OS CAKGS. '*>_
No interior. o trabalho alargado das primeiras quatro páginas do jornal é complementado
mais â frente com um editorial assinado por Paulo Portas. Com base no relatôrio do SIS. nas
primeiras páginas sâo inventariados tipos dc gangs. casos de violéncia urbana referenciadas como
protagonizadas por minorias ctnicas, refercm-se situavôes de exploracão de mão-de-obra negra por
outro negros. 'Tnais espcrtos". num cnquadramento em que os negros, explorados c exploradores.
aparccem claramente demarcados. O editorial do dircctor. intitulado \fdo pesada. dcpois de se
mostrar contrário a perspectivas. que atribui â esquerda. segundo as quais os elementos da
sociedade seriam por natureza bons. os delinquentcs reeuperávcis e a liberdade estaria acima da
scguranva. conciui num registo dc intensificavão da reprcssâo face ao cenário sugerido pelo
relatôrio do SIS que o seu jornal expôe: k"Se está a chcgar a Portugal a orgia da violência. é tempo
dc ser realista, ter mão pesada e agir' 2
Como rcagiram os dois jornais que analisamos a este enquadramento de autoridade. onde se
conjugaram a conferência de imprensa do ministro Dias Loureiro e a divulgavâo do rciatôrio
'^^6.0" pelo Independente?
Observamos que cstas duas ocorrências suscitaram grandc reaccâo no Públieo. Neste diário,
logo no dia seguinte (4 de Setembro), a conferência de imprensa do ministro Dias Loureiro tcvc
presenca fortc em primcira página c mcreceu a atenvão de mais de uma página na scccão Socicdade,
como se podc ver nas ilustrav'ôes 2 c 3.
139
necessidadc de uma polícia de proximidadc. Jorge 1 erreira do CDS-PP aponta para o reforco da
politica pcnal para que o esforv'o policial funcione. Por parte dos porta-vozes dc movimcntos
sociais. enquanto o prcsidcnlc da Asscmbleia Geral da CNAP ccntra o discurso na
indispensabilidade de refbrco de seguranva. convoca os problemas ligados ao espavo inlerior da
cscola e â neeessidade de existência de um polícia em cada escola do país. nas associacoes ligadas
á> minorias étnieas. há uma incidencia num receio de que as mcdidas possam acarretar foeos de
racismo e discriminaeão.
Estc enquadramento jomalístico dc distanciavão face ao enquadramcnto político
coníîgurado c cstimulado a partir da manehctc de O Independrnte. acentua-se no dia seguinle. de
novo com lugar na primeira página do Público (imagem 3). O jornal abre a sua seccão nobrc dc
Destaque com um extenso dossier de 7 páginas sobre o racisrno em Porlugal. E no inlerior destc
grande tratamcnto que encontrámos e trabalhámos varias pevas especificamcnte orientadas para a
dclinquência juvenil.
As pevas principais, nos seus titulos (Sementes de violêneia racista e Radicais e integrados,
estbrias exemplares) situam desde logo o enquadramento do racismo nos olhares negativos que sao
postos sobre os mais jovens. sobretudo quando não são brancos. Numa coluna dc opinião.
Morreram os "brandos costumes'r . o sociôlogo Paquete de Oliveira partindo da constutacão de que
a violência e a \ iolência racista tinham dominado a agenda mediática da semana, aprescnta um caso
pessoal revciador dos reeeios de uma crianc-a branca em se pensar na pele dc um ncgro ("Pai. entâo
depois como ia ser com os meninos da minha escola? Nunca mais me ligavam."), para eoncluir que
muitas vezes não se pensa so9rc o racismo e se considera o país como _le "brandos costumes". I'm
várias reportagcns sobrc viagens em transportes públicos. como comboios c autocarros de carreiras
suburbanas. contam-se histôrias de pequenos assaltos. cometidos por indivíduos braneos e "pcssoas
de cor". muilas vezes cm grupos nhstos. Ou seja. a associavão da delinquência a uma única rav'a é
contrariada e o racismo evidenciado como estando presente de forma "subtcrrânca",
Porém. acaba por haver algutna incongmência quando sc olha para o discurso visual. o
discurso da fotogralĩa. No olhar polarizado para o outro. c importante vcrificar as formas e
contcúdos das fotografias. Segundo Van Dijk. "as opiniôes podem estar organizadas segundo um
padrao ideolôgico que polari/a endogrupos e cxogrupos: Nos vs Eles" (Van Dijk, 2005: 217). Esta
polarizacao frequentementc rcprescnta os outros como uma ameava. A fotograíia da primeira
página do dia 5 (imagcm 3) tem uma fortc carga simbôlica, onde e rcíorcada a imagcm do gueto.
personitĩcada no olhar dc uma crianca que espreita por uma porta, marcadamente gasta. mais
concretamente pelo buraco do que terá sido uma caixa de coneic.
I'ũhlico. 5 de Sclemhro, páe. 4.
142
mais ainda os ôdios raciais"51. A juncão das minorias ctnicas ao crime é também cncarada como
gcradora dc estigmas. de sinais de um tratamcnto noticioso irresponsável.
Lstc momcnto da cobcrtura noticiosa deeidida pelo Público dá já conta do facto dc a
dciinquência scr destacada em momcntos muito cspecíficos neste jornal, em que há "portas de
enirada" quc pennitem olhar para a delinquência sem ser a seco. Luís Francisco dá conta disso
mesmo ncstas linhas:
"Se vamos dar ås pesstias matéria para pensar. vamos dar-lhes numa altura
em que elas estdo acessíveis. porque es.se tema Ihes é muito prbximo, porque hcí
noticiário disto e porque cts pessoas estao todas a falar de alguma coisa e nbs
podemos de forma mais incisiva fazer um aprofundamento do tema cie moclo a que
ha/'a mais matéria para pensar. [...] Fornecendo o comhusíivel, acho que a caheca
clas pessoas. depois. segue o sett prôprio caminho. Eu enquanfo ieifor estou muito
mais susceptíve! para pensar nos prohlemas dct delinquêneia juvenil quctndo hci um
aconteeimento que me ehatnou d atencdo para isso. Se eu eolocar i.sso a seco numa
altura qualquei: as pessoas podem ler. mas. na prdtiea, estdo a ler de f'orma quase
académica" .
Regressando âs páginas do jonial e ao eonteúdo infonnativo que acompanha este tema da
seguranca, é também de assinalar a presenva de uma pequena "eaixa", ondc o jomalista Josc
Antônio Cerejo apresenta c dá voz a um dos mencionados no relatôrio do SIS. "o Corvo", um ex-
líder de "um grupo dc adolescentes negros e brancos". natural de Cabo Verde. A sua histôria servc
para contrariar a estigmatizacâo enunciada pelo jornal de Paulo Portas, ao mostrar aos leitores que
cste cabo-verdiano deixara para trás os costumes de cinco anos antes c tinha passado a dcdicar-se â
sua fonnavão proíĩssional e sido pai. sendo esta sua nova realidadc bem diferente da que lhe foi
atribuída pclo SIS. Parece havcr por parte do jomal uma necessidade de dcsmontar assercôes do
relatôrio.
Para além da voz do ministro da Administravâo Interna c do "Corvo", o Público mobilizou
outras vozes. que preenchem um espavo gráfĩco dedicado âs "reacvoes": dois politicos da oposiv'ão
(PS e CDS-PP). porta-vozcs dc movimentos sociais (SOS Racismo, Movimento Anti-Racista,
Associavão de Cabo-verdianos, Confcdcravão Naeional das Associavocs de Pais (CNAP). O tipo de
fontes escolhidas dá conta do enquadramento temático c da sua visibilidade públiea e social. Nem
todas as \ozes alinham pelo mesmo padrão. A nível pohiico. enquanto Jorge Lacão aponta para a
M
l'íthlico. 4 de Setemhro, páy. IH.
141
no interior uma reportagem sobre a reposicão da tranquilidadc, com o título irônico Alhos l'edros
tranquila com "assalto"
da OXR.?'
O Caso Bulger
O julgamento do Caso Bulger, ocomido cm Novembro de 1993 no Rcino Lnido. foi um dos
mais mediáticos c também associado a manifestavôcs de pânico moral. Por isso. c porque significou
uma primeira página no Púbiico. ircmos faz.er uma abordagem mais especiíica. cmbora mantendo
os critcrios que foram usados na seleccâo das unidadcs de rcdacvao (esta ressalva é importante, pois
os autorcs. pela questâo da idade, então com 10 anos, foram praticamenie sempre qualiticados como
rapazcs, miúdos c criancas. o quc os excluiu da pesquisa). Estc jornal atc á data do veredicto dos
jurados apresentou os dois presumívcis autores como crianvas. Depois de terem sido considerados
culpados, passaram a scr nomeados como jovens, e como tal a cnquadrarem-se ncste corpus.
Do exterior, como já notado na análise dc conteúdo, neste período. o Reino Unido é o país
mais destacado no Público. Das quatro rcferê'ncias cncontradas. três são alusivas ao Caso Bulger e
uma está cstreitamente associada.
Nos dois titulos Criancas forain julgadas culpadas'" e l'ereaiclo: culpacios'
, ambos da
edicão dc 25 de Novcmbro no Púhlico. a propôsito dos resultados do julgamento, está prcscnle a
marca da genericizaeâo, muito associada a uma carga simbôlica e gencrica, que pressupôe a ideia de
que já se sabe do que se fala, não fosse cstc um caso mediático, até fora das fronteiras brilânicas.
Apesar de não ser possível alĩrmar que este caso constituiu em Portug.i o foco de pânico moral. o
facto de ter transposto as fronteiras de origem e ser destacado em páginas nobres de jornais
portugucses faz com que seja possivel aluinar a sua visibilidade por cá.
Nesta ediccão. há uma chamada â primeira página (Criancas foram julgadas culpadas) e no
interior manifcsta-se com (l'eredicto: culpados) trcs páginas dc destaque. com imagens distorcidas
dos aeusados de homicídio. â luz das lcis de proteccão da identidade de menorcs cm vigor no Reino
L'nido. O facto de se estar perante um crime imputado a dois "rapazes de 1 1 anos" (idadc no
julgamento) fez com que houvesse cuidados redobrados na forma como ambos eram referidos.
inciusive identiiicados como o rapaz A c o rapaz B, passando a ser eonhecidos pelo nome apenas na
audiência em que o juiz anunciou o veredieto.
ICste destaquc, que, â semelhanva dos dois trabalhos analisaoos anteriormentc, lcm um
enquadramcnto temático no Público, ccntra-se no julgamento c no sutema judicial inglés nestes
t.-.sta peca não consta do corpits ar.atis_.do mas considcrou-se scr relevanle aqui aprescntar o contrasle eulte os enquadramenlos dos dois
jornais ->ohre a confcrência cle imprcnsa de Dias t.oureiro."
l'iihiicti. 2~ dc Novemhro. pág. I .
PiihlicD. 25 dc Novembro. pâg. 2. Repoiiagem.
144
Imagem 3: primeira página do Páhlico de 5 de Setembro de 1993
Podemos assim constatar que nesta cobertura pelo Públieo há um desalinhamento da agenda
política oficial (enquadramento critico das palavras do ministro da Administracão Intcrna) e uma
feroz crítica ao tratamento dado por O Independente ao rciatôrio "secrcto" do SIS. O foco do jornal
vai assim assentar baterias na política de scguranva enunciada e no media quc contribuiu para a sua
sustentavâo.
Neste mesmo período, o C.M anuncia a conferência de imprcnsa de Dias Loureiro. no dia 3
dc Setembro. em peva colocada em página de interior. Contudo. dois dias dcpois. chama com
grande destaque para a primeira página a articulavâo entre tribunais e forvas policiais e desenvolve
143
nas palavras dc Miranda Pcreira (presidente do Instituto de Reinsercâo Social). que se mostrava
pelo menos satisfeito pelo facto de a legislavao portuguesa per.nitir unia demarcacão jurídica entre
eriancas e adultos ao contrário da existente em Inglaterra. Coimbra de Matos, psicanalista e
psiquiatra, também reflecte sobre o papci da sociedade, que deverá ser eapaz dc tratar em vez de
punir. A controvérsia das posiv'oes desenha-se aqui também com a posivão da pedopsiquiatra I 'eresa
Ferrcira, contrária å anterior. ao defender a neccssidade de punicão, nao se sentindo ehocada com o
julgamento. Nestas duas últimas vozes. já se percebe a fractura existentc na sociedade. onde a
diliculdade dc posicionamentos eoncertados é evidente.
Uma peva sobre a cultura dos jogos assinada por Tcrcsa Cociho compteta o destaque.
centrando-se nas rcacvôes da imprensa britânica â cultura dos jogos. A reproduv'ão aqui apresentada
sobre o que alguns dos media britânicos escreveram sobre este caso de pânico moral dá conta da
fonna algo melodramática. ccntrada no riseo social. em que sc desenvolveu este caso "uma tragédia
sem catarsc nenhuma. A partir do momcnto em que licou estabclccido que os réus eram criancas".
Esle é visto como uma infraccâo dc excepe-ão, numa sociedade onde prolifera o crimc c, como tal.
ondc sc tomam triviais fieando a ateneão eentrada. se assim se pode di/er. no des\io mais
desviante. singular e inesperado, constituindo cstcs dois últimos importantes valores-notícia.
Depois do julgamento. o caso voltou a ser assinalado \\o Púhlico nos dias seguintes com
duas pccas que fazem parte do corpus. cmbora não tenham chcgado cã primeira página. e que
tiveram os scguintes lítulos. 0 primeiro (A eulpa é clos fihnes?'^), na secvâo Socicdadc, foi a pc^a
principal da página c intenogava-se sobre as possíveis inlluências dos jogos vídco no aeto
cometido. 0 título Pesadelos de í.iverpool' rcfere-se a uma breve que dava conta da detenv'ão em
Livcrpool de trcs jovcns que andavam a distribuir filmcs com títulos como o Holocausfo CanibaL
numa elara eonvocavâo do pânico causado na opinião públiea pelo Caso Bulger. Tambcm estcs dois
exemplos dão conta de situavoes que são destacadas nos estudos sobre a cobertura do Caso Bulgcr.
onde o crime é associado ao consumo de filmcs. acabando esta marca por também estar prcsente na
cobcrtura em Portugal.
No C'A/. lbi encontrada uma peva apenas de interior intitulada "MEX/XOS ASSASSIXOS"
COXFFSSAM CR/ME^ . Repare-se no uso das aspas na nomeavão dos dois presumíveis autores.
ainda na fase de julgamento. a convocar um caso considerado ja' do eonhecimento geral. como já
visto, pela sua raridade. O insôlito destas aspas "meninos assassinos" é que não sâo atribuidas a
nenhuma fonte e nem sequcr encontram cco na notícia, quanto mais não seja porque nesta tase. a 4
"
l'úhliit). lh dc No\emhro. páy;. 24. Reportagein.l'ithÍHti. .1M de Novemhro. pág. ?(). Breve.
('orrein Ja \tanhd. 4 de Novemhro. páii. 2(>. Notieia.
146
casos. mas também em reacyôes dc fontes'especialistas portuguesas (magistrados. psicanalista.
pedopsiquiatra) a este easo e ainda nas reaccoes da imprensa inglesa.
No superleadáo destaquc. uma frase resume certeiramente todo o rio de tinta que estc caso
fez correr a partir de 1 evereiro dc 1993: "... o crimc, ao ser executado por duas criancas, nao
pcrmitiu a catarse habitual quando se encontra um bodc cxpiatôrio. S6 pennitiu o horror c suscitou
a interrogavão: como foi possível?". O inaceitável num adulto e ainda mais inaeeitável numa
crianva ou num jovem. Se, por um lado. no sujwlead a jomalista Paula Torres de Carvalho destaca
esta ideia. no decorrer do resto do texlo apresenta um trabalho construído scgundo o princípio do
contraditôrio, ou scja. sâo rcgistadas várias perspcctivas sobrc este mesmo assunto. bem como
diversas vozes.
No texto. parece claro que. a partir do momento em que sao condenados. há uma tônica do
discurso que alinha pcia escolha judiciária. imputando a culpa as dois agressorcs. No mcio do lexto.
Bulgcr, a \ ítima, é apresentada como crianca. enquanto os dois vitimadorcs são refcrcnciados como
"rapazcs" c, depois. os mais "jovcns" acusados de homicídio em Inglaterra no scculo XX. Estes sao
os demônios oufolk devils idcntificados por Cohen que até se acusaram mutuamente durante o
julgamento que praticam actos que a sociedade tem dificuldade em assin.ilar.
0 jornal seguc a abordagcm com a prcsenca de algumas bipolarizavôes encontradas. como
vimos no segundo capítulo, na revisâo de literatura sobre o caso: vítima/agressores. o bem/mal.
boas/más famílias e boa/má mde. O mal e a culpabilizacâo são conceitos que perpassam todo o
destaque do Púhiico e que são associados aos dois autores deforma inequívoca, nâo sendo deixada
margem para dúvidas dc que eles Ibram os culpados e que havia chegado o momento de terem uma
oportunidade (forcada pelo dcsfccho do julgamento) para se reabilitarem pcrante a sociedade. As
marcas das difcrencas entre as famílias dos autores e da vítima cstão presentes.
No ccntro comcrcial, James Bulger afastou-se da mãe, diz-se no Público, num "momento de
distraccão". Porém. os dois autores condenados "são ambos membros de famílias numerosas e
filhos dc pais separados", ticando aqui registada esta identificacão familiar quc dominou a cobertura
intemacional do caso.
Mas, a atribuicão de responsabilidades não se centra apenas no seio familiar. O texto do
Pítbiieo convoca ainda a marca da culpa social ao citar o tabknde Sunday Mirror: "Quem é o
responsável? Todos nbs".
O Dcstaque é enriquecido com declaravoes de especialistas portugueses. mostrando-sc, pcia
diversidade de vozcs c depoimentos. que as preocupav'oes com a dchnquência juvcnil encontravam
já em 1993 eco na sociedade portuguesa. A perplexidade c o honor face ã ideia de que um crime
como o de Prcston ter sido cometido por eriancas. questionando-se o papel da sociedade. é visível
145
mediátiea da actuavão toma-se evidente. na medida em que a designavão assalto indiea uma acvâo
violenta, que pressupôe roubo e ofensas contra a integridade fisica.
Como já foi assinalado, nestes títulos do CM [1,2, 3. 4] sobrcssai outro elemento. a marca
de uma accão colcctiva numa altura em que ainda não tinha sido divulgado o relatôrio do SIS -
reforcada pclo uso de "gang" e "bando". Encontra-se aqui uma genericizavão. um coneeito de van
Leeuvven. quc aponta para uma conccptualizacão da realidadc. composta por cntidades
gencralizadas. constituĸlas pclos seus participantcs indiv iduais ( 1998: 191 (. Fsta marca do colectivo
é especialmente forte se rccordannos também autores como Pais e Blass. que apontam para uma
visao dos bandos e gangs enquanto delĩnivôes verbais, que originam mitos e eolocam ctiquetas.
Estas são as primciras eonsideravôes a serem suscitadas apenas pelos títulos. Se av.incarmos
para a mancha de texto. vanios comecar a apontar para novas abordagens.
Ciraficamente, os dois trabalhos sâo muito semelhantes entre si: sao duas chamadas å
primeira. no canto superior esquerdo e no interior são a peva dominante. destacada especialmentc na
metade superior direita. embora não eheguem a ocupar uma página. Esta é tambcm uma diferenca
face ao Púhiieo neste pcríodo. uma vcz que os trabalhos indicados na primeira tiveram scmpre mais
do que uma página.
Podemos, agora. fazcr um zoom in a cada uma das pccas, comecando por 1 de Julho.
Percebe-se quase de imediato. em Gang' de menores assalta e rouba/BAXDO DF l'IXTE
ASSALTA E ESPAXCA XA CAPARICA, que o discurso do C'A/e desprovido de citacôcs. existe uma
descricâo de factos e referc-sc quc eomcrciantes e eidadâos falaram ao CC\/.
Nesta peva. situada temporalmentc no inicio de férias para muilos portugueses. há uma
associav'ão directa no discurso quc aponta para uma relacão causal entre o Vcrão, as mullidôes nas
praias e a preoeupaeão com a scguranva. Enconlram-se nesta rciavao trés elementos fundamentais a
partir da data da pcva: o tempo, o espavo e as pessoas. Os dois primeiros apontam para o período de
Verão e para o espaco praia. sugerindo o terceiro, o sujeito "multidão". indefinido, eontém a
possibilidade de perigo para muitas pessoas. A cahua aparente nas duas fotografias que ílustram o
texto. com pessoas a passear descansadamente com praia e lojas eomo pano de fundo. é "alvo" de
ameacas presentes no tcxto cserito. Esta aparente contradivão vem apenas refoi'v'ar a ideia de
inseguranva, ao longo do tempo. nestes espacos públicos, provocada "há meses", eomo se diz. por
jovens que actuam cm bando. Nestc tcxto, é muito fortc a prcsenca do elemento de accão violenta.
como o assalto â mão armada, roubo. agressão com annas brancas. O factor de frequência, dc
rcpetiv'ão das acvôes de dcsvio. está presente no discurso de todo tcxto. reforvando a acv'ão
desviante no espaeo e no tempo.
148
de Novembro. ainda nâo tinha sido profcrida a sentenca. As aspas costumam balizar transcricôes ou
eitacôes ou ainda dar cnfase ou assinalar sentidos simbôlicos. conotativos.
Ncste caso. parcccm demonstrar falta de cuidado do jornal na fonna como se refcrc a dois
arguidos, que enquanto não são condcnados em tribunal também não o deverão ser nos jornais.
Nesta notícia. destacada na página com uma fotografia do pai de Bulger, existem sinais como os já
dctcctados no Pũblico: as acusacôcs mútuas entre dois autores durante o julgamento c também aos
aspectos familiares. sendo de assinalar a alusão ã ausência dos pais da "Crianva A" no julgamento,
dando a ideia de que se demitcm das atitudes do filho arguido.
() insôlito é. alias, uma das marcas do discurso e do tratamento jomalístico encontrado no
CM. como atesta vivamcnte Manucl Catarino. durante a cntrevista. acresccntando ainda: "E claro
que se houver um cctso de miíuio que mata. evidcnie cpte isso terd reievo. Oue miúdo é este. o que
aeonteceu a este miúdo para se tomar num homicida."
Deiitos eom destaque no CM
Prosscguindo com a análisc dos trabalhos quc foram chamados â primeira página no período
dc 1993. chegamos ao CM. Desde logo. ao contráno do que aconteceu com o Público, estamos
pcrante coberturas episôdieas. ccntradas em factos que ocorreram num dado momento. que
destacam o crime. nos títulos das chamadas da primeira página e também no intcrior. Ora vejamos:
1 . 'Gang'
de menores ussalta e rouba^
2. BAXDODF IIXTE ASSALTA F ESPAXCA XA CAPARICAm
3. 'Gang' de 23 assalta comhoio na Linha do Xorte
4. "OAXO" ASSALTA XA I.IXIIA DO XORTr."2
Nesles títulos sobressaem dois aspectos: por um lado a forte marca da aetuavâo em colectiv o
(gang nos títulos 1. 3. 4: bando no título 2), a quantilicaeão [títulos 2 e 3] e a presenva comum do
verbo assaltar, sempre mais forte do que roubar- roubo é o tenno que, aliás. vem no Côdigo Penal.
O ênfasc na accão, ainda por cima praticada por menores. e vincado no título 1. na mesma linha do
título 2. que acentua a dimensao da v iolência exercida sobrc o corpo da(s) vitima(s). A ampliacâo
?"Corrcio Ja 'tanhâ, 1 de Julho. pág I
''"
Correio Ja Munhû. 1 de Julho. pág. 4 Noticia.61Corrcto i/a Manhâ. 24 de Agosto. pág. 1 .
''JCorrcit) Ja Manhã, 24 de Agoslo. pág. 4. Reportagem.
147
"... a fam'iiia cia Susana [a vítima' [ recebeu uma visiîa de solidariedade
hastante curiosa: Venho pedir desculpa'. foram as primeiras palavras de um
indivíduo de raca negra. apbs a ahertura cia porta. 'Desculpa a'e quê? '. retorquiu um
dos familiares. 'Por os agressores serem da tninha raca '. respondeu prontamente o
visitante".
Em comparacâo com o Públieo o CM não entronca o discurso das fracturas entre uma
maioria "branca" (dominadora) c uma minoria "negra". Porém, a estrutura do texto "OAXO"
ASSALTA XA LIXIIA DO XORTE aprcscnta uma tendência retôrica que culmina na citacão acima
referida e que estigmatiza, cmbora colocando sempre o ônus do discurso em citavâo.
Aparentemente. o jornal e o jornalista cstão iscntos no discurso, porque colocam as palavras em
discurso directo, mas são eles que organizam e selcccionam. A fonua como falamos (Van Dijk,
1 990: 1 23) traduz objectivos de discurso.
A proximidade do jomalista ao leilor, em trabalho de reportagem. também é sublinhada
quando neste trabalho de 24 dc Agosto o CM fez uma viagem de comboio na linha dc Sintra c o
rcpôrler a descreve. em nome do jornal. apontando o contraditôrio entre o que viu e a inoperância
das forcas de seguranva: "... o CM viajou no último comboio da linha de Sintra na passada sexta-
feira e viu tudo. Agressôcs, vonhtados [...] c roubos. Com a polícia a patrulhar a composicâo".
Oatras coberturas, oatros tracos
Para alcm do cnfoque mais específieo sobre os casos de primeira página, gostaríamos ainda
de deixar outros olhares que ressaltam da cobcrtura global nos dois jomais.
No que respeita a casos coincidentes, assinala-se ainda um que, talvez por ser insôlito (um
jovem de 19 anos acusado de esíblar, comer e matar cães e de batcr na mae), foi notieiado por
ambos os jornais. embora tenha tido mais destaque no Públieo. No Púb/ico, este caso do Bombamal
teve chamada å primeira do Local° c foi dcscnvolvida no interior do caderno (com uma imagcm do
jovem enquadrado no seu espavo rural). Já no CM. este assunto tevc mcnor dcstaque, com uma
notícia desenvolvida na delegavão dc Lciria.
Como jã ohser\amo.s em capitulos antcriorcs. as mull.crcs tcm mcdo de serem \iiimas dc crime, apesar de as eslatísticas indicarcm quc os
homens sâo mais vitimados. Olhando para o quadro cm apcndice rcspcitantc ao sexo das vítimas. verilicamos que eles sâo cm qtialquer um
dos periodos mais citados do que elas. Certo é que as vitimas dcstacadas ao longo deste trahalho em materias de inaior fôlego sâo mulhercs.
como ncste caso e como irá aconlecer mais á frente. De assinalar ainda quc há uma prepondcrância cue oscila entrc os \7..V\> _• os 57.0% de
auscncia de referências ãs vitimas. coino se pode ver em apéndice.',
Nesta época. a primeira págma do l.ocal luncionava como uma cspécie de primeira página, onde se encontravam as ehamadas das pe^asmais imponantes do i.ocal. para scrcm descnvoKidav no intcrior do cademo.
150
ICstc rcforco de informacão. designadamente de acordo com as autoridades policiais. pode
ser pemicioso. como se depreende das palavras do inspcctor-chefe Olegário Sousa e do
subintendente Alcxandre Coimbra. Primciro vai dizendo que os media têm de notieiar, mas gostaria
que esse exercício fosse feito de lbnna diferente:
"Cria inseguranca. sem dúvida nenhuma. Se nbs ncio soubermos... Mas. nutn
Estado de Direito em que os media têm de f'azer o seu papel que é noticiar. tnas
interessa noticiai; ndo interessa criar aquela notícia alarmista. com aqueias
parangonas. I.sto é que causa alarme social. A forma como a notícia é dada pode ser
alarmista ou ser informativa. Muitas vezes. a vitimas nem se revêem no texto."
Alexandre Coimbra reforca esta ideia dc quc o cidadão comum sc vai sentir mais inseguro
com a observacâo das notícias que amplificam a dciinquência.
"Eu penso que. muitas vezes. hci alguns faetos que transmitem algum sentimento
de inseguranqa d sociedade anbnima eom algumct responsahilidade por parte da
eomunicaedo social. Acho que sim. Xdo há dúvida nenhuma qtte temos uma
deiinquência /'uvenil cada vez mais agressiva. ma.s penso que a forma como a
comunicacdo soeial pega nisso. A forinct eomo a comunicacdo sociul pegct na
deiinquência pelo faclo de serem menores: de assaltarem. de conseguirem..."
Retomando a análise de jomais. na scgunda chamada å primcira no C.\/, a 24 de Agosto-
Oang' de 23 assalta comhoio na Linha do Xorte . que no interior apresenta uma fotografia
dcstacada de uma vítima feminina. o risco persistc em estar presente. "Ser utente nas linhas de
Sintra continua a ser uma tarefa arriscada" sâo as primeiras palavras c\o texto. ampliando as
possibilidades dc risco social. Este trabalho tem uma retôrica que coloca claramente o outro
enquanto mcmbro de uma etnia minoritária. estigmatizando. associando os agressorcs a "negros"' .
Apcsar de colocar uma declaracâo da polícia no sentido de que existem problemas com "todas as
ravas". logo a seguir lê-se:
"'
I de assinalar quc da análisc quantilativa resulta que efecttvamcnte não l'oram encontradas. eom Irequêneia digna de grande regisio.
designacôes étnicas (ver quadro em apêndice sohre etnia autor). inclusi\e liá pcriodos cm quc sâo quase inexistentes ou mesmo inexistentes
(l'iihlico cm 2003). Porém. como aferido já neste periodo de 1«W. e como scrá ohservado lamhéin mais á frcnte. o tema racismo ou
refcrêneias étnicas de ouira natureza estão presentes em momentos de destaque. sendo e^tes muito rcpercutidos na opinião púhlíca c em
alguns e.isos esligmatizantcs
149
Já no CC\/. as duas primeiras páginas vivem de acontecimentos do quotidiano. dotados de um
cnquadramcnto cpisôdico, centrados em assaltos, em acv'ôes cometidas por grupos. em locais de
grande visibilidade. como praias e comboios.
Sc considerannos aquilo que loi dito ao longo destas páginas. podcmos concluir. para já.
quc o trabalho desenvolvido pelo Púhlico e mais interpretativo. marcado ainda por um maior
rccurso ã opiniâo, nos espavos prôprios. O CM cinge-se mais ao relato dos aconteeimentos. Isso nao
significa. dc modo algum. que não haja tnarcas de processos retôricos c persuasivos. aconteee é que
eles estão "ocultados" pcla marca da citav'ão. directa, espeeialmente c|uando sâo controversos. ()
jornalista coloca os conceitos nas palavras de quem os profere. mas a forma como cncadeia o texto
e o expôe também pode criar estigmas.
3. 1998, a Justiva em discussão
Contexto
Neste scgundo pcríodo cm análise. a coníiguravão política nacional cstá alterada. sendo o
Governo liderado pelo socialista Antônio (iuterres, e eslando a pasta da .lustiva nas mâos de Vera
Jardim. No programa desle XIII Governo Constitucional. iniciado em 1995, já havia menv'ôes a uma
intencão: "No tocante â política de protecvao judiciária de menores. dcverao ser aperfeicoadas e
diversilicadas as formas de apoio tratamento, em actuacão eonjunta com as autarquias e as IPSS.
entre outras, distinguindo situavôes de disfjncionalidadc ou carcncia social de outras que se
relacionam com a delinquência juvcnil". No mesmo documenlo. também sc preconizava uma
avaliacâo das comissôes de protecvão de menores (criadas no início da década, em 1991) e que em
1997 já eram consideradas insulicientes para acudir âs situacôes de negligência e abuso de criancas.
Lste mesmo programa socialista também dava conta da necessidade de revisâo da Organizacâo
Lutclar de Menorcs. apontando para a premência de cneontrar no\as tbnnas de intervencão
relativamente aos menorcs infractores. Rcconhecc. assim. em 1997 que o sistema preconizado pcia
Organizavao Tutelar de Menores se encontrava em erise. mostrando incapacidades relativas ao
emprego do Direito c cumprimento das decisôes (Carvalho. 2003: 6).
Como vemos, importantcs documentos do foro da Justiva estiveram debate. Já em meados
de 1998 uma comissâo do Ministcrio da Justiva defende a necessidade de uma justiva diferenciada
para os menorcs delinquentes. L apresentada uma proposta de lei de tutela de menores quc lem
152
Se a delinquência juvenil chega ås primciras páginas dos dois jornais em temas difercntes, e
com abordagens igualmente desiguais. na eobcrtura de rotina, tambcm há dissemelhancas patentes
dcsde logo com uma observacão dos títulos c da linguagem usada.
Os títulos do CM centram-se mais cm accoes: por exemplo. Miítdos furtavam em Almancii.
QUARTETO DFD/CAIA-SE A FL'RTOS POR ESTICÃO ASSALTOU CLUBF DE VÍDEO.
ASSALTO AO "IIELEX KELI.FR" MARCADO PELA I 'IOLFXCIA. Miúcios cia pedreira voltaram a
atacar. "Oang" africano ataca nojardim e ASSALTARAM DUAS VEZES O MESMO ARMAZÉM.
No Púhlieo. embora também haja títulos como Roubavam telembveis e Um jovem esfola-cdes. há
lugar a títulos menos infonnativos e mais metalbricos com componente de fait-divers, como O
conto do vigdrio.
Como se centralizam mais nas accôcs. nos títulos do CM ao longo de todo o período há um
enfoque nos assaltos (19 vezcs). mas referem tambcm roubo. furto, violacão, assassinato, uso dc
annas brancas, disputa entrc gangs. trático de droga. No Púhiico. os títulos são marcados quatro
vezes pelos assaltos. enunciando igualmente rapto. assassinato. violavão. tráfico de droga e roubos.
Em ambos os jornais há um predomínio do cnfoquc episôdico. embora no Púbiico tambcm
haja lugar a um cnfoque temátieo. No CM não se encontrou uma única pcva com um
enquadramcnto temático. N'o Públieo, todas as primeiras foram alvo de uma cobertura temática,
bem como uma outra unidade de redacvão quc foi incluída a 4 de Outubro (no início do ano escolar)
na seccão Educacão. uma seccâo quc não é habitualmente usada para temáticas de delinquência
juvenil, com o título Assassinos na escola primdria. Assinada por Paulo Moura, em Washington.
esta reportagcm centra-se no problema recorrente da violêneia infanto-juvenil nos Estados Unidos.
A cobertura do Pnhlico pcrmite um maior debatc público. designadamente com a cobcrtura
do caso Bulger e desta referenciada peca dc Educavao. onde se abordam políticas públicas de
seguranca.
Sintese de 1993
A eobertura noticiosa do Púhiico. nos trabalhos dc primeira página. parece ter sido
resultante de "eabidcs". de acontecimentos como. por um lado. a divulgavão do rclatôrio do SIS e
do momcnto de tensão raeial e. por outro. de um cvcnto extemo. o Caso Bulger. Lstes
aconteeimcntos scrvem de mote para se ou\ ir especiahstas c potcnciar o debatc em tomo destes
faetos concretos.
151
Público e a breve no CM. A utilizavâo de z.onas secundárias mferiorcs no jornal destacou-se nos
dois periôdicos.
A nao assinatura dos trabalhos e um recurso em ambos jom_is. No Púhlieo metade das
assinaturas foram feitas por jomalistas mulheres, já no C2\/ em nove assinadas so uma tinha uma
marca feminina.
As políeias continuam a ser as fontcs a que os jomalistas mais reeorrem, havendo destaque
de fontcs como oulros media. judiciais e especialistas no Púhiieo e também vítimas no CM.
O furto é o crime mais vezes refercnciado no CM. que centra mais uma vez a sua
infonnaeão nos casos nacionais.
1 discussão sobre as reformas refiectiu-se nosjomais?
Apesar de este ser um ano marcado por mcdidas rclevantes. uma das primciras evidcMicias é
a ligeira diminuivão de primeiras páginas. De qualquer modo, nas respectivas páginas intcriores
destes trôs trabalhos está presentc a rcfercneia ao dcbate sobre a reforma legislaliva.
Comeeemos pcio Púhlico. Mostra duas primciras páginas temáticas, uma delas e assinada
por Leonete Botelho e resulta da publieacão de um estudo sobrc a delinquêMicia. c a outra sai no Dia
Mundial da Crianva. altura em que o (ioverno aproveitou para anunciar uma sene de medidas
ligadas â polítiea de justica de menores em risco.
() trabalho de Leonete Botclho Delinquência atravessa todus as clas.sef - tem uma
ineursão no dcbatc sobre a refonua do direito tutclar de menores. cm curso ncste ano. liiana
(îersão, que integrava na cpoca a Comissao de Refonna do Direito de Menores. c cra directora do
Centro de LsUidos Jurídico-Sociais. apadrinha uma tendência social quc nao defende o policiamento
ein todas as esquinas, mas sim a criav'ão de equipamcntos sociais. capazes de dar rcsposta âs
neccssidadcs de grupo de jovens dc mcios carenciados.
O "gancho" noticioso do Dia Mundial da Crianea'* traz mais enfoques no Pûblico. que
reílectcm direetamente algumas das matérias assinaladas anterionnentc eomo marcantes em 1998.
em matcria de direito de menores. Neste trabalho, que suscitou um longo destaque de seis páginas
assinadas por vários jomalistas e eom foco nas novas mcdidas de Justicca c criacão da CNPC.IR,
uma das fontes salientes é Joâo Pcdroso. na almra presidente da CNPCJR. \ comissâo não surge
apenas como fontc. mas também como alvo de notícia jomalística. na medida em que se abordam as
l'úhlico. 29 de Janciio, pág. I.
<) Dia Muudial da ('rianca MJige. assím, coino uma hoa rainpa de lancamenlo para o pivniotor divulgar mediilas quc assim lem unia maior
alenc.ão por parte dos mcJia cjue gostam dc assinalar datas c. coino tal, por parle do leitor. Molotch e I.ester chamaiu precisatnente å alencão
para datas que tradu/em oconências e que são utcis para dcmarcar leinpos e atencôcs. "L'm novo /.../>/v///V/,_,' reinf'onna aquilo que cada
happcninsi antcrior era: por seu lado. cada happenim; ohtém o seu sentido a partir do contexto em que está inscridi." (Molotch c I ester, I 'HIO
~~l
1.24
como objcetivo Educar para o Direito. abandonando a lcgislacão vigente. considerada dcmasiado
patcmalista, e que importa do Côdigo Penal eonccitos dc crime. O Executivo. tendo como tace
visívci Vera Jardim, neste contexto. defendcu a scparaeâo de menores infractorcs c menores
vítimas. bem como o regime de intemamento fcchado, o que foi polémico, por sc considerado
dcmasiado punitivo, mas quc acabou por passar a ser uma das medidas tutelarcs da Lei Tutciar
Educativa. em vigor a partir dc 2001 .
Lm 1998. foi ainda criada a Comissão Nacional de Protcccâo de Crianvas c Jovens em Risco
(CNPCJR). pcio Decreto-Lci 98/98 de 18 dc Abril.
Um relatôrio da Procuradoria-Gcral da República de Marvo de 1998 intitulado Sohre
Prevencdo Criminal. que aponta algumas tendcncias de criminalidade, dedica uma parte
considercávcl deste item aos "menores e jovens delinquentes". com aprescntavão de estatísticas
década a déeada da de 50 å de 90 (atc 1996). Em tennos estatísticos. rcportando-nos a dados da
PSP. é de assinalar que em 1998 foram identificados 3614 menores pela prátiea de ilícitos (um valor
superior ås 251 7 identificavoes em 1 996, ås 3565 em 1 997 c câs 3 166 em 1 999).
Em Lisboa. em Agosto. realizou-se a primeira Conferência Mundial de Ministros da
Juventudc, que contou com a presenca. entrc outras personalidades. de Kofi Annan. na altura o
secrctário-geral das N'acôes Unidas. Foram debatidos vários temas associados â condivâo de ser
jovem, entre eles os comportamcntos de risco. a violência juvenil. o consumo dc álcool e de tabaco.
as docncas sexualmente transnhtidas, bem como o emprego, a família e o casamento.
Por último. ainda na esfcra nacional, aqui fica o apontamento da estreia. no final do ano. do
filme de Leonel Vieira, Zona ./, que abordada a delinquência juvenil. a vivcncia num bairro e as
diferencas étnicas de uma das areas mais problemáticas de Lisboa. a Zona .1 ûo Bairro de Chelas.
Vem reforcar e refieetir a notoriedade e importância da temátiea.
A nível intemacional. em Marvo. há a referir o caso de dois norte-americanos de 1 1 e de 13
anos que dispararam contra um grupo dc cstudantes. numa escola no Arkansas, resultando em
quatro mortes e mais de uma dezcna dc feridos'
\
Padrbes de eobertura c/o.s doisj'ornais
A marca da primcira página faz-se accntuar. novamente, mais no Público (duas) do que no
CM (uma) e no interior as seceôes mais usadas no Púbiieo são a Sociedade e o Local e no CM
apenas a Sociedade, sendo de assinalar quc neste ano estc jornal utilizou scte vezes a última página
(nonnalmente página de grande visibilidade). No gcnero jornalístico, a notícia é o mais usado no
'"'
Um ano depois. no dia 20 de Ahril de \~i~~~). Dylan Klehold e h'ric Harns enlraram numa cscola de Columhme (I ittletou. Colorado) eom
annas de t'ogo e mataram mais de uma dezena de colcgas e uma prol'cssora, tendo provocado l'erimentos em outr.is pessoav
153
o tema da primeira página do CM não é um trabalho aprofundado. rico c trabalhado. na mcdida em
que não foi além do discurso de Vera Jardim durante uma conferência de imprensa. Lmbora o
trabalho apontc para causas. associadas ao abandono do lar e da escola ainda em idade preeoce, e
solucocs. mudanca dc lcis c mcntalidadcs, tcm um enfoque de certa forma negativista até pcio título
que se encontra no intcrior do jornal: DFLIXQUFXCIA JUVFX/L VFXCF SISTEM-Í". Ila uma
desvalorizavao implícita da atitude do poder político face â delinquência que é mostrada como
sujeito activo e vencedor.
lCsta linha de actuacão episodica é uma das marcas do CCUnestes periodos cm análise e cssa
mcsma linha tem reílcxo. ou será o reflexo. das pessoas quc cditam e escrevem, com sentido nos
seus leitores. como se podc afcrir do discurso de Manuel Catarino.
"A problematizacdo /'.. é um problema. Vamos criar tnais um problema
falando da prohíetnafizacdo? As coisas ndo cstdo separadas. Um acontecimento pocie
scr o rnelhor prefexto para se falar c/e um prob/ema c/ue com ele esteja l'tgado. Xdo
podemos separar o probíema cio acontecimento. O ticontecimento é um bptimo
pretexfo para falar do prohlema. Agora. é preciso ter alguih cuidado quando se
prohlematiza tie mai.s. Quando seproblematiza demasiado ninguém entende"
Várias deíinquêncius, vúrios jovens
Ainda no trabalho assinado por Leonete Botciho.. cxistcm outras abordagens da
delinqucMicia, que não apenas as políticas de justiga alrás mencionadas. c das quais passamos a dar
conta.
Divulga-se um trabalho de investigaeâo sobre delmquencia juvcnil auto-revciada. de
abrangcMicia intcrnaeional, sendo a parte portuguesa da responsabilidade do Centro de Lstudos
Jurídico-Sociais (CEJS). do Ccntro dc Lstudos Judiciais. e datado de 1993. mas mostrado
publicamente apenas em 1998. Contou com a autoria de Manuel Lisbca. professor e sociôlogo da
L'niversidade Nova de Lisboa. e de Eliana Gersão, directora do CL.IS.
A palavra Jovem antecede o título de primeira página Del'uwuênciu atravessa todas as
elasses. contextualizando assim o tipo de dciinquência a que se refere o jornal. O título de 29 de
Janciro indicia aspeetos muitas vezes esquecidos na abordagem da dehnquêneia juvenil e que tem
precisamentc a vcr coiu o facto de esta não estar confínada a classes deslavorecidas.
N'o interior, na Sociedade. a peca Mais de X() pt>r cento ja pccou demonstra que (^s
infractorcs e as infraccoes podem estar a scr mais correntes e transversais do que å partida se
'
i 'orreĩo t/a Manhã. 1 de I e\ereiro, pág. 5. Noticia.
156
suas competências. Para que ninguém clttrma na esquadra . título interior quc abrc o destaque de
seis páginas. dá conta de um certo clima de beneficio relativamente ás alteracôcs que se espcravam
com a CNPCJR e com a criavâo dc unidades de emergcncia para acolhcr criancas abandonadas. que
até ali acabavam por donnir cm hospitais c csquadras. e com o reforco do número de centros de
acolhimcnto.
ICmbora a delinqucncia juvenil, julgamos. deva ser visada num sentido em que.
frequentemente. estamos pcrante jovens infractores simultaneamcnte vítimas. certo é que o debate.
como já verificámos. seguia nesta altura na urgência dc separar as águas. ou seja. as vítimas do
infractores. Lsta apontada carência legislativa também é referenciada ncsta reportagem.
Ncste âmbito, a voz do magistrado Rui Lpifânio. na época membro da Comissão para a
Refonna do Sistema de Execueâo e Penas c Mcdidas. que se ocupou da refonnulavão da tutela de
menores, alinha no sentido de considerar o sistema existente dcmasiado protcccionista e
ultrapassado. eonsiderando-o até kafkiano. Demarcando-se das críticas. Rui Epifânio diz que não se
cstará perante um "cúdigo penal dos pequeninos", porque não se pretendeu baixar a idade da
inimputablidade. mas sim "responsabilidade perantc a justiva", com o objectiv o de "educar para o
direito". Cunha Rodrigues. na altura procurador-geral da Rcpública. apoiou a proposta que apelidou
de "pedrada no chareo". Mas. nem todas as voz.es presentes no Púhlieo são concordantes com esta
posicâo. Outro magistrado. Antônio Cluny, manifestou a sua preocupavão face â presenva de um
"Estado-polícia". Uma posigão intennédia surgc com a presidcnte ã época do Instituto de
Rcinsereão Social (IRS), Nadir Bicô, quc encontrou pontos de evolucão positiva. designadamente
no funcionamcnto do IRS, e também contraproduccntes. pois podia vir a ser dada a ideia de um
aumento das infraccôcs praticadas por jovcns.
l'ma das vozes destacadas foi a de Vera Jardim. que apontou no Público para a necessidade
urgentc de uma reforma na legislacão tutciar dc menores, demarcando-se da idcia de que a proposta
decorrentc do trabalho da comissão era um decalque da legislavâo norte-americana.
0 Públieo prossegue ainda com um grande enfoquc no debate que se assiste nos Estados
Unidos e também em Franva a proposito da dclinquência juvenil, em tomo dos julgamentos dc
mcnores como se de adultos se falasse e também sobre a responsabilizacâo penal de menores
infractores.
Atentemos agora sobre o CM. As políticas de justica são abordadas de uma fonna episôdica
através de uma primeira página que noticia uma conferência de imprcnsa do ministro da Justica.
Vera Jardim c a voz noticiosa destacada na primcira página do CM. com letras totalmente em caixa
alta, distribuídas por três linhas, oeupando um quarto da página. Comparativamentc com o Público.
"''
f'íihlict). 1 de Junho, pág. 2-7. Grande reportagem.
155
Incoerências entre texto e imugem
Imagem 4: página 14 do Púhlieo de 29 de Janeiro de 1998
Mai.-ile o() |iur rrnto já |H'nui
.(ini "».- olhos na niornui ilo .lireilo ilr iiiijnniij-
De salientar que apesar de o trabalho o\o Público não ter qualquer rcferência étniea e de sc
rcportar a um estudo que de certa forma invertc preconeeitos. a imagem fotográfica que suporta o
texto apresenta trcs jovens em espaco exterior aparentcmente uma estayão ou um apeadeiro de
comboios . sendo que o que cstá mais dcstacado é um jovem de cor, eslando essa mesma imagctn
acompanhada de uma legenda onde se 16: "A delinquência juvenil em Portugal é muito
'(leInocrática,"' .
I'sta preocupavão e sensibilidadc cnconlrada no te.xto acabaram por não con-esponder ao
elemento gráfico quc a acompanha e que pode ter sido escolhido seni cuidado. deixando que as
conslmv'ôes mentais de quem terá scieceionado a imagem viessem contradizer as palavras. Para
além disso. apesar de a fotografia ter um enquadramento que apresenta os jovens de certa forma
resguardados. enquadrados pelas copas das árvores. estes podcm scr identilicados.
I'tth/ict). 2K' dc Janeiro. pág. 14. A csle proposito. iipraz refcrcnciar o número 101 t\o^ Princípios e Sormas dc C'onduta l'roMssional t\i"
Píth/ico: "() diálogo dinâmico que de\c cxisiir cuirc foios e lcxto não admitc contratlicoes (lagranlcs cntre amhos. A fotogiafia nâo se dc\e
rcdu/ir a um mcro cí'eito formalista nem dc\c ser titili/ada apcnas porque é original. emhora desl'asad: úo seutido do tevti''"
15S
poderia pcnsar. do quc å partida alguns pais poderiam pensar. O antetítulo que antccede este
trabalho (Delinquêneia /uvenil exi.ste em todas as classes sociais sem olhar ao sexo) também dá
conta de uma outra realidade. a de que ao eontrário do que se poderá pensar este nâo é um campo
meramente masculino.
Curioso é olhar para a linguagem do título "já pecou". uma imagcm que convoca os
preceitos religiosos. Numa situavão em que sc aponta para uma delinquência entre os nossos. na
linguagem simbolica tendcnte mais a situacâo dc desvio e não para o ilícito em si mesmo.
"
A pequena criminalidade entrc os jovens está muito mais •democratizada' do que se
pcnsa7'", atesta-se. Para além de sc apontar uma realidade bem diversa da que estamos habituados a
enfrentar, quc rcstringe a delinquência apenas aos estigmas sociais de classes mais desfavorecidas.
dá-se conta afinal que não há discriminacoes de sexo, classc social ou escolaridade. isto, apesar de
até agora tennos trabalhado com dados que indiciam que os rapazes sao mais associados aos
fenômenos da dehnquência. sendo esta uma tendcncia que se continua a verificar nas pevas de 1998
(ver quadro em apcndice: Sexo do autor).
O cstudo do Centro de Estudos Jurídico-Sociais. a propésito das idades, lanva dados que
apontam para que "80 por cento dos jovcns cntre os 14 e os 21 anos já eometeu. pelo menos. um
facto passível de processo criminal ou tutciar. Sô que as sanvôes não são iguais para todos",
apontando-se \~\o texto para o facto de haver tendência para que "pcssoas com algumas
caraeterísticas tenham mais probabilidades de serem selcccionadas como dclinquentes pclos meios
sociais dc filtragem". Para alcm do estudo em si mesmo, o Públieo contactou a autora do estudo.
Eliana Gersão. quando confrontada com a perplexidade dc ser sempre o mesmo tipo de infractores a
chegar ás estatísticas judiciais. sublinha: "O que parece é que há tendência para que as pessoas com
algumas caracteristicas tenham mais probabilidades de serem seleecionadas como delinquentes
pelos meios sociais de filtragem. nomeadamente as polícias, o Ministério Público e os tribunais".
Nestes excertos é possível verificar que o discurso do tcxto segue numa tcndcncia de desconstmv'ão
do estigma da associavão da delinquência juvenil apenas aos jovens oriundos dc meios pobres e
classes sociais mais baixas'".
'
I'ûhiico. 29 de Janeiro. pág. 14. Reportagem.:Na senda do que já foi rcfereneiado na revisão teôrica. o csludo dnulgado pclo olhar do Pt'thlico mostra que a juventude lem uma
propensão para o desvio. para a transgressão. uma ve/ que se referencia quc mais de S0°o dos jovcns inquindos rcconheceu que já tinha
eomelido pelo menos um acto punido pcla I.ei. Aqui é de assinalar uma imponante marca jornalísiiea. eom o recurso ã quantificacão. e
tamhêm uma activavão do sujeito suhcntendido. os jovens enquanto tendencialmente desviantes.
15"
Imagem 5: página 2 do Páblieo de I de
Junhode 1998
Imagem 6: página 3 do Páhlico
de 1 deJunhode 1998
Para que ninauém
durma na esquadra
B,™SK;
Ualiarroin a "iinpimiiladed(i crinie juvrnil
Imagem 7: página 4 do Páhlico de 1 de Junho de 1998
uticai'. edurar. educar
160
Luís Francisco, olhando para este trabalho. ficou perplexo:
"O problema é que nb.s tentamos que as fotografias que ndo scio feitas
directameníe sobre o ob/ecfo cia notieia ndo permifam identijicar as pessoas.
Obviamente, se estamos a f'alctr de um gang e se estci na fbtografia um miúdo eie é
identificado com o gang e ndo tem nada a ver... Por isso, tentamos que eles ndo
se/am identificáveis. Mas é um problema complicado, porque quem eseolheu a
fotografia ndo recebeu uma boa expiicacdo e perdeu o contexto da mensagem... [...]
Tctmhém é dificil eneonírar fotografias sem aiguém. se ndo sb fotogrcifdvamos
objeetos. Is.so faz paríe daquele número de erros em que caímos. Embora ndo sej'a
aceitávei."
L admitiu que quando se quer ilustrar trabalhos. por exemplo na Cova da Moura. é possível
ir buscar fotografias de arquivo. quc podem entrar em contradiyâo com o texto. O mesmo
responsável adnhte ainda que. do ponto de \ ista jomalístieo. os estcrcôtipos são ôptimos símbolos e
meios para fazer chegar a comunicayâo ao receptor:
"A prbpria formalidade do processo interno cie utna redaccdo leva a isso.
Fmbora nessa foto hci/a a preocupacdo de distcincia, mas cá estdo dois negros: Isso é
um problema nosso e de. outros jornais.
Os esterebtipos sdo excelenfes maneiras cie fazer chegar a comunicacdo ds
pessoas e sdo horríveis na maneira como fazcmos chegar a eomunieacdo ds pessoas.
O problema é que se cria um círculo vicioso em que j'ci ndo se consegue sctir. E um
probiema o /ornalisfa ter defazer com c/ue a informacão se/a apreendida cia melhor
maneira por quem lê e ao mesmo tempo ndo permitir que essa informacdo seja
viciada. E este é o típico cctso em que 'arranja-me uma fotografia cle miúdos da
rua
'
... e eá está... E a t'magem que foda a gente fem"
159
Os títulos ALASTRA VIOLFXCIA JUVFXIFh c DFLIXQUÊXCIA JUVFXII. VFXUF
SISTEMA' do C\\/de 7 dc Levcreiro são catastrôficos. 0 primeiro. que ocupa um quarto da primcira
página. scndo grafado a três linhas, abre com o verbo "alastrar" que transmite a ideia de que a
delinquência se estende. nâo se sabcndo bcm sc no tcmpo sc no espayo. deixando-se espayo de
manobra para o que o leitor quiscr pcnsar. DELIXQUFXCIA JUVFXIL VFXCF SISTFMA. quc
encima a peya no interior. c igualmcnte alarmante não sô porque se dá conta de que o sistema a
ordem e o garante da ordem- é vencido pela delinqucncia, como tamhém pelo facto de mesmo ao
lado do título existir um pôs-título Reconhece o ministro da Justica. As palavras do ministro sao
dramatizadas e dâo conta da incapacidade c\o sistema para dar rcposta.
Outras coherturas, oatros tracos
Olhando para os valores da análise de conteúdo referente a este período. c possivel pereeber
a existêneia de um valor algo elevado de homicídios. espccialmente no Público. Dos 12
referenciados no Públieo, cinco reportam-se a casos no cstrangeiro: Rússia. ICUA - Arkansas (duas
peyas de Bárbara Reis. em Nova Iorque) e Pensilvânia e .lapão. Neste jomal. em Portugal
assinalaram-se assassinatos em Coimbra. Lisboa. Vila Lranca de Xira e Pôvoa de Varzim. No CC\/
há referências apenas a casos em Portugal: Coimbra. Aveiro. Alvcrca e Vila Franca de Xira.
Outro dado quc parece ser importante de reler é o facto de as foreas policiais. idcntificadas
neste período como as mais vezes citadas em qualquer um dos joinais, estarem ausentes dos
trabalhos de primeira página. que sao marcados pcias vozes dos políticos e dos especialistas.
Stnîesede 1998
Como já assinalámos, nas três primeiras páginas deste período aborda-se a problemática da
refonna legislativa ao nível do direito de menores. Porém, a eoberura do Público c temática
enquanto a do CM é cpisôdica. centrada num cvento infonnativo.
Mais uma vez. o Público dedica duas primeiras páginas ao tema e o CC\/ tica-se por apenas
uma página. O Púhlico destaca, por um lado. um estudo sobre delinqiência juvcnil, num trabalho
assinado por uma jomalista, e, por outro. aproveita o Dia Mundial da Crianca para. através do
trabalho dc vários jornalistas. chamar â primeira página questoes relacionadas eom a delinqucMicia
juvenil, ouvindo especialistas. políticos c pcssoas eom contributos para o debate público das
políticas de justiya de menores. De sublinhar que este periôdico segue uma linha de eontradiyão
'
('orreio Ja Manhã. 7 de 1 evereiro, pág I
('orrcio Ja Manhîi. 1 de Kc\crciro. pág V Nnticia.
162
A mesma incongruência entre texto c imagem está patente no trabalho do Dia Mundial da
Crianya intitulado Para que ninguém durma na esquadra' , no qual as primeiras duas imagens na
página 2 c na 3 são mostradas sem quaiquer limitacão de reconhecimento dos jovens, jovens
"negros", ao contrário do quc sucede na página 4 onde a imagem de um jovem "branco" foi
distorcida. Existem ainda duas fotografias tipo passe de dois rapazes "braneos", estrangeiros.
completamente identificáveis. com um ar somdente. quc ilustram os autores de um assassinato de
uma professora nos Estados Unidos'5. É corroborada a ideia de van Leeuvven (1998: 217), quando
diz que os estrangeiros são mais facilmente nomeados e identificados. Podcríamos dizer mais, dizer
que o outro seja ele estrangeiro ou aprescnte qualquer outra diferenya que faya dele o outro é mais
facilmente identificado e nomcado.
O espayo que CM dedica ao texto e fotografía é francamente menor do que o dos dois
trabalhos já assinalados do Públieo. estando neste caso, no inlerior, pcrante uma meia página, com
uma fotografia de dois policias a vigiar uma escola, ondc se destacam as criancas dcntro do
gi-adeamento e um caitaz com alusôes å seguranca. O resto da página c ocupado com notícias c
breves de crime.
Imagem 8: primeira página do CV/de 7 de Fevereiro 1998
4
Píthlico, I de Junho. pág. 2-7. Grande reponagcm.75
Dc qualquer modo, importa recordar quc os dados recolhidos na análise de contcúdo rcvelam que em 1998 a represcntacão étnica dos
autores é ainda menos expressiva do que em 1993 (ver quadro em apcndicc: Origem étnica dos autores). embora haja uma prevalência dc
rcpresentacôes associadas a ncgros no 0/(12.2%) e de africanos no Pũhlico (5.1%).
161
Antônio Guten'es. Lmbora não seja possível dizer pcremptoriamente que Lernando Gomes foi
demitido em consequência dos acontecimentos do Vcrâo dc 2000, ccrto é quc essa foi a ideia que se
lixou na opinião pública.
A expressâo da inscguranya dominou este período. Lsta ideia terá sido dc tal fonna marcante
que o Relatôrio de Scguranca Intema -- 2000 apresentou como primeiro e destacado ponto a
inteipretayåo da criminalidadc e do sentimento de inseguranya: *'9'om efeito. a questao da
inseguranya e, em particular, da insegurany.. urbana -
expressiĩo utilizada para designar quer o
medo do crimc, quer a falta de adesâo ao sistema normativo da sociedade, isto é. a manutenyao da
ordem social ascendeu â categoria de preocupayão nacional em todos os paises descnvolvidos". A
inseguranya é essencialmente associada âs áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. com incidência
na dciinquência juvcnil: 'i'aee aos vários sinais de inseguranya que ti.eram maior incidêneia nas
Areas Metropolitanas de I.isboa e Porto. foram desenvolvidas aeyôes de rccolha de informayôcs
rclativas ã criminalidadc grupal, particulannente sobre o fenômeno da dciinquêneia juvenil". Lste
mcsmo documento dá conta do facto dc o númcro de identificados como menores de 16 anos ter
eescido em 8,5% relativamente ao ano anterior. sendo que os indivíduos com idades entre os 16 e
25 anos representam 28% do lotal.
O subintendente Alexandre Coimbra atribui uma grandc importâneia mediátiea ao caso
CRLL, que na sua opinião potenciou o fenômeno da delinqucMicia juvenil, ou pelo menos a sua
visibilidade públiea, devido å mediatizayâo de que Ibi alvo.
"Sim. principalmente nestes últimos r anos [as repercussbes na comunicacdo
social], principalmente por causa cio fenbmenos do gang dct CREL. em Junho de 2000.
que feve uma repercussdo impressionante na comunicacão social. e em que nbs
observcimos mesmo deferminados tipos de grupos. de jovens; porlanto abaixo cios 16
anos. que peio que viram na eomunicacdo social e pelo.s efeitos t/ue aquilo teve pctra o
grupo cm questdo,... que quiseram no fundo procurar tamhém a sua saícla do
anonimato e procurar, portanto. afravés de alguma prática <lr crime mai.s violento,
também sairetn... serem considerados herbis no seu bairro e ao mesmo tempo saírem
do anonimalo e aparecerem na comunicacdo social como responsdveis por
determinados tipos dc ctcto.s mcu's violentos, quer dizer. ou otttro género?'
Dc destacar ainda que o Relatôrio de Seguranya Intema - 2001 aponta para a associayão
entre o sentimento de inseguranya e a delinquência grupal, quc cmbora tenha crescido 34% em
relayao a 2000 regista um ercscimento mcnor do que nos dois anos anteriores. O pertil destc
164
entrc o que é o discurso escrito dc contraposiyão aos estigmas, mas "trai-se" na imagem, quc
continua a \ eicular o estigma do dclinquente pertencente a ciasses mais baixas e de cor.
() CM. numa peya que não está assinada, centra a sua primeira página numa conferência de
imprensa. onde se destaca nos títulos a incapacidadc do sistema político para travar o aumcnto da
delinquência juvenil.
4. 2000, uma cobertura extraordinária; 2001, ainda com cobertura evtraordinária, mas
mais estável
O ano 2000 tornou-se num dos marcos das actividades de delinqucncia juvenil em Portugal.
em consequência dos dois primeiros episôdios de impacto nacional: o assalto ao comboio da linha
de Cascais e o Caso CRLL*. Estes dois episôdios-
particulannente o último - fizeram com que,
como também já rcferimos, estc tcnha sido um momento politizado, num scntido cm que fez
aparecer uma série de discursos políticos. com marcas difcrenciadas å direita e â esquerda. Poderá
dizcr-sc que na esfcra política se destacaram. por um lado. os discursos de Paulo Portas (líder CDS-
PP) quc na época tinha um peso e intervenyâo políticas muito fortes -
c de Durão Barroso (líder
PSD) e. por outro, do socialista Fernando Gomes (ministro da Administrayão Intcrna). Os dois
primeiros tiveram um discurso marcado pela reclamacão de seguranya e da diminuiyão da
menoridade penal c Paulo Portas dcscnvolveu uma vcrdadeira cruzada anú-graffiti. cspecialmente
em 2001 . Lsta accão refiecte o dramatismo em tomo da juventude e dos seus interesses. scndo que.
nestc caso, os graffitis são associados a jovens rebcides, com alguma propensão para o desvio. Do
discurso de Paulo Portas convcin ainda recordar que tinha como uma das suas bandeiras a defesa da
diminuiyão da idadc de mimputabilidade dos 16 para os 14 anos.
Já Fcrnando Gomes, acabou por scr ridicularizado na praya pública. como já vimos em
Tempos em anáiise: uma escolha intencional, mas que aqui retomamos. sendo "salv o" por Antônio
Costa. ministro da Justiya, e posterionnente substituído na pasta da Administrayâo Intema por Nuno
Sevcriano Teixeira. que acabou por se manter em funyôes até ao fim do governo socialista de
s
Ainda na primeira metade do ano 2000, em especial no periodo que anteccdeu o Verão. as notícias já comecavam a dar conta de acios de
delinquência juvenil. designadamentc assallos aos comboios ua linha de Cascais A \isihilidade crcscente desle lipo de t'enômenos nessa
época cndurcccu o discurso cm torno da violéncia grupal. da inseguranca c da inimputahilidade criminal dos jo\ens atc aos lft anos. O ponto
alto surgiu na madrugada dc 19 para 20 de Julho. quando um grupu de jovcns lancou o pãnieo na Circular Regional l.xterna de I.ishoa
C'RFI.. em 1 i>hoa. Levaram a acabo \arios assaltos e agrcssôes a pessoas na \ia pública e nas bombas de gasolina. encontrando-se entre as
vitimas a conhccida actriz l.idia I ranco. I)c assinalar ainda que as autondades policiais eonsideram que os pcriodos de Verão são
especialmentc problemáticos. uma ve/ que os jo\ens já não esião na escola e muitas vezes encontram-sc cm grupo e. por vczcs. não tém
opcôes dc diversão. factores que potenciam acto> de violência em conjunto.
163
Padrbes cle cobertura dos dois jornais
Vamos iniciar a análise dcstc pcríodo mais alargado pclos últimos seis meses de 2000.
Assinala-se. desde logo. o aumcnto das unidades de redacyão eneontradas em catla um dos
periôdieos. O Púbiico ascendeu a 77 c o CM a 163, o que signifiea um crescimento na ordem (\o
dobro das unidades em cada um dos jomais relativamente ao período anterior. o que é facilmente
explicado pcias consequêneias que o Caso CREL tevc na produyao noliciosa da dehnquência
juvenil.
As primeiras páginas também dispararam, sendo contabilizadas 17 para o Público e 19 para
o CM. N'o primeiro. as reportagens ou grandes reportagens e as notícias são géneros destacados,
enquanto no CC\/ continuam a prevalecer as breves e as notíeias. De assinalar ainda no Públieo o
recurso ã opinião c carta de leitor e no C"\/ a cartas dc leitores. As pecas secundárias em zona
superior prevaleeem no Púhlico. quc também apresenta percentagens interessantes de unidadcs de
redacyão únicas em cada página e peyas principais. O outro diário centra-se em secundárias em
zona inferior e também são rclevantcs os números de peyas principais. Pela primeira ve/. unporta
destacar eerca de 30% de utilizayão de imager.s em cada um dos jomais.
Este é entre os cinco pcríodos em análise o mais diversificado em relayão a fontes. embora
ainda perdure uma percentagem considerávci dc trabalhos scm fontes referenciadas Púhlico com
21,7% e CA/com 33.9% (neste caso a pcrecntagem mais baixa dos cinco períodos ncste diário). As
fontes polieiais continuam a ser as mais utilizadas (17,1% no Pnhlico: 23.2% no UM). Se
eomecannos a reunir as difcrcntcs categorias de fontes por grandes grupos conscguimos chegar a
semelhanyas. Olhando para a anexayâo das governamentais e políticas, ehcga-sc a pcrcentagens
muito parecidas nos dois jomais. cada um deles com cerca dc 10%. 0 relevo dos espccialistas e das
vozes dos vizinhos. amigos.familiares c tcstemunhas oculares atingiu valores interessantes e
prôximos nos dois jornais.
O modo eomo as foryas policiais são retratadas neste período sofreu algumas allcrayôes em
relayâo a outros momentos anteriores (ver quadro em apêM.dicc). No Púhlico. cerca de metade dos
trabalhos não apresenta qualquer refcrcncia ao modo de actuayao e 35.1% mostra uma polícia
actuantc. Porém, o somatôrio dc situayôes quc aprescntam a políeia erquanto vítima de violcncia.
associada â inseguranca c quc procura o autor apresenta um percentua na ordcm dos 10%. o que,
aliás. também acontece no CM. No CM. quase 50" b das referências mostram as foryas dc scguranya
em acyão e 32.5% nâo tiin qualquerreferência.
Pela primeira vez. já no pcríodo dc 2001. surge um padrao difercntc na idade, eom a faixa
etária dos 12-16 anos a ter alguma expressão no Ptihlico. com 25.0%. um dado que importa reter.
uma vez que este é o período de idade que â face da lei insere a dclinqucncia juvenil. Porém, no
166
delinquente situa-se numa faixa ctária entre os 16 e os 24 anos. são homcns c recorrem å coayao
fisica para tingirem os seus lins. A esta criminalidade está ligada a delinquência juvenil, associada a
crimes ligados ao patrimonio. Este documcnto assinala que em 2001 se assistiu a uma diminuicâo
de 6% dos jovens dehnquentes identificados. comparativamente com 2000 (Lisboa tcm uma
diminuicão dc 30.6%. o segundo na lista. o Porto. aprcsenta uma acréscimo dc 5$"o e o terceiro.
Setúbal. também cresceu, nestc caso 16,2%).
Ainda a nível intemo. cm 2001. há dois factos a destacar. A cntrada em vigor a 1 de Janciro
da Lei de Protecyão de Crianyas e .lovens em Perigo (Lei n.° 147 99 de 1 Setembro) e da Lci Tutelar
Educativa (Lci n.° 166 99. de 14 de Setcmbro). E ainda a publicayão a 9 de Janeiro de 2001 da
Resoluyão do Conselho dc Ministros n° 4 2001 quc criou o Escolhas Programa de Prevenyâo da
Criminalidade c Inscryão dos Jovens dos Bairros mais Vulnerávcis dos distritos dc I.isboa, Sctúbal
e Porto.
A nívcl internacional, distingue-se em 2000 o comeyo da Iniciativa Comunitária Urban II,
que tinha cntre as suas acyoes prioritárias a requalificayão de áreas dcgradadas. integrayão dc
minorias e prevenyâo da dclinquência. 0 programa de aeyâo Juventude 2000-2006. tambcm uma
iniciativa da Liiião Europeia, vem indiear que a juventude comeya nesta altura a estar na agenda
europeia. A iniciativa teve como objectivo facilitar intercâmbios. encontros e debatcs entre os
jovens. dando-lhes contactos com o voluntariado e a participayão activa na cidadania. Já em 2001.
surgiu o Livro Branco sobrc a Juventude.
Não poderíamos fechar esta introduyão sem lembrar que em 2001 foram libertados sob
anonimato os dois autores da morte de James Bulger. contando na altura com 18 anos.
Aproveitando esta referência dcstc caso internacional, que já foi abordado anteriormente.
convocamos uma referência de Cnstina Ponte: "De 1995 para 2000. o tratamcnto habitual da
marginalidade juvenil e da criminalidade (a sua constmyão como insolito. relativamente raro. e
proveniente sobretudo das agências intcmacionais) dá lugar cã cobertura dc casos do espaco
nacional. cm cidades e em subúrbios" (2005: 253). Lfectivamente, e atc agora, o caso internacional
que apareceu nas primeiras páginas analisadas foi o Bulgcr, em 1993, sendo quc cm 1998. 2000,
2001 e 2003 as primeiras são dominadas por assuntos intemos. Se nos outros períodos analisados.
os acontecimentos cm Portugal sao os dominantes na cobcrtura de rotina, nestcs scis meses de 2000
atinge os 97,4% no Púhlico c os 98.8% no CC\/ c nos primeiros meses de 2001 chega aos 72,2% no
Público e aos 98.8%, no CM.
165
Portas e também critica o ministro Pernando Gomes por dcclarar que vai "agilizar as detenyôes e os
julgamentos". Estamos aqui na presenya de um jornalismo de contrapoder.
No artigo de 19 de Agosto, o jornalista apelida este caso -
que dominou as notícias de Verão
de "pirômano" e critica especialmente Femando Gomcs c aquilo que eonsidera serem as
'iivahdades estéreis" da PSP e da PJ' 9 A palavra "gangs" que é chamada aos titulos praticamente
nâo c usada nos artigos, surgindo apenas duas vezes. O uso nos títulos atesta a carga simbôlica quc
acarreta o uso de tvgang" e não de grupo. por exemplo. Gang tem uma conotayão muito mais
negativa. no sentido que se refere a grupos com algum grau de organizayao. que se identificam com
um lugar e que praticam ilícitos de forma regular. Mas. como vimos na introduyão tcôriea ao tema.
é dificil definir se um conjunlo de pessoas pertence apenas a um grupo ou a um gang. Neste caso, o
uso das aspas podcrá significar isso mcsmo, o jornalista não quer assumir que se refere a um gang.
afastando-se de certa fonna das certezas avanyadas na opinião pública, de que este era uma caso de
gangs e, como tal, dramatizado.
Olhar para estes títulos faz ressaltar que a opinião no Público e estes títulos quase poderiam
constituir um resumo dos acontecimentos, denotando a importârcia de valores-noticia dc
constmcão: a ampliayão c a dramatizayão, como já referido no enquadramento teôrico.
Primeiro, surge a indicayão de que algo poderia vir a passar-se. há uma marca de previsão, o
segundo e o tercciro títulos já apontam para a inerente realidade social de exclusâo dentro dos scus
espayos guetizados e para a ideia de o acontecimento ser ultrapassado.
Os três últimos títulos já se referem a todo o clima de incerteza judicial quc marcou as
detenyoes de jovens sobre os quais recaíram suspcitas dc cstarem envolvidos nos assaltos da CRLL.
assim como å acyâo política incrcntc a este caso. Os dois ministros cm causa ftítulos 5 e 6J sâo
Femando Gomes e Antônio Costa. ambos criticados.
Dc assinalar que entre estes seis títulos se destaca a nomcayão c idcntiticacâo das duas
iiguras públicas. uma pelo cargo político (Femando Ciomes foi o ministro mais mediático neste
período) e a outra pelo nome. ao contrário do que acontecc com os anônimos generalizados como
"gangs". "pretos" c o subcntcndido Eles no editorial de 21 de Julho [titulo 2].
Neste espayo de opinião ao mais alto nívcl na hierarquia intema de um jornal, o editorial de
21 de Julho c assinado pelo préprio director José Manuel Fernandcs. O cditorial comeya desta
fonna:
"O Caso CREL foi ittn caso tipict) em i/nc .... policias anJaram iimas contia .... otttras. hst> acontac nntitus vczes. porque. infciizmcnte. os
jornais... c i/itasc o cfeilo invcr.w Jos miúJos i/iie qucrein entrar nitni grupo no hairro. sc nâo liveretn rt>u;\is Jc nĸirca ndo cntram no
grupo. aqiti. as po/icias. sc iicĩo saircin rcsultaJos nos jornais, não hriiham. Dcpois. amla ntJo â gite.ro para vcr i/itent tc: o i/itc". salienta o
inspector-chefe Olegário Sousa.
169
Púbiieo continua a ser mais destacada (36.1%) a caracterizayão sem marcas de idade. O CM, por
scu lado. apresenta 40.3% de jovens entre os 16-21 anos. sem marcas de idade (15,8%) e mistura
12-16 e 16-21 anos com 14.4%. No apôs CRLL. diminuiu a prescnya de jovens autores cm imagcm.
De assinalar que no Público o crime de homicídio (a par do de furto) aprescntou a tereeira
percentagem mais elevada do período, com 1 1,8% (o mais vezes citado foi o dc roubo com 19.6°., e
o scgundo o de dano com 1 3.7%»). ^* no CM as ofensas contra a integridade fisica ascenderam a uma
percentagem de 17.3% (sô ultrapassadas pelo roubo com 31.7%).
4. 1. 2000, ama cobertura extra-rotina
Lstc é um botn pcríodo para estanuos atentos â possível ampliacão dos acontecimentos c â
existência de pânico moral.
2000 no género opinião
Uma marea que dá conta da excepcionalidadc na cobertura é o facto de os géneros
jomalísticos de opiniâo aparecem. em maior quantidade do que nos anos anteriores. no Púhiico.
Surgem todos na época de Verão. a mais intensa rclativamente aos acontccimentos. e têm os
scguintes títulos:
/. Vêm aí os "gangs"
2. Fechados na rua
3. Depois do apocalipse
4. O critério cle serem pretos'~
3. Os "gangs". o ministro. oj'uiz e as policias'
6. A responsahilidade de Antbnio Costd
Os dois artigos de opiniâo em que se utiliza ^gang" foram escritos pclo mesmo jornalista.
quc sc demarca no primciro artigo da política sccuritária reclamada por Durão Barroso c por Paulo
"'
Piihlico. 1 de Julho. pág. 12. Artigo do jornalista F.duardo DãmasoS!i
Piihlico. 21 de Julho. pág. .V l.ditorial."'
Púhlict). 24 de Julho. pág. 1 1 Artigo dc personalidade extema.':Pithlico. 15 de Agosto. pág. s Fditonal.
''
Pi'thlico. 19 de Ago-ao. pág. 7. Artigo do jomalista Iduardo Dámaso."4
Píthlico. 19 de Setemhro. pág. 14. hditorial.
167
CM
6 . 'Quadrilh a dos Montes'
desfeita no A fentejo''
7. Jovens espaneam até á morte na Brandoa~
8 \ IOLÊSCIA VI LIX/IA DE CASCAIS"
9. PSD propãe fim da impunidade dos jovens delinquentes*
10. REFORCO POLICIAL VI LISHA'
Sâo vários os apontamentos implícitos em eada um dos títulos e na globalidade dão eonta de
algumas das problemáticas em tomo destas qucstôcs. Um dado que parece sobressair em ambos os
jornais é. mais uma vcz, a prescnya dominante da actuayão colectiva, ampliada pelos termos
"gang". "quadrilha" e "jovens espancam", que manifestam um sujcito activo de carácter colectivo.
O carimbo espacial urbano é também transversal aos dois periôdieos, bem como a inscguranya e a
reposiyao de seguranya.
Depois da idenlifie_ieão destes padroes, olhemos para cada um dos jornais.
Ima»em 9: primeira página do Público de 2 de Junho de 2000
( arreiotla Vailllã. 4 dc Julho, páti- 1.
( 'orrcio Ja Mtinhã. 9 de Julho, pác. 1 .
( 'nrreio J<i Manhã. 16 dc Julllo, pág. 1 .
'"
i Orreio Ja Manhã. 1 7 de Julho. pág. 1 .
i 'orreio Jti Manhã. l') dc Julho, pág. 1 .
170
"Ouvi pela primeira vez a expressdo da boea de uma amiga, educadora de
infcincia nos sttbúrbios. Xdo percebi logo o sentido: 'Fechados na rua '2 Sim,
feehados na rua sdo os miúdos. muitos deles criancas. que ndo têm para onde ir
quando acabam as aulas e os pais ainda ndo regressaram do trabalho. As casas
estdo fechadas e eles ndo podem entrcu: Fstdo. cotno os prbprios dizem. fechados
na rua .
Os acontecimentos reeentes, a erupcdo da violêneia grupal. a mu/tiplicacdo
dos noticiários sobre os 'gangs'
que puluiam nas periferias recordaram-me a
expressdo".
Lste enquadramcnto centra a idcia de que as soluyôes estão mais prôximas dos sistemas de
assislência ã infância -
a cscola c a fanniia do que da falta de policiamento. Lste editorial dá ainda
conta do abandono quc os jovens sentem, da falla de alternativas a um modelo de vida na rua. nâo
apenas na rua no sentido fisico mas também no sentido de auscncia de lar.
2000 nas primeiras páginas
Seguem-se os títulos das primciras páginas antcs de ter ocorrido o Caso CREL. Os primeiros
cinco são dc páginas do Púhlico e os últimos cinco correspondcm ao C"\/. Percebe-se. mais uma
vcz. que este é um ano distinto dos outros. porque logo no início do primciro mês em aiicálise há
mais primeiras páginas em cada um dos diários do que em cada um nos anos anteriores. ICstc
enfoque dado ao assunto pareee indicar uma espécie dc preparayâo para o que ia ocorrer na CREL.
Os lítulos já dão conta dc um ambiente de crescente aumento da delinquência juvenil, com Ibeos de
violência muito centrados na Grandc Lisboa e na inseguranya.
Púbiico
1 . Viagem ao interior dos 'gangs' da Grande Lisboa
2. Crime juvenil estú a descer
3. Crime jovem dispara em Lisboa^
4. A umento dos pequenos crimes gera inseguranca"
5 . Detido diz ter enviado sangue por carta
■-'> ...Pithlii D. 2 de Julho. pag. 1 .
Pithlico.~
de Julho, pag. 1 .
"
Pithlico. 12 de Julho. pág. 1."'
Pithlico. 16 de Julho. pág. 1.'"
Piihlicn. 20 de Julho. pág. 1 .
169
titulo da primeira página. onde se explica em subtítulo quc o "bando de jovens" é liderado por uma
rapariga de 20 anos. No interior, o jornal assinala esse facto.
No CC\/. a exposiyão linguistica é mais chocantc e explícita no> titulos. quando sc refere as
zonas urbanas, na Brandoa e também cm Cascais, com a exibiyão de actos \iolentos. um deles
concretizado em "espancamento".
O enquadramento é político, isto apesar de Manuel Catarino recusar a ideia de que o Caso
CREL tivesse uma envoivcncia política:
"O caso CREL ndo é um assunto político [...]. O que acontece é que os rapazes
do chamado Gang cia CREL. como ficaram eonhecidos. foram levados a tribunal,
foram deiidos. Para dizer, ca.sos como o Gang dct CREL ndo tém dimensdo política.
Teria. sc tivesse havido uma alteraeao legisfativa qtte conduzisse a uma maleabilidade
por parte das po/ícicts. Xesse caso sim. seria um cttso politiro, se aiguma decisao
poliiica 011 alteracâo legislafiva tives.se conduzido a es.se estutlo de coisa. por exemplo
se o ministro da Justiea tivesse reorganizado a P.I e se essa reorganizacdo tivesse
retirado operacionalidade â policia."
Certo é que em 2001, seis meses depois dc ter ocorrido este caso. houve altcrayôcs á
legislayão de menores. alterayoes quc já há muitos anos cstavam a ser debatidas, mas que não
avanyavam . . .
O consequente sinal ce debatc político em torno dcsta temática cstá precisamente presentc
nas páginas do CM no dia 17 de Julho: PSD propbe fim da impunidack dos /'ovens delinquentes. ()
PSD. na vo/ dc Durao Bairoso. reclama a diminuiyâo da idade de imputabilidade dos jovens
delinquentes. num país polílico na cpoca dominado pelo PS e de ccrta fonna comeya a dar conta
daquilo que vira a suceder no Verão político de 2000. No interior do jornal, pode ler-se na página
20: "O líder do PSD. Durâo Barroso. mostrou-se preocupado com a ercscente onda de inseguranya
que as pessoas sentem, em especial na rua, e quc cm muitos casos os erimcs sao cometidos por
jovens". ICste pequcno excerto aponta para a dimensão política, para uma idcia dc previsão e de
ampliayão dos factores assoeiados â delinquência. I: dc assinalar ainda que as duas fotogralias que
ilustram a peya sao retratos dc Durão Bamoso e de Lcrnando Gomes. do s dos políticos que viriam a
marcar a segunda metade do ano 2000 em Portugal, aos quais se acresccnta fundamentalmcnte o de
Paulo Portas, especialmentc nas matérias ligadas â inscguranca e â delinqucMicia.
P2
A primeira página do Pũblico dc 2 de Julho ocupa toda a zona central pcágina, de cima a
baixo. dominada por uma fotografia dark carregada de simbolismo. L'ma sombra humana destaca-se
num espayo. aparentemente extcrior, escuro. com uma paredc escrita. Sem ser possível identificar
com precisão, pode afinnar-se que estamos peranle um espayo urbano, sombrio e violento.
provavelmentc na Grandc Lisboa. se estiver em consonãncia com o título.
As duas primciras páginas [títulos 2 e 3] seguintes do Púbiieo quase constituem uma
contradicão, quc acaba por ser explicada pcio facto de o Púhlico divulgar um estudo de 1998 da
Procuradoria-Geral da República que dá conta de uma cstabilidade: o número de menores julgados
entre as dccadas de 50 e 90. îxeste estudo, scgundo o jornal. verifica-se que houve um crescimento
até aos anos 70 de menores infractores e uma diminuicão de cerca de 30% até â década de 90. mas
cste estudo não inclui os dados totais desta última década dc 90. Crime /uvenil estci a deseer c
anteeedido com o antctítulo: Apesar da poiémica sobre os "gangs'. o nítmero de menores em
trihunal vem d'uninuindo. Apcla-sc, mais uma vez. ås simbolizayôes existentes em torno dos gangs.
que são alvo de alannismo que pode ser exagerado. segundo o divulgado pcio Púhlico.
Contudo, não seria neccssário esperar muito. cerca dc dcz dias, para quc o mesmo diário
salientassc uma tendência para um crcscimcnto da dclinquência urbana nas duas grandes áreas
mctropolitanas do país. Importa aqui dizer que este título Crime jovem dispara em Lisboa. â
semcihanya do anterior. também se ccntra na divulgayão de estatísticas -
que contrariam as
antcriores - do Comando Metropolitano de Lisboa.
Estes dois trabalhos vão já dando conta de como o tema é relcvante para a agenda mediática
do jornal. Mas. cstas contradiyôcs não serão tambéin o refiexo do desnorte que se comecava ncste
iníeio dc Julho a viver no que conceme ao olhar cm torno da delinqucneia juvenil c sua cobertura
mcdiática?
Aumento dos pequenos erime.s gera inseguranea dá conta de uma das "portas de entrada"
no tratamento da delinquência juvenil, como atesta Luís Lrancisco: "Digamos c/ue há alguns
assuntos eotno a saúcle. a educacdo, a seguranca que eacict um lida no dia a dia. locla a gente se
sente afectada, porque é a vida das pessoas Ett vou ao hospitai, eu levo o meu fiího â escola e eu
ando a rua. Scio três tetncts ahsolutamente nueleares."
Ainda apcnas no caso do Público, c de assinalar que o título 5 - Detido diz ter enviado
sangue por cartct-
se refcre a um crimc que ocorreu cm Ilhavo e que cnvolvia membros de um
grupo de death metal.
Se rcparanuos. os dois periodicos tcm primeiras páginas concordantes no dia 16 de Julho.
facto que não aconteceu anteriormente. A primeira vista. pode parecer que não são coincidentes,
mas apresentam um ponto em eomum, que e a violência na Linha de Cascais. O CM faz disso o
171
Imagem 10: primeira página do Páhlico
de21 de.lulhode2000
PUBLICO_.
• mo fi'if- i_.'l( '1,1 u. i n.: i-J'-ii r.ufûĸ
Contas empoladas #Sĩr
noMetrodoPorto^lÍ?;:
Imagem 1 1: primeira página do CM
de2l Julho de 2000
A SlltlA Jfc'r-.-. i', i.j ,',:i..'.il:il':ilil"Tr^~r
Ho.pitais
jo podemvender
medicomentoj
Loucura 'motard' em Fa o
174
As qucstoes relacionadas com a inseguranya e tambcm com a seguranca (títulos 9 c 10, mais
ligados a questôes de seguranya) sâo relevantes no CM. Isso percebe-se ncstes títulos e nas palavras
do editordo jornal:
"... ndo é sb a inseguranca que dá manchete. A seguranca também pode dar
manchete. A PJ faz ai uma grande operacdo e caca uns perigosos malandros que
andam a chatear as pessoas, com i.sto também pode dar tima grande manehete, a
operaeionaiidade cla poiicia. a eficácia da polícia. Xbs ncio esfamos aqui sb para dar
um lado cia questdo."
Esta matéria-prima dá conta de uma envolvência social e política, que no nosso ponto de
vista já dava sinais de ser propícia ao descnvolvimento de um pânico moral. Recordando a literatura
referenciada, podemos avancar com alguns trayos. Comeya a notar-se uma dramatizayão do
discurso. com a accntuayão dos crimes. uso dc linguagem simbolica. como "gangs" e "quadrilha", o
ênfase no discurso do risco, por exemplo na tônica recon-ente do aumcnto da delinqucncia em zonas
específicas, na existência de uma ameaca ã scguranya e na presenya cm título da neccssidade de
alterar a lei e de rcforyar a acyão policial. Lstes factores. já detectados na revisâo tcôrica como
indicadorcs de existência de uma situayão de pânico moral. comeyam também a ser reíbryados pelo
destaque efeetivo e quantitativo do tema nas primeiras páginas, como não tinha acontccido até aí.
Olhando para esta fase anterior aos acontccimentos da CREL. já c possível dcnotar sinais dc uma
cresccnte atenv'ão ao fenômeno da delinquência juvenil. particulanuente os centros urbanos,
ccntrando-se na Grande Lisboa. Atrás pcrcebemos uma tendência de amphayâo e de um certo
crescendo dc dramatismo dos acontecimentos. utilizayão dc linguagem com carga simbolica
negativa, orientando-se para earacterísticas que denotam pânico moral. Nos dois parágrafos
anteriorcs, dá-se conta de mais um clemento destacado por Chas Critcher, que assoeia a demanda de
accãi) política por parte de elites polítieas cm situayôes dc pânico moral.
Púhlieo
1 . O iliu em que Portugal acordou assustado
CM
2. VIOLÊSCIA Â SOL TA"7
'""
Púhlico.2\ deJulho. pag. 1.
( 'orrcio Ja Manliã, 21 de Julho. pág. I .
173
está também aqui prcscnte com a "oposieão unida contra Lemando Gomcs" e com a anouieao de
que PSD e CDS-PP aproveitam para rcciamar a alteracão da legislacão de menores e a reducão de
16 para 14 anos da declaracão de imputabilidade.
Já o CM. no interior. dcdica 2 páginas ao Caso CRLL, metade Cas do Púbiico. Neste jornal.
encontra-se igualmente um rciato dos acontecimentos e deelaraeôes na primeira pessoa de Lídia
Franco. O enquadramento é feito mais no senlido da falta de seguranca, designadamcnte com a
lalha da entrada cm \ igor do sistcma dc scguranca para bombas de gasolina. e na referência a outros
crimes semelhantcs.
O editor do C\i, Manuel Catarino, nesta altura no 2-IHoras. ainda hoje rcconhcce a
iriportância deste caso c reeorda os mecanismos subjacenles â lôgiea jornalística que faz com que
uns assuntos tenham destaque e outros não:
"AVi.v sabemos que estes casos têm oufra importáneia c tamhcm ndo podemos
fazer /ornctis eontra os ieitores. O jornaí vive das vendas. F, depois, é um facto que
raramenfe acontecem coisas como aquefas. Xuma noite. assaltarain em cascata ndo sei
quantas homhas de gaso/ina. Atacaram. um desses easos era a Lidia Franco. uma
pessoa conhecida, houve uma fentativa cle violacdo. Claro que isto causa alarme. Tem
imporfbncia."
O jomalista Ricardo Marques recorda este caso como um dos mais emblemáticos no que
toca â cobertura noticiosa da dciinqucncia juvenil. Para este profissional. houve desde logo um
elcmento de destaque: o envolvimento da actriz Lídia Franco e o novo olhar dos media para os
aclos ilícitos em grupo, que já vinham acontecendo. mas ainda distantes dos holofotes, ou seja, era
quase como se não aconteeessem.
"Hc't muitos easos. agora ctquele que tocla a gentc se iemhra e c/ue marcou. nao
fosse pcla situacûo da Líclia Franco... O Caso da CREL é paradigmcttico tamhém
porque na alfura era uma eoisa nova. aquelc tipo de razias quv os putos fazem aquilo
jci aeontecia. mas ndo era uma coisa a qne esfivéssemos atenfos. que as autoridades
estivessem particularmenfe â espera daquilo. porque aquiío c uma coisa incontrolável.
[...]
Reportagem atrás c/e reportagem no bairro cia Beia Vista. aquiio era as.sustacior,
iamos todas a.s semanas d Bela l 'istct. depois, a polícia prendia um e. depois. sai um c
nbs na Bela l'istci e na Amadora. porque, depois, ndo sdo miudos que moram todos
126
Estas primeiras páginas assinalam o dia cm que noticiaram os acontccimentos da CREL .
que ocorreram na madrugada de 19 para 20 de Julho de 2000. 'Tortugal" e "violcncia" sao
idcntificados quase como humanos, por um lado. com medo, por outro, eomo ameaca quc anda por
aí. 0 simbolismo, o cxagero/sobrcdimensionamento e a dramatizacão estão aqui prcsentes e dão
uma dimensåo nacional ao assunto. Os dois títulos sao. assim. bastante fortes e apontam para o
sentimento de medo decon-entc de uma ideia de violência generalizada c até sobre a qual não há
mao. cstá å solta, c também dc uma gravidadc que se extrapola para alcm das frontciras do local
ondc ocorre. na Grande Lisboa. e inquieta todo o país.
O título do Público c acompanhado por uma fotografia de uma estaeâo de comboios com
dois polícias cm destaque e em posicão de vigília c o do CM é acompanhado pela fotografia de uma
das vítimas. a mais mcdiática. a actriz Lídia Franco. Pcia primeira ve/. uma vítima é realmente
destacada e chcga å primeira página (e também no interior. em ambos os jornais. com fotografia c
tcxto prôprio cm página ímpar, reforcando a importância do valor-notícia da notabilidade).
Para além do já referido. os dois diários chamam para a primeira página o reforco do
patrulhamento policial na Grandc Lisboa. No interior. vcrifica-se quc o Público chama cste assunto
ã seccâo Destaque, dandoihe 4 páginas onde são relatados os acontecimentos. a par e passo,
inelusive com a ciaboracão dc uma infografia. É na terceira página quc se descobre o editorial dc
José Manucl Lcrnandes Fechacios na rua. \as páginas seguintes, encontra-se uma peca com um
relato de Lídia Franco na primeira pessoa e eom direito a uma fotogralîa. O enquadramento político
"'
As tcle\ÍM"tt!> e as radios no dia anterior já tinham l'eito uma cobertura exaustiva do acontecimento \a SIC, o Jornal da Noite ahriu eom os
Assaltos da CRFL. com uma peca sobre o assalto e a seguinte eom I.ídia Franco. \a RTP. no dia 20 dc Julho. a abertura do Telejomal é feita
com uma peea total de mais de 20 minutos. com o titulo de pi\ot de Assaltos: E Insegurancu. identitlcado no canto superior direito. Na peea
inieial. onde se reprodu/ o percurso dos assallantes, identifica-se a accão como lendo sido feita por "um grupo de sele jovens negros
armados". fala-se da aclriz I ídia Franco. Nesta peca. é assinalada uma fonte anbnima. que ligou para a RTP a fazer uma denúncia. segue-sc
como fonte a GNR
O scgundo pivol refere-se especilicamentc a LiJia Franco: AssaltaJa. A \itima é a primeira fonte com direito a voz na primeira pessoa. com
discurso directo (uma marca de destaque. que assinala a importâneia de ter ha\ido uma \itima figura pública. com notoriedade). que de>cre\e
o que \i\eu e sentiu e fala das outras vítimas. bem como dos jovens autores que ideiUillca eomo sendo cabo-\erdianos e que garante que. sc
os vii, nâo os reconhece. e fala ainda na tentativa de violacão.
() segundo pi\ot tem como título Assalios: lim séric. Inirodu/ uma pci;a sohre a gencralizacão de assaltos na Grande l.isboa. mesmo em
/onas nobres. associando-se esta siuiaeãn a inseguranca. A pcca correspondenic tem como primeira ibule uma senhor.i de ^l anos que foi
vitima de a__ressão e que deixa "recado" a Fernando Gomes. Segue-se um fainiliar dc uma vitima e uma idosa que atesta o medo de sair ã rua
depois das 16 horas. Ilá referência ao facto de as policias estarem a tlcar sem direiios. o que leva a que a actuacão deles seja mais deficiente.
() pivot seguinte tem como pano de fundo a inseguranca hgad.i ás gasolineiras. como o título Rcaccôcs: Gasolineiras. scguindo-^e uma peca
alusiva a esta temálica. Inse^uranca: Rcaccũo cra o destaque do pivot seguinte. ondc surgia uma fotografia de Antônio Gutcrres. Na peca. a
[bi.tc c Antônio Guierres quc se vê eonfrontado com a ideia dc demissão de Fcrnando Gomes. sugestão que recusa, optando por dizer que
vâo trabalhar em conjunto pela seguranea das pessoas. Assallos: Reaccão. com a imagem do Presidente da República. foi o pivot seguinte.
com uma reacgão de Jorge Sampaio. que estava em Uanover () título seguinte foi Gtniies: Linha Je i.ascaĩs, que dã conla das crilicas de que
foi alvo Feniando Ciomes. que garante uma "('aca ao homem". Segue-sc DemitsJo: Minisiro. onde se dá conia da vontade quc os trés
maittres partidos da oposieão tinham na demissão de Fernando Gomes. com as fontes na voz dirccta de Durâo Barroso e de Paulo Portas. que
deram conferências <le imprensa. Nos dois discursos dá-se conla do facto de ter sido necessário que uma figura pública losse vitima para o
(iovenio teagir. sendo a tonica a do aumento da crimmalidade, especialmenle por parte dc Paulo Portas. Por último, segue-se Carlos
('analhas. que também convocou osjomaliMas.
Nesta leportagem. eslão piesentcs praticaineuie todos os elcmcntos quc \ão inarcar o Caso ('RI I nos dias e M-nianas scguintes. F um
trabalho articulado. encadeado. quc \ai num crescendo, desde a accão. passando pcla vitima que a comunicacão soeial elegeu eomo a
representante das \itimas neste caso. passando pela marca da inseguranca e culminando na palavra dos actores politieus. No imediato. Durâo
Barroso c Paulo Ponas estabeleceram as suas posieôes. tambcm elas uma marca do discuiso político tlas semanas que se seguiram ao
acontecimento.
175
5 . Calor e silêneio opressivos nos funerais
6 1950/1994: Crimes passaram de 50 mil para 400 milU)"
7. Raparigas activas nos "gangs"]i)h
8. Detidos oito dos nove suspeitos
9. Menores em faga violenta e rocambolesca
1 0. Quinzefugas por mês
1 I . Ajudar jovens em 50 hairros prob/ema
CM
1 2. Gasolineiras encaram encerramento noetumo sefectivo
! .-
13. 'GANG'APANHADO]]
14. 'Gang' das bombas em prisão preventiva
1 5. Gl ERRA A JOVENS NO CRIMFl
1 6. Prisão conftrmada para 'gang das bomhas']'
17. Adolescente 'bem comportado' mata dois idosos e suicida-se1
1 8. Menor do 'gang das bombas' apanhado em novo assalto'
19. Caso do 'gang das bombas' arrasa ministro1'
20. 'CANG'APANHADO 2" \ 'EZ'N
211 TAQVEÂ VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS2"
22. GNR trava litta atrihulada com jovens delinquentes
23. TERROR A PORTA DAS ESCOLAS1"
24. Escolas a cadeado e ovos contra poiicias11
Pithlico. I dc •Vgosio. pág. 1'
Pithlica
"_' Piihiicol'ith/ico
"
Pithlico'"
Pithlico'"
Pithltco
I dc Agustu. pág. 1.
6 de Agosto. pág. I .
15 dc Aiíosto. pág. I.
I1) dc Si.-ti.mr.m. påg. 1.
21 de Setembro, pãg. 1.
7 de Outiil.ro. pág. 1 .
('orrctn Ja Man/ui. 22 dc Julho. pág. 1 .
( 'orrcia Ja Manliâ. 23 dc Julho. pág. I .
( 'orrcki Ja Manhã, 25 de Jullio. pág. 1 .
Corrcit.) Ja Man/iã. 27 de Julho. pág. 1 .
( 'arrcii/ Ja Manhã. 2l) de Julho. pág. 1 .
"
Correio Ja Manhã. M' de Jtilho. pág. 1.
Correio Ja Maniu'i. 5 de Agosto. pág. 1.N
Correio i/ti Manlui. 16 de Agosto. pág. 1.'
( 'orrein Ja Manluĩ. 2~ dc Agosto. pág. 1 .
Correio Ja Manlut. 2 dc Outubro. pág. 1.
( 'orrcio Ja Manhũ. 1 7 dc Oulubro. pág. 1 .
'-
('orreio Ja Manha. I 7 dc Novembro. pag. I
('orrcio t/ií Manhã, 2C) de No\embro. píg. 1
7N
juníos. é um que mora na Bela l'isfct. outros sdo do Barreiro e depois outros da Cova
da Moura."
Deste discurso. ressalta ainda um ccrto impacto do exercicio do jomalismo de uma forma
romântica. na busca da reportagcm. da ida ao local. com os sentimentos â flor da pelc. em busca da
noticia: "A partir do momento em que se cld projeccdo a isso. com primeiras páginas. as coisas
passam a existir"^\ refere Ricardo Marqucs. Este mesmo jornalista, está certo de que este foi um
caso empolado mediaticamentc, de tal modo que coloca o Govemo a falar do assunto.
"O episbdio cia Lídia Franco ê o que deftnitivamente... pbe a CRFL e o gang cia
CREL nos noiiciários e suscita reaccdo do poder politico. Sdo coisas incompreensíveis.
De um assalto a um carro em que ndo aconteceu nada. mas que podici fer acontecido,
eomeca a haver ministros a falar. seeretários cie Esfacio a fcilcu: I.sto entra numa
dindmiea fdo forte e tdo intensa que nuo se pode escapar a isso. Podemos discufir se o
ministro cleve comentar islo, porque é que um minislro deve comentar um ./s.s.v/.V).''' I m
ministro ndo tem de eomentar um ataque principalmente um ataque c/ue ndo dá em
nacla."
Para completar os tílulos das primeiras páginas do período em análise em 2000, aqui ficam
as referências de eada um dos jornais no apôs acontecimentos da CRLL. Com esta listagem.
eomplcta-se a primeira abordagem ao tempo em análise em 2000.
Público
1 . Suspeitos em prisûo preventiva
2 . Seis presos foram.. . presos por engano
3. Prisôes emfalso castigam Fernando Gomes
4. Estranho crime de am rapaz "sossegado"
'"'
l-.sta capacidadc dos mcJia para contribuirem para a criacão de aeontecimentos também é salientada por I.uís Francisco num dos momentos
em que aborda a piohlemática da contextualizacão dos acontccimentos: "... aprovciiamos momentos cm t/ue as coisas c\iâo mais svh <«
holotoics Jos mi'Jia. oli somas nôs qitc f/omos os holoialcs cm cima. não sci. mas é vcnlaJe </.._' assim poJeremos conie.xlualharpora i/ue as
pc.ssod\ não nos lcia/n a seco."""'
Pithlico. 25 de Julho, pág. I .
1 "
Pithlico, 27 de Julho, pág. 1 .
",:
Piihlico, 28 de Julho. pág. 1.w
Púbítco. 30 de Jullio, pág. I.
177
olhando para os títulos. Há títulos. coiToborados no discurso no interbr dos jornais. que apontam
para a incerteza na actuacão das entidades eompetcntes [3 e 20]. apontando para prisôes em falso.
Há ainda marcas [9,15 e 22] de cxagcro na linguagem quc contribuem para uma amphacao
do desvio "luga violenta c rocambolesca", "GUERRA A JOVENS NO CRIML" e "luta atribulada
com jovcns delinquentes". Cá cstá novamente o recurso a uma linguagcm canegada de simbolismo,
um simbolismo bélico. Sendo csta uma ampliacão mediática em torno da dciinquência juvenil,
apontando ainda para um clima dc incerteza qaanto ao desfecho destc cenário de campo de batalha.
Para contomar a possívci ocorrcncia de mais roubos a gasolinciras, o CM [12] da conta da
possibilidadc de eneerramento em detenninadas horas (dasolineiras encaram encerramento
nocturno selectivo). Nas páginas interiores existem declaracoes que eolocam a possibilidade de que
vcnham a ocorrer novas situaeoes de ataque a bombas de gasolina e também medidas para evitar
que tal aconteca. Esta componente de previsão é também uma das indicadas pelo sociôlogo como
sendo uma indicadora de pánico moral. Nesta fase de inventário, Cohen considera que vao sendo
tomadas medidas para evitar que. quando a situacâo de alarme se repetir. as consequências sejam as
iresmas. Também no Público, do dia 25 de Julho, numa caixa intitulada Mais um assallo a
gasolineircL um agente da PSP dizia: "0 roubo de bombas de gasolina é quasc como uma tentacao",
dando conta de que os assaltantes sabem quais sao as melhorcs horas para actuarem impunemente.
Ora. esta versâo dos faetos quase que manifcsta a total certeza dc que esta seria uma aceiĩo que
fatalmente iria continuar a ocorrer, como tinha acontccido nos últimos mescs. Este é apenas um
exemplo. outros há designadamente no que respeita ao pcdido de reforco de medidas de carácter
político e legislativo.
A simbolizacão, de ucordo com Cohcn, é outra das mareas que atesta a existCMicia de um
lenomeno dc pânico moral. Os títulos desta fase depois dos acontecime itos na CRLL revelam uma
manifesta gencralizacao na forma como estao construidos. já pressupondo uma simbolizacão
cognitiva que dispensa a nomeacão e especilieae'âo. "'GAXG' APAXHADO". "Seis presos foram...
presos por engano" e "Suspeitos em prisdo prevenfiva" nâo precisam de mais pormenores
identifĩcativos para que se saiba ao que se referem.
Rieardo Vlarqucs ainda guarda na memôria os debates em torno do uso ou não do
identificativo gang. dando conta de que esta não é c nâo foi uma qucst2io pacítĩea. mas. por via da
lôgica jornalistica. prevaleeeu o uso dc gmig.
"/:// lembro-ine de discutirmos se usávamos gang. sc nao usávamos gang.
porque o gang tem uma série de icieias associadas ligadas aos fihnes. eom a e.xisténcia
cle um ritual de iniciacdo. qtte vestem cia mesma maneira. cjtie têt't tnn cbdigo de honta.
180
Depois dos acontecimentos na CREL, os dois periôdicos, como se consegue facilmente
verificar. continuaram a dar destaque å delinquência juvenil. sendo dominantes as pnmeiras páginas
que referem directa ou indirectamente o Caso CREL, dando quase que a impressão dc se estar
perante uma cruzada com o objcctivo de evitar a delinquência. Notorio é tambêm o facto de a
delinquência encontrar espaco na primeira página até Setcmbro e de Outubro até ao flm do ano
deixar de ter a mcsma importância que evidcnciou nos meses anteriorcs. aprescntando uma no
Públieo e duas no CM. Comec-a a surgir aqui o primciro indicador de que. passado o período dc
influcncia do Caso CREL. a cobertura da dehnquência juvenil em termos quantitativos devcrá
diminuir.
Lina primeira observacão dos títulos. comparando um jornal e o outro. permite vcrifícar que
há uma coincidência de temas sobre a CRLL. designadamente nas dctcncoes e nas referências
negativas a Fernando Gomes. e também no caso do jovem de Nisa que se suicidou, depois de tcr
morto dois idosos (Estranho crinte de um rapaz "sossegado" c Adoiescente 'hem comportado'mata
dois idosos e suicida-se).
Aqui. é notorio, mesmo nas primciras páginas. um tratamento difcrenciado do agente activo
de Nisa, que é chissificado positivamcnte como scndo "sossegado" e "bem comportado". Um crime
do intcrior chega ás primeiras páginas. pela violência do mesmo, já quc envolve homicídio. ainda
para mais praticado por um de nbs, um jovem de boas familias e de brandos costumcs. o que
aeentua a perplexidadc perante o acto.
Apareccm também outros assuntos que já não sâo eseolhidos de fonna isolada por cada um
dos diários. No Púb/ieo há os trabalhos sobre as rapangas nos "gangs" e a criaeâo do Programa
Lscolhas, prevista para o ano seguinte. para Janeiro dc 2001. Estes dois enfoqucs mostram uma
tcntativa de o jornal abordar a temática da delinquência juvenil por mais de uma perspectiva.
designadamente pelo cnfoque do género e dc novos projectos públicos de combate ao risco de
dcsvio juvenil.
No CM dcstaca-se a violcncia nas cscolas em três primeiras páginas.
Reeordando Cohen
Uma obscrvacâo ainda mais atcnta sobrc as primeiras págĩnas suscita tambcm outras
alusoes.
Relembrando Cohcn que convencionou quc apôs a ocorréncia do acontecimento se seguia
uma fasc de inventário, na qual se manifeslava a presenca de rumores, incertezas c de percepcoes
ambíguas na interpretacâo do acontecimento -. é possivel detectar alguns desses elementos apenas
179
Já em Agosto. o Público apresenta na seccão Espac;o Púhlico uma carta de lcitor com grande
destaque intitulada "Gang.s africanos?"
. assinada por um estudanle guineense. I.ogo atravcs do
título conscgue perceber-se que estc leitor tenta desmistifĩcar a ideia de que há gangs e que são
constituídos por africanos. Este tcxto enfoca. a partir dos assaltos na CREL e dos distúrbios na Iinha
de Cascais, toda a problemática cntre nbs e eles. "... o grande mal-entendido da comunicacâo social
portuguesa consistc em tratar esses dclinquentes de 'jovens de raca negra" ou 'jovcns de origem
africana'. os tais 'gangs' africanos. como diz o povo. O que é verdadc é que esses jovens sao afro-
-lusitanos de raca ncgra, mas nåo são africanos".
0 mesmo autor prossegue assinalando: "Fies sao meninos que nasceram cá. [...] Sfio jovens
de segunda geracão. [...] São rapazes cujos pais trabalham na construeao civil c vivem nas barracas
[...] Sâo filhos de famílias miseráveis. Cresceram no meio onde o eonjunto desscs povos excluídos
da sociedade portuguesa e marginalizados luta pela sobrevivéncia". São o outro em muitos scntidos.
no sentido principal de serem agrcssores e marginalizados. "Ainda é bem verdade que muitos
desscs adolcscentes não são apenas de raca negra. [...] Porém. nunea são tratados pcia comunicacão
social como 'gangs' europeus ou jovens de raca branca".
O conteúdo desta carta de lcitor c bastante expressivo da indignacão áo seu autor perante a
forma como o outro. grupo no qual ele se encontra, é retratado na comunicacão soeial. Importa
dizer que esta foi a única carta de leitor encontrada no Púbiico com associaeâo â dehnquência
juvenil.
No C.M. que tem no total dos cinco períodos em análise sete cartas de leitor, cinco são
precisamente nestc período de 2000. Na revisâo de literatura do segund. capitulo, vimos que Cohen
ve quc na fase de inventário as pessoas manifestam as suas indignacôes. designadamente através de
cartas que escrcvcm aos jomais.
1 . Os pais e a delinquência juveniî"*'
2. Aincla os pais e a deíinquência juven'd'
3. Ainda a deiinquênciajuvenil~
4. Lisboa é cidade segura?
5. Criminalidade juvenil~
Correio Ja Mtinhâ. 21 de Jullio. pág. 4,
Pith/ico. 3 de Agosto. pag. l>. ( ana de leitor.
Correio Ja Mitnltã. 5 de Agosto. pág. .V ('arta de leitor.
Corrcio Ja Manhã. S de Agosto. pág. 2. Carla de lcitor.'
('orrcio Ja Manhã. 29 de Ago>to, pág. V Carta de l.-itor."
Corrcio Ja Manhã. 1 7 de Setcmbro. pãg. 4. Carta de leitora.Corrcto Ja Manhã. 10 de Outubro. pãg 4. C'arta de lcitor.
IS2
Xdo é o caso, sb que sdo quatro letras e lê-se melhor gang da CREL cio que
grupo cia CRFL. F uma questdo de facilitar a informacdo. Depois essas coisas sdo
assim. utiliza uma e utiliza dttas e o 24Horas e o JN utiliza e passa a set: Ouem sdo os
memhros do gang cia CREL? Se calhar ndo têm nada em comum. a ndo ser
conheeerem-se un.s aos outros. ndo andctm ai a matar parct entrar para o gru/)o"
Chas Critcher acrescenta a este conceito de simbolizacao a noeâo de que. quando um
fenômcno se toma um assunto de pânico moral, c-lhe atribuído um nome. Efectivamcnte o
acontecimento ocorrido na CREL de 19 para 20 de Julho de 2000 foi identificado com nomes como
"gang das bombas", eomo se vê em títulos do CM. e como "gang da CREL" e ainda "Assaltos da
CREL".
Existe ainda uma carga negativa â volta dos actores sociais entcndidos e subcntcndidos
ncstes títulos. que são os jovens delinquentes dos "gangs'2
1 trihuieães étnicas
Logo na primeira peea com chamada â primeira página destc período no Púbiico há
refcrcncias a negros. pretos. africanos e brancos. sendo que as imagcns com jovens em que sc vê o
rosto de forma desprotegida. com uma excepeâo. sâo aparentemcnte de origem africana.
Na edicâo dc divulgacâo das notícias dos assaltos da CREL, a 21 de Julho, o Púh/ico refcre-
se a africanos. negros e cabo-verdianos em contextos como os scguintes:
"Roubos violentos desfilaram nas auto-estradas da Grande Lisboa. Todos muito rápidos.
lodos aterrorizadores. Todos limpinhos. Setc a nove jovens negros. transportados em carros
, ,-, 124velozes... .
"O grupo dc sete pessoas de ongem afncana. . . .
""
No (CC\/, é utilizada a mcsma tenninologia nos seguintes tennos:
"... bando de jovens, todos de origem africana e com idades aparentementc compreendidas
entre os 1 4 e os 20 anos. . .".
i n
"Sete indivíduos de raca negra".
]:~~Piiblico. 21 deJulho. pag. 2.
■-■
Púhlico.2\ de Julho. pág. 3.,2<>
Correio Ja Manhã. 2 1 de Julho. pág. 4.
181
sabemos que sdo potenciais deiinquentes. ou que sdo mesmo delinquenfes.
normalmenle com os seu.s pares ou com a polícia e a professora. sdo muito mais
agressivas do que propriamente o.s rapazes. mesmo o sentimento anfi-policia c maior
em eomparacdo com os rapazes."
Na mesma peca do Pûhlico. dá-sc conta de que nos "gangs" nistos elas servem de "isco".
pois uma abordagem de uma rapariga. aparcntcmente. não é vista como hostil, assinala-se. "Muitas
vezes, as raparigas valem-se ainda do estigma da fragilidade dos aforismos cavalheirescos para
provocar as for^as policiais". Ou scja. as raparigas. segundo estc ponto de vista veieulado pelo
jomal. actuam, no fundo, exercendo a sua femininilidade.
A fonna como foram identificados os envolvidos nos assaltos da CRICL, como tcndo "entre
16 e 20 anos" 'w, entre "14 e 20"°
e 15 anos, menos de 16. mostra como a questão da idade pode
scr secundarizada por uma represcntacâo associada å juventude. Indcpcndentemente das idades dos
jovens da CRLL. elcs serao, sempre, identilicados como scndo jovens e também dciinquentcs.
Violência em espaco aherto e vítima com rosto
Os espacos em aberto continuam a ser uma refcrência ineontornável quando se íala nos
locais de agressao. especialmentc em vias de circulacão. ao que se juntam preferencialmente as
bombas de gasolina, os transportes, as Iqjas e os bairros. Os jovens em imagcm são principalmenle
colocados em espacos exteriorcs. relativamente a cste sinal que tem sido evidente ao longo dos
diferentes períodos tem a ver com o facto de ser preciso autorizacão para fotografar os jovens por
exemplo cm espaco institucional e. tambcm. é verdade que existe uma imagem destes jovens
associados a um espaco de rua, exterior, muito ligado a actividades ao ar livre. Destacam-se os
bain-os. a linha de Cascais e as bombas de gasolina.
Neste período. como já referido, a vítima teve um rosto. que foi o da actriz l.ídia Franco.
uma das vítimas referenciadas no Caso CRFL.
"Pensei que tne matavam" e 'Fiquei com a vida''
sâo os títulos que assinalam dentro
dos trabalhos apresentados na edicâo de 21 de Julho no Púhlico e no (2,\/as peyas refercntes a aetriz
Lídia Franco. As duas pc\'as ocupam a parte superior da pagina respectiva e apresentam uma
fotogralia da actriz. As duas fotogratias sâo muito semclhantes e eolocam-na numa situaeão de
"*
Pithlico. 25 dc Julho. pág. 14.
('orreio Ja Manhã. 21 de Julho. pág. 4.''
Piihlkti. 21 de Julho, pag. 4.
Correiti Ja Man/iâ. 21 de Julho. pág. 5.
184
As duas primciras eartas pertencem ao mesmo ieitor, que era presidentc da Direccâo da
Associacão Portuguesa de Lamílias Numerosas. Centrou o discurso na responsabilidade inerente aos
pais enquanto educadores c responsáveis pelos actos dos lilhos. considerando ainda que uma
sociedade mais segura é a que subsiste com menos polícias. mas dizendo também que o Estado tem
a total responsabilidade da situacão. L precisamcnte esta última ideia que origina o debate, pois é
combatida na carta do leitor de 29 de Agosto. A última carta. também dc um leitor. ccntra-se na
necessidade de ocupar os jovens. dc manter a idade de 1 6 anos de inimputabilidade embora com a
ncccssidade dc maior severidade na punicão dos infractores - e ainda na urgência dc as televisôes
nâo mostrarem tilmes violcntos ates âs 23 horas.
Interessante é verificar que a carta que dcstaca preocupacoes com a inseguranca saiu do
punho de uma mulhcr (Lisboa é cidade segura'?). sendo que são as mulheres. a par das criancas e
dos idosos, as que têm mais medo do crime e de sercm clas mesmas vítimas.
Raparigas em primeiru página
Apesar de o género masculino ser o prevalente. as raparigas tiveram direito a ligacôes â
primcira página, como já assinalámos. Recorde-se uma, que teve chamada â primeira página a de 6
de Agosto. na edicão do Público. como título Raparigas activas nos "gangs". No lead. pode ler-se:
"As jovens estdo cada vez mais agressivas e procuram um lugar dentro dos
'gangs'
da Grande Lisboa. () papel apaziguador que linham nos grupos cie pequenos
delinquentes tem-se esbatido. [...] Os poiicias ndo sahem eomo agir perante a
brutalidade clas senhoras".
Fstas palavras dão conta de uma visão masculina das raparigas que se tornam agressivas,
scndo este um campo onde o género masculino. com vimos no primeiro capítulo. sempre dominou.
Estas novas atitudes no feminino de certa lbrma, neste olhar aqui deixado, negam a prôpria
condicão da tbrma como é visto o ser feminino.
Tanto o inspector-chefe Olegário Sousa como o subintendcntc Alexandrc Coimbra garantem
que a polícia actualmente encara os infractores como infractores, sem distinguir géneros. com
exeepcâo das salvaguardas presentcs na lei. Mas o subintendcnte Alexandre Coimbra, em
consoiicância com o discurso da peca do Público. atesta que elas sao violentas:
"
í polícia actua dct mestna maneira. O que a polícia verifica in loco é que as
raparigas sdo muito mai.s agressivas. Mesmo no convívio. as raparigas que nbs
183
Público
I . Janeiro foi mês de homicídios violentos
2. MATAR POROLFSIM1'"
3. PSP prepara comhate "anti-graffiti"''""
4, PSP elabora plano de comhale aos "graffui"141
5. A L MENTO DE CRIMES JL \ ENIS PREOCL PA GO \ ERNO:'
6. Delinquência juvcnil r crime cie rua responsciveis por inseguranca
CM
7. "Investigaeão criminal sb admite licenciados"]Aã
8. 'Investigacdo Criminal vai exigir licenciatura'
9. GRl PO DESTRÔI CAFÉ NA AMADORA]M)
10. DESTRLTRAM CAFF E AGRFDIRAM DOXO1'7
II. Jovem esfaqueado nos Olivais recupera no hospitat'
12. 01 EIXA-CRIME COXTRA AGRESSORFS DF JO\FMi4y
13. Três jovens upanhados no Algarve eom carros rouhadosy
14. POLÍCIA RECLPERA CARROS FLRTADOS'"
15. CRIMINAL/DADEMA/S V/OLENTA'2
16. ACMFXTA l'IOLÊXCIA XA CRIMIXALIDADF1''
I7. Bando de ? ludrães com miúdo de II anos em Almada'
1 8. 'GAXG'DE MEXORES DFSFFITO FMALMADA1'5
19. A TAQLEAO CRIMFJLA ENIL1"
20. JOl 'FXS RESPOXSABILIZADOS POR DELITOS CRIMIXAIS]'}
Púhlico. \'> de Fevereiro. pág. 1.
Pithlico. 10 de 1 c\erciro. pãg. 2 e ~.
Pithlico. 2S de le\erein>. pag. 1.
Pithĩico. 2S dc levereiro. pág. 20."■
Pithlico. 3 de Abril. pág. 1 .
iX
Pith/ico.'
de Abril. pãg. 2 c .V
( 'orrcio t/a Monlio. S de Janeiro. pág. I .
( 'orrcio t/ii Man/iã. 8 de Janeiro. pág. 6 e
"
( 'orrcio J<i Maniiĩi. I f^ ile Janciro. pág. I .
( 'orreio Ja Manliã. 1 6 de Janeiro, páe. (>.
( 'orreio Jti Manhã. 16 de Janeiro. pág. I.
Correio Ja Manhã. 16 de Janeiro. pág. 5.
Corrcio Ja Manliã. 16 de M;iĩ\m. pág. I .
( 'orrcio i/a Mtinliiĩ, 16 de Marco. pág. 7.'
( 'orrcio Ja Manhã. 3 de Abnl, pãg I
CorrcioJa Man/iã. } de Abril. pág. 4 e 5.
( 'orrcio Ja Manhã. 4 de Abnl, pág. 1 .
"
( orreĩo Ja Manhã, 4 de Abril, pág. 5.'
CorreioJa Maiiha. 15 de Maio. pág. I.
Correio Ja .IA.../..Î. 15 de Maio. pág s
exterior. São usadas expressôes como "tilme de terror". no Púhlico. c "Disseram-me que vivia num
país seguro e eu aereditei. Afinal é tudo Mentira" c "foi aterrador". no CM.
As outras vítimas são referenciadas, embora sem dcstaque, fazendo pcnsar quc nâo serão tâo
mediáticas como os autores e os actos em si mesmos.
4.2. 2001, Páblico regressa á rotina e CM mantém índices elevudos
Gráfico I: Evolucão de unidades de redaecão entre Julho de 2000 e Junho de 2001
— Público
CM
Este gráfico mostra um pico noticioso verilicado em ambos os jornais no mês do Caso
CREL e uma descida posterior na intensidade da cobertura da delinquência juvenil. especialmente
no Público. quc em 2001 sô tem um pico em Levereiro. Já o CM apesar de também diminuir a
cobertura, mantém índices elevados. mesmo em 2001.
2001 nas primeiras páginas
Observando as primeiras páginas dc 2001. pcrcebe-se de imediato quc em tennos de
quantidade. o Púbiico voltou ao que fazia nos anos anteriores a 2000 e o CM também tem uma
quebra acentuada em relacao a 2000. embora manifeste supremacia comparativamentc â quantidade
del993e 1998.
185
este destaque também evidencia o discurso da defesa da diminuicåo da dade de imputabilidadc para
os 14 anos por parle de um padre da Diocese de Viseu e do CDS-PP.
Opinião no Púbtieo
A dehnquência urbana continua. assim. a ser uma marca constante. e estevc na origem dc
um artigo assinado no Púbiico por Fernando Rosas. intitulado Politieas de seguranea!M>. () discurso
da bipolarizaeâo política está presente neste artigo:
"L'ma delinquência juvenil crescente, largamente relacionada com a
toxicodependência. atingindo principalmente os gucios suburbanos degradados das
grandes cidades f ...] mistura explosiva cle bhvio insuccsso escolar; de desemprego.
subemprego ou trabaiho precário e mai pago [...] essc mundo cuo. suhproduto de
um urhanismo selvagem e desapiedado. é ttina coleeedo de homhas de relbgio
pronlas a explodir. f...J Para a direita [...] o problema desta criminalidade é. antes
do mais, um problema de orciem píihlica"\
Neslas linhas. dá-se eonta de elcmcntos que têm sido referenciados na literatura e também
encontrados nas páginas dos jornais em análise, apontando para uma visâo mais seeuritcária c dc
reclamacôes de medidas punitivas associadas â direita e de uma visâo nais centrada em contextos
soeiais como a exclusão. a pobreza. as desigualdades. mais ligada ao discurso do centro-csquerda.
Primeiras no CM
O CC\/chama å primeira página dois estudos/relatôrios [lítulos 15 c 21], sendo o primeiro o
Relatôrio de Seguranca Intema de 2000. Lnquanto o CM centra o título na criminalidade de uma
forma abrangente. o Púhlico, eomo já vimos, destacou a dehnquCMicia jm enil na primeira pãgina.
A semcihanca do que aconlece no trabalho do Púhlico. no interior, o C\I também bipolariza
o discurso entre socialistas. por um lado. e social-democratas e populaies. por outros. aos quais se
junta o mesmo padre de Viseu, que advoga a inimputabilidade aos 14 anos. O CM também convoea
especialistas. como Moita Flores.
Tanto no exemplo já rcferido do Púhlico eomo no C\L parece que há um aproveitamento
por parte dos promotores de direita, no sentido de vincarem a sua posicão a propôsito dos dados do
Relatôrio de Seguranca Intema.
I'dhiico. 1 1 dc Mai'co, pae. 5
IS8
21. DISPARO NOS GANGS' DE JOlENS]'*
22. OITO MIL JOl'EXS ORGAXIZADOS EM 'GAXGS,l5v
Primeiras no Púhlico
De reter a invulgaridade de Feverciro de 2001. a única altura deste ano em quc o Pitblico
tem uma cobertura mais forte do que o CM. no número cfectivo de unidades de rcdaccão e nas
"primeiras". Foi ncsse mês quc o Público deu as duas primciras páginas (em trêsj c ncsse mesmo
mcs o CM não apresentou qualquer uma das suas oito "primeiras" de 2001 .
A primeira página de 10 de Lcvereiro ccntra-se na análise do crime de homicídio em tennos
transversais. embora se aborde a problemática da dclinquência juvenil e a sua associacao ao furto e
ao vandalismo, lcmbrando que muitas vezes cstes delinquentcs juvenis agem em inconsciência e.
por isso, podem até ser mais violentos nos seus aetos. Jã no dia 28 de Feverciro. destaca-se um
plano da PSP contra os graffitis. PSP prepara combate "anti-graffiti" marca uma chamada â
pnmeira página que aponta para um trabalho interno na seccâo de Socicdade. Sâo associadas a esta
prática. essencialmentc urbana, motivacôes como a vinganca. a raiva, o aboneeimcnto. a
exploracão/risco, a experiência estética c a notoriedade. No Público. o crime de dano teve uma
percentagem dc 13,7%.
Discursivamente. no Púbiico. nestes títulos. o sujeito jovem e gang deixa de ter a evidência
quc tcve em 2000, que opta por ehamar câ sua "montra" uma abordagem da delinquência associada
ao crimc de homicídio. å accão da PSP face aos graffitis e ao Rciatôrio de Seguranca Interna
2000.
De assinalar quc as três primeiras páginas deste periôdico sâo sempre apenas configuradas
como chamadas c somente a 3 de Abril (ALMEXTO DE CRIMES JLAEXIS PREOCUPA
GOVERXO) pcla localizacâo no canto superior direito com letras em caixa alta é que tem mais
destaque. Curiosamente. é a que se refere concretamente ao crirne juvenil. Note-se. paralelamente.
quc é uma das poucas chamadas â primeira no Público com gralia totalmente em caixa alta, o que
acentua o dramatismo.
Neste dia, a primeira página eentra-se na delinquência juvcnil, mas. no interior, este
fenômeno é novamente enquadrado no crime em geral, uma vez que se divulga o RSI - 2000. A
semelhanca do que aconteceu em momentos anteriores. o jomal apresenta discursos políticos
dissonantes entre a visâo que o PS c o Govemo têm da criminalidade. desvalorizando números.
enquanto o PSD e o CDS-PP centram o discurso no aumcnto da criminalidade. De assinalar que
15sCorreio Ja Manhã. 26 de Vlaio, pág. I .
''"Correio Ja Manhã. 26 de Maio. pãg. <•>.
187
2000. De qualquer modo, o Programa Eseolhas (que teve uma primeira página em 2000) e csta nova
legislaeao. nâo serv iram de gancho noticioso.
Síntese de 2000/2001
Nestes dois pcriodos continuados, assiste-se ao sobrcdimensionamento do fenômeno da
dclinqucMicia juvenil, durante o Caso CREL, para dcpois se perceber urna espécie de diminuicao do
fenômeno. pelo menos a avaliar pela cobertura mediática. l.m 2001 ocorreram importantes
alteracoes legislativas em termos judiciais. que nâo tiveram a mesma repercussão nos dois jomais.
() acontecimento insôlito, até pcia gravidade e grandiosidade. revciou-se mais importante
mcdiaticamente do quc as mudancas lcgislativas.
ICstes dois anos tcm alguns pontos de continuacão, designadamente ao nívcl do discurso
político. mas cm 2001 comeca a vcrilicar-se um abrandamento noticioso. No (C\/, em 2000 houve
uma eentralidade na CRLL, em 2001 o ilícito quotidiano voltou a cstar na bcrlinda.
Assim. em 2001. a delinqucMicia juvenil no Público comeca a ser enquadrada com outros
tcmas de crime. O C\L pela terceira vcz ao longo do estudo, ehama para a primeira página uma
vítima. o quc é uma raridadc nos dois periôdicos.
5. 2003, dez anos depois: o feeho do eicio
Contexto
Lm 2002. houve novas eleic'ôes lcgislativas. na sequência da demissao do priineiro-nhnistro
socialista Antônio Guterres. tcndo sido substituído pel soeial-dcmoertta Durao Barroso (também
viria a deixar a legislatura a meio. em 2004. para se tomar presidente da Comissão Europeia). Neste
contcxto. em 2003, pcia scgunda vez e dez anos depois. como aconteceu cm 1993. csiamos perante
um governo de direita, liderado pcio PSD de Durao Barroso. ein coligacão com o CDS-PP dc Paulo
Portas. A Justiga estevc a cargo de Celcste Cardona e a Administracão lnterna foi lidcrada por
Figueircdo Lopes.
O Relatôrio de Seguranca Intcrna de 2003 considera elaramente que nos últimos anos os
meios urbanos foram terrenos férteis para o creseimento dos "gangs de mcnores". com a
delinquêneia juvcnil a assumir um forte espirito de grupo. com crescente utilizacão dc armas e
I 90
O segundo estudo chamado å primeira página centra-sc numa pesquisa de Barra da Costa
di\ ulgada pela agência Lusa. sobre a forma como as escolas degradcdas podem afectar os seus
alunos.
Neste pcríodo de 2001, há uma diminuicão considcrável na dcsignacâo grupal simbôlica,
cmbora subsista a presenca do sujeito colcctivo no CM. DISPARO XOS 'GAXGS' DE JOVEXS
destaca-se na primeira página do CM. divulgando no interior números que apontam para o título
OITO MIL JOl EXS ORGAXIZADOS EM 'GAXGS'. de acordo com o estudo de Barra da Costa. A
peca sugere associacão da caminhada portugucsa semelhante ao que aeontece nos Lstados Unidos.
embora ainda com uma escala diferente. ligada ao sentimcnto de inseguranca e dando conta do
papci da escola161. que "dcgradada agrava os sentimentos. já de si disfuncionais. da grande maioria
dos jovens que moram em bain-os dcgradados".
De assinalar que a eseola cnquanto local de agressâo passou nestc período a scr dcstacada no
CM com quasc 10% das rcfciéncias, licando apenas atrás da rua'estrada e das lojas.
Uma das primciras páginas de 2001 do O/destaca a vítima: Jovem esfaqueado nos Olivais
recupera no hospital referc-sc a um rapaz de 13 anos (de uma equipa de jogadorcs "negros") que
foi agredido por pessoas "brancas" durante um jogo dc futcbol. Aqui nitidamente invcrtem-se os
papcis e o outro assume feicôcs "brancas". associadas a um comportamento racista e skinhead.
GRLPO DESTRÔl CAFÉ XA AMADORA é outra das chamadas â primeira página no mesmo dia e
refcre-se a uma peca que mostra como agressores "brancos". "pretos" e "mulatos".
'Jnvestigacdo criminai sb adtnite /icenciados" é um título de primeira página que decorre
de uma enlre\ isia ping-pong quc o CM fcz ao director da PJ. Luís Bonina. Por entre vários assuntos
nole-se que este é um trabalho periférico face â nossa análise -. é abordada a actuaccão das
polícias. no caso o que é marcada como a dcscoordenacâo da PSP e da P.l. nos aconteeimentos da
CREL. que volta a ser aqui convocado. como de resto aeontece noutras pecas. que aqui não são
refcrenciadas porque não sâo chamadas ã primeira página.
Outras coherturas
A primeira peca recolhida ncste período no Público c Lei separa vítimas de agressores ~.
Sem chamada á primeira página, alude â scparaeâo lcgislativa entrc os processos tutelares c os de
promocão c de proteccão. Este foi um tema abordado ao longo de anos em que se reclamava csta
scparacão entrc jovens vítimas e vitimadores e que cncontrou solucâo apôs o tumultuoso Verão de
"
A cscola e a violéncia escolar. e a msesuiranea que daí aihein. esiivciam muito ein \oya nas peeas quc foram dcsfilando na> páginas dos
jomais consultados cspecialmente no Pithlico . mas nem sempre puderam ser selcccionadas por não correspondu cm aos criténo>
definidos. de qualquer modo c importanie e>ta chamada de atencão.'°
Pithlico, 2 de Janeiro, pág. 21.
189
Luís Francisco. editor na época, questionado sobre o assunto. relleetiu um pouco sobre o
assunto e ficou também ele atonito, admitindo que a falta de um "despertador". dc um assunto
dcstacado, dcverá ter estado na origem das falhas na cobertura, mas que isso nao serve de desculpa:
"Poi.s.... terci a ver com o f'aeto cle ndo ter havido um despertador. que nos
atirasse para cima do assunto. F uma coisa de que ndo nos apercebemos afc algucm o
dizer. Provavelmente, ncio hottve acontecimentos qtte nos dessem o clie:
Provavelmente em 20(13 as coi.sas foram acontecendc, sem nunca haver uin
haque: Xes.sas alturas. os jornalistas têm tendêneici para irem fazendo oufras eoisas.
A/./.v ndo nos dcviamos esqtiecei: Xcio pociem passar seis mesc.s sem nbs termos feito
um trahalho mais desenvolvido. ds vezes femos ideias mas estamos ã espera de um
acontecimenio para que as coisas tenham a porta maior para entrar pela casa <las
pessoas. Xdo houve mudanea editoriai clo Jornal. o que ndo deve ter havido c afertas."
Semprc com atencÆo no critério da actualidade, I.uís Francisco deixa uma provoeacão sobre
o poder de agendamento dos media. Dá aqui conta dc um dado muito relevante quc tcm a ver com o
poder quc o jomahsta e os jomais têm dc colocar um tema na agenda ou de o excluir:
"... tamhém é verdade que se os jornais quiserem pociem Jazer impacfo
púbiico com uma coisa cjue ndo teria.
Podem ndo o Jazer de propbsito. Rastci esco/her para destaque num Jim-de-
semana, e as pcssoas todas leram, e pa.ssa a estar nti ordem do dia. Ftt ctcho que tem
de ter relevância jornalístiea. ponto um. tem de haver iuna noficia ou aigmna coisa
qtte mexct com as pessoas, tcm de haver um crilcrio de actualidade. Depois. um
assunto sb passa de notícia para algo mais quundo o tema tem profundidade c este
por natureza fem uma profundidade enorme de aspectos que se podem explorar"
Relativamcnte ao C.\/, a situacao tambêm Ibi de surpresa, dcsde logo a nível grálico. A
imagem do jomal de 2003 não tcm nada que ver com a dos outros anos em análisc. A reestruluracao
gráfica permitiu e condicionou a producão notieiosa. na medida em que muitas pecas apresentam o
mesmo molde gráfico. que pressupôe um texto principal. complementado por pequenos parágrafos.
alguns dcies semelhantes a pequcnas noticias ou breves. \s páginas passaram a estar mais
arrumadas com divisâo por seccbes. o que não aconteceu nos outros anos. o que trazia dilicuklades
acrcscidas na categorizacâo da seceão.
192
actuaeiĸ. sobre automôveis. pcssoas e estabcleeimentos. O mesmo relatôrio assume que houve um
auincnto global 5% da dchnquência juvenil, de 2002 para 2003. A criminalidadc grupal. em
particular. aumentou também em 7,1%. tendo havido mais 444 oeorrcneias. Os três grandes centros
urbanos mais destacados continuam a ser os mesmos: Lisboa. Porto e Setúbal. Os três representam
78.7° o do universo total.
0 ano de 2003, a nível mediático, foi marcado sobrctudo pelo Lscândalo Casa Pia. que havia
sido descoberto em linais de 2002.
Padrbes cle eoberlura dos cíois jornais
() dado mais importante a assinalar é, como já referido. a quebra na cobcrtura da
delinqucncia. especiahncnte aeentuada no Pitblico.
As fontes de infonnacâo escassearam no Púhlico. cm 19 unidades. 38,1% não aprescnta
fontes (o valor mais elcvado deste diário) e o Correio da Manhã, em 90 unidades. 36.2% não têm
rcfereneia a fontes (mesmo assim o segundo valor mais baixo deste diário). As policiais continuam
a ser dominantes percentualmente.
De assinalar que em 90 títulos no C\I apenas quatro continham gang. Nâo se pense.
contudo. que estes titulos do CM em 2003 nâo tinham tcrmos violenlos, pois os crimcs eram muito
variados e deixavam transparecer muita violcncia. como Três violam rapariga durante uma hora.
Idosa morta â facuda por Jovem assaltante. Jovem em fúria causa ptinico e Jovem agricle a facada
revisor cle eomboio.
Rclativamente ao Púhlico. é. igualmente, importante dizer que nenhum dos titulos
cncontrados em 2003 tinha a referência a gang.
L m ano invulgar
O fecho do ciclo, neste contcxto. significa o final do olhar sobre uma dezena de anos, de
1993 a 2003, nos quais o Púhiico e o C.U escrcveram sobre dciinquêneia juvcnil.
Olhar para as pcáginas do Públieo e do C.M em 2003 trouxc novas perguntas. Relativamente
ao Pitblico. quase foi preciso procurar "ã lupa" cada um dos trabalhos encontrados. Se o númcro de
primeiras páginas e de artigos de opinião nao diferiram muito de outros anos. com a excepcão dc
2000. a totalidade de unidades de redaccâo foi francamentc menor. Subsiste. assim. a dúvida
rciati\ amente ao que pode ter acontccido na producâo jomalística. Será que houve uma mudanca dc
linha editorial? Será que a Casa Pia foi mais avassaladora no Piiblieo'. Como é possivcl descer a
níveis noticiosos da dciinquêneia juvenil tão abaixo do que acontceia 10 anos antcs?
191
CM
1. 'ÁS IX) CRIME' APANHADOAOS 17ANOS'-
2. A/uno de 14 anos esfaqueia eolega na escolau'h
Cruzamento com Casa Pia
() impacto de acontecimentos traumátieos como foi o Caso CREL(1
prolonga-se no tempo c
é convocado com frequência. Outro exemplo. este mais prescnte no momento. é o caso Casa Pia
que se cruzou com as representacôcs dos jovens e do crime, na primeira página do Pitblieo no dia 3
dclunho.
Em PSP deteve /'ovens armados perto do Jttiz do caso "Casa Pia". vê-sc bem a importância e
as medidas dc seguranea existcntes á volta de um dos envolvidos no caso Casa Pia. o prúprio juiz
Rui Teixeua. Logo no tcxto da primcira página dá-se conta de que i;m dos jovens possuia duas
armas de fogo, carrcgadas. A posse ilegal dc armas é o terceiro erime mais refercneiado no Ptihlico
neste período. a par do homicídio e depois do roubo e do furto.
TRIBUXAIS FSTÃO A ELIMINAR PROCFSSOS TLTELARES DF MFXORFS. outra
primeira página do Pithlico. dá conta da existência de uma portaria publicada já em Outubro de
1999 que obriga ã climinaeao de proccssos que envolvem criancas e jov_T.s vitimas de maus tratos e
de abandono -
alguns dcies que acabam por enveredar pela dclinquência um ano depois de
atingirem a maioridade. A magistrada Dulce Rocha insurge-se eontra a portaria por considerar que a
preservacão do registo destcs processos. que contêm histôria> pessoais. c fundamental para que
magistrados e in\estigadores de outras áreas possam trabalhar. No final dcsta peea. faz-sc ainda
uma alusão ao Caso Casa Pia, alertando para a dificuldade e até para impossibilidade de
reeonstruvão dc histôrias e de accão nas situaeôes dos jovens de 19 anos implicados na Casa Pia.
Os peritos em "crime"
'AS DO CRIMF' APAXHADO AOS 1 7 AXOS. no C\L é uma manchele que sobredimensiona
a accão dc um menor. que é de certo modo endeusado pelas suas fagarhas no mundo do ilicito. A
fotogralia c\o prôprio é apresentada eom uma taixa negra a tapar os olhos. mas que c insulíciente
para ocultar identidade aos olhos de quem o conheeer. Este reírato (\o autor é rcforcado nas duas
páginas no intcrior com o título Palrao do crime aos I"
_//?avlíA
*
CorrcioJa Manhã, 1 de Jllllio, pãg. 1.""
Correio Ja Manhã. 23 de Sctembro. påg. I .
Importa dar emiia de que em 201)3 ainda sc encontram rcferércias ;u>s as^altos na ('RII. e â lentaiiva de violaeão da aclri/ I idia 1 ranco
(tanto no Pithiico como no Corrcio Ja Manlta). o que atesta a-. repcrcussôes que este aconlecimento \cio a tcr na vida social do pais.
dcsignadamentc ao ní\el das mcdidas de seguranca nas bomhas de gasolma, e também na memona mcdiática"
('orreio Ja Matiha. I de Julho, pags. 4 e 5.
194
Para aléin disso. uma das grandcs surpresas. pela positiva. teve a ver com o já abordado
aumento exponcncial das pecas assinadas. credibilizando a infonnacão. 'ferá havido mudancas de
fundo em 2003 ou anteriormente que tcnham condicionado a política editorial do jornal?
Manuel Catarino. que recorda a mudanca de Dircccão e de proprietário cm 2002. lanca
alguns dados importantcs sobre cstas perguntas, atinnando que as mudancas pelas quais o jornal
passou neste período foram decisivas para a credibilizacão junto do público.
"As mudaneas grájicas nos Jomais devem ser Jeitas a pensar no leitot: Alic'ts.
tudo no jornal cieve ser feito a pensar no leitoi; mais nada. Tudo tem cie ser f'eito de
acordo com os interesses cio leifoi: as mudaneas grájicas sâo feitas parct Jacilitar a
vida ao ieitor. para ter a página mais clara. a leilura lem de ser faei/itada. /.../ O
meihor trihuto que um leitor pode prestar a um jornal é dizer:- Esfe Jornal é fcicil
lei: É por isso que quetn trahalha num Jornal. desde os jornalistas aos grbficos. tem
de trahalhar no interesse do leitor"
As mudancas gráfícas tivcram implicacôes na forma como os assuntos passaram a ser
abordados. Ricardo Marques também rcconhece quc as modilicacôes foram positivas: "Aíargar o
espectro das eoisa.s e ver que. se eonseguir enquadrar de determinado modo. vai conseguir chegar
a pessoas a quem sb eom a noticia ndo chegava.
2003 na primeira página
As primeiras páginas de 2003 convocam assuntos muito dispcrsos, tanto se olhannos para
eada um dos jomais. como sc contemplannos os dois para tentannos encontrar partilhas dc agenda.
Mas. mais uma \ez. parece ser ccrto quc o CM dá mais atcncão aos acontecimentos.'episôdios do
quc âs temálicas. Destacamos ainda a presenca cspacial da componente escola enquanto local de
\iolência. que também tinha sido destacada para a primeira página no CM em 2000.
Púbiit 'O
1 . PSP deteve jovens armados perto dojuiz do caso "Casa Pia"
2 TRIBVNAIS ESTÃO A FLIMINAR PROCESSOS TLTELARES DE
MENORFS"'
''
Pithlico. 3 de Junlio. pág. 1.''
Pithlico. 1 5 de Junho. pág.
193
6. Algumas culturas de redaccão
Depois de nos centrarmos nos discursos dos jomais c nos seus enfoques. cruzando sempre
que possivcl esta mesma análise com exeertos dos discursos dos entrevistados. julgamos que é
agora neccssário dar conta mais cspecilieamentc das vozes dos editores e dos jomalistas. para
aprofundarmos a infonnacao sobre os modos de producão jomalística c as culturas de redaccao que
lazem com quc os discursos encontrados nos jomais tenham a contiguracão que têm.
Foram vários os pontos de divergência cncontrados nas respostas dos entrevistados, como já
vimos anterionnente. cmbora também surjam sinais de proximidade. De qualquer modo. o olhar
sobre as cntrevistas e sobre os jornais dei.xa transparccer uma coeivneia entre o que e aprcsentado
nas páginas dos diários e as linhas dos editorcs e as prôprias culturas de rcdaccãu que são inerentcs
a cada um dos periôdicos.
Nas prôximas páginas ircmos dar conta de mais algumas dessas práticas c escolhas
jomalísticas. que ainda apontam no sentido do jornalista generalista. das rotinas ditadas pelo
momcnto, pelo espaco existente no jornal, que tem de fcchar a horas. a tempo de sair no dia
seguinte.
A regra do "bom senso" ainda prcvaleee. de uma forma mais ou menos ev idente.
Esta linha é mais notôria nas respostas de Manuci Catarino (CA/i do que no discurso de Luís
Lrancisco {Pithlico). mas está presente na práiica discursiva de ambos os editores. No discurso dos
dois percebe-se que esta ineidéncia no bom senso tambéin tem a ver co u o exercício auto-regulado
do jomalismo.
Manuel Catarino. quando questionado sobre a linha editorial c\o C\i na cobcrlura da
delinquêneia juvcnil, dá conta da neccssidade de se seguir o "hom sensti". uma via que, aliás,
considera fundamental para o excrcício do jornalismo:
"Preva/ecc o bom senso. Xao hc't iinha ediioriai que vcí contra o hom sen.so e hom
gosto. Como Ihe di.sse. no caso de erimes que envolvam menores. eu acho que os menores
devem ser protegidos na sua ideniidade E a única diferenca quc vejo entre tratar um
easo dc deiinquência Juvenil e um caso semelhante com adultos. /.../ Xo caso de
delinquenciaJuvenil omitimos alé a identidade do de/inquente."
fste editor cxplicita. inclusive. o que eonsidcra scr apraxis gcnéica do jornalismo:
196
O inicio da peca é clucidativo da fonna como é preparado o trabalho: "O jovcm criminoso
mais procurado pelas polícias de todo o Pais. o Seabra. de 1 7 anos. foi detido em Lamego. pela
PSP, depois de uma carreira de furtos e assaltos que eomeeou no Monte da Capariea, na Margem
Sul do Tejo, quando ele tinha apcnas dez anos". A carga dramática desle excerto sente-se na tensão
existente faee âs accôes do sujcito activo. ncste caso singular. å "carrcira" promovida desde tenra
idade. percebcndo-se aqui uma dicotomia dcMnonizacio/endeusaeâo do actor.
A figuracão do jomalista quc actua em cima do acontecimento. na hora em que tudo
acontece. está presente neste trabalho. O jomalista Carlos Varela dá conta de um momento intemo
na redaccão: "'O Scabra foi apanhado*. A chamada telefônica caíra numa hora de frencsim de mais
um fecho de edicão do Correio da Manhci. mas o valor da infonnacao fez esquccer tudo". L a
captura do jovem delinquente de longa carreira foi destaque de "primeira" e da Actualidade.
No mês de Setembro o titulo de primeira página Alttno de 14 anos esfaqueia colega na
eseoia encontra um crimc violento comctido por um jovem, no rccrcio, por causa de uma zanga
relacionada com um jogo de futcbol. O jornal identifica-o como um jovem com trajecto do desvio.
com "um longo historial de dcsacatos na escola". No C\I. o terceiro crime mais refcrenciado nestc
período é o das ofcnsas contra a integridade lisica. depois do roubo e furto.
Ilícito informático
A emergência de crimcs infonnáticos associados a jovens está prcsente nos dois periôdieos.
JOVEM DETIDO POR DIFL'XDIR l'ÍRL'S IXFORMÁTICO "BLASTER.B" é o título de
uma notícia do Ptiblico, sobre um acto de delinquência menos comum, cometido por um nortc-
americano. Outro insôlito, desta vez em Portugal, em Beja. no mesmo jornal é L:\TVERSITARIO F
RAPAZDE 14 AXOSSUSPFITOSDE PIRATARIA.
No CM. P.I 'caca'Jovens porfraude na Internet dá conta de um outro crime infonnático. que
envolveu uma fraude com cartbes de crcdito. com jovcns entre os 14 c os 19 anos.
Síntese de 2003
Falando concretamcnte de delinquência juvcnil. este é um período pouco explorado pclo
Público. podemos atc dizer que as presencas na primeira página são muito circunstanciais e de certa
fonna ligadas å Casa Pia. No CM nitidamente assiste-se a uma normalizacâo da agenda. centrada
em casos do quotidiano, nos crimes em si mesmos.
195
e tiramos conclusbes rápidas, ttté porque nbs ndo vamos eserever leses. vamo.s edilar
notícias: temos ê que falar com as pessoas que têm as tcses ou que têm as noticias. Mas
ê um tema muito faiado, ctté porque tentamos Jomentar internamenle a autocritica e o
Jhtxo cle comunicaeao interna. /.../ esies tetnas. por serem sensiveis. por serem
penosos. por serem duros, são muito falados. na medida em ttue lú fora também sdo
muito falados pelas outras pe.ssoa.s."
Interessante é também a resposta de Ricardo Marques, cuc foi durante vários anos jomalista
do CM. quando sc rcfere a um momenlo muito específico da sua profissao: a cobertura do Caso
CRICL. altura em que as intenogacbes eram uma constante. embora a retlcxão fosse condicionada
pcia premência de realizacão da edicâo diária.
"Xdo Ihe vou dizer que nos scntávamos todos a fazer reunibes. Xdo é isso. O
gang da CREL e os assaltos do.s ptttos. e tocla a envolvência de como era o hairro.
como funciona a reinsercdo. Mas isso é uma ou cittas pdginas de uma seccdo que fem
sete ou oito ou nove: O editor fem deJeehar sele 011 oito ou novc páginas.
A discussdo a/i é uma discussdo, e ciepois hci oufro prohlema. c preeiso fecliar o
jornal, a vertigcm clo clia ./ dia é tal que ndo há tempo para questionui: acha.s qite'/ ... A
qnestdo é... Aconteceu isío. lemos cíe dar isto aos nossos leifores e femo.s de dar melhor
do que os oufros ddo aos leitores deles. Como podemos i'azer isto?"
Manuel ( atarino quando questionado sobre a existência de dcbalc no seio da redaeeao.
assegura que todos os casos importantes são debatidos. mas responde com pragmatismo. dando a
cntender que as eseolhas são do editor que deve sabcr a quem confiar os trabalhos:
"O editor tem a obrigctQdo cle conhecer os repbrteres com quem (rabalha. F
evidente que ndo é indijerente a personalidade dos jornulistas que trahalham comigo,
porque eu sei que hci un.s talhados para determinadas co'tsas e outros que funcionam
meihor noutros ambientes. Tenho de saber gerir isso."
Num momento mais å frcnte na entrevista. reforca esta ideia:
"\ao íenho um espírito muito demoercitico para essas coisas e centralizo as
decisbes. Xdo cieixo isso ao livre-arhítrio. Eu insisto que ele tem de saber e trazer aquiio.
198
"É a tninha pedra cie foque. E o hom senso e o hom gosto. Em termos práticos.
i.sso quer dizer: hom senso no trafamenfo. naforma cie tratar as coisas. bom senso na
forma como se licia com as fontes cie infbrmaedo, hom senso na escoiha, porque o
repbrter tem informacbes dispersas. Tem os ingredienies. E preciso Juntar tudo para
ter um ho/o comestível. E. por Jim. o hom gosto, para escrever um texto com bom gosto.
em que se omita aqueies aspectos mais patolbgieos."
Luís Francisco, reiativamcnte â linha cditorial de cobertura da dehnquência juvenil, diz:
"Xdo há nada cie definido sohre o assunlo na medida etn que ap/icam as linhas gerctis". Pega
também ele na necessidadc de bom scnso na prática do jomalismo. mas num contexto em que
aborda a utilizacão de estigmas sociais, quando, na sua perspectiva, constituem elementos
valorativos de infonnacão. Aponta para a neccssidade de o jomalista tcr "hom senso" nas escolhas c
nos momentos em que o dcve fazer ou nâo: "A/./.v. claro. tudo dej-ende cia forma como estd escrito,
i.sso é um exercíeio dicirio de autocontroio e de bom senso. O hom senso é a regra básica cio
Jornalismo".
Lsta regra, chamemos-lhc assim. está muito ligada, também, a um exereício da profissão,
que ainda assenta em pressupostos de conhecimento gcral dos assuntos e no saber escrever. como se
depreende das palavras dc Manuel Catarino:
""Para ser jornaiista. sdo exigíveis poucos predicados. Alguma hagagem
cultural, saher o que se passou no mundo nos iiltimos anos. pelo menos. Segundo. ter
licio muito. F lendo os clássieos aprendemos. depois, a escrevei: Xiugitém nasce
ensinado. A escriia aprende-se a ler coisas hem escritas. F. depois, hom gosto e hom
senso. Tdo simpies quanto isso"
É intercssante ainda verificar contextos cm que a delinquência juvenil suscita o debate na
redaccão. No caso do Piih/ieo. Luís Francisco assinalou a discussão feita de fonna informal num
contexto da organizacão da rotina diária, na reunião de scecão. ondc são aferidas conclusbes
rápidas. assinalando. porém. que e um tema muito comentado. por via da auto-crítica e também
porque esse é o reflexo do que se passa no resto da sociedade:
"Esse debate existe de uma forma informal. digamos. Ou sej'a. nbs ndo fazemos
uma reunido de scccdo pctra decidirmos como vamo.s tratar isto. o editor Ja/a coin o
jornalista ou com os jornaiistas que vcio tratar do assunfo e eom o director responsável
197
Neste contcxto da profundidade dc conhecimentos que o jornalista tem ou deve ter sobre um
assunto, é imprescindivcl recupcrar as palavras de Ricardo Marques quc tcm adquirido ao longo dos
anos saberes principahnente ad\ indos, como sc diz na gíria. da tarimba diária.
Reconhece que imprime regras específicas â cobcrlura da dciinquência juvenil, para
salvaguardar o nomc dos menorcs dc 16 anos. mas também o seu prôprio trabalho. para nao ser
confrontado negativamcnte pelos seus chcfes, quando não actua cm consonância com a lci.
"... mesmo que seJ'ale com os miúdos. eles ndo sabem. Otter dizer, eles sahem o
cpte dizem. mas Juridieamente o depoimento de um menor ndo é <> depoimento de um
aclulto. Agorct, se um de 17 anos falci comigo e diz i.sto... ai ndo lenho probîemas.
agora ndo ponho o nome dele, porque ndo é Justo. Lin miitcio que tto.s 15 anos anda a
fazer i.sto ndo tem de ao.s 3(1 estar a levar com o nome dele no jornal. Mas agora, vai
perguntar. mas o de 17 anos é sb doi.s ano.s mais ve/ho c/o que aquete: Porque parto do
princípio de queJci ndo pode emendar-se?"
Ricardo Marques. que assumc com clareza que os eonflitos cntre a legislaeao e a liberdadc
de informar sao saudáveis. reconheee que tomou eonhccimento das normas legais até para se
proteger a ele mesmo.
"Eu tenho presente /normas legaisj. porque tive preocupaeão de saber até onde
pociia ii: Estcunos aqui a Jalctr cla deiinquéncia. é um fenbmeno muito especifico. ma.s
imagine um caso cie abuso sexual. vamos pensar que você vai perguntar a uma rapariga
de 13 attos se o pai abusou de/a. Depois escrevo:-
o meu pai abusou de mim. Xdo f'aeo
isso. tamhém ndo faco quanclo tenho um miúdo num assalfo. Posso atcfaiar com ele. ina.s
ndo uso. f...J O valor daquclc festemunho em trihunal é o que é ... Sdo miiulos. ndo sdo
pessoas adulĩas, sdo injiueneiáveis e cu nisso tenho ciiidado porque quis. A/./.v também
ndo Ihe digo que no Corrcio da Manhã isso pa.sse facilmente."
O mesmo jomalista admite que nâo conhece a legislacão de mcnores em profundidade.
associando o íaclo âs condicionantes temporais do cxercíeio do jornalismo diário.
"Xdo conheeo a lei ao pormenor. se calhar devia conhecei: mas lenho as
minhas conviccôes que a maior partc Jas vezes coineidem com o que estci previslo na
Le't. Xdo lenlio itm conhccimento enciclopédico da legislacao. aí' ((//(//' devia tei; ma.s
200
O foco das pecas, o foco da notícia. o foeo. aquilo que c olhar sohre o assunío. isso é
discutido antes. durante e depois. eu leio e. muitas vezes. as pecas scio alteradas de cima
a baixo, outras vezes considero que esîá impeeável"
A cscolha dc jomalistas que \âo acumulando mais-valias importantes para a cobertura da
dehnquência juvcnil parecc scr uma rcgra no Público. Afere-se das palavras de Luís Francisco que
há um grupo de jornalistas. em Lisboa e no Porto, que sâo chamados a cobrir casos quc cnvolvam
dciinquência juvenil, com a excepcâo dos casos cm que não haja ninguém dessc grupo
desimpedido.
"Hci pessoas que até pelo facto de irem fazendo trabalhos nessa círea acumulam
um eapital de conhecimento e cie contaetos com pessoas que Ihes pertnite f'azer melhor.
A ndo ser que não haja disponibilidade: Aí. eu costumo ciizer que umjornalista tem de
ser generalista por definicdo, porque oJornaiisía é a pessoct que ouve de um iado e tem
que contar bs pessoas do outro. qualquer um poderá fazet: Provavelmente fará melhor
a pessoa que fá tem mais experiêneia quej'd conhece ciuas ou trcs pessoas que já fez
cluas ou três vezes e que tem termo de comparacâo. E normal que haj'a trcs ott quatro
ou cinco pessoas que trataram esse assunlo. quer quancio ele aconfece. quer quando
elas prbprias deteetam uma noticia que mais ninguém sahe. Jci ndo estamos no tempo
de sermos generalistas ahsolutos"
Ja no C\L segundo Luís Catarino, a cultura parece ser mais a de uma prática transversal a
vários jomahstas. reforcando mais uma vez a preferência por "elinicos gerais". atc pelo facto de as
redaccbes terem um número limitado de rcpôrteres, apesar de em situacbes de acontecimentos
continuados sercm dados, prcfereneialmente, aos jomalistas que os iniciaram, dc forma a asscgurar
o rigor da infonnayão.
"Prefereneiaimente. serci o mesmo jornalista a acompanhar o mesmo assunto
enquanto ele se desenrola. Mas. ds vezes há razbes práticas. porqne pocle estar de
folga Em casos excepcionais será substituído por ouîro. Mas há sempre o cuidado dc o
outro que o vai suhslituii; na véspera. acertar a.s agulhas e estar sempre contactável
teiefonicamenie para que ndo se diga assctdo e no outro dia cozido. Tem de haver
rigor, para que tenhamos sempre o mesmo rigor"
199
Dez anos em síntese
Da verificacâo empreendida. pcreebe-se quc o Ptiblieo é um jomal que aproveita momentos-
-chave para usar difcrentes enfoques na abordagem da delinquência juvenil. de cariz polítieo. de
dcbate e desmistiticacão de preconceitos ou acontecimentos quc fogen: ã rotina da delinquêneia. ()
CA/. por seu lado, centra-se mais no relato dos acontccimentos que fazem a agenda da delinqucMicia
no quotidiano, deixando de lado análises aprofundadas ou polémicas. jspceialmente as c\o íbro da
política. Apesar de o C\l ter scmpre mais unidades de redaccâo por período do que o Púbiico. isso.
até pcio dcstaque do tema cm primeiras páginas e em certos momentos na opiniao. não signiliea que
a delinquência seja assunto dc segundo plano no jornal de referência aqui estudado. Pelo contrário,
a análise parecc indicar quc esta tcmática é rcievante para o Pithlico, sendo este um dos aspectos
mais interessantes quc ressalvamos desta investigacão.
Lm 1993. o Púbiico mostrou dc imcdiato indignacâo pcia cobertura de O independente
sobre a dciinquência juvenil. tendo como base um relatôrio do SIS. () enquadramento raeista quc o
jornal de Paulo Portas deu â delinqucncia juvenil originou fortes crílicas por parte do jornal de
Vicente .lorge Silva. Aproveitando este trabalho da concon-cncia. o Pûoiico dcsenvolveu um plano
editorial. com lugar a pecas de jomalismo não opinativo, mas também cotn editorial e artigos dc
opiniâo. De uma fonna geral. assumiu-se editorialmentc contrário a uma visao social que associava
a delinqucncia juvenil e a inseguranya a bandos de "pretos e drogados". lin paralelo. denolou-se
nesta cobertura uma posiv'ão de contrapoder em relacao á agcnda política do minislro da
Administracâo Interna, no que coneeme â dclinquência.
Já o C\I centrou a cobertura desta época no registo factual dos acontecimentos. quer na
aprcsentaeão de pe^as que davam conta de fenômenos de delinquência, quer num olhar desprovido
de interprctacão face ãs medidas anunciadas pelo ministro.
O Caso Bulger também assinala diferencas entre os dois peribdicos. manifcstando mais uma
vez uma cobertura temática em oposicao a uma cpisôdica. Enquanto o Pith/ieo se auxiliou eom
"gancho" para abordar a temática da dehnqucncia juvenil, mesmo em Portugal. num destaquc que
foi chamado â primeira página e com infonnacão cnriquecida com declaracbes de diversas fontes. o
C\I centrou-se mais no relato de aconteeimentos. eom provenicneia dc agências noticiosas
intcrnacionais.
() ano de 1998 foi importante pcio debate político e soeial criac.o cm torno de refonnas no
âmbito do direito de menores e pela criaeão da CNPCJR. Apcsar de as medidas de combate â
delinquência terem sido alvo de atencão nos dois jornais. há diferencas a assinalar.
202
ndo hd tempo. Lma das coisas mais angustiantes cie trabalhar num Jornai dicirio como
o Correio da Manhã e que ndo hú tempo. Produz. produz, produz e o que se vai
aprendendo aprende-se por necessidade ou d custa das horas extra-trahalho"
Sem ter tido formacão específica nesta área, mostra-se. mesmo assim, empenhado no
aprofundamento de conhecimentos por via de fazcr vários trabalhos na área. o que lhe pennitc
conhecer pessoas e "niveis de realidade":
"Foi mesmo comecar e dedicar-me. entrar nos meio.s. comecar a conheeer as
pessoas. perceber os vários niveis cie realidade é uma questdo de interes.se. de
investimento na.s coisas. O facto de ncio aparecerem especialisfas nas pecas..., ci.s
vezes. falamos com as pessoas e ndo utilizamos. mcts i.sso ajucla a perceber as coisas e
vamo-nos completando em reiacão a esse assunto. As coisas aprendem-se. Xdo e
preciso tirar um curso. claro que t'sso ajudct. Xdo vou d'tzer que ndo. AJuda a ter hases;
a ter bagagem hibliográfica. Ficar a saber tuclo ou o mtiximo do quejá se disse sobre
isso. para quanclo olhar ndo oihar sb com os seus ollios. Agora. ndo é de menorizar a
experiência da rua e clo quolidiano. Xdo é por isso que o trahalho é menos bem f'eito"
201
limpar a imagem do ministro da Administracao Interna. No discurso da direita. o PSD e o CDS-PP
pediam cxplicacbes e exigiam que a legislaeão de mcnorcs infraetorcs fosse reforcada.
No seguimento destes momentos "quentes", cm 2001 eomccou a abrandar a inlensidade da
cobcrtura do Públieo. que destaea três primeiras páginas para a delinquêneia juvcnil. () tema é
abordado num enquadramento do aumento de homicídios cm geral. ainda relativamcnte aos graffifis
e å divulgacâo do Rclatbrio de Seguranca Interna - 2000. Assim. este jornal volta a destacar o tema
atravcs dc "cabides". que servem de motc para a sua exploracao. O CM pclo contrário. tem o dobro
de primeiras pãginas e nao se ccntra apenas nos "cabides", mas também. como noutros pcríodos,
nos acontccimentos do quotidiano. ligados ao acto delinquentc.
Da juneão destes dois períodos num ano. parece ser possível assinalar que o Pitbíico
continua a dar importância aos "ganchos" noticiosos para pegar no tema e o C\I socorre-se do
aconteeimento quotidiano.
Por tim, em 2003 o Piiblieo parece que se esqueceu de quc este tema existia. Foram poucas
as pecas encontradas. bem como pobre o tratamento conferido â temáiica. o que se pode explicar
pela auscneia de acontecimentos capazes dc despertar a atcncão do jornal ou pela ateneâo ao caso
Casa Pia.
() C\f. mais uma ve/. centrou-sc em acebes de delinquência, com titulos Ibrtes e chocantes.
Para alcm do olhar sobrc os jomais. é ainda de salientar os variados excertos das entrev istas
cfectuadas a jornalistas e a fontes polieiais, cue constiluem mais um vomplemento para a análise
global da forma como os jomalistas actuam na seleceão das notícias e d.; forma como as cobrem.
A cultura jomalística, eomo vimos. centra-se ainda numa prátiea do saber fa/cr que 6
atribuído â comunidade jomalístiea e quc a prôpria comunidade reek.ma. () conhecimento geral
sobre o mundo que os rodeia serve para cobrir divcrsos temas. O "clinico geral" e o mais evidente.
sendo que a prática tambcm não pôe de parte a necessidade de aprofandar conhecimcntos sobre
detenninadas materias, principalmente pela via da prática quotidiana. A capacidadc de gerir o "hom
senso" jornalístico toma-se uma arma necessária de trabalho. Nestc contexto. é de salientar ainda
que hcá uma certa "empatia" entre o que ressalta das páginas de cada un dos jornais e os discursos
dos jomalistas que se inserem em cada uma das redaccbes e das suas culturas.
204
0 Público socorre-sc de um trabalho de investigacâo sobre delinquência c também do Dia
Mundial da Crianca para falar de dclinquência juvenil, das necessárias alteracôcs legislativas e ã
criacão da CNPCJR. Mais uma vez. há uma ecntralidade em fontes diversificadas, que pennitem
um enquadramento temático do fcnbmeno. 0 jornal posiciona-se. de novo, com pala\ ras contra o
racismo e os estigmas criados em torno dos jovens desviantes. Porém. na ilustracão de ambos os
trabalhos acaba por cair no estigma, aprescntando imagens. provavelmente dc arquivo. de jovens
ncgros.
O C\í apcnas chama a primcira página uma confercncia de imprensa do ministro Vera
.lardim. sendo csta a única fonte. nâo aproveitando o momcnto para criar um cnquadramcnto
temático em tomo do tcma. anotando apenas algumas das palavras do ministro na conferência.
O terceiro período em análisc compoe-se dos últimos seis meses de 2000 e dos primeiros
seis meses de 2001.
No que concernc a 2000. foi marcado em ambos os diários por uma eobertura de excepcao.
no sentido em quc teve muito mais destaque em páginas nobres e também mais trabalhos. Isso teve
como origem uma série de acontecimentos (assaltos nos comboios da linha de Cascais e Caso
CRF.L) que. pela violência que envolveram e por serem extraordinários mesmo dentro da
dciinquência juvcnil. alteraram a agenda mediática c. pode dizer-se. a politica.
A nível mediático. a quantidadc de infonnacão e eontra-infonnacão (com notícias
veiculadas num dia nuns termos e depois mostradas de outra fonna difercnte) bem como os titulos
dramatizados contribuíram para uma ampliacâo dos acontecimentos. que também serviram para
encher páginas de jomais. numa época, a de Verão. na qual é dificil encontrar matéria jornalística.
No Público, por exemplo, várias pc\*as do âmbito da opinião abordaram os "gangs" e a actuagâo do
poder político e das polícias.
A infonnacão de ambos os jornais que já se descnhava antes do Caso CREL dava conta de
focos de violcncia grupal nas zonas urbanas da Grande Lisboa. que contribuíam para um ciima
generalizado de inseguranca. Os dois jornais deram conta nos mesmos dias dos acontecimentos da
linha de Cascais. da existência de inscguranca e de actuacâo dc grandes grupos de jovcns.
Apôs os assaltos. continuaram a destacar a dciinquência juvenil, sendo predominantes as
primeiras páginas que refcriam directa ou indircctamente o Caso CREL. Neste caso, a vítima mais
mediática. a actriz Lídia Franco. foi várias vezes referenciada nos dois jornais. tendo sido para
muitos o elemento que originou o dcstaque ao Caso CREL.
A agenda política durante o Vcrão foi dominada pelas sucessivas declaracbes do governo PS
sobrc estc caso, dando conta de detencôes, que depois chegavam a ser desmentidas, e tentando
203
jornais. a fonna como o "jovem" é associado a outras idades. que pode n scr também entcndidas no
conceito de juventude. está tendencialmente fora do âmbito jurídco estrito. Há. ahas. uma
propensao para ligar a juventude a idadcs de 16-21 anos. o que poderá ser explicado pelo facto dc
estcs jovens â facc da lei lerem um enquadramento juridico especicl. A marca das trajectbrias
delinquentes é perceptível em trabalhos noticiosos onde actuam jovens num largo escalão etário,
entre os 1 2 e os 2 1 anos. acompanhando a tendcncia que as polícias encontram no dia a dia.
Rclativamente â delinquência \ ciculada pelos media. há trcs ilícitos transversais: o roubo. o
furto e a agrcssão. No Públieo. em alguns momentos. cxiste ainda a ma:*ca mais acentuada do erime
de homicidio. Aqui importa cruzar a recorrência ao termo "assalto". q_ie não está contcmplado no
Cbdigo Penal. mas que dá conta de uma marcada ampliacão do crime de roubo associado a agressao
violenta e praticado de íbrma continuada ou mesmo insblita. A marea c\o "assalto" está muito
presentc no CM e no Piiblico especialmente no pcríodo de 2000, por via dos desacatos na linha de
Cascais e na CREL.
Outro factor que potcncia a ampliacâo dos acontecimcntos é a indicacâo da fonua como
actuam os jovens delinquentes. Distingue-se o refoi\*o da utilizacão dc qualilieativos como "gang",
inclusive em títulos de primeira página. especialmente em momenios "qucntcs" como o c\o Caso
CREL. De qualquer fonna, nâo estamos apenas pcrante uma ampliacão da aetuaeâo. cstamos
tambLMn. como referiram os entrevistados das forcas polieiais. perante um cfectivo aumento da
dehnqucncia grupal. Nao podemos di/er que os jornais estao a rabricar um aeontecimento, mas será
de notar a ampliacâo do mesmo, contribuindo para a criacâo de estigmas.
O valor-noticia proximidade foi encontrado no facto dc a dciinquência mais divulgada ser a
portuguesa. Aliás, no CA/é quase cxclusivamente portuguesa, enquanto o Púhlico é mais permeável
â cobertura de casos mediáticos inten.acionais.
A potenciacao c\o sentimento de inseguranca reflecte-se nas primeiras páginas. Neste
particular, olhar para o modo eomo as polícias sao retratadas nos jomais é indispensável. De um
modo geral. na análise quantitativa as polícias sâo vistas como actuantes. Porém, mais uma vez, os
momcntos de maior tcnsâo também revelam policias que não se entendem c que têm dificuldades
em actuar dc fonna positiva. Os proprios entrevistados ressentcm-se Je alguma fonua do modo
eomo os media olham para as polícias. O Caso CREL foi prodigo em revciar nos jornais as
fragilidadcs da sua aetuaeao.
A inseguranca associada â etnia "negra" esteve também na ribalta em 1993. a proposito da
divulgacao do relatôrio do SIS. A semelhanca do que também viria a aeontecer noutros momentos.
206
Cunclusôes
Olhar para a cobertura noticiosa da delinquência juvenil, perceber qucm são os scus actores.
quais os ilícitos cometidos. como csses actos são enquadrados e se a fonna como sâo divulgados
potencia sentimentos dc inseguranca. bem como caractcrizar a relacâo entre jomalistas c fontes na
cobertura da delinquência juvenil foram alguns dos pontos de partida desta dissertacão. Quisemos
comprecnder tambcm se haveria uma ampliacão da dciinquência, em que momentos e de que forma
isso acontecia.
O cruzamento dc metodologias revelou-sc fundamental e precioso para conseguir respostas,
uma vez que, por si sô, cada uma delas acabaria por sc rcvelar insuficicnte para a criacão de um
quadro integral sobrc o modo como os jornais analisados tratam a dehnquência juvcnil.
Tcntando responder âs intcrrogaebes levantadas pela revisâo tebrica. apontámos. entâo.
possibiíidades dc respostas. Comecámos por dar conta de caractcrísticas encontradas dos jovens
dclinquentes ao longo do tempo, como que estabelecendo um padrão. São predominantemente do
sexo maseulino, embora tambcm haja grupos mistos c dc actuaeão fcminina no singular. Na análise
qualitativa, pudemos verificar que elas ainda são tratadas por via do insblito c da estupefaccão facc
â violcncia dos seus actos.
Ainda no que respeita ás características dos jovens autores, um dos pontos mais
significativos será o cnfoque que é dado ãs suas caraeterísticas éinicas, chamemos-lhc assim. Ncstc
âmbito. surgiram na fase dc insercão de dados no SPSS várias interrogacbes. porque da revisâo de
literatura essencialmcnte de origem norte-americana e britânica. mas tambcm brasileira e
australiana - tinha sido sublinhada a tendcMicia para uma cobcrtura estigmatizante face ãs origens
ctnicas. Nos jomais portugueses que analisámos. conludo, quase nâo havia refercncias nessa
matcria. Porém, quando avancámos para a at.cáiise qualitativa das pccas com refercncias na primeira
página. zona de grande visibilidade e de captacão de atencão para a leitura das páginas de interior.
demos conta de que essa marca da etiqueta élica estava presente. contribuindo para uma
estigmatizacâo e ampliaccao do fenbmeno no que respeita a jovens de outras "cores" que não a
branca, os outros. L ainda de assinalar o tratamento diferenciado em crimes comctidos por jovcns
"brancos", ao nível da preocupacão de distorcão fotográlica e do prbprio cnquadramcnto. Nalguns
casos, houve como que uma tcntativa dc desculpabilizacâo dos nossos. c\o nosso meio. eomo
aconteccu com o jovem dc Nisa que sc suicidou e matou duas pessoas.
Outro dado relevante para melhor compreender as pereepv'bcs sobre a dclinqucMicia juvcnil
em Portugal, enquadrada juridieamentc entre os 12 e os 16. são as idades encontradas. Nos dois
205
com os sujeitos envolvidos. Dc certa fonna. estcs sinais de tamiliaridade tornam o discurso mais
popular. mais eentrado naquilo que 6 o dia-a-dia das relacbes sociais do quotidiano. o que pode
aproximar o leitor do jornal.
Rcconhecem-se aqui duas culluras de jornalismo distintas. As difcrencas manifestaram-se
nas páginas dos jornais e tambcm nas palavras dos entrevistados. O Piiblico parecc fazer um
trabalho dc maior mediacão entre os aconlecimentos c o público, revelando uma tendcncia, em
detemhnados momentos, para procurar explicaebes. assumindo que a delinquêneia juvenil e um
tema rcievante. Intcrcssante foi verificar quc. ao contrário do que scria de esperar. o Púhlico dá
conta nas suas páginas da importância que o tcma tem e isso foi reafirmado em entrev ista.
Já o C\f centra-se mais numa voeacão de uma mediacão de "traducão", ou seja. de
transmissão dos acontecimentos "como ocorreram". sem problcmatizavbes colaterais. fazendo uma
cobertura mais quotidiana. A delinquência juvenil acaba por andar muito a par e passo de outros
fenbmenos desviantes que também são importantes para o jornal.
0 cnfoquc noticioso em ambos os peribdicos centra-se. principahncnte. na cobertura
quotidiana, no simples rciato do que aconteceu, muitas vezes em brcves e notícias que mais
parecem autos de ocon-ência. Mesmo a análise mais qualitativa, do capítulo V. pennite ver quc as
trajectôrias dos delinquentes -
as biografias - também não constitucm enlbque preponderantc. No
Pithlico há uma dispersao por enfoques colaterais â dchnquência (diversas "portas de entrada") e
no CM a infonnacão c de facto mais seca e directa. centrada no aeontecimento. Causas e soluebes
para a delinquémcia são praticamente inexistentes.
A linha editorial do Púb/ico. que apoir.a para a importância do t^ma, até pcias possibilidade
de entradas que permite. tcndc, julgamos, a centrar os enfoques nos contextos políticos c legais da
delinquêneia. que muitas \ ezes acaba por ser tratada de um modo eolateral. O C\I revelou. por seu
lado. uma tendência para dcsprover os seus trabalhos de um cnquadramento além do relato. ICslas
duas formas dc estar no jomalismo não sb ressaltam ao olhar para as pcáginas dos dois jornais, como
ainda das vozes dos scus jomalistas e editores. Percebe-se que as cuiuras de redaecao de facto
intluenciam a fonna como os jornalislas tratam a dciinquêneia juvenil.
A luz dos prcssupostos encontrados na revisão de literatura sobre a cobertura da
dclinquência juvcnil, estamos assim perante uma cobcrtura mais episôdica do que temática nos dois
peribdicos.
208
assistiu-se a uma polarizacão de discursos políticos face ao fenômeno da delinquência juvenil.
essencialmente entrc a direita, com preocupacbes mais securitárias. e a esquerda, mais ccntrada nas
problcmáticas sociais em torno dos jovens. Os discursos mais sceuritários e também mais
infiamados vieram de vozes å direita. Convém. mesmo assim. assinalar que. não nos discursos mas
na prática. foi durante govcrno do PS que se comecou a tentar envcredar por uma legislaeão,
neccssária, mas mais fortc, que separa jovens vítimas de vitimadorcs.
As áreas geográticas mais visíveis nos jornais são as urbanas e litorais. ondc se concentram
as grandes cidades e onde a delinqucMicia tambcm é mais notbria. Foi precisamente nessas zonas
urbanas que as \ itimas ganharam mais relevo. O valor-notícia da notoriedade provou ser importante
para que um assunto conquiste espaco noticioso. Se as vítimas cram relegadas para um plano
secundário face aos \itimadores, uma delas teve grande destaque: Lídia Franco durante o Caso
CREL. Embora haja excepcbes. a vítima costuma ser "branca", denotando-se mais uma vez a
bipolarizacâo entre nb.s c o outro. o vitimador.
Locais dc movimentacâo pública, como os espacos abcrtos. transportcs públicos e lojas são
sítios referenciados na actuacão dos jovcns delinquentcs. Em 2000. as bombas de gasolina foram
tambcm focos de inscguranca.
No que conceme âs fontcs noticiosas, há aspectos a rcter que são transversais aos dois
jornais. As fontes polieiais são as mais rcferenciadas, o que não é de estranhar uma vez que estamos
pcrantc um tema onde estão prescntcs ilícitos. Mas deveriam scr apenas estas as fontes recorrcntes'.)
Pensamos que não. Ilá uma panôplia de fontes âs quais os jomalistas podem ter acesso. como os
proprios entrev istados reconhecem.
Quando analisamos as fontes, percebcmos que estamos diante dc dois tipos de jornais e de
coberturas noticiosas. O Público. que tcm ao longo do período uma linha mais ccntrada na audicão
de fontes. apresenta práticas noticiosas que revelam quc dá mais valor aos chamados especialistas
do que ås vozes locais. como tcstemunhas. Esta rclaeão entre cspecialistas.cientistas e os jornalistas
c por vezes complicada. Para além do facto de os especialistas nem sempre estarem intcressados cm
dar a cara por assuntos problemáticos. como é a delinquência juvcnil, têm uma linguagem que
muitas vezes nâo se compadece com os critcrios noticiosos de simpliticacão da mensagem.
0 CM. por seu lado, com cxcepcão de 2000 e 2003. revclou grande inclinaccão para nâo citar
fontes. Mas, alcm das policiais. tem uma tendência difcrente da do Ptibiico. uma vez que a sua
cultura de rcdaccão está mais vocacionada para eseutar as pessoas que testemunharam um facto ou
as que estão mais prbximas dos autores. por cxemplo os familiares e os amigos. No CM, há um
crivo de um discurso de identiticacão relacional (van Lecuvvcn: 1998, 204). uma maior proximidade
207
Pensamos ser possível sustentar ainda, á luz da revisão de litcratura, quc o Caso CREL
constituiu um momcnto de pânico moral. potenciado por factores que se prendeiu com a violência
do acto. mas tambcm com a existcMicia dc uma vítima com notoriedade. com uma polarizaeao
política que manteve o assunto nas páginas dos jomais por muito tempo e também por uma
transmissao da imagem de descntcndimento entrc as for(_:as policiais. Nos dois jomais. encontraram-
se componentes do coneeito de pânico moral. dc Cohen, centrados num exagero na informaeão e na
fonna como eram criadas parangonas, com elementos que iam indicando que algo de semcihante
poderia ocorrer dc novo e também com o recurso a expressbes simbblicas. capazes. também. de
transmitir mais facilmente a infonnacão.
Deixamos agora algumas pistas que podem ser úteis para uma mclhor cobertura desta
iemática. Um estudo dcsta natureza podc servir como ponto de reflexãe junto da classe jornalística.
para que esta possa olhar para a fonna eomo realiza o trabalho e, quem sabe, aferir o que de melhor
e de pior faz. Aliás. da sensibilidade que tivemos nas entrevistas. os jornalistas. embora tenham os
seus inodus operandi e saberes. estâo dispostos a ouvir e a reíleetir sobrc o seu trabalho. . .
Neste aspecto. há dois ou três pontos a assinalar:
Lmbora se saiba que conslrangimentos como o tempo e o espaco são limitativos do
exercício do jomalismo, não será de descurar um conhecimento que vá além do bom senso e da
tarimba do quotidiano. Conhecer a legislacâo, as teorias assoeiadas ao desvio e â juvcntude são
sempre bons princípios c contribuíriam, por certo, para trabalhos tnais prb-activos.
A contextualizacâo dos factos e dos acontccimentos também é uiua boa forma de dar a
conhecer realidades quc nem sempre sâo do domínio públieo e que podem conlribuir para uma
menor esligmatizac'ão dos dclinquentes.
Também nos apercebemos de que a relacão com fontes especiali/adas é. por ve/es, um
entrave á realizacâo do trabalho jomahstico. Sc os jomalistas poderiam fazcr um csforco 110 sentido
de melhor compreender os especialistas. os espeeialistas das mais diversas áreas tcriam a ganhar se
fossem eontribuindo para uma boa informa^ão. mesmo que o resultado íuio seja o esperado ã
primcira tentativa.
Um ponto de partida pode muito bem ser o ponto de chegada. Ainda a meio da investigacáo
foram surgindo novas perspcctivas de pesquisa, algumas das quais foram concretizadas e outras
ficaram para prôximas oportunidadcs.
A dada altura. ponderou-se o alargamento temporal do trabalho para podcr olhar de fonna
mais sistematizada dois assuntos assoeiados á dciinquêneia juvenil nos anos mais rccentes: o
210
No Pitblieo. a cobertura temática. quando existente. cntronca em "cabides"
estudos/relatbrios. acontecimentos de exccpcão ou atc quando se eomemora uma data -
que servcm
de ponto de partida para um tratamento mais aprofundado e contcxtualizado.
Já no C\I a dehnquência apareee como um assunto quotidiano. Não há espaeo para
problematizacbes. dá-sc conta c\o que aconteccu no dia-a-dia. E nestc particular, em tennos
quantitativos tem uma cobertura mais intensa do que a do Pitblico.
Ilá "picos" em que a delinquência juvenil pcrmanece nas páginas dos jornais. quer no
interior quer nas "primeiras". No seguimcnto do quc acabamos dc vcr, isso é mais prcponderante no
Públieo. Quando um dctenninado acontecimento desviante fica sob os holofotes mediáticos -
ou
quando os meciia posicionam os holofotes , destaca-se a delinquência. designadamentc na primeira
página. O excmplo mais marcante é o Caso CREL, que fez com que o Publico se mantivcsse
focalizado na delinqucncia juvenil durante um largo período de tempo. A dclinquência não é um
tema constante no Piiblico. mas como se percebeu pela cobertura nas primeiras páginas e tambcm
pcias palavras do entrevistado destc jomal, procura não deixar eseapar o que considera ser
mediática e socialmente importante. O CM. por seu lado. quotidianamente dá conta de easos de
delinquência juvenil e lambém aproveita picos noticiosos, mas não se centra. designadamcnte, em
di\ ergêneias políticas.
Ao longo desles anos, o grandc "pico" noticioso foi rcalmcnte o da CRLL que se manteve
aceso nos dois jomais. embora por mais tempo no CM.
Chegados a estc momento, consideramos que o olhar atento sobrc os jornais pcrmite atinuar
que nâo existe uma partilha de agendas no que toca â cobertura da delinquência juvenil. Os dois
diários dâo conta dc tcmas diferentes e com cnfoques difcrentes. em dias diferenles. Ilá porém,
cxcepcbes. sendo a mais cvidente a cobertura do Caso CREL, como se viu. Aqui, julgamos poder
dizer quc há uma partilha de agenda no tema, nas expressbes e na exacerbaeão da actuacão grupal.
Sâo duas conccpcbes editoriais diferentcs e que servcm os seus públicos, tambcm diferentes.
Uma qucstão que acompanhou cste trabalho teve a ver com a possível ampliacâo da
delinqucncia, potenciando-se a inseguranca e o pânico moral. Se os jomalistas não inventam a
realidade, o que aliás é consubstanciado pclas deelaracbes dos entrcvistados das polícias, potenciam
os acontecimentos, quer pela repeticão quotidiana da matéria quer pelo seu destaque nas primeiras
páginas e em trabalhos de maior Iblego.
209
"pseudo"-arrastão de Carcavelos (2005) ou a morte da transsexual Gisberta (2006). no Porto.
associada a jovens institucionalizados. Sâo dois acontecimentos relcvantes social e mediaticamente.
mas o alargamento a outros temas e períodos temporais também poderia potenciar a dispersão de
análise e dc dados. Por isso, mcsmo essa possibilidadc foi deixada cm stand b\:
Estcs assuntos, bem como algumas pontas soltas associadas ao conjunto de unidades de
redaccâo reeolhidas. poderão constituir focos de aprofundamento posterior.
Se este é um tema com várias "portas de entrada". sabemos que pode ser mais explorado
futuramente. Tendo em conta que esta temática foi por várias ve/.cs ligada âs problemáticas da
política e da inseguranga, surge a pcrgunta: scrá que os jovcns e as dclinquências juvenis constituem
temas apetecíveis durante as campanhas políticas'? Sempre foi assim ou são preocupacbes mais
reccntes? Os jovens em geral têm conquistado espaco na agcnda política?
Para além disso. como sc scntem os jovcns quando olham para notícias sobrc si mesmos nos
medici. Os jovens continuam a ser retratados por adultos e há poueos estudos de recepcão nos
cstudos dos meciia em Portugal.
Lstas constatacbes e questôes são rcferências a não perder de vista.
211
Carvalho. Maria Joâo Leotc de (2000). "Violêneia L'rbana e .luventude: 0 Problema da
Dclinqucncia Juvenil". Infdncia e Juventude, n° 3. 27-47.
Carvalho, Maria Joao Leote de (2001). "hnagcns da delinquéncia juvenil na imprensa".
Infcincia e Juventude. n" 3, 65-1 3 1 .
Carvalho, Maria João Leole de (2003). Entre as Malhas do Desvio Jovens, Espacos,
Trajectbrias e Delinquências. Oeiras, Celta Editora.
Castells. Manuel e lnee. Martin (2004). Conversas com Manuei Castells. Porto. Campo das
Lctras
Center for Media and Public Affairs (1999). "Violence Goes to School Hovv IV Ncws has
Covered School Shootings". \iedia \Ionitor, vol. XIII, nrt 3.
Chávez. Vivian e Dorfman, I.ori (1996). "Spanish language television news portrayls o(
youth and violencc in Califomia". International Ouarterlv ofCommunity Ileahh Fducation. 16(2):
121-138.
Chcsney-Lind. Meda e Paramore. Viekie (2001). "Are girls ge.ting more violent". Joumal
oj Contemporary Crimina/ Justice, vol. 17. n° 2. 146-166.
(V)hen. Albert K. (1971). "La Dévianee". Sociologie Xouvclle - Théories, Gemblaux,
Editions .1. Duculot.
Cohen. Albert K. ( 1 9 7 1 a ) . Deiinquent Boys: the Culture ofthe Oang. Nova lorque. The Lrec
Press.
Cohen. Stanley (1988). Mods and Rockers: the Invcntory as Manufacturcd News. In The
Manufacture of the Xews. Deviance Social Prohiems and the \fass Media. org. Sianley Cohen e
.lock Young. Londres, Constablc.
Cohen. Stanley (I988a). Sensitization: the Case o\' the Mods and Rockers. In The
.Manujacturc oj the Xeus. Devicnce Soeial Prohlems and the A/./.v.v Media. org. Stanlcv Cohen c
Jock ^oung. Londres, Conslable.
Comissão dc Assuntos ( onstitucionais, Direitos. Liberdades e Garantias Subcomissao de
Igualdade de Oportunidades (2005). Rclatorio das Audiv'bes Efectuadas no Âmbito da "A\aliav'ão
dos Sistemas dc Acolhimento, Protec\ão e Tutelares de Criancas e Joveis".
Comu, Daniel (1994). Jorna/ismo e Verdade Para uma Etica da /nfãrmacdo. Lisboa,
Instituto Piaget.
Costa. Pere-Oriol. Tomero. Jose Manuel Pércz e Tropea, Fábio (2000). Trihus Lrbanas.
Barcclona e Buenos Aires. Paidôs.
Council of Europc Publishing (2004). Urban Crime Preventim, Editions du Conseil dc
L'Europe.
214
Bibliugrafia
Almeida, Carlota Pi/arro c Vilalonga, Josc Manuel (org.) (2005). Cbdigo Penai. Coimbra.
Edicbes Almedina.
Alves. Natália (2002). The Juvenile Crisis and the Construction oí' Youth in Portugal. In
Rolling Youth. Rocking Societv. Paris, LNESCO.
Arfuch, Leonor (1997). Crimines y Pecados: de fos Jbvenes em la Crbniea Policial. Buenos
Aires, UNICLL Argentina.
Bcck, Ulrich (1993). RiskSocieiy. Londres. Califômia e Nova Deli, SAGL Pubhcations.
Becker, Hovvard S. ( 1991 ). Outsiders. Nova Iorque. The Free Prcss.
Bele/a. T. (1999). "Violcncia. Crimc e Sociedade". Stress e Violência na Crianca e no
Jovem. Dcpartamento de Educacão Mcdica e Clínica Univcrsitária de Pediatria. Lisboa.
Bemburg, Jôn Gunnar c Thorlindsson. fhorolfur (1999). "Adolescent violcnce. social
control, and the subculturc of delinquency". Youth andSociety. vol 30. n° 4, 445-460.
Bessant. Judith (1997). What the Papers Say: the Media, the •UndercIass, and Sociology. In
Youth. Crime & the \iedia. ed. Judith Bessant e Richard Hill. Tasmânia, National Clearinghousc for
Youth Studies.
Bird, S. Elizabeth e Dardene. Robert W. (1999). Mito, Registo e T:stbrias,: Explorando as
Qualidades Nan'ativas das Notícias. In Jornalismo: Ouestbes. Teorias e 'Estbrias', org. Nelson
Traquina. I.isboa, Vega Editora.
Bierrcgaard, Beth (2002). "Self-defmitions o\' gang membership and involvement in
delinquent activities". Youth & Society, vol. 34. n° 1. 31-54.
Boudon. Raymond e BouiTÍcaud. Francois (2002). Dicionnaire Critique de la Sociologie.
Paris, Presscs Universitaircs de France.
Bourdieu. PieiTe (1980). Ouestions de Sociologie. Paris, Les Éditions de Minuit.
Brake, Michael (1985). Comparative Youth Culture. Londres, Boston. Vkiboume e Henley.
Routledge & Kcgan Paul.
Brown. Sheila (1998). L'nderstanding Youth ancl Crime: Listening to Youtli?. Filadcltia.
Opcn University Prcss.
Bulc. Gregor (2002). "'KilI the Cat Killers: Moral Panie and Juvenilc Crime in Slovcnia".
Journal of Communication Inquiry, 26:3. 300-325.
Carapinheiro. Graca (2001). A Globalizav'ão do Risco Social. In Glohaiizaedo, Fataiidade
ou Ltopia'X Porto, Edicbes Afrontamento.
213
Fairciough. Norman (1998). Discurso. mudanca e hegemonia. In Análise Critica do
Discurso org. Emília Ribeiro Pedro. Lisboa, Caminho.
Ferreira. .1. M. Carvalho et al (1995). Sociologia. Amador... Lditora McGraw-Ilill dc
Portugal.
Fine. Gary Alan (2004). "Adolescence as eultural Toolkit: High School Debate and the
Reportoires ofChilhood and Adulthood". The Sociological Quarterly, \o\. 45. n" 1.
Fonseca, Antônio Castro (2004). Criancas e Jovens em Risco: Análise de Algumas Questbes
Actuais. In Criancas e Jovens em Risco, cd. M. Hclena Damião da Silva, A. Castro Fonseca. l.uis
Alcoforado, M. Manucla Vilar e Cristina M. Vicira. Coimbra, Almedinr.
Frias. Graca (2002). A Construcâo Social do Scntimento de Inseguranca cm Portugal na
Actualidade- Volume I e II. dissertagâo de mestrado apresentada na Unhersidade Nova de Lisboa.
Laculdade de Cicncias Sociais e Humanas.
Gabinete de Lstudos e Planeamento do Ministcrio da Justica (1295). Inqucrito de Vitimacão
1994, Lisboa.
Galland, Olivier (2003). Adoleseence. Post-Adolescence, Youth. Revue Francaisc de
Sociologie. selcccão anual em inglês. supl. 44.
Galland. Olivier (2004). Sociologie de laJeunesse. Paris, Armand Colin.
Gamciro. José e Dantas. Ana (2000). Conelusâo -
Tracos Cru/.ados e Riscos dc Vida. In
Traeos e Riscos de Vicia, coord. José Machado Pais. Porto, Ambar.
Gans, Herbert .1. (2003). Democracv and tlie Xews. Nova lorque, O.xlbrd University Prcss.
Gersâo, Lliana (2003). 0 Processo Tutciar Educativo e as Func-ôcs dos Juí/.es Sociais. In
Citidar da Justiea cie Criancas e Jovens. Coimbra. Almedina.
Ghiglione. R. e Matalon. B. (2005). O Inquérito. Oeiras, Celta hditora.
Giddens. Anthony (1986). The Constitution of'Socioiogy. Cambridge, Polity Prcss.
Giddens. Anthony (1998). Sociology. Cambridge (RU). Polity Prcss.
(iilliam Jr.. Lranklin D.. lyengar. Shanto. Simon, Adam e Wright. Oliver (1997). Crimc in
Black and Whitc: The Violent. Scary World of I.ocal Nevvs. In Do the Media Govern?. ed. Shanto
Iyengar e Richard Reevcs. I housand Oaks. Londres e Niwa Dcii. SAGE Publieations.
Goffman. Erving (1986). Frame Analysis. Boston, Northeastem University Press.
Goffman. Lrving (1988). Estigma Xotas sohre a manipulaedo da Identidade Deferiorada.
Rio de Janeiro. Livros Técnicos c Cientííicos Editora.
Goncalves. Rui Abrunhosa (2002). Delinqucncia, Crime e Adaptaedo â Prisdo. Coimbra.
Quarteto.
216
Critcher, Chas (2003). Moral Panics and tite Media. Buckingham-I iladélfia, Open
University Press.
Crilcher, Chas (2005). Mighty Dread: Joumalism and Moral Panics. In Journalism: Critical
Issues, ed. Stuart Allan. Bcrkshire. Opcn L'niversity Press.
Cruz. Manuci Braga e Reis, Luísa (1983). "Criminalidade e delinquência juvenil em
Portugal". Estudos e Documentos, série "'Sociologia da Juventudc". Lisboa, Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de I.isboa.
Cusson, Mauriec (1998). Criminologie Actuelie. Franca. PUF.
Cusson. Maurice (2006). Criminologia. Cruz Quebrada. Casa das Letras.
Cytrynblum. Alicia (2004). Xihez y Adolesceneia en la Prensa Argentina. Periodismo
Social. Capítulo Infância.
Dcacon, D.. Piekering. M.. Golding. P., & Murdock, G. (2002). Researching
Communications. Londres. Amold.
Dearing, James W. c Rogers, Lverett M. (1996). Comunication Concepts 6: Agenda-Setting.
Thousand Oaks, Sage.
Dick, Hilário (2003). Gritos Silenciados, mas Evidentes. São Paulo, Edicoes Loyola.
Dorfinan. Lori e Woodruff. Katie (1998). "The rolcs of speakers in local television nevvs
stories on youth and violcnce". Journal ofPopular Film & Television. 26(2):80-85.
Dorfman. Lori, Woodruff, Katie, Chavez, Vivian and Wallack, Lavvrcnce (1997). "Youth
and violence on local tcievision ncvvs in California". Ameriean Journai of Public Health.
87(8):1311-1316.
Entman, Robcrt M. (1997). Modem Racism and Imagies of Blacks in Local Television
Ncvvs. In Do the \iedia Govcni?. ed. Shanto lyengar e Richard Reeves. Thousand Oaks. Londres e
Nova Deli. SAGE Publications.
Esbensen, Finn-Aagc e Weennan. Frank M. (2005). "Youth (iangs and Troublcsome Youth
Groups in the Unitcd States and the Nctherlands". European Society ofCriminology. vol. 2 (1 ): 5
37: 1477-3708.
Fsbensen, Finn-Aage, Deschencs, Elizabeth e Winfree. Jr.. L. Thomas (1999). "Differenccs
bctvvcen gang girls and gang boys". Youth and Socieĩy, vol. 31. n° 1, 27-53.
Lsbensen, Finn-Aege. Winfrce, Jr. L. Thomas. Ile. N'e e 'laylor. Terrancc J. (2001). "Youth
gangs and defínitional issues: when is a gang a gang. and vvhy docs it matter?". Crime &
Delinquencw vol. 47, n" 1. 105-130.
Estrada, Felipe (2004). "The Transfonnation of the Politics of Crime in High Crime
Socictics". F.uropcan Joumal ofCriminology. SAGE, vol. 1 (4) 419-443.
215
Loureneo, Nelson e Lisboa. Manuel (1996). Violência. Criiainaiidade e Sentimento de
Inseguranca, Separata da Revista "Textos". n° 2. págs. 45-64. Lisboa. Centro de Lstudos
Judiciários.
Macedo. Alberto (2004). Jovens Sem Escolhas. Albcrlo Macedo.
Machado. Carla (2004). Critne e Inseguranca. Lisboa, Fditorial Noticias.
Machado. Carla (2004). "Pânico moral: Para uma rcvisao do conceito". Interaecbes:
Sociedade e as Xova.s \fodeniidades, 7, 60-80.
Marques, Filomcna, Almeida. Rosa e Antunes, Pedro (2000). "raeos Falantes - A Cultura
dos Jovcns Grafliters. In Tracos e Riscos de \ /'_/./. coord. Josc Machado Pais. Porto. Ambar.
McManus. John e Dorfman, Lori. (2002). "Youth violence stories focus on cvents, not
eauscs". Xewspaper Research JournaL 23(4): 6-20.
McQuail, Denis (2003). Teoria cla Comunicaedo tle \Iassas. Lisboa, Fundacao Calouste
Gulbenkian.
Merton. Robert K. (1968). Sociologia. Teoria e Estrutura. São PjuIo. Dinalivro.
Molotch. Harvcy c Lester. Marilyn (1999). As Notícias como Procedimento Intencional:
Accrca do Uso Lstratégico de Acontecimentos de Rotina, Aeidentes e Fscândalos. In Jornalismo:
Questbes, Teorias e 'Estbrias\ org. Ncison Traquina. Lisboa, Vega Lditora.
Moura Lerreira, Pedro (1997). "Dciinq.icM.cia Juvenil. Família c Cseola". Ancili.se SoeiaL vol.
XXXII (143). 913-924.
Moura Feneira. Pedro (2000). "Controlo e Identidade: a N'ão Conformidade Durante a
Adolescêneia". Sociologia, Problemas e Prdticas. n° 33.
Moura Fcneira, Pedro (2000a). "Infraccão e Censura Representav'bes e Percursos da
Sociologia do Desvio". Anãlise SociaL vol. XXXIV (151-1 52). 639-671
Negreiros, ,lorge(2001). Delinquências Juvenis. Lisboa, Editorial Notíeias.
Pais, Josc Machado (2003). Cuituras Juvenis. Lisboa. hnprensa Naeional-Casa da Moeda.
Pais, José Machado e Blass, Leila Mana (2004). Trihos L'rhaaas - Producão Anistiea e
Identidades. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais.
Park. Robert L. (198-1). Community Organization and Juvenile Delinquency. In The City.
Park e Burgcss. Chicago e Londres. The Univcrsity ofChicago Press.
Park. Robcrt L. (1984a). The City. In The Citv, Park e Burge-s. Chicago e Londres. The
University ofChicago Prcss.
Pasquier, Dominique (2005). Cultures Lyeéennes La Tyrannie de la Majoritê. Paris.
Editions Autrement.
218
Goode, E. e Ben-Yehuda, N. (1998). Enter Moral Panics. In Constructing Crime, ed. Gary
W. Pottere Victor L. Kappeler. Illinois. Waveland Press.
Griffin, Christine (2001). "hnagining Nevv Narratives of Youth". Childhood, Vol. 8(2): 147-
166.
Gusmão, Neusa Maria Mendcs (2004). Os Filhos de Áf'riea em Portuga/. Lisboa, Imprensa
dc Ciências Sociais.
Hall. Stuart (2003). The Work of Reprcsentation. In Representation: Cultural
Representafions and Signifving Praetiees. ed. Stuart Hall. Londres. Calitbrnia e Nova Deli, SAGE
Publications.
Hall. Stuart (2003). 'fhe Spectaclc of thc 'Other'. In Representation: Cu/tural
Representations and Signifying Practices. ed. Stuart ílall. Londrcs, Califomia e Nova Deli. SAGL
Publications.
Hall. Stuart. Critcher, Chas. Jefferson. Tony. Ciarke, John e Robcrts. Brian (1999). A
Producao Social das Notícias: O 'Mugging' nos Media. In Jornalismo: Questbes. Teorias e
Estbrias'. org. Nclson Traquina. Lisboa. Vcga Editora.
Hardiman. Paul Soto e tal (2004). Youth and Fxc/usion in Disadvantages L'rhan Areas:
Adressing tiie Causes of Violenee. Council of Europe Publishing.
Hil, Richard (1997). Waves, Lpidemics and Racial War. In Youth. Crime «3. fhe Media. In
Youth, Crime & the \fedia, cd. Judith Bessant e Richard Hill. Tasmânia. National Clearinghouse for
Youth Studics.
Iyengar. Shanto (1991). Is Anyone Responsihie'? . Chicago e Londres. The University of
Chicago Prcss.
lyengar, Shanto (1997). Framing Rcsponsibility for Political Issues: The Case of Poverty. In
Do the Meci'ta Govern'?. ed. Shanto lyengar e Richard Reeves. Thousand Oaks. Londres e Nova
Deli. SAGE Publications.
Lane, Jodi (2002). 'Tear of gang crime: a qualitative cxamination of the four perspectives'2
Journal of Research in Crime anci Deliqueney. vol. 39, n° 4. 437-471.
Lane. Jodi e Meekcr. James \\ 2 (2000). "Subcultural diversity and the fear of crime and
gangs". Crime & Deiinqueney. vol. 46, n° 4, 497-52 1 .
Lemcrt. Edvvin (1978). "Primary and Secondary Deviation". In Martin Wcinberg (orgs.),
Deviance, tlie /nleractionist Perspective. Nova Iorquc. Mac.MiIlan Publishing Co. Inc.
Lourenvo, Nelson e Lisboa. Manuel (1992). Representacdes da Violência. I.isboa. Centro de
Lstudos Judiciários.
217
Sercombc, Howard (1997). Youth Crimc and thc Lconomy of News Produetion. In Youth,
Cr'une & the .Meciia. In Youth, Crime & the \Ie<iia, ed. Judith Bessant e Richard Hill. Tasmânia,
National Clearinghouse for Youth Studies.
Silveirinha, Maria Joâo (2005). O Lancamento da Moeda ICuropeia e os seus
Enquadramentos na huprensa. In Livro de Actas do 4° Congresso da Assoeiav'ao Portuguesa de
( icncías da ComunicacT.o.
Simpson. Brian (1997). Youth Crime. the Media and Moral Panie. In Youth. Crime _v ihe
Media, ed. Judith Bcssant c Richard HiII. Tasmânia. National Clearinghouse for Youth Studies.
Sparks. J. Richard (1997). Television and the Drama ofCrime\ Opcn U'niversity Press.
Springhall. John (1998). Youth, Popular Culture ancl Mural Panics. Nova Iorque.
Macmillan Prcss Ltd.
Sprinthall, Nonnan A. e Collins, W. Andrevv (2003). Psicoíogia do Adoiescente. Lisboa,
Fundavâo Calouste Gulbenkian.
Thompson, Kenneth (1999). Morai Panics. Londres e Nova lorque, Routledgc.
Traquina. Ncison (2002). O que é Jornalismo? . Lisboa. Quimcra.
Tuchman, Gaye (1980). \1aking Xews A Study in the Construction of Reality. Nova
Iorque. The Lrcc Press.
Tuchman. Gaye (1999). Contando T:stôrias9 In Jornalismo: Questbes. Teorias e Estbrias',
org. Nelson Traquina. Lisboa, Vcga Lditora.
Van Dijk. Teun A. (1990). La Xou'cia como Discurso Comprensibn. estructura y
produccíon de la informacibn. Barcelona, Paidôs Comunicacibn.
V'an Dijk. Teun A. (2005). Discurso. \oticia e Ideologia. Porto, Campo das Letras.
Van Leeuven, Theo (1998). A represcntacão dos actores sociais. In Análisc Crítica do
Discurso org. Enhlia Ribeiro Pedro. Lisboa, Caminho.
Verhulst. Frank (2004). Crianeas em Risco de Comportamentos Anti-sociais. In Criancas e
Jovens em Risco. ed. M. Helena Damião da Silva, A. Castro Fonseca, l.uis Alcoforado. M. Manuela
Vilar c Crislina M. Vicira. Coimbra, Almcdina.
Wcleh. Michael, Priec. Lric A. e Yankey. N'ana (2002). "Moral panic ovcr youth violcnec:
vvilding and the manufaclure ofmenance in the media". Youth <& Sociei\ , vol. 34. n° 1,3-30.
White. Dominic (2004). "Taba and the rude girls: eultural consructions of the youth street
gang". Joumai J'or Crime. Coaflict and the Media. 1 (2). 41-50.
Winett. Liana (1998). "Constructing Violence as a Public Ilealii Problem". Puhlic Ifeaith
Reporís. 113:498-507.
Wolf, Mauro (2003). Teorias a Comunicacdo. Barcarcna, Editorial Prcsenva.
220
Penedo, Cristina Carmona (2003). O Crime nos Media: O que nos Dizem as Xotícias
Quando nos Falam de Crime. Lisboa. Livros Horizonte.
Percira. Marcos Emanoel (2002). Psieologia Social dos Esterebtiopos. São Paulo, Editora
Pedagbgica e Universitária.
Pettersson. Tove (2005). "Genderingdelinquent networks". Young, vol. 13(3): 247 267.
Ponlc, Cristina (2004). Leitura das Xoticias. lisboa. Livros Horizontc.
Pontc, Cristina (2004). Xoticias e Siléncios: Porto, Porto Editora.
Ponte, Cristina (2005). Crianeas em Xotícia. Lisboa, Instituto dc Ciências Sociais.
Potter, Gary W. e Kappelcr. Viclor L. (1998). Construeting Crime-
Perspeetives on \Iaking
Xews and Sociai Prob/ems, Illinois, Wavcland Press.
Pottcr. W. James (1999). On Media Vio/ence, Califôrnia. Sage Publications.
Potter. W. James (2003). The II Myths of'Media Yiolence. Caliíbmia. Sage Publications.
Procuradoria-Geral da República (1998). Sobre Prevencdo Criminal. Lisboa.
Público (2005). Livro cie Esti/o. Púhiieo, Lisboa. Público.
Queiroz. Maria Cidália e Gros, Marielle Christine (2002). Ser Jovem num Bairro de
Hahitaqdo Social. Porto. Campo das Letras.
Rochc, Scbastian (1993). Le Sentiment DTnsécuriteK Paris. PUF
Roché. Sebastian (1994). Insécutité ef Libertés. Paris. Éditions du Scuil.
Roehé, Sebastian (1996). La Soeiété Incivile- Qu 'est ce que l'insécurité ?. Paris. Éditions
du Seuil.
Roché. Scbastian (2001 ). La Dé/inquance des Jeunes. Paris. Éditions du Scuil.
Roché, Sebastian (2005). Police de Proximité -
nos Politiques de Securité, Paris. Éditions
du Seuil.
Rosa, Rosane (2005). Realidades e Desafios da Pesquisa em Comunieacdo e a /nfâneia no
Xoticiário Latino-americcino (comunicacão apresentada na Compôs 2005).
Sánchez-Jankowski. Martín (2003). "Gangs and social change". Theoretical Criminology
7(2), 191-216.
Santos, Boaventura Sousa et al (2004). Os Caminhos Di/ieeis da "Xova" Justica Tutelar
Fducativa - L'tna avalia^do cie ciois anos de aplicacao cla Lei Tutelar Educativa. Coimbra. centro
de Estudos Judiciários.
Santos. Rogério (2006). A Fonte Xdo Quis Revelar. Porto. Campo das lctras.
Schlesinger, P. e 'fumber. H. (1994). Reporfing Crime. Nova Iorquc, Clarendon Press.
219
Yancey. Antronette K. et al (2001). "The Asscssment of Ethnic Idcntity in a Diverse Urban
Youth Population". Joumal of Black Psychology. vol. 27 No. 2, May 2001 190-208.
Zcdner. I.ucia (1997). Victims. In The Oxford Handbook oj Criminology, ed. M. Maguire.
R. Morgan e R. Reiner. Oxford, Oxford University Press.
Fontes de suporte electrbnico:
"Balas Perdidas" http: wvvw.andi.org.br_pdfs. BalasPerdidas.pdf Bv Vect Vivarta. ANDL
2001 . [Consultado em Maio de 2004]
"In Betvveen the Lines: How The New York Timcs Frames Youth" ht tp :/ vvvvvv. inteiTupt .oru
By We Interrupt this Messagc e Youth Force. [Consultado em Maio de 2004]
"( )ff Balance: Youth. Race & Crime in the Nevvs"
http://Duildingblocksforyouth.org/media/media.html By Lori Dorfman c Vincent Schiraldi, 2001.
[Consultado em Julho de 2004]
www.portimal. tzov.pt Portal /P 1 ("jovemos/CJovemosConstitucionais/ [Consultado em 2007]
"Spcakimz for Ourselves" http://www.interrupt.org/pdfs/Speak ing.pd f B y Malkia Amala
Cyril. We Interrupt this Message e Youlh Media Council, 2002. [Consultado em Julho de 2004]
"Youth and Violence in Calilbrnia Newspapers" h 1 1p : //www . bmsg.oni pd I s/ 1 ssue9 . pd f By
John Mc.Manus e I.ori Dorfman, /ssue 9. 2000. [Consultado em Maio de 2004]
\Iedia:
Correio cia Manhâ
O independente
Pithlico
Telejornai RTP- 20 dc Julho de 2000
l 'isdo
Outras fontes:
Cbdigo Deontolbgico dos Jomalistas Portugucses
Decreto-I.ci 98 98 de 18 dc Abril (Criacão da CNPC'JR)
Lei n.° 147 99 de 1 Setembro (Lei de Protcccão de Oiancas e Jovcns em Pcrigo)
Lci n.° 166/99. de 14 de Setembro (Lci Tutciar Lducativa)
Relatbrio de Seguranca Intema - Anos de 2000/200 1/2002 2003 2004 2005.
221