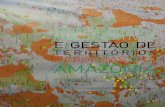A PROMOÇAO DO CAPITAL HUMANO: MIDIA, SUBJETIVIDADE E O NOVO ESPIRITO DO CAPITALISMO Organizador:...
Transcript of A PROMOÇAO DO CAPITAL HUMANO: MIDIA, SUBJETIVIDADE E O NOVO ESPIRITO DO CAPITALISMO Organizador:...
O risco da sacralização da interação nodesenvolvimento da cognição em interfaces digitais
1
Maria das Graças Pinto COELHO2
1. Introdução
Talvez, os jovens atuais pudessem entender melhor as
expectativas que lhes são lançadas na sociedade
contemporânea, se tivessem conhecido as sociedades ágrafas,
onde existia apenas educação informal, um misto, de
transmissão de valores e habilidades requeridas para a vida
em comunidade. Talvez, também, percebessem com mais clareza
o que fazer com as suas singularidades e subjetividades,
alçadas como commodities no quadro sinóptico do capitalismo
tardio (Sennett, 2003). Jovens, de diferentes extratos
sociais e localidades estão presos a um paradigma que exige
do sujeito, do indivíduo, atitudes e habilidades cognitivas
de interação e comunicação. São eles os que se
responsabilizam pelo sucesso e pela estrutura
socioeconômica na sociedade da cognição, cujas premissas já
estão impregnadas nas dobras do social, mas que, por serem
1 Agradeço a leitura atenciosa do professor/pesquisador Paulo Vaz(ECO/UFRJ), meu supervisor no pós-doc, cujas inquietações, somadas àsminhas, e os chamados à episteme me ajudaram a nortear esse texto.2 Pesquisadora e professora do Programa de Pós-graduação em Estudos daMídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Pós-graduaçãoem Educação. E-mail: [email protected]
novas e atravessaram várias disciplinas, ainda não estão
codificadas em etiquetas normativas.
Para entendermos melhor o que acontece com esse
sujeito cognitivo em interfaces digitais, presos à condição
de mercadoria, quando trocam suas habilidades e
subjetividades por capital simbólico (Bourdieu,1999),
emprestando suas ferramentas do cotidiano ao mundo que se
anuncia, propomos uma investigação junto a jovens
aprendizes de cursos profissionalizantes para formação em
tecnologias de informação e comunicação.
Em princípio, ouvindo esses aprendizes, buscamos as
características da interação que se confrontam com a
mediação, mas dela se distinguem, ao estabelecer um
processo cognitivo que se manifesta em diferentes
movimentos, como o que surge na comunicação aberta ou em
novas formas de estar juntos - que podem, ou não, formar
novas habilidades e competências do usuário cidadão na
ambiência juvenil.
O panorama da pesquisa abrange 839 alunos do curso
de tecnologia da informação do Projeto Metrópole Digital3.3 O Metropole Digital http://www.metropoledigital.ufrn.br/blog/ - é umprojeto integrado ao Polo de Tecnologia Digital da UniversidadeFederal do Rio Grande do Norte para formação de mão-de-obraespecializada em Tecnologia de Comnicação e Informação. Tem comopúblico alvo jovens de nível médio – 15 a 18 anos alunos de escolaspúblicas, 70% das matrículas – e privadas do grande Natal (RN). Ocurso tem duração de 18 meses, com aulas presenciais e online econcede uma bolsa no valor de R$ 161,00. O primeiro edital previu1.200 vagas/ano. Tem como objetivo oferecer formação de mão-de-obraespecializada em desenvolvimento de hardware e software; atuar comopólo gerador de novas oportunidades e empreendimentos em TICs noEstado; inclusão digital e social e estimular jovens talentos aingressar na área para uma formação em nível superior.
Iniciada em 2010 junto aos primeiros inscritos no curso,
começou a ser tabulada em janeiro de 2011. Os dados estão
nas preliminares da interpretação analítica. Para coletá-
los, foram aplicados questionários (estruturados) nas
plataformas digitais, respondidos por 526 alunos, 62,7% do
total dos atores participantes. As questões respondidas
versavam sobre formação social, desenvolvimento da
cognição, perspectivas profissionais, interação social e
comunicacional, além do consumo de informações midiáticas.
O tensionamento analítico também privilegia os relatos dos
atores-personagens que desistiram do curso – e os que o
concluíram em agosto de 2011.
Dos concluintes, 407, em um universo de 1192
selecionados, escutamos alguns relatos que nos levam a crer
que as expectativas do discurso oficial, já presente ás
dobras sociais como preceito ideológico; sobre a
necessidade da apropriação da cultura digital por jovens
aprendizes em condições socioeconômicas adversas, não
abrange todas as dimensões do sentido propugnado. E muito
menos produz ressonância junto aos que fracassaram. São 785
jovens que ao longo dos 18 meses foram excluídos ou se
auto-excluíram do circuito normativo e desistiram do centro
do sistema de aprendizagem. Possivelmente, eles não
entenderam ou não deram importância ao fato de que ao se
engajarem no Metrópole estavam sendo chamados para
participar de um projeto que poderia sanar desigualdades
atávicas em regiões metropolitanas periféricas por meio de
suas próprias singularidades e aptidões.
Para compreender melhor os pressupostos do projeto,
analisamos as provas do certame, compostas por 30 questões
de conhecimentos gerais e raciocínio lógico, elaboradas
pela Comissão Permanente do Vestibular, Comperve/UFRN. O
conteúdo de todas as questões destaca, como saber
constituído, a relevância da cultura algorítmica,
tecnológica digital. Os enunciados apresentam exemplos
sobre redes sociais, mídias impressas e digitais,
fotografias, como lugares comuns previamente instituídos na
convicção humanista de que a ação do homem sobre o meio e
sobre ele mesmo pode gerar empoderamento e transformação
social.
2. Efeitos das novas mídias no contexto social sãoracionalizados e virtualizam a consciência dos sujeitos
As inscrições atuais sobre o processo de
midiatização nas práticas sociais deixam marcas de leituras
de uma genealogia autorreferente da mídia, como instituição
de prestação opositora às habilidades e competências dos
sujeitos, já que ela mesma cria e recria realidades,
materializadas nas relações sociais que se estabelecem com
e a partir das representações de mundo que são feitas pelas
mediações dos dispositivos midiáticos tradicionais. A
partir daí, o processo de midiatização se caracteriza em
uma estesia generalizada, centrado no consumo, que incide
sobre todos os aspectos da vida cotidiana e na política.
Para entendermos melhor este processo, definimos como
midiatização uma ordem de mediações socialmente realizadas
– um tipo particular de interação - porque depende de como
os dispositivos midiáticos afetam os processos
comunicacionais e sociais.
Com a mudança nos canais de produção, nos protocolos de
mediação e na circulação de informações, pode-se afirmar
que processos em rede, voltados para a produção de
conteúdos socialmente produzidos e marcados pela
possibilidade de participação ativa dos sujeitos engajados
em diferentes associações sociointerativas, estimulam a
figura do usuário-cidadão. É a constatação da internet como
campo interativo por natureza que nos faz supor que, numa
sociedade de midiatização abrangente, se desenvolvam
sistemas de observação e de escuta igualmente midiatizados,
como é o caso das interfaces digitais que são propostas na
análise. Mas devemos entender, também, que esse grau de
associação exige uma crítica política sobre o próprio
sistema de interação social. Poderíamos começar a crítica
apresentando o fato de que a grande maioria dos perfis na
rede é falseada. Ou, então, apresentando o percentual de
desistentes do curso do Metrópole Digital: 1192 jovens se
inscreveram e apenas 407 concluíram o curso. A partir daí
surge a questão: será que os estudos na rede permitem que
os interagentes renegociem a todo instante suas situações
particulares de interação, a troca de ponto de vista que
indica que é possível ver o mundo do ponto de vista do
outro? Tal premissa foi pensada na genealogia da cognição
por Jean Piaget (1971), em seu argumento axial sobre a
interação, uma das dimensões do construto da cognição.
Sendo esse o pressuposto que nos interessa observar aqui.
E para justificar a observação do desenvolvimento da
cognição, na dimensão da interação em interfaces digitais,
podemos acrescentar ainda que a WEB representa, hoje, o
maior ambiente de pesquisa do mundo. A internet se
caracteriza como um domínio interativo no qual é possível
investigar as interações a partir da sua própria
arquitetura, que se projeta em uma perspectiva rizomática,
representada na produção/reprodução ilimitada de links
(liames) interativos. É uma infra-estrutura material que
oferece diariamente diferentes provas da possibilidade de
se realizar rastreamentos precisos das suas múltiplas
associações. E poderia ser chamada de um “laboratório
global" (LATOUR, 2008, p. 172).
No entanto, alguns estudos que se apresentam para
explicar as bases paradigmáticas da cultura digital se
balizam em experiências exógenas, assumindo hipóteses já
pré-estabelecidas em uma afinação central, onde quase
sempre são descartadas as possibilidades das
mediações/interações na sociedade atual. Neutralizam e
absorvem conteúdos, rejeitando contextos diferenciados e as
sociabilidades tradicionais. Apresentam-se como uma espécie
de retórica do "delírio digital", quando impõem uma agenda
tecnognóstica: junção de messianismo, exterminismo e
transcendentalismo para racionalizar os efeitos das novas
mídias no contexto social e virtualizar a consciência dos
sujeitos. A clivagem apriorística é a da idealização da
técnica, como explicação para os diferentes contornos das
interações midiatizadas.
Em relação à pesquisa na ambiência juvenil, a presença
das interfaces digitais se repete na transferência e
assimilação de processos de apropriações, muitas vezes,
relatadas em modelos de descrições empíricas que não levam
em consideração aspectos relacionados ao sentido que será
produzido a partir da experiência dos jovens com os meios.
A apropriação, tal como entendo, visa a uma história social
dos usos e interpretações dos objetos, referendados nas
práticas sociais e inscritos nas práticas específicas dos
sujeitos que as produzem.
Tal axioma pode dar, assim, atenção às condições e aos
processos que, muito concretamente, conduzem as operações
de construção de sentidos de pertencimento, às formações
socioeconômicas inseridas em contextos diversos e às
subjetividades desses jovens atores. Mesmo assim, alguns
autores, que relatam tecnointerações4 na ambiência juvenil,
apresentam tal “fenômeno” como sendo parte de uma demiurgia
tautológica protagonizada pela representação da técnica.
Não validam a transformação dos sujeitos no percurso. Desta
maneira, as apropriações das interfaces digitais se impõem
unilateralmente nas relações do cotidiano, promovendo um
axioma mitológico - como os mitos de Lévi-Strauss (1953) -
que pensam entre si um saber transtornado, incompatível
mesmo com as mediações da cultura de convergências que lhes
4 – Conceito que remete ao letramento digital, que permite aos sujeitos seapropriarem dos significados da cultura digital e da tecnologia, produzindointerações socialmente compartilhadas.
dão suporte. Mesmo que Sodré (1996) afirme que o
ciberespaço “é uma realidade original que se produz por
superação do espaço físico e da interdependência humana
direta. O que descarta e torna anacrônica a cadeia lógica
do ‘passo a passo’ tradicional, contribuindo para a
estetização ou a ‘culturalização’ de toda a realidade
social” (SODRÉ, p. 34, 1996), o sujeito continua o mesmo
ator, agindo e se comunicando no centro desta realidade.
Quando os jovens se aventuram a buscar experiências na
área da educação científica ou mais propriamente em um
curso online de tecnologias da informação e comunicação, nos
sistemas da mecatrônica e no letramento digital, que
permite a inclusão, eles também estão vivenciando preceitos
ideológicos e pertenças identitárias, que são premissas que
se impõem no percurso da apropriação da cultura digital nos
meios tecnológicos. Reafirmam seus laços nas relações
cotidianas, criando novas existências, que produzem novas
subjetividades e, talvez, também, mobilidade social.
Vivenciam um contexto onde residem metanarrativas
transmidiáticas, que projetam a força de trabalho
qualificada e as demandas da economia presente como sendo
uma responsabilidade ímpar e única do sujeito
contemporâneo. Tais metanarrativas, que circulam em canais
de comunicação midiáticos e interpessoais, fabricam valores
estéticos, técnicos, simbólicos e sociais que colocam o
capital humano no centro das forças produtivas. O sujeito
carrega seu próprio capital – imaterial; fruto das
experiências e dos saberes vividos – que o projeta como a
principal substância nas mudanças dos processos societários
atuais (GORZ, 2005).
Nesse sentido, duas áreas de conhecimento – formação
social e cultura digital - se entrelaçam no desenvolvimento
da cognição para formar um novo contingente de
profissionais, cujo trabalho se aproxima mais do trabalho,
singular, dos artistas, apoiado não só em conhecimento
técnico específico, mas em saberes vividos e, agora,
compartilhados em interfaces midiatizadas, que também
requerem habilidades comunicacionais. Onde o aparato
tecnológico, ou seja, o emissor, a interface digital, as
redes sociais na internet, as que abrigam sujeitos que não
tecem teias de aproximações simbólicas, não possuem o
protocolo mágico de transferir para o sujeito, mesmo sendo
ele a extensão desta “cultura algoritma”, o processo
comunicacional e interativo. Para tanto, outros liames são
criados e estes são partes de suas histórias e identidades
pessoais.
3. A tecnologia que entrelaça jovens aprendizes: capital
humano e subjetividade
Foucault (1984) diz que não há poder sem a produção de
um saber. E como não há espaços de poder que não sejam
imediatamente correlatos aos espaços de saber, então o que
diferencia a apropriação social de jovens atores nas
interfaces digitais que produzem transformações nas
interações em suas relações de cotidiano em regiões
periféricas? Para responder, pensamos em questionar sobre
os saberes que deram forma a essa ambiência, que lhe deram
identidade, que lhe deram visibilidade e uma dizibilidade.
Paradoxalmente, e porque se remete a arqueologia dos
saberes das regiões centrais, a experiência dos jovens
atores-personagens pesquisados no Rio Grande do Norte se
valida na idéia de uma comunidade de valores nas teias
tecnocomunicativas contemporâneas. Aparentemente, nelas,
eles processam novas metanarrativas através de conceitos
articulados a temas relacionados à ciência, tecnologia,
meio ambiente, igualdade de gênero, economia solidária,
produção de conteúdos digitais, que apontam para a
construção de novas sociabilidades e identidades em
ambientes juvenis periféricos.
Porém, o tema é mais complexo. Se, por um lado, as
novas formas de trabalho e vida que vêm sendo propostas
ainda se organizam, por outro, novos gestos e atitudes
preconizam também a reinvenção da vida, para além da
consciência teórica. Embora existam riscos nas diferentes
ofertas que o contexto atual lança, há nessa nova vida a
compreensão de que a junção das bases materiais com as
espirituais da sociedade assaltou a subjetividade em uma
dimensão nunca vista. Nessa direção, a subjetividade tem se
tornado uma matéria prima essencial às relações de
produção. É nela onde habitam as tecnointerações que
transformam a tecnologia em interação social. O uso das
tecnologias ajuda a produzir vida, identidade e
subsistência em localidades periféricas. Tal processo impõe
o deslocamento das forças produtivas para a economia em
pequena escala, que se preocupa em transformar o trabalho e
a vida em uma sobrevida, conduzindo a existência desses
jovens para o eixo produtivo: consumidor/mercadoria.
Nesse contexto se inserem os jovens aprendizes do
Metrópole Digital, reféns e produtores de produtos e
processos (protocolos, algoritmos, conteúdos digitais,
códigos, ações comunicativas) tecnológicos. Alcançam com
suas vivências e subjetividades uma nova modalidade de
trabalho que se expande no ambiente juvenil. E que também
representa uma modalidade de vida que ganha cada vez mais
expressão: o chamado trabalho imaterial, aquele ligado aos
saberes, ao conhecimento e à criação.
Com a expansão e sofisticação da rede imaginária
global, a internet, surgem novas profissões para os jovens
que se apropriam da cultura digital, todas elas pautadas no
trabalho imaterial. Muitos jovens do interior e da capital
estão desenvolvendo habilidades para trabalharem com as
tecnologias da informação, sejam em sistemas mecatrônicos,
sejam desenhando e produzindo protótipos de automação, ou
na internet como webdesigners, criadores de sites,
desenvolvedores de sistemas, produtores de conteúdo digital
e audiovisual. O que eles vendem são formas de vida,
produzidas por formas de vida. Vidas capturadas em uma
ambiência onde o trabalho se torna vida, comunicação,
invenção e criação.
Na opinião de Gorz (2004, p.74), este recorte no
desempenho das forças produtivas pode privilegiar uma
abordagem que coloca o sujeito como base na mediação do
mundo do trabalho. Para ele existe uma nova mentalidade na
geração X5 que não se expressa pública ou politicamente,
onde o lugar do trabalho/emprego torna-se abstrato e
anônimo, mas de uma forma significativa, porque nele
empregam-se as singularidades dos jovens. Aqui, o fazer
comunicativo além de qualificar sujeitos para as práticas
sociais cotidianas, passa a ser de extrema importância no
confronto de seus interesses sociais.
Os jovens são os seus próprios repertórios, criados a
partir de ecossistemas tecnodigitais e interacionais, mas
não só isso; a condição sócio-econômica é permeada por uma
ordem técnico-discursiva que se entrelaça com as lógicas
das operações que são empreendidas nos ambientes
tecnológicos. As subjetividades, entretanto, se constituem,
também, para além dos conteúdos e lógicas nesses mesmos
ambientes.
Patrício, nome fictício, 16 anos, morador do grande
Natal (RN) e aprendiz do Metrópole, ao responder sobre o
consumo de informações em ambientes virtuais de
aprendizagem, reafirma o lugar central que a tecnologia
ocupa na vida destes jovens: “(...) passo todo o dia na rede.
Sempre encontro novos amigos e trocamos sobre programas de computador e
marcamos encontros no shopping (...). Também trocamos músicas, filmes e
5 Foi o escritor Douglas Coupland que, em uma obra que se situa entreuma pesquisa-reportagem e um romance, batizou de Geração X a geraçãode jovens que “se recusa a morrer aos 30 anos, esperando ser enterradaaos 70” – COUPLAND, David, Generation X. Tales for an AcceleratedCulture, New York, St. Martin´s Press, 1991.
informações”. A história de Patrício revalida o assalto à
subjetividade dos jovens em ambientes de interfaces
digitais. Ele não só interage socialmente na rede, mas
também apresenta ao mundo o lugar comum que aproxima jovens
de todos os extratos e localidades na experiência cotidiana
engajada no paradigma da economia da cognição.
Nesse contexto, a idéia de capital humano6, do sujeito
que era formado ou instrumentalizado para atividades
específicas, alienado de seu corpo e de seus desejos, como
metas de desenvolvimento no capitalismo industrial para
dimensionar os custos da produção, desaparece no
capitalismo tardio cognitivo. Ainda, segundo Gorz (2004,
p.77), no presente, todo homem pode ser visto como uma
força de trabalho encarnada. São as suas subjetividades que
estão no mercado. Há “um mercado de personalidades” em uma
sociedade que se regula pelas interações dos sujeitos. A
auto-estima dos sujeitos e as habilidades colaborativas
estão em jogo.
São esses os novos rearranjos produtivos. São essas as
dimensões interativas que reiteram as potencialidades das
mutações socioculturais e econômicas no esteio das
comunidades tecnodigitais na ambiência juvenil. Igualmente,
é inegável que estes grupos utilizam os bens disponíveis e
6 O conceito de capital humano tem origem durante a década de 1950, nosestudos de Theodore Schultz. Seu livro, lançado no Brasil em 1971,insere a discussão na economia da educação. O conceito é amplamentedifundido no Brasil também a partir da década de 80, quando aspolíticas educacionais ensejam os preceitos neoliberais difundidospelo Banco Mundial para dimensionar etapas do crescimento econômicorelacionadas ao custo-benefício da educação.
as experiências de maneiras diferentes para recriarem novas
condições de existência nas tecnointerações.
A partir das pesquisas realizadas, revelam-se
situações de conflitos e negociações identitárias entre os
jovens integrados a um projeto de inserção social em um
meio distante das atrações e desafios dos grandes pólos
industriais urbanos brasileiros. Eles demonstram estar em
permanente negociação com suas identidades locais a partir
do contato direto com a rede imaginária global. Estão
preocupados em dar sentido ao universo de significações que
são evidenciadas no exercício diário das suas práticas de
formação social, que transcendem a tarefa de ensinar noções
de informática.
Nesse sentido, poderíamos citar Michel Foucault,
quando apresenta a analítica histórica das práticas de
poder no curso que ministrou no Collège de France entre
1974-1975, intitulado Os Anormais (2001). Nesse curso ele
introduz o surgimento do controle social por meio de
técnicas discursivas, que medem o sujeito que falha. Ou, no
caso da nossa análise, a tecnologia do poder que imprime ao
jovem as responsabilidades por manter as engrenagens da
sociedade tecnológica, mesmo que esses parafusos dependam
de suas singularidades e subjetividades. Foucault (2001)
descreve o começo e a abrangência das normativas no tecido
e nas dobras sociais, assim:
“(...) essa emergência das técnicas de
normalização, com os poderes que lhes são
ligados (...) a maneira como ele se formou,
a maneira como se instalou, sem jamais se
apoiar numa só instituição, mas pelo jogo
que conseguiu estabelecer entre diferentes
instituições, estendeu sua soberania em
nossa sociedade - é o que eu gostaria de
*estudar*. ” (FOUCAULT, 2001, p. 31).
E qual o modo de produção da alteridade que pode ser
internalizada por esses jovens, além do medo – imoralidade
– e do sofrimento que lhes é facultado no caso do fracasso
ao se apropriarem da cultura digital? Quem é esse outro que
interage no Metrópole Digital? O que leva 16 jovens de
baixa escolaridade – número coletado no primeiro relatório
de evasão, ainda no início do projeto -, que convivem em
situações de risco na periferia de Natal, a largarem o
curso do Metrópole sem nenhuma explicação às autoridades
constituídas no projeto – professores, psicólogos e
técnicos de informática? Lembramos que esses jovens passam
por uma maratona de testes e entrevistas para serem
classificados e que são escolhidos por méritos, que também
são revistos na observação de seus perfis. Descobrimos que
alguns deles usavam a bolsa concedida pelo projeto de R$
161,00 para ir ao cinema e encontrar amigos no shopping.
Sendo, que ao observarmos o relatório não descobrimos
qualquer diferença entre esses jovens da periferia de Natal
e os jovens de outros centros urbanos. Estes são os mesmos
artifícios e as mesmas modalidades de consumo que são
empregadas por jovens de diferentes extratos
socioeconômicos em localidades distintas.
4. Contextualizando as novas demandas por cognição
A partir da década de 1970, um novo paradigma
tecnológico, organizado com base na tecnologia da
informação se constitui e passa a remodelar as bases
materiais da sociedade em ritmo acelerado. Institui-se um
padrão de descontinuidade na economia, na cultura, e nas
interações sociais, de modo que as sociedades passam a
manter uma interdependência global, caracterizada por uma
nova forma de relacionamento entre economia, Estado e
sujeitos. A economia imaterial ganha forma.
As tecnologias de informação e comunicação, entre eles
protótipos mecatrônicos e ambientes digitais, têm grande
penetrabilidade nas mais diversas esferas das atividades
humanas, de modo que foram sendo apropriadas pelas mais
diferentes instituições, com objetivos e usos distintos,
possibilitando a ampliação do escopo das transformações
tecnológicas. São os jovens quem codificam, descodificam e
recodificam produtos, protótipos e conteúdos tecnodigitais.
Essa relação dialética entre base (técnica, ciência,
produção e serviços/economia) e superestrutura (sociedade,
política e cultura) evidencia as conexões entre o
desenvolvimento tecnológico e as relações socioculturais.
Segundo CASTELLS (2008), o agrupamento dessas
tecnologias em torno de redes de empresas, organizações e
instituições formaram um novo paradigma sociotécnico, cujas
principais características são: a centralidade da
informação (tecnologias que veiculam, controlam e difundem
informação); a penetrabilidade dos efeitos das novas
tecnologias; a lógica de redes em todo o conjunto de
relações (sociais, culturais, econômicas e políticas, sejam
comunicacionais ou interpessoais) usando essas tecnologias;
a flexibilidade; e a convergência de tecnologias
específicas para um sistema altamente integrado.
Então o que caracteriza os princípios operacionais
dessa sociedade é a aplicação de conhecimentos e informação
para a geração de novos conhecimentos e dispositivos de
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de
realimentação cumulativo entre a inovação e o uso, e não na
centralidade de conhecimentos e informação. Nesse sentido,
a veiculação da informação e do conhecimento na
reorganização das bases materiais são processos
inseparáveis. Diferente de GORZ (2004), que centraliza as
mudanças do sistema produtivo na autodeterminação do
sujeito em consonância com os saberes vividos e no
desenvolvimento da cognição, CASTELLS (2008) acredita em um
capitalismo informacional, que se registra na sofisticação
e abrangência das novas tecnologias.
[...] o fator histórico mais decisivo paraa aceleração, encaminhamento e formação doparadigma da tecnologia da informação epara a indução de suas conseqüentes formassociais foi/é o processo de reestruturaçãocapitalista, empreendido desde os anos 80,
de modo que o novo sistema econômico etecnológico pode ser adequadamentecaracterizado como capitalismoinformacional. (CASTELLS, 2008, p. 55)
Não existem contradições entre o foco analítico de
CASTELLS (2008) e GORZ (2004), ambos fazem menção à junção
entre as bases materiais e espirituais da sociedade, ao
tentarem compreender as transformações que ocorrem no
capitalismo tardio. Os autores deixam evidente que as
mudanças societárias não são apenas de ordem tecnológica ou
econômica, mas contemplam todas as esferas da vida social.
Desse modo, estamos diante de um processo em que as
inovações tecnológicas impulsionam a globalização da
economia, contribuindo para a transformação dos princípios
produtivos de bens e serviços. E transformam, também, a
reorganização do cotidiano na instituição de sociabilidades
agregadas ao sujeito, à cognição e a produção, originando
novas necessidades de formação social que atendam ao
deslocamento das forças produtivas para a economia da
cognição
5. Conclusão
Como outros autores que observam as tecnointerações no
ambiente juvenil, argumentamos que o que assistimos no
cenário atual é a incorporação das tecnologias em todas as
esferas da sociedade, facilitando assim a comunicação e a
interação entre pessoas e abrindo espaço para a interação
humana de forma colaborativa. O que apresentamos como
novidade é o cotidiano desses jovens sendo transferido para
o campo das interações como extensão dos novos processos
societários. Apresentamos, ainda, a história de fracasso de
alguns jovens que desistem do curso e da normativa de vida
com processos interativos pré-definidos, após transgredirem
na mobilidade que lhes é oferecida pelo projeto de inclusão
social: Metrópole Digital. Superamos, assim, a idéia de que
a ordem técnica transfigura e modifica, em um sistema de
mão única, suas sociabilidades.
Por outro lado, os novos princípios operacionais, que
se estendem para todas as experiências da vida humana,
entre elas os processos de apropriação das interfaces
digitais, também trazem em si uma nova mentalidade, a da
intelectualização do trabalho. O que resulta em preceitos
ideológicos, autocentrados, que colocam o sujeito como
extensão do capital. A identificação destes jovens com o
ofício torna-os produto – mercadoria – o que esvazia as
expectativas deles em relação às tradicionais formas
processuais de formação e de acesso ao emprego, mas não os
largam à margem do sistema produtivo. Muito pelo contrário,
as aquisições das habilidades e competências cognitivas
para o ofício são extensões de suas próprias capacidades
criadoras, expressivas e imaginativas, já vivenciadas na
cultura digital.
E como previu MCLUHAN (1969, p. 65), “chegará o dia – e
talvez este já seja uma realidade – em que as crianças aprenderão muito mais
e com mais rapidez em contato com o mundo exterior do que no recinto da
escola”. Dessa forma, a educação como processo integral,
como formação social, não só incorpora aspectos
curriculares, mas sim modifica toda uma vida do educando e
principalmente age fora do contexto escolar. A aprendizagem
dos conteúdos conceituais em aulas que envolvem noções de
mecatrônica, desenvolvimento de sistemas inteligentes,
automação e conteúdos digitais, torna-se um elo para uma
compreensão maior da vida, de autoconhecimento e de
possibilidades de mobilidade social.
No axioma que cria para estruturar os conceitos de
‘personalidade individual’ e ‘interação social’, GOFFMAN
(1985, p. 221-222) afirma que “quando um indivíduo se apresenta
diante dos outros, projeta uma definição da situação, da qual uma parte
importante é o conceito de si mesmo”, o que o ajuda nas interações
sociais e nas mudanças da realidade social, agindo também
na personalidade do indivíduo. Então, pode se afirmar que
os jovens atores pesquisados colocam como marcas de
apropriação nas interfaces digitais, aspectos de suas
personalidades já postas nas relações interativas de seus
cotidianos de jovens habitantes da periferia de Natal (RN).
E é inevitável que tal engajamento entre
autoconhecimento do sujeito, vida cotidiana e formação
social continuada em um processo de midiatização social
acelerada, requer mais mediações sociais para formar
sujeitos capazes de dialogarem com as imprevisibilidades do
que uma educação diferenciada. Projetar e fabricar
dispositivos mecânicos motorizados, desenvolver programas
de computador, a princípio pode soar como algo mecanizado e
sem contextualização com o entorno em que o individuo vive.
Contudo, quando o desafio agrega valores de
autoconhecimento e comunitários à atividade, a tecnologia
transfigura-se e passa a freqüentar o mundo vivido.
Alguns jovens aprendizes, que usam sucatas em suas
atividades, costumam trazer de casa ventiladores e
liquidificadores quebrados para reciclá-los e recolocá-los
em seus cotidianos de crianças que não consomem o último
modelo, mas que reinventam a vida, recriando sociabilidades
no entorno em que vivem. Dessa mesma forma, pode se pensar
sobre aqueles jovens que usam a bolsa do Metrópole Digital
para ir passear e consumir no shopping. O fato de eles
saírem da norma, não nos autoriza a estigmatizá-los como
fracassados. Pode ser que ao escaparem para ver um filme
eles aprendam mais sobre interações do que na experiência
de aprendizagem formal do Metrópole.
Talvez as tecnointerações, atreladas ao mundo vivido,
às sociabilidades tradicionais, extraiam do individuo a
capacidade de operar com resoluções de problemas, muitos
dos quais já estão consoantes com suas vivências, e com as
relações intra e interpessoais às quais compartilham. E
permitem, também, que o sujeito descubra outros mundos em
contextos diversos, o que o projeta para os múltiplos modos
de operar na sociedade atual. A junção da sociabilidade
tradicional – passear no shopping – com as tecnointerações
também o faz reconhecer um agrupamento de vários tipos de
saberes e inteligências na ação comunicativa.
É nesse sentido que a interação forma para as mudanças
societárias e para o capitalismo cognitivo. Ainda segundo
Gorz (2005), esse é um tipo de capitalismo que sobrevive à
debilidade de suas categorias fundamentais:
Agora, porém, a força produtiva decisivanão pode mais reduzir o saber a umdenominador uniforme, medido em unidades devalor e de tempo. O saber não é umamercadoria qualquer, seu valor (monetário)é indeterminável; ele pode, uma vez que édigitalizável, se multiplicarindefinidamente e sem custos; suapropagação eleva sua fecundidade, suaprivatização a reduz e contradiz a suaessência (GORZ, p. 59:2005)
Em discursos observados na ambiência da pesquisa no
Projeto Metrópole Digital, os alunos também demonstraram
que os conteúdos de matemática, mecatrônica e língua
estrangeira (inglês) estão presentes em seus cotidianos
através de experiências em que utilizam os conhecimentos
adquiridos em seu ambiente social de forma significativa.
Eles afirmam que estes conteúdos auxiliam na construção de
habilidades para solucionar problemas domésticos, como o
entendimento e o concerto de equipamentos eletroeletrônicos
de parentes e amigos, produzindo novas sociabilidades e
interações comunicativas. Há relatos ainda em que os alunos
creditam aos cursos de tecnologia da informação a melhoria
no entendimento dos conteúdos curriculares, como nas
disciplinas de Física e Matemática e nos relacionamentos
interpessoais, por meio do trabalho em equipe. No seu
conjunto, as experiências do Metrópole Digital mostram que
o desenvolvimento da cognição na ambiência tecnológica não
é um projeto demiúrgico da ciência Funciona como extensão
dos sujeitos que vivenciam a experiência da cultura digital
em todas as suas amplitudes, como: produção do imaginário,
de desejos, de sensibilidades, em suma, das subjetividades
que compõem a economia da cognição.
Neste cenário, também se podem constatar sintomas das
marcas cognitivas ou dos saberes locais que interagem com a
cultura digital. Estas são ressaltadas na construção de um
ambiente de aprendizagem que se preocupa em circundar uma
periferia e atender jovens carentes na iniciação à ciência
e à tecnologia como parte de um projeto de agregação de
capital cultural cognitivo. Estes jovens também respondem
pelas noções de diferença, de responsabilidade civil,
comunitária e de pertencimento, que estão sendo produzidas
em um determinado lugar, com específicas formações
discursivas e práticas, quando interagem em ambientes de
interfaces digitais ou quando fogem da norma para se
reconhecerem como sujeitos em um mundo em transição.
Coincidentemente, reside nesse lócus – na interação
entre sujeito e capital – a negociação das novas formas
simbólicas que marcam as transformações econômicas e os
produtos socioculturais na atualidade. Pensar a apropriação
das interfaces digitais em ambientes juvenis é estar
dialogando com identidades globais e periféricas, que são
ao mesmo tempo objeto e sujeito das mediações
contemporâneas. É nesse lócus, onde a informatização, o
letramento digital e a mecatrônica têm permitido produzir
cada vez mais trabalho imaterial, onde as metanarrativas
criam mundos de representações simbólicas, que surge a
metáfora do sujeito autônomo, do trabalho vivo. Seriam
esses jovens protagonistas de uma nova geração de atores
que encontrou na comunicação e nos processos de
transformação da midiatização uma nova forma de revalidar o
empoderamento dos sujeitos sociais – de autodeterminação,
criação e invenção - nas práticas cotidianas que os
produzem?
Mas é do reconhecimento analítico que existe uma
coalizão de naturezas distintas – arcaicas e tribais com
ambientes tecnológicas ou bens experimentais – a fundir-se
em um sonho recorrente, que ensina a colocar raízes, ou
seja: ajuda a definir a identidade do sujeito, seu
empoderamento social e as atitudes cidadãs nas interfaces
digitais. Por último, constata-se, que o que existe de novo
é uma primeira percepção de que há um novo imaginário
circundando o cotidiano destes jovens, que ao se
apropriarem da comunicação aberta lutam para se
familiarizarem com algoritmos, códigos e conteúdos digitais
na perspectiva de produzirem vida e mobilidade social em
ambientes periféricos.
Referências
BOURDIEU. Pierre, A economia das trocas simbólicas. SãoPaulo: Perspectiva, 1999.
CASTELLS. Manuel, A sociedade em rede. A era da informação:economia, sociedade e cultura. 11. ed. Trad. RoneideVenâncio Majer. v. 1, São Paulo: Paz e Terra, 2008.
COELHO. Maria Das Graças Pinto, - Trabalho Informal eCelular – Distantes, Diferentes, Desiguais, Conectados. InTelecomunicações no Desenvolvimento do Brasil. - DIAS. LiaRibeiro e CORNILS. Patrícia, (organizadoras) – São Paulo:Momento Editorial, 2008.
________. Maria Das Graças Pinto, Pedagogia crítica damídia – a teia da mídia-educação nas redes sociaiscontemporâneas. (Organizadora) Natal: Editora EDUFRN, 2009.
COUPLAND. David, Generation X. Tales for an AcceleratedCulture, New York, St. Martin´s Press, 1991
GORZ. Andre, Misérias do Presente, Riqueza do Possível. SãoPaulo, Annablume, 2004.
_____. Andre, O Imaterial – Conhecimento, Valor e Capital.São Paulo, Annablume, 2005.
FOUCAULT. Michel, História da Sexualidade I: a vontade desaber. 4 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
FOUCAULT, Michel. Os Anormais: curso no Collège de France (1974-1975). São Paulo: Martins Fontes, 2001.
GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana.
Petrópolis (RJ): Vozes, 1985.
LATOUR Bruno. Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del
actor-red. Buenos Aires: Manantial, 2008.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Anthropology in historical
perspective. In: TAX, S. et al. (Ed.). An appraisal of
anthropology today. Chicago: University of Chicago Press,
1953.
MCLUHAN. H. Marshal, Mutations 1990. Paris, Name, 1969.
NICOLELIS. Miguel, Vendedor de sonhos. Carta Capital, RJEditoria, ano 13,n. 427, p.26-p.31, jan. 2007.
PIAGET, Jean. A Epistemologia genética. São Paulo: Vozes, 1971
SENNET, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2006.
SCHAFF Adam – O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro:
Editora Civilização Brasileira, 1967.
SODRÉ. Muniz, Reiventando @ cultura – a comunicação e seus
produtos. Petrópolis (RJ): Vozes, 1996.