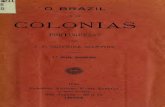o o o o o o o o o o o o o o o o o o - Mahkamah Konstitusi RI
A identidade, a propaganda e o nacionalismo. O projecto de leitorados de língua e cultura...
Transcript of A identidade, a propaganda e o nacionalismo. O projecto de leitorados de língua e cultura...
Armando Marques GUEDES, Lusotopie 1998, p. 107-132
A identidade, a propaganda e o nacionalismo
O projecto de leitorados de língua e cultura portuguesas, 1921-1997*
o livro II da República, « numa passagem famosa e assaz desconcertante »1, é afirmado por Platão que é totalmente alheia a deuses e divindades a mentira (República II, 382e). Se bem que, como o filósofo nos tinha antes dito, quando se trata de fundar
« uma cidade em palavras » (ibid. : 369b), seja muitas vezes justa prerogativa dos homens o a ela recorrer : já que um Estado, explica, só poderá ser feliz caso tenham sido pintores a delineá-lo. Segundo Platão, a circunstância de uma tal cidade, edificada em palavras, não existir de facto em nenhum lugar, não a torna menos prescindível como modelo ideal. Em jogo, num como noutro caso, está o conceito e o estatuto do pseudos ; e a distinção, enxuta, entre o que se pode entender com uma « verdadeira mentira » e que se acantona numa simples « mentira em palavras » (ibid. : 382a-b). A distinção é essencial. A primeira destas duas espécies de mentira, que tanto deuses como homens receiam, não aceitam, e lhes repugna, releva da ignorância, do erro, ou do engano. Quanto à segunda, « a que consiste em palavras », é passível de elogio, já que quando é útil não é desprezível. Platão caracteriza-a como « uma imitação » daquilo que a alma experimenta, enumerando depois situações em que a oportunidade justifica que a ela se recorra : para proteger amigos, para combater inimigos, ou na « composição de fábulas [por] não sabermos onde está a verdade relativa ao passado [pelo que nelas nos esforçamos em] acomodar o mais possível a mentira à verdade » (ibid. : 382b) : circunstâncias em que, mais do que legítima, ela é
* Agradeço ao Artur Anselmo, António Barreto, Michel Cahen, Francisco Caramelo, João Gomes Cravinho, Lurdes Crispim, Diogo Freitas do Amaral, Filipe Furtado, António Marques, Armando M. Marques Guedes, J. Medeiros Ferreira, A. H. de Oliveira Marques, Zília Osório de Castro, Susana Pereira Bastos, Vasco Rato, Fernando Rosas, Ricardo Sá Fernandes e M. Sottomayor Cardia, que leram uma versão anterior deste meu estudo e, em muitos casos, sobre ela me formularam comentários que em muito o melhoraram.
1. M.J. Vaz PINTO, 1997 : 341. Agradeço à Maria José Vaz Pinto pelo prazer de, num artigo recente e de uma esplêndida elegância intelectual, me ter chamado a atenção para estes parágrafos. Alitero aqui, sem grande contenção, parte da introdução que ela aí alinhou com tanta destreza. Cito Platão, liberalmente, no que escreveu ao longo de uma dezena de páginas ; faço-o com base na tradução portuguesa publicada pela Fundação C. Gulbenkian, da autoria de Maria Helena da Rocha PEREIRA.
N
108 Armando Marques GUEDES
merecedora de estima. A conjuntura do texto em que Platão defende « esta insólita posição » (Pinto : 342) ao imaginar a fundação de uma polis « em palavras », alude ao imperativo de esboçar um plano para a formação dos cidadãos, dela futuros guardiões. A fabulação platónica (que subjaz a esse projecto) sublinha a premência de encetar a moldagem dos indivíduos tão cedo quanto possível (logo desde a mais tenra infância), respeitando sempre (por uma questão de maior eficácia) as várias gradações de « dificuldades » e « carências » próprias de cada idade ; e, bem assim, as « qualidades » e « predisposições » dos destinatários. Para efeito da fundação de uma polis, nos termos do elogio platónico, é não raramente útil (logo justificada e não desprezível) « uma mentira em palavras », porque se trata de lhe compôr a fábula que a irá sustentar (ibid. : 382b-d). Encenação, identidade, propaganda
Quero abordar neste artigo o que considero um dos principais fios condutores da nossa diplomacia cultural : a encenação pelo Estado, no estrangeiro, de representações da identidade nacional portuguesa como expressão de uma vontade política de propaganda nacional. Nos termos do elogio platónico, quaisquer modulações de uma « mentira em palavras », quaisquer fabulações deste tipo sobre a polis, serão legítimas desde que úteis ; e há não raramente muitas e boas razões para que os homens as levem a cabo. Irei aqui tocar casos merecedores dos elogios de Platão. E outros, que uma cada vez mais deficiente utilidade torna difíceis de justificar. As « insólitas posições » que tentarei retratar referem-se ao projecto político a que o Estado português, ao longo dos três regimes republicanos por que se regeu neste século, tem vindo a dar corpo através da criação de leitorados de língua e cultura portuguesa no estrangeiro. O pseudos, na edificação da polis platónica, consiste sempre em fazer passar uma qualquer ficção por realidade. O projecto de propaganda internacional da identidade cultural portuguesa des que aqui me ocupo tem exibido o esforço, gerado pelo Estado, de restituir a Portugal e à cultura portuguesa o que, poeticamente, reputamos como o nosso justo lugar no mundo e na história. Tem sido um projecto sujeito a transformações. Mas, uma vez desencadeado, este projecto, em termos genéricos, instalou-se : há hoje uma enorme rede de duas centenas de leitorados tutelados pelo Estado português e integrados em instituições de Ensino Superior de todos os continentes2. Como projecto externo do Estado, é difícil sobrestimar a sua importância : sem qualquer dúvida tem sido (e continua a ser) a parcela
2. Muitas foram as personalidades intelectuais que cumpriram missões como leitores, de Hernâni Cidade a Vitorino Nemésio, de Jorge Dias a Joaquim Veríssimo Serrão, passando por Ruy Belo, Maria Velho da Costa, Gastão Cruz, Francisco Leite Pinto, Orlando Ribeiro, Maria de Lurdes Belchior, Arnaldo Saraiva, Ruben A., João Palma-Ferreira, ou Urbano Tavares Rodrigues, entre inúmeros mais. Uns, por convicção, porventura por, com Fernando Pessoa, sentirem que a sua « Pátria é a Língua Portuguesa ». Outros, talvez por esse ter sido o único bilhete e o único passaporte possíveis para universidades estrangeiras apetecíveis. Num artigo fascinante e profundamente pessoano, Nuno JÚDICE (1996) discutiu com algum detalhe « A ideia nacional no período modernista português », mapeando aí o que terão sido posturas político-filosóficas de uma intelectualidade do entre-guerras que, argumentaria eu, poderão ter operado nessa « geração » e que a influenciaram, mobilizando uns e desmobilizando outros relativamente a este projecto do Estado. Importa sublinhar, em todo o caso, que não é meu tema neste artigo uma qualquer descrição, ou análise, de ideias e ideologias a este nível. A minha preocupação, aqui, é com a natureza de um projecto do Estado.
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 109
principal, a pièce de résistance, da diplomacia cultural portuguesa. Mais, tem sido dela o projecto paradigmático : a finalidade propagandística a que dá corpo é no fundo a do todo dessa nossa diplomacia. É essencial, no entanto, ter em mente que as « fábulas » que dele têm sido veículos não fazem propriamente parte de um plano esboçado para a formação dos cidadãos futuros guardiões da polis. Os alvos da « moldagem » são universitários de outros países. O que, ao que me parece, lhe cria condicionantes nem sempre assumidas.
Em termos mais substantivos pretendo dar corpo a vários objectivos interrelacionados. Primeiro, tenciono dar a conhecer alguma coisa da natureza e da progressão dos nossos leitorados3 no estrangeiro, num esforço continuado de ver concedidos foros de cidadania científica ao domínio do conhecimento da nossa diplomacia e da nossa história intelectual e administrativa que é o do estudo da diplomacia cultural portuguesa.
Em segundo lugar, e com preocupações menos empíricas e mais teóricas, é minha intenção tentar investigar algum papel da natureza política, ideológica e administrativa do Estado português durante este século, no que diz respeito à elaboração de conceitos quanto à sua missão, e à das concepções sustentadas quanto ao que chamo a arquitectura da comunidade internacional ; e bem assim relativamente às coordenadas com que tem estruturado a sua intervenção cultural externa. Importa deixar claro que me irei debruçar sobre cada uma destas três componentes das três formas republicanas de Estado neste século adoptadas ; e não apenas sobre ideologias, que não são nunca senão uma das parcelas da complexa instituição que ele é.
Terceiro, e mais epistemologicamente, é meu objectivo focar a atenção na centralidade de algumas das estratégias discursivas próprias dos actos jurídicos4 para uma melhor compreensão da política externa do Estado. Sobretudo no que toca às características formais da dimensão política dos nomes, enunciados e textos que a instituem e regulamentam5. Faço-o num
3. Não posso deixar de aqui agradecer à Dra. Vera Palma, então no ICALP, bem como ao Professor Armando Marques Guedes e ao Embaixador F. Mendes da Luz, respectivamente seus últimos Presidente e Vice-Presidente, pelo acesso irrestrito aos arquivos. Aos três, e ainda aos Embaixadores Álvaro Guerra e F. de Castro Brandão, pelas variadíssimas discussões. Ao Professor L. Adão da Fonseca, primeiro Presidente do Instituto Camões, pelo encorajamento. Ao Dr. José Bousa Serrano, último director do serviço das Relações culturais bilaterais do ministério dos Negócios estrangeiros e meu companheiro na tarefa de preparar, em 1995, o Decreto de reestruturação do I. Camões (por nomeação do Secretário-Geral do Ministério), por ambas as coisas. As opiniões que aqui expresso são da minha responsabilidade.
4. Muitas vezes nos preâmbulos dos documentos legislativos, que funcionam, por um lado, como declarações políticas de intenção e, por outro, como guiões para a hermenêutica jurídica da sua letra. Trata-se, deste modo, de actos linguísticos pragmáticos por excelência, integrados em estratégias discursivas.
5. Uma breve declaração caucionária parece-me imprescindível. Não tenho por finalidade aqui levar a cabo um qualquer estudo histórico dos leitorados portugueses no estrangeiro cujo objecto seja a estrutura interna destes, a sua natureza académica ou orgânica, ou o seu funcionamento nos diversos momentos e lugares onde têm operado. E muito menos ainda tem aqui alguma pertinência uma sua hipotética avaliação substantiva, ou uma qualquer ponderação da sua eficácia pedagógica, seja em cada momento, seja nas várias fases da sua existência. O objectivo de fundo deste trabalho é tão somente pôr em relevo a dimensão política dos leitorados de língua e cultura portuguesa no estrangeiro e a série de transformações a que tem estado sujeita a sua ideia subjacente. Não tento por isso contextualizar o projecto propagandístico que aqui discuto no âmbito mais largo de uma eventual história da propaganda em Portugal, ou sequer na de um ou outro dos regimes políticos nacionais. A minha busca não é de um significado, mas de uma intencionalidade. Para cada formação de Estado, privilegio a mera definição formal das coordenadas político-estratégicas que subtendem os discursos legais de criação e/ou manutenção de leitorados.
110 Armando Marques GUEDES
contexto metodológico e expositivo simples, formulado com tanta clareza por J. Borges de Macedo no seu estudo sobre a política externa portuguesa, « em termos de lhe procurar constantes e linhas de força [estudando a sequência de eventos] pela dialéctica das situações e no encontro das soluções » (1985 : xiii). Não assumindo, porém, nem a postura de um historiador nem a de um jurista, mais uma vez os meus objectivos são limitados ; pretendo tão só começar a explorar, através de um estudo do caso, o que me parece uma hipótese de trabalho plausível : sem embargo do facto de a acção diplomático-cultural ser por regra concebida como um instrumento político do Estado, é a nível deste discurso que podemos talvez começar a melhor tentar circunscrever os esforços crescentes de alguns Estados-nação em injectar uma dimensão ética e normativa num domínio que, esperam, seja o de uma « sociedade internacional em expansão ». Ainda que por vezes o façam de maneiras mais tarde ou mais cedo condenadas à obsolescência pelo seu exclusivismo intransigente ; e não obstante a convicção neorealista, expressa na chamada « tese da imutabilidade » (Walz 1990), de que nenhumas modificações significativas da « anarquia internacional » são exequíveis, seja qual for a natureza das acções dos Estados que nela coalescem. Do leitorado em Rennes ao Instituto Camões : actos jurídicos e transformações, 1921 a 1995
O primeiro leitorado português foi aberto há mais de setenta anos, em 1921, em plena Primeira República, na Universidade de Rennes, em França. O leitor nomeado foi o Dr. Sezinando Raimundo das Chagas Franco, e a cadeira ministrada a partir do mês de Fevereiro de 1921 era de Estudos portugueses. A sua frequência dava direito à outorga de um Certificado em « Língua e literatura portuguesa » por essa universidade, diploma superior que até então apenas era possível obter em Paris, na Sorbonne, em cursos regidos por professores locais. Pela primeira vez partia para uma universidade estrangeira um professor de língua e cultura portuguesas tutelado pelo Estado. Rennes e a Primeira República
A história da criação deste primeiro leitorado em Rennes é edificante. Tudo começou, em termos substantivos, com uma conferência académica sobre coisas portuguesas realizada pelo notável Conde de Penha Garcia : o Reitor da Universidade bretã de Rennes, Prof. Gérard Varet e o Prof. Georges Dottin, decano da faculdade de Letras local, mostraram-se interessados, empenharam-se em aprofundar o tema, e daí à contratação de um leitor residente foi um pequeno passo. Coube ao director do então chamado Bureau de propaganda de Portugal em Paris, Pádua Franco, enquadrado por Sebastião Magalhães Lima, Grão-Mestre da Maçonaria Portuguesa, o Conde de Penha Garcia e outro maçon, o Embaixador J. Gonçalves Teixeira (à época secretário-geral do ministério dos Negócios estrangeiros e ainda presidente do Rotary Club português), negociar com a Universidade de Rennes o início do curso. Numa certa perspectiva, a ida de
Quando se alteram as conjunturas, ou a natureza e estrutura do Estado, limito-me a registar e recensear (mais uma vez em meros termos formais) as coordenadas políticas das novas estratégias discursivas
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 111
um professor português para a Universidade francesa foi assim expressão da activíssima postura político-cultural de uma associação cívica com tantas afinidades com os ideólogos republicanos então no poder.
Não existia em Portugal nos anos 1920, no entanto, qualquer instituição especializada que pudesse tomar a seu cargo as despesas advenientes da criação e manutenção de um posto de leitor em universidade estrangeira. O ministério da Instrução pública (uma designação mantida até 1936) tinha uma orgânica pouco adequada a este tipo de inovações, mais preocupado que estava com recuperar o « atraso » português em relação à Europa. A solução não se fez porém esperar : o leitorado começou a ser laboriosamente pago por uma subvenção do ministério dos Negócios estrangeiros, complementada por um apoio pecuniário da própria universidade francesa. A fórmula encontrada foi-o seguramente em reconhecimento da utilidade mútua do leitorado e como reciprocação simbólica expressiva da igualdade estatutária entre a entidade dadora (o Estado português) e a entidade recebedora (o Estado francês, através de uma das suas instituições de ensino superior), num tipo de simetria natural nas relações diplomáticas dos Estados-nação. E também decerto, do nosso lado, porque nos Negócios estrangeiros haveria mais gente que na Instrução pública directamente envolvida em relações, com a França, de uma mutualidade associativa que redundava já numa espécie de diplomacia cultural « civil » e paralela. Mas seguramente ainda como expressão de uma convicção aguda, sentida a vários níveis da orgânica do Estado republicano, de que todas as relações internacionais das Nações, mesmo as culturais, estariam imbuídas de uma clara dimensão política. Uma dimensão política vista de uma maneira muito particular : tratava-se, essencialmente, nas formulações da época, de assegurar que cada povo, nos fora do Estados-nação, equilibrasse igualitariamente o seu carácter nacional com o dos outros, na prosecução comum da tão almejada paz universal, num harmonioso concerto de nações6. Curiosamente, não obstante este facto, nenhum dos governos da Primeira República que assumiram funções até ao seu final viria a abrir mais leitorados, talvez dada a ausência de uma qualquer instituição de enquadramento na retaguarda, porventura mais inclinada para a concretização de outras prioridades de acção. O Estado Novo antes da Segunda Guerra mundial
O regime que se instalou em Portugal a 28 de Maio de 1926 com o golpe militar liderado pelo General Gomes da Costa veio marcar, profundamente, as coordenadas político-ideológicas da nossa acção cultural externa. Mas pouco mudou a sua essência. A ideia dos leitorados foi adaptada aos novos projectos. E assim sobreviveu : era uma ideia suficientemente maleável. Sem que mais nenhum leitorado tivesse sido entretanto instalado, a tutela pública sobre o leitor manteve-se. Alterou-se a sua inserção no Estado com a criação da Junta de Educação nacional, em 1929. O aparelho do Estado corporativo ia sendo montado. Havia que cobrir todos os recantos relevantes da vida e acção portuguesas. A Junta de Educação nacional, organismo de
6. Num estudo notável, intitulado Imagined Communities. The origin and spread of nationalism, B. ANDERSON (1991) oferece-nos abundantes detalhes do que, nos finais do século XIX, foram decerto os antecedentes de perspectivas deste tipo. B. Anderson insistiu aí, curiosamente, na importância do que apelidou a philological revolution e da historical imagination para a invenção dos nacionalismos internacionalistas europeus.
112 Armando Marques GUEDES
coordenação central sediado no ministério da Instrução pública, veio preencher algumas lacunas, naturalmente de acordo com os modelos administrativos organicistas característicos do regime. Mas não deixou por isso de ser seminal. De âmbito funcional muito amplo, a Junta constituiu um segundo enquadramento institucional, mais ou menos adequado, para os nossos docentes em Universidades estrangeiras. Até à sua extinção, em 1936, a junta apoiou o leitorado em Rennes e mais seis leitorados que, sucessivamente, foram sendo criados em França, na Inglaterra, e na Alemanha. As universidades escolhidas foram as de Montpellier, Poitiers e Toulouse, Londres e Oxford, e Colónia. Curiosamente, apesar do apoio pedagógico e científico e do enquadramento institucional serem da responsabilidade da Junta de Educação nacional, os encargos financeiros assumidos com os leitorados continuaram a ser repartidos entre o ministério dos Negócios estrangeiros e cada uma das respectivas universidades ; encargos que, com o crescimento do número de postos, se tornavam cada vez mais onerosos. Uma atitude enfaticamente expressiva do novo voluntarismo de uma administração pública em pleno processo de afirmação.
Esta situação só veio a modificar-se em 1936, com a criação do ambiciosíssimo Instituto para a Alta Cultura, que assumiu o pagamento integral dos leitorados existentes, bem como dos treze novos que abriu. À racionalização económica adicionava-se decerto algum desencanto realista. Mas cristalizava-se, sobretudo, uma nítida divisão de funções numa conceptualização que via na dimensão política (nacional como internacional) uma simples extensão da racionalidade do Estado. O Instituto para a Alta Cultura foi criado pela Lei n° 1/941, de 11 de Abril de 1936, que extinguiu a Junta de Educação nacional e instituiu a quase homónima Junta Nacional de educação7, dedicada, como diz a sua Base II, ao « estudo de todos os problemas que interessam à formação de carácter, ao ensino e à cultura ». Estamos em 1936. À distância, pelo menos, a terminologia jurídica revela de forma transparente o clima político então vivido. Mas neste como noutros casos, a reorganização levada a cabo correspondeu também à administrativização crescente em que o Estado Novo se embrenhou. A Junta Nacional de educação era uma instituição gigantesca ; a junta anterior foi pura e simplesmente absorvida como uma das suas numerosas parcelas. De acordo com a legislação fundadora, a 7a secção da nova junta constituiu o Instituto para a Alta Cultura, segundo o texto legal « em substituição da […] Junta da Educação nacional ».
O novo instituto foi uma das manifestações sectoriais dos projectos grandiosos de centralização corporativa do regime de Oliveira Salazar. O seu Presidente, nos termos da lei escolhido pelo ministro da Educação nacional, teria de ser necessariamente « uma personalidade que haja realizado trabalhos de mérito na investigação científica ». A exigência não se prendia só com princípios corporativos e com questões de prestígio. Tanto o Instituto para a Alta Cultura como o seu sucessor a partir de 1952, o
7. Uma mudança de denominação em todo o caso particularmente interessante pelo que denota. De um projecto político com um objectivo nacional, passou-se expressivamente a um projecto nacional de natureza política. Uma representação metonímica paralela à levada a cabo, na diplomacia cultural de Itália do pós-guerra, quando ao Istituto di Cultura Italiana a nova ordem democrática fez parcimoniosamente suceder o quase-homónimo Istituto Italiano di Cultura.
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 113
Instituto de Alta Cultura8, incluíam, no âmbito das suas atribuições e competências, não apenas a língua e cultura portuguesas, mas ainda toda (ou quase toda) a investigação científica.
Efectivamente, a 11 de Maio de 1936, exactamente um mês depois da criação do Instituto para a Alta Cultura, o Diário do Governo publicou o Decreto-Lei n° 26/611, do então renomeado ministério da Educação nacional, que regimentava toda a Junta Nacional de educação. No seu artigo 22 foi definida a área de competência do instituto. A linguagem do texto jurídico exprime bem o ambiente político-ideológico que se vivia, sem deixar de aludir implicitamente ao meio internacional que rodeava Portugal. Era assim, estipulava-se, objectivo do Instituto para a Alta Cultura « promover o aumento do património espiritual da Nação e a expansão da cultura portuguesa, como mais elevada expressão da finalidade educativa do Estado ». Numa formulação que não podia deixar de agradar à Educação nacional (que deste modo se via consagrada como legítima substituta dos Negócios estrangeiros), a pedagogia e a propaganda eram oficialmente constituídas, como se vai ver, enquanto lados opostos mas complementares de uma e mesma moeda. Foi como que cartografar como espaço o que antes era mero território. Um espaço novo, onde a figura dos leitorados podia ainda caber. Mas agora como parcela de um programa escatológico. Da busca política de um equilíbrio harmónico entre os diferentes povos, passava-se ao providencialismo de um destino manifesto quase messiânico. O texto jurídico era claro. O número 8 do mesmo artigo esclarecia, por exemplo, que competia ao instituto a promoção e a divulgação, no estrangeiro, « das obras e trabalhos que seja expoente da cultura portuguesa e documento da nossa acção civilizadora ». Visava-se, no fundo, transpor para o futuro as glórias hegemónicas do passado.
Como era característico do Zeitgeist deste período, e de acordo com os modelos institucionais franceses a que os meios intelectuais continuavam apegados, o novo instituto comportava duas secções : uma primeira devotada à « investigação científica » (a secção de ciências), a segunda às « relações culturais » (a secção de letras). Uma divisão orgânica semelhante à usada também, desde o século XIX, na Academia das Ciências e que pelo século XX adentro se manteve, permeando todo o sistema educativo português de que esse contraste definiu os planos de clivagem9. Uma das muitas competências desta 2a secção do Instituto, a sétima, era a de « promover o estudo da língua portuguesa no estrangeiro, como elemento de valorização nacional, pela oficialização do respectivo ensino, e como instrumento de propaganda da nossa cultura ». Os leitorados estavam aqui oblíqua mas implicitamente visados. A sua utilidade via-se definitivamente reconhecida, sem embargo da marcada mudança do regime de sustentação. Do ponto de vista factual de uma eventual história política dos nossos
8. Outra alteração de nome a testemunhar como, no meio simbolicamente densissimo de diplomacia cultural do Estado, a pequenas diferenças semânticas é atribuída enorme carga e importância. O que indicia claramente, creio, o estar-se face a um dispositivo que os poderes políticos reputavam de fundamental. É óbvio, parece-me, que se por um lado a precisão aumenta a coerência interna do discurso político, por outro a sua formalização torna-o muito mais inexpugnável.
9. Sem querer formular quaisquer críticas, parece-me judicioso notar que outras linhas divisórias coerentes são possíveis, mesmo se se insistir em erigir e reificar dualismos deste tipo. Assim, por exemplo, o contraste entre cultura e educação, típico da nossa diplomacia cultural contemporânea ; ou aquele outro, alternativo, entre Arts e Sciences, perfilhado pelos anglo-saxónicos.
114 Armando Marques GUEDES
leitorados, o mais interessante creio serem os dados de pormenor. A Guerra civil espanhola terá impossibilitado a criação de leitorados portugueses no país irmão. A ascendência do nacional-socialismo na Alemanha não teve consequências tão graves : dois leitorados foram aí abertos, em 1936 e 1937, em Colónia e Heidelberg, respectivamente.
É certamente útil fazer uma rápida recensão geral tanto das semelhanças como das diferenças entre as ideias veiculadas pelos textos legais desta época e as dos do regime anterior. Por razões bem diferentes das dos republicanos, o internacionalismo permanecia uma chama que se manteve acesa nas formulações jurídicas dos nacionalistas do Estado Novo. Mas não o mesmo internacionalismo. Era uma versão menos cosmopolista, mais paroquial, mais voltada para os diálogos fundamentais, do que para a criação de linguagens universais. Um internacionalismo mais focado nas relações entre nações do que, propriamente, nas relações internacionais. Foi também fértil o novo discurso legal na enunciação de finalidades transcendentes. Um ponto que, se bem que não totalmente ausente nas formulações republicanas, nelas não constituía mais do que um pano de fundo estilístico. O Estado Novo no pós-guerra
Tal como já referi, o Instituto para a Alta Cultura foi reestruturado em 1952, passando então a chamar-se Instituto de Alta Cultura. A reorganização impunha-se. A centralização e a acumulação de funções manifestaram-se excessivas, caso não excepcional no Estado português da época. Havia que reordenar a instituição, sob pena de inoperância. Inoperância, ademais, que comportava novos riscos. O clima político (no mundo bipolar em que um bloco democrático se opunha a um bloco autoritário e em que os nacionalismos separatistas, derrotados na guerra, se viam forçados a retrocessos apressados) era já outro. Mas o ambicioso projecto inicial mantinha-se, pelo menos a traços largos, com a tenacidade característica do Regime ; com alguma plasticidade criativa e, sobretudo, com uma notória vontade de sobreviver. Como diz o preâmbulo do Decreto-Lei n° 38/68, de 17 de Março desse ano, « tomou […] tal desenvolvimento este organismo de Estado e assumiu proporções tão vastas que necessário se torna rever o plano das suas actividades, regular o aproveitamento das técnicas adquiridas e organizar convenientemente o quadro do seu pessoal ». As medidas assumiam foros de alguma urgência, que se afirmava sobretudo « na medida em que é lícito prever (…) um maior incremento nas relações culturais ». E lícito o era sem dúvida. Ao boom científico do pós-guerra adicionava-se a importância cada vez maior da dimensão cultural, num mundo de comunicação e intercâmbios multiplicados em que a centralidade das relações externas e a preponderância da multilateralidade cresciam a olhos vistos.
Efectivamente, a conjuntura internacional favorecia-o. A Segunda Guerra mundial terminara. A paz declarada dera azo a um processo muito rápido de internacionalização concreta de todo o tipo de relações. Já não se tratava simplesmente de uma qualquer opção do regime. Era o arranque súbito (mas irreversível) da global village de hoje, da hegemonia dos mass media, dos organismos transnacionais de todo o tipo. A emergência de um palco à escala planetária estava aquém de quaisquer ideologias : era um facto moderno incontornável. Da perspectiva do Estado Novo, tal não era porém,
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 115
paradoxalmente, necessariamente negativo. O preâmbulo do Decreto que em 1952 reestruturou o Instituto de Alta Cultura (IAC) atribuía com efeito uma enorme atenção à guerra « recente », sublinhando que, apesar dela, « foi possível manter, desenvolver, e até, em alguns casos, criar centros de expansão da cultura portuguesa »10. E, continuava o legislador com fé inabalável, « o desejável reencontro amigável dos povos virá, sem dúvida, abrir novos horizontes a estes esforços de afirmação nacional ». Um enquadramento bem ponderado e realista, dados os termos do projecto de propaganda nacionalista que o Estado se esforçava por manter vivo.
Mas, como seria de esperar, sem abdicar nem dos seus princípios politico-ideológicos orientadores nem da sua visão sobre a ordem internacional vigente. Adaptando-os tão somente à renovada arquitectura internacional, que insistia em ver como apenas mera conjuntura externa. Tal ressalta com clareza da leitura do texto legal e das separações e articulações por ele operadas neste domínio. Ao listar os objectivos do Instituto de Alta Cultura, o Decreto, na alínea b) do seu artigo 4, especificava que competia a este organismo
« fomentar o estudo e conhecimento da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro como elemento de valorização nacional, pela oficialização do respectivo ensino e especialmente pela criação ou manutenção de leitorados junto das Universidades e escolas estrangeiras, divulgando deste modo nos outros países, a nossa literatura, a nossa arte, o conhecimento da nossa história e outros elementos da nossa cultura ».
O projecto propagandístico, como se pode ver, mantinha-se. Mas o seu ponto central de aplicação sofrera uma deslocação de monta ; ou, mais precisamente, uma extensão acompanhada de uma mudança de tónica. Sem abandonar a ideia de um património espiritual da nação acoplada à de uma missão educativa do Estado, privilegiava-se agora a valorização estratégica da identidade nacional, assim sedimentada, camada a camada, no palco colectivo das Nações. Em termos mais genéricos, passava-se da expressão de uma missão escatológica e trancendente a um programa político bem mais terra a terra. Um programa, ademais, concebido como alargado a novas frentes. Uma breve ilustração deste ponto : num dos parágrafos do preâmbulo do Decreto constitutivo do Instituto de Alta Cultura lamenta-se que
« uma obra andava empreendida e essa foi profundamente prejudicada com a guerra : a expansão da língua nas comunidades portuguesas do estrangeiro. Se foi possível manter nas Universidades Estrangeiras a cultura portuguesa, já
10. A Segunda Guerra mundial não inibiu o regime salazarista de criar leitorados na Espanha franquista, então já comparativamente pacificada : três Leitorados foram aí instituídos, um em 1940 em Madrid, e dois em 1944 em Salamanca e Santiago de Compostela. Curiosamente, a ocupação alemã da França também não constituíu barreira intransponível. Darei aqui um único exemplo, o do já conhecido Dr. Sezinando Raimundo das Chagas Franco, o nosso primeiro leitor, em posto na Universidade de Rennes até à sua morte, em 1944. Numa carta enviada ao Instituto para Alta Cultura em Março de 1940, o Dr. Chagas Franco informou o Instituto que, apesar da guerra e porque acorriam à Bretanha muitos refugiados de Paris e do leste de França, os Estudos portugueses estavam de vento em popa. Mas nem tudo eram rosas. A partir de 1940, e dadas as dificuldades de remessa directa de correspondência para a zona ocupada, o IAC passou a enviar via Paris todos os seus ofícios para Rennes, através do Ministro de Portugal em Vichy. Com boa vontade, tudo era exequível. Quando, em 1944, o Dr. Chagas Franco morreu, o Instituto dirigiu-se ao Cônsul do Reich alemão em Lisboa, solicitando autorização para a entrada em França da mulher do falecido, a sra. Dona Alphonsine das Chagas Franco, que queria ir buscar os seus bens pessoais. Mais uma vez o bom relacionamento funcionou. Três meses depois, o salvo-conduto necessário foi-lhe entregue e a senhora partiu.
116 Armando Marques GUEDES
não foi fácil lançar no ambiente das colónias portuguesas a semente da renacionalização. Mais que nenhuma outra se impõe agora essa imprescíndivel tarefa de reconstrução ».
Mantendo os olhos postos e no passado e no futuro, o Estado via-se agora, paradoxalmente, forçado a uma atenção redobrada ao presente.
Talvez em consequência da nova urgência do projecto propagandístico do Estado esta foi uma época de cada vez maior expansão, tanto quantitativa quanto geográfica, dos leitorados portugueses no estrangeiro. Apesar das restruturações havidas, o Instituto de Alta Cultura era uma instituição demasiado grande e administrativamente carregadíssima, como era habitual neste período do pós-guerra ainda em todo o caso tão marcado pelo corporativismo e pelo grande peso específico do Estado. O seu funcionamento ressentia-se inevitavelmente dessas características. Lento e pesado, este Instituto, como o seu antecessor, funcionava pouco e mal. Do ponto de vista formal no entanto (e mau-grado as alterações impostas pelas mudanças profundas do palco internacional), o projecto para que ambos tinham sido criados, reciclado para lhe fazer face, ia-se cumprindo. O preço do novo realismo terreno começou a fazer-se sentir. A escala económica do investimento em que o Estado tinha de incorrer para levar a bom porto a nova reformulação política do velho projecto de propaganda era cada vez menos despicienda. Se bem que em termos modernos eles fossem exíguos, em termos comparativos os orçamentos destes Institutos eram substanciais e a sua taxa de crescimento vertiginosa ; mas com esforço e coerência o regime assumiu-os. O que veio permitir novo grande salto no número de leitorados. Um salto particularmente marcado no que se refere ao Instituto de Alta Cultura.
Assim, e até 1976, ano da sua extinção, o Instituto de Alta Cultura abriu mais 57 postos, culminando num total de 77 o número de leitorados em funcionamento. Em termos geográficos, no entanto, o Estado Novo circunscreveu a sua política de propaganda nacional bem mais que o que estes números poderiam sugerir. Três dos leitorados que abriu em 48 anos eram em universidades norte-americanas. Um, no então fiel Senegal. Todos os outros foram criados em universidades europeias ocidentais, no que, noutro lugar, apelidei da West Side Story da diplomacia cultural portuguesa (Guedes 1997). A Democracia parlamentar
Grandes mudanças se aproximavam, porém, que iam pôr em causa a estrutura do Instituto e muito da sua carga politico-ideológica. Alterações que não poderiam deixar de mais uma vez soletrar algumas modificações no programa de propaganda nacional a que os leitorados iam dando corpo. Avizinhava-se um período de grande turbulência institucional, em resposta às convulsões sociais e políticas associadas ao 25 de Abril de 1974 e em consequência da reorganização da orgânica do Estado que delas resultou. Com a instauração da nova democracia parlamentar, foi dada ao Instituto uma nova chefia : o seu primeiro presidente, logo em 1974, foi o Professor Vítor Crespo, substituído no ano seguinte pelo Professor Domingos Pereira de Moura que, por sua vez, em 1976 cedeu o lugar a Fernando Namora. Uma situação de fluxo, sem qualquer dúvida. A instabilidade na liderança reflectia a conturbação política vivida e gerava uma instabilidade
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 117
institucional que prenunciava a mudança. Mas o verdadeiro momento de ruptura foi, em 1976, a criação do Instituto de Cultura Portuguesa.
Era o fim abrupto da vida longa do Instituto de Alta Cultura. O passo administrativo dado não foi propriamente radical. Com efeito, o velho Instituto de Alta Cultura não se viu extinto ; foi antes subdividido. De uma instituição bipolar, com um sector dedicado à investigação científica e outro à difusão da língua e cultura portuguesas, emergiram duas instituições separadas, autónomas, e completamente independentes uma da outra : por um lado, o Instituto nacional de Investigação científica (INIC) ; por outro, o já referido Instituto de Cultura portuguesa (ICAP). A nova terminologia era ricamente expressiva. O Decreto-Lei n° 541/76, de 9 de Julho, assinado por Almeida e Costa, Melo Antunes e Vítor Alves, era nisso curto e preciso. Conferindo uma parte das competências do IAC (as competências culturais) ao novo Instituto, e pondo os leitorados na sua dependência integral, asseverava o texto, deu-lhe « uma nova designação, mais de acordo com as funções que fica a exercer ». Esta preocupação com a precisão semântica não foi decerto nem inócua nem inconsequente. Era emblemática de um nacionalismo com uma nova face que, mutatis mutandis, não deixaria de vir a algo alterar das coordenadas propagandísticas do projecto antigo.
Por toda uma série de razões, este Instituto de Cultura Portuguesa foi sol de pouca dura11. Nesta fase de tão grandes reajustamentos ideológicos e políticos do Estado, a sua finalidade não resultava clara. O que indubitavelmente não beneficiava em nada a nitidez de perspectivas ; sobretudo numa conjuntura móvel, tornada ainda mais complexa pela progressiva readmissão de Portugal numa comunidade internacional que o tinha marginalizado devido às imprudências coloniais pouco avisadas em que o Estado Novo se tinha comprometido. Nem a matéria nem a substância da propaganda almejada eram já evidentes. Num certo sentido, perdera-se o norte. A situação de crise económico-financeira pouco ajudava. Nos quatro anos durante os quais foi sobrevivendo, sempre sob a presidência do Professor José-Augusto França (até 1980), o ICAP conseguiu apenas abrir três novos leitorados. E logrou a façanha de ver diminuir o número de leitores em posto, desprovendo sistematicamente os leitorados existentes (o único dos sucessivos Institutos de tutela que o fez). A situação pragmática era verdadeiramente insustentável. E, pelo Decreto-Lei nº 50/80, datado de 22 de Março, o Instituto foi finalmente reestruturado.
Não era sem tempo. Em desespero de causa, quase tudo tinha já sido ensaiado, até mesmo uma transferência de tutela ministerial. Curiosamente, e de entre outras atribulações bem de acordo com o espírito então corrente, o ICAP vira-se fora do ministério da Educação e Ciência : fora, subitamente, integrado na secretaria de Estado da Cultura, por força do Decreto-Lei nº 7/79, de 27 de Janeiro. Ao que parece, porém (seguramente em parte, pelo menos, por razões de natureza corporativa), o contexto institucional não era também o mais adequado. O Decreto-Lei nº 50/80, ao reestruturá-lo, devolveu-o também à procedência.
11. Tal como de resto, o INIC (cujo primeiro Presidente foi o Professor Miller Guerra) seu germano, se bem que por motivos não totalmente coincidentes. Com efeito, parecem-me se estruturalmente diferentes os escolhos com que se confrontou a investigação científica portuguesa, hierárquica em moldes corporativos, perante uma comunidade científica internacional altamente organizada, madura e competitiva, em que as posições hierárquicas eram pontos de chegada e não de partida.
118 Armando Marques GUEDES
Os tempos já eram outros. Os ventos políticos tinham entretanto mudado : atesta-o o facto de o diploma ter sido assinado por Francisco de Sá Carneiro e por Vítor Crespo. A designação do Instituto foi ela mesma revista, passando este a chamar-se Instituto de Cultura e Língua portuguesa, numa ligeira transformação enunciativa que teve o duplo mérito de esbater de algum modo as cores da nova face do nacionalismo, mas sem o retirar do pedestal que lhe conferia o ver-se expresso no nome de uma das instituições do Estado. Um indício icónico de uma situação de compromisso. No que vinha cada vez mais visivelmente a tornar-se numa tendência cíclica, a prioridade dada à afirmação emblemática da identidade nacional cedia visivelmente e com enfâse o passo à vontade pragmática de dela fazer propaganda internacional. Uma época mais calma ia, mais uma vez, iniciar-se.
O novo Instituto de cultura e língua portuguesa (ICALP) manteve a tutela sobre os leitores e leitorados. Depois das oscilações dos anos anteriores, e em termos meramente comparativos, foi um período dourado. Nos seus doze anos de vida (foi extinto em Julho de 1992), o Instituto abriu mais 87 leitorados, dos quais 77 entraram efectivamente em funcionamento neste período. Um crescimento notável. Um crescimento a que não foram, decerto, alheios os objectivos de um poder político empenhado em reintegrar Portugal num Mundo de que tínhamos andado arredados12. Foi um período, do ponto de vista da eficácia institucional, de frutuosa redefinição de projectos. E mais uma vez a maleabilidade da figura dos leitorados veio à tona, já que, no essencial, a missão propagandística tinha permanecido intocada.
Mas tinha passado para segundo plano. Não sendo sequer referida no texto legal, era agora tributária da prioridade, bem mais urgente, de recuperar territórios que pareciam cada vez mais perdidos. E seria mais complexa. Tanto a emigração maciça, que desde os finais dos anos 1950 persistia em multiplicar desmesuradamente o número dos portugueses e luso-descendentes no Mundo, como a descolonização de meados dos anos 1970, tinham de ser agora tomadas em conta. A integração na Europa comunitária perfilava-se já na linha de horizonte de forma irreversível e muitos (mesmo dos que lhe davam as boas vindas) a começavam a ver como de alguma maneira ameaçadora da sua identidade.
Em consonância com tudo isso, o ICALP viu as suas competências confirmadas e até mesmo alargadas : o Decreto-Lei nº 3/87 de 3 de Janeiro, que veio reestruturar os serviços centrais do então ministério da Educação e Cultura, assegurou ao Instituto a superintendência de todos os docentes portugueses do Ensino superior no estrangeiro. Mais, no que tocava especificamente à língua e cultura nacionais, tratava em conjunto os que a ensinavam no país e os que o faziam fora. O número 1 do artigo 13º do Decreto-Lei, se bem que discreto foi claro :
12. Outros dados quantitativos que creio de óbvio interesse : entre 1921 e 1975, durante um intervalo de 54 anos, 72 leitorados foram criados, 71 dos quais no Ocidente, 68 deles na Europa, 66 dos quais na futura Europa comunitária. Era, no que chamei o período eurocêntrico da nossa diplomacia cultural (ibid.), a vocação europeia portuguesa avant la lettre. Entre 1975 e 1992 (data da criação do Instituto Camões), portanto em 17 anos apenas, foram abertos 85 leitorados e efectivamente postos em funcionamento. 42 deles na Europa (5 no Leste, 3 destes entre 1975 e 1976, 5 em países não comunitários e 32 em países da União europeia), 9 nas Américas, 10 na Ásia e 11 em África (10 dos quais nos PALOP (Países de língua oficial portuguesa). Foi o que chamei o período da mundialização da diplomacia cultural portuguesa (ibid).
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 119
« Instituto de cultura e língua portuguesa tem como atribuições contribuir para o fomento do ensino e difusão da língua e cultura portuguesa, designadamente nas universidades e instituições congéneres do País e do estrangeiro, e assegurar a organização e funcionamento dos leitorados de portugueses no estrangeiro ».
O contraponto era nítido, se bem que tácito. De projectos que contemplavam a afirmação combativa da identidade nacional em termos de esforços sistemáticos de propaganda internacional, o Estado cada vez mais se recatava em enunciados que exprimiam, (ainda com alguma indirecção), uma postura mais defensiva que insistia (sem ainda disso fazer alarde) em escorar e proteger o que crescentemente vinha sendo visto como uma perda do nosso protagonismo internacional. Esta nova viragem no projecto propagandístico nacionalista do Estado português ia mais uma vez tornar-se bem visível, como tentarei mostrar, nos actos legislativos que, a par e passo, lhe foram dando suporte, alento e vida. A conjuntura contemporânea
Durante o consulado do Engenheiro Roberto Carneiro como ministro da Educação, na segunda metade dos anos 1980, foi decidido alargar de maneira considerável o raio de acção da então já longa linha de Institutos. As experiências, dolorosas, foram consideradas ricas em ensinamentos. Nas novas conjunturas internacionais, Portugal via-se cada vez mais inevitavelmente enredado num processo de aparente subalternização. O que, na perspectiva do Estado, exigia respostas institucionais mais capazes e melhor ordenadas. A ameaça percebida resultava, por um lado, do desafio cultural externo decorrente da integração portuguesa nas então chamadas Comunidades. Decorria, por outro lado, do facto de os PALOPs cada vez mais quererem aprofundar relações connosco, o que ia criando responsabilidades linguísticas e culturais acrescidas. A juntar a tudo isto, a explosão demográfica no número de falantes da língua portuguesa no mundo, um facto paradoxalmente nada tranquilizante visto ser óbvio que também nisso o Estado português perdera quaisquer veleidades credíveis de exercer algum contrôle que fosse.
Urgia concentrar esforços, focar objectivos, racionalizar meios. Não se tratava apenas de uma maior coordenação do ICALP, ou de uma sua reestruturação. Havia que assumir plena e frontalmente a urgência e as especificidades dos processos crescentes de internacionalização e de globalização que ameaçavam, caso com eles nos não soubessemos articular, esvaziar de conteúdo o velho programa propagandístico. Era preciso politizar a nossa actuação no palco externo. Decidiu-se por isso, por um lado, envolver directamente o ministério dos Negócios estrangeiros nas reformulações necessárias à sobrevivência do projecto ; e tentou-se por razões da mesma ordem, fazer convergir, para as arrumar, actividades que andavam, por outro lado, infelizmente, dispersas por inúmeros organismos e departamentos ministeriais sem quaisquer contactos entre si.
Essas instituições eram já numerosas. Tratava-se sobretudo de depar-tamentos e organismos que se tinham começado a formar em diferentes ministérios, a par e passo com a internacionalização acelerada de Portugal. Os seus nomes descrevem bem as funções para que foram criados : gabinete de Relações internacionais da secretaria de Estado da Cultura, direcção geral da Extensão educativa do ministério da Educação, direcção de serviços
120 Armando Marques GUEDES
culturais bilaterais do ministério dos Negócios estrangeiros e direcção geral da Cooperação, por exemplo. A delimitação das suas respectivas competências era cada vez menos clara. Abundavam todo o tipo de ambiguidades, de ambivalências, de reduplicações de esforços no campo da acção cultural externa portuguesa, num momento histórico em que pouco convinha existirem quaisquer obstáculos administrativos por menores que fossem.
Havia que saber tentar não perder o que muitos viam como talvez a última oportunidade que se propiciava a Portugal e à cultura portuguesa de se salvar de um total isolamento ou (o que seria mais humilhante ainda) de uma irrelevância dolorosa. E havia que saber resolver o problema administrativo, multidimensionado, de uma profunda reorganização de funções e instituições. A solução não era fácil. O problema que se perfilava tinha no fundo duas faces. Por um lado, a urgente devolução ao ministério dos Negócios estrangeiros de alguma participação no que dizia respeito aos leitores, aos leitorados e às outras acções dos Institutos ; uma participação que andava perdida desde a já tão longínqua criação do Instituto para a Alta Cultura em 1936, mas que a recém-adquirida consciência da dimensão política da cultura tornavam constitucionalmente inevitável. Por outro lado, haveria que saber criar uma instituição ágil e maleável, minimamente adaptada às novas conjunturas internacionais ora reconhecidas. Mais : havia que engendrar, também, uma instituição eficaz, que chamasse a si funções culturais externas dispersas por organismos díspares e incoordenáveis. Um verdadeiro quebra-cabeças.
O passo não deixou apesar disso de ser dado. No dia 15 de Julho de 1992, através do Decreto-Lei n° 135/92, foi criado o Instituto Camões. O modelo foi híbrido. A linhagem, clara. Herdeiro de uma longa linha de departamentos, organismos e instituições então extintas, ou em extinção gradual, o Instituto Camões, (como aliás indicava o preâmbulo do Decreto-Lei referido) pretendeu agregar de maneira inovadora muitas das funções que lhes cabiam ; além disso, o Instituto pretendeu fazê-lo « protagonizando ao mesmo tempo uma resposta integrada e moderna aos imperativos da defesa da língua e valorização da cultura portuguesas ». À ideia de valorização associava-se agora taxativamente a de defesa. E era introduzido o conceito de modernidade administrativa e política.
Era difícil ser-se mais expressivo no sublinhar da urgência de uma reformulação defensiva, de retaguarda, do projecto de propaganda nacional. Muito se iria porém manter. De entre os instrumentos primordiais da acção do novo Instituto, como da dos seus ilustres antecessores, avultavam ainda os leitorados e os leitores. Sem que tivesse sido contemplada nem uma verdadeira reestruturação de fundo das suas funções, nem do seu modo de recrutamento ou das suas finalidades. Para a presidência do Instituto foi escolhido um historiador portuense, o Professor Luís Adão da Fonseca.
Com os benefícios da retrospecção, não é difícil perceber que a dureza que cedo se fez sentir estava implícita no ecumenismo inovador do modelo institucional escolhido para o Instituto Camões. O texto legal era explícito. Um dos termos da nova reformulação do projecto propagandístico era o da urgência da adequada redimensionação política dos leitorados. Esperava-se por isso uma íntima « colaboração » entre o Instituto Camões, « o ministério dos Negócios estrangeiros » e « o departamento governamental responsável pela área da cultura », na « criação de institutos e centros portugueses,
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 121
professorados e leitorados no estrangeiro e coordenação das suas actividades » (artigo 3º, 2 a). O Ministério dos Negócios Estrangeiros, durante tantos anos disso arredado, via-se de novo directamente envolvido com os leitorados portugueses no estrangeiro, como que numa súbita tomada política de consciência pelo Estado. Sem responsabilidades financeiras, desta vez ; antes como « parceiro estratégico », na sua criação e coordenação13.
Em nome dos interesses nacionais, o ministério dos Negócios estrangeiros, o Instituto Camões (então ainda no ministério da Educação) e a secretaria de Estado da Cultura foram, num certo sentido, condenados por este Decreto-Lei a uma cooperação estreita. Cooperação cujos contornos, numa orgânica de Estado muito clivada como o era a que saíu dos quarenta e oito anos de corporativismo, se mostravam para dizer o minímo, difíceis de entrever. Levá-la a bom termo não teria nunca sido fácil. Haveria que saber definir à partida as regras concretas do jogo. Haveria que ser capaz de fazer a necessária circunscrição de competências e atribuições. Haveria que montar estruturas de tomada de decisão simultaneamente bem definidas e maleáveis. Como poderia ser de esperar, em nenhuma destas frentes houve um sucesso indubitável.
Mas tanto em nome do ainda bem aceso projecto de propaganda nacional, como no da pacificação institucional, tornava-se imperativo intervir. Em 1995 parecia prematuro proceder a qualquer notória transformação radical de um instituto criado, pelo mesmo governo, menos de três anos antes. Com algum minimalismo, foi decidido manter-lhe o nome e as chefias, salvaguardando as aparências. Internamente, porém, houve grandes alterações. Tal como as houve na inserção de um renovado Instituto Camões na orgânica geral do Estado. O longuíssimo prêambulo ao Decreto-Lei nº 52/95, de 20 de Março, justifica-o alto e bom som, ao asseverar que « a experiência adquirida mostrou a manutenção de algumas dificuldades na conciliação de um sistema que, em última análise e na prática, se traduzia na existência de duas tutelas ». Esta formulação preambular é notável pela sua obliquidade. A tradição oral, então como hoje, tem-se comprazido no MNE a personalizar responsabilidades pelo evidente défice de eficácia do Instituto Camões. O texto jurídico que citei atribui-as à « dupla tutela » sofrida. Uma terceira versão, corrente, explica os escolhos havidos como resultantes de maus relacionamentos triangulares entre os dirigentes políticos do MNE, as chefias do Instituto, e a corporação diplomática. Não é impossível que a cada uma destas interpretações corresponda uma parcela de razão. A formulação jurídica, em todo o caso, aparece como expressão de compromisso, convenientemente neutra na sua aparência.
Assim, e no quadro da grande reestruturação do ministério dos Negócios estrangeiros levada a cabo um ano antes, entoa o texto legal, « entendeu o Governo ser preferível a concentração da tutela neste departamento governamental ». Era a consagração do reconhecimento das novas dimensões políticas, não só dos nossos leitorados no estrangeiro, mas do todo constituído pela diplomacia cultural portuguesa. E também uma
13. A impressão que fica é a de que o objectivo desta reentrada do ministério dos Negócios estrangeiros não era apenas um reconhecimento da centralidade da dimensão política nos novos posicionamentos internacionais. Mas ainda, e talvez sobretudo, um alerta para a convicção do Estado de que havia que racionalizar funções e evitar áreas de conflitos institucionais. O que não era incompatível com o economicismo então vigente.
122 Armando Marques GUEDES
consequência das pressões corporativas14 de um ministério poderoso, que nunca se resignara à falta de contrôle efectivo sobre uma das parcelas da acção nacional no estrangeiro.
Muito significativas, em termos do velho projecto de propaganda nacional (e bem expressivas das reformulações a que este se via sujeito nos últimos anos), eram aí, uma vez mais, as fissões e as fusões nocionais operadas pelos enunciados jurídicos. O preâmbulo falava da « herança cultural portuguesa », constituindo-a como « um património » a « pondera » e a « preservar ». Este último ponto de aplicação é enunciado no contexto de uma curta referência ao Instituto internacional de Língua portuguesa, uma criação brasileira, envolvendo os sete países lusófonos, a que o Governo tivera por bem aderir um par de anos antes. Para além de uma reiteração de intenções, esta alusão significou, por óbvia antinomia, algum distanciamento institucional. Um outro contexto simultâneo deste enunciado é a prioridade então concedida à « ponderação » e « preservação » dessa « herança » nos países de língua portuguesa, na União europeia, e junto aos luso-descendentes no Mundo. Mais, o texto alude explicitamente aos novos « imperativos da defesa da língua e de valorização da cultura portuguesas ».
Com todo o peso de uma exigência, os enunciados emparelharam, portanto, mais uma vez, valorização e defesa. E, em cumprimento de uma formulação já veneranda, língua e cultura foram associadas uma à outra de maneira indelével, ao longo de todo o documento jurídico. Mas houve mais. Num diploma particularmente rico, estipulou-se ainda que a primeira das atribuições genéricas do Instituto (enunciada no segundo artigo, nº 1), para além das avulsas, seria a « da afirmação e valorização da cultura portuguesa no mundo ». Defesa, afirmação e valorização apareciam, assim, diagonalmente, como aspectos indissociáveis de um mesmo programa político de grande porte.
Era como que um mapa detalhado (e de alta resolução) da então mais recente das reformulações do projecto de propaganda nacional. Os leitorados mantinham-se. Mas o articulado do Decreto submergia-os no âmbito, mais alargado, da « acção cultural externa », subdividindo os seus ocupantes (à imagem das universidades) em « professores e leitores », e remetendo toda a regulamentação que lhes dissesse respeito para um « diploma próprio ». A redimensionação política urgente acoplava-se por esta forma a uma vontade de especialização a sublinhar, com clareza, o reconhecimento pelo Estado português da necessidade de uma nova sintonização fina da formatação dos leitorados. Uma sintonização, no entanto, que não iria porém mais longe do que a mera definição dos estatutos correspondentes a cada uma das categorias, selecção, recrutamento e funções. O texto, note-se, equacionava, acriticamente, « acção cultural externa » e « promoção » internacional das nossas língua e cultura. Sem nunca enunciar a hipótese, virtual nos pressupostos da sua formulação inicial, de virem a ser criados professorados ou leitorados de outras áreas científicas, providas por Portugueses, em universidades de outros países.
14. É muitas vezes laborioso não vislumbrar na burocracia que sobreviveu à instalação do regime democrático uma espécie de quarto poder do Estado.
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 123
Enquadramentos e suportes de uma ofensiva diplomático-cultural portuguesa
Na secção anterior deste artigo, esforcei-me de pôr sempre em relevo tanto as continuidades como as transformações a que tem estado sujeito o esforço empreendido pelo Estado quanto aos leitorados. Ao fazê-lo, tantei sempre tornar explícitos, por um lado, vários aspectos das dimensões políticas deste esforço e, por outro, os seus tão mutáveis quadros administrativos. A nível administrativo, sublinhei, em cada caso, o lugar da atribuição, na estrutura orgânica do Estado, das responsabilidades tutelares e financeiras sobre estas entidades e o seu enquadramento institucional. A nível político, preocupei-me sempre com pôr em evidência uma série de questões conexas : as finalidades que, em cada conjuntura, cada regime tem delineado para si próprio ; o peso que, em cada momento, tem sido reconhecido à sua ligação com a comunidade internacional envolvente ; e, ainda, a forma escolhida para assegurar esta última nos termos das primeiras.
Os leitorados de língua e cultura portuguesas, apesar de ao longo dos seus três quartos de século de existência terem estado sujeitos a diversos reajustamentos e modificações têm respondido essencialmente a estas duas grandes ordens de constrangimentos, os políticos e os administrativos. E têm-no feito, insisti, dando corpo a um projecto sustido de propaganda, no estrangeiro, daquilo que o Estado tem reputado como as traves mestras da identidade nacional portuguesa. Um longo projecto, com várias etapas, que tem sobrevivido a três regimes políticos sucessivos. Nem o discurso jurídico nem a prática institucional, espero ter demonstrado, deixam nisso qualquer margem para dúvidas.
Não me parece difícil dissecar a tendência para transformações deste projecto. A importância crescente que o Estado tem vindo a conceder-lhe não é seguramente passível de grande contestação. Tem aumentado, como vimos com muitos avanços e recuos, o número de leitorados e a sua distribuição geográfica e política. Por conseguinte, tem sido ampliado o seu peso orçamental. Como tem sido cada vez mais bem sintonizada a sua dimensão política, consubstanciada na sua acrescida regulamentação e na sua cada vez maior adstrição aos orgãos que o poder público tem devotado à acção externa.
O fio condutor de todas estas tendências, como creio ter demonstrado, parece-me ser claramente a vontade política que o Estado português tem tido em criar e manter, numa ordem internacional percebida como cada vez mais avessa ao protagonismo ambicionado para Portugal, um projecto de representação internacional da identidade nacional que no-lo restitua. Os actos jurídicos que fui tendo o cuidado de citar (nomes, declarações preambulares, enunciados, reestruturações orgânicas) são nisso, creio, muito claros, ainda que muitas vezes de forma implícita ou oblíqua. São, no entanto, explícitos na asserção que a identidade nacional a ser representada é a « histórica » e a « culta ». Como pontos preferenciais de aplicação dessa identidade a projectar para o exterior têm sido sempre seleccionadas a nossa língua, a nossa história e a nossa literatura, reificadas como os seus fundamentos e sua mais alta expressão.
Os leitorados de língua e cultura portuguesas, quero aqui insistir, são as instituições expressamente criadas e regulamentadas pelo Estado para esse
124 Armando Marques GUEDES
efeito15. De um ponto de vista substantivo, portanto, os leitorados não são assim mais que instrumentos de um projecto público de representação, no estrangeiro, de imagens selectivas depuradas da identidade nacional portuguesa, instrumentos postos a funcionar em universidades que o Estado considera « formadores de opinião »16 eficazes nos países que, em cada conjuntura, o poder público tenha identificado como de interesse bilateral. Ao longo dos quase oitenta anos da sua existência, este projecto geral de propaganda internacional do Estado português tem-se mantido activo. Os leitorados continuam. Mas os papéis e objectivos deles tem-se ido acomodando tanto a sucessivos enquadramentos institucionais nacionais, quanto às diversas conjunturas internacionais do seu funcionamento.
Nesta perspectiva complementar, dois pontos maiores, ao que me parece, resultam claros deste breve levantamento das formulações estratégicas que o Estado foi sobre eles elaborando. Por um lado, a primazia que (como referi) na sua conceptualização tem tido a dimensão, continuada e sustentada, de instrumentos públicos de propaganda nacionalista. Mas, e também, por outro lado, a tendência geral em se ir esbatendo, por meio de uma sequência de inflexões, a postura activa da propaganda levada a cabo, a favor de uma intervenção política mais defensiva e, talvez por isso, mais tática. Vários outros exemplos poderiam aqui ser aduzidos, que ilustram a nova fase, porventura mais realista, que se tem manifestado como tendência recente nos actos jurídicos (e não só) relativos à diplomacia Cultural portuguesa. Assim, o protocolo assinado a 27 de Julho de 1989 entre o ministério dos Negócios estrangeiros e Macau (que vigorou até 1994, data em que foi revisto sem que essa prioridade fosse substantivamente alterada) atribuíu prioridade estratégica à nossa acção cultural em cinco países-alvo da Ásia (Índia, China, Japão, Coreia do Sul e Tailândia), para que neles, segundo o seu preâmbulo, « não desfaleçam os sinais da herança histórica portuguesa ». Uma escolha mais gráfica de predicado seria quase impossível.
De uma confiança inquestionada no peso específico de Portugal no mundo, o Estado passou assim (ainda que de maneira não linear nem contínua) a uma tentativa, cada vez mais resignada, de consolidação das posições históricas ainda tidas por adquiridas. Mas, como irei argumentar, sem que nunca tenha sido posta em causa (em todo o caso, pelo Estado) não a legitimidade, nem a exequibilidade, mas a eficácia de um projecto de representação internacional da identidade portuguesa como extensão de um projecto de propaganda nacional. Como se, nos termos platónicos, pudessemos conceber um tal projecto como se se tratasse da « composição de uma fábula » fundadora. Na República, porém, o facto de uma polis ter como prerrogativa legítima, para efeitos da sua edificação, o recurso a « fábulas », não as torna
15. Nas possessões africanas, então denominadas de « províncias ultramarinas », o mesmo Estado Novo introduziu no sistema educacional o que seria talvez tentador ver como uma variante maximalista dos Leitorados de língua e cultura portuguesas : os cursos de língua e história pátria. Há no entanto diferenças de monta : os primeiros visavam porventura a criação de lobbies de influência no estrangeiro ; os segundos, a conversão cultural. Ambos eram porém propagandísticos ; uns destinados a promover uma imagem depurada de Portugal entre « estrangeiros cultos », outros imaginados para despertar sentimentos de « portugalidade » em « povos indígenas » e em « colonos » alijados.
16. E com algum fundamento. Relativamente ao século XIX (e decerto com uma muito maior aplicabilidade), E. HOBSBAWM (1964 : 166) escreveu com lucidez que the progress of schools and universities measures that of nationalism, just as schools and especially universities became its most conscious champions. Uma situação que hoje encontra paralelos nos países recém-independentes.
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 125
no entanto sempre em fábulas úteis. E mesmo as úteis não o são eternamente. Para repetir o que sublinhei no início deste artigo, julgo essencial ter em mente que as fabulações edificantes que têm sido veículos deste projecto de propaganda pelo Estado, não têm tido os cidadãos nacionais, futuros « guardiões », como público-alvo. A audiência escolhida, antes e por definição, são cidadãos de outras nacionalidades. O que (mesmo concordando com Platão e o seu elogio) nos permite suscitar questões legítimas quanto à continuada utilidade e eficácia (e portanto a justificabilidade política) do projecto dos leitorados tal como ele ainda vigora. Mas que nos possibilita também aventar hipóteses quanto às eventuais consequências, para a posição de Portugal na ordem inter-nacional, da perpetuação deste projecto.
Comecemos pela influência recíproca exercida entre os Estados-nação e o sistema internacional, no que diz respeito à acção diplomático-cultural. Tal como insisti noutro lugar, a utilização, pelos Estados, de mecanismos de representação no âmbito da diplomacia cultural adapta-se melhor a certas configurações da arquitectura internacional que a outras17. São dispositivos simbólicos particularmente adequados, argumentei aí, a uma comunidade composta por um simples somatório de Estados-nação. Mostras e exposições, tal como centros culturais, têm com esse tipo de configuração arquitectónica uma óbvia afinidade electiva : são palcos circunscritos apropriados para encenações de imagens, para a afirmação extra-muros das identidades nacionais em diálogo, constituindo enquadramentos excelentes para projectos de propaganda nacionalista. No mundo que se conceba como uma mera colecção de unidades, são entidades de eleição.
Como vimos, a criação, durante a Primeira República, do nosso primeiro leitorado, em Rennes, não destoava : foi um bom símbolo, dada a sua configuração interna, da posição internacional do Estado que representava. Era, em termos semiológicos, a um tempo uma expressão cívica do programa político de mutualidade associativa e uma expressão pública de um projecto político de reciprocidade entre Estados, que a canalizava. Tudo numa modalidade de internacionalismo esplendidamente adaptada tanto à ordem internacional então vigente, como à natureza do Estado republicano. O leitorado criado era decerto bastante eficaz : já que consentidamente mantinha uma postura e um discurso estruturalmente coerentes e harmonizados com a conjuntura, junto a um público académico certamente apto a bem os entender. Uma figura cheia do que sou tentado de apelidar de vigor metafórico.
Com o Estado Novo o enfoque manteve-se, mas alterou-se o acento tónico. Mais que nas relações propriamente internacionais, os poderes públicos preferiram apostar em cultivar relações corporativas e oficiais entre Nações. O que é difícil não ver como, simultaneamente, uma expressão da natureza política, ideológica e administrativa do regime, e um reflexo da sua perspectiva quanto ao sentido das modificações entretanto ocorridas na configuração envolvente da arquitectura internacional desse período. Na conjuntura dessa parca metamorfose das afinidades electivas anteriores (e mutatis mutandis) os leitorados mantiveram-se, sem grandes dificuldades,
17. Ver A. Marques GUEDES (1998), em que discuto as actividades culturais portuguesas no sudeste asiático, entre 1989 e 1993 e sublinho insuficiências na acção do Estado na região do mundo em que estão localizados Macau e Timor e em que suscito questões ligadas a este ponto, tentando dar-lhes algum enquadramento teórico.
126 Armando Marques GUEDES
como aptos e úteis instrumentos da propaganda nacional portuguesa no estrangeiro. As afinidades mantinham-se, também neste caso expressivas de uma articulação que era um prolongamento da posição internacional do Estado que representava. A correspondência metafórica estava intocada. Não é preciso imaginar o eco que terão tido, distribuídos como estavam por universidades seguramente providas, à época, de inúmeros académicos com fortes credenciais nacionalistas.
Como não é surpreendente que grande parte do esforço de representação empreendido tenha tido lugar de honra durante o regime do Estado Novo. E não só pela forma do Estado português dessa época. Em termos substantivos vivia-se um período em que fazer ouvir a nossa voz histórica e cultural às elites sociais e culturais de entidades nacionais, internamente muito hierarquizadas, nos trazia sem dúvida alguma vantagens, dada a hegemonia delas nos seus países. A alínea d) do artigo 4º do Decreto/Lei nº 38 : 680, de 17 de Março de 1952, que criou o Instituto de Alta Cultura, ainda podia, com alguma propriedade, enunciar como um dos objectivos do Instituto « revelar ao mundo culto os padrões da nosssa grandeza histórica e a obra em todos os domínios realizada pelo Estado ». E podia o Estado assim então, manejando o pseudos, pretender edificar « uma cidade em palavras », com alguma expectativa legítima de a ver ter eficácia.
Do ponto de vista do Estado corporativo, e dada a sua mais firme e estreita postura nacionalista, o objectivo político (a sua eficácia simbólica) fora mesmo ampliado. De representações metafóricas, os leitorados tinham subitamente passado a acções culturais nacionalizadas. Um aumento de peso específico que se acentuou no pós-guerra, e a que o Estado Novo (e o regime Democrático que se lhe seguiu) depressa acorreram. Fizeram-no articulando cada vez mais os leitorados (até aí considerados de importância menor) num aparelho de Estado crescentemente redesenhado para ser mais eficaz, e para eles elaborando objectivos táticos numa estratégia nacional simultaneamente mais tomada a peito e mais global.
Depois da Segunda Guerra mundial, o projecto de propaganda nacional a que davam corpo foi sendo alterado ao sabor da conjuntura. Mas sem que os leitorados agora verdadeiramente se recompusessem. Já que, quero aqui sublinhar, se viviam entretanto importantes mudanças estruturais nas configurações da arquitectura internacional. De uma comunidade texturada como um somatório de Estados-nação transitara-se, no pós-guerra, para uma nova teia de interdependências funcionais de todo o tipo. Talvez tão crucial como esse facto, tornamo-nos disso agudamente conscientes. Muitos dos traços estruturais da configuração segmentária anterior mantinham-se. A ideia de leitorados cabia ainda, por isso, na ordem internacional. Mas via a sua eficácia diminuída pela multiplicação acelerada de interligações, pela emergência de novos segmentos, e pela cada maior aferição das suas partes em termos do todo e não do diálogo de umas com as outras. A própria ideia de uma propaganda nacional era crescentemente posta em causa, sujeita a erosão à medida que se esbatiam as afinidades electivas que tinham servido de suporte ao programa histórico de representação das identidades nacionais num palco internacional. Nas universidades, a palatabilidade de ideias nacionalistas (pelo menos na larga maioria daquelas onde funcionavam leitorados) estava também a esmorecer. Paradoxalmente, o Estado do pós-guerra via perder eficácia a encapsulações simbólicas de que cada vez mais necessitava para se afirmar na ordem externa.
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 127
Na nova arquitectura internacional a figura dos leitorados suscitava em muitos casos já poucas ressonâncias. A superioridade moral e o ascendente histórico propalados soavam muitas vezes mal e constituíam asserções eticamente ambíguas nas novas comunidades emergentes ; exprimiam, ademais, uma postura pouco compatível com o peso e a dimensão externa do país que as enunciava. Com teimosia característica, o Estado tentou resolver o paradoxo em seu benefício, aumentando em flecha o seu número ; o advento da democracia veio aqui mudar pouco. Aproximava-se porém o momento em que seria do nosso óbvio interesse relativizar (ou mesmo profundamente alterar) o projecto de propaganda nacional portuguesa. Havia para isto também razões concretas e substanciais. Ter como fim assestar baterias sobre élites universitárias fazia seguramente mais sentido face a entidades nacionais internamente muito hierarquizadas do que frente a audiências internacionais comparativamente mais homogéneas. Mais : os meios académicos escolhidos para a comunicação no projecto antigo viam a sua importância reduzida18, numa « aldeia » sentida como estando em rápida globalização em que as imagens mediáticas passavam quantas vezes a substituir os discursos científicos como instrumentos de legitimação. Um esplêndido trompe l’œil burocrático
Tal como insisti logo de início, o projecto dos leitorados de língua e cultura parece-me paradigmático do que tem sido o todo da diplomacia cultural portuguesa. Sem qualquer sombra de dúvida, tem constituído o seu núcleo duro, tanto em termos de duração, coerência e cumulatividade, quanto no que diz respeito ao número de agentes envolvidos, à sua distribuição política e geográfica, ou aos seus custos. Utilizado com grande destreza e com bastante astúcia política (Guedes 1997, op. cit.), tem consubstanciado um dos seus instrumentos fulcrais na ordem internacional. Durante anos serviu bem os imperativos de uma apresentação externa da cultura portuguesa e assumiu perfeitamente a representação, no estrangeiro, de alguns dos nossos mais altos valores culturais. Mais que isso, para muitos académicos e intelectuais portugueses preencheu um papel insubstituível ao lhes tornar possível, simultaneamente, exprimirem-se perante audiências cosmopolitas, uma aprendizagem do mundo (e sobretudo do mundo científico) e ao lhes dar a oportunidade de construir redes de contactos e intercâmbios que nos garantiram a todos não perder de vista horizontes mais largos. Mas o mundo entretanto mudou.
Sem dúvida a criação e manutenção de postos académicos de ensino e investigação da língua, da história e da literatura portuguesas em universidades estrangeiras mantêm inquestionável interesse e tem óbvios méritos. O programa de internacionalização científica em que os leitorados
18. Um mal, aliás, a que não foram imunes projectos paralelos e semelhantes de diplomacias culturais de outros países. A França, por exemplo, os Services culturels que se aliam, em numerosos postos, às Alliances françaises locais, têm padecido (sobretudo a partir dos anos 1970) de uma quebra acentuadíssima (para bastante menos de metade, em muitos casos) no número de alunos para a sua língua e cultura. A perda de protagonismo e de ascendente internacional são seguramente factores neste desaire. Parece-me, em todo o caso, que o que está essencialmente em causa é a perda de eficácia, no mundo de hoje, de um projecto propagandístico que aposta, essencialmente, na projecção externa da mitologia interna de sustentação da identidade nacional. O que não pode senão ver-se agravado pelo tipo pouco eficiente de gestão, inevitavelmente decorrente de algum planeamento centralista, que é sempre apanágio incontornável dos programas de Estado.
128 Armando Marques GUEDES
podem ser incluídos é-nos imprescíndivel. São os méritos políticos contemporâneos do esforço propagandístico a que dão corpo o que está verdadeiramente em causa. O projecto dos leitorados continua a ser uma expressão vigorosa do nacionalismo do Estado ; mas como prática diplomática tem-se revelado cada vez mais inconsequente. A razão de ser dessa crescente inconsequência não reside em quaisquer inadequações funcionais ou avulsas na forma de concretização deste projecto, mas na sua própria natureza. É a sua própria conceptualização e a sua adequação ao mundo de hoje o que deve ser repensado. Impõe-se cada vez com mais nitidez um conjunto de mudanças estruturais que, infelizmente, e ao contrário do que tem sido o caso para as diplomacias política ou económica, o Estado não tem sabido plenamente assumir quanto à da diplomacia cultural.
É bom esclarecer melhor este ponto. Persistir (como ilustração) numa diplomacia económica concebida nos moldes em que temos vindo a delinear a nossa diplomacia cultural redundaria, por exemplo, em tentar priorizar no nosso comércio externo a colocação em mercados internacionais de fados, doces regionais, vinhos de mesa e rendas de bilros. Muitos destes excelentes produtos são decerto vendáveis, mas a aposta seria claramente perdedora. Durante muito tempo, no entanto, especiarias, vinhos e lanifícios, foram as nossas exportações mais rentáveis. A par e passo, o Estado tem felizmente sabido alterar os pontos de aplicação do apoio dado aos nossos investimentos económicos externos, em função das mudanças estruturais ocorridas no mundo. A nível político, parece-me também claro, por exemplo, que se o Estado mantivesse uma postura externa de uma simples defesa intransigente de Olivença, ou de uma afirmação repetida de uma identidade política nacional « orgulhosamente só », tal redundaria hoje num cortejar de desaires diplomáticos que nos poriam ombro a ombro com uma Coreia do Norte, um Iraque, ou um Afeganistão. Para a posição internacional de Portugal, o resultado seria pouco desejável.
Um sintoma desta crescente inadequação estrutural19, quero aqui insistir, têm sido sentida na cada vez menos vantajosa relação custo-benefício de leitorados que o Estado continua a querer instalar em universidades agora um pouco por todo o mundo, no que num artigo recente apelidei da fase da trivialização política (1997, op. cit.) da sua criação. leitorados (hoje cerca de duas centenas) que, repito, de uma ou outra maneira se tem tentado continuem a funcionar como uma espécie de operadores institucionais que transmutem, para um público académico, construtos de uma identidade nacional que o Estado se tem esforçado por promover em imagens propagandísticas de Portugal no exterior. Tais esforços não têm hoje a influência que tiveram no sistema de relações internacionais. Muitas vezes,
19. Não resisto a aqui citar o artigo « Leitorados de português em França », editado em 1993 pelo Instituto Camões no número 2 do seu Boletim (depois da extinção da Revista do ICALP a sua única publicação). Para além do extraordinário título, o texto, oficial, presta-se a eventuais análises académicas. A sua frase de abertura dá o tom : « o primeiro leitorado criado pelo governo português, em 1930/31, foi o da Universidade de Sorbonne ». O artigo trilingue, assinado por José Manuel Esteves, do Instituto, continua, afirmando que os Leitores tem sabido exercer funções « num verdadeiro e correcto (sic) exercício de diálogo intercultural ». Termina o artigo de maneira lapidar : « a presença dos leitores de português em França é o exemplo vivo de que a cultura não tem fronteiras e que se pode estar num lugar e habitar pela língua e cultura outra paisagem, fazendo desaguar o Tejo e o Sena, irmanados numa imensa vaga de azul, no mar maior da cultura ». O projecto propagandístico assumido oblíqua mas frontalmente, ou uma versão idealizada (e contraditória) de um « cosmopolitanismo dialógico » à la Habermas (ver e.g. LINKLATER, 1998 : 87-109).
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 129
funcionam decerto mesmo á contre-sens, alienando aqueles que se empenham em cativar. Nesses casos, por isso, longe de colaborar num diálogo normativo que possa domesticar a anarquia externa, são percebidos como um exercício de hegemonia simbólica com que tentaríamos conquistar um ascendente internacional perdido.
Repensar os leitorados é uma tarefa que compete ao poder político equacionar e levar a bom termo. No mundo contemporâneo, qualquer projecto que vise dar visibilidade a Portugal como país de história e cultura tem ainda sem dúvida (e por algum tempo continuará a ter) o seu impacto. Nuns casos mais que noutros : o Brasil, os PALOP e, de alguma maneira, a maioria dos países do chamado terceiro mundo (onde não raramente nacionalismos estreitos ainda reinam) serão seguramente por mais alguns anos bons terrenos para esse tipo de empresas ; conquanto soubermos modular a propaganda épica ao nosso nacionalismo de forma a não ofender aqueles que se sentem injuriados justamente por feitos de que nos vangloriamos. Mas em termos gerais a era da mera representação douta parece irreversivelmente ultrapassada. As lições dos outros países europeus e dos norte-americanos deveriam ser aprendidas. Há que conseguir não deixar estagnar a acção cultural externa como mera valorização de uns quantos aspectos da cultura portuguesa, como uma simples questão de representação, num palco público internacional restrito, daquilo que nós próprios consideramos constitutivo da nossa identidade. É em todo o caso cada vez menos pacífica e consensual a ideia, mesmo entre muros, que a identidade portuguesa possa ser decantada na história, na literatura, na língua, ou em realizações de alta cultura. Como é cada vez menos evidente que uma diplomacia, para dar frutos, precise nalgum sentido de retratar fielmente seja o que fôr daquilo que pretende defender. Uma diplomacia cultural portuguesa, para tornar a ser consequente terá doravante que fazer mais, e outra coisa, do que isso. Para ser realista, terá que elaborar estratégias concretas que favoreçam o posicionamento cultural (e também político e económico) de Portugal num palco internacional cada vez mais globalizado. Para produzir eficácia generalizada terá de se resignar a enveredar por trilhos mais consensuais.
Será apenas quando soubermos assumir frontalmente as novas arquitecturas internacionais, quero disto concluir, que nos conseguiremos posicionar em termos da imagem que é hoje a de Portugal (quer o queiramos quer não) nos meios mediáticos e que saibamos transformá-la à medida dos nossos interesses. Só com esse bom posicionamento poderemos esperar lograr conceber uma melhor relação entre os benefícios que tenhamos para oferecer às audiências internacionais e os eventuais interesses destas. E isso apenas no sentido de não confundir as preferências culturais dessas audiências com a nossa própria urgência em edificar uma « fábula » platónica20, em todo o
20. Uma confusão que, ao que tudo indica, corre o risco de vir a ter consequências cada vez mais radicais. Como escreveu S. HUNTINGTON (1993 : 23), with the end of the cold war, international politics moves out of its western phase, and its centerpiece becomes the interaction between the west and non-western civilizations and among non-western civilizations. Sem que isto signifique total concordância com a tese geral da sua clash of civilizations, parece-me claro que projectos de propaganda nacional baseados na nossa centralidade civilizacional ou histórica têm uma audiência preferencial nos países ocidentais. Poder-se-ia contra-argumentar que a língua e cultura portuguesas têm raízes em diferentes culturas, civilizações e continentes : o que, em termos históricos, políticos, económicos, ou culturais tenho dificuldades em não ver como wishful thinking ou efabulação característica deste « labirinto da saudade » em que temos morado. A ambivalência que sentimos relativamente a grandes programas contemporâneos do Estado como o da potenciação de uma
130 Armando Marques GUEDES
caso só concebível como eficaz no âmbito de uma comunidade política contratual. No início deste estudo referi considerar como uma hipótese de trabalho plausível a ideia de que seria justamente a nível do discurso diplomático-cultural que os Estados melhor tentam injectar uma dimensão ética e normativa na « sociedade anárquica » internacional. Sem querer ser ambicioso (ou polémico), parece-me apropriado agora sucintamente perspectivar o projecto dos leitorados neste contexto mais lato. Julgo ser dificilmente discutível a observação, corrente, que o Mundo actual tem visto um rápido multiplicar de todo o tipo de intercâmbios « culturais » ; como me parece indisputável a convicção teórica, expressa por realistas norte-americanos como R. Keohane (1984, 1998), segundo a qual as international institutions como os international regimes são a um tempo instrumentos pragmáticos manipulados pelo Estado e enquadramentos institucionais concretos, dotados de um peso específico e de uma medida de autonomia que os torna exteriores relativamente a este. Colaborar na constituição de « instituições » culturais internacionais, ainda que estas sejam simplesmente « regimes internacionais » que dão corpo apenas a estruturas de regras e normas bilaterais mais ou menos informais, parece-me por isso redundar em evidentes benefícios, sobretudo no que toca a Estados pequenos e pouco poderosos. O que julgo menos vantajoso é tentar fazê-lo de maneiras desfazadas tanto das realidades externas actuais como das representações destas pelos actores internacionais. Porque o recurso a uma « fábula », mesmo quando platónica, só funciona se ela fôr bem entendida.
Não por que não seja prerrogativa legítima do que desde o século XVIII chamamos a raison d’État o a ela recorrer. Antes por realismo puro e simples e por considerandos estratégicos. Convir-nos-ia, no mundo de hoje, uma diplomacia cultural centrada, não tanto na afirmação de diferenças e na valorização de traços distintivos e de quaisquer hegemonias passadas, mas antes na convergência de esforços na persecução de vantagens presentes e futuras nas discussões culturais (no sentido mais lato) presentemente em curso. Caso queiramos continuar a colocar académicos portugueses em universidades estrangeiras (o que me parece prioritário) interessa-nos fazê-lo em todos os domínios científicos, sem excepção ; e convém dar-lhes como missões uma maior imbricação dos seus esforços com os dos seus pares de lá ; e, ainda, trazer de volta especializações que cá não tenhamos. Transformar o projecto dos leitorados num empreendimento alargado desse tipo é fácil, já que não seria preciso criar nada de novo nem incorreriamos em despesas acrescidas. Implicaria, isso sim, uma reconceptualização de fundo e uma série de renegociações diplomáticas simples. O que me parece pôr na primeira linha os problemas, interligados, criados pela persistência, que acima referi, de duas dicotomias tradicionais em Portugal : a separação, datada, entre « Letras » e « Ciências » (as primeiras reputadas de mais políticas e menos científicas) e aquela, dela correlativa desde 1995, entre o Instituto Camões (nos Negócios estrangeiros) e o Instituto de cooperação científica e tecnológica internacional (no ministério da Ciência). Distinções e clivagens deste tipo, sem qualquer fundamentação senão a inércia institucional resultante de uma antiga partição de águas, são paralisantes. Pior : em casos
Comunidade dos países de língua portuguesa (CPLP) radica, creio eu, na ambiguidade intrínseca a quaisquer projectos que, poeticamente, confundam língua com cultura e, também poeticamente, equacionem cultura com política. Se, como insiste Huntington, as tensões vão aumentar along cultural fault lines, esta poderá ser, para a CPLP, uma ambiguidade fatal.
A identidade, a propaganda e o nacionalismo 131
como o dos leitorados, condicionam em muito a nossa capacidade de intervenção eficaz na ordem internacional, obstruíndo o seu alargamento.
Se quisermos insistir em projectar para o exterior uma identidade, que o façamos de maneiras ajustadas tanto aos contextos de recepção, como aos fins que em cada caso tenhamos em vista. Sobretudo, convém ter presente que uma diplomacia cultural, para ser consequente, não precisa assumir nenhum cariz propagandístico, nem sequer exige que seja veiculada uma qualquer imagem : basta-lhe conseguir vantagens para o país que a empreende. E, tanto quanto possível, há que conseguir fazê-lo a longo prazo, tentando modular o sistema de relações supranacionais de maneiras mais consequentes, mais estáveis e mais compatíveis com a nossa escala. Se tal significa alguma perda comparativa em termos de uma hipotética autenticidade cultural, essa será decerto bem compensada por ganhos nacionais em termos de acesso a novos fora de influências e tomadas de decisão. Se é importante sabermos influenciar de maneira favorável o sistema internacional, é também seguramente crucial saber manter uma flexibilidade que nos permita adaptar às suas alterações os organismos que para isso erigimos. Na nova ordem internacional, teria decerto para nós uma muito maior solvência21 conseguir uma melhor adequação entre a natureza e finalidades dos nossos objectivos culturais externos, as nossas metas políticas e os meios de que efectivamente dispomos para os realizar a ambos. Assim se evitaria a perpetuação de um projecto que B. Anderson (1991 : 184) seguramente caracterizaria, na terminologia do seu estudo sobre a construção moderna de nacionalismos, como a splendid bureaucratic trompe l’œil.
Junho de 1998 Armando Marques GUEDES
Instituto Oriental Faculdade de ciências sociais e humanas,
Universidade nova de Lisboa
21. W. LIPPMANN (1943) : 7-8, num texto famoso, usa este conceito em termos bastante mais genéricos. Talvez mais apropriados para a diplomacia cultural portuguesa sejam os comentários de P. Kennedy sobre os riscos, para uma qualquer política externa, de um imperial overstretch (Kennedy, 1988 : 665 - 698).
132 Armando Marques GUEDES
BIBLIOGRAFIA
Todos os dados quantitativos e geográficos sobre os nossos leitorados foram obtidos junto do ICALP (até meados de 1992) e, depois, do Instituto Camões. A correspondência relativa ao Dr. Chagas Franco e à sua saga, consultei-a em caixas de arquivo (não numeradas nem datadas) no primeiro destes organismos.
Diário do gouverno, Lei nº 1/941, 11 de Abril de 1936 (criação da Junta nacional de
educação). –––, Decreto-Lei nº 26/611, 11 de Maio de 1936 (regimento da Junta nacional de
educação, criando o Instituto para a Alta Cultura). –––, Decreto-Lei nº 38/680, 17 de Março de 1952 (criação do Instituto de Alta Cultura) Diário da Répública, Decreto-Lei nº 541/76, 9 de Julho de 1976 (criação do Instituto de
Língua Portuguesa). –––, Decreto-Lei nº 7/79, 27 de Janeiro de 1979 (criação do Instituto de Cultura e
Língua Portuguesa). –––, Decreto-Lei nº 135/92, 15 de Julho de 1992 (criação do Instituto Camões). –––, Decreto-Lei nº 52/95, 20 de Março de 1995 (reestruturação do Instituto Camões). –––, Protocolo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo do Território de
Macau, 26 de Julho de 1989, revisto em 1994. ANDERSON, B. 1991, Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of
nationalism, Londres, Verso. ESTEVES, J.M. 1993, « Leitorados de Português em França », Boletim do Instituto Camões
2 : 3-4. GIDDENS, A. 1990), The Consequences of Modernity, Standford, Standford University
Press. GUEDES, A. Marques 1992, Os leitorados, os leitores, os Institutos e a diplomacia cultural
portuguesa, relatório mineo., Ministério dos Negócios estrangeiros. ––– 1993, « A diplomacia cultural e a diplomacia : a política portuguesa de celebração
de acordos culturais bilaterais », Revista internacional de Língua portuguesa (Associação das Universidades de língua portuguesa) 7 : 39-46.
––– 1997, « A diplomacia cultural e a diplomacia : a política portuguesa de criação de leitorados de língua e cultura », Estudos orientais, Instituto Oriental, Faculdade de Ciências sociais e humanas da Universidade nova de Lisboa) 6 : 305-316.
––– [1998, no prelo] « O Estado, a propaganda, a história e o espectáculo : a diplomacia cultural portuguesa na Ásia do sudeste, 1989-1993 », in M.J. SCHOUTEN, ed., Portugal e a Ásia do Sudeste, Universidade da Beira interior.
HOBSBAWM, E. 1964, The Age of Revolution, 1789-1848, Londres, Mentor. HUNTINGTON, S. 1993, « The Clash of Civilization ? », Foreign Affairs LXII (3) : 1-25. JÚDICE, N. 1996, « A ideia nacional no período modernista português », Identidade,
Tradição e Memória. Revista da Faculdade de Ciências sociais e humanas, 9 : 323-335. KENNEDY, P. 1988, The Rise and Fall of the Great Powers, Londres, Fontana. KEOHANE, R. 1984, After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political
Economy, Princeton University Press. ––– 1998, « International Institutions : Can Interdependence Work ? », Foreign Policy,
110 : 82-97. LINKLATER, A. 1998, The Transformation of Political Community. Ethical foundations of the
post-Westphalian era, Cambridge, Polity Press. LIPPMANN, W. 1943, US Foreign Policy. Shield of the Republic, Boston. MACEDO, J.B. [1985], História Diplomática Potuguesa. Constantes e linhas de força, Lisboa,
Instituto de defesa nacional. PINTO, M.J. Vaz 1997 « Realidade e ficção : alguns aspectos do elogio platónico da
mentira », O Conceito de Representação, Revista da FCSH 10 : 341-351. PLATÃO 1972, República, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. WALTZ, K.N. 1990 « Realist thought and NeoRealist theory », Journal of International
Affairs 44 : 21-37.