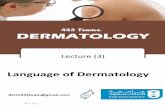111 222 433
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 111 222 433
9
Unidade 1
Sociologia e modernidadeQuem é o sociólogo e o que ele faz?
Sociólogo é:
“uma pessoa que se ocupa de compreender a sociedade de uma maneira disciplinada. Essa ati-vidade tem natureza científica.” (BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 58)
Essa frase de Berger é um modo bastante direto de se definir a atividade do sociólogo, mas que não responde a que tipo de compre-ensão se trata.
As perguntas às quais o sociólogo busca responder são, basicamente, quatro: “O que as pessoas estão fazendo umas com as outras aqui?”, “Quais são as relações entre elas?”, “Como essas relações se organizam em institui-ções?”, “Quais são as ideias coletivas que movem os homens e as institui-ções?”. São perguntas simples e que podem responder a quaisquer situações que envolvam pessoas em interação. A Sociologia, portanto, é uma forma de autoconsciência científica da realidade social.
A Sociologia, ciência do conhecimento social questionador, é uma espécie de desmistificação das concepções que os indivíduos têm so-bre sua própria existência em sociedade, assim como a Psicanálise é uma técnica que pode nos levar a entender melhor quem realmente somos como indivíduos.
10
As obras de arte podem ser utilizadas como fontes históricas
por representarem aspectos das relações sociais e do modo
de vida característico de um determinado tempo e espaço.
Observando a tela O cambista e a sua mulher, pintada em 1514
pelo pintor flamengo Quintino de Metsys, que características da
burguesia você pode identificar? A representação do trabalho e da
família são semelhantes à que temos hoje? Por quê?
O acúmulo de capitais; a transição da estrutura feudal para a capitalista; a invenção e o uso de novas ferramentas; a divisão do trabalho – primeiramente por meio das manufaturas e, depois, por meio das fábricas; o desenvolvimento da estrutura fabril, de novas fontes de energia e de novas tecnologias a todo instante são consideradas as principais causas da industrialização que, posteriormente, trouxe como consequência o surgimento de mais uma classe social, denominada burguesia, que se dedicava ao comércio e às atividades financeiras.
A modernidade, como uma conjuntura histórica, indica-nos o sur-gimento do questionamento sobre a sociedade. Isso porque a Socio-logia – ou pelo menos as questões que orientaram sua sistematização como ciência no século XIX – surgiu simultaneamente a várias mu-danças significativas na história da humanidade.
Os questionamentos críticos sobre a sociedade surgem com as incertezas religiosas que foram essenciais para a Reforma, os ques-tionamentos produtivos surgem durante a Revolução Industrial e os políticos durante a Revolução Francesa; em todos os períodos, os questionamentos são consequências de uma necessidade de compre-ensão do mundo em seu determinado tempo e espaço.
Nesse sentido, o surgimento e fortalecimento da burguesia como classe social – rompendo com a antiga divisão entre nobres e servos – estabeleceu uma demanda pela autoafirmação, ou seja, pode-se dizer que a Sociologia não teria existido sem as indagações da burguesia.
ME
TS
YS.
Qu
inti
no
de.
O c
ambi
sta
e a
sua
mul
her.
151
4.M
use
u d
o L
ouvr
e, P
aris
– F
ran
ça.
Dom
ínio
Pú
blic
o.
11
As instituições sociaisA Sociologia sempre se caracterizou como entendimento crítico
da estratificação social. Logo, entender a nova sociedade capitalista significou criar condições, inclusive, para criticá-la, demonstrando os novos meios de dominação e exploração dela advindos.
O capitalismo tem seu início na Europa. Suas características aparecem já na baixa Idade Média (do século XI ao XV), com a transferência do centro da vida econômica social e política dos feudos para a cidade. A partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, inicia-se um processo ininterrupto de produção coletiva em massa, geração de lucro e acúmulo de capital. Na Europa Ocidental, a burguesia assume o controle econômico e político. As sociedades vão superando os tradicionais critérios da aristocracia (principalmente a do privilégio de nascimento) e a força do capital se impõe.
Para tanto, foi fundamental criar conceitos que dessem inteligi-bilidade ao processo social da modernidade capitalista. Um desses conceitos é o de instituição. A instituição regula as ações humanas, padronizando-as segundo critérios socialmente aceitáveis. No entan-to, ao efetivar tais padronizações de conduta, as instituições, de uma forma aparentemente imperceptível, tornam esses padrões inevitáveis. Ou seja, a instituição torna natural (instintivo) o que é, em verda-de, uma construção social e histórica. Por exemplo, a instituição do casamento, que sofreu grandes variações na história e na geografia humana, é uma canalização de conduta.
São exemplos de instituições sociais a família, a educação, a eco-nomia, a política. Mas, talvez, uma das mais importantes instituições seja a forma de estratificação de uma sociedade.
Veja o que escreve sobre a estratificação e as instituições o autor Guilherme Galliano (1981, p. 293):
“Ela regula a distribuição diferencial de posições, recompensas e recursos. Regula, também, o acesso a eles por parte dos indivíduos e grupos dentro de uma sociedade. As instituições estão muito próximas, mas não são idênticas aos grupos que se organizam em função de objetivos especiais ou funções sociais. Assim, os princípios da regulamentação política não somente são eficazes com respeito aos grupos, cuja função primordial é algum tipo de ativi-dade política; mas também regulam diversos aspectos de grupos cuja finalidade ou função predominante é econômica, cultural ou educativa. Da mesma forma, os princípios da regu-lamentação econômica organizam outros aspectos de grupos que são predominantemente culturais ou políticos. De fato, isso vale para qualquer esfera institucional em relação ao qualquer outro grupo social.”
12
A institucionalização da atividade humana significa a submissão desta ao controle social. Com as mudanças sociais, novos mecanismos de con-trole são demandados para corroborar a institucionalização, por meio da legislação punitiva. Quando não se encontram meios para que o todo da sociedade siga determinadas orientações, são necessárias leis que coíbam os desvios, como, por exemplo, a prática do aborto, entre várias outras possibilidades, dependendo da necessidade social de cada nação.
A sociedade, portanto, parece ser orientada por duas forças que co-existem em relação dialética: a legitimação e o controle. Tanto aceita-mos e legitimamos determinadas orientações sociais quanto criamos organismos e mecanismos para que elas sejam orientadas, a fim de que não haja desvios. Obviamente, uma das principais funções da Sociolo-gia é a de mostrar a historicidade e a própria condição social, tanto da legitimação quanto do controle.
Desde 2009, em alguns estados de nosso país não é legalmente aceitável que se fume em ambientes públicos. Essa decisão foi baseada, entre outros fatores, em um ideal de vida saudável e no avanço das pesquisas médicas que associam o fumo a doenças. Mas fumar já foi considerado um hábito glamoroso, ideia endossada pela indústria cinematográfica. Quais poderiam ser as causas dessa mudança com relação ao ato de fumar?
No século passado, o que era legítimo em relação ao fumo, hoje não o é mais. Passou a haver um consenso social, orientado pelos go-vernos, as instituições médicas etc. em relação ao controle desse ato anteriormente considerado legítimo e aceitável. O consenso que havia em épocas anteriores, por sua vez, era orientado por outras institui-ções, como a propaganda e a indústria cultural.
Para uma correta análise do mundo social, a Sociologia deve se-guir três diretrizes básicas:
• entender que a sociedade é um produto humano e histórico;
• tomar essa sociedade como uma realidade objetiva, passível de compreensão científica;
• entender que o próprio homem é um produto social – conside-rando as várias possibilidades históricas de definição acerca do que é o homem.
Joh
n F
lore
a/T
ime
Lif
e P
ictu
res/
Get
ty I
mag
es
13
Quanto ao último dado, tome-se como exemplo os direitos huma-nos: o que é considerado humano no Ocidente, nem sempre o é no Oriente, e vice-versa. A variedade de orientações humanas dispersas pela geografia da Terra mostra, inclusive, o quanto há de construção social da realidade.
Como temos visto, as sociedades compreendem o ser humano e os aspectos relativos a ele de diferentes maneiras, a depender do período histórico e da localização geográfica. Por isso, é natural convivermos com as diferenças de ideais, de princípios, de hábitos e respeitá-las. Entretanto, há situações de conflito entre duas diferentes visões. Tomemos como exemplo de questão polêmica a mutilação genital feminina, prática que, em algumas culturas, é utilizada para assinalar que a mulher chegou à vida adulta e, portanto, pode participar de modo mais representativo na comunidade. Trata-se, portanto, de uma prá-tica que regula a organização social de determinados grupos e que também carrega uma significação mítico-religiosa.Entretanto, uma parcela da população mundial considera a mutilação genital uma forma de tortura, e defende a intervenção de órgãos de controle que tornem proibida a prática.Como devemos nos posicionar diante disso? Deve-se interferir nos hábitos de um gru-po com princípios tão diferentes dos nossos, comprometendo sua organização social? Ou devemos respeitar sua cultura, por mais que a mutilação nos pareça uma prática condenável?Para saber mais sobre essa discussão, leia o artigo A mutilação genital feminina e a fundamentação ética dos direitos humanos (disponível no link <http://www.scribd.com/doc/32728122/A-mutilacao-genital-feminina-e-a-fundamentacao-etica-dos-direitos-huma-nos), do advogado e professor universitário Joel Saueressig.
A Sociologia e o mundo moderno – ComteO mundo moderno é uma conquista do Ocidente. E é também
o momento em que o pensamento se volta para a definição de suas novas contradições. A racionalização das organizações e das relações humanas, a afirmação da ciência como estágio superior da humanida-de, a descrença nas explicações religiosas dos fatos humanos, a des-confiança das tradições, a mobilidade social são todas características do mundo moderno. E a Sociologia é um fruto da modernidade. Sem ela, o mundo moderno seria mais obscuro, menos inteligível. Há uma dimensão de tomar a sociedade não só como objeto de ciência, mas também como espetáculo: o homem da modernidade é aquele inte-ressado em descobrir como a sociedade “funciona”, para além dos ordenamentos divinos.
14
“A modernidade é definida geralmente como tendo surgido com o Renascimento e foi definida em relação à Antiguidade, como no debate entre Antigos e Modernos.” (FEATHERSTONE, 1990, p. 95).
Não se trata apenas de um novo momento cultural; é também uma significativa mudança na prática cotidiana dos grupos sociais. Por exemplo, é na modernidade que o homem toma contato cotidiano com o fenômeno da “multidão”, antes só visto em períodos de guerra ou de grandes migrações. Na modernidade, a multidão é um dado comum do dia a dia das pessoas nas grandes cidades. A Sociologia passou a se deparar com esse problema e tomou sobre ele três linhas distintas de análise:
• A multidão enquanto “massa”, ou seja, coletividade dependen-te de regras e instituições, de forma a não extravasar a ordem;
• a multidão enquanto “povo”, isto é, coletividade de cidadãos;
• a multidão como “classe social”, ou seja, enquanto categoria que expressa as desigualdades que se acham na base das mani-festações da multidão, como greves e revoltas (em especial, no pensamento de Marx, como veremos na próxima unidade).
Que outros contextos sociais, assim como o de multidão, conhecemos apenas con-temporaneamente? De que maneira esses eventos passaram a influenciar as relações hu-manas?
Percebe-se, assim, que definir a modernidade não é tarefa fácil, sendo distinta, inclusive, a forma com que várias linhas de sociólogos a definiram. Além disso, como veremos mais adiante neste livro, não se deve confundir modernidade com modernização (evolução tecnoló-gica) ou com Modernismo (movimento artístico do século XX).
Embora pensadores como Maquiavel, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Vico, Montaigne, Hobbes, Locke, entre outros, tenham formulado vá-rias hipóteses sobre a sociedade, foi só com a eclosão da sociedade industrial de tipo burguês, cuja hegemonia se deu sobre as outras áreas produtivas no século XIX, que se pôde conceber a existência de leis sociais. Tratou-se, à época, de tomar a sociedade como algo passível de objetivação, isto é, de investigação científica, como os objetos do mundo natural, ou seja, os intelectuais do século XIX pensavam que o paradigma da ciência poderia ser aplicado também ao mundo social.
Foi em especial com um deles – o francês Auguste Comte (1798-1857) – que surgiu a primeira formulação de Sociologia.
15
Comte criou o termo “sociologia” e estabeleceu uma forma sistemática para essa ciência. A contribuição principal de Comte à filosofia do Positivismo foi a adoção do método científico como base para a organização política da sociedade industrial moderna.
O Positivismo é uma doutrina filosófica, sociológica e política. Surgiu como desen-volvimento sociológico do Iluminismo, das crises social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da sociedade industrial. Propõe à existência humana valores comple-tamente humanos, afastados da teologia e da metafísica.
É importante lembrar que o pensamento social da época era fun-damentalmente dominado pela orientação religiosa. Assim, pode-se dizer que as mesmas oposições que uma teoria como a Evolucionista, de Charles Darwin, causou às certezas religiosas desse período tam-bém ocorreram com a instituição da Sociologia. Tratava-se de ques-tionar a “naturalidade” da sociedade, cujas explicações eram de fundo religioso. Contrapondo-se à ideia dominante (a sociedade é tal como é porque “Deus quis”), a Sociologia tratou de investigar os modos históricos e culturais pelos quais os homens organizam sua existência. Comte chegou a propor a Sociologia como uma espécie de nova reli-gião, orientada não pela fé, mas pela razão.
A Teoria Evolucionista baseia-se na ideia – proposta por Darwin e por Wallace – da seleção natural. De acordo com esse princípio, os seres vivos que melhor se adaptas-sem às condições do ambiente seriam os que teriam mais chance de perpetuar a espé-cie. Em outras palavras, os seres que tivessem as características físicas necessárias ao ambiente em que vivem seriam os que teriam as melhores condições de se reprodu-zir, e, por meio da genética, transmitir a sua descendência essas características que os tornaram aptos ao meio, assegurando a permanência da espécie. Considerando que o ambiente pode sofrer diversas alterações e que há indivíduos mais adaptáveis do que outros, os seres vivos evoluiriam de maneira lenta e constante.
Comte, em A Filosofia Positiva, parte da ideia evolucionista aplica-da às ciências, mostrando como, ao longo de três milênios, elas evo-luíram rumo à racionalização. A Astronomia, a Física, a Química e a Biologia seriam etapas necessárias na evolução da humanidade para
com
mon
s.w
ikim
edia
.org
/Dom
ínio
Pú
blic
o.
16
que esta chegasse à Sociologia. A História, para Comte (1983), apesar de sua riqueza de detalhes concretos, tem um movimento ordenado que pode ser mapeado tão acuradamente como qualquer movimento de tipo físico ou biológico:
“A função da Sociologia é derivar da massa de material desconectado informações que, pelos princípios da teoria biológica humana, podem gerar as leis da vida social; cada porção deste material sendo cuidadosamente preparada pelo descarte de tudo aquilo que seja peculiar ou irrelevante – todas as circunstâncias, por exemplo, de clima local etc. – na ordem de passagem do concreto para o abstrato” (COMTE, 1983, p. 109).
A longa evolução do pensamento que forma a base da evolução social depende, sobretudo, das evoluções separadas das várias ciências (como a Física, a Química, a Biologia etc.), as quais, juntas, fazem o conhecimento humano. Comte (1983) julgava sua teoria da evolução como a sistematização final de todo o problema de ordem e mudança.
A estrutura natural da dinâmica comtiana pode ser melhor obser-vada na sua famosa “Lei dos três estados”, que indica também uma concepção evolucionista dos modos pelos quais se organizam as socie-dades. Os “três estados” correspondem aos três períodos pelos quais passariam as sociedades: um primeiro período, caracterizado por mo-dos teológicos de pensamento; um segundo, dominado por modos de pensar filosóficos ou “metafísicos” e, eventualmente, um terceiro, no qual a ciência e o pensamento positivo, defendido por Comte, assu-mem o comando e a orientação dos atos e pensamentos sociais.
A Sociologia Positivista de Comte, que influenciou a Sociologia de Durkheim, apresenta-se como uma forma de conhecer e ordenar a vida social. Nesse sentido, está identificada ao polo conservador do pensamen-to social, preocupada em barrar as revoluções sociais e as manifestações populares, consideradas como doenças sociais. A intenção é a de aper-feiçoar o “status quo”, ou seja, a ordem dominante. Trata-se, portanto, de uma perspectiva conservadora, de fortalecimento do Estado e da “orde-nação do progresso”, tomada como uma fase superior da vida social.
É interessante notar que a constituição do Brasil como nação, após a conquista da ordem republicana (em fins do século XIX), orientou-se em grande parte pela Sociologia comtiana. Basta lembrar que um dos maiores símbolos de nossa nação, a bandeira, traz como inscrição uma norma de tal Sociologia: Ordem e Progresso.
ww
w.s
xc.h
u
17
A partir de Comte, pode-se dizer que a Sociologia tomou três ru-mos diferentes de análise:
• Análise de causação funcional – A sociedade é pensada como uma estrutura em que cada parte tem relação direta com o funcionamento do todo. Comte, Durkheim, Spencer, Touraine adotaram esse princípio de análise.
• Análise de conexão de sentido – As análises se concentram no significado atribuído pelos agentes sociais às suas ações sociais. Weber, Nisbet, Toennies seguiram essa concepção de análise.
• Análise de contradição – Assim como a análise de causação funcional, pensa-se na sociedade como uma estrutura. Entre-tanto, a ênfase não se dá sobre a articulação das partes, mas sobre a desigualdade inerente à estratificação social, às divi-sões sociais. As mudanças sociais são pensadas em termos de revolução. Compartilham essa ideia de análise Marx, Engels, Gramsci, Goldmann.
Agente social: De forma particular, é conceituada pelos autores que utilizam a abordagem da ação na análise sociológica da sociedade, sendo que os principais representantes são Max Weber e Talcott Parsons. Para Weber (1979), a ação social seria a conduta humana, pública ou não, a que o agente atribui significado subjetivo; portanto, é uma espécie de conduta que envolve significado para o próprio agente. Weber diferenciou alguns tipos de ações sociais:
• Ações racionais (também conhecidas como racionais por valores): ações to-madas com base nos valores do indivíduo, mas sem pensar nas consequências e muitas vezes sem considerar se os meios escolhidos são apropriados para atingi-lo.
• Ações instrumentais (também conhecidas como ação por fins): ações planeja-das e tomadas após avaliado o fim em relação a outros fins, e após a considera-ção de vários meios (e consequências) para atingi-los. Um exemplo seria a maioria das transações econômicas
• Ações afetivas (também conhecidas como ações emocionais): ações toma-das devido às emoções do indivíduo, para expressar sentimentos pessoais. Como exemplos, comemorar após a vitória, chorar em um funeral seriam ações emocionais.
• Ações tradicionais: ações baseadas na tradição enraizada. Um exemplo seria relaxar nos domingos e colocar roupas mais leves. Algumas ações tradicionais podem se tornar um artefato cultural.
18
Sociologia e senso comumAnteriormente, estudamos que a Sociologia é uma ciência essencial-
mente questionadora, que frequentemente se volta para as origens de deter-minado comportamento, analisando por que foi legitimado e o que foi ou é feito para controlá-lo. Como exemplo dessa ação questionadora, mencio-namos a evolução do ato de fumar, que passou de símbolo de status a ação condenável, que põe em risco a saúde individual e a da comunidade.
Segundo Boaventura de Souza Santos, o senso comum, como conceito filosófico, surgiu no século XVIII e representava o combate ideológico da burguesia emergente contra o irracionalismo do ancien régime. Tratava-se de um senso que se pretendia natural, razoável, prudente, um senso que era burguês e que se converteu em senso médio e em senso universal.
A valorização filosófica do senso comum esteve relacionada ao projeto político de ascensão da burguesia e, uma vez ganho o poder, o conceito fi-losófico de senso comum foi desvalorizado e considerado um conhecimento superficial e ilusório. O surgimento das ciências sociais no século XIX está ligado à crítica a esse conceito de senso comum. (SANTOS, 1989, p. 36.)
Como essa questão relacionada ao fumo, a Sociologia pesquisa ques-tões sobre as quais quase todos já têm suas opiniões, como as relações de trabalho, de gênero, as relações familiares, o papel da cultura, as relações entre diferentes populações, a fome, os movimentos jovens etc. O con-junto ou as ideias mais significativas sobre cada um de tantos assuntos ganha uma incrível força de verdade. Trata-se do senso comum.
O conceito de gênero tem a ver com a diferenciação social entre os homens e as mulheres. Tem a vantagem, sobre a palavra “sexo”, de sublinhar as diferenças sociais entre os homens e as mulheres e de separá-las das diferenças estritamente biológicas.
O senso comum parece nos tornar um todo homogêneo, o que não é verdadeiro. Sob a perspectiva sociológica é preciso aprofundar o conhecimento sobre os fenômenos sociais, sem contentar-se com um conhecimento superficial ou ilusório considerado erroneamente como “universal”.
ww
w.s
xc.h
u
19
Embora a Sociologia parta muitas vezes das ideias mais prosaicas do senso comum, sua intenção é sempre a objetividade, procurando organizar a compreensão e a interpretação da sociedade sob parâme-tros científicos e idealmente neutros.
Em A ciência como vocação, Weber destaca o livro VII de A Repúbli-ca, de Platão, no qual este escreve:
Aqueles homens da caverna, acorrentados, cujas faces estão voltadas para uma parede de pedra à sua frente. Atrás deles está uma fonte de luz que não podem ver. Ocupam-se ape-nas das imagens em sombras que essa luz lança sobre a parede e buscam estabelecer-lhes inter-relações. Finalmente, um deles consegue libertar-se dos grilhões, volta-se, vê o Sol. Cego, tateia e gagueja uma descrição do que viu. Os outros dizem que ele delira. Gradualmente, porém, ele aprende a ver a luz e, então, sua tarefa é descer até os homens da caverna e levá-los para a luz. Ele é o filósofo; o Sol, porém, é a verdade da ciência, a única que reflete não ilusões e sombras, mas o verdadeiro ser. (TRINDADE, 2001)
Para o filósofo Platão todos nós estamos condenados a ver som-bras a nossa frente e tomá-las como verdadeiras. O que a metáfora da caverna de Platão pode significar?
A abordagem sociológica do cotidianoConforme temos estudado ao longo deste livro, vimos que a So-
ciologia está associada à postura crítica, à procura das origens de dogmas e instituições e à análise do contexto que lhes atribuiu essas características. Assim, de maneira bastante simplificada, o exercício feito pelo sociólogo é analisar os comportamentos humanos e buscar a relação entre eles e o momento histórico. Ou, utilizando a alegoria da caverna, proposta por Platão, para compreender um fato ou com-portamento humano, é preciso “libertar-se dos grilhões e ver o Sol”, ou seja, contestar as ideias instituídas como verdades e analisá-las em uma perspectiva histórica, percebendo de que maneira adquiriram o status que têm.
A fim de fazermos um exercício semelhante ao do sociólogo, ana-lisaremos os textos a seguir, pensando em como a Sociologia aborda-ria a questão da violência, em especial a praticada por jovens.
É válido considerar que, nos últimos anos, a percepção de que a violência avança cada vez mais sobre as menores faixas de idade é uma constante nos meios de comunicação e em nossas discussões em grupo ou em família.
20
Observe, a seguir, como cada um dos textos a seguir enfoca a ques-tão da violência e sua relação com a juventude e procure atentar para a maneira como essa questão é vista em nosso tempo.
Texto 1“Pedro fumou maconha pela primeira vez aos 14 anos. Aos 17, matou. Acabou internado no Centro de Atendimento Juvenil Especializado (Caje) aos 19. Saiu um ano e meio depois. Já era pai e decidiu trabalhar para sustentar a filha. Planejava mudar de vida, mas não teve tempo. Foi executado dentro de casa com 10 tiros. A história de Pedro é uma entre centenas de outras.” (BERNARDES, 2010.)
Texto 2“[...] Uma constante no mundo todo é que os protagonistas da violência e da criminalidade, tanto os autores quanto as vítimas, são jovens do sexo masculino. Pesquisa recente no Brasil com dados de 1998 mostra que, em média, 3% dos homens brasileiros acabam sendo assassinados [...]. A proporção para as mulheres é dez vezes menor.A preponderância dos jovens entre os criminosos e os violentos pode ser explicada desde as abordagens hormonais até as sociais e psicológi-cas [...].” (CANO, 2010).
Texto 3
Delinquência juvenil
Os fatos: os adolescentes na “evolução” da delinquência juvenil em São Paulo
Pesquisas indicam que os jovens também comparecem como autores da violência. Estudo realizado, para o município de São Paulo, entre os anos de 1989-1991 e 1993-1996, observando comportamento in-fracional de adolescentes de 12-18 anos incompletos, identificou algu-mas tendências semelhantes (...). Esta pesquisa ocupou-se de caracte-rizar a criminalidade juvenil na cidade de São Paulo. Os objetivos da investigação consistiram em: primeiro, conhecer a magnitude da de-linquência juvenil e sua evolução recente; segundo, caracterizar o per-fil social do jovem infrator; terceiro, avaliar a aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O universo empírico de investigação compreendeu ocorrências policiais, praticadas por jovens entre 12 e 18 anos incompletos, que ensejaram a abertura de sindicância nas quatro Varas Especializadas da Justiça da Infância e da Adolescência. A investigação teve por base coleta de dados objetivos, extraídos de fonte documental oficial (processos), os
21
quais foram submetidos a tratamento quantitativo e estatístico ex-presso sob a forma de tabelas e gráficos.
Mitos e realidade
Fala-se com frequência de crianças e adolescentes como responsáveis pelo crescimento da violência, em especial dos crimes violentos, como os homicídios. Na mídia impressa e eletrônica, cotidianamente, veicu-lam-se imagens que mostram indivíduos, nesses grupos etários, come-tendo audaciosas ações, cada vez mais precocemente. Trata-se de ima-gens que destacam preferencialmente crianças e adolescentes, negros ou pardos, procedentes dos estratos socioeconômicos mais desfavore-cidos da sociedade, imagens que reforçam associações entre pobreza e crime. Suspeita-se também que as autoridades encarregadas de exercer controle social e de reprimir a delinquência juvenil sejam muito tole-rantes para com essa modalidade de comportamento. Sob pressão de associações de defesa dos direitos humanos, em particular dos direitos de crianças e adolescentes, as autoridades tenderiam a tratá-los poten-cialmente como vítimas das injustiças sociais e não como autores de infrações penais. Para corroborar, há também opiniões inteiramente contrárias ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
ADORNO, Sérgio. Crianças e adolescentes e a violência urbana. Disponível em: <http://www.nevusp.org/downloads/down076.pdf>.
Acesso em: 25 ago. 2010.
Quando as pessoas são questionadas sobre a violência, dão dife-rentes explicações e soluções para seu aumento entre os mais jovens. Uns dizem que é falta de religião; outros, que é um problema de famí-lia; de educação; um problema causado pelo uso de drogas; ou, ainda, que é falta de opções de lazer e de trabalho. E para você, qual é a razão que leva, hoje, os jovens a cometerem tantos crimes? De acordo com os textos, que tratamento deve ser despendido aos jovens que comete-ram crimes?
Um texto bastante interessante, que analisa o impacto da violência urbana nos jovens a partir de estudos realizados pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV) é “A violência urbana e os jovens”, de Nancy Cardia (In: PINHEIRO, Paulo Sergio (Coord.). (Org.). São Paulo sem medo: um diagnóstico da violência urbana. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Garamond Ltda, 1998).
Vários sociólogos fizeram estudos sobre violência, entre eles Émile Durkheim, autor que, junto com Marx e Weber, será abordado na Uni-dade 2, pois os três são os fundadores efetivos da perspectiva científica da Sociologia.