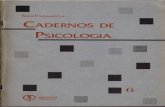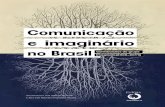jga asilo - Coleção Digital de Jornais e Revistas da Biblioteca ...
VELHICE FEMININA NO ASILO: DO IMAGINÁRIO AO REAL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of VELHICE FEMININA NO ASILO: DO IMAGINÁRIO AO REAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA"Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem
Departamento de Enfermagem
VELHICE FEMININA NO ASILO: DOIMAGINÁRIO AO REAL
Maira Di Ciero Miranda Vieira
Fortaleza
2001a / r:' i !■ ; ■; ? .v.\ :;'i
■■■■ ■ ■■■■ ■" ■ .......................
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁFaculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem
Departamento de Enfermagem
Velhice Feminina no Asilo: Do Imaginário ao Real
Maira Di Ciero Miranda Vieira
Tese apresentada ao curso de' Pós-Graduação em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará para a obtenção do título de Doutor.
Orientadora:Profa. Dra. The!ma Leite de Araújo
Fortaleza2001
V7l6v Vieira, Maira Di Clero MirandaVelhice feminina no asilo: do imaginário ao real / Maira
Di Ciero Miranda Vieira, - Fortaleza, 2001,162f,
Orientadora, Profa. Dra, Thelma Leite de Araújo Tese (Doutorado), Universidade Federal do Ceará.
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Doutorado
1. Asilo. 2. Representação Social. 3. IdosoI. Título
CDD: 362.16
Tese aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, como
requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Enfermagem.
.Data da Aprovação: 30/04/2001
BANCA EXAMINADORA
X minha querida avó Isaura que aos 89 anos enriquece minha vida com sabedoria, amor e a alegria de sua convivência.
AGRADECIMENTOS
- À minha orientadora Dra. Thelma Leite de Araújo por acreditai’ em mim e pela demonstração de amizade.
- Às professoras Dra. Lorita Freitag Pagliuca e Dra. Raimtmda Magalhães da Silva pela compreensão e acolhida neste doutorado, demonstração de grandeza e prática humanitária.
- À minha companheira e amiga. Ana Fátima Carvalho Fernandes pelo apoio bibliográfico e estímulo ao longo desta jornada.
- Às colegas do doutorado, em especial a Maria Vera Lúcia Leitão Cardoso, pelo compartilhamento dos momentos de alegria e desânimo que de forma intermitente nos acompanharam ao longo desses anos.
- À minha mãe Candelária, pelo auxílio prestado nas correções ortográficas e pelo acompanhamento geral deste trabalho, com quem dividiría o título orgulhosamente.
- Aos funcionários da biblioteca que de forma solícita e eficiente colaboraram para que a pesquisa pudesse ser concluída.
~ Aos idosos do asilo, em especial às mulheres, fontes de saberes incontestáveis, pela participação tão valiosa e produtiva, geradora de uma amizade e confiança entre nós, até o dia que Deus quiser.
- A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.
- À digníssima banca examinadora pela análise e contribuição enriquecedora para o aprimoramento desta tese.
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo elucidar as representações sociais de
idosas em relação à sua vida asilar. Buscou-se apreender os mecanismos
cognitivos e afetivos na elaboração das representações à luz da Teoria das
Representações Sociais de Moscovici. O corpus da pesquisa foi constituído por
doze entrevistas com idosas internadas num asilo da cidade de Fortaleza, Os
dados foram colhidos no primeiro semestre de 2000 através de entrevista e
observação e analisados tematicamente pela técnica de análise de conteúdo de
Bardin. A análise das experiências subjetivas, segundo esta teoria, está
fundamentada na relação com os outros, expressando a consciência
compartilhada do grupo social ao qual as idosas pertencem. Os resultados
esclareceram que as idosas têm. uma representação bastante negativa da velhice
e do asílamento. O ambiente asilai* é um reforço continuo aos atributos de
abandono, dependência e rejeição que a sociedade relaciona aos idosos. As
idosas que mantiveram um contato mais próximo com os familiares ao longo de
sua vida ou que foram obrigadas a ingressarem na instituição, têm mais
dificuldade de adaptação do que aquelas que viveram de forma mais
independente e que optaram por essa condição de vida. Para elas, o asilo é
adequado àqueles idosos completamente dependentes, física ou mentalmente, ou
em situação de extrema pobreza. Por não conhecerem outras alternativas
assistenciais de amparo aos idosos, consideram ser da família a total
responsabilidade de ampará-las até a morte.
ABSTRACT
This study intended to show evidences of elder’s social views within their
daily lives in a nursing Home. It looked for cognitive and affectionate data
from this particular context based upon Moscovicfs Social Representation
Theory. Data collection was conducted by means of interviews and participant
observation among 12 elder women in a nursing home in Fortaleza between
January and July in 2000. The process analysis occurred through Bardin’s
content analysis which themes were produced based on the sharing experience
and feelings combined with the Moscovicfs theory. The findings showed that
these women held negative feelings with regards their lives conditions and
elderhood. For them, the nursing home environment reinforces the feeling of
loneliness and society’s rejection for the elders. Also, the elder womeij who
li ve d with their family closely has more difficulties to adapt than those who
Lived independently and chose such kind of living. For most, the nursing home
is an appropriate house for those who are in a poverty condition. Indeed, they
do not know any other way of living or assistance for the elders, thus they
believe that it is the family’s responsibility to take care of them.
1
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................. ..................... 10
2 RESGATANDO O TEMA NA LITERATURA..................... 14
2.1 Aspectos Demográficos do Envelhecimento ....................... 142.2 Considerações sobre Gênero e Envelhecimento ..................202.3 Implicações do Envelhecimento nas Esferas Familiar e
Social..................................................................................... 252.4 Política e o Envelhecimento Populacional............................36
3 DEFININDO O OBJETO DE ESTUDO................................. 50
4 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMOOPÇÃO TEÓRICA................................................................. 59
5 CAMINHAR METODOLÓGICO........................................... 675.1 Local da Pesquisa................................................................. 675.2 Caracterização da Amostra................................................... 705.3 Coleta e Análise dos dados................................................... 71
6 AS INFORMANTES. QUEM SÃO ELAS?........................... 76
7 A DESCOBERTA DAS REPRESENTAÇÕES...................83
7.1 Representação Social de Velhice......................................... 837.1.1 Corpo e mente em decadência.......................................... 847.1.2 Decadência psicossocial................................................... 887.1.3 Curso cronológico da vida............................................... 92
7.2 Representação Social de “Morar no Asilo”........................94
7.3 Representação Social de Asilo......................................... 1077.3.1 Espaço de libertação....................................................... 1087.3.2 Espaço de restrição..........................................................110
7.4 O Cotidiano na Instituição Asilar...................................... 1137.4.1 Ociosidade...................................................................... 1137.4.2 Relacionamentos conflituosos........................................ 1217.4.3 Maus tratos......................................................................132
7.4.4 Atendimento deficiente á saúde.................. ,.................. 1367.4.5 Má alimentação..................................................... 1387.4.5 Falta de espaço, privacidade e conforto......................... 140
8 CONCLUSÃO.....................................................................143
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................148
ANEXO 1- Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética..... 160ANEXO 2- Termo de Consentimento...................................... 161ANEXO 3- Roteiro de Entrevista............................................162
10
VELHICE FEMININA NO ASILO: DO IMAGINÁRIO
AO REAL
L INTRODUÇÃO
Aspectos relacionados ao envelhecimento têm me despertado interesse
já algum tempo, não apenas de ordem acadêmica como também de ordem pes
soal, uma vez que pessoas significativas em minha vida estão vivenciando ou se
aproximando dessa fase específica do curso de vida, tida como a última.
A temática sobre o idoso ern trabalhos de pesquisa começou a ser ex
plorada, escassamente, na área das ciências sociais na década de 60 e, somente a
partir dos anos 80 vem atraindo a atenção dos pesquisadores, assumindo maior
importância nesses últimos anos, como norteadora de políticas públicas a fim de
obter o bem-estar e justiça social.
A conquista da longevidade é um desejo intrínseco da humanidade ao
longo de sua evolução. Chegar aos 60 anos era possível apenas para uma peque
na parcela da população brasileira. Este fato tem se tomado acessível a um núme
ro crescente de pessoas em nosso país, sobretudo nesses últimos 20 anos.
O desenvolvimento científíco-tecnológico e sanitário alcançados, prin
cipalmente, ao longo do século XX contribuíram, significativamente, para a me
lhoria das condições de vida da população que, aliados à queda, da fertilidade
projetou verticalmente o número de idosos, atingindo notórias proporções num
processo irreversível de envelhecimento populacional.
Essa transição demográfica, ou seja, a passagem de uma população
basicamente de jovens para outra de adultos e idosos, configurando o envelheci
mento populacional brasileiro, representa um grande desafio social e político.
II
Assim, a experiência de envelhecer vem sendo trilhada em um caminho amplo e
grupai, antes tido como estreito e individual.
O alcance tão almejado da longevidade, longe de ser uma conquista
universal, com garantia de ser dignamente vivida, tem sido encarada como um
desafio, sem precedentes históricos, nas áreas social e de saúde.
A abrangência do processo de envelhecimento envolve aspectos políti
cos, sociais, econômicos, éticos e culturais de uma nação. Os escassos recursos
financeiros até então destinados, basicamente, ao atendimento da população jo
vem com o seu contingente ainda bastante significativo, passam agora a ser dis
putados pela população idosa para atender suas necessidades específicas.
Essa problematização do envelhecimento como ameaça a ordem social
é o que tem aumentado a visibilidade política desse processo que, apoiado ainda
em estereótipos negativos de ser o idoso improdutivo, dependente, doente e po
bre remete-o a uma posição hierárquica social menos valorizada.
Intelizmente, as medidas políticas em nosso país tendem a ser tempo
rárias e raramente sustentadas e continuadas, o que seria indispensável para uma
efetiva assistência aos idosos, no que tange, principalmente, às áreas críticas de
responsabilidade do Estado que são: saúde, previdência e assistência social.
Salgado (1982) já ressaltava que o Brasil carece de iniciativas políticas
que atendam com criatividade às novas demandas da população idosa e enfatiza
que a saída encontrada de forma imediata foi a multiplicação de asílos.
Todavia, com a falta de recursos sócio-culturais, os idosos indepen
dentes buscam os asilos e se defrontam com o propósito alienante dessas institui
ções que foram criadas para prestar assistência às necessidades mais diretas, so
bretudo abrigo e alimentação. O idoso independente, continua Salgado (1982),
representa uma clientela com características muito distintas das dos idosos de
.12
pendentes para os quais o asilo seria mais adequado, e aí se frustam com a falta
de atendimento das suas carências sociais mais comuns.
O asilamento dos idosos está longe de ser encarado como uma medida
política promissora,. Urge uma maior sensibilização para com os mais fragiliza
dos, enfatizando a humanização da prática política e social.
Num país como o Brasil com notáveis diferenças regionais, má distri
buição de renda, diferenças culturais etc., pode-se pensar em distintas formas de
viver e, portanto, de envelhecer. A heterogeneidade da experiência de envelhecer
acontece dentro de iim contexto histórico e o asilamento pode representar uma
forma comum de condição de vida para os idosos ali confinados que passarão a
encará-la, distintamente ou não, em consequência da visão de mundo que trazem
consigo e, portanto, suas representações de velhice.
Minha primeira oportunidade de .investigação científica junto aos ido
sos se deu durante o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado em
Farmacologia no ano 1991. O trabalho foi desenvolvido dentro da linha positi
vista, cujo objetivo principal foi a demonstração de alterações no número de re
ceptores colinérgicos em cérebros de idosos dementes asilados. Esta restrita con
vivência com os idosos, me remeteu a indagações de cunho existencial, que fo
ram fortalecidas quando me tomei íntima de alguns deles. Viam em mim a opor
tunidade de desabafarem suas angústias, decepções e tristezas, chamando-me
bastante a atenção a confiança em mim depositada para agir em prol do retomo
aos seus lares, parecendo ser a redenção daquela situação tão sofrida e distante
de sua realidade.
Por outro lado, naquela ocasião, pude assistir inúmeras vezes a decep
ção dos familiares que procuravam a instituição e não conseguiam “livrar-se” de
seus velhos, devido a permanente lotação da casa. Para eles, de modo contrário
aos velhos que estavam no asilo, a presença do idoso no lar representava trans
13
tornos e infortúnios. Chocou-me o conhecimento ;de que a grande maioria dos
idosos-possuíam família ou familiares próximos, além de gozarem de um bom
estado físico e mental, em outras palavras, capazes de auto-cuidar-se, contrapon
do o objetivo da instituição que era de amparai; prioritariamente, os desampara
dos. Não foi o comportamento dos familiares em deixarem seus idosos no asilo
que me incitou na investigação que agora me proponho a fazer, mas sim o inte
resse em desvendar junto ao idoso o significado pessoal e grupai de uma condi
ção de vida de “excluídos da sociedade”, quando ainda encontram-se em perfei
tas condições para interagirem socialmente.
No campo da enfermagem, o destaque maior tem sido com relação ao
idoso doente, ou melhor, no atendimento de suas necessidades, com poucos tra
balhos enfocando com profundidade os aspectos subjetivos do envelhecimento
que buscassem compreender os sentimentos, desejos e modos de viver dos ido
sos.
A fim de compreendermos a elaboração cognitiva da condição de asi
ladas pelas idosas, influenciada tanto por fatores culturais quanto pessoais, obje
tivamos neste estudo obter as representações sociais sobre a velhice e a vida na
instituição asilar como também analisar as implicações dessas representações so
bre a qualidade de vida dessas idosas.
14
2, RESGATANDO O TEMA NA LITERATURA
2.1. Aspectos Demográficos do Envelhecimento:
A mudança demográfica caracterizada pelo envelhecimento
populacional, vem ocoiTendo universalmente, abrangendo países ricos e pobres,
tomando-se visível após os anos 50 (Henrard,.1996).
Em 1950, o Brasil era o 16° do mundo, com 2,1 milhões de pessoas
idosas. Até 2025, estima-se que estará em 6o lugar, com a enorme soma de 31,8
milhões de idosos, apresentando o maior aumento proporcional dentre os países
mais populosos do mundo durante esse período (Veras, 1994). No decorrer do
século em curso, todas as regiões serão semelhantes em relação à estrutura
etária.
Até 2025, prevê-se que três quartos da população idosa do mundo
estarão vivendo em países menos desenvolvidos.
Segundo classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS),
baseada na idade cronológica, o grupo de idosos abrange as pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos e, pode ser subdivido em três categorias com
diferentes características e necessidades: idoso jovem (60-65/ 74 anos); idoso
(75 - 84 anos); idoso velho (acima de 85 anos).
No Brasil, nos próximos anos a' população idosa será ' constituída
característicamente de “idosos jovens”. Isto contrasta com o que acontece nos
países mais desenvolvidos, nos quais a faixa etária que cresce com maior
rapidez é a que se situa acima dos 80 anos (Longino,1988).
O aumento de idosos velhos requer atenção especial, uma vez que
apresentam mais problemas de saúde e são, portanto, mais dependentes,
tomando-se um desafio na área social, econômica e política (Tauber apud
Restrepo e Rozental,1994).
15
Embora desde a década de 60 a maior parte da população com mais de
65 anos vivessem em países do terceiro mundo foi a partir do crescimento
acelerado dessa parcela populacional que despertou o interesse político para essa
nova situação social.
No Brasil, o tema do envelhecimento populacional passou, então, a ser
discutido politicamente, e as ações sociais voltadas para os interesses dos idosos
estão contempladas em forma de lei.
A esse acelerado processo de aumento do número e proporção da
população idosa no Brasil como em outros países tidos de população jovem, dá-
se o nome de transição demográfica (Veras, 1991) que é determinada por uma
série de eventos:
a) Significativo declínio na mortalidade levando a um aumento da
população: o acentuado declínio da mortalidade infantil causando um
crescimento inicial da população infantil com um eventual aumento da
população idosa;
b) Declínio do índice de fertilidade, levando ao decréscimo da
população jovem e consequente aumento na proporção de pessoas mais velhas;
c) Aumento na expectativa de vida.
Restrepo e Rozental (1994) defendem que o envelhecimento
populacional é determinado principalmente pelo declínio da fertilidade sendo
secundariamente influenciado pelo declínio da mortalidade ou do aumento da
expectativa de vida.
A velocidade com que se processam as mudanças demográficas tem
sido muito diferente entre o Brasil e os países desenvolvidos, devido à rapidez
do declínio das taxas de fecundidade. Por exemplo: na França, deverão
transcorrer 115 anos para que a proporção de idosos duplique ™ de 7% para
14%; nos Estados Unidos esse período será de 66 anos e no Brasil esse mesmo
16
fenômeno durará apenas 30 anos - de 7,7% em 2020 para 14,2% em 2050
(Chaimowicz, 1997).
No início da década de 90, o número de idosos era de 11,4 milhões,
isto é 7,9% da população. Atualmente são 14,5 milhões, o que passou a
representar 9,1% da população brasileira. Apesar do processo de envelhecimento
recente, a população brasileira pode ser considerada uma das maiores do mundo,
superior a da França, Itália e Reino Unido. (IBGE,2000)
Situando o Brasil dentro da América Latina, uma análise da
COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA -CEPAL (1999-2000)
retratou que o processo de transição demográfica tem-se efetuado em
velocidades diferentes entre os países latinoamericanos que foram, então, assim
classificados:
1~ Em transição avançada: países com taxa de natalidade e
mortalidade reduzidas, com crescimento populacional ao ano em cerca de 1%
(Argentina, Antilhas, Bahamas, Barbados, Chile, Cuba, Guadalupe, Jamaica,
Martinica, Porto Rico, Trinidade e Tobago e Uruguai);
2- Em transição plena: países com declínio na taxa de natalidade e
baixa mortalidade. A taxa de crescimento populacional gira em torno de 2%
(Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, México, Panamá, Peru,
República Dominicana, Suriname e Venezuela);
3- Em transição moderada: países com taxas de mortalidade em
rápido declínio e natalidade elevada, com crescimento populacional superior a
2,5% (Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Paraguai);
4- Em transição incipiente: países com níveis altos de natalidade e
mortalidade, com taxas de crescimento populacional maior que 2% (Bolívia e
Haiti).
1.7
Como se observa, o processo de transição demográfica vem atingindo
amplamente a América Latina onde a grande maioria dos países encontra-se nas
fases de transição avançada ou plena.
Aproximadamente 75% dos idosos do Brasil vivem nas regiões
sudeste e nordeste. Na região nordeste, a população com 60 anos ou mais era de
aproximadamente 3% da população total em 1970 (IBGE,1970), passando para
6% em 1991 (IBGE,1992).
Especificamente, na cidade de Fortaleza, esse percentual chega a 8%,
sendo, portanto, semelhante ao levantamento realizado na cidade de São Paulo e
superior à média nacional. Esta transformação do perfil populacional do
nordeste pode estar atrelada à migração de pessoas em idade produtiva além dos
declínios das taxas de fecundidade e mortalidade (BEMFAM, 1994 apud
Macedo Filho e Ramos, 1999).
No estado do Ceará somam-se atualmente em tomo de 600 mil os
habitantes com idade superior a 60 anos e, o número absoluto no Brasil é de 14
milhões (IBGE, 1996).
Em países industrializados, a queda das taxas de mortalidade e
fecundidade foi acompanhada pela ampliação da cobertura dos sistemas de
proteção social e melhoria das condições de habitação, alimentação, trabalho e
saneamento básico (Camargo e Saad, 1990; Kalache et ah, 1987).
No Brasil, por outro lado, o declínio da mortalidade foi determinado
mais pela ação médico-sanitária do Estado que por transformações estruturais
que pudessem se traduzir em melhoria da qualidade de vida da população. Nas
primeiras décadas do século XX, através de políticas urbanas de saúde publica
como a vacinação, higiene pública e outras campanhas sanitárias e, a partir da
década de 40, pela ampliação da atenção médica na rede pública (Oliveira e
Felix, 1995).
18
Tal fato ressalta o caráter urgente que as medidas políticas com
abrangência das áreas social, econômica e de saúde devem ser conduzidas para a
acomodação dessa nova realidade, sem tempo a perder com ações
assistencialistas e de curto alcance que, longe de resolverem os problemas da
sociedade, são fontes de perpetuação das mazelas sociais e a possibilidade de
um temeroso e incerto futuro para os que envelhecem.
O aumento da expectativa de vida traz consigo reflexo sobre a
condição de saúde da população. Com o envelhecimento pode-se esperar o
aumento de doenças e incapacidades, causando elevada demanda dos serviços
de saúde e de amparo social.
Fries (1980), defende ponto de vista contrário, considerando que o
aumento na expectativa de vida deve-se, sobretudo, à contínua melhoria das
condições de saúde, especialmente em retardar a instalação precoce de doenças,
reduzindo assim, a morbidade e a incapacidade entre os idosos. Contudo, há
uma modificação da incidência e prevalência de doenças na população
relacionada ao processo de envelhecimento, despontando um novo perfil
epidemiológico.
Passa-se a enfrentar, juntamente com a transição demográfica, uma
transição epidemiológica referente às modificações a longo prazo dos padrões de
morbidade, invalidez e morte e que engloba três mudanças básicas (Frenk et
al.,'199'1):
1“ Substituição entre as primeiras causas de morte ...das. doenças
transmissíveis por doenças não transmissíveis e de causas externas;
2- Deslocamento da maior carga de morbi-mortalidade dos grupos
mais jovens aos grupos mais idosos; e
3- Transformação de uma situação em que predomina a
mortalidade para outra de maior morbidade.
19
No Brasil, como assinalam Frenk et al. (1991) essa transformação
epidemiológica não se dá de forma definida, mas sim como uma espécie de
coexistência dos aspectos novos com os antigos, cjue distingue o Brasil dos
países desenvolvidos como:
1- Não há transição mas, superposição entre as etapas onde
predominam as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas;
2- A re introdução de doenças como dengue e cólera, ou o
recrudescimento de outras como malária, hanseníase e leishmaniose indicam
uma natureza não direcional, denominada “contra transição” ;
3- O processo não se resolve de maneira clara, criando uma situação
em que a morbi-mortalidade persiste elevada para ambos os padrões,
caracterizando uma “transição prolongada”. Para o idoso, as questões de
capacidade funcional e autonomia podem ser mais importantes que a própria
morbidade pois se relacionam diretamente com a qualidade de vida. ,
4- As situações epidemiológicas de diferentes regiões (desenvolvidas
e subdesenvolvidas) de um mesmo país tornam-se contrastantes (polarização
epidemiológica).
Uma vida longa, antes privilégio de poucos, agora é alcançada por
milhões de pessoas em todo o mundo. O progresso não pode ser medido
somente em quantidade de anos vividos, mas também em termos de qualidade
de vida, que implica no direito universal dos cidadãos de viver seus últimos anos
de vida de forma mais saudável e satisfatória. Somente desta maneira, seria
justificado o valor da conquista da longevidade tão almejada pela humanidade
desde os primórdios de sua existência.
Hoje, com o acelerado desenvolvimento científico, os mistérios do
funcionamento do organismo são desvendados minuciosamente através do
conhecimento da engenharia genética, com progressos fantásticos, sobretudo nos
20
aspectos relacionados ao retardamento do processo de envelhecimento e às
promissoras possibilidades de cura para diversas doenças.
2.2. Considerações sobre Gênero e Envelhecimento:
Diferente da crença popular, a revolução demográfica não é
essencialmente devido às pessoas viverem mais tempo, mas porque um número
acentuado de pessoas está atravessando todas as etapas da vida (Henrard, 1996).
Acredita-se, embora não se possa ter como certo, que a
hereditariedade tenha influência na longevidade. Muitos outros fatores intervém,
sendo o primeiro deles o sexo: em todas espécies animais, as fêmeas vivem mais
tempo que os machos. Na França, as mulheres vivem em média sete anos mais
que os homens. A. seguir, influem as condições de crescimento, de alimentação,
do meio e as econômicas (Beauvoir, 1990).
Diferenças no gênero em relação à longe vidade são uma-característica
importante no envelhecimento populacional. Esta diferença foi acentuada
durante este século devidõ a um forte declínio da mortalidade entre as mulheres.
A desigualdade de gênero no tocante à mortalidade resulta em um notável
desequilíbrio, aumentando com a idade. Esse processo foi denominado
“feminização” cia velhice (Arber e Ginn,1993).
De acordo com o relatório da CEP AL (1999-2000), no Brasil o
número de mulheres idosas supera o de homens idosos em aproximadamente
20%, e essa maior sobre vi da feminina tende a ser ainda maior a partir dos 70
anos de vida.
Alguns argumentos foram levantados por vários autores
(Waldron,1983; Zhang et al.,1995) tentando explicar a causa da maior
longevidade entre as mulheres. Uma importante razão é atribuída aos fatores
comportamentais como o menor consumo de álcool e de fumo e os riscos
ocupacionais mas, a maior durabilidade do organismo feminino permanece
insatisfatoriamente respondida.
As principais causas de óbito no sexo masculino estão concentradas
no sistema coração-pulmão (SidelJ.995) reforçando a participação do fumo na
diferenciação da mortalidade entre homens e mulheres. Entretanto, homens e
mulheres morrem basicamente das mesmas causas principais. Fatores de risco
semelhantes afetam a mortalidade em ambos os sexos (Zhang et al.,1995).
Outros pesquisadores sugerem que os fatores sociais e ambientais são
bastante importantes .nas .fases mais precoces da vida e os fatores biológicos e
genéticos mais importantes na fase mais tardia da vida (Gee e Veevers, 1983).
Acredita-se que as diferenças numéricas entre os sexos tendam a
diminuir pela redução dos riscos ocupacionais evitando mortes prematuras.
Importante ressaltar que a crescente adoção de estilos de vida similares aos dos
homens pelas mulheres em termos de trabalho, consumo de fumo e álcool pode
provocar o aumento das mortes em estágios mais iniciais (Henrard,1996).
Muitos dos estudos que trataram da saúde na fase mais avançada da
vida mostraram serem as mulheres mais doentes do que os homens da mesma
idade. Os dados sobre morbidade demonstraram uma maior prevalência de
condições crônicas entre as mulheres quando comparadas com os homens
(Verbrugge, 1989; Zhang et af, 1995). As mulheres mais velhas avaliam seu
estado de saúde menos positivamente que os homens (Verbmgge/1985 e Arber e
Ginn/1993), referindo mais frequentemente à presença de incapacidades do que
os homens em numerosos estudos na França (Huet e Gardent,1994), Inglaterra
(Martin et ah, 1988) e Estados Unidos (Verbrugge/1985; Manton/1988).
.No Brasil, um estudo publicado em 1994 e conduzido por Veras em
três distritos socioeconomicamente diferentes da cidade do Rio de Janeiro,
objetivou através da aplicação de um questionário multidimensional, avaliar
22
inúmeros aspectos da condição de vida dos idosos, dentre eles a saúde e a
capacidade funcional.
Dos resultados obtidos, a diferença mais importante entre os sexos foi
relacionada à saúde, onde entre os queixosos 72,3% eram mulheres. Já com
relação ao desempenho das atividades da vida diária, o dos homens foi melhor
do que o das mulheres.
A existência de vários tipos de deficiência física e a incapacidade de
cuidar de si mesmo têm grande importância no planejamento da assistência aos
idosos. Importa assinalar que a interpretação sobre a saúde e capacidade
funcional dos idosos do estudo citado anteriormente, foi a partir dos
sentimentos subjetivos em relação à saúde e não baseado em. urna avaliação
clínica objetiva de problemas. Mas, essas informações são necessárias para o
planejamento do atendimento de saúde para os idosos nos próximos anos.
A maior incapacidade das mulheres implica numa necessidade mais
acentuada dos serviços formais e informais de saúde, além do que não podem
ser beneficiadas como os homens (com a ajuda do esposo) e frequentemente
dispõem de poucos recursos financeiros.
Numa investigação transversal realizada por Macedo Filho e Ramos
(1999) na cidade de Fortaleza com idosos de estratos sociais diferenciados que
residiam na região central, intermediária e periférica de Fortaleza, revelou-se de
modo similar aos estudos em outras capitais brasileiras ( Rio de Janeiro e
São Paulo), que além da predominância do sexo feminino entre os idosos
(66%), havia uma elevada coexistência de cinco ou mais doenças crônicas no
sexo feminino (18,7%), chegando a representar mais de três vezes a apresentada
pelo sexo masculino (5,8%).
O grau de autonomia dos idosos incluídos nesse estudo foi maior nas
áreas cujo poder aquisitivo da população era maior, sendo considerados
autônomos, 67,9% dos idosos da região central, 43,8% da região intermediária e
23
44,6% da área periférica de Fortaleza. Esses dados, dentre outros, caracterizam
a precariedade das condições de vida dos idosos mais pobres e a necessidade de
serem assistidos por outras pessoas.
Portanto, a maior longevidade entre as mulheres está atrelada também
ao aumento da dependência. Com frequência as idosas deverão mudar-se para a
casa de um de seus filhos, geralmente após a viuvez, como também serão
candidatas a morar em instituições asilares quando outro aparato familiar não for
capaz de atendê-las nas suas necessidades. Mesmo nas famílias extensas, o
amparo aos idosos é um problema a mais somando-se ao desemprego, pobreza,
disputa por herança entre seus membros, mães solteiras sem renda para sustentar
sua prole e, que são de difícil solução.
O problema de viver só assume diferentes dimensões ao se considerar
o sexo feminino e masculino. O homem torna-se mais isolado dos parentes após
a morte da esposa. Recebendo menos cuidados pessoais do que ã mulher de
seus familiares e amigos, apresentam maiores dificuldades em se ajustarem à
vida sozinhos tomando-se um grupo vulnerável (Arber e Ginn ,1993)..4**
Metade das mulheres incapacitadas vivem sozinhas e são dependentes
de cuidados não remunerados de seus familiares. Esse contexto as toma privadas
de sua independência e identidade própria. Entretanto, essas diferenças no
modelo de sociabilidade proporciona á mulher um estado mais avantajado em
relação ao homem de uma melhor estrutura social na velhice, ou seja, dispõe de
um sistema informal para a sua assistência (Henrard,1996).
Diferenças importantes relacionadas ao nível de assistência social
baseada no gênero e classe social foram também relatadas por Arber e Ginn
(1993) onde, de um modo geral, 2/3 dos homens idosos recebem cuidados
pessoais e domésticos da esposa, enquanto as mulheres idosas recebem, um
pouco mais de um quarto, cuidados pessoais do marido.
24
Essa informação foi apoiada também pelos dados encontrados por
Macedo Filho e Ramos (1999) na cidade de Fortaleza, onde os idosos do sexo
feminino viviam em sua maioria (67,2%) sem cônjuge (separados, solteiros ou
viúvos), ocorrendo o contrário com os do sexo masculino onde 77,5% viviam
com a esposa ou com uma companheira.
A mulher é a principal cuidadora dos inválidos, das crianças e dos
idosos. Assume, muitas vezes, o papel de cuidadora em idade bastante jovem e
por toda a vida, sendo o principal ator da economia local, pertencente ao mundo
privado de um trabalho não remunerado. Historicamente, a mulher exerce um
trabalho invisível e tem sido remunerada insatisfatoriamente ao longo de sua
vida devido a estrutura social, que a isola do processo de crescimento e
desenvolvimento. Isso contribui para torná-la mais fragilizada, abandonada e
com risco mais alto de adoecer (Neysmith,1990).
O marco da velhice assume significado distinto para o homem e para
a mulher, surgindo um padrão duplo de envelhecimento. Para o homem, o■I»
envelhecimento é definido como a cessação do trabalho produtivo e para a
mulher com o término do ciclo reprodutivo. Devido ao fato das mulheres serem
valorizadas por sua juventude e beleza física, a idade avançada é tida como um
desafio, uma vez que diminui a fonte de auto-estima, trazendo uma
desvalorização social (Arber e Ginn, 1991).
A experiência feminina da velhice é considerada, na maioria das
vezes, como uma continuidade porque não há ruptura com o ambiente de
trabalho e os relacionamentos tradicionais, cujo desempenho dos papéis está
ligado ao sexo pode ser um meio de alimentar sua auto-estima (Beauvoir apud
Henrard, 1996).
Noutra perspectiva, tomando como exemplo as mulheres idosas de
hoje, um grande número delas não trabalhava, não ocorrendo, portanto, a perda
25
das relações tradicionais e influência dentro família pela manutenção de seu
papel na esfera doméstica, o que delineia um s tatus de superioridade persistente.
Os idosos têm consciência dessa troca de papéis. No caso do homem
que se aposenta e passa de uma vida publica para a privada exigindo uma
adaptação que embora possa lhe trazer algumas vantagens como o descanso e o
lazer, depara-se também com graves desvantagens como o empobrecimento e a
desqualificaçao (Beauvoir, 1990).
O envelhecimento feminino pode ser encarado de forma negativa por
estarem as mulheres vivenciando uma situação de dupla vulnerabilidade através
de dois tipos de discriminação - como mulher e como idosa. E, apesar de
considerar o lado positivo de não se afastarem do lar, na velhice, as mulheres
defrontam-se, mesmo dentro de seu mundo domiciliar mais restrito, com
inúmeras perdas como o abandono dos filhos adultos, viuvez ou o conjunto de
transformações físicas inerentes ao processo de envelhecimento.
Nas sociedades ocidentais contemporâneas, a esse conjunto de perdas
deve-se somar o subemprego, os baixos salários, o isolamento e a dependência
que caracterizam a condição das mulheres com idade avançada (Streib, 1975;
Rodhes, 1982 apud Debert, 1999).
Os padrões sociais e culturais necessitam ser remodelados sobretudo,
no aspecto discriminatório amplo que sofrem os idosos, a fim de protegê-los do
isolamento, através da colaboração entre os vários setores da sociedade
incluindo os governantes, os profissionais, voluntários e familiares que direta ou
indiretamente estão envolvidos com o modo de vida reservado aos idosos.
2.3, Implicações do Envelhecimento nas Esferas Familiar e Social:
26
A interação cios aspectos biológicos e sociais é essencial para analisar
as repercussões do envelhecimento, uma vez que os fatores sócio-psico-
biológicos são constituintes inseparáveis desse processo geral.
O envelhecimento é considerado como a última etapa da vida
biológica, quando os sinais de deterioração física inevitavelmente são aparentes,
terminando com a morte. É tido também como o último estágio da vida social do
indivíduo, o resultado final da experiência social coletiva e pessoal do indivíduo.
Podemos dizer que o seu processo é determinado e determina as sociedades nas
quais vivemos (Beauvoir,1990), ou seja, é um fato cultural.
Ao longo da história, o velho assumiu diferentes gradações cie valor de
acordo com o tipo de sociedade em questão. Como por exemplo, nas sociedades
mais primitivas, incapazes sequer de constituir uma tradição oral e sendo sua
única opção de vida, a sobrevivência, o velho era sacrificado, uma vez que
encontrava-se fisicamente debilitado, e, portanto, incapaz de automanter-se,
requerendo cuidado e alimento. Em contrapartida, com o uso da tradição oral
pelas sociedades iletradas, os velhos assumiram a responsabilidade de perpetuá-
la, pois detinham a memória, a história do grupo e passaram a gozar de prestígio
social (Silva, 1981).
No Brasil, não há a valorização da história, da memória e da tradição,
onde tudo passa a ser encarado como velho e ultrapassado pela rápida e
constante aquisição de novos conhecimentos e costumes, e .que, .diante dessa
cultura volatilizada, o idoso é tido como um elemento a parte, sem
reconhecimento social. Essa consciência é reforçada pelos interesses capitalistas
que visam o lucro e a produtividade, em que o velho por não constituir mão de
obra apta para o trabalho, é desvalorizado e abandonado pelo Estado e pela
sociedade.
A miséria e exclusão que atingem considerável parcela da população
brasileira seriam potencializadas com a velhice.
27
Conforme retrata Sá (1991, p.19), o velho brasileiro, sobretudo
quando petencente à classe social menos favorecida, é vítima do sofrimento,
pois é visto como:
(um ser humano) discriminado, inativo, vivendo em condições precárias e em situações de perda do status, do prestígio e das relações funcionais decorren tes do trabalho (...) Consequentemente temos um idoso em crise; crise de identidade, que o leva na maioria das vezes, à retração, à volta a si mesmo, à sínclrome da pós-aposentadoria caracterizada pelo isolamento, pela solidão, pelo desinteresse pela vida, alcoolismo, divórcio, decrepitude, senilidade, morte social e morte física.
Vischer, citado por Bastos (1993) considera a velhice como a “idade
das perdas”. Essas perdas são representadas por diversos tipos de luto: pela
perda da beleza física, da libido, do trabalho, do prestígio, dos filhos que se
tomaram adultos, da prefiguração da própria morte, etc.
Esses estereótipos negativos associados à velhice são evidenciados a
partir da segunda metade do século XIX, sendo encarada como um processo
contínuo de perdas e dependência o que traduz o significado de ser velho na
sociedade moderna.
Por estar o termo “velho” carregado de sentido pejorativo foi
substituído na França na década de 70 pelo termo “ terceira idade” menos
preconceituoso, com a implantação das “Universités du Troisième Age”.
Atualmente esse termo está amplamente difundido popularmente no mundo
ocidental (Stucchi, 1994).
Para Debert (1999), existe uma tendência na sociedade
contemporânea, em procurar reverter a visão negativa ligada ao processo de
envelhecimento para outra de uma fase de realizações até então não
conquistadas. A valorização dos idosos a partir das experiências vividas e os
saberes acumulados são encarados como ganhos, garantindo-lhes desfrutar de
28
uma relação harmoniosa com os mais jovens, somada à busca de novos
objetivos na vida.
Iniciativas sociais estão surgindo atualmente, com interesse de obter
a afirmação da identidade e da busca da dignidade do idoso, como as
universidades para a terceira idade, as escolas abertas e os grupos de
convivência (Debert, 1999).
Vale salientar que, as oportunidades de participação das novas formas
de sociabilidade na velhice não são igualmente acessíveis ao conjunto da
população, considerando a heterogeneidade da sociedade brasileira, sobretudo
com acentuados desníveis sociais. Portanto, é falso pensar que o avanço da
idade por si só dissolvería distinções socioculturaís que marcaram as etapas
anteriores da vida.
A multiplicidade das experiências do envelhecimento está
sedimentada na história de vida que tem como elementos formadores as relações
sociais e familiares, os diversos modos de vida e as características individuais de
enfrentamento dos problemas vivenciados.
Segundo Laslef{1987) para que a velhice seja uma etapa da vida
propícia à realização e satisfação pessoal, é necessária a existência de uma
“comunidade de aposentados” com peso suficiente na sociedade, demonstrando
dispor de saúde, independência financeira e outros meios apropriados para
atingir suas expectativas.
Tal argumento parece distante da realidade brasileira, cujos idosos,
apesar do número expressivo, não se encontram suficientemente organizados
para causar o reconhecimento político de seus direitos e, nem tão pouco
conscientes de sua condição de cidadãos sociais ativos e participantes, e não
meramente expectadores passivos e carentes à espera da caridade de terceiros
ou do Estado.
29
A falta de credibilidade e empenho da sociedade civil em organizar-se,
seja de forma ampla ou em grupos de interesses específicos, na conquista ou
garantia do cumprimento dos seus direitos, necessita ser trabalhada e exercitada
pelos cidadãos brasileiros como poderoso instrumento de força para a mudança
do quadro social deplorável do nosso país.
Os fracos indícios de uma maior sensibilização da sociedade
brasileira para com os idosos, não conseguiram ainda, gerar o impacto suficiente
para mudar a representação da velhice em direção a uma existência livre de
preconceitos e com melhor qualidade de vida.
Podemos identificar duas visões antagônicas de velhice: a tradicional,
tida como uma fase de dependência e perdas e outra que vem despontando,
como uma fase promissora, com ganhos e realizações pessoais.
A mídia possui notável influência como transformadora e divulgadora
de opiniões e imagens. Com relação à velhice, observa-se um emergente
mercado de turismo e lazer, e produtos como os cosméticos e farmacêuticos,
voltados para uma velhice mais saudável e, potencialmente adiável.
Os idosos em especial os de maior renda, podem ser influenciados a
tornarem-se consumidores desenfreados, caindo na ciranda da especulação
comercial, sem contudo, terem eqliitativamente dentre os membros da
sociedade, seu valor existencial reconhecido.
A divulgação da adoção de estilos de vida saudáveis, onde compete a
todos a responsabilidade de manterem-se jovens, denota a própria negação ou
rejeição da velhice na nossa sociedade (Debert, 1999).
É, pois, diante desse cenário de desvalorização da velhice que o
inegável processo de envelhecimento populacional está inserido, e que, antes de
urna análise social mais ampla, perpassa primariamente pelas inúmeras formas
de organização das famílias e que irão influenciar na capacidade em assistir os
seus idosos.
30
Por tradição, a segurança da população idosa tem sido garantida
dentro da estrutura familiar extensa ou ampliada. Contudo, no Brasil, o padrão
de famílias ampliadas está declinando, e existem indícios de que os sistemas de
apoio tradicionais estão sendo desfeitos pelas mudanças sociais (Berquó e Mota, 1988).
A família continua a ser o principal meio de apoio social, emocional
e econômico. Os valores sociais que concorrem para a percepção social sobre os
idosos e o seu papel na sociedade, dentro das mais variadas estruturas familiares,
foram influenciados ao longo dos anos pela migração urbana, pelo processo de
industrialização, mudança no papel feminino, transformação da força de
trabalho, pobreza e marginalização da população, expansão do setor informal
dentre outros fenômenos que ocorreram nesse contexto global (Restrepo e
Rozental, 1994).
A precariedade das políticas públicas faz com que o peso da situação
do idoso recaia sobre a família que também encontra-se despreparada para essa
nova situação.
Devido a maior longevidade de seus integrantes, as famílias devem
assumir esse desafio apoiada na resolução, a nível privado, dos problemas
assistenciais das pessoas idosas (CEPAL, 1999-2000).
Para as classes menos favorecidas economicamente, amparar o idoso
pode significar a desestabilização da estrutura econômica e funcional da família.
Uma das consequências mais visível do envelhecimento populacional
dá-se em termos dos arranjos familiares como: idosos morando sozinhos ou com
parentes, mulheres chefiando a família ou morando com os filhos e, em alguns
casos, obviamente, uma pequena parcela dos idosos terá como única opção para
a sua sobrevivência, o asilo (Berquó,1999).
Contrariamente, em alguns casos, a figura do idoso assume importante
destaque quando passa a ser a fonte de sustento de filhos e netos desempregados
31
que voltam a residir com o idoso e que vêem na aposentadoria irrisória, a
garantia da sobrevivência familiar.
Outro papel positivo assumido pelos idosos em boas condições de
saúde, ao invés de ser considerado uma carga, é a contribuição com o cuidado
dos mais jovens da família, por exemplo, quando a mãe tem que se ausentar para
trabalhai’. Isto ocorre, basicamente, no caso específico das mulheres idosas, cuja
capacidade de executarem os afazeres domésticos e serem responsáveis pelo
cuidado dos netos, tidos como tarefas femininas na nossa sociedade, lhes garante
um papel definido e indispensável para que os adultos possam ter condições de
trabalhar sem contudo apelar para medidas desconfortáveis como deixar os
filhos sem a guarda de um adulto por período integral.
Com relação aos idosos com problemas de saúde e, portanto, com
necessidade de serem assistidos, Yasaki et al.(1991) lembram que para os idosos
pobres com comprometimentos físicos e cognitivos, residentes nas grandes áreas
metropolitanas, as relações com a família configuram-se como mais*
problemáticas intensificadas com a carência de instituições de amparo e suporte
ao idoso. Porém, mesmo fíesses casos de dependência, o asilamento geralmente
é visto como negativo, com significado de abandono e refúgio.
Nesse sentido, vê-se na família o último e porque não o único recurso
com que o indivíduo pode contar, quando os países não investiram nos sistemas
de proteção institucional específicos para as pessoas em condição de
dependência seja econômica ou por motivos de saúde (CEPAL, 1999-2000).
Consta na Constituição Federal de 1988, que o encargo para com os
idosos não deve estar unicamente sob a responsabilidade familiar quando dispõe
em seu artigo 230: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem estar, garantindo-lhes direito à vida”.
32
O relevante suporte informal de parentes e amigos destinado aos
idosos, pode ser explicado, sob a ótica sociológica, da ajuda entre as pessoas
estai' fundamentada nas normas sociais de reciprocidade, igualdade e
responsabilidade social. A primeira denota o pagamento das ações recebidas no
passado de alguma pessoa, no caso, agora corno idosa. A equidade focaliza a
importância do custo e da recompensa de um relacionamento. E a última, aponta
que a ajuda prestada a quem necessita é um dever e não pode ser omitido
(Henrard, 1996).
A existência de normas sociais por si não justifica por que as pessoas
as seguem. Elas contribuem para nossas crenças sobre o quanto e como devemos
ajudar os outros e sobre quem é responsável pela solução dos problemas da
pessoa necessitada.
Evandrou e Victor (1989) mencionaram que o fato dos idosos
viverem com os filhos não é garantia da presença de afeto, prestígio ou respeito,
nem da ausência de maus tratos. As denúncias de violência física contra idosos
aparecem nos casos em que diferentes gerações convivem numa mesma unidade
doméstica. Assim sendo, a persistência de unidades domésticas plurigeraciouais
não pode ser vista, necessariamente, como garantia de uma velhice bem
sucedida, nem o fato de morarem juntos, um sinal de relações mais amistosas
entre os idosos e seus filhos.
No levantamento realizado na cidade de Fortaleza por Macedo Filho e
Ramos (1999), dos idosos investigados, 75% .residiam em • lares
multigeracionais, sendo predominante na área periférica embora bastante
expressiva na área central constituída de pessoas com maior poder
socioeconômico.
Porém, o idoso que mora só não é, necessariamente, o reflexo do
abandono de seus familiares. Pode significar uma nova forma de família
extensa, na qual a troca e a assistência ocorrem de maneira intensa (Cohler,
33
1983), com suporte familiar adequado seja na esfera das necessidades físicas ou
emocionais, não implicando numa mudança qualitativa nas relações entre familiares.
Independentemente da forma de moradia do idoso, sozinho ou em
família, o importante é a possibilidade de se obter uma velhice bem sucedida,
que não é decorrente apenas do nível de renda ou saúde, mas aspectos mais
subjetivos são de extrema importância, como a qualidade do apoio, satisfação
com a vida, bom relacionamento familiar, segurança e tranquilidade.
Outra forma de arranjo residencial já praticada com resultados
favoráveis nos países desenvolvidos, é a segregação espacial dos idosos, o que
permite a ampliação de sua rede de relações sociais, aumenta o número de
atividades desenvolvidas e a satisfação na velhice. Essa nova abordagem,
baseia-se na idéia de que o bem estar na velhice não está arraigado às relações
familiares intensas nem ao convívio intergeracional (Debert, 1999). -
Para os estudiosos, os conjuntos residenciais ou condomínios fechados
para idosos, além do aparato necessário para a comodidade, favorece uma rede
de solidariedade, de troeis, de afeto, de reencontro com os papéis sociais
perdidos, promovendo uma experiência positiva da velhice mesmo para aqueles
com pouca proximidade com os familiares. As diferenças de gênero
desaparecem ou, quando mantidas, ganham outros significados, uns ajudam os
outros de modo que, amparados mutuamente, a institucionalização seja evitada
(Debert, 1999).
Essa constatação positiva de uma vida segregada não é regra geral,
Jacob ciptid Debert (1999) em seu trabalho de cunho antropológico, mostrou
que os idosos segregados não se sentiam satisfeitos e demostravam apatia,
passividade e sentiam-se solitários.
Como afirma Debert (1999, p. 86 ), deve-se ter em mente que:
34
Os novos arranjos residenciais que surgem em resposta às demandas dos idosos não devem funcionar como substitutos das relações familiares. Devem, no entanto, representar locais distintos de convivência, embora em ambos seja absolutamente necessário o compartilhamento de sentimentos de amizade, solidariedade e honestidade.
No caso específico do Brasil, cabe salientai' que as novas
comunidades para idosos que oferecem conforto e comodidade são de iniciativa
privada com custo inacessível a um contingente expressivo da sociedade que
vive em condições precárias e por vezes de miserabilidade.
O pobres, quando sem condições de residirem com os familiares ou
sós, deparam-se com a alta probabilidade de serem internados em asilos públicos
ou filantrópicos, cujas condições de atendimento condizem com a constante
crise financeira que enfrentam. Por isso, a qualidade da assistência prestada aos
idosos institucionalizados, torna-se dependente da provisão instável de recursos,
seja da iniciativa privada ou governamental.
Diante do exposto, vemos a falta de perspectiva para uma velhice
amparada seja pela família, sociedade ou Estado que possam garantir a
dignidade individual e coletiva, além de uma vida com qualidade.
Os estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre as
necessidades dos idosos, demonstraram ser o problema principal o bem-estar
econômico, com falta de recursos para satisfazer as necessidades mais básicas,
como por exemplo o acesso aos serviços de saude. O maior desafio para os
políticos de países em desenvolvimento é, portanto, conseguir prover ura
cuidado a longo prazo a esse elevado número de idosos pobres, ou seja, um
gmpo vulnerável a adoecer ou a tornar-se incapacitado.
O fardo social gerado pela rápida expansão da população idosa é
partícul anuente preocupante para os países em desenvolvimento, uma vez que
35
esses novos problemas sociais e de saúde despontam sem ainda terem
conseguido resolver os problemas relacionados à população jovem.
Essa situação requer a iniciativa política para:
1- Reduzir o peso do envelhecimento sobre a economia e sobre a
sociedade;
2- Assegurar serviços sociais e de saúde para a população idosa,
promovendo sua participação na sociedade e uma vida economicamente
produtiva.
O impacto social do envelhecimento afeta a dinâmica do mercado,
guiado pela troca de valores. Os idosos encontram-se em desvantagens nas
sociedades voltadas para o lucro e a economia, que tendem a desumanizar o
processo social de envelhecimento. O indivíduo é valorizado pelo seu poder
aquisitivo e pela sua capacidade produtiva de trabalho. Este comportamento
social tende a desprezar as necessidades dos idosos ou não proporcionai' a
integração dos mesmos no mercado de trabalho para voltarem a assumir o papel
de produtores e consumidores (Restrepo e Rozental,1994).
No entanto, a qualidade de vida, oportunidades e perspectivas futuras
para a maior parte dos idosos são a pobreza, marginalidade e a dependência
econômica (Restrepo e Rozental,1994).
O impacto do envelhecimento populacional tem grande repercussão
sobre o sistema de saúde e é de difícil superação, pelo aumento dos custos dos
serviços.
O sistema biomédico vigente de atendimento à saúde tem direcionado
a provisão dos serviços de saúde a um nível operacional. O resultado é o uso
exagerado de tecnologias caras, responsáveis pela inflação dos gastos com saúde,
Para Henrard (1996), o modelo biomédico contribui para medicar
problemas sociais, mas, negligencia o impacto dos determinantes sociais na
36
saúde individual e do ambiente coletivo. Prioridades dadas às soluções
médicas/técnicas são responsáveis pelo uso inapropriado de hospitais, por
exemplo, pela ignorância de alternativas mais' efetivas e eficientes para
satisfazer a demanda desse grupo particular da população.
Segundo as pesquisas feitas pela ORGANIZAÇÃO
PANAMERICANA AS SAÚDE-OPS/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE-OMS em .1989, os idosos fazem mais uso dos serviços de saúde e
causam mais gastos com a saúde do que a população em geral, devido,
principalmente, à natureza crônica da maioria de suas doenças,
Na Conferência Internacional sobre envelhecimento populacional
ocorrida em 1992 em San Diego (USA), foi recomendável que a definição aceita
para a saúde seja revista para tomá-la mais apropriada aos idosos, através da
incorporação de conceitos como estado funcional de saúde, independência,
cronícidade, autonomia, auto-percepção de saúde e o estado ambiental físico e
social.*
Portanto, a solução para as sociedades contemporâneas no
atendimento aos idosos deverá se apoiar em mudanças políticas e econômicas,
objetivando o fortalecimento do apoio familiar no atendimento aos idosos, como
também um incremento nos investimentos sociais garantindo sistemas de apoio
na área social e de saúde.
2.4. Política e o Envelhecimento Populacional;
O recente processo de envelhecimento populacional traz novas
demandas de serviços na área social: assistência social, de saúde e
previdenciária, constituindo um desafio para os governantes e para a sociedade.
Ao mesmo tempo em que ainda se faz necessária a pressão pela
ampliação de direitos universais básicos - educação, saúde, alimentação,
37
moradia, aumentam, também as demandas fragmentadas de cidadãos em
condições insatisfatórias de vida e que se manifestam individual ou
coletivamente (famílias, grupos etários, moradores de uma região).As dimensões
da política social devem cobrir os programas universais formadores da
cidadania, independentes da forma específica de inserção social e das ações
focalizadas em espaços e em grupos socialmente vulneráveis como por exemplo,
o de idosos.
O poder público, cujas metas e ações não atingem seus fins devido às
graves crises econômicas e falta de- reordenação de suas prioridades sociais,
atua através do controle temporário de situações tidas como emergenciais, sem
contudo, contar com um planejamento encadeado e harmonioso entre as
diversas áreas envolvidas, para lidar com os problemas provenientes do aumento
da população idosa.
Sobre a desorganização e inadequação das medidas políticas Silva e
Neri (1993, p.233) afirmam:
Se cís intervenções forem planejadas a partir de diagnósticos das necessidades e interesses (...) no plano mais amplo, possivelmente auxiliariam a implementação de mudanças familiares, institucionais e socioculturais em relação ao suporte familiar e social, bem como em relação às políticas sociais para o idoso e a família no Brasil.
Outro agravante da situação brasileira são os acentuados desníveis
sociais, onde a minoria tudo tem e a grande maioria nada tem, vivendo numa
situação de completa ausência dos direitos básicos de cidadão.
A pobreza e a miséria para muitos é perpetuada ao longo da vida uma
vez que a melhoria das condições de vida está atrelada à acessibilidade da
população a uma educação de qualidade, serviços sanitários e de saúde e
condições de emprego e aposentadoria dignas, as quais ainda encontram-se
distantes de nossa realidade.
38
O trabalho informal passa a ser a única opção de sobrevivência para os
pobres (adultos e velhos), cuja desqualifícação profissional os impede de serem
absorvidos pela rede formal de emprego que não atende a demanda de
trabalhadores considerados aptos para o trabalho.
Trabalhar no mercado informal significa a falta de. garantia de direitos
como a aposentadoria, auxílio-doença, férias, fundo de garantia por tempo de
serviço ( FGTS), dentre outros.
O impacto da política previdenciária na vida das famílias é cruel,
pois tanto a aposentadoria como o auxílio doença não se traduzem em formas
eficazes de sobrevivência. Sobre isso Cartaxo (1995, p. 169-170) relata:
... a política previdenciária, mediante estratégia do segurado em “auxílio-doença” permite-nos deduzir que se aproxima mais de um modelo assistencial do que, propriamente, de seguridade social (...) Não há como pensar em objetivcição dos direitos sociais.
A seguridade social, por meio da assistência social, deveria ter uma
política voltada para o atendimento da população excluída. O benefício da Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) é bastante restritivo: destina-se apenas
aos idosos com setenta anos ou mais, cuja renda familiar seja um quarto do
salário mínimo vigente. Sabe-se que a expectativa de vida acima de setenta anos,
em geral, contempla aqueles que vivem com mais de cinco salários e em regiões
mais desenvolvidas. Verifica-se que o idoso de baixa renda não tem
reconhecimento dos direitos mínimos de cidadão caracterizando sua condição de
excluído socialmente (Silva, 1998).
O conceito de exclusão social está mais próximo ao oposto de coesão
social ou como ruptura de vínculo social. O excluído não necessita cometer
nenhum ato de transgressão, como o desviante. Tornar-se excluído é uma
39
condição imposta do exterior, sem que para tal tenha contribuído direta ou
indiretamente (Nascimento, 1994).
Dentro de uma concepção sociológica ampla, a exclusão social refere-
se a um processo de não reconhecimento do outro, ou de rejeição, ou ainda
intolerância. Trata-se de uma representação que tem dificuldades de reconhecer
no outro direitos que lhe são próprios e que, o excluído, sem vínculo societário,
desenvolve vínculos comunitários particulares, como forma de sobrevivência
social. Caso contrário, está condenado ao completo abandono e esquecimento.
Nesse sentido, aproxima-se do conceito de discriminação, como podemos
visualizar nos negros, homossexuais e idosos (Nascimento, 1994).
Uma outra abordagem de exclusão social, refere-se aos que não
fazem parte do mundo do trabalho, não possuindo, em decorrência, condições
mínimas de vida. Por vezes, o fato de não trabalhar produz efeitos de não
inserção social e exclusão do mundo de direitos. A incapacidade da sociedade
em criar empregos ou a eles atribuir uma renda mínima, atinge jovens e os
velhos mais frequentemente.
Nascimento (1994) denomina de "desnecessários economicamente” ao
expressivo contingente de pessoas que, além de desempregadas não têm
capacidade de gerar renda suficiente, pela desqualificação profissional, para
entrar no mercado de trabalho. Esses indivíduos perdem qualquer função
produtiva e passam a constituir um peso econômico para a sociedade e para o
governo.
A especificidade da exclusão social no Brasil está fortemente
relacionada com a desigualdade social e com a pobreza. Como pobreza,
entende-se "a situação em que se encontram membros de uma determinada
sociedade despossuídos de recursos suficientes para viver dignamente, ou que
não têm as condições mínimas para suprir as suas necessidades” (Nascimento,
1994, p.29),
40
Uma reforma que fosse útil socialmente e com largo alcance na área
previdenciária deveria estabelecer mecanismos financeiros que garantissem a
manutenção do poder aquisitivo e das pensões e também proporcionassem
proteção social à crescente população de idosos (Laurell, 1996).
Os problemas relacionados à seguridade social não serão resolvidos
sem uma política ativa e sustentada de criação de emprego e recuperação salarial
como forma de atingir o bem-estar social.
Aposentarias e pensões constituem a principal fonte de rendimento da
população idosa. Se, por um lado,, o número de benefícios é crescente a cada
ano, por outro, as despesas médias com o pagamento desses benefícios pela
Previdência vêm apresentando, com raras exceções, variações negativas. Em
1988, quase 90% dos idosos aposentados no Brasil recebiam contribuições de
até 2,5 salários mínimos (Chaimowicz, 1997), o que retrata o empobrecimento e
a perda do poder aquisitivo com a aposentadoria.
Debert (1999, p.188) declara que a “história política brasileira foi um
verdadeiro assalto às condições de aposentadoria, transformando o idoso um
peso para a família e em objeto de desdém da sociedade como um todo”. E, nos
deparamos com uma perda do poder aquisitivo dos idosos cujos salários são
corroídos pelos elevados índices de inflação da economia nacional, sem contudo
contarem com a certeza das reposições que todos os trabalhadores fariam juv.
O estado de pobreza dos idosos está relacionado a graves problemas
do sistema previdenciário: falhas na organização da burocracia, descontrole
sobre a receita e as despesas, sonegação de contribuição, incompetência na
gestão de recursos e fraudes na concessão dos benefícios, levando o trabalhador
idoso a receber quantias irrisórias, causando um crescente empobrecimento e
comprometendo seriamente uma qualidade de vida desejável e justa.
Apesar dos reduzidos valores das aposentadorias, no Brasil, em 1996,
os dados indicavam que três em quatro idosos possuíam cobertura
4.1
previdenciária. A percentagem dos que não recebem aposentadoria ou pensão
está abaixo de 25% (CEP AL, 1999-2000). Poucos países da América Latina,
além fio Brasil, conseguiram uma ampla cobertura como: Uruguai, Argentina e Chile
Andrade (1999) revelou que muitos municípios de economia precária
e de população majoritariamente pobre, os benefícios da Previdência
representavam 20,3% da renda monetária das famílias nos municípios com até
5.000 habitantes. Em todo país a média é de 7,2%. Neste caso específico,
paradoxalmente, a aposentadoria significava um passaporte para a ascensão
social dos idosos, garantindo-lhes poder de compra e credibilidade no comércio
local. Em alguns casos, a renda dos familiares chegava a triplicar com o
pagamento do salário mínimo da aposentadoria. Isso porque a maioria
trabalhava no campo e ganhava em média R$ 40,00 por mês. Conclui-se, que os
idosos movimentam a economia de muitas pequenas cidades brasileiras.
O custo das aposentadorias é visto, pelos experts em contabilidade,
como uma catástrofe para a economia nacional em decorrência da grande soma
de recursos necessária pargt uma população de inativos e que põe em risco a
reprodução da vida social, e, a esse prognóstico assustador denominaram de
“crônica da crise anunciada”. Esse mesmo argumento também tem sido utilizado
para a legitimação de uma preocupação teórico-acadêinica com a velhice ou
propor ações concretas, visando alcançar um envelhecimento bem sucedido
(Simões cipud Debert,1999).
Mesmo em países onde o envelhecimento e a velhice são motivos de
atenção e planejamento especial, a sociedade encontra-se despreparada para
oferecer a curto ou médio prazos uma solução para o problema.
Chama-nos a atenção a carência de recursos financeiros peculiar aos
países mais pobres e que representa um agravante para a situação dos idosos. O
42
problema não se resume simplesmente ao plano econômico, mas ao social, com
implicações bastante complexas mesmo nos países ricos.
A tecnologia avançada e o progresso científico não deram conta dos
flagelos sociais que os governos, de forma insensível, não têm se preocupado.
Para a velhice ser encarada como um problema social não basta
apenas sua projeção numérica, más de quatro aspectos que, segundo a visão de
Remi e Lenoir citados por Debert (1998) são:
a) o reconhecimento: implica tomar visível publicamente uma
situação particular através da ação de grupos socialmente interessados em
produzir uma nova percepção do mundo social a fim de agir sobre ele (ex:
gerontólogos, sociólogos, etc.)
b) a legitimação: não é consequência automática do
reconhecimento público do problema. Ao contrário, supõe o esforço para
promovê-lo e inseri-lo no campo das preocupações sociais do momento,
c) a pressão: refere-se à capacidade de conseguir jynto às
autoridades competentes, o atendimento de suas reinvindicações, seja através
das ações de grupos específicos ou por seus representantes.
Um exemplo de pressão dos idosos movido junto ao poder público
que obteve êxito, foi o movimento dos aposentados, conhecido como a
mobilização pelos 147% ocorrido em setembro de 1991 no Brasil. Nessa época,
os aposentados se rebelaram contra o aumento concebido para os beneficiários
da Previdência Social que foi apenas de 54,6%, quando o salário mínimo
recebeu um aumento de 147%, conseguindo a equiparação dos índices de
aumento.
Essa atitude do governo em dar um aumento diferenciado dos salários,
mostra o desinteresse com as causas relacionadas aos idosos, através de medidas
claramente discriminatórias.
43
Muitas vezes, o reconhecí mento/legitirnaç ao do direito vem
conj untamente com a pressão da sociedade civil j unto aos políticos.
Infelizmente, os direitos não são obedecidos na forma da lei, sendo
imprescindível a pressão ou negociação política para o cumprimento dos direitos
já assegurados legalmente.
d) a expressão: engloba o surgimento de novos termos que no caso
específico da velhice procuram amenizar os estereótipos negativos a ela
relacionados na nossa sociedade, como a expressão “terceira idade”.
Para tratar dos direitos dos idosos foi promulgada em 1994 a Lei n°
8842 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional
do Idoso e o Decreto N° 1948/96 que a regulamentou.
Infelizmente no Brasil, a existência de leis, decretos e portarias não
garante os direitos dos cidadãos, nem tão pouco direciona os caminhos
políticos a serem trilhados em busca de uma distribuição mais' eficiente e
igualitária dos recursos públicos.
O artigo 3o da referida lei, diz que “ a família, a sociedade e o Estado
têm o dever de asseguraNao idoso os direitos da cidadania, garantindo sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à
vida”.
O atendimento da população idosa requer esforços conjugados nas três
instâncias: familiar, social e estatal a fim de garantir uma melhor qualidade de
vida.
A família deve amparar seus idosos assegurando-lhes a sobrevivência
e um convívio harmonioso e participativo, tratando-os com respeito.
À sociedade cabe não discriminar nem excluir os idosos de direitos
comuns a todo cidadão, como a oportunidade de trabalho, ao lazer, ao
transporte. Fala-se muito em reinserir o idoso na sociedade o que significa
reconhecer que ele se encontra excluído. A reinserção pode ser obtida através
44
do trabalho que não implica, obrigatoriamente, que o mesmo seja forçado a
acompanhar as exigências mais modernas e avançadas do mercado de trabalho,
mas de aproveitar suas potencialidades e experiências anteriores, mantendo-o
atuante e economicamente ativo.
Ao Estado, a função prioritária está na provisão de uma justa
aposentadoria, assistência à saúde e outros serviços formais de atendimento à
população idosa como: asilo, centros de convivência, centros de cuidados
diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho e atendimento domiciliar.
Tais modalidades de assistência são explicitadas de acordo com o
artigo 4o do Decreto N° 1948/96:
I- Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do
idoso, onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas,
culturais, associativas e de educação para a cidadania;
II- Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia- local
destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência
temporária e necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional;
III- Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por
instituições públicas ou privadas, destinada a idosos detentores de renda
insuficiente para sua manutenção e sem família;
IV- Ofícina Abrigada de Trabalho: local destinado ao
desenvolvimento, pelo idoso, de atividades ■ produtivas, proporcionando-lhe
oportunidade de elevar sua renda, sendo regida por mornas-específicas;
V~ Atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só
e seja dependente, a fim de suprir as suas necessidades da vida diária. Esse
serviço é prestado em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou por
pessoas da própria comunidade;
45
VI- Outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria
comunidade, que visem a promoção e à integração da pessoa idosa na família e
na comunidade.
O artigo 3° do Decreto 1948/96 dispõe que “o atendimento asilar é em
regime de internato que deve ser oferecido ao idoso sem vínculo familiar ou
sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas
necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social”.
O inciso IV do artigo 2o do mesmo Decreto reforça que Cié
responsabilidade do Ministério da Previdência e Assistência Social estimular a
criação de formas alternativas de atendimento não-asilar”.
Pelo exposto, podemos perceber que as alternativas para o
atendimento ao idoso nas suas mais variadas formas não são praticadas em
nosso país, restando ainda como o único recurso para o atendimento da
população idosa, o asilo.
O asilo constitui a forma mais comum em nossa sociedade de amparo
aos idosos carentes ou não (asilos particulares- as conhecidas casas de repouso)
que, embora mesmo se encontrando em número crescente em nossa sociedade,
não satisfaz plenamente aos preceitos explicitados pela lei.
Dentre as inúmeras abordagens contidas na Lei 8842/94, o artigo 17
em seu parágrafo único afirma que “o idoso que não tenha meios de prover à sua
própria subsistência, que não tenha família, ou cuja família não tenha condições
de prover a sua manutenção, terá assegurada a assistência asilar, pela União,
peíos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei”.
No artigo 18 do mesmo decreto está explicitado o seguinte: “fica
proibida a permanência em instituições asilares, de caráter social, de idosos
portadores de doenças que exijam assistência médica permanente ou de
assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravai' ou por em risco
sua vida ou a vida de terceiros”.
46
A fiscalização frequente das instituições asilares podería garantir o
cumprimento do seu papel social e assistência! aos idosos desamparados ou
dependentes física e economicamente. O funcionamento arbitrário de
instituições asilares, sem exigência das condições necessárias para a
institucionalização do idoso, traduz o pensamento social de que .a segregação do
idoso é algo natural e inevitável, anulando o sentido da vida anterior.
Segundo a avaliação de Beauvoir (1990, p.339) “não são apenas os
hospitais e os asilos: é toda a sociedade que constitui para os velhos, um grande
morredor”.
O idoso deve, sempre que possível, ser mantido em regime de
externato de modo a não perder o contato com a realidade do mundo externo.
O artigo 9o do decreto n° 1948/96 diz que compete ao Ministério da
Saúde por intermédio da Secretaria de Assistência à Saúde, em articulação com
as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Garantir ao idoso a assistência integral à saúde,-entendida como o
conjunto articulado e continuo de ações e serviços preventivos e curativos, nos
diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde ~ SUS”.
O sistema de saúde de modo geral, seja o federal, estadual ou
municipal encontra-se incapacitado de atender as demandas da população,
oferecendo serviços de má qualidade e com baixa resolutividade.
Nos hospitais e postos de saúde, as filas são intermináveis dificultando
a realização da consulta, seja na área emergencial ou ambulatorial e, não são
raras as noticias de falecimento de pessoas que estavam à espera de
atendimento.
É diante dessa situação que o idoso se depara, e , como não existe um
espaço reconhecido dentro da saúde destinado exclusivamente para o
atendimento do idoso, ocorre uma espécie de disputa enfie as pessoas das mais
diferentes faixas etárias, onde os mais jovens e menos comprometidos, levam
47
vantagem ao se disporem a permanecer horas na fila a fim de disputar uma vaga
para ser atendido.
Devido à aparente ineficiência do sistema de saúde, o idoso doente e
pobre, fica sujeito a procurar o atendimento, como destacam Macedo Filho e
Ramos (1999), em situações agudas ou de morbidade extrema, que nesse último
caso, obriga o idoso a inúmeras idas ao serviço de saúde frente à complexidade
de seus problemas.
Apesar de claramente contido na lei o direito do idoso à saúde, seja na
área preventiva ou curativa, o mesmo encontra-se completamente bloqueado,
devido sobretudo, à inacessibilidade aos serviços de saúde, que funcionam
precariamente frente às necessidades da população como um todo e, no caso
particular dos idosos, demonstram incapacidade em atendê-los de forma
sistemática, ou seja, não contam com um necessário acompanhamento médico
regular da sua condição de saúde para o alcance de um estado funcional mais
saudável na velhice.
Ainda relacionado ao tema saúde, o inciso VIII do artigo 9° do
decreto anteriormente referido, delineia a abrangência desse direito e da
responsabilidade do governo quando afirma a necessidade de “desenvolver e
apoiar programas de prevenção, educação e promoção da saúde do idoso de
forma a:
a) estimular a permanência do idoso na comunidade, junto à família,
desempenhando papel social ativo, com a autonomia e independência que lhe for
própria;
b) estimular o auto-cuidado e o cuidado informal;
c) envolver a população nas ações de promoção da saúde do idoso;
d) estimular a formação de grupos de auto-ajuda, de grupos de
convivência, em integração com outras instituições que atuam no campo social;
e) produzir e difundir material educativo sobre a saúde do idoso.”
A manutenção da saúde do idoso requer o envolvimento da família e
da comunidade, a partir da divulgação dos conhecimentos relacionados ao
envelhecimento, no sentido da adoção de medidas preventivas em saúde. A
valorização de práticas de convivência, de auto-ajuda, buscam o resgate da auto-
estima do idoso aliada a uma maior participação social e autonomia do mesmo,
fatores importantes na obtenção de uma qualidade de vida desejável.
Outro ponto polêmico referente aos direitos da pessoa idosa está
expresso no artigo 11 do mesmo decreto, quando determina que compete “ao
.Ministério do Trabalho, por meio de seus órgãos garantir mecanismos que
impeçam a discriminação do idoso quanto à sua participação no mercado de
trabalho”.
A intensa discriminação sofrida pelos idosos no mercado de trabalho é
alarmante, e, somada à situação calamitosa de desemprego na qual a sociedade
brasileira está mergulhada, toma praticamente impossível a sua inserção no
mercado de trabalho como uma forma de complementar a renda mensal, que, em
muitos casos, inexiste.
Ressalta-se ainda que grande soma dos idosos se mantiveram, quando
ainda tinham a força física, ao longo da vida, às custas do trabalho informal ou
do subemprego, cujo sustento diário, seu e de seus familiares, dependia
exclusivamente do dia trabalhado.
Sobre o desemprego, Forrester (1997, p.125) se posiciona de forma
realista embora bastante preocupante, pois:
o desemprego não atinge basicamente os mais velhos mas, invade hoje todos os níveis de todas as classes sociais, acarretando miséria, insegurança, sentimento de vergonha em razão essencialmente dos descaminhos de uma sociedade que o considera uma exceção à regra geral estabelecida para sempre.
49
A economia cie mercado tende a focalizar um grupo isolado ou área de
interesse momentâneo. As soluções políticas estão voltadas para resultados
imediatos de grupos particulares às custas de outros, gerando desigualdades
entre os grupos.
A melhoria das condições de vida dos idosos estaria ligada à posição
que alcançassem na sociedade e que lhes permitisse oferecer e obter vantagens
econômicas, seja como produtores ou consumidores de bens e serviços. A sua
visibilidade política e social, seu lugar na sociedade, os recursos disponíveis e
condições gerais de vida são determinados pela sociedade que atualmente tem
marginalizado essa população, particularmente nos países menos desenvolvidos,
onde os recursos são escassos e a competição entre os grupos é acirrada
(Restrepo e Rozental, 1994).
Enfim, refletindo sobre a Lei e o seu Decreto de Assistência Social ao
Idoso, podemos concluir que o idoso, como todo cidadão, deve ter resguardado
seu direito à cidadania e não ser visto como uma categoria a parle, nem tão*
pouco ser responsabilizado pelo desequilíbrio social cujo gerenciamento tem se
mostrado inadequado dentro da esfera política.
50
3. DEFININDO O OBJETO DE ESTUDO
A explosão numérica de idosos nas sociedades, de forma universal,
deu origem a uma realidade inesperada e, de certa forma ameaçadora sobretudo
para os países menos desenvolvidos e, portanto, ainda despreparados social e
economicamente para enfrentar os desafios gerados por essa nova realidade
social.
Foi a partir desse aumento quantitativo dos idosos que os países têm
se preocupado com questões sobretudo de ordem social, econômica e de saúde
principalmente, que são fortemente influenciadas pelas novas demandas desse
segmento populacional.
Em nossa sociedade, com grandes desníveis sociais, significativo
contingente de idosos pertence a classes econômicas mais baixas, a maioria de
mulheres e em precárias condições de vida. A maior implicação desse quadro é a
grande dependência do suporte social, crescente demanda pelos serviços de
saúde, além de uma precária qualidade de vida.
Esse quadro, desacordo com levantamentos sobre as condições de vida
dos idosos, tanto em trabalhos nacionais (Veras, 1994; Debert, 1999) quanto
internacionais (Creecy et aL, 1985), predomina entre as mulheres idosas, que
além de representarem a maioria da população idosa, são mais propensas a se
tomarem viúvas, possuírem renda reduzida e estarem mais predisponentes à
saúde frágil e a institucionalização.
Além da diferença de gênero na investigação da velhice, Debert
(1999) aponta a problemática das classes sociais que praticamente, vem a ser o
que de modo geral delimita as condições de vida das pessoas, ou seja, a
heterogeneidade das experiências, mesmo partindo de uma categoria
homogeneizadora, como é o caso da velhice.
5 l
Para os menos favorecidos economicamente que, ao longo da vida
atravessaram inúmeras dificuldades, a velhice pode ser encarada como fardo
diante da fragilidade física e psicológica que se encontram, aliada ainda, a uma
organização social estratificadora, cujos valores vigentes não permitem a
visibilidade de um grupo minoritário e tido socialmente como excluído.
A compreensão do fenômeno do envelhecimento em nossa sociedade
deveria englobar a apreensão de seu significado cultural, e não simplesmente se
deter na descrição de sua extensão e de suas manifestações, o que leva a eclosão
de mecanismos fortemente racionais para lidar com as suas manifestações.
Consequentemente, os problemas dessa fase tardia da vida são tratados com
cientificidade, mas com deficiência de conhecimento de sua amplitude e
significação política e existencial (Moody, 1988).
No entanto, o avanço da idade deve ser analisado com maior
profundidade através das experiências subjetivas das situações coletivas da vida
grupai.
Dentre as novas experiências advindas do processo de
envelhecimento, nos deparamos com o ingresso do idoso na instituição asilar,
que independente das diferentes causas que influenciaram sua
institucionalização, se depara com um mundo totalmente diferente do anterior e
que é capaz pela interiorização e assimilação da experiência, de julgá-la dentro
de seu contexto sócio-cultural e histórico.
Para Rubensein e Nasr (1996), as taxas de institucionalização não
dependem somente da estrutura etária ou desenvolvimento de um país, mas é
influenciada forte mente por fatores culturais, pela existência e qualidade do
suporte social informal, digo, família, amigos ou comunidade, e formal como a
disponibilidade de modalidades alternativas de assistência , serviço de saúde
voltado para os problemas dos idosos, sistemas eficientes de seguridade social e
por profissionais especializados.
52
À medida que a população envelhece aumenta a demanda por
instituições de longa permanência para idoso . Nos países da Europa, a
freqüência de institucionalização está diretamente relacionada ao avanço da
idade, onde a maioria dos asilados possui idade superior a 80 anos (Havens,
1997). A perda da independência pelo idoso é considerada como um ponto
crucial para a sua institucionalização.
Na Inglaterra, estima-se que 1/3 dos idosos institucionalizados
poderíam ser mantidos em casa por serem física e mentalmente capacitados para
tal, a custos muito menores para o Estado (Brocklehurst, 1993).
Os estudos que abordam os aspectos relacionados com a
institucionalização dos idosos no Brasil são pouco sistematizados e, as análises
têm servido apenas, para uma reflexão de grupos interessados no assunto, sem,
contudo, conduzir a uma ação ampla transformadora da prática de atendimento
asilar para o idoso no país.
Os problemas médicos (doenças físicas ou mentais) e sociais*
(abandono, pobreza) são os responsáveis pela institucionalização dos idosos. O
número de idosos institucionalizados não tende a ser maior pela suboferta de
vagas nos asilos mais do que as condições favoráveis de saúde e suporte social
(Chaimowicz e Greco, 1999), nas quais se enquadra uma pequena parcela dos
idosos da comunidade.
Alguns levantamentos nacionais são congruentes em afirmar a
pequena proporção de idosos institucionalizados em relação ao número total de
idosos. O estudo de Chaimowicz e Greco (1999) sobre a dinâmica da
institucionalização de idosos em Belo Horizonte, revelou os seguintes dados: na
faixa etária de 60 anos ou mais, 0,46% residiam em asilos (mulheres: 0,65%;
homens: 0,19%). Na faixa etária de 65 anos ou mais a proporção aumentava
para 0,64%, sendo 0,88% de mulheres e 0,26% de homens.
Portanto, quase a totalidade dos nossos idosos permanecem na
comunidade o que não significa que esse número se estabilize ou regrida nos
próximos anos. Pelo contrário, as estimativas apontam para uma crescente
demanda por asilos nas próximas décadas.
Nos países mais desenvolvidos, a percentagem de idosos vivendo em
asilos variou, dentre alguns levantamentos, de 4% a 11% do número de idosos
(Havens, 1997), Dessa forma, a grande maioria ainda permanece vivendo na
comunidade sendo garantida a assistência social e médica contando com o
atendimento domiciliar para os idosos dependentes, auxilio técnico e financeiro
para adaptações arquitetônicas, fornecimento de refeições e cuidados de
enfermagem.
Vale lembrar que tais serviços são cobertos pelos planos de saúde ou
são custeados pelo próprio idoso, de forma particular. O governo, mesmo dos
países ricos está despreparado para arcar com as despesas 'integralmente,
onerando pesadamente a economia desses países.■st
O que se dirá em relação ao Brasil? É sobretudo na área social que os
cortes das verbas sãodrásticos, sendo que os argumentos de economia e contenção de despesas não condizem com a prática política. É comum em nosso
país, o desvio frequente dos recursos públicos para fins particulares, parecendo
não haver interesse na implementação de um plano de prioridadades objetivando
o desenvolvimento econômico e o alcance da justiça social para todos.
O povo cada vez mais empobrecido e sem força política, pouco pode
esperar das ações governamentais para a garantia, sem perspectivas concretas,
de uma vida digna e, sobretudo, assistida na velhice, recaindo sobre a família,
também despreparada, a total responsabilidade de cuidar de seus idosos.
Nesse ponto, vê-se que para os idosos pobres, sozinhos e com uma
família economicamente instável, a única opção para se sustentarem são os
asilos, também pobres e carentes de toda sorte de recursos, sejam materiais e
54
humanos. Embora em condições precárias, são capazes de prestar a mínima
assistência para a garantia da sobrevivência dos que al:i estão. Os problemas dos
idosos agravam-se com a falta de aparato institucional para atender as
necessidades sociais e não simplesmente a de alimentação e moradia.
Berquó (1996) assinala que os fatores de risco para a
institucionalização são: morar só, suporte social precário e baixa renda associada
à viuvez, aposentadoria, menor oportunidade de empregos formais e estáveis e
aumento dos gastos com a própria saúde. Condições essas cada vez mais
frequentes na população brasileira, além da maior longevidade e dependência
entre as mulheres.
Os poucos levantamentos sobre as condições de vida nos asilos
realizados no Brasil, apesar de mostrarem a inexistência de uma infraestrutura
adequada, ou seja, não apenas relacionada à estrutura física do estabelecimento,
mas também, às relações sociais, ocupaciouais, de lazer e afetivas praticadas,
carecem de investigações mais aprofundadas para subsidiar ações que busquem
a satisfação desses residentes ou até mesmo como forma de estimular práticas
alternativas de atendimento da população idosa, especialmente a carente, como
um direito a ser cobrado pela sociedade e um dever do Estado, como também da
própria sociedade.
Retomando os dados do estudo dos asilos da cidade de Belo Horizonte
levantados por Chaimowicz e Greco (1999), um quarto dos asilos abriga número
de residentes maior que a capacidade total, fato que pode comprometer ainda
mais a qualidade da assistência. Mesmo sendo a única opção para os idosos
despossuídos, o número de asilos ainda é insuficiente para atender a demanda, o
que justificaria indiretamente a baixa proporção de idosos institucionalizados.
Referimo-nos sempre aos asilos públicos e/ou filantrópicos, os quais possuem
uma estrutura administrativa semelhante e cuja problemática principal é a
carência de recursos financeiros.
55
Sabe-se que o asilamento pode representar, em muitos casos, uma
ameaça ao equilíbrio biopsicossocial do idoso, devido à redução da capacidade
adaptativa das pessoas idosas às novas situações, bem como, ao novo regime de
enquadramento de vida dentro dos moldes de uma instituição total1.
1 instituição lotai segundo a definição cilada por Louzà et al (1986), são lugares enclausurados, recortados no (empo c espaço sociais . submetidos a normas imperativas de hierarquia, ordem e disciplina.
Ainda do estudo já referido anteriormente, um dado chama a atenção
quando o autor aponta ser a institucionalização uma questão feminina,
correspondendo a 81,1% da população dos asilos. Do total de idosas no
município de Belo Horizonte, 0,88% reside em asilos, mais que o triplo da
população de idosos (0,26%). Tal fato relaciona-se ao número,
desproporcional mente maior entre as mulheres de serem viúvas, solteiras ou
separadas (66,0%), enquanto a grande maioria dos homens (76,3%) encontrava-
se casada ou residia com uma companheira (Chaimowicz e Greco, 1999).
Tomando como objeto de estudo as mulheres idosas
institucionalizadas, é importante ressaltar que o sentido da velhice per si está
fundado numa base distinta entre os sexos. Segundo Barros (1998), para o
homem que envelhece a maior atenção é dada à mudança de vida decorrente da
aposentadoria - uma passagem de um mundo amplo e público para um mundo
doméstico e restrito. Para a mulher, a velhice não se associa a essa mudança
abrupta, quando descreve que:
A mulher na velhice está no último estágio de um continuum sempre ligado à esfera doméstica, não só porque a grande maioria não teve uma vida profissional ativa, como também é a este mundo interno do lar, da família e da casa que a mulher está ideologicamente vinculada (Barros,! 998, p.ri4).
56
O interesse do presente estudo recai sobre a situação asilar de idosas,
considerando a importância do gênero nessa ’ investigação uma vez que a
adaptação a essa nova condição de vida, na maioria das vezes não se faz sem
conflitos, o choque é particularmente violento entre as mulheres, ligadas, ainda
mais que os homens, à esfera domiciliar.
Essa problemática se reveste de maior gravidade quando se coloca na
instituição asilar pessoas idosas em perfeitas condições de raciocínio,
discernimento, entendimento, relacionamento, além de fisicamente capazes, cujo
afastamento do convívio de amigos e/ou familiares podem tomá-las mais
dificilmente ajustadas a uma vida institucional.
Sobre isso, Chaimowicz e Grecco (1999, p.455) fazem a seguinte
referência: “A internação definitiva de idosos com baixos níveis de dependência
é o paradigma de um modelo anacrônico de assistência já abandonado em
diversos países, e em muito similar ao tratamento psiquiátrico Hianicomial2”.
Salgado (1982) já considerava que o asilamento do idoso saudável é uma forma
de anulação do conhecimento científico para o tratamento dos problemas
humanos. Ele isola o indivíduo do seu meio social e o mantém erroneamente
segregado do convívio com os demais segmentos da sociedade, como se aos
velhos, bastassem os velhos.
Com a reforma psiquiátrica ocorrida no início da década de 90 a prática de desospitalização dos doentes mentais foi um marco importante para uma assistência mais humanizada bem como a demonstração de uma maior sensibilização social para esse problema.
Ainda nesse mesmo sentido, Ferreira e Musse (1985) reforçam que as
pessoas idosas, desde que auto suficientes e possuidoras de condições de
sanidade física e mental, merecem o direito de viverem livremente, integrados e
nunca entre muros, ou num mundo restrito, isolado.
Na Dinamarca desde 1981 pela promulgação da Lei de Assistência a
Comunidade, impediu-se de maneira pioneira, a prática de confinar os idosos em
asilos. Para isso, o Estado foi capaz, conjuntamente com a sociedade, de adotar
57
outras medidas de assistência social consideradas mais eficazes no resgate e
manutenção da dignidade dos idosos (Fustinoni,1993).
A importância da análise da realidade asilar baseada no discurso e na
observação desses atores sociais perante seu modo de vida, nos conduz ao
seguinte questionamento: Seria o enfraquecimento ou a perda dos vínculos
familiares e/ou sociais que ocorre com a institucionalização, responsável por
uma existência sem significado para essas idosas ?
Um levantamento realizado na cidade de São Paulo em asilos
filantrópicos e particulares revelou que alguns idosos são vítimas da absoluta
falta de parentes ou da perda de vínculo com a família, mas que, a maioria vem
de famílias bem constituídas, tem filhos, netos, irmãos e irmãs (Leite, 1999).
O fato do idoso encontrar-se asilado resulta num sentido fortemente
discriminatório, somando-se aos estereótipos negativos dispensados aos idosos
pela sociedade contemporânea, tais como: dependência, pobteza, doença,
abandono, rejeição familiar e social, traduzida pela transferência da vida
domiciliar para a institucional a fim de passarem o resto dos seus dias num
espaço de segregação, como se o prolongamento da vida representasse uma
ameaça para o equilíbrio social e familiar.
Nesse sentido, Norberto Bobbio, pensador político italiano, resumiu
de forma vivida como muitos experimentam o fenômeno moderno da extensão
da velhice: um prolongamento da vida que merece cada vez menos esse nome
(Leite, 1999).
O destaque específico acerca da situação feminina na velhice levou a
desvendar o cotidiano das idosas institucionalizadas numa situação nunca
dantes delineada em seus pensamentos. Essa nova experiência impregna o
sentimento de cada idosa sobre o sentido que adquire sua vida num processo
constante de comparações entre o passado e o presente, influenciadas pelos
valores apreendidos com a convivência social, que são explicitados através das
59
4. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO OPÇÃO
TEÓRICA
O estudo do envelhecimento para ser compreendido na sua plenitude,
deve ir além do aspecto biológico e psicológico do ser que envelhece, devendo
considerar a interação desse indivíduo com a sociedade.
Valorizando a relevância do aspecto sociocultural do envelhecimento,
percebemos a pertinência do embasamento teórico fundado na Teoria das
Representações Sociais, cujo marco foi a publicação em 1961, pelo psicólogo
social francês Serge Moscovici da obra intitulada La psychanalyse, son image et
son publia
A característica inovadora dessa teoria foi mostrar a importância da
relação entre o indivíduo e a sociedade, descaracterizando o saber vigente de
polarização entre o indivíduo (individualismo) e a sociedade (sociologismo).
Não deve haver a redução do indivíduo ou da sociedade, um ao outro.
Fica retratada assim, uma forma sociológica de psicologia social em
detrimento das formas psicológicas que são predominantes nos Estados Unidos.
A Teoria das Representações Sociais amplia o ponto de vista
reducionista dos psicólogos sociais ao valorizar a relação entre o sujeito e a
sociedade, onde o sujeito, através de sua atividade e relação, constrói tanto o
mundo quanto a si próprio (Jovchelovitch, 1995).
Numa sociedade dinâmica como a atual, a compreensão da realidade
cheia de pluralismos é complexa e, portanto, houve a necessidade da utilização
de uma teoria mais flexível que pudesse abarcar o sentido de produção
/circulação /manutenção ou mudança dos conhecimentos, incluindo, como
coloca Spink (1993) as condições sócio-históricas que os engendraram
conjuntamente com sua elaboração cognitiva; e a funcionalidade destes
conhecimentos na instauração ou permanência das práticas sociais.
60
A questão social do envelhecimento se reveste de extrema importância
pelo alcance que possui em desvendar a ideologia3 e a atitude prática da
sociedade em relação ao idoso (Beauvoir,1990). Cada sociedade cria seus
próprios valores, sendo a velhice também encarada como um fato cultural, ou
seja é construída socioculturalmente.
Inspirando-se no termo Representações Coletivas proposto por
Durkhein, Moscovici (1978, p.26) cunhou o nome de sua nova teoria como das
Representações Sociais cujo sentido pode ser compreendido como “uma
modalidade específica de conhecimento que tem por função a elaboração de
comportamentos e a comunicação entre indivíduos7'.
A nova perspectiva de Moscovici se adequa a uma sociedade mutante,
que possui dinamicidade e historicidadde, enquanto o modelo de sociedade de
Durkheim era estático e tradicional, de dimensão mais cristalizada e estruturada,
próprio das sociedade mais primitivas onde as mudanças se processavam
lentamente. Há uma grande aproximação entre o conceito de representação
coletiva e cultura (Guareschi, 1995), cujas informações são repassadas ou
raramente transformada<com o tempo.
A produção de representações sociais não é uma prática cognitiva
intra-individual, é resultante da interação social que se dá principalmente através
da linguagem (verbal, icônica ou gestual) e representa a consciência
compartilhada socialmente (Spink,1996).
Os indivíduos estão inseridos numa sociedade pensante e por isso,
não devem ser considerados como simples portadores de ideologias ou crenças
coletivas, mas pensadores ativos que produzem e comunicam constantemente
suas próprias representações e soluções específicas para as questões com as
quais se deparam (Pereira de Sá, 1993).
1 Moscovici (1978) definiu ideologia como um conjunto dc representações que se torna partilhado colctivamentc pela rcificaçíio por meio da sua apropriação por órgãos estatais ou escolas dc pensamento c não pelo consenso c interação, subordinando o segundo ao primeiro.
61
Sobre isso, Jovchelovitch (1995) assinala que as representações
sociais vão além do trabalho individual do psiquismo e emergem com um
fenômeno unido, obrigatoriamente à matriz social. Isso quer dizer que o social
envolve uma dinâmica que é diferente de um agregado de indivíduos.
O indivíduo, sendo primariamente considerado como um ser social
traz em sua consciência as idéias circulantes em seu meio que podem sofrer
modificações ao longo do tempo ou do espaço observado. Moscovici salienta, na
Teoria das Representações Sociais, a noção de que o conhecimento social é
fluido, ou seja, novas informações são adicionadas e os conteúdos anteriormente
compartilhados podem ter seus sentidos modificados.
Não significa, porém, que os sujeitos sociais pensam numa mesma
direção, sem conflitos ou discordâncias. Mas, segundo Spink (1995), as
representações podem ser entendidas como uma estrutura cujos núcleos são
compartilhados e de conteúdo mais estável, caracterizando a natureza social das
representações, e que sua periferia retrataria a singularidade dos sistemas* cognitivos individuais e estaria aberta à novidade e a mudança.
As representações sociais podem divergir de acordo com as condições
sociais existentes, em grupos ou sociedades distintas. A interpretação ou as
representações de um mesmo objeto social podem ser distintas dentro de
diferentes grupos, classificados segundo alguns parâmetros de identificação
como idade, nível sócio-econômico, escolaridade, raça, sexo, religião, etc.
A idéia que se tem da realidade, guia as percepções e inferências
construídas a partir dela junto com as relações sociais, ditadas por um sistema de
representações sociais ( Guareschi, 1995).
Na visão de Moscovici (1978), as representações sociais são conjuntos
de conceitos, afirmações e explicações oriundas do senso comum, ciências
coletivas sui generis pelas quais se procede à interpretação e mesmo à
construção de realidades sociais.
62
Foi com a elaboração da Teoria das Representações Sociais de
Moscovici que o pensamento das massas, chamado de senso comum adquiriu
uma'nova conotação como um conhecimento legítimo, atribuindo uma lógica a
esse conhecimento, antes tido corno confuso, inconsistente, desarticulado,
fragmentado e oposto ao conhecimento científico.
Moscovici ressalta que não existe hierarquia entre os diversos tipos
de saber (filosofia, mitologia, teologia, ciência, etc.) e as representações sociais,
que são diferentes pelos modos de elaboração e funções a que se destina cada
um. Todos possuem sua sua validade e utilidade.
De forma sintética, Jodelet (1989, p.36), principal colaboradora e
continuadora do trabalho de Moscovici, definiu representações sociais como
sendo uma forma de conhecimento, socialmente partilhada, tendo uma visão
prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social.
A circulação e divulgação das representações se dão pela linguagem,
nos discursos, comportamentos e atitudes das pessoas, meios de comunicação de
massa, documentos, rBgistros que mantém tais representações ou as
transformam, dependendo do contexto social vigente (Jodelet, 1984).
Claramente observamos a dimensão cognitiva da teoria enquanto
forma de conhecimento prático construído socialmente. Mas, está atrelada
também à dimensão do imaginário e do afetivo, permitindo entender a
participação do emocional no processo de produção das representações e
superando a dicotomia entre cognição e emoção (Sawaia, 1993).
Conhecer como as idosas vi venciam o asilo através de seu
conhecimento fundado na experiência cotidiana expressado pela linguagem, nos
remete a Teoria das Representações Sociais como suporte teórico para esse
estudo.
63
Moscovici (1984, p.53) faz um destaque especial para a conversação,
como mediador social, dizendo que ela está nò epicentro do nosso universo
consensual porque ela molda e anima as Representações Sociais e assim lhes dá
vida própria.
A. comunicação interpessoal é um veículo imprescindível para a
formação das representações sociais que tornam a realidade compreensível
através de um pensamento lógico que vai constituir a visão de mundo para uma
determinada coletividade.
A linguagem funciona, pois, como ponte entre o sujeito e o
mundo/objeto que está sendo representado. É através dela que o sujeito
representa o mundo do qual faz parte, familiariza-se e modifica a sua realidade.
Em síntese, Moscovici (1988) define as representações sociais como
modalidades do conhecimento que circulam no dia-a-dia e que têm como função
a comunicação entre indivíduos, criando informações e nos familiarizando com
o estranho, de acordo com categorias de nossa cultura, por meio de dois*
processos: a ancoragem e a objetivação.
Ancorar é o "processo de assimilação de novas informações a um
conteúdo cognitivo pré-existente. O caráter criador do que é novo entra em
contato com as modalidades de pensamento mais antigas, interpenetrando-se e
transformando o objeto em saber útil que tem uma função na tradução e na
compreensão do mundo.
A objetivação é a transformação de um conceito abstrato em algo
palpável, concreto, visível, uma imagem ou um núcleo figurativo. Significa
também, transplantar para o nível da observação o que não fora senão inferência
ou símbolo (Moscovici, 1978).
Doise (1992) ponderou, de forma bastante interessante, que os dois
processos, de ancoragem e objetivação, são opostos na sua dinâmica uma vez
que objetivar visa criar as verdades evidentes para todos e independentes de
64
todo determinismo social e psicológico, enquanto ancorar designa, ao contrário,
a intervenção de tais detenninismos na sua gênese e transformação.
Moscovici (1978) ressalta que o objeto-.social pode ser apreendido
pelo grupo em termos abstratos ou concretos, configurando uma imagem “ideal”
ou “real” que o grupo tem dele. E, a apreensão do real pelos sujeitos não se dá
de forma direta em suas consciências. Ela é mediada pela sua capacidade de
inventar, criar, de evocar imagens e símbolos, de atribuir significados, de
reapresentar.
Portanto, o dado externo não é único e acabado, mas sujeito à
liberdade da atividade mental, projetado num espaço simbólico ou imaginário, e
socializado através da comunicação, dentro de um determinado contexto sócio-
cultural.
O salto do imaginário para o real pode ser percebido quando
comparamos as definições dentro da sociologia do imaginário como algo que
existe somente na imaginação, sem realidade concreta. Neste sentido, se
aproxima das noções de ilusório, irreal, fictício, falso, inventado, absurdo,
utópico (Dicionário de Ciências Sociais, p.574), Enquanto o real, qualifica o que
é dado, o que existe efetivamente. Consequentemente, opoe-se por um lado ao
que é aparente e ilusório e por outro, ao que é abstrato, conceituai ou inteligível
na medida em que requer uma existência de fato fornecida pela experiência
(Durozoí e Roussel, 1993).
Todos nós podemos trazer no imaginário inúmeras realidades sociais
sem termos propriamente as vivenciado, e que são construídas no decurso da
vida cotidiana. As noções e imagens partilhadas pelos membros de um grupo,
embora expressem sua visão de realidade, estariam dentro de um modelo
assimilado, ensinado, comunicado e repartido. A tradução do fenômeno toma-
se mais real à medida que é experimentado.
65
Portanto, partindo do enfoque do parágrafo anterior, as representações
sociais da vida asilar significa, para as idosas, uma situação particular e concreta
fundada nas práticas cotidianas do asilo, mesmo- que tragam no imaginário
conceitos abstratos que articulam valores, preconceitos, necessidades,
sentimentos e pensamentos, nos permitem compreender seus comportamentos e
atitudes, bem como o tratamento dispensado a esse grupo específico. E, ainda,
de modo mais abrangente, a retratação dessa realidade pode servir de subsídio
para a elaboração de ações políticas voltadas para o bem-estar dos idosos na
nossa sociedade.
Tomando a realidade das idosas no asilo como um problema de
investigação psicossocial, a pertinência da Teoria da Representação Social
(Moscovici, 1978) na elucidação da sua visão de mundo relacionada ao
respectivo contexto institucional, mostra-se bastante clara. A análise de como
representam certos aspectos dessa realidade levantada para investigação, foi
apoiada principalmente na linguagem dos sujeitos participantes selecionados
para o estudo.
Jodelet (1984J, enfatiza que as representações são veiculadas
basicamente pelos discursos das pessoas e grupos que mantêm tais
representações, como também pelos comportamentos e práticas sociais
manifestados,
O sujeito, enquanto elaborador de representações sociais é antes de
tudo um sujeito social, que como explica Jodelet (1984, p.36)
... não é um indivíduo isolado que é tomado em consideração, mas sim as respostas individuais enquanto manifestações de tendências do grupo de pertença ou de afiliação no qual os indivíduos participam.
E pois, a partir da contextualização dos indivíduos portadores de uma
história pessoal influenciados pelas condições sociais presentes, que as
66
representações são construídas e transformadas no tempo e no espaço (Spink,
1995).
As representações formuladas têm influência na vida cotidiana, ou
seja, os comportamentos adotados no seu modo de vida asilar são resultantes de
como essas idosas representam sua velhice e sua condição atual, uma vez que as
três funções fundamentais das representações estão assentadas na incorporação
do estranho ou do novo, na interpretação da realidade e na orientação dos
comportamentos.
Acreditamos que o aprofundamento da questão da institucionalização
de idosos, ou seja, os significados atribuídos à essa nova condição de vida, sob a
ótica das idosas institucionalizadas, influenciada pelo contexto sócio-cultural
vigente, pode ser conduzido através da Teoria das Representações Sociais.
67
5. CAMINHAR METODOLÓGICO
Esta pesquisa de cunho descritivo foi âpoiada na Teoria das Repre
sentações Sociais de Serge Moscovici, uma vez que buscou-se apreender as
representações que as idosas elaboram da sua realidade asilar. Através da lin
guagem, atitudes, julgamentos de valores e do imaginário desse grupo específi
co, chegamos à retratação do senso comum pela descrição da experiência desses
atores sociais em relação à velhice e o asilamento.
Diante disso, o estudo foi desenvolvido dentro da linha qualitativa, ca
racterizada por Minayo (1993, p. 102), como sendo um
...tipo de investimento que abrange crenças, percepções, sentimentos e valores dos sujeitos sociais. Permite compreender com abrangência e significação a realidade de um grupo social, uma instituição, organização produtiva ou representação...
E, portanto, através do processo de interação social que as idosas con
frontam as informaçõesxireulantes no presente com o seu passado sedimentado
na sua história de vida pessoal e social e que vão influenciar na produção das
representações sociais do seu grupo de pertença.
5.1. LOCAL DA PESQUISA
A instituição escolhida está localizada na cidade de Fortaleza, E a
maior e mais antiga entidade de assistência ao idoso do Estado, fundada em
1905, com uma capacidade de atendimento para 300 idosos. E uma associação
civil, sem fms lucrativos, tendo na sua constituição um número ilimitado de só
cios.
68
É reconhecida como de utilidade publica pelos poderes federal e esta
dual. A proposta básica da entidade é prestar assistência e amparo às pessoas
idosas de ambos os sexos, de acordo com as modernas concepções de geriatria e
gerontologia. Procura garantir o amparo e assistência nos níveis de saúde e soci
al a idosos que estejam em situação de abandono ou sem nenhuma condição de
sobrevivência.
A entidade teve seu marco histórico em 1977, quando realizou seu
primeiro contrato com o então Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
para assistir 286 idosos, ocasião em que começou a reestruturar-se com melhori
as do espaço físico e de suas instalações, passando em 1979 a firmar convênio
com a Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), com a qual trabalhou
até 1995, prestando assistência integral a 300 idosos.
Na atualidade, a Fundação de Ação Social do Governo do Estado re
passa os recursos do MPAS (Ministério da Previdência e Assistência Social)
para manutenção do convênio aos residentes que eram anteriormente assistidos
pela LBA.
Em face do agravamento da crise pela qual está passando, houve redu
ção em tomo de 20%, ao longo de 1999, do contingente de idosos assistidos. A
demanda reprimida é em média 37 casos/mês.
A verba pública (federal e estadual) destinada à instituição atende de
maneira marginal os gastos necessários para uma assistência integral digna ao
idoso, fato que precipita crises econômicas frequentes, transpondo para a socie
dade a responsabilidade, não assumida de forma eficaz pelo poder público, de
angariar verbas para resolver tal situação.
A administração do asilo é feita por uma diretoria composta por seis
membros e conselho fiscal, todos voluntários. O número total de funcionários é
91. A instituição pode contar com o trabalho e dedicação de uma equipe rnulti-
69
profissional, composta por duas assistente sociais, duas enfermeiras, duas fisio
terapeutas, uma médica, uma nutricionista e uma terapeuta ocupacional.
A equipe de enfermagem conta com 23 componentes, sendo 02 (duas)
enfermeiras - uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. A noite fica sem
enfermeira, mas a mesma se dispõe a comparecer à instituição, caso sua presen
ça se faça necessária. São 09 (nove) auxiliares de enfermagem e 12 (doze) aten-
dentes.
O perfil dos idosos asilados (total de 250) na instituição acima referida
tem as seguintes características esclarecedoras de aspectos importantes para o
conhecimento da clientela do estudo: 53% eram do sexo feminino; 70% dos ido
sos eram solteiros ou viúvos; 62% estavam incluídos na faixa etária de 61 a 80
anos; 48% analfabetos e 52% alfabetizados (considerou-se como alfabetizados
os que reconheciam as letras e escreviam pelo menos o nome); 46% residiam
anteriomente a sua institucionalização com familiares, 18% viviam sozinhos e
14% com conhecidos. Os considerados mendigos, isto é, que viviam pelas ruas
eram apenas 4%. Os que mantém algum contato com a família ou conhecidos,
pelo menos de 3/3 meses ou mesmo anualmente, somam 49% dos idosos. Das
principais causas para o internamento desses idosos destacou-se: a impossibili
dade de assistência pelos familiares (42%); por iniciativa própria (28%) e pela
inexistência de familiares e abandono (30%). 77% dos idosos eram provenien
tes do interior ou de outros estados. 93% da clientela estão na categoria de con-
veniados, não pagantes, ou melhor, contribuem com 70% do valor de sua apo
sentadoria para o asilo (82% dos idosos internados são aposentados, sendo quase
a totalidade com um salário mínimo). 18 idosos (7%) pagam para residirem no
asilo. 50% são completamente independentes e 50% apresentam diferentes graus
de dependência da assistência de enfermagem (dados retirados do relatório anual
da instituição referente ao ano 2000).
70
5.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra foi constituída de doze idosas com idade mínima de 60 e
máxima de 97 anos. Partindo-se da premissa que as representações sociais vari
am de acordo com a cultura, tempo e lugar (historicidade) e dentro de grupos
distintos de uma mesma sociedade, considerou-se como condições para garantir
maior homogeneidade da amostra estudada os seguintes critérios de inclusão:
Ter idade mínima de 60 anos, tida como marco que delimita a ve
lhice segundo a OMS para os países em desenvolvimento. A idade máxima não
foi estipulada, devendo a idosa estar em perfeitas condições cognitivas para
prestar as informações necessárias;
Ser do sexo feminino, uma vez que o modo de se conceber a velhi
ce apresenta-se bastante distinto com relação ao sexo, e é, portanto, extrema
mente importante incorporar na análise os aspectos relacionados ao gênero
como identidário do grupo de mulheres asiladas e que participa fortemente no
embasamento da construção das representações de aspectos relacionados ao en
velhecimento;
>- Pertencer a classe econômica menos favorecida, pois a posição so
cial confere um modo diferenciado de experienciar os acontecimentos da vida.
As idosas residentes na instituição são majoritariamente pobres;
Residir no asilo por período superior há três meses. Acreditamos
que esse período seja necessário para a adaptação ao novo meio social e que,
passado o impacto do asilamento, as mesmas possam elaborar com mais clareza
as representações nas esferas cognitiva, afetiva e de ação prática do seu novo
cotidiano;
Serem independentes em relação ao seu auto-cuidado, ou seja,
manterem as condições físicas e mentais mínimas necessárias para, ainda, de
sempenharem papel familiar/social fora da instituição asilar.
71
5.3. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente, o projeto de pesquisa fo.i apreciado e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (COM.EPE) do complexo hospitalar da Universi
dade Federal do Ceará - (em anexo-1), baseado nas resoluções de n° 196 de 10
de outubro de 1996 e n° 251 de 07 de agosto de 1997, que delimitam as diretri
zes e normas regulamentadoras para as pesquisas envolvendo seres humanos.
Dirigi-me, então, à instituição asilar escolhida para explicar os objeti
vos da pesquisa junto à direção, da qual obtive o consentimento assinado para
executar o trabalho proposto. Às informantes, no caso, as idosas asiladas, tam
bém foi explanado o propósito da pesquisa, das quais obtive a assinatura de mn
termo de consentimento (anexo 2) para participarem da pesquisa com a garan
tia do anonimato das declarações fornecidas e o livre arbítrio para desistirem do
estudo, caso desejassem.
As técnicas utilizadas para a coleta de dados, realizada durante o pri-
meiro semestre do ano de 2000, foram: a entrevista semi-estruturada com ques
tões abertas para obtenção de respostas com maior profundidade, valorizando as
informações de caráter cognitivo e principalmente afetivo, e a observação sim
ples, com o propósito de compreender contextualmentede o conteúdo das decla
rações das idosas confrontando com o seu comportamento e as atitudes adotadas
no asilo.
Anteriormente á coleta propriamente dita mediante entrevista com os
sujeitos sociais, realizei visitas sistemáticas á instituição asilar para uma apro
ximação informal com as idosas e para urna observação da dinâmica social no
asilo, sobretudo em relação ao comportamento dos residentes e dos funcionários.
A interação, junto á informante, realizou-se de forma gradativa à medida que
meu rosto ia se tomando familiar no ambiente.
72
Conversas sem o interesse a priori de elucidar o objeto de estudo, fo
ram estimuladas para que se criasse uma atmosfera de confiança, amizade para
uma'maior fidedignidade dos dados colhidos. Essa fase durou aproxi madamente
dois meses, numa frequência de duas visitas semanais.
A carência de atenção ou disponibilidade de alguém para conversar
com as idosas era tamanha que quando da minha chegada a instituição as já co
nhecidas iam ao meu encontro solicitar um tempinho para elas.
Com a expansão do círculo de conhecidas, o tempo de visitação se
tornara insuficiente para dar a atenção requerida por elas. A partir daí, uma con
versa individualizada foi acertada com cada uma, quando explanei os objetivos
da pesquisa e obtive o consentimento das idosas em fazerem parte do estudo. As
entrevistas foram gravadas em fita cassete e depois transcritas na íntegra para
posterior análise.
Manzini (1991, p. 151) relata que
*... a entrevista é uma forma de coleta de dados mais ade- quadg na produção de dados, quando a natureza destes são informações que estão registradas na memória ou no pensamento das pessoas...
Portanto, um roteiro com perguntas abertas foi elaborado para nortear
a entrevista permitindo que o entrevistado falasse livremente, sem o rigor de
uma ordem pré-fixada das questões. Os temas eram introduzidos conforme a
fluência do diálogo, atentando que as mesmas questões fossem indagadas a to
das. O número de participantes da amostra foi delimitado pela saturação do
conteúdo emergido, restringindo-se a 12 sujeitos.
O roteiro de entrevista (anexo-3) constou de dados de identificação
(idade, procedência, tempo de institucionalização, estado civil, ocupação e ren
da), razões para o internamento, sentimentos acerca de viver asilado, as implica
ções do asilamento para a vida do idoso, aspectos da vida institucional ( relacio
73
namento entre as idosas e destas com os funcionários, rotina, atividades, trata
mento e condições de atendimento das necessidades das idosas), o significado de
ser velho na nossa sociedade e as esperanças que alimentavam na sua vida atual.
O tempo de duração das entrevistas variou de 40 a 90 minutos, depen
dendo da característica individual de cada entrevistada. Umas faziam suas de
clarações de forma mais livre discorrendo detalhadamente sua história de vida,
enquanto para outras, a conversação foi desenvolvida a partir das respostas mais
diretivas às perguntas do roteiro.
A entrevista era realizada em locais reservados, geralmente no quarto
da idosa ou em outro local sem a presença de outras pessoas para que não hou
vesse inibição das participantes e para facilitar sua exposição sobre o tema de
investigação. Com todo esse cuidado, houve algumas situações em que pude
perceber alguns incovenientes pela proximidade de outras pessoas, como a ne
cessidade de interrompê-la. Para resgatar o sentido verdadeiro a mesma questão
era colocada novamente no transcorrer da entrevista como forma de checar a
informação anteriormente fornecida.
Para Meyerhoff (1978; p.195), os conteúdos podem ficar incompleta
mente evidenciados uma vez que
... as pessoas não verbalizam a totalidade de sua apreensão dos símbolos porque grande parte dos seus significados não é consciente. Inevitalmente, então, ocorrem brancos nos questionamentos, e finalmente o investigador deve ter responsabilidade sobre as inferências sobre essas lacunas, indo além do comportamento observado, das frases gravadas e dos dados brutos... uma análise dos resultados é sempre uma interpretação, uma previsão.
As entrevistas foram analisadas através do método de análise de con
teúdo de Bardin (1977), utilizando-se a técnica de análise temática. Bardin
(1977, p. 42) define análise de conteúdo como sendo
74
... um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens...
Para isso, procurou-se analisar as condições de produção do discurso
das idosas na compreensão das representações sociais relacionadas à velhice e a
vida asilar, na interface entre as explicações cognitivas, as manifestações afeti
vas e comportamentais para o ajustamento às novas práticas cotidianas.
As etapas operacionais segundo orientação de Bardin para a análise
dos dados compreenderam:
1- Transcrição completa das entrevistas;
2- Leitura/escuta flutuante do material, observando o investimento
afetivo como pausas, choros, lapsos, silêncio, contradições, correspondendo es
sas duas primeiras etapa^à fase de pré-análise.
3- Codificação/ Definição das categorias de análise e suas subcatego-
rias, que corresponde a fase de exploração do material.
As categorias levantadas, em tomo das quais a entrevista foi conduzi
da foram em número de seis, assim distribuídas: conceito de velhice; significa
dos atribuídos ao asilamento dos idosos; características dos relacionamentos in
terpessoais; natureza do tratamento recebido; deficiências da vida institucional e
plano de vida das idosas.
75
A partír do agrupamento das categorias, pudemos obter as representa
ções sociais referentes a quatro grandes temas de acordo com os objetivos da
pesquisa: t
Representação social de velhice
Representação social de "morar no asilo”
Representação social de asilo
O cotidiano na instituição asilar
4- Tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
Os resultados estão apresentados de forma sintética e esquemática
para uma visão mais imediata das representações obtidas e, em seguida, analisa
dos descritivamente, apoiados na Teoria das Representações Sociais.
Não houve a preocupação do registro quantitativo da ocorrência das
unidades de registro, tomando como dado pertinente a sua presença tndepen-
dentemente de sua frequência. A partir disso, as interpretações e inferências fo
ram conduzidas levando-se em consideração o contexto imediato da fala (da
instituição) e o remoto (aspectos de interesse da história de vida da idosa).
76
6. AS INFORMANTES. QUEM SÃO ELAS?
Um breve histórico de vida de cada idosa selecionada serve de con-
textualização para a sua situação atual na instituição. Um nome fictício foi usado
para cada uma das depoentes como forma de garantir o anonimato.
1) SAMARA, 60 anos, procedente do interior. Veio para capital oito dias após a
morte do marido, para ser submetida a uma operação de catarata nos dois
olhos, pois estava completamente cega há sete anos. Residia em casa própria
em companhia do marido e um filho. Tinha mais duas filhas, porém uma
morava e estudava em Fortaleza na casa de uma comadre e a outra era casa
da e morava numa cidade distante da capital. Quando veio para Fortaleza, fi
cou poucos dias na casa da comadre e, a seguir, foi para um abrigo de idosos
na esperança de voltar para casa após a cirurgia. Era aposentada devido a de
ficiência visual e veio a perder o benefício quando passou a enxergar. De-
pois de operada, foi transferida do abrigo onde estava há seis meses para o
asilo do presente estifdo, sem saber do que se tratava, pois lhe disseram que
iria dar um passeio na cidade com mais alguns idosos que também residiam
no abrigo. Os filhos, mesmo sabendo de tal conduta, não comunicaram à
idosa sobre a decisão tomada. Sentiu-se traída e enganada, estando institu
cionalizada há seis anos, Até hoje rejeita veementemente a sua instituciona
lização. A filha, que mora no interior, tem lhe prometido tirar do asilo, fato
que nunca se concretizou. Recebe visitas esporádicas da filha mais nova que
mora em Fortaleza e que encontra-se separada do marido, com uma filha e
cuja renda mensal diz ser crítica. Os outros dois filhos não mantém contato
com a idosa, nem telefônico. Diz que sua vida perdeu o sentido depois que
foi para o asilo. Pensa dia e noite na família e vive em função de um dia po
der sair do asilo. É bastante solitária e pouco comunicativa com os demais
77
internos. Tem como companheiro inseparável o cigarro, pouco se alimenta e
diz ser por tristeza. Debilitada fisicamente, ou seja, desnutrida, é indepen-
ciente em relação ao seu auto-cuidado e residemum quarto com mais quatro
idosas, sem contudo, ter amizade com elas.
2) SILVIA, 76 anos, separada do marido e sem filhos. Criou um sobrinho que
foi embora para o Rio de Janeiro há muitos anos e não manteve mais contato
com a idosa, desconhecendo seu paradeiro. Morava sozinha em casa própria,
num bairro de alta periculosidade, devido aos constantes crimes naquela re
gião. O marido vive com outra mulher e decidiram colocá-la no asilo por
medida de segurança. Aceitou por temer muito algo de violento consigo.
Silvia relatou que a vizinha dormia todas as noites em sua casa e que, quan
do não era possível, passava a noite em claro, com muito medo. Está há três
anos no asilo, sente-se só e é bastante retraída, de pouca conversa. Vive seu
dia-a-dia sem muita expectativa de mudança, mas gostaria de estar em sua*
casa, desde que o local fosse seguro. Mora num quarto com mais quatro ido
sas. É totalmente independente em relação ao seu auto-cuidado.
3) SIMONE, 69 anos, solteira. Veio para o asilo por espontânea vontade há 15
anos. O que a estimulou foi um assalto que presenciou na residência de uma sobrinha em São Paulo, com quem residia. É cearense e morou muitos anos
em São Paulo para trabalhar. Vivia modestamente, era faxineira de um gran
de banco. Já aposentada, procurou um abrigo para idosos em São Paulo, mas
em razão do preço elevado, resolveu voltar para Fortaleza se instalando no
asilo do estudo. É uma pessoa de poucos relacionamentos na instituição por
ser, segundo ela, de comportamento mais reservado. Considera o asilo a sua
casa, sente-se segura e feliz apesar dos inúmeros convites dos familiares para
morar com eles. Prefere permanecer no asilo, por se sentir mais à vontade.
78
Recebe esporadicamente visitas de seus sobrinhos. Reside num quarto com
mais quatro idosas e é completamente independente em relação ao seu auto-
cuidado. \
4) SONIA, 76 anos, solteira. Nascida no interior do Ceará, perdeu os pais muito
jovem e foi para o Rio de Janeiro se tratar de tuberculose. Lá ficou até se
aposentar pelo Estado e não manteve mais contato com os familiares. Uma
sobrinha morou com ela por um período, até se casar. Decidiu voltar para o
Ceará e, sem outra alternativa, procurou o asilo, pois não tinha nenhum fa
miliar como referência. Apesar de estar há sete anos institucionalizada não
se sente bem e ainda espera uma solução para poder viver em outro local, de
preferência uma casa, para que possa se sentir mais feliz. Reside com outras
quatro idosas e é completamente independente em relação ao seu auto-
cuidado.
5) SANDRA, 70 anos, portadora de Doença de Parkinson, com limitação dos
movimentos, embora^capaz de auto-cuidar-se. Viúva, tem dois filhos. A filha
mora em Recife e o filho em Fortaleza e se encontra separado da esposa re
sidindo sozinho. Veio de Recife para Fortaleza por decisão do filho. Em Re
cife, Sandra residia numa Casa-Lar com mais duas idosas, as quais vieram a
falecer. Devido a sua dificuldade em realizar os afazeres da casa em razão de
sua doença, contava com o favor de uma vizinha para cozinhar para ela. Sem
ninguém para assumir o encargo, o filho a trouxe e, depois de três dias esta
va institucionalizada, sem o seu conhecimento prévio. Vive na esperança de
que o fílho cumpra o prometido de lhe tirar do asilo, pensa continuamente na
família, principalmente nos netos. E aposentada, compra sua medicação e
deixa o restante do dinheiro com o filho. Diz não confiar nas pessoas, prefe
rindo ficar só. Demonstra ter muita fé em Deus que é seu sustentáculo. Está
79
há quatro meses na instituição e afirma que não se sente bem. Reside com
mais três idosas no quarto.
6) SOFIA, 77 anos, separada do marido, aposentada, mãe de um filho. Perdeu o
contato com o mesmo há nove anos quando ele foi para Mato Grosso e não
mandou mais notícias. Residia sozinha e decidiu seguir o conselho de um
sobrinho de procurar o asilo, alegando ser pouco seguro uma idosa morar só
numa casa. E a caçula de dez irmãos. Alguns já morreram e não mantém
contato com os familiares. Recebe visitas esporádicas dos sobrinhos, mas
nunca foi convidada para morar com eles, Muito insatisfeita com a vida no
asilo, onde já reside há seis anos, sente-se muito solitária e não tem amigos
por não confiar em ninguém. Sem expectativa na vida, diz desejar a morte,
pois só assim seu sofrimento terá fim. Reside com mais quatro idosas num
quarto e é completamente independente em relação ao seu auto-cuidado.
7) SILVANA, 84 anos, solteira. Antes de ir para para o asilo morava com um
sobrinho casado e páí de três filhos. A notícia de que a levariam para o asilo
a pegou de surpresa e a deixou bastante chocada e insatisfeita. A esposa do
seu sobrinho achou por bem institucionalizá-la a fim de que melhorasse sua
condição de saúde, pois é asmática. Recebe com bastante irregularidade vi
sitas dos sobrinhos, sendo, às vezes, necessário telefonar para comparecerem
ao asilo, Apesar de aposentada, os sobrinhos lhe dão alguma ajuda financeira
para comprar trutas e remédios. Em certas ocasiões vai para a casa do so
brinho passar alguns dias, o que a faz se sentir outra pessoa. Pensa muito na
família e o seu maior desejo é viver junto aos seus. Bastante comunicativa,
embora não considere os demais idosos de confiança. Conversa com poucos
e sente muita falta da família e, apesar dos oito anos no asilo, diz não estar
80
acostumada nem satisfeita. Reside com mais quatro idosas em um quarto e é
completamente independente em relação ao seu auto-cuidado.
8) SULAMITA, 81 anos, viúva. Mae de uma filha já falecida. Criou as duas
netas que foram para São Paulo. Há 17 anos não as vê. Tinha um neto que ia
com frequência visitá-la e por quem nutria um grande amor. Refere que, por
uma grande fatalidade, há três meses o neto morreu atropelado, trazendo-lhe
profunda tristeza e desinteresse pela vida. Sente-se muito isolada, sem famí
lia, embora um sobrinho a visite raramente. Refere que nada lhe traz alegria
nem vontade de viver. Reside há vinte anos no asilo e foi morar lá por falta
de condições financeiras para se sustentar. Diz que se sentia melhor no início
de sua vinda por ter mais saúde. Hoje por estar mais doente, não se sente
confortável quando precisa de “favores” dos outros. Não se entrosa com os
demais residentes e sente-se desamparada, sem familiares.
*9) SELMA, 70 anos, solteira. Residia com duas amigas antes de ir para o asilo
mas, por motivo de dõença das amigas e por sua deficiência visual (perdeu a
visão de um olho) ficou difícil cuidar da casa e delas. Decidiu por espontâ
nea vontade ir para o asilo, onde acha que ganhou uma vida nova, É bastante
participativa e se considera completamente adaptada e feliz. Diz que uma
amizade sincera na instituição asilar é muito difícil e que o seu relaciona
mento é superficial com os demais residentes, porém sem atrito. É filha ado
tiva de uma família de muitos irmãos, que insistiram que fosse morar junto
com eles, mas preferiu fícar no asilo. Uma das irmãs vem visitá-la mensal
mente. E aposentada e reside com mais quatro idosas. Totalmente indepen
dente em relação ao seu auto-cuidado.
81
10) SANTINHA, 97 anos, solteira. Morava sozinha e decidiu por conta própria
se mudar para o asilo. Bastante ativa e independente, acostumada a fazer
tudo só, depois de uma queda passou a locomover-se com mais dificuldade.
Mantém-se independente em relação ao seu auto-cuidado. A sobrinha convi
dou-a para morar com ela, mas preferiu a instituição por estar acompanhada
de outras pessoas, pois passava o dia sozinha até a sobrinha voltar do traba
lho. Com sete anos no asilo, encontra-se bem adaptada. Só não se considera
completamente livre porque não vai mais à rua resolver seus problemas,
como fazer compras, ir ao banco. Em razão da sua dificuldade de locomo
ção, não participa das atividades proporcionadas pela casa. Relata que é
muito difícil um relacionamento amigo dentro do asilo e que vive a sua vida
de modo particular, sem se entrosar mais intimamente com as companheiras
do quarto, devido às intrigas. É pouco visitada pela sobrinha, fato que a en
tristece consideravelmente, mas procura conformar-se. Afirma que apesar de
algumas deficiências da casa, gosta de viver lá.
11) SOLANGE, 64 anos, viúva. Possui apenas uma filha que é separada do ma
rido e, tem duas netas. Foi procurar abrigo devido à falta de condição eco
nômica para se manter. Vivia na casa de uma sobrinha que sempre a manda
va embora. A fílha também é muito pobre e não pode dar acolhida à mãe
que, através de um conhecido, aceitou ir para o asilo. Conseguiu se aposen
tar, mas cortaram o seu benefício há mais de um ano o que lhe causou um
grande transtorno emocional, precisando ser internada para se recuperar do
abalo. E hipertensa e sofre da coluna, mas totalmente independente em rela
ção ao seu auto-cuidado. Apesar de residir há dez anos no asilo, diz não estar
acostumada, sendo seu maior desejo morar com a fílha. Sente-se só e infeliz
na casa, só ficando alegre no dia que sai para visitar a fílha e as netas. Ali
menta a esperança de sair em breve do asilo.
82
12) SUELY, 92 anos, solteira. Vivia só e doente. A vizinha lhe trazia o ali
mento todo dia, pois não tinha dinheiro para se sustentar. Sempre trabalhou
muito e para comer dependia do trabalho diário. Levou uma queda cuja se-
qüela foi perda parcial do movimento da perna esquerda. Em função disso,
conseguiu sua aposentadoria. Devido a uma descompensação cardíaca foi
hospitalizada e constituiu uma procuradora para pegar seu benefício mensal.
Ficou completamente sem dinheiro, pois a procuradora não lhe repassava o
seu dinheiro. Foi nessas circunstâncias que um médico a conduziu para o
asilo e conseguiu anular a procuração. Hoje recebe seu rendimento normal
mente, já está há dois anos na instituição. Avalia que sua vida ficou mais fá
cil, pois passava muitas privações, mas considera-se mal adaptada uma vez
que não se acostuma à difícil convivência com os demais idosos. Não tem
contato com nenhum familiar e, apesar de ter criado dois irmãos há muitos
anos, não sabem de seu paradeiro, pois nunca a procuraram. Por não ter ou
tra alternativa na vida, sabe que viverá seus últimos dias no asilo.
83
7. A DESCOBERTA DAS REPRESENTAÇÕES
7/1. Representação Social de Velhice:
Velho é í4o outro”
A representação de velhice, permeia de forma bastante enfática as fa
las das idosas asiladas uma vez que, a ida para a instituição era consequente às
dificuldades atreladas à essa fase do curso de vida.
As significações de velhice foram baseadas no contexto da sociedade
global e no universo da comunicação onde as idosas interagem.
A velhice foi representada pelas idosas sob três aspectos: físico, psi-
cossocial e cronológico. O predomínio dos aspectos negativos ligados à velhice
foi notável, sobretudo no aspecto físico e no psicossocial.
84
Analisando as representações sociais da velhice pelas idosas asiladas,
ressalta-se a influência do contexto asilar como agente de reforço para os este
reótipos negativos vigentes na sociedade e que são trazidos no imaginário dessas
idosas, onde o idoso é basicamente um ser dependente, doente, sem autonomia,
desvalorizado e rejeitado pelos familiares e pela sociedade.
7.1.1. Corpo e mente em decadência:
Podemos exemplificar as representações sobre a velhice emergidas
das falas das idosas entrevistadas, recheadas de atributos negativos, ou seja, a
velhice é vista, predominantemente, como uma fase de decadência física.
...no velho sempre aparece uma doença mais do que todos. Uma dor daqui, outra dacolá. (Silvia)
...quando eu era nova vivia com saúde, toda cheia de vida. (Silvana)
...a pfèssoa velha não tem mais sustância de viver mais muito não, por causa das doenças. Porque velho, toda doença se arrasta no corpo da gente. E problema de trombose, da coluna, do coração, porque tudo eu tenho. (Solange)
Quando é moça pode com o bem e com o mal e o velho não pode nem com o bem. Ser velho falta muita coragem para as coisas. Muita coisa que eu fazia, como pegar peso. (Silvia)
O velho é aquela pessoa, até mais nova do que eu já sem memória, com amnésia, esclerosada. (Sandra)
Na minha mente, umci pessoa velha é uma pessoa de bengala, que já diz uma coisa três, quatro vezes, não sabe mais distinguir o dia, o mês, a semana. Eu sinto que a pessoa está velha, sem lucidez. (Selma)
85
... velho é um corpo sem vida .(Sei ma)
...é a pessoa ficar sem condições de fazer nada. (Sandra)
... o ruim da velhice é não poder fazer nada, nem ter nada. (Suely.)
A velhice, na perspectiva biológica é melhor apreendida quando con
cretizada no corpo, pela utilização de um processo gerador das representações
sociais denominado objetivação. Assim, a complexidade do processo de enve
lhecimento biológico e psicológico aparece de forma concreta no corpo.
O físico desgastado e decadente está associado de forma inegável e
inquestionável com a velhice (Belo, 1996).
E, tomando como ponto de partida as perdas associadas à velhice na
nossa sociedade, as idosas rejeitam inserir-se nesse enfoque negativo, onde
claramente se apreende que ser velho é uma característica do “outro” que sem
pre possui um atributo pior ou mais comprometido que o seu próprio. É uma
forma de mecanismo de defesa contra estados ameaçantes para uma vida livre e
não desejados, como podemos observar:
Eu me sinto que não tenho boa saúde. Mas velha, não. (Quanto mais doente, mais o velho é menosprezado. (Sônia)
Nesse ponto eu não me sinto velha, eu compreendo tudo, me cuido, tenho as mesmas disposições do meu tempo de nova, a única coisa que eu não posso é andar. (Santinha)
Eu não me acho tão velha porque eu sou mulher de todo trabalho. (Suely.)
Mas, enquanto a gente tá dançando, pulando, eu sinto que não seja velho assim não. E uns anos avançados, bem vividos, né? (Selma)
86
Santos (1996) e Debert (1999) também obtiveram esse mesmo posi
cionamento dos idosos, quando referiram, em ver no outro o verdadeiro velho,
traduzindo uma atitude de resistência a um conjunto de estereótipos com os
quais a velhice é tratada na nossa sociedade.
As representações sociais conferem à velhice do “outro1' um estado
bastante decadente e, que, quando projetado para si é referido como uma pos
sibilidade indeterminada e longínqua. Essa visão traz consequências práticas
como o temor real de atingir o estado chamado por elas de “velhice total11, bem
como a aceitação mais natural das limitações, dos maus tratos e discriminação
dirigidos contra os idosos, já que não são mais capazes de se defenderem e nada
podem esperar dessa fase tardia do curso de vida:
O que eu acho pior é a gente ficar acamada como vivem esses velhinhos lá em cima. Não têm o conforto que precisa, porque não podem, né? Por acaso ainda tem uns que podem acudir, mas tem outro ainda pior que aqueles que estão precisando, aí é uma situação que eu acho uma velfice total. (Selma)
... eu sei me defender das grosserias, mas para os que não podem mais reagir a nada, tem que aguentar tudo calado, aqueles que já não dizem coisa com coisa. (Simone)
Para a mulher, o corpo também é tido como elemento de atração para
o sexo oposto, e que, se sentir desejada é condição para uma auto-estima mais
fortalecida, bem como um atributo da juventude. O corpo do velho é um corpo
decadente, feio e, portanto não propicio à conquista amorosa e à vaidade:
Eu era muito vaidosa, gostava muito de vaidade. Agora eu ando assim por causa do calor, mas eu não andava assim descobrindo as minha carne, só andava bem vestida. Os cara dizia assim: Oh! caboclo na forte! Eu achava bom, mas não tinha nem conversa (Solange).
87
O corpo, no contexto de vida dessas idosas, era requerido em toda sua
capacidade para executar atividades que exigiam esforço físico e, por serem
pouco valorizadas financeiramente, simplesmente atendiam minimamente às
suas necessidades; sem contudo, conseguirem construir a base para uma vida
mais confortável e que atendesse as necessidades requeridas na velhice e que as
livrassem da dependência financeira pelo empobrecimento,
O físico, fragilizado e incapacitado para o trabalho é uma imposição
de fora, imposta pelos outros e que não corresponde a auto percepção das idosas
no que tange às suas reais condições para o trabalho, principalmente o domésti
co, no caso particular das mulheres, Este fato, de ser capaz para o trabalho, é um
forte elemento para a efetivação do afastamento da velhice para longe de si, uma
vez que, a representação de velhice está fortemente amparada na constatação de
um coipo inutilizado para o trabalho:
Eu não me acho tão velha porque eu sou mulher de todo trabalho. Olhe, eu sou mulher até pra brigai (Suely)
Eu queria era sê bem novinha pra tá trabalhando seja lá-no que for. Eu não tô tão velha, porque pra trabalho eu tenho até coragem, mas os meu filhos não deixam de jeito nenhum. (Samara)
Continuar trabalhando significa, para a idosa, manter-se útil, capaz e
independente, O trabalho que foi a referência principal de sua inserção social ao
longo da vida, mesmo que em condições de exploração e sem garantias traba
lhistas dentro de um regime informal e mal remunerado. As idosas assimilaram
que é o trabalho que confere valor à pessoa como um ser socializado.
Embora sentindo-se aptas para o trabalho, perdem sua autonomia, cu
jas ações passam agora a ser guiadas pelos filhos, como uma espécie de inversão
de papéis. A atitude dos filhos diante dos pais idosos é orientada pelas repre
sentações negativas que possuem da velhice, em particular em relação à perda
88
da capacidade para o trabalho, e que, por sua vez, as idosas aceitam resignar-se
por sentirem-se dependentes e temerem contrariar seus filhos, embora sendo
causa de insatisfação e angústia para elas.
A intenção de “poupar” as idosas de esforços físicos ou outras ativi
dades consideradas equivocadamente inapropriadas para elas é uma maneira de
lançá-las na ociosidade com consequências maléficas para o equilíbrio psíquico
da idosa.
7.1.2. Decadência psicossocial:
Aspectos psicossociais relacionados ao envelhecimento como a perda
de autonomia, dependência e pobreza são expressados pelas idosas asiladas:
... na Bíblia Cristo dizia a Pedro: Pedro quando tu eras novo cingias-te a ti mesmo quando quer ias, hoje estas velho estendes a mão para que te cinjas e vais para onde npo queres. (Sandra)
... o velho não tem condições nem de se manter, depende dos outros. (Sofia)
O velho é uma pessoa que não resolve mais nada, como aquele móvel. Uma pessoa que não cuida mais de si, não tem mais atitude nenhuma. (Santinha)
Na metáfora acima, quando o velho é comparado a um móvel, fica
evidenciada a associação que se faz de velhice e dependência física e compor-
tamental, sua insignificância, seu anonimato, passividade e incapacidade cogni
tiva. Existe por existir, não é capaz de participar da vida.
A solidão é tida como um legado para o velho. Por estar velha, a pes
soa vivência mais frequentemente os acontecimentos familiares e sociais que
contribuem para o seu isolamento social e, daí, surge a solidão. Tal situação é
89
fortemente percebida pela comparação que as idosas fazem do seu tempo de jo
vem com o tempo presente, como idosa:
O pior da velhice é viver só. (Sulamila)
O pior que eu acho da velhice é não ter uma coisa certa assim na casa da gente, como o marido mesmo velhinho. Não ter ninguém. (Silvia)
Fico pensando na minha vida. Tinha mãe, família, era nova, trabalhava e hoje não tenho ninguém. Velho quando não tem família é melhor morrer. (Sulamila)
Voltar-se para o passado, como relembrar fatos positivos da vida, é
uma atitude freqüente no idoso, podendo funcionar como uma maior conscienti
zação do estado atual de perda ou, segundo Lewis (1971) agir como mecanismo
protetor, ajudando a lidar com as perdas da velhice, onde o indivíduo perde sua
identidade social anterior, passando a ser apenas velho.
Num estudo realizado por Stauginger et al. apud Neri (1995), as prio
ridades dos idosos eram principalmente a saude, o bem-estar dos membros da
família, a competência cognitiva e a capacidade de refletir sobre a vida.
As idosas asiladas que tinham proximidade com seus familiares pas
savam grande parte de seu tempo pensando neles e, conforme também constata
do por Erikson et al. (1986), o pensamento nos filhos e netos e a participação no
relacionamento com eles, dá aos idosos a sensação de que vale a pena viver
mesmo quando a vida é bastante inativa:
...eu perco a noite, de sono imaginando a minha família. /!.$' minhas filhas, o meu filho, os netos que eu tenho e tudo. (Sarna ra)
...minha filha tem três filhos e eu sou louca pela filha mais velha e nesta noila eu estava analisando, a menina vai fazer
90
quatorze anos. Eu gostaria de estar com ela porque toda a minha vida foi dedicada àquela menina. (Sandra)
Confort (1979) menciona que o isolamento do idoso é decorrente da
atitude da sociedade em que vivemos, onde os elementos geradores de sofri
mento não decorrem simplesmente do processo de envelhecimento, mas do en
velhecimento sociogênico, em outras palavras, dos papéis impostos pela socie
dade aos seres humanos que atingem uma determinada idade cronológica e que
podem causar modificações mentais. Enfim, a função que atribuímos aos velhos
se distingue pelo seu caráter destrutivo. O velho, então, fica renegado social
mente, como ilustrado nas falas abaixo:
O velho fica no seu canto reservado, não presta mais atenção a nada, essas coisas... (Silvana)
... o idoso não se toca mais na influência, na diversão, na juventude, aí então ele cai na rejeição nem que não queira.A não ser que seja um velho divertido como eu que fui pro casamento da minha sobrinha. Aí eu bebi, fumei e m& misturei com todos, aí é diferente. Mas, se é um velho ranzinza, que sq. dá trabalho, só fala em doença e não participa, aí fica no isolamento. (Simone)
Especificamente na declaração acima fica explícito que, para o idoso
ser aceito deve adotar os comportamentos típicos dos jovens, caso contrário é
rejeitado e não há espaço para a sua inclusão social. Os padrões de comporta
mento valorizados são apenas os dos jovens, ignorando a experiência de vida
dos velhos.
E como se a velhice encarnasse um fenômeno estático, não processual,
como se este não fosse um período de vida decorrente de um processo, mas sim
algo que se opõe à juventude e maturidade, de maneira completamente diferen
ciada (Belo, 1996).
91
Percebe-se, claraniente, que ocorre uma desqualifícação da pessoa que
atingiu uma ídade avançada. São os valores associados à juventude que são
apreciados pela sociedade (Beauvoir, 1990).
A partir da comparação com o passado, as idosas destacam como ca
racterística do tempo presente a desvalorização e discriminação do idoso em
nossa sociedade. A mudança de atitude em relação ao velho ao longo dos anos
está correlacionada âs alterações na dinâmica familiar, á participação da mulher
no mercado de trabalho e à valorização da economia na sociedade moderna, re
negando os vínculos afetivos e a solidariedade entre seus membros a um plano
secundário, conduzindo a uma prática comportamental egocêntrica bem como a
insensibilidade social aos valores humanos:
...no tempo da minha avo, mãe da minha mãe, morreu em casa, velhinha, com 96 anos. Mas, todo mundo tinha paciência com ela, ela caducava, caducava. O pessoal tinha mais consideração e amizade aos seus e também aos outros, respeitavam. Mas, depois que começou esse modernismo... (Santinha)
... mudou muito. Os netos adoravam os avós, respeitavam como se fossem os próprios pais. Inclusive muitas pessoas foram criadas por avós antigamente. Não tem mais esse amor, é errado e triste. (Simone)
... os idosos tinham mais vcdor antigamente. Eu via os idosos serem bem tratados pelos familiares e cuidavam até a morte. (Sânia)
... no tempo que eu moça ainda respeitavam os velhos, mas depois... (Sulamita).
Debert (1999) obteve resultados semelhantes, onde as idosas conside
raram que a boa velhice era a do passado, do velho respeitado, que tinha uma
92
posição central em todos os assuntos da família e que as mudanças culturais ra
dicais deram um novo significado à experiência do envelhecimento.
Fatos cotidianos observados pelas idosas é uma forma de traduzir as
representações que as pessoas possuem dos idosos como seres desvalorizados e
tratados com indiferença, desrespeito e discriminação :
A pessoa fica velha e todo mundo diz; Fulano é velho, fulano é velho. Isso é uma tristeza pra gente. A gente se lembrar do tempo que era novo pra agora. (’Silvana)
... nq rua a senhora sabe como é: Sai velho, vápra lá, velho. E aqui não é assim, os velhos estão na sua caminha deitado. (Sulamita)
...o idoso é visto com indiferença. Eu acho que não tem a atenção necessária ou a conveniente. Era muito raro uma pessoa dar o lugar no transporte ao idoso. (Santinha)
O preconceito social com base pretensamente científica em relação à
velhice é denominado ageísmo derivado do termo inglês nge, e que traduz a ve
lhice como uma fase na qual só ocorrem perdas. Velhice é encarada como sinô
nimo de doença e incapacidade, o idoso não é capaz de novas aprendizagens, a
vida emocional do idoso é naturalmente pobre e o isolamento social é uma ten
dência universal da velhice (Riley e Ríley, 1989). Portanto, podemos dizer que
o ageísmo delineia a atitude prática e ideológica da sociedade em relação ao ido
so e que claramente é percebido pelas idosas como sendo parte de uma catego
ria não inserida dentro da sociedade global.
7.1.3. Curso cronológico da vida
A velhice para as entrevistadas, tomando como referência a idade
cronológica, é mal definida, com limites bastante arbitrários, e que, na maioria
das vezes não é a idade na qual a idosa se encontra. Por conviverem com pesso
93
as mais velhas e com a saúde mais comprometida do que a sua, lançam para elas
o real estado da velhice:
A velhice que chega e acaba com a gente, acaba, sabe o que é... Eu não me acho muito velha, lenho 70 anos, né? E eu me acho tão cansada, tão acabada, tão velha, pra mim eu tenho 80 anos. Avalie esses pobres mais velhos, como não ficam? (Selma)
Eu não sou muito velha não, porque eu só tenho 64 vou fazer 65 anos. Quando tem 80 pra lá Já é muito velho, Já. Eu não sou muito velha, mas eu sou doente. (Solange)
A velhice é considerada também como uma fase de proximidade da
morte, onde se vive por viver, sem nada esperai;
Eu não vejo nada de positivo na velhice. Porque a velhice é uma coisa que só espera pela morte, né? Tá perto de acontecer. Eu me deita aqui e digo: Eu não sei se vou amanhecer viva. (Selma)
Na velhice a gente perde todo o entusiasmo da vida, perde a ilusão da vida, cai na realidade. A velhice é o real da vida. E só pensar e agradecer a Deus de amanhecer viva, andar perfeito, ouvir, falar, enxergar, Já é ter muita coisa. (Simo- ne)
As representações sociais sobre a velhice nos mais diversos aspectos,
compartilhadas pelas idosas são resultantes do pensamento social que é recons
truído ao longo de seu processo de socialização, e, claramente influenciam o
modo como o sujeito se define em relação ao objeto representado (a velhice) e
ao grupo do qual faz parte.
94
7.2. Modo de ingresso na instituição e sua influência nas representações sobre “Morar no Asilo”.
Imposição
Desprezo
Abandono dos familiares
Aceitação/ Acomodação Difícil aceitação/ Depressão
O fato novo “morar no asilo”, pode ter duas representações distintas,
influenciadas pela forma de ingresso na instituição: com ou sem o consenti
mento da idosa. A decisão própria em ir para o asilo, após uma análise ponde
rada sobre sua condição de vida anterior, favorece uma maior capacidade de
adaptação e maior tolerância às deficiências institucionais.
O modo de vida anterior à institucionalização tido como um mundo
de sacrifícios e de trabalho, sem tempo para viver para si, ter diversão e maior
sociabilidade, considerado como uma vida de amarras, pode ser concretamente
destituído frente às oportunidades que a instituição oferece, onde a vida adquire
95
um novo significado, e os anos são vividos efetivamente, com novidades e ale
gria:
... eu acho que o mundo está aberto, que o mundo se abriu, eu lô mais nova. Eu me achava velha, mas não, é a situação do conviver que faz a gente envelhecer, viu? Porque a vida livre, a vida com amor, com divertimento, ninguém envelhece não, a gente brota. Eu acho que ganhei a juventude aqui dentro, porque eu danço, se eu quiser namorar, namoro, o negócio é que eu não quero. Saio, brinco, tudo eu gosto. Faço tudo de espontânea vontade, ganhei mais vida, fiquei jovem, mais social. Talvez lá fora eu já tivesse morrido. Eu quis acompanhar as facilidades que a casa oferece. A gente viver trancada, tristonha, calada, não adianta, né? Eu participo da T.O., dos passeios, de tudo. (Selma).
Não obstante, quando a institucionalização é a única alternativa viável
para a sobrevivência da idosa, sobretudo em situações de pobreza extrema e de
samparo familiar, sentimentos positivos e negativos estão presentes, Podemos
traduzir não como a imposição de alguém propriamente, mas, uma ação coerci
tiva situacional, onde a idosa não encontra outra solução mais satisfatdria para
continuar vivendo fora da instituição.
Tem gente que vem da rua e aqui fica. Para esse pessoal é bom. (Sofia)
Se não tiver quem ampare, a pessoa tem que procurar o asilo. (Simone)
A pobreza que é pobre mesmo, aqui é uma riqueza. Aqui tem cama, mesa, remédio - que dizem que não tem, mas tem. (Santinha)
... agora se é um desvaliclo, exposto ao sol e a chuva na rua, é melhor tá aqui dentro. (Suely)
A minha opinião era passar pouco tempo nesse abrigo, logo quando eu cheguei.. E nesse pensamento o tempo foi pas-
96
sando, não chegou outra solução e eu não tenho condição de resolver, (Simone)
Das razões apontadas pelas idosas, a situação de completa miséria ou
as dificuldades econômicas da maioria das famílias teriam respaldo para se pro
curar o asilo, como também a ausência de parentes e, em certas situações o des-
ajustamento do idoso ao ambiente familiar, quando não dispõe de companhia
... quando não tem família é mais natural, não tem aonde ficar, então tem que ficar aqui. Mas no meu caso, eu prefiro ficar aqui do que ir pra casa da minha sobrinha. Não que eu seja maltratada é porque eu me sinto melhor aqui. Ela me convida e eu não quero ir. Lá eu fico só e aqui tem uma companheira e outra. (Santinha)
...às vezes não podem viver com elas em casa não é? Porque são velhas demais, são doentes e aqui tem as amigas também que conversam umas com as outras e distrai muito. (Sulamita)
Porque eu vim de espontânea vontade. Eu pedi que arranjassem pra mim, que eu estava mesmo necessitando de uma casa assim, eu já estava cansada de morar só. (Selma) „
A procura do asilo com vistas a suprir especificamente alguma difi
culdade sentida e considerada, dentro da escala de valores da idosa, como im
portante para uma vida mais satisfatória, traz uma visão positiva do asiíamento.
Ou seja, os pontos positivos são ressaltados e os negativos pouco valorizados ou
aceitos mais facilmente, além de serem claramente justificáveis dentro do con
texto institucional.
A segurança do local, o controle e vigilância externos são apontados
como vantagem, representam uma forma de livrarem-se de toda espécie de bar
bárie que acontece com frequência numa sociedade sem controle da ação dos
marginais e que não poupam nem os mais fragilizados. É preciso, como precau
97
ção, tomar-se prisioneira em sua própria casa, como evidenciado nas falas abai
xo:
..aqui me sinto protegida de ladrão, tem, vigia à noite. (Sandra)
... minha sobrinha me deixava debaixo de dois cadeados, o cadeado da porta e o cadeado do portão. Eu queria sair e não podia. (Santinha)
... o que melhorou foi que aqui a gente tá seguro. (Silvia)
O argumento de estarem seguras da ação de marginais, quando insti
tucionalizadas, é frequentemente utilizado por familiares ou amigos como razão
para as idosas irem para o asilo, especialmente nos casos em que a idosa vivia
só. Embora reconhecesse a vantagem, nem sempre é motivo para proporcionar
uma franca aceitação do asilamento em cima desse motivo.
Os meus filhos dizem que eu não tenho mais condição de tomar de conta só da casa e morar só. Eles tem medo que chegue um gatuno, um malfazejo e que me mate. Mas eu fecho a porta, as grades, eu quero mesmo é tá na minha casa. (Sarna r a)
OOP...meu marido não quis que eu ficasse naquela casa só porque lá dá muito cabra sem vergonha pra roubar, pra tudo. (Silvia)
Atrelada a segurança da instituição asilar, a companhia de outras ido
sas representa não apenas o atendimento da necessidade gregária do ser humano,
mas, a presença de alguém a quem se possa recorrer em caso de necessidade:
... porque tendo uma pessoa, a gente se sentindo mal, pode chamar alguém. (Santinha)
...lá eu fico só e aqui tem um companheiro, tem outro. (Santinha).
98
...eu morava sozinha e a pessoa nunca deve morar só. (Silvia)
A existência de familiares não confere uma ação protetora à instituci
onalização do idoso e, o termo utilizado numa linguagem metafórica "Jogar os
idosos” no asilo é encarado como uma atitude inaceitável e que demostra o
abandono, desprezo, ingratidão, injustiça e maldade para com os mais velhos.
Podemos acrescentar também ao sentido metafórico acima, as características de
inutilidade, desgaste e desvalia atrelada aos idosos na nossa sociedade.
Fica evidenciado para as idosas institucionalizadas o desprezo da fa
mília que deveria acolher o idoso e que, as razões para a institucionalização não
demonstram as soluções alternativas em potencial para manter o idoso na comu
nidade:
... o que tem aqui é gente desprezada, morre a míngua... (Suely)
... se não tem dinheiro, procure um emprego, vá trabalhar, nem que seja varrer a rua e compre e dê um bocado a sua mãe ou a seu pai. Mas pegar a mãe, botar aqui e. abandonar e nãa voltar mais aqui como tem muito... Tem muitos que morrem aí e que procuram a família deles e telefona, telefona e chega a hora, fedendo e tudo e tem que enterrar. (Samara)
... a família que tem obrigação de assumir. E o filho, é o neto, é o sobrinho. E da família. Ficou velhinho tem que tomar conta até morrer. (Santinha)
...acho que todo mundo deveria ter seus familiares para cuidar deles. E aqueles que não tem, são sujeitos a se humilhar pra passar para um asilo. Mas os que tem, não deveríam vir para um asilo. (Sônia)
... aqui tem muita gente que vive aqui porque a família não quer assumir. E bota aqui e accibou-se, não vem nem visitar. (Selma)
99
...E triste, muito triste. E um pedaço de vida triste, a família rejeitando. Aqui tem pessoas que tem filhos e ficam desprezados aí... (Simone)
A família deixa toda a responsabilidade para a casa... Eu acho que quando uma pessoa bota outra aqui já é uma rejeição. Agora tem a condição que uns não podem ficar com a pessoa em casa e outros podem mas não querem, aí é triste. (Sônia)
...já me disseram que um filho veio deixar o pai e ele morreu e nem procuraram saber. (Sandra)
Minha filha, os velhos é repudiados pelos próprios filhos e você sabe disso porque aqui tem é muito. (Sofia)
O asilamento também confere maior similaridade entre os residentes,
visto que as diferenças em termos de situação objetiva são reduzidas (Debert,
1999). O passado não intervém no presente, não se coloca em questão a parti
cipação do indivíduo na construção de sua trajetória de vida, onde a condição de
estar asilada apoia-se principalmente na omissão dos familiares em aSsumir o
papel de cuidar de seus parentes idosos:
... a gente vive desprezada. A maioria perdeu a ligação com a família ou não querem assumir e eu vejo isso e sinto. Tá igual a mim, no abandono, desengano. (Sofia)
Além do desinteresse dos familiares, atitude totalmente contrária aos
preceitos valorizados pelas idosas, o contexto asilar impõe uma barreira à rela
ção social, sobretudo pelo abandono progressivo dos familiares que aos poucos
vão se afastando e se desligando do institucionalizado (Louzã et af, 1986).
O problema da institucionalização do idoso abrange também os de
classe mais favorecida, não sendo a falta de condições financeiras a razão prin
cipal para se procurar o amparo asilar. O problema reside, sobretudo, no valor
100
que se dá ao velho, a falta de consideração e responsabilidade familiar em lhe
prover o sustento e a atenção necessária.
... quem coloca os pais aqui é maldade. Tem que lutar por eles. Gente mais ou menos joga os pais aqui e não aparece. (Suely)
fE porque quer abandonar. A mulher do seu João é bem forte e podería tomar de conta do marido dela. A filha é bem forte e loura, bem bonita assim como vocês. Tudo gente mais ou menos, viu? Tem uma que é doutora também. E não toma conta do pai nem nada. (Samarci)
... e também tem gente rica que tem tudo e morre só, a família nem sabe. (Selma)
O investimento afetivo está claramente representado nas falas das ido
sas quando dizem serem incapazes de colocar seus país num asilo e, indireta
mente indica a rejeição pela sua própria condição de asilada.
Os pais sempre foram considerados como as pessoas de maior im
portância na hierarquia familiar, merecedores do amor incondicional dos filhos,
respeito, gratidão e reconhecimento pela dedicação aos filhos, quando dizem:
... meu pai é hem veinho já caducando, nós nunca bule mo ele assim, nunca tiremo ele de dentro de casa, nem um dia. (Samara)
...nem que eu pedisse esmola não botava meus pais aqui não, deixava em casa. (Silvia)
... mesmo com dificuldade financeira não justifica botar a mãe aqui dentro. Eu arranjava uma pessoa amiga, que mesmo que eu não pudesse pagar eu dava um agrado para ficar com ela as horas que eu passasse fora. (Simone)
Eu acho uma ingratidão muito grande do filho. Porque eu como mãe, eu creio que eles não tem nada a dizer de mim, e u fiz tudo por eles. (Sandra)
101
Talvez por serem as idosas uma espécie de desequilíbrio para a funci
onalidade familiar, ao se considerar os cuidados requeridos por elas e, no en
tanto, o pouco interesse ou mesmo a impossibilidade de dedicação dos familia
res, diante de uma vida atribulada e cheia de obrigações, torna impossível a
permanência das idosas no seio familiar, como referido abaixo:
... agora, se não tem condições por causa do trabalho de cuidar do idoso, e se é pra deixar o velhinho sozinho, então aqui é melhor, não fica sá (Santinha)
... quando chegam aqui muitos idosos ficam chorando, /kv vezes as noras vêm deixar, não tem condições ou trabalham e o idoso sofre, não tem direito, (Sulamila)
Para um membro da família abdicar do trabalho para ficar cuidando do
idoso seria um transtorno muito maior do que “livrar-se do idoso”. A manuten
ção da família depende do trabalho de todos àqueles que podem ingressar no
mercado de trabalho para, conjuntamente, poderem se manter minimamente.
Implica dizer também que a ajuda de terceiros para cuidar do idoso requer um
investimento financeiro além das reais condições da família, e, sobretudo, de ser
praticamente impossível, nos dias de hoje, contar com a benevolência de amigos
ou parentes na dispensação de cuidados ao idoso.
A justificativa apresentada pelos familiares para a necessidade da
institucionalização das idosas, não tem respaldo nos valores considerados por
elas, como sendo obrigação última da família assistir os seus na velhice. Com a
institucionalização dos parentes idosos, fica claro o desejo dos familiares de
afastá-los do seu convívio.
Para as idosas, a família tem importante valor cultural, onde na sua
época, os idosos eram bem tratados e respeitados até a morte. Desconheciam,
portanto, a existência de asilos e que, em hipótese nenhuma de ver iam ser retira
dos do seio da família.
102
... antigamenle as pessoas cuidavam de seus idosos dentro de casa até morrer e era l)em acompanhado no enterro, com muita gente e passavam a noite acordadas velando e não tinha esse negócio de asiko. E todo mundo cuidava de seu idoso em casa e era mais querido do que hoje, (Simone)
Essa mudança do comportamento da família para com os seus idosos
está atrelada ao período histórico.e ao sistema de valores que vigora numa soci
edade voltada para o lucro e a produtividade, e, da qual o idoso foi excluído.
Ir para o asilo de forma imposta ou enganosa é das situações a que
mais consequências nefastas traz para o equilíbrio psicológico e emocional da
idosa. A aceitação fica praticamente impossível pela incapacidade de introjetar
como benefício, a covardia sofrida. O estado depressivo acompanha a vida des
sas idosas que, apesar de tudo, ainda alimentam a esperança de saírem do asilo
ou se iludem com a falsa promessa dos familiares que quando for possível irão
retirá-las dali.
Eu vim pra me operar e não voltei mais. Eu vim pra voltar... (Samara)
Eu vim pra casa de um filho, com três dias ele me trouxe para cá. Eu ainda não senti nada, porque estou na ilusão que ele venha me levar pra casa. (Sandra)
Eu nunca pensei em um dia vir pra cá. E uma situação crítica. (Sandra)
Não, nunca pensei em morar num lugar como esse. A gente não pensa na velhice. (Sofia)
...quem vem a força não se acostuma de jeito nenhum, é um sufoco. Tem família que inventa que vem buscar mais tarde e passa meses sem vir. (Selma)
...eu era uma pessoa muito alegre e hoje já não sou mais. (Simone)
103
Eu acho que um pai ou uma mãe que é jogado aqui contra a vontade e o filho não procura é melhor morrer logo, E tem muitos aqui assim. (Selma)
Estar no asilo é uma situação que só pode ser apreendida na perspecti
va da interioridade, à medida que a pessoa a vivência, verifícando-a, conforme a
colocação a seguir:
... eu digo o seguinte: vá viver pra saber o que é estar aqui. (Sandra)
A vinda para-o asilo pode ser causa de sofrimento intenso, pois o ido
so não tem o direito de dirigir sua própria vida, tomar suas decisões e escolher
seus rumos de acordo com os seus desejos. As justificativas apresentadas pelos
familiares para a institucionalização da idosa podem não ser fortes o suficiente
para o seu autoconvencimento e nem para proporcionar uma adaptação menos
traumática.
Foi a esposa do meu sobrinho que arranjou isso aí. Aí ele chegou e disse: Amanhã, terça-feira você vai para a casa dos Fios os. Ave Eia ria! Parece que transpassou meu coração. Eu nunca pensei numa coisa dessa. Eles falavam nisso, mas, eu nunca ia achar que eu viesse pra cá. Eles queriam mesmo que eu viesse pra cá, para ver se eu melhorava, eu sentia cansaço e era dessa finurinha... (Silvana)
Na impossibilidade de mudarem sua condição de vida vêem na morte
a única saída para o seu sofrimento. Não crêem na possibilidade de virem a se
acostumar com a vida no asilo e darem um novo sentido para sua vida, carac
terizando uma completa rejeição a institucionalização e um estado depressivo crônico:
... eu peço é a morte. Se Deus quizesse eu ia tranquila. (Sofia)
104
...desejei morrer muitas vezes, se for pecado, me perdoa m eu Pai... (Silvana)
...nem que eu morasse aqui awida inteira eu não me acostumo. Ninguém acostuma com o que é ruim. Nunca pensei em morar aqui. (Suely)
... depois que eu vim pra cá, acabou-se tudo, tudo no mundo, tudo que era bom. Pra mim não tenho nada. (Samara)
... eu vivia bem e vivo aqui feito uma cachorra. Meu mundo era outro. (Sofia)
...não, eu não me acostumo não. Penso muito em ir embora... ( Silvana)
Alimentar um objetivo ou uma esperança, mesmo mediante evidências
contrárias, traz significado à vida e alimenta a vontade de lutar ou esperar por
ele. As idosas que disseram ter um objetivo concreto para um futuro próximo,
informaram que o mesmo está relacionado exclusivamente com a saída da ins
tituição asilar, como condição única de ainda viverem felizes os anos'restantes
de sua vida:
...quando eu sair daqui eu procuro meu filho, minhas filhas. Eu quero voar daqui de dentro. (Samara)
...espero que essa temporada daquipra frente não seja aqui dentro. Se for pra ficar aqui até morrer será uma vida muito triste para mim. Deus é que vai resolver. (Sônia)
...só me sinto feliz se eu for morar com a minha filha. Espero que as coisas melhorem (Solange)
... seu eu pudesse encontrar uma casa, botar uma pessoa para cuidar de mim. Eu só me sinto feliz na minha casa própria. Na casa da gente é diferen te, eu podia fazer o que eu quizesse, me expressava de outra maneira... (Sandra)
105
...meu maior desejo era viver com eles até o final da vida. Deus é quem, sabe, né? Mas^ esse era o maior prazer e alegria na minha vida. (Silvana)
A institucionalização das idosas se associa com modificações com
portam entais que significam que a pessoa não tem mais finalidades, não se pro
jeta mais no futuro. A capacidade de futurização do tempo está reduzida nos
idosos, talvez em virtude de terem menos oportunidades de realizações no pre
sente, pois o asilo tolhe a liberdade e iuexistem condições concretas para que
possam escolher o caminho que desejam seguir. Passam a esperar pela morte, na
certeza de não ter um amanhã, com manifestação de tristeza, desesperança e
certeza da proximidade de sua finitude:
...nada eu não poço fazer nada, mudar nada. (Sulamita)
Não vejo saída porque eu não posso modificar só nada. Já pedi a morte muitas vezes. (Sofia)
Hoje eu não tenho mais nada de plano para realizar, meu plano é o eterno. (Selma)
Aguardam dia após dia a sua saída do asilo como forma de readquiri
rem o gosto pela vida, não sendo necessárias, para serem felizes, nem mesmo as
mínimas condições de sobrevivência, como a garantia de alimentação.
...eu não gosto, tô aqui a força, a força mesmo. Eu não quero mais viver aqui. Tem almoço, tem merenda, tem tudo, mas eu não quero. Eu queria é não ter nada na vida, eu pedia um bocado no meio da rua e não queria tá aqui dentro de jeito nenhum. ( Samara)
A não aceitação do asilamento é pronunciadamente mais difícil para
as idosas que conviviam anteriormente com seus familiares, enquanto as idosas
solteiras ou que residiam sozinhas se mostraram mais resignadas. Avaliam sua
106
nova condição de vida como mais natural e necessária diante das dificuldades
decorrentes de uma vida solitária, onde pontos positivos com a institucionaliza
ção sao tidos como ganhos, enquanto as casadas são consideradas vitimas, so
frem a rejeição dos familiares e por isso, sentem-se mais infelizes e incapazes de
desfrutarem das facilidades que a instituição oferece.
Eu acho que a pessoa casada sente mais, porque o solteiro não tem aquela mágoa e o casado tem aquela mágoa de ter tanto filho, às vezes oito, nove filhos e tá aqui dentro sentindo desprezado, Porque eu como mulher, jamais colocaria a minha mãe aqui dentro, nem que passasse necessidade, eu ficava com a minha mãe até o fim. Porque eu acho muito bonito as pessoas que amam seus pais, que são muito importantes. Deu a vida a gente, né? A gente desprezar, encostar pra acolá porque tá velho, porque não sabe falar, não eu acho isso muito duro, doloroso. (Selma)
Não foi cogitado pelas idosas a natureza ou a qualidade do relaciona
mento familiar. Os conflitos familiares sao inevitáveis e universais, não„havendo
outro tipo de relacionamento que o substitua. O pensamento das idosas asiladas
se volta completamente para o bem-estar de sua família e fazer parte da mesma
significa inserir-se no meio dela, por isso, o asilamento representa distancia
mento e falta de amor entre os familiares.
Estarem próximas dos familiares é o sustentáculo para uma vida mais
feliz, como podemos observar nas colocações abaixo:
...eu não me acostumo nunca! Quando eu vou pra minha filha é um alívio!. (Solcinge)
... aqui tinha um senhor que morava só e tinha tudo dentro do quarto . televisão, rádio, ventilador e um dia ele dissepara sua filha que queria ir embora e ela respondeu que ali ele tinha tudo, nada faltava. E o idoso respondeu: Eu tenho tudo mas não tenho vocês e começou a chorar e eu não aguentei mais e vim me embora. (Santinha)
107
Na colocação acima, fica claramente revelado que, para as pessoas em
geral, é simplesmente necessário que o idoso tenha satisfeitas as mínimas com
diçoes de sobrevivência, cama, teto e comida que ã instituição oferece, sendo-
lhe completamente omitido o direito de se relacionar com os entes queridos, ter
afeto e ser respeitado como todo ser humano. Enfim, é conferido ao velho este
rilidade sentimental, ou seja, não é mais capaz, nem há necessidade de amar e
ser amado.
7.3. Representação Social de Asilo
108
7.3.1. Espaço de libertação:
O contexto de vida antes do asilo pode traduzir um sofrimento intrín-
sico e o asilo representa, então, a libertação de uma vida difícil, sacrificada,
oprimida e sem recompensas materiais ou afetivas. Nesse caso, o asilamento é
visto como um salto para vida, com experiências novas e gratifícantes, antes
nunca vivenciadas e que a dedicação exclusiva ao trabalho não permitiu uma
vida assegurada materialmente após a sua cessação. Essa representação positiva
do asilamento ficou restrita às idosas que viviam sozinhas, longe ou sem apoio
de amigos ou familiares. A vida antes do asilamento era árida, sem atrativos e
bastante sacrificada:
...pra mim aqui é a liberdade, a facilidade. A gente vive uma vida liberta do trabalho, de tudo. Aqui eu tenho a responsabilidade da minha pessoa somente, do meu viver, do meu conviver, mas de fazer, não. (Selma)
*... eu vivia na minha casa, passava o dia, eu lavava, varria, espdhava, só trabalhando. Aqui minha vida tá muito diferente. .. (Selma)
Uma vida mais feliz no asilo é colocada como uma experiência subje
tiva particular diferente do senso comum, e, não extensiva à maioria dos idosos
asilados, que por diversos motivos, dentre eles, o afastamento dos familiares,
percebem o asilamento como abandono, solidão, dependência e deterioração fí
sica e mental.
Outro aspecto refere-se ao fato que, mesmo quando da existência de
familiares e do interesse dos mesmos em acolher a idosa, mas, no decorrer de
sua vida não houve um relacionamento mais estreito entre eles, sente-se como
uma intrusa, uma hóspede, dificilmente sentindo-se à vontade e com intimidade
suficiente para residir com eles.
[09
Assim, o asilo pode assumir a identidade de sua própria casa, onde a
idosa organiza dentro do possível sua rotina e comporta-se com maior liberdade,
sem temer entrar em atrito com seus familiares. \
... eu me sinto mais na minha casa aqui do que na casa dos parentes. Lá tinha empregada, eu tinha tudo nas mãos, eu não fazia nada, só cantava para ele tocar violão, seis horas da tarde. Tinha tudo na mesa, tudo. Mas sentia falta do meu. canto. (Simone)
Eu gosto daqui. E tem quem me queira. Eu gosto, mas posso- cair na mesma opinião delas quando eu tiver acamada lá em cima, rejeitada, precisando do cuidado delas, sem poder me defender... (Simone)
Um mecanismo psicológico empregado para o ajustamento está base
ado em processos de comparação social. Isto significa que a pessoa reorganiza
seus padrões pessoais de avaliação ao se comparar a outros subgrupos específi
cos ( como na fala acima em relação aos idosos acamados). Para melhor lidarem
com as perdas, as pessoas idosas, de modo mais freqüente, utilizam-se de com
parações com pessoas piores que si próprias ( Heckhausen e Schulz, 1993).
Em outras palavras, viver no asilo pode adquirir dois pontos de vista
antagônicos e passíveis de mudança em decorrência da condição física do idoso,
em que o estado de dependência total confere a perda de autonomia e uma vida a
mercê da vontade dos outros.
O estado físico do idoso, mesmo implicando em dependência, tempo
rária ou permanente não justifica o isolamento social através de sua institucio
nalização, e que uma vez compensada pela ajuda de algum membro da família,
não deveria ser impeditivo para a convivência familiar que é uma condição re
levante para ao bem-estar da pessoa idosa:
...tem uma senhora que mora lá aonde eu morei, ela tá com 82 anos. Só não faz as coisas porque não tem condições, ela
110
levou uma queda e quebrou o braço. Mas, a filha faz tudo por ela em casa. Ela vive bem'parque tem a família ao lado dela. Fizeram os 80 anos dela, feito uma pompa!
7.3.2. Espaço de restrição:
A descrição e compreensão da dinâmica organizacional do asilo pelas
idosas foram ancoradas em prisão, casa de loucos e/ou dependentes e “casa dos
outros”. A ancoragem como dita em capítulo anterior, tem como objetivo trans
formar o desconhecido, no caso, o asilo, em algo familiar.
A prisão é conhecida socialmente como uma instituição que abriga
pessoas maléficas à sociedade e que, portanto, devem ser segregadas num espa
ço físico delimitado. Ao ancorar o asilo numa prisão, o sentido não estava rela
cionado ao fato de serem elementos perigosos, mas marginalizados, sem função,
e rejeitados pelos familiares, devendo ser confinados, caracterizando um grupo
desnecessário socialmente.
Embora seja permitida a saída da instituição de idosos em condições e
autorizados para um contato cora o mundo externo, a vida asilar é tida como de
sagradável e restritiva, quando coloca que:
...eu era uma pessoa livre. Quando eu saio lá fora no portão meu coração se abre. Quando eu estou entrando se fecha tudo. (Solange)
A ancoragem do asilo à prisão também se faz pela característica ex
terna do prédio, com muros altos e controle de saída dos idosos no portão. Tam
bém foi associado a isso, o comportamento da direção administrativa do asilo e
o rigor no cumprimento das regras internas, exigindo das idosas um comporta
mento de submissão para serem consideradas disciplinadas, caso contrário, ame
1U
aças de punição, como a expulsão da instituição, as deixam tolhidas de agirem
com maior liberdade.
... antes eu vivia num lugar sozinha, tinha a minha liberdade. Eu não procuro as outras pessoas daqui, eu procuro me isolar o mais possível, (Sandra)
...me sinto que eu estou presa, arrodeada de muro, é mesmo que tá numa cadeia. Ninguém vê nada aqui, é uma solidão. (Solange)
... tem que ser conforme a casa manda. Aqui quem manda é elas. E se não obedecer elas ameaçam jogar no meio da rua. (Sandra)
Como afirma Louzã et al. (1986), nas instituições totais, o internado
tem sua vida constantemente controlada por um sistema minucioso e limitador,
perde portanto, a autonomia dos seus atos. É obrigado a pedir permissão para
executar as atividades que faria sozinho no mundo externo.
Ainda assim, conseguem a seu modo, driblai' alguns aspectos do con~
trole externo, realizando algumas atividades sem o conhecimento da direção ou
das outras idosas e que" as fazem se sentir mais autônomas e como Debert
(1999) chamou, criar uma “vida íntima’". São os recursos internos que funcio
nam como válvula de escape para as pressões sofridas, como exemplificado
abaixo:
...nem tudo que a gente faz elas precisa saber, a gente dá o nosso jeitinho. Tem coisas que elas mandam que entra aqui e sai por ali. (Solange)
Por desconhecerem a instituição asilar a comparam ao asilo de loucos,
termo carregado de um sentido pejorativo e por isso, raramente pronunciado
pelas idosas, que se consideram lúcidas e independentes. Tratam, portanto, de
usar outros termos para denominar a instituição asilar como: abrigo, lar ou casa
de idosos.
112
Com o contato mais prolongado com os demais residentes, as idosas
constatam que seria para os mentalmente ou fisicamente comprometidos que o
regime institucional mostra-se mais apropriado, eiri face ao grau de isolamento
em que se encontram bem como o controle e vigilância exercidos, destituindo-as
de seu modo de ser para assumirem um estereótipo institucional.
... chegando o tempo de ir vai mesmo. Mas, eu não preciso não, porque eu ainda estou aprumada. (Silvaria)
... pra gente sem juízo certo é bom, mas pra gente como eu não. Pode ser que alguém diga que é bom pra não falar mal da casa, né? (Solange)
O asilo quando representado como "casa dos outros” orienta um com
portamento de completa aceitação de um sistema rígido e impessoal, sem espa
ço de reinvindicação, como internadas, de seus direitos, como se as idosas esti
vessem vivendo "por favor”. Encontram-se, pois, num estado de negação de
seus costumes e, totalmente despossuídas de seus bens.
Você quer comparar morar na sua casa, viver a sua vida, fazer o que você quer e vir morar na casa dos outros? Nada é meu. (Solange)
De maneira abrangente podemos inferir que o contexto asilar comum
pode assumir significados singulares dependentes da história pessoal, da dispo
nibilidade de suporte afetivo, da personalidade, da capacidade de enfrentamento
das situações estressantes, do nível social e do sistema de valores pessoais e so
ciais predominantes do grupo analisado.
Os elementos constitutivos das representações sociais investigados
como as informações, imagens, opiniões, crenças, etc. dos sujeitos sociais em
questão, referentes ao asilo/asilamento dos idosos, faz parte, como denominou
113
Spink (1993), do pensamento constituído ou campo estruturado do meio, sendo
por ísso, um produto dos determinantes sociais.
7.4. O Cotidiano na Instituição Asilar:
A partir das práticas cotidianas no asilo e as representações que as
idosas fazem delas, podemos compreender aspectos importantes da experiência
do asilamento.
7,4.1. Ociosidade:
A ociosidade na rotina dos residentes é um flagelo configurado
pela monotonia dos dias vividos, sem novidades e atravessados praticamente de
forma igual
1.14
A inatividade influencia diretamente a ocorrência de pensamentos de
pressivos entre os idosos e que assim, ficam sem motivação para modificai' a sua rotina. \
Beauvoir (1990) faz uma critica contundente sobre a falta de ocupação
dos idosos asilados, quando discorre que, por passarem o dia inteiro sem fazer
nada, a ocupação resume-se basicamente em alimentarem-se, com os cuidados
de higiene e em dormir. A ociosidade melancólica desemboca numa apatia que
compromete o que resta do equilíbrio físico e mental do internado. E salienta
que, para os idosos se defenderem de uma inércia em quase todos os sentidos
devastadora, seria necessário a prática cotidiana de atividades que trazem me
lhoria para o conjunto de suas funções.
Vários estudos de orientação sociológica sugerem que a presença de
um maior número de identidades, por exemplo, familiar, ocupacional, relaciona-
se à melhor saúde mental do indivíduo (Kessler e Mc Rae, 1982). ■
A ociosidade que enche de tédio o cotidiano da idosa e a deixa prati-
camente quase todo o dia deitada pode ser compreendida nas falas abaixo:
Todo dia a gente merenda e se senta até a hora do almoço ou se deita. Ninguém faz nada aqui. Aí almoça, se deita e se levanta na hora da janta. Aí às vezes falta a paciência, eu acostumada a trabalhar... (Samara)
Não faço nada. Só estou fazendo essas bonecas porque não agüentei mais. Três meses sem fazer nada, absolutamente nada. Eu estou achando que está muito pesado, mas eu vou continuar. Se eu não puder aguentar a vista, a vista tá pior pra costurar. Antigamente eu costurava roupapra mim, pro meu marido, pros meus filhos. (Sandra)
Acordo cedo pra tomar café. Lavo um pouco de roupa e fico o dia todo na cama. Depois do almoço, cochilo um pouco, às vezes tomo café ou só vou jantar e vou dormir, só. (So-
11.5
Faço nada, eu não vou mentir, nada (com ênfase). Acho muito ruim. Minha filha, a única ocupação que me satisfaria era meu trabalho, outra coisa não. (Solange)
Fico na cama à força. Porque o que eu vou fazer? Conversar com quem? Falar com quem? Andar com quem? (Solange)
A falta de ocupação, para outras idosas, nem sempre representa uma
situação angustiante e, mostram-se adaptada a essa realidade quando dizem:
Eu faço meu café naquela cozinha e bebo café ã vontade. Não sinto falta de novidade, meu dia tá bom. (Silvia)
Tudo a mesma coisa pra variar... Mas tá bom. (Santinha)
Mas não tem muito o que fazer não, se tivesse eram bom e o jeito que tem é ficar conformada. (Silvana)
Pela pouca oferta de lazer e, que quando existente não é apreciado por
todos os residentes, a ocupação do tempo ocioso com trabalhos domésticos pode
ser percebido como uma espécie de lazer, capaz de proporcionar prazer e satis
fação na sua execução. Veem também na capacidade de executar as tarefas con
sideradas importantes, a razão de um dia preenchido de forma útil. Desejar reali
zar o que costumeiramente fizeram durante toda a vida, como operárias ou como
donas de casa, é uma forma de resgatarem sua identidade.
Eu não gosto de festas, O que faz um velho em festa? (Su- lamita)
Não gosto mais não de festa. Vou só pra ver os outros dançarem. (Solange)
Eu não participo da T.O . Eu prefiro fazer meus afazeres, que eu lavo, passo pra mim. Eu saio na rua pra resolver meus problemas, meu pagamento vem do Rio (Sônia).
116
Eu já me acostumei com a minha rotina. Não tem outra coisa pra fazer.... Pra gente ficar parada não dá. Picar pensando aí que os problemas crescem. (Sônia)
Eu sinto necessidade de me ocupar, mas em coisa útil. As coisas que tem aqui eu não gosto. Fazer bonequinha, cortar papel...essas coisas aí não é comigo não. Eu tenho é vontade de movimento, como uma máquina industrial que eu vejo ela correr, fazer uma limpeza que eu vejo tudo bonito, brilhando. Uma mulher da luta como eu, da luta braba, vou me ocupar em fazer boneca, cortar papel? Não gosto. Eu não aguento trabalhar por causa do meu pulmão. (Simone)
Todo dia é igual a todo dia. Minha ocupação é arrumar minha cama, lavar meu caneco. Gosto de ficar na secretaria, atendo um telefone, dou recado, vou chamar um e outro. Faço assim alguma coisinha de útil. (Simone)
Aqui eu não posso fazer nada, o que eu fazia eu não poço fazer mais. Eu fazia era bolo, cocada, tapioca, tudo pra vender. (Sandra)
*Não faço nada não. Só faço andar aí por cima. Minha filha, nem uma linha eu posso botar na agulha. Eu ainda lavo minhas roupinhas de manhã. Todo dia eu tenho que trocar as roupas, eu nunca gostei de sujeira. (Solange)
As atividades desenvolvidas na terapia ocupacional e as festas apesar
de distrair e ocupar uma pequena parcela das idosas, possuem um efeito tera
pêutico reconhecido, como explicitado a seguir:
Depois que eu cheguei aqui, eu era muito triste, mas, eu passeava, elas levavam pra passeio, tinha muita festa aí, forró. Me botaram pra dançar mais elas, aí eu melhorei muito, fiquei boa! Eu faço minhas coisinhas, lavo minha roupa. (Silvana)
Eu participo da T.O e estou me recuperando mais por causa da T.O. Dou todo dia. Faço desenho, alguns trabalhos, só não tô bem dos olhos. (Suely)
117
De outra forma, ir para a terapia ocupacíonal, pode significar não o
interesse real da idosa, mas uma forma de compromisso assumido perante as
pessoas responsáveis e, temendo contrariá-las é por isso, deixar de ser bem
quista e de receber a atenção conquistada, acaba frequentando sem propriamente
sentir benefício pela ocupação.
Eu vou toda semana na T.O porque tem uma estagiária lá e eu disse que ia e não gosto de faltar. Eu gosto de lá, mas se eu não ir não tem nada não. Fico lá no meu cantinho, sentada na cama. Fias todo dia eu faço fisioterapia. (Silvana)
Ficou evidenciado que, para terem alguma atividade recreativa como
as oferecidas pela terapia ocupacional, as idosas devem aceitar a programação
predeterminada, não havendo portanto, qualquer adaptação às suas condições de
saúde. Quando, porventura, possuem algum problema físico que as impedem de
se inserir no esquema, observamos a falta de flexibilidade dos profissionais da
instituição por não levarem em consideração as potencialidades ou as preferên
cias individuais das idosas que, mesmo demonstrando interesse, ficam sem par-
ticipar.
Em outras palavras, a idosa ou aceita as atividades propostas ou fica
entediada com a ociosidade.
/I T.O. não dá pra mim não. Pra eu ir de cadeira de roda... Eu queria falar com a Dra. Júlia para fazer boneca, mas ela não veio aqui. (Sandra)
...vieram aqui não sei quantas vezes me buscar para terapia, mas eu não quis. Eu não tenho condições, a minha vista não dá. Eu não sei fazer nada num lugar com muita gente, eu fico toda cheia de dedos. (Sandra)
...não tenho interesse na T.O. Nem na missa eu vou. (Sofia)
(18
A T.O me faz mal porque eu tenho sinusile e o cheiro de tinta é forte. Eu faço a fisioterapia para a coluna. (Solange)
Eu nunca fui pra T.O. Já me convidaram foi muito, mas eu nunca fui não. Meu sentido é o mesmo, nem ligo pra festas, na solidão que eu vivo. (Silvia)
Louzã et al. (1.986) assinalaram que as atividades laborativas, nas ins
tituições totais, oferecidas através da terapia ocupacionai, mesmo para fins re
creativos, acontecem em horários estabelecidos e têm um significado diverso
daquele do mundo externo, pois não há gratificação nem dignificação com a
mesma. Acrescente-se, ainda, que a idosas não tomam parte sobre a decisão em
doar, vender ou ficar com os objetos para si próprias, frutos do seu trabalho.
Ignorar os planos das idosas ou dar pouca importância para os seus
desejos referentes à manutenção de papéis e ao senso de utilidade própria e para
os outros, não as permite compensar as perdas sentidas, além de lançá-las no
ostracismo abrindo mão de seus domínios. Atitude retrógrada dos profissionais
que não aproveitam as competências das idosas e as fazem abrir mão de alcãnçar
metas com alto valor protetor para uma velhice mais ajustada:
Logo quando eu cheguei aqui, eu tinha vontade de abrir uma aula, porque aqui tem muita gente que é analfabeta. Ainda falei com a doutora e ela disse que aqui não tinha flanelógrafo, uma sala. Mas tinha viu? Se tivesse boa vontade dava. Ainda apareceram umas três ou quatro pessoas dizendo que queriam aprender, mas foi o tempo que eu ado- eci, foi um retrocesso e passei um ano em casa. Quando eu voltei, algumas daquelas que queriam estudar já tinham morrido, aí eu fui me des imaginando daquilo. (Santinha)
A dedicação à prática religiosa, individual ou coletiva, é considerada
uma ocupação que além de preencher o dia, traz conforto e sentem-se fortaleci
das na fé e, portanto, em paz com Deus.
119
Embora o indivíduo necessite de inúmeros recursos para lidar com os
eventos da vida e com as demandas do dia-a-dia, Lazarus e Folkman (1984)
identificaram como categorias básicas pessoais, os recursos físicos como saúde e
energia; os psicológicos como as crenças 4 positivas (pessoais e existenciais) e
os de competência como habilidades sociais e de solução de problemas. Os re
cursos materiais e o suporte social e familiar são também importantes, mas seri
am recursos considerados ambientais.
As crenças existenciais, espirituais ou religiosas parece ser um dos
poucos recursos pessoais que tendem a aumentar na velhice (Goldstein e Neri,
1993).
Diversas teorias psicossociais tendem a apoiar a idéia de que as cren
ças existenciais ou religiosas podem diminuir o estresse percebido.
Outro aspecto importante seria a interação social oferecida pela religi
ão, quando existe um interesse comum, por exemplo:
ris duas horas da tarde eu vou rezar o terço com mais cinco idosas da outra vila. Eu acho muito bom. (Santinha)
De modo comum, o atendimento da necessidade religiosa é realizado
de forma individualizada, onde a idosa busca por meios próprios manter sua
proximidade com Deus, haja vista a irregularidade e deficiência desse tipo de
assistência oferecida pela instituição, principalmente para as mais religiosas.
Eu leio um trecho do Evangelho, eu acho que isso me preenche mais a hora passa mais rápido. (Sônia)
Nenhum dia de felicidade eu tenho, porque eu vivo contrariada. Eu gosto quando os evangélicos vêm. (Suely)
Crenças são importantes mediadores cognitivos e que podem ser considerados como noções sobre a realidade, formadas individualmente ou transmitidas pela cultura que organizam as percepções e avaliações das situações, especial mente em circunstâncias ambíguas. (Goldstein, 1995. p. .148)
120
Só Deus tira a tristeza porque sabe o que a gente sente.(Sulamita)
Comprei uma televisão e com "a rede vida, tem dia que eu assisto três missas e ainda rezo o terço. (Santinha)Tantas vezes a gente tá num ambiente grande, amplo e não sente nada, tá vazio de tudo. Eu só me sinto feliz na igreja. Sempre tive fé, graças a Deus. (Sandra)
Unia maneira de se sentirem mais conformadas é através da religião.
O asilo não oferece missas ou cultos de forma regular ou sistemática, que ve
nham satisfazer as necessidades espirituais das idosas:
...o padre só vem uma vez por mês. A gente come três a quatro vezes no dia e se alimentar da eucaristia só uma vez por mês! (Santinha)
... aos domingos tinha só a consagração e dar comunhão, não era missa. A ministra da eucaristia nao gostou porque eu disse que aqui tinha muita deficiência na vida espiritual. (Santinha)
A fé em Deus alimenta a certeza de não estarem sozinhas, nem de
samparadas. Podem nao ter nada, mas têm a Deus que é tudo.
Portanto, adaptadas ou não ao cotidiano asilar, as idosas comportam-
se de forma passiva, sem desenvolverem uma ação direta para alterar sua rotina
de modo a atender às necessidades percebidas e seus desejos.
Essa forma de adaptação ao seu novo mundo é denominada de con
trole secundário e de acordo com a teoria sobre o controle desenvolvida por
Rothbaum et al. (1982), o controle secundário se assemelha com a desistência de
controle, com o desamparo e outros comportamentos que expressam incontrola-
bilidade. O controle primário envolve tentativas de alterar o ambiente e, o idoso
asilado devido aos obstáculos e desafios encontrados permite-se ser controlado e
não recorrer a outras estratégias de resistência. A adaptação se faz sobretudo
121
através do controle secundário ao longo de sua permanência na instituição,
quando sentem sua impotência na condução de qualquer mudança para uma vida
mais satisfatória: -
... eu não posso modificar só nada.., (Sofia)
7.4.2. Relacionamentos conflituosos:
A dificuldade de um relacionamento satisfatório entre os residentes,
toma a vida no asilo decepcionante. Apesar do encontro dos destinos de uma
velhice institucionalizada e sentirem, de forma semelhante, as mesmas carências
e necessidades, a intimidade, confiança e amizade entre eles são praticamente
inatingíveis, quando assim se expressam:
...o que mais me entristece aqui é a convivência. São rebelde. Nunca se une. Se aqui tivesse noção, espírito d& caridade era bom. A gente no meio dos maus perde a educação. (SuNy)
...fosse tudo de um jeito só, quando fosse fazer uma coisa aí combinar com elas, fulano será que dá certo? .Mas, vem logo os gritos. (Samara)
Poucos idosos se dão bem, muito poucos. São muitas naturezas juntas, tem muita coisa que desigualha. Tem que ter gente pra mandar de todo jeito, seja certo ou errado. (Sônia)
...não tem ninguém para bater um papo, um amigo. Não tenho confiança aqui em ninguém.... as coisas que eu tenho dentro de mim eu não converso com ninguém aqui. Não adianta. (Silvia)
...não tem ninguém que a gente confie, porque se eu for contar alguma coisa é uma carta para eles botarem a gente no meio da rua. Eu não confio nem na roupa que eu estou
122
vestida. Quando eu vou pra minha filha, sei lá se não tem um bicho que pode me ferroar, hein? (Solange)
As idosas consideram um risco para constantes aborrecimentos, ter
como amiga alguma companheira da instituição. Para elas, amigo é com quem
se possa desabafar, ter afinidade e obter compreensão e ajuda quando necessári
as. Na certeza de um fracasso nas relações de amizade no asilo, e, a falta de inte
resse em buscar relacionamentos potencialmente positivos entre eles, as fazem
se relacionar de forma superficial, tendendo para o isolamento das idosas, uma
espécie de fechamento em seu próprio mundo:
...não sou de ter amizade não. O povo daqui são falso que ó o diabo! (Silvia)
...eu não me entroso de jeito nenhum. Eu fico calada, lendo a Bíblia, fazendo palavras cruzadas. Quando eu vejo as coisas que eu não gosto, eu aguento, não digo nada. Meus costumes é diferente, eu gosto de fechar a porta do quarto cedo, apagar as luzes cedo e ficar sossegada. (Selma)
...não tem ninguém para bater um papo, um amigo. Não'te~ nho confiança aqui em ninguém. As coisas que eu tenho dentro de mim, eu não converso com ninguém aqui. Não adianta. (Silvia)
...sinto muito só, porque não tem com quem dialogar, não tem. A solidão é dia e noite. Perdi o gosto de tudo. (Sofia)
... solidão a gente sempre sente, muita. (Sandra)
...eu não procuro as outras pessoas daqui, eu procuro me isolar o mais possível. (Sandra)
A qualidade da interação entre os indivíduos implica numa melhor
qualidade de vida, com maior satisfação. As idosas reconhecem o valor e a ne
cessidade de uma amizade, e, quando encontram uma amiga no asilo, é uma
oportunidade unica e rara, comparável a um familiar muito querido:
123
Eu só tive uma amiga, a dona Caída, fiquei muito triste quando ela faleceu há quase dois anos. Só era ela, mais nenhuma. (Sônia)
...amigo para desabafar aqui dentro não tem não. Eu não confio, porque a gente vê cara e não vê coração, Eu só tive uma amiga de confiar mesmo. Foi amiga, uma mãe, uma irmã. Mas, nosso Senhor já levou. (Selma)
Aqui tem as companheiras, Eu tive só uma amiga, mas Nosso Senhor já levou. Amiga precisa ter mais ou menos os mesmos conhecimentos da gente, ser de confiança. E muito complicado o relacionamento, é preciso saber viver. Eu não me importo com a vida de ninguém, cada um vive a sua vida. (Santinha)
Carstensen desenvolveu em 1991 a teoria denominada da seletividade
socioemocional, e, enfatiza que a força motriz da busca de contatos na velhice
são seus benefícios emocionais e afetivos, enquanto os adultos o fazem em bus-
ca de informações5. O idoso torna-se mais seletivo quanto aos tipos de contato
que deseja manter e quais quer evitar, sendo a emoção o fator dominante nas
interações sociais na velfíice (Carstensen, 1992).
5 A aquisição de informações inclui não somente a coleta de fatos objetivos, mas também informações auto- relevantes como atitudes e normas sociais, (Carstensen, 1992)
A teoria da seletividade socioemocional é uma teoria do comporta
mento social do curso de vida, e, defende que a interação social é motivada tanto
por necessidades fundamentais, tais como fome e sexo, como pelas modulações
sociais dos estados afetivos e psicológicos. Além de servir a funções básicas de
sobrevivência, a interação social permite a aquisição de informações, o desen
volvimento e a manutenção do auto-conceito e a regulação dos estados emocio
nais (Carstensen, 1995).
O insucesso de se buscar uma nova sociabilidade entre os residentes do asilo, traz a possibilidade de contatos mais bem sucedidos com pessoas de outras faixas etárias que também estão inseridas no cotidiano asilar:
124
...não é amizade pra valer, é só uns conhecidos, Quando eu venho aqui ou vou ali, tem unia pessoa que gosta muito de mim. Ela é babá de uma pessoa que já completou cento e tantos anos. (Silvana) \
A amizade dos familiares é considerada insubstituível e influencia po
sitivamente o estado emocional das idosas que se sentem distanciadas da famí
lia, por estarem institucionalizadas. Esperam, na visita dos familiares, comu-
mente não disponíveis quanto o desejado por elas, a certeza de ainda possuírem
vínculo familiar. O contato mais frequente dos familiares contribui para a autoa-
firmação da idosa como membro da família.
...o relacionamento é difícil porque tem muitas pessoas ignorantes. Não é com todo mundo que a gente pode falar. Aqui é só aquela conversinha do dia-a-dia. Pra contar de verdade é só com pessoa da minha família. (Sulamila)
Quando a família vem visitar é bom, né? (Sulamila)
...meus sobrinhos sempre viam. Mas hoje, as pessoas preo- cupadfis com o carro, com uma coisa, com outra e quase não vem. Só quando eu ligopra vir me buscar. (Silvana)
...minha sobrinha custa de vir aqui e eu me sinto só. Tenho um desgosto, mas passa. Sabe do que eu me lembro?
Quando eu morrer, não vou só? Tudo se acaba, né? vezes até eu acho bom ficar assim isolada proque quando chegar no fim, já não tem tanto o que sentir, já estou acostumada (Santinha)
Na velhice, as pessoas interagem bem menos com os outros do que na
juventude. O contato familiar parece tomar-se mais importante (Cicirelli, 1989),
Carstensen (1992) explica que uma das razões que dificulta as intera
ções dos idosos com parceiros não familiares é fazerem parte de um grupo es
tigmatizado e, as interações trazem risco ao seu autoconceito e auto-estima. En
tão, as interações familiares tomam-se mais importantes e as interações com no-
.125
vos parceiros tornam-se cada vez mais imprevisíveis e ameaçadoras ao autocon-
ceito.
As mudanças no comportamento social relacionadas ao avanço da
idade provêm de uma complexa rede de interações representando as percepções
passadas, presentes e futuras, bem como as oportunidades disponíveis no ambi
ente para satisfazer as necessidades humanas básicas (Carstensen, 1992).
Um ponto crucial da teoria da seletividade socioemocional é que a re
dução da interação social não é imposta aos idosos, mas que eles próprios de
sempenham um papel ativo na redução do ambiente social. Representa uma
ruptura com a visão radical de que a velhice é um constante processo de deteri
oração, caracterizado por afastamento social e enfraquecimento nas emoções.
A análise realizada por Schultz (1985) conduzida a partir de dados da
sociologia, biologia e psicologia sugeriu que as pessoas idosas experienciam
emoção mais ou menos com a mesma intensidade do que as mais jovens. Mas,
as pessoas idosas se deparam mais frequentemente com emoções negativas, por
causa dos eventos de vida negativos associados com a velhice como o luto, mo-
rar sozinhas, ausência de um relacionamento mais íntimo e de confiança e baixo
poder aquisitivo.
A visita de pessoas estranhas é vista positivamente pelas idosas e pa
rece preencher a solidão e a desatenção que são vítimas no seu cotidiano. Tra
zem presentes que as deixam alegres:
...tem muita visita no dia de Domingo. Gosto muito da visita. zts' vezes trazem uma lembrancinha pra gente, um sabonete, uma pasta, um vestidinho... (Silvaria)
Ocorrem no ambiente asilar, brigas, desentendimentos e agressões fí
sicas, demonstrando a impossibilidade de uma vida coletiva aceitável:
126
...brigam muito. Aqui já teve dois assassinatos. E muita diferença de educação, de sentimento. Mas tem uns que se dão com os outros, jogam, principalmente os homens. Eu acho que os homens têm melhòr relacionamento do que as mulheres. (Santinha)
As vezes querem se matar, brigam e tudo. Mas, não é todas, sabe? Tem quarto que a gente não vê zoada. Eu fico horas e horas ali no banco assentada e num vejo discussão. (Sama- ra)
Na minha mente eu pensava que aqui era uma casa de repouso. Que a pessoa vivesse tranquila pelo menos na mente. (Sofia)
As brigas acontecem mais frequentemente na fase de adaptação da
idosa ao asilo. A incompatibilidade de opiniões resulta em agressões físicas
graves e, revidar significa assegurar respeito e livrar-se dos insultos injustos aos
quais estão expostas:
... eu briguei muito quando cheguei aqui, porque elas me anarquisavam, queriam me açoitar. Eu peguei e ciei uma pisa, Agora, não dizem nem que eu sou feia. Eu não gosto de maltratar as pessoas. (Suely)
...às vezes tem confusão. Só não tem comigo porque eu não dou valor. As vezes brigam, levam queixas pras doutoras. Não, essa cabrocha que aqui está só esteve lá para fazer uma queixa, que foi logo que eu cheguei aqui. (Silvana)
... um dia aí uma veia bateu o pau aqui que ficou rouxinho e eu peguei um cabo de vassoura e iaque i na cabeça dela, chega o sangue escorreu e nunca mais ela fez isso comigo. A doutora Júlia me chamou lá fora e aí foi ela sangrando e falou pra ela que ela primeiro bateu em mim e que não podia mais acontecer isso de novo. (Solange)
...aqui só falta se matarem. Os que estão melhor mata os mais doente. (Suely)
127
A atitude assumida pelas idosas para , evitar desentendimentos e
agressões foi de um comportamento distanciado e indiferente entre elas, e, para
poder contar com a ajuda de algumas companheiras,’em situações de muita ne
cessidade, devem evitar, na maneira do possível, qualquer forma de atrito:
Eu nunca teimei com ninguém. Pocle ser de noite, pode ser de dia, pode ser a hora que for, todo mundo me respeita, tanto mulher como homem. No meu quarto sao quatro, mas não tem uma palavra boa com a outra. (Samara)
...flquei mais madura, mais paciente. Aprendendo a viver com o idoso. Apesar de ter vivido com muita gente lá em S. Paulo, mas eu sempre tive o meu canto reservado, minha sobrinha. (Simone)
...nem sou carne nem sou peixe. Nem muito amiga nem muito afastada. Eu tenho amizade há muito tempo aqui e não tem nenhum que tenha queixa de mim. (Simone)
Dá pra ser feliz se a pessoa souber viver, como eu sei viver. Eu não encrenco com ninguém, não falo de ningu&m, dá para viver a minha vida em paz. (Silvana)
.xr...a gente não é propriamente só, né? Porque de qualquer maneira a gente pode recorrer ao vizinho pra ir chamar a enfermeira se tiver passando mal. Esse favor qualquer um pode fazer. (Sônia)
...ela faz como amiga. Quando eu termino de comer, eu como aqui, ela pega o prato bota aí, e, quando eu vou lavar, ela reclama. (Sandra)
O autocontrole é exigência para uma convivência menos conturbada,
sem maiores problemas, seja no ambiente familiar ou institucional. Considera-se
como mais natural tolerar os comportamentos indesejáveis dos familiares do que
os dos residentes ou dos funcionários do asilo que confere perda da individuali
dade e criticidade da interna.
128
... o meu genro não é muito bom, com toda a ruindade dele, quando a minha filha vier, eu vou me embora. Eu quero agüentar deles e não quero aguentar aqui dentro. (Samara)
Abundam entre as residentes as fofocas que não ficam simplesmente
entre elas, chegando até a administração e, sentem-se mal compreendidas, injus
tiçadas, humilhadas, uma vez que o fato não é apurado, a verdade raramente
vem à tona e há proteção de algumas idosas pela direção do asilo:
... o ambiente não agrada, né? Falta muita coisa para melhorar a convivência num abrigo desse. Falta ordem que quase não existe, não tem respeito uns com os outros e isso é uma coisa que desagrada muito. As informações passadas são muito contrárias, As pessoas que querem manter ordem são mal vistas, até. pela própria direção e não dá. E muito conflito. Se tivesse mais compreensão da administração quando uma pessoa vai falar uma coisa, quem chega primeiro e diz, acreditam só naquilo mesmo, fica escrito. (Sônia)
Se alguém levar algum comentário para a administração, a pessoa fica marcada. Boca calada não entra moscai. (Su- lamita)
...sempre quando uma pessoa me faz uma ingratidão, como se encontra muito aqui, eu digo assim: Até Jesus Cristo sofreu ingratidão dos outros, assim eu não sou melhor do que Ele, né? (Santinha)
Aqui dentro tem uma idosa que a gente não pode nem falar, porque ela só toma pra cima dela. A doutora só vai pro lado dela. Sabe por que? Porque ela deixa o dinheiro aqui dentro, né? Ela vive fofocando. Aí a doutora chama a atenção da gente. Eu tenho horror quando a pessoa me chama atenção. Quando ela vai contar a história a culpa é de quem não merece e quem fofoca é protegida. (Solange)
O relacionamento das idosas com os funcionários do asilo está atrela
do estritamente ao cumprimento das obrigações desses últimos, não havendo
129
amizade, proximidade, nem confiança nos mesmos por parte das idosas. Seus
pertences são roubados e não podem acusá-los, ficam acuadas temendo puni
ções ou serem marcadas quando reclamam de algo que as desagradam:
,..e/ex assumem o dever do trabalho deles. Tem alguns idosos que eles brincam, passam a mão na cabeça. (Simone)
...uma funcionária que tem aqui é muito dedicada e faz tudo tudo por esses velhos. Quando um sai, ela vai atrás, e chama, aquela agonia medonha. Ela tem um carinho medonho com eles. (Sandra)
Aqui tem muito ladrão. As pessoas dão as coisas a gente, mas roubam tudo. Um sabonete que dão as pessoas que trabalham aqui roubam. Não tem amigo de verdade, nem os funcionários são amigo porque rouba uns dos outros. (Sue- fy)
Quando a gente ganha um presente do pessoal que vem visitar, elas (funcionárias) roubam, quando a gente vai olhar, não tem mais. (Solange)
*Elas (funcionárias) querem que a gente aguente os outros bater na gente. Mas, eu não aguento. (Solange)
Pela observação e pela colocação das idosas, um contato mais próxi
mo dos funcionários ocorre nos casos de dependência do internado. A depen
dência como facilitadora das relações que, por serem baseadas no paternalismo social6 injustificado, não atendem as expectativas e necessidades de apoio das
idosas asiladas.
6 Paternalismo social justifica o fazer tudo no lugar do idoso e negar sua liberdade, autonomia e capacidade de escolha, A dependência física é frequentemente confundida com dependência para a tomada de decisão (Baltes e Silvcrberg in Ncri ,1995),
A falta de comunicação entre a administração e as internas é bastante
visível, havendo uma imposição de cima para baixo, mesmo para as situações
de interesse das idosas:
130
...parece que vão botar outra idosa aqui no quarto. Elas deixaram esse colchão aí. Agora é que vai ficar apertado / Eu nem sei quem vem. (Samara)
Louzã et al (1986) na revisão sobre as instituições totais, afirmam que
para manter a sua eficácia, a equipe afasta-se afetivamente dos internados, evi
tando a criação de laços de amizade, o que leva a um bloqueio emocional.
A eficiência da instituição é quem comanda a ação e não a meta de se
atingir o bem-estar dos internados.
O distanciamento social e de comunicação entre os dirigentes e os in
ternados são agravados pela diferença de idade existente entre eles. Nos idosos
são projetados os preconceitos sociais e as queixas e os anseios dos idosos não
são levados a sério.
Portanto, tomando como base os relacionamentos praticados dentro da
instituição asilar revelando a precariedade da qualidade afetiva em todos eles, ou
seja, os idosos entre si, os idosos e os funcionários e os idosos e seus familia
res/amigos, concluímos haver uma enorme dificuldade em sentirem-se* apoia
das socialmente.
Sentem-se desamparadas e sozinhas, não podendo contar com nin
guém, seja com as demais idosas ou com os funcionários da instituição.
...a gente não pode ser acatada numa palavra que eu acho que eu estou precisando recorrer a alguém e não existe esse alguém. (Sônia)
Para a voz da gente não tem ouvidos aqui dentro. (Sônia)
Condição de ser feliz não tem, mas de viver em paz desde que seja bem tratada. (Sônia)
A visita dos familiares, é muito esperada e é a ocorrência que mais
alegria traz para a idosa asilada, como também decepções e tristezas são experi-
enciadas quando não atendidas suas expectativas:
131
... eu sinto muita saudade do meu pessoal. Todo dia eu me lembro deles. Ainda hoje eu estava esperando um afilhado, já fiz duas ligações para ele. Ficou de vir semana passada, não veio, ficou de vir no fim ‘'dessa e até agora não veio. (Silvana)
... eu tenho quatro irmãos. Uma irmã veio me visitar a um ano atrás, nunca mais no mundo pisaram aqui. Eu me sinto triste, abandonada por minha família, só não de Deus e minha filha que não me abandona. (Solange)
A literatura sobre o assunto enfatiza que um ajustamento bem sucedi
do na velhice depende da existência de redes de relações sociais que permitam
apoio e possibilitem ás pessoas fazer confidências. Portanto, laços íntimos e
afetivos, mais do que amplas redes de relações sociais, servem como sistema
protetor em momentos difíceis da vida, ajudando no enfrentamento de eventos
negativos bem como reafirmando o valor pessoal.
Importante distinguir suporte social de interação social. No asilo, os
relacionamentos são, na sua maioria, muito estressantes. Isto significa dizer que
a interação social apesar de existente, não assume a característica de apoio ou7 *suporte social na instituição asilar.
Portanto, como coloca Warner (1998), a interação social deve ser ava
liada sob diferentes aspectos como o tamanho da rede social que se refere ao
número de pessoas (familiares e amigos) próximas ao indivíduo, que no caso do
idoso tende a estar mais reduzida; ao suporte social que se refere a ajuda emoci
onal ou instrumental recebida e a participação social.
No asilo, as modalidades da função social, acima citadas, encontram-
se em processo de desintegração, conduzindo ao estado de isolamento e depres
são, com impacto negativo sobre a qualidade de vida da idosa.
' Suporte social implica a disponibilidade de pessoas com as quais alguém pode contar, que a faz scntir-se im portante, valorizada c amada (Sarason (1983).
132
7.4.3, Maus tratos
Os tratamentos recebidos foram divididos em duas categorias repre
sentadas pela assistência médica e de enfermagem, em casos mais específicos de
doença, e do pessoal de apoio que se refere ao tratamento recebido rotineira
mente pelos internados.
Há uma clara distinção entre os dependentes e os não dependentes
face ao tratamento recebido. Os dependentes têm sua vida excessivamente con
trolada pelo pessoal de apoio que assume que o interesse do cliente é o interesse
do cuidador (Glasser, 1981).
A situação de dependência que é confundida frequentemente, na ins
tituição asilar, com perda da liberdade de escolha e autonomia, é a situação mais
temida pelas idosas que conservam sua capacidade para o auto-cuidado e estão
mentalmente orientadas e capacitadas, e, portanto, como elas mesmas chamam,
para se defenderem das agressões físicas e psicológicas. Reconhecem que o ido
so em situação de dependência total está exposto aos maus tratos, pode deixar de
ter atendidas até suas necessidades mais básicas como de alimentação e higiene:
Quando eu cheguei aqui, eu ia nas enfermarias e depois deixei de ir. A gente se toca, eu penso no meu amanha como eles. Vivem porque Deus quer. Não é viver minha filha, é vegetar. (Sofia)
Tenho medo de sofrer antes de morrer, ficar acamada, dando trabalho e recebendo grosseria... (Selma)
Ah! Minha filha você nem queira saber como é. E um sofrimento aquelas pobrezinhas acamadas e amarradas, tenho uma pena. Imagino em mim quando eu ficar velha. Mas, eu pedi a Nosso Senhor que eu não vou morrer aqui dentro. (Solange)
Ai meu Jesus do céu. Eu tô velha da dar água. Essas velhinhas me pedindo água. Passam sede e fome. (Solange)
i:b
...lá em cima linha um homem amarrado os pés, a cintura e os braços. Ele chamava afillia para dar uns carocinhos de
# feijão porque estava morto de fome. Não davam nem água enem comida lá em cima, passa bi fome. (Suely)
...maltrata é muito. Um dia o seu João que morava ali vizinho ao meu quarto caiu da cadeira aí passou um que luta aí com os veim e chutou ele com o pé. Aí eu chamei um rapaz que ia passando e que mora aí nesse quarto, um bem forte e que gosta de andar assim com o pescoço torto, e aí ele ajudou a botar na cama o velhinho que ficou todo se tremendo. (Samara)
Uma das razões para o tratamento ineficiente é o excessivo número de
idosos que a instituição abriga e os parcos recursos financeiros. As idosas acre
ditam que nao há como melhorar o tratamento dispensado aos idosos. Não se
instiga a visão crítica das idosas a fim de despertar o questionamento sobre a
carência e despreparo dos técnicos que trabalham com o idoso, condições de
trabalho, instalações físicas, etc., indispensáveis para a obtenção de um trata-
mento condigno que atenda satisfatoriamente as necessidades de todos* um di
reito que lhes deveria sepassegurado:
...são bem tratados. Eles não judeiam, tratam na hora, não tratam melhor porque não tem nada. (Suely)
...abrigo que acumula muita gente assim, nunca pode dar um tratamento adequando. (Simone)
Os funcionários fazem o que pode, né? Eles não podem tratar melhor porque é muita gente. Mas tem que dar conta e eles dão. (Sofia)
Dentre aqueles idosos que requerem algum tipo de ajuda dos funcio
nários no seu dia-a-dia, pode-se contar com a “boa vontade” destes últimos
quando da existência de gratificação financeira por parte dos próprios idosos ou
de seus familiares na dispensaçao dos cuidados diários. O serviço que deveria
134
ser prestado indistintamente aos internados, assume um caráter diferenciado de
acordo com a retribuição financeira recebida, onde os considerados mais pobres
sentem-se ignorados e impossibilitados de receberem um tratamento mais aten
cioso e afável:
Não tem uma pessoa que me chame para ir para a sala cia doutora Helena e sabem que eu sou doente. E mais bem tratado quem deixa o dinheiro dentro, mas comem a mesma comida. (Solange)
...agora, agradando elas (funcionárias), tendo um dinhei- rim, elas têm mais cuidado. (Samara)
...porque aqui quando a família tem dinheiro, elas ainda pajeiam... (Sofia)
A valorização do indivíduo pautada no seu poder aquisitivo é social
mente relevante para o embasamento das relações “por interesse’" e que ao pobre
é destinada a ação de apenas servir e nunca ser servido,
No ambiente asilar, o comportamento apático e passivo do i$oso re
presenta a reprodução de um modelo social restritivo ao seu desenvolvimento e,
cuja manutenção facilita a integração dos residentes ao sistema de assistência
global da instituição.
O contato físico está diretamente atrelado aos cuidados de higieniza-
çao dos idosos dependentes. Não existe o toque carinhoso de aproximação e
demonstração de interesse por parte dos funcionários em atender, dentro das
possibilidades, aos desejos dos internados.
O fato dos funcionários conseguirem manter os idosos acamados lim
pos, pode significar o bom cumprimento do dever, sem estarem atentos para a
qualidade da interação social entre o idoso e o atendente. Para as idosas, devido
a sobrecarga de trabalho, o atendimento prestado não podería ser melhorado
com as condições existentes:
135
Eles tratam bem, porque lutar com essa ruma de velho, até banhar velho sujo cie cocô... eu me cuido só. (Silvia)
- Eu acho até que são bem tratados. Minha filha não é mole,você limpa um aqui e volta e já'tá sujo de novo. São muitos idosos para elas darem de conta, são limpinhos. (Selma)
Tratam bem, agora... eu nem posso dizer, a gente nem pode dizer, é, ficam um pouco abandonados, viu? Coitados! Os pobrezinhos ficam ali, às vezes chama, chama. Também ficam só duas pra ronda da noite. Fica duas moças e um rapaz, porque às vezes cai uma pessoa e precisa de uma pessoa com mais força. Mas todo dia é um trabalhão daqueles. Todo dia eles,tomam banho e trocam a roupa de cama. Olhe que aqui são trezentas e tantas pessoas! (Santinha)
Os idosos percebem que qualquer funcionário tem poder e controle
sobre eles e, em algumas circunstâncias, entram em desentendimentos. Um mí
nimo gesto de atenção, é suficiente para ser considerado como um bom funcio
nário, diferente dos demais que mal se aproximam do idoso.
Um dia desse eu não quis almoçar, que era peixe e aí uma mullTer que trabalha aqui me disse gritando: _ Se levanta e foi logo alevantando o colchão para trocar a cama... (Samara)
...tem uma funcionária que está me marcando e uma vez eu me desentendí com ela. E porque eu sei me defender e pra quem não sabe e tem que aguentar calado? (Simone)
Olha, tem parte que trata bem, mas esse pessoal grosso não trata bem ninguém. (Simone)
...eles assumem o dever do trabalho deles. Tem alguns que brincam, passam a mão na cabeça dos velhinhos... (Simone)
Ainda sobre o rigor dos horários a serem cumpridos pela equipe de
apoio na execução das tarefas, desrespeita-se o idoso, considera-o como alguém
que não tem nem deve ter vontade própria e todos sao tratados da mesma manei
136
ra. Deve acatar tudo que lhe é imposto, podendo adquirir a característica de ob
jetos inanimados (Louzã et al.,1986).
A falta de respeito para com a idosa, pode ser percebida quando des
consideram o pudor com o corpo e outros sentimentos que julgam não mais
existir na pessoa idosa, que passa a ser um simples objeto de cuidado e nem
sempre se submete aos atos e tratamentos adotados na instituição:
... botava era homem pra dar banho em mim quando eu estava com a perna engessada. Eu mandava eles irem embora e eu tomava banho era de calça. (Samara)
Em defesa da eficiência institucional, muitas vezes são sacrificados os
padrões humanitários de atendimento:
...elas banhavam os idosos de madrugada, tudim. Às vezes eu tava durmindo um soninho tão bom na cama, quando elas chegavam e arrastavam as camas, al eu acordava e não dormia mais. (Silvana)
...condição de ser feliz não tem, mas de viver em paz desde que seja bem tratada. (Sônia)
O tratamento adequado é um pré-requesito para que a idosa se consi
dere confortável no seu ambiente, onde os frequentes desentendimentos e as im
posições desnecessárias que limitam a liberdade e o bem-estar da idosa institu
cionalizada, redundam numa forma de violência psíquica gerando um estado de
conflito interno, expressado como falta de paz.
7.4.4. Atendimento deficiente à saúde
A assistência médica não é capaz de prevenir ou detectar precoce
137
mente as complicações do estado de saúde dos residentes. O elevado número de
internados, na visão das idosas, é uma importante razão que inviabiliza um con
trole mais preciso de suas condições físicas e, podetresultar num estado mórbido
adquirido com a sua institucionalização. Há a percepção que poderíam estar
melhor de saúde se atendidas no hospital, denotando um desleixo da instituição
na resolutividade dos problemas de saúde apresentados:
...se alguém adoecer e ficar na cama e ninguém avisar, as doutoras não tomam conhecimento. (Simone)
...os doentes deveríam ir para o hospital, como era antigamente. Ele tinha um tratamento melhor, mas em abrigo ele não pode ter. (Sônia)
... quando uma pessoa lá doente, tem muita coisa pra ver, pra chegar na hora e socorrer e não chega... (Sônia)
Tenho um pouco de falta de ar e fraqueza nas pernas. Saúde aqui é zero, eu vivo doente. Eu não sei como é que gu fiquei desse jeito, porque antes de eu vir pra cá eu não sentia nada. Cheguei aqui normal, boazinha. Quem me viu e quem me vê. Eu estou decadente, arriada. (Sofia)
Na fala acima, fica bastante claro que o estado decadente de saúde é
resultado de uma vida institucionalizada precária em vários aspectos e que age
de forma acelerada para a perda da energia vital da internada.Pode-se obter alguma melhora temporária do estado de saúde da idosa
através de intervenções consideradas eficazes, geralmente em situações de so
corro inadiáveis, e pelo fornecimento de medicações, que embora não abranja
todos os internados, é um ponto positivo considerado na assistência:
...quando eu tô doente mesmo, muito cansada, ela (a enfermeira) me leva lá para a enfermaria, passo quatro ou cinco dias lá. Elas têm muito cuidado comigo, me botam no soro, tomo sangue. (Samara)
B8
...a médica trata multo bem, é muito dedicada a eles. (Sandra)
AAs' vezes ele dão um remediozi^no. Eu recebo um às oito e outro à noite, E porque é pra muita gente. A doutora que consulta é só uma e é preciso atender muita gente. (Silvana)
... remédiopra mim não tem. (Suely)
Existe apenas uma médica e uma enfermeira na instituição dificultan
do o acompanhamento do estado de saúde do elevado número de internados e
que, aliada à falta de suprimentos necessários para um suporte assistencial de
saúde mais eficiente (alimentação, tratamento medicamentoso, diagnósticos pre
cisos, detecção precoce dos estados mórbidos, exames laboratoriais de rotina,
reabilitação). Associado a isso, um sistema de referência dentro do sistema úni
co de saúde pouco eficiente, onde inúmeras vezes o acesso ao hospital não é
obtido e, então, o asilo, mesmo não sendo sua finalidade, assume o idoso que
deveria estar hospitalizado, de maneira inapropriada, resultando muitas vezes
em êxito letal para esses idosos.
7.4.5. Má alimentação
A má qualidade da alimentação é enfaticamente denunciada, muitas
vezes tendo que comer o que é oferecido para não passar fome:
... a comida, minha filha, os cachorros gritam pra não comer. Tem dias até que vai, mas tem outros que eu rebolo to- dinha. (Solange)
...a refeição é multo ruim. Tudo é coisa que vem de fora, esmola, carne, galinha. A carne passada na geladeira não pega nem gosto. (Suely)
139
A alimentação nao é boa. Mas, dá para ir escapando a vida, tem que comer. (Silvana)
As más condições econômicas da instituirão é um elemento impediti
vo importante para as deficiências apontadas, sobretudo a de alimentação.
...hoje é quarta-feira dia de galinha e não teve. Foi uns osso velho que tinha guardado na geladeira. E muito pobre esse abrigo. Abrigo que acumula muita gente assim, nunca pode dar um tratamento adequado. (Sônia)
Embora existam doações de alimentos para a instituição, nao chegam
à mesa dos residentes, pois nao há melhoria na qualidade das refeições ofereci
das. As idosas colocam que o desvio das doações por parte dos próprios funcio
nários do asilo pode denunciar, sob inn aspecto particular, que não se importam
sobre o tipo de alimento destinado aos idosos nem tão pouco seu estado de con
servação, O que é de melhor qualidade não deve ser desfrutado pelos idosos, os
verdadeiros destinatários das doações. Em outras palavras, é simplesmente sufi
ciente que nao passem fome , por não ter o que comer.
...tem chegado tanta doação de coisa boa, mas a gente nao vê nem o azul, as doutoras é que levam. A gente não vê carne, a gente come aqui é soja e quando vem uma carne molda podre aí eu jogo no mato. Botam água no leite, ai meu Jesus! (Solange)
O alimento é um bem maior para o pobre. O fruto do trabalho ao lon
go da vida está representado pela capacidade de manter-se alimentado diaria
mente. Ter condição de alimentar a si e a sua família confere dignidade e o re
conhecimento de uma vida abençoada por Deus e, estar mal alimentado ou pas
sar fome é um estado de humilhação humana, onde não está satisfeita a necessi
dade mais básica de um ser vivo.
140
7.4.6. Falta de espaço, privacidade e conforto
Falta conforto, privacidade e espaço físico suficiente. As ações são re
alizadas na presença de todos. A liberdade para realizar atos cotidianos é impe
dida quando não atende aos interesse dos outros companheiros. Não há forma
de resistência, pois os conflitos seriam constantes. Preferem ceder, calando, ape
sar de contrariadas, para simular uma convivência menos atribulada exterior
mente:
... a vida aqui é muita gente, muita gente. Eu nem tenho dormido direito com os gritos dos velhinhos. To cochilando, acordo e acabou. (Sofia)
... são cinco ou seis camas por quarto. Fica tudo espremido, não tem espaço nem privacidade. (Simone)
... se um tá tomando banho o outro não pode entrar no banheiro. Isso é um desconforto muito grande. Não é brincadeira viver com cinco no mesmo quarto. As vezes não dá para esperar e tem que pedir pra usar o banheiro tio outro quarto e tem delas que não gosta. (Sônia)
... eu gostaria de assistir televisão até tarde, mas não pode porque atrapalha os outros. Aqui não dá pra ter liberdade. (Sofia)
...se eu morasse só, não precisava eu ficar ouvindo nem dizendo. (Solange)
...o espaço é muito pouco. (Sandra)
O espaço bastante restrito, onde geralmente acomoda cinco ou mais
idosas por quarto, é tuna forma de restringir os objetos pessoais das idosas. Os
seus pertences ficam limitados a algumas peças de roupa ou a poucos objetos
que não ocupe lugar. Verifica-se que as idosas, por falta de espaço ou seguran
ça, deixam seus objetos em cima da cama, único espaço, de fato, considerado
seu, Ficam com menos de uma cama livre para descansar e passar a maior parte
141
cio seu día, sem ocupação. As idosas destituídas de seus pertences, tem sua iden
tidade também ameaçada.
A falta de perspectiva, influenciada por diversos aspectos da vida ins
titucionalizada, tornam os internados mais susceptíveis à depressão, que traz
inúmeras consequências levando a um significativo impacto na qualidade de
vida e no relacionamento social.Qualidade de vida é um conceito bastante amplo e complexo. É tam
bém um conceito fluido e dinâmico que significa dizer, que os aspectos de rele
vância para uns, podem não ser para outros grupos. Para os idosos são fatores
relevantes o contato social, independência e condições físicas.
Gurland (1992) procurou definir os principais componentes envolvi
dos na avaliação da qualidade de vida como sendo: desconforto, perda de papel,
auto-controle e desejo de viver, perda da satisfação, estresse continuado, afron
tas, inutilidade, descontinuidade do estilo de vida, pobreza, redução das relações
sociais e percepção de abreviação do tempo de vida.
Uma análise dos resultados obtidos, estaria pois, compilada sintetica-
mente nesses fatores arrolados por Gurland, onde a experiência do asilamçnto
propicia a coexistência de todos eles atuando de forma gravemente negativa na
qualidade de vida das idosas.
Resumindo, dentro da psicologia social, o significado de qualidade de
vida é referido mais fortemente como uma experiência subjetiva, representada
pelo conceito de satisfação com a vida.
É importante frisar que os critérios intrapessoais que são os sistemas
de valores da sociedade internalizado por seus membros, são independentes dos
determinantes objetivos de qualidade de vida, tais como saúde física, nível de
renda e manutenção da rede de relações sociais, e, que, orientam os julgamentos
que fazem sobre as condições de que dispõem, em relação ao que desejam e ao
que podem usufruir (Neri, 2000).
142
Podemos concluir que as práticas adotadas na instituição asilar estão
diretamente relacionadas com os valores e atitudes compartilhados socialmente
sobre o significado da velhice e? evidenciados pelo baixo grau de compromisso
e envolvimento da sociedade com o bem-estar de seus membros mais velhos.
143
8. CONCLUSÃO
- As questões associadas ao acelerado envelhecimento da população
com repercussões nas áreas social, política, familiar e individual devem ser
discutidas seriamente e com interesse real e objetivo de atender às necessidades
não satisfeitas do grupo crescente de idosos.
A velhice é um processo multifacetado, alicerçado nas condições
sócioculturais que reorientam as histórias de vida das pessoas no tempo e no
espaço.
As diferentes maneiras de envelhecer representam a integração da
experiência pessoal subjetiva e das relações sociais. A compreensão de uma
realidade é feita através da representação de um objeto pelo sujeito ou por um
grupo através de seu próprio sistema de referências, que é dependente do
contexto social e ideológico que o cerca. Fica estabelecido, então, o caráter
sócio-genético das representações sociais.
A velhice foi representada pelas idosas como uma fase * onde as
perdas predominam, ameaçando a auto-estima e o auto-conceito daqueles que
atingem uma idade mais avançada.
A visão global e unitária da sociedade em relação ao idoso como um
ser dependente, desvalorizado e, consequentemente não desejado ou
desnecessário é demonstrada de forma contundente pelo ato de se
institucionalizar o idoso.
Na instituição, para que haja uma adaptação satisfatória, é cobrado dos
internados um comportamento de passividade e completa sujeição ao regime
imposto. Essa pressão sofrida de cima para baixo representa que o idoso não tem
voz nem vez.
Em cima da limitação sentida pelas idosas da sua liberdade pessoal,
as representações sociais de asilo foram ancoradas em prisão, casa de loucos e
dependentes ou casa dos outros.
O tratamento recebido, denota também o pensamento social vigente
de serem os idosos pessoas merecedoras, apenas, das mínimas condições
necessárias para a sobrevivência, não levando em consideração o seu grau de
satisfação, o que significa a melhoria de sua qualidade de vida.
A vida institucionalizada, apesar de suprir algumas necessidades
fundamentais do indivíduo: alimentação, moradia e vestimenta, não atende nem
de longe outras exigências para uma vida mais satisfatória como interação e
apoio social, afeto, amizade, lazer, cuidado e conforto,
A institucionalização imprime na consciência dos internos uma
categorização, ou melhor, uma auto-identificação de asilados. Isso, para os que
residiam com familiares, é uma forma de sofrimento constante, sentindo-se
desprezados pelos seus. Os valores das pessoas idosas não condizem com a
atitude dos familiares de se desobrigarem dos cuidados com os mais idosos,
institucionalizando-os. Para os solitários, que atravessaram a vida distanciados
dos familiares, possuem maior facilidade de adaptação no ambiente asilar.*A falta de iniciativa e da cobrança de seus direitos como idosos
institucionalizados podé ser compreendida ao levarmos em conta além do
contexto social e ideológico, o lugar do indivíduo dentro da organização social e
sua história individual e grupai.
As idosas entrevistadas, eram de classe social menos favorecida, de
nível educacional baixo, subordinadas ao patrão ou ao marido e, ao longo de sua
vida não praticaram o exercício da cidadania. Seus direitos nunca foram
conhecidos, nem reconhecidos, não eram organizadas a ponto de terem um peso
social e, na velhice, esse comportamento prático de passividade e conformidade
foi intensificado ainda mais pela condição de velhas e asiladas, morando na casa
alheia e, sem poder “pagar” através do seu trabalho, os “favores ” recebidos.
A teoria das representações sociais salienta o papel dos sujeitos sociais
na estruturação do mundo social. O mundo é o que permitimos que ele seja. A
.145
ideologia dominante define a dinâmica da sociedade e sua funcionalidade. E, o
conhecimento que as pessoas têm do seu universo, como pensam sobre as coisas
“reais e imaginárias” do seu mundo, é o resultado de processos discursivos e,
portanto, socialmente construídos (Wagner, 1994).
Como apontado pelas idosas entrevistadas, houve uma mudança de
conceitos em relação ao velho, que no passado era respeitado, valorizado e
querido pelos familiares.
A sociedade sofre mudanças nos seus sistemas de valores que é
apreendido e compartilhado no discurso cotidiano dos grupos sociais. As
representações estão imersas na comunicação, através da qual são elaboradas,
difundidas e modificadas de acordo com o contexto histórico-social.
O asilamento, encarado como um caminho natural para aqueles que
envelhecem, expressa as idéias presentes no senso comum, de ser o velho
desnecessário socialmente.
E nesse imaginário social que as representações são veiculadas e*
influenciam na interação social e na atitude prática em relação ao idoso.
Acreditamos*que os movimentos sociais em prol do idoso iniciados
nos programas voltados para a terceira idade, envolvendo os especialistas em
geriatria e gerontologia, e também a organização da sociedade civil em
associações de idosos ou pessoas interessadas em defenderem seus direitos
possam ao longo do tempo, transformar as representações de velhice, utilizando-
se para isso, os meios de comunicação de massa, com grande poder de
penetração e formação da opinião pública e consciência coletiva, a fim de
vislumbrarmos uma velhice mais feliz num futuro próximo.
Apesar de algumas tentativas dos meios de comunicação em superar
parte dos preconceitos, mostrando que muitos idosos estão em bom estado de
saúde, levam a vida com independência e contribuem ativamente para a
sociedade, ainda predomina a visão social dos idosos como um grupo à parte. A
146
estrutura social atual não dispõe de sistemas de apoio para a assistência ao idoso,
que, apesar de reconhecidos legalmente como dever do Estado e direito dos
idosos, não sao operacionalizados de forma efetiva, deixando todo o encargo
para a família em ampará-los.
Podemos associar a inércia política com deficiência de investimentos
sociais direcionados a população idosa como um reflexo da representação
social de velhice, engessando a iniciativa reinvindicatória dos próprios idosos ou
da sociedade como um todo.
Os idosos institucionalizados sao duplamente vítimas do descaso com
que a sociedade os trata. Primeiro, por estarem segregados e, segundo, por se
submeterem ao regime institucional de negação explícita de sua individualidade
e autonomia.
O sentido dado à experiência do asilamento é, de modo geral, bastante
negativo e rejeitado pelas idosas entrevistadas. O desejo de voltar à comunidade
e fazer parte da realidade do mundo externo é uma das razões de continuarem
vivendo.
Não colocamos como questão fundamental a erradicação dos asilos,
pois são socialmente úteis e indispensáveis. Mas, a institucionalização dos
idosos não deveria ser pautada pela falta de outras modalidades alternativas de
assistência como hospitais-dia, centros de convivência, casas-lar, atendimento
domiciliar, dentre outros e, que poderíam ser mais adequados do que o asilo,
dependo de cada caso, conferindo melhor qualidade de vida para eles.
A institucionalização, como colocada pelas residentes entrevistadas,
teria como população-alvo, principalmente, os dependentes física e/ou
mental mente e nos casos de extrema pobreza.Cabe ressaltar, que o tratamento e as condições dos asilos não
necessariamente deveríam ser inadequadas caso houvesse o papel financiador e
físcalizador do Estado.
147
Portanto, é inegável que o envelhecimento se traduza numa maior
demanda na área assistencial e de capacitação técnica dos profissionais de saúde,
requerendo mudanças políticas e econômicas pafa o cumprimento das metas
para o desejável controle da situação.
Aos profissionais da área de saúde, especialmente os enfermeiros,
oriundos dessa mesma sociedade preconceituosa em relação aos velhos, seria
imprescindível um preparo técnico-centífico dentro da área geriátrica que
pudesse oferecer uma assistência de melhor qualidade, atentando para um
tratamento mais humanizado, intervindo junto às famílias nos cuidados
dispensados juntos aos idosos e, sempre que possível evitando a sua
institucionalização.
Os idosos estão particularmente vulneráveis à discriminação por não
atenderem a um perfil, ditado pelo capitalismo, de produtor e consumidor, e, por
isso, considerados como um peso para a economia do país.
Todos os indivíduos independente da faixa etária, deveríam ter os
mesmos direitos. A justiça social só poderá ser alcançada quando os direitos
individuais forem respeitados somados aos esforços conjugados de integração
do Estado, da sociedade e da família, com vistas a uma convivência mais justa e
harmoniosa entre todos os cidadãos.
148
9- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1- ANDRADE, P. Interior do Brasil sobrevive à cíista dos aposentados. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 set. 1999. Caderno Especial: Mais velhos, p. 9,
2- ARBER, S.; GINN, J. Gender and later llfe. London: Sage, 1991.
3- . Gender and inequalities in Health in later Hfe. Soe. Sei. Med., v. 36, p, 33,1993.
4- BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
5~ BARROS, M. M. L. Testemunho de vida: um estudo antropológico de mulheres na velhice. In: BARROS, M. M. L. (Org.). Velhice ou terceira idade? Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
6- BASTOS, O. Alterações psicológicas e comportamentais do paciente senil: dimensão temporal no ser idoso. Neurobiologia, v. 56, n, 2, p. 61-68, 1993.
7- B ATES, M.M.; SILVERBERG, S. A dinâmica dependência-autonomia no curso de vida (1994). In: NERI, A. L. (Org.) Psicologia do envelhecimento. Çampinas: Papirus, 1995. p.73-110.
8- BEAUVOIR, S. A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
9- BEAUVOIR, S. apud HENRARD, J. C. Cultural problems of ageing especially regarding gender and intergenerational equity. Soc. Sei. Med.,. v. 43, n. 5, p. 667- 680, 1996.
10- BELO, I. Velhice: anatomia política dos discursos dominantes. Ciènc.Tróp., v.24, n, l,p. 39-55, 1996.
11- BEMFAM. Fecundldade, anticoncepção e mortalidade infantil no nordeste, Brasil, 1991. Rio de Janeiro: 1994. (Demography and Health Surveys).
12- BERQUÓ, E. S.; MOTA, L. Algumas considerações sobre a demografía da população idosa no Brasil. Ciên. Cult., v. 40, n. 7, p. 679-688, 1988.
13- _ ____ . Algumas considerações demográficas sobre o envelhecimento dapopulação no Brasil. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL
149
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL : UMA AGENDA PARA O FIM DO SÉCULO, 1., 1996. Anais... p.16-34.
14- . Considerações sobre o envelhecimento da população no Brasil. In: NERI, A. L. E.; DEBERT, G. G. (Orgs.). Velhice e sociedade. Campinas: .Papirus, 1999 (Coleção Vivaidade).
15- BRASIL. Lei n° 8.842,de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,, 5 jau. 1994.
16“ BRASIL. Decreto n° 1.948 de 3 de julho de 1996. Regulamenta a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 jul. 1996.
17- BRODY, E. Women in the middle and family help to older people. Gerontologist, v. 21, p. 471,1981.
18- CAMARGO, A. B. M.; SAAD, P. M. A transição demográfica no Brasil e seu impacto na estrutura da população. In: FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS-SEADE. O idoso na grande São Paulo. São Paulo,1990. p. 9-25.
19“ CARSTENSEN, L.L Social and emotional patterns in adulthood: support for socioemotional selectivity theory. Psychol. Aging, v. 7, p.331-338, 1992,
20- . Motivação para contato social ao longo do curso de vida: Uma teoriade seletividade socioemocional .In: NERI, A. L. (Org.) Psicologia do en velhecimento. Campinas: Papirus, 1995. p. 111 -144.
21“ CARTAXO, A.M.B. Estratégias de sobrevivência', a previdência e o serviço social. São Paulo: Cortez, 1995.
22- CARVALHO, J.A.M. Crescimento populacional e estrutura demográfica no Brasil. In: SEMINÁRIO CRESCIMENTO POPULACIONAL E ESTRUTURA DEMOGRÁFICA. Rio de Janeiro, 1993. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 1993.
23- COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMERICA LATINA - CEPAL. Panorama social da América Latina. Disponível em: < http://eclac.org/edicion, 1999-
150
OOO/eclac.org/publicaciones/secretariaejecutiva/8/ lcj2068/índice.htm>. Acesso em: ago. 2000.
24- CHÀIMOWICZ, F. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do século XXI:problemas, projeções e alternativas. Rev. Saúde Pública, v. 31, n. 2, p. 184- 200, 1997.
25- CHAI.MOWICZ, F.; GRECO, D. Dinâmica da institucionalização de idosos emBelo Horizonte, Brasil. Rev. Saúde Pública, v. 33, n. 5, p. 454-460, 1999.
26- CICERELLI,V. Feelings of attachment to siblins and well-being in later life. PsychoL Aging, v. 4, p.211-216, 1989.
27» COHLER, J. Autonomy and Interdependence in the family of adulthood: a psychological perspective. Gerontologist, v. 23, n. 1, p, 33-39, 1983.
28- CONFORT, A. A Boa idade. Sao Paulo: Difusão Editorial, 1979.
29- BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Acompanhada de novas notas remissivas e dos textos, integrais, das Emendas Constitucionais e das Emendas Constitucionais de Revisão. 22. ed. atual, arnpl. São Paulo: Saraiva, 1999. (Coleção Sapiva de Legislação).
30- CREECY, R. F.; BERG; W. E.; WRIGHT, J. Loneliness among the elderly: acausai approach. J. Gerontol., v. 40, n. 4, p. 487-493, 1985.
31- DEBERT, G. G, A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias deidade. In: BARROS, M. M. L. (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
32- - A Reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento. São Paulo: Edusp, 1999, 266p.
33- DICIONÁRIO de ciências sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,1986.
34- DRESSEL, P. L. Gender, race and class: beyond the feminization of poverty in later life. Gerontologist, v. 28, n. 2, p. 177-180, 1988.
151
35~ DOISE, W. et al. Représenlations sociales et analyses de données. Paris: PI.JF,1992.
36- DLJROZOI, G.; ROUSSEL, A. Dicionário de filosofia. Campinas: Papirus,1993. p. 400.
37- ERIKSON, E.; ERIKSON, J.M.; KIVNICK, EI. Vital involvement in old age: lhe experience ofold age in our time. Londres: Norton,! 986.
38- EVANDROU, M.; VÍCTOR, C.R. Dífferentiation in later life: social class andhousing tenure cleavages. In: BYTHEWAY, B. et al. (Org.). Becoming and being old: sociological approach to later life. LONDON, SAGE, 1989 apiid Debert...
39- FARR, R.; MOSCOVICI, S. Social representations, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
40- FERREIRA,P.C.A.; MLJSSE, Z.M.S. Assistência geriátrica em programas comunitários. In: GOMES, F.A . E FERREIRA, P.C.A . Manual de geriatria e gerontologia. Rio de janeiro: E.B.M., 1985.
41- FORRESTER, V. O Horror econômico. São Paulo: Ed. Universidade EstadualPaulista, 1997.
42- FRENK, J.; FREJKA, Y; BOBADÍLLA, J. L.; STERN, C.; LOZANO, R.; SEPULVEDA, J.; JOSÉ, M. La transición epidemiológica en America Latina. Boi. Oficina Sanit. Panam., v. 111, p. 485-496, 1991.
43- FRIES, J. F. Aging, natural death and the compression of mortality. N. Engl. J. Med., v. 303, p. 130-135, 1980.
44- IBGE. Censo demográfico: 8° Recenseamento geral do Brasil, 1970. Rio de Janeiro: 1973.
45- __ . Censo demográfico de 1991: análises preliminares. Rio de Janeiro;1992.
46- _____ . Pesquisa nacional por amostra de domicílios..PNAD: síntese dosindicadores 1993. Rio de Janeiro: 1996.
47- FUSTINONI, O. La tercera edad y el siglo XXL Boi. Acad. Nac. Med. Buenos Aires .p. 21-32, 1993. Suplemento.
152
48- GEE, E. M.; VEEVERS, J. E. Accelerating sex differentials in mortality- an analysis of contributing factors. Social Biol., v.30, p. 75, 1983.
49- GOLDSTEIN, L. L. Stress e coping na vida adulta e na velhice. In: NERI A I (Org.) Psicologia do envelhecimento. Campinas: Papirus, 1.995. p. 145-158
50- GOLDSTEIN, L. L.; NERI, A. L. Tudo bem, graças a Deus! Religiosidade esatisfação na maturidade e na velhice. Gerontologia, v. 1, n. 3, p. 95-104? 1993
51- GUARESCHI, P. A. “Sem dinheiro não há salvação1': ancorando 0 bem e o malentre neopentecostais. In: GUARESCHI, P. A.; JOVCHELOVITCH, S. (Org ) Textos em representações sociais. 2, ed. Petrópolis, Vozes, 1995. p. 187-296
52- __ . Representações sociais: alguns comentários oportunos. In: SCHULZFC. M. N. (Org.). Novas contribuições para a teorlzação e pesquisa em representação social. Florianópolis, 1996. (Coletâneas da ANPEPP)
53- GURLAND, B. The impact of depression on quality of life of the elderly. Clin Geriatr. Med., v. 8, p. 3 7 7-3 86, 1992.
54- HA VENS, B. Long term care into the 21 st century. Bold , v. 7, p. 2-4, 1997
55- HECKHAUSEN, J.; SCHULZ, R. Uma teoria do controle no curso de vida. Im NERI, A. L, (Org.) Psicologia do envelhecimento. Campinas: Papirus 1995 p. 159-194.
56- HENRARD, J. C. Cultural problems of ageing specially regarding gender andintergenerational equity. Soc. Sei .Med.,v, 43, n. 5, p. 667-680, 1996.
57- HUET, E.; GARDENT, H. Les incapacites: 1 Information en France depuis quinze ans. Gérontol. Soc., v. 71, p. 66, 1994.
58- JACOB, J. apud DEBERT, G. A Reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento. São Paulo: Edusp, 1999. 266p
59- JANI.NG, J. Reflections on aging. Communicating with elderly patienR zEtnerg. Med. Serv. v. 16, p. 34-43J991. J
60- JODELET, D. Representaiions sociales: phénomène, concept e théorie hr MOSCOVICI.S. (Ed.) Psychologie sociale. Paris: PUF, 1984.
153
61-_ ______ . Reprèsentations sociales: phénomènes, concept et théorie. In: FARR,R.; MOSCO VÍCI, S. Psychologie sociale. 2. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1988. p. 357-378.
62~ . Reprèsentations sociales: tm domaine en expansion. In: JODELET, D.(Org.). Les reprèsentations sociale. Paris: Presses Universotaires de France, 1989. p.31-61.
63- JOVCHELOVITCH, S. Vivendo a vida com os outros: a intersubjetividade, espaço público e representações sociais. In: GUARESCHI, P. A.; JOVCHELOVITCH, S. (Org.). Textos em representações sociais. 2. ed. Petrópolis: 1995. p.63-85.
64- K AL AC HE, A,; GRAY, J. A. M. Health problems of older people in developing world. In: PATHY, M. S. J. (Ed.) Principies and practice of geriatric medicine. Chichester: John Wiley, 1985. p. 1279-1287.
65- KALACHE, A.; VERAS, R. P.; RAMOS, L. R. O envelhecimento da população mundial: um desafio novo. Rev. Saúde Pública, v. 21, p. 200-210,1987.
66- KARSH, U. M. S. (Org.). Envelhecimento com dependência: revelando cuidadores. São Paulo: EDUC,1998. 248p.
67- KESSLER, R. C.; MCRAE, J. A. The effect of wive7s employment on the mental health of married men and women. Am. Sociol. Rev. v. 47, p.216-227,1982..
68- LASLET, P. The emergence of the third age. Aging Soc., v. 7, p. 133, 1987.
69- LAZARUS, R. S.; FOLKMAN, S. Stress, appraisal and coping. Nova York: Springer, 1984.
70- LEITE, M. Idade não define a fronteira da velhice. Folha de São Paulo, Sao Paulo, 26 set. 1999. Caderno Especial: Mais velhos, p. 2.
71- LEWIS, C. N. Reminiscing and self-concept in old age. J. GerontoL, v.26, p. 240-243, 1971.
72- L1TVAK, J.; MAGGI, S. Aging. Infect. Dis. Clin. North Am. v. 5, p. 353-363,1991.
154
73- LONGINO Jr.,C. F. Who are the o Ides t americans? Gerontologist, v. 28, n. 4, p. 515-523,1988.
74- LAURELL, A. C. Hacia la realizacion dei derecho a la salud y la seguridade social. Estudos Latinoamericanos, n.5, ano 3, Nueva Epoca, p. 131-141,1996.
75- LOUZÃ, J. R, ; COHEN, C.; LOUZÃ, S. P. R.; LOUZÃ NETO, M. R, O idoso, as instituições totais e a institucionalização. Rev. Paul. EIosp., v. 34, n. 7-9, p. 135-145, 1986.
76- LUCENA, J. Alguns aspectos de produtividade intelectual na terceira idade da vida em escritores brasileiros - significação para a saúde mental. J. Bros. Psiq., v. 23, p. 291-311, 1974.
77- MACEDO FILHO, J. C.; RAMOS, L. R. Epidemiologia do envelhecimento no nordeste do Brazil: resultados de inquérito domiciliar. Rev. Saúde Pública, n, 33, n. 5, p. 445-453, 1999.
78- MANTON, K. G. A longitudinal study of functional change and mortality in the United States. J. Gerontol., v. 43, n. 5, p. 153, 1988.
79- MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Rev. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 1991.
*80- MARTIN, J.; MELTZER, H.; ELLIOT, D. The prevalence ofdisability among
adults. London: HMSO, 1988. (Report 1)
81- MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC-ABRASCO, 1993.
82- MOODY, EI. R. Abundance oflife: human development Policies for an Aging Society. New York: Columbia University Press, 1988.
83- MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
84- ______ . Comment on Potter and Litton. Br. J. Soc. Psyc/ioL, v. 24, p. 91, 1985.
85- ______ . The phenomenon of social representations. In: FARR, R, M.;MOSCOVICI, S. (Ed.), Social representations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
155
86- ______. Notes towards a description of social reprèsentations. Eur. J. Soc.Psychol., v. 18, p. 211-250, 1988.
87- MYERHOFF, B. C. A symbol perfected in deafh: continuity and ritual in thelife and death of na elderly jew. In: MYERHOFF, B.C.; SIMIC, A. (Ed.), Lifeds career-aging. London: Sage, 1978. p. 163-205.
88- NASCIMENTO, E. P. Hipótese sobre a nova exclusão social dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários. Cadernos CRH, n. 21, p.29-47,1994.
89- SILVA, E. B. N.; NERI, A. L. Questões geradas pela convivência com idosos: indicações para programas de suporte familiar. In: NERI, A. L. (Org.) Qualidade de vida e idade madura. Campinas: Papirus, 1993. p. 213-236.
90- NERI, A. L.(Org.). Psicologia do envelhecimento. Campinas: Papirus, 1995. 276p. (Coleção Viva Idade)
91- NERI, A L. Qualidade de vida na velhice e atendimento domiciliário. In: DUARTE, Y. A. O.; DIOGO, M. J. D’ELBOUX. Atendimento domiciliar: um enfoque geronto lógico. Sao Paulo: Atheneu, 2000. p. 33-47.
92- NEYSMITH, S. M. Dependency among third world elderly. A need for new direction in the nineties. Int. J. Heallth Serv.^ v. 20, p. 682, 1990.
93- OLIVEIRA, L. A. P.; FELIX, C. A dinâmica demográfica recente: níveis, tendências e diferenciais. In: IBGE. Indicadores sociais: uma análise da década de 1980. Rio de Janeiro, 1995. p. 25-41.
94- ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE-OPS. Reunión de consultasobre políticas de saludpara los ancianos para América Latina y el Caribe.. Washington, D. C., 1992. (Serie Informes Técnicos, n.° 24).
95- OXMAN, T. E.; BERKMAN, L.F.; KASL, S,; FREEMAN, D. H.; BARRETT, J. Social support and depressive symptoms in the elderly. Am J Epidemlol, v.135, n. 4, p. 356-368, 1992,
96- PAN AMERICAN HEALTH ASSOCIATION - PAHO. America Association of Retired Persons. Eíidlife and older women in Latin America and the Caribbean. Washington, DC, 1989.
156
97- PEREIRA de SÁ, C. Representações sociais: o conceito e o estado atual da teoria, In; SPINK, M. J. (Org,). O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia social, São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 19- 57*
98- RESTREPO, H. E.; ROZENTAL, M. The social impact of aging populations:some maj or issues. Soc. Sei. Nfed, v. 3 9, n. 9, p. 13 23-13 3 8, 1994.
99- RILEY, J. W.; R1LEY, M. W. The quality of aging: strategies for interventions. Ann. Am. Acad. Pol. Soc. Sei., v. 503, p. 9-13, 1989.
100- RODHES. L. M. “Woman Aging”. Res. Fem. Res. IFomen Elders, v.2, p.l 1,1982..
101- ROTHBAUM, F.; WEISZ, J. R.; SNYDER, S. S. Changing the world and changing the self: a two-process model of perceived control. J. Pers. Soc. Pychol., v.42, p. 5-37, 1982.
102- RUBENSTEIN, L. Z.; NASR, S. Z. Health Service use in physical illness. In: EBRAHIM, S.; KALACHE, A. Epidemiology in old age. London: BMJ, 1996. p. 106-125.
103- RYFF, C. D. Successful aging: a developmental approach. Gerontologist, v. 22, n. 2, p. 209-214, 1982.
104- SÀ, J. L. M. A Universidade da terceira idade na Puccamp: proposta e ação inicial. Campinas: Puccamp, 1991.
105- SALGADO, M. A. O significado da velhice no Brasil: uma imagem na realidade latino-americana. An. Bros. Geriat. Gerontol., v. 4, n. 1, p. 11-16, 1982.
106- SANTOS, M.F. A velhice na zona rural. Representação social e identidade. In: NASCIMENTO-SCHULTZE, C. M. (Org.). Novas contribuições para a teorlzação epesquisa em representação social., Florianópolis, 1996. p. 59-83. (Coletâneas da ANPEPP).
107- SARASON, I, G.; LEVINE, H. M.; BASEIAM, R. B.; SARASON, B. R. Assessíng social support: the social support questionarie. J. Pers. Soc. Psychol., v.44, p. 127-139, 1983.
157
108- SAWAIA, B. B. Representação e ideologia - o encontro do fetichizador. In: SPINK, M. J. O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva social. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 73-84.
109- SCHULZ, R. Emotion and affect. In: BIRREN, J. E.; SCHAIE, K. W. (Org.) Handbook of the psychology og aging. 2nd ed. Nova York: Van Nostrand Reinhold, 1985. p.531-543.
110- SIDELL, M. Health in old age myth, mystery and management. Buckingham: Open University Press, 1995.
111- SILVA, I. P. As relações de poder no cotidiano de mulheres cuidadoras. In: Karsh, U.M.S. (Org.). Envelhecimento com dependência: revelando cuidadores. São Paulo: EDUC, 1998. p. 147-170.
112- SILVA, W. N. Considerações sobre a velhice. An. Bros. Geriatr., v. 3, n. 2, p.53-64, 1981.
113- SIMÕES, J. apud DEBERT, G. G. A Reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatizaçao do envelhecimento. São Paulo: Edusp, 1999. 266p.
114- SOUZA FILHO, E. A. A dimensão grupai/ identidária na produção de representações sociais. In: SCHULZE, C. M. N. (Org.). Novas contribuições para a teorização e pesquisa em representação social. Florianópolis, 1996. (Coletâneas da ANPEPP).
115- SPINK, M. J. O estudo empírico das representações sociais. In: SPINK, M. J.(Org.). O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva social. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 85-108,
116- . Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das representações sociais. In: GUARESCHI, P. A .; JOVCHELOV1TCH, S. (Org.), 2.ed, Petrópolis: Vozes, 1995. p.l 17-145.
117- . O discurso como produção de sentido. In: : NASCIMENTO- SCFIULTZE, C. M. (Org.). Novas contribuições para a teorização e pesquisa em representação social., Florianópolis, 1996. p. 37-46. (Coletâneas da ANPEPP).
118- STAUDINGER, U. M.; MARSISKE, M.; BALTES, P. B. Resiliêncía e níveis de capacidade de reserva na velhice: perspectivas na teoria de curso de vida.
158
In: NERI, A. L. (Org.) Psicologia do envelhecimento. Campinas: Papirus,1995. p.195-228.
119- STUCCHI, D. Os Programas de preparação à aposentadoria e o remapeamento do curso de vida do trabalhador. Dissertação (Mestrado) - IFCH, UNICAMP, 1994.
120- TAUBER, C, M. apudRESTREPO, H. E.; ROZENTAL, M. The social impact of aging populations: some major issues. Soc. Sei. Med, v. 39, n. 9, p. 1323- 1338, 1994.
121- VERAS, R. P. Brazil is getting oider: demographic changes and epidemiological challenges. Rev. Saúde Pública., v. 25, p. 477,1991.
122- _____ . País jovem com cabelos brancos: a saúde do idoso no Brasil. Rio deJaneiro: Relume Durnará, 1994.
123- VERAS, R. P.; DUTRA, S. Envelhecimento da população brasileira: reflexões a considerai' quando da definição de desenhos de pesquisas para estudos populac ionais.Physis. Rev. Saúde Coletiva, n. 3, n. 1, p. 107-125,1993.
124- VERBRUGGE, L. M., Gender and health: an update on hypoteses and evidence.Health. Soc. Behav., v. 26, p. 156, 1985.
125- __ . Gender, aging, and health, In: MARKIDES, K.S. (Ed.) Ageingandhealth perspectives on gender, race, ethnicitv and class. Newbury Park: Sage, 1989.
126- WAGNER, W. Descrição, explicação e método na pesquisa das representações sociais, In: JOVCHELOVITCH, S.; GUARESCHI, P. (Org.). Textos em representações óomMy.Petropólis: Vozes, 1994.
127- . Sócio-gênese e características das representações sociais. In: MORJÊÍRA, A. S. P.; OLIVEIRA, D. C. (Org.). Estudos interdlsciplinares de representação social. Goiânia: AB ed., 1998. p.2-25,
128- WALDRON, I. Sex differences in ilness incidence, prognosis and mortality: issues and evidence. Soc. Sei. Med., v. 17, p. 1107,1983.
129- WARNER, J. P. Quality of life and social issues in oider depressed patients. Int.Clin. Psychopharmacol., v. 13, suppl. 5, p. S19-S24, 1998.
159
130- YASAKI, L. M.; MELO, A . V.; RAMOS, L. R. Perspectivas atuais do papel a família frente ao envelhecimento populacional: Um estudo de caso. IniFUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLIDE DE DADOS - SE ADE. A população idosa e o apoio familiar. São Paulo: 1991. (Informe Demográfico, n. 24).
131- ZHANG, X. H.; SASAKI, S. E; KESTELOOT, IL The Sex ratio mortality and its secular trends. bit J. EpidemioL, v, 24, p. 720, 1995.
160
ANEXO -1
Universidade Federai do Ceará Comitê de Ética em Pesquisa
Of, N° 061/2000 Fortaleza, 05 de maio de 2000Protocolo n° 44/2000Dept°./Serviço: Departamento de Enfermagem/UFCTítulo do Projeto: “Velhice no asilo: do imaginário ao real”
Levamos ao conhecimento de V.Sa. que o Comitê de Ética em Pesquisa e do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará - COMEPE, dentro das normas que regulamentam a pesquisa em seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, Resolução n°196 de 10 de outubro de 1996 e Resolução n° 251 de 07 de agosto de 1997, publicadas no Diário Oficial, em 16 de outubro de 1996 e 23 de setembro de 1997, respectivamente, aprovou o projeto supracitado na reunião do dia 27 de abril de 2000.
Atenciosamente,
lie
161
ANEXO -2
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu,______________ __ , RG: aceito
livremente participar como informante para a pesquisa intitulada
Velhice feminina no asilo: do imaginário ao real Para isso, fui
devidamente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa, do direito de
desistir em qualquer momento, caso eu deseje, e da garantia do meu
anonimato. Concordo também com a publicação do conteúdo das
minhas declarações, desde que resguardados os preceitos éticos
requeridos para este tipo de estudo.
Fortaleza,_____________________
(assinatura da informante)
ou
(polegar direito)
162
ANEXO -3
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Nome: Idade;Tempo de asilamento: Estado civil:Profissão: Procedência:
1) Como foi a sua vinda para a instituição?2) Como a sra. interpreta a seguinte frase: Lugar de velho é no asilo.3) O que é ser velha? A sra. se acha velha?4) Como os idosos são tratados? Comente fora e dentro da instituição.5) Como se sente vivendo aqui?6) Tem algum plano de vida que tem vontade de realizar?7) Fale-me sobre o seu dia-a-dia.8) Como é o relacionamento dos idosos internados com os demais residentes,
com os funcionários e com os familiares?9) Quais as maiores deficiências aqui dentro?10) O que tem positivo no asilo?