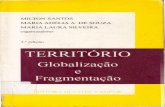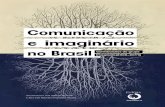MITIDIERI, A. L. ; PIANOWSKI, F. ; SANTOS, N. V. . Literatura, imaginário, história e cultura II....
Transcript of MITIDIERI, A. L. ; PIANOWSKI, F. ; SANTOS, N. V. . Literatura, imaginário, história e cultura II....
LITERATURA, IMAGINÁRIO,HISTÓRIA E CULTURA
André Luis Mitidieri PereiraFabiane Pianowski
Nadson Vinícius dos Santos
Letras Vernáculas . Módulo 6 . Volume 3
Ilhéus, 2013
PARTE 2
Universidade Estadual de Santa Cruz
ReitoraProfª. Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Vice-reitorProf. Evandro Sena Freire
Pró-reitor de GraduaçãoProf. Elias Lins Guimarães
Diretor do Departamento de Letras e ArtesProf. Samuel Leandro Oliveira de Mattos
Ministério daEducação
Ficha Catalográfica
1ª edição | Março de 2013 | 462 exemplares Copyright by EAD-UAB/UESC
Projeto Gráfico e DiagramaçãoRoberto Fabian Santos de AraújoJoão Luiz Cardeal Craveiro
CapaSheylla Tomás Silva
Impressão e acabamentoJM Gráfica e Editora
Todos os direitos reservados à EAD-UAB/UESCObra desenvolvida para os cursos de Educação a Distância da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (Ilhéus-BA)
Campus Soane Nazaré de Andrade - Rodovia Jorge Amado, Km 16 - CEP 45662-900 - Ilhéus-Bahia.www.nead.uesc.br | [email protected] | (73) 3680.5458
Letras | Módulo 6 | Volume 3 - Parte 2 | Literatura, Imaginário, História e Cultura
P436 Pereira, André Luís Mitidieri. Literatura, imaginário , história e cultura / André Luís Mitidieri Pereira, Fabiane Pianowski, Nadson Vinícius dos Santos. – Ilhéus, BA : Editus, 2013. 222 p. : il. (Letras – módulo 6 – volume 3 – Parte II - EAD) ISBN: 978-85-7455-303-0
Inclui referências. 1. Literatura – História e crítica. 2. Literatura - Estudo e ensino.3. Cultura na literatura. 4. Estilo literário. 5. Literatura e sociedade. 6. Gêne-ros literários. I. Título. CDD 809
Coordenação UAB – UESCProfª. Dr.ª Maridalva de Souza Penteado
Coordenação Adjunta UAB – UESCProfª. Dr.ª Marta Magda Dornelles
Coordenação do Curso de Licenciatura emLetras Vernáculas (EAD)
Profª. Ma. Ângela Van Erven Cabala
Elaboração de Conteúdo
Prof. Dr. André Luis Mitidieri PereiraProfª. Ma. Fabiane Pianowski
Prof. Nadson Vinícius dos Santos
Instrucional DesignProfª. Ma. Marileide dos Santos de Oliveira
Profª. Dr.ª Cláudia Celeste Lima Costa Menezes
RevisãoProf. Me. Roberto Santos de Carvalho
Coordenação Fluxo EditorialMe. Saul Edgardo Mendez Sanchez Filho
EAD . UAB|UESC
DISCIPLINA
LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA
EMENTAO poeta e o historiador: Aristóteles. Culturas clássicas: desdobramento das ideias aristotélicas. Literatura e documento. A narrativa no discurso da história e na ficção. Literatura como arte. Conceitos de cultura. Literatura e cultura no século XX. Estudos Culturais na América Latina. A construção do público. Esfera pública e esfera privada. A literatura como bem de consumo.
OS AUTORES
Profº. Dr. André Luis Mitidieri PereiraMestre e doutor em Letras pela PUCRS. Pós-Doutorado em Estudos Literários pela UFGRS. Professor do Departamento de Letras e Artes da UESC, área de Língua e Literaturas Estrangeiras/Espanhol. Docente efetivo do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações da UESC e docente colaborador do Mestrado em Literatura Comparada da URI-FW.E-mail: [email protected]
Profª. Ma. Fabiane PianowskiMestre em Educação Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (2004). Doutoranda em História, Teoria e Crítica da arte na Universidade de Barcelona. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes Visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: arte, história da arte, arte-educação, educação ambiental e produção cultural. Também atua como designer gráfico.E-mail: [email protected]
Prof. Nadson Vinícius dos SantosMestrando em Letras - Mestrado em Letras: Linguagens e Representações da UESC. Escritor premiado em concursos nacionais, possui trabalhos publicados em antologias literárias e coletâneas teóricas.E-mail: [email protected]
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
Durante muito tempo, a compreensão da literatura se restringiu aos textos escritos e dotados de algum valor estético ou pedagógico, quer dizer, com algo de belo, ou ainda, de bom e de verdadeiro. Entre os gregos, a epopeia e a tragédia eram consideradas como os melhores exemplares da poesia. As noções defendidas por Aristóteles em sua Poética vigoraram até o século XVIII, e desde sua redescoberta pelo Ocidente, no século XVI.
Nessa época, também se instituiu uma compreensão da literatura enquanto documento, notada nas cartas e diários dos descobridores de países americanos, nos relatos de viajantes etc. Daí haver alguma indecisão sobre os limites entre o ficcional e o histórico, o literário e o documental. No entanto, o mesmo Aristóteles, em outra obra, a Retórica, já fornecia munição suficiente para o estabelecimento das linhas divisórias entre história e literatura.
As discussões envolvendo a literatura enquanto arte e a história enquanto sucessão de fatos no tempo, bem como enquanto áreas de estudos, literários e históricos, exigem sua inserção num campo mais vasto, que é o da cultura. Por isso, buscaremos discuti-lo em suas inter-relações, a fim de compreender os Estudos Culturais, desde sua implantação na Inglaterra da década de 1950, até sua adoção nas universidades latino-americanas, o que não ocorre pacificamente.
Alargando as zonas de abrangência do fazer histórico e da arte literária até às notações culturais midiáticas, do mundo digital etc., os estudos de cultura transitam do público ao privado, sem que isso implique rígida separação entre as duas esferas mencionadas. Na atualidade, além de o texto literário ser compreendido como objeto estético e meio de interpretação do mundo, ainda precisa ser estudado a partir de seu entendimento como um bem de consumo, do mesmo modo que um DVD de cine-arte ou um CD de Arrocha, sujeitando-se, portanto, aos mecanismos de construção do gosto e do público.
Conquistar um público a cada dia mais seduzido pela indústria do entretenimento e ávido por informação veloz é um desafio que se impõe aos professores de Literatura. Sem querermos autenticar os produtos da indústria de massa, entre eles, os Best-sellers, entre nossos bens maiores, buscaremos em nossas aulas entender os mecanismos de difusão dos produtos culturais e de formação dos leitores. Porque a literatura é um direito que nos cabe, um bem maior; seu estudo com método e fruição pode abrir-nos os olhos a faces do mundo ainda não vistas.
Como nos ensina Roland Barthes em sua magnífica Aula, se todas as disciplinas devessem ser expulsas dos sistemas de ensino, e apenas uma pudesse ser salva, essa seria a disciplina literária, “pois todas as ciências estão presentes no monumento literário”. É com esse olhar que pretendemos guiar nossos encontros ao mundo sempre vibrante da literatura, que é também o mundo da arte, da cultura, da história.
Boas aulas,André, Fabi e Nadson
SUMÁRIO
UNIDADE 5: LITERATURA COMO ARTE1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 152 FANTÁSTICO ROMÂNTICO: DISTANCIAMENTO DO AMBIENTE ................................... 163 ALGUMAS DIFERENCIAÇÕES PARNASIANAS E SIMBOLISTAS ........................................ 174 DIACRONIA E SINCRONIA: GILKA, QUINTANA & CIA ILIMITADA ................................ 245 ATIVIDADES ............................................................................................................................................. 586 RESUMINDO ............................................................................................................................................ 717 REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................... 72
UNIDADE 6: LITERATURA E CULTURA1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 792 COLONIZADOS E MODERNISTAS ................................................................................................. 803 OS CONCEITOS DE CULTURA ......................................................................................................... 854 CULTURA E REPRESENTAÇÃO ........................................................................................................ 915 LITERATURA COMO URTICÁRIA .................................................................................................. 1036 ATIVIDADES ...........................................................................................................................................1107 RESUMINDO ..........................................................................................................................................1138 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................115
UNIDADE 7: ESTUDOS CULTURAIS E LITERÁRIOS1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................1212 ANTECESSORES E OS PAIS FUNDADORES .............................................................................. 122 2.1 Crítica e cultura, sociedade e política ............................................................................................ 122 2.2 Os pais fundadores e um dileto filho ............................................................................................ 1253 BIRMINGHAM: DA BONANÇA ÀS VIRAÇÕES.......................................................................... 1294 UMA TEMPESTADE REPARTE O MAPA MÚNDI ..................................................................... 132 4.1 Rumo a novas rotas: realocar e redirecionar ................................................................................ 132 4.2 Los Estudios Culturales: na América Latina..................................................................................... 1355 RESPEITÁVEL PÚBLICO, CÍRCULOS PRIVADOS ..................................................................... 142 5.1 Formação do gosto, construção de públicos ............................................................................... 142 5.2 Da lama ao caos: a cidade e a cultura visual ................................................................................ 149 5.3 Das esferas públicas e dos domínios privados ............................................................................ 1576 ATIVIDADES ...........................................................................................................................................1607 RESUMINDO ..........................................................................................................................................1638 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................164
UNIDADE 8: ESPAÇO BIOGRÁFICO: CONSUMO, HISTÓRIA, CULTURA1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................1712 GÊNEROS DO ESPAÇO BIOGRÁFICO, BIOGRAFIA E BIOGRAFISMO.......................... 1723 PACTO AUTOBIOGRÁFICO, AUTOBIOGRAFIA, AUTOBIOGRAFISMO ......................... 1764 AUTOBIOGRAFISMO EM UM SERMÃO DO PADRE ANTÔNIO VIEIRA ....................... 1785 O MAJOR CALABAR DE JOÃO FELÍCIO: UM ROMANCE BIOGRÁFICO ....................... 1876 FLORA TRISTÁN, PAUL GAUGUIN: CULTURAS À BUSCA DO PARAÍSO ....................... 1977 ATIVIDADES ...........................................................................................................................................2148 RESUMINDO ..........................................................................................................................................2159 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................217
LITERATURA COMO ARTE
OBJETIVOS
Ao final da presente aula, você será capaz de:
• analisar textos literários que permitam divisar o caráter artístico da literatura;
• compreender a literatura em perspectiva diacrônica e sincrônica;• estudar o fantástico romântico como modalidade que acentua o
teor artístico da obra literária;• identificar estéticas literárias mais propícias à diferenciação da
literatura enquanto sistema, tais como o parnasianismo, simbolismo, decadentismo e surrealismo;
• analisar e discutir o fato de uma estética, como o impressionismo, pender à diferenciação enquanto arte, ao mesmo tempo em que não se descola da referência;
• conhecer escritores que não integram o cânone literário nacional ou são pouco citados em histórias e/ou manuais de literatura;
• relacionar contextos de escritas e representações literárias a outras artes e textualidades.
5ªunidade
ÁLVARES DE AZEVEDO, Manuel Antonio. Noite na taverna. <http://www.biblio.com.br/de fau l t z . asp? l i nk=ht tp : / /www.biblio.com.br/conteudo/alvaresazevedo/noitenataverna.htm>. Acesso em: 27 jul. 2011.
CADEMARTORI, Lígia. Parnasia-nismo. Simbolismo. Impressio-nismo. Modernismo. In: CADE-MARTORI, Lígia. Períodos lite-rários. São Paulo: Ática, 1987. p. 49-69.
Leituras recomendadas
1 INTRODUÇÃO
Nas aulas anteriores, vimos como a questão indígena, embora de maneira idealizada, bem como os temas da escravatura e da negritude, junto à perspectiva engajada em considerável número de escritores, e à presença do romance histórico, não afastavam o romantismo, em totalidade, do mundo real. Uma maior aproximação entre texto e contexto foi buscada pelas estéticas naturalista/realista.
Veremos agora como alguns românticos se encantaram pela diferença entre ambiente e obra, no empenho por um sistema próprio da literatura, entre outros motivos, através do fantástico. O distanciamento da realidade, como médium para o ganho das formas literárias, realçando seu caráter artístico, marcaria assim uma parcela do Romantismo, também o Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo, Esteticismo, Impressionismo, sendo que esse mostra com propriedade como um texto se vincular aos universos da arte e das coisas existentes ao mesmo tempo.
Atentaremos à perspectiva diacrônica que orienta
muitas histórias da literatura e à outra face dessa moeda
- perspectiva sincrônica – a nos indicar que as escolas
literárias não ficam presas a um dado período. Analisaremos
textos que se relacionam entre si e, uma vez situados os
modos pelos quais a literatura se faz reconhecer como arte,
chegaremos de mansinho aos movimentos de vanguarda.
Os vanguardistas tentam derrubar as barreiras entre
arte e vida. Nesse ponto, encontramos pequeno obstáculo.
Nada grave, embora a compreensão da obra literária
como objeto artístico, unânime entre críticos e teóricos,
seja bastante comum, e seu entendimento por intermédio
dos aspectos históricos possa nos soar como íntimo. Esta
aula, sobretudo, é um convite ao prazer dos textos e das
textualidades, desfrutemos de seus variados saberes e
sabores...
Módulo 6 I Volume 3 15UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
2 FANTÁSTICO ROMÂNTICO: DISTANCIAMENTO DO AMBIENTE
O Romantismo demonstrou certo fascínio por temas como duplos, espelhos, sósias que, ao lado de certo balanço entre o real e o fantasioso, a racionalidade a loucura, contribuem para destacar a comunicação realizada pela literatura como exclusiva, i. e. diferenciada daquela levada a cabo por outros sistemas, como a história e a sociologia. A ênfase aos elementos responsáveis pela diferenciação da arte literária pode ser vista no fantástico, modalidade assinalada pela presença de acontecimentos estranhos, como, por exemplo, um homem de cujo nariz saem borbotões de formigas, paredes que se movem, pessoas que voam, uma senhora que, de tão gorda, explode e vira uma flor mal cheirosa etc.
Elementos e fatos estranhos podem ser pensados de duas maneiras: a partir de uma explicação “natural” ou “sobrenatural”. De acordo com Tzvetán Todorov (1992, p. 31), o fantástico surge do titubeio entre as duas possibilidades de leitura para os fenômenos narrativos: a “realidade” ou a “ficção” ao extremo. Surpreso, hesitante quanto às irrealidades que encontra num texto literário, o leitor pode aceitá-las como naturais. Não é somente a dúvida do leitor sobre coisas estranhas com as quais se depara em sua leitura que sustenta o fantástico, já que o mesmo titubeio deve ser experimentado por alguma personagem no interior do texto.
Como nos alerta Remo Ceserani (2006), não seriam o natural ou o sobrenatural que estariam em jogo, mas as convenções de realidade, os meios pelos quais concebemos sua existência. Os modos através dos quais determinada sociedade pensa a respeito do que lhe é normal ou estranho também mudam com o passar dos anos, com as diversas necessidades, experiências culturais, transformações
Jorge Francisco Isido-ro Luis Borges Acevedo (1899-1986): Poeta, escritor, crítico, ensaísta e tradutor, foi professor de literatura da Universidade de Buenos Aires (UBA) e diretor da Biblioteca Nacional da República, situa-da em Buenos Aires. Autor de vasta obra ensaística, narrati-va e poética, Borges empres-ta muitos dos temas e ideias presentes em sua literatura e em suas reflexões para o de-senvolvimento dos enfoques mais contemporâneos da te-oria literária. Para maiores informações sobre o escritor e sua obra, consulte: <http://www.me.gov.ar/efeme/jlborges/> e <http://www.internetaleph.com/> e assista:Um amor de Borges (Un amor de Borges). Direção de Javier Torre, 2000, 92 min.El amor y el espanto. Dire-Dire-ção de Juan Carlos Desanzo, 2000, 115 min.Também recomendamos o longa-metragem brasileiro Onde Borges tudo vê (Dire-ção de Taciano Valério, 2012, 77 min), que faz referência ao poeta e narra a história de Napoleão, um cego dono de um hamster de nome Borges e amante do legado do es-critor argentino, do qual diz guardar uma obra escrita que ninguém no mundo possui.
Para conhecer
Figura 48 - Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo.
Fonte: <http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/
uploads/2010/06/jorge_luis_borges.jpg>.
16 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
históricas e vivências linguísticas dos seres humanos.Em alguns recantos de nosso país, por exemplo,
o fogo que se desprende de bichos mortos no campo é considerado sobrenatural e tem nome: Boitatá. Para muitos indianos, animais como elefante e vaca não fazem parte da realidade em si, mas pertencem à esfera do irreal, divina; são deuses. Outro fato que salta à vista é ligado à interpretação que, acontecendo dentro da história contada, lida, assistida, pode mudar com as transformações sucedidas em espaços e tempos diferenciados.
Entre os procedimentos que o escritor argentino Jorge Luis Borges (2007) selecionou como os mais comuns à literatura fantástica, encontram-se a obra de arte dentro da mesma obra de arte; a contaminação do mundo real pela ordem dos sonhos; o duplo; a viagem no tempo; a invisibilidade; a onipotência; as ações paralelas; as metamorfoses; a presença de deuses e fantasmas; o presságio e os espelhos. Bem, agora vamos dar uma paradinha.
Como você fez o dever de casa e já trouxe lidos os relatos de Noite na taverna, do romântico brasileiro Álvares de Azevedo, passará a reunir-se em grupos, com colegas de seu polo ou por meio do chat. Cada grupo ou mais deverá reler um dos relatos desse livro a fim de responder: como fica a questão da dúvida sobre os eventos ou personagens fantásticos, irreais, sobrenaturais? Permanece até o fim do relato? Quais dos procedimentos identificados por Borges se encontram no texto relido?
3 ALGUMAS DIFERENCIAÇÕES PARNASIANAS E SIMBOLISTAS
Se o Romantismo se preocupou com as questões sociais e valorizou a imaginação, a liberdade de criação e o conteúdo em vez da forma, os parnasianos tomaram o gosto
Para conhecer
Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1831-1852): Poeta, contista e dramaturgo carioca, é um dos principais nomes da chamada segunda geração do Romantismo brasileiro. Como estudante de Direito em São Paulo, escandalizou a sociedade pelas histórias, verídicas ou não, de orgias e cultos a Satã. Toda a sua produção que, devido a ter morrido precocemente, seria publicada após seu falecimento, pertence a essa época, englobando os poemas, os contos de Noite na taverna e o drama Macário, além de ensaios e traduções.Saiba mais sobre a vida e obra do autor no post “Álvares de Azevedo – poeta da Lira dos vinte anos”, publicado por Elfi Kürten Fenske (27 de abril de 2012) no blog Templo Cultural Delfos, disponível em: http://elfikurten.blogspot.com.br/sea r ch / l abe l /A l va res%20de%20Azevedo%20-%20o%20poe ta%20da%20L i ra%20dos%20vinte%20anos.
Figura 49 - Álvares de Azevedo
FONTE: http://4.bp.blogspot.com/-Im9AJKEvias/
T5s0rKHICCI/AAAAAAAAE08/xygyogNUMPQ/s1600/alvares_
azevedo.jpg
Módulo 6 I Volume 3 17UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
romântico como demérito e construíram uma estética em sentido contrário. As mudanças ocorridas no final do século XIX fizeram-se sentir na literatura através de uma escola que se caracterizava pela contenção lírica, pelo culto da forma, pela valorização da arte pela arte e a impessoalidade objetiva: o Parnasianismo.
O poeta parnasiano retomava outra vez os valores clássicos como modelo de composição, porém era visto como alguém que detinha pleno domínio da arte produzida. O apreço dos parnasianos pelos ideais clássicos fez ressurgir nessa estética o verso alexandrino de doze sílabas e o entendimento de que a poesia não tem “outro objetivo senão a expressão da beleza” (CADEMARTORI, 1987, p.51) e, portanto, deve afastar-se das questões sociais, conforme os seguintes versos de Olavo Bilac:
A um poeta
Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!
Mas que na forma se disfarce o emprego
Do esforço; e a trama viva se construa
De tal modo, que a imagem fique nua
Rica, mas sóbria como um templo grego
Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E, natural, o efeito agrade
Sem lembrar os andaimes do edifício:
Porque a beleza, gêmea da verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e graça na simplicidade
Saiba mais!
Verso alexandrino: Verso de doze sílabas poéticas com-posto por dois versos de seis sílabas poéticas, também co-nhecido como dodecassílabo. Metodicamente empregado no Roman d’Alexandre, como sabemos, deve a origem de seu nome a esse poema fran-cês.
18 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Para conhecer
Esse texto nos diz que o poeta, operário da arte, devia se afastar dos turbilhões externos para exaustivamente compor versos capazes de expressar beleza. A poesia parnasiana, pura e desinteressada, evitaria contato ou até mesmo o diálogo com questões sociais, culturais ou históricas e revelaria seu caráter nacionalista, não pela exacerbação emocional do Romantismo, e sim pela louvação dos símbolos nacionais (como a língua portuguesa), tema de um dos poemas de Bilac.
Pensar literatura como arte então significaria colocá-la apenas no campo de seus elementos propriamente artísticos, a exemplo dos ritmos, sons e versos de um poema. Cabe uma crítica nesse sentido, pois a aversão por ideologias, demonstrada pelos poetas parnasianos, na verdade, poderia revelar e respaldar a existência de outra ideologia: a hegemônica. A negação dos problemas sociais nos versos parnasianos impedia o questionamento e a desestabilização do status quo, além de manter a situação confortável dos que se beneficiavam das mazelas da sociedade.
Contudo, as estéticas interessadas nessas questões já apresentadas com certas restrições pelo Romantismo davam o ar de sua graça entre o final do século XIX e princípios do século XX. Impulsionados por transformações filosóficas e tecnológicas, artistas e escritores, é claro que nem todos eles, tentariam subverter a ordem vigente e também o cânone literário.
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918): Poeta, cronista e jornalista carioca, não concluiu nenhum dos dois cursos universitários que havia começado: Medicina e Direito. Decidiu dedicar-se às Letras, trabalhando em quase todos os jornais e revistas importantes de sua época. Bilac entrou no mundo literário aos 23 anos com a publicação de Poesias (1888). Pertenceu à escola parnasiana brasileira, sendo um de seus principais representantes. Patriota, defensor da instrução primária, da educação física e do serviço militar obrigatório, escreveu a letra do “Hino à Bandeira” e se dedicou a temas de caráter histórico-nacionalista. Extremamente popular, em 1913 foi eleito “Príncipe dos poetas brasileiros”, no concurso
promovido pela revista Fon-Fon. Suas principais obras: Poesias (1888), Crônicas e novelas (1894), Crítica
e fantasia (1904), Conferências literárias (1906), Tratado de versificação (1910), Dicionário de rimas (1913), Ironia e piedade, crônicas (1916), Tarde (1919).
FIGURA 50 - Olavo BilacFonte: http://www.exercito.gov.br/image/journal/article?img_id=230616&t=1296819956113
Módulo 6 I Volume 3 19UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Dentro do Romantismo, mas fora do cânone por bom tempo, como ocorreu com Luís Gama, outro escritor negro, o catarinense Luís Delfino dos Santos, teve vasta produção, abrangendo as tendências românticas: abolicionista, em poemas como “À arena”, “À nação” e “In Excelsis”; indigenista, no livro Esboço da epopeia americana; regionalista, em Rosas negras; sentimental em Íntimas e áspasias. O poeta também passeou pelo simbolismo, com Posse absoluta, mas encontraria sua melhor expressão no parnasianismo.
Conheça ainda um pouco mais de Luís Delfino, por intermédio dos poemas logo transcritos:
PRIMEIRA MISSA NO BRASIL
(a Vítor Meireles)
Céu transparente, azul, profundo, luminoso;
Montanhas longe, encima, à esquerda, empoeiradas
De luz úmida e branca; o oceano majestoso
À direita, em miniatura; as vagas aniladas
Coalham naus de Cabral; mexem-se inda ancoradas;
A praia encurva o colo ardente e gracioso;
Fulge a concha na areia a cintilar; grupadas
As piteiras em flor dão ao quadro um repouso.
Serpeja a liana a rir; a mata se condensa,
Cai no meio da tela: um povo estranho a eriça;
Sobre o altar tosco pau ergue-se em cruz imensa.
Da armada a gente ajoelha; a luz golfa maciça
Sobre a clareira; e um frade, ao ar, que a selva incensa,
Nas terras do Brasil reza a primeira missa.
Luís Delfino dos Santos (1834-1910): Escritor e médico, dedicou-se tam-bém à política, sendo se-nador por Santa Catarina. Estreou na literatura com o conto “O órfão do templo”, editado na revista cario-ca Beija-flor. Entre 1861-1881, colaborou com: Revista Popular, Diário de Rio de Janeiro, A Estação, Gazetinha. Em 1885, foi eleito por concurso d’A Se-mana como o maior poeta vivo do Brasil. Em 1886, colaborou com a revista A Vida Moderna e, de 1898 a 1904, com os periódicos simbolistas A Meridional, Revista Contemporânea, Rosa-Cruz e Vera-Cruz. Coroado “Príncipe dos Poe-tas Brasileiros” (1898) pela revista Vera-Cruz, apesar da intensa atividade como escritor, seus livros seriam publicados postumamente, destacando-se entre eles: Algas e musgos (1927), Ín-timas e aspásias (1935) e Imortalidades (1941).
Para conhecer
20 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
UM GRANDE PINTOR
Victor Meirelles
Foste, a hora bateu, irmão de Urbino,
Juntar-te ao mestre na celeste esfera:
Para ficar com teu pincel divino,
Ninguém ousou dizer à morte: — Espera.
Pisando o pé no solo eterno, o hino
Do triunfador, à tua musa austera,
Soou de sol em sol: foi teu destino
O amor do ideal, que o belo inspira e gera.
Correu-te a vida por areal em fora;
Da terra nossa a enorme dor partilho:
Quem tua alma entre nós vai ter agora?...
Teu gênio a história da arte encheu de brilho;
Pátria, ajoelha; amou-te muito, chora:
Quem mais deve chorar tão grande filho?...
Poemas disponíveis em: <http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/santa_
catarina/luis_delfino.html>.
Observe que o vocabulário empregado nesses poemas é menos rebuscado e, portanto, mais compreensível do que o utilizado por Bilac. Entretanto, o segundo está mais perto do estilo desse escritor parnasiano, não é verdade? Note que o tema do primeiro poema – primeira missa no Brasil – já fora abordado antes, no terceiro capítulo. Você lembra disso? Lembra também quem foi o artista que pintou o quadro trabalhado naquela unidade? Por que será que Luís Delfino menciona o pintor nos trabalhos ora destacados?
Com qual destas estéticas - Parnasianismo e Simbolismo - cada um dos poemas mais se identifica? Por quê? Mais adiante, suas respostas se confirmarão, ao olharmos mais de perto para as características simbolistas. No momento, queremos chamar atenção à capacidade que tais veiculações
Módulo 6 I Volume 3 21UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
possuem para marcar a literatura como arte, revelando seu afastamento do referente histórico. Entretanto, como você deve ter percebido, mesmo nessas expressões, digamos mais “artificiais”, a referência não parece se apagar nem ser eliminada, a julgar pelas dedicatórias impressas nos dois trabalhos poéticos e pelo tema histórico explícito no primeiro deles. Já o segundo traz uma referência que pertence à história da arte. Trata-se muito provavelmente de Francesco da Urbino, pintor cuja história o
Francesco da Urbino (1545-1582): Pintor nascido no município italiano de Urbino, passou boa par-te da vida e morreu na Espanha a serviço do rei Felipe II, realizando afrescos para o monastério El Es-corial e para o palácio Alcázar de Madrid. Discípulo de Giovan Bat-tista Castello, que o chamou para a Espanha em 1567, soube fundir em suas composições e figuras - geralmente de caráter religioso - o estilo de seu conterrâneo Rafael Sanzio (1483-1520) e de Baldas-sarre Peruzzi (1481-1537) com o estilo grotesco, caracterizado pela deformação de elementos naturais e pela combinação original de volu-mes e cores.
Você sabia?
FIGURA 51 - O juízo de Salomão, Francesco da Urbino, 1581, fresco da abóbada da cela baixa do Prior, Monastério El Escorial.
FONTE: <http://1.bp.blogspot.com/_YfJC22sNtA4/TJJqEYsnQeI/AAAAAAAAAJE/tawECc6Hl_c/s1600/
salomon.jpg>.
ajudará a interpretar a composição poética de Delfino.Expressões artísticas e literárias estiveram muito interligadas no
Simbolismo, movimento estético de teor espiritualista que se desenvolveu na França, nas duas últimas décadas do século XIX. Os simbolistas desejavam expressar através da linguagem poética a vida interior, a “alma das coisas”. Nesse sentido, os poetas Gérard de Nerval (1808-1855) e Stéphane Mallarmé (1842-1898) buscaram tratar dos mistérios do mundo e do inconsciente por meio de sugestões, do ritmo musical e da magia das palavras.
O Manifesto do Simbolismo (1886) do poeta Jean Moreás (1856-1910) e o Tratado do verbo (1886) de René Ghil (1862-1925) exprimem os princípios orientadores dos simbolistas: arte como fusão dos
22 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
elementos sensoriais e espirituais, ênfase aos temas míticos, imaginários e subjetivos, afastamento das questões sociais e rechaço à lógica e à razão em favor da intuição. Entre as inovações formais que caracterizam o Simbolismo encontram-se a prática do verso livre, em oposição ao rigor do verso parnasiano, e o uso de “uma linguagem ornada, colorida, exótica, poética, em que as palavras são escolhidas pela sonoridade, ritmo, colorido, fazendo-se arranjos artificiais de parte ou detalhes para criar impressões sensíveis, sugerindo antes que descrevendo e explicando” (COUTINHO, 1972, p. 322).
É importante destacar o contexto de profundas modificações sociopolíticas, provocadas fundamentalmente pela expansão do capitalismo, em que surgia o Simbolismo, opondo-se às ideias positivistas e cientificistas que influenciaram movimentos literários tais como o Realismo, Naturalismo e Parnasianismo. No Brasil, o movimento se expandia na década de 1890, quando o país enfrentava intensas e radicais transformações, marcadas pela abolição da escravatura e pelo estabelecimento da República, o qual acarretaria, entre outras coisas, a industrialização e urbanização dos grandes centros. Quando significativa parte da população era analfabeta e o número de editoras, ínfimo, seriam os jornais e as revistas os principais meios de divulgação dessa estética no âmbito literário, destacando-se Clube Curitibano, O Cenáculo, A Época, Horus, Folha Popular, Fon-Fon!, Kosmos, Nova Cruzada, A Padaria Espiritual, Rio-Revista, Rosa-Cruz.
Em relação à pintura, mais do que representar a realidade, os simbolistas buscaram revelar, através de símbolos, aquilo que escapasse à consciência. Pretendiam superar a pura visualidade defendida pelos impressionistas, através da apreensão dos valores transcendentes, como o bem, o belo, o verdadeiro e o sagrado. Dentro do imaginário simbolista, estão os símbolos religiosos, as referências ao natural e ao onírico, a sensualidade feminina e os mistérios da morte. Seus pintores mais famosos foram Gustave Moreau (1826-1898), Gustave Klimt (1862-1918) e Odilon Redon (1840-1916).
Não devemos, entretanto, pensar em divisões absolutas ou muito fixas para os períodos literários, pois em cada um deles haverá convivência de estilos diferenciados e, às vezes, divergentes entre si. “Um
Módulo 6 I Volume 3 23UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
dos aspectos típicos dos estudos literários é justamente não apresentarem definições acabadas e de exatidão matemática. Estamos pisando o terreno do humano, frente a frente com todas as infinitas possibilidades que a sua riqueza nos oferece” (CUNHA, 1990, p. 129).
4 DIACRONIA E SINCRONIA: GILKA, QUINTANA & CIA ILIMITADA
Já sabemos que texto e contexto mantêm relações bilaterais, como o tráfego numa via de mão dupla. Os textos podem ser estudados por meio de seus contextos, dia a dia, mês após mês, ano pós ano e assim sucessivamente, em uma perspectiva diacrônica, ou entre si mesmos ao longo do tempo, numa perspectiva sincrônica. “A periodização estilística liga-se à problemática temporal, pois a arte só é ela mesma na história. Também o homem, ser essencialmente histórico. O texto literário mergulha suas raízes no momento, nele se inspira e dele extrai seus traços mais notórios, já que cada fase histórica oriente sua feição peculiar, em função da emergência de forças dominantes” (CUNHA,
Um rico acervo de obras plásticas simbolistas pode ser acessado no Google Art Project, disponível em <http://www.googleartproject.com>. Empreenda sua busca pelo nome dos seus pintores, escolha algumas obras e as explore com a potente ferramenta de zoom do programa, que permite a visuali-zação detalhada das pinceladas, cores, texturas, figuras etc. Assista Klimt, direção de Raoul Ruiz, 2006, 131 min.
Saiba mais!
FIGURA 52 - Aparição, Gustave Moreau, 1876, óleo sobre tela. Essa é uma das obras mais famo-sas do pintor simbolista, represen-ta a figura de Salomé apontando para a cabeça degolada de João Batista. O artista soube utilizar a luz para criar uma atmosfera mís-tica e ao mesmo tempo mágica.FONTE: <http://s3.amazonaws.com/
estock_dev/fspid9/66/44/02/apparition-
watercolor-painting-664402-o.jpg>.
24 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Perspectiva diacrônica e sincrônica: A perspec-tiva diacrônica é o proce-dimento metodológico que estuda a evolução históri-ca dos fenômenos ou fatos linguísticos. A perspectiva sincrônica trata do estudo dos fatos ou fenômenos linguísticos de um período determinado, sem levar em consideração sua evo-lução histórica. A sincronia se ocupa do caráter estáti-co da língua e se baseia no eixo das simultaneidades, no qual devem ser estu-dadas as relações entre os fatos existentes ao mesmo tempo num dado momen-to do sistema linguístico, que pode ser tanto no pre-sente quanto no passado. Para Ferdinand de Saus-sure, existem duas formas de observar a língua: em sua época (sincronia) e através do tempo (dia-cronia), ao afirmar que “a cada instante, a lingua-gem implica ao mesmo tempo um sistema esta-belecido e uma evolução: a cada instante, ela é uma instituição atual e um pro-duto do passado” (1969, p. 16). Dessa maneira, a língua será sempre e si-multaneamente sincronia e diacronia. Não obstante, a perspectiva linguística é que poderá ser ou sincrô-nica ou diacrônica, depen-dendo dos objetivos a que se propõe.
Saiba mais!1990, p. 130).O estudo sincrônico da literatura permite unir, em
tempos diferenciados, a estética parnasiana em geral e a poética de Gilka Machado em particular. Embora nascida ao final do século XIX, essa escritora vive e produz ao longo do século XX, durante o qual, compor versos ao estilo parnasiano não constitui uma força dominante. Observemos o seguinte poema que, publicado em 1915, no livro Cristais partidos, sem inocência, ela dedica a Olavo Bilac:
INCENSO
A Olavo Bilac
Quando, dentro de um templo, a corola de pratado turíbulo oscila e todo o ambiente incensa,fica pairando no ar, intangível e densa,uma escada espiral que aos poucos se desata. Enquanto bamboleia essa escada e suspensapaira, uma ânsia de céus o meu ser arrebata,e por ela a subir numa fuga insensata,vai minha alma ganhando o rumo azul da crença. O turíbulo é uma ave a esvoaçar, quando em quandoarde o incenso. Um rumor ondula, no ar se espalma,sinto no meu olfato asas brancas roçando.
E, sempre que de um templo o largo umbral transponho,logo o incenso me enleva e transporta minha almaà presença de Deus na atmosfera do sonho.
Módulo 6 I Volume 3 25UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Gilka Machado (1893-1980): Procedente de uma família de artistas, aos 13 anos ganhou os três primeiros prêmios (usando seu nome e pseudônimos) do concur-so do jornal A imprensa; publicou seu primeiro livro, Cristais partidos, em 1915, com 22 anos. A partir da década de 1930, sua popularidade aumentaria: alguns de seus poemas foram traduzidos ao espanhol e ganhou o concurso da revista O Malho, sendo aclamada como a maior poetisa brasileira. Recusou o convite da Academia Brasileira de Letras, mas recebeu o prêmio Machado de Assis em 1979 pela publicação de Poesias completas. Seus poemas, marcadamente eróticos, ma-nifestam desejos, emoções e sensações: “a forma ousada dos seus versos, de um ritmo livre e bastante pessoal, harmoniza-se com a liberdade de inspiração, onde predomina um forte sensualismo, tão forte que Humberto de Campos notava-lhe, nos poemas, verdadeiras ‘tempestades de carne’... Seus livros provocavam, simul-taneamente, admiração e escândalo, já que a poetisa confessava sentir pelos no vento’, desejava penetrar o amado ‘pelo olfato, assim como as espiras/invisíveis do aroma...’ e declarava, sem rebuços: ‘Eu sinto que nasci para o pecado’” (GOÉS, 1960, p.165) Capaz de representar as experiências íntimas do universo feminino em mistura dosada de rigor formal e sensualidade ousada, causava dupla reação no público: admiração, por parte dos que a viam como a porta-voz das represen-tações do prazer erótico feminino, e rechaço, pelos moralistas e conservadores. Sua obra é um marco na história de resistência à alienação da mulher, firmando-se como “precursora na luta pelos direitos de acesso à representação do prazer erótico na poesia feminina brasileira” (GOTLIB, 1982, p. 47).
Algumas de suas obras literárias estão disponíveis na internet:
Cristais partidos (1915), disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/03431100#page/1/mode/1up>.
A revelação dos perfumes (1916), disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01077900>.
Estados de alma (1917), disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01077700>.
Poesias: 1915-1917 (1918), disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/03434500>.
Mulher nua (poesias) (1922), disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/03637900>.
Meu glorioso pecado (1928), disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/03493900>.
Para conhecer
Observamos aí o soneto italiano ou petrarquiano que, típico de poetas renascentistas, seria realocado pelos parnasianos, consistindo basicamente na divisão em quatro estrofes: duas delas de quatro versos (quartetos) e outras duas, com três versos (tercetos). O último deles encerra a “chave de ouro”, espécie de conclusão que permite desvendar o significado expresso pelo poema. Outras características da poesia parnasiana, verificadas em “Incenso”, são as seguintes:
a) primorosa utilização do verso alexandrino;
b) vocabulário formado por palavras rebuscadas, de uso não coloquial, tais como “corola”, “turíbulo”, “bamboleia”, “esvoaçar”,
26 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
“ondula”, “umbral”, “eleva”;
c) desejo de perfeição do ser ou da forma, visto nos dois primeiros versos da última estrofe: “E, sempre que de um templo o largo umbral transponho, logo o incenso me enleva e transporta minha alma”;
d) obsessão pela palavra exata, mais adequada possível ao poema. Nesse sentido, se o texto em estudo se compõe de um interior
para cuja saída a solução que se apresenta é uma escada espiral, o vocábulo apto a fazer a intermediação entre o externo e o interno, entre um estágio e outro (além de resolver, pela rima, questões relativas a sua estrutura interna), é o “umbral”, que levaria “à presença de deus na atmosfera do sonho”. Além do mais, esses versos encerram uma marca dos poetas simbolistas, tais como Arthur Rimbaud e Paul Verlaine - o “messianismo estético” - visto na escrita em que vibra uma sede de sacralidade, de atingir o divino.
Arthur Rimbaud (1854-1891): Um dos máximos re-presentantes do Simbolismo, esse poeta de persona-lidade inquietante começou a escrever prosa aos oito anos e poesia, aos dez. Com 17, enviou o poema “O barco ébrio”, considerado sua obra-prima, a Paul Ver-laine. Impressionado com tamanha originalidade, esse o convida a morar em Paris. Juntos, vivem intensa e tumultuosa relação, que acabou com Verlaine preso e Rimbaud no hospital. Em 1873, terminou e publicou seu único livro, Uma temporada no inferno, mal aco-lhido pelos círculos literários parisienses. Desiludido, destruiria seus manuscritos, deixaria de escrever aos 20 anos, trocando a vida literária pela de aventureiro no exterior. Verlaine escreveu sobre Rimbaud em Os poetas malditos (1884) obra à qual acrescentou uma seleção de poemas daquele, recebida com entusiasmo. Em 1886, Verlaine publicou em La Vogue os poemas em prosa das Iluminações. Essas publicações, soma-das ao mito que começava a se forjar em torno de sua figura, possibilitaram que Rimbaud gozasse de certa notoriedade na última etapa da vida.Conheça mais sobre Rimbaud autor através do docu-
mentário Charleville, Charlestown - O eterno retorno de Rimbaud, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=g7SXldQ8Niw>.
Para conhecer
FIGURA 53 - Athur RimbaudFONTE: <http://4.bp.blogspot.
com/-Y5tO8lX5eKM/Tqy8FKnN0JI/AAAAAAAABeE/I5jiBHMgcCo/s1600/rimbaud1.
jpg>
Módulo 6 I Volume 3 27UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Outros aspectos simbolistas trazidos pelo poema de Gilka Machado consistem: a) na exploração dos sentidos, neste caso, do olfato que a presença do incenso lembra, e da audição, atingida, por exemplo, pela sonoridade da segunda estrofe, que se garante, entre outras coisas, pela aliteração dos sons; b) na criação de uma atmosfera misteriosa, obtida por meio de construções frasais que mais sugerem do que se referem a algo concreto. Esse aspecto faz-se notar na primeira estrofe do poema, onde “uma escada espiral que aos poucos se desata” pode significar muito mais do que os simples sentidos das palavras “escada” e “espiral”. Vejamos que o significado da palavra escada se desvela gradativamente, a par e passo, como a fumaça de um incenso que, para completar a semelhança entre as duas imagens, também sobe pelo ar em espiral.
Atentemos agora a “Vibrações do Sol”, de Gilka Machado, que obteve edição em seu livro Estados da alma (1917):
Paul Verlaine (1844-1896): Poeta que também figura entre os principais representantes do Simbolismo. Suas primeiras obras, entre as quais se destacam Poemas saturnianos (1866) e Festas galantes (1869), caracte-rizam-se pelo antirromantismo próprio dos parnasianos. Casou-se em 1870 com Mathilde Mauté, mas a aban-donaria dois anos depois para viver com Rimbaud. Em 1873, em estado de embriaguez, feriu o amado com um disparo. Devendo passar dois anos na prisão, aí escre-veu Romances sem palavras (1874) e o poema místico Sabedoria (1881). Ao sair do cárcere, mudou-se para a Inglaterra, onde ministrou aulas de francês entre 1875 a 1877 e conheceu Lucien Létinois, com o qual empreen-deria uma vida campesina sem êxito. Dedicou a Létinois, morto precocemente, muitas de suas elegias de amor. Seus últimos dias transcorreram entre momentos de al-coolismo e arrependimento ascético. A partir da publi-cação da obra crítica Os poetas malditos (1884), passou a se preocupar com a temática simbolista dos sonhos e da ilusão. Também é importante destacar sua prosa autobiográfica, como Memórias de viúvo (1886), Meus hospitais (1891) e Confissões (1895).
Para saber mais sobre a relação entre Verlaine e Rimbaud, assista a Total Eclipse, dirigido por Agnieska Holland (1995, 111 min.).
Para conhecer
FIGURA 54 - Retrato de Paul Verlaine, Eugène Carrière,
1890, óleo sobre tela. FONTE: < http://2.bp.blogspot.
com/_vhl-SMfmDFI/TMW8fzCp4PI/AAAAAAAAFEw/QfFPqXEjLuM/s1600/Carriere+-
+Verlaine.JPG >.
28 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
VIBRAÇÕES DO SOL Dias em que fremindo os meus nervos estão, em que estranho meu ser passivo e cismarento; dias em que meu corpo é uma palpitação de asas, da natureza ante o deslumbramento! Num dia, assim, como este, os meus tédios se vão, e ao céu de escampo azul, e ao Sol, de ardor violento, eu só quero sentir a forte vibração da vida, num prazer ou mesmo num tormento.
Saem dos lábios meus as expressões em trovas; quero viver, gozar emoções muito novas, amo quanto me cerca, amo o bem, amo o mal.
E, numa agitação de anseios incontidos, nestes dias de Sol, os meus cinco sentidos, são aves ensaiando o vôo para o Ideal.
Também nesse poema, encontramos: a) verso alexandrino; b) vocábulos nada corriqueiros, como “fremindo”, “cismarento”, “escampo”, “ardor”; c) vontade da perfeição, expressa na última estrofe. Essa aspiração, primeiro a ser sentida em “forte vibração da vida, num prazer ou mesmo num tormento”, visa transformar-se nas “expressões em trovas” que, saindo dos lábios do sujeito-lírico, sejam capazes de dar vazão a todos os seus sentidos. Porém, tais expressões revelam-se limpas e polidas, à busca do Ideal, nessa tarefa incomum que é a composição poética, para os parnasianos, “arte pela arte” e, assim, digna do culto à deusa forma.
O Ideal, pertencente a um plano superior à existência, equivale à imagem do rubi, que deveria ser encontrado na chave de ouro, engastado nos últimos versos, como propunha Olavo Bilac. De mais a mais, uma alusão ao mito grego de Ícaro colabora na aderência de “Vibrações do sol” ao Parnasianismo, estética que usa e abusa das alusões, intertextos,
Módulo 6 I Volume 3 29UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
metáforas e referências concernentes a histórias, lendas, mitos, da Antiguidade clássica greco-latina.
Esse poema, assim como “Incenso”, apresenta traços simbolistas
Ícaro: Ícaro e seu pai, Dé-dalo, foram aprisionados no Labirinto de Creta, onde vi-via o aterrorizante Minotau-ro, ser com cabeça de touro e corpo de homem. Dédalo, como plano de fuga, fabri-cou asas com cera e penas para ele e seu filho. Na fuga, porém, Ícaro se aproximou demasiado do sol, de modo que a cera derreteu e ele voou para a morte.
FIGURA 55 - A queda de Ícaro, Jabob Peter Gowy, 1636, óleo sobre telaFONTE: <http://anideaaday.
files.wordpress.com/2008/10/la-caduta-di-icaro-jacob-peter-
gowy-1636-7.jpg>.
Você sabia?
e, embora aluda aos cinco sentidos, explora mesmo a visão (do céu, do sol) e o tato (os nervos fremem, o corpo palpita como asas, os raios solares ardem na pele, os anseios incontidos se agitam). A audição é contemplada pelos versos, pelos sons e pelo ritmo do próprio poema, a trazer igualmente um clima de mistério. Que emoções muito novas seriam essas a serem gozadas? Quais anseios incontidos agitam os cinco sentidos? Ao final, temos menos certeza e mais sugestão de que os desejos e ânsias constituem, como as aves que retomam a metáfora (asas) da primeira estrofe, ensaios, fases do almejado “voo para o Ideal” cuja letra maiúscula aponta à noção que tinha Platão da Ideia, forma eterna, que jamais haveria de se modificar, ao contrário das formas que as coisas tomavam em sua apresentação mundana, como cópias imperfeitas e transitórias daquela realidade superior.
Essa quimera sublime, busca de purificação por meio da qual o espírito atingiria o espaço do infinito, portanto, conjuga-se com aquilo que é mais terreno, experimentado pelos cinco sentidos. A oscilação
30 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
entre pureza e impureza, mostrada no último verso da terceira estrofe – “amo quanto me cerca, amo o bem, amo o mal” – assinala o conjunto da obra poética de Gilka. Pendendo ao primeiro eixo dessa balança, o “Ideal” destacado em “Vibrações do sol” toma formas sinônimas, por exemplo, o termo “Formas”, como aparece neste poema de autoria do simbolista Cruz e Sousa:
ANTÍFONA
IÓ Formas alvas, brancas, Formas clarasDe luares, de neves, de neblinas!...Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...Incensos dos turíbulos das aras...
IIFormas do Amor, constelarmente puras,De Virgens e de Santas vaporosas...Brilhos errantes, mádidas frescurasE dolências de lírios e de rosas...
IIIIndefiníveis músicas supremas,Harmonias da Cor e do Perfume...Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume...
IVVisões, salmos e cânticos serenos,Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes...Dormências de volúpicos venenosSutis e suaves, mórbidos, radiantes...
Módulo 6 I Volume 3 31UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
VInfinitos espíritos dispersos,Inefáveis, edênicos, aéreos,Fecundai o Mistério destes versosCom a chama ideal de todos os mistérios.
VIDo Sonho as mais azuis diafaneidadesQue fuljam, que na Estrofe se levantemE as emoções, sodas as castidadesDa alma do Verso, pelos versos cantem.
VIIQue o pólen de ouro dos mais finos astrosFecunde e inflame a rima clara e ardente...Que brilhe a correção dos alabastrosSonoramente, luminosamente.
VIIIForças originais, essência, graçaDe carnes de mulher, delicadezas...Todo esse eflúvio que por ondas passeDo Éter nas róseas e áureas correntezas...
IXCristais diluídos de clarões alacres,Desejos, vibrações, ânsias, alentos,Fulvas vitórias, triunfamentos acres,Os mais estranhos estremecimentos...
XFlores negras do tédio e flores vagasDe amores vãos, tantálicos, doentios...Fundas vermelhidões de velhas chagasEm sangue, abertas, escorrendo em rios...
32 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
XITudo! vivo e nervoso e quente e forte,Nos turbilhões quiméricos do Sonho,Passe, cantando, ante o perfil medonhoE o tropel cabalístico da Morte...
João da Cruz e Sousa (1861-1898): Nasci-do em Santa Catarina, filho de escravos alfor-riados, adotado pela família que os libertou, pôde assim ser educado nas melhores esco-las da região. Com a morte dos protetores, largou os estudos para trabalhar, sofrendo perseguições raciais que o impediram de as-sumir o cargo de promotor público. Mudou-se em 1890 para o Rio de Janeiro, onde travou contato com a poesia simbolista, colaborou com jornais, fez-se conhecido com Broquéis (1893), mas não conseguiu emprego de-cente. A obra do “cisne negro” surge dessa atmosfera: “são as experiências, recortadas pelo sentimento de pertencimento a uma co-letividade escravizada, marginalizada, que definem suas alianças. Nas relações pessoa-a-pessoa, conheceu as práticas intermedia-das por discriminação sutil, ou o racismo exacerbado” (LEITE, 1994, p. 98). Seus livros
Missal (1893) e Evocações (1897) exemplificam a prosa poética de uso comum no Simbolismo brasileiro. Morreu vitimado pela tuberculose e a pobreza.Para saber mais sobre o poeta, assista à reportagem Cruz e Sousa – De lá pra cá, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=z72-Gf6ch4c>.Em 2007, os restos mortais de Cruz e Sousa retornam à Santa Catarina a pedido do Governo do Estado. Cláudia Cárdenas e Rafael Schlichting realizaram um cur-ta-documentário sobre a cerimônia desse retorno: Cruz e Sousa, a volta de um desterrado (2007, 20 min.), disponível em: <http://www.curtadoc.tv/curta/index.php?id=313>.
FIGURA 56 - Cruz e SousaFONTE: <http://3.bp.blogspot.
com/-Uv8QmoZYmAo/TzyFHKIqizI/AAAAAAAAAus/FpvGKU3Tz2k/s1600/
Cruz+e+Souza308.jpg>.
Saiba mais!
Nesse poema, chamamos atenção às palavras grafadas em maiúsculas: 1) Formas e Amor; 2) Virgens, Santas; 3) Cor, Perfume 4) Ocaso, Sol, Dor, Luz; 5) Mistério, Sonho, Estrofe, Verso; 6) Éter, Sonho; 7) Morte. Todas elas são também substantivos, de maneira que a marca simbolista de associar vocábulos e ideias aqui se faz presente. Trata-se das formas de um tipo de amor que, maiúsculo, como afirmado ao princípio do texto, não deve ser comum ou terreno. A segunda dupla de vocábulos resolve a sugestão da primeira: é um amor virginal, santo. Já a terceira dupla elenca termos relacionados aos sentidos – visão e olfato – que,
Módulo 6 I Volume 3 33UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
como no “Incenso” de Gilka, se ligam à palavra turíbulo. Entretanto, o ato de ver dá lugar a movimentos e sensações;
como se num corpo vivo, as horas em que o dia termina tremem nesse momento extremo. Assim, no quarto grupo, os substantivos geralmente vinculados à claridade tornam-se obscurecidos por que o sol se põe e, ao se apagar, a luz se faz dorida. Notemos a intercalação dos termos que lembram escuridão e clareza em duas duplas, tornado ocaso semelhante a dor e sol igual a luz. O próximo quarteto reúne os vocábulos referentes à criação poética cuja origem misteriosa procede de outra esfera, segundo o eu-lírico, para ser fecundado, materializado em estrofes, em versos. Por fim, a reiteração de Sonho, junto com Éter, i. e. com as regiões superiores da atmosfera, fecha o ciclo associativo com a Morte, de maneira que esses três substantivos singulares retornam às Formas pluralizadas da abertura do texto.
Tema simbolista por excelência, a morte sela o clima místico que paira em todo o poema, assumindo não apenas seu significado literal, de fim de vida, mas também as significações metafóricas de refúgio em outro espaço/tempo, de evasão de um universo social tão conturbado como se apresentava o finissecular. Por isso, o desejo de manter distância do ambiente, de afastar a literatura da realidade. Assim, a pureza ansiada desde o primeiro momento da composição de Cruz e Sousa adjetiva-se numa série de palavras relacionadas com a brancura, tais como “alvas, brancas, claras, luares, neves, neblinas, cristalinas, puras, vaporosas, lírios”.
Outros vocábulos encontram utilização rara (como “volúpico, diafaneidades, triunfamentos”, respectivamente originados de “volúpia, diáfano, triunfo”) ou são bastante exóticos por eles mesmos, a exemplo de: “aras, mádidas, eflúvio, álacre, flébeis, alabastros, eflúvio, tantálicos”. Mesmo que desconheçamos suas denotações, percebemos como auxiliam na configuração de uma atmosfera estranha, misteriosa, e distinguimos na sonoridade obtida com seus distintos agrupamentos um apoio importante para que a imaginação seja estimulada e o sentido geral do texto, de alguma forma, alcançado.
Voltando a seu começo e indo aos dicionários, vemos que “Antífona” refere-se ao verso cantado em liturgias como resposta a um salmo, função
34 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
que teria originado o “canto antífonal”, peça executada por dois coros semi-independentes, interagindo um com o outro, às vezes, entoando frases alternadas. De algum modo, essa definição se compatibiliza com a inspiração e sua transpiração em elementos concretos, a todo tempo, solicitadas pelo eu-lírico, como antigos invocavam musas. A invocação dirigida àquelas Formas, diáfanos elementos ou indefinidas forças, resulta no embate decifrado em meio a imagens e sons veiculados por uma linguagem que, à primeira vista, não se compreende tão facilmente como a manchete dos jornais ou um anúncio das lojas Insinuante. Musical e sensual, o poema tanto insinua e sugere que merecer ser escutado em: <http://www.youtube.com/watch?v=bLF-C9HSJe8>.
Um pouco fartos de tanta pureza, retornemos a Gilka Machado que, em outros poemas, ousa e torna mais evidente as impurezas. O impuro nela se amplia, como quando ao tomar forma da mulher erotizada em “Particularidades”, também de seu livro Estados da alma:
PARTICULARIDADES...
Muitas vezes, a sós, eu me analiso e estudo,os meus gostos crimino e busco, em vão torcê-los;é incrível a paixão que me absorve por tudoquanto é sedoso, suave ao tato: a coma... Os pelos...
Amo as noites de luar porque são de veludo,delicio-me quando, acaso, sinto, pelosmeus frágeis membros, sobre o meu corpo desnudoem carícias sutis, rolarem-me os cabelos.
Pela fria estação, que aos mais seres eriça,andam-me pelo corpo espasmos repetidos,às luvas de camurça, aos boás, à pelica...
O meu tato se estende a todos os sentidos;sou toda languidez, sonolência, preguiça,se me quedo a fitar tapetes estendidos.
Módulo 6 I Volume 3 35UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Lembremos que os parnasianos visavam à impessoalidade, à libertação de toda e qualquer interferência das dicções, emoções, impressões, situações etc. do sujeito no texto poético. A poetisa que, nesse caso, não renuncia (como queriam os simbolistas) à forma definida do objeto poético, vai se afastar do modo parnasianista devido ao tom confessional que imprime a seus versos. Por outro lado, a fêmea desejosa e frágil que, tomada pela paixão, absorvida pelas sensações terrenas, revela-se perturbada por elas, aproxima-se à ideia de inutilidade da arte, expressa por esteticistas do porte de Gabriele D’Annunzio.
Já que hoje estamos por demais voltando ao texto e lembrando coisas fora dele, recordemos que o Esteticismo surgiu na França e Inglaterra a partir de 1860, e que se baseia na valorização do belo em detrimento de outros valores associados à esfera ético-moral. Apesar de manter estreita relação com a teoria da arte pela arte, alguns estetas, como os ingleses John Ruskin (1819-1900) e William Morris (1834-1896), não compartiam a ideia da total autonomia da arte, posto entenderem o belo e o artístico compromissados com a realidade circundante e não como a completa emancipação do fenômeno estético.
Gabriele D’Annunzio(1836-1938): Máximo re-presentante do decadentismo italiano entre os séculos XIX e XX, sua estreia no mundo literário deu-se aos 16 anos, com a publicação dos poemas de Primo vere (1879), nos quais demonstrava sua admiração pelo poeta romântico Giosué Carducci (1835-1907). Em 1881, foi viver em Roma e in-gressou na universidade para estudar Letras, publi-cando, nesse período, Canto novo (1882), em que apostava decisivamente no decadentismo literário. Em L’intermezzo di rime (1883), exaltava a bele-za como o único objetivo artístico, convertendo-se na figura central da polêmica entre decadentistas e naturalistas. Também publicou prosa - O pra-zer (1889), Giovanni Episcopo (1892), O inocente (1892), O triunfo da morte (1894), As virgens das pedras (1895), O fogo (1900) - e os dramas A ci-dade morta (1899) e A Gioconda (1899). Teve uma vida repleta de escândalos amorosos, que o levou a viver um período na França, onde não deixou de
escrever e publicou em francês. Durante a I Guerra Mundial (1914-1919), regressou à terra-natal e se envolveu com a ideologia fascista. Condecorado pelo próprio Duce, não deixaria de escrever romances como Leda sem cisne (1916) e Noturno (1918). Fonte: ENEI, 2010.
Para conhecer
FIGURA 57 - Gabriele D’AnnunzioFONTE: <http://forcolaediciones.
com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Foto_1.jpg>.
36 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Com Walter Pater (1839-1894), a teoria da arte pela arte se assumiria como uma filosofia de vida que coloca o belo no centro da experiência humana. Pater, entretanto, opunha-se ao hedonismo dos estetas da década de 1880, entre os quais se destacam o pintor James Whistler (1834-1903) e o escritor Oscar Wilde (1854-1900) que, ansiosos por transcender a cultura e a moral burguesas, encontrariam respostas para seus anseios no culto do artificialismo e do dandismo. O Esteticismo algumas vezes é considerado como uma vertente do Decadentismo. Já esclarecemos o significado do conceito, mas antes, lançamos um convite: passeie pelo Reino Unido ao crepúsculo oitocentista, através da obra e da vida desses artistas.
Aprecie a obra plástica de James Whistler, aces-sando seus trabalhos em Google Art Project, dis-ponível em <http://www.googleartproject.com/pt/artist/james-mcneill-whis-tler/4128034/>.FIGURA 58 - Noturno em azul e prata, a lagoa de Veneza, James McNeill Whistler, 1879, óleo sobre tela. Nos noturnos, como o próprio nome indica, o pintor quis registar os efeitos da noite através de uma gama de tons azuis prateados sem se atentar a nenhum tema, simplesmente buscando a
combinação harmônica das cores na construção de uma pintura formulada. FONTE: < http://uploads7.wikipaintings.org/images/james-mcneill-whistler/nocturne-in-blue-and-silver-the-lagoon-venice-1880.jpg>.
Para conhecer
Para conhecer
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854-1900): Intelectual irlandês, filho da escritora Joana Elgee. Representante da teoria da arte pela arte, pretendeu que a própria vida se tornasse uma obra artística. Na Universidade de Oxford, deu-se a conhecer como escritor, recebendo importantes prêmios; ao terminar a faculdade em 1878, começou a publicar artigos e poemas em jornais e revistas. Em 1884, casou com Constance Lloyd, irlandesa rica que lhe permitiu dedicar-se exclusivamente às Letras. Suas ideias políticas e sociais eram também admiradas e seu refinado modo de vestir colou-
FIGURA 59 - Oscar WildeFONTE: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Oscar_Wilde.jpg>.
Módulo 6 I Volume 3 37UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
se ao termo “dandismo”, moda dos dândis (cavalheiros elegantes e extravagantes). Em 1895, foi preso devido à relação homoerótica mantida com um jovem nobre inglês. Ao sair do cárcere depois de dois anos, perdeu influência, refugiou-se em Paris, onde viveu praticamente na miséria com o nome falso de Sebastian Melmoth. Morreu na capital francesa em 1900, vítima de meningite. Autor dos contos de O príncipe feliz (1888) e O crime do lorde Arthur Saville (1891), do romance O retrato de Dorian Gray (1891), dos dramas Salomé (1891) e A importância de se chamar Ernesto (1895). Várias de suas obras literárias ganharam adaptação ao cinema:O leque de Lady Windermere. Direção de Ernst Lubitsch, 1925, 98 min, mudo.O fantasma de Canterville. Direção de Jules Dassin, 1944, 95 min.O retrato de Dorian Gray. Direção de Albert Lewin, 1945, 109 min.Um marido ideal. Direção de Alexander Korda, 1947, 96 min.A importância de se chamar Ernesto. Direção de Anthony Asquith, 1952, 92 min.Salomé. Direção de William Dieterle, 1953, 103 min.A última dança de Salomé. Direção de Ken Russel, 1988, 89 min.Um marido ideal. Direção de Oliver Parker, 1999, 96 min.A importância de se chamar Ernesto. Direção de Oliver Parker, 2002, 97 min.Uma boa mulher. Direção de Mike Baker, 2004, 89 min.O retrato de Dorian Gray. Direção de Oliver Parker, 2009, 112 min.Também é interessante assistir aos filmes que tratam da vida do escritor, como:Os crimes de Oscar Wilde. Direção de Ken Hughes, 1960, 123 min.Wilde. Direção de Brian Gilbert, 1997, 117 min.
A decadência é uma atitude existencial e uma corrente estética que emergiu ao final do século XIX, contrapondo-se aos ideais realistas e naturalistas de progresso. O termo “decadentistas”, usado pejorativamente pelos críticos para designar os jovens intelectuais franceses que partilhavam uma visão pessimista, cética e agônica do mundo, seria apropriado por eles, convertendo-se em seu lema. O Decadentismo caracterizou-se por ser
a arte em seu ponto de extrema maturidade a que as civilizações, ao envelhecerem, conduzem seus sois oblíquos: estilo engenhoso, complicado, erudito, cheio de nuanças e rebuscado, recuando sempre os limites da língua, tomando suas palavras a todos os vocabulários técnicos, tomando cores a todas as paletas, notas a todos os teclados, esforçando-se por exprimir o pensamento no que ele tem de mais inefável e a forma em seus mais vagos e mais fugidios contornos, ouvindo, para traduzir as confidências sutis da neurose, as confissões da paixão que envelhece e se deprava e as alucinações estranhas da ideia fixa ao tornar-se loucura (GAUTIER, 1989, p. 42).
Nas produções decadentistas, encontramos tanto o desconforto e o pessimismo com a sociedade, quanto culto pela arte e pelo sensorial numa tentativa de liberar a literatura e a arte das convenções da moral burguesa.
38 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Um poeta conhecido como maldito em sua época, Charles Baudelaire, e um conterrâneo seu, o escritor e crítico de arte Joris Karl Huysmans, são reconhecidos como decadentistas. Poetas simbolistas brasileiros, como Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Sousa, apresentaram marcas decadentes, embora o único poeta que no Brasil mereça ser associado a tal estética talvez seja Emiliano Perneta (1866-1921), também um dos fundadores do Simbolismo no país.
Charles Baudelaire (1821-1867): Escritor, crítico de arte e tradutor. Foi chamado de “poeta maldito” devido à vida boêmia que levava e à visão do mal por ele expressa. Sua coletânea de poemas As flores do mal (1855) teve grande peso sobre a estética simbolista e lançou bases para a poesia moderna, mas se mostrava polêmica para a época, de modo que voltaria à circulação apenas em 1911. Baudelaire introduziu um novo conceito de modernidade no ensaio “Le peintre de la vie moderne” (1863) onde a definia como “o transitório, fugitivo, contingente; a metade da arte, da qual a outra metade é o eterno e o imutável”. Seus poemas destacam-se pela magia, a música, a sensualidade, conseguindo plasmar neles o sublime e o grotesco. A maioria de seus escritos encontraria somente publicação póstuma. Walter Benjamin (1892-1940) em Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo (1935) mostra o poeta como a consciência lírico-crítica do século XIX, analisando-o
em suas várias dimensões: o poeta, o crítico da modernidade, a testemunha da modernização social, fazendo importante referência a sua sensível interpretação da urbanidade.
Para conhecer
FIGURA 60 - Charles Baudelaire, fotografia de Felix Nadar, 1855-58.FONTE: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Baudelaire_crop.jpg>.
Joris Karl Huysmans (1848-1907): Escritor e crítico francês, nascido em Paris. Apesar das afinidades estéticas e pessoais que o vinculavam ao Naturalismo - era intimo amigo de Émile Zola -, a partir do terceiro romance, começou a assumir de modo mais evidente as tendências ao Simbolismo e ao Decadentismo. Em Às avessas (1884), considerada sua obra-prima, demonstrava estar cansado da mediocridade da vida cotidiana e buscava uma via de escape através da estética. Encontrou no misticismo católico e, posteriormente, no demonismo, a solução para evadir da entediante realidade. Là-
bas (1898) é a primeira obra literária contemporânea dedicada aos cultos satânicos, na qual o autor cria um paradoxal realismo do sobrenatural. Após essa incursão nos domínios do maligno, reencontrou-se com o catolicismo ortodoxo. Cabe destacar seu grande êxito na produção de ensaios como A arte moderna (1883) e Certains (1889).
FIGURA 61 - Joris Karl HuysmansFONTE: <http://www.palettemuseum.com/wp-content/uploads/2010/09/HuysmansJorisKarl
Módulo 6 I Volume 3 39UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
O Decadentismo de Huysmans parece impregnar os dois últimos versos das “Particularidades” de Gilka, marcados pelo tédio e o negativismo. Tais percepções sobre um mundo tão hostil e insensível às demandas do sujeito assemelham-se àquelas expressas por artistas decadentistas que, cansados das agruras da vida, tentavam amparar-se na solidão e no isolamento. Ainda no mesmo poema da escritora brasileira, o tema profano vê-se reforçado pela explosão sensorial dos “frágeis membros”, pela interdição das “carícias sutis”, pelo erotismo do “corpo desnudo” e dos “espasmos repetidos pelo corpo”. A temática profana, ao lado das palavras de uso corriqueiro e de um elenco de coisas triviais (pelos, cabelos, luvas de camurça, pelica, tapetes estendidos), flerta com o desvio e a quebra de tabus, notáveis em Baudelaire, o precursor do Simbolismo e da poesia moderna, como um todo, nela incluída a decadentista e a impressionista.
O Impressionismo é uma corrente pictórica e musical que surgiu na França ao final do século XIX. Nomeando primeiramente a música de Claude Debussy (1862-1893) e a pintura de Claude Monet (1840-1926), o termo deriva da tela dessa artista - Impressão, sol nascente - dada
a conhecer na primeira exposição dos novos artistas em 1874. As obras impressionistas foram hostilizadas em seu tempo, por boa parte da crítica e do público. Entre seus principais integrantes, estão o próprio Monet, Alfred Sisley (1839-1899), Armand Guillaumin (1841-1927), Berthe Morisot
(1841-1895), Camille Pissarro (1831-1903), Edgar Degas (1834-1917), Frédéric Bazille (1841-1870), Paul Cézanne (1839-1906) e Pierre Auguste Renoir (1841-1919).
FIGURA 62 - Impressão do sol nascente, Claude Monet, 1874, óleo sobre tela. Essa obra foi a responsável por dar o nome ao movimento impressionista. Perceba que o artista registra a luz em pinceladas rápida e as cores surgem de combinações cromáticas.
FONTE: <http://www.esec-josefa-obidos.rcts.pt/cr/ha/seculo_19/Imagens19/sunrise.JPG>.
40 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Não se pode tê-los como membros de uma escola homogênea, mas é possível verificar traços comuns em suas obras: pintura ao ar livre através da observação da natureza; valorização das impressões pessoais e sensações visuais imediatas, bem como da ação da luz natural; pinceladas fragmentadas e justapostas; decomposição das cores; suspensão dos contornos e efeitos de claro e escuro. Uma característica destacável é a técnica da mistura ótica, ou seja, as colorações formam-se na retina do observador e não pela mistura de pigmentos. Apesar das paisagens e naturezas-mortas como temas preferidos das pinturas impressionistas, apresentaram importante variação de repertório.
No Brasil, algumas marcas impressionistas podem ser visualizadas nas obras de Almeida Júnior (1850-1899), Antônio Parreiras (1860-1937), Arthur Timótheo da Costa (1882- 1922), Belmiro de Almeida (1858-1935), Castagneto (1851-1900) e Eliseu Visconti (1866-1944), entre
Saiba mais!
Para ter acesso à obra plástica impressionista, consulte Google Art Project, disponível em <http://www.googleartproject.com>. Busque pelo nome dos pintores mais conhecidos, escolha algumas obras e as explore com a potente ferramenta de zoom do programa, que permite a visualização detalhada das pinceladas, cores, texturas, figuras etc.
O site da TV escola disponibiliza uma série com oito programas sobre os impressionistas: Henry de Tolouse-Lautrec, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1928>.
Claude Monet, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=8741>.Edgar Degas, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1931>.Edouard Manet, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1918>.Paul Cézanne, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1918>.Paul Gauguin, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1932>.Pierre-Auguste Renoir, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1223>.Vicente Van Gogh, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1930>.
Também assista:
Camille Claudel. Direção de Bruno Nuytten, 1988, 175 min.Pinturas impressionistas, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=uPZQhRrrqeo>.Os Impressionistas (2006), minissérie realizada pela BBC e disponível legendada em português em: <http://www.youtube.com/user/tassuett/videos?query=impressionists> (em episódios).O Poder da Arte (BBC) – Van Gogh, vídeo disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=Rve77XDdK0I&feature=related>.Van Gogh. Direção de Maurice Pialat, 1991, 158 min.
Módulo 6 I Volume 3 41UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
outros. A resistência do público às novas tendências estéticas, a pouca ousadia dos pintores e as limitações impostas pela Academia Imperial de Belas Artes dificultaram que o Impressionismo fosse incorporado pelos pintores nacionais, limitados então ao uso superficial das técnicas impressionistas.
Designando uma das correntes literárias do final do século XIX, o Impressionismo denominou inicialmente a escrita artística dos irmãos Edmond e Jules Goncourt, mas se estenderia a escritores “decadentes”, tais como Anton Tchecov (1860-1904) e Eça de Queirós (1845-1900). Aprimorado na obra adulta de Henry James (1843-1916), Italo Svevo (1861-1928), Joseph Conrad (1857-1924) e Marcel Proust (1871-1922), assinala-se por trocar as peripécias exteriores pela análise psicológica:
O relato de narrador impessoal e onisciente, usado pe-los realistas e naturalistas, é substituído pela histórica contada do ponto de vista do herói-autor (Proust, Sve-vo) ou então, como em James e Conrad, pela narra-ção construída com ponto de vista plurifocal, isto é, contada a partir da perspectiva dos vários personagens. Elaborando a técnica do ‘discurso vivido’, o romancista procura captar a vida interior dos protagonistas (MER-QUIOR, 1977, p. 151).
Marcas impressionistas, também simbolistas, revelam-se na obra do escritor sul-rio-grandense Mario Quintana, situada entre os anos de 1930 e 1950, ou seja, desde suas publicações em jornais e revistas aos livros ordenados por gêneros poéticos. Os elos do poeta com tais estéticas tornam-se visíveis em algumas partes dos livros A rua dos cataventos (1940) e Canções (1946). Sua rotulação como “neo-simbolista” contribuiria para afastá-lo das vanguardas, já que, no Brasil, o Simbolismo não se identificava com os ares modernistas, tendo surgido no interior do Parnasianismo, em convivência nada conflitante.
Mario de Miranda Quintana (1906-1994): O “anjo poeta” nasceu prematuramente em Alegrete (RS). Seus pais, Celso e Virgínia Quintana, responsabilizaram-se por sua alfabetização. Em 1919, foi estudar no Colégio Militar de Porto Alegre, publicando seus primeiros textos na revista Hyloea, da Sociedade Cívica e Literária dos alunos dessa escola. Obteve o primeiro lugar no concurso literário do Diário de notícias de Porto Ale-gre com o conto “A sétima personagem” (1926) e a publicação de um de seus poemas
Para conhecer
42 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Convém esclarecer que o termo “vanguardas”, originário do francês avant-garde, refere-se ao conjunto de tendências artísticas surgidas no início do século XX: Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Suprematismo, Construtivismo, Dadaísmo, Surrealismo etc. De acordo com Peter Burger (2008), as vanguardas atacam os conceitos burgueses de instituição da arte (conteúdo essencial das obras) e da autonomia da arte (separação da arte da práxis cotidiana), questionando o funcionamento da arte na sociedade, tanto em relação a seu efeito como a seu conteúdo. Dessa forma, rompem com o conceito tradicional de “obra orgânica”, criando obras “não-orgânicas”, ou seja, suas produções se mostram como uma montagem, um artefato; são reproduções e reproduzíveis, dão novos significados aos materiais, apropriam-se dos meios disponíveis e, com isso, dissolvem a possibilidade de um estilo de época ao mesmo tempo em que apagam a aura artística.
No entanto, Quintana consegue ser simbolista e modernista ao mesmo tempo, e em um só texto, como veremos neste poema d’A rua dos cataventos:
na revista carioca Para todos (1927). A partir de 1929, passou a viver em Porto Alegre e a trabalhar no jornal O Estado do Rio Grande; em 1932, como tradutor para a Editora Globo; em 1935, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, onde conheceria Cecília Meireles. Seu primeiro livro, A rua dos cataventos, foi publicado em 1940 e o último, Velório sem defunto, em 1990. Em 1960, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos organizaram sua Antolo-gia poética. 20 anos depois, receberia o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Leia Micro-história italiana para uma contribuição à biobibliografia de Mario Quintana de André Luís Mitidieri (2011). Disponível em: <http://www.neiita.cce.ufsc.br/relit/Numeros/N3Vol1Agosto2011.pdf>.Para saber mais sobre a vida e obra do poeta, acesse Mario Quintana – página web do Estado do Rio Grande do Sul, disponível em <http://www.estado.rs.gov.br/marioquintana/>.
Assista aos vídeos:
Anjo Malaquias, disponível em: <http://globotv.globo.com/rbs-rs/curtas-gauchos-especiais-de-sabado/t/veja-tambem/v/assista-ao-curta-anjo-malaquias-da-serie-20-gauchos-que-marcaram-o-seculo-xx/2066137>.Mario Quintana, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=rfxAopMFnEI>. Mario Quintana, vida & obra, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=rTBgJvsg89g&feature=related>.Saiba mais sobre a Casa de Cultura Mario Quintana, acessando <http://www.ccmq.com.br>.
FIGURA 63 - Mario QuintanaFONTE: <http://2.bp.blogspot.
com/-T2-G9r7rIYM/T9fGg1EaYFI/AAAAAAAAAQU/oOF3zHrweaM/s1600/mario+quintana.jpg>.
Módulo 6 I Volume 3 43UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Soneto XVIIMario Quintana
Da vez primeira em que me assassinaramPerdi um jeito de sorrir que eu tinha.Depois, de cada vez que me mataram,Foram levando qualquer coisa minha…
E hoje, dos meus cadáveres, eu souO mais desnudo, o que não tem mais nada…Arde um toco de vela, amarelada…Como o único bem que me ficou!
Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada!Ah! Desta mão, avaramente adunca,Ninguém há de arrancar-me a luz sagrada!
Aves da noite! Asas do Horror! Voejai!Que a luz, trêmula e triste como um ai,A luz do morto não se apaga nunca!
Entre as características simbolistas aí observadas, destacamos a abordagem por via indireta, pois as sucessivas perdas, metaforizadas em assassinatos, levam o sujeito lírico a se declarar uma série de cadáveres, o que pode ser entendido como expropriações e privações, não no sentido literal, material, mas também e, sobretudo, emocional. Quando diz “me assassinaram”, não fala diretamente, mas pela transversal, querendo dizer, quando me desapossaram, quando me tiraram coisas, pessoas, sentimentos etc. O cadáver “mais desnudo”, assim, não deve ser compreendido em si mesmo, como um corpo morto, mas pelo que poderá sugerir. A sugestão parece tão perfeita, que é capaz de instalar o símbolo a ser decifrado pela leitura, quer dizer, cadáver não é = cadáver, mas equivale a uma situação de falta, penúria, pobreza, saudade etc.
Outro traço simbolista reside no poder de evocar associações, o
44 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
que vemos quando, à perda de um ato, de uma maneira (jeito de sorrir) sucede a perda de algo mais pendente ao concreto (qualquer coisa minha), mas nem por isso, definido. A indefinição é acompanhada de certo mistério em busca de maior concretude - o “toco de vela, amarelada” - que se associa às repetições da palavra “luz” nas estrofes seguintes. Os cadáveres geram associações superpostas com “corvos, chacais, ladrões da estrada” e “Aves da noite” Asas do Horror!”. O peso conferido às vogais “a”, “o” e “u” assegura musicalidade ao poema, ao mesmo tempo em que algumas palavras, como cadáveres, deixam de corresponder a seu sentido denotativo, abrindo-se a outros significados, como vimos.
O gosto simbolista pela religiosidade e pela incompreensibilidade é notado na “luz sagrada”, “luz, trêmula e triste como um ai”, que logo tem sua compreensão dificultada ao se mostrar como a “luz do morto [que] não se apaga nunca”. O simbolismo também prefere o individual ao geral e o vago ao exato. Nesse sentido, ao fixar vínculos entre o abstrato e o concreto no “Soneto XVII”, a natureza significante da palavra “amarelada”, e não sua propriedade conceitual, é que permite relacionar a morte à velhice. A postura do ser frente ao passar do tempo é particular, antes de tudo, mas “Quintana se volta antes para o plano da objetividade, da relação do homem com a natureza, do que para o plano individual. Quando se refere ao seu próprio íntimo, o poeta geralmente nos defronta com um quadro de tristeza e desolação” (BECKER, 1996, p. 40).
O símbolo está ali, naquela luz que jamais se apaga e o ponto alto do poema consiste na tentativa de desvendar esse enigma. O que tal luz significa? Pode significar a própria poesia, único bem que resta ao eu lírico. Como o poema está escrito na primeira pessoa do singular, há sugestão de que esse possa identificar-se como Quintana, o ser histórico, de carne e osso cuja poesia enraizada na experiência pessoal também se aproxima dos românticos, pois muitos deles buscavam a identificação entre a vida vivida e a obra de arte, neste caso, literária. Por outro lado, Quintana se insere no modernismo literário, entre cujos critérios, ressalta “o compromisso com o princípio de um exame cerrado de si mesmo, que acarreta uma exploração do eu” (GAY, 2009, p. 21). Como nos lembra Paulo Becker (1996), para o poeta moderno,
Módulo 6 I Volume 3 45UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
defrontado com uma existência racionalizada e coisificada ao extremo, a palavra lírica serve muitas vezes como uma válvula de escape. Através dela, o poeta afirma sua individualidade contra a indiferenciação que vigora no mundo reificado. Mergulhado em seu próprio íntimo, e abandonando qualquer referência a objetos e situações ‘reais’ (por serem ideologicamente marcados), o poeta pode criar a ficção do indivíduo íntegro e pleno, reconciliado com a natureza e consigo mesmo. Mas esta é antes uma utopia do que uma realidade conquistada (p. 39-40).
Românticos, impressionistas e modernistas comungam da presença do eu em seus textos, em geral, correspondente ao uso da primeira pessoa do singular, o que sugere identificação entre o sujeito lírico (voz que fala no texto lírico, como quer a teoria literária) e o poeta (ser de carne e osso, aquele que vive e escreve). Pense aí, pense. Pense que o próprio Quintana havia afirmado, em Da preguiça como método de trabalho (1987): “Minha vida está nos meus poemas, meus poemas são eu mesmo, nunca escrevei uma vírgula que não fosse uma confissão” (p. 11).
A postura do escritor frente ao mundo real e ao fazer artístico pode ser avaliada a partir do soneto que abre A rua dos cataventos:
SONETO IMario Quintana
Escrevo diante da janela aberta.Minha caneta é cor das venezianas:Verde!... E que leves, lindas filigranasDesenha o sol na página deserta!
Não sei que paisagista doidivanasMistura os tons... acerta... desacerta.Sempre em busca de nova descoberta,Vai colorindo as horas quotidianas...
46 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Jogos da luz dançando na folhagem!Do que eu ia escrever até me esqueço...Pra que pensar? Também sou da paisagem...
Vago, solúvel no ar, fico sonhando...E me transmuto... iriso-me, estremeço...Nos leves dedos que me vão pintando!
Vamos notar certa vizinhança entre literatura e pintura, o poeta escrevendo seus versos e o pintor que cria seus quadros, escolhendo tintas e tons. Assim, a “caneta é cor das venezianas: Verde!”, “o sol na página deserta desenha “leves, lindas filigranas”, quer dizer, delicadas obras que os ourives produzem com fios de ouro e prata entrelaçados e soldados. O cenário não está definido, não sabemos que janela é essa nem onde ou quando se situa. A indefinição e as analogias com a pintura prosseguem na segunda estrofe, em que o sujeito lírico não sabe quem poderia estar agindo por meio de suas mãos (desconhecido “paisagista doidivanas”) que “Mistura os tons [...] colorindo as horas quotidianas”, produz “Jogos de luz dançando na folhagem”. Os adjetivos aberta, leves, lindas e deserta realçam os efeitos que os objetos, assim visualizados de modo praticamente autônomo, produzem nele, mais importantes do que os próprios objetos e do que a definição do ambiente.
Se o paisagista poderia encarnar uma forma mística, algo sobrenatural, típico da literatura simbolista, essa ideia é logo desfeita porque o substantivo se acompanha do adjetivo doidivanas. Extravagante e ignorada, a força que o leva a cantar só pode vir dele mesmo. A extravagância chega a tal ponto que o poeta afirma até se esquecer do que ia escrever, mas não abandona a caneta, frente ao desafio da página deserta, do papel branco. Seu estado de espírito é objeto do poema que resulta da própria ação, portanto, ele atua enquanto sujeito produtor ao mesmo tempo em que faz parte da paisagem, passivamente, numa atitude típica do Impressionismo.
O último verso, “Nos leves dedos que me vão pintando”, vem confirmar a comparação entre poeta e pintor, pintura e poesia. E com qual movimento artístico ele se identifica? Para responder, você precisará considerar, antes de tudo, que, apreendendo a existência
Módulo 6 I Volume 3 47UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
como um constante devir, manifestado pelo poeta em seus autorretratos, a atitude contemplativa perante o mundo, tão bem sintetizada no verso ‘Pra que pen-sar? Também sou da paisagem...’, a atenção dispensada aos dados sensíveis do real e, também, a busca de uma linguagem nova, que exprima uma visão pré-racional, necessariamente subjetiva e fragmentária (a do ‘paisa-gista doidivanas’), sempre ‘em busca de uma nova des-coberta’ [...] – todos estes são aspectos característicos de uma tendência que aflorou nas artes pictóricas na segunda metade do século passado, o Impressionismo (BECKER, 1996, p. 26).
Como produtor de sonetos e outras composições clássicas, Quintana reforça sua posição de leitor dessa tradição, mas não deixa de absorver as expectativas da poesia moderna, incorporando a oralidade e o coloquialismo a uma dicção própria, que assinala seu sujeito poético de forma mais acentuada nos anos de 1950. Em Sapato florido, Caderno H, A vaca e o hipogrifo e Da preguiça como método de trabalho, ele pratica a prosa poética, como evidenciamos nos seguintes poemas, retirados do primeiro desses livros: CARRETO – “Amar é mudar a alma de casa”; EPÍGRAFE – “As únicas coisas eternas são as nuvens”.
O verso livre é uma conquista da poesia moderna e muito deve a Baudelaire. Seus poemas desencadeados a partir da ideia de que a vida é passagem, resultado do ir e vir e do ritmo acelerado das grandes cidades, inspirou seus conterrâneos Rimbaud e Stéphane Mallarmé. Visualizamos a questão da fugacidade do momento e a presença de figuras que, até o advento da poesia moderna, não eram dignas de integrar um texto poético, em “O cão e o frasco”, dos Pequenos poemas em prosa de Baudelaire e “Os vira-luas”, do Sapato florido de Quintana:
O CÃO E O FRASCO
Meu bom cão, meu cachorrinho, querido Totó, chegue-se e venha respirar um excelente perfume comprado no melhor perfumista da cidade.”E o cão, agitando a cauda, o que é, creio eu, nesses pobres seres, o sinal correspondente a um sorriso ou riso, aproximou-se e pousou curiosamente seu focinho úmido sobre o frasco destampado; em seguida,
48 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
recuando subitamente, com medo, latiu contra mim como se me reprovasse.“Ah! miserável cão, se eu tivesse lhe oferecido um pacote de excrementos, você o teria farejado com prazer e talvez até devorado. Assim você mesmo, indigno companheiro de minha triste vida, você se parece com o público a quem não se pode jamais presentear com perfumes delicados que o exasperam mas com sujeiras cuidadosamente escolhidas.
OS VIRA-LUAS
Todos lhes dão, com uma disfarçada ternura, o nome, tão apropriado, de vira-latas. Mas e os vira-luas? Ah! Ninguém se lembra desses outros vagabundos noturnos, que vivem farejando a lua, fuçando a lua, insaciavelmente, para aplacar uma outra fome, uma outra miséria, que não é a do corpo.
No Brasil, o poema em prosa à la Baudelaire, que privilegia o ritmo
Stéphane Mallarmé (1842-1898): Durante os anos 1880, revelou-se como a figura central de um grupo de escritores, entre os quais estavam Paul Valéry, André Gide e Marcel Proust. Publicou seus primeiros poemas no Parnasse Contemporain em 1866; iniciou em 1867 o relato Igtur, ou a loucura de Elbehnon e, em 1869, Hérodiade. Seu trabalho mais famoso, A tarde de um fauno (1876), inspirou o prelúdio homônimo de Debussy e foi ilustrado por Manet. Outras de suas obras literárias: antologia Verso e prosa (1893) e o volume de ensaios Divagações (1897). Em seu polêmico poema experimental Um lance de dados (1897), emprega versos livres e uma tipografia revolucionária que influenciaria a poesia de vanguarda. Suas inovações seriam referenciais aos poetas concretistas brasileiros Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos. Alquimista das palavras, Mallarmé defendia que não se faz poema com ideias, mas com palavras; queria assinalar que o poema deve ser visto com um objeto em si mesmo (CAMPOS et. al., 1974).
Para conhecer
FIGURA 64 - Retrato de Stéphane Mallarmé, Pierre Auguste Renoir, 1892, óleo sobre tela. Mallarmé foi amigo dos pintores impressionistas Manet e Renoir, como também de Degas, Gauguin e Whistler, ajudando a concretizar o diálogo entre a pintura e a poesia do final do século XIX. FONTE: <http://www.histoire-image.org/
photo/zoom/sio10_renoir_001f.jpg>.
Módulo 6 I Volume 3 49UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
do devir, os momentos passageiros, conquistou simbolistas, a exemplo de Cruz e Sousa (Missal e Evocações) e impressionistas, como Adelino Magalhães (Os violões) e Raul Pompeia (Canções sem metro). Essa forma seria utilizada de modo sistemático por poetas sul-rio-grandenses, dentre outros, Augusto Meyer e Álvaro Moreyra, de quem Quintana se julga devedor.
Consideremos agora esta composição retirada dos Pequenos
Adelino Magalhães (1887-1969): Reconhecido como um dos mais importantes representantes do Impressionismo no Brasil, transitou pelos diferentes estilos das vanguardas. Em sua prosa, encontramos espaços e tempos ilusórios, oníricos e alucinatórios onde retumbam ecos onomatopeicos. As imagens e os ruídos denunciam a angústia das personagens e definem a atmosfera de seus contos por meio de uma linguagem original (Cf. BICHUETTE, 2009, p.13). Dono de uma expressão singular, sua obra foi incompreendida e se manteria praticamente no anonimato não fosse o esforço que alguns poucos pesquisadores empreendem nos últimos anos. Suas inovações literárias foram reunidas em Obras completas (1963). No ano seguinte, ele receberia o Prêmio Machado de Assis da ABL pelo conjunto da obra.
Raul D’Ávila Pompeia (1863-1895): Intelectual talentoso, aos dez anos foi internado no Colégio Abílio do Rio de Janeiro, cenário e personagem d’O Ateneu (1888). Nesse romance, narra em primeira pessoa o drama de um menino que, arrancado de seu lar, é obrigado a viver num internato. Sua primeira narrativa romanesca é Uma tragédia no Amazonas (1880). A partir de 1881, engajou-se às campanhas abolicionistas e republicanas, tornando-se amigo de Luís Gama. Escreveu em jornais paulistas e cariocas, publicou os poemas em prosa de Canções sem metro no Jornal do Commercio. Depois da abolição, tornou-se florianista exaltado e se opôs a intelectuais como Olavo Bilac. Com a morte de Floriano Peixoto, foi demitido da direção da Biblioteca Nacional e, sentindo-se desdenhado, pôs fim à vida no Natal de 1895. Em sua obra, “pode-se observar a característica do estilo, de não só refletir a impressão que causa um dado objeto, mas a impressão causada pelo objeto em um momento especial sob um determinado ângulo. A impressão de cada instante é inédita. Os fenômenos se apresentam à impressão sem correlações lógicas. A realidade exterior surge decomposta em múltiplas facetas, segundo o ângulo de visão. O simultâneo, o fragmentário, o instável e o subjetivo assumem a maior importância” (CADEMARTORI, 1993, p.59).
Augusto Meyer (1902-1970): Poeta, ensaísta e professor. Seu primeiro poemário, Ilusão querida, foi publicado em 1920, mas Coração Verde (1926), Giraluz (1928) e Poemas de Bilu (1929) é que lhe dariam reconhecimento internacional. Principal
Para conhecer
FIGURA 65 - Adelino MagalhãesFONTE: <http://sobreomedo.
files.wordpress.com/2010/11/b>
FIGURA 66 - Raul PompeiaFONTE: <http://4.bp.blogspot.
com/-V2zCTT2SK3s/T6tCmJmUxYI/AAAAAAAAAqM/AgQGu0wTgfM/
s1600/RAUL_P~1.JPG>.
50 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Álvaro Moreyra (A. Maria da Soledade Pinto da Fon-seca Velhinho Rodrigues M. da Silva) (1888-1964): Instalou-se no Rio de Janeiro em 1910 para terminar o curso de Direito e, depois de um período fora do país, de-senvolveu exitosa carreira jornalística como redator das publicações A Hora, Bahia Ilustrada, Boa Nova, Diretrizes, Dom Casmurro, Fon-Fon!, Ilustração Brasileira e Para To-dos. Participou junto com sua mulher, a jornalista e líder feminista Eugênia, da Semana de 22. Fundou em 1927 o “Teatro de Brinquedo”, primeiro movimento brasileiro de-dicado à renovação teatral. A partir de 1942, dedicou-se à crônica, trabalhou na Rádio Cruzeiro do Sul e na Rádio Globo. Entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1959 e deixou uma obra notável, na qual figuram Elegia da bruma (1910), Um sorriso para tudo (1915), Amargas (1954) e Havia uma oliveira no jardim (1958).Aprofunde sua visão sobre o autor lendo As amar-gas, não (lembranças), disponível em: <http://www.academia.org.br/antigo/media/As%20amargas%20N%C3%A3o%20-%20Lembran%C3%A7as.pdf>.
responsável pela introdução das ideias modernistas no Rio Grande do sul, dirigiu a Biblioteca Pública desse estado entre 1930 e 1936 e o Instituto Nacional do Livro em duas ocasiões: 1938-1956 e 1961-1967. Seu ensaio Machado de Assis (1935) mostrou-se fundamental para a revalorização da obra desse autor. Também estudou a literatura e o folclore sul-rio-grandenses. Em 1960, entrou para a Academia Brasileira de Letras.Para saber mais sobre a obra e o poeta, leia Ciclo de conferências – Centenário de nascimento de Augusto Meyer, disponível em: http://www.academia.org.br/abl/media/conferencias5.pdf
FIGURA 67 - Casal Moreyra, ilustração de Álvarus (Álvaro Cotrim), c. 1920.
FONTE: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/06/Casal_Moreyra_por_Alvarus.jpg>.
poemas em prosa de Baudelaire:
O ESTRANGEIROCharles Baudelaire
— A quem mais amas tu, homem enigmático, dizei: teu pai, tua mãe, tua irmã ou teu irmão?
— Eu não tenho pai, nem mãe, nem irmã, nem irmão. — Teus amigos? — Você se serve de uma palavra cujo sentido me é, até hoje,
desconhecido. — Tua pátria? — Ignoro em qual latitude ela esteja situada. — A beleza? — Eu a amaria de bom grado, deusa e imortal.
Módulo 6 I Volume 3 51UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
— O ouro? — Eu o detesto como vocês detestam Deus. — Quem é então que tu amas, extraordinário estrangeiro?— Eu amo as nuvens.., as nuvens que passam lá longe... as maravilhosas nuvens!
Tanto nesse poema quanto em “Carreto” e “Epígrafe”, de Mario Quintana, está presente a ideia de transitoriedade, daquilo que é fugaz e não podemos reter, pois não conseguimos dominar a ação do tempo. Para Baudelaire, as instituições que tradicionalmente prenderiam alguém a uma terra não importam. Sendo a beleza, inalcançável para um humano e o dinheiro, desprezível, assim como a classe social a que está ligado – a burguesia –, o único objeto digno de seu amor são as nuvens porque, passageiras e distantes, parecem encarnar, materializar aquela beleza inatingível, dar uma mostra de sua existência.
Quintana não se mostra em total inconformidade com os valores sociais de sua época, a julgar, pela crença no amor, capaz de transformar alguém, mudar sua alma. Ainda que a paixão seja transitória e os amores não durem para sempre, como o inquilino que muda de residência, o estado de espírito de quem ama pode modificar-se, do mesmo modo que os objetos das paixões, mais breves e menos duradouras, e do amor, que não é imortal, como disse Vinícius de Moraes, mas “infinito enquanto dure”.
O “anjo-poeta” compartilha com Baudelaire “o sentimento de exílio, como se fosse um estrangeiro entre os seus [...]. Além disso, Quintana possui uma percepção acurada do tempo, cuja passagem arrasta tudo consigo. Esse sentimento de transitoriedade não é imediatamente vinculado à vida moderna nas primeiras obras de Quintana, parecendo emergir antes da contemplação da natureza” (BECKER, 1996, p 115-116) humana, como observamos em “Carreto” e da natureza física, como vemos em “Epígrafe”, poema no qual reitera a concepção do efêmero, do transitório, expressa por seu confrade francês em “O estrangeiro”.
A simplicidade aparente dos quintanares oferecidos à leitura em revistas e jornais fez com que caíssem no gosto popular antes de o escritor se inserir no cenário editorial e conquistar espaço no cânone brasileiro. Sua produção inicial revela um processo desordenado, e antes sincrônico
52 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
do que diacrônico, como indica sua história editorial. A obra quintanesca possibilita observar um modernismo que, embora tendo pouco a ver com a literatura vanguardista brasileira, se traduz pela “concordância com a recusa programática ao mundo burguês e pela volta a uma originalidade primitiva, que nele transparece no aproveitamento da oposição idade adulta/infância, grandes eventos históricos/pequenos eventos do dia-a-dia, gravidade/ludismo, intelectualismo/emocionalidade” (BORDINI, 1997, p. 12).
Como tivemos oportunidade de estudar, Gilka Machado e Mario Quintana encarnam em sua poesia, escrita desde as primeiras décadas do século XX, tendências vigentes no século anterior, permitindo compreender suas obras em perspectiva sincrônica, que não exclui o diálogo com outros espaços, estéticas, estilos, tempos. Isso também ocorre quando, além de outros elementos e fatores, o tema da morte interliga a poetisa carioca e o poeta gaúcho ao simbolista catarinense Cruz e Sousa.
Quintana também se une aos escritores românticos que incursionaram pelo fantástico por intermédio de Sapato florido em cujo interior, desfilam anjos, fantasmas, monstros, vozes do além. No poema “O Anjo Malaquias”, por exemplo, o poeta fala de um ogre que iria devorar uma criancinha inocente “por esporte”, quer dizer, menos por ser bravo do que por sua natureza de ogre. Quem salva o menininho é Nossa Senhora, dando-lhe um par de asas que, na pressa, não cai em suas costas, mas no bumbum.
O ANJO MALAQUIASMario Quintana
O Ogre rilhava os dentes agudos e lambia os beiços grossos, com esse exagerado ar de ferocidade que os monstros gostam de aparentar, por esporte.Diante dele, sobre a mesa posta, o Inocentinho balava, imbele. Chamava-se Malaquias – tão pequenino e rechonchudo, pelado, a barriguinha pra baixo, na tocante posição de certos retratos da primeira infância...
Módulo 6 I Volume 3 53UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
O Ogre atou o guardanapo ao pescoço. Já ia o miserável devorar o Inocentinho, quando Nossa Senhora interferiu com um milagre. Malaquias criou asas e saiu voando, voando, pelo ar atônito... saiu voando janela em fora...Dada, porém, a urgência da operação, as asinhas brotaram-lhe apressadamente na bunda, em vez de ser um pouco mais acima, atrás dos ombros. Pois quem nasceu para mártir, nem mesmo a Mãe de Deus lhe vale!Que o digam as nuvens, esses lerdos e desmesurados cágados das alturas, quando, pela noite morta, o Inocentinho passa por entre elas, voando em esquadro, o pobre, de cabeça pra baixo.E o homem que, no dia do ordenado, está jogando os sapatos dos filhos, o vestido da mulher e a conta do vendeiro, esse ouve, no entrechocar das fichas, o desatado pranto do Anjo Malaquias!E a mundana que pinta o seu rosto de ídolo... E o empregadinho em falta que sente as palavras de emergência fugirem-lhe como cabelos de afogado... E o orador que pára em meio de uma frase... E o tenor que dá, de súbito, uma nota em falso... Todos escutam, no seu imenso desamparo, o choro agudo do Anjo Malaquias!E quantas vezes um de nós, ao levantar o copo ao lábio, interrompe o gesto e empalidece... – O Anjo! O Anjo Malaquias! – ... E então, pra disfarçar, a gente faz literatura... e diz aos amigos que foi apenas uma folha morta que se desprendeu... ou que um pneu estourou, longe... na estrela Aldebaran...
Além da presença do ser monstruoso e da santa, identificamos certa oscilação entre os mundos real e irreal através das presenças do pai jogador, da mulher que pinta o rosto, do “empregadinho” e da imagem a ele associada (cabelos de afogado). Como leitores, ficamos em dúvida se os acontecimentos e os seres que povoam o universo poético desafiam a “ordem natural das coisas” ou se fazem mesmo entender como pertencentes à esfera sobrenatural, tampouco se a ação de Nossa Senhora consistiu mesmo em um bem para o menino.
O ogre realmente o devoraria, se não demonstrava apetite para tal? A quem beneficia a transformação da criança em anjo? A quem prestamos
54 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
mais atenção, às coisas e fatos irreais ou às personagens mais aparentadas com o mundo real? No fim, o desconforto que resta possibilita dizer: nem tudo que se refere ao ser humano pode ser desvendado com explicações lógicas, racionais, pois nossa existência, num mundo nem sempre, ou em todos os lugares, organizado, planejado, inúmeras vezes escapa do livre arbítrio, submete-se à arbitrariedade dos mais fortes, é comandada pelos dados da sorte.
Sem termos a mesma ventura do menininho que pôde contar com ajuda sobre-humana, precisamos adiantar o nosso lado. Como resultado de um esforço, vamos chegando ao fim deste capítulo. O modo de estudo aqui privilegiado é o sincrônico, ao mesmo tempo em que procuramos apontar escolas ou períodos literários caracterizados pela referência à própria literatura e sua utilização como meio para o ganho de formas, distanciando-se do ambiente e enfatizando seu caráter artístico, os aspectos estéticos, a exemplo do Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo, Esteticismo, Impressionismo. Muito mais do que o Impressionismo pictórico, entretanto, o Impressionismo literário
não busca desvincular-se da matéria. Para o impressionista, o indivíduo é composto por partículas e átomos. Há uma existência real e tocável que é percebida pelos órgãos dos sentidos. Disso resultará o princípio do instantâneo sobre a continuidade do tempo. A arte incorporará o momentâneo pelas impressões do fato no homem. A importância não recairá mais no objeto, mas naquilo que ele provoca nos indivíduos. Há aqui maior valorização das emoções do que do objeto propriamente dito, maior importância da consequência de uma impressão do que particularmente sua causa. Na literatura, desaparece quase totalmente a intriga, e a atenção se volta aos estados de espírito (BICHUETTE, 2009, p. 8).
Ressaltamos que, nos impressionistas, a percepção viabilizada de modo antinatural e fragmentário não deixa totalmente de se referir ao mundo real, do qual alguns românticos tampouco guardam distância tão grande, por exemplo, quando realçam a experiência subjetiva ou quando incorrem no fantástico, um parente do Surrealismo. Mas parente não muito chegado, tipo cunhado: bem menos próximo do que sonha nossa
Módulo 6 I Volume 3 55UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
mais vã teoria.Em seus primórdios, o Surrealismo mesclou-se às práticas
SurrealismoPara entender a estética surrealista, recomendamos o curta-metragem Un chien An-dalou, dirigido por Luis Buñel (1928, 22 min.). Disponível em <http://www.youtube.
com/watch?v=bmgkFxzdTSo&feature=related>.Para saber mais sobre Surrealismo e ci-nema, veja a entrevista a Igor Capella-to, Surrealismo: o que é isso?, dis-ponível em <http://www.youtube.com/watch?v=ZXTT3ZygBuk> (parte I) e <http://www.youtube.com/watch?v=dUkFs7c5o1o&feature=relmfu>(parte II)
FIGURA 68 - Cadavre exquis, desenho coletivo de Joan Miró, Yves Tanguy, Man Ray, Max Morise, Cadavre exquis, tinta y lápis de cor sobre papel, 1927-28. O cadavre exquis era um jogo surrealista que podia ser feito de forma tanto visual como verbal, no qual o que importava era a espontaneidade, o acaso, a intuição, a imaginação e a brincadeira. Para saber mais sobre este jogo leia Construção do imaginário surrealista através do jogo do cadavre exquis (PIANOWSKI, 2007), disponível em<http://www.sanjeev.net/modernart/nude-
by-cadavre-exquis-with-yves-tanguy-joan-miro-max-moris-0170.jpg >.FONTE: Coleção Manon Ponderox
Saiba mais!
dadaístas, até atingir sua autonomia em 1924, quando o francês André Breton (1896-1966) escreveu o primeiro Manifesto surrealista. Para atingir seus objetivos, os surrealistas utilizaram, como principais ferramentas de trabalho, o automatismo e o registro dos sonhos, sem preocupação moral e buscando eliminar todo e qualquer controle exercido pela razão. Apesar dos esforços empregados para burlar qualquer tipo de preocupação estética ou moral, suas obras não resultariam do acaso que, entretanto, tinha papel relevante e podia ser entendido como o passo inicial para a produção surrealista (Cf. PIANOWSKI, 2007).
Entre seus principais representantes, encontram-se os escritores André Breton, Antonin Artaud (1896-1948), Benjamin Péret (1899-1959), Jaques Prévet (1900-1977), Louis Aragon (1897-1982) e Paul Éluard (1895-1952); os pintores Joan Miró (1893-1983), Max Ernst (1891-1976), René Magritte (1898-1967) e Salvador Dalí (1904-1989).
56 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Também é importante destacar o nome de Luis Buñuel (1900-1983), que levou a estética surrealista para o cinema. No Brasil, Murilo Mendes é um dos mais importantes poetas surrealistas.
Um surrealista, como todo vanguardista que se preze, não busca
Murilo Mendes (1901-1975): Nascido em Mi-nas Gerais, abandonou os estudos aos 16 anos para viver no Rio de Janeiro. De 1924 a 1929, apareceram seus primeiros poemas, “Antro-pofagia” e “Verde”, nas revistas modernistas. Seu primeiro livro, Poemas, seria publicado em 1930, recebendo o Prêmio Graça Aranha. No mesmo ano, publicou Bumba-meu-poeta e, em 1933, História do Brasil. Transitou por di-ferentes estéticas literárias, converteu-se ao catolicismo, editou Tempo e eternidade (1935). Em 1947, casou-se com a poetisa Maria da Saudade Cortesão. De 1952 a 1956, realizou missão cultural na Europa, fixando-se na Itá-lia em 1957. Sua fertilidade transparece nes-tas publicações: A poesia em pânico (1937), O visionário (1941), As metamorfoses (1944), Mundo enigma e O discípulo de Emaús (1945), Poesia liberdade (1947), Janela do caos (1949), Contemplação de Ouro Preto (1954), Office Hu-main (1954), A idade do Serrote (1968), Con-vergência (1972), Poliedro (1972) e Retratos-relâmpago (1973). Considerando que a heresia
é uma marca das vanguardas do século XX, o exemplo nos prova que nem sempre os traços de uma estética se confirmam nos casos particulares dos artistas e obras.
Para conhecer
FIGURA 69 - Retrato de Murilo Mendes, Alberto da Veiga Guignard, óleo sobre tela, 1990.
FONTE: <www.ufjf.br/mamm/files/2012/09/reproducao_alberto-da-veiga-guignard_retrato-de-
murilo-mendes.jpg>.
nem se aproximar do ambiente nem se afastar dele, mas superar e eliminar as fronteiras entre arte e vida; aposta por uma arte feita de subjetividades e singularidades poéticas, livre da imposição de estilos, que conduzirá ao experimentalismo das manifestações artísticas. No entanto, mesmo a arte que se apresente mais aparentemente afastada do mundo real, ou tenha intenção de assim se mostrar, como a dita pintura abstrata e a literatura surrealista, e ainda que não expresse juízos, mas “quase-juízos”, nunca deixará de dizer algo, embora mínimo, sobre a realidade vivida.
O artista, o escritor, são seres de carne e osso, que experimentam situações concretas e suas produções artísticas não nascem do nada, mas da vida, à qual apontam de soslaio. O caráter artístico da literatura relaciona-se à dimensão ocupada por essa transversalidade: quanto mais acentuada, menos a obra literária parece ligada à vida vivida. E quanto mais
Módulo 6 I Volume 3 57UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
evidentes as referências ao universo real, menos a obra literária parece “artificial”, artística. Em ambos os casos, literatura é arte e se refere ao mundo real, de uma ou de outra forma; o que mudam são as distintas gradações verificadas em cada texto literário que, como caso particular, deve ser analisado por meio de seus elementos e de sua estrutura. Por isso é que, especialmente nesta aula, precisamos nos deter nas análises dos mais diferentes textos e em várias comparações entre eles.
5 ATIVIDADES
1. Escolha poemas do livro Arcos de triunfo, de Luís Delfino dos Santos, disponíveis em: <http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/arcosdetriunfo-delfino-1.htm#0.1_up005>. Leia-os em voz alta, a fim de sentir os atrativos proporcionados por sua musicalidade e seu ritmo. Analise-os, de acordo com o que você aprendeu nesta unidade. No chat, compartilhe suas experiências e análises com os colegas.
2. Acesse o verbete Gilka Machado no site Brasiliana USP, disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/node/456>. Encontre o livro de poemas Cristais partidos, buscando nele o poema “Ânsia azul”. Observe que está dedicado a Francisca Júlia da Silva e realize uma pesquisa sobre essa personalidade. Quem era? O que fazia? Por quais trabalhos se destacou? Compare um trabalho dessa autora com “Ânsia Azul”, de Gilka Machado. Poste os resultados de sua investigação na Plataforma Moodle.
3. No mesmo livro antes acessado, encontre dois poemas: “O sino” e “Ao som de um sino”. Leia-os em voz alta, a fim de sentir a musicalidade neles contida. Releia-os atentamente a fim de responder: a) os poemas são mais sugestivos ou mais referenciais? b) qual deles é ainda mais sugestivo? c) como os sons constroem a musicalidade de tais poemas? d) nesse propósito, quais recursos, palavras e letras se destacam? e) existem neles traços parnasianos, decadentistas e/ou simbolistas? Enumere e destaque, em cada poema, essas características, caso encontradas. Registre suas
58 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
respostas e conclusões na Plataforma Moodle.
Pesquise sobre o poeta brasileiro Alphonsus de Guimaraens, informe sobre sua biobibliografia, destaque suas atitudes frente ao mundo, características da obra, suas filiações estéticas. Indique como, em seu poema “A cabeça de corvo”, as palavras se livram da ordem normal que ocupariam em uma frase, a fim de valerem por outros fatores, que não a denotação e a racionalidade, como a sonoridade e a sugestividade. Atividade a ser também socializada na Plataforma Moodle.
A CABEÇA DE CORVO Alphonsus de Guimaraens
Na mesa, quando em meio à noite lentaEscrevo antes que o sono me adormeça,Tenho o negro tinteiro que a cabeçaDe um corvo representa. A contemplá-lo mudamente ficoE numa dor atroz mais me concentro:E entreabrindo-lhe o grande e fino bico,Meto-lhe a pena pela goela a dentro. E solitariamente, pouco a pouco,Do bojo tiro a pena, rasa em tinta...E a minha mão, que treme toda, pintaVersos próprios de um louco. E o aberto olhar vidrado da funestaAve que representa o meu tinteiro,Vai-me seguindo a mão, que corre lesta.Toda a tremer pelo papel inteiro. Dizem-me todos que atirar eu devoTrevas em fora este agoirento corvo,
Módulo 6 I Volume 3 59UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Pois dele sangra o desespero torvoDestes versos que escrevo.
5. Compare o poema “A cabeça de corvo”, de Alphonsus de Guimaraens, com “O corvo”, de Edgar Allan Poe, destacando a busca daquilo que não se define facilmente ou à primeira vista, e como isso faz com que a expressão poética se dê por via indireta. Explore as insinuações verbais, sugestões, evocações. Procure situar os momentos em que os elementos poéticos se relacionam com os da música e da pintura. Compartilhe seus resultados e comparação na Plataforma Moodle.
O CORVOEdgar Allan Poe, tradução de Fernando Pessoa
Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste,Vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais,E já quase adormecia, ouvi o que pareciaO som de algúem que batia levemente a meus umbrais.“Uma visita”, eu me disse, ‘”está batendo a meus umbrais.É só isto, e nada mais”.
Ah, que bem disso me lembro! Era no frio dezembro,E o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais.Como eu qu’ria a madrugada, toda a noite aos livros dadaP’ra esquecer (em vão!) a amada, hoje entre hostes celestiais -Essa cujo nome sabem as hostes celestiais,
Mas sem nome aqui jamais!
Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxoMe incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais!Mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repetindo,“É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais;Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais.
60 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
É só isto, e nada mais”.
E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante,“Senhor’”, eu disse, “ou senhora, decerto me desculpais;Mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo,Tão levemente batendo, batendo por meus umbrais,Que mal ouvi...” E abri largos, franqueando-os, meus umbrais.
Noite, noite e nada mais.
A treva enorme fitando, fiquei perdido receando,Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais.Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita,E a única palavra dita foi um nome cheio de ais -Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais.
Isso só e nada mais.
Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo,Não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais.“Por certo”, disse eu, “aquela bulha é na minha janela.Vamos ver o que está nela, e o que são estes sinais”.Meu coração se distraía pesquisando estes sinais.
“É o vento, e nada mais”.
Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça,Entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais.Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento,Mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais,Num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais,
Foi, pousou, e nada mais.
Módulo 6 I Volume 3 61UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amarguraCom o solene decoro de seus ares rituais.“Tens o aspecto tosquiado”, disse eu, “mas de nobre e ousado,Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais!Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais”.
Disse o corvo, “Nunca mais”.
Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro,Inda que pouco sentido tivessem palavras tais.Mas deve ser concedido que ninguém terá havidoQue uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais,Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais,
Com o nome “Nunca mais”.
Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera, augusto,Que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais.Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamentoPerdido, murmurei lento, “Amigo, sonhos - mortaisTodos - todos já se foram. Amanhã também te vais”.
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
A alma súbito movida por frase tão bem cabida,“Por certo”, disse eu, “são estas vozes usuais,Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandonoSeguiram até que o entono da alma se quebrou em ais”,E o bordão de desesp’rança de seu canto cheio de ais
Era este “Nunca mais”.
Mas, fazendo inda a ave escura sorrir a minha amargura,Sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais;E, enterrado na cadeira, pensei de muita maneira
62 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Que qu’ria esta ave agoureia dos maus tempos ancestrais,Esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais,
Com aquele “Nunca mais”.
Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendoÀ ave que na minha alma cravava os olhos fatais,Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinandoNo veludo onde a luz punha vagas sobras desiguais,Naquele veludo onde ela, entre as sobras desiguais,
Reclinar-se-á nunca mais!
Fez-se então o ar mais denso, como cheio dum incensoQue anjos dessem, cujos leves passos soam musicais.“Maldito!”, a mim disse, “deu-te Deus, por anjos concedeu-teO esquecimento; valeu-te. Toma-o, esquece, com teus ais,O nome da que não esqueces, e que faz esses teus ais!”
Disse o corvo, “Nunca mais”.
“Profeta”, disse eu, “profeta - ou demônio ou ave preta!Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais,A este luto e este degredo, a esta noite e este segredo,A esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atraisSe há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrais!”
Disse o corvo, “Nunca mais”.
“Profeta”, disse eu, “profeta - ou demônio ou ave preta!Pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais.Dize a esta alma entristecida se no Éden de outra vidaVerá essa hoje perdida entre hostes celestiais,Essa cujo nome sabem as hostes celestiais!”
Módulo 6 I Volume 3 63UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Disse o corvo, “Nunca mais”.
“Que esse grito nos aparte, ave ou diabo!”, eu disse. “Parte!Torna á noite e à tempestade! Torna às trevas infernais!Não deixes pena que ateste a mentira que disseste!Minha solidão me reste! Tira-te de meus umbrais!Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais!”
Disse o corvo, “Nunca mais”.
E o corvo, na noite infinda, está ainda, está aindaNo alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais.Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha,E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há mais e mais,
Libertar-se-á... nunca mais!
Adote os mesmos procedimentos de pesquisa utilizados para Alphonsus de Guimaraens em relação à vida e à obra de Emiliano Perneta. Analise o seu poema “Dor!”, abaixo transcrito, a fim de responder a esta pergunta, com adequada justificativa: a composição é decadentista ou simbolista? Encaminhe sua resposta ao tutor.
DOR Ao Andrade Muricy
Noite. O céu, como um peixe, o turbilhão desovaDe estrelas e fulgir. Desponta a lua nova. Um silêncio espectral, um silêncio profundoDentro de uma mortalha imensa envolve o mundo Humilde, no meu canto, ao pé dessa janela,Pensava, oh! Solidão, como tu eras bela,
64 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Quando do seio nu, do aveludado seioDa noite, que baixou, a Dor sombria veio. Toda de preto. Traz uma mantilha rica;E por onde ela passa, o ar se purifica. De invisível caçoila o incenso trescala,E o fumo sobe, ondeia, invade toda a sala. Ao vê-la aparecer, tudo se transfigura,Como que resplandece a própria noite escura. É a claridade em flor da lua, quando nasce,São horas de sofrer. Que a dor me despedace. Que se feche em redor todo o vasto horizonte,E eu ponha a mão no rosto, e curve triste a fonte. Que ela me leve, sem que eu saiba onde me leva,Que me cubra de horror, e me vista de treva.
6. Compare o “Soneto XVII”, d’A rua dos cataventos, que você já conhece, com o “Soneto XIV”, do mesmo livro de Mario Quintana, sublinhando as associações de ideias que lembrem mundos irreais. Assunto para dar o que falar no chat.
SONETO XIVMario Quintana
Dentro da noite alguém cantou.Abri minhas pupilas assustadasDe ave noturna... E as minhas mãos, velas paradas,Não sei que frêmito as agitou!
Depois, de novo, o coração parou.E quando a lua, enorme, nas estradas
Módulo 6 I Volume 3 65UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Surge... dançam as minhas lâmpadas quebradasAo vento mau que as apagou...
Não foi nenhuma voz amadaQue, preludiando a canção notâmbula,No meu silêncio me procurou...
Foi minha própria voz, fantástica e sonâmbula!Foi, na noite alucinada,A voz do morto que cantou.
7. Compare os poemas de Mario Quintana “A janela”, do “Caderno H”, e “Auto-retrato”, de Apontamentos de história sobrenatural, reproduzidos logo a seguir. Destaque elementos impressionistas, tais como a experiência diretamente ótica; a impressão dos objetos, normalmente não captada pelos sentidos, ou captada e não elaborada na forma de um conceito; o enfoque a um elemento da experiência humana, no lugar da totalidade; o desprezo à natureza; a reflexão da arte sobre si mesma. Troque ideias com o tutor e com seus colegas no chat a respeito dessa tarefa.
A JANELAMario Quintana
Sento-me à mesa. Quem sabe? Quem se senta, se tenta... 60, 70, escrevo, arredondando caprichosamente os zeros. E o burro do papel me fica incompreensivelmente olhando, na espera inútil dos 80. O papel está hoje com uma abominável falta de imaginação. Continua, apenas, olhando-me: vazio, mais quadrado do que nunca. Porque o papel é uma janela que, em vez de a gente espiar por ela, ela é que espia para a gente...
66 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
AUTO-RETRATOMario Quintana
No retrato que me faço- traço a traço -às vezes me pinto nuvem,às vezes me pinto árvore...
às vezes me pinto coisasde que nem há mais lembrança...ou coisas que não existemmas que um dia existirão...
e, desta lida, em que busco- pouco a pouco -minha eterna semelhança,
no final, que restará?Um desenho de criança...Terminado por um louco!
8. Compare esses dois poemas de Mario Quintana com os poemas logo citados, de Álvaro Moreyra e Augusto Meyer. Em que se avizinham suas formas e temáticas? São impressionistas? Envie suas respostas ao tutor.
Do Outono e do SilêncioÁlvaro Moreyra
Ah como eu sinto o outono nestes crepúsculos dispersos, de solidão e de abandono! nessas nuvens longínquas, agoureiras, que têm a cor que um dia houve em meus versos e nas tuas olheiras...
Módulo 6 I Volume 3 67UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Tomba uma sombra roxa sobre a terra. A mesma nuança em torno tudo encerra nuns tons fanados de ametista. Caem violetas... Paisagem velha e nunca vista... Paisagem próxima e tão distante... A luz foge, esfacelando em silhuetas os troncos da alameda agonizante. O outono é uma elegia que as folhas plangem, pelo vento, em bando... E o outono me amargura e anestesia com o silêncio... Silêncio das ressonâncias esquecidas que o fim do dia deixa sempre no ar... Silêncio irmão das covas, das ermidas, incenso das distâncias, onde a memória fica a ouvir perdidas palavras que morreram sem falar...
Publicado no livro Legenda da luz e da vida (1911).
Elegia para Marcel Proust Augusto Meyer
Aléia de bambus, verde ogivarecortada no azul da tarde mansa,o ouro do sol treme na areia da alameda,farfalham folhas, borboletas florescem.Portão de sombra em plena luz.Gemem as lisas taquaras como frautas folhudas
68 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
onde o vento imita o mar.Marcel, menino mimoso, estou contigo, Proust:vejo melhor a amêndoa negra dos teus olhos.Transparência de uma longa vigília,imagino as tuas mãoscomo dois pássaros pousados na penumbra.Escuta – a vida avança, avança e morre...Prender a onda que franjava a areia loura de Balbec?Cetim róseo das macieiras no azul.Flora carnal das raparigas passeando à beira-mar.Bruma esfuminho Paris pela vidraçaIntermitências chuva e sol Le temps perdu.Marcel Proust, diagrama vivo sepultado na alcova.O teu quarto era maior que o mundo:Cabia nele outro mundo...Fecho o teu livro doloroso nesta calma tropicalcomo quem fecha leve leve a asa de um cortinadosobre o sono de um menino...
10. Compare os poemas “Aparição” e “Do sobrenatural”, da obra quintanesca Sapato florido, com os relatos de Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. Destaque, caso os encontrar, aqueles procedimentos do fantástico identificados por Jorge Luis Borges. Bom motivo para um post na Plataforma Moodle.
ApariçãoMario Quintana
Tão de súbito, por sobre o perfil noturno da casaria, tão de súbito surgiu, como um choque, um impacto, um milagre, que o coração, aterrado, nem lhe sabia o nome: - a lua! – a lua ensanguentada e irreconhecível de Babilônia e Cartago, dos campos malditos de após-batalha, a lua dos parricídios, das populações em retirada, dos estupros, a lua dos primeiros e dos últimos tempos.
Módulo 6 I Volume 3 69UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Do sobrenaturalMario Quintana
Vozes ciciando nas frinchas... vozes de afogados soluçando nas ondas...vozes noturnas, chamando... pancadas no quarto ao lado, por detrás dos móveis, debaixo da cama... gritos de assassinados ecoando ainda nos corredores malditos... Qual nada! O que mais amedronta é o pranto dos recém-nascidos: aí é que está a verdadeira voz do outro mundo.
11. Compare o poema “Função”, do livro O aprendiz de feiticeiro (1950), de Mario Quintana, com “Pré-história”, de Murilo Mendes. Elementos de quais estéticas literárias você consegue identificar nesses poemas? Enumere-os. Confira seus resultados no chat, tutor e colegas estarão lá com o mesmo objetivo.
FUNÇÃOMario Quintana
Varri-me como uma pista.Frescor de adro, pureza um pouco tristeDe página em branco... Mas um bandoDe moças enche o recinto de pestanas.Mas entram inquietos pôneis.Ridículos.Ergo os braços, escorre-me o riso pintadoE uma pura pura lágrimaQue estoura como um balão.
Pré-históriaMurilo Mendes
Mamãe vestida de rendasTocava piano no caos.Uma noite abriu as asasCansada de tanto som,
70 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Equilibrou-se no azul,De tonta não mais olhouPara mim, para ninguém!Cai no álbum de retratos.
6 RESUMINDO
Não pensamos em divisões absolutas para os períodos literários, sempre haverá a convivência de diferentes estilos ou artistas destacados pela singularidade frente às tendências dominantes. Assim, escritores românticos destacavam o conteúdo em vez da forma, ao passo que outros valorizaram a liberdade criativa, contribuindo para que a literatura marcasse seu diferencial quanto a outros sistemas de comunicação, como a sociologia e a história.
No final do século XIX, floresciam estéticas que permitem notar a preponderância dos aspectos artísticos sobre os traços documentais da obra literária: Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo, Impressionismo. Alguns simbolistas foram também decadentistas, vice-versa e por aí vai, o que reforça o caráter sincrônico da literatura.
Impressionistas brasileiros preocuparam-se com a subjetividade sem perder de vista a referência ao mundo real, ainda que distorcida pelas impressões. Afinal, emoções e sensações fazem parte da natureza humana, da realidade. E a vida mesma pode se transformar em arte. No limite, perderíamos a noção de seus limites, como queriam os surrealistas e, com eles, as vanguardas.
No século XX, Gilka Machado e Mario Quintana produzem suas obras que, diversas e singulares, apresentam traços de movimentos literários antecedentes. Ambos, poetisa e poeta, abrem espaços à realização de produtivos estudos sincrônicos. Vamos e voltamos com eles, de entre século a fim de século. Por que o tempo? Porque o tempo não para...
Módulo 6 I Volume 3 71UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
7 REFERÊNCIAS
ÁLVARES DE AZEVEDO, Manuel Antonio. Noite na taverna. Disponível em: <http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/alvaresazevedo/noitenataverna.htm>.
BARROS Jr., Fernando Monteiro de. A poesia brasileira do fim do século XIX e da Belle Époque: parnasianismo, decadentismo e simbolismo. Soletras, ano IX, n. 17, São Gonçalo, UERJ, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/soletras/17/02.pdf>.
BAUDELAIRE, Charles. Pequenos poemas em prosa. Disponível em: <http://pequenospoemasemprosa.blogspot.com.br>.
BECKER, Paulo. Mario Quintana: as faces do feiticeiro. Porto Alegre: EdUFRGS, 1996.
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Tradução José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989. (Obras Escolhidas; v. 3).
BICHUETTE, Stela de Castro. Realismo às avessas: o estilo impressionista de Adelino Magalhães. Nau Literária – Revista eletrônica de crítica e teoria de literaturas, Porto Alegre, v. 5, n. 1, jan/jun 2009. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/NauLiteraria/article/view/7759/5783>.
BORDINI, Maria da Glória. Imaginação moderna e intimidade com o leitor. In: BARBOSA, Márcia Helena; SCHMIDT, Simone Pereira (Orgs). Mario Quintana. Porto Alegre: UE, 1997. (Cadernos Porto & Vírgula, 14). p. 7-13.
BORGES, Jorge Luis. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 2007.
BURGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução de José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 272 p.
CADEMARTORI, Ligia. Períodos literários. São Paulo: Ática, 1993. (Série Princípios).
CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Mallarmé. São Paulo: Perspectiva, 1974.
GUIMARÃES, Júlio Castañon. Territórios/conjunções: poesia e prosa
72 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
crítica de Murilo Mendes. Rio de Janeiro: Imago, 1993.
CESERANI, Remo. O fantástico. Tradução de Nilton Cezar Tridapalli. Curitiba: EdUFPR, 2006.
COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Distribuidora de Livros Escolares, 1972.
CUNHA, Helena Parente. Periodização e história literária. In: SAMUEL, Rogel (Org). Manual de teoria literária. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1990. p. 129-162.
ENEI, Bruno. Aulas de literatura italiana e desafios críticos. Ponta Grossa: Todapalavra, 2010.
GAY, Peter. Modernismo: o fascínio da heresia. De Baudelaire a Beckett e mais um pouco. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
GAUTIER, Théophile apud MORETTO, Fulvia M. L. Caminhos do decadentismo francês. São Paulo: Perspectiva, 1989.
GÓES, Fernando. Gilka da Costa Melo Machado. In: GÓES, Fernando. Panorama da poesia brasileira: o pré-modernismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1960. v.5. p. 165-167.
GOMES, Eugênio. Adelino Magalhães e a moderna literatura experimental. In: MAGALHÃES, Adelino. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1963.
GOTLIB, Nádia Battella. Com dona Gilka Machado, Eros pede a palavra: poesia erótica feminina brasileira nos inícios do século XX. Polímica: Revista de Crítica e Criação, São Paulo, n. 4, p. 46-47, 1982.
KORFMANN, Michael. A literatura moderna como observação de segunda ordem. Uma introdução ao pensamento sistêmico de Niklas Luhmann. Pandemonium Germanicum, Revista de Estudos Germanísticos, São Paulo, v. 6, p. 47-66, 2002. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dlm/alemao/pandaemoniumgermanicum/site/images/pdf/ed2002/6.pdf>.
LEITE, Ilka Boaventura. Identidade negra e a expressão literária: o visível e o invisível em Cruz e Sousa. In: SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé Lupinacci (Orgs.). Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e
Módulo 6 I Volume 3 73UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Missal. Florianópolis: EdUFSC, 1994.
MACHADO, Gilka. Cristais partidos. Estados da alma. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/node/456>. Acesso em: 18 jun. 2012.
MACHADO, Gilka. Poesias completas. Apresentação de Eros Volúsia Machado. Rio de Janeiro: L Christinao; FUNARJ, 1991.
MARTINS, Marta. Imagens cambiantes em Murilo Mendes. Revista Anuário de Literatura – Especial Murilo Mendes, Florianópolis, n. 9, 2001, p. 81-91. Disponível em: < http://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view/5125/4821>. Acesso em 02 ago. 2012.
MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides: breve história da literatura brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977.
MEYER, Augusto. Poesias. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1957.
MITIDIERI, André Luis. Micro-história italiana para uma contribuição à biobibliografia de Mario Quintana. Revista de Estudos Literários do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Italiano da UFSC, v. 1, n. 3, p. 31-41, ago. 2011. Disponível em: <http://www.neiita.cce.ufsc.br/relit/Numeros/N3Vol1Agosto2011.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2012.
MONTEIRO Guilherme Lentz da Silveira. Expressão infinita um contato com os cristais partidos, de Gilka Machado. Revele, Belo Horizonte, n. 3, ago. 2011. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/cpq/revista%20revele/Revista_tres/ESTUDOS%20LITER%C3%81RIOS/11EXPRESS%C3%83O%20INFINITA%20-%20GUILHERME%20MONTEIRO.pdf>.
MOREYRA, Álvaro. Legenda da luz e da vida. In: MOREYRA, Álvaro. Lenda das rosas. São Paulo: Editora Nacional, 1928. p. 37-38.
MUCCI, Latuf Isaias. Ruína e simulacro decadentista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.
PIANOWSKI, Fabiane. Construção do imaginário surrealista através do jogo do cadavre exquis. PSIKEBA - Revista de psicoanálisis y estudios culturales, v. 1, ano 2 – n. 4 - , 2007. Disponível em:http://www.psikeba.com.ar/articulos/FP_surrealismo_cadaver_exquisito.htm>. Acesso em: 27 jul. 2012.
74 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
QUINTANA, Mario. Apontamentos de história sobrenatural. 2. ed. Porto Alegre: Globo, 1977.
QUINTANA, Mario. Da preguiça como método de trabalho. Rio de Janeiro: Globo, 1987.
QUINTANA, Mario. Poesias. Porto Alegre: Globo, 1961.
RIGHI, Volnei José. O poeta emparedado: tragédia social em Cruz e Sousa. 2006. 150 p. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) – Departamento de Teoria Literária e Literaturas, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: <http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/2764/1/VOLNEI%20JOS%C3%89%20RIGHI.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2012.
SAMUEL, Rogel (Org). Manual de teoria literária. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1990.
SANTOS, Luiz Delfino dos. Poesia completa. Org., est. e bibl. por Lauro Junkes. Rev. e atualização lingüística por Terezinha Kuhn Junkes. Florianópolis: ACL. 2001.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. Tradução de A. Chelini, José P. Paes e I. Blikstein. São Paulo: Cultrix; USP, 1969.
STEEN, Edla Van. Mario Quintana. In: STEEN, Edla Van. Viver e escrever. Porto Alegre: L&PM, 1981. p. 13-24. 2 v. v. 1.
TODOROV. Introdução à literatura fantástica. 2 ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1992.
Módulo 6 I Volume 3 75UESC
Literatura como Arte
5U
nida
de
Suas anotações
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
LITERATURA E CULTURA
OBJETIVOS
Ao final da presente aula, você será capaz de:
• compreender as relações entre literatura e cultura no intervalo temporal compreendido entre os séculos XIX e XX;
• interpretar a cultura e a literatura brasileiras, por meio dos bens simbólicos realizados nesse período e, com tal propósito em vista, analisar textos e textualidades que se constituem em marcos culturais dos mais expressivos;
• definir o conceito de cultura e suas distintas compreensões;• relacionar as diferentes compreensões da cultura nacional à Independência
das Américas, à Semana de Arte Moderna de 22, à Geração de 30, ao Pós-Guerra e à Pós-modernidade;
• compreender as noções de cultura central, hegemonia, etnocentrismo, comu-nidades imaginadas, colonialismo, cultura popular, cultura de massa, cultura dominante, indústria cultural, hibridação, cultura negra, Pós-modernidade e Pós-modernismo, multiculturalismo e pluriculturalismo.
6ªunidade
1 INTRODUÇÃO
É corriqueiro ouvirmos expressões do tipo: tal pessoa não tem cultura. Será que realmente podem existir pessoas que não tenham cultura? A presente aula terá a incumbência de responder a essa e a outras perguntas que envolvam tal assunto. Além dos vários entendimentos que o tema possui nos múltiplos ramos das ciências humanas, os grupos humanos não são homogêneos, assim, não devemos imaginar que discutiremos cultura apenas sob um aspecto.
Quando a discussão em torno do que fosse cultura surgiu na efervescência dos ideais iluministas da Europa do século XVIII, e se afirmou nos anos de 1800, a intenção era encontrar algo capaz de unir os distintos grupos sociais que formavam a sociedade. O conceito de cultura, em primeira instância, visava à dissolução das diferenças e à congregação das semelhanças no intuito de formar um povo.
Visando a pensar e a elaborar um traço identitário comum no Brasil do século XIX, a burguesia e a literatura por ela apreciada, com raras exceções, provocaram o silenciamento de outras identidades que constituíam nossa sociedade. Isso haveria de reverberar, nas décadas finais de 1800 e no século XX, em constantes revisões daquilo que se poderia chamar de cultura brasileira. Eis o foco de nossos estudos no momento, adentremos a uma vasta teia cultural, que se tece com a literatura e a história; também com diversos outros fios, muitos mais do que talvez pudéssemos imaginar.
leitura recomendada
ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropófago. Disponível em: <http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.html>.
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasilien-se, 1993. (Coleção Primeiros Passos).
HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. São Paulo: Ática, 2000. (Série Princípios).
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção Primeiros Passos).
79
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
2 COLONIZADOS E MODERNISTAS
A partir do século XVIII, mas com ação marcante na centúria posterior, as nações europeias esforçavam-se por se definir enquanto tais, preocupadas com as questões da cultura e da identidade nacional. Todo elemento comum aos grupos sociais foi utilizado como objeto cultural, por exemplo, a língua, a música, a literatura, vestimentas, culinária, traços físicos etc.
Desse conjunto, merece destaque a língua que, em sua modalidade escrita, se tornou o veículo mais rápido de unificação cultural através dos jornais, com grande circulação na época. Os textos literários também participavam dos projetos nacionais, ajudando a implantar o sentimento de nacionalidade, ou seja, de pertencimento a um mesmo grupo, povo e cultura.
A relação entre literatura e cultura é bastante forte, pois não pode haver texto literário que não dialogue com a realidade cultural nele representada ou reapresentada, ainda que seja para questioná-la ou desestruturá-la. No caso europeu, especialmente no Estado Alemão, esse status era bem diferente. A literatura servia para consolidar e cristalizar aquela cultura ainda em formação.
Daí em diante, o conceito de cultura passou a ser sinônimo de civilização, daquilo que era cultivado e de bom gosto, ao contrário do bárbaro, do selvagem e do que se associasse ao mau gosto. O ponto problemático desse pensamento é que, nesse período, as nações europeias exerciam controle político, econômico e militar em territórios de outros continentes, especialmente, nas Américas.
Logo, os europeus se outorgaram o título de plenamente civilizados entendendo que as outras nações, sobre as quais eles exerciam poder, ainda experimentavam estágios de primitivismo, o que justificava a intervenção das potências europeias para que esses povos atingissem pleno estágio de civilização, o que, para eles, significava, entre outras coisas, o domínio escrito e falado do idioma do colonizador.
Colonizadores invadiram e exploraram países ou territórios, para depois explorarem os recursos humanos e naturais aí existentes. Esse processo, chamado de “colonização”, foi impulsionado por dois objetivos
80 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
principais: povoar e explorar. Toda a vez em que se inicia um ciclo de colonização, potencializam-se e se reproduzem os meios de vida, as relações de poder, a esfera econômica e política, a transferência cultural dos colonizadores para os colonizados e vice-versa.
Na América, os Estados Unidos foram colonizados por ingleses; o Canadá, por ingleses e franceses; o Brasil, pelos portugueses e vários outros países, como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, pelos espanhóis. Em África, os portugueses colonizaram Angola, Cabo Verde, Moçambique, San Tomé e Príncipe. No mesmo continente, os ingleses se lançaram à colonização da África do Sul e a França, da Argélia e do Marrocos. A Inglaterra ainda colonizou, na Oceania, Austrália e Nova Zelândia e, na Ásia, a Índia. Há sociedades, como as ilhas do Caribe, que foram duplamente colonizadas, uma vez que o genocídio dos indígenas ocasionou o deslocamento de povos da África e da Ásia para a região.
FIGURA 70 - A mão, escultura de Oscar Niemeyer, 1989. Em vermelho, representando o sangue da brutal colonização, está o mapa da América Latina. Essa escultura é uma mensagem de liberdade a um continente oprimido pela colonização e em busca de identidade e emancipação. “Suor, sangue e pobreza marcaram a história desta América Latina tão desarticulada e oprimida. Agora urge reajustá-la num monobloco, capaz de fazê-la independente e feliz” (NIEMEYER, 1989). A imagem se vincula ao livro As Veias Abertas da América Latina de Eduardo Galeano, no qual o escritor uruguaio compila a história da exploração do continente latino-americano, mostrando ao leitor quanto sangue se derramou em favor das nações colonizadoras.
FONTE: <http://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2012/12/M%C3%A3o-Niemeyer.jpg/>.
Entre os séculos XVIII e XIX, as discussões em torno do tema cultura tomaram novo fôlego. Nesse momento histórico, a Independência
81
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
Para saber mais sobre a colonização no continente americano, leia As veias abertas da América La-tina, de Eduardo Galeano (1970).
Saiba mais! das Américas ia resultando de um processo que durou mais de meio século e ocorreu de maneira diferente ao longo do continente. As transformações ideológicas, econômicas e políticas sofridas pela Europa repercutiam no outro lado do oceano Atlântico.
A Revolução Norte-americana (1775-1783) foi o estopim da luta pela liberdade das 13 colônias inglesas e serviu de marco referencial às demais revoluções, com a posterior aprovação da Constituição dos Estados Unidos em 1787. Outro evento importante e emblemático foi a Revolução Haitiana (1791-1804), na qual os escravos da então colônia francesa se revoltaram contra os colonizadores. Essa foi não só a primeira independência da América Latina, como a única movida por escravos.
Nas colônias espanholas, por outro lado, a independência resultou do fortalecimento das oligarquias crioulas. Insatisfeitos com as exigências da metrópole, e na busca por maior liberdade política e econômica, os oligarcas influenciaram os movimentos de emancipação, que se deram de modo fragmentado por todo o território de domínio espanhol, originando os vários países que hoje compõem a América Hispânica.
Na colônia de Portugal, verificou-se um processo diferente do que ocorria com os vizinhos. Em vez de se colocarem contra a metrópole, como os demais países do continente americano, as oligarquias receberam a independência pelas mãos da própria monarquia, através de Dom Pedro I que, convencido pela elite local em tornar-se o novo Imperador, declarou a independência.
Os povos americanos, agora independentes dos europeus, não admitiam serem considerados primitivos ou bárbaros. Entretanto, como não queriam comungar da cultura europeia, logo trataram de discutir o que seria a cultura local. No Brasil do século XIX, a elite local e os intelectuais tentaram encontrar aquilo que melhor representasse a alma
82 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
nacional e pudesse ser chamado de cultura brasileira.Esse período coincidiu na literatura com a estética romântica e
a literatura, como era de se esperar, participou ativamente do processo de construção da identidade nacional, conforme vimos na aula passada. Novamente, a literatura contribuiria na tarefa de revisar a cultura brasileira, entre cujos empenhos, vale ressaltar o empreendido pela Semana de Arte Moderna de 1922, inserida nas atividades de comemoração da Independência do Brasil, transcorrida entre 13 e 18 de fevereiro de 1922.
Entre os artistas que participaram do festival com exposição de aproximadamente 100 obras de artes plásticas e sessões noturnas de literatura e música no Teatro Municipal de São Paulo, destacam-se: os pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Ferrignac, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita; o escultor Victor Brecheret; os escritores Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Renato de Almeida, Ronald de Carvalho e Tácito de Almeida e Manuel Bandeira. Pensada e patrocinada por Paulo Prado, embalada por composições musicais de Debussy e Villa-Lobos, nas interpretações de Guiomar Novaes e Hernani Braga, a Semana de 22 resultava da busca por renovação encabeçada já anteriormente por textos e exposições de Anita Malfatti, Mário e Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia.
Para saber mais sobre arte moderna brasileira, assista ao vídeo Viajando pelo Mo-dernismo: aspectos da cul-tura brasileira. Disponível em <http://youtu.be/pO4t9U-mF2us>.Em 1992, a Escola de Sam-ba Estácio de Sá apresenta o samba-enredo Paulicéia desvairada: 70 anos de mo-dernismo. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=znjle7mZ2CU>.Em fevereiro de 2012, a TV Cultura exibiu a reportagem Semana da Arte Moderna:
90 anos, no programa Metrópolis. Assista em <http://www.youtube.com/watch?v=wYE6guySbm8&feature=related>.
Saiba mais!
FIGURA 71 - Mário de Andrade (primeiro no alto à esquerda) e outros modernistas em 1922.
Fonte: http://www.freewords.com.br/wp-content/gallery/modernismo/modernismo-brasileiro-vale-a-pena-conhecer-um-
pouco-da-historia-tarsila-e-artista.jpg
83
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
O século XX brasileiro é marcado por constantes discussões na literatura em torno da cultura nacional, porém, a partir da terceira década desse século, os intelectuais e literatos, já munidos de uma noção de cultura completamente diferente da que herdaram dos europeus, decidiram trazer para a cena literária as vozes pouco ouvidas nas construções identitárias anteriores, promovendo fervorosas discussões sobre essa questão. Nesse propósito, destacamos a Geração de 30, assim como outros artistas e escritores que a sucedem no decurso do século XX.
Nos anos de 1930, consolida-se a renovação do gênero romanesco no Brasil, em um dos momentos mais autênticos da literatura brasileira: o Romance de 30. Movidos pelas ideias de independência cultural, escritores do de várias regiões do país buscavam renovar a narrativa, propondo-se a escrever uma prosa regional, consistente e realista, que representasse criticamente a realidade brasileira. As temáticas contempladas: desigualdade social, vidas dos retirantes, resquícios da escravidão, coronelismo etc.
Saiba mais!
Conheça mais sobre vidas e obras dos artistas plásticos modernistas:
Tarsila do Amaral, site oficial da artista disponí-vel em <http://www.tar-siladoamaral.com.br/>.
Cândido Portinari, site oficial do artista disponí-vel em <http://www.por-tinari.org.br/>.
Di Cavalcanti, site oficial do artista disponível em <http://www.dicavalcan-ti.com.br/>.
Victor Brecheret, site oficial do artista disponí-vel em <http://www.vic-tor.brecheret.nom.br/>.
FIGURA 72 - Abapuru, Tarsila do Amaral, óleo sobre tela, 1928. Com esse quadro cujo título em tupi-guarani significa “homem que come homem”, Tarsila presenteia Oswald, que nele inspira o Manifesto antropófago.FONTE: <http://4.bp.blogspot.
com/--ojjz3vrjyg/UDQZvUAv34I/AAAAAAAAADY/cTR2rZelgf8/s1600/imagem+09+abaporu.
jpg>.
84 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
3 OS CONCEITOS DE CULTURA
Há duas definições de cultura bastante aceitas na contemporaneidade, sendo que a primeira delas diz respeito a todos aqueles elementos que caracterizam a existência de um povo ou nação ou de vários grupos no interior de dada sociedade. A segunda refere-se de forma mais específica ao conhecimento, às ideias e crenças, bem como às distintas maneiras de suas existências no universo social (Cf. SANTOS, 1994, p. 24).
De acordo com a primeira concepção, se pensamos em cultura brasileira, devemos considerar, por exemplo, o fato de falarmos português com um vocabulário marcadamente africano e indígena, além de outros fatos que precisam de melhor esclarecimento, ou que talvez não passem de discursos ou estereótipos, como ter preferência esportiva pelo futebol, gostar de samba e ser um povo notadamente feliz. A segunda concepção de cultura, ainda no contexto brasileiro, refere-se a questões mais abstratas, como a literatura produzida no Brasil, a lógica trabalhista do brasileiro, sua relação com o divino, em que se nota a existência de elementos oriundos de culturas não cristãs, sem mencionar o sincretismo religioso.
Podemos ainda extrair, da citação utilizada, a ideia de cultura como aquilo que caracteriza grupos no interior de uma sociedade. Essa definição torna-se ainda mais rarefeita porque a noção de brasilidade se transformaria em algo mais plural, isto é, não precisaríamos ter tudo em comum para nos reconhecermos como brasileiros, poderíamos nos reconhecer na diferença. O fato de algumas comunidades não terem o português como língua materna ou de possuírem outros padrões de representação divina não os faria menos brasileiros, porque outros fatores influem no sentimento de pertença, naquilo que Benedict Anderson (2008) considera como determinante para a existência de “comunidades imaginadas”.
Conforme o estudioso, as nações constituem-se em comunidades políticas imaginadas como soberanas e implicitamente limitadas por suas raízes culturais. O companheirismo profundo e horizontal, entendido como comunidade, teve, no desenvolvimento da imprensa e do romance,
85
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
entre os séculos XVIII e XIX, dois novos aliados à ideia de simultaneidade temporal, que o fez possível. As nações são imaginadas porque capazes de produzir sentidos e significados para o “espírito” de um tempo e para tudo aquilo que seja capaz de animar os desejos e projeções dos indivíduos reunidos em um território e que compartilham folclores, literaturas, línguas, sentimentos de pertença etc.
É preciso admitir que pensar a cultura de forma heterogênea e não monolítica é algo recente e se constitui num avanço a frutificar do afluxo de teorias que tocam esse assunto desde o início do século XX, pois nem sempre se admitiu a igualdade entre as culturas. No início do século XIX, época em que o darwinismo vigorava como corrente teórica influente, tentou-se aplicar os conceitos evolucionistas no campo cultural. De tal modo, pensou-se que também as culturas evoluíssem, e os europeus, exportadores de conhecimento para o redor do mundo colonizado por eles, concebiam-se no ápice cultural, acreditando que os outros povos ainda viviam em estágio de barbárie, primitivismo e selvageria, simplesmente por não possuírem os mesmo hábitos culturais deles.
Com a derrocada dessa visão etnocentrista, outras noções de cultura passaram a vigorar. Entretanto, certa dicotomia ainda permaneceu no campo dos estudos da cultura, que também é entendida da seguinte forma:
por um lado, pode referir-se a alta cultura, à cultura dominante, e por outro a qualquer cultura. No primeiro caso cultura surge em oposição à selvageria, à barbárie; cultura é, então, a própria marca da civilização. Ou ainda, a alta cultura surge como marca das camadas dominantes da população de uma sociedade; se opõe a falta de domínio da língua escrita ou a falta de acesso à ciência, à arte e à religião daquelas camadas dominantes. No segundo caso, pode-se falar de cultura a respeito de qualquer povo, nação, grupo ou sociedade humana.
Darwinismo: Termo refe-rente às ideias do natura-lista inglês Charles Darwin (1809-1882) segundo as quais, as espécies animais e vegetais têm origem co-mum e se formaram por processos de evolução, diferenciação e seleção, a partir da adaptação a de-terminadas condições am-bientais transmitidas ge-neticamente. Na tentativa de justificar o imperialismo e as políticas civilizatórias, extrapolou-se a teoria de Darwin ao campo social e ideológico a partir do argu-mento de que indivíduos e coletivos com maior capa-cidade seriam mais aptos a sobreviver, enquanto os demais se condenariam à extinção. Nessa perspecti-va, o branco europeu, com sua refinada técnica, or-ganização e vindo de uma civilização considerada su-perior, se capacitaria a “ci-vilizar” e explorar os povos menos evoluídos. Ideias do darwinismo social desem-bocariam no racismo e na xenofobia, sendo ampla-mente utilizadas entre os séculos XIX e XX.Para saber mais sobre Da-rwin e sua teoria, assista a O desafio de Darwin (Darwin’s Darkest Hour), direção de John Bradshaw, 2009, 104 min.
86 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Considera-se como cultura todas as maneiras de existência humana (SANTOS, 1994, p. 35).
O primeiro desses conceitos de cultura, além de apresentar aspecto etnocêntrico, é bastante colonialista: pois, se cultura se opõe à barbárie, a partir de que ponto de vista pode-se dizer o que é ou não barbárie? Claro que, ao definirem o sentido da mencionada palavra, os europeus não consideraram a pluralidade de sociedades para construir seu conceito de civilização; ao contrário, julgaram todas as culturas a partir de seu ponto de vista e entenderam por civilização o seu modo de vida.
Assim sendo, tudo que não fosse europeu não era civilizado, mas selvagem. Por exemplo, não comer com talheres, não ser cristão, utilizar medicamentos fitoterápicos, não dominar a língua padrão etc. Essa ideia de cultura nos chegou mediante a colonização e representa somente a posição social dos grupos dominantes, aristocratas, donatários de terras, descendentes do império luso que se julgaram merecedores de posses e benesses, quase sempre, resultantes do compadrio, do favor, das relações de força, e não propriamente da competência ou do trabalho digno.
A segunda definição citada já abre certo espaço para uma discussão mais democrática sobre cultura, uma vez que a define como todas as maneiras da vida humana, o que não implica seguir os moldes europeus para ser civilizado. “Com o passar do tempo cultura e civilização ficaram quase sinônimas, se bem que usualmente se reserve civilização para fazer referências a sociedades poderosas [...] usa-se cultura para falar não apenas em sociedades, mas também em grupos no seu interior” (SANTOS, 1994, p.36).
Não obstante o tom colonial ao se referir a sociedades poderosas, essa citação distingue três conceitos-chave: sociedade, civilização e cultura. O primeiro trata dos grupos humanos; o segundo, daquilo que eles produzem e o terceiro,
Etnocentrismo: Conceito antropológico designativo das pessoas ou grupos so-ciais que consideram os va-lores e a visão de mundo da própria sociedade como os únicos parâmetros válidos para julgar as demais cul-turas e sociedades, sempre baseados na ideia de que suas práticas socioculturais superem as demais. O cho-que cultural e a intolerância resultam diretamente do et-nocentrismo.
Colonialismo: Concepção e sistema ideológico dos processos de colonização que preconiza o domínio de uma sociedade sobre a ou-tra, caracterizando o modo como se deu a exploração cultural durante os últimos 500 anos. Distingue-se do imperialismo da Antigui-dade “como consequência do capitalismo incipiente, com a finalidade de explo-ração material para o enri-quecimento da metrópole. A expansão colonial euro-peia nos séculos XV e XVI coincidiu, portanto, com o início de um sistema capi-talista moderno de trocas econômicas” (BONNICI, 2009, p. 262). Diferenças fundadas na hierarquia ja-mais permitiriam equilibrar relações econômicas, so-ciais e culturais, agravando a situação dos colonizados. Termos hoje em voga, como raça, racismo e preconceito racial ligam-se à afirma-da superioridade europeia. Colonização e colonialismo trouxeram consigo o pa-triarcalismo e o sexismo que, junto às ideias deslo-cadas do puritanismo cris-tão em culturas que com ele entravam em choque, com-plicaram ainda mais nossos quadros de referência.
87
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
do que os caracteriza. Isso nos habilita a pensar que é possível haver, numa mesma civilização, uma diversidade de grupos sociais, a formarem uma sociedade única (mas não homogênea), composta inevitavelmente pela pluralidade cultural, em meio à qual, cada cultura reivindica seu espaço de voz. Se quisermos esmiuçar ainda mais o conceito de cultura, podemos falar em cultura popular, cultura de massa e cultura dominante, bem como dizer que elas interagem no interior de uma sociedade, emprestando elementos umas às outras e, ao mesmo tempo, se afastam no intuito de manter intactas suas características originais.
Cultura popular: Em termos gerais, é a soma dos valores tradicionais de um povo, ex-pressos tanto artisticamente como através de suas cren-ças e costumes. Conceito po-lêmico, tem duas vertentes interpretativas radicais: os dedutivistas, que acreditam não haver cultura popular autônoma, posto que sem-pre subordinada à cultura da classe dominante que rege a criação e recepção; os induti-vistas, para os quais a cultura popular é autônoma e ineren-te às classes subalternas, com produção criativa própria, que resiste à imposição cultural dominante. Uma concepção intermédia apresenta a cul-tura popular como “conjunto
heterogêneo de práticas que se dão no interior de um sistema cultural maior e que se revelam, como expressão dos dominados, sob diferentes formas evidenciadoras dos processos pelos quais a cultura dominante é vivida, interiorizada, reproduzida e eventualmente transformada ou simplesmente negada” (COELHO, 1997, p. 119). Com o reconhecimento das diferenças culturais na sociedade contemporânea, atualmente se fala tanto em culturas populares como em culturas eruditas, reconhecendo nesse pluralismo a expressão de diferentes processos sociais.O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular disponibiliza informação acerca desse tema, possuindo acervo digital bastante rico, disponível em <http://www.cnfcp.gov.br>.
Você sabia?
FIGURA 73 - Mudança de sertanejo, J. Borges, xilogravura, s.d. A xilogravura popular brasileira se desenvolveu na literatura de cordel e é uma da infinitas expressões da cultura popular.
FONTE: <http://3.bp.blogspot.com/-UIipMrK8Atc/TsrWNWPxb6I/AAAAAAAABOM/K6SeeMMQYEg/s1600/
mudanca-de-sertanejo.jpg>.
Cultura de massa: Conjunto de bens culturais produzidos pela indústria cultural, as-sim como os bens culturais de parcelas da população difundidos pelos meios de comu-nicação de massa (TV, cinema, jornal, rádio, revistas). A produção cultural de massa, realizada em série, submete-se à lógica capitalista e, pois, às leis de mercado, desti-nando-se ao consumo das massas que se contrapõem e, ao mesmo tempo, validam e fetichizam a alta cultura, caracterizada pela erudição, pelo elitismo e o hermetismo. Portanto, “a cultura de massa integra e se integra ao mesmo tempo numa realidade policultural; faz-se conter controlar, censurar (pelo Estado, pela Igreja) e, simultanea-
88 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Por exemplo, temos no Brasil o carnaval, que é uma festa originalmente cristã, trazida pela igreja católica. Esse festejo absorveu elementos populares, tornando-se marcadamente festa do povo, mas a elite brasileira não se priva ao usufruto do evento, desde que haja as devidas ressalvas: nos camarotes ou dentro das cordas, no carnaval baiano; nos camarotes ou arquibancadas, em cima dos carros alegóricos ou em caras fantasias de alas, no caso do carnaval carioca. Sim, porque os maiores carnavais do Brasil foram privatizados, viraram festa “para inglês ver”. À grande parte do povo, ficaram proibitivos os preços para se fantasiar e brincar em um bloco ou escola de samba ou para assistir aos festejos de momo.
A festa foi apropriada pela indústria cultural, que logra milhões de reais todos os anos. Nem tudo é perda, há a alternativa dos blocos
FIGURA 74 - O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?, Richard Hamilton, colagem, 1956. Esta obra é um dos emblemas do movimento artístico denominado art pop, no qual defendem uma arte popular (pop) que se comunique diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura de massa e a vida cotidiana. Na composição de Hamilton, se apresenta uma cena doméstica, feita a partir de recortes de jornais e revistas, na qual um casal se exibe com (e como) os atraentes objetos da vida moderna: TV, aspirador de pó, enlatados, embalagens etc. O que o artista consegue com isso é borrar a fronteira entre arte erudita e arte popular, ou entre arte elevada e cultura de massa.FONTE: <http://4.bp.blogspot.com/-ymJJGN2vXdk/T4FQcncGfJI/AAAAAAAADms/UPotDoBDCsc/s1600/Richrd-
HAMILTON-Just-what-is-it-that-makes-today’s-homes-so-different,-so-appealing,-1956.jpg>.
mente, tende a corroer, a desagregar outras culturas. A esse título, ela não é absolutamente autônoma: ela pode embeber-se de cultura nacional, reli-giosa ou humanista e, por sua vez, ela embebe as culturas nacional, religiosa ou humanista” (MORIN, 1977, p. 16).Para saber mais sobre cultura de mas-sa, recomendamos a leitura de Apo-calípticos e integrados, de Umberto Eco (1965).
Cultura dominante: Conjunto de ideias, conhecimentos e mitos compartidos por gru-po amplo de pessoas, mas que não é algo neutro nem surgido espontaneamente; ao contrário, determina-se por relações econômicas, políticas e sociais, sendo imposto e institucionalizado como referência central e fonte inspiradora. A existência ideológica desse conceito integra a classe dominante, assegurando a comunicação entre seus membros, ao mesmo tempo em que os distingue das demais classes sociais. Como afir-ma Pierre Bourdieu (2001, p. 11), “a cultura que une (intermediário da comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante”.
89
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
informais que, nos últimos tempos, trazem outra vez à cena as velhas marchinhas, o autêntico samba, mais lento do que o das escolas, cantado e dançado rua afora. Além do carnaval, subsistem festas populares que precisam ser valorizadas e mantidas em nossa cultura, como o São João do Nordeste. Quem de nós nunca bebeu quentão e licor, comeu amendoim e canjica, dançou quadrilha, pulou fogueira no mês de junho? Se você não sabe o que significa a pergunta – “São João passou por aqui?” – é porque precisa tomar parte de um festejo inesquecível. Ou conhecer um pouco mais nossa vasta malha cultural.
É interessante pensarmos a cultura a partir do conceito de hibridação proposto por Nestor García Canclini (2003), segundo o qual, a cultura híbrida se opõe à fragmentação da cultura em categorias rígidas, colocando em pauta e circulação novas formas, que misturam elementos da cultura popular, culta e de massa. Portanto, falar em conceito de cultura é trazer à discussão múltiplos pontos de vista e acionar diversos campos das ciências humanas.
Por outro lado, isso não impede que formemos um conceito sobre o assunto, diante daquilo que, para alguns estudiosos, forma consenso. Desse modo, cultura pode ser entendida como:
• traço caracterizador de um povo, ou grupo humano, no interior de uma sociedade;
• conhecimento acumulado por um grupo humano ou por um povo;
• visão de mundo de um povo ou grupo humano;• hábitos ou modo de vida de um povo ou grupo
humano.
O estudioso francês Edgar Morin (2002, p. 35) sintetiza essas definições quando afirma que a cultura “é constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas,
Indústria cultural: Re-fere-se a uma série de produtos relacionados à produção cultural: textos, filmes, vídeos, músicas e seus meios de reprodu-ção e distribuição: livros, revistas, jornais, cine-mas, redes de televisão e rádio, atualmente, inter-net, ou seja, os meios de comunicação de massa. A indústria cultural, cujo início simbólico é a inven-ção dos tipos móveis de imprensa no século XV, caracteriza-se como fenô-meno da industrialização, tal como começou a se desenvolver a partir só sé-culo XVIII. Seus princípios são os mesmos da produ-ção econômica geral: uso crescente da máquina, submissão do ritmo huma-no ao da máquina, divisão e alienação do trabalho. Sua matéria-prima não é mais vista como instru-mento da livre expressão e do conhecimento, mas como produto permutável por dinheiro e consumível como outro produto (pro-cesso de reificação da cul-tura ou, como se diz hoje, de commodification da cultura, isto é, sua trans-formação em commodity, mercadoria com cotação individualizável e quanti-ficável).Para saber mais, leia O que é indústria cultural, de Teixeira Coelho (1980).
Saiba mais!
90 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
savoir-faire, saberes, normas, interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada indivíduo, gera e regenera a complexidade social”. Esse conceito, portanto, foge de qualquer enquadramento etnocêntrico, colonialista ou elitista, visto que considera os agrupamentos humanos em sua especificidade e, pelo mesmo viés, especifica as culturas produzidas por eles.
4 CULTURA E REPRESENTAÇÃO
Falar em literatura implicar falar em cultura. Entre ambas, existe uma reciprocidade muito grande, visto que a literatura representa a realidade cultural e com ela dialoga. A construção ou a contestação de elementos da cultura passa impreterivelmente pela representação literária. Logo, podemos inferir que um texto literário é o lugar onde se encontram os vários discursos que envolvem a cultura.
Um olhar minucioso nos mostra que os textos de literatura sempre estiveram atrelados à noção e à discussão em torno da cultura. Entre o final do século XVIII e início do XIX, quando a cultura girava em torno de uma homogeneidade, as obras literárias apresentavam elementos (enredo, personagens, espaço) que visavam a uma formação homogênea; configuravam-se posições ideológicas distintas e, ao final da obra literária, uma dessas posições era derrubada para que a outra saísse vitoriosa.
Nesse sentido, temos O Uraguay, poema épico de Basílio da Gama já estudado anteriormente, que narra as guerras guaraníticas. O embate se deu entre índios das missões jesuíticas e os exército português e espanhol, porém o que se encontra por trás dessa guerra, além do tratado de Madri, é a submissão de todos os grupos sociais ao poder de uma mesma civilização, no caso, a portuguesa.
Hibridação: Designam processos culturais globa-lizadores, interétnicos e de descolonização; viagens e cruzamentos de frontei-ras; fusões artísticas, lite-rárias e comunicacionais. Na voz do autor: “Entendo por hidridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas dis-cretas, que existiam de forma separada, se com-binam para gerar novas estruturas, objetos e prá-ticas. Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resulta-do de hibridações, razão pela qual não podem ser consideradas fontes puras [...] A construção lingüís-tica (Bakhtin, Bhabha) e a social (Friedman; Hall, Pa-pastergiadis) do conceito de hibridação serviu para sair dos discursos biolo-gísticos e essencialistas da identidade, da autenti-cidade e da pureza cultu-ral. Contribuem, de outro lado, para identificar e explicar múltiplas alianças fecundas: por exemplo, o imaginário pré-colombia-no com o novo-hispano dos colonizadores e depois com o das indústrias cultu-rais (Bernand; Gruzinski), a estética popular com a dos turistas (De Grandis), as culturas étnicas nacio-nais com a das metrópoles (Bhabha) e com as insti-tuições globais (Harvey). Os poucos fragmentos es-critos de uma história das hibridações puseram em evidência a produtivida-de e o poder inovador de muitas misturas intercul-turais” (CANCLINI, 2003, p. XVIII-XXIII).
Saiba mais!
91
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
As mudanças econômico-sociais tomadas pelo império lusitano se respaldavam na ideologia iluminista, representada em Portugal pela figura do Marquês de Pombal (1699-1782). O poeta Basílio da Gama, adepto à filosofia pombalina, compôs seu texto épico embasado nessa ideologia. Ou seja, O Uraguay visava a uma formação homogênea da cultura brasileira; os elementos que não se permitiam homogeneizar são tratados na obra literária com desprezo ou indiferença, pois não poderia haver divergência cultural. No entanto, os povos que habitavam o território brasileiro deveriam comungar a mesma cultura. Desse modo, o índio derrotado é chamado de “rude americano que reconhece as ordens e se humilha” (BERND, 2010, p.16). Para que esse americano não fosse denominado “rude”, deveria compartilhar outra visão de mundo: a do império português.
No século XIX, outra noção de cultura se desenvolveu no Brasil e a literatura romântica, em voga na época, acompanhou de perto esse processo. A independência política de Portugal levava os brasileiros a buscarem elementos locais para construírem uma cultura soberana, como sabemos. O calcanhar de Aquiles dessa construção consiste no fato de que a ideia de cultura continuava homogênea e, assim, as especificidades da sociedade brasileira foram descartadas em favor de uma pseudoigualdade ao modo iluminista.
Como a gênese do pensamento iluminista era europeia, os literatos e intelectuais brasileiros revestiram a cultura local de características europeias. O resultado dessa fusão transparece na obra de Alencar, quando o índio é cristianizado; nos poemas de Castro Alves, que destituem o negro de sua negritude e o aburguesam; também, quando o ideal de beleza continua etnocêntrico, como se percebe na obra de Álvares de Azevedo, por exemplo, no seguinte poema:
NO MAR
(Publicado no livro Poesias de Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1853). Poema integrante da série Primeira Parte. Grandes poetas românticos do Brasil. São Paulo: LEP, 1959. v. 1).
92 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Les étoiles s’allument au ciel, et la brise du soirerre doucement parmi les fleurs: rêvez, chantez etsoupirez. (GEORGE SAND)
Era de noite - dormias,Do sonho nas melodias,Ao fresco da viração;Embalada na falua,Ao frio clarão da lua,Aos ais do meu coração!
Ah! que véu de palidezDa langue face na tez!Como teus seios revoltosTe palpitavam sonhando!Como eu cismava beijandoTeus negros cabelos soltos!Sonhavas? - eu não dormia;
A minh’alma se embebiaEm tua alma pensativa!E tremias, bela amante,A meus beijos, semelhanteÀs folhas da sensitiva!
E que noite! que luar!E que ardentias no mar!E que perfumes no vento!Que vida que se bebiaNa noite que pareciaSuspirar de sentimento!
Minha rola, ó minha flor,Ó madressilva de amor!Como eras saudosa então!
Como pálida sorriasE no meu peito dormiasAos ais do meu coração!
E que noite! que luar!Como a brisa a soluçarSe desmaiava de amor!Como toda evaporavaPerfumes que respiravaNas laranjeiras em flor!
Suspiravas? que suspiro!Ai que ainda me deliroSonhando a imagem tuaAo fresco da viração,Aos ais do meu coração,Embalada na falua!
Como virgem que desmaia,Dormia a onda na praia!Tua alma de sonhos cheiaEra tão pura, dormente,Como a vaga transparenteSobre seu leito de areia!
Era de noite - dormias,Do sonho nas melodias,Ao fresco da viração;Embalada na falua,Ao frio clarão da lua,Aos ais do meu coração!
93
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
O século XX nasce em torno de uma discussão mais inclusiva de cultura, apesar de persistir a ideia de congregar as diferenças num mesmo espaço, o que, de certa forma, mantém ainda o pensamento de homogeneização. Os modernistas da segunda década do século XX acrescentam os elementos oriundos da cultura negra na formação da civilização brasileira, o que até então estava praticamente silenciado, e tentam representar a cultura indígena de modo mais próximo à realidade, marcando suas diferenças em relação a José de Alencar.
Cultura negra: Relacionada às mais diversas expressões das culturas africanas ou afro-brasileiras marcadas por autorias ou temáticas negras. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África e, por isso, a cultura desse continente exerce grande influência na cultura nacional. No século XIX, as expressões culturais afro-brasileiras eram proibidas e vistas como algo atrasado, por não fazerem parte do universo cultural europeu. Somente no século XX passam a ser aceitas como genuinamente nacionais. A partir de 2003, a história e a cultura afro-brasileira tornam-se parte obrigatória do currículo escolar. Influências africanas podem ser percebidas em muitos âmbitos, como a música (samba, congada, cavalhada, maracatu), a dança (samba, capoeira), a religião (Candomblé, Umbanda)
e a culinária (feijoada, vatapá, acarajé, caruru, mugunzá, sarapatel, baba-de-moça, cocada, bala de coco etc.). Para saber mais sobre a cultura negra e afro-brasileira, acesse a página da Fundação Pierre Verger, disponível em <http://www.pierreverger.org/>.Para saber mais sobre eventos e expressões da cultura negra, acesse Portal da Cultura Negra, disponível em <http://portaldaculturanegra.wordpress.com/>.
Você sabia?
FIGURA 75 - Capoeira, Pierre Verger, fotografia, Salvador, 1946-47. O fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger seduzido pela hospitalidade e riqueza cultural da Bahia decide ali viver. Na companhia da população local conheceu em detalhe a vida dos negros brasileiros e fotografou seu cotidiano. Apaixonou-se pelo Candomblé e se dedicou a estudar os ritos africanos, sendo iniciado como babalaô. O acervo fotográfico de Verger e suas pesquisas são uma importante referência na fotoetnografia do Brasil.
FONTE: <http://www.arteeleilao.com.br/img_lotes/20120418_200921_5.jpg>.
Nesse sentido, cabe referência a Mário de Andrade, com Macunaíma, e aos poemas de Oswald de Andrade. Para esses escritores e outros, a cultura brasileira se assenta sobre esta base: o português, o indígena e o africano contribuindo igualmente para a formação do espírito nacional e tendo uma convivência pacífica. Entre os principais artistas
94 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
modernistas como eles, destacam-se: na música, Heitor Villa-Lobos; na escultura, Victor Brecheret; na pintura, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari.
Mário Raul de Morais de Andrade (1893-1945): Oriundo de família aristocrática, nasceu em São Paulo, cidade com a qual manteria estrei-ta relação. Formado em Ciências e Letras, iniciou em 1917 sua colaboração como crítico de arte nos jornais Folha da Manhã e Estado de São Pau-lo, ano em que também publicava o primeiro li-vro: Há uma gota de sangue em cada poema, sob o pseudônimo de Mário Sobral. Organiza a revis-ta Kláxon, publica Paulicéia desvairada (1922); a poesia experimental de Losango cáqui (1926); os poemas de Clã do Jabuti (1927), os contos de Primeiro andar (1946), o ensaio A escrava que não é Isaura (1925) e o romance Amar, verbo intransitivo (1927). Inicia sua atividade como folclorista em viagem etnográfica à Amazônia (1927). No ano seguinte, publica a obra-prima Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, na qual reelabora literariamente temas da mitologia indí-gena e do folclore brasileiro, reunidos a partir de pesquisa antropológica. Recomendamos a leitura do Comentário crítico sobre a obras de Mário
de Andrade, disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclope-dia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2723&cd_item=2&cd_idioma=28555>.Assista também ao vídeo Mário de Andrade: reinventando o Brasil, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=p6-sL4y0dAY>.Macunaíma foi adaptada ao cinema por Joaquim Pedro de Andrade (1969, 108 min.)
FIGURA 76 - Retrato de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, pastel sobre papel, 1922.FONTE: < http://143.107.31.231/Acervo_Imagens/CAV/MA/Media/MA-0027.jpg >.
Para conhecer
José Oswald de Andrade (1890-1954): Sob o pseudônimo de Annibale Scipione, publicava os primeiros trabalhos no semanário O Pirralho, que fundou em 1911. No exterior, teve contato com artistas vanguardistas. Em 1917, conhece Mário de Andrade e, juntos, promovem a Semana de Arte Moderna. Em 1924, publica o Manifesto da poesia Pau-Brasil, no qual busca valorizar os elementos nativos, colocando-o em prática no romance Memórias sentimentais de João Miramar. Em 1926, casa com Tarsila do Amaral. Em 1928, publica o Manifesto antropófago, a partir de cujos conceitos, Mário escreve Macunaíma (1928) e Raul Bopp, Cobra Norato (1931); Tarsila realiza seus quadros O ovo (1928), A lua (1928), Floresta (1929), Sol poente (1929) e Antropofagia (1929). Em 1929, com a crise econômica mundial, suas finanças são abaladas, rompe com Mário, separa-se de Tarsila, casa com a escritora e militante
FIGURA 77 - Retrato de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, óleo sobre tela, 1923.
FONTE: < http://catracalivre.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2010/01/139_tarsila_
retratodeoswald.jpg
95
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
política Patrícia Galvão (Pagu) e adere ao Partido Comunista Brasileiro (1931-1945). Em 1945, torna-se livre-docente de literatura brasileira com a tese A Arcádia e a Inconfidência. Assista ao vídeo Oswald de Andrade: de lá pra cá, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=uAF5oC9GMpU>. (parte I) e <http://www.youtube.com/watch?v=Xjd0L84tmmM&feature=relmfu (parte II)>.
No contexto modernista, artistas visuais, escritores e músicos partem de duas inclinações: uma internacionalista e outra nacionalista. Por um lado, visam atualizar as linguagens estéticas do Brasil, colocando-as em contato com as vanguardas europeias; por outro lado, à criação de uma arte brasileira autônoma. Apesar de o marco modernista ser a Semana de 22, o conflito entre ambas as visões só se resolve com a publicação, em 1928, do Manifesto antropófago de Oswald de Andrade, no qual, reelaborando o conceito eurocêntrico e negativo de “antropofagia” como metáfora de um processo crítico de formação da cultura brasileira, busca solucionar a tensão entre a cultura do colonizador e a nativa:
Na rejeição de falsos purismos, de cópias subservientes ou de xenofobias redutoras, a Antropofagia condenava o indianismo, em sua feição ufanista e romântica. No entanto, malgrado a sua crítica desabusada dos român-ticos, (‘contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catharina de Médicis e genro de D. Antonio de Mariz’, lemos no Manifesto), Oswald re-duplicou a atração romântica pelo passado indianista, especialmente pelo mito pré-cabralino. Executou mes-mo, nas palavras de Augusto de Campos, um ‘india-nismo às avessas’ – prefigurado, aliás, cinquenta anos antes pelo maranhense Souzândrade. Marcantemente diferenciado do índio romântico, o índio configura-do por Oswald de Andrade tampouco se assemelhava a seu modelo real. Conforme observa o antropólogo Carlos Fausto, ‘o índio nu oswaldiano continua sendo uma figuração distante das realidades indígenas efeti-vas’. Fausto ressalva, por outro lado, a importância da Antropofagia como metáfora, a expressar uma com-preensão profunda do canibalismo, enquanto operação prático-conceitural (GOMES, 2010, p. 42).
96 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Para Oswald, a antropofagia se constitui como metáfora, diagnóstico e medida terapêutica ao mesmo tempo. “Metáfora do que deveríamos rejeitar, assimilar e superar em prol de nossa independência cultural; diagnóstico da sociedade brasileira reprimida por uma colonização predatória; medida terapêutica porque forma eficaz de reação contra a violência aqui praticada pelo processo colonizador” (Id. Ibid., p. 49). Por intermédio da “‘aglutinação” do acervo colonizador, confrontado à “generosa utopia do matriarcado de Pindorama”, a concepção antropófaga lida no Manifesto pretende servir de ponto inaugural a uma outra história que, embora não surja do nada, possa valer-se do passado conhecido por variadas representações, a fim de deslocar a tradição e as versões históricas oficiais, reconstruindo a cultura nacional e elaborando distintas concepções a respeito das notações culturais. No entanto, a antropofagia oswaldiana
não pretende ser, nem efetua, uma leitu-ra consistente das questões sociais bra-sileiras. Exibe, mesmo, um patente des-compromisso com o espaço social, que desmantela e reinventa, invocando um anarquismo liberalizante. Por outro lado, expressa uma fina percepção da proble-mática da dependência cultural que hoje, passados mais de 80 anos desde a publica-ção do Manifesto Antropófago, ainda nos acomete (Ib. Ibid., p. 52).
A antropofagia e a poesia oswaldiana são precursoras de dois importantes movimentos artísticos entre os anos de 1950 e 1960: o Concretismo e o Tropicalismo. O primeiro ocorre nas artes plásticas, na música e na poesia, com origem na Europa da década de 1950, tendo como antecedentes Max Bill (artes plásticas), Pierre Schaeffer (música) e Vladimir Mayakovsky (poesia). No Brasil, vivem-se os “anos
A canção “Vamos comer Caetano”, de Adriana Calcanhotto, faz referência ao movimento antropofágico. Escute a canção e atente para a sua letra, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=kfQjqCBX0YE&feature=related>.
Saiba mais!
97
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
dourados”, época de desenvolvimento econômico e democratização política, de maneira que a poesia concreta se associa ao movimento desenvolvimentista que sacode o país com a bossa nova e o alegra com o sorriso do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o J. K.
O principal texto da poesia concreta, publicado em 1958, com o título Plano piloto para poesia concreta, assinado por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari (1927), faz referência direta ao Plano Piloto para a construção de Brasília, elaborado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer (Cf. MENEZES, 1988). Concebido para ser um movimento internacional, o Concretismo brasileiro tem seu lançamento oficial no ano de 1956, com a Exposição de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Entretanto, desde 1952, Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos, quando lançaram a revista Noigrandes, já estavam fazendo poesia concreta. Os concretistas se opõem à poesia lírica e discursiva, apresentando o poema-objeto, no qual usam elementos visuais e sonoros. Entre alguns de seus trabalhos, destacamos: Teoria da poesia concreta (1965), de Décio Pignatari; Poetamenos (1953) e Pop-cretos (1964), de Augusto de Campos; Galáxias (1963), de Haroldo de Campos.
A Tropicália é um movimento de ruptura cultural do final da década de 1960 que, inspirado no manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, propõe o diálogo com diferentes tendências musicais da época, unindo o popular, o pop e o experimentalismo. Seus participantes formam um coletivo liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, que inclui músicos e compositores como Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, Torquato Neto, entre outros. A eclosão ocorre com as apresentações, em arranjos eletrificados, da marcha Alegria, alegria, de Caetano, e da cantiga de capoeira Domingo no parque, de Gil, no III Festival de MPB da TV Record, em 1967. O tropicalismo renova as letras das canções brasileiras, promovendo intertextualidade com obras literárias, de maneira que algumas composições ganham status de poema, além de mostrarem criticamente o quadro sociocultural do país. O movimento dura pouco porque, considerado subversivo, é reprimido pelo governo militar, que prende alguns de seus líderes e leva alguns deles ao exílio.
98 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Os modernistas, portanto, trazem um novo ponto de vista estético e se comprometem com a independência cultural brasileira, mas não têm repercussão imediata nem adesão em todo o país. Seu discurso não é comprado, por exemplo, pela Geração de 30, e antes dela, já não era seguido por Lima Barreto que, ainda nas primeiras décadas do século XX, representava em sua literatura a marginalização do negro e sua exclusão numa sociedade ainda de base colonial, como podemos evidenciar nas obras literárias Clara dos Anjos, Triste fim de Policarpo Quaresma e Recordações do escrivão Isaías Caminha.
Escritores da Geração de 30, tais como Erico Verissimo e Jorge Amado, rompem com a ideia de centralização da literatura e passam a representar o interior do Brasil. Suas produções literárias serão acusadas de bairristas pela teoria de centro. Entretanto, o que eles mostram é a cultura existente na periferia brasileira, notadamente marcada pela submissão à cultura dominante.
Assista à palestra de Fre-derico Barbosa, Concretis-mo – São Paulo na litera-tura (2004), disponível em http://www.youtube.com/watch?v=MafBfT1GELIAssista ao documentário Tropicália, direção de Marcelo Machado, 2012, 89min (trailer disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=SS8uhFa0MYg&feature=player_embedded>.Saiba mais sobre esse movimento, acessando o projeto de Ana de Oliveira, disponível em: <http://tropicalia.com.br>.Escute Alegria, alegria, disponível em <http://w w w . y o u t u b e . c o m /watch?v=hmK9GylXRh0>, e Domingo no parque, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=Zbv3M-AdxC0>.
Saiba mais!
FIGURA 78 - Tropicália, Hélio Oiticia, instalação, 1967. Consiste num ambiente formado por duas tendas às quais o autor chama penetráveis. O cenário se compõe de areia, brita, araras, plantas e uma espécie de labirinto; ao fundo, uma televisão ligada. O artista quer demonstrar que a cultura brasileira é negra, índia e branca. A obra empresta seu nome à canção composta por Caetano e ao próprio movimento tropicalista.FONTE: < http://bravonline.abril.com.br/blogs/arteria/
files/2010/03/Tropic%C3%A1lia-PN-2-e-PN3-1967-Instal-Univ-Est-RJ_Foto-C%C3%A9sar-Oiticica-Filho.jpg>.
99
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922): Nascido no Rio de Janeiro, filho de um tipógrafo e uma professora, foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto, ministro do Império, que lhe garantiu formação de qualidade. Publicou o primeiro romance, Recordações do escrivão Isaías Caminha, em 1909. Sua obra-prima Triste fim de Policarpo Quaresma seria publicada como folhetim no Jornal do Commercio em 1911. Trata-se de um romance histórico que se soma a outras produções do autor nesse subgênero: Numa e a ninfa (1917); Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá (1919). Com sérios problemas relacionados ao alcoolismo e à depressão, é internado para tratamento com frequência, evento que registra em Diário íntimo e no romance inacabado O cemitério dos vivos, publicados postumamente. Sua obra, definida por ele mesmo como “militante”, esteve inteiramente voltada ao relato irônico e sarcástico das desigualdades e da hipocrisia nas relações sociais. Para saber mais, assista ao vídeo documental Lima Barreto: um grito brasileiro, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=W0wXbSKiYdA&feature=related>.Sua vida também é tema do samba-enredo Lima Barreto, mulato, pobre, mas livre, da Escola de Samba Unidos da Tijuca (1982). Escute em <http://www.youtube.com/watch?v=oPh7PZNiyb4>.Triste fim de Policarpo Quaresma tem adaptação ao cinema como Policarpo Quaresma, herói do Brasil, direção de Alcione Araújo, 1998, 123 min. Assista ao trailer em: <http://www.youtube.com/watch?v=aLJtx87RrJg>.
Para conhecer
FIGURA 79 - Lima BarretoFONTE: < http://imguol.com/2012/10/31/
o-escritor-lima-barreto-fotografado-no-hospital-psiquiatrico-pedro-ii-no-rio-de-janeiro-em-1919-
1351720139889_643x1024.jpg >.
Erico Verissimo (1905-1975): Escritor sul-rio-grandense, inicia-se nas Letras em 1930, como secretário de redação e tradutor da Editora Globo. Sua reunião de contos Fantoches é publicada em 1932. Pratica mais o romance: urbano, quando registra a sociedade burguesa de Porto Alegre, como: Clarissa (1933), Caminhos cruzados (1935), Um lugar ao Sol (1936), Olhai os lírios do campo (1938), Saga (1940) e O resto é silêncio (1943); histórico, representado pela trilogia O tempo e o vento (1949-1962) (1745-1945); político, que compreende textos escritos durante a ditadura militar, nos quais denuncia o autoritarismo e as violações dos direitos humanos: O senhor embaixador (1964), O prisioneiro (1967) e Incidente em Antares (1971). Também escreve biografia, ensaios, livros infantis e de viagem.Para saber mais, assista ao vídeo documental Erico Verissimo: de lá para cá. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=5-PZJnEYzCk> (parte I) e <http://www.youtube.com/watch?v=NTuZ0ODzWD8&feature=relmfu> (parte II).Também leia o post Erico Verissimo: a saga dos homens do Rio Grande do Sul, publicado por Elfi Kürten Fenske (7 de janeiro de 2012) no blog Templo Cultural Delfos, disponível em <http://elfikurten.blogspot.com.br/search/label/Erico%20Verissimo%20-%20A%20saga%20dos%20homens%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul>.Informações sobre o Acervo Literário Erico Verissimo, que serve de referência à acervística literária nacional, podem ser encontradas neste site: <http://ims.uol.com.br/Erico_Verissimo/D816>. Um dos capítulos de O continente, primeiro volume de sua trilogia O tempo e o vento - Um certo Capitão Rodrigo – tem adaptação ao cinema pelo diretor Anselmo Duarte (1971, 100 min.). A trilogia completa é adaptada à minissérie televisiva de 25 capítulos dirigida por Denise Saraceni, Paulo José e Wálter Campos, exibida pela Rede Globo em 1985. Assista à abertura e escute seu tema, Passarim, de Tom Jobim, em: <http://www.youtube.com/watch?v=LhYfIFVvTa4>.
Saiba mais!
FIGURA 80 - Érico VeríssimoFONTE:
<http://2.bp.blogspot.com/_BHsEetvGatM/
SxDpz2CYJtI/AAAAAAAAAQI/
A9iruFadnD8/s1600/ ERICO.jpg>.
100 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Jorge Leal Amado de Faria (1912-2001):Escritor baiano que, durante a infância, viveu em Ilhéus, cenário de alguns de seus romances. Em 1930, estuda Direito no Rio de Janeiro, onde trabalha como jornalista e, aos 19 anos, escreve seu primeiro romance, O país do carnaval (1931). As principais obras literárias desse período marcado pela escrita realista são Cacau (1933), Capitães de areia (1937), Terras do sem fim (1942), São Jorge dos Ilhéus (1944) e Jubiabá (1935). Publicado em 1954, seu romance histórico em trilogia - Os subterrâneos da liberdade – tem como foco a era Vargas (1937-1945). Com Gabriela, cravo e canela (1958), adentra-se no pitoresco das cidades baianas, carregando-as de lirismo, com linguagem mais viva e sensual. Destacam-se: Dona Flor e seus dois maridos (1967), Teresa Batista cansada de guerra (1973) e Tieta do Agreste (1977), que obtêm grande aceitação do público e são adaptados ao cinema, à televisão e ao teatro. Saiba mais, assista ao vídeo-documentário Jorge Amado: de lá para cá. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=S1_x_xzODbk>.Sua vida também é tema do samba-enredo Jorge Amado Jorge, da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense (2012). Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Moi3TkwBGwY&feature=related>.Várias de suas obras ganham adaptação fílmica:Dona Flor e seus dois maridos, direção de Bruno Barreto, 1976, 120 min.Tenda dos milagres, direção de Nelson Pereira dos Santos, 1977, 132 min.Gabriela, cravo e canela, direção de Bruno Barreto, 1983, 102 min.Tieta do Agreste, direção de Cacá Diegues, 1996, 140 min.Quincas Berro D’Água, direção de Sérgio Machado, 2010, 102 min.Capitães de areia, direção de Cecília Amado e Guy Gonçalves, 2011, 96 min.Dorival Caymmi compõe Modinha para Gabriela (1975), para a telenovela Gabriela, baseada no romance Gabriela, cravo e canela. Escute a interpretação de Gal Costa, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=KqBRcHU0xAI&feature=related>.
Saiba mais!
FIGURA 81 - Jorge AmadoFONTE: <http://www.
casadacultura.unb.br/wp-content/uploads/2012/03/Jorge-Amado_
destaque-1024x684.jpg>.
José Lins do Rego (1901-1957): Durante o período em que estuda Direito em Recife (1919-1923), tem a possibilidade de contatar com intelectuais relacionados aos movimentos regionalistas do Nordeste, como o romancista José Américo Almeida. Ao concluir o curso, conhece o sociólogo Gilberto Freyre, que o incentiva a desenvolver uma literatura relacionada à cultura local. Seu primeiro livro, Menino de engenho (1932) é um êxito, ao qual se seguem as publicações do “Ciclo da Cana de Açúcar”, que discutem a decadência da economia canavieira nordestina: Doidinho (1933), Banguê (1934), Moleque Ricardo (1935), Usina (1936) e Fogo Morto (1943).Para saber mais, assista ao vídeo José Lins do Rego: o contador de histórias. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Mh0snNXd9iI>.
Para conhecer
FIGURA 82 - José Lins do RegoFONTE: <http://4.bp.blogspot.com/-
BrJkVi2_dFU/T_-GkUxqgKI/AAAAAAAABC0/lKgAnD3zbh0/
s1600/Z%C3%89+LINS+-+NA+JANELA+DO+TREM.jpg>.
Personagens trabalhadores rurais, de Jorge Amado e José Lins do Rego, assim como retirantes de Graciliano Ramos, veem-se obrigadas a se calar diante dos desmandos dos coronéis e nem imaginam que existe um mundo do qual eles não fazem parte, um mundo que lhes é negado e para o qual só contribuem com a força de trabalho bestial. No entanto,
101
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
esse universo é bastante rico em expressões da cultura popular e fértil à criação artístico-literário.
O chamado Modernismo Regional vai mostrar essa cultura fragmentada, de resistência, que os adeptos do candomblé, por exemplo, têm de manter escondida frente à ameaça de homogeneização. Também diante da hegemonia que, relacionada à cultura dominante, não se centra nos determinantes econômicos como a própria ideologia, mas sim em suas formas de expressão, seus sistemas de significação e nos mecanismos através dos quais as classe oprimidas sobrevivem, em aparente conformidade, posto que sua consciência se encontra invadida e apta à manipulação. De acordo com o pensador italiano Antonio Gramsci, “a hegemonia é a dominação consentida, ou seja, o método pelo qual os dominadores conseguem oprimir os subalternos através da aprovação aparente dessas mesmas classes sociais, especialmente pela cultura” (BONNICI, 2009, p. 259) e, sobretudo, através da cultura de massa, por exemplo, dos programas de auditório e das telenovelas.
Resistindo ao apagamento que os poderes hegemônicos impõem constantemente às expressões culturais, a literatura da época é militante.
Graciliano Ramos de Oliveira (1892-1953): Muito jovem, colabora com o periódico carioca O Malho e o Jornal de Alagoas. Depois de um período no Rio de Janeiro, colaborando com vários jornais, retorna à terra natal, casa-se e assume um comércio da família. Em 1927, torna-se prefeito de Palmeira dos Índios (AL). Seu primeiro romance, Caetés, iniciado em 1925, é publicado em 1933; logo vem São Bernardo (1934) e Angústia (1936). Acusado de subversão, Graciliano é preso e enviado ao Rio de Janeiro; dessa experiência, escreve Memórias do Cárcere, publicado postumamente em 1953. Ao ser liberado, torna-se inspetor de ensino no Rio de Janeiro sem deixar de produzir romances, contos e livros infantis. Em 1945, filia-se ao PCB. Viaja à Rússia e a outros países do bloco socialista, experiências contadas em Viagem (1953). Visite o site oficial do escritor, disponível em <http://www.graciliano.com.br/>.Assista aos seguintes vídeos:Graciliano Ramos, literatura sem bijuterias. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=AyOOItiYRbI&feature=relmfu>.O mestre da graça, Graciliano Ramos. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=vP4pbf0PAEQ>.Várias de suas obras literárias são adaptadas ao cinema, como:Vidas secas, direção de Nelson Pereira dos Santos, 1963, 103 min.São Bernardo, direção de Leon Hirszman, 1971, 113 min.Memórias do cárcere, direção de Nelson Pereira dos Santos, 1984, 185 min.
Para conhecer
FIGURA 83 - Retrato de Graciliano Ramos, Cândido
Portinari, desenho a carvão e crayon sobre papel, 1937.
FONTE: <http://www.vidaslusofonas.pt/graciliano4.
jpg>.
102 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Suas produções, nas quais diferentes visões de mundo não convivem pacificamente, tampouco apresentam somente o entrelace de aspectos europeus, indígena e africano como pensavam os modernistas de 1922, mas se constitui por uma gama de identidades híbridas e periféricas. Muitas delas, despossuídas de voz, lutam por espaços de representação.
5 LITERATURA COMO URTICÁRIA
Urticária é aquilo que incomoda. Sendo assim, literatura como urticária deve ser entendida como aquela que causa incômodo; porém a quem incomoda esse tipo de literatura? Logicamente, àqueles que vêm se beneficiando de um status quo que o texto literário tenta discutir, problematizar. Jorge Amado, por exemplo, em obras literárias como Capitães da areia; Gabriela, cravo e canela; A morte e a morte de Quincas Berro D’água; São Jorge dos Ilhéus e Terras do sem fim, mostra traços culturais que o centro não conhecia ou se recusava a conhecer. Primeiramente, o autor brinca com a moral cristã introduzindo, em sua prosa, palavrões que fazem parte do linguajar popular; personagens donas do próprio corpo, como Gabriela e Malvina; prostitutas, bêbados, jogadores e ladrões que denunciam as fissuras de uma cultura centralizadora e excludente; a monocultura da exploração existente nas regiões agrícolas.
Em Amar, verbo intransitivo, Mário de Andrade promove algo semelhante ao criticar a hipócrita burguesia paulistana em seu anseio de assemelhar-se à cultura europeia, ao mesmo tempo em que explora e estigmatiza os imigrantes alemães e italianos recém chegados a São Paulo. Andrade mostra também uma elite que “esquizofrenicamente” aspira a outra cultura, para não se reconhecer enquanto brasileira, a fim de isolar-se em uma cultura imaginada e perpetuar o controle social, mantendo-se altamente preconceituosa;
103
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
porém, sub-repticiamente pratica escondido tudo aquilo que condena.Oswald de Andrade reconhece a gênese desse processo, e em seu
poema “Erro de português”, representa o histórico brasileiro marcado pela colonização:
Quando o português chegou aqui
Debaixo de uma baita chuva
Vestiu o índio.
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio teria despido o português.
Em Oswald, percebe-se que a realidade cultural do Brasil do século XX ainda se prende às circunstâncias da dominação estrangeira no século XVI. O elemento novo trazido pelo mencionado poeta consiste na discussão desse processo, a fim de provocar a ruptura de tal modelo, aludindo ao fato de que é possível a construção de uma cultura sem as amarras portuguesas. Essa forma de pensar abre novos horizontes na literatura brasileira produzida no Pós-guerra.
A partir desse momento, exploram-se com mais veemência aqueles temas culturais dos quais o Brasil não se apercebia, a exemplo dos apresentados pelo escritor mineiro Guimarães Rosa. Sua coletânea de contos intitulada Primeiras estórias traz aspectos culturais poucas vezes observados, como representações maravilhosas que fogem da explicação cristã em “A menina de lá”, a discussão em torno do peso que a cultura exerce sobre a formação psíquica dos sujeitos em seu conto mais famoso - “A terceira margem do rio” -, o controle social pela cultura da violência em “Os irmãos Dagobé”, assim como o domínio e o poder da língua padrão em “Famigerado”.
O alagoano Graciliano Ramos traz para a literatura a imagem dos retirantes, pessoas que, subordinadas a um regime cruel de exploração
104 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
e exclusão social, associado ao problema climático da seca, veem-se obrigadas a migrar para regiões onde possam encontrar sustento. A questão levantada por Graciliano possibilita notar que esses indivíduos não ocupam outro lugar no conjunto social que não o de mão de obra barata. Além disso, caso não se contentem com o lugar social que a sociedade lhes reserva (mão de obra), sua condição muda, sendo percebidos agora como ameaça ao sistema e, por isso, devem ser combatidos pelo aparelho repressor do Estado, que os mantém silenciados e oprimidos.
É possível traçar um paralelo entre as personagens de Graciliano e Macabéa, de Clarice Lispector em A hora da estrela. A protagonista dessa obra literária é também retirante, alagoana que se muda com a tia para o Rio de janeiro. Nesse novo lugar, sua cultura é silenciada e sua identidade, negada; em primeira instância, ela é considerada feia. Na busca de se adequar à cultura do lugar, ao que é valorizado socialmente, tenta se parecer com a atriz e cantora Marilyn Monroe, nome artístico de Jeane Mortensen (1926-1962), um dos maiores símbolos sexuais do século XX e ícone da cultura pop.
O único momento em que a personagem consegue estabelecer comunicação acontece quando trava contato com o também nordestino Olímpico que, visando à ascensão social (ele também é uma vítima), troca Macabéa por Glória. Por fim, o atropelamento e a morte da protagonista
João Guimarães Rosa (1908-1967): Escritor, médico e diplomata, estreia na literatura com um livro de poesias: Magma (1936). Considerado um revolucionário da palavra, seus textos destacam-se pela inovação na linguagem, tanto no uso da fala popular e de expressões regionais misturadas a arcaísmos, palavras indígenas e estrangeiras como pela construção de frases que não obedecem à sintaxe da língua portuguesa. Inovar nos aspecto linguístico e narrativo, superando noções clássicas de espaço, tempo e personagem. Esses elementos fazem de sua produção um conjunto literário e complexo, pelo qual recebe inúmeros prêmios, sendo reconhecido internacionalmente e publicado em diferentes idiomas. Destacam-se entre suas obras literárias: Sagarana (1946), Grande sertão: veredas (1956) e Primeiras estórias (1962). Para saber mais, assista ao vídeo Guimarães Rosa: o mágico do reino das palavras, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=yNsbd0Jcxw4>.
Para conhecer
FIGURA 84 - Guimarães RosaFONTE: <http://4.bp.blogspot.
com/-gyvR_5kntNs/UCR2PeT2FVI/AAAAAAAAVMI/2fV07TQKnuc/
s1600/Guimar%C3%A3es+Rosa+1.jpg>.
105
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
servem para não deixar dúvidas a respeito do lugar social destinado às pessoas sem identidade: sua morte é tão importante quanto a de um cavalo. A cultura hegemônica brasileira, enraizada no centro do país, de onde partem a maioria das transmissões televisivas e onde se concentram editoras, gravadoras de discos, produtoras de cinema etc., mostra um desprezo para com o conhecimento das culturas das margens, notado nas expressões utilizadas para referências indistintas a todo e qualquer migrante nordestino: “baiano” e “paraíba”, respectivamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Os poemas de Vinicius de Moraes, em boa parte, de temática amorosa, não se esquivam, porém, de representar os elementos que constituem a complexa cultura brasileira, tampouco, de construir uma literatura de caráter contestador. Nesse sentido, cabe uma referência a seu poema “Operário em construção”, que trata do processo alienante do trabalho e da tomada de consciência do trabalhador.
Vinícius também aborda a questão religiosa em uma canção composta juntamente com Toquinho, que traz à cena os elementos do candomblé, demonstrando o quanto a representação da cultura brasileira
Clarice Lispector (1925-1977): Nascida na Ucrânia, emigrou ainda criança para o Brasil, instalando-se em Maceió. Em 1929, muda-se para Recife e, em 1935, após a morte da mãe, instala-se no Rio de Janeiro. Em 1936, publica seu primeiro conto no jornal literário Dom Casmurro. Estuda Direito e trabalha como redatora em diferentes jornais. Casa-se com o diplomata Maury Gurgel Valente e vive em diferentes cidades da Europa e Estados Unidos. Em 1944, aos 19 anos, publica seu primeiro romance, Perto do coração selvagem. Em 1959, divorcia-se e regressa ao Brasil. Suas principais obras literárias: Laços de família (1960), A paixão segundo G.H. (1961), Água viva (1973) e A hora da estrela (1977). Em 1967, a pedido de seu filho caçula, escreve o livro infantil O mistério do coelho pensante. Para conhecer mais sobre a vida e a obra de Clarice Lispector, acesse seu site oficial, disponível em <http://www.claricelispector.com.br/>.Sua obra A hora da estrela tem adaptação ao cinema, realizada por Suzana do Amaral (1985, 96 min.)Saiba mais sobre Marylin Monroe na reportagem disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=pnFv7ENg_DI&feature=related>.
Saiba mais!
FIGURA 85 - Clarice LispectorFONTE: <http://7em1.files.
wordpress.com/2012/12/clarice-lispector2.jpg>.
106 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
longe está de ser homogênea:
Marcus Vinicius da Cruz de Mello Moraes (1913-1980): Seu primeiro livro, Forma e exegese, é publicado em 1933. Formado em Direito no Brasil, estuda língua e literatura na Inglaterra. No retorno, escreve críticas de cinema para jornais e revistas. Em 1943, ingressa na carreira diplomática, prestando serviços consulares em diversos países até 1968, quando em oposição à ditadura militar é exonerado do cargo. Sua dedicação musical inicia na década de 1950, lançando, em parceria com Tom Jobim, o disco Canção do amor demais (1958). Faz-se mundialmente conhecido quando o filme Orfeu negro, do diretor francês Marcel Camus, adaptado de seu drama Orfeu da Conceição, ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes (1959). Os últimos anos de sua vida são dedicados à música e Toquinho se torna seu principal parceiro.Para saber mais sobre a vida e obra de Vinicius de Moraes, acesse o site oficial disponível em <http://www.viniciusdemoraes.com.br>.Assista ao documentário Vinicius dirigido por Miguel Faria Jr., 2005, 121 min, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=JvEOkeJiX_I>.Leia “O Operário em construção”, de Vinícius de Moraes, disponível em: <http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/87332>.Escute a canção “Meu Pai Oxalá”, de Vinícius e Toquinho, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=_ahsXzmmplU>.
Saiba mais!
FIGURA 86 - Vinicius de MoraesFONTE: <http://4.bp.blogspot.
com/_qDUxvx5RSHk/S9iHYyXSDEI/AAAAAAAAAEs/blfzPIkv3Pg/s1600/
DSC05564.JPG>.
MEU PAI OXALÁ
Atotô, Obaluaiê
Atotô, babá
Atotô, Obaluaiê
Atotô, babá
Vem das águas de Oxalá
Essa mágoa que me dá
Ela parecia o dia
A romper da escuridão
Linda no seu manto
Todo branco
Em meio à procissão
E eu
Que ela nem via
Ao Deus pedia amor
E proteção
Meu pai Oxalá
É o rei
Venha me valer
Meu pai Oxalá
É o rei
Venha me valer
O velho Omulu
Atotô, Obaluaiê
O velho Omulu
Atotô, Obaluaiê
Que vontade de chorar
No terreiro de Oxalá
Quando eu dei
Com a minha ingrata
Que era filha de Iansã
Com a sua espada
Cor-de-prata
Em meio à multidão
Cercando Xangô
Num balanceio
Cheio de paixão
Meu pai Oxalá
É o rei
Venha me valer
Meu pai Oxalá
É o rei
Venha me valer
O velho Omulu
Atotô, Obaluaiê
O velho Omulu
Atotô, Obaluaiê
Atotô, Obaluaiê
Atotô, babá
Atotô, Obaluaiê
Atotô, babá
107
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
A canção do “poetinha” prova que existe uma intrínseca relação entre literatura e cultura, afinal não há texto literário que não dialogue com a realidade cultural por ele representada, mesmo se para questioná-la ou desestruturá-la. Nessa composição, uma identidade silenciada como a afrodescendente ganha voz e passa a fazer parte tanto da cultura quanto da produção literária nacional com a qual, de quebra, dialoga produtivamente.
Como em Vinícius e Toquinho, a noção de cultura defendida pela maioria dos autores estudados nesta aula não corresponde àquela emitida pelo centro, isto é, as formulações construídas pela visão de mundo europeia são discutidas e problematizadas em seus textos. Eles contestam o poder centralizador, visando chamar a atenção para a ocorrência de outras experiências culturais. Essa atitude, inevitavelmente, provoca reação, por isso a literatura que produzem é, muitas vezes, entendida como urticária. Essa peculiaridade pode ser observada na obra do escritor Caio Fernando Abreu, ao tratar do estrangeiro, da experiência com drogas, dos hipppies, do homoerotismo, da medicina alternativa, de uma mística que não segue os preceitos da religiosidade judaico-cristã ocidental etc.
Caio Fernando Abreu (1948-1996): Aos 15 anos, publica seu primeiro conto, “O Príncipe Sapo”, na revista Cláudia, em 1963. No ano seguinte, inicia o curso de Letras e Arte Dramática na UFRGS, mas para se dedicar ao jornalismo, abandona ambos os cursos e se muda-se para São Paulo em 1968, integrando a primeira redação da revista Veja. Em 1970, publica Inventário do irremediável, recebendo por ele o prêmio Fernando Chinaglia da União Brasileira de Escritores. Caio vive uma vida errante, viaja dentro do Brasil e pelo exterior. Em 1994, na França, descobre ser portador do vírus HIV. Falecerá dois anos depois, aos 47 anos, sem tempo de concluir seu último trabalho: Estranhos estrangeiros. Entre sua obra, destacam-se: Sarau das nove às onze (1974), Ovo apunhalado (1975), Pedras de Calcutá (1976).Para saber mais, recomendamos a leitura do comentário crítico da obra de Caio Fernando Abreu da Enciclopédia de Literatura do Itaú Cultural, disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=5069&cd_item=226>.Visite a página oficial do escritor, disponível em <http://www.caiofernandoabreu.com/>.
Para conhecer
FIGURA 87 - Caio Fernando AbreuFONTE: <http://2.bp.blogspot.
com/-gEMoRxv-HqM/UMJ3jGNvrkI/AAAAAAAAECA/t2J13ng7vew/
s1600/caio-fernando-abreu.jpg>.
Mais do que direcionar uma crítica aos valores excludentes de nossa sociedade, esse tipo de literatura também eleva a autoestima daqueles que integram qualquer tipo de minoria ou estão às margens, porque assim são capazes de se reconhecer nos bens simbólicos, e leva quem ainda não se
108 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
havia apercebido à compreensão da riqueza existente fora do circuito da cultura dominante ou hegemônica. Dessa forma, a produção literária do século XX já realoca temas culturais tratados sob a ótica dos sujeitos de seus textos.
Atualmente, sabemos ser a cultura o elemento que gera e regenera a complexidade social e, por isso, devemos pensá-la a partir de um enfoque plural, múltiplo, pois em uma mesma civilização há uma diversidade de grupos sociais, que formam uma sociedade única (mas não homogênea) composta inevitavelmente pela pluralidade cultural. O século XXI já nasce marcado pelo processo da globalização, o que faz a noção de cultura ser completamente deslocada. Se antes havia uma referência, o mundo contemporâneo a problematiza. Essas marcas serão evidenciadas por uma literatura também descentrada e, muitas vezes, sem referência espacial, tornando o conceito ainda mais fluido e problemático.
Ideias mais amplas de cultura e de literatura chegarão ao século XXI a pleno vapor, ganhando, entre outros impulsos, os do multiculturalismo e do pluriculturalismo. O terceiro milênio terá uma ideia de cultura completamente fragmentada, as aspirações dos grupos sociais procurarão o respeito a suas diferenças, não mais se congregarão numa unidade, isto é, buscarão garantir suas vozes e seus espaços, como se perceberá em Carandiru, de Dráuzio Varela, e Cidade de Deus, de Paulo Lins; Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, e Dançar o nome, de Edimilson de Almeida Pereira, Fernando Fábio Fiorese Furtado e Iacyr Anderson Freitas; Coisas de índio, de Daniel Munduruku, e Meu querido canibal, de Antonio Torres, A senhorita Simpson, de Sérgio Santana, e A máquina de fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe, A natureza ri da cultura, de Milton Hatoum, e Leite derramado, de Chico Buarque; Rei do cheiro, de João Silvério Trevisan, e O teatro dos anjos, de Dirceu Cateck.
109
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
Multiculturalismo: Termo usado a partir dos anos 1980 na América do Norte e Europa para denominar o fenômeno da diversidade cultural por meio do qual mulheres, homossexuais, afro-americanos, latino-americanos e migrantes marcam presença como atores políticos. Define a experiência social do artista, sua origem, classe, orientação sexual etc. Visto com desconfiança em muitos lugares, o multiculturalismo é saudado euforicamente como “resultante de um processo de mistura e de encontro de diferenças sem precedência na história dos Estados Unidos. Ela representa uma reação à dificuldade e, frequentemente, ao fracasso deste processo” (SEMPRINI, 1999, p. 42). A partir dos anos 1980, o termo “torna-se uma palavra-código vinculada aos significantes que incluíam ‘ação afirmativa’ contra ‘raça’ e racismo, enquanto nos anos 1990 o significado se estende à inclusão de gays e lésbicas. Portanto, o multiculturalismo é um conjunto de políticas para a acomodação de povos diaspóricos (não brancos) e de minorias, ou seja, uma resposta liberal para contornar a realidade racializada destas sociedades e frequentemente para esconder a existência do racismo institucionalizado. A crítica multicultural radical salienta o poder, o privilégio, a hierarquia das opressões e os movimentos de resistência. Por outro lado, a crítica multicultural tradicional analisa as teorias de diferença e da administração da diversidade geopolítica nas antigas metrópoles coloniais e nas suas ex-colônias. É, portanto, um discurso globalizado porque compreende a diáspora moderna, os imigrantes e sua convivência, populações minoritárias e hegemonia cultural, e problemas de gênero, ‘raça’, etnia e classe” (BONNICI, 1999, p. 281).
Pluriculturalismo: Junto ao etnocentrismo e ao relativismo cultural, é uma das posições através das quais se estabelece o contato entre diferentes culturas. Trata-se da caracterização e do reconhecimento de uma situação: a de que toda sociedade moderna é diversa, múltipla, pluricultural, ou seja, formada por distintas culturas. Essa atitude esbarra na dos etnocentristas e dos relativistas que, sem interesse por outras culturas, consideram a temática irrelevante. Ao contrário da pluricultura, a monocultura prende-se à cultura que se fizer hegemônica, a exemplo da maioria branca, anglo-saxã e protestante norte-americana. Confrontada a minorias étnicas, multiculturais, que nelas formam comunidades, as sociedades estruturam-se de modo que “as modalidades e o ritmo de integração são tradicionalmente estabelecidos de cima para baixo por uma elite monocultural ‘iluminada’” (SEMPRINI, 1999, p. 41). Para saber mais sobre o assunto, consulte: FIGUEIREDO (2005), disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/letras/article/view/81/71>.
Verbetes
6 ATIVIDADES
1. Releia o Uraguay, de Basílio da Gama (disponível em <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00892100#page/1/mode/1up>). Leia o capítulo “A fonte”, de “O continente I”, primeiro volume da trilogia de Erico Verissimo, O tempo e o vento (disponível em < http://es.scribd.com/doc/103439540/A-Fonte-Capitulo-O-Continente-I-Erico-Verissimo>). Em que os autores se aproximam e se distinguem no tratamento à cultura e ao indígena? Encaminhe seu trabalho ao tutor.
2. No site aqui indicado, de Álvares de Azevedo, escolha um poema para interpretação. Como esse poema é capaz de negar ou de reafirmar a cultura dominante? Atividade para discutir no chat.
110 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
3. Leia o Manifesto antropófago, de Oswald de Andrade, disponível em: <http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.html>. Leia o fragmento intitulado “O inferno de Wall Street”, do poema “O Guesa”, de Souzândrade, disponível em: <http://www.revistaeutomia.com.br/volumes/Ano4-Volume1/artigo-capa/Anexo.pdf> e a artigo crítico de Ana Carolina Cenicchiaro, intitulado “Sousândrade-Guesa e a cidade-inferno”, disponível em <http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/g_pdf/vol12/TRvol12i.pdf>. Como esses três textos dialogam entre si? Que aspectos das considerações de Oswald podem ser encontrados no poema de Souzândrade e na análise crítica que recebe? Procure assistir ao filme Como era gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos, a fim de ampliar o diálogo entre as referidas produções. Socialize suas análises na Plataforma Moodle.
4. Escute a canção “Domingo no parque”, de Gilberto Gil, com Os Mutantes, disponível em <http://letras.mus.br/gilberto-gil/46201/>. Leia e interprete a letra da canção. Depois, relacione sua interpretação com a poética de Oswald de Andrade e o concretismo. Para tanto, explore os sites de Augusto de Campos - disponível em: <http://www2.uol.com.br/augustodecampos/poemas.htm> - e Poesia Concreta 50 Anos, disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/25376297/POESIA-CONCRETA>. Atividade para postar na Plataforma Moodle.
5. O romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tem forte relação com a série de pinturas Retirantes (1934-1960) de Cândido Portinari. Leia o artigo de Denise Almeida Silva (2010), aprecie e interprete a obra pictórica de Portinari. Responda: Que relação existe entre as obras dos dois artistas? Explique como ambos tratam a questão da desigualdade social e articulam a relação entre o homem e o ambiente.
FIGURA 88 - Retirantes, Cândido Portinari, óleo sobre tela, 1944.
FONTE: <http://24.media.tumblr.com/tumblr_ma5wcmn5i61rfy7w2o1_1280.jpg>.
111
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
6. No livro Primeiras estórias, de Guimarães Rosa, o conto “Famigerado” apresenta um homem rude, que entra na disputa pelo poder municipal com um advogado recém formado. Esse tenta resolver os problemas pela lei e aquele, pela força. O advogado o chama de famigerado e o homem rude, sem saber o significado de tal palavra, percorre quilômetros a fim de saber se era ou não uma ofensa. Enganado no tocante ao sentido do termo, retorna a sua terra, sem nada fazer ao jovem advogado. Leia a narrativa, elegendo quaisquer das perspectivas vistas nesta unidade para abordá-la. Encaminhe sua resposta ao tutor.
7. Escute a canção “Meu pai Oxalá”, de Vinícius de Moraes, anteriormente citada, e “Canto de Ossanha” (disponível em http://www.youtube.com/watch?v=I7SGgf5vaNc), do mesmo poeta. Leia as letras de tais canções e nelas selecione elementos caracterizadores da hibridação cultural e do multiculturalismo. É possível aproveitar, nesse exercício, o livro de Sangirardi Júnior (1988) e o site da Federação Internacional Afro-Brasileira, disponível em: <http://www.fietreca.org.br/orisas.htm>. Poste os resultados de seu trabalho na Plataforma Moodle.
8. Leia os contos listados a seguir, da antologia Mel e girassóis, de Caio Fernando Abreu, detectando elementos que possibilitem afirmar a presença da hibridação cultural e/ou do multiculturalismo nas narrativas que a integram. Quais são eles? Discuta suas respostas no chat.
Contos:
Sargento Garcia, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.es/2007/02/
sargento-garcia.html>.
Garoupaba, mon amour, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.es/2007/05/
garopaba-mon-amour.html>.
London, London ou ajax, brush and rubbish, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.
com.es/2007/08/london-london.html>
Para uma avenca partindo, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.es/2006/08/
para-uma-avenca-partindo.html>.
Uns sábados, uns agostos, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.es/2007/07/
uns-sbados-uns-agostos.html>.
Pela passagem de uma grande dor, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.
es/2007/01/pela-passagem-de-uma-grande-dor.html>.
Divagações de uma marquesa, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.
es/2007/05/divagaes-de-uma-marquesa.html>.
112 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Aqueles dois, disponível em <http://semamorsoaloucura.blogspot.com.es/2006/10/aqueles-dois.
html>
Mel & girassóis, disponível em< http://semamorsoaloucura.blogspot.com.es/2006/09/mel-girassis.
html>
9. Leia A morte a morte de Quincas Berro D’água, de Jorge Amado, disponível em <http://www.alemdoarcoiris.com/BIBLIOTECA/biblioteca.htm>. Consulte a obra artística de Carybé, disponível em: <http://odebrechtusa.com/carybe>. Destaque os modos como o escritor e o artista se posicionam frente à cultura de massa, suas abordagens da cultura dominante, da cultura negra e da cultura popular, bem como o tratamento dado à questão da hegemonia. Desejando sofisticar o trabalho, leia Deuses da África e do Brasil, de Sangirardi Júnior (1988) Atividade para postagem na Plataforma Moodle.
10. Identifique, no próximo item, “Resumindo”, todas as citações marcadas em itálico. Na Plataforma Moodle, diga de quais notações culturais procedem? Comente-as, de acordo com o que você aprendeu nesta aula.
7 RESUMINDO
A literatura se atrela à noção de cultura e à discussão em torno desse conceito que, surgido com o ideário do Século das Luzes, tinha como objetivo dissolver diferenças e congregar semelhanças dos diferentes grupos sociais. Todo elemento comum a eles passou a ser considerado cultural, em especial o idioma, veículo de unificação. Monsieur have Money per mangiare?
Cultura significava civilidade e bom gosto; cartola, fraque e livros à mancheia, lombadas de ouro. Essa ideia reforçava o pensamento colonizador, dos que se julgavam com direitos a intervir nestes tristes trópicos. Afinal, andávamos nus, líamos quase nada, mas foram eles que trouxeram a escravidão e os escravos.
Nas Américas, o desenvolvimento de uma identidade cultural própria foi possível após emancipação política e econômica, construída à base da pena e da espada. No Brasil, a busca por uma identidade nacional
113
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
começou no século XIX através do Romantismo. Índios à vista outra vez; arco e flecha, as penas e o cocar.
Batia forte o tambor, mas ainda ligada a cânones estrangeiros e a preconceitos de raça ou classe, gênero ou sexualidade, grande parte da estética romântica deixava de fora muitas partes de nosso mapa identitário, sujeitos produtores e suas culturas minoritárias. Eis que a brisa espalha no ar um buquê de poesia. À Paulicéia desvairada, vamos nós...
No início do século XX, os intelectuais retomam e renovam discussões em torno da cultura nacional. Para os modernistas, a cultura brasileira se assenta sobre a base dos índios, negros e brancos em harmonia racial, realçando a natureza deste país tropical. Trata-se de uma estética de inclusão que, todavia, mantém a ideia de homogeneização. E tanto que o Macunaíma canta: Vou-me embora, vou-me embora. Eu aqui fico mais não, vou morar no infinito e virar constelação.
Alguns escritores questionam a visão pacifista do convívio cultural e produzem uma literatura na qual se expõe as desigualdades e a marginalização. Outros buscam descentralizar a cultura e se voltam ao interior. Olhai os lírios do campo, O país do carnaval, Menino de engenho, A terra dos meninos pelados.
O conceito de uma cultura que fuja a qualquer enquadramento, etnocêntrico ou elitista é recente; por muito tempo, prevaleceu a ideia evolucionista do século XIX, na qual se apoiavam as políticas colonialistas de Vitórias Secrets e Napoleons, de Dão João a Dons Juan. Reis postos, rainhas loucas, após a Segunda Guerra Mundial, exploram-se questões antes invisíveis à República dos Estados Unidos do Brasil.
N’A hora da estrela, viver é perigoso, seu moço. E o perigo se apresenta para a gente é no meio da travessia. Tanto concreto, a Tropicália, os exílios, um dia, o operário do edifício em construção que sempre dizia sim começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Os dragões não conhecem o paraíso, Morangos mofados no Inventário do ir-remediável. No século XXI, ganhará impulso a ideia de cultura fragmentada e heterogênea, das múltiplas identidades. O homem que diz ‘sou’ não é! Porque quem é mesmo ‘é’ não sou!.
114 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
8 REFERÊNCIAS
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução de Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=aPcKOdTtsZsC&printsec=frontcover&dq=comunidades+imaginadas&lr=#v=onepage&q=comunidades%20imaginadas&f=false.>
ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropófago. Disponível em: <http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.html>.
AZEVEDO, Manuel Antônio Álvares de. Poesias. São Paulo: LEP, 1959.
BERND, Zilá. Americanidade e americanização. In: FIGUEREDO, Eurídice (Org). Conceitos de literatura e cultura. Juiz de Fora: EdUFJF; Niterói: EdUFF, 2010. p. 13-34.
BONNICI, Thomas. Teoria e crítica pós-colonialistas. In: BONICCI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana (Orgs). Teoria literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas. Maringá: EdUEM, 2009 p. 257-286.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. Tradução por Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: EDUSP, 2003.
CENICCHIARO, Ana Carolina. Sousândrade-Guesa e a cidade-inferno. Revista de Estudos Literários, Florianópolis, v. 12, p. 89-99, jun. 20008, Disponível em: <http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/g_pdf/vol12/TRvol12i.pdf>.
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário. São Paulo: Iluminuras, 1997.
115
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Coleção Primeiros Passos).
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 2011.
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995.
FIGUEIREDO, Eurídice. Por um comparativismo intercultural. Revista de Letras, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 15-32, 2005. Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/letras/article/view/81>.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM, 2010.
GOMES, Heloísa Toller. Antropofagia. In: FIGUEREDO, Eurídice (Org). Conceitos de literatura e cultura. Juiz de Fora: EdUFJF; Niterói: EdUFF, 2010. p. 35-54.
HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. São Paulo: Ática, 2000. (Série Princípios).
JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1997.
MENEZES, Philadelfo. Roteiro de leitura: poesia concreta e visual. São Paulo: Ática, 1988.
MORIN, Edgar. O método 5: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2002.
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1977.
PIANOWSKI, Fabiane. Caos urbano: a estética pós-moderna em Amores Perros. Revista Observaciones Filosóficas, v.6, 2008. Disponível em: <http://www.observacionesfilosoficas.net/caosurbano.html>.
JÚNIOR, Sangirardi. Deuses da África e do Brasil. Rio de Janeiro:
116 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Civilização Brasileira, 1988.
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção Primeiros Passos). Disponível em: <http://www.slideshare.net/secretariacult/o-que-cultura-jos-luiz-carlos>.
SEMPRINI, Andréa. Multiculturalismo. Bauru, SP: EDUSC, 1999.
SILVA, Denise Almeida. Repensando o conceito de lar em contextos migratórios: bagagens esperançosas, entre errância e enraizamento. Letras, Santa Maria, v. 20, n. 41, p. 165-182, jul/dez 2010. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/revistaletras/artigos_r41/165-182.pdf>.
117
6U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Literatura e Cultura
Suas anotações
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
ESTUDOS CULTURAIS E LITERÁRIOS
OBJETIVOS
Ao final da presente aula, você será capaz de:
• conhecer o percurso dos Estudos Culturais britânicos, desde seus anteceden-tes até à implantação do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) na Universidade de Birmingham;
• compreender o processo de institucionalização dos Estudos Culturais, sua disseminação, principalmente, para os Estados Unidos, e a formatação di-ferenciada que recebe na América Latina, onde é reivindicado o termo “estudos sobre cultura”;
• identificar os principais teóricos latino-americanos comprometidos com os estudos sobre cultura;
• destacar os mecanismos de recepção da obra de arte literária e da cultura de massa, o que implica na formação do gosto e na construção de públicos;
• travar contato com uma análise da cidade e da cultura visual massiva que, na perspectiva culturalista engajada, aborda relações entre público e pri-vado, feminino e feminismo, mídia e consumidor;
• distinguir a esfera pública da esfera privada e detectar suas possíveis inter--relações.
7ªunidade
Leitura recomendada
BORDINI, Maria da Glória. Estudos culturais e estudos literários. Letras de
Hoje, Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 11-22, 2006. Disponível em: <http://
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/610/441>.
ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Uma introdução aos estudos culturais.
Famecos, Porto Alegre, n. 9, p. 87-97, dez. 1998.
MATTELART, Armand; NEVEU, Érik. Introdução aos estudos culturais.
São Paulo: Parábola, 2004.
1 INTRODUÇÃO
O advento dos Estudos Culturais permitiu entender a lógica na qual se assenta a divisão entre alta cultura e cultura popular, separação que se apoia em critérios subjetivos e representa, na verdade, os interesses de grupos hegemônicos. Assim, “bom gosto” e “mau gosto” não são critérios objetivos como pensam os adeptos da alta cultura, mas conceitos forjados socialmente, imbricados com interesses econômicos.
Essa forma de pensar permitiu observar o conceito de cultura sob diferentes ângulos, fugindo da lógica dicotômica e exclusivista do modelo ocidental, bem como concedeu às expressões populares um maior espaço de resistência. Nesse novo cenário, não é possível mais entender as expressões culturais de maneira simplista (bom e ruim).
Do contrário, precisam ser compreendidas juntamente com os vários fios que as envolvem, principalmente, em suas relações com os estudos históricos e os mecanismos de consumo e formação do gosto. Eis o foco de nossos estudos no momento. Adentremos a uma vasta teia cultural, a se tecer com a história, a literatura e diversos outros fios, muitos mais do que talvez pudéssemos imaginar.
121
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
2 ANTECESSORES E OS PAIS FUNDADORES
2.1 Crítica e cultura, sociedade e política
No decorrer do século XIX, uma corrente de pensamento conhecida como Culture and Society (Cultura e Sociedade) se desenvolveu no Reino Unido, sendo difundida pelos intelectuais do humanismo romântico que questionavam a ideologia burguesa de civilização moderna. O conceito de cultura passou a ser assumido como o eixo central das inquietações de tais pensadores, que convertiam a literatura simultaneamente em seu símbolo e seu transmissor (cf. MATTELART; NEVEU, 2004). A maneira de expor as preocupações e indagações desse movimento contribuiu para o desenvolvimento do que hoje conhecemos como “Estudos Culturais”.
A escolha do escritor como o representante intelectual da sociedade foi feita por Thomas Carlyle (1795-1881) que, inspirado pela filosofia e a literatura romântica alemã, apresentou uma nova maneira de realizar a pesquisa historiográfica: “Carlyle percebeu que, em plena época romântica, a História estava em toda a parte, inclusive fora do discurso histórico formal; estava na literatura, nos romances, ou mesmo em todo conhecimento prático que constituía uma História indireta” (ANDRADE, 2006, p. 222).
A partir de uma perspectiva mais intuitiva e menos metódica, sua obra alcançou grande número de leitores e admiradores, não se restringindo ao público especializado. Admirador de Goethe, o historiador escocês utilizou estratégias e táticas da narrativa literária em sua produção histórica. Alimentando a crença de que a história universal residiria mais do que nada na reunião “das biografias dos heróis, de que ela é o resultado material dos pensamentos dos grandes homens, Carlyle não cessa de buscar a categoria dos homens providenciais, aptos a recriar uma ‘nova alma do mundo’, a fim de deter a crise de civilização precipitada pela marcha forçada rumo a uma industrialização precoce” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 20).
O crítico literário e social Matthew Arnold (1822-1888) seguiria
122 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
as ideias de Carlyle, apesar de se aproximar mais ao pensamento francês do que ao alemão. Em ensaios como A função da crítica na época atual (1865) e Estudo da poesia (1880), o autor coloca a literatura como a responsável por dar forma à cultura, enquanto em sua principal obra, Cultura e anarquia (1869), defende a cultura como um estado de perfeição vinculado ao conhecimento.
Inventor de uma filosofia da educação e defensor do ensino público contra os riscos de um ensino conduzido pelo sectarismo puritano, Arnold descartava as culturas populares, consideradas subversivas, em favor da alta cultura. Dando privilégio ao texto, elegeu Shakespeare e a sociedade elisabetana como seus paradigmas, pregando a necessidade de civilizar a classe média por meio dos ideais clássicos de beleza e da institucionalização da literatura humanizante.
Rejeitado nas universidades gray stone (de pedra cinza) frequentadas pela elite, como Cambridge e Oxford, dedicadas às Letras clássicas, o estudo da literatura inglesa ganharia campo nos colégios profissionais, escolas técnicas e cursos universitários de formação para adultos, ao mesmo tempo em que, numa parte do império britânico, difundia-se a política da “anglitude”, a elevar o ideal do gentil homem inglês, educado e paladino da moral.
Outra contribuição importante aos Estudos Culturais foi a de William Morris (1834-1896). Ligando o humanismo romântico às causas da classe operária, esse artista e editor socialista superou a dicotomia entre visão poética e prática política. De acordo com Matterlart e Neveu (2004), a visão poética de Morris concebe a revolta romântica como rebelião contra as artes brutalizadas pela era industrial, representando um decisivo momento para a construção do pensamento crítico distanciado do economicismo que marca a história do movimento trabalhista inglês.
Por volta de 1930, a ideias de Arnold seriam retomadas por Frank Raymond Leavis (1895-1978) como solução à suposta crise cultural que vivia a civilização ocidental com o aparecimento dos meios de comunicação de massa: o rádio, a televisão, o cinema, a publicidade etc. Portanto, até os anos de 1960 aproximadamente, as ideias de Arnold tiveram enorme influência nas políticas culturais do Ocidente, em que a cultura era entendida como um instrumento “civilizador das massas”.
123
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Em 1932, Leavis funda a revista Scrutinity, voz que se alça contra o “embrutecimento” oriundo de um tempo governado pela mídia e pela publicidade. No Entre Guerras, afirmam-se os estudos de cultura e a língua inglesa nas universidades, adotam-se ações resultantes de experiência que se vinha adquirindo com a educação de adultos, mas ainda se dá centralidade às análises de textos da literatura inglesa, em detrimento a sua interação com as práticas sociais. Uma das maiores contribuições dos Estudos Ingleses nesse período reside no modo como encaminham a crítica de textos literários.
No jogo de forças que envolve a educação popular de adultos, sobressaem duas alternativas para seleção dos professores: a) a da “massa” visa à modernização educacional, centrada no ensino universitário, com prioridade às Artes e Letras; b) a “da classe” se apoia nas “realidades regionais, valoriza as tradições puritanas do movimento operário e milita em favor de uma abordagem sociológica em sentido amplo, apoiando-se na economia, na filosofia e na política, assim como buscando mobilizar as pessoas mais avançadas da classe operária para formar quadros” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 39).
No meio tempo, emigra à Inglaterra uma leva de intelectuais que escapam do nazismo, como Arnold Hauser e Norbert Elias (1897-1990). Suas formações e perspectivas contribuem tanto à nova história inglesa quanto ao estabelecimento de uma ciência da sociedade e de uma sociologia da cultura. Na mesma situação desses estudiosos, mas com menos sorte ao fugir dos nazistas, encontra-se o filósofo alemão Walter Benjamin cujo Livro das passagens: Paris, capital do século XIX se associa à obra notadamente surrelista Pandaemonium, de Humphrey Jennings (1907-1950).
Esse múltiplo artista inglês, assim como Morris, não vê nos tempos modernos um contexto que provoque nostalgia ou reação; suscita, sim, a consciência sobre um novo tipo de poder, a trazer com ele outras possibilidades de criação artística e inovação política. Sem renegar os questionamentos levados a cabo por Carlyle, Arnold e Leavis, sobre o papel da cultura frente ao rolo compressor do mundo capitalista, parece que os Estudos Culturais irão se decidir mesmo é por Morris e sua opção pela cultura das classes populares.
124 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
2.2 Os pais fundadores e um dileto filho
Os Estudos Culturais apenas se consolidam institucionalmente na década de 1960, no entanto, o esforço de três pensadores – Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward Thompson - durante a década anterior, mostra-se fundamental ao estabelecimento dessa perspectiva teórico-metodológica. Mesmo sem apresentar uma intervenção coordenada entre si, esses que são considerados os “pais fundadores” do culturalismo compartilharam de preocupações significativas no âmbito da cultura, da história e da sociedade:
O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da cultura de uma sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura – é possível reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de ideias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a atividade humana, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo (STOREY, 1997, p. 46).
Richard Hoggart (1918-): Pensador britânico, nascido em Leeds, cuja carreira abarca os campos da sociologia, literatura inglesa e Estudos Culturais, para os quais se torna referência fundamental desde que funda em 1964, na Universidade de Birmingham, o Center for Contemporany Cultural Studies (CCCS). Diretor desse centro no período de 1964 a 1973, é substituído por Stuart Hall ao assumir o cargo de subdiretor geral da UNESCO (1971-1975).
Para conhecer
FIGURA 89 - Richard
Hoggart, fotografia
de Granville Davies, 2005.
FONTE: <http://www.gd.talktalk.
net/portraits/images/Richard_Hoggart.
jpg>.
125
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Reconhecido como um dos grandes pensadores do século XX, Hoggart publica em 1957 The Uses of Literacy, traduzido ao português como As utilizações da cultura: aspectos da vida cultural da classe trabalhadora. Nesse livro, considerado fundamental aos Estudos Culturais, o autor focaliza tanto a cultura popular como a cultura de massa, antes desprezadas, demonstrando que, no âmbito popular, não há somente submissão, mas também resistência. Sua produção mais fecunda, contudo, está em artigos que, além das culturas populares, tratam da educação na Grã-Bretanha. Embora pense haver uma tendência a superestimar a influência da indústria cultural sobre os trabalhadores, suas ideias marcam-se pela desconfiança com a industrialização crescente dos meios culturais.
Raymond Williams (1921-1988): Nascido em Llanfihangel Croncorney, na “esquina” do País de Gales, seus estudos no Trinity College de Cambridge foram interrompidos em 1940 pela Segunda Guerra Mundial, na qual serviu ao exército britânico como capitão. Conclui seus estudos em 1946, passando a trabalhar com a educação de adultos na Universidade de Oxford. Influenciado pelo conceito de hegemonia cultural de Gramsci, seu compromisso político vincula-se à corrente denominada “nova esquerda”, iniciando, a partir de 1950, sua carreira de escritor como fundador das publicações de esquerda The New Reasoner e The New Left Review. Nos anos 60, ingressa como professor na Universidade de Cambridge, onde trabalha até 1983. Novelista, dramaturgo, comunicólogo e comunicador, orienta-se pela perspectiva “marxista culturalista”, na qual os processos culturais estão relacionados aos processos históricos e transformações sociais. Publica várias obras sobre os meios de comunicação e a indústria cultural, dentre as quais, se destacam: Communications (1962); Television: Technology and Cultural Form (1974).
Para conhecer
FIGURA 90 - Raymond Williams.FONTE: <http://www.
parthianbooks.com/sites/default/files/imagecache/product_full/
RW_report.jpg>.
Edward Palmer Thompson (1924-1993): Nascido em Oxford, é respeitado como uma das principais referências da área de História. Comprometido politicamente com a esquerda e com o pacifismo, em 1946, forma junto com Christopher Hill, Dona Torr, Eric Hobsbawn, entre outros, o grupo de historiadores do Partido Comunista. Esse que também é conhecido como Grupo de Cambridge envolve-se com pesquisas históricas no campo marxista, sendo fundamental ao desenvolvimento da “nova esquerda” (New Left). Inscrito no “socialismo humanista”, é mais conhecido por seu trabalho histórico sobre movimentos radicais britânicos do final do século XVIII e princípio do XIX, através d’A formação da classe trabalhista na Inglaterra (1963). Autor de destacadas biografias, como a de William Morris (1955), também será jornalista e ensaísta, além de haver publicado um romance de ciência-ficção e uma coleção de poesia.
Para conhecer
FIGURA 91 - E. P. Thompson.FONTE: <http://2.bp.blogspot.
com/-W2OXsNDfBMU/TjAm-B4_xRI/AAAAAAAABEk/k3yxf4diW7g/
s1600/069+E+P+Thompson.jpg>.
126 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
No ano seguinte, Raymond Williams publica Culture and Society (1958). Trata-se uma genealogia do conceito de cultura na sociedade industrial que explica como “as noções, as práticas e as formas culturais materializam visões e atitudes que expressam regimes, sistemas de percepção e de sensibilidade” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 41). Ao apresentar uma nova perspectiva sobre a história literária, Williams acaba por conceber a cultura como elemento de conexão entre a análise literária e a investigação social. Em seu trabalho posterior, The Long Revolution (1962), avança na discussão em torno do impacto que os meios de comunicação de massa e da educação exercem sobre a cultura.
Edward P. Thompson, em seu trabalho mais conhecido, The Making of the English Work Class (1963), estuda basicamente a vida e as práticas de resistência das classes populares, restaurando o pensamento marxiano dentro da história social britânica. Thompson compartilha com Williams de uma tentativa de salvaguardar as análises que, sob o peso do marxismo, especialmente, do marxismo vulgar, tornavam a cultura refém da economia. Sem negar os entrecruzamentos dessas duas áreas, ambos entendem o campo cultural como uma rede de práticas e relações no âmbito cotidiano, na qual o centro é inevitavelmente ocupado pelo indivíduo e seus modos de resistir ao capitalismo.
No entanto, Thompson difere de Williams ao perceber a cultura como um enfrentamento entre diferentes modos de vida, em vez de se configurar como uma forma de vida global (cf. ESCOSTEGUY, 1998, p. 89). Os dois intelectuais, juntamente com Hoggart, levam em conta a multiplicidade dos objetos a serem investigados pelos Estudos Culturais e a impossibilidade de abstrair a reflexão cultural dos meios para obtenção da mudança social e das relações de poder.
O trio culturalista vai contar com mais um parceiro que, contudo, pertence à geração seguinte e cuja produção, em vez de transcorrer pelos anos 1950-1960, amadurecerá nas proximidades da década seguinte. Trata-se de Stuart Hall, intelectual jamaicano que vai dirigir não só a revista da nova esquerda intelectual
FIGURA 92 - Centre for Contemporary Cultural Studies da
Universidade de BirminghamFONTE: < http://2.bp.blogspot.
com/_L4T5rbqMdx8/TSSh2I6vC5I/AAAAAAAAAJk/RAfPUG_DeiE/s1600/
birmingham2.jpg>.
127
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
britânica, New Letf Review, como incentivar os estudos etnográficos, as pesquisas das práticas de resistência das subculturas e as análises dos meios de comunicação de massa. Hall substituirá Hoggart na direção do Centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham entre os anos de 1968 e 1979.
Apesar da importância dos quatro pensadores citados, os Estudos Culturais não devem ser entendidos apenas como ação individual deles, mas pelas redes que formam e possibilitam discutir novos problemas nas engrenagens da cultura, política e sociedade, coadunando-se àqueles que, nos anos de 1950, se desencantam com o stalinismo e, por extensão, com as experiências socialistas. Nas décadas seguintes, a mobilização anti-imperialista, as lutas anticoloniais e as descrenças em hierarquias e tradições ocuparão os setores progressistas da sociedade inglesa.
As revistas da nova esquerda conectam seus partidários e, além deles, o campo democrático popular, com a comunidade vinculada à educação da classe trabalhadora. Em instituições pequenas, no interior ou nos subúrbios, em universidades abertas, sempre às margens do sistema universitário consolidado, e mesmo em atividades extra muros, os intelectuais “intrusos” ganham aliados, fixam elos entre as comunidades acadêmica e política, divulgam novos autores, editores e objetos de estudos. Quatro anos antes da Primavera de Praga e do Maio de 1968, anos em que intensas movimentações estudantis haverão de sacudir a França, é chegada a hora e a vez da Primavera de Birmingham.
Stuart Hall (1932-): Teórico cultural e sociólogo jamaicano que reside na Inglaterra desde 1951. Também participa como membro-fundador das revistas de esquerda The New Reasoner e New Left Review. Depois de escrever em co-autoria com Paddy Whannel o livro The popular Arts (1964), é convidado por Richard Hoggart para participar do CCCS de Birminghan, convertendo-se em uma das principais referências dos Estudos Culturais. A partir de 1979, incorpora-se como professor de sociologia da Open University. Para saber mais, leia a entrevista realizada por Heloísa Buarque de Hollanda, disponível em <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=719>.
Para conhecer
FIGURA 93 - Stuart HallFONTE: <http://www.bbc.
co.uk/iplayer/images/episode/p0094b6r_640_360.jpg>.
128 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
3 BIRMINGHAM: DA BONANÇA ÀS VIRAÇÕES
O Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham (CCCS), fundado em 1964, acolhe estudos que até então não eram considerados pela tradição universitária inglesa, seja inovando, seja importando teorias do continente europeu ou da América. Sua marca principal reside primeiramente na tentativa de utilizar instrumentos e métodos da crítica literária e textual, mas deslocados das obras literárias clássicas aos produtos da cultura de massa e ao universo das práticas culturais populares.
Seus pesquisadores apoiam-se no trabalho autoetnográfico de Hoggart que, para compreender a cultura popular, necessita retornar sucessivamente ao campo das sociabilidades, por exemplo, à influência da televisão, à ampliação das novas formas de competências culturais e escolares, às relações das gerações, às formas de identidades e subculturas específicas dos jovens das classes trabalhadoras. Adentrados os anos 70, eles ampliam seus trabalhos à relação dessa juventude com a instituição escolar e à diversidade dos produtos culturais consumidos pelas classes populares, como as mídias audiovisuais e os programas de informação e entretenimento. Duas outras ampliações se mostrarão fundamentais à disseminação de seus estudos: às questões de gênero e às alteridades imigrantes, as quais trazem consigo a problemática do racismo.
Embora se situe como lugar privilegiado dos Estudos Culturais, Birmingham não detém exclusividade sobre eles. Thompson empreende, na Universidade de Cambridge, investigações sobre o universo de costumes e culturas populares ingleses verificados a partir do século XVIII e cria o Centro de Pesquisas em História Social na Universidade de Warwick, onde é contratado no ano de 1964. Williams vai desenvolver suas pesquisas em Cambridge, que o admite como professor de dramaturgia em 1974.
Privilegiando métodos que deem conta das vidas comuns, como os da etnografia, da história oral, da pesquisa em escritos que desvelem o popular (arquivos industriais, judiciários, paroquiais), e não somente a escrita do poder, os trabalhos realizados pelos culturalistas caracterizam-se por uma análise ideológica ou externa da cultura:
129
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Eles não buscam simplesmente mapear culturas, captar sua coerência, mostrar a maneira como frequentar o pub, assistir ao jogo de futebol, participar de festas populares pode constituir um conjunto de práticas coerentes. As atividades culturais das classes populares são analisadas para interrogar ‘as funções que elas assumem perante a dominação social’ [...] Se a cultura é o núcleo do comportamento, ela o é como ponto de partida de um questionamento sobre seus desafios ideológicos e políticos. Como as classes populares se dotam de sistemas de valores e de universos de sentido? Qual é a autonomia desses sistemas? Sua contribuição à constituição de uma identidade coletiva? Como se articulam nas identidades coletivas dos grupos dominados as dimensões da resistência e de uma aceitação, resignada ou aflita, da subordinação? (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 72-73).
A vinculação do objeto cultural às problemáticas que envolvem o poder convoca interrogações teóricas, dentre as quais, sobressaem quatro conceitos: de hegemonia e identidade (nossos conhecidos de aulas anteriores); de ideologia e resistência. A noção de ideologia, devedora do pensamento marxiano, leva a notar que as representações e os sistemas de valores relacionados a determinados contextos podem conduzir à aceitação do status quo ou a sua recusa em diversas práticas. Nesse processo, discursos e símbolos fazem com que os grupos populares ou se enquadrem de forma alienante no ideário hegemônico ou tomem consciência de sua força e identidade.
Por exemplo, um afrodescendente que alise o cabelo atende às imposições da identidade branca dominante no mundo europeu. Por isso, o apelo à manutenção do crespo original em dreads rastafári, lindas tranças ou ao estilo Black-Power, como traços de valorização duma etnia e duma identidade. No mesmo raciocínio, a mulher que aceite ser apenas “rainha do lar” submete-se à dominação patriarcalista, enquanto ao estudar e trabalhar fora, encontra meios de fugir a essa lógica; o gay “dentro do armário” não transgride os ditames heterossexuais, esse objetivo só é alcançado caso ele não esconda sua orientação sexual.
Assim, a ideologia implica a hegemonia, as identidades que se superpõem a classes sociais variáveis (como geração, gênero, etnicidade, sexualidade) e a práticas de resistência. Por sua vez, a resistência significa mais propriamente um espaço de debate, por meio do qual as classes
130 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
populares erguem um muro contra qualquer tipo de dominação do que uma noção rigidamente fixa. Essa barreira tanto comporta o conflito social e a indiferença prática ao discurso quanto os locais de autonomia e festa que escapem à disposição e à organização dos espaços culturais tradicionais.
Abordagens sociológicas focadas no desvio e em interações sociais no cotidiano encontram apoio no procedimento biográfico que orienta as obras de Hoggart. Ao mesmo tempo, a teoria amparada no marxismo vulgar é reelaborada em outras bases, mas sem abandono ao pensamento marxiano. Os Estudos Culturais convocam as reflexões de Louis Althusser (1918-1990) sobre os “aparelhos ideológicos do Estado”, dos sociólogos da literatura Georg Lukács (1885-1971) e Lucien Goldmann (1913-1970), da Escola de Frankfurt, de Jean-Paul Sartre e Mikhail Bakhtin (1895-1985) junto à reiteração das formulações de Antonio Gramsci. Esse caldo será engrossado pelo estruturalismo e a semiologia, que brilham no cenário teórico francês, por meio de estrelas como a crítica búlgara Julia Kristeva (1941) e o teórico de cinema Christian Metz (1931-1993).
Nem tudo serão flores na primavera de Birmingham. Não é sempre que tais importações são recebidas pacificamente; muitas vezes, provocam aquecidos debates e polêmicas infindas. As debilidades aparecem no desconhecimento das prioridades das Ciências Sociais, tornando-se visível a) na persistência de uma ideia de cultura como alta literatura, música clássica e obras de arte das galerias e dos museus; b) no populismo que celebra objetos pouco aptos a questionarem as relações sociais; c) num modelo choroso e coitadista de se perceber a cultura popular.
Nessa época, os Estudos Culturais também apresentam um saldo devedor em relação à economia e à história. Junto aos outros débitos antes mencionados, o quadro se agrava devido ao fato de os saberes produzidos terem, em boa parte de sua procedência, aportes da semiologia, das tradições literárias e de um marxismo geralmente teoricista, afastado da prática. Resulta uma tendência a textualizar as culturas não canônicas, sem que haja a contrapartida, ou seja, a extração dos benefícios de um mergulho em bens simbólicos marginais, o que poderia advir da longa
131
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
experiência com a educação popular.Porém, o florescimento do CCCS dá bons frutos, como a
renovação dos objetos de questionamentos acadêmicos, aí incluída a cultura, desvestida daquele raso entendimento como erudição, mas relacionada às instâncias de poder. Os estudiosos culturalistas combinam engajamento e pesquisa, recusam o confinamento de suas docências e investigações em disciplinas muito específicas, dando espaço a fecundas transversalidades, principalmente, entre análise literária, análise midiática, etnografia e sociologia do desvio. Tudo isso permite uma tripla ultrapassagem que se expandirá nos anos de 1980: a) dos hermetismos estruturalistas; b) das visões mecanicistas da ideologia propostas pelo marxismo; c) da sociologia funcionalista norte-americana da mídia.
4 UMA TEMPESTADE REPARTE O MAPA MÚNDI
4.1 Rumo a novas rotas: realocar e redirecionar
Nos anos de 1980, os Estudos Culturais se marcam por abrir terreno à recepção da mídia e seu papel na produção de diversos registros identitários, em especial, entre as classes populares e as mulheres. Em simultâneo, deslocam-se questões básicas como as reconfigurações identitárias, resultantes da cristalização das subculturas verificada nas décadas anteriores e da fragilização das identidades sociais ligadas à era do capitalismo industrial. O hippie ecológico, o intelectual orgânico e o sindicalista contestador, dentre outras identidades e seus meios de mobilização, assistem a contínuo enfraquecimento devido à política neoliberal que, implementada entre os anos de 1979 e 1990 pela primeira-ministra do Reino Unido, Margareth Thatcher (1925), se espalhará nem tão somente no continente europeu.
No começo da década de 1990, Stuart Hall localiza os fatores que levam as pesquisas culturalistas a uma maior abertura: a) globalização econômica, com efeito nas fronteiras entre culturas nacionais e nas identidades individuais; b) mudanças profundas nas sociedades industriais avançadas, o que leva o indivíduo a se redefinir quanto a diversas
132 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
coordenadas, e não apenas a uma delas (como classe, etnia, gênero, nação etc.); c) força das migrações; processo de homogeneização e simultânea diferenciação, que abala as representações do Estado-nação, da cultura e da política nacional.
Além dessas mudanças na conjuntura internacional, bem como nos contextos político-sociais de cada nação, e das reorientações epistemológicas, o ingresso de pesquisadores socializados com o audiovisual e os recursos das indústrias culturais exige novas sensibilidades à cultura e às relações com a mídia. Métodos mais capazes de dar conta do “comum do sujeito” captam os prazeres mediáticos, as funções que o viabilizam, as ambíguas implicações entre o desejo e a passividade ou a servidão que, embora voluntárias, amarram os consumidores a produtos da indústria cultural.
Enquanto os trabalhos acerca das identidades sociais se articulam com outros, sobre a mídia e o espaço público, o fio etnográfico que perpassava os Estudos Culturais ingleses desde seu primeiro momento vai costurar o que se convenciona chamar de “virada etnográfica” e consiste numa forma de pesquisa que dá menos atenção ao conteúdo dos textos mediáticos, a seu impacto ou sentido no dia a dia dos receptores, e mais centralidade ao papel dos media no cotidiano de um grupo determinado.
Como balanço positivo desde a Primavera de Birmingham aos trovões e tempestades das décadas de 1980 e 1990, as práticas culturalistas destacam-se pelo espaço oferecido à interpenetração das culturas, das economias e das sociedades. Isso sucede a partir do reconhecimento da troca desigual entre elas, das lógicas de exclusão que assinalam sensivelmente a integração mundial dos sistemas econômicos e técnicos. No interior desse processo, o dito “terceiro mundo” vinha sempre ocupando as posições mais ínfimas possíveis.
Os Estudos Culturais, que antes importavam teorias, agora passam a ser exportados, tirando vantagem da universalização da língua inglesa, dentre outros fatores. Como aspectos negativos, apresentarão perdas de fecundidade, identidade e rigor. Riscos corridos com sua institucionalização na Grã-Bretanha e sua acelerada disseminação pelo mundo na década de 1980, quando os departamentos das universidades norte-americanas se convertem em polos privilegiados para sua
133
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
transmissão. Sucesso de crítica e público na América do Norte e na Austrália, influente no Sudeste asiático, rejeitada na Alemanha, na França e na Europa Central, essa corrente de pesquisa parece ter suas chances reduzidas em países que contam com sistemas acadêmicos nos quais os quadros de análise da cultura são bem definidos e os objetos culturais já recebem tratamento por disciplinas institucionalizadas das Ciências Sociais.
Por outro lado, as doutrinas estruturalistas e pós-estruturalistas francesas, em meio a essas, a “desconstrução” derridiana, encontram terreno propício para se expandir nos Estados Unidos:
[...] quando a Nova Crítica e a Psicanálise foram perdendo força explicativa, em virtude de seu imanentismo, nenhum novo suporte garantia o prestígio de estudos literários ou culturais. Dessa forma, as questões da identidade e da diferença, reformuladas pela Escola Francesa, se transformaram no corpo mais apreciado do pensamento nos departamentos de Inglês, que passaram a atrair estudantes de outras áreas, igualmente interessados nas possibilidades transdisciplinares que ali se abriam. De outra parte, o espírito pragmático dos norte-americanos logo percebeu que esse novo âmbito de conhecimento oferecia respostas a problemas não apenas acadêmicos. A discussão sobre identidades múltiplas e diferenças culturalmente situadas propiciava o encaminhamento de condutas políticas sem pressupor a luta de classes ou a determinação da superestrutura ideológica pela base econômica, princípios do marxismo penosamente conservados, num meio claramente hostil à contestação do capitalismo, por uma escassa camada de intelectuais progressistas. É assim que a vinculação entre os estudos literários e os estudos culturais se produz, incentivada por um projeto de renovação da formação acadêmica em Letras e Humanidades (BORDINI, 2006, p. 18-19).
Países recentemente democratizados (exceto aqueles sob anterior domínio político da União Soviética e o influxo intelectual da reflexão alemã, seguida da francesa) adotam teorias culturalistas com ares subversivos e em atendimento a desafios inéditos, relacionados ao consumo e aos novos estilos de vida que decorrem de suas aceleradas modernizações. Na América Latina, a pesquisa sobre culturas populares
134 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
contemporâneas também se institucionaliza, mas não perderá a criatividade nem a inventividade, como adiante veremos.
4.2 Los Estudios Culturales: na América Latina
Como vimos, os Estudos Culturais surgem no Reino Unido nos anos 50 do século passado como uma perspectiva teórico-metodológica interdisciplinar de democratização da cultura. Na América Latina, o intelectual peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) já adotava no Entre Guerras a noção de hegemonia elaborada por Gramsci e o educador brasileiro Paulo Freire, no início dos anos de 1960, quando dá
ESTRUTURALISMO: Escola teórica das ciências sociais e humanas originada por Ferdinand de Saussure (1857-1913). O estruturalismo considera o objeto de estudo como um sistema dividido em elementos relacionáveis entre si; para serem analisados cientificamente, necessitam do estudo das relações entre eles e das maneiras por meio das quais afetam a globalidade que, a partir dessa perspectiva, adquire um significado além da soma das partes. Não é uma metodologia exclusiva dos estudos literários, sendo também utilizada na antropologia, linguística, psicanálise, psicologia e sociologia. Dentre outros, eis os estruturalistas mais famosos: Jean Piaget na psicologia; Lévi-Strauss na antropologia; Louis Althusser na filosofia; Jacques Lacan na psicanálise, Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield e Noam Chomsky na linguística; Gérard Genette, Roland Barthes, Roman Jakobson e Tzvetan Todorov nos estudos literários.
PÓS-ESTRUTURALISMO: Termo que entra em uso nos anos de 1970; designa não uma escola unificada de pensamento ou um movimento, mas é muito usado no discurso da crítica atual. A maioria dos autores normalmente rotulados como pós-estruturalistas (Jacques Derrida, Michel Foucault e Roland Barthes) raramente considerava seu trabalho sob esse nome. Entretanto, a crítica ao projeto da Modernidade empreendida por Jürgen Habermas (1929-) junta sob tal rótulo interesses e visões divergentes, como a crítica metafísica de Derrida, as investigações de Foucault sobre a epistème e as relações de poder, a crítica feminista radical de Hélêne Cixous e Luce Irigaray. Isso gera problemas à crítica e à teoria literárias: ler a “pós-teoria” como diagnóstico de uma época (com a realidade social de referente) ou como uma volta exacerbada da teoria (contra a representação). Entre os precursores dos “pós-estruturalistas”, encontram-se Friedrich Nietzsche, Georges Bataille e Marcel Mauss (Cf. SAMUEL, 2002, p. 125-128).
DESCONSTRUÇÃO: nome dado pelos norte-americanos (com os quais ganhará dimensão destacada nas décadas de 1970 e 1980) sobretudo à critica surgida na França com Jacques Derrida (1930-2004) a partir dos anos 1960. Consiste em resposta complexa a uma variedade de movimentos teóricos e filosóficos do século XX, como o estruturalismo e a fenomenologia, expondo a natureza problemática de todo discurso centrado, propondo a destruição da metafísica e o deslocamento de seus limites conceituais, entre outros meios, através da exploração das margens dos sistemas tradicionais e do jogo semântico que não se ancora em qualquer significado (Cf. SAMUEL, 2002, p. 136-138).
Verbete
135
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
forma à “pedagogia do oprimido”, se vale dos elementos de resistência apresentados pelas classes populares. Uma década mais tarde, o Chile de Salvador Allende (1970-1973) assistirá aos primeiros estudos etnográficos acerca da recepção a séries americanas e a telenovelas entre as classes populares.
Entretanto, as pesquisas sobre culturas populares só aportam no continente durante os anos de 1980, aproveitando as transformações sociopolíticas decorrentes dos processos de abertura política e reinserção democrática. A cultura popular empurrada pela emergência das indústrias culturais assume novas configurações que também contribuem para que essa problemática seja pensada e repensada: “Os deslocamentos com os quais se buscará refazer conceitual e metodologicamente o campo da comunicação virão do âmbito dos movimentos sociais e das novas dinâmicas culturais, abrindo, dessa forma, a investigação para as transformações da experiência social” (MARTÍN-BARBERO, 1992, p. 29).
A partir desse contexto, os estudos que tratam da cultura no continente latino-americano passam a revisar os cânones estéticos e as identidades entendidas como universais, questionando os discursos hegemônicos e as imposições culturais, numa postura assumidamente não subalterna e vinculada ao âmbito sociocultural a partir de três eixos - comunicação, sociologia e antropologia – inter-relacionados com outras disciplinas como história, crítica literária, política etc. Com o passar do tempo,
os Estudos Culturais na América Latina mostram hoje uma clara originalidade, de impacto internacional, em função do encaminhamento que vem propondo para temas como a tensão entre a cultura local e global, o papel da cultura no mercado de bens simbólicos e a busca de novos modelos e conceitos operacionais que dêem conta da complexidade da produção cultural transnacionalizada (HOLLANDA, 2000).
No limiar da década de 1990, os pesquisadores latino-americanos começam a identificar-se e a ser identificados em âmbito internacional com essa perspectiva, destacando-se a partir daí o hispano-colombiano
136 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Jesús Martín-Barbero (1937-) e o argentino radicado no México Néstor García Canclini (1939-). O primeiro, com formação em filosofia e semiótica, relaciona as práticas sociais à comunicação. Em sua obra mais conhecida, Dos meios às mediações – hegemonia, cultura e poder (1987), estabelece a teoria das mediações através da qual é possível entender a interação entre produção e o prazer encontrado em sua recepção a partir dos dispositivos socioculturais. O sentido social, implícito nas formas de mediar formações hegemônicas e expressões populares, permeia tal interação a partir de uma estrutura mais complexa de significações.
Sob a perspectiva do autor, as mediações podem ser meios, sujeitos, gêneros e espaços, constituídos “em articulações entre matrizes culturais distintas, por exemplo, entre tradições e modernidade, entre rural e urbano, entre popular e massivo, também, em articulações entre temporalidades sociais diversas, isto é, entre o tempo do cotidiano e o tempo do capital, entre o tempo da vida e o tempo do relato” (ECOSTEGUY, 2001, p.107). No espaço simbólico ou representativo dessas articulações, repousa o olhar do pesquisador que, ao enfocar os processos de comunicação a partir da cultura, amplia a análise já não mais restrita ao meios, mas extrapolada nos objetos e sujeitos capazes de mediá-los.
Néstor García Canclini, estudioso com trajetória acadêmica voltada tanto para a filosofia como para a sociologia e antropologia, é um dos principais pensadores a tratar da Modernidade, da Pós-modernidade e da cultura a partir da perspectiva latino-americana. Autor de vasta obra, na qual questiona os cânones e a hegemonia cultural, defende o rompimento das barreiras entre o hegemônico e o subalterno, o tradicional e o moderno, o erudito, o popular e o massivo. Envolvendo diversas “comunidades de consumidores”, o conceito de “culturas híbridas” consiste nessa heterogeneidade cultural que está presente no cotidiano urbano e é responsável pela elaboração e reelaboração das inúmeras identidades, como tivemos oportunidade de tomar conhecimento em nossa sexta aula.
137
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Outro importante conceito criado pelo autor é o de “reconversão cultural”, que reapropria da área econômica o primeiro termo dessa expressão, para explicar como muitas vezes a hibridização “surge do desejo de reconverter um patrimônio (conjunto de técnicas e saberes) para reinseri-lo em novas condições de produção e mercado, não é uma simples mescla de estruturas ou práticas sociais discretas, puras, que existem de forma separada; ao combinar-se, geram novas estruturas e novas práticas” (CANCLINI, 1996, p. 3). A estratégia é usada no contexto erudito e no popular, resultando em práticas e estruturas culturais novas. Para as culturas populares, em geral, é mais do que estratégia; torna-se uma necessidade de reconhecimento nos contextos globalizados de inserção laboral ou de afirmação identitária, o que frequentemente constitui uma árdua experiência.
Canclini (2006) prefere a expressão “Estudos sobre cultura”, como uma necessária reorientação dos Cultural Studies de tradição anglófona, evitando menos a questão da dependência e mais a hipertextualização com pouca análise de contexto, o que ocorre sobretudo na vertente americana dos Estudos Culturais,
Pós-modernidade: Quanto à periodização da pós-modernidade, Fredric Jamenson (1997) assume seu provável início em torno dos anos de 1960, quando há uma academização da arte moderna. Mike Featherstone (1995, p. 25) corrobora com essa ideia, lembrando que o termo “pós-modernismo” teve sua popularidade “na década de 60, em Nova York, quando usado por jovens artistas, escritores e críticos”. É nesse período também que surgem os movimentos contraculturais como o manifesto hippie, o ambientalismo e o pacifismo, indicando uma mudança, ou tentativa de mudança, de postura frente ao que até então se apresentava. Diferindo de pós-modernidade, num primeiro momento, designativa de um período temporal, mas intrinsicamente ligado a esse conceito, o Pós-modernismo - com o sufixo ismo - assume uma classificação tipológica dirigida aos produtos resultantes de uma dimensão estética. O pós-modernismo se constrói sobre experiências da pós-modernidade, como urbanização, industrialização, tecnologia e informação. É uma característica sua apropriar-se da condição de incerteza e assimetria; a realidade é percebida como rompimento, o homem é alienado e coisificado. Nessas condições, é necessário aparecer para o indivíduo pós-moderno o preenchimento do vazio, criando-se, assim, uma nova ordem (PIANOWSKI, 2008). Segundo Jamenson (1997), há uma íntima relação do termo pós-moderno com as novas configurações da sociedade que passa, após a Segunda Guerra Mundial, a ser descrita como sociedade pós-industrial, sociedade de consumo, sociedade da mídia, sociedade do espetáculo etc. A tecnologia que irá imperar nessa “nova” sociedade do “capitalismo tardio” será a da informação.
Verbete
Visite o site oficial de Néstor García Canclini, acessando: <http://nestorgarciacanclini.net/>.
Saiba mais!
138 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
que tampouco são os mesmos em todas as áreas anglosaxônicas. Na Grã Bretanha têm um certo desenvolvimento, nos Estados Unidos, outro, e no mundo asiático é diferente. Mas, em parte eu compartilho, na América Latina, com preocupações e estilos básicos dos cultural studies. A vocação transdisciplinária, a reflexão e investigação sobre cultura em relação a estrutura e poder, a divisão de classes e grupos de consumo na sociedade e o interesse de estudar sociológica ou socioantropologicamente os produtos culturais, não analisar isoladamente as obras de arte ou as obras literárias, mas vê-las na trama complexa de relações de produção cultural. Tudo isto tem sido característico dos cultural studies e também dos estudos culturais ou estudos de cultura na América Latina. Se bem aí existem uns 10 a 15, 20 autores que eu poderia identificar na América Latina com uma produção vinculável aos estudos culturais, eu não encontro nenhum dos mais importantes ou que tenham obras e trabalhos mais consistentes que sejam simplesmente afiliáveis aos estudos culturais, que cumpram com um requisito de um paradigma internacional, o que por outro lado não existe, é uma convenção. Uns interpretam de uma maneira e outros de outra (p. 13).
Outros conceitos provenientes do corpus teórico gerado pelo contexto latino-americano são o de “moderna tradição” e globalização do “internacional popular”, desenvolvidos pelo brasileiro Renato Ortiz (1947-), e dos “frontes da cultura cotidiana”, presente na reflexão do mexicano Jorge González (195?-). Dialogando com referências latino-americanas, os quatro teóricos mencionados não deixam de se valer das contribuições de culturalistas europeus, nem sempre, ingleses. Além dos estudos do quarteto em voga, destacam-se pesquisas latino-americanas sobre antropologia das megalópoles e recepção (em especial, de telenovelas).
Vivendo situação bem diferente daquela encontrada pelos estudiosos culturais britânicos entre os anos de 1970 e 1990, os latino-americanos ainda estão sob o autoritarismo ditatorial ou em transições democráticas envoltas a estruturas persistentes das ditaduras ou ainda, mais tarde, enfrentarão duras crises oriundas da implantação das políticas neoliberais. Na própria nação ou no território de emigração, tratar do consumo, da identidade ou dos produtos midiáticos parece menos
139
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
problemático do que se voltar à ação política, às estruturas de poder, aos movimentos sociais.
Além disso, entre investigações sobre cultura que se revelam críticas quanto à politização dos anos de chumbo e a reivindicação “pós-colonialista” de engajamento, a “literatura de testemunho” latino-americana demarca sua clivagem em relação ao relato testemunhal ligado às experiências do holocausto judeu (Shoah). Cunha-se assim a noção de testimonio, a proporcionar duas compreensões, surgidas em distintos momentos, e vinculadas a perspectivas teóricas divergentes. A mais antiga dessas concepções dá-se estritamente na produção teórica latino-americana desde os anos de 1970, envolvendo relatos ligados a experiências com as ditaduras militares dos anos 1960-1980 e à interpretação da violência gerada nesses processos.
Por outro lado, uma acepção distinta se estabelece nos anos de 1980, popularizando-se com o relato da índia guatemalteca Rigoberta Menchú, que narra em primeira pessoa a violência contra as minorias étnicas de seu país. Tal compreensão “volta-se exclusivamente para a literatura hispano-americana, desenvolve-se no espaço universitário norte-americano ou em áreas a ele vinculadas e faz fronteiras com os estudos culturais” (DE MARCO, 2004, p. 46). Esse é um indício da absorção dos Estudios Culturales nos Estados Unidos, onde se naturalizam como Latin American Cultural Studies.
Como um braço do conhecimento anglófono desenvolvido por pesquisadores norte-americanos que estudam a América Latina, tal agrupamento denota a geopolítica de apropriação envolvida na globalização. A perda de poder político e de espaço de mobilização que afetou os Estudos Culturais na década de 1990 deve muito a pesquisadores norte-americanos que fizeram por merecer o rótulo de “analistas de shopping-centers” ao tentarem operacionalizar categorias
Pós-ColonialismoEstudos surgidos nos anos de 1970, relacionados aos efeitos do colonialismo, inicialmente vinculado aos estudos literários, atualmente é aplicado a diferentes áreas das ciências humanas, estando fortemente associado aos Estudos Culturais. O pós-colonialismo problematiza as questões relacionadas à dominação, opressão e autoritarismo da história do colonialismo e das sociedades pós-coloniais. Para saber mais recomendamos a leitura do artigo Pensamento pós-colonial, publicado em Janus 2010, disponível em: <http://janusonline.pt/popups2010/2010_3_1_7.pdf>.
Verbete
140 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
que se direcionam à reflexão, mas não servem para ser aplicadas em análises estritas. Uma enxurrada de autores americanos, dispostos a “desconstruir” e a “relativizar” tudo o que viesse pela frente, a produzir bricolagens e a se encantar com simulacros, remove uma gama de conceitos concretos oriundos de vários campos, criando uma corrente de pensamento conhecida que, se mostrando distanciada dos Estudos Culturais, dá-se a conhecer como multiculturalismo.
Esse termo, nascido na terra de Tio Sam, nomeia não uma disciplina, uma área de estudos ou práticas interdisciplinares, mas um sistema de pensamento e intervenção social, como visto, apoiado em noções derridianas, e cuja ascensão
deriva das condições da formação da sociedade norte-americana, a saber, a inicial colonização inglesa, de confissão puritana, com o genocídio das populações indígenas, a importação em massa de escravos africanos para o trabalho braçal, a abertura do país à imigração ocidental e oriental quando o progresso do capitalismo liberal tornou o país o sonho de redenção para as camadas pobres da Europa e do Oriente, resultando numa sociedade multirracial, dominada, porém, por uma ética protestante que favorecia o acúmulo de capital e o empreendimento individual. Em todos esses estágios de formação, o elemento nativo e o estrangeiro, aos olhos dos cidadãos anglo-saxões, foi visto como alteridade ameaçadora, que deveria ser eliminada ou submetida, assimilando-se à cultura dos dominadores. Separadas de suas raízes de origem e perseguidas na terra de adoção, essas populações todas passaram por crises de identidade, que se resolveram ou com a separação em relação à sociedade branca – caso de negros e índios – ou com a adesão ao American way of life, no caso dos imigrantes europeus e asiáticos. Entretanto, as tensões não se atenuaram e, reforçados pelo declínio econômico do país nas últimas décadas, os conflitos entre maioria e minorias continuam acesos. Explica-se, assim, que o pensamento multiculturalista encontrasse solo fértil para se expandir nas esferas mais intelectualizadas, que entendiam ser o reconhecimento das diferenças culturais o caminho para a pacificação da sociedade. Pensar uma sociedade multicultural seria admitir o outro não como alteridade ameaçadora para a integridade do sujeito, mas como um outro eu que permite o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento por contraste [...] (BORDINI, 2006, p. 19).
141
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Outras diferenciações entre a questão cultural nos Estados Unidos (ou demais sociedades centrais) e na América latina, assim como demais elucidações acerca de tal problemática, vêm a ser oferecidas por mais uma figura cara aos estudos latino-americanos sobre cultura: a ensaísta portenha Beatriz Sarlo (1942-). Ela se volta a trabalhos sobre uma Pós-modernidade às margens das sociedades industriais avançadas em seu ensaio Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 (1988). Conjuntamente às reflexões de Canclini, a pesquisadora argentina traz importantes aportes acerca das mudanças socioculturais causadas pela crise da Modernidade e pelos efeitos do neoliberalismo.
Como vamos observando ao longo desta aula, as reflexões dos Estudos Culturais na América Latina correspondem às singularidades determinadas pela história cultural do continente assim como à própria tradição na produção de conhecimento. No entanto, não podemos esquecer que o campo de pesquisa culturalista é “um projeto transnacional de reflexão sobre as transformações globais em curso e seu impacto sobre o horizonte de novos paradigmas socioculturais” (HOLLANDA, 2000).
Para saber mais sobre Estudos Culturais:Assista à entrevista de Tatiana Amendola Sanches realizada para a Jovem Pan Online, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=U7qxcoLcfiA>.Acesse a Biblioteca Virtual de Estudos Culturais, disponível em <http://www.bibvirtuais.ufrj.br/estudosculturais/>.Acesse o porta do Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC), disponível em <http://www.pacc.ufrj.br/>.Leia os artigos da Revista Z Cultural, disponível em< http://www.pacc.ufrj.br/z/ano5/3/index.php>.Leia os textos publicados no blog de Heloisa Buarque de Hollanda, disponível em <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/>.
Saiba mais!
5 RESPEITÁVEL PÚBLICO, CÍRCULOS PRIVADOS
5.1 Formação do gosto, construção de públicos
Atividade de suma importância desempenhada pelos Estudos Culturais, embora não seja exclusividade sua, é a dinamicidade dos trabalhos sobre recepção. Uma das pesquisas exemplares nesse sentido - A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding -
142 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
publicada em 1957 por Ian Watt (1917-1999), procede a um histórico dos comportamentos do sistema literário, indicando suas inter-relações com a vida cultural. Outra investigação de porte realiza a norte-americana Janice Radway (1949-) em Reading the Romance (1984) que aí investiga as contradições e interrogações reveladas por leitoras dos ditos romances “cor-de-rosa”, nos quais as estórias de amores difíceis e príncipes encantados permitiam a elas momentos de libertação das rotinas domésticas.
Quanto à formação do gosto pela leitura e à construção do público-leitor, durante os séculos XVIII e XIX, a Igreja Católica incentivava a leitura feminina, mas permitia apenas os livros sagrados, que visassem à educação familiar e à conservação da moral e dos bons costumes. Desde a Revolução Francesa em 1789, a expansão do sistema de ensino propiciava a entrada de material impresso nos educandários. Além disso, a imprensa também se expandia, provocando a necessidade de aumentar as práticas de escrita e leitura, principalmente, devido ao aumento de circulação do jornal e do romance, firmes e fortes aliados de novas nações à formação das identidades nacionais.
Apresentados como bens culturais, os livros ficavam subordinados à aceitação pelo leitor que se educava basicamente por intermédio de autobiografias, cartas, documentos de cartório, letras jurídicas e das sagradas escrituras. No Brasil, foi com a vinda de dom João VI e sua família, no ano de 1808, que a imprensa pôde se converter em uma fonte para a educação dos jovens e a informação dos adultos. Quanto ao romance, “existiu no Brasil, antes de haver romancistas brasileiros. Quando apareceram, foi natural que estes seguissem os modelos, bons e ruins, que a Europa já havia estabelecido em nossos hábitos de leitura” (SCHWARZ, 2000, p. 35).
Na busca por uma dicção nacional, os poucos escritores que havia em solo pátrio ainda deveriam conquistar um público que se lhes mostrasse fiel: “o comércio dos livros era, como ainda hoje, artigo de luxo; todavia, apesar de mais baratas, as obras literárias tinham menor circulação” (ALENCAR, 1990, p. 59). Leituras coletivas, em que um grupo de anônimos recebia em alto e bom tom as estórias e informações lidas por alguém apto e eleito para tal fim constituem uma das práticas
143
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
destinadas à formação do público leitor (Cf. LAJOLO; ZILBERMAN, 1996). Por outro lado, havia um leitor habilitado, já tido em vista por algum escritor como ideal para a recepção de determinados textos.
Diferentes membros e segmentos da sociedade começavam a consumir bens culturais impressos. Educadas para o lar e a maternidade, as moças pareciam mais inclinadas a ler historietas de amor realizado ou irrealizável, que lhes arrancassem lágrimas e suspiros: “desde as primeiras linhas, os livros destinados às mulheres estiveram associados com o que mais tarde seria chamado de amor romântico [...] nas labutas, perigos e agonias dos casais amorosos, as mulheres às vezes descobriam alimento insuspeitado para o pensamento” (MANGUEL; SOARES, 1997, p. 256-257).
Mulheres que, na maior parte das vezes, não integravam práticas culturais letradas, passavam a ser conquistadas pelos romances. Tanto, que os escritores previam suas leitoras dentro dos textos e se dirigiam a elas, como uma das táticas mais efetivas na busca de um público maior. As leituras femininas preenchiam longas horas de silêncio, substituíam a sesta, entravam no lugar do crochê e do tricô, das costuras e dos doces por fazer. Ainda que não estimulassem à ação na cultura e na política, os livros de fácil digestão não deixavam de contribuir para o incremento da prática leitora e algum tipo de reflexão ensimesmada ou entre pares que poderia trazer à baila outros temas, problemas, soluções.
Em grande parte do século XIX brasileiro, a crítica literária era feita quase sem exceção por intelectuais do sexo masculinos. Além de informar, os periódicos dedicavam-se ao entretenimento, por exemplo, publicando folhetins como o Guarani de Alencar, conhecido nosso de outros tempos e de outro momento neste curso. A maioria dos romances a ser encaminhados ao público feminino empenhava-se na construção de personagens com algum lustro, mas não perdiam a oportunidade de mantê-las fieis ao ideal burguês de família, à fé religiosa e às estruturas patriarcais.
A construção das leitoras se dava na órbita doméstica, porém as mulheres de carne e osso iam saindo de casa para o passeio público, os cafés, saraus e teatros, locais onde socializar discussões acerca do que tomavam conhecimento através dos jornais. Cuidados do lar, moda e
144 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
outros assuntos considerados “menores”, porque não diziam respeito à economia ou à vida político-social, confrontavam-se às leituras masculinas, destinadas a informar e preparar os dirigentes ou executores de ordens e serviços. De menos a mais e de mais a menos, o progressivo crescimento do número de leitoras contribuía ao consumo e à produção de romances no Brasil.
Nem tão somente em nosso país, mas em grande fração do mundo ocidental, entre o final do século XIX e início do XX, surgia a figura do consumidor que, acompanhando o surgimento da cultura de massa, respondia às necessidades de consumo geradas pela sociedade massificada. Os avanços tecnológicos permitiram que produtos quaisquer, antes artesanais, fossem fabricados em série, criando uma escala produtiva nunca vista anteriormente. Ao mesmo tempo, a sociedade se estratificou acompanhando o cenário de produção e consumo massificados.
Comprar bens duráveis ou efêmeros e adquirir serviços tornava-se uma regra geral para “sociedade de consumo”. Enchiam-se as galerias; depois, cinemas e lojas de departamento; mais tarde, parques de diversão, bienais de arte, shopping centers... Da rua, o consumidor vai para dentro de casa, a zappear ofertas entre mil canais de televisão, um milhão de clicks na internet. A aldeia se globaliza mais velozmente do que sonhávamos hoje depois do almoço.
FIGURA 94 - Tirinha do personagen Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino.FONTE: <http://4.bp.blogspot.com/-1gYgUrW8mV0/T-3LsP0HNgI/AAAAAAAACYg/CvUQNBe9-h8/s1600/mafalda-a-
influencia-tv.jpg>.
Aproveitando-se dessa euforia, a comunicação de massa direciona-se ao público através de mensagens que vão influir na concepção de felicidade e prazer dos indivíduos, com o claro objetivo de fazê-los consumir. Surge o processo de formação do gosto, compramos aquilo do que gostamos e, para gostar, precisamos conhecer. Não à toa, nas ruas, vitrines, telas de computadores, celulares e tablets pululam os modelitos
145
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
que vemos vestidos nas protagonistas de filmes, minisséries, telenovelas, geralmente ricas, afinal, “quem anda na moda, não se incomoda”, já dizia o dito popular. Tampouco é por nada que as prateleiras dos supermercados e os catálogos dos sites de compras estejam cheios daquele produto anunciado no horário comercial de alguma emissora à noite anterior.
Esses mecanismos são pesquisados pelo norueguês Jostein Gripsrud que, em 1995, investiga simultaneamente a recepção da minissérie Dinasty e os dispositivos usados por sua produção a fim de aumentar a audiência ao máximo possível. Também, pelo sueco Peter Dahlgren quando ao se voltar, em 1998, para os diálogos de televisão, e pelo dinamarquês Kim Christian Schroder que, em 2000, apresenta sua proposta de combinar seis critérios em pesquisa sobre pequenos grupos de receptores, a fim de compreender melhor e de forma mais aprofundada o pensamento acerca da recepção nos media:
A motivação designa o grau de apetite, de atração para consumir um texto ou um programa. A compreensão mede a concordância entre o sentido codificado e o sentido percebido. A noção de indiscriminação introduz um parâmetro relativo à familiaridade dos receptores com as gramáticas próprias a uma mídia, os jogos de intertextualidade que ele pode mobilizar (por exemplo, a compreensão de determinado esquete dos Guignols supõe conhecer a publicidade que ele imita). O posicionamento se interessa pelo grau de aquiescência do receptor à mensagem tal qual ele a percebe e se completa com uma noção de avaliação que busca captar as significações desse posicionamento, pois a impaciência com uma novela ou um programa pode surgir de razões contraditórias. Por fim, a variável de realização busca explorar a existência de efeitos e de influências de determinada recepção sobre os comportamentos e as atitudes (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 172-173).
Goste ou não goste, goste que se enrosque, o gosto nos classifica e aquilo que escolhemos para comer, beber, vestir, ler ou assistir fala sobre quem somos; é o gosto que condiciona as constantes tentativas das classes populares no sentido de ficarem parecidas com as classes altas, fazendo chapinha, pintando o cabelo de louro, por exemplo. Entram em jogo dois
146 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
fatores do modo de consumo: a questão do gosto e a busca pela distinção social, de forma que a marca, o nome, o preço etc. se tornam elementos que distinguem física ou simbolicamente o valor de determinados bens.
Nesse cenário, entra a estratégia ambígua da lei de consumo, pois ao mesmo tempo em que cria a ilusão de facilitar o acesso aos bens de consumo tangíveis ou simbólicos a todas as classes sociais, mantém a distinção tanto palpável quanto simbólica desses mesmos bens, pois as classes sociais de pouco poder aquisitivo dificilmente alcançarão o consumo pleno. Um dos paradoxos com o qual os Estudos Culturais então se defrontam é que sua excitação com a figura do consumidor passa a relegar a um segundo plano a figura do cidadão. A radicalidade não impedirá que muitos de seus pesquisadores despertem a cobiça de administradores, empresários, publicitários ávidos por instrumentos de domínio social “eficazes, eficientes e efetivos” no controle social e na conquista de audiências, consumidores, mercados, públicos et caterva.
A doutrina da “absoluta soberania do consumidor”, típica da ideologia liberal e, assim, do livre-comércio, se encaixa no perfil de um telespectador que exerce sua autonomia à simples troca dum ínfimo botão de seu controle remoto. Não é bem assim, e os programas oferecidos repetem enlatados nos horários de maior audiência, as concessões para funcionamento das emissoras, para venda de pacotes e outras demandas, subordinam-se a interesses políticos os mais vis e mesquinhos; temos exemplo claro disso no Brasil, em que canais religiosos e rurais ocupam grande parte da programação dos canais fechados. É nos fechados, pagos, que isso ocorre, nem vamos falar daquilo que rola nos abertos, públicos e gratuitos.
Cidadão marginalizado, pacato cidadão ou um Homer Simpsons das vidas vividas e televisivas, adormecido em sua poltrona, já não interpela os agentes de produção, o estatuto de consumo, o esvaimento do Estado-nação, cada vez mais integrado à sociedade pós-fordista e delirante com as imagens Full HD. Alta definição máxima, pura adrenalina, o produtor quer a todo segundo ser informado sobre o consumidor, mais um produto de consumo a aprimorar plim-plim by plim plim. Dia após dia, que à noite é show de bola e telenovela, tele tom ou tele tubbies. “Ligue já”, “ligue
147
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
já”, eu quero é tchu, eu quero tchá. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan tchan tchan...
Por ondas as mais sofisticadas, ocultam-se novos quilombos de Zumbi, a miséria da filosofia, os filhos da favela, mas quem gosta de miseráveis é intelectual; Victor Hugo, por exemplo. Em fevereiro, tem carnaval, megaevento seguido de outros megaeventos mês a mês, espicha verão, coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Presente para mamãe, namorada, namorado, papai, criança feliz e então é Natal. O ano termina e antes de nascer outra vez, os CDs e DVDs de meninos-prodígio que cantavam, mas perderam a voz ao crescer; apresentadoras de tevê mais infantis do que os próprios programas que apresentavam, e após consumirem tudo o que é ilegal, imoral ou engorda, agora, vejam só, cantam gospel. Nossas identidades tão pluralizadas em meio a pós-modernos, pós-estruturais e por aí vai, viraram migalhas, se fizeram pó. Plunct, plact, zum...
Tudo isso demonstra como a maneira de consumir interfere na formação de nossa identidade, que agora depende mais do que possuímos ou somos capazes de possuir do que das heranças culturais:
As transformações constantes nas tecnologias de produção, no desenho dos objetos, na comunicação mais extensiva e intensiva entre as sociedades – e o que disto se gera na ampliação de desejos e expectativas - tornam instáveis as identidades fixadas em repertórios de bens exclusivos de uma comunidade étnica ou nacional (CANCLINI, 1995, p. 14).
Estar feliz com o que se tem é a maneira hoje encontrada de afirmar nossa identidade num mundo globalizado no qual nem mais os bens de consumo nos diferenciam, pois os objetos já não pertencem mais a territórios específicos: um Ford pode ser fabricado no Brasil com peças de Taiwan; um filme dirigido por um brasileiro pode ser rodado na África, com atores de todas as nacionalidades no elenco. A cultura
148 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
passa a ser “um processo de ensamblado multinacional, uma articulação flexível de partes, uma montagem de traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião ou ideologia pode ler e usar” (CANCLINI, 1995, p. 16).
No entanto, esse caminho - no qual as identidades locais se apagam em favor de identidades globais - não é um labirinto sem saída; sempre há, no mínimo, uma de emergência. Podemos encontrá-la na resistência cultural e nos direitos à diferença. Atentar ao mundo que nos rodeia, analisar ações, gostos, entender os porquês e como se dão os processos sociais, culturais, econômicos e políticos, transforma-nos em cidadãos ativos, com voz e vez. Atentos ao universo social, estiveram ou ainda estão muitos estudiosos sobre a cultura. São diversos, para não dizer infinitos, os temas que podemos analisar sob o molde culturalista. Por isso, veremos a seguir como a análise da cidade e da cultura visual de massa pode nos viabilizar o entendimento das relações entre público e privado, do feminino e do feminismo, da mídia e do consumidor.
5.2 Da lama ao caos: a cidade e a cultura visual
A cidade é, antes de tudo, a configuração da terra: da lama ao caos, canta Chico Science (1999): “O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas/ que cresceram com a força de pedreiros suicidas/Cavaleiros circulam vigiando as pessoas/ não importa se são ruins, nem importa se são boas/E a cidade se apresenta centro das ambições/para mendigos ou ricos e outras armações/Coletivos, automóveis, motos e metrôs/trabalhadores, patrões, policiais, camelôs/ A cidade não para, a cidade só cresce/ O de cima sobe e o debaixo desce”.
149
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
“As origens da cidade são obscuras, enterrada ou irrecuperavelmente apagada uma grande parte do seu passado, e são difíceis de pesar suas perspectivas futuras” (MUNFORD, 1998, p. 09). Porém, ao conhecermos sua história, podemos optar por uma “nova cidade”: buscando melhorar a condição humana ou continuar nos modelos de lixo jogado às ruas, de esgotos a céu aberto, onde não canta o sabiá, mas passam nuvens de urubus.
A cidade, enquanto organização cultural, foi um elemento presente a partir da sedentarização do homem neolítico, lugar onde algumas estruturas e símbolos urbanos - como paredes e muros - já existiam. Nesse período, os ajuntamentos humanos eram “primitivos” - as chamadas aldeolas - nas quais, em espírito de comunidade e instinto de equilíbrio, vivia-se em condições de igualdade, sem tirar da natureza nem por nela nada mais do que o necessário. Ligação de algo parecido com o respeito mútuo, esse que falta no dia-a-dia dos que não dizem bom dia e passam com seus carros por cima de nossos pés, se por acaso deixarmos.
No nascimento da cidade, a mulher possuiu papel fundamental, pois lhe deu forma - cuidando dos jardins, das casas, das crianças. Além do mais, há uma relação delas com utensílios predominantes do neolítico: para guardar e conter, assim como as funções femininas: de mãe e amante, braços e pernas usados especialmente para conter e segurar;
Chico Science (1966-1997): músico e compositor pernambucano, responsável pelo Manguebeat, iniciado em 1991 na cidade do Recife, onde vários pontos da cidade se tornam núcleos de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo desse movimento é engendrar um “circuito energético” capaz de conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem-símbolo: uma antena parabólica enfiada na lama.Escute A cidade e assista o clipe disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=UVab41Zn7Yc>Para conhecer mais a obra de Chico Science assista:Movimento Maguebeat, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=E-H_sDlXWWw>.Mosaicos, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=9p8FzYSNlf0>.Chico Science, Especial MTV, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=Tn0sdmA_1PQ>.O beat de Chico Science, disponível em <http://vimeo.com/5700192>.Chico Science, Cultura 40 anos, disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=6UGhGgQu9lI&feature=relmfu>15 anos sem Chico Science, reportagem do Jornal da Tribuna – PE, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=pJZyywRvBVg>.
Saiba mais!
FIGURA 95 - Chico ScienceFONTE: <http://thumb.mais.uol.com.br/
photo/135100.jpg?ver=1>.
150 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
de reprodutora, órgãos internos como reentrâncias que contêm a vida. O aumento da produção dos alimentos e a necessidade de armazená-los, também a água, mostraram-se determinantes para a supremacia dos recipientes que permanecem úteis até hoje. A própria cidade nada mais é do que um recipiente de recipientes.
Entretanto, a relação com o feminino seria esquecida a partir do momento em que a preocupação com a segurança norteasse a vida humana na terra. A cultura neolítica uniu forças com a paleolítica, a exercer uma função de segurança para aldeias que exigiam um espírito ativo de caçador e lutador. O intercâmbio entre as duas culturas se deu no decorrer um longo período, no fim do qual, os processos masculinos venceram, pela força do dinamismo, as atividades mais passivas de alimentar a vida, que levavam a marca da mulher (Cf. MUNFORD, 1998, p. 33).
Essa perda de importância das forças femininas ainda é sentida nos dias atuais. Muitas mulheres estão submissas quer em casa a serviço do marido e dos filhos, quer no trabalho onde sua condição feminina resulta em árdua luta para a manutenção de seus direitos e em salários mais baixos. As mulheres têm de obedecer a um rígido padrão de costumes: formas de vestir, de comportamento e atitudes que, quando rompidas, geram uma série de preconceitos; as transgressoras passam a ser classificadas como deselegantes e vulgares, dentre outros rótulos a mais não poder.
A estrutura social se desequilibrou, o movimento feminista custou a chegar, só veio na cidade moderna, e não livre de preconceito, por parte dos machistas homens, também das mulheres aflitas, cegas pelo mito de Eva e por anos de dominação. E o que sabemos de Lilith? Retirada da Bíblia, como apagada do imaginário coletivo, o que foi feito dessa mulher forte e decidida? Além do mais, o movimento feminista é considerado por muitos como coisa de mulher mal amada, mal resolvida ou ainda homossexual; porque na regra geral, mulher mesmo é frágil e passiva, não se envolve em movimentos, não contesta o sistema; deveria saber o lugar dentro da sociedade que, por milênios, quiseram lhe dar.
Os direitos iguais, a custo adquiridos, implicam jornada de trabalho dobrado, casa e filhos, mais o serviço fora do lar. O caos está instaurado, segundo Fritjof Capra (1982), é através dele que chegamos
151
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
à ordem. Cabem às mulheres atitudes ativas e renovadoras, como fazem maestras, mestras, doutoras, ministras, presidentas. Seria a desvalorização do feminino, somada aos elos perdidos entre o homem e a terra, a responsável pelo atual desequilíbrio em que vivemos? Teria a cidade atual outra configuração, se terra e homem não tivessem deixado de ser aliados? Pelo sim, pelo não, uma civilização mais “orgânica” não faria mal a ninguém.
A cidade surgiu de uma nova relação da natureza com o homem que, ao ter de se fixar, exerceria o domínio sobre a terra, organizando o espaço e a produção coletiva. Em aldeolas e aldeias, havia o espírito comunitário, interesses comuns a todos. A partir do momento em que os interesses se individualizaram e a posse da terra se tornou fundamental, a organização espacial e dos produtos se hierarquizou, as divisões deixaram de ser equitativas para atender a interesses de pequenos grupos. Foi assim com os egípcios, gregos e romanos, que se alimentavam da escravidão declarada; com a sociedade feudal, onde os servos não eram escravos, mas deviam total submissão a seus senhores; com o mundo renascentista, de regras ditadas pelo poder monárquico e religioso.
É assim até hoje, desde quando os burgueses tomaram o poder e aperfeiçoaram o sistema capitalista de vida. Já não somos mais escravos declarados, temos chuveiro elétrico, televisão e outros pequenos prazeres. Vivemos, contudo, numa escravidão velada, submetidos diariamente às regras do consumismo e da ambição, que definem o aspecto dos espaços íntimos e coletivos, das formas de comportamento. O individualismo e a competição erguem inimigos a cada esquina, seja o estrangeiro que vem de fora, seja o irmão que dentro não deve entrar: “Nós passa a ser um ruidoso enxame de Eus” (MUMFORD, 1998, p. 22).
Esses tipos de relacionamento interpessoal, a cada dia, mais se exibem nos meios de comunicação de massa, por exemplo, no programa Big Brother, onde o coletivo só existe como forma de interesses individuais, evidenciando o mórbido prazer que sentimos quando podemos eliminar alguém. Se o outro não é visto como inimigo, passa despercebido, pouco importando a sua existência. Assim sendo, subimos nos ônibus todos os dias, quase sempre vemos as mesmas pessoas, não imaginamos nem nos interessa saber quem são elas; o que fazem; no que pensam. Podemos até
152 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
reparar em suas roupas, seus cabelos, mas nada que prenda a atenção por mais do que alguns segundos, um olhar tão passageiro quanto nosso breve tempo naquele veículo.
Assim se configuram as relações humanas em ambientes públicos, onde a vida de vários se entrelaça, toma novos formatos; o nome ainda é o mesmo, mas o ser público se perde. Cada um se isola na própria existência, viaja sozinho nos ônibus ou na internet. Nas filas de espera, ninguém se olha, o próximo é um adversário, um estorvo. A relação de competitividade e de aparências se expande às relações sociais básicas, à comunicação interpessoal. Daquele ser humano sobre o qual aprendemos ter o polegar opositor e a capacidade de pensar, que o diferiam dos outros animais, agora sabemos caracterizar-se por viver sozinho, apesar de suas natas aptidões para conviver, bem e feliz, com um exército de aparelhos eletrodomésticos, alguns deles, completamente inúteis.
Paradoxalmente, vem a necessidade de colocar a vida privada no meio público, fazer jus aos 15 minutos de fama preconizados por Andy Warhol. Bate outra vez o gigantesco prazer em ver pessoas enfrentando situações “reais” ou “difíceis”, aquela velha morbidez com a qual nos deleitamos frente ao sentido contemporâneo da palavra tragédia. Na presença de mortos ou feridos, esse “show” de realidade grassa pelos meios de comunicação de massa. Exemplos não faltam: vídeo cassetadas do “Faustão”, acidentes como simples palhaçadas; os programas Linha Direta e Aqui e Agora, crimes na bandeja do café, sangue muito-sangue no telejornal; as fazendolas fake e as casas de artistas, monitoradas 24 horas por dia, quartos e banheiros inclusive. Por detrás dos conceitos invertidos de público e privado, os mesmo seres humanos de antes da inversão, mas pasteurizados como o leite na caixa, desnatado.
153
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Tantas as referências, as modas, extravidadas antes mesmo de podermos ser atuais, que se reatualizar torna-se imperativo. Fechados em nós mesmos, parecemos estar mesmo de passagem, como a canção de Branco Mello e Arnaldo Antunes na voz de Marisa Monte (1991): “Eu não sou da sua rua/Eu não sou o seu vizinho/Eu moro muito longe, sozinho./Estou aqui de passagem/Eu não sou da sua rua/Eu não falo a sua língua/Minha vida é diferente da sua/ Estou aqui de passagem/ Esse mundo não é meu/Esse mundo não é seu”.
A solidão, a perda da crença no coletivo, a falta de contato, o isolamento pelo qual passamos é paradoxal quando confrontado com a globalização que diz querer tudo único, igual, sob o emblema “o mundo de mãos dadas”. Façam o que digo, não façam o que faço, diz o lema popular; o que se faz não é o que realmente se quer. Nesse falatório, simples mortais, nos perdemos numa imensa multidão, acreditando cegamente no individualismo remasterizado de fragmentação, como se não houvesse mais nada em que acreditar. Cadeados nos poros, trancamos até a epiderme: sol dá câncer, buraco negro na camada de ozônio, um gás que pode ser engarrafado e, como não, vendido.
A homogeneização cultural está mais do que em voga como neste século XXI. Mais do que nunca, faz-se presente o mito da Megalópolis de Lewis Mumford que, na década de 1960, já teoriza sobre as consequências
Andrew Warhola, mais conhecido como Andy Warhol (1928-1987): Pintor norte-americano e figura central do movimento artístico conhecido como Pop Art. É quem mais se atém à documentação objetiva dos fetiches-símbolos da civilização de consumo (ARGAN, 1992, p. 688). Ficou famoso pelos seu trabalhos como ilustrador, desenhador gráfico, pintor, cineasta, produtor musical, escritor e escultor, além das suas relações com intelectuais, celebridades e aristocratas. É reconhecido como um dos artista mais famosos do século XX.Para saber mais assita os filmes:Cocaine Cowboys. Direção de Uli Lommel, 1979, 87 min.Doors (The Doors). Direção de Oliver Stone, 1991, 140 min.Basquiat, traços de uma vida (Basquiat). Direção de Julian Schnabel, 1996, 108 min.Eu disparei em Andy Warhol (I shot Andy Warhol). Direção de Mary Harron, 1996, 103 min.Absolut Warhola. Direção de Stanislaw Mucha, 2001, 80 min.Andy Warhol: a documentary film. Direção de Ric Burns, 2006, 240 min.Também assista os vídeos on-line:Andy Warhol, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=_UGUYiU8BDQ>.Andy Warhol acreditava no sonho americano, disponível em <http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=andy-warhol-acreditava-no-sonho-americano-diz-curador-0402983762C8B98326>.
Para conhecer
FIGURA 96 - Andy WarholFONTE: <http://www.lpm-blog.com.br/wp-content/
uploads/2011/11/andy.jpg>.
154 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
advindas de grandes metrópoles que ditam modas e costumes, inferiorizam e descartam como provinciano tudo o que se diferencie dos hábitos dos grandes centros, como nos relembra poeticamente Chico Science (199-): “Ilusora de pessoas de outros lugares a cidade e sua fama vai além dos mares/No meio da esperteza internacional a cidade até que não está tão mal/E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos/A cidade não para, a cidade só cresce/O de cima sobe e o debaixo desce”.
Esses hábitos intensificam-se pela ação dos mass-media, o descendente do masscult, que significa cultura de massa de nível inferior; embora “lance mão de padrões e modos das vanguardas, na sua irrefletida funcionalidade não levanta o problema de uma referência à cultura superior, nem para si, nem para a massa dos consumidores” (ECO, 1998, p. 81). Para Jaime Brihuega (1997), o mass-media é o correspondente da cultura contemporânea: o que estrutura a comunicação visual de massas produzida através dos meios icônicos de massa. Seu principal meio, ou pelo menos o mais influente nos dias atuais, por seu fácil acesso, é a televisão que homogeniza tudo como o leite aquele em tetra-pack. Nessa espécie de embalagem para uso em larga escala, papelão, metal e plástico, a fim de durar mais como Rayovac (a pilha do gato), o leite é encontrado, reencontrado, consumido como a TV em qualquer lugar do globo, até mesmo no mundo rural.
Consumimos todas as formas de enlatados, não importando quais serão os resultados da absorção e digestão desse way of life. As culturas locais estão sufocadas em prol de uma cultura tão universal como o reino de Deus. Somos átomos na massa descartável em meio à qual, a arte se relaciona intrinsecamente com a cidade (Cf. ARGAN, 1998; PEIXOTO, 1996) e isso ocorre desde os princípios da urbe. As “paisagens urbanas” contemporâneas requerem uma arte que envolva o povo e dessa maneira se torna/é Kitsch, porque vem para agradar - quer como consumo direto, quer como publicidade, ou ambos - a maior quantidade de pessoas, sem valorizar a qualidade. Brihuega (1997) e Mumford (1998) salientam essa excessiva preocupação quantitativa e o esquecimento qualitativo que rege a atualidade, um descendente direto do modo de pensar capitalista, dinheiro e lucro acima de tudo.
155
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Nem sempre foi assim, porém. Até as Idades Médias, outros valores eram levados em conta, como a individualidade do artesão e a qualidade de seu trabalho. Quando as relações de trabalho começaram a se desvalorizar, o que atinge seu ápice na era industrial, tais valores foram trocados pela quantidade impessoal. As consequências dessa troca aí estão nos produtos de baixa qualidade que consumimos, nas modas que seguimos, nas porcarias que comemos com a marca do big e do max. Eis o império do midcult, corrupção e corruptela da alta cultura, um bastardo do masscult: “sujeito aos desejos do público como o masscult está, mas, na aparência, convida o fruidor a uma experiência privilegiada e difícil” (ECO, 1998, p. 83).
A submissão a esse império e a seus imperadores faz tabula rasa, igual tudo como todas e todos, remetendo a cidade contemporânea a “Trude”, uma das cidades invisíveis de Italo Calvino, que se diferenciava das demais somente pela placa com seu nome no aeroporto: “Pode partir quando quiser - disseram-me -, mas você chegará a uma outra Trude, igual ponto por ponto; o mundo é recoberto por uma única Trude, que não tem começo nem fim, só muda o nome no aeroporto” (1990, p. 118).
Tudo se iguala, em maior ou menor grau, uma esquina de São Paulo reflete Chicago City. Nas duas e em outras mais, o Mac Donalds ao lado de um outdoor da Coca-cola. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte e a cultura que engolimos é praticamente toda ela norte-americana; soap opera é altamente indicado para lavagem cerebral. O que nos alimenta ao mesmo tempo nos consome, ciclo vicioso, infindável, invencível, sem feed-back algum e tampouco retorno ou troca. Nada de usar o termo estrangeiro até o fim de nossos sonhos devorados. Nós, como a dura poesia concreta das esquinas, também nos igualamos; o que parece ser ordeiro é caótico, e “a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes quando não somos mutantes” (VELOSO, 1978). O caos é o “ponto de mutação”, o local de encontro do qual precisamos para voltar a ser nada mais nada menos do que a impura lama.
156 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
5.3 Das esferas públicas e dos domínios privados
Os conceitos de “esfera pública” e de “esfera privada” existem desde a Antiguidade, no entanto, à medida que as estruturas e relações sociais se tornavam mais complexas, os significados para ambos os termos foi sendo atualizado, acompanhando as transformações da sociedade ao longo do tempo. Será a Modernidade a responsável por separar efetivamente o público do privado, ao estabelecer limites claros do que correspondia ao Estado e à sociedade. Nesse sentido, a família, o trabalho e os negócios se afirmariam no âmbito privado. Por sua vez, a política e o Estado seriam do âmbito público, que teria primazia sobre o privado e no qual prevaleceria, ao menos teoricamente, o interesse coletivo.
Portanto, como espaço público, entende-se o conjunto das instituições públicas, midiáticas, nas quais uma sociedade se visibiliza, organiza o debate sobre seus valores e seu funcionamento, sendo essa a esfera da coletividade e do exercício do poder. Por outro lado, o espaço privado é o domínio do particular, do individual. De acordo com o sociólogo americano Craig Calhoun (citado por BOURDIEU; COLEMAN, 1991), esses espaços se complementam, contestando a percepção hiper-racionalista de Habermas, provinda do ideário francês do Século das Luzes.
O espaço público pode ser entendido como forma de mercado identitário, de estrutura de exibição e de ofertas em que, através dos discursos políticos, o fluxo de informação, os produtos culturais e mesmo as modas, circulam modelos de realização, a valorização de comportamentos, de séries de identidades (gay, negro, rural, muçulmano). É a partir desses padrões que tomam forma e operacionalidade, numa constante mistura dos afetos e da racionalidade, processos que se responsabilizam por construir os coletivos, as combinações frequentes de individualidades com alteridades (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 110).
157
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
A mistura da esfera privada na pública foi e segue sendo um dos maiores problemas da América Latina. No Brasil, essa indistinção responsabilizou-se pelo aspecto que o antropólogo brasileiro Sérgio Buarque de Hollanda (1902-1982), em seu livro Raízes do Brasil, identificou como “cordialidade”. Nesse sentido, o “homem cordial” não pode ser confundido com a pessoa gentil, pois é aquele que, agindo com o cor, palavra latina para coração, transforma o espaço público numa extensão de sua vida privada, familiar, íntima; a repartição pública, em extensão da sala de visitas da própria casa. É por meio desse mecanismo que são feitos concursos de cartas marcadas, que ocupações de cargos se fazem determinar pelo pistolão e pelo Q. I. (“Que indica”). Dessa forma, o mérito e o profissionalismo deixam de ser reconhecidos para benefício das apadrinhagens, seguindo o lema: “para os amigos, tudo; para os inimigos, os rigores da lei”.
O famoso “jeitinho brasileiro” decorre da cordialidade, essa tendência ao informal, a passar por cima das leis que assim não ganham moral alguma para serem aplicadas e respeitadas, em nome do “amigo do amigo do amigo”. Uma vez que, desde a colonização, as ordens vêm de cima, sem discussão entre os membros da sociedade, a legislação e a ordem adquirem certo artificialismo: existem, mas quando cumpridas, não se aplicam a todos; quem pode mais, chora menos. O comércio, o tráfico de influências, o “sabe com quem está falando” se beneficiam quando as elites econômicas e políticas burlam as penas legais ou as punições exemplares como prova de sua “extrema bondade e magnitude”. Tanta fé dada e concedida exigiria depois reciprocidade: um favor, um voto, uma campanha política e por aí vai, em gestos corruptos que até hoje nos sangram as veias e nos envergonham.
No entanto, alguma incerteza quanto aos limites entre o público e o privado, de outra parte, permite uma recente articulação entre indivíduo e sociedade. Como já sabemos, o modelo de Habermas separa o individual e o social, o privado e o público, oferecendo lugar de destaque à opinião pública burguesa. Fiel ao espírito iluminista recondicionado pelos ares modernos, o filósofo alemão devota uma crença inestimável na racionalidade literária. Dos agrupamentos de cidadãos em academias, cafés, centros, clubes etc. a partir do século XVIII, resultaria a formação
158 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
dos raciocínios, tanto político quanto literário, sendo esse alimentado “pelas novas formas autobiográficas, o romance na primeira pessoa, o gênero epistolar. A paixão pela relação entre pessoas, a descoberta intersubjetiva de uma nova afetividade, unia-se assim ao hábito da polêmica e da discussão política, prenunciando os espaços futuros de representação (ARFUCH, 2010, p. 88).
Essa lógica, de acordo com a qual, as pessoas físicas, o privado, influenciavam o domínio público, tendo em mira o bem comum, seria alterada a partir da difusão dos meios de comunicação de massa, responsáveis pelo descontrole da fiscalização racional do poder, exercida na esfera pública burguesa, e de certo deslize aos domínios mais do que privados, íntimos. A confusão dos papéis no que diz respeito ao privado e ao público tem mesmo efeitos nefastos, principalmente na política, como demonstramos ao tratar da cordialidade. Ao lado da midiatização e da globalização do consumo, isso causa desconfortos de vários tipos.
Entretanto, na medida em que as pessoas excedem suas individualidades para figurarem como expressão de condutas e modelos coletivos, põem a mostrar uma forma de relacionamento entre o individual e o social mais estrita do que se poderia pensar. Esse é o tema privilegiado pelo pensador holandês Norbert Elias (1897-1990) para quem, indivíduo e sociedade não se confrontam, mas vivem em relação de interdependência. Em seu livro intitulado A sociedade dos indivíduos (1994), o estudioso infere que os sujeitos constituem-se pelas redes de interações que existem antes deles mesmos: “assim como numa conversa ininterrupta as perguntas de um entranham as respostas do outro e vice-versa [...] Assim a linguagem dos outros faz nascer também no sujeito que cresce algo que lhe pertence inteiramente como próprio [...] que é sua língua e que é ao mesmo tempo o produto de suas relações com os outros” (p. 71-72).
Nesse trecho, não por acaso, bastante similar ao pensamento de Mikhail Bakhtin, já que ambos compartilham de leituras e teorias semelhantes em suas formações, notamos que, num processo histórico no qual está constantemente a conhecer e reconhecer, a conhecer-se e a se reconhecer, o ser humano em sua intimidade, particularidade, privacidade, não parece mais configurar-se numa singularidade ímpar que o mundo
159
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
social virá ameaçar e surrupiar. Sua configuração dá-se em meio a uma rede de laços e entrelaces, de entrecruzamentos e inter-relacionamentos sociais; é desse núcleo complexo que o eu sempre vai surgir e aí mesmo é que se inscreve, se escreve, por vias literárias, mediáticas e outras, marcando suas posições de sujeito. Aprofundaremos esse tema em nossa próxima e última aula, um espaço público, virtualizado, mas também bastante real, repleto de gente como a gente.
6 ATIVIDADES
1. Resuma a trajetória dos Estudos Culturais, considerando: os antecessores; os “pais fundadores”; as atividades do CCCS de Birmingham; os distintos modos pelos quais são recebidos nos Estados Unidos e na América Latina. Encaminhe seu trabalho ao tutor.
2. Como as reflexões de Beatriz Sarlo e Néstor García Canclini se relacionam com esse caminho percorrido pelos Estudos Culturais? Discuta suas respostas no chat.
3. O diretor brasileiro Marcelo Masagão inspira-se na obra historiográfica Era dos extremos, do historiador britânico nascido no Egito Eric Hobsbawn (1917-) para produzir seu filme Nós que aqui estamos por vós esperamos (1999), disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=maDnJcVbAoQ>. Em impressionante trabalho de montagem, com imagens produzidas no século XX, acompanhadas da impactante música de Wim Mertens, o cineasta mostra os contrastes dessa época. Assista ao vídeo e, considerando o que você aprendeu no quarto e no quinto subcapítulos desta unidade, comente-o na Plataforma Moodle.
4. Escute “Divino Maravilhoso” (VELOSO; GIL, 1969), interpretada por Gal Costa, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=emc1Oaop_z8>. Discuta no chat as relações possíveis entre essa canção popular e o processo por meio do qual as identidades se globalizam. Atente à letra; mesmo quando todas as luzes estejam apagadas, é preciso atenção, muita...
160 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Atenção ao dobrar uma esquina
Uma alegria, atenção menina
Você vem, quantos anos você tem?
Atenção, precisa ter olhos firmes
Pra este sol, para esta escuridão
Atenção
Tudo é perigoso
Tudo é divino maravilhoso
Atenção para o refrão
É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte
Atenção para a estrofe e pro refrão
Pro palavrão, para a palavra de ordem
Atenção para o samba exaltação
Atenção
Tudo é perigoso
Tudo é divino maravilhoso
Atenção para o refrão
É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte
Atenção para as janelas no alto
Atenção ao pisar o asfalto, o mangue
Atenção para o sangue sobre o chão
Atenção
Tudo é perigoso
Tudo é divino maravilhoso
Atenção para o refrão
É preciso estar atento e forte
(VELOSO; GIL, 1968).
161
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
5. Assista ao capítulo de uma telenovela do momento ou a um programa de televisão, analisando-o criticamente. Poste sua crítica na Plataforma Moodle.
6. Leia o artigo “Mafalda e a televisão: a comunicação de massa nos quadrinhos de Quino” de Camila da Graça Sandoval, disponível em <http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_12/contemporanea_n12_13_camila.pdf> e realize uma análise crítica das tirinhas do cartunista brasileiro André Dahmer. Disponibilizamos algumas delas, mas você pode encontrar mais material na página web do autor: <http://www.malvados.com.br>. Encaminhe seu trabalho ao tutor.
7. Navegue pelo site colaborativo voltado à cultura brasileira Overmundo, disponível em <http://www.overmundo.com.br/>. Qual a sua opinião sobre a proposta desse projeto? Você tem vontade de colaborar? Converse sobre isso no chat.
FIGURA 97 - Tirinhas dos Malvados, André Dahmer.FONTE: <http://www.malvados.com.br/tirinha1626.jpg / http://www.malvados.
com.br/tirinha1627.jpg / http://www.malvados.com.br/tirinha1622.jpg>.
162 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
8. O site Obvious (http://obviousmag.org/) tem publicações muito interessantes sobre diversos temas culturais. Leia alguns posts. Escolha um tema e escreva sobre o que você gosta, procure imagens para ilustrar o seu post. Publique no fórum da Plataforma Moodle. Leia os posts dos colegas. Discutam sobre os posts no fórum.
7 RESUMINDO
Nesta aula, enfocamos os Estudos Culturais a partir de pesquisas antecedentes, voltadas à crítica, sobretudo literária, à cultura, à política e à sociedade; dos assim denominados “pais fundadores” e do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos de Birmingham. Durante a expansão do sistema universitário britânico, no período de 1964 a 1980, os culturalistas levam a cabo uma efervescência produtiva, seus textos são traduzidos e suas reflexões, discutidas, quando não adotadas, nos departamentos universitários ou fora deles, dentro do Reino Unido e fora dele.
Os Cultural Studies vêm ao encontro dos problemas de definição, síntese e métodos, enfrentados pela historiografia e a teoria literárias. Preenche-se o sentimento de vazio causado pelo fracasso dos britânicos em não terem desenvolvido uma corrente marxista ou uma crítica sociológica dotadas de identidade própria. Alargam-se os objetos de pesquisa da história e da literatura, contemplando até mesmo suas inter-relações auto-questionadas.
Alianças entre a prática e o processo reflexivo levam a análises da cultura de massa, da cultura popular e da indústria cultural, das relações entre o espaço público e a esfera privada, o que toma o nome de estudos sobre cultura na América Latina. No entanto, a banalização dessa perspectiva nos Estados Unidos vai degenerar em multiculturalismo. No Brasil, importamos Estudos Culturais, estudos sobre cultura e multiculturalismo.
Isso tudo no plano de um teoricismo chic, a preencher vazios deixados pelo fim do estruturalismo e suas análises bem casadinhas. Na prática, um processo semelhante ao que aconteceu na Inglaterra entre as
163
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
décadas de 1960 e 1980 apenas agora começa a se pronunciar em nosso país, com a expansão do sistema universitário e das escolas técnicas, a disseminação do ensino à distância etc. Resta ver se continuaremos a injetar a ideologia da classe média canônica e elitista nas mentes de jovens e adultos oriundos das classes populares. Antes consistir um vão desafio, mantê-los nas instituições e interessados pelos estudos é um compromisso social.
8 REFERÊNCIAS
ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Campinas: Pontes, 1990.
ANDRADE, Débora El-Jaick. Escrita da história e política no século XIX: Thomas Carlyle e o culto aos heróis. História e Perspectivas, Uberlância, 35, p. 211-246, jul.dez. 2006. Disponível em: <http://www.historiaperspectivas.inhis.ufu.br/viewissue.php?id=4>. Acesso em agosto de 2012.
ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Tradução de Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BRIHUEGA, Jaime. La cultura visual de massas. In: RAMIREZ, J. A. (Org). El mundo contemporáneo. Madrid: Alianza, 1997. p. 395-447.
BORDINI, Maria da Glória. Estudos culturais e estudos literários. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 11-22, 2006. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/610/441>.
BOURDIEU, Pierre; COLEMAN, James (Eds.). Social Theory for a Changing Society. Boulder: Sage, 1991.
164 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
CANCLINI, Néstor García. Estudos sobre cultura: uma alternativa latino-americana aos cultural studies. FAMECOS, Porto Alegre, n. 30, p. 7-15, ago. 2006. (Entrevista concedida a Ana Carolina Escosteguy). Disponível em: <http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/view/486/410>.
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. Tradução por Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: EDUSP, 2003.
CANCLINI, Néstor García. Culturas hibridas y estrategias comunicacionales. Seminario Fronteras Culturales; Identidad y Comunicación en America Latina. Universidad de Stirling, out. 1996.
CANCLINI, Néstor García. Consumidores y ciudadanos: conflitos multicuturales de la globalización. D. F. , México: Grijalbo, 1995.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.
CHICO Science & Nação Zumbi. Da lama ao caos. Manaus: Sony, 199-. 1CD, digital, estéreo. Acompanha livreto.
DE MARCO, Valéria. Literatura de testemunho e violência de Estado. Lua Nova, São Paulo, n. 62, p. 45-68, 2004.
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1998.
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Cartografias dos estudos culturais: uma versão latino-americana. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Uma introdução aos estudos culturais. Famecos, Porto Alegre, n. 9, p. 87-97, dez. 1998.
165
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Os Estudos Culturais,seus limites e perspectivas: o caso da América Latina. Blog da autora, 2000. Disponível em <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=205>.
JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1997.
JANUS. Pensamento Pós-colonial. Anuário Janus, 2010. Disponível em: <http://janusonline.pt/popups2010/2010_3_1_7.pdf>. Acesso em julho de 2012.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1996.
MANGUEL, Alberto; SOARES, Pedro Maia. Uma história da leitura. São Paulo: Cia das Letras, 1997.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Pensar la sociedad desde la comunicación. Un lugar estratégico para el debate de la modernidad. Revista Diálogos de la Comunicación, Federación de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), n. 32, 1992, p. 28-34. Disponível em: <http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/32-revista-dialogos-pensar-la-sociedad-desde-la-comunicacion.pdf>. Acesso em julho de 2012.
MATTELART, Armand; NEVEU, Érik. Introdução aos estudos culturais. São Paulo: Parábola, 2004.
MONTE, Marisa. Mais. Manaus: EMI, 1991. 1 CD, digital, estéreo. Acompanha livreto.
MUMFORD, Lewis. A cidade na história. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MUZART, Zahidé Lupinacci. Pedantes e bas-bleus: a história de uma pesquisa. In: MUZART, Z. L. (Org). Escritoras brasileiras do Século XIX. Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz do Sul; EDUNISC, 1999.
166 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens urbanas. São Paulo: SENAC, Marca D’água, 1996.
PIANOWSKI, Fabiane. Caos urbano: a estética pós-moderna em Amores perros. Revista Observaciones Filosóficas, v.6, 2008. Disponível em: <http://www.observacionesfilosoficas.net/caosurbano.html>. Com acesso em julho de 2012.
SAMUEL, Rogel. Novo manual de teoria literária. Petrópolis: Vozes, 2002.
SARLO, Beatriz.Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000.
STOREY, John. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. London: Prentice Hall/Harvest Wheatsheaf, 1997.
VELOSO, Caetano. Sampa. In: VELOSO, Caetano. Muito - dentro da estrela azulada. São Paulo: Philips, 1978. 01 CD.
VELOSO, Caetano; GIL, Gilberto. Divino Maravilhoso (1968). In: COSTA, Gal. Gal Costa. São Paulo: Phillips, 1969. 01 CD.
167
7U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Estudos Culturais e Literários
Suas anotações
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
ESPAÇO BIOGRÁFICO: CONSUMO, HISTÓRIA,
CULTURA
OBJETIVOS
Ao final da presente aula, você será capaz de:
• definir o espaço biográfico e compreender as diferenças entre dois de seus gêneros: autobiografia e biografia;
• entender os conceitos de pacto autobiográfico, autobiografia, autobiografismo, biografia e biografismo;
• interpretar os gêneros do espaço biográfico a partir do enfoque dos Estudos Culturais, tendo em mente a importância da recuperação da história para essa perspectiva;
• analisar textos que correspondem a esses gêneros e suas formas híbridas, como o romance biográfico, além de comportarem o autobiografismo;
• compreender a diferença entre os conceitos de emissão e recepção e a sua importância na análise literária.
8ªunidade
Leitura recomendada
ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: mapa do território. In: ARFUCH,
Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea.
(Trad. Paloma Vidal). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. p. 39-73.
CHIARA, Ana Cristina de Rezende. O espaço biográfico de Leonor Arfuch:
uma nova leitura dos modos como vidas se contam. Matraga, Rio de
Janeiro, v.14, n. 21, jul./dez. 2007, pp. 165-169. Disponível em: < http://
www.pgletras.uerj.br/matraga/matraga21/arqs/matraga21r01.pdf>.
1 INTRODUÇÃO
Agora que já sabemos como funcionam os Estudos Culturais e os estudos sobre cultura, analisaremos alguns textos por meio dessas perspectivas. Para tanto, compreenderemos o “espaço biográfico”, percebendo semelhanças e diferenças entre dois de seus principais gêneros: autobiografia e biografia, que não se confundem com autobiografismo e biografismo. O primeiro texto analisado é o “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda” (1640) do padre Antônio Vieira, obra histórica e literária, mas que também se marca pelo autobiografismo. Outra fonte de análise é o romance biográfico Major Calabar (1960), texto híbrido de João Felício dos Santos, no qual o autor transita tanto pelos espaços biográfico e histórico ao trazer igualmente à tona o período em que o Brasil foi invadido pela Holanda, um mesmo fato histórico lido e contado de maneiras bem diferentes.
Finalmente, a análise volta-se para a obra literária de Mario Vargas Llosa, O paraíso na outra esquina (2003), que se enquadra no mesmo subgênero do romance biográfico. No texto de Llosa, encontramos importantes marcas dos estudos sobre cultura: combinação entre pesquisa e engajamento, interdisciplinaridade, preocupação histórica,
171
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
renovação dos objetos e problemas da cultura. O paraíso é aqui mesmo? Não, é logo ali na outra esquina...
2 GÊNEROS DO ESPAÇO BIOGRÁFICO, BIOGRAFIA E BIOGRAFISMO
O “espaço biográfico”, definido da seguinte maneira por Leonor Arfuch (2010) “- confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes de expectativa – supõe um interessante campo de indagação; permite a consideração das especificidades respectivas sem perder de vista sua dimensão relacional, sua interatividade temática e pragmática, seus usos nas diferentes esferas da comunicação e da ação”. Apesar de encontrarem variados desdobramentos na contemporaneidade, múltiplos gêneros e espécies (auto)biográficas comungam da característica de veicularem “narrativas do eu”, quer dizer, de contarem, embora de diferentes maneiras, uma história ou experiência de vida.
O espaço biográfico foi tomando formato próximo a sua configuração atual a partir do estabelecimento da autobiografia, da biografia, das confissões e gêneros semelhantes, como o diário íntimo, a partir do final do século XVII. Ponto importante nesse percurso foi a ideia de uma personalidade em desenvolvimento, conforme figura nas Confissões (1770) de Jean-Jacques Rousseau. As noções de indivíduo e vida privada contribuiriam ao sucesso dos gêneros autobiográficos e biográficos, o qual apenas iria enfrentar breve declínio entre o final do século XIX e princípios do século XX, quando a historiografia passasse a se preocupar cada vez mais com o documento e a objetividade, para retomar força no período compreendido entre as duas guerras mundiais.
Cabe lembrar que um gênero somente se define quando apresenta relativa estabilidade e se faz reconhecer enquanto tal por uma comunidade de receptores. Assim, enquanto gênero discursivo instituído, a biografia se assenta na narrativa para “mostrar” eventos relativos a uma determinada pessoa, que viveu fatos e acontecimentos, dentro de uma conjuntura histórica. Valendo-se tanto de fontes documentais e testemunhos quanto da interpretação e da narrativa, o gênero biográfico oscila ente
172 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
os dois polos anunciados por François Dosse (2009), pois os recursos da pesquisa, da procura em arquivos e fontes verídicas, assim como a narração, realizadas por um biógrafo, se entrecruzam com o as tessituras do discurso da ciência histórica e também do discurso ficcional, levado a cabo por um romancista.
Dosse (2009, p. 55) ressalta que a biografia, assim como a narrativa de ficção, se situa em dois níveis: a) na tensão constante entre a vontade de reproduzir, segundo as regras da mimese, o passado real vivido, b) no polo imaginário do biógrafo que deve recriar, segundo sua intuição e suas competências criativas, um universo perdido. Situado entre a representação histórica e as vidas imaginárias, o gênero biográfico se caracteriza por nascer de uma indefinição epistemológica, misturando erudição, criatividade literária e intuição psicológica; na contemporaneidade, mais do que nunca, revela-se como um gênero de fronteira, situado entre a história e a ficção, a realidade e a imaginação, denotando que o real e o verossímil separam-se por uma linha muito tênue (Cf. AGUIAR; MEIHY, 1997).
O tema a ser tratado pelas biografias – vida individual, história de uma personalidade – requer que a personagem representada no interior do texto e seu referente extratextual sejam vistos a partir da categoria da semelhança. O inter-relacionamento protagonista-modelo se articula por meio das informações dadas pelo narrador, devendo visar a um elevado grau de exatidão. Se os historiadores narram, assim como também fazem os romancistas, o que se narra na biografia? Para respondermos à pergunta, necessitamos entender o gênero em seu trânsito entre o romance, o relato histórico e o testemunho, em meio ao qual, o ajuste a uma cronologia, a invenção de um tempo narrativo e a interpretação minuciosa de documentos aliam-se à figuração de espaços reservados, somente atingida pela pessoa que viveu os fatos e, como esses, precisa ser narrada.
É preciso estabelecer que uma narrativa biográfica se identifica pela narração retrospectiva, em terceira pessoa e sob uma perspectiva ampla. Assim, o tempo narrado pode retroagir a muitos anos, abarcando a infância, as primeiras experiências, a educação, a juventude, dentre outros momentos afastados temporalmente, na vida do sujeito
173
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
biografado. O gênero biográfico difere de outros gêneros que compõem o espaço biográfico, como a autobiografia, o diário íntimo, as memórias e o romance autobiográfico, porque o narrador não fala dele próprio, mas de um outro, deixando suas impressões no sujeito do enunciado.
Em uma narrativa biográfica, deve ser respeitada a temporalidade do discurso. A vida do biografado deve ser colocada de maneira gradual em diferentes etapas. Isso exigirá que o autor selecione momentos a serem citados e despreze outros, irrelevantes à história do sujeito que, no texto escrito, passa a ser uma personagem. O narrador dá, para esse protagonista, o nome verdadeiro da personalidade histórica ou apelidos e outras formas pelas quais a pessoa real era conhecida. Como não há identidade entre narrador e personagem, o biografado fala por seus atos, que vêm a lume através de depoimentos, documentos, entre demais recursos de escrita e pesquisa. O biógrafo normalmente destaca aspectos culturais, morais, sociais, políticos etc.
Na definição do conceito de biografia, ainda se faz necessário mostrar que, entre seus vários tipos, existem duas modalidades fundamentais: analítica, que se desenvolve sob forma ensaística, interpretativa, na qual, a rigor, não há um elenco de fatos centrados no desenvolvimento de uma existência ao longo do tempo; b) narrativa, na qual os fatos marcantes e inclusive desvios a determinada normalidade dizem respeito à história de uma vida revelada por atos narrativos sobretudo, embora possa haver amparo em cartas, fotografias etc.
Para levar a cabo a realização de uma biografia que seja, no mínimo, satisfatória, o autor necessita de abundante material sobre a vida do ser histórico a ser biografado. Dessa maneira, é possível “conjeturar se uma grande biografia depende de haver muitas outras antes, assim como depende da acumulação de um acervo especializado, afora uma tradição de pesquisa de arquivo, da preservação de originais, de rascunhos, de apontamentos, que a nova disciplina da genética mais tarde privilegiaria” (GALVÃO, 2005, p.118).
Precisamos entender também que biografia não é sinônimo de “biografismo”, o qual consiste na contaminação do discurso artístico, filosófico, literário etc. por traços genéricos do gênero biográfico em outro discurso. Espécies discursivas biografistas não podem ser
174 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
confundidas com formas híbridas, nas quais dois ou mais discursos ficam marcados em suas especiais peculiaridades, como o “romance biográfico”, caracterizado pela importância dada ao tempo, que se refere, de alguma ou de outra forma, ao mundo real.
Nesse subgênero romanesco, a vida biográfica deve ser colocada dentro de uma época determinada, geralmente, abrangendo longos períodos. Não se valoriza tanto o que é imediato, nem os breves instantes:
O surgimento do tempo biográfico é uma peculiaridade essencial do romance biográfico. Diferentemente do tempo aventuresco e lendário, o tempo biográfico é plenamente real, todos os momentos estão vinculados ao conjunto do processo vital, caracterizam esse processo como limitado, singular e irreversível. Cada acontecimento está localizado na totalidade desse processo vital e por isso deixa de ser aventura. Os instantes, o dia, a noite, a contiguidade imediata de breves instantes quase perdem inteiramente o seu significado no romance biográfico, que opera com longos períodos, com partes restritas da totalidade vital (idades, etc.). Evidentemente, no fundo desse tempo fundamental do romance biográfico constrói-se a representação de acontecimentos particulares e aventuras em plano grande, mas os instantes, as horas e os dias desse grande plano são de natureza não aventuresca mas subordinados ao tempo biográfico, estão imersos nele e nele são completados pela realidade (BAKHTIN, 2003, p. 214).
Um romance biográfico não se equipara a uma biografia, nem é avaliado pelos mesmos critérios aplicados a esse gênero, no qual deve haver grande semelhança entre a personagem da narrativa e a pessoa biografada, quer dizer, o sujeito histórico, pertencente a um espaço real e tempo reais. Devedores a Philippe Lejeune (2008), propomos então a ideia de “pacto biográfico”, que em nível de uma conexão entre o narrador, autor, personagem e modelos extratextual, singularmente ao desenvolvimento do pacto autobiográfico: a) o emprego de títulos e/ou subtítulos (Biografia; O caso, História de; Vida de etc.); b) a seção inicial do texto, na qual o narrador se compromete a escrever sobre um sujeito que já não mais é o empírico, mas também não é ficcional; c) o nome dado à personagem na narração, devendo coincidir com o nome
175
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
do modelo, o que leva, necessariamente, ou ao nome, ou aos indicadores pelos quais era conhecido o ser real, em sua existência pública ou privada.
3 PACTO AUTOBIOGRÁFICO, AUTOBIOGRAFIA, AUTOBIO-GRAFISMO
Segundo Philippe Lejeune (2008), em texto publicado no ano de 1975, que integra uma coletânea recentemente traduzida ao português, o pacto autobiográfico é estabelecido com o leitor, possibilitando identificar uma relação de semelhança entre o autor, o narrador e a personagem das narrativas autobiográficas, primeiramente, através dos títulos e/ou subtítulos que as identificam. Além disso, já no início do texto, o narrador, que se identifica com o autor, afirma escrever sobre o sujeito que não é empírico nem ficcional.
Esse autor-narrador relata a própria existência, sua história de vida, realçando aspectos de ordem privada, ao contrário do gênero das memórias, o qual destaca elementos da esfera pública, compondo uma espécie de mural artístico, econômico, político, social, da época narrada. A identidade autor-narrador-personagem é o ponto de partida de todas as escritas autobiográficas, nem tão somente, do gênero autobiográfico. De tal modo, assim como a biografia, a autobiografia consiste num gênero que faz parte do espaço biográfico, sendo uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real elabora acerca da própria existência, na qual enfatiza sua vida individual, em particular, a história da sua personalidade (Cf. LEJEUNE, 2008).
Num texto autobiográfico, torna-se fundamental a estruturação do tempo, a articulação da perspectiva narrativa e a expressão da subjetividade. O narrador interfere subjetivamente na configuração, selecionando eventos e os interpretando de maneira conveniente. O conhecimento dos fatos passados pode contribuir à construção de uma imagem favorável, pois o autor se vale da focalização onisciente sob a própria vida. Ao conhecer o desfecho da história, terá todas as chances de reforçá-la ou de alterá-la.
Uma autobiografia então deve ter sentido e coerência, não se limitando
176 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
a ser apenas uma simples narração de lembranças. Para haver o pacto autobiográfico, é necessário haver reciprocidade. As duas partes se comprometem mutuamente: o autor declara e tenta estabelecer sua identidade com o narrador e a personagem ao longo da narrativa, ao passo que o leitor deverá firmar com ele um “contrato de leitura”, a fim de orientar sua reação, concordando com as informações lidas ou as contestando.Logo no começo de seus artigos, e em itálico, Lejeune (2008) dispõe sua definição de autobiografia, que pode ser encontrada em qualquer dicionário. Acreditando que pode melhorar a compreensão do gênero autobiográfico, e bastante crítico até consigo mesmo, o teórico revê seu pensamento em alguns pontos:
Em um texto posterior (‘O pacto autobiográfico (bis)’, Moi aussi, de 1986), retifiquei algumas asserções do ‘Pacto’ que continuavam sendo normativas demais – mas, em alguns pontos, hoje, tenho quase vontade de retificar essas retificações: não tenho mais certeza de que estava tão enganado assim! Por exemplo, explico friamente, em ‘Le pacte autobiographique’, que a identidade é uma questão de tudo ou nada: uma identidade existe ou não existe. Em ‘O pacto autobiográfico (bis), amenizo as coisas, mostro as ambiguidades e transições que podem existir... Mas, será que a emissão e a recepção funcionam da mesma maneira? Quem recebe uma mensagem ambígua não pode ficar em cima do muro! Quase todas as autoficções são lidas como autobiografias. Quando eu disse ‘uma identidade existe ou não existe’, estava adotando, muito sabiamente, o ponto de vista do leitor... Essa é, aliás, a posição que assumo no início de ‘Le pacte autobiographique’: todas as análises são feitas a partir da recepção (LEJEUNE, 2008, p. 81).
Textos e textualidades (auto)biográficos, assim como suas hibridizações em outros discursos, ocupam um espaço grandemente destinado à veiculação do superficial e do popularesco (crônicas sociais, programas de auditório, tabloides sensacionalistas etc.) que, alienando, legitimam o poder das elites. Agindo dentro da indústria cultural, para contestá-la, o discurso (auto)biográfico, ele mesmo ou diluído em (auto)biografismo e formas híbridas, pode diminuir a fronteira entre as
177
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
culturas de elite e popular, num panorama em que a ideologia das classes dominantes restringe a ação da cultura popular, confundindo-a com o popularesco.
Muitos exemplares (auto)biográficos e híbridos, por exemplo, da biografia com o gênero romanesco, reagem com padrão estético à acusação de arte “culinária” que algumas vezes lhes é imposta. O fato de se tornarem populares, de serem consumidos, adaptados, reendereçados, relidos, bem recebidos pelo público, pode não lhes retirar a qualidade. A existência de trabalhos menores abarcados pelo espaço biográfico não o desclassifica como tal, pois isso equivaleria a dizer que o romance seria um gênero menor porque entre seus pares há best-sellers, como os de Sidney Sheldon, cujas banalidade e precariedade literária contribuem para emprestar ao termo o sentido pejorativo do qual se reveste.
Considerando essas instâncias de recepção, mais especificamente, a posição do leitor, e tendo em vista o melhor entendimento do gênero autobiográfico, Andréa Battistini (2007) alerta para não confundirmos o gênero em si da autobiografia com o “autobiografismo”, ou seja, com as marcas genéricas do discurso autobiográfico utilizadas em outros discursos. É isso exatamente o que vamos encontrar no “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda”. Ao produzi-lo, padre Antônio Vieira participava da história colonial do Brasil, recorrendo à ajuda divina para resolver a questão da presença holandesa em nosso território, como já veremos.
4 AUTOBIOGRAFISMO EM UM SERMÃO DO PADRE ANTÔNIO VIEIRA
Pertencendo tanto à literatura brasileira quanto à portuguesa, o padre Antônio Vieira caracteriza-se como o sermonista mais expressivo do Barroco e o primeiro intelecto literário internacional de nossas letras. Suas obras seguiam os moldes e os processos tradicionais da predicação, segundo feita pelos padres no período medieval. Houve muitos oradores sacros na civilização portuguesa, mas Vieira usou pela primeira vez a tribuna católica para defender ideologias, mostrando suas preocupações,
178 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
defendendo a missão apostólica. Barroco por identidade e formação, sempre polêmico, envolveu-se na história de Portugal, como metrópole colonizadora e nação católica:
Em todas as invectivas retóricas marcadas sempre pelo traço inconfundível da eloquência barroca, da agressividade e do ataque sistemáticos a tudo o que lembrasse Reforma e Renascença, Vieira pautou uma linguagem erudita, alta, notoriamente persuasiva, como instrumento para ‘ganhar’ o interlocutor, fosse este leitor ou ouvinte. Nos sermões ou nas cartas, essa faceta de polemista em Vieira está manifesta (ARAÚJO, 1996).
Padre Vieira desempenhava-se melhor nos sermões em que combatia, acusava, investia, denunciava os inimigos da fé católica ou os opressores do homem em seu tempo. Sua técnica de criação,
Antônio Vieira (1608-1697): nasceu a 06 de fevereiro de 1608, em Lisboa, sendo filho de Cristóvão Ravasco e Maria de Azevedo. Com seis anos, foi morar na Bahia, em 1614, onde seu pai exerceu a função de secretário da Governação. Estudou no Brasil, entrando para a Companhia de Jesus em 1623. Ordenado padre, pregou sermões em igrejas brasileiras, italianas e portuguesas. Preso em Coimbra, no ano de 1665, teve a palavra cassada e foi submetido a pena de reclusão pelo braço inquisicional português, mas seria liberto três anos mais tarde. Depois de estudar filosofia, passou a lecionar nos colégios da Companhia de Jesus em Olinda e Salvador: “Apesar do extremado zelo que devotava à sua Província Brasil, ninguém foi mais português do que o destemido jesuíta, a quem os nossos indígenas expressivamente tratavam por ‘Paiaçu’ (Padre Grande)” (GOMES, 1968, p. 6). Em 1669, Vieira partiu a Roma onde conseguiu que o papa suspendesse o Tribunal do Santo Oficio, o qual retornaria posteriormente, mas enfraquecido. O padre aliou-se ao poder econômico da burguesia mercantil, constituída pelos cristãos-novos e, por defender Dom João IV, seu grande amigo, acabou contrariando a Companhia de Jesus. Para não sair dessa ordem, partiu como missionário ao Maranhão. Nas correspondências maranhenses, tentava acabar com as oposições aos jesuítas, combater a matança de índios e o escravismo dos colonos portugueses, sendo por tal motivo expulso da província em 1661. Autor de aproximadamente 200 sermões e mais de meio milhar de cartas, muitas editadas postumamente, seu pensamento aparece mais nessas do que nos primeiros. Voltando a Salvador na década de 1680, Vieira aí faleceria com quase 90 anos, em 1697.Para saber mais assista:O filme Palavra e utopia, dirigido por Manoel de Oliveira (2000, 133 min).A reportagem Padre Antonio Vieira – De lá para cá, disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=t_zkEx0cLYc> (parte I); <http://www.youtube.com/watch?v=PJULu921M2E&feature=relmfu> (parte II) e < http://www.youtube.com/watch?v=BhL9kzRAiLQ&feature=relmfu> (parte III).
Para conhecer
FIGURA 98 - Padre Vieira, autor desconhecido.
FONTE: <http://www.anovieirino.com/wp-content/uploads/2011/07/avieir.jpg>.
179
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
[...] parece-nos dosada em instinto e reflexão temperada em ritmo simples e recorrente alternância de frases curtas e longas, paralelismos, sinuosidade, antíteses. Vieira, assim, seria fiel representante da ordem a que servia, pois se municiava continuamente de uma tática peculiar ao jesuitismo. Socorria-se com relevância da memória, da declamação do paradoxo, emitindo símbolos, analogias, dúvidas e conflitos ao auditório (ARAÚJO, 1996).
Fiel ao estilo barroco, o sermonista utilizava o mito e a metáfora em seus escritos, filiando-se, assim, “à convenção barroca do conceitismo, o conteúdo primando sobre a forma, especialmente a forma cultista, ornamental, de linguagem artificiosa, abominada pelo pregador” (ARAÚJO, 1996). No século XVII peninsular, representava três figuras: “a do orador sacro, a do profeta do rei e a do missionário no Novo Mundo” (MENDES, 1996). Partindo sempre da realidade para aquilo que estava nas profecias bíblicas, valeu-se da história e da geografia em suas missões, valorizando o trabalho dos pregadores missionários, do qual fazia parte, no sentido de levar a catequese aos povos indígenas.
O jesuíta considerava o Brasil como segunda pátria, destacando-se como o primeiro a se posicionar contra a escravidão indígena. Contraditoriamente, entretanto, defendeu a mão de obra africana, posicionamento que mostra nos sermões que, trabalhados de maneira tradicional para convencer as pessoas da época, até hoje são modelares, por sua propriedade vocabular, pela clareza, economia de adjetivos, constante elegância, certa força de sedução e simplicidade no perfil, assim como pelo o ritmo nervoso e contido. Todas essas características se mostram em sua prosa inconfundível.
Ao utilizar textos bíblicos para realçar seu estilo, geralmente, o padre usava palavras em latim e, em seguida, as traduzia. Em sua trajetória religiosa e política, valeu-se de tal recurso até mesmo para recriminar o Deus do Velho Testamento, por abandonar seu povo à sanha dos inimigos, como no “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda” (VIEIRA, 1969). Nessa brilhante peça de oratória, “o estilo de Vieira é arrebatado, passional, ousado, quase profano” (ARAÚJO, 1996). Seu discurso “voltado ao eu e à pátria” temia a vitória dos holandeses, a seu ver, prejudicial não só à colônia, mas também à igreja católica e,
180 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
consequentemente, a seu trabalho como jesuíta.A mesma projeção autobiográfica – do ser histórico Vieira no
referido sermão – pode ser observada em outros escritores do século XVII, como Ambrósio Fernandes Brandão, Francisco Manuel de Melo e vários autores do Século de Ouro espanhol, a exemplo dos ficcionistas Francisco de Quevedo e Miguel de Cervantes. Por já misturarem o (auto)biográfico, o ficcional e o histórico, seus textos adentram ao espaço biográfico.
O “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda”, pregado na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na cidade da Bahia, no ano de 1640, como outros sermões de Vieira, tem caráter persuasivo, segue a doutrina da fé católica e seu gênero já pode ser identificado no título, a princípio, afastando a hipótese de constituir outra espécie de texto, por exemplo, uma autobiografia. A peça oratória parece dirigida contra Deus quando, na verdade, o pregador queria reanimar os baianos/brasileiros ao combate por seu território ameaçado pela invasão holandesa ao Brasil, que se desenrolou entre as décadas de 1620 e 1650.
Nesse período, a Companhia das Índias Ocidentais obteve do governo holandês o monopólio do comércio com a América e a África. As boas negociações comerciais mantidas entre Portugal e Holanda, nos tempos que antecederam a chamada União Ibérica, terminaram quando a Espanha capturou navios holandeses no comércio marítimo. A nação espanhola, que vinha guerreando com os Países Baixos desde 1568, passava a dominar o reino português e suas relações político-econômicas. Os holandeses tomaram em 1624 a cidade da Bahia, imediatamente abandonada por seus moradores. Quando os soldados inimigos aí chegaram, só puderam encontrar o governador-geral Diogo de Mendonça Furtado “disposto a morrer de espada em punho” (BUENO, 2003, p. 90), que acabaria sendo preso e enviado aos Países Baixos, juntamente com 3.900 caixas de açúcar e muito pau-brasil.
A ocupação deu prejuízo à Holanda, que lucrava com nosso açúcar, por isso, durou apenas um ano. A 22 de março de 1625, os espanhóis enviaram 52 navios com doze mil homens prontos para o combate. Com esse reforço, os holandeses foram expulsos, mas logo retornariam mais equipados. Em 1628, a Companhia das Índias Ocidentais capturou a
181
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
frota anual da prata espanhola e conseguiu 14 milhões de florins. Com toda essa riqueza, pôde se organizar e voltar, desta vez, chegando pela capitania de Pernambuco, de propriedade particular e não real. No dia 15 de fevereiro de 1630, uma armada chegou a Marim (Olinda), no mês de março, os combatentes holandeses invadiram Recife, onde ficariam até sua expulsão. Durante 24 anos, eles dominaram sete das dezenove capitanias existentes na colônia. Em meio a lutas, traições, acordos secretos e disputas pela segurança, poder político e dinheiro, a invasão holandesa se prolongaria até 1654.
Esse contexto é referenciado no sermão juntamente com o apelo a textos bíblicos. No uso retórico da palavra como gesto e ação, o sacerdote emprega certo vigor patriótico para combater os “hereges” e “infiéis”. Ele usa palavras de David, no Salmo 43, adequando “o emblema religioso à situação brasileira, à pátria, que ameaçava ruir, humilhada aos pés da heresia” (ARAÚJO, 1999, p. 157). Utilizando outros textos bíblicos, Vieira lembra que Moisés também questionou a ira de Deus no caso da idolatria ao bezerro de ouro, convencendo-o a não dirigir o castigo da morte aos idólatras. Ao pedir o mesmo, “já que o Deus é o mesmo”, mostra suas habilidades e o talento performático da oratória. Ele não implora, mas protesta, de maneira que quase pode ser considerada uma heresia: “Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor senão justiça” (p. 20).
A primeira pessoa do singular junta-se à exibição pública do enunciador para indicar que autor e narrador mantêm a identidade no sermão mais tarde publicado. No entanto, o dono da palavra não constrói uma narrativa a respeito de si mesmo, não elabora um discurso autobiográfico, prendendo-se às particularidades características de um sermão. Tal evidência não impede que acentue elementos de sua vida individual na demonstração de um partidarismo ideológico que ocorre através do fervor místico e da indignação, somados ao sentimento político e histórico.
Isso pode ser demonstrado no sermão em estudo, pronunciado no momento em que a Bahia se apavorava com a iminente ameaça de vitória da Holanda:
182 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Quando em 1640 os holandeses apertaram o cerco à cidade da Bahia, ameaçando invadi-la pela segunda vez, em todos os templos, no decorrer de quinze dias, fizeram-se contínuas prédicas, sendo esse sermão o último pregado, a 10 ou 11 de maio [...] Enquanto pairava no ar a ameaça inimiga, era verdadeiramente dramática a expectativa da população insegura e alarmada. Às notícias que chegavam confusamente do recôncavo, onde os flamengos levavam tudo a ferro e fogo, assolando os campos e destruindo os engenhos de açúcar, juntara-se a da presença da armada holandesa em águas de Itaparica. De alguns pontos mais altos da velha urbe deviam ser avistados os navios inimigos que se aprestavam a distância para lhe atacar os flancos. Apesar do grande ímpeto com que, em seguida, investiram contra a cidade, que já tinham ocupado como dominadores, os holandeses foram rechaçados, e por fim desistiram de reconquistar a Bahia (GOMES, 1968, p. 13).
O sermonista chama os holandeses de “hereges” e “infiéis” e zomba deles, questionando: “diga o herege que Deus está holandês?” (p. 24). Fala dos ventos e tempestades que destroem o povo e a moral das tropas que, caso estivessem do lado oposto, garantiriam a vitória portuguesa. A expressão da subjetividade também aparece quando pede a Deus pela vitória, para deixar claro que a fé divina pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, “só ela a verdadeira e a vossa” (p. 25).
Vieira seleciona os eventos de seu discurso, ao questionar a situação da catequese ao índio, pois tudo se perderia se os holandeses vencessem. “Que dirá o índio inconstante, a quem falta a pia e a atenção da nossa fé? Que dirá o etíope boçal, que apenas foi molhado com a água do batismo, sem mais doutrina? Não há dúvida que todos estes, como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos, beberão o erro pelos olhos” (p. 25). Visando alterar a história, o padre critica a saída de cristãos novos ou novos convertidos que, ficando na religião vencedora, confirmariam o apoio divino a sua causa.
Sua voz marca certo distanciamento de Deus – “Porque vos esqueceis de tão religiosas misérias, de tão católicas tribulações” (p. 26) – com o fim de agir sobre os fatos históricos. A seu ver, Deus defenderia uma raça de desafetos, não sendo possível que se pusesse contras os servos fiéis, leia-se portugueses, e favorecesse os excomungados:
183
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
Parece-vos bem, Senhor, parece-vos bem isto? Que a mim, que sou vosso servo, me oprimais e aflijais, e aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreçais e ajudais? Parece-vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos de vossa mão; nós os esquecidos de vossa memória; nós o exemplo de vossos rigores; nós o despojo de vossa ira? Tão pouco é desterrar-nos por vós e deixar tudo? Tão pouco é padecer trabalhos, pobrezas e os desprezos que elas trazem consigo, por vosso amor? Já a fé não tem merecimento? Já a piedade não tem valor? Já a perseverança não vós agrada? Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que maus, e aqueles pérfidos, por que os ajudais a eles e nos desfavoreceis a nós? Nunquid bonum tibi videturi a vós, que sois a mesma bondade, parece-vos bem isto? (p. 27).
A pregação discorre sobre o que poderia acontecer se os protestantes vencessem, contando entre as consequências da derrota, o fato de Portugal perder suas terras conquistadas à Holanda reformada: “Considerai, Deus meu e perdoai-me se falo inconsideradamente – considerai a quem tirais as terras do Brasil e a quem as dais” (p. 27). A voz do eu, no entanto, se mistura ao texto de São Paulo, para reivindicar a Deus que não tire dos portugueses aquilo que lhes deu, principalmente porque esses seriam os “conquistadores da vossa Fé e a quem destes por armas como insígnia e divisa singular vossas próprias chagas” (p. 28).
Padre Vieira protesta contra a ingratidão de um Deus que poderia tirar as terras brasileiras de Portugal, como já fizera com as terras do Oriente, reprovando decisão não menos infeliz do que injusta: “Que a larga mão com que nos destes tantos domínios e reinos não foram mercês de vossa liberdade, senão cautela e dissimulação de vossa ira, para aqui fora e longe de nossa pátria nos matardes, nos destruirdes, nos acabardes de todo” (p. 28).
O pregador chega a afirmar que nunca deveriam ter conquistado o território colonial, já que poderiam perdê-lo por tão pouca ética: “Oh quanto melhor nos fora nunca conseguir, nem intentar tais empresas!” (p. 29). Se a colônia terminaria nas mãos da Holanda, então que o Todo Poderoso tivesse entregado estas terras desde o começo, quando ainda eram selvagens e desabitadas de seu cultivo e seu enriquecimento: “Assim se hão de lograr os hereges e inimigos da Fé dos trabalhos portugueses e
184 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
dos suores católicos?” (p. 30). O talento performático da oratória alcança momento alto na seguinte passagem:
Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias, entregai-lhes as Espanhas (que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido), entregai-lhes quanto temos e possuímos (como já lhes entregastes tanta parte); ponde em suas mãos o mundo: e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a Vossa Majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançai de vós, pode ser que os queirais algum dia, e que os não tenhais (p. 30).
Ao perceber que exagerou em suas queixas, o orador compara seu discurso com o texto bíblico para amenizar no gesto e tom de voz: “Não me atrevera a falar assim se não tirara as palavras da boca de Jó, que como tão lastimado não é muito entre muitas vezes nesta tragédia” (p. 31). Ele também oferece a seus ouvintes a parábola do Banquete: “Os convidados fomos nós, a quem primeiro chamaste para estas terras e nelas nos pusestes a mesa, tão franca e abundante como de vossa grandeza se podia esperar. Os cegos e mancos são os Luteranos e calvinistas, cegos sem fé e mancos sem obras” (p. 32).
O sermão tem destino, já que o padre considera apocalípticas e aterrorizadoras as possíveis consequências da entrada holandesa na Bahia. Símbolos e cultos católicos desapareceriam, nasceria “erva nas igrejas como campos; não haverá quem entre nelas” (p. 37). Ao final, Vieira pede a Deus que perdoe os pecados e termine com os castigos, sofridos durante 12 anos de guerra. Através de signos astrológicos e místicos, ele demonstra os próprios desejos: “Deixai parar o signo rigoroso de Leão e daí um passo ao signo de Virgem, signo propicio e benéfico. Recebei influências humanas de quem recebestes a humanidade” (p. 46).
O sermonista ainda apela ao amor da Virgem Mãe, solicitando perdão, já que assim os homens também se perdoariam uns aos outros, por amor de Deus. Além das metáforas utilizadas, ele se vale de situações vividas por personagens bíblicos, não se esquecendo de usar interrogações, invectivas e exclamações conceitistas. Neste “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda”, chega inclusive a falar da
185
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
ameaça de extermínio na guerra contra os protestantes holandeses.Hábil orador, Antônio Vieira produziu essa obra quase ao final da
invasão holandesa. Ele mostrava claramente sua defesa aos portugueses e seu repúdio aos holandeses, contaminando-a com posições individuais e aspectos de sua vida privada. A defesa da pátria, associada à tentativa de salvar a Igreja Católica Romana da investida dos católicos reformados, ou seja, dos protestantes holandeses, não deixa de encerrar em si o amor à terra de adoção, no caso, a Bahia. Isso confirma que o sermão em análise se apresenta como uma obra que, além de ser ao mesmo tempo histórica e literária, se marca pelo autobiografismo.
Antônio Vieira acentua elementos de sua vida individual, privada, como o declarado amor à Bahia, além de demonstrar partidarismo ideológico, o que ocorre através do fervor místico e da indignação, somados ao sentimento político. O sacerdote expressa claramente sua posição, defendendo os portugueses, por serem católicos como ele. A peça oratória é marcada por tons subjetivos, pela seleção de eventos a serem tratados em seu discurso, pelo autobiografismo, num discurso que é também histórico e literário.
No entanto, a defesa da colônia soma-se à tentativa de salvar a Igreja Católica Apostólica Romana da investida dos católicos reformados, ou seja, dos protestantes holandeses. Visando alterar a história, o pregador critica a saída de cristãos novos ou novos convertidos que, caso ficassem do lado português, confirmariam o apoio divino a sua causa. A focalização objetiva reforçar sua visão histórica, não se mostrando suficiente para estabelecer o pacto autobiográfico, segundo teorizado por Philippe Lejeune. Do contrário, o receptor sabe que vai ouvir, e depois ler, um sermão. Sendo uma espécie de contrato estabelecido com o leitor, o pacto em destaque possibilita identificar uma identidade entre autor, narrador e personagem, primeiro, através dos títulos e/ou subtítulos que as identificam. Posteriormente, a seção inicial e o decorrer da narrativa devem confirmar qualquer tipo de narrativa que se julgue autobiográfica.
Isso não se verifica no “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda” que, mesmo inclassificável como autobiografia, permite a expressão da subjetividade. O autor-narrador realça aspectos de ordem privada, defendendo seu posicionamento
186 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
como jesuíta e usando a palavra como gesto e ação. A perspectiva do texto é restrita e o retrospecto, pequeno, mas o pregador o elabora com fatos ou circunstâncias da própria existência. Desse modo, instala o autobiografismo em sua composição, a partir da qual, conhecemos o romance de João Felício dos Santos: Major Calabar. Apresentando diferentes visões quanto ao mesmo fato histórico, esses textos dialogam, embora distanciados por quatro séculos: o primeiro, elaborado em 1640, no mesmo período em que se deu o episódio abordado; o segundo, no ano de 1960.
João Felício dos Santos (1911-1989): Romancista brasileiro, nasceu na comarca de Mendes, estado do Rio de Janeiro. Jornalista por mais de 40 anos, sendo também publicitário e funcionário público federal e topógrafo de profissão, servindo ao Ministério dos Transportes. Inicia sua carreira de escritor com a publicação de Palmeira Real (poesias) em 1934. Consagrado por seus romances históricos e biográficos, neles retrata fases importantes e personalidades polêmicos da história brasileira. Seu primeiro romance, O pântano também reflete estrelas (1949), aborda a política do café no início do século XX. Em João Abade (1958), trata da saga de Canudos, e em Major Calabar (1960), discorre sobre a invasão holandesa no Brasil. Entre suas obras literárias mais conhecidas estão Ganga Zumba (1962) – tendo por foco o Grande Senhor, primeiro líder dos Palmares, que governou o quilombo entre 1670 e 1678. A publicação ilustrada por Caribé também inclui um glossário com palavras de origem africana. Premiado pela Academia Brasileira de Letras, é adaptado ao cinema em 1964 por Cacá Diegues, do mesmo modo que Xica da Silva, em 1976. Já A guerrilheira (1979), que enfoca a figura de Anita Garibaldi, poderia tem argumentos muito superiores ao texto de mesma temática que originou a minissérie televisiva A casa das sete mulheres. Sem tornar-se conhecido como escritor, falece a 13 de junho de 1989, no Rio de Janeiro, deixando mulher, filha e um romance inédito: Rotas de além-mar. Para saber mais sobre o autor, visite sua página, disponível em <http://www.joaofeliciodossantos.com.br>.João Felício dos Santos teve uma importante atuação no cinema, participando como roteirista, argumentista e também como ator. Para saber mais, assista:Ganga Zumba. Direção de Cacá Diegues, 1964, 100 min.Cristo de Lama. Direção de Wilson Silva, 1968, 90 min.Xica da Silva. Direção de Cacá Diegues, 1976, 107 min.Parceiros da aventura. Direção de José Medeiros, 1980, 91 min.Quilombo. Direção de Cacá Diegues, 1984, 114 min.Carlota Joaquina, Princesa do Brazil. Direção de Carla Camurati, 1995, 100 min.
Para conhecer
5 O MAJOR CALABAR DE JOÃO FELÍCIO: UM ROMANCE BIOGRÁFICO
João Felício dos Santos é antecedido por um considerável elenco de ficcionistas biográficos que escreveram suas obras literárias na primeira metade do século XX ou ainda um pouco antes. Dessa forma, Virgílio Várzea (1863-1941) tinha ousado com o protagonista de seu
187
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
romance George Marcial (1894) e Francisco de Assis Cintra (1887-1953) havia reunido suas crônicas biográfico-ficcionais em Os escândalos de Carlota Joaquina (1928) e As amantes do Imperador (1933). Juntamente com os romances históricos que integram o Ciclo dos Bandeirantes, Paulo Setúbal (1893-1937) produziu os seguintes romances biográficos: A Marquesa de Santos (1925); As maluquices do Imperador (1927); O Príncipe de Nassau (1928). Quase ao mesmo tempo em que o intelectual baiano Pedro Calmon (1902-1985) focava Dom Pedro I em seu romance biográfico O Rei Cavaleiro (1933), Alfredo Ellis Jr. (1896-1974) reelaborava ficcionalmente Amador Bueno, o rei de São Paulo (1937).
Por fim, Agripa Vasconcelos (1896-1969) é redescoberto pela cultura de massa com A vida em flor de Dona Beja (1957), romance adaptado para telenovela. Em Chica que manda (1966), volta o foco para a escrava alforriada Francisca da Silva de Oliveira cujos desejos e caprichos eram satisfeitos pelo comendador João Fernandes de Oliveira, e em Gongo Soco (1966), sobre o ciclo do ouro de Minas Gerais, centralizado na figura simultaneamente generosa e mesquinha do Barão de Catas Altas, hospedeiro de Dom Pedro I. Vasconcelos também é autor de Chico-rei (1966), retrato nu e cru de um soberano africano que, feito escravo, logrou alforriar-se e revolucionar a antiga Vila Rica das Gerais.
As identidades que figuram em vários desses romances biográficos desafiam a homogeneização identitária e a exclusão que marcam o cânone literário nacional. Não se afastam muito das lutas empreendidas desde o início do século XX pelas assim denominadas minorias, que
já vinham usando e abusando dos recursos a movimentos e fóruns internacionais como tática de legitimação e defesa de seus interesses locais. Nesse sentido, cito dois exemplos já clássicos: o recurso ao Pan-americanismo para a implementação das lutas feministas no Brasil no início do século e a consolidação do movimento feminista e do movimento negro nos anos 60, através de fortes articulações internacionais. Historicamente, os setores marginalizados sempre procuraram um espaço de reconhecimento e identificação fora das fronteiras locais o que mostra que, na realidade, a articulação internacional nestes casos parece ter sido uma forma de deslocamento tático de proteção à fragilidade gerada pela invisibilidade local destes grupos (HOLLANDA, 2000).
188 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Entre os responsáveis por auxiliarem na perda do sentido político dos Estudos Culturais na América Latina, André Mattelart e Erik Neveu (2004, p. 155) sublinham: “a ausência de perspectiva histórica, que explica notadamente a adesão precoce e acrítica à noção de globalização; o desconhecimento das análises formuladas pela economia política das indústrias culturais e das indústrias informacionais; a hesitação em se interrogar sobre as lógicas dos sistemas técnicos”. Aliados a esses fatores, ainda se destacam uma crescente defasagem frente às novas dinâmicas do movimento social, menos operário e mais setorizado, além de uma notória dificuldade para problematizar o “novo estatuto do saber e dos intelectuais no capitalismo contemporâneo, caracterizado pelo duplo movimento de subsunção do trabalho intelectual e de intelectualização geral do trabalho e do consumo a partir da expansão, em todos os setores da vida, das tecnologias da informação e da comunicação” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 156).
Se a história foi mesmo deixada de lado pelos Estudos Culturais sobre a cultura de massa, retorna com força (ainda que como farsa) por intermédio de perspectivas das quais se valem alguns dos romancistas anteriormente elencados e, assim, oferecem munição a uma nova geração de estudiosos sobre a cultura que, no âmbito literário, não deixam de repensar a condição dos “subalternos”, questionando os imaginários oficiais das histórias e das identidades nacionais. Pelo viés literário, João Felício trata da história brasileira de forma complexa, mas sem perder a capacidade de emocionar e produzir encantamento. Ao longo dos mais de 20 livros, pouco lidos e pouco avaliados, mas tidos como estrelas do universo literário brasileiro:
Jogava com as palavras como o malabarista faz com seus objetos, numa precisão única sem nunca deixar cair uma peça. Escolhi escrever sobre João Felício não somente por ter sido seu amigo particular, mas por tê-lo em conta como um dos mais ricos escritores brasileiros, por sua linguagem, pelo seu estilo e por sua técnica em amalgamar tipos que existiram em verdade, e outros por ele criados, fazendo-os passearem no tempo e no espaço de modo a cumprirem seu destino (HOLANDA, 2004, p. 1).
189
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
Em Major Calabar, onde o autor transforma ficcionalmente a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro, sem esquecer de que, mesmo em momentos difíceis, acontecem encontros e desencontros amorosos. A citada obra literária parece encaixar-se no “romance biográfico”, segundo definido pelo teórico russo Mikhail Bakhtin (2003). Dessa maneira, pode ser estudada segundo os padrões do espaço biográfico que tomam impulso em 1970, quando surgem livros baseados em pesquisas sobre personalidades históricas ou celebridades, tais como artistas, cantores, ídolos do futebol, políticos, dentre outros. Composta por formas (auto)biográficas em si, (auto)biografistas ou híbridas, no Brasil, essa tendência
tem uma origem específica, apesar de transbordar posteriormente desse estreito vale: o resgate da saga da esquerda, durante reprimida pela ditadura militar que se implantou por golpe em 1964. Depois se ramificaria em várias direções; afora a biografia, na literatura, no romance, na reportagem, no tratado histórico. E em cinema, no filme de ficção, no documentário longo, no documentário curto para tevê, no docudrama (GALVÃO, 2005, p. 98).
Gêneros (auto)biográficos estabelecidos, bem como formas híbridas ou (auto)biografistas tentam primeiramente retomar questões e temas reprimidos com a ditadura militar de 1964, mas depois tomam várias direções. Ao se apresentarem tanto em obras originais quanto em textos adaptados, longe estão do esgotamento; do contrário, vêm alimentando a escrita histórica, a produção ficcional, a teoria literária e a indústria cultural. Portanto, Major Calabar transita pelos caminhos do espaço biográfico quando reconta a invasão holandesa a estas terras.
Em seu início, esse romance biográfico destaca um sacerdote espanhol, Estevão das Santas Dores, que seria o oposto de Antônio Vieira, por detestar a colônia. O autor do romance usa estilo ousado e quase profano, é crítico, em certas situações, usa palavras vulgares, lembrando Vieira: “O padre se rebelou ao lembrar o exemplo dos mais velhos, evocado aos pedaços: - Como pensar em suavidades celestes infinitas se tudo o que cerca um homem na terra maldita pela conquista é o presente, eterno e bárbaro, penetrando pelos cinco sentidos?” (p. 19).
190 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
A vida privada do padre Estevão, que se apaixona pela adolescente Maria Rita, filha de Pedro Saavedra, demonstra certo predomínio do plano individual sobre o público, logo no começo da narrativa:
E quando uma vida dessas é salva dos acasos do mar é para ficar enredada para sempre nos destinos de uma terra bruta. Santas Dores regressava à casinha escoteira todo roído nas fressuras. Trinta e dois anos de sacrifícios e renuncias, de obediências estúpidas, e esforços sem cabimento, a segurar em nada uma crença cada vez mais fugidia. Já não tinha onde buscar lenhas para custodiar a fogueira perdulária da fé (p. 19).
O narrador concentra-se nos episódios pernambucanos da “guerra do açúcar”, mostrando os dois lados inimigos através de Calabar. Para montar essa personagem, busca as lembranças do ser histórico no qual se inspira, desde os tempos da escola jesuíta. A compreensão de alguns fatos históricos permite entender melhor o protagonista da obra ficcional, sendo necessário esclarecer que o governador da capitania pernambucana, Matias de Albuquerque, criou o Arraial do Bom Jesus para ser o local das organizações contra os invasores. Mesmo assim, o Recife foi tomado em 1630 e, devido à ajuda de alguns nativos, os portugueses conseguiriam vencer a guerra contra os Países Baixos.
Havia pelotões chefiados por luso-brasileiros, como Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros, mas a vitória somente se faria possível com a ajuda de um batalhão indígena, comandado pelo potiguar Felipe Camarão, e de outro, composto por negros, sob o comando de Henrique Dias. Alguns nativos ajudaram os holandeses, que também contaram com “Domingos Calabar: Guerrilheiro mulato, lutou ao lado de Matias de Albuquerque, mas passou para o lado dos holandeses em abril de 1632. Deu muito trabalho aos brasileiros. Capturado em julho de 1634, foi torturado, enforcado e esquartejado. Destino similar ao dos caciques Janduí, Poti e Paraupaba, que haviam ajudado os invasores” (BUENO, 2003, p. 97).
Na obra literária, após a chegada de Calabar a Pernambuco, muitos fogem, mas aqueles que ficam veem os invasores de outra forma. Percebem que, depois de ocuparem uma área, esses a reconstroem e
191
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
não cobram tantos impostos dos trabalhadores, como faziam espanhóis e portugueses: “Verdade mesmo é que os castelhanos só gripavam na ousadia para exigir mais impostos e castigar os nativos por isso mais aquilo. Se os holandeses não tivessem vindo, ninguém tinha precisão daquela guerra danada de demorada, mas também nada teria mudado em Pernambuco” (p. 104).
O autor também lembra que os negros, escravos de portugueses, espanhóis e seus descendentes, eram tratados como brancos pelos holandeses. O preconceito é talvez um dos motivos para a “traição” de Calabar: “Humilhação danada! Nem na sala do comandante-geral tinha entrada! – Negro! A passagem para a força de Waerdenburch... Foi daí que surgiram os ódios e as incompreensões dos que não entendiam seu desejo largo de uma nação diferente... De um Pernambuco bom!” (p. 207-208).
João Felício mostra que os defensores dos portugueses e dos espanhóis repudiam quem troca de lado. Nem as prostitutas os querem, pois até se relacionam sexualmente com holandeses, mas nunca com um traidor. “Não, Domingos. Aqui entra gente da terra e entra Holanda, querendo... Tudo entra sem hora de chegada. Eu ganho dos gostos do povo. Vosmecê já não é uma coisa nem outra. Não é – a mulata se entristeceu. – Vosmecê se passou... o Domingos do meu tempo de moça morreu que nem meu pai” (p. 164).
O escritor carioca também muda determinados fatos históricos para dar mais emoção a seu romance. Desse modo, Calabar separa-se de Bárbara no começo da guerra, pois deveria lutar e não teria condições de ficar com a amada, que se encontra grávida. A filha morre logo após o nascimento. De acordo com pesquisas históricas, o casal teve um filho, batizado na Igreja Reformada do Recife. Há registros desse batizado que, além de provarem a existência do menino, comprovam que Calabar mudou de religião quando ao defender os holandeses.
Bárbara teria viuvado, em vez de cometer suicídio após a morte da filha, segundo consta na obra ficcional. Aqui, como em outros momentos, a ficcionalização dos acontecimentos reais atinge o plano das existências privadas. O restante da narrativa em análise, embora se afaste da historiografia oficial brasileira, concorda com estudos mais recentes,
192 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
como os realizados por Eduardo Bueno e Júlio Chiavenatto. Esses pesquisadores afirmam que a traição era comum tanto no lado holandês quanto no luso-brasileiro, por interesses diversos. Também que, uma vez arrasada a capitania de Olinda, o governador Matias de Albuquerque voltou à Europa em 1637 e as tropas portuguesas ganharam o comando de um espanhol chamado Rojas e Borjas. Quando esse morreu em batalha, o general italiano Bagnuolo assumiu a liderança, usando táticas da “guerra brasílica”, formas de luta dos negros e índios: a guerrilha.
A guerra fixou ainda mais o domínio português no Brasil, enquanto índios e negros lutaram durante toda sua duração, mas não lucraram nada:
É comum a historiografia oficial afirmar que a luta contra os holandeses criou o sentimento nativista no Brasil: como índios (Camarão), negros (Henrique Dias) e brancos (Vidal de Negreiros) defenderam a ‘pátria’, três raças em comum amor por sua terra, ‘brotou no coração’ dos brasileiros o desejo de libertar o país de qualquer jugo (CHIAVENATO, 1992, p. 16).
Nesses tempos, Johann Mauritius van Nassau foi para o Recife, onde atuou como governador, capitão e almirante-general das terras conquistadas ou por conquistar no território brasileiro. Houve um renascimento econômico-cultural e mais liberdade religiosa que, no entanto, excluía os judeus. O domínio holandês na colônia portuguesa foi marcado pelos sete anos conhecidos como o “tempo de Nassau” - 1637 a 1644 – quando se originou a crença de que o mundo colonial seria mais nobre caso o projeto da Companhia das Índias Ocidentais se mantivesse.
O “sentimento patriótico”, surgido a partir da guerra, fez com que, no ano de 1641, o povo quisesse a independência nacional e um rei brasileiro. As ruas gritavam por Amador Bueno, mas esse não aceitou, defendendo dom João VI e que o Brasil continuasse pertencendo a Portugal. Desde o mês de junho, havia certa paz, já que Portugal e Holanda tinham feito aliança depois que os portugueses recuperaram a independência, separando-se da Espanha em 1640.
A invasão holandesa foi uma grande “luta que envolveu milhares de pessoas e deixou outros milhares de mortos” (CHIAVENATO, 1992,
193
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
p. 16). Nassau reconstruiu o que foi destruído com a guerra e promoveu notável crescimento ao Nordeste brasileiro:
Tolerante, competente, dedicado e ágil, Nassau fez um governo brilhante. Primeiro, tomou Porto Calvo, último foco da resistência aos invasores. Depois, atraiu os plantadores luso-brasileiros concedendo-lhes empréstimos para reerguer seus engenhos – e os defendeu da agiotagem dos negociantes holandeses e judeus, limitando os juros a 18% ao ano. Deu liberdade de culto, tratou bem os nativos, aumentou a produção de açúcar, urbanizou o Recife, protegeu os artistas, apaziguou a colônia. Foi um príncipe (BUENO, 2003, p. 92).
João Maurício de Nassau contribuiu muito para a arte e a cultura coloniais, promoveu peças de teatro, trouxe consigo a Pernambuco os pintores Albert Eckhout e Frans Post. Como sabemos, os dois artistas retrataram a paisagem, as plantas, os animais e os indígenas brasileiros. Naturalista, o último tinha um estilo individual e detalhista, enquanto o primeiro deixou-se fascinar pela luminosidade do Novo Mundo. O líder holandês inaugurou a maior ponte do continente americano naquela época, com 318 metros de comprimento. Ele prometeu que, numa noite de março de 1644, daria grande festa no Recife, momento em que, por certo, faria um boi voar.
Mantida a promessa, Nassau fez voar “um couro de boi cheio de palha preso por fios que a noite escondia” (BUENO, 2003, p. 88). Pouco tempo mais tarde, a seis de maio de 1644, renunciou ao governo do Brasil holandês, em função de sérias divergências com os dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais. Sem a sua presença, os grandes senhores de engenho rebelaram-se contra a empresa, com a qual tinham muitas dívidas. O capitão foi embora e, com ele, o sonho de ver uma colônia holandesa no Nordeste da América do Sul.
A 19 de abril de 1648, os exércitos se defrontaram nos montes Guararapes, arredores do Recife. Nessa batalha, o tenente-general alemão Siegmundt von Schokoppe comandava 4.500 holandeses que, mesmo superiores em número, foram derrotados por cerca de 2.500 luso-brasileiros. Quase um ano depois, houve outra batalha no mesmo lugar, onde morreu Henrique Dias. Durando mais de 20 anos, a ocupação
194 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
de Pernambuco se estendeu a outras sete capitanias brasileiras. Em 19 de fevereiro de 1649, houve a pior batalha para os holandeses. Seu exército teve de bater em retirada, morreram todos os comandantes. Embora sitiados no Recife, os invasores resistiram até 26 de janeiro de 1654, quando ocorreria sua expulsão. “Três séculos e meio depois, a experiência holandesa no Brasil continua associada ao tempo de Nassau” (BUENO, 2003, p. 92). Vencida na guerra do açúcar, depois de receber uma compensação de quatro milhões de cruzados em 1661, a Holanda desistiria oficialmente do Nordeste da colônia portuguesa.
Em narração retrospectiva, de perspectiva ampla e em terceira pessoa, o romancista carioca traz a revisão desses fatos históricos e uma personagem bastante polêmica. Quando a historiografia tradicional critica o jovem Calabar pela traição a seus superiores, João Felício faz dele um herói. Muitos combatentes mudaram de lado, mas nenhum teve a mesma importância desse mestiço, devido a seu conhecimento do local onde nasceu e guerreou. Provando fidelidade aos holandeses, o sujeito histórico vem-se associando à imaginação de como seria um Brasil holandês. Talvez essa a razão justifique o sucesso que alcança no reino ficcional.
João Felício dos Santos estrutura seu romance Major Calabar por meio da narração retrospectiva, em terceira pessoa, e sob uma perspectiva ampla. O tempo narrado retroage a muitos anos, abarcando a infância, as primeiras experiências, a educação a juventude, dentre outros momentos afastados temporalmente, na vida do protagonista. O narrador deixa suas marcas na personagem central, apresentada gradualmente, em diferentes etapas. Respeitando a ordem cronológica, própria dos discursos histórico e biográfico, o autor seleciona momentos a serem narrados. Também despreza alguns acontecimentos, a seu ver, irrelevantes à história do ser histórico que, no texto escrito, passa a ser uma personagem, a qual recebe o nome verdadeiro da personalidade histórica, no caso, Domingos Calabar, destacando-se como exemplo social e político, pois deseja um Pernambuco melhor, ama sua terra.
Tudo isso caracterizaria o gênero biográfico, mas João Felício modifica fatos que dizem respeito às histórias individuais de Bárbara e Calabar, evidenciado a ficcionalização de sua narrativa que, assim, não
195
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
pode ser puramente biográfica. Embora centrado na dinâmica de uma vida, seu livro focaliza um sujeito mestiço que se tornou importante numa época durante a qual as pessoas de sua raça eram desprezadas, escravizadas e maltratadas. O romance em análise ganha importância histórica e, sendo biográfico, não deixa de ser histórico. O tempo biográfico leva, de alguma ou de outra forma, ao mundo real.
Muitos fatos narrados na obra literária conduzem à história, situando-se num período determinado, quer dizer, durante a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro. Longos períodos se intercalam a breves instantes, e o tempo imediato, dos dias, das manhãs, das horas, se amplia ao tempo histórico nas narrações dos acontecimentos significativos à compreensão do momento representado. Outras notações culturais que tratam da invasão holandesa e do século XVII na Bahia são o drama alegórico-biográfico de Chico Buarque e Ruy Guerra - Calabar, elogio da traição - e o romance biográfico de autoria da escritora cearense Ana Miranda: Boca do Inferno.
Calabar, elogio da traição (1973): Texto dramático escrito por Chico Buarque e Ruy Guerra entre os anos 1972 e 1973, é um drama histórico que se passa na época das invasões holandesas em Pernambuco, no século XVII, mas opera como alegoria do período ditatorial em que é escrita. O texto foca a lealdade e a traição, gerando um debate ideológico, posto que suas personagens irônicas e caricaturais polemizam esses conceitos, assim como os de herói e vilão. Traindo-se entre si, as personagens traem ideias, princípios e a si mesmas. A realidade cênica se entrecruza com a histórica na emergência de uma realidade ficcional que interpreta o mundo histórico e as personalidades empíricas que dele fizeram parte. A montagem da peça teatral em 1973, uma das mais caras da época, sob a direção de Fernando Peixoto, não é aprovada pela censura, frustrando as mais de 80 pessoas envolvidas no projeto, o qual só será retomado seis anos mais tarde.
Ana Maria de Nóbrega Miranda (1951-): Nascida no Ceará, a escritora se consagra pelos romances históricos em que associa ficção e rigorosa pesquisa documental. Entre suas principais obras literárias, destacam-se: Boca do Inferno (1989), A última quimera (1995), Desmundo (1996), Amrik (1998), Dias & Dias (2002), Yuxin (2009). Boca do Inferno, Prêmio Jabuti de Revelação em 1990, se passa no século XVII, durante o governo tirânico de Antônio de Souza Menezes, o “Braço de Prata”. A ação se desenvolve em Salvador e recria turbulenta luta pelo poder entre esse governador militar e a oposição, da qual participar as personagens inspiradas nas seguintes personalidades históricas: o poeta Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira.Para saber mais sobre a obra e vida da artista, assista Autor por autor: vida e obra da escritora Ana Miranda, disponível em http://youtu.be/55wbh7mBsjs (parte I), http://youtu.be/TbxQz9gNbok (parte II), http://youtu.be/Pj1A3Ilj_Xo (parte III), http://youtu.be/0odTRYzFRF0 (parte IV).Sua obra foi adaptada para o Cinema, assista ao filme Desmundo, direção de Alain Fresnot, 2002, 101 min).
Saiba mais!
196 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Fazendo cada um sua parte, João Felício e Antônio Vieira se apresentam como escritores cujas obras podem ser colocadas em nível de igualdade. No romance em foco, o primeiro se vale do estilo profano e ousado do padre, mas é bem mais crítico quanto aos problemas vividos pela sociedade nordestina naquele contexto. O posicionamento explícito do sacerdote, a favor dos portugueses, tem seu contraponto na simpatia do romancista pelos holandeses que, contudo, ele quase neutraliza, tentando mostrar pontos negativos e positivos nos dois lados em combate.
Situado no espaço biográfico, e carregado de autobiografismo, o “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda” defende o poder religioso e político. Por outro lado, João Felício representa o tempo de Vieira no interior do romance biográfico, uma forma híbrida dos gêneros romanesco e biográfico. Major Calabar denuncia o preconceito racial, ainda existente em nosso país. Provando que emissão e recepção não funcionam do mesmo jeito, os textos em análise fazem do mesmo fato histórico uma narrativa plural: duas invasões holandesas, muito bem diferenciadas.
6 FLORA TRISTÁN, PAUL GAUGUIN: CULTURAS À BUSCA DO PARAÍSO
Na América Latina, fatos e personalidades históricos dão motivo a muitos romances (auto)biografistas ou (auto)biográficos, tais como El reino de este mundo (1949), El arpa y la sombra (1979), de Alejo Carpentier; La guerra del fin del mundo (1981), de Mario Vargas Llosa; Yo el supremo (1974), de Augusto Roa Bastos. Prontamente, o fenômeno da hibridação observado no romance histórico e na narrativa ficcional em geral (amálgama de gêneros, de discursos e de técnicas narrativas) é um dos componentes mais discutidos da literatura da atualidade.
Destacamos então as problemáticas que, trazidas pelos Estudos Culturais, possam convergir quanto a questões que gravitam em torno de etnia, identidade e raça, gênero e sexualidade, por exemplo. Porém, em sua origem, como vimos, os então Cultural Studies britânicos preocupavam-se com o estabelecimento de uma prática na cultura que
197
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
os distinguisse. Tal diretriz precisa ser considerada, num momento em que ocorre a “transformação de um modo de intervenção política em um modo de acumulação de conhecimento, testado em provas e exames acadêmicos” (CEVASCO, 2003, p. 135).
Nesse sentido, uma das grandes contribuições do Culturalismo, desde os posicionamentos da New Left Review e do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea de Birmingham, tem sido a visão da cultura como instrumento de descoberta, interpretação e luta social, expresso, entre outras coisas, por meio do enfraquecimento das fronteiras impostas entre a cultura de massas e a alta cultura, sendo essa representada sobretudo pela “arte literária”. Sob tal perspectiva, e dentro de um panorama de revigoramento, os estudos de literatura passam a se ocupar de notações culturais ao gosto do grande público, como novelas de detetive, romances cor-de-rosa, autobiografias e biografias.
Se isso ocorre na teoria, não pode ser muito diferente no lado da prática, ou seja, da produção textual, contemporaneamente assinalada, em sua forma romanesca, pela reiterada incidência da transformação de figuras históricas famosas em personagens de ficção, assemelhando-se a, ou simulando, narrativas autobiográficas e/ou biográficas. No “romance histórico” cujo molde aprimorado encontra-se em Walter Scott, predominavam os aspectos externos e públicos assim como as personagens-tipo e o evento que guiava a história central.
Por sua vez, o subgênero romanesco do qual agora estamos a tratar, ou seja, o romance biográfico em sua formatação contemporânea, não se preocupa com a semelhança de modo demasiadamente estrito. Assim, pode mudar nomes de personalidades históricas (que se transformam em personagens no seu interior), alterar ações, espaços, situações, além de dar mais ênfase ao interno, ao privado, ao indivíduo e ao invento.
É sob essa ótica que são apresentados e representados a feminista Flora Tristán e seu neto, o pintor Paul Gauguin, na obra literária de Mario Vargas Llosa (2003) que se intitula O paraíso na outra esquina. Mesmo nominadas, em correspondência aos seres de real existência que as originam, as personagens em evidência já seguem à lógica da ficção ao adentrarem no texto ficcional, norteando-se, pois, por uma questão de estatuto. Não se trata, portanto, de checar os acontecimentos narrados
198 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
com aqueles cujos eventuais documentos possam atestar sua ocorrência real, mas de examinar qual modo de leitura nos é proposto pelo autor e pelos editores da obra em questão.
Flora Tristán (1803-1844): Escritora e pensadora francesa de ascendência peruana, reconhecida como uma das fundadoras do feminismo moderno. Seu pai, um aristocrata peruano radicado em Paris, morre precocemente. Para fugir da miséria, casa-se aos 17 anos e tem três filhos, uma delas, Aline, será a futura mãe do pintor Paul Gauguin. Decepcionada com o casamento devido aos maus-tratos a que estava submetida, passa a trabalhar como empregada e inicia uma árdua batalha pela guarda dos filhos. Vai ao Peru tentar recuperar a herança que lhe corresponde e, ao ver as desigualdades naquele país, inicia sua luta pelos direitos e pela liberdade da classe operária e das mulheres. Retorna à França e viaja por todo o país para dar apoio aos trabalhadores, sendo a criadora do slogan: “Proletários do mundo, uni-vos”, convertendo-se na primeira mulher a falar de socialismo e da luta proletária. Vítima do tifo, falece aos 41 anos deixando registradas suas ideias e vivências em diversos textos, como: Peregrinações de uma pária (1838), Passeios em Londres (1840), A união operária (1843) e A emancipação da mulher (1845-46).Para saber mais, assista:à reportagem Sucedió en el Perú – Flora Tristán, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=hedxHqEv5D4>.ao documentário-ensaio Flora (2011, 27 min.) dirigido por Lorena Stricker, trailer disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=m_qejaCwm-Q>Conheça também o Centro da Mulher Peruana – Flora Tristán, acessando a web da instituição: < http://www.flora.org.pe/web2/>.
Paul Gauguin (1848-1903): Órfão de pai desde muito pequeno, passou a infância entre as cidade de Paris e Lima, de onde procedia parte da sua família materna. Em 1865, desistiu de estudar e embarcou para o Rio de Janeiro, iniciando assim uma vida de viajante que o permitiria conhecer muitos lugares. Por um período, trabalhou em Paris como agente de câmbio mas, depois da crise de 1882, já casado e com quatro filhos, decidiu dedicar-se inteiramente à pintura. Iniciou-se no Impressionismo, passando ao Simbolismo. Teve intenso contato com os irmão Van Gogh: Theo era seu marchand, Vincent convidou-o a compartilhar experiências artísticas em Arles no ano de 1888. Seu interesse pelo primitivismo levou-o ao Taiti, lugar onde realizou as suas principais obras pictóricas. Para saber mais, assista:Paul Gauguin. Direção de Alain Resnais, 1950, 12 min.Paul Gauguin, um lobo atrás da porta (Wolf at the door). Direção de Hennig Carlsen, 1986, 102 min. Rumo ao paraíso (Paradise found). Direção de Mario Andreacchio, 2003, 89 min.Impressionistas – Paul Gauguin, disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=1932>.Leia os textos sobre a obra e vida do pintor, disponíveis em <http://mestres.folha.com.br/pintores/10/>.O romance A lua e cinco tostões, de William Somerset Maugham (1919), está baseado na vida do pintor. Visite os sites <http://oikabumrio.org.br/paulgauguin/> e < http://www.paul-gauguin.net/> para visualizar suas obras pictóricas.
Para conhecer
FIGURA 99 - Flora Tristán
FONTE: <http://encontrarte.aporrea.org/imagenes/108/flora-2.
jpg>.
FIGURA 100 - Autorretrato de Paul Gauguin, óleo sobre tela,
1889. FONTE: <http://4.bp.blogspot.
com/-9w8cq-x21xI/T_7qDq2trFI/AAAAAAAALOM/-
4RPR9K10a0/s1600/Self-Portrait+by+Paul+Gaugain-1889.
jpg>.
199
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
Mario Vargas Llosa (1936-): Escritor nascido no Peru, radicado na Espanha, é um dos mais importantes romancistas e ensaístas de língua espanhola. Ganhou inúmeros prêmios pela sua obra, entre eles o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Defensor de ideias neoliberais, foi candidato à presidência do Peru em 1990. Graduado em Literatura pela Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, 1958), no ano seguinte, o escritor recebeu bolsa de estudos para cursar doutorado em Filosofia e Letras na Universidad Complutense de Madrid. Defendeu a tese de doutoramento em 1971. (Cf. MARIO VARGAS LLOSA, disponível em: <http:// www.mvargasllosa.com, acesso em: 02 fev. 2005)Entre suas principais obras estão: Os chefes (1959), A cidade e os cachorros (1963), A casa verde (1966), Conversa na catedral (1969), Pantaleão e as visitadoras (1973), Tia Júlia e o Escrevinhador (1977), A guerra do fim do mundo (1981), Elogio da madrasta (1988), A verdade das mentiras (1990), Lituma nos Andes (1993), Os cadernos de Dom Rigoberto (1997), Cartas a um jovem escritor (1997), A festa do bode (2000), A linguagem da paixão (2001), Travessuras da menina má (2006) e O sonho do celta (2010). Entre as produções críticas do intelectual, estão: Carta de batalla por Tirant lo Blanc (1969); Historia secreta de una novela (1969); García Márquez: historia de un deicidio (1971, tese de doutorado); La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (1975); Entre Sartre y Camus (1981); La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996); Cartas a un joven novelista (1997); El lenguaje de la pasión (1999); Bases para una interpretación de Ruben Darío (2001, tese de licenciatura); La verdad de las mentiras (2002); La tentación de lo imposible: Los Miserables de Victor Hugo (2004); Un demi-siècle avec Borges (2004).Alguns de seus romances foram adaptados ao cinema:A cidade e os cachorros (La ciudad y los perros). Direção de Francisco J. Lombardi, 1985, 135 min.Jaguar (The jaguar). Direção de Sebastián Alarcón, 1986, 90 min.A Paixão de Júlia (Tune in tomorrow). Direção de Jon Amiel, 1990, 107 min.Pantaleão e as visitadoras (Pantaleón y las visitadoras). Direção de Francisco J. Lombardi, 2000, 137 min.A festa do ditador (La fiesta del chivo). Direção de Luis Llosa, 2005, 132 min.Para saber mais sobre o autor, acesse <http://www.mvargasllosa.com/> e <http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vargasllosa/home.htm>
Saiba mais!
FIGURA 101 - Mario Vargas LlosaFONTE: <http://lavozdelamemoria.files.wordpress.
com/2010/12/mario-vargas-llosa1.jpg>.
Podemos considerá-la como ficcional, em primeiro lugar, porque seu paratexto assim nos indica, conforme a ficha catalográfica — “romance peruano” (p. 04) e a epígrafe de Paul Valéry — “Que seria, pois, de nós, sem a ajuda do que não existe?” (p. 07). O afastamento da mera reprodução dos fatos e sujeitos históricos já começa a ser definido nas abas do dito livro, onde Wladir Dupont afirma que estamos diante de um romance. Esse tradutor da destacada criação do escritor peruano para a língua portuguesa informa que “embora também baseado em fatos comprovados, é apresentado de forma mais vagarosa, reflexiva, permeado de voos mais literários”.
200 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Localizado o estabelecimento do pacto romanesco, por meio dos expedientes antes identificados, a economia da narrativa permite inferir, apesar das volumosas descrições espaciais, que aí ocorre um visível predomínio do interno sobre o externo, conforme atestam várias incursões ao íntimo dos dois protagonistas. Tal veiculação se dá por meio de uma mistura de discurso indireto livre com discurso dirigido ao modelo, esse, em segunda pessoa, característico de biografias laudatórias. Referida mescla discursiva é paralela à intercalação dos capítulos (um centrado em Flora, outro em Paul), bem como à utilização combinada desses nomes e dos apelidos dos protagonistas (Andaluza/Madame-la-Colère e Koke), denotando um jogo do narrador entre distanciamento e aproximação às personagens.
A instância narrativa, desse modo, descreve com propriedade: os mal-estares de Flora, suas dores de estômago e útero; a repugnância perante o sexo com o marido; as paixões homossexuais por Olympia Maleszewska e Eléonore Blanc; os galanteios e assédios, por parte de vários homens com os quais não concretiza relações sentimentais; sua comoção diante das ínfimas condições de trabalho dos operários com quem mantém contato, em peregrinações “diaspóricas”. O despertar da consciência da protagonista, que a leva a agir, conscientizando os trabalhadores face às injustiças sociais, acontece na viagem a Arequipa (Peru), quando seu navio aporta em Cabo Verde, onde se depara com as atrocidades da escravidão.
Diáspora: Utilizamos “diáspora” em conformidade com Stuart Hall, ao tentar definir a situação e o sentimento dos que, como ele, já não pertencem à terra de onde partiram nem ao local escolhido para morar. Cf. HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p. 103-33.
Verbete
Nas partes do romance que dizem respeito a Gauguin, são frequentes as experiências sexuais desse, descritas com detalhes, assim como seu processo criativo e reflexões sobre a arte e o fazer artístico; sua emoção frente à morte da filha, Aline Gauguin, e ao sofrimento da mãe, Aline Chazal, a qual chegou a padecer abusos sexuais por parte do pai. Outros indicadores da relevância dada ao fator interno da personagem
201
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
são: seu casamento com a dinamarquesa Mette Gad; a paixão pela bretã Madeleine Bernard; as desavenças com Vincent Van Gogh; os envolvimentos amorosos com a javanesa Anah, as nativas taitianas Titi Peitinhos, Pau’ura e Teha’amana, bem como com a marquesana Vaeoho; o calvário perante as transformações ocasionadas pela sífilis, contraída no Panamá em 1887.
Tanto em relação à vida de Gauguin quanto à de Flora, não é verificada a construção de personagens como tipos, nem de subjetividades unificadas, uma vez que esses protagonistas são desvelados em suas complexidades individuais, não se constituindo monoliticamente. Para escapar à pobreza, vivenciada após 1807, ano da prematura morte do pai, de quem é filha bastarda, Florita vai trabalhar na oficina de gravura e litogravura do mestre André Chazal em 1819. O casamento com o patrão resulta em três filhos — Alexandre, Ernest-Camille e Aline — e numa série de maus tratos, que a levam ao campo em 1825, alegando necessidade de recuperação do primogênito, o qual morrerá em 1831. Apesar de agredir a mulher, Chazal sempre vence processos contra ela e pela guarda dos filhos.
Visando fugir do esposo e da justiça, a protagonista embrenha-se pelo interior da França em 1832. Durante o calvário em que sua vida se transforma, visita o primo, Dom Mariano de Goyeneche, na cidade de Bordeaux. Na casa dele, refugia-se por quase um ano, após deixar Aline sob os cuidados de uma senhora que se apieda de sua história. Ficando com o pai, Ernest-Camille falecerá posteriormente. Dom Mariano providencia a viagem da prima a Arequipa. Ela tem por objetivo convencer Dom Pio Tristán a reconhecê-la como filha legítima do irmão desse poderoso peruano. Planeja, com isso, aferir renda que proporcione conforto material e espiritual a si mesma e a seus dois filhos, longe do desequilibrado marido. Frustrada essa expectativa, a Andaluza retorna a seu país em 1835.
Permanece na França até 1838, informando-se, participando de encontros literários e políticos, escrevendo obras resultantes de sua observação das sociedades que visitou. Em 1839, Flora vai a Londres, presencia grotescos espetáculos de humilhações a meretrizes, praticados pelos ricos da cidade, e decide entregar-se à causa revolucionária. Após
202 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
intensa atividade em prol da conscientização dos trabalhadores, viajando a várias cidades francesas, Madame-la-Colère falece em 1844. Segundo a própria definição, evolui de pária a ativista feminista e socialista. Seu posicionamento político e sua sexualidade não são dados como absolutos, mas se vão construindo em relação com o Outro, do mesmo modo que seus pontos de vista sobre a religião.
Por sua vez, Gauguin conhece a experiência diaspórica ao morar, ainda criança, no Peru. Os deslocamentos espaciais se intensificam quando ele serve por sete anos à marinha, de 1865 a 1871. Depois, trabalha na bolsa de valores de Paris e se casa em 1873. A vida burguesa, à qual parecia se conformar, desmorona-se quando se encontra com a pintura e parte com a família à Dinamarca em 1884, de onde retorna em 1885, separando-se da mulher. Necessitando abrir mão da comodidade para se habilitar à vocação, segue uma perspectiva idealista, que o leva a vivenciar as seguintes diásporas: Panamá e Martinica (1887); Bretanha (de 1888 a 1890) e Taiti (1891-1893).
No último desses lugares, o artista busca o paraíso perdido, a ser reencontrado entre os selvagens. Entretanto, aí havendo somente estilhaços de um mundo livre dos preconceitos e do racionalismo europeus, retorna à França, onde fica até 1895, quando volta ao Taiti, de onde sai para as ilhas Marquesas em 1901. Ele crê que o arquipélago, onde morre em 1903, abrigaria os últimos resquícios de uma vida regida pelo prazer, a liberdade sexual e a ausência do dinheiro. Também pensa encontrar o canibalismo e a primitiva arte da tatuagem. Igual a sua avó, Koke está em constante movimento, em eterna procura das utopias, que fazem valer o sentido semântico de não-lugar, do qual se reveste tal palavra. Ademais, a experiência homossexual do artista com um taata vahine ou mahu, quer dizer, com um homem-mulher taitiano, delata a multiplicidade e a provisoriedade da sua identidade sexual, distanciando-se dos papéis tradicionalmente definidos de homem e mulher.
No romance em análise, não ocorre uma idealização do passado, mas tanto a natureza dos referentes quanto sua relação com o mundo real são problematizadas. A falta de indicativos da origem dos dados biográficos aí inseridos não estabelece a pura configuração do gênero biográfico, a ser regido pela semelhança, devendo definir a que campos
203
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
do real aponta. Inicialmente, o livro é merecedor de averiguação sob o prisma dos Estudos Culturais por se aproximar a uma notação — a biografia — que não compõe o conjunto da “alta cultura” e vem sendo recebida com êxito pelo público, assim como alcançando ampla difusão pelos meios mediáticos.
Por outro lado, sua proximidade — e concomitante não enquadramento — ao romance histórico faz com que transite por aqueles entrelugares tão caros aos estudos pós-estruturalistas, os quais se constituem numa das mais significativas importações teóricas realizadas pelos Cultural Studies britânicos. A posição relativa de limiar, de local-limite, ocupada pela referida narrativa, em função de sua impureza, é notada nesta passagem: “nem francês nem europeu, Paco. Embora minha aparência diga o contrário, sou um tatuado, um canibal, um desses negros lá do Taiti” (VARGAS LLOSA, 2003, p. 131).
A representação da América Latina, região outrora colonizada, bem como a resposta às narrativas-mestras europeias, provinda de um escritor cujo berço é uma ex-colônia, habilitam esse artefato de Vargas Llosa a certa perspectiva pós-colonialista, evidente na visão de que a arte deve “abrir-se ao mundo, misturar-se às demais culturas, arejar-se com outros ventos, outras paisagens, outros valores, outras raças, outras crenças, outras formas de vida e de moral” (VARGAS LLOSA, 2003, p. 446). Da mesma forma, o entrecruzamento das vidas dos protagonistas opera como exercício de literatura comparada, ao justapor: um homem e uma mulher; dois períodos distintos (meados e fim do século XIX); diferentes sociedades (França, Peru, Inglaterra, Taiti e ilhas Marquesas); os escritos autobiográficos de Flora e a obra pictórica de Gauguin.
Todos os indícios pós-estruturalistas, pós-coloniais e comparatistas, detectados, mas aqui não aprimorados, em virtude do enfoque culturalista, servem para confirmar a existência das mencionadas zonas de correspondência entre tais formulações críticas e as preocupações dos Estudos Culturais. Uma vez que o romancista peruano é doutor em Filosofia e Letras e também exerce atividades de crítico, parece transformar em prática literária seus conhecimentos das teorias mais proeminentes do século XX, abrindo-se a todas essas possíveis leituras, e pondo em ação a fecunda interdisciplinaridade que passara a balizar
204 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
os Estudos Culturais na década de 1970, a partir do reconhecimento dos limites dos estudiosos em relação a áreas afins, como a economia, a história e a sociologia.
Dessa maneira, o autor em destaque insere, no plano de seu romance, os três mais importantes sinais que o Culturalismo desenvolve até os anos de 1980: o caráter interdisciplinar; a renovação dos objetos e dos problemas da cultura; a combinação entre pesquisa e engajamento. A recusa das hierarquias acadêmicas não passa apenas por aquela espécie de paródia da biografia, mas igualmente pela divulgação de textos populares e não canônicos, aproveitados na narrativa ficcional lloseana. No que se refere à construção de Flora, destacamos os opúsculos escritos pelo ser histórico que inspira essa personagem: A união operária; Peregrinações de uma excluída; As peregrinações de uma pária; Sobre a necessidade de dar uma boa acolhida às estrangeiras; Passeios por Londres. Por outra via, as menções a Fourier, Proudhon, Robert Owen, Saint-Simon, e ao livro A viagem por Icaria, de Étienne Cabet, provocam a recirculação desses autores, situados à margem do “socialismo científico”.
Muitas vezes tratados como representantes do “socialismo utópico”, sendo desprezados por sua carga de ingenuidade e bizarrice, tais pensamentos desalojam outros “nobres” motivos de intertexto. Do mesmo modo, a organização dos capítulos dedicados a Flora é orientada por eventos que se desenrolam entre abril e novembro de 1844, à maneira de um diário íntimo, outra subespécie do gênero biográfico. As constantes viagens da memória, inseridas para recompor o passado da protagonista, reforçam a modificação verificada no emprego dos objetos dignos de estudo e o questionamento do cânone ocidental, literário ou historiográfico. É o que também ocorre no segmento centrado em Gauguin, pois todos os capítulos aí constantes são organizados em função de telas produzidas pelo artista. Além disso, registramos a referência ao livro que o teria inspirado a viajar ao Taiti: Le mariage de Loti ou Rarahu, de Pierre Loti.
Por curioso que possa parecer, não são as posições liberais de Vargas Llosa que vêm à tona quando ele combina sua pesquisa histórica, resultante em artefato literário, com uma perspectiva engajada. Tal engajamento se manifesta, entre outros fatos, na crítica à circulação
205
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
do sistema literário, vulnerável às repercussões ideológicas da mídia, e representada pelas dificuldades que a imprensa impõe à venda dos livros de Flora, por ela mesma realizada, de porta em porta. Não deixa de ser irônica a observação de uma das mais divulgadas premissas econômicas do liberalismo — a lei do mercado — responsável pelo pauperismo do fim da vida de Gauguin, o qual somente após a morte alcança alta cotação nas flutuações das bolsas de arte europeias. Essas engrenagens mercadológicas assim nos são mostradas por Néstor Garcia Canclini:
Tanto o artista que, ao pendurar os quadros, propõe uma ordem de leitura quanto o artesão, que articula suas peças seguindo uma matriz única, descobrem que o mercado os dispersa e ressemantiza ao vendê-los em países diferentes, a consumidores heterogêneos. Ao artista restam às vezes as cópias, ou slides, e algum dia um museu talvez reúna esses quadros, de acordo com a reavaliação que experimentaram, em uma mostra na qual uma ordem nova apagará a enunciação ‘original’ do pintor. Ao artesão resta a possibilidade de repetir peças semelhantes, ou ir vê-las — seriadas em uma ordem e em um discurso que não são os seus — num museu de arte popular ou em livros para turistas” (CANCLINI, 2003, p. 330).
Todavia, a remodelação da sociedade e de suas formas artísticas pode coincidir com as demandas dos movimentos sociais. A dimensão histórica do romance convoca vozes reprimidas pela história, ao elencar visões de dois seres à margem da sociedade do século XIX, em função da etnia, da posição social, da sexualidade e do gênero. Além de contar com Flora e Gauguin, a órbita romanesca é composta por outras personagens off-centro: escravos, homossexuais, índios, latino-americanos, meretrizes, mulheres, polinésios, proletários, negros. Apenas tangenciadas, quando não excluídas, por tradicionais compêndios de feição historicista ou positivista, as histórias de seres ex-cêntricos são contempladas pelo narrador, entremeando-se às vidas dos dois protagonistas.
Ilustram tal ocorrência, dentre outras, as passagens: da prostituta encontrada por Gauguin no Panamá, conhecida por encarnar uma versão local do mito da “vagina dentada”; das meninas vendidas pela própria família no Taiti; da freira arequipenha que se evade do convento,
206 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
simulando a própria morte. Também compondo esse conjunto, destaca-se especialmente a figura feminina envolvida na atrapalhada revolução que
começou quando, em Lima, a Convenção Nacional elegeu, para suceder ao presidente Agustín Gamarra, que terminou seu mandato, o grande marechal dom Luis José de Orbegoso, em vez do general Pedro Bermúdez, protegido de Gamarra e, sobretudo, da mulher deste, dona Francisca Zubiaga de Gamarra, apelidada de Marechala, uma personagem cuja auréola de aventura e lenda a fascinou desde que dela ouvira falar pela primeira vez. Dona Pancha, a Marechala, vestida de militar, havia combatido a cavalo ao lado de seu marido e governado com ele. Quando Gamarra ocupou a presidência, ela teve tanta ou mais autoridade que o marechal nos assuntos do governo e não vacilou em puxar uma arma para impor sua vontade, em brandir o chicote ou em esbofetear quem não lhe obedecesse ou respeitasse, como teria feito o mais beligerante macho (VARGAS LLOSA, 2003, p. 277).
A interdisciplinaridade não se firma somente com as notadas ex-centricidades, peculiares ao Pós-modernismo, mas também com as correntes reestruturadoras dos estudos historiográficos. Do mesmo modo que os Estudos Culturais, essas tendências, abrigadas sob o rótulo de “Nova História”, cobram vigor a partir da segunda metade do século XX. Como os novos historiógrafos, Vargas Llosa valoriza a oralidade, procedendo a frequentes reenvios, contextualizações e rememorações de fatos contados em outros momentos da trama. Os casos lembrados pela memória recobram importância, remetendo a essas narrativas, transmitidas de geração a geração, de que é exemplo aquela controvertida batalha peruana:
E se todas aquelas batalhas fossem tão disparatadas como a que você presenciou na Cidade Branca? Um caos humano que, depois, os historiadores, para satisfazer o patriotismo nacional, convertiam em coerentes manifestações de idealismo, valor, generosidade, princípios, nelas apagando tudo que fosse medo, estupidez, avidez, egoísmo, crueldade e ignorância da maioria, sacrificada de maneira implacável pela ambição, pela cobiça ou pelo fanatismo da minoria. [...] Sim, Florita: a história vivida era de um ridículo cruel, e a escrita, um labirinto de imposturas patrioteiras (VARGAS LLOSA, 2003, p. 307-308).
207
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
A recorrência a personagens localizadas na base da pirâmide social conforma o campo da “história vista de baixo”, ângulo também favorecido pelo pintor da obra pictórica A irmã de caridade, cuja voz é processada pelo autor do livro O paraíso na outra esquina: “Um quadro que mostrava a total incompatibilidade de duas culturas, de seus costumes e religiões, a superioridade estética e moral do povo fraco e avassalado e a inferioridade decadente e repressora do povo forte e avassalador” (p. 480). Aos marcados intertextos com a economia e a história, soma-se o diálogo com a sociologia, por meio de uma perspectiva que não ratifica as redutoras oposições binárias opressor x oprimido, dominante x dominado, centro-periferia, ao considerar as diversas condições através das quais se processa a hegemonia, por cujo intermédio são alocadas a direção e a manutenção de determinada ordem social, tanto em sociedades periféricas (América Latina, Polinésia) quanto em capitalistas centrais (Europa).
As ações dos grandes industriais e banqueiros europeus, das elites locais e dos colonos do terceiro mundo, aliadas à presença das igrejas católicas e protestantes, não são vistas como determinadas. Do contrário, é enfatizada a criação da própria história dos oprimidos por meio de sua luta social, a investir contra o poder financeiro e patriarcal no segmento protagonizado por Flora e contra a moral burguesa na parte centralizada em Gauguin. Em lugar de um posicionamento populista, que abordaria as culturas à margem da dominante, mas continuaria a ter essa como legítima, notamos o relevo dado às estruturas de sentimento, responsáveis, junto a outros fatores, pelas diferenças entre as identidades nacionais, étnicas, sexuais ou regionais. A observação mais próxima das interações sociais no cotidiano e dos significados e valores culturais das diferentes sociedades revela um quadro em que a sombria Europa se descortina tão ou mais miserável do que a América Latina e a Polinésia. Essas duas regiões são narradas com sol e colorido, ainda que não seja omitido o enorme abismo
História vista de baixo: O termo provém do ensaio de Edward Thompson (1966), nomeando abordagens alternativas à história das elites. Abre possibilidades de sínteses mais ricas do processo histórico, proporcionando meio de reintegrá-lo aos que podiam tê-lo por perdido. SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: BURKE, 1992, p. 38-62.
Você sabia?
208 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
entre suas classes, nem obliteradas as circunstâncias e estruturas de suas pobrezas.
A presença de uma cultura dominante (branca europeia) assegura comunicação imediata entre todos os seus membros, radicados na própria matriz ou em outros continentes, contribuindo à desmobilização das classes dominadas (índios, escravos, proletários europeus etc.). A ordem estabelecida é legitimada através da hierarquização, de maneira que as culturas dominadas se definem por sua distância em relação à dominante. A hierarquia se estabelece, fundamentalmente, por meio do poder simbólico do jornal, do romance e do cristianismo, seja ele católico ou protestante. As culturas locais ou regionais, contrapostas a essa forma de dominação, dão sinais de resistência, como nas festas taitianas onde os nativos usufruem a liberdade sexual, nas celebrações religiosas dos indígenas peruanos, nas crenças e superstições desses povos, na manutenção das línguas quíchua no Peru e maori na Polinésia.
Por sua vez, Flora e Gauguin resultam do consenso entre culturas em choque, mesmo que se oponham à cultura dominante. Eles capitalizam simbolicamente os frutos dessa oposição e de suas inclinações às culturas subalternas, transferindo-os à ação política e artística, que os torna reconhecidos nessas áreas, embora tardiamente. Contra a vontade de ambos, a extrema-unção recebida pela feminista e o enterro do pintor em cemitério católico são sintomáticos do poder simbólico, “uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder” (BOURDIEU, 2004, p. 15).
A força dos símbolos hegemônicos, a advogar uma identidade constituída na negação do Outro, transparece nos mundos sociais do século XIX. A representação dessas sociedades, alicerçadas sob a bandeira da construção de nacionalidades homogêneas, faz com que aflorem questões correspondentes à virada etnográfica sofrida pelos Estudos Culturais a partir da década de 80 do século XX. Assim, Madame-la-Colère e Koke fazem parte de um manifesto processo de degradação dos limites que moldam tanto suas identidades individuais quanto as culturas nacionais do Peru, Taiti e ilhas Marquesas, de França e Inglaterra. Os protagonistas são definidos através de suas situações relativas a diversas coordenadas (classe, etnia, gênero, nação), não se
209
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
reduzindo a uma delas. Estreitamente vinculando-se a isso, são levados em conta os fluxos migratórios, ocorridos massivamente nos anos de 1800, e a homogeneização/diferenciação, presentes em tal época, ainda que só tivessem se agravado no final do século XX, pondo em risco a organização do Estado-nação, da cultura e da política nacional:
No mundo contemporâneo, essas ‘comunidades imaginadas’ estão sendo contestadas e reconstituídas. A idéia de uma identidade européia, por exemplo, defendida por partidos políticos de extrema direita, surgiu, recentemente, como uma reação à suposta ameaça do ‘Outro’. Esse ‘Outro’ muito freqüentemente se refere a trabalhadores da África do Norte (Marrocos, Tunísia e Argélia), os quais são representados como uma ameaça cuja origem estaria no seu suposto fundamentalismo islâmico. Essa atitude é, cada vez mais, encontrada nas políticas oficiais de imigração da União Européia (King, 1995). Podemos vê-la como a projeção de uma nova forma daquilo que Edward Said (1978) chamou de ‘orientalismo’ — a tendência da cultura ocidental a produzir um conjunto de pressupostos e representações sobre o ‘Oriente’ que o constrói como uma fonte de fascinação e perigo, como exótico e, ao mesmo tempo, ameaçador (WOODWARD, 2000, p. 24).
Ainda sob o prisma da reconfiguração dos Estudos Culturais, as lutas verificadas no romance dão-se no terreno dos movimentos sociais, como provam a insuflação dos marquesanos contra os impostos, realizada por Koke, e as pregações da Andaluza, visando à união dos operários franceses, independentemente de agremiações partidárias. Outra importante marca da virada etnográfica é o desvendamento dos mecanismos de codificação/decodificação, relacionado à ativa receptividade dos produtos da mídia, principalmente, da televisiva. A aferição dessa incidência numa obra literária torna-se um pouco dificultada, em virtude da indisponibilidade dos meios interativos de que a televisão se utiliza, muitos deles, financiados por merchandising, campanhas governamentais, anúncios publicitários etc. Entretanto, não deixa de ser conveniente a averiguação da maneira pela qual o livro, como produto cultural, tem sua recepção orientada, não por profissionais das letras, mas pelos representantes da grande imprensa.
210 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
No caso da edição brasileira d’O paraíso na outra esquina, isso é atestado por sua contracapa, onde cintilam três releases apreciativos de talhe impressionista, extraídos dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo, todos do centro do país. Na discussão do circuito de produção-circulação-recepção dos artefatos literários, também não poderíamos passar ao largo de um fato que nos vem provocando, desde a primeira leitura do romance em apreciação: a simpatia do autor por suas personagens revolucionárias e libertárias. Isso poderia ser tomado como estratégia de marketing e se vincular a uma abordagem de economia política da mídia e da cultura, viés um pouco esquecido pelos Estudos Culturais desde os anos de 1980, com a despolitização e marginalização dos “pais fundadores” (Hoggart, Thompson, Williams, Hall), em benefício de autores catalogados como pós-modernos.
Então, reconhecendo seu público-alvo naqueles que poderiam comungar com suas discussões teóricas sobre a literatura, será que Vargas Llosa estaria submetendo suas concepções ideológicas direitistas ao raciocínio econômico da rentabilidade em curto prazo e se orientando em função dos horizontes de expectativas de seus virtuais leitores? Caso essa hipótese pudesse ser confirmada, não teria sido mais fácil associar-se à moda da relativização e da desconstrução indiscriminadas? No entanto, o escritor peruano conserva a perspectiva do embate, da prática construtora dos espaços de negociação e transformação, aliando-se às questões com as quais se defrontam os Estudos de Cultura nos anos de 1970 e que devem ser retomadas, não seria demais repetir.
O estatuto do cultural, a observação das conexões interdisciplinares produtivas e o modo como o engajamento pode mover o trabalho intelectual são trazidos à luz pelo romance em tela, cuja ambientação no século XIX parece sinalizar para as mudanças na economia global. Nesta fase do sistema econômico mundial, a que Frederic Jameson chama de “capitalismo tardio” (JAMESON, 1996), as lutas passam a ser fragmentadas, agrupando-se majoritariamente em torno de entraves sofridos por grupos que, em muitos casos, já não são minoritários. As necessidades de entrada no mercado de trabalho, reconhecimento dos direitos civis, livre orientação sexual ou mesmo de um visto de permanência revelam-se mais urgentes do que os dogmas revolucionários.
211
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
As condições objetivas e subjetivas de uma radical transformação da ordem vigente veem-se obstaculizadas em virtude da dispersão do proletariado, cujos patrões estão, a cada dia, mais distantes e inacessíveis, em função da internacionalização do capital. Em tal cenário, ganham importância a volta da história no domínio da literatura, a ênfase na recepção e a atenção aos estudos pós-coloniais, juntamente com a rejeição aos binarismos rígidos ao redor da cultura de massa e da alta cultura. Como os Estudos Culturais se constituem numa formação discursiva, não têm origem única, abarcam discursos múltiplos e se recusam a ser uma grande narrativa, resultam proveitosas suas interdisciplinaridades.
Desse modo, a prática analítica mostra-se frutífera ao considerar as políticas culturais da diferença, de lutas em torno do diferente, da produção de novas identidades e da entrada de novos sujeitos na cena política e cultural, como bem observa Stuart Hall (2003, p. 25-50). É assim que a estruturação d’O paraíso na outra esquina oxigena o dominante gênero romanesco (WATT, 1990, p. 261-262), valendo-se de estratégias da biografia que, por sua vez, se constitui em expressão de uma cultura residual, a termos em vista sua gênese e expressividade no Ocidente do século XVIII, a pequena utilização posterior e a revitalização por que passa no final do século XX.
Configura-se então uma tradição emergente, geralmente associada a posicionamentos em torno da revitalização do passado discursivo e de novas identidades, até então marginalizadas pelo discurso literário hegemônico, mas que passam a compor o cenário sociocultural da Pós-modernidade. Exemplar dessa emergência, o romance em exame mostra que os pluricentros geográficos nele representados correlacionam-se às multidimensionalidades dos sujeitos nele envolvidos. Narrador e personagens indicam que o paraíso das utopias pode estar sempre mais
212 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
adiante, mas o engajamento não foi abolido, nem substancialmente modificado ao se hibridizar na “atuação” de Canclini ou na “agência” de Homi Bhabha.
Mudam, sim, as arenas onde os combates são travados, de modo que um livro, uma disciplina acadêmica, um trabalho crítico se desincumbem da ilusória pretensão de sozinhos desafiarem as estruturas de um poderio multipolar que se solidifica vertiginosamente neste terceiro milênio. Entretanto, ao revelarem os mecanismos de fixação e manutenção da hegemonia, e ao oferecerem meios de expressão às culturas subalternas, operam como locais de combate, cuja eficácia fica comprometida caso se desalojem de práticas sociais correspondentes e mutuamente implicadas às renovações da esfera teórica. Já que o romance aqui analisado se desvia das posições conservadoras publicamente assumidas por seu autor, resta-nos torcer para que o fracasso do político liberal continue a ceder espaço ao sucesso do romancista engajado, num tempo em que, tal como no filme italiano A classe operária vai ao paraíso, esquerda e direita também esbarram em problemas de identidade.
Atuação: Mais do que ações, as práticas culturais são atuações. Representam, simulam as ações sociais, mas só às vezes operam como ação. Talvez o maior interesse para a política de considerar a problemática simbólica não resida na eficácia pontual de certos bens ou mensagens, mas em que os aspectos teatrais e rituais do social evidenciam o oblíquo, o simulado e o distinto em qualquer interação. Ver: CANCLINI, 2003, p. 350.
Agência: A agência pós-colonial é a ação que subverte o discurso imperialista. Os elementos de consciência social imperativos para a agência (ação deliberativa, individuada e especificidade de análise) podem ser pensados agora como externos à epistemologia que insiste no sujeito anterior ao social ou no saber do social negando a diferença particular na homogeneidade transcendente do geral. Cf. BHABHA, 2003, p. 239-274.
Você sabia?
Referimo-nos ao filme A classe operária vai ao paraíso (1971), no qual um operário-modelo defronta-se com a tensão entre a descoberta da consciência de classe e os sonhos de consumo da classe média.
Atenção!
213
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
7 ATIVIDADES
1. Qual o conceito de espaço biográfico? Discuta-o no chat.
2. Em que se aproximam e diferem autobiografia, autobiografismo, biografia e biografismo? Encaminhe suas respostas ao tutor.
3. Indicamos os seguintes textos para leitura, a serem divididos entre a turma: CINTRA, ASSIS. As amantes do Imperador. Disponível em: <http://www.visionvox.com.br/biblioteca/a/as-amantes-do-imperador.pdf>. CINTRA, ASSIS. Os escândalos de Carlota Joaquina. Disponível em: <http://www.miniweb.com.br/historia/Artigos/i_contemporanea/PDF/carlota.pdf>. SETÚBAL, Paulo. A Marquesa de Santos. Disponível em: <http://www.superdownloads.com.br/download/115/marquesa-de-santos-paulo-setubal/redir.html>.
VÁRZEA, Virgílio. George Marcial. Disponível em: <http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/georgemarcial-virgilio.htm#Duas_palavras>.
Resuma, critique, analise essas obras literárias, de acordo com o que você aprendeu na presente aula. Compartilhe suas respostas na Plataforma Moodle. A partir das postagens de seus colegas, compare os textos entre si.
4. Assista ao primeiro capítulo da telenovela Dona Beija, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=dOrlJCOVpmc>. Em quais aspectos essa produção mediática se aproxima aos livros anteriormente lidos? Como aí aparecem tópicos já estudados sobre cultura de massa e indústria cultural? Discuta essas questões no chat.
5. Escute o samba-enredo “Xica da Silva”, apresentado em 1963 pelo G.R.E.S Acadêmicos do Salgueiro e preste atenção na letra, disponível em < http://letras.mus.br/salgueiro-rj/683008/>. Em que aspecto esse samba-enredo assemelha-se aos textos analisados neste capítulo? Como os autores da canção apresentam a personagem homenageada? Para aprofundar sua reflexão, relacione a letra do samba com outras
214 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
informações sobre a protagonista: leia o romance Xica da Silva (1976) de João Felício dos Santos, assista ao filme homônimo dirigido por Cacá Diegues (1976, 107 min) e à telenovela produzida pela extinta Rede Manchete (1996-1997), disponível por capítulos em: <http://www.dailymotion.com/relevance/search/xica+da+silva/1>. Encaminhe seu trabalho ao tutor.
6. Recomendamos a trilha sonora da peça Chico Canta, composta para a montagem da peça Calabar, elogio da traição em 1973, na qual se destacam:
“Cala a boca Bárbara” (disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=MT-BxQ98CWA&feature=related>.
“Fado Tropical”, disponível em <http://youtu.be/CYkodkdpo1Y>.
“Vence na vida quem diz sim”, disponível em: <http://youtu.be/8WFb9vwWFMg>.
“Não existe pecado ao sul do Equador”, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=mH4yZRRPc8M>. Escute essas canções, atente a suas letras. Você reconhece alguns dos nomes nelas citados? Com qual notação literária aqui estudada as personagens e situações se relacionam? Desenvolva seu raciocínio na Plataforma Moodle.
8 RESUMINDO
Apesar de encontrarem variados desdobramentos na contemporaneidade, múltiplos gêneros e espécies (auto)biográficos comungam da característica de veicularem “narrativas do eu”, quer dizer, de contarem, embora de diferentes maneiras, uma história ou experiência de vida. A narrativa biográfica se identifica pela narração retrospectiva, em terceira pessoa e sob uma perspectiva ampla. O gênero biográfico difere de outros gêneros que compõem o espaço biográfico, como a autobiografia, o diário íntimo, as memórias e o romance autobiográfico, porque o narrador não fala dele próprio, mas de um outro, deixando suas
215
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
impressões no sujeito do enunciado. Num texto autobiográfico, torna-se fundamental a estruturação
do tempo, a articulação da perspectiva narrativa e a expressão da subjetividade. O narrador interfere subjetivamente na configuração, selecionando eventos e os interpretando de maneira conveniente. O conhecimento dos fatos passados pode contribuir à construção de uma imagem favorável, pois o autor se vale da focalização onisciente sob a própria vida. Ao conhecer o desfecho da história, terá todas as chances de reforçá-la ou de alterá-la.
Hábil orador, o padre Antônio Vieira produziu o “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda” (1640) quase ao final da invasão holandesa. Ele mostrava claramente sua defesa aos portugueses e seu repúdio aos holandeses, contaminando-a com posições individuais e aspectos de sua vida privada. Isso confirma que o sermão analisado se apresenta como uma obra que, além de ser ao mesmo tempo histórica e literária, se marca pelo autobiografismo.
João Felício dos Santos, em seu romance Major Calabar (1960), realiza uma hibridização - dos gêneros biográfico e romanesco - mistura da qual resulta um romance biográfico que recorre à história, recontando reconta a invasão holandesa a estas terras. Embora centrado na dinâmica de uma vida, seu livro focaliza o sujeito mestiço que se tornou importante numa época durante a qual as pessoas de sua raça eram desprezadas, escravizadas e maltratadas.
Do mesmo modo que Major Calabar, encontramos um romance biográfico na obra literária de Mario Vargas Llosa (2003) intitulada O paraíso na outra esquina. Nesse, porém, temos duas histórias de vida que se cruzam por tempos diferenciados, embora um dia se encontrem, e um maior predomínio do interno sobre o externo, do privado sobre o público, do indivíduo sobre o tipo e do invento sobre o evento.
As análises dos dois romances permitem notar o retorno da história aos domínios da literatura, a ênfase na recepção, as questões identitárias e a rejeição aos binarismos rígidos em torno da cultura de massa e da alta cultura. Como os Estudos Culturais se constituem numa formação discursiva, não têm origem única, abarcam discursos múltiplos e se recusam a ser uma grande narrativa, resultam proveitosas
216 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
suas interdisciplinaridades. E assim vamos chegando a nossa última aula. Passou rapidinho, viu?
9 REFERÊNCIAS
A CLASSE OPERÁRIA vai ao paraíso. Direção: Elio Petri. Produção: Ugo Tucci. Itália: Euro International Film, 1971. 01 videocassete.
AGUIAR, Flávio; MEIHY, José Carlos Sebe Bom; VASCONCELOS, Sandra Guardini T. (Orgs.). Gêneros de fronteira: cruzamentos entre o histórico e o literário. São Paulo, Xamã, 1997.
ARAÚJO. Jorge de S. Antônio Vieira e a parenética religiosa, Revista Semear, Rio de Janeiro, v. 2, 1996. Disponível em: <http://www.letras.puc_rio.br/catedra/revista/semear-2.html>. Acesso em: 01 dez. 2008.
ARAÚJO. Jorge de S. Profecias morenas: discurso do eu e da pátria em Antônio Vieira. Salvador: Academia de Letras da Bahia, 1999.
ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Tradução de Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
BAKHTIN. Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BATTISTINI, Andrea. Autobiografismo versus autobiografia. Extrato de: BATTISTINI, A. Genesi e sviluppo dell’autobiografia moderna, or Italian Autobiography from Vico to Alfieri (and Beyond). The Italianist Reading, n. 17, p. 7-22, 1997. Disponível em: <http://www.homolaicus.com/letteratura/narciso/intro_bat1.htm>.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila, Eliana Loureiro de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 7. ed. Traduzido por Fernando
217
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
Tomaz. São Paulo: Bertrand, 2004.
BUARQUE, Chico, GUERRA, Ruy. Calabar – o elogio da traição. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.
BUENO. Eduardo. Brasil: uma História: a incrível saga de um país. São Paulo: Ática, 2003.
BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. Tradução de: New perspectives on Historical Writing.
CALMON, Pedro. História da literatura baiana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1949.
CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. Traduzido por Heloíza Pezza Cintrão e Ana Regina Lessa. São Paulo: EDUSP, 2003.
CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo, 2003.
CHIARA, Ana Cristina de Rezende. O espaço biográfico de Leonor Arfuch: uma nova leitura dos modos como vidas se contam. Matraga, Rio de Janeiro, v.14, n. 21, jul./dez. 2007, pp. 165-169. Disponível em: < http://www.pgletras.uerj.br/matraga/matraga21/arqs/matraga21r01.pdf>.
CHIAVENATO. Júlio José. As lutas do povo brasileiro: do descobrimento a Canudos. São Paulo: Moderna, 1992.
CINTRA, ASSIS. As amantes do Imperador. Disponível em: <http://www.visionvox.com.br/biblioteca/a/as-amantes-do-imperador.pdf>.
CINTRA, ASSIS. Os escândalos de Carlota Joaquina. Disponível em: <http://www.miniweb.com.br/historia/Artigos/i_contemporanea/PDF/carlota.pdf>.
COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. Rio de
218 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
Janeiro: Distribuidora de Livros Escolares, 1972.
DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. Traduzido por Gilson César Cardoso de Souza. São Paulo: EdUSP, 2009.
GALVÃO. Walnice Nogueira. As musas sob assédio: Literatura e indústria cultural no Brasil. 18. ed. São Paulo: Editora Senac,2005.
GAUGUIN, (Eugéne-Henri) Paul. In: WEBMUSEUM PARIS: Disponível em: <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/gauguin/>. Acesso em: 31 jan. 2005.
GOMES. Eugênio (Org.). Vieira: sermões e cartas. 5. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1968.
GUERRA, Gregório de Matos e. Poesias selecionadas. São Paulo: FTD, 1993.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Traduzido por Adelaine La Guardia Resende et al. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Brasília: UNESCO, 2003.
HANSEN, João Adolfo. Esquema para Vieira. In: ROCHA, João Cezar Castro; ARAÚJO, Valdei Lopes de (Orgs.). Nenhum Brasil existe: pequena enciclopédia. Rio de Janeiro: Univercidade, 2003. p. 95-102.
HOLANDA, Dartagnan. Meu amigo João Felício dos Santos. João do Rio, jornal internético., Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <HTTP:joaodorio.com/Arquivo/2004/04,05/meuamigo.htm>. Acesso em: 16 mar. 2009.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Os Estudos Culturais,seus limites e perspectivas: o caso da América Latina. Blog da autora, 2000. Disponível em <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=205>.
JAMESON, Fredric. Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. Traduzido por Maria Elisa Cevasco. São Paulo: Ática, 1996.
LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet.
219
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
MARIO VARGAS LLOSA. Disponível em: <http:// www.mvargasllosa.com>. Acesso: 02 jan. 2005.
MATTELART, André; NEVEU, Érik. Introdução aos estudos culturais. Tradução por Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2004.
MENDES. Margarida V. Comportamento profético e comportamento retórico em Vieira. Revista Semear, Rio de Janeiro, v. 2, 1996. Disponível em: <http://www.letras.puc_rio.br/catedra/revista/semear-2.html>. Acesso em: 01 dez. 2008.
MIRANDA, Ana. Boca do inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
SANTOS. João Felício dos. Major Calabar. São Paulo: Circulo do Livro, 1960.
SETÚBAL, Paulo. A Marquesa de Santos. Disponível em: <http://www.superdownloads.com.br/download/115/marquesa-de-santos-paulo-setubal/redir.html>.
SILVA; Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
VARGAS LLOSA, Mario. El pez en el agua. Barcelona: Seix Barral, 1993.
VARGAS LLOSA, Mario. O paraíso na outra esquina. Tradução de Wladir Dupont. São Paulo: Arx, 2003.
VÁRZEA, Virgílio. George Marcial. Disponível em: <http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/georgemarcial-virgilio.htm#Duas_palavras>.
VERISSIMO, Erico. Tão boa é a terra. É dessa matéria que as nações são feitas. In: VERISSIMO, Erico. Breve historia da literatura brasileira. Traduzido por Maria da Glória Bordini. São Paulo: Globo, 1995. p. 05-17. p. 29-36.
220 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura
VIEIRA, Antônio Padre. Sermões. Porto: Lello e Irmão, 1959. 15 v.
VIEIRA, Antônio. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. In: GOMES, Eugênio (Org.). Vieira: sermões e cartas. 5. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1968. p. 15-45.
WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. Traduzido por Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
221
8U
nida
de
Módulo 6 I Volume 3UESC
Espaço Biográfico: Consumo, História, Cultura
Suas anotações
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222 EADLetras
Literatura, Imaginário, História e Cultura