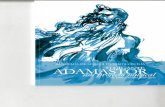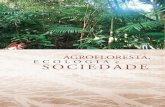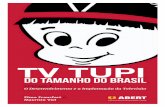Memória, velhice e sociedade
Transcript of Memória, velhice e sociedade
Capítulo 129
MEMÓRIA, VELHICE E SOCIEDADE
Annette Leibing
INTRODUÇÃO
Memória e velhice são dois conceitos profundamente
interligados pelo paradoxo de atribuir à velhice
memória demais – uma noção comum é de que pessoas
mais velhas vivem no passado – e ao mesmo tempo, a
associação quase automática da velhice com o
esquecimento, geralmente em forma das demências, o
que também é chamado de “a Alzheimerização da
velhice” (Adelman, 1995). Ao nível das sociedades
contemporâneas, em muitos países, existe um paradoxo
semelhante: fala-se que, hoje em dia, a memória está
cada vez mais fragmentada; que o passado está sendo
desligado do presente e não é considerado uma
realidade em continuidade com a vida presente — o
passado se tornou um museu. Ao mesmo tempo, ressurge
o interesse por museus e acervos de vários tipos,
quase de uma forma obsessiva, com uma nova ênfase em
memória vivida ou uma memória interativa, sensorial
(Sturken, 1997). Novas doenças relacionadas ao
esquecimento ganham intensa discussão pública, caso
do Estresse Pós-Traumático, nos EUA – inicialmente
ligado à memória da guerra no Vietnã (Young, 1996) -
ou a “epidemia de Alzheimer”, questionando, entre
outros, a fronteira entre o esquecimento normal e o
patológico (Leibing e Cohen, 2006; Gubrium, 1986).
Tais categorias médicas surgem e são modificadas ou
abandonadas dentro de cada contexto histórico-
cultural e influenciam como alguém se percebe e
relaciona-se com os outros. Todas estas manifestações
podem ser vistas como representações de uma
preocupação contemporânea com a memória.
O que é, afinal, esta memória da qual falamos?
Geralmente, e isto desde a Antigüidade, ela é
considerada como um depósito, um arquivo, um tipo de
biblioteca, uma realidade acessível, mesmo precisando
de técnicas especiais, tais como a psicanálise e os
testes neuropsicológicos para que seus conteúdos
sejam acessados. No presente trabalho, porém, memória
está sendo discutida como algo parcial e situado
(Haraway, 1995) - um fenômeno complexo e em constante
mudança, em que esquecimento, lembranças, nostalgia,
reminiscências, recordações, amnésia, e também o luto
por algo ou alguém, fazem parte de preocupações e
práticas culturais de determinados grupos. São
exploradas algumas abordagens com que pensar e
conceitualizar esta memória social em relação ao
envelhecimento.
MEMÓRIA COLETIVA
A memória, quando percebida como algo além das
atividades neuronais (Neisser & Winograd, 1995), é
dificilmente definida. David Berliner (2005), entre
outros, critica a tendência atual de que qualquer
traço do passado no presente é chamado “memória”. Ele
sugere estudar mais especificamente o que exatamente
certos grupos (grupos étnicos, gerações, grupos
baseados em determinadas religiões, ideologias
políticas, etc.) lembram e por quê aquilo, e não
outros elementos, de uma história em comum (veja
também as idéias de Mary Douglas 1991 [1986], esp.
capítulo 6). Se Henri Bergson (1999 [1939]) era um
dos primeiros cientistas sociais que se dedicou a uma
psicologia da memória, em que o presente é decisivo
para formar o que é memorizado, Maurice Halbwachs
(1975 [1925]) foi um dos primeiros e o mais
importante autor que, influenciado pelas idéias de
Émile Durkheim, escreveu sobre a memória coletiva. A
memória coletiva homogeniza o que os indivíduos
lembram, emoldurando, mas não determinando de uma
forma fixa, como o passado está sendo contado e
revivido (Berntsen & Bohn 2009). Segundo Halbwachs,
são as pessoas idosas que têm um papel importante
para memorizar o passado, porque, essas se desligam
de muitas preocupações do presente, como a educação
dos filhos, o trabalho, etc., o que os aproxima mais
do passado. Halbwachs, como Bergson, enfatiza na sua
obra as distorções do passado sofridas pela memória,
como a muito comum idealização do passado (veja
também Ricoeur, 2004). Roger Bastide (1970) que,
entre outros, estudou a memória coletiva através da
adaptação dos escravos africanos no Brasil, menciona
a continuidade e a resistência como elementos
estruturantes para uma memória coletiva.
Pierre Nora (1978) e Jan Assman (1988) foram
importantes para desenvolver mais as idéias de
Halbwachs, iniciando através de suas respectivas
obras, uma onda de “estudos da memória” nas ciências
sociais. Ciente da impossibilidade de aprofundar as
idéias dos autores somente mencionados aqui (veja
Friedman 1992, Antze & Lambek, 1996, Connerton 1998,
Gross 2000, Pinto 2001 para uma discussão mais
extensa), sugerimos a leitura dos mesmos para
gerontólogos no sentido mais amplo, para que a
memória receba uma importância maior nos estudos do
envelhecimento.
Memória, então, pode ser compreendida em vários
níveis, como no nível individual (p.ex., como alguém
lembra a sua infância), geracional (p.ex., história e
experiências transmitidas de pessoas mais velhas para
as mais jovens), regional (especialmente quando a
continuidade de uma certa região geográfica seja
ameaçada), nacional (p.ex., em forma de monumentos,
feriados comemorativos de eventos históricos) ou
político (especialmente o debate em torno de um
passado oficial de um nação) – dependendo da ênfase
do estudo (cf. Olick et al. 2010). Idealmente este
tipo de estudo reconhece as limitações de cada nível
sob análise e a interrelação dos diferentes focos,
formando o que, em seguida, será chamado de
“paisagens de memória”.
PAISAGENS DE MEMÓRIA
Um conceito útil para conceptualizar uma memória
coletiva é o que Lawrence Kirmayer chamou de
“paisagens de memória” (landscapes of memory), algo que
ele definiu como
“... o terreno metafórico que forma a distância e oesforço necessário para lembrar eventos de uma formaafetiva, socialmente definidos e que inicialmente podemser vagos... ou até ausentes de memória. Paisagens dememória ganham forma pelo significado pessoal e social dememórias específicas, mas também através da metamemória —modelos implícitos de memória que influenciam o que podeser lembrado e citado como verídico” (Kirmayer, 1996, p.175).
Paul Connerton (1998) desenvolve um argumento
parecido, usando outra metáfora geográfica, a do
mapeamento: embora hoje em dia muitos não acreditem
mais em sistemas de referência totais ou em
metanarrativas, tais como a religião, o partido ou a
psicanálise, estas ainda têm poder para influenciar o
pensamento e comportamento das pessoas, se bem que,
geralmente, em fragmentos e em um nível menos
consciente. Grupos sociais, escreve Connerton,
baseando-se em Halbwachs, “fornecem aos indivíduos um
referencial em que suas memórias são localizadas por
um mapeamento. Nós situamos o que lembramos dentro de
espaços mentais oferecidos pelo grupo” (p. 37). Essas
narrativas, mapas ou paisagens se formam por vários
mecanismos, ajudando a entender o envelhecimento de
uma maneira reflexiva e contextualizada, pelo qual
daremos, em seguida, alguns exemplos.
O Passado legitima o Presente
A maneira como o passado está sendo lembrado cria
memórias oficiais, que geralmente atendem ao
interesse dos grupos que estão no poder e podem ser
contestados por grupos da oposição, que combatem esse
passado oficial, que legitima o presente. Podemos aí
falar de um esquecimento organizado (Connerton, 1998;
Forty, 1999), ou de uma memória negociada.
A memória é seletiva e, por um jogo de poder
complexo e por vários mecanismos, direta ou
indiretamente forma narrativas culturais, que
legitimam o que está sendo lembrado. Édouard Glissant
(2000) chama a isto, poeticamente, de “as savanas
azuis da memória e da imaginação”, referindo-se a uma
África que os escravos perderam, mas que sobrevive na
imaginação dos descendentes. Neste sentido, Ellen
Woortmann (2001) descreve os mitos de origem dos
descendentes de imigrantes alemães no sul do Brasil,
que se referem a uma Alemanha gloriosa e a uma origem
nobre, para legitimar uma certa superioridade frente
aos demais brasileiros. Na verdade, em sua maioria,
os antepassados eram humildes e tinham fugido da
pobreza, na Alemanha do século XIX.
Outro exemplo é a tentativa engendrada por alguns
regimes comunistas da Europa do Leste, de excluir ou
de modificar rituais religiosos, os quais, dessa
forma, passam a ter um sentido político, em vez de
religioso, como aconteceu com a comunhão na antiga
República Democrática Alemã. Em alguns países, como a
Polônia, a resistência contra tais tentativas realça
o papel dos idosos na preservação dos antigos
rituais, já que detinham um conhecimento ainda
“original”. Em outro contexto, esse conhecimento e a
sua valorização talvez sejam antiquados e, por isso,
marginalizados, mas, nesse caso, ganham um sentido
revolucionário. Ao contestar o regime, os idosos são
valorizados e aproximam-se dos mais jovens.
Repetição
A repetição é um mecanismo importante no
funcionamento da memória. Faz a memória acontecer,
porque ajuda a ancorar o passado no presente. Uma das
formas de transportar a memória para o presente são
os rituais, que, através da repetição, não só mantêm
certas narrativas e outros textos culturais, mas
também internalizam determinados valores de forma que
raramente possam ser questionados. Os slogans
publicitários ou políticos são outros exemplos para o
uso da repetição com a intenção de internalizar a
mensagem transmitida. No entanto, também o impacto, a
importância e a singularidade de um acontecimento
influenciam o que está sendo lembrado.
Datas como o dia 11 de setembro de 2001 (atentados
ao World Trade Center) ou o 26 de abril de 1986
(desastre nuclear na usina de Tchernobyl) serão
lembradas por muitos, junto com datas de casamento,
de nascimento de filhos e de outras, de natureza
pública ou privada, mas que tiveram um grande impacto
sobre o indivíduo. Serão relembradas — repetidas —
pelo impacto emocional que estes tiveram sobre o
indivíduo, mas também por festas regularmente
repetidas de aniversário, feriados nacionais e outras
formas de lembrar.
Então, certos eventos que transportam mitos, valores
ou hierarquias estabelecidas ajudam a desenhar as
paisagens nas quais podem ser recontados e mantidos
vivos. Mas por que alguns acontecimentos podem ser
repetidos, enquanto outros desaparecem do mapa
cultural? Como isto influencia o indivíduo histórico?
Lawrence Kirmayer (1996) perguntou-se por que o
trauma, no caso de abuso sexual na infância e de
sobreviventes do Holocausto, causa diferentes
sintomas (ver também Frow, 1997). No primeiro caso,
pode ocorrer uma dissociação, uma memória que só fala
através de sintomas. No caso dos sobreviventes do
Holocausto, uma repressão da memória acontece, num
ato consciente de não abordar assuntos cujas memórias
são insuportáveis. A diferença, para Kirmayer, tem
sua explicação no fato que, para os sobreviventes do
Holocausto, existe uma narrativa pública de um horror
geral, de uma catástrofe humana, onde os eventos, a
partir dos anos 1960, têm sido recontados e
compartilhados inúmeras vezes, como, por exemplo, no
projeto Shoa, de Steven Spielberg. No caso do abuso
sexual, as histórias são pessoais, vergonhosas e
destrutivas para o indivíduo e sua família, e por
isso as narrativas são negadas, desaparecendo,
finalmente, do horizonte metafórico da consciência.
Sensorialidade
Walter Benjamin (1980) fez a distinção entre uma
percepção consciente (Erlebnis) e uma experiência mais
interiorizada (Erfahrung). Embora em nossa opinião esta
distinção não possa ser feita de uma forma exclusiva,
vale a pena chamar a atenção para as diferentes
qualidades de experimentar memória.
No caso desse segundo tipo de memória-experiência,
os sentidos são veículos privilegiados para memorizar
— são as memórias corporais. Na velhice, os sentidos
são geralmente mais comprometidos do que em pessoas
mais jovens, embora isto não seja inevitável
(Alessio, 1998). Alguns autores argumentam que a
isolação social devido ao mal-funcionamento dos
sentidos, como a surdez ou a visão comprometida, pode
ser até responsável por algumas formas de doença
mental na velhice (Stein & Thienhaus, 1993),
impedindo a estabelecer uma relação com o presente e
o passado, e a formação de uma identidade positiva.
Lee (2000) mostra como idosos coreanos, vivendo no
Japão, negociam a sua identidade através da
insistência na sua cozinha nativa, ainda que cada vez
mais tenham dificuldade de digerir a comida altamente
apimentada. São velhos para os quais a comida
significa não só o mundo perdido onde cresceram, mas
também a afirmação da sua identidade enquanto
coreanos. A comida define o corpo social. Neste caso,
constrói a fronteira entre o “nós” e os japoneses,
uma sociedade à qual os coreanos nunca realmente
foram integrados.
Outro exemplo é o ensaio do conde Christian von
Kruckow sobre a terra pátria e o pertencimento. Ele
descreve que parte da memória é evocada pelos cheiros
e diagnostica uma crise de memória nos tempos de
hoje. Segundo o autor há memórias que permanecem
profundamente dentro de nós através do cheiro, e que,
“... se instalam bem embaixo do coração, devagarzinho epacientemente, para explodir anos ou décadas mais tarde.São memórias de outrora, memórias da infância... Asolfativas são mais fortes [que as imagens] e ganham formana velhice. É claro que, em tempos loucos por imagens,não se gosta mais disso. Talvez isto seja porque amemória está diminuindo. Ao higienizar todos os ambientese uniformizar os cheiros, estaríamos roubando às criançasas memórias, desconectando-as do seu passado. É atravésdos cheiros que a memória ganha forma. Forma opertencimento da criança, que persistirá quando foremvelhos” (von Kruckow, 1988, 22f.), (ver tambémSeremetakis, 1994).
Mariângela Aleixo (2000) mostra como idosos com
demência resgatam parte de sua juventude através de
músicas antigas. Não só imagens dos tempos passados
ressurgem quando ouvem ou cantam, como também as
letras, às vezes, são relembradas completamente, o
que surpreende devido ao comprometimento cognitivo
destas pessoas.
Tantas vezes comprometida nos idosos, a visão pode
dificultar o acesso a outras maneiras de lembrar,
como os textos que servem como arquivos da memória,
fotografias (Lins de Barros, 2001), televisão, entre
outros. Também o clima tropical ou a falta de cuidado
com a preservação das marcas do passado (Leibing &
Benninghoff-Lühl, 2001), impedem o acesso visual às
memórias e, com isso, à possibilidade de repetição.
No filme Complaints of a dutiful daughter, de Deborah
Hoffman, a filha mostra os álbuns de família, nos
quais as fotos não conseguem mais desencadear
lembranças em sua mãe, que sofre de demência. Aqui
não são os óculos, que normalmente ajudam a compensar
a perda da visão, mas é uma outra pessoa quem
funciona como memória-substituta. Em sociedades em
que o individualismo e a auto-suficiência são
valorizados, é mais difícil este tipo de
relacionamento, em que outra pessoa assume, para o
idoso, a sensorialidade perdida ou comprometida.
Como é o caso dos outros sentidos, o estímulo
emocional veiculado por certas imagens depende não só
do funcionamento do respectivo órgão (ou da memória-
substituta), mas do modo como as paisagens são
construídas, para que estes façam visíveis
determinados objetos. Não importa apenas a
preservação de, digamos, um monumento, mas também
como esta visibilidade é enfatizada no dia-a-dia: se
existem comemorações a respeito, se aparece em
imagens e narrativas. Imagens podem “estar lá” e, ao
mesmo tempo, não serem visíveis. Em certos casos, só
são “vistas”, quando desaparecem.
CONCLUSÕES
Existe a noção de que o Brasil é um país sem
memória. Entretanto, esta “perda da memória” - alívio
de muitos políticos - geralmente se refere a
acontecimentos ruins e, segundo Roberto DaMatta
(1994), faz parte de uma grande desconfiança no
progresso e na justiça social, já que a experiência
mais profunda com o tempo coletivo mostra “retornos,
reversões e recursividades cíclicas”, “como se fosse
impossível exorcizarmos fantasmas do passado.” (p.
32) As paisagens onde a memória torna-se verdade ou
perigo, sintoma ou nostalgia, embelezando a vida de
alguém ou conseguindo destruí-la, devem ser
“desenhadas”, prestando atenção a seus mecanismos de
trazer à luz ou obscurecer objetos, narrativas,
hierarquias, classificações, que definem o modo como
alguém se orienta frente ao passado, presente e
futuro (ver Leibing 2007). A maneira como um grupo
lida com a sua memória também define, em grande
parte, o seu olhar sobre a velhice, esse tempo da
vida em que as memórias se acumulam.
BIBLIOGRAFIA
Adelman RC. The alzheimerization of aging. The
Gerontologist, 35(4): 526-532, 1995.
Aleixo M. Memória musical entre tons e semitons. A musicoterapia
com pessoas com doença de Alzheimer. Monografia, Instituto
de Psiquiatria, UFRJ, 2000.
Alessio H. Aging of the organism: physiological
aging. In: Morgan L e Kunkel S. (orgs.) Aging, the social
context. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1998, pp.
105-144.
Antze P & Lambek M. (orgs.). Tense past: cultural essays in
trauma and memory. New York: Routledge, 1996.
Assmann, J. Kollektives Gedächtnis und kulturelle
Identität. In: J.Assmann & T.Hölscher (orgs). Kultur
und Gedächtnis, pp. 9-19. Frankfurt/M.: Suhrkamp,
1988.
Bastide R. Mémoire collective et sociologie du
bricolage. L’année sociologique 21: 65-108, 1970.
Benjamin W. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: W.
Benjamin et al. Textos escolhidos. São Paulo: Abril
Cultural, 1980.
Bergson H. Matéria e memória, ensaio sobre a relação do corpo com
o espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
Berntsen D. & A Bohn. Cultural life scripts and
individual life stories. In P. Boyer & J. Wertsch
(orgs.), Memory in Mind and Culture. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009.
Berliner D. The abuses of memory: reflections on the
memory boom in anthropology. Anthropological Quarterly
78(1): 183-197, 2005.
Connerton P. How societies remember. Cambridge: Cambridge
University Press, 1998.
DaMatta, R. Antropologia da saudade. In: Conta de
mentiroso, sete ensaios de antropologia brasileira, Rio de
Janeiro: Rocco, pp. 17-34, 1994.
Debert G. A reinvenção da velhice. São Paulo: FAPESP/EDUSP,
1999.
Douglas, M. Wie Institutionen denken [How Institutions Think],
trad. M. Bischoff, Frankfurt: Suhrkamp, 1991.
Forty A. Introducion. In: Forty A & Küchler S.
(orgs.) The art of forgetting. Oxford: Berg, 1999, pp. 1-
18.
Friedman, J. The past in the future: history and the
politics of identity. American Anthropologist 94(4): 837-
859, 1992.
Frow J. Time & commodity culture — essays in cultural theory and
postmodernity. Oxford: Clarendon Press, 1997.
Glissant E. Poetics of relation. Ann Arbor: The University
of Michigan Press, 2000.
Gross D. Lost time, on remembering and forgetting in late modern
culture. Amherst: University of Massachusetts Press,
2000.
Gubrium JF. Oldtimers and Alzheimer’s: the descriptive organization
of senility. Greenwich: Jay Press, 1986.
Halbwachs M. Les cadres sociaux de la mémoire. New York: Arno
Press, 1975.
Haraway D. Situated knowledges, the science question
in feminism and the privilege of partial
perspective. In: A Feenberg and A Hannay (orgs.),
Technology and the Politics of Knowledge. Bloomington,
Indiana University Press, 1995.
Kirmayer LJ. Landscapes of memory, trauma, narrative,
and dissociation. In: Antze P & Lambert M. (orgs.)
Tense past, cultural essays in trauma and memory. Nova York:
Routledge, 1996, pp. 173-198.
Lee SSJ. Dys-appearing tongues and bodily memories:
the aging of first-generation resident Koreans in
Japan. Ethos, 28(2): 198-223, 2000.
Leibing A. The hidden side of the moon, or, ‘lifting
out’ in ethnographies. Em: The Shadow Side of Field
Work: Exploring the Blurred Borders between
Ethnography and Life. A. McLean et A. Leibing
(dir.), Malden; Blackwell Publishers, 2007, p. 138-
156
Leibing A. The old lady from Ipanema: changing
notions of old age in Brazil. Journal of Aging Studies
19(1): 15-31, 2005.
Leibing A & Benninghoff-Lühl, S. Devorando o tempo —
Brasil, o país sem memória. São Paulo: Mandarim, 2001.
Leibing A. & Cohen, L. Rethinking dementia: Culture, loss, and
the anthropology of senility. New York: Rutgers University
Press, 2006.
Lins de Barros MM. A memória familiar. In: —.
Autoridade e afeto, avós, filhos e netos na família brasileira. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1987.
Lins de Barros MM. Pesquisando fotografias e
lembranças: os guardiões da memória. In: SG. Nigri &
SF. Paz (orgs.) Cabelos de neon. Niterói: Ed. Talento
Brasileiro, 2001.
Neisser U. & Winograd E (orgs.). Remembering
reconsidered, ecological and traditional approaches to the study of
memory. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Olick K, Vinitzky-Seroussi V & D Levy (orgs.). The
Collective Memory Reader. Oxford University Press,
2010.
Pinto, J.P. Todos os passados criados pela memória.
In: A. Leibing & S. Benninghoff-Luehl (orgs.).
Devorando o tempo - Brasil, o país sem memória. São Paulo:
Mandarim. 2001, pp. 293-300.
Ricoeur P. Memory, History, Forgetting. Chicago: University
of Chicago Press, 2004.
Seremetakis CN. (org.) The senses still. Perception and memory
as material culture in modernity. Chicago: The University of
Chicago Press, 1994.
Stein LM & Thienhaus OJ. Hearing impairment and
psychosis. Int Psychogeriatr. 5(1):49-56, 1993.
Sturken, M. Tangled memories, The Vietnam war, the AIDS epidemic,
and the politics of remembering. Berkeley: University of
California Press, 1997.
Von Kruckow CG. Die Reise nach Pommern, Bericht aus einem
verschwiegenen Land. München: dtv, 1998.
Woortmann EF. Lembranças e esquecimentos: memórias de
teuto-brasileiros. In: A. Leibing & S. Benninghoff-
Lühl (orgs.) Devorando o tempo — Brasil, o país sem memória.
São Paulo: Mandarim, 2001, pp. 205-235.
Young A. Bodily memory and traumatic memory. In: P.
Antze & M. Lambert, (orgs.) Tense past, cultural essays in
trauma and memory. Nova York: Routledge, 1996, pp. 89-
102.