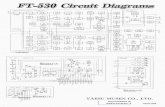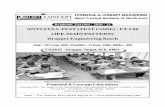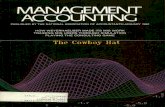v _E^___p ft*
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of v _E^___p ft*
Sistemas Militares Férranti:Confiabilidade creditada por mais de 20 países.
Inclusive o nosso.
Os sistemas modulares projetados pela Férrantisào utilizados pelas Forças Armadas de inúmerospaíses que acompanham a evolução das modernas
técnicas militares.Estes sistemas, nucleados a computadores militares
das séries FM. Argus e F 100. encontram-se instaladosem aeronaves de patrulha e ataque, em unidades de
controle aéreo, assim como em blindados e unidadesfixas e móveis de controle de tiro.
O Brasil também faz parte desta elite.As fragatas brasileiras Classe Niterói já operam com
Sistemas de Informações de Combate e Controlede Armas projetados pela Férranti, e nucleados
em Computadores FM.
-^"SSmr ^r _M^*>___
Cflk *7^Si'_tmm__*t.
ms* • ***T ^^^^Jm-WSé _m_^^km____^______________B ' W^-mB**^1^ \m
'
¦II ^JT '—-C í iE novos navios brasileiros estarão equipados com
sistemas modulares Férranti, nucleados emcomputadores FM I600E.
O treinamento, essencial para o uso econômicode Sistemas que empregam tecnologia tão avançada.
é ministrado com facilidade e proficiência emtreinadores táticos e simuladores também projetados
pela Férranti e nucleados pelos mesmoscomputadores
Simplicidade, flexibilidade e eficiência.Com três palavras definimos os mais modernos
sistemas militares do mundo: FÉRRANTI.
FÉRRANTI - SÍMBOLO DE TECNOLOGIASistemas Férranti do Brasil
Rua Bispo Lacerda, 25 Del Castilho RJTel.: (021) 581-0996 CEP 21051
Telex (021) 21053. INVENTAR IC -6N
00.222.902-1
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
$ÊÉ
1. trimestre JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO 1986
SUMÁRIO
O Atlântico Sul e a Marinha do Brasil - JOÃO CARLOS GON-ÇALVES CAMINHA - Vice-Almirante (RRm) 9
A Posição do Brasil e Alguns Problemas Antárticos — MÚ-CIO PIRAGIBE RIBEIRO DE BAKKER - Contra--Almirante (RRm) e RENATO ALOYSIO TELLES RI-BEIRO — Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) 21
Divagações sobre a Barcha nos Descobrimentos — LAUROFURTADO DE MENDONÇA - Capitão-de-Mar-e--Guerra (RRm) 37
Halley 1986 - ILIO FOSCHINI - Capitão-de-Mar-e-Guerra- trad. ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA - Capitão-de--Mar-e-Guerra (RRm) 41
Submarinos Convencionais — Aspectos de Segurança no Pro-jeto e Construção - RUY BARCELLOS CAPETTI -Capitão-de-Mar-e-Guerra 51
Desenvolvimento de Tática - MÁRIO JORGE FERREIRABRAGA — Capitão-de-Mar-e-Guerra 59
Castex - HERVÊ COUTAU-BÉGARIE - trad. LUCIANOALENCAR DE CAMPOS - Capitão-de-Mar-e-Guerra 85
Uma Política de Mobilização para a Marinha — FRED HEN-RIQUE SCHMIDT DE ANDRADE - Capitão-de-Mar--e-Guerra (FN) 91
O Submarino da Classe 211 — Um Novo Sistema de Arma naFase de Concepção - trad. ANTÔNIO LUIZ JACCOUDCARDOZO — Capitão-de-Mar-e-Guerra 109
Seção da EGNA Valorização da Função Embarcada para o Adequado Em-
prego do Poder Naval - CARLOS EDUARDO ARAÚJOMOTTA — Capitão-de-Fragata 115
A Teoria Geopolítica de Cohen e Sua Validade Atual — JAY-ME ALBERTO CASTRO PUGA - Capitão-de-Corveta 127
O Lado Pitoresco da Vida Naval 133Doações ao SDGM 135A Marinha de OutroraNas Costas do Rio Grande — Atingido por Violenta Tempes-
tade o Navio-Escola Almirante Saldanha — CARLOSEMÍLIO RAFFO JÚNIOR - Capitão-de-Fragata 139
Revista de Revistas 145Noticiário Marítimo 153
MINISTRO DA MARINHA
Almirante-de-Esquadra Henrique Saboia
SECRETÁRIO-GERAL DA MARINHA
Almirante-de-Esquadra Walter Faria Maciel
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA
Diretor
Max Justo Guedes
Vice-Diretor
Capitão-de-Mar-e-Guerra (EM) (RRm) Hydio Carrão da Cunha Pinto
Departamento de Publicações e Divulgação
Chefe: Capitão-de-Fragata (RRm) Jorge Telles Ribeiro
Ajudante: Primeiro-Tenente (CAF) Elizabeth RadicettiPereira
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Consultor Especial
Vice-Almirante (RRm) Luiz Edmundo Brígido Bittencourt
Redação
Gilmar Barroso Pereira
Heloísa Loewe
Nília Fróes da Silva
Paulo Pistono
Raul Marcelino de Almeida Jr.
Regina Cardoso de Menezes
Sérgio Bellinello Soares
Diagramação
Sérgio Bellinello Soares
Expedição
Segundo-Sargento (MR) Carlos Antonio Nascimento
Cabo (PL) José Maurício do Nascimento
Marinheiro (RC) Amarildo Gomes Dias
Marinheiro (RC) Paulo César Damasio
Laerte Macedo Júnior
A REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA é uma publicação oficial doMinistério da Marinha desde 1851.
Entretanto, as opiniões emitidas em artigos são da exclusiva respon-sabilidade de seus autores. Não refletem, assim, o pensamento oficial daMarinha do Brasil.
É publicada trimestralmente pelo Serviço de Documentação Geral daMarinha, sediado no endereço abaixo:
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Rua Dom Manuel, 15 — Centro
20010 — Rio de Janeiro — RJ
Os preços do número avulso e da assinatura para 1986 são os abaixo,respectivamente:
BRASIL
Cz$ 10,00
Cz$ 36,00
* Mais as despesas de correio.
EXTERIOR
US$ 4.00*
US$ 12.00*
Revista Marítima Brasileira. — v. 1 (1851)— Rio de Janeiro : Serviço de Documentação Ge-
ral da Marinha, 1851-v.: il.; 23cm.Trimestral.Volumes para 1851-1880 publi. irregularmente.Publicação oficial do Ministério da Marinha.Editada pela Biblioteca da Marinha até 1943,
quando foi criado o Serviço de Documentação.ISSN 0034-98601. Marinha — Brasil — Periódicos. 2. Marinha
— Periódicos. I. Brasil. Marinha. Serviço de Docu-mentação Geral.
CDD - 359.00981359.005
R. marít. bras. | Rio de Janeiro | v. 106 n. 1/3 p jan/mar.1986
CARTAS DOS LEITORES
Lançaremos no próximo número uma nova seção, com a finalidade de
incentivar debates, abrindo espaço ao leitor para comentários, adendos es-
clarecedores e observações sobre os artigos publicados.
De acordo com a sistemática a ser adotada, as cartas deverão ser en-
viadas à Revista Marítima Brasileira, que as remeterá aos autores dos ar-
tigos. Elas serão respondidas pelos mesmos, por carta, através da Revis-
ta, e as que forem consideradas de interesse geral serão publicadas em re-
sumo, sem prejuízo da compreensão e clareza. As cartas que forem rece-
bidas após o fechamento da Revista serão respondidas no número posterior.
Contamos com sua colaboração para realizarmos nosso objetivo, que
é o de dinamizar a RMB, tornando-a um eficiente veículo para idéias, pen-
samentos e novas soluções, sempre em benefício da Marinha mais forte e
atuante. Sua participação é importante!
A DIREÇÃO
NOSSA CAPA
A IMPORTÂNCIA DA GUERRA DE MINAS PARA O PODER NAVAL
A notícia mais remota de que se tem conhecimento sobre o uso de
artefatos submersos e dos processos para sua eliminação data de 333 a.C.,
quando Alexandre, o Grande, da Macedônia, por ocasião de seu desem-
barque anfíbio, em Tiro, fez varrer com cabos alados por embarcações
as pedras e obstáculos (campo minado) plantados por seus inimigos paradificultar a abicagem de navios.
Entretanto, o grande marco histórico do seu emprego remonta à Guer-
ra Russo-Japonesa, no início deste século, quando pela primeira vez fo-
ram usadas, em larga escala, as minas de fundeio em mar aberto. As li-
ções colhidas daquele evento permitem afirmar que naquela ocasião fi-
cou estabelecida de forma inequívoca a credibilidade das minas submari-
nas como armas de real potencialidade.
Graças a essa credibilidade, aliada a fatores outros, tiveram as mi-
nas larga aplicação na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, quando cen-
tenas de milhares de artefatos foram lançados ao mar, principalmente em
águas em disputa ou sob controle do inimigo, com significativo resultadobélico, conforme mostrado no quadro abaixo.
ALIADOS NAÇÕES DO EIXO
MINAS LANÇADAS 184.000 43.636GUERRA MUNDIAL NAVIOS PERDIDOS 855 150
II MINAS LANÇADAS 314.600 225.000GUERRA MUNDIAL NAVIOS PERDIDOS 1.117 2.122
Nos dias atuais renasce a guerra de minas na Nicarágua e no GolfoPérsico, quando em curtos intervalos de tempo foram avariadas diversasembarcações, entre pequenos pesqueiros e grandes navios mercantes, fi-cando mais uma vez evidenciado que o temor que decorre da guerra deminas independe do número e da sofisticação dos engenhos empregados,lembrando a vitória das minas simples e antigas dos coreanos do nortequando retardaram por mais de uma semana o desembarque anfíbio dosamericanos apoiado pela mais poderosa Marinha do mundo.
^_B m-tmW 0..,.,-* #T_vl ¦ -ttm.___. Wtl Ê\. '"tt________ _A _£___.mT^w -Mm.. wMflB ' á ___________W *T —» im_ sf*^*t -~r. ** i 4 . ^M
________ I_____Li i ii _Z^- ' :M-Mi* __è &_¦ !_¦____" '4BfciT_m"lr t_Mw áMirar, _________________ ________H1______________ ^MmsZ M7 ••* _^^_M M ^JmmWmW __________! ^___________K_- *¦ I
______}'!__ M ___\ \W^^ _^_______!Ü^bI ___L i_fl_l__________L I Bb
J^H-lB ^^ 'fl'_0_i-J__l_r ^^"fl lt-¦ __¦ ls? ^> j^JB^mM*
___¦ ' _B _______^____É_______I. _-«-mébm_____H____H1 -IV ""**"Ti______ _____r ÈuM __Hl iM
O que fica patente da época de Alexandre, ao longo de toda a Histó-ria, é que a guerra de minas tem representado, de forma pouco transpa-
rente, um papel importante em quase todos os conflitos em que esteve en-volvido o Poder Naval.
A relevância da guerra de minas é algumas vezes obscurecida peloefeito visível das sofisticadas armas modernas, obscurecida ao ponto deser relegada a plano secundário por muitas Marinhas. Será um grande er-ro deixar de emprestar a devida importância a uma arma que pela sim-pies suspeita de sua presença é capaz de atingir o seu propósito.
Ameaça permanente por longo período (a ameaça perdura durantetoda a vida da mina, fazendo com que um campo desempenhe funções queexigiriam em seu lugar a presença de forças navais poderosas por longotempo), baixa relação custo x efeito desejado (a mina é até hoje uma dasarmas mais econômicas e eficazes, sendo particularmente importante pa-ra os países em desenvolvimento que não podem dedicar recursos subs-tanciais para aquisição de meios de guerra mais sofisticados), grande con-fiabilidade, longa vida de armazenagem, grande capacidade de de terren-cia (mesmo poucas minas lançadas em canal de acesso ou em locais detrânsito obrigatórios causam efeitos psicológicos adversos, extremamen-te eficazes), e exigência de recursos em contramedidas muito superioresàqueles empregados para as minagens ( as operações de varredura sãocomplexas, demoradas e caras) sáo outras das vantagens da guerra deminas, principalmente à Marinha de uma nação que não pode dispor delargos recursos para as suas Forças Armadas.
As minas utilizadas durante a Guerra Russo-Japonesa eram de con-tato, de igual tipo das que foram lançadas no transcurso da Primeira Guer-ra Mundial. Essas minas podiam ser varridas com relativa facilidade atra-vés de embarcações rebocando cabo de aço provido de tesouras, a umaprofundidade escolhida.
A utilização da tecnologia nas minas progrediu rapidamente duran-te a Segunda Guerra Mundial, equipadas que foram com sensores mag-né ticos e acústicos com contadores de navios, e com diversos outros me-canismos que permitiam náo só uma detecção altamente eficaz como se-lecionar o momento exato e desejado de atuação. Embora os alemães játivessem desenvolvido a tecnologia, nào chegaram a empregar as minascom mecanismos de disparo de pressão.
O advento da microeletrônica, além de permitir uma seleção aindamais apurada de alvos, incluiu circuitos lógicos que permitem identificare eliminar os efeitos das medidas de neutralização usadas pelos navios--varredores. Além deste fato, a redução física dos sensores e circuitos trou-xe aumento razoável da carga útil de explosivos dos engenhos.
Como conseqüência, atualmente, é praticamente impossível varrerminas de concepção moderna, sendo necessário o emprego de sonar parasua localização e posterior envio de equipamentos ou mergulhadores pa-ra sua destruição, uma a uma, dando origem às novas técnicas de caçade minas.
A necessidade de meios que garantam uma alta probabilidade de lim-peza de uma área minada é imperativa nas regiões com extensas zonasde águas pouco profundas. É o que ocorre com o litoral brasileiro.
O Brasil apresenta uma costa, numa extensão superior a 4.000 mi-lhas, toda susceptível de minagem por minas de fundeio. A situação se
agrava ao sul de Vitória, onde a plataforma se alarga e onde se situam
nossos portos de maior significação econômica. Além disso, todos os nos-
sos portos, plataformas de petróleo e suas áreas adjacentes podem ser mi-
nados por minas de fundo, cuja varredura é demorada, difícil e, às vezes,
praticamente impossível.
Se somarmos a esta realidade geográfica o fato econômico de que a
navegação marítima representa um fator decisivo para nossa sobrevivên-
cia como Nação, fica configurado o cenário onde devem ser procuradosos elementos que permitam definir a parcela do Poder Naval que deve ser
responsável pela condução da guerra de minas.
Em face da realidade mostrada pelos fatos, pelas vantagens do uso
de minas e pelas dificuldades atuais para o emprego dos métodos de var-
redura, evidencia-se como imperativo reconhecer como altamente priori-tário este componente da guerra naval. Na Marinha, a Força de Minagem
e Varredura possui na sua estrutura organizacional o Grupo de Desenvol-
vimento de Tática (GDT), com a finalidade de assessorar o Comando na
permanente avaliação e revisão das táticas e procedimentos operativos,
no desenvolvimento de novas táticas e procedimentos, no planejamentoe avaliação de exercícios, no preparo, análise e disseminação das infor-
mações obtidas e na avaliação da eficiência dos sistemas e equipamentos
existentes.
A sua íntima ligação com o setor de acústica do Instituto de Pesqui-
sas Químicas da Marinha — IPqM, com o complexo magnetológico de Ara-
tu e com o Centro de Análises de Sistemas Navais — CASNAV, certamen-
te orientará os estudos e pesquisas na direção desejada.
RESPONSABILIDADE
Empresas nacionais e independentes vêm fabri-cando Coca-Cola no Brasil hã mais de 40 anos. Cente-nas de milhões de vezes esse refrigerante vem sendoservido em milhões de lares brasileiros. E ele é sempre omesmo refrigerante. Como empresários responsáveis,o mais importante para os fabricantes brasileiros deCoca-Cola é o controle de qualidade.
Acompanhe todas as fases do processo de fabrica-ção de Coca-Cola, visitando uma das mais de 60 fãbri-cas que operam de norte a sul do País.
brasileirosCo<:a-Co'a
dtSr Cada garrafa é examinada por funcionários especialmentetreinados, que se revezam a cada 15 minutos.
O ATLÂNTICO SULE A MARINHA DO BRASIL
kÉt**k áY—màm
João Carlos Gonçalves CaminhaVice-Almirante
feob o enfoque estratégico há con-veniência em se ver o Atlântico Sulestendendo-se desde as proximida-des do décimo quinto paralelo doHemisfério Norte até as altas lati-tudes do Hemisfério Sul, junto aocontinente antártico. Isso para evi-tar a divisão artificial de um doscomponentes geográficos mais im-portantes da área: a abertura ma-rítima de cerca de 1.700 milhasexistentes entre o litoral do Nordes-te do Brasil e as praias africanas.Outrossim, não convém levar aapreciação até o Mar das Caraíbas.As situações político-estratégicasali evoluem, submetidas a estímu-los de objetivos e a manifestação depoder que não são, necessariamen-te, os mesmos encontrados no Atlân-tico Sul.
Na perspectiva do mundo oci-dental, os objetivos mais importán-tes atinentes ao Atlântico Sul dizemrespeito à proteção do tráfego ma-ritimo. Diferentemente, a presença
10
soviética em suas águas parece ser
ditada, primordialmente, pelo ob-
jetivo de influir no comportamen-
to político dos países africanos. As-
sim, os principais atores no cená-
rio do Atlântico Sul não saltam das
suas margens continentais. Vêm
das altas latitudes do Hemisfério
Norte, como, aliás, tem sido desde
o século XVI. Daí â busca por par-
te das grandes potências de pontosde apoio em território onde náo
exercem soberania, valorizando
determinadas posições estratégi-
cas conforme o grau de controle
que logram obter, política e militar-
mente, sobre cada uma delas.
O tráfego marítimo que se pro-cessa no Atlântico Sul em grandemedida é gerado pelas necessida-
des das grandes economias do He-
misfério Norte. Em conseqüência,
enquanto no Atlântico Norte a maior
densidade do tráfego marítimo es-
tá nas derrotas longitudinais que li-
gam os Estados Unidos e o Canadá
â Europa Ocidental, no Atlântico
Sul está nas que se processam no
sentido norte-sul. O que existe, pois,de mais característico no Atlânti-
co Sul é a integração das necessi-
dades de trocas das economias dos
países sul-americanos e africanos
ao grande fluxo de circulação de
mercadorias impulsionado pelaseconomias norte-americana e euro-
péia. Isso é feito através das seguin-
tes rotas principais:
1) A que, procedente do Oceano
Índico, depois de contornar o Cabo
da Boa Esperança, demanda a Eu-
ropa, passando ao largo de Cabo
Verde.
2) A que, do Cabo da Boa Espe-
rança, demanda o litoral leste dos
Estados Unidos ou o Mar das Caraí-
bas, cruzando em diagonal o Atlân-
tico Sul.
3) A que, procedente do Estreito
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
de Magalhães, Estuário do Prata e
da área Rio—Santos, corta o Atlân-
tico em direção aos portos da Eu-
ropa Ocidental ou Mediterrâneo,
cortando noutra diagonal o Atlân-
tico Sul.
4) A que se bifurca da rota men-
cionada am 3, na altura do saliente
do Nordeste do Brasil, para deman-
dar ou a Costa Leste dos Estados
Unidos ou o Mar das Caraíbas.
A par dessas rotas principais
de interesse do mundo ocidental co-
mo um todo há as rotas costeiras da
África e da América do Sul. No quediz respeito ao Brasil, existem ain-
da duas outras rotas oceânicas im-
portantes; são elas:
5) A que, procedente do Oceano
Índico, demanda os portos brasilei-
ros.
6) A que, da área Rio — Santos,
demanda o Golfo da Guiné.
A importância dessas seis rotas
para a economia do mundo ociden-
tal e para a do Brasil, em particu-
lar, pode ser resumida nas seguin-
tes cifras: a rota n.° 1 é reponsável
por 66% do petróleo importado pe-
la Europa Ocidental; a rota n.° 2 é
responsável por 26% do petróleo
importado pelos Estados Unidos;
pela rota n.° 3 transitam 53% das
exportações totais do Brasil; pela
rota n.° 4 transitam 11,5% das ex-
portações totais do Brasil e 13% da
importação de petróleo; pela rota
n.° 5 chegam 68% do petróleo im-
portado pelo Brasil e saem, em to-
nelagem, principalmente sob a for-
ma de minério de ferro, 33% da ex-
portação; pela rota n.° 6 são impor-
tados, do Golfo da Guiné, 15% do pe-
tróleo estrangeiro.
De outra parte, visto o Atlântico
Norte não se comunicar diretamen-
te com os demais oceanos, mas sim
com uma série de mares adjacen-
tes, como o Báltico, o Mediterrâneo
Europa / ^
Arq. V I
CaboVe^j^i^
CNv1/!*- Fernando S.
S /
Noronha >^scen8ao N
Bahia si V
j I. S. Helena /
a> I. Trindade^VSSSv\ ^
L Bahia Blanca // (cSbo
)¦ AI
_ J--E
\ Is- I^alkland>0d > tP^ simbologia
>-<03 *«> South Georgia |i||'' MIL Areas focals
Is. Sandwich Principals rotas marltlmas&
A. Cape of Good Hope
B. Dacar
d~*/p C.
Northeast Brazil
D. Rio de JaneiroAntartida
E. River Plate
Europa j ^
Arq. V |
CaboVe^j^i^
CNv1/!*- Fernando S.
S /
Noronha >^scen8ao |
Bahia si V
j I. S. Helena /
a> I. Tyindade^SSSSSsSN^^ ^
L Bahia Blanca // (cSbo
)¦ AI
_ J--E
\ Is- I^alklandSIMBOLOGIA
>-<03 *«> South Georgia |i||'' MIL Areas focals
Is. Sandwich Principals rotas marltlmas&
A. Cape of Good Hope
B. Dacar
d~*/p C.
Northeast Brazil
D. Rio de JaneiroAntartida
E. River Plate
12 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIR
e o das Caraíbas, qualquer obstru-ção no fluxo neles processado temimediatas conseqüências no Atlân-tico Sul. Podem refluir assim sobrea passagem entre a África e o Bra-sil os navios que, por uma razão ououtra, encontrem dificuldades ouimpedimentos em navegar nas 60milhas do Estreito da Sicília, nos 13quilômetros do Estreito de Gibral-tar, nos 200 metros de largura doCanal de Suez ou nos 50 metros dascomportas do Canal de Panamá.Como se sabe, durante a SegundaGuerra Mundial, as obstruções noMediterrâneo Central forçaram aadoção das rotas do Atlântico Sulpara o suprimento dos exércitosaliados no Egito, no Mar Vermelhoe no Oriente Próximo. O conflito dospaíses árabes em Israel, fechandoo Canal de Suez durante anos, fezcom que grande parte do suprimen-to de petróleo para a Europa e osEstados Unidos passasse a se valerda rota do Cabo, em vez da rotabem mais curta pelo Mediterrâneo.
A contemplação dos fluxos ma-rítimos processados nas águas doAtlântico Sul, alimentando as eco-nomias de vários continentes e sen-do, ao mesmo tempo, por elas ali-mentado, mostra que as rotas inter-continentais da América do Sul pa-ra a Europa Ocidental ou para oMediterrâneo se cruzam com as ro-tas procedentes do Cabo da Boa Es-perança para a Costa Leste dos Es-tados Unidos, para o Mar das Ca-raíbas ou para o Golfo do México,numa área em que a terra maispróxima é o litoral nordeste doBrasil.
As considerações feitas até aquipermitem identificar, sem dificul-dades, as áreas focais mais impor-tantes do Atlântico Sul, ou seja,aquelas em que ocorrem as gran-des e inevitáveis convergências da
navegação costeira ou oceânicaTodas elas já foram mencionadasNa vertente africana, a mais ireportante situa-se ao largo do litorasul da África do Sul, na altura doCabos Agulha e da Boa EsperançaPassam por aí em média, estandio Canal do Suez operando normalmente, 20 a 25 mil navios/ano. A segunda área focai do lado africantsitua-se ao largo do Cabo Verde, oiseja, nas proximidades de Dacar. Iterceira é no Golfo da Guiné, maiíparticularmente ao largo da costanigeriana. É a conseqüência dcadensamento das populações na-quela área e de um alentado comer-cio exportado de matérias-primas,em especial o petróleo.
Do lado sul-americano, as áreasfocais resultam do cruzamento derotas ao largo do Cabo Calcanhar(extremidade nordeste do Brasil),da existência dos principais portosexportadores e importadores doBrasil entre as latitudes de 20° e 25°Sul e dos portos do rio da Prata. Aprimeira é de maior significado es-tratégico para os Estados Unidos,em especial, embora também o se-ja para outras potências do mundoocidental. As duas outras são de im-portância vital, uma para o Brasile outra para a Argentina.
O Atlântico sul é relativamentevazio de ilhas oceânicas, proporcio-nando, em conseqüência, um as-sentamento geoestratégico bem di-verso daqueles existentes no Ocea-no Pacífico e mesmo no AtlânticoNorte. O peso estratégico das ilhasdo Atlântico Sul, por força da loca-lização geográfica das mesmas, ca-racterísticas do litoral e superfície,não equipara-se ao dos Açores, Ber-mudas ou Islândia, no AtlânticoNorte. Mesmo assim, esse pesocresceu nos últimos anos. Com ex-ceção das Ilhas Faklands, as de-
O ATLÂNTICO SUL E A MARINHA. 13
mais do Atlântico Sul são desprovi-
das de portos naturais. Constituí-
ram, por isso, ao longo dos séculos,
precários pontos de arribada aos
navegadores. Daí terem ficado no
esquecimento dos estadistas, exce-
to para a guarda de inimigos peri-
gosos, a exemplo de Napoleão. Ja-
mais foram vistas como componen-
tes estáticos do Poder Marítimo.
Jamais entraram em esquemas es-
tratégicos de maior importância,
com a possível exceção das Falk-
lands na época da expansão colo-
nial inglesa e do advento da nave-
gação a vapor. Contudo, quase to-
das elas ocupam posição geográfi-
ca de importância estratégica.
Duas novas perspectivas no século
XX valorizaram sobremodo a posi-
ção estratégica ocupada pelas mes-
mas. A primeira foi a proporciona-
da pelo advento do Poder Aéreo. Ca-
da ilha, em qualquer espaço geo-
gráfico, converteu-se num possível
ponto de aplicação para irradiação
do poder em todas as direções, gra-
ças às possibilidades operativas
das aeronaves. Essa perspectiva
nova diz respeito em particular às
Ilhas do Cabo Verde, Fernando de
Noronha, Ascensão e Santa Helena.
As duas primeiras estão geográfi-
camente situadas em áreas focais.
Ascensão proporciona ampla visão
sobre o gargalo do Atlântico e sobre
três das grandes rotas interconti-
nentais: a do Cabo para a Europa,
a do Cabo para a Costa Leste dos
Estados Unidos e Canadá e a da
América do Sul para a Europa. A
Ilha de Fernando de Noronha dis-
põe de pequeno campo de aviação,
cuja importância não é maior da-
da a precariedade de suas instala-
ções, a dificuldade em apoiá-lo por
mar e a relativa proximidade da
grande Base Aérea de Natal, no
continente.
Trindade, a 700 milhas da costa,
na altura do paralelo de 20° Sul,
apresenta grandes dificuldades pa-
ra a construção em seu solo de um
campo de pouso. Há propostas nes-
se sentido, mas a um preço extre-
mamente elevado. Sem dúvida,
uma pista de pouso e decolagem
naquela ilha possibilitaria melhor
contemplação sobre larga extensão
do Atlântico Sul. Em contraparti-
da, criaria um difícil problema lo-
gístico para a Força Aérea e para
a Marinha. O seu abastecimento
por mar é tarefa arriscada e demo-
rada em todas as condições de
tempo.
A outra perspectiva que valori-
zou algumas ilhas do Atlântico Sul
foi a busca de soberania territorial
no continente antártico. Ela colo-
cou em evidência as Ilhas da Geór-
gia do Sul e o Arquipélago das Sand-
wich do Sul. A Geórgia do Sul, com
cerca de 3 mil quilômetros quadra-
dos e o pequeno Porto de Gritviken,
poderá ter algum dia significado
além daquele relacionado com a
pesca da baleia. Um campo de
aviação ali construído abriria uma
nova visão sobre vasta região no
acesso â Antártida.
O mar em sua volta não gelando
no inverno a torna acessível o ano
todo. Isso não acontece com Sand-
wich do Sul, meras rochas vulcâni-
cas, desprovidas de águas abriga-
das. Estas valem, sobretudo, como
referência nos possíveis reclamos
de soberania sobre o território an-
tártico.
As Ilhas Falklands, com quase 12
mil quilômetros quadrados, são as
mais importantes do Atlântico Sul
sob o aspecto político e econômico.
Em conjunto, elas têm superfície
bem maior do que a Ilha de Creta.
A maior ilha do arquipélago, sozi-
nha, é maior do que a Ilha da Cór-
14 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
sega. Contudo, enquanto a Córsegatem quase 300 mil habitantes, o nú-mero dos Kelpers mal atinge a doismil.
Para a Argentina, a posse dasMalvinas é bem mais do que umalonga aspiração histórica envoltanuma emotividade explosiva. Sig-nifica, ao mesmo tempo, a remoçãode uma séria deficiência de caráternaval e um incremento na capaci-dade de projeção de poder tanto so-bre o Atlântico como sobre o con-torno sul do continente. Com efeito,no recortado litoral das Ilhas Falk-lands há uma extraordinária abun-dância de portos naturais, o que es-casseia no litoral da Argentina. Apar disso, sua extensão e topogra-fia permitem a construção de inú-meros aerodromos, embora não apequenos custos.
Com muita razão, observou umalmirante argentino que a possedas Falklands representaria para aArgentina muito mais do que aaquisição de territórios insulares.Representaria, a longo prazo, o ali-cerce do seu domínio marítimo emlarga porção do Atlântico Sul emesmo do Pacífico Sul.
O relevo submarino do AtlânticoSul proporciona a existência de am-pias bacias de grande profundida-de entre o Brasil e a África, as quaispassaram a ter significado estraté-gico na era dos submarinos de pro-pulsão nuclear dotados de mísseisde longo alcance. Essas bacias sãode acesso mais seguro para subma-rinos através das águas ao sul doCabo da Boa Esperança ou do Ca-bo Horn do que via Norte da Norue-ga. Estão longe de qualquer das ba-ses dos países ocidentais do Hemis-ferio Norte, mas a distância ade-quada para o emprego dos mísseisdisponíveis aos submarinos nuclea-res.
Quanto aos focos de instabilida-des latentes na moldura do Atlân-tico Sul, eles se situam preponde-rantemente no lado africano.
Há ali a efervescência de uma si-tuação em rápida transição carac-terizada pela existência de grandenúmero de centros de decisões po-lí ticas pertencentes a estados ain-da não consolidados, submetidos apressões de potências extraconti-nentais. A África está na sua tercei-ra fase de radical mutação política,em pouco mais de um século, comtodas as implicações daí resultan-tes para o resto do mundo. (A pri-meira fase foi a do tribalismo e a se-gunda a do colonialismo.) A avalia-ção da situação africana é, assim,particularmente difícil. É um con-tinente amorfo sob o ponto de vistageoestratégico. Não dispõe, como aEuropa, e, em certa medida, aAmérica do Sul, da coluna verte-bral de um eixo em relação ao qualsão estabelecidos os grandes obje-tivos e aplicados os maiores esfor-ços de maneira um tanto ou quan-to previsível.
Não faz muito sentido, para efei-tos de avaliação estratégica, a pro-cura dos possíveis canais de trans-missão de esforços entre os princi-pais estados africanos. Ela não aju-daria na compreensão da situação.Também a avaliação do poder, namaioria das nações africanas, nãopode ser feita segundo parâmetrosválidos para a Europa ou para aAmérica do Sul. Quando muito, evista de longe, pode-se visualizar asituação africana como a de um ro-chedo, a República Sul-Africana,contra o qual se embatem com for-ça crescente as ondas do anticolo-nialismo e do anti-racismo insufla-dos pelo vento da expansão soviéti-ca. Mas mesmo essa visão sumáriaé pertinente apenas a uma parte do
o ATLÂNTICO SUL E A MARINHA. 15
quadro. Aqui e ali, em toda a exten-
são da franja atlântica do continen-
te africano, há outras rochas mais
fracas sendo desgastadas por ações
externas e internas e rolando umas
sobre as outras. Motivações de ori-
gens diversas, insufladas ou não de
fora, se têm combinado em propor-
ções diferentes nas várias regiões
africanas, produzindo efeitos extre-
mamente diversos. A herança colo-
nial ainda dá conformação às fron-
teiras políticas da maioria dos pai-
ses e está presente em grande nú-
mero de instituições. Continua a es-
truturar a máquina estatal da
maioria dos estados e a pesar na or-
dem econômica com repercussões
variadas na contextura social. En-
quanto isso, o marxismo empolga,
sob roupagens várias, os governos
dos novos países na ordem inversa
do poder das antigas potências co-
loniais. Assim é que a maioria das
antigas colônias da França e da
Grã-Bretanha lograram escapar à
imposição de governos pró-soviéti-
cos. Não aconteceu o mesmo com
as ex-colônias portuguesas.
A Guiné Portuguesa, Angola e
Moçambique passaram diretamen-
te, e de forma caótica, do controle
político de Lisboa para o controle
de governos marxistas recém-
instalados. Nesses dois últimos pai-
ses perduram movimentos guerri-
lheiros que contam com o apoio da
África do Sul. De outra parte, An-
gola e Moçambique têm servido de
base aos movimentos de resistên-
cia infiltrados na África do Sul e na
Namíbia. Complica ainda mais a
situação a presença ostensiva de al-
gumas dezenas de milhares de sol-
dados cubanos em Angola já há
cerca de oito anos. Perdura o im-
passe referente à independência da
Namíbia. Criaram-se as condições
para o acúmulo de poderes extra-
africanos junto às facções antagô-
nicas em cada um desses países,
numa repetição do que aconteceu
no Líbano em escala mais grave.
Hoje, a grande diferença em ter-
mos geoestratégicos do Atlântico
Norte para o Atlântico Sul é que na-
quele as duas margens continentais
continuam, como no final da Segun-
da Guerra Mundial, sob firme con-
trole dos poderes ocidentais. Neste,
a margem oriental está vazia de po-
der em grande extensão e às vezes
até com sentinelas cubanas em vá-
rios pontos de importância estraté-
gica. Sendo o Atlântico Sul bem
mais estreito do que o Atlântico
Norte, não podem nem o Brasil nem
as potências ocidentais do Hemis-
fério Norte menosprezar o fato in-
sofismável que no tabuleiro geoes-
tratégico do Hemisfério Sul grande
número de quadrados passou a ser
ocupado por pedras de cores dife-
rentes daquelas que lá estavam an-
teriormente. Não se conhecem, po-
rém, nem a.importância relativa de
cada um dos quadrados ocupados,
em face dos demais, nem as possi-
bilidades das pedras neles coloca-
das. Dessa forma é lícito afirmar-
se que a moldura continental do la-
do leste do quadro geopolítico em
apreciação apresenta fissuras esti-
mulando a busca de objetivos maio-
res e permitindo a derrama de po-
deres extra-africanos por sobre o
Atlântico Sul.
Quanto ao lado oeste do quadro
em análise, neste, enfraqueceu-se o
sistema defensivo do Hemisfério
Ocidental, mormente após a Guer-
ra das Falklands. Paralelamente, a
ameaça soviética, tão presente na
vida política norte-americana e eu-
ropéia, não mais se faz sentir com
o vigor anterior nas praias ameri-
canas do Hemisfério Sul. Ganhou
primazia o sentir de um relaciona-
16
mento econômico insatisfatório en-
tre as nações dos chamados Pri-
meiro e Terceiro Mundos. Uma vez
cunhada, academicamente, a ex-
pressão Terceiro Mundo, ela passou
a ter valor equivalente, na aprecia-
ção dos problemas internacionais,
ao da expressão proletariado ou lu-
ta de classe na consideração dos
problemas sociais. Cabe ao futuro
dizer da consistência de um relacio-
namento internacional fundamen-
tado em parâmetros de avaliação
simplistas que colocam o Brasil,
por princípio, mais junto da Tanzâ-
nia do que do Canadá e estabelece,
a priori, haver grande identidade
de interesse entre a Arábia Saudi-
ta, membro da OPEP, e o Brasil,
grande importador de petróleo, em-
bora jamais se tenha percebido em
qualquer tenda ou palácio árabe
qualquer preocupação com o que
ocorre no Brasil depois dos choques
de petróleo de 1973 e 1979.
Dessa forma, apreciado do lado
brasileiro, o Atlântico Sul é um lar-
go rio cuja margem oposta está
aberta à ocupação talvez por inimi-
gos potenciais, talvez por amigos
duvidosos. Obviamente, isso au-
menta a necessidade de melhor
controle sobre as águas que sepa-
ram as duas margens. Aumenta
também a conveniência de se pre-
servar livres de ameaças os pilares
disponíveis às projeções de poder
no largo rio. Esses pilares são as
ilhas oceânicas, em especial a de
Ascensão. Geograficamente, As-
censão e Santa Helena pertencem
à África. Historicamente, foram
descobertas por navegadores por-
tugueses e pertenceram, pelo Tra-
tado de Tordesilhas, à coroa lusita-
na. Politicamente, e de fato, são co-
lônias britânicas há longo tempo.
Entretanto, é possível que, nos fo-
runs internacionais, em nome do
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
anticolonialismo, e da solidarieda-
de terceiro-mundista, surjam pro-
postas condenatórias da presença
européia em ilhas que podem ser
vistas como africanas em termos
de distâncias geográficas. A Ilha de
Santa Helena tem apenas quatro
mil habitantes.
Quanto a Ascensão, ela nem po-
pulação permanente tem. E reco-
mendações anticolonialistas nem
sempre levam em consideração o
sentir dos habitantes das regiões,
afetadas principalmente se esses
forem em pouco número.
Na moldura sul-americana, os
focos de instabilidade são em bem
menor número do que na africana.
Identificam-se com as reivindica-
ções territoriais de alguns países
em relação a áreas sob soberania
de outros estados. Identificam-se
também com as conseqüências
dessas reivindicações, no caso
de levarem elas a alinhamentos de
poderes. Da outra parte, o clima de
incerteza em relação ao Atlântico
Sul aumentou nos últimos anos, em
conseqüência do vazio criado com
a retirada do poder britânico, bem
como da relutância do Brasil em aí
assumir presença efetiva, como or-
denava o seu condicionamento geo-
gráfico e econômico.
O inesperado conflito das Falk-
lands trouxe de volta ao Hemisfé-
rio Sul, numa marcha à ré da His-
tória, o poder britânico. Ao mesmo
tempo, revelou a existência do em-
brião de um novo alinhamento de
poderes: o das nações latino-ameri-
canas com reivindicações territo-
riais. São dois novos dados pertuba-
dores do quadro político-estratégi-
co desta parte do mundo. Não foi
por mera coincidência que os mais
incisivos apoios recebidos pela Ar-
gentina durante a crise das Falk-
lands o foram da parte da Venezue-
o ATLÂNTICO SUL E A MARINHA. 17
la, Bolívia, Peru, Panamá e Cuba,
todos com reclamos territoriais. É
um alinhamento no qual não cabem
nem o Brasil nem o Chile.
Evidentemente, o rápido fim da
Guerra das Falklands não permitiuo frutificar da identificação entre
os interesses reivindicatórios dos
vários estados latino-americanos
insatisfeitos com os atuais limites
de suas soberanias. Mas os conten-
ciosos persistiram espicaçando os
orgulhos nacionais. Nem parecehaver solução próxima e aceitável
plenamente às diferentes partesdas
questões do Canal do Panamá,
Guantánamo, Falklands, Essequi-
bo ou acesso da Bolívia ao Oceano
Pacífico. São questões que podemou não levar a buscas de convergên-
cias de esforços por parte dos pode-res envolvidos com ou sem reper-
cussões no quadro político-estraté-
gico do Atlântico Sul.
De acordo com o apresentado, o
Atlântico Sul é hoje uma região
geopolítica na qual se cruzam as
projeções dos poderes das grandes
potências do Hemisfério Norte, co-
mo o vêm fazendo desde o século
XVI, mas agora com novos partici-
pantes, É uma área sobre a qual de-
ságuam muitas incertezas africa-
nas e várias perplexidades sul-ame-
ricanas. Nesse cenário, embora o
território brasileiro ocupe posição
geográfica conspícua, o Estado
brasileiro, por falta de poder, é vis-
to nos centros decisórios mais im-
portantes como personagem secun-
dário, a ser eventualmente convo-
cado para participar dos aconteci-
mentos.
A valorização estratégica da po-sição geográfica brasileira decor-
reu, precipuamente, da maior de-
pendência da economia ocidental
ao suprimento de matérias-primas
transportadas nas rotas marítimas
do Atlântico Sul. Deveu-se também
às maiores possibilidades operati-
vas dos novos instrumentos do po-
der nas águas e nos ares. Com o
conseqüente aumento da probabi-
lidade de ocorrências de demons-
trações de força em todo o Atlânti-
co Sul partindo de pontos de aplica-
ção no Hemisfério Norte.
Cabe a confissão que essa evolu-
ção ampla e rápida, sob o prisma
estratégico, a que está submetida,
inapelavelmente, a parte mais im-
portante do Hemisfério Sul, não
vem despertando maiores ansieda-
des nos meios políticos brasileiros.
Como é notório, a política exter-
na brasileira assumiu, nos dois úl-
timos lustros, um posicionamento,
em relação aos problemas de segu-
rança do Hemisfério Ocidental, di-
verso daquele que levou o País a
participar, com efetivos militares,
da ação preventiva em São Domin-
gos, em 1965. Nesse particular, a po-
lítica externa brasileira adotou
pontos de vista patrocinados pelo
México. Contudo, há uma diferen-
ça essencial entre os dois países:um está no fundo do Golfo do Méxi-
co e junto ao Estados Unidos. O ou-
tro está só en> frente ao Atlântico
Sul e à África. Para os atuais for-
muladores da política externa bra-
sileira, as confrontações na Améri-
ca Central e na África são meros
desajustes temporários nascidos de
um passado colonial, não longínquo
pejado de cargas negativas nos
campos político, econômico e so-
ciai. Admitem eles que tais con-
frontações são restritas nas suas
repercussões, no equilíbrio de po-
deres entre as grandes potências.
Se assim não for, os Estados Unidos
saberão o que fazer. Paralelamen-
te, aceitam como viável uma ação
conjunta dos países do Terceiro
Mundo, independentemente das
18 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ideologias professadas pelos diri-
gentes de cada um deles, visando a
um novo tipo de relacionamento in-
ternacional calcado em valores e
princípios que não aqueles das
grandes potências. Essa postura di-
plomática, certa ou errada, por uns
vista como pragmática, por outros
como idealista e por outros ainda
como dúbia, levou à tese da desmi-
litarização do Atlântico Sul e ao
conseqüente desinteresse no Gover-
no pela presença militar do Brasil
no Atlântico Sul. Como era de espe-
rar a proposta de desmilitarização
do Atlântico Sul, feita por brasilei-
ros, traz na sua esteira o enfraque-
cimento do Poder Naval brasileiro.
De outra parte, a triunfante visão
geopolítica que levou à construção
de Brasília, ao desenvolvimento de
todo um sistema de transporte ba-
seado em rodovias e à ocupação dos
vazios da hinterlândia, uma vez di-
namizada administrativamente,
forçou o investimento de propor-
ções cada vez maiores de recursos
da Marinha de Guerra longe das
águas do Atlântico. Aceita a idéia,
nos meios políticos, de que não ha-
via a perspectiva de um emprego
bélico da Marinha em futuro previ-sível, surgiram as pressões econô-
micas e administrativas para a
transformação de uma força arma-
da de glorioso passado numa mera
guarda costeira. Num período ex-
tremamente crítico em que grande
parte do material flutuante da Ma-
rinha ultrapassou quase simulta-
neamente a marca fatídica dos 35
anos de construção, o programa de
renovação das forças navais sofreu
amputações aleijantes. De outra
parte, num período de cerca de se-
te anos, durante os quais o arrola-
mento de meios flutuantes da Ma-
rinha não foi acrescido de nenhuma
unidade de valor militar e em que
quatro destróieres e três submari-
nos foram transformados em suca-
ta, cerca de uma vintena de navios
fluviais ou para emprego em servi-
ços costeiros ou portuários, passoua ostentar as flâmulas de comando
da Marinha de Guerra. Atualmen-
te, apenas quatro navios combaten-
tes estão em construção para a Ma-
rinha do Brasil: duas corvetas, de
1.962 toneladas, aptas a desenvolve-
rem a velocidade máxima de 27
nós, e dois pequenos submarinos.
Desnecessário se torna dizer
que, em face da avançada idade de
seus destróieres e de seu único
navio-aeródromo, a capacidade
operativa da Marinha do Brasil no
Atlântico Sul muito em breve se li-
mitará àquela proporcionada porseis fragatas, três submarinos, seis
navios-varredores, um navio-tanque
e um número ainda não bem defi-
nido de corvetas e submarinos. Evi-
dentemente, não havendo uma rá-
pida e drástica alteração na manei-
ra de o Governo brasileiro encarar
os problemas de segurança exter-
na e os problemas navais, a Mari-
nha do Brasil não terá condições
mínimas para desempenhar um
papel efetivo na proteção do tráfe-
go marítimo do Atlântico Sul. Nem
sequer na proteção dos inúmeros
portos espalhados desde a foz do rio
Amazonas até as proximidades do
rio da Prata, ao longo de mais de
sete mil quilômetros, ou na prote-
ção dos campos petrolíferos da pia-taforma continental, responsáveis
por mais de 50% das reservas co-
nhecidas do País. Quanto a uma
eventual recuperação do Poder Na-
vai brasileiro baseada precipua-
mente num esforço do parque in-
dustrial existente no País, as possi-bilidades, a longo prazo, são razoá-
veis. Já existe no Brasil uma base
industrial apta a ser especilizada
o ATLÂNTICO SUL E A MARINHA. 19
na fabricação de uma vasta gamade equipamentos bélicos. Cabe ob-
servar que a descontinuidade dos
cuidados ministrados à prontifica-
Ção da Marinha de Guerra inibiu o
engajamento mais profundo da ini-
ciativa privada no setor. Em conse-
qüência, parte da experiência acu-
mulada durante a Segunda Guerra
Mundial desgastou-se. Nos últimos
lustros, apenas um navio da Mari-
nha do Brasil, um navio-tanque, foi
construído em estaleiro brasileiro
particular. Os demais construídos
no Pais o foram no Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro, como as
duas fragatas tipo MK10 e as duas
corvetas cujas quilhas foram bati-
das recentemente. Os três grandesestaleiros existentes no Brasil, e
não pertencentes à Marinha de
Guerra, dedicaram-se, portanto, à
construção de navios mercantes,
contribuindo substancialmente pa-ra que esta crescesse, em dez anos,
de pouco mais de dois milhões de
toneladas para cerca de dez mi-
lhões de toneladas. Parte da tone-
lagem mercante produzida no Bra-
sil foi exportada. Com um turno de
trabalho, a produção anual dos es-
taleiros particulares brasileiros é
superior a um milhão de toneladas.
Estão eles capacitados a construí-
rem navios de até 380 mil toneladas,
com um índice de nacionalização
no material empregado de cerca de
80%. Como acontece na maioria
dos países, a maior dificuldade pa-ra o reaparelhamento adequado da
Marinha de Guerra com material
de construção nacional está nos
equipamentos de alta e requintada
tecnologia exigida pela guerra na-
vai. Esses não podem ser produzi-
dos, comercialmente, no Brasil, de-
vido às dimensões diminutas de
mercado e à carência de know-how
próprio. Assim, o avanço da nacio-
nalização do material bélico na Ma-
rinha tem sido mais difícil do que
na Força Aérea e no Exército. Em
dez anos de pesquisa tecnológica e
de esforço empresarial, os fabri-
cantes de material bélico no Brasil
lograram desenvolver tipos de ae-
ronaves, de blindados e de arma-
mento portátil aceitáveis não ape-
nas nas Forças Armadas do País,
mas também em inúmeras nações
da América, da África e da Ásia.
Graças a esse esforço, o Brasil é ho-
je o maior exportador de material
bélico do Terceiro Mundo. Bem
mais difícil se apresenta o proble-
ma de produzir equipamentos béli-
cos que sejam, ao mesmo tempo,
nos seus requisitos técnicos, aque-
les cobiçados pela Marinha do Bra-
sil e aqueles vendáveis às Marinhas
do Terceiro Mundo. Conseqüente-
mente, é de se estimar que, por bas-
tante tempo ainda, caberá à Mari-
nha de Guerra a difícil tarefa de ser
pioneira na pesquisa e mesmo na
produção de equipamentos navais
mais complexos. Eqüivale isso a di-
zer que o programa de nacionaliza-
ção do material da Marinha de
Guerra requer a cautela de bem do-
sar o que pode ser feito no Brasil
com o que deve ser adquirido no ex-
terior sob forma de produtos aca-
bados ou know-how, sem, ao mesmo
tempo, sacrificar as qualidades bé-
licas das forças navais. É um com-
plexo problema em que muitas ve-
zes as injunções técnicas ou finan-
ceiras perturbam a visão operati-
va, perigosamente.
Nota da Redação: O presente artigo foi publicado originalmente na Revista Internatio-nal Fórum for Strategic, órgão da OTAN editado em inglês. Publicado na Revista MarítimaBrasileira sob licença da Editora Mõnch da Alemanha.
SANBRAUMA DAS MAIORES
EXPORTADORASNACIONAIS
DO SETORPR VADO
O total das exportações daSanbra, em 1985, foi de208 milhões de dólares.Entre os seus principaisprodutos de exportação estãofibra de algodão, café, óleo demamona e derivados, ácidosesteáricos, ácidos graxos,farelo de algodão, óleo dealgodão, farelo de soja, óleode soja, farinha de soja,proteína isolada de soja,proteína concentrada de soja,proteína vegetal texturizada,lecitínas de soja e gordurashidrogenadas.
S SANBRASOCIEDADE ALGODOEIRA DONORDESTE BRASILEIRO S A
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215Bloco D - 5.* ao 8? andaresCEP 05804 - São Paulo - SPTel.: (011)545-1122Telex: 011-37885-SANB - BR - Brasil
A POSIÇÃO DO BRASIL E
alguns PROBLEMAS
ANTÁRTICOS
MÚCIO PIRAGIBE RIBEIRO
DE BAKKER
Contra-Almirante (RRm)
INTRODUÇÃO
As presentes observações têm co-
mo propósito ressaltar a importân-
cia do continente antártico como a
última porção de terra emersa do
planeta, passível de atenuar as ca-
rências futuras da humanidade em
seus três setores de maior impor-
tância: alimentos, matérias-pri-
mas e energia. Tais observações e
as indagações aqui registradas, as-
sim como os comentários efetua-
dos, mesmo de modo sucinto, tam-
bém poderão servir de subsídios a
todos aqueles que se interessarem
por problemas antárticos, especial-
mente aos que têm a responsabili-
dade de conduzir a política e a ciên-
cia brasileiras em relação ao con-
tinente austral.
Faltando apenas cerca de cinco
anos para uma provável revisão do
Tratado da Antártida, é de se espe-
rar que o "Sistema
Antártico", isto
é, o conjunto das normas políticas,
econômicas, científicas e jurídicas,
22
constantes do Tratado da Antárti-
da, e que disciplinam as relações
entre os paises ativos naquele con-
tinente, gradativamente, vá se tor-
nando mais atuante e, assim, pas-
se a despertar maior interesse da
comunidade internacional, notada-
mente dos países que reivindicam
soberania sobre áreas antárticas e
dos que possuem reais interesses
na explotaçâo dos recursos aus-
trais, por dominarem a tecnologia
necessária para isso. As perspecti-
vas, portanto, de uma reabertura
do quadro de disputas sobre por-
ções do continente antártico e de
suas áreas marítimas são reais,
agora com novos fatores, como os
que poderão advir da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar.
Em decorrência da situação geo-
gráfica do Brasil, país com o lito-
ral defrontante com a Antártida, e,
portanto, diretamente influenciado
por fenômenos meteorológicos e
oceanográficos que têm sua gêne-
se no continente austral, além do
parentesco geológico que possui
com aquele continente, torna-se
evidente que o destino da Antárti-
da, sob todos os aspectos, é de ex-
trema importância para o Brasil.
Por consequinte, o país deverá es-
tar devidamente preparado, sobre-
tudo em nível político e científico,
para participar plenamente de to-
dos os debates que fatalmente irão
ocorrer, visando a elaboração, não
só dos acordos necessários à expio-
tação dos recursos antárticos, mas
também, e principalmente, na pró-
xima década, do estatuto jurídico
definitivo para a região.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A
EXPLORAÇÃO E EXPLOTAÇÂO
DOS RECURSOS ANTÁRTICOS
O Tratado da Antártida, assina-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
do em Washington, em 1" de dezem-
bro de 1959, não baixou normas es-
pecíficas referentes à exploração e
explotaçâo dos recursos antárticos,
recomendou, tão-somente, que as
Parte Contratantes deveriam pro-
mover medidas relacionadas com
a proteção e conservação dos re-
cursos vivos da Antártida.
Entretanto, o Acordo de Londres,
de fevereiro de 1972, sobre as focas
antárticas, o Convênio sobre o krill,
assim como a Convenção sobre a
Conservação dos Recursos Vivos do
Mar da Antártida, vieram demons-
trar, indubitavelmente, que o "Sis-
tema Antártico", respaldado pelo
Tratado de Washington (Tratado
da Antártida), pode regulamentar
convenientemente a conservação, a
exploração e o aproveitamento eco-
nômico dos recursos vivos na zona
do Tratado, tanto em áreas conti-
nentais quanto marítimas, de mo-
do plenamente satisfatório para to-
dos os países ativos na Antártida,
inclusive para aqueles com reivin-
dicações territoriais.
Com relação aos recursos não vi-
vos, adquire excepcional importân-
cia a explotaçâo dos hidrocarbone-
tos na região antártida que, pela
Reunião Consultiva de Washington,
de 1979, deverá ser assunto de uma
regulamentação especial. Nesse
sentido, os países membros ativos
do Tratado vêm discutindo e estu-
dando os problemas que poderão
surgir, tanto no campo ecológico
quanto no econômico e no político-
jurídico, onde as seguintes indaga-
ções, entre outras, ainda permane-
cem sem resposta efetiva: — como
seria efetuada a exploração petro-
lífera? — que autoridade concede-
ria as permissões para essa expio-
ração? — que legislação se aplica-
ria? — como se solucionariam as
controvérsias? — qual a situação
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS. 23
dos países que reclamam setores
sobre a produção extraída em seus
respectivos setores? Entretanto, é
possível que a regulamentação da
exploração e explotação do petró-leo e gás, tratada com imaginação
e realismo, dentro do próprio "Sis-
tema Antártico", venha a satisfazer
todas as partes envolvidas, como jáocorreu com o acordo das focas e do
krill. No que se refere aos outros re-
cursos minerais, as Partes Cônsul-
tivas do Tratado também já vêm
debatendo sua regulamentação e
prevê-se que este assunto seja re-
solvido no âmbito do próprio Trata-
do, como no caso da exploração dos
hidrocarbonetos e dos recursos bio-
lógicos, permanecendo válidas as
mesmas indagações feitas ante-
riormente.
Evidentemente, a preocupaçãoatual com o futuro da Antártida,
além dos aspectos políticos e estra-
tégicos envolvidos, está intrinsica-
mente ligada ao seu potencial de
petróleo e gás e a sua já comprova-
da abundância de recursos mine-
rais e biológicos, sobretudo o krill.
Porém, de qualquer forma, o
Tratado trouxe paz e tranqüilidade
a todo o hemisfério austral, possi-bilitando uma excepcional trégua
política, alcançada através de uma
ação científica coordenada e plani-ficada. Ao cabo de quase vinte e cin-
co anos de funcionamento, o Trata-
do tem marcado fortemente a vida
político-jurídica do continente po-
lar, cuja lenta evolução por cami-
nhos próprios já pode ser clara-
mente perceptível. Estamos dian-
te de um caso único, sem preceden-tes no Direito Internacional: um
continente dedicado exclusivamen-
te a atividades científicas, sem ma-
nobras militares, cuja ausência de
habitantes nativos facilita os enten-
dimentos. Por conseguinte, é possi-
vel que a Antártida, mesmo na re-
visão do atual Tratado, evolua pa-
ra uma administração em condo-
mínio, como praticamente já vem
ocorrendo. Os aspectos relaciona-
dos com o aproveitamento econô-
mico dos seus recursos, sem dúvi-
da, serão motivo de acordo dentro
do próprio Tratado, que está aber-
to à adesão de qualquer Estado, o
qual poderá vir a participar ativa-
mente dos trabalhos que lá se de-
senvolvem, atingindo, assim, a con-
dição de membro pleno, como ocor-
reu com a Polônia, a Alemanha Oci-
dental e, mais recentemente, com
o Brasil e a índia.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O
TRATADO DA ANTÁRTIDA E A
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS SOBRE O DIREITO
DO MAR
O Tratado da Antártida é, no mo-
mento atual, o único diploma legal
para o Continente Antártico e o ins-
trumento internacional válido e
aceito por todos os Estados que de-
le são partes, inclusive o Brasil. Du-
rante cerca de vinte e cinco anos de
funcionamento, o Tratado fortale-
ceu-se suficientemente para conse-
guir evitar qualquer interferência
externa, como por exemplo o queocorreu durante as reuniões da
Conferência das Nações Unidas so-
bre o Direito do Mar, quando tal ati-
tude foi adotada com relação a qual-
quer iniciativa daquela Conferên-
cia, tentando ligar, direta ou indire-
tamehte, a questão antártica aos
assuntos de seu interesse. Por ou-
tro lado, não há incompatibilidade
entre os dispositivos da Convenção
e os do Tratado, os quais, portanto,
podem conviver em perfeita har-
monia, especialmente, agora,
quando países importantes no ce-
nário internacional, como o Brasil
24 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
e a índia, passaram à condição demembro pleno, prevendo-se parabreve a admissão de novos agentescomo a China Popular e o Peru e,provavelmente, o Uruguai e o Equa-dor. Verifica-se, portanto, que o Tra-tado, na medida em que se aproxi-ma 1991, o ano de sua possível revi-são, vai sendo cada vez mais pres-tigiado, dele fazendo parte os pai-ses mais representativos dos trêsMundos, como os Estados Unidos,a Uniáo Soviética e a índia. As pers-pectivas são, por conseguinte, deacomodação entre os dois regimes,o da Lei do Mar e o do Tratado daAntártida, podendo até ser de gran-de valia para os membros do Tra-tado, a experiência e os ensinamen-tos colhidos durante a Conferênciadas Nações Unidas sobre o Direitodo Mar, que culminaram com o es-tabelecimento da Autoridade Inter-nacional para os Fundos Marinhose a ratificação da área oceânica ede seus recursos, fora das jurisdi-ções nacionais, como patrimôniocomum da Humanidade. É possí-vel, portanto, que, na revisão doTratado, muitas das conquistas ob-tidas pela Conferência sobre o Di-reito do Mar sirvam de base paraa elaboração do novo estatuto jurí-dico daquela região, especialmen-te as relacionadas com a explora-ção e explotação dos seus recursos,assim como as que dizem respeitoà proteção e preservação do meioambiente antártico.
Tudo leva a crer, no entanto, queserá difícil transformá-la em patri-mônio comum da Humanidade, co-mo o foi a área dos fundos marinhose oceânicos, fora das jurisdiçõesnacionais, por se tratar, a Antárti-da, de um problema completamen-te diferente, que vem evoluindo porcaminhos próprios, com raízes his-tóricas definidas, assim como pelas
reivindicações territoriais existen-tes, algumas delas por demais in-transigentes. É bem verdade que oregime da Antártida pode evoluirnaturalmente para uma adminis-tração em condomínio, inclusive noque se refere à exploração e expio-tação dos seus recursos, sejam elesos hidrocarbonetos, sejam outrosrecursos minerais e biológicos. Sefor o caso, pode-se até privilegiar osEstados historicamente mais liga-dos à região ou aqueles mais pró-ximos e, em conseqüência, maisafetados pelo regime antártico, aexemplo do que ocorreu com a no-va Lei do Mar, na exploração e ex-plotação dos recursos da área, istoé, da zona marítima fora das júris-dições nacionais, considerada pa-trimônio comum da Humanidade,quando foram admitidos os chama-dos "investimentos pioneiros" e os"sistemas paralelos" na explotaçãode nódulos polimetálicos. Mas, épossível também que uma interfe-rència na esfera abrangida peloTratado leve ao rompimento da tré-gua política por ele conseguida, fa-zendo com que as reivindicaçõesterritoriais ressurjam de formamais aguda, agora envolvendo no-vos atores, como os Estados que,depois da elaboração do Tratado,passaram à condição de membropleno. Entretanto, como faltamapenas cerca de cinco anos para aprovável revisão do Tratado, possi-velmente, dentro desse espaço detempo, ainda não estarão resolvi-dos satisfatoriamente todos os pro-blemas políticos, bem como os téc-nicos e econômicos, referentes à es-ploração e explotação de recursosminerais antárticos, inclusive depetróleo e gás, para que o aprovei-tamento econômico de tais recur-sos possa ser efetivamente inicia-do. Deve ser considerada, também,
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS. 25
a existência de outras áreas fora do
âmbito do Tratado, economica-
mente mais atraentes e rentáveis,
e o fato de que os dispositivos da
Convenção sobre o Direito do Mar,
relativos à exploração e explotação
dos recursos da área, sob a respon-
sabilidade da Autoridade Interna-
cional a ser estabelecida, ainda le-
varão um período de tempo razoá-
vel para a sua efetiva consolidação,
implantação e pleno funcionamen-
to. Assim, não é provável que ocor-
ram, pelo menos a curto e médio
prazo, interferências da Convenção
sobre o Direito do Mar na área
abrangida pelo Tratado da Antár-
tida.
Naturalmente, todas as atenções
do Sistema Internacional com a re-
giáo antartica deverão ir gradati-
vãmente convergindo para a data
provável da revisão do Tratado,
prevendo-se que o "Sistema
Antár-
tico" vá se tornando cada vez mais
ativo à medida que aquela data for
se aproximando, especialmente
com o aparecimento de novos ato-
res, tanto no plano internacional,
como a China, quanto no plano re-
gional sul-americano, como o Peru,
o Uruguai e o Equador.
Em face de uma conjuntura in-
ternacional que tem se apresenta-
do extremamente dinâmica não se-
rá fácil prever-se o procedimento
dos Estados partes por ocasião da
revisão do Tratado, especialmente
daqueles considerados territoria-
listas intransigentes e que alegam
razões de segurança nacional para
as suas reivindicações. Por outro
lado, pode ser indagado se a Comu-
nidade Internacional tentará a in-
ternacionalização da Antártida,
transformando-a em patrimônio
comum da Humanidade, a exem-
pio do que ocorreu com os fundos
dos mares e oceanos, fora das áreas
de jurisdição nacional. A tal preten-
são, como reagiriam os países do
Hemisfério Sul, mais próximos da
Antártida e que reivindicam sobe-
rania sobre amplos setores daque-
le continente (Argentina, Austrá-
lia, Chile e Nova Zelândia)? Como
reagiriam ainda países como o
Brasil, Peru, Uruguai, Equador e
outros, defrontantes com a Antár-
tida e como tal sujeitos a influên-
cias diretas dos fenômenos que lá
ocorrem? Por outro lado, não seria
possível que, em vez de reivindica-
ções unilaterais de soberania, os
países de uma mesma região, que
possuem seu litoral devassado pe-
la Antártida, se unissem em prol de
uma reivindicação regional, como,
por exemplo, de uma Antártida
Americana que tivesse a participa-
ção da Argentina, Brasil, Chile,
Equador, Peru e Uruguai? De uma
Antártida Africana, com a África
do Sul, Madagascar e Moçambi-
que, e de uma Antártida Oceânica,
que considerasse a Austrália e No-
va Zelândia?.Nessa teoria, que pos-
sui muitos adeptos no Brasil, as
áreas antárticas, não devassadas
pelos países do Hemisfério Sul, se-
riam reservadas às atividades dos
países do Hemisfério Norte com in-
teresses na Antártida.
Algumas Considerações
Poli tico-Estratégicas
As "áreas
de influência" oceâni-
ca da Antártida no Atlântico Sul e
nos acessos Pacífico-Atlântico e
Atlântico-índico vão se tornando
gradativamente mais importantes
para os Estados Unidos e União So-
viética e para países marítimos do
Cone Sul da América, incluindo o
Brasil.
A crise ocorrida entre o Reino
Unido e a Argentina, por causa do
26REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
problema das Ilhas Malvinas (Fal-
klands), serviu de certa forma pa-ra superar as tradicionais descon-
fianças regionais entre a Argenti-
na e o Brasil, que hoje possuem ex-
celente relacionamento, inclusive
no que se refere à participação bra-
sileira na Antártida. A provávelaproximação da Argentina com o
Chile, em face da solução do proble-ma do Canal de Beagle, sem dúvi-
da, concorrerá para que a Argenti-
na, Brasil e Chile adotem uma po-sição em relação aos problemas an-
tárticos, em nível político, estraté-
gico, econômico e técnico-cientí-
fico, superando a Argentina e o Chi-
le as suas divergências jurisdicio-nais envolvendo territórios antárti-
cos e unindo-se ao Brasil contra os
competidores de outros continen-
tes. E provável também que tal po-sição venha a ser apoiada e segui-
da pelo Peru, Uruguai e Equador,
países também defrontantes com a
Antártida e, portanto, potenciaisreivindicadores de territórios an-
tárticos, à luz da Teoria da Defron-
tação. À exceção do Reino Unido, as
potências ocidentais européias,
aderentes ao Tratado, não têm in-
teresse nem capacidade para par-ticipar efetivamente do jogo estra-
tégico da região. Tudo indica queseus esforços estão mais centrali-
zados na exploração e explotação
dos recursos naturais e na investi-
gação científica. Neste particular,a posição geoestratégica da Argen-
tina, Chile, Brasil e Uruguai cons-
titui excepcional fator de força pa-ra as futuras negociações sobre os
destinos da Antártida. Na realida-
de, no que diz respeito especifica-
mente ao Brasil, a proximidade do
seu grande porto do Rio Grande da
Península Antártica e áreas adja-
centes, a infra-estrutura industrial
e as facilidades já existentes na-
quela cidade, as perspectivas de
isenção tarifária para os navios de
pesquisas antárticas que lá apor-
tem, assim como a construção deuma estação de apoio antártico
dentro da Fundação Universidade
do Rio Grande (FURG), com pos-sibilidades de transformar-se a
curto prazo em um centro interna-
cional de pesquisas antárticas, con-
ferem à cidade de Rio Grande, no
Estado do Rio Grande do Sul e, por-tanto, ao Brasil, uma posição privi-legiada com relação aos problemasantárticos, tanto logísticos e econô-
micos, quanto técnico-científicos.
Será natural, por conseguinte, que
países extracontinentais ou euro-
peus procurem associar-se ao Bra-
sil para, utilizando a sua posição
geográfica vantajosa, desenvolve-
rem programas conjuntos, tanto
sob o aspecto da exploração e ex-
plotação dos recursos minerais
e biológicos, quanto da pesquisatécnico-científica. Por outro lado,
Argentina, Brasil, Chile, Uruguai
Peru e Equador, principalmente,
poderão unir-se nas atividades an-
tárticas, reforçando assim a parti-cipação latino-americana nos tra-
balhos que se desenvolvem naque-
le continente e, conseqüentemente,
formando uma frente política co-
mum que poderá atuar na defesa
dos interesses dos países america-
nos defrontantes e diretamente su-
jeitos às influências antárticas.
Durante a vigência do Tratado e
como membro consultivo, tudo le-
va a crer que o Brasil observará to-
dos os dispositivos do Tratado e to-
das as recomendações adotadas
nas reuniões consultivas e outros
instrumentos aprovados pelas alu-
didas reuniões. Ainda, de acordo
com o próprio espírito do Tratado,
o Brasil estará aberto a todo tipo de
cooperação, inclusive no que se re-
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS. 27
fere a empreendimentos conjuntosbilaterais ou multilaterais, tantocom os países regionais já ativos naAntártida (Argentina e Chile) e osainda não ativos (Peru, Uruguai eEquador) quanto com os países ex-tracontinentais que atuam emáreas de maior interesse brasilei-ro (Reino Unido, Polônia, EstadosUnidos, principalmente).
CONSIDERAÇÕES SOBRE OPROGRAMA ANTÁRTICO
BRASILEIRO (PROANTAR)
O Programa Antártico Brasilei-ro (PROANTAR) foi estabelecidocom o propósito de promover subs-tancial pesquisa científica na re-gião antártica, com vistas a ummaior entendimento dos fenôme-nos que ocorrem naquela região esua influência sobre o Brasil, e ha-bilitar o país a participar da utili-zação dos recursos naturais daárea.
O Programa, aprovado em 1983pela CIRM (Comissão Interminis-terial para os Recursos do Mar) eratificado pela CONANTAR (Co-missão Nacional para Assuntos An-tárticos), considera certos fatorescondicionantes, os quais, em linhasgerais, são a seguir indicados:
"a) compatibilidade com asprincipais linhas e objetivos da po-lítica externa brasileira;
"b) direção centralizada das ati-vidades antárticas, incluindo o pia-nejamento global e a coordenaçãona aplicação dos recursos financei-ros;
"c) execução descentralizadadas atividades antárticas, atravésdas universidades e outras institui-ções; e
"d) cooperação internacionalnos assuntos antárticos."
A presente capacidade da comu-nidade científica brasileira em de-senvolver pesquisas na Antártida élimitada por uma série de fatores.Em primeiro lugar, existem muitopoucas instituições ou grupos dedi-cados às pesquisas antárticas.Acresce-se a constatação de que acapacitação científica concentra-se apenas em algumas áreas, emgeral com carência de conhecimen-tos em assuntos antárticos.
Outro fator a ser considerado éa disponibilidade de meios nacio-nais para a coleta de dados, que ho-je se limitam a navios, em parteinadequados, e a Estação Antárti-ca Comandante Ferraz. As fasesoperacionais das pesquisas brasi-Íeiras, no momento, ainda estãorestritas aos verões austrais, sebem que a Estação ComandanteFerraz, em futuro próximo, poderáser permanentemente guarnecida.Forçoso também é reconhecer ainexperiência brasileira em traba-lhos nas altas latitudes, onde outrospaíses já formaram tradição, con-duzindo programas de pesquisasnacionais e internacionais.
Por outro lado, sendo relativa-mente recentes as decisões gover-namentais sobre atividades antár-ticas, as estruturas de gerência eapoio ainda não são capazes, no seuatual estágio de desenvolvimento,de garantir a desejada e previstaexpansão necessária a assegurar acontinuidade na execução do pro-grama. Aliam-se a isso as disposi-ções do Tratado da Antártida, queprevê o intercâmbio de dados, in-formações e pessoal.
Finalmente, a possibilidade deexplotação de alguns recursos na-turais antárticos não pode ser relê-
28 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
gada a plano inferior. É imperati-
vo, paralelamente, reconhecer a
fragilidade e a interdependência
dos vários componentes do ecossis-
tema antártico.
Em face dos fatores acima apon-
tados, foram estabelecidas as se-
guintes diretrizes específicas para
o PROANTAR:"a)
incentivar a composição de
grupos capazes de conduzir pesqui-
sas de elevada qualidade científica,
através da coordenação multiinsti-
tucional e multidisciplinar;
b) concentrar esforços nas áreas
em que já existe capacitação cien-
tífica no Brasil;
c) complementar a formação de
cientistas e técnicos, através da es-
pecialização em assuntos antárti-
cos;
d) promover a formação de pes-
soai em áreas de pesquisa em que
haja maior demanda;
e) ampliar os meios de coleta de
dados, de modo a permitir a expan-
são das pesquisas no mar e para o
continente, durante todo o ano, in-
clusive pelo uso de meios colocados
à disposição do PROANTAR por ou-
tros países;
f) ampliar e formalizar as estru-
turas de gerência e de apoio do
PROANTAR;
g) estabelecer um sistema cen-
trai de informações científicas,
abrangendo bibliografia e dados;
h) buscar o intercâmbio com ou-
tros países, através da participação
nos programas internacionais de
pesquisa em curso e de entendi-
mentos bilaterais e multilaterais;
i) considerar a preservação do
ambiente como primordial em to-
das as atividades antárticas; e
j) assegurar que quaisquer ati-
vidades de explotação sejam con-
duzidas de forma racional e não-
predatória."
SUGESTÕES DE UMA
POLÍTICA PARA A ANTÁRTIDA
Possivelmente, o interesse do
Brasil, na atual conjuntura, deve-
rá ser o fortalecimento do Tratado
da Antártida, em cuja área de ju-
risdição poderá desenvolver uma
firme e concreta atuação, de modo
a manter a participação nacional
no foro do Tratado e nos organis-
mos e reuniões internacionais em
temas antárticos, em igualdade de
condições com os signatários origi-
nais.
Também, deverá merecer espe-
ciai atenção o posicionamento bra-
sileiro em face dos países que ad-
vogam o princípio de soberania ter-
ritorial sobre áreas do continente
austral e dos que não reconhecem
tais pretensões, para que se possa
estabelecer, adequadamente de
acordo com os interesses perma-
nente da nação, a atitude do Brasil
por ocasião da revisão do Tratado.
Atualmente, ainda não se pode pre-
ver com certeza a destinação poli-
tica do continente antártico, após o
término da vigência do presente
Tratado.
No tocante à cooperação interna-
cional na Antártida, convém ao
Brasil advogar o fiel cumprimento
dos dispositivos pertinentes ao Tra-
tado, beneficiando-se destarte da
cooperação com as nações já há
muito instaladas na região, visan-
do à aquisição de maior experiên-
cia em operação na área, com atua-
ção em projetos bilaterais ou mui-
tilaterais e fortalecendo o espírito
de condomínio vigente no campo da
pesquisa científica. Neste contexto
poderá ser adotado um critério que
leve em consideração fatores poli-
ticos, tais como os entendimentos
regionais com os países vizinhos de
maior tradição antártica ou com os
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS. 29
que ainda não são atuantes na An-
tártida, mas que desejam partici-
par de projetos conjuntos com o
Brasil.
Em qualquer hipótese, não deve-
rá convir ao Brasil adotar nenhuma
posição predeterminada ou rígida
com relação as suas decisões sobre
a Antártida. Será mais adequado
prevalecer como orientaçao básica
para a política nacional em relação
ao continente austral o princípio de
que as decisões a serem tomadas
deverão assegurar a flexibilidade
necessária para permitir as altera-
ções e os ajustamentos que forem
julgados oportunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A união de países pobres, fracos
e populosos da Ásia, África e Amé-
rica Latina em um bloco político,
que se convencionou chamar de
Terceiro Mundo, constituiu-se em
fato de excepcional relevo nas rela-
ções internacionais contemporâ-
neas, que têm como foro principal
as Nações Unidas. A força política
dos países que integram o bloco do
Terceiro Mundo, quase todos situa-
dos no Hemisfério Sul, foi demons-
trada cabalmente durante as nego-
ciações que culminaram com a
aprovação da nova Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, quando aquele bloco atuou de-
cisivamente para que o mecanismo
de concessões dos dois outros blo-
cos, política e economicamente
mais poderosos, permitisse atingir
uma solução de equilíbrio, consubs-
tanciada em uma Convenção, pie-
namente aceitável por ampla maio-
ria de Estados, independente de
seus estágios de desenvolvimento.
O problema do continente antár-
tico, entretanto, apresenta-se de
modo completamente diferente e
não deverá motivar, quando da re-
visão do Tratado, uma atuação se-
melhante do bloco dos países do
Terceiro Mundo, com vistas a obter
a internacionalização da Antártida,
transformando-a em patrimônio
comum da humanidade, como ocor-
reu por ocasião dos debates da III
Conferência das Nações Unidas so-
bre o Direito do Mar, em que tal
conceito foi ratificado em relação
ao oceano profundo, seu solo e sub-
solo. Aliás, recentemente, Brasil e
Chile defenderam nas Nações Uni-
das o Tratado da Antártida, adver-
tindo que se oporão a qualquer mo-
dificação em seus dispositivos, es-
pecialmente por sugestões de pai-
ses da África, Ásia e Caribe. Real-
mente, em um panorama pessimis-
ta de confronto entre as grandes po-
tências no quadro internacional, o
Tratado da Antártida surge como
um precedente válido e como um
exemplo magnífico ao trabalho da
própria ONU, pois permitiu que se
criasse, há um quarto de século, um
regime que tem funcionado com
grande êxito, estabelecendo uma
verdadeira zona de paz, desmilita-
rizada, onde países cooperam,
além de divergências e de desen-
tendimentos políticos e milita-
res.
No que se refere especificamen-
te ao Brasil, portanto, a sua posição
deve ser a de fidelidade ao Trata-
do, prestigiando os seus esforços
para que a explotação econômica
da Antártida se faça dentro do seu
espírito e sob seu controle. E foi
nesse sentido que o Brasil partici-
pou da Reunião Informal do Grupo
de Trabalho sobre Recursos Mine-
rais da Antártida, em Washington,
em janeiro de 1984, quando as dis-
cussões sobre o regime a adotar
não atingiram um excessivo grau
de cristalização, indicando haver
30 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
um razoável espaço para negocia-
ções e entendimentos. Naquela
oportunidade discutiram-se as re-
lações entre o Regime, isto é, o com-
portamento dos países ativos na
Antártida, e o Sistema Antártico,
de um lado, e os organismos inter-
nacionais, de outro, sobretudo as
possíveis repercussões das iniciati-
vas ligadas aos problemas antárti-
cos em curso, no âmbito da ONU.
Além disso, foram também de-
batidos os seguintes assuntos que,
por sua evidente importância, me-
recem registro:
situação dos membros náo
consultivos do Tratado (observado-
res nas reuniões do Grupo);
papel privilegiado ou especial
dos membros consultivos dentro do
Sistema;
formas de participação da co-
munidade internacional nos even-
tuais benefícios das atividades de
aproveitamento dos recursos mine-
rais antárticos;
vantagens ou tratamento es-
pecial para países em desenvolvi-
mento;
vinculaçáo entre participação
no Regime e aceitação do Tratado
da Antártida, no seu todo ou em
parte; e
sistema de informação à co-
munidade internacional sobre o Re-
gime e o Sistema Antártico.
Por conseguinte, pode-se obser-
var que o Tratado da Antártida se-
ja talvez o único foro internacional
adequado a conduzir as discussões
e debates a respeito da explotação
mineral antártica, com realismo.
Nos seus vinte e cinco anos de atua-
ção o Tratado adquiriu suficiente
experiência para dirigir e orientar
todas as negociações e entendimen-
tos necessários á criação do regime
a adotar para a explotação dos re-
cursos minerais antárticos, man-
tendo-o no seu âmbito, sem a inter-
ferência de outros organismos in-
ternacionais.
Por outro lado, não há dúvida de
que existe uma profunda interrela-
ção entre os aspectos técnico-cien-
tíficos e os de natureza político-
diplomática, o que torna necessá-
rio, a um país como o Brasil, ainda
sem tradição científica na Antárti-
da, acelerar a sua atuação no qua-
dro das pesquisas geológicas e geo-
físicas, especialmente da margem
continental daquele continente,
uma vez que as atividades minerais
deverão envolver, em princípio,
aquelas relacionadas com o futuro
aproveitamento de hidrocarbone-
tos da Plataforma Continental An-
tártica. As inegáveis vantagens po-
líticas que os países detentores de
conhecimentos técnicos, sobre as
condições físicas e geológicas liga-
das à pesquisa e explotação dos
possíveis recursos de hidrocarbo-
netos existentes na Antártida, terão
no quadro do futuro Regime, de-
vem merecer especial atenção dos
órgãos responsáveis pela reformu-
laçáo da política antártica brasilei-
ra. Infelizmente, a aquisição de um
navio específico para as pesquisas
antárticas ainda não se concreti-
zou, o que muito limita a expansão
do PROANTAR, especialmente no
que se refere às pesquisas geológi-
cas e geofísicas. Aliás, a promessa
de aquisição de tal navio, a curto
prazo, foi um dos fatores importan-
tes para que o Brasil passasse à
condição de membro pleno, na Con-
ferência de Camberra, em 1983,
tendo em vista que tal aquisição
comprovaria, indubitavelmente,
perante a comunidade antártica, o
interesse do Brasil na intensifica-
ção de suas pesquisas científicas no
continente austral.
Na realidade, o problema da ex-
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS... 31
plotação dos recursos minerais an-tárticos, inclusive de hidrocarbone-tos e gás, ainda não se encontra su-ficientemente debatido nos foros in-ternacionais ligados ao Tratado,para permitir, a curto prazo, a ela-boração de um instrumento jurídi-co que estabeleça o regime a seradotado. Entretanto, o Brasil deveacompanhar esse assunto com omáximo interesse, especialmentepor ser um país que vem adquirin-do bastante experiência em relaçãoà exploração marítima de petróleo.
No que se refere ao problema dosrecursos vivos, o Brasil deverá ade-rir à Convenção sobre a Conserva-Ção dos Recursos Vivos MarinhosAntárticos, concluída em Camber-ra, em maio de 1980. Aliás, com re-lação ao aspecto da explotação des-ses recursos nos mares antárticos,já existem no Brasil pesquisas so-bre o krill, decorrentes da partici-Pação do país no programa BIOMASS(Biological Investigation on Mari-ne Antartic System and Stocks),que poderão resultar, a curto pra-zo, na aquisição da tecnologia ne-cessaria à explotação desse recur-so, inclusive em associação com ou-tros países. Os oceanos austrais,que sustentam uma fauna marinhaabundante, também têm merecidoespecial atenção da ComissãoOceanográfica Intergovernamen-tal (COI), no âmbito da Organiza-Ção das Nações Unidas para a Edu-cação, Ciência e Cultura (UNES-CO), através de programa de pes-
quisas, específico, para os oceanosaustrais, o que naturalmente irá re-sultar em um incremento das rela-ções daquela Comissão com oSCAR (Scientific Comittee on An-tartic Research), altamente bené-fico para ambos os organismos in-ternacionais.
Finalmente, o Brasil tem cons-ciência de que a Antártida temgrande influência sobre o seu ter-ritório; oferece em suas águas umaimensa e quase inexplorada rique-za de recurso vivos, capaz de suprircarências alimentares de uma po-pulação em constante crescimen-to; e que, sob seu solo gelado, af ini-dades geológicas com outras re-giões fazem supor a existência deriquezas minerais, cuja ofertamundial tende a decrescer conti-nuamente. Em torno de todo essepotencial, um ambiente pratica-mente intocado pelo Homem exigecuidados especiais e conhecimentocientífico que o Tratado da Antár-tida tem procurado estimular, abrin-do aquele continente às nações quede fato estejam dispostas a conhe-cê-lo e preservá-lo, explotando osseus recursos de forma racional enão-predatória, em vez de submete-lo a um regime irracional de apro-veitamento e a disputas territo-riais, que poderão resultar em con-seqüências ainda imprevisíveis pa-ra a preservação daquele grandio-so ecossistema e para a própriamanutenção da paz e tranqüilida-de entre os povos.
BIBLIOGRAFIABAKKER, Mucio Piragibe Ribeiro de. O Brasil na Antártida: Um Desafio e uma Esperança.
Revista Brasileira de Tecnologia, Vol. 13 n? 3, jun/jul. 1982.
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Programa Antártico Brasileiro(PROANTAR) - Brasília, 1983.
ROCHA CAMPOS, A.C. Reunião Informal do Grupo de Trabalho sobre Recursos Minerais naAntártida (Relatório). Instituto de Geociências, USP. São Paulo, 1984.
NOTA DA REDAÇÃO — O assunto antártico é fascinante e por essa
razão temos recebido inúmeras e excelentes contribuições que se super-
põem em parte ou se completam, restando para a direção da RMB a difícil
tarefa de seleção.
Graças ã compreensão do CMG (FN) Telles Ribeiro, foi permitido
à RMB publicar a sua colaboração parcialmente e como uma complemen-
tação do artigo de seu colega VA (RRm) Múcio Piragibe.
De seu artigo original, constituído dos capítulos O Tratado de Antár-
tica (2 p.), As Teorias do Direito (4p.), O Brasil entra na Comunidade (2
p.), A Riqueza de Antártica (2 p.) *, As Operações Antárticas (4 p), A Posi-
ção Brasileira — Perspectivas e Conclusão, trancrevemos neste número da
RMB os capítulos 3, 6 e 7.
A RMB agradece ao CMG (FN) Telles Ribeiro o seu alto espírito de
desprendimento.
(Ta,
U\t^' lit
RENATO ALOYSIO TELLES RIBEIRO
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN)
O BRASIL ENTRA
NA COMUNIDADE
A grande vitória. No dia 13 de se-
tembro de 1983, na cidade de Cam-
berra, Austrália, na 12? Reunião
dos Membros Consultivos do Trata-
do da Antártida, o Brasil foi eleito,
em rápida decisão, membro cônsul-
tivo, o que para nós foi uma grata
surpresa.
Foi um sonho concretizado gra-
ças à perseverança de vários bra-
sileiros e que levou mais de dez
anos para a sua realização.
Vamos a algumas retrospecti-
vas. O Brasil chegou à atual posição
perante o Tratado seguindo a linha
da cooperação científica interna-
cional, em detrimento de várias
correntes no País que advogavam
a tese de reivindicação territorial
* Vide RMB de out-nov-dez. 1983, p. 112 a 116, e a de jul-ago-set. 1984, p. 85 e 86.
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS. 33
— e de outra forma não poderia ser,por força do próprio Tratado.
Em 1972 foi fundado o InstitutoBrasileiro de Estudos Antárticos(IBEA), destinado aos estudos daregião do continente antártico. Emseus diversos trabalhos, obteve oapoio da National Science Founda-tion, que convidou o seu presidén-te, o Dr. Aristides Pinto Coelho, a in-tegrar uma expedição à Base Ame-ricana de Palmer, a fim de prestaro apoio bioquímico e a pesquisasdas algas e foraminíferos antárti-cos. Em conseqüência, o Dr. Aris-tides teve a oportunidade de parti-cipar ativamente do CongressoCientífico sobre a Antártida, reali-zado em Punta Arenas, no Chile,em 1977.
A 16 de maio de 1975, o Governobrasileiro assinou o termo de ade-são ao Tratado Antártico, tornando-se membro aderente, o que signifi-ca não ter direito a voto.
Diversos trabalhos sobre a An-tártida realizados pelo Dr. Aristidessão publicados em revistas interna-cionais e lidos pela comunidade, de-rnonstrando o nosso interesse pelaregião.
Em 1979-80, oficiais da Marinhado Brasil acompanham e partici-pam das atividades do Chile na An-tártida.
Pelo Decreto n? 86.830, de 12 ja-neiro de 1982, foi atribuída à Comis-são Interministerial para os Recur-sos do Mar (CIRM) a elaboração doprojeto do Programa Antártico Bra-sileiro (PROANTAR), aprovado na51? Sessão Ordinária da CIRM, em21 de outubro de 1982.
De 20 de dezembro a 28 de feve-reiro de 1983 é realizada a OperaçãoAntártica I e, pela primeira vez, osNavios brasileiros, Barão de Teffée Professor Besnard navegam emáguas do Oceano Antártico.
Em 1? de março é realizada noRio de Janeiro a I Exposição Bra-sileira sobre a Antártida, visitadainclusive por cientistas soviéticosdo Navio Polar Comandante Bel-lingshausen.
A 23 de agosto pousa pela primei-ra vez um C-130 da Força AéreaBrasileira no solo antártico, na ba-se aérea chilena, cumprindo pro-gramação do PROANTAR, sob ocomando do Major-Aviador SabinoFreire de Lima.
Pela cronologia acima, vimosque com firme vontade e determi-nação, e especial destaque para aOperação Antártica I, pôde o Bra-sil cumprir as prescrições estatu-rárias de "promover substancialatividade de pesquisa científica, talcomo o estabelecimento de estaçãocientífica ou o envio de expediçãocientífica" (sic), que resultaramem sua proclamação como 15?membro consultivo, ficando habili-tado, portanto, a participar daque-la reunião (e das futuras) com di-reito de voto (10:333).
Outra meta vencida — o SCAR.As diversas atividades do AGI cul-minaram no Tratado da Antártida.Mas para que não se perdessem ouse diluíssem as espetaculares pes-quisas e resultados científicos a ní-vel de cooperação internacional oInternational Council of ScientificUnions (ICSU) criou, em 1958, oScientific Comitee on Antartic Re-search (SCAR), órgão não governa-mental que congrega cientistas dospaíses-membros do Tratado da An-tártida.
O SCAR é, instituição de mais al-to nível, com a finalidade de coor-denar as atividades científicas naAntártida, cujos membros, partescontratantes, possuem delegadospermanentes e representantes emtodos os comitês científicos.
34
Para tornar-se membro do SCAR
é necessário que se desenvolvam
projetos e trabalhos científicos, cu-
jos resultados sejam publicados em
revistas internacionais ou, ainda,
que sejam instaladas bases no con-
tinente antártico.
Funçào de conseqüência de nos-
sa admissão, em 1983, como mem-
bro consultivo do Tratado da Antár-
tida, no dia 1? de outubro de 1984, na
reunião bianual, realizada na cida-
de alemã de Brimerhaven, fomos
aceitos pelo mérito de nossos traba-
lhos científicos desenvolvidos e pe-
la instalação de uma estação. So-
mos agora o 15? país-membro e o 3?
da América Latina (os outros dois
são a Argentina e o Chile).
A POSIÇÃO BRASILEIRA -
PERSPECTIVAS
O Brasil, porquanto dentro das
regras estabelecidas pelo Tratado,
vem assumindo uma atitude inter-
nacionalista.
Até o presente momento, toda a
conduta e elenco de medidas toma-
das indicam ser essa a tendência.
Vejamos duas razões:
a) a base ou estação brasileira
foi instalada fora do setor
brasileiro na Teoria da De-
frontação; e
b) até o momento, não há indi-
cações de futuras instalações
de bases naquele setor.
Justificam-se as razões toma-
das, pois o Brasil, ao fazer a primei-
ra expedição, tinha dúvidas de ter
os seus trabalhos científicos reco-
nhecidos, desconhecia a atitude dos
membros do Tratado e não tinha a
mínima experiência no empreendi-
mento.
A região da Penísula Antártica,
onde foi instalada a primeira esta-
ção brasileira, é um dos melhores
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
locais da região no setor sul-
americano. É, por outro lado, o
mais disputado setor, com Inglater-
ra, Argentina e Chile reivindican-
do os mesmos territórios.
O setor brasileiro no Mar de Wed-
deli é de difícil acesso, sujeito a vio-
lentos ventos e condições tempes-
tuosas do mar, necessitando, por-
tanto, de maior experiência, me-
lhor navio polar e maiores recursos
técnicos.
As considerações territoriais por
parte do Brasil, se levadas adiante,
devem atentar para o seguinte:
a) o setor considerado brasilei-
ro está todo compreendido no
reivindicado pela Inglaterra
e Argentina, onde existem
três bases argentinas, uma
inglesa e uma soviética;
b) o Brasil, que nada possuía, fi-
caria com 21° de longitude,
aproximadamente, como fa-
tia;
c) a Argentina, que tinha 49°,
passaria a reduzidos 10°; e
d) o Chile, de 37° para os insigni-
ficantes 8o.
Essa abordagem deveria ser
muito bem discutida e tratada com
o Chile e a Argentina, principal-
mente com esta, pois o nosso setor
está parcialmente sobre o dela. Tb-
davia, há setores entre a Argenti-
na e o Chile que se superpõem (cer-
ca de 21° em longitude).
Porém, o mais grave é que o se-
tor dito inglês cobre os do Chile e da
Argentina, conseqüentemente o do
Brasil.
Contudo, sanadas as discussões
sul-americanas sobre o assunto, a
questão poderia não estar, ainda,
solucionada. O problema maior es-
taria nas pretensões do Reino Uni-
do, que não abre mão de terras de
Sua Majestade. Vide Malvinas, que
após a guerra mudou a denomina-
A POSIÇÃO DO BRASIL E ALGUNS. 35
Ção de seu titular, de Governador
das Falklands e Dependências pa-ra Alto Comissário do Território
Antártico e Dependência, isto é, a
Antártica que era a dependência
passou a ser a principal, e vice-
versa.
Não esquecer das outras nações
que também reivindicam setores
que estão repletos de bages*aliení-
genas, mormente soviéticas e ame-
ricanas.
Se, porventura, à época da revi-
são do Tratado, a tônica for a de re-
clamações territoriais, objetivando
naturalmente o interesse econômi-
co da região, o Governo, através de
seu Ministério das Relações Exte-
riores, já deverá estar preparado
com todos os argumentos à mão,
para discutir o problema. Não lhe
faltarão razões para alegações his-
tóricas, geográficas ou de seguran-
Ça. Não queremos é perder o que já
conseguimos.
Tbdavia, como foi dito, a tendên-
cia atual é pela manutenção do Tra-
tado, afirmando, cada vez mais, os
nossos interesses, e continuar o de-
senvolvimento tecnológico e cientí-
fico, de modo que, a médio e longo
prazos, os resultados colhidos fru-
tifiquem e nos permitam a explora-
ção racional dos recursos existen-
tes, em proveito da população bra-
sileira.
CONCLUSÕES
A presença brasileira na Antár-
tida, resultado da significativa par-
ticipação da comunidade científica
brasileira e da instalação da Esta-
ção Antártica Comandante Ferraz,
foi, sem dúvida, o marco de gran-
de importância para a consolida-
ção de nossas pretensões naquele
continente. Inúmeros desdobra-
mentos positivos advirão.
Será mais um campo de atuação
para os cientistas ligados às áreas
de biologia, geologia, oceanografia,
climatologia, glaciologia e geo-
magnetismo. Através do intercâm-
bio internacional, os resultados se-
rão inestimáveis, bem como o sta-
tus adquirido na comunidade cien-
tífica será incontestável.
No campo militar, os conheci-
mentos obtidos acerca da sobrevi-
vência nas regiões polares, sob con-
dições de temperaturas negativas
extremas, serão de muita utilidade
para as Forças Armadas; muito va-
liosos também os conhecimentos
para a Marinha, concernentes à na-
vegação e sobre os cuidados e as
precauções na manobra de um na-
vio em presença do gelo. A exten-
são do Poder Naval para áreas
mais distantes será mais uma fon-
te de motivação para os jovens ofi-
ciais. Será a retomada da vocação
marítima brasileira, resultando,
por certo, em melhores oportunida-
des e perspectivas de trabalho.
A próxima viagem do Barão de
Teffé na Operação Antártica IV, ora
em planejamento, permitirá, em
1986, a definitiva e permanente pre-
sença brasileira, com grupos de ho-
mens devidamente preparados, re-
vezando-se, para tornar a nossa es-
tação operativa ao longo dos 365
dias do ano. Esperamos que com a
aquisição de um outro navio polar,
de características e qualidade su-
periores ao atual, possamos em-
preender expedições mais arroja-
das, visando à instalação de bases
em outros setores.
Na revisão do Tratado, o bom
senso e a razão ditarão que, se ao
longo de 30 anos, houve uma Fax
Antártica, porque não prorrogá-la
por outros 30? Os problemas con-
cernentes à exploração dos recur-
sos por certo serão solucionados, se
36 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
a resolução final se pautar pela ra-
cionalidade dessa exploração.
Pelo espírito reinante, será até
contraproducente qualquer reivin-
dicação territorial por parte do
Brasil. O princípio da Defrontação
deve constituir-se mais em um ar-
gumento do que em um fim, pro-
priamente dito.
A nossa atitude é a de demons-
trar capacidade científica e tecno-
lógica, transformando a Antártida
em uma escola de pesquisas, visan-
do à formação de uma elite cientí-
fica para a grandeza nacional.
BIBLIOGRAFIA
1. ANTÁRTICA... cada vez mais próxima. Nomar, Rio de Janeiro(498): 12,dez. 1984.
2. BAKKER, Múcio Piragibe Ribeiro de. 0 Brasil na Antártica. Política e Estratégia, São Paulo, 2
(1) :172-200,jan./mar. 1984.
3. BARÃO de Teffé chega ao Rio. Nomar, Rio de Janeiro, (477): 6,mar. 1983.
4. BRASIL, a grande presença na Antártida. Nomar, Rio de Janeiro, (474):6,dez. 1982.
5. BRAVO Zulu. Nomar, Rio de Janeiro, (491):8,maio 1984.
6. COELHO, Aristides Pinto. Antártida: desafio à criatividade. Revista Marítima Brasüeira, Rio de Ja-
neiro, 103 (10/12): 109-18,out./dez. 1983.
Nos confins dos três mares... a Antártida, ed. rev. aum. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exérci-
to, 1984.
8. HENRIQUES, Elber de Mello. Uma Visão da Antártica. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1984.
9. INCORPORADO o Barão de Teffé. Nomar, Rio de Janeiro, (472):6,out. 1982.
10. MB adquire Navio de Apoio Oceanográfico. Nomar, Rio de Janeiro, (468):5,jun. 1982.
11. MENEZES, Eurípides Cardoso de. A Antártica e os desafios do futuro. Rio de Janeiro, Capemi, 1982.
12. .A presença do Brasil no Continente Antártico. Brasília, 1978. Confêrencia proferida na Câma-
ra dos Deputados em 10 maio 1978.
13. OLIVETTI DO BRASIL. Antártida: o sexto continente, dez, 1982.
14. PRIMEIRA Estação Brasileira na Antártica. Nomar, Rio de Janeiro, (48S):4,nov. 1983.
divagações sobre a barcha
NOS DESCOBRIMENTOS
LAURO FURTADO DE MENDONÇA
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RRm)
A História Naval Brasileira, edi-
tada, em 1975, pelo Serviço de Do-
cumentação da Marinha, em seu
primeiro volume, tomo I, ao tratar
da navegação à vela no litoral bra-
sileiro, tece diversas considerações
sobre como seria esse tipo de em-
barcação à época dos descobrimen-
tos.
De pronto observam-se duas cor-
rentes de opinião — uma, com raí-
zes na interpretação que pretende
histórica, outra, fundamentada na
hermenêutica própria à documen-
tação.
As duas interpretações levam,
porém, a diferentes conclusões —
para a primeira, haveria dois tipos
diferentes de embarcações, reco-
nhecidos pelas grafias barca e bar-
cha : para a segunda, as duas gra-
fias, atenderiam ao mesmo tipo de
embarcação.
Alinha-se o autor do trabalho en-
tre os defensores da primeira inter-
pretação, fundamentado em que o
38 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
termo barcha seria pouco encon-
tradiço, ao passo que barca teria
emprego freqüente e uso muito an-
tigo. Barcha, por outro lado,
relacionar-se-ia sempre com em-
barcações estrangeiras — inglesas,
biscainhas e nórdicas —, citadas na
documentação coeva.
Todavia, nenhuma das correntes
apresenta argumentos indiscutí-
veis, em prol de suas teses.
Eis que unicamente o surgimen-
to de novos elementos permitiria di-
rimir a questão, já que a glossolo-
gia da época está fora de nosso al-
cance, para todo o sempre.
Conhecêssemos nós a pronúncia
da expressão barcha, em que o di-
grama ch pode tanto ter o som de
k — barka — como de x, na pala-
vra México — barxa —, haveria a
certeza de duas nomenclaturas fo-
neticamente distintas, o que au-
mentaria a probabilidade de discri-
minarem embarcações estrutural-
mente diversas.
O autor — João da Gama Pimen-
tel Barata — aponta-nos, ainda, a
grafia bartsha, aplicada a navio de
40 tonéis e de gávea, comprado na
Inglaterra.
Trata-se, evidentemente, de pa-lavra importada, para a qual Bara-
ta aventa a hipótese de transcrição
fonética, para o alemão, do nórdi-
co barge.
Dessa hipótese e de seu empre-
go nos documentos conhecidos pe-
lo autor, do termo barcha, sempre
relacionado com embarcações es-
trangeiras, geralmente nórdicas ou
pertencentes a nações com tal in-
fluência, concluiu ele que os termos
barcha e bartsha aplicam-se a na-
vios estrangeiros, do tipo nórdi-
co.
Ocorre, porém, que a última das
premissas acima citadas é, no mí-
nimo, aleatória.
Eis que Mario Nani Mocenigo,
em sua Storia Delia Marina Vene-
ziana da Lepanto Alia Caduta Del-
la República, editada pelo Ministe-
ro Delia Marina, em Roma, no ano
de 1935, refere-se à construção no
Arsenal de Veneza, durante a pri-meira metade do século XVII, de"Grossi
Galeone e Barxe", confor-
me inscrições existentes nas pare-des do estabelecimento.
Ainda a mesma obra refere-se a
que, em meados do século XVIII,
foi intensificada, após cessar o em-
prego de fustas, a construção "dei-
le galeotte e delle barche Armate",
a empregar no policiamento do
Golfo (o Adriático) e mesmo no ar-
quipélago, durante a Guerra de
Cândia (Creta), para combater as
pequenas unidades adversárias.
As grafias barxe e barche, embo-
ra tomadas no plural, sem sombra
de dúvida, pois foram de uso em
embarcações mediterrâneas, cons-
truídas pelo Arsenal de Veneza, e
tais grafias muito se aproximam da
portuguesa barcha.
À vista da forte influência da
construção naval da península ita-
liana sobre a portuguesa, não cre-
mos ser possível afastar a possibi-lidade de uma origem itálica à bar-
cha portuguesa, estabelecendo, de
pleno, que barcha referir-se-ia, ape-
nas, a embarcações de procedência
nórdica, mesmo porque o próprio
autor cita barchas de origem
biscainha.
Cabe, entretanto, observar a
existência, na língua de Shakespea-
re, das expressões bark e barge,
traduzíveis por barca, mas referen-
tes a embarcações de tipos diver-
sos.
Em suma, quer-nos parecer que,em verdade, não há, atualmente,
elementos para afirmar, com cer-
teza absoluta, a existência ou não
DlVAGAÇÕES SOBRE A BARCHA NOS. 39
de distinções entre as barcas e as
barchas, como o faz João da Gama
Pimentel Barata, embora ressal-
vando ser sua opinião pessoal.
O que não carece de dúvida, en-
tretanto, é que, barcas ou barchas,
tiveram papel de destaque nas pri-
meiras explorações da costa africa-
na, tratando-se de embarcações de
porte moderado, provavelmenteempregando
pano latino e dotadas
de remos.
Tanto assim que, em sua obra
Frei Gonçalo Velho, o Sr. Ayres Au-
gusto Braga de Sá Nogueira e Vãs-
concellos transcreve o seguinte do-
cumento: "Carta por que o dicto se-
nhor deu huas casas que stam na
rua nova de Lixboa que partem
com casas do Capitam Moor e cum
Joham Piriz Canellas e Machico
mestre da sua barcha em que mo-
rase em quãto fosse sua mercee etc
en Alanquer xii dias dabril de mil
iiijc xbij anos" — Arch. da T. do T.
livro 2? de D. Fern. fs. 42.
Vê-se, assim, o termo barcha,
por mim destacado, em documen-
to português, coevo às descobertas,
atribuído a mestre luso, residente
em Lisboa.
Demonstra-se, assim, à evidên-
cia, o emprego do termo barcha,
não relacionado com embarcação
estrangeira, contrariamente às
afirmações do autor, mas sim com
legítima embarcação, de possível
construção local, da época dos des-
cobrimentos, forte indício de que
barca e barcha, a essa época, indi-
cariam o mesmo tipo de embarca-
ções.
Cabe, ainda, assinalar que auto-
res há que não excluem a hipótese
de caber a descoberta da Madeira
ao navegador de nome Machico, co-
mo o General Brito Rebello, não
sendo impossível que o Machico
acima citado, mestre de barcha,
com tal embarcação, tenha fruído
as primícias da descoberta dessa
renomada ilha, ainda mesmo como
precursor de Gonçalo Velho.
Em contraste com a opinião do
Senhor Barata, em que pese a sua
inconteste autoridade, não nos pa-
rece possível afastar a hipótese de
que barca e barcha designariam,
na verdade, o mesmo tipo de em-
barcações — a barca dos descobri-
mentos — de que nos falam os anti-
gos cronistas.
Álcool para todoBrasil, via Petrobrás.A Petrobrás transportaálcool ao longo detodo litoral brasileiro.São milhões e milhõesde litros, que saem doprodutor, viajam denavio ou seguem poroleodutos.Depois, são estocadose distribuídos entreum número cada vezmaior deconsumidores.Nesse trabalhocontínuo, a Petrobrás
contribui paraimplementar oPrograma Nacionaldo Álcool.Bom para produtorese consumidores.Otimo para a lavouracanavieira e para ohomem do campo.Excelente paraa economia do País.
ríll i—Tfái -/•¦-.¦¦¦¦ -*x_yS í . «» y^____\w
^^^__0^^^Jk4Êr4^ f**t!i-'rà-.^_t^_Aw
jjj__sJíí?^^M__B X^r^
WSÊm^S PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA
HALLEY 1986*
Os cometas, a mais modesta enti-dade do sistema solar, associam auma imagem fulgurante de luzuma tal rapidez de movimentoatravés da abóbada celeste, quecausam sempre espanto e fascínio.Os cometas, desde os tempos maisremotos, por possuírem essas ca-racterísticas especiais, foram con-siderados entre os mais belos orna-mentos celestes e, ao mesmo tem-po, freqüentemente temidos porsua reputação de premonitores defatos desagradáveis que coincidi-ram com fatos extraordinários. Ointeresse dos cientistas por esseacontecimento excepcional não di-miniu com a destruição de todas assuperstições que os cercavam; emtodo o mundo civilizado, já tiveraminício as primeiras fases dos pro-gramas elaborados para a observa-
* Tradução, do Capitão-de-Mar-e-Guerra (RRm) Arnaldo de Oliveira Silva, do artigo publi-cado na Rivista Marittima (Itália) de junho de 1985.
42 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ção do cometa de Halley, que, pelasegunda vez neste século, transita-rá nas vizinhanças da Terra.
O cometa, que leva o nome doeminente sábio inglês Edmond Hal-ley, será o primeiro a ser observa-do de "perto" pelos terrestres, quese valerão do emprego de sondasenviadas ao espaço específicamen-te para tal fim.
Halley nasceu aos 29 de outubrode 1656 em Haggerston, Shoreditch(Londres), no seio de rica famíliade industriais. Desde jovem, distin-giu-se tanto nas ciências matemá-ticas quanto nos estudos humanís-ticos, freqüentando, como estudan-te ordinário, o Queens College, deOxford.
Fiel amigo de Newton, incansá-vel defensor das suas teorias, foi oautor de descobertas e estudos so-bre Astronomia (longas observa-ções da Lua). A mais famosa dassuas descobertas foi aquela efetua-da em 1682, por ocasião do apare-cimento do cometa, que colocou emevidência o seu caráter periódico,tudo tomando então o seu nome.
Halley destacou-se também noestudo da Meteorologia, da Oceano-grafia e do Magnetismo Terrestre.No comando do Navio Paramore,colocado à sua disposição pelo Go-verno britânico, levou a termo trêscruzeiros científicos com resulta-dos relevantes. A ele deve-se aindaa primeira campanha experimen-tal submarina, durante a qual des-eeu, junto com outros companhei-ros, à profundidade de 18 metros elá permaneceu por quase 90 minu-tos.
Em 1720, foi nomeado astrônomoreal e diretor do Observatório deGreenwich. Morreu aos 14 de janei-ro de 1742, 15 anos antes da passa-gem do cometa que havia sido ob-jeto de seus estudos na juventude.
PERIODICIDADEDOS COMETAS
Halley enfrentou o problema domovimento dos cometas de acordocom um modelo matemático idea-lizado por Newton, que tornou pos-sível estabelecer as característicasfundamentais de 24 cometas queapareceram no período entre 1337e 1898, conseguindo, assim, formaruma base sólida para seus futurosestudos.
A primeira tentativa foi levada acabo partindo de uma órbita para-bólica, seja por facilitar os proce-dimentos, seja por se ignorar ain-da a periodicidade da passagemdesses corpos celestes, que, por ou-tro lado, havia induzido ao estudode órbitas fechadas. O cientista sedeu conta, depois de algumas ten-tativas infrutíferas, de que os trêscometas que apareceram em 1531,1607 e 1682, além de possuírem ele-mentos orbitais quase idênticos,surgiram em intervalos de tempotambém quase iguais. A capacida-de de valorizar, compreender e ava-liar o fato ocorrido como atribuídoao mesmo corpo celestre foi ime-diata: deveria ser uma tríplice pas-sagem do mesmo cometa, que se-guia um percurso cíclico e, portan-to, seria periodicamente visível.Encorajado e iluminado por estapreciosa constatação, Halley refezseus cálculos e demonstrou que ocometa examinado se movia sobreuma elipse de forte excentricidade.O eixo maior da elipse media eer-ca de 35 unidades astronômicas(U.A.), com um afélio além de Jú-piter e Saturno; de tal maneira seexplicavam algumas anomalias de-correntes da ação gravitacional dosdois planetas. O passo seguinte e con-seqüente foi, projetando os indíciosencontrados, prever, com facilida-
HALLEY 1986 43
de, o retorno do cometa no futuro,
ou seja, para o fim do ano de 1758.
Durante o Natal daquele ano, o co-
meta foi, de fato, pontualmenteavistado, tanto no lugar como no
tempo; confirmou-se, assim, ape-
riodicidade da passagem de tais
corpos celestes, a qual, antes de
Halley, era ignorada.
Aperfeiçoada sucessivamente, a
demonstração inicial, levando em
conta as perturbações causadas pe-
los maiores planetas, a passagem
pelo periélio do cometa veio a ser
determinada com exatidão e pre-
vista para o dia 13 de março de 1759.
Recolhendo-se indicações de vá-
rias fontes, foi possivel reconhecer
também as passagens precedentes
desse cometa, desde aquela mais
remota, no ano de 239 a.C.
O COMETA DE HALLEY
NAS ARTES
Antes de 1500, o cometa foi escas-
samente representado; a sua ima-
gem quando registrada, assumia
significados simbólicos ligados aos
rígidos cânones tradicionais da cul-
tura sacra, na qual a arte medieval
se inspirava. Este pequeno corpo,
com o sèu rastro luminoso, era sem-
pre desenhado como uma estrela
estilizada e pontuda, acompanhada
de uma cauda de raios fulgurantes.
Quanto ao cometa de Halley,
supõe-se ter sido registrado em ra-
ros documentos e obras de arte, po-
rém de forma tal, que parece justo
recordar.
No Liber Chronicorum, de Hart-
man Schedel, editado em Nurem-
berg no ano de 1493, nota-se a xilo-
grafia de um cometa numa página
que narra a crônica do ano 684 d.C.,
do aparecimento do Halley. A ima-
gem, mesmo tendo sido executada
oito séculos mais tarde, talvez faça
referência a este famoso cometa,
que com o seu aparecimento, teste-
munhou as múltiplas calamidades
acontecidas naquele ano.
O brilho do cometa, no dia 23 de
março de 1066, é recordado no bor-
dado de uma tapeçaria conservada
no Município de Bayeux, na Nor-
mandia. Esse trabalho, composto
entre os anos de 1073 e 1083, foi en-
comendado pela Rainha Matilde
para lembrar a vitória do marido,
Guilherme, o Conquistador, na Ba-
talha de Hasting, em 14 de outubro
de 1066. Numa das muitas cenas da
tapeçaria, nota-se uma multidão
que, maravilhada, aponta a espeta-
cular passagem do cometa.
O evento astronômico de 22 de
abril de 1145 é ilustrado no Salterio
de Eadwine código inglês do sécu-
lo XIII. O estilo literário, o período
da execução, os dados biográficos
do Monge Eadwine, que organizou
e executou a cópia do código, for-
mam bons motivos para que se
creia que a figura do cometa seja
a do cometa de Halley.
Em Mantua, no Palácio da Ra-
zão, existe um afresco da escola bi-
zantina no qual, além de estarem
representados personagens dos tex-
tos sagrados, aparece em primeiro
plano um cometa. Este mural, ter-
minado em torno do ano de 1250, faz
crer que o cometa seja aquele de
1222, bem visível na Ásia e na Eu-
ropa; na Itália, essa passagem foi
descrita com riqueza de detalhes.
Há ainda a Epifania, de Giotto,
na Capela degli Scrovegni em Pá-
dua, que é uma obra que represen-
ta a adoração dos Reis Magos. Nes-
se afresco, onde se pode observar a
mais importante representação do
cometa, Giotto pintou o Halley so-
bre profundo céu azul com um di-
namismo arrojado, que ressalta
mais ainda devido à postura está-
44 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
tica de todos os outros personagens.
A impressão de movimento alegre
e vivaz que o pintor conseguiu im-
primir ao cometa parece ser fruto
da impressão causada no artista ao
observar o fenômeno, alguns anos
antes de iniciar o trabalho. Essa
obra deve ter sido pintada entre
1303 e 1304 e se refere à passagem
do Halley em 1301; naquele ano, o
cometa, ao surgir, apresentou-se
com a coma (cabeleira) muito bri-
lhante e também com a cauda ex-
tremamente longa, estendendo-se
por quase 70° de azimute.
grande dificuldade. A tal distância,
o Sol, não conseguindo sublimar os
gelos do núcleo, tornava o objeto
pouco favorável para fotografia.
Deve-se mencionar que no curso de
sua vida — as passagens com datas
conhecidas e determinadas são 30,
contando com a próxima —, o Hal-
ley tem perdido luminosidade por
efeito do seu processo de evolução
e da decadência, a qual todos os co-
metas sofrem até a sua completa
extinção.
Infelizmente, para o hemisfério
setentrional, a visão do fenômeno
j y^Giiie U rarto \\/vett»M
j2/""(y jv-4^ ]]V
IjL f
j>< y^
^ / \\
CHEGADA DO HALLEY
Pela primeira vez, durante o ci-
cio atual, no dia 16 de outubro de
1982, o cometa foi fotografado quan-
do se encontrava distante 11,04 U.A.
do Sol e 10,93 U.A. da Terra. Nunca
antes um cometa havia sido avista-
do com tanta antecedência; a sua
magnitude era de apenas 24,3, sen-
do a sua fotografia conseguida com
será bastante limitada, podendo
mesmo passar sem ser observado,
devido à geometria da órbita, mui-
to desfavorável se comparada com
todas as precedentes.
Um calendário de datas signifi-
cativas é o seguinte:
— 16.10.1982: primeira imagem
clara obtida com o telescópio de
Monte Palomar (Estados Unidos);
I j
J Cine Urarto \\/vett»M
j2/"" W
jV
- \
I
j
W
LL f
j>< y^-^ / \\
HALLEY 1986 45
10.7.1985: lançamento da son-
da Giotto;
9.2.1986: o cometa desapare-
cerá ao passar por trás do Sol, atin-
gindo a menor distância daquele
astro (0,58 U.A.);
13.3.1986: a sonda Giotto esta-
rá a menos de 1.000 km do núcleo do
cometa;
11.4.1986: o cometa se encon-
trará na distância mínima da Ter-
ra (63 milhões de quilômetros) e a
sua cauda poderá se desenvolver
por mais de 40° de amplitude; po-rém, acima do horizonte do hemis-
fé rio setentrional, só uma peque-
níssima parte da cauda poderá ser
notada, estando quase toda no he-
misfério sul;
para o hemisfério norte, o
Halley só reaparecerá quando re-
duzido à 7- magnitude, podendo ser
observado somente com telescó-
pio;
o cometa poderá ser acompa-
nhado oticamente até 1988, estando
já além de Júpiter; nesta data, de-
saparecerá completamente e atin-
girá o periélio, em 2024.
A SONDA HALLEY
Durante a próxima reentrada na
nossa região, o "minúsculo"
corpo
luminoso será seguido e controlado
como se fosse uma sonda, transfor-
mando-se num instrumento capaz
de individualizar eventuais massas
ainda incógnitas.
No seu percurso, o Halley passa
nas proximidades de Plutão, de Jú-
piter e de Saturno, sofrendo, portan-
to, suas ações gravitacionais, que
modificarão a trajetória. O proble-
ma, posto assim simplesmente, é
na verdade complexo porquanto
existem outras causas que concor-
rem para aumentar as irregulari-
dades da trajetória, tais como er-
ros nas medições das massas pia-
netárias, as aproximações nos cál-
culos que podem ser insuficientes,
e por fim o efeito de jato (effetto
razzo — foguete) do cometa.
Enquanto que as duas primeiras
causas acima apresentadas podem
ser contidas e reduzidas, a tercei-
ra é a mais difícil de lidar.
O efeito de jato se manifesta du-
rante o trajeto de aproximação ao
periélio e aumenta progressiva-
mente até chegar à menor distân-
cia do Sol, quando, sendo atingido
pela radição deste proveniente co-
mo conseqüência, faz com que as
moléculas sejam expulsas do con-
glomerado de gelo que constitui o
núcleo do cometa. Sendo a segun-
da das características da rotação
do núcleo, o efeito de jato é que va-
ria de acordo com a direção do mo-
vimento e pode ter duração de ho-
ras ou dias, afastando ou aproxi-
mando o cometa do Sol, provocan-
do, assim, o retardo ou a antecipa-
ção da chegada ao periélio. Tal
ação apresenta duas incógnitas: a
entidade em si, função da distância
ao Sol e a direção na qual ela age.
Por esse motivo, no cálculo da tra-
jetória, além de se levar em conta
as pertubações causadas pelos pia-netas, deve-se incluir também o
efeito de jato. Levando-se em con-
ta os elementos conhecidos, tudo
aquilo que posteriormente possa
ser considerado como relevante de-
ve ter uma outra causa da qual
decorre.
Desde o início dos anos 70, o ame-
ricano Jr. L. Brady tentou se apro-
fundar no estudo do fenômeno ana-
lisando as anomalias encontradas
e não esclarecidas do movimento
do Halley. Após longo trabalho, ele
apresentou o seguinte resultado:
provável existência de um corpo
desconhecido de massa 300 vezes
46 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
maior que a da Terra. Tal corpo
percorreria, em 464 anos, uma ór-
bita inclinada de 120°, com um
semi-eixo maior de 600 U.A. e ex-
cencitridade de 0,007. A prolonga-
da e difícil pesquisa fotográfica, na
zona de presumível existência da
massa desconhecida, resultou em
nada.
É digno de menção o estudo do
chinês Tao Kiang, que estabeleceu
as datas de todas as aparições do
Halley a partir do ano de 239 a.C. e
que resulta na tabela abaixo:
PASSAGENS DO
COMETA HALLEY
239 a.C. — 30 de março
163 a.C. — 5 de outubro
86 a.C. — 2 de agosto
11 a.C. — 5 de outubro
66 d.C. — 26 de janeiro
141 — 20 de mar^o
218 — 17 de maio
295 — 20 de abril
374 — 16 de fevereiro
451 — 24 de junho
530 — 26 de setembro
607 — 13 de maryo
684 — 28 de setembro
760 — 22 de maio
837 — 27 de fevereiro
912 — 9 de julho
989 — 9 de novembro
1066 — 24 de mar?o
1145 — 22 de abril
1222 — 1 de outubro
1301 — 23 de outubro
1378 — 9 de novembro
1456 — 9 de junho
1531 — 26 de agosto
1607 — 28 de outubro
1682 —
15 de setembro
1759 — 13 de mar(po
1835 —
16 de novembro
1910 — 20 de abril
Pelo exame da enorme quantida-
de de dados obtidos por mais de 20
séculos, os pesquisadores deduzi-
ram que influem sobre o movimen-
to do cometa um componente devi-
do às perturbações dos grandes pia-
netas, outra menor relativa a cau-
sas não gravitacionais e, enfim, um
resíduo de perturbações cujas ori-
gens ainda são desconhecidas. So-
bre esta incógnita concentram-se
os esforços dos astrônomos para
tentar explicar seu significado.
A órbita do Halley para o ano de
1986 foi calculada com precisão; o
instante culminante (periélio) acon-
tecerá no dia 9 de fevereiro, às 11 ho-
ras de Greenwich, com uma mar-
gem de incerteza de mais ou menos
umas poucas horas. Um atraso (ou
antecipação) superior ao calculado
importará no reexame das origens
das forças não gravitacionais cal-
culadas ou na reconsideração da hi-
pótese da existência de enorme
massa desconhecida para além de
Plutão.
MISSÃO DO GIOTTO
Em 1910 obteve-se a primeira fo-
tografia do Halley, que fixou real-
mente a sua imagem, o que facili-
tou o estudo das suas característi-
cas.
Nos últimos anos, alguns come-
tas têm sido analisados com o em-
prego de satélites que já estavam
em órbita, possilitando assim o re-
colhimento de importantes infor-
mações sobre as suas naturezas. O
envio de artefato contra um come-
ta que aparecesse pela primeira
vez seria muito vantajoso pelas in-
formações que se poderia recolher
sobre a estrutura e composição de
tais corpos celestes. Considera-se
mesmo que os cometas considera-
dos como novos são os objetos mais
antigos, originados provavelmente
da nebulosa solar, de onde nasce-
HALLEY 1986 47
ram, simultaneamente, o Sol e os
planetas. Enviar uma sonda contra
um cometa "novo"
é difícil, por-
quanto não se teria tempo para co-
nhecer bem a sua trajetória e, prin-cipalmente,
para planejar e execu-
tar um programa espacial comple-
xo e dispendioso; o envio seria mui-
to mais fácil de ser realizado se o
cometa já fosse conhecido.
Para o primeiro encontro "orga-
nizado" foi escolhido o Halley, que
Possui características inerentes
aos novos e cumpre a sua órbita
num período que pode ser conside-
rado breve.
A NASA já havia estudado uma
missão que consistia em provocar
um encontro do Halley com uma
sonda, que deveria acompanhá-lo e
estudá-lo; dificuldades financeiras
cancelaram tal programa, quando
houve um drástico corte no orça-
mento dos Estados Unidos. Tempos
depois foi submetido à ESA (Agên-
cia Espacial Européia, com 13 na-
Ções, inclusive a Itália) um estudo
que previa o lançamento de uma
sonda às vizinhanças do cometa,
num ponto além do periélio e atra-
vessando a sua órbita. O plano, pro-
Posto por um grupo de cientistas, ti-
nha como seu principal artífice e
promotor o falecido Professor G.
Colombo, da Universidade de Pá-
dua, um dos mais renomados espe-
cialistas em Ciência e Tecnologia
Espacial. Após o primeiro momen-
to de entusiasmo, o plano encontrou
o pleno apoio do mundo científico e
os favores de numerosas nações,
entre as quais os Estados Unidos,
União Soviética, Japão e, natural-
mente, a ESA.
Nasceu, assim, a Missão Giotto,
que levou o nome do grande mestre
florentino, que fixou a imagem do
cometa no afresco Epifania.
O principal objetivo da missão
será o de chegar tão próximo quan-
to possível do núcleo do cometa, en-
viar imagens e investigar sua es-
trutura. A sonda lançada por um
vetor Ariane será estabilizada em
órbita, girando em torno do seu ei-
xo 15 vezes por minuto (evitando
que o veículo gire de maneira des-
controlada, estabilizando-o). Todas
as operações durante o período cri-
tico serão automatizadas e reque-
rerão o desenvolvimento de um re-
finado sistema de elaboração e
transmissão de dados, capaz de
funcionar no estranho ambiente de
trabalho que delicados aparelhos
eletrônicos requerem.
A carga instrumental, bastante
elevada, conterá: espectrômetrode
massa para a análise química das
partículas, avaliador das caracte-
rísticas físicas da poeira cósmica,
magnetômetro, revelador de pias-
ma, antena constantemente orien-
tada para a Terra (para recebimen-
to e transmissão de dados), fotôme-
tros e sistema de tomada de ima-
gens, com um poder de resolução
de 50 metros a 1.000 km de distân-
cia.
Com a aparelhagem da sonda,
serão examinados também a cau-
da e a coma (cabeleira), com a fi-
nalidade de conhecer melhor a
composição química, como o gás é
gerado e como esse gás aflora ex-
ternamente. Pelo número e pela in-
tensidade das colisões das partícu-
Ias, poderá se conhecer a distribui-
ção de suas massas e sua velocida-
de. Radiações solares, efeito jato,
jatos de ar, campo magnético e ro-
tação do núcleo são algumas das in-
dagações que poderão ser explora-
das mediante a atuação desse am-
bicioso programa.
Uma tela anticolisão muito resis-
tente, colocada sobre a parte da
frente da sonda, será indispensável
48 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
para evitar o impacto das partícu-las cósmicas que, devido à elevadavelocidade relativa, poderiam pro-vocar danos nos aparelhos trans-portados.
O lançamento da Giotto está pre-visto para o dia 10 de julho de 1985,da Base de Kourou, na GuianaFrancesa; depois de se deslocarpor 247 dias, alcançará o Halley a13 de março de 1986, cinco semanasdepois de o cometa haver ultrapas-sado seu periélio. A sonda através-sara a coma (cabeleira) e atingiráa distância prevista abaixo de 1.000km do núcleo, quando inciará aanálise de amostras deste espaço,que permanece desconhecido atéhoje. O tempo indispensável paralevar a termo a exploração comple-ta será de quatro horas, depois doque o engenho terá concluído o en-contrô excepcional.
Para que as fotografias possamter a alta qualidade necessária (re-solução de 50m a 1.000 km, como di-to), deverá se conhecer a posição docometa com um erro não superioraos 100 km, condição indispensávelpara que o êxito dessa missão sejagarantido. Para que se saiba comexatidão a órbita do cometa, ele es-tara sendo seguido com precisãocom emprego de radares a partirdo fim do ano de 1985, isto é, quan-do distará da Terra 150 km. Esse gi-gantesco acompanhamento-radarserá possível empregando-se asinstalações mais eficazes distribuí-das em vários pontos do nosso pia-neta; só desse modo se conseguiráconhecer a posição do núcleo coma precisão necessária.
Concomitantemente com essamissão, quase simultaneamente,serão lançadas e entrarão em ope-ração outras sondas espaciais, que,apesar de cumprirem missões maislimitadas, concorrerão também pa-
ra a análise mais precisa do Halley.A do Japão (Missão Planeta A) te-rá como objetivo a aproximação donúcleo e sucessivas passagens pe-la cauda. A União Soviética efetua-rá, em colaboração com a França,uma ação combinada com dois veí-culos (Vega I e Vega II), os quais,lançados com alguns dias de inter-valo, terão como missão principala aproximação de Vênus para exe-cutar um programa de pesquisameteorológica, para em seguida,interceptar o Halley. A máximaaproximação ao núcleo será de10.000 km; o propósito é registrardados e conseguir imagens televi-sivas de boa qualidade.
INTERNATIONAL HALLEY WATCH
Em 1979, a Nasa idealizou umplano visando coordenar, durante apassagem do Halley, todas as ob-servações da terra e do espaço.Constituiu-se, para isso, um grupode estudo, que deu forma a uma pri-meira estrutura baseada sobre doiscentros dirigentes instalados emPasadena e em Bamberg. Em se-guida, desenvolveu-se uma densarede de estações com amplo em-prego de homens e meios. Todo es-se sistema ganhou o nome de Inter-national Halley Watch (I.H.W.).
A organização prevê, também,ativar mais grupos de especialistasnos múltiplos setores de pesquisa,tais como: astronomia, espectros-copia, radiometria, fotografia, es-tudo do núcleo, coma, cauda, etc.
A tarefa dos experts é formar es-clarecimentos, sugerir técnicas eprioridades de observação, seguiridênticos processos de calibrageme — assunto não menos importàn-te — deixar clara a importância deuma precisa uniformidade na reda-ção dos relatórios sobre os traba-
HALLEY 1986 49
lhos efetuados. Todos os boletinsProduzidos, depois de filtrados eavaliados, serão codificados e en-viados ao centro operativo princi-Pai, onde, depois da reelaboraçãodefinitiva, serão preparados paraarquivamento, na expectativa devirem a ser usados para o estudo ea análise dos fenômenos astronômi-cos.
Na organização dar-se-á bastan-te importância à espessa rede dacomunidade de astrônomos ama-dores, que, dispersos por quase to-das as partes do mundo, poderãofornecer elementos válidos e pre-ciosos que complementarão, emmuitos casos, o trabalho dos obser-vadores profissionais.
Para que não faltasse um testede todo o sistema em funcionamen-to o mais próximo possível da rea-üdade, o IHW escolheu o cometaCrommelin, que esteve próximo daTerra, para realizar, em março de1984, um controle efetivo de todasas técnicas e procedimentos de ob-servação e comunicação.
Elementos e nomenclatura espe-cíficas dos cometas e do Halley emParticular:
1 — Partes principais de um co-meta: núcleo, cabeleira e cauda.
— Elementos orbitais do come-ta de Halley:
T= época de passagem pe-lo periélio: 1986 — 9 defevereiro 4518 (10h 50m35s, 52 de 9 - 2 - 1986)
a= semi-eixo maior: 17,954U.A.
P= período: 76,08 anosq= distância do Sol ao perié-
lio: 0,587 U.A.e= excentricidade: 0,9672w= distância do periélio ao
nodo ascendente: 1110,84Q= longitude do nodo as-
cendente: 58°,14i = inclinação do plano orbi-
tal: 162°,24— Tabela dos Símbolos
A = afélio (ponto mais dis-tante do Sol)
magn. = magnitude (quan-tidade do fluxo lumino-so que emana de umcorpo celeste)
P = periélio (ponto maispróximo do Sol)
U.A. = unidade astronômi-ca (distância medidado Sol à Terra; vale149,6 milhões de quilo-metros).
JttdSM
r
-V. i
O estaleiro VEROLME conta com milhares de
homens, e recursos tecnológicos próprios,desenvolvidos a partir da experiência e da
determinação de funcionários bem treinados e
equipados com o que há de mais moderno em
construção e reparos de navios, plataformas de
prospecção e equipamentos off-shore.
Líder no setor de construção naval, ocupa hoje.
uma área de 10 milhões de m', dos quais 640
mil destinados ao parque industrial,
assegurando ao cliente um atendimento
completo e perfeito,dentro dos prazos estipulados.
Construindo qualquer tipo de navio de até
600.000 tpb, plataformas off-shore, navipeças,
reparando navios, procurando na diversificação
um caminho para elevar o poder da Indústria
Brasileira, a VEROLME mantém
o mesmo dinamismo para iconquistar grandes vitórias VEROLMEpelos mares do Brasil I
e do mundo.
VEROLME
A CIDADE QUE
CONSTRÓI NAVIOS
Rua Buenos Aires, 68/36.° - 20075 - Rio de Janeiro - BrasilTel.: 292-3148-Telex:21 23776
SUBMARINOS CONVENCIONAIS
- ASPECTOS DE SEGURANÇA
NO PROJETO E CONSTRUÇÃO
0.
*vV* W
RUY BARCELLOS CAPETTI
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Esta é uma tradução livre de uma
palestra realizada na Escola de
Guerra Naval, pelo Capitão-de-Mar-
e-Guerra Hubert B. Reece, da re-
serva da Marinha dos Estados Uni-
dos, por ocasião de um simpósio so-
bre projeto e construção de subma-
rinos, em setembro de 1977.
A finalidade de sua publicação é,
antes de mais nada, enfatizar a ne-
cessidade do elevado nível de qua-
lidade requerido na construção de
submarinos, uma vez que sem ele
os aspectos da segurança estarão
irremediavelmente comprometi-
dos.
Aproveitamos o artigo para inse-
rir uns poucos comentários e expli-
cações de alguns termos usados,
por nos parecer que assim estaria-
mos contribuindo para a compreen-
são do assunto, de natureza emi-
nentemente técnica. Arriscamos,
também, algumas definições que,
no nosso modesto entender, expli-
cam a idéia que captamos na leitu-
52
ra de originais na língua estrangei-
ra, de expressões tais como Expe-
riências de Cais, Experiências de
Mar, Certificação, etc.
Possa o artigo, de alguma manei-
ra, provocar meditação ou, mesmo,
induzir polêmica, estaremos plena-
mente recompensado quanto ao ob-
jetivo que pretendemoss alcançar
"Durante um teste de imersão
prôfunda em 10 de abril de 1963, o
Submarino nuclear USS thresher
(SS-593) perdeu-se no mar com to-
da a sua tripulação. Baseado nas
conclusões do inquérito que foi rea-
lizado, a causa do acidente foi atri-
buida, como mais provável, a um
alagamento ocorrido na praça de
máquinas devido à ruptura de uma
canalização do sistema de água sal-
gada.
Uma junta foi designada para es-
tudar e reavaliar todo o projeto da
classe thresher. As conclusões fo-
ram que, muito embora ele fosse
bom, ações deveriam ser tomadas
no sentido de aumentar o nível de
confiança nas condições materiais
do casco resistente e das demais
partes resistentes à alta pressão e
aumentados os recursos para que o
submarino pudesse controlar e se
recuperar de alagamentos aciden-
tais.
Nesta apresentação serão indi-
cadas os métodos para evitar tais
acontecimentos, como deles se pro-
teger e como minimizar a possibi-
lidade de ocorrência de acidentes
nos modernos submarinos conven-
cionais, mas somente daqueles que
podem ocorrer depois que o subma-
rino tiver sido construído e pronto
para operar com os demais meios
da Esquadra. Não serão, aqui, con-
sideradas as possibilidades de
ocorrência de acidentes durante a
construção, decorrentes das ativi-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dades industriais desenvolvidas,
muito embora isto seja, também,
um aspecto muito relevante. Tam-
bém não queremos nos referir a en-
doutrinação, treinamento e qualifi-
cação da tripulação, que são, sem
sombra de dúvidas, aspectos im-
portantíssimos na consideração dos
aspectos globais da segurança do
submarino.
Tendo em vista que o serviço de
submarinos é considerado poten-
cialmente perigoso, é tarefa de to-
dos os envolvidos no projeto e cons-
trução minimizar os riscos envolvi-
dos. Uma vez que o material pode
ser substituído, em contraste com
a vida humana, a primeira conside-
ração deve ser voltada para a pro-
teção desta; a segunda, voltada pa-
ra o submarino, e a terceira, a de
preservar o poder combatente do
submarino.
A discussão deste assunto tem
por propósito enfatizar que somen-
te pelo conhecimento dos perigos
potenciais é que se pode, ao proje-
tar o submarino, criar meios de evi-
tar que se concretizem acidentes ou
prover meios para evitá-los.
O submarino se desloca, como
sabemos, com três graus de liber-
dade. A inclusão de uma terceira di-
mensão torna os problemas envol-
vidos com sua operação mais difí-
ceis, complexos e desafiadores e,
conseqüentemente, de soluções
mais caras. A Marinha do Brasil,
que está projetando e em breve irá
construir submarinos no Brasil, de-
ve ter conhecimento desses proble-
mas de modo a se antecipar em
buscar de suas soluções, especial-
mente se levarmos em conta os al-
tos custos de um empreendimento
de tal amplitude e natureza.
Os custos relativamente altos,
quando comparados à construção
de navios de superfície do mesmo
SUBMARINOS CONVENCIONAIS 53
Porte, que decorrem da construçãode submarinos, são atribuídos: a)à quantidade de estudos adicionaisde engenharia envolvidos para acorreta elaboração dos projetos deconcepção preliminar e de contra-to; à enorme quantidade de servi-Ços de engenharia envolvidas naelaboração dos detalhes de projeto,na seleção de materiais, nos cálcu-los de resistência estrutural, na ob-tenção de arranjos em espaços con-finados, na execução do projeto dedetalhes de válvulas especiais, pia-nos e demais equipamentos não co-Merciais e nas especificações decompra; b) à obtenção de mate-riais que, para submarinos, sãomais caros, devido à necessidadede maior resistência à corrosão pe-la água salgada, maior resistênciaà tração por unidade de peso.Exemplos típicos são o aço HY-80para cascos, válvulas de bronze fos-foroso, pianos e canalizações decupro-níquel, aço inoxidável 18-8 eacessórios em metal Monel; tintasde alto grau de qualidade e outrascoberturas protetoras do mesmopadrão, etc; c) à qualificação demão-de-obra, pois mecânicos alta-niente treinados e de grande habi-lidade são necessários para a cons-trução de submarinos com suces-so; soldadores, ajustadores, mecâ-nicos de tubulações; maquinistas,eletricistas, supervisores, inspeto-res e técnicos de testes não destru-tivos (NDT) e muitos outros devemser da melhor qualidade. Nada de-ve ser deixado em dúvida; os solda-dores e os técnicos em testes nãodestrutivos devem ser qualificados
(certificados)1; d) à necessidadede melhores recursos de oficinas,em face da presença de estruturasmais pesadas, sendo necessárias,conseqüentemente, calandras maispoderosas, posicionadores de solda-gem, equipamentos de solda de ar-co duplo, maquinaria de precisãopara trabalhos com equipamentoshidráulicos, equipamentos paramedidas de vibração e de níveis deruído, melhores equipamentos pa-ra testes não destrutivos, e muitosoutros; e) a rigoroso controle dequalidade, programação de testese experiências e elaboração de umPrograma de Segurança de Sub-marinos (SUBSAFE).
Deste item em especial, qual se-ja, o Programa de Segurança deSubmarinos, trataremos mais pro-fundamente, dada a sua importàn-cia. Para desenvolvê-lo é necessá-rio, primeiro que tudo, conhecer ouconsiderar todos os acidentes demaior monta que já ocorreram, ouaqueles com possibilidades de ocor-rer com o tipo de submarino que vaiser construído. São eles:
Explosões e Incêndios, cujascausas podem ser provenientes:
a) de formação de hidrogêniodas baterias;
b) de sobrecarga e curto-circui-tos elétricos;
c) da munição, torpedos, fogue-tes, pirotécnicos;
d) de tintas, óleo combustível eoutros inflamáveis, incluindosolventes; e
e) do efeito de cargas de profun-didade e torpedos inimigos.
Gases tóxicos — Que podem ser
1. Qualificação (certification) — O conjunto de atividades, recicladas regularmente,que visam produzir e manter condições preestabelecidas na prestação de um serviço ou numProduto final. No caso de soldadores com processos especiais de soldagem, e de técnicas emtestes não destrutivos, visa a mantê-los permanentemente treinados e aptos a executaremsuas tarefas com alta probabilidade de sucesso.
54
originados em decorrência de supe-
raquecimento por incêndios, con-
tentores com vazamento ou avaria-
dos, falhas do sistema de purifica-
ção de ar e controle da atmosfera.
Alagamento acidental — A lista
das causas prováveis de alagamen-
to acidental é muito grande, o que
acarreta um dispêndio considerá-
vel de estudos e considerações, du-
rante a construção e testes do pro-
jeto. Algumas causas (muitas inter-
-relacionadas) podem ser aqui enu-
meradas:
falha estrutural antes de atin-
gir a profundidade projetada;falha estrutural em decorrên-
cia de ultrapassar a profundi-
dade de projeto;falha do sistema de controle
de cota;
falha do sistema do controle
de bolha;
perda de propulsão;perda do sistema elétrico;
perda do sistema hidráulico;
falha no sistema de lastro e es-
goto;falha no sistema de admissão
de ar (valvulão e condutos);
falha das seguranças, de tu-
bos de torpedos, portas, esco-
tilhas e outras aberturas es-
tanques;
falhas no sistema de ventila-
ção;falha no sistema de ar de alta
pressão;falha dos sistemas de contro-
le de avarias;
falha dos sistemas de salva-
mento;
inacessibilidade a controles
vitais, em caso de emergên-
cia;
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
deterioração, devido a:
1) idade;
2) corrosão;
3) erosão;
4) eletrólise; e
5) ações químicas.colapso do casco resistente,
devido a:
1) erro de projeto;
2) perda de circularidade;
3) defeito em formas ou cha-
pas;
4) soldas defeituosas;
5) acessórios defeituosos; e
6) falhas em hard spots2 quan-
do sob o efeito de cargas de
profundidade.falhas em sistemas de canali-
zações causadas por:
1) conexão inadequada de
juntas com solda prata;
2) corrosão intergranular ou
dealuminização de fundi-
dos de bronze-alumínio;
3) falhas de pinos e parafusos
causadas pelo uso de mate-
rial inadequado, como, por
exemplo, aço em lugar de K
monel;
4) falhas de mangueiras flexí-
veis;
5) falhas em canalizações de
cupro-níquel na forma de
fissuramento intergranu-
lar por mecanismo de
tensão-corrosão, causadas
por soluções de nitrato de
mercúrio. As canalizações
de cupro-níquel devem ser
recozidas apropriadamen-
te.
Depois de revisar os possíveis ti-
pos de acidentes em submarinos, e
suas causas, deve-se perquirir
quais as ferramentas técnicas de
2. Designa a ligação de uma parte estrutural rígida a uma flexível na ausência de pro-vidências de projeto que possam aí evitar uma falha de fadiga ou de ruptura por carga impul-
siva.
SUBMARINOS CONVENCIONAIS 55
engenharia, ou meios, que con tri-buam para evitar que ocorram, e,se tal não for possível, pelo menosPrevenir, proteger e minimizar aocorrência dos acidentes indicados.Para tal, podem ser empregados osseguintes recursos:
elaborar o projeto com o fatorde segurança adequado — 1.5mínimo;prever, no projeto, sistemas e
controles em emergência, taiscomo sistema de ar de altapressão para esgoto direto dostanques de lastro;prever, no projeto, um sistema
de salvamento e escape;prever um rigoroso sistema
de inspeção para assegurar aconformidade com os planos;realizar testes de resistênciahidrostáticos;
proceder a rigorosa identifi-cação de materiais instaladosem sistemas críticos, quantoa sua conformidade com oprojeto:
por pedigree ou documen-tos de origem;por testes com reagentes
químicos;por identificação de mar-cas;por análise espectral; epor testes físicos.
proceder testes destrutivosquando necessário. Testar oprojeto;testar o modelo (parcial oucompleto):
em escala de 1:1; ouem escala reduzida.
verificar o acesso aos equipa-mentos vitais nos modelos dearranjo (mock up) (tamanhoreal ou escala 1:4);
realizar testes dinâmicos e dechoque;
empregar as últimas e melho-
res técnicas de controle dequalidade usando intensiva-mente testes não destrutivos(NDT):Visuais:
Teste Visual (VT); eTeste Visual Amplificado(5X).
De líquidos penetrantesLíquido penetrante verme-
lho com revelador branco; eLíquido penetrante flúores-
cente em deteção por ultra-violeta (ZYGLO);
Inspeções radiográficas por:Raios X;Raios;Partículas magnéticas (Mag-
na Flux); eTeste ultra-sônico.
fazer uso de soldadores quali-ficados (certificados);
fazer uso de operadores detestes NDT e interpretadoresqualificados (certificados);
controlar os materiais críti-cos quanto à identificação po-sitiva;
identificar ou determinar opedigree dos materiais insta-lados;
verificar que os trabalhos te-nham sido realizados de açor-do com as especificações eplanos;
realizar os testes de acordocom a programação de testes;e
documentar tudo, mantendoregistros completos.
Há vantagens e desvantagenspara cada um dos testes acima in-dicados. Assim, por exemplo, a ins-peção radiográfica por raios émuito boa, mas requer grandes cui-dados no transporte do material ra-dioativo — usualmente cobalto —num contentor de chumbo. Um es-quema de aplicação deve ser elabo-
56
rado, a fim de identificar todos os
aspectos de como o filme de raios
foi elaborado e este deverá ser in-
terpretado por um técnico especia-
lista qualificado.
Por sua vez, os testes com ultra-
som são muito convenientes. Estes
testes empregam o princípio de
propagação de ondas sonoras de al-
ta freqüência através dos corpos de
testes, medindo-se o tempo de refle-
xão que determinará se é de um de-
feito na estrutura testada ou da su-
perficie oposta. Tal requer, igual-
mente, operadores e interpretado-
res muito bem qualificados.
De uma maneira geral, deve-se
ter muito cuidado na seleção e es-
pecificação dos métodos de testes
a serem conduzidos, levando-se em
conta todos os fatores pertinentes.
O Programa de Segurança de
Submarinos (SUBSAFE)
Conhecidas as causas mais pro-
váveis de acidentes, e alguns dos re-
cursos empregados para controlar
a qualidade dos serviços executa-
dos, o Programa de Segurança de
Submarinos (SUBSAFE) pode ser
desenvolvido. Ele é um programa
integrado envolvendo o conjunto de
ações tomadas em conseqüência da
análise do acidente do Submarino
thresher. O critério estabelecido
pela US Navy para obter a certifi-
cação de um submarino moderno
decorrente daquela análise, requer
ações que têm origem:
na fase de pré-construção, ou
de projeto, com acompanha-
mento;
na fase de construção;
na fase de testes e de provas
diversas; e
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
— finalmente, na fase posterior
às Experiências e Testes de
Mar.
Podemos afirmar que o assunto
Segurança de Submarinos não é no-
vo. Desde a construção do primei-
ro submarino nos Estados Unidos,
o Holand, até a data atual, enge-
nheiros, submarinistas e coman-
dantes têm contribuído para me-
lhorar a segurança do submarino.
Contudo, a fato prático mais impor-
tante ocorrido recentemente foi o
estabelecimento de um programa
formal, completo e integrado, de
certificação3, cuidadosamente au-
ditado quanto ao atendimento das
especificações, por altas autorida-
des navais, antes de o submarino
ser liberado para operação, sem
restrições, até sua cota operativa.
Evidentemente que as autorida-
des que têm sob sua responsabili-
dade a operação com submarinos,
têm também a responsabilidade in-
trínseca pelo estabelecimento de
precauçõs de segurança com os
submarinos recém-construídos, ao
especificar áreas seguras de opera-
ções para imersões de testes que
não sejam excessivamente profun-
das, além de prover os equipamen-
tos de socorro e salvamento duran-
te as provas. Tais considerações,
contudo, estão fora de escopo do
presente trabalho.
O programa é formal, devendo
garantir que as especificações se-
jam atendidas. Para um submari-
no tal programa requer, além da-
quilo que é necessário aos navios de
superfície:
a) durante a fase de projeto:— a revisão do projeto do pon-
3. Aqui, na acepção específica da "autorização do eomandante-em-chefe para que um
submarino opere irrestritamente até sua profundidade máxima de operação. Esta autoriza-
ção é fundamentada em recomendação do NAVSHIPS, mencionada na NAVSHIPSINST 908015A de 7/12/68".
SUBMARINOS CONVENCIONAIS
to de vista de segurança;
o estabelecimento do Sea
Trial Certification Book-
let4;
o estabelecimento do Sub-
marine Safety Certifica-
tion Boundary Booklet5;
b) durante a construção:
fornecimento de material
que atenda às especifica-
ções;controle de qualidade em-
pregada pelo estaleiro cons-
trutor e auditada por uma
organização supervisora;
desenvolvimento do Sea
Trial Certification Booklet
e sua revisão;
revisão dos detalhes do pro-
jeto e auditoria;
auditoria interna realizada
pelo SupShip6;
57
auditoria pré-Experiências
de Mar, conduzida pelo
NAVSEA7;
c) durante os testes e inspeções:
correção das deficiências
categoria I (determinadas
pela auditoria e realização
de qualquer obra necessá-
ria antes do período de Ex-
periências de Mar 8;
Experiências de Cais9;
correção das deficiências
apontadas nas Experiên-
cias de Cais;
inspeção de salvamento;
certificação, pelo NAVSEA,
que o navio está pronto pa-
ra as provas;realização da Movimenta-
ção Simulada10 seguida da
correção das deficiências;
certificação do adestra-
4. Lista de verificação identificando as áreas do submarino sujeitas a auditoria do
NAVSHIPS, para auxiliar na determinação de que elas foram construídas ou reparadas den-
tr° dos padrões das especificações aplicáveis e dentro dos padrões do Programa de Seguran-
?a de Submarinos (SUBSAFE).
5. Publicação preparada para cada submarino integrado no sistema SUBSAFE iden-tificando
as suas áreas dentro das quais foram realizadas ações especiais de segurança e queassim devem ser mantidas.
6. Naval Sea System Comand — Organização similar a uma Diretoria-Geral do Mate-ri&l no que concerne aos aspectos de operação e manutenção dos diversos sistemas de bordo.
7. Superintendente de construção no estaleiro construtor.
8. É o conjunto de provas, conduzidas no mar, a fim de testar a prontidão operacional
de unidades, após a realização das atividades industriais de construção, manutenção ou re-
Par°. conforme o caso.
9. É o conjunto de provas realizadas nos sistemas, equipamentos e partes que sofre-
fam instalação, manutenção e reparo destinado a verificar seus funcionamentos operacio-
na-is integrados. Coincide praticamente com o término da maior parte dos serviços de manu-
tenção e reparos que estão sendo realizados e representa a devolução da responsabilidade
manutenção e reparo dos vários sistemas, equipamentos e partes à unidade reparada.
10. É o período aproximado de dois dias imediatamente antes de suspender para as Ex-
Periências de Mar, em que a unidade atracada, fundeada ou amarrada à bóia, é colocada à
disposição de sua oficialidade e guarnição, sem serem importunadas pela realização de ma-
nutenção e reparo, com a finalidade de adestramento, simulando o mais realisticamente as
condições de operação no mar.
58 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mento da tripulação" paraa realização das provas,dado pelo ComForTipo;
provas do construtor e cor-reção das deficiências en-contradas, e mais todas asde categoria IA, determi-nadas pela auditoria; e
certificação da prontifica-ção do material para ope-rações sem restrição até acota de teste, recomendadapelo NAVSEA e certificadopelo ComForTipo.
Conclui o autor da palestra, di-zendo que um Programa Fbrmal deSegurança de Submarinos,12 comoo indicado, é o meio de se aumen-tar significativamente o nível deconfiança nas condições materiais
de um submarino. O máximo de es-forços deve ser envidado no senti-do de remover quaisquer dúvidasque pairem sobre áreas críticas esistemas que afetam, vitalmente, asegurança do submarino."
Muito embora o Programa de Se-gurança de Submarinos tenha tidosua origem na US Navy, aplicadoaos submarinos nucleares da cias-se Thresher, ele deve ser aplicado,igualmente, aos modernos subma-rinos de propulsão convencional, oua qualquer outro tipo de submari-no cuja profundidade de imersãoexceda 200 pés.
Como tal, dele não poderemosprescindir, ao projetar e construirsubmarinos no Brasil.
11. Ea mensagem passada do ComForTipo ao COMIMSUP da unidade reparada certi-ficando que a tripulação tem condições de adestramento para suspender e realizar as Expe-riências de Mar.
12. Visa, primordialmente, estabelecer os limites físicos das áreas (boundaries) envol-vidas em trabalhos e testes realizados em itens dentro delas, e sujeitos ao controle de reen-trada (reentry control). Assim, cada vez que se exerce alguma atividade de manutenção ereparo sobre um desses itens, o submarino perde a sua certificação (certification) ou sejaa qualificação pela autoridade competente, para imergir até a sua máxima profundidade ope-rativa, sem restrições (unrestrictedoperation). Esta condição só será restabelecida quandoos requisitos do sistema de reentrada (provas, testes, inspeções, etc.) forem satisfeitos. Apósisto, o comandante-em-chefe, devidamente assessorado e recomendado pelo setor do mate-rial, autorizará que retorne às suas condições originais.
O SUBSAFE gera uma série de publicações necessárias à manutenção da integri-dade do submarino. Entre elas o plano que localiza e identifica todas as penetrações atravésdo casco resistente do submarino (Hull Penetration Drawing); os planos diagramáticos queidentificam e especificam a localização de cada elemento que requer certificação, tais comojuntas de canalizações, conexões flexíveis, ligas que requeiram radiografia, etc, e estabele-cem responsabilidades por sua concretização; o NAVSHIPS Submarine Sea Trial Certifica-tion Booklet (ver Nota 3); o Subsaíe Certification Boundary Book (SSCB BOOK) (ver Nota4); o Subsaíe Control Manual (NAVSHIPS 0924-010-4010), publicação preparada basicamentepara informar ao ESTAREP os procedimentos técnicos, orientação e especificações para arealização de trabalhos e garantir a continuidade de certificação dos submarinos já integrantesno sistema de segurança, durante o período operativo; e muitas outras.
desenvolvimento de tática
INTRODUÇÃO
O emprego ótimo de meios é um
fator primordial para o sucesso mi-
litar.
Por motivos diversos, alguns dos
quais ficarão patentes no correr
deste artigo, a nossa literatura é
muito mais bem servida de traba-
lhos a respeito de emprego estraté-
gico do que de tática.
_ nm Todavia, se a tática se situa em
Mário JORGE ferreira braga plano inferior à estratégia e é por
Capitão-de-Mar-e-Guerra ela condicionada, esta interaçao
também ocorre na direção oposta,
não só porque os planos estratégi-
cos têm que levar em contra as pos-
sibilidades táticas, nossas e do ini-
migo, mas também porque um su-
cesso (ou revés), inesperado na
área tática pode mudar, e muitas
vezes tem mudado mesmo, situa-
ções (e às vezes concepções...) es-
tratégicas.
O advento das fragatas da cias-
se Niterói e, principalmente, a ava-
liação operacional desta classe de
T
'
60 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
navios, inteiramente feitos no Bra-sil, mercê de uma feliz e inspiradadecisão da administração naval,deixou claro, à medida que resulta-dos numéricos eram analisados,que era chegado o tempo de nos as-senhorearmos da área do empregotático, eis que os resultados obtidosapontavam inequivocamente pararecomendações concernentes a em-prego.
Então, em paralelo com o proje-to de avaliação das fragatas, foicriado, no Centro de Análises deSistemas Navais (CASNAV), umprojeto de desenvolvimento de tá-tica, e outras providências, cujadescrição desviaria este artigo deseu rumo, foram tomadas em vá-rios setores da MB, de modo a via-bilizar o desenvolvimento e a im-plementação de táticas novas, bemcomo, quando adequado, criticar asexistentes.
Embora este esforço já seja ho-je considerável na Marinha, e delejá se tenham colhido frutos apre-ciáveis, penso que, por ser recentee por ser sigiloso, ainda não é bemcompreendido.
Ora, a compreensão da coletivi-dade é um insumo essencial paraqualquer empreendimento a queela se proponha; por outro lado, asexigências de sigilo são vitais e de-vem ser atendidas.
Foi para conciliar estes requisi-tos antagônicos que resolvemos es-crever este pequeno ensaio, onde,em benefício do sigilo, não tocare-mos em qualquer projeto concluí-do ou em andamento, mas vamosdiscorrer sobre as etapas necessá-rias ao desenvolvimento de proce-dimentos táticos, esperando pro-porcionar um entendimento de co-mo isto é feito e de que depende, emtermos de teoria, prática, pessoale de material.
Por outro lado, pretendemos ex-plicitar a influência que o desenvol-vimento autóctone de tática tem so-bre a escolha do material — equi-pamentos, armas e unidades — aser incorporado à Marinha; de fa-to, a contribuição que o desenho tá-tico próprio pode dar à nacionaliza-ção de meios é tão grande, que po-de ser apontado como um dos fato-res decisivos.
Finalmente, os aspectos mate-máticos dos assuntos serão absolu-tamente escamoteados, de vez quenão há lugar para eles em trabalhodesta natureza, que pretende sercompletamente dedicado à com-preensão, e não à solução, do pro-blema; todavia, é oportuno alertarque o desenvolvimento de tática de-pende quase que totalmente de mo-delos matemáticos, suportados porvárias disciplinas de pesquisa ope-racional, que são, elas mesmas, ob-jeto de incessante investigação emâmbio mundial e que, portanto, de-manda centros de pesquisa devida-mente dotados dos profissionais ne-cessários; o leitor interessado po-dera conslutar as referências [2],[3], [6], [9], [10], [11], [12], [13] e[14].
A NATUREZA DO PROBLEMA
A Marinha define tática como a"arte de dispor, movimentar e em-pregar as forças militares em pre-sença do inimigo ou durante a ba-talha".
Da definição se depreende que setrata de arte, mas de arte competi-tiva, pois pressupõe o inimigo e, aomenos, a possibilidade da batalha.
Sendo arte, depende de talento,da inspiração, e dos instrumentoscom que é executada; sendo com-petitiva, uma disparidade instru-mental pode invalidar a competên-
desenvolvimento de tática 61
cia e trazer a vitória para o melhorequipado.
Dentro deste contexto, os estudoscientíficos
de tática não pretendem"anir o talento nem a inspiração, o
que desfiguraria a arte, mas dotá-los de parte dos meios adequados aseu exercício.
E que meios são estes? Ora, pri-rueiro
temos os meios materiais, osnavios,
as armas, os sensores, osequipamentos
em geral, que são°bjetos
indiretos dos estudos táti-c°s,
porque, embora influenciem eSejam
influenciados por eles, são,
última instância, produtos dosdiversos
ramos da engenharia. Emseguida,
temos os problemas mate-táticos
de otimização de fogo, deuso de sensores, de contramedidas^e evasão, etc., que são o objeto di-*"eto daqueles trabalhos e que cons-tituem
a parte dos meios, imate-nais, sem dúvida, que os estudosClentíficos
fornecem ao desenvolvi-•^ento
de tática.
Desta forma, e de acordo com adefinição
de tática, enunciada nolrUcio
desta parte, podemos imagi-nar situação tática como aquela em
que dois sistemas, A e B, compos-0s de plataformas, sensores, ar-
mas e homens que os guarnecem ecomandam,
se defrontam com pro-Pósitos antagônicos.
Ora, em teoria de sistemaschama-se
eficácia a medida que ex-Pressa o atendimento do propósito,®u de finalidade, de um sistema(verref.
[4]).Por outro lado, também sabemos
yer ref. [4]...) que a eficácia de umsistema
é uma função de três ca-^acterísticas:
desempenho, apres-arnento
e emprego, que se definemcomo:
— Desempenho é a medida do quea componente náo-humana (platafor-rtla. armas, sensores, programas, etc.)
de um sistema é capaz de fazer, se em
perfeitas condições de funcionamento.
Exemplo: o canhãox pode colo-
car uma média de 15 tiros, em um
minuto, dentro de um quadrado de
100 metros de lado, a uma distância
de 10 km.
Outro exemplo: o programa de
predição para direção de tiro do sis-
temay converge em t segundos pa-
ra o alvo em corrida reta com velo-
cidade de até x km/hora.
— Aprestamento é a capacidade
do sistema estar funcionando ao
início da missão e de continuar fun-
cionando enquanto dura a missão.
Exemplo: sejam dez aeronaves,
das quais, por razões de manuten-
ção planejada e de avarias inopina-
das, oito estão usualmente (ou em
média, para ser mais preciso) pron-
tas para o serviço: então se diz que
a capacidade desta aeronave estar
funcionando ao início da missão —
capacidade esta que se denomina
Disponibilidade — é de 80%; por ou-
tro lado, a capacidade de ela per-
manecer pronta enquanto dura a
missão — que se denomina Confia-
bilidade — é uma funçjao decres-
cente do tempo de tempo de dura-
ção da missão, ou seja, por cinco
horas poderia ser de 95%, para dez
horas de 89%, e assim por diante.
O aprestamento é obtido pela
composição destes números, Dispo-
nibilidade e confiabilidade para um
dado tempo, e como este assunto
não é diretamente pertinente nes-
te ensaio, remetemos o leitor inte-
ressado à referência ([1]), esclare-
cendo que embora o conceito de
aprestamento tenha sido definido
em termos diferentes, e mais res-
tritivos, do que a usual acepção mi-
litar, isto é, aprestamento igual a
preparo material mais treinamen-
to, não há contradição presente.
Finalmente, o emprego é a con-
62 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
tribuição de componentes humanos
à eficácia do sistema e, é claro, se
faz em vários nveis:
O primeiro nível é, sem dúvida,
a competência no uso de armas,
sensores e equipamentos e, portan-
to, está relacionado com instrução
e adestramento; de fato, este nível
é geralmente embutido no apresta-
mento, porque contribui direta-
mente para o funcionamento (bom
ou mau...) do material, no sentido-de
que uma falha humana tem so-
bre o equipamento efeito similiar
ao de uma avaria de uma peça.
O segundo nível diz respeito à
manobra da unidade, só ou dentro
de um grupo de que ela faz parte,
e que visa, contribuir para alguma
ação do grupo como um todo; este
é um problema onde o aspecto táti-
co já começa a despontar, ao menos
em certos casos.
O terceiro nível é o do emprego
do grupo, claramente um problema
tático.
Há outros níveis de emprego es-
tratégico e político, que não serão
abordados, pois não é este o propó-
sito do presente estudo.
Seria possível imaginar uma
função, F, cujos argumentos se-
riam desempenho, aprestamento e
emprego, tal que, substituídos os
valores, obteríamos um número
que medisse a eficácia:
Eficácia = F (desempenho, apres-
tamento, emprego)
Na realidade, as coias não são
assim tão simples e, muito rara-
mente, é possível escrever, de for-
ma simples, esta função.
Entretanto, a dependência fun-
cional existe, ou seja, a eficácia de-
pende, em graus diferentes, destes
três fatores; a figura 1 exibe de for-
ma mais intuitiva este fenômeno.
DESEMPENHO
APRESTAMENTO K^\)
EMPREGO
EFICACIA
Figura 1
i
DESEMPENHO
APRESTAMENTO *Q*\) EFICACIA
EMPREGO
desenvolvimento de tática 63
Ali se vê uma máquina, simboli-zada
pelo círculo, que recebe trêslnsumos:
desempenho, apresta-Wento e emprego, e os combina,
Produzindo eficácia.
Existem duas característicasnotáveis
desta máquina:
A primeira é que ela não funcio-na se
qualquer dos insumos faltar,ou seja, realiza uma operação mui-lPücativa
e o produto (eficácia) se-ra sempre nulo se qualquer dos in-
Sredientes o for.E fácil entender porque, se ima-
Smarmos uma canhão que não ati-
(desempenho e/ou aprestamen-° nulo), ou que é apontado na dire-
Çao oposta à do inimigo (empregonulo),
vemos que ele não contribuiern nada
para a eficácia, ou melhor,a anula.
Esta primeira característica mi-
, a contra a idéia de se atribuiir
1 ^Portâncias relativas diferentes a
®etores da Marinha, prática que an-
igamente era teorizada em termos
a "predominância do objetivo so-
re o subjetivo" e que, embora ofi-Clalmente
aposentada, ainda dei-x°u, aqui e ali, os seus vestígios; se0s três insumos são essenciais à efi-
£acia, o problema não é estabelecer
lerarquias fundadas em predomi-
nancias, mas prioridades visando
a° equilíbrio na alocação ótima derecursos,
única forma de maximi-Zar o produto final.
. A segunda característica, é que®
Possível fazer trocas entre os fa-°res,
mantendo-se a eficácia glo-Dal constante.
. Esta propriedade se reveste de
1 í^Portância excepcional em países
c°mo o nosso, que almejam e pre-
£lsam produzir o seu próprio mate-
*al, cujo desempenho, entretanto,lficilmente
será, pelos menos nosPrimeiros
anos, idêntico ao mate-Jal importado.
A solução é imaginar alterações
nos outros fatores, de modo a com-
pensar a deficiência do desempe-
nho.
Então, a nacionalização de um
meio, sem prejuízo (ou com o má-
ximo prejuízo aceitável) da eficá-
cia, em geral, só é possível com a
nacionalização concomitante do
aprestamento e do emprego, de mo-
do a que, com a melhora destes dois
fatores, se compense as concessões
impostas pela nacionalização sobre
o desempenho.
A exploração das características
acima expostas não foi de nenhum
modo esgotada no que ali dissemos,
e é de suma importância para o tra-
to de inúmeros problemas navais;
o escopo do trabalho nos limita a re-
metermos o leitor às referências
([!]) e ([4]).
Retomando o fio da exposição, é
fácil ver que os estudos de tática di-
zem respeito à componente empre-
go, no nível que mencionamos an-
tes, e são feitos assumindo um cer-
to desempenho (de algo que já exis-
te ou de algo a ser construído) e um
certo aprestamento.
É extremamente relevante notar
que, ao se assumir desempenho, es-
tamos lidando com os números que
o descrevem, e que, portanto, estes
números devem ter sido anterior-
mente medidos em condições tão
reais quanto possível, o que só po-
de ser feito em avaliação operacio-
nal; no caso dos meios ainda não
existentes, os procedimentos obti-
dos serão aproximações iniciais a
serem completadas quando da ava-
liação operacional.
Ainda sobre avaliação operacio-
nal, atividade indispensável a qual-
quer Marinha, devemos consignar
que a própria tática, depois de
pronta, deve, quase sempre, serob-
jetivo de avaliação, já em outro ní-
64 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
vel, mas ainda avaliação operacio-
nal, para ser considerada definiti-
vãmente acabada.
Finalmente, não podemos esque-
cer o inimigo.
De fato, não só o desempenho de
seus meios, mas, também, o em-
prego que lhes pode dar têm papel
decisivo no desenho de nossas táti-
cas.
Não se pode fazer avaliação ope-
racional dos meios alheios (quan-
do se pode, se faz...) nem advinhar
o emprego que lhes será dado, o
que, sem dúvida, se constitui em
um grande complicador.
Existe um roteiro para contor-
nar estas dificuldades:
Inicialmente, compulsar infor-
mações, inclusive as ostensivas. É
impressionante o número de coisas
que um especialista em análise
operacional pode inferir a partir de
publicações de circulação livre (o
que recomenda prudência em nos-
sas publicações...) e mesmo na im-
prensa comum. Por outro lado, o
desenho tático pode indicar, a quem
de direito, exatamente que infor-
mação é relevante e necessária; a
propósito deste assunto, recomen-
da-se a ref. ([07]), que descreve
com detalhes a espionagem técni-
ca/operacional na Segunda Guerra
Mundial.
O produto final desta etapa é o
que se chama descrição da amea-
ça, documento que consolida, em
termos de, pelo menos, ordem de
grandeza, o desempenho dos meios
inimigos (informações sobre apres-
tamento também podem ser impor-
tantes e figurar no documento).
Em seguida, ao se proceder ao
desenho tático, as informações con-
tidas na descrição da ameaça são
usadas como base para análise de
sensibilidade, técnica que consiste
em fazer variar parâmetros (no ca-
so desempenho) dentro de certas
faixas e verificar como as soluções
encontradas respondem a tais va-
riações; esta técnica, que é bastan-
te conhecida na área de otimização
matemática, já está, inclusive, em
muitos casos codificada em rotinas
de computador, tão freqüente é o
seu uso (inclusive, e principalmen-
te, em aplicações estranhas à táti-
ca).
Um bom exemplo seria a veloci-
dade de um certo submarino, quan-do submerso, que as informações
dizem ser de 17 nós e que, no plane-
jamento de uma cobertura, se faz
variar de 10 a 24, de forma a se ava-
liar a influência no resultado final
e providenciar algo a respeito.
Por fim, quanto às possíveis de-
cisões do inimigo sobre emprego, o
usual é considerar que ele agirá de
forma a maximizar a sua eficácia.
Veja-se bem que o termo usual
não foi usado sem razão, pois po-dem haver casos em que uma táti-
ca nossa, que é ótima contra outra
tática também ótima do inimigo,
seja talvez até péssima se o inimi-
go mudar o emprego. Isto aconte-
ce por várias razões, entre elas a
surpresa, cujo detalhamento seria
monótono: estes casos são estuda-
dos à parte.
Outro aspecto importante a ser
levado em conta nesta colocação do
problema é o cenário.
É claro que condições de mar, de
visibilidade, de propagação, etc
têm influência sobre o desempenho
de sistemas e, conseqüentemente,
sobre a sua eficácia; tal influência
deve ser compensada por variações
no emprego, daí a importância do
cenário.
Tudo isto posto, e voltando à si-
tuação inicial em que dois siste-
mas, A (o nosso) e B (o inimigo), se
enfrentam, vemos, espero que ago-
DESENVOLVIMENTO DE TÁTICA 65
ra claramente, que o problema datática é determinar o procedimen-1° que otimiza a eficácia do sistemaA, de desempenho conhecido eaPrestamento assumido, diante doS1stema B, de desempenho variávelern torno de certa ordem de gran-deza, aprestamento assumido, eemprego usualmente suposto óti-mo. tudo dentro de um cenário decaracterísticas determinadas.
1]al procedimento será o empre-S° ótimo e se constituirá em umaattea a ser usada pela Marinha,nas circunstâncias que o OCT (Ofi-Clal em Comando Tático) julgar su-«cientemente próximas (nunca se-rao iguais...) daquela para a qualfoi desenhada.
_ O roteiro para se chegar a uma¦âtica será bosquejado na próximaeÇão e, como veremos, o problemac°meça com a formulação operati-a e termina com a decisão sobre
^mprego (mencionada no parágra-0 anterior), ambas funções de ofi-Clais em comando tático, o que bemcaracteriza o aspecto arte que co-°camos ao início do artigo.
AS ETAPAS DODESENVOLVIMENTO DE
TÁTICA
¦^ Formulação Operativa
O desenvolvimento de um proce-miento tático inicia-se por uma0rmulação operativa.Esta formulação é, quase sem-
Prei filha de uma concepção estra-egica, pois representa a fase de in-eração direta com o inimigo, queP°de coroar uma manobra (ou pos-Ul*a) estratégica; vejam bem quea expressão interação é suficiente-Iriente ampla para incluir uma con-CePÇão estratégica de evitar o con-ronto que, certamente, se socorre-
ria de táticas de evasão.Mesmo no caso acadêmico (há
muitos institutos de matemáticapelo mundo que se ocupam disto),quando não há compromisso comnenhum problema real, o desenvol-vimento começa com uma formu-lação operativa, ainda que fictícia.
Por outro lado, a modelagem tá-tica poderá vir a demonstrar a im-propriedade do conceito estratégicoque, então, deverá ser modificado.
Com isto se verifica a subordina-ção cronológica da tática à estraté-gia — o conceito estratégico devevir antes —, mas se descaracteri-za a subordinação lógica (que ésubstituída por interações sucessi-vas) no sentido de que, dada umaconcepção estratégica, não neces-sariamente é possível obter a par-tir dela um conjunto de procedi-mentos táticos que a realizem ou,ainda, não se pode propriamentededuzir tática de estratégia.
Vale consignar que, se introdu-zirmos a logística (em sentido am-pio) no problema, interação seme-lhante ocorrerá entre ela, a táticae a estratégia.
Isto conduz à conclusão, talvezsurpreendente, de que o aparelhomilitar nem sempre se comportacomo um sistema hierárquico, nosentido que a este termo a teoriaempresta, isto é, aquele paradigmade sistema em que as ordens fluemem apenas uma direção, e que desua chegada nos endereços certosresulta a execução de serviços e ageração de produtos, exceto por al-guma variação ocasional.
Por outro lado, certas atividades,a maioria delas mesmo, são, e de-vem ser, rigidamente hierarquiza-das, como aliás a organização de-partamental tão corriqueira entrenós o atesta.
A finalidade maior desta digres-
Mesmo se nunca for atacado, *J
¦ :¦__.;-..
'""¦¦-''-'¦" '.::_M:-Z:-: .,.^;;;: ;:'::':.Y::::;:::'"':^"--;-; [----¦'¦¦¦;'-' .';'~-^<*:Z'^._ ;,_:¦¦ '.Z
...... 7.; •;:¦*.:,..:, .;; ;.-r-~^r~-Y;;: :-'-' ¦¦¦
«_» ^-: ..»«__-^^jg«ggasaia^_^a^£^j^^
são é, mais uma vez, patentear a in-terligação entre as facetas básicasdo aparelho militar, para concluirque é possível nacionalizar osmeios sem prejudicar o propósitofinal, de vez que, não havendo umencadeamento logicamente rígidoe unidirecional entre elas, um pro-cesso de acomodações sucessivaspode chegar a ambas.
Por outro lado, nacionalizar semque se efetuem trocas internas nossistemas (emprego, aprestamentoe desempenho), e, conseqüente-mente, acomodações em termos deestratégia, tática e logística — cer-tamente reduziria e degradaria odesempenho e, ipso facto, nos colo-
caria em uma posição de inferiori-dade.
Assim sendo, é mandatório quedominemos as ciências e as técni-cas que permitem efetuar aquelastrocas (análise de sistemas e pes-quisa operacional são as princi-pais) e que nos lancemos a traba-lhos, como desenvolvimento de tá-tica, que nos permitem concretiza-las.
A formulação operativa é a colo-cação do problema tático, nos ter-mos do usuário, isto é, do operati-vo.
Para que ela seja completa e des-pida de ambigüidades, costuma-seexpressá-la em termos de tarefa (o
^"s precisa ser bem def endido.chprt ^ue este momento nãocnegue nunca.ünico 'se ° Deus brasileiroW*«nunca chegará,sei. *i', mesmo que nuncau™cado, é fundamental para2ais a organização e ananutençao de um sistema dede Ln ?ue Haranta a segurançapjjjju território e a paz de seu
e feK_-A Aerospatiale desenvolvedefPbnri<?aarmamentosconSs'esPecia'mente«ncebidos para neutralizar
objetivos militares. 0 Exocet,que domina o navio inimigo.O Roland*, que elimina o perigodo avião de ataque. O Milan* e oHot*, que atravessam asblindagens dos carros decombate mais modernos.
E o AS 30 Laser, queenfrenta um Blockhaus a lOkmde distância.
Um desempenho jáamplamente comprovado eminúmeras operações de defesa.
Porque esta é a vocação ea missão da Aerospatiale: manter
a paz, oferecendo o sistemadefensivo mais confiávelque existe.
Para dissuadir e, senecessário, repelir qualqueragressão.
Protegendo a nação,defendendo o seu povoe garantindo a paz.Mesmo que o país nuncaseja atacado.
•farte do Programa Euromissile
é especial, é aerospatiale.j-rosptttW-h.
SBB aerospatiale^osp-o*^»\p«"
^e), ameaça (contra quem) e ce-ai?o (sob que circunstâncias).As vezes, a formulação operati-a menciona os meios a serem usa-0s. às vezes (ou porque não exis-
m ainda, ou porque não se preten-e limitar o espectro de soluções )ei*a, pelo menos parcialmente, àacolha do modelista.Então, é possível que as coisaseJam postas em termos de indagar~*ual a melhor tática antiaérea a ser
pada por n navios da classe x con-ra um certo tipo de aeronave, ou es-tudar o emprego de helicópteros, nãoPrecisamente especificados, como^Çadores de mísseis ar/superfície.
Ainda há a questão da escala do
problema.Podemos ter, em nível macro,
que imaginar táticas para a pro te-ção de grandes comboios contraameaças diversas ou, em nível mi-cro, que estudar o duelo entre umhelicóptero e um submarino.
Finalmente, devemos consignar,embora a formulação operativapossa ser feita em termos de meiosainda não existentes, ou não com-pletamente especificados, que oproduto final, um certo procedi-mento tático, será obtido para pia-taformas, armas e sensores abso-lutamente específicos, ao menosem termos de faixas de desempe-nho.
68
Da mesma forma, a tarefa, a
ameaça e o cenário são, também,
específicos.
Então, apesar de no decorrer dos
estudos necessários ao desenvolvi-
mento de tática serem usadas teo-
rias bastante gerais, e de se partir,
às vezes, de meios mais ou menos
indefinidos, o produto final é com-
pletamente numérico, praticamen-
te nada tendo de abstrato, e portan-
to, em geral, não se aplica a com-
binações de tarefa, ameaça, cená-
rio e desempenho (plataformas,
sensores e armas) diferentes da-
quela para a qual foi imaginado.
Isto implica que o uso de publi-
cações táticas, que são fruto de es-
tudos aos quais normalmente não
se tem acesso, embora possa ser
útil para fins de adestramento, é de
eficiência militar extremamente
discutível.
Um exemplo simples, e que se
ajusta a miríades de concepções es-
tratégicas, seria a alocação de es-
forços de busca.
Vamos imaginar que certa re-
gião do oceano deva ser interdita-
da ao tráfego inimigo e, para tanto,
é preciso mantê-la esclarecida.
Conta-se com certo número de es-
clarecedores de características co-
nhecidas.
A formulação operativa poderia
então ser enunciada em termos de
como determinar o melhor empre-
go dos meios existentes, tal que mi-
nimizasse a probabilidade de o ini-
migo transitar sem ser detectado e
identificado ou, apenas, detectado,
ou, ainda, que minimizasse o tem-
po que ele conseguirá transitar in-
cógnito (em geral, são três proble-
mas diferentes).
É claro que, se ao fim do proces-
so, se concluísse que, apesar do em-
prego tático ótimo, as probabilida-
des (ou o tempo médio) nos fossem
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
completamente desfavoráveis, en-
tão, a concepção estratégica subja-
cente, provavelmente, deveria ser
de alguma forma alterada.
Finalmente, devemos nos guardar
contra a ilusão, que pode ter sido in-
duzida pela singeleza do exemplo, de
que obter uma formulação operativa
é algo de muito simples e trivial.
Muito pelo contrário, constituin-
do-se na única parte completamen-
te qualitativa do processo de desen-
volvimento de tática, não estando
portanto apoiada por modelos e/ou
algoritmos matematicamente fun-
damentados, dependendo, então
apenas da experiênçia operativa,
da visão de conjunto, do raciocínio
lógico e da capacidade de expres-
são de quem a formula, e, mais,
sendo fator condicionante de todo o
processo posterior, é, talvez, a mais
difícil.
Existe uma metodologia, ou me-
lhor, um conjunto de normas para
orientação e a ide mémoire, para
apoiar a análise necessária e a ex-
pressão da formulação operativa;
não nos deteremos neste assunto,
que alongaria demais a exposição,
mas vamos deixar consignado que
esta metodologia ajuda um pouco,
mas, sozinha, nem de longe resol-
ve o problema.
Finalmente, vale acrescentar
que a formulação operativa,, a
maior parte das vezes, faz uso de
banco de dados, de onde recolhe os
elementos necessários sobre os
nossos meios, os do inimigo e os do
cenário.
A Modelagem
O passo seguinte à formulação
operativa é a modelagem.
Antes de descrever esta etapa»
convém uma pequena digressão so-
Desenvolvimento de tática 69
bre modelos.
Um modelo é uma abstração darealidade,
ou seja, uma representa-
^a° simplificada, que se destina a
Permitir que entendamos e, conse-
Çuentemente, possamos manipular
Urn fenômeno complexo.
Um bom exemplo é um mapa ro-d°viário;
devido a limitações de
fossos sensores e da nossa capaci-
ade de processamento, não conse-
^imos abarcar toda a complexida-
e ^a geografia que nos cerca e, fa-
Cllftiente, ficaremos perdidos.
0 mapa, abstraindo de todaacIUela
multidão de detalhes ape-
!*as o que interessa à nossa orien-aÇão,
permite que nos localizemos,
^Ue possamos escolher atalhos, quePesamos
prever hora de chegada
O mapa é, portanto, uma repre-®entação
simplificada da realida-e>
que não conseguimos entenderPelo excesso de detalhes.
Vejam bem que milhões de coi-sas
que estão na geografia não es-a° no mapa, pois, se estivessem,
. e acabaria deixando de ser mode-0 e não serviria de nada; portan-°> um modelo não pode (ou não de-
v^-• •) nunca ser criticado pela au-Sencia
deste ou daquele detalhe,
j^as apenas pela ausência dos de-
alhes relevantes ao propósito que
Se tem em mente.
Outro exemplo da mesma espé-°le
seria a maquete de um prédio,^e permite entender o prédio, dis-P°r dos seus espaços, decidir sobre°calizações
e acessos etc. sem ter
^e construir e demolir sucessivose^ifícios,
até achar um que nosa£rade.
Estes dois exemplos são de mo-elos ditos icônicos (de ícone, ima-
^ern -.), que se caracterizam por®erem
representações pictóricasüa realidade.
Outro exemplo seria de um sis-
tema onde encanamentos repre-
sentariam as ruas de uma cidade e
o escoamento líquido, o fluxo do
trânsito; isto, às vezes, é feito, pa-
ra estudos urbanísticos.
Este é um modelo dito analógi-
co, onde certas propriedades físicas
são usadas para representar ou-
tras.
Finalmente, uma teoria sobre o
funcionamento da mente humana
ou uma teoria matemática sobre
alocação de recursos são também
exemplos de modelos; neste caso,
modelos simbólicos, verbal o pri-
meiro, matemático o segundo.
Então, podemos distinguir três
tipos de modelos: icônicos, analó-
gicos e simbólicos.
Quanto a vantagens e desvanta-
gens, no caso de poder escolher, de-
vemos dizer que os icônicos têm a
vantagem de serem bastante con-
cretos e de fácil entendimento —
qualquer um entende logo e fica
bem perto da realidade que preci-
sa compreender, ao olhar um ma-
pa ou maquete — pecando, todavia,
pela dificuldade de transferência e
manipulação, isto é, maquete é só
daquele certo prédio, o mapa só da-
quele pedaço da terra; além disto,
como manipular a maquete (au-
mentar uma sala ou número de
quartos) sem quebrá-la?
Os analógicos, embora já não tão
perto sensorialmente da realidade,
podem, até certo ponto, ser trans-
feridos para outras situações (tal-
vez, rearrumar os canos para simu-
lar outra cidade) e também se su-
jeitam a certo grau de manipula-
ção (aumentar a pressão para ver
o que ocorre no rush etc.)
Finalmente, os modelos simbóli-
cos (ou abstratos) são, sem dúvida,
os mais distantes sensorialmente
da realidade — abstrato é antônimo
70
de concreto — e, portanto, mais di-
fíceis de entender, tendo, entretan-
to, a enorme vantagem de serem
bastante transferíveis (o bastante
fica por conta dos modelos verbais,
pois os matemáticos são geralmen-
te absolutamente transferíveis, de
vez que se usam em matemática
símbolos vazios de significado pró-
prio, que podem ser arbitrariamen-
te identificados) e facilmente ma-
nipuláveis — é só mexer nas equa-
ções.
Quanto ao uso, os modelos po-
dem ser classificados como descri-
tivos e prescritivos.
Os descritivos se destinam a des-
crever uma parte da realidade que,
por alguma razão, queremos enten-
der.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
O prescritivo se propõe a estabe-
lecer normas (prescrições...) de
procedimentos ; por exemplo, um
modelo de estoques seria capaz de
dizer quantas unidades de cada ti-
po de sobressalentes devem ser
comprados em certas épocas, um
modelo tático de busca diria a tra-
jetória ótima do sensor para maxi-
mizar a probabilidade de detecção.
A figura 2 sumariza o que foi di-
to.
A relativa insistência que esta-
mos exibindo sobre modelos se de-
ve ao fato de que, em virtude de nos-
sa organização (ou desorganiza-
ção...) mental, nós raramente con-
seguimos nos situar em uma cir-
cunstância de uma certa complexi-
dade sem ter um modelo.
r IC0NIC0
— +
TIROS DE J ANALOG ICOM0DEL0
^'
VERBAL
ISIMBOLICOS f-, 2 °
O !< z
MATEMATICO $ ] S
if) i zZ UJ< I-
r DESCRITIVO £ s Z(— «=- LU
USO DE
MODEL0
V PRESCRITIVO »+
Figura 2
r ICONICO
— +
TIPOS DE J ANALOG ICOM0DEL0
^'
VERBAL
Lsimbolicos f O £u z
MATEMATICO $ ] S
if) t zZ UJ< H
C DESCRITIVO £ s z
(— «=- LU
USO DE
MODEL0
V PRESCRITIVO »+
desenvolvimento de tática 71
De fato, é praticamente impossí-Vel
perceber e levar em conta os di-versos
inter-relacionamentos queocorrem
dentro de um sistema sem
^ue nos debrucemos sobre um mo-delo; nem mesmo é possível, sem
jttodelagem, saber o que é impor-
|ante medir, que dados devemos co-
letar, como comparar a importân-
Cla relativa das coisas que ocorrem
nosso redor. Finalmente, masnao menos importante, é freqüen-te
que, por não terem um modelo
que represente o sistema de que es-
j;a° falando, as pessoas, ao discutir,
enham em mente coisas distintas,
P°is cada um tem, de certa forma,® Próprio modelo dentro de sua ca-
eÇa, desaparecendo assim o refe-rencial
comum que permite a co-municação
entre os homens, ou se-
Ja, todos estarem apontando para0 ftiesmo objeto.
Entretanto, apesar de tudo isto
Parecer óbvio, é comum se presen-c*ar discussões cujo grau de desva-ri° é assustador, onde com igual va-idade
tudo se pode afirmar e tudoSe
pode negar, e tal situação preva-ece apenas
porque, geralmente, se^scpte
coisas muito complexas,Sem
que haja qualquer referênciaa uma modelo explicito.
No caso particular da modela-
Sem tática, a regra é o uso de mo-el°s matemáticos, que, como vi-
podem ser facilmente trans-eríveis
de uma circunstância para®utra.
Realmente, se certo modeloUnciona
para sistemas com dado
^esempenho, ele pode ser adapta-
? (às vezes, apenas pela substitui-Çao dos valores numéricos, os parâ-tetros)
para sistemas de outro de-®ernpenho;
é bom não esquecer, en-retanto,
que podemos ter dois pro-cedimentos
táticos absolutamentelstintos,
mas que foram gerados aPartir de um só modelo.
Tomemos a formulação opera ti-
va que usamos antes como exemplo
e que, certamente, daria margem
a muitos estudos táticos, em vários
níveis.
Seja um destes possíveis estu-
dos, de nível já bem baixo, a busca
de uma subárea de formato qua-
drado, para detectar um alvo de su-
perfície, suposto estacionário (ou
de velocidade extremamente me-
nor que a da plataforma que reali-
za o esclarecimento) e de cuja po-
sição só sabemos que se encontra,
com certeza, na referida região.
Seja a curva de alcance lateral
do sensor da plataforma como a da
figura 3:
Esta curva, cujo eixo dos x é o
ponto de maior aproximação (PMA)
do alvo e o dos y representa a pro-
habilidade, P (x), de detectar um al-
vo cujo PMA seja x, raramente tem
p(x)
i;
;.i.
-R X
Figura 3
este formato, cuja implicação prá-
tica é de que todos os alvos cujos
PMA forem menores ou iguais a R
serão detectados com certeza
(P (x) = 1, se [x]éR) e todos aque-
les de PMA maior que R, também
com certeza, não serão detectados
(P (x) =0, se [x] > R); entretanto, pa-
ra fins didáticos, vamos assumir
esta lei de detecção ideal (conheci-
da na literatura como cookie cu-
ter).
Neste caso, o procedimento óti-
72 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mo seria uma busca sistemática,
como na figura 4, ao fim da qual o
alvo estaria, certamente, detectado;
o tempo para fazê-lo é facilmente
calculável como função do percus-
so e da velocidade da plataforma,
e o espaçamento entre as pernadas
é tal, que a área seja toda coberta.
Seja, entretanto, a curva de al-
cance lateral do sensor em tela, co-
mo mostra a figura 5, já um pouco
mais próxima da realidade, e sig-
nificando que entre -Re + R de
PMA a probabilidade de detecção,
F (x), é de 0,8, por exemplo.
Então, a busca sistemática ain-
da é aplicável, só que, após a cober-
tura total da área, ainda sobra pa-
ra o alvo 20% de chance de não ser
detectado.
É possível reduzir esta chance,
fazendo coberturas sucessivas de
área. Por exemplo, em duas passa-
gens, a probabilidade de detectar se-
ria P2 = 0,96, e em três, de P3 =
0,992 etc, números que podem ser
facilmente calculados e, inclusive,
tabelados; o tempo para atingir es-
tas probabilidades também pode
ser computado como função do per-
curso e da velocidade da platafor-
ma.
Uma combinação dos dois casos
seria a curva, já bem real, exibida
na figura 6.
Ainda se aplica a busca sistemá-
tica, mas há várias opções para o
espaçamento entre derrotas. Por
exemplo usar 2c de modo a se ter
11
1
0.8[
IiIiIi
-R *R
Figura 5
probabilidade 100% ao fim da bus-
ca (que demoraria um certo tem-
po...), ou usar 2d de modo a varrer
mais rápido (mas com menor pro-
habilidade...) toda a área, ou, final-
mente, usar algum valor interme-
diário que, se for o caso poderia ma-
ximizar a probabilidade, dado que
se tem um tempo determinado pa-
ra efetuar a busca.
Como vemos, de um só modelo
podemos tirar vários procedimen-
tos táticos, como conseqüência da
variação de uma característica de
um sensor; talvez agora fique mais
claro o que antes escrevemos sobre
a incoveniência de se usar táticas
que não foram obtidas para os meios
de que dispomos; se uma simples
variação do desempenho de um
sensor é capaz de provocar tantas
mudanças, imaginem o que ocorre
com sensores, armas, plataformas,
ameaças e cenários diferentes!
Além disto, fica também patente a
versatilidade, em termos de manipu-
lação, do modelo matemático que se
adaptou, facilmente, às variações a
que submetemos a curva.
Ainda para ilustrar um pouco
mais, podemos mencionar que se
ao invés da busca por um alvo, con-
forme o problema foi colocado, ti-
véssemos, por exemplo, uma cober-
tura, novamente este modelo seria
II i IIII|
I'M
2R -- 2R
Figura
11
l
0.8[
IiIiIi
-R *R
DESENVOLVIMENTO DE TÁTICA 73
0.5
i ! i
-d -R -C C
FiguraaPücável, espaçando os navios deacordo com as curvas de alcanceiateral, levando em conta o nume-r° de escoltas, o perímetro internoa Proteger, permitindo várias pas-Sagens, se for o caso (cobertura emsetores, por exemplo), tudo comcerto grau de probabilidade de de-tectar etc. isto mostra que, além demanipulável, o modelo é também,c°mo dissemos, transferível, isto é,Se aplica a várias situações.
De qualquer forma, duas coisasJa se exibem como essenciais à mo-delagem:
~ Primeiro, é preciso dominaras disciplinas básicas (teoria dabusca, teoria do combate, jogos di-erenciais, probabilidades, otimiza-Cao, processos estocásticos etc) quePerrnitem e apoiam a modelageme a manipulação de modelos, bem°mo é necessário desenvolver aCaPacidade de bem usar estas fer-amentas, ou seja, modelar siste-mas e/ou adaptar modelos já exis-entes; é bom consignar que daanálise dos modelos é possível de-erminar quais dados são necessá-ri°s para implementá-los e que,
6uma vez obtidos e substituídos nasequações, trazem, normalmente, aprimeira aproximação de um pro-cedimento tático.
— Segundo, é preciso levantardados; todos os exemplos acima f o-ram possíveis porque usamos cur-vas de alcance lateral, que, comosabemos, valem para certo siste-ma, em certo cenário, para detectarcerto tipo (dentro de certa faixa) dealvo e que, portanto, devem ser ob-tidas de dados de avaliação opera-cional.
A insistência com que temosmencionado, no correr deste artigo,a avaliação operacional como fon-te de dados, pode induzir à confusãode atribuir à avaliação formal decerto sistema (ou classe de navio,ou de aeronave etc) a exclusivida-de na obtenção de dados operativos.
Isto não é verdade, no sentido deque toda operação de um meio po-de ser objeto de avaliação e, porconseguinte, gera dados.
De fato, é quase impossível, porcausa da exorbitância de recursosnecessários, levantar em uma ava-liação formal o desempenho, por
74
exemplo, de um sonar, sob todas as
possíveis condições de ameaça,
emprego e cenário.
Entretanto, se um sistema orga-
nizado de coleta e processamento,
que deve ser montado ao fim da
avaliação operacional do sistema,
que é quando se sabe o que e como
coletar, estiver disponível, então
cada detecção, durante toda a vida
do sistema, pode funcionar como
um evento de avaliação (informal,
mas avaliação) que irá enriquecer
e aperfeiçoar o banco de dados; en-
tão, realmente, ao fim de certo nú-
mero de anos, teremos uma imen-
sa série histórica de detecção sub-
marina, à disposição da modela-
gem e de outros setores da Marinha.
Ainda há um terceiro aspecto
que os exemplos dados não focali-
zaram.
Nem sempre do exame de um
modelo matemático resulta algo
factível na prática e/ou, às vezes, é
impossível colocar nos modelos as-
pectos humanos que podem ser de-
cisivos para se encontrar a melhor
tática.
Em ambos os casos, o caminho
indicado é a simulação, isto é, ope-
rar (geralmente com o auxílio, to-
tal ou parcial, de um computador)
com o modelo de forma a obter
aproximações que se conformem à
realidade prática e/ou levem em
conta adequadamente decisões hu-
manas.
Antes de exemplificar, parece
conveniente tecer alguns comentá-
rios sobre a espécie de simulação
que estamos mencionando, de vez
que a expressão encerra certo grau
de ambigüidade, além de se aplicar
a técnicas muito diversas e de pro-
pósitos, inclusive, bem distintos.
A simulação de que estamos tra-
tando consiste em utilizar a veloci-
dade de operar, a memória, a arqui-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
tetura e capacidade de apresenta-
ção gráfica de um computador, pa-
ra realizar experimentos que, no
mundo real, seriam impossíveis.
Estas experiências se destinam,
basicamente, a três coisas (que po-
dem até estar todas presentes na
mesma simulação):
Primeiro, para permitir que
possamos entender fenômenos
muito complexos e que, por isto
mesmo, não só ultrapassam a nos-
sa escala, mas também escapolem
a uma modelagem adequada, por
serem constituídos por tantos mo-
delos interagindo à uma, que não
há meios disponíveis para compô-
los em modelo global que seja tra-
tável.
Este é o caso típico de um jogo
de guerra analítico, que permite, à
medida que os eventos ocorrem,
são registrados, analisados e mui-
tas vezes repetidos; que se enten-
da e se possa concluir sobre uma
operação militar a partir de certa
escala.
É preciso notar que, embora os
jogos de guerra sejam anteriores
aos computadores digitais, uma ca-
pacidade analítica para operações
de certo porte só veio com o adven-
to das máquinas.
Ainda, sendo um jogo realmen-
te o resultado de uma série de mo-
delos (interação, cinemática, logís-
tica, detecção, etc) que não sabemos
compor, podemos imaginar que o jo-
go é o próprio modelo global.Segundo,
para gerar dados ex-
perimentais provenientes de expe-
riências irrealizáveis na prática-
Uma ilustração seria uma fila
para, por exemplo, dimensionar
um sistema telefônico.
Vejam bem que é impossível ins-
talar tal sistema e, depois, ficar
medindo coisas como, por exempl°>
a demora média para obter o sinal
desenvolvimento de tática
de discar. -
Entretanto, pelo uso do sistema
mterno de hora do computador, e der°tinas
que podem gerar eventosSegundo
as leis que desejamos, é
Possível fazer com que estes even-tos cheguem e se acumulem emUrna região da memória, que faráas vezes de uma central telefônica
^ctícia. Vejam bem que, para os
lns desta simulação, todas as ope-rações
eletrônicas e/ou, eletrome-
^nicas que acontecem nas cen-trais
telefônicas reais são irrele-Vantes;
o que interessa é saber, acada
momento, se há ou não linhadisponível
e (desde que haja umacorrespondência
conhecida entre otamanho
da região de memória e aCapacidade
da central telefônica)isto é equivalente à disponibilidade
e Posições de memória ; é oportunoembrar
que esta não é a única ma-heira
de se fazer isto e, certamen-e> em muitos casos, também não é
a ftiais apropriada, devendo ser en-
parada como ilustração para finsdidáticos.
Novamente, usando o relógio e as
Rotinas, estes eventos demorarão o
empo necessário às conversações
'cuja distribuição, a sua média, oSeu desvio-padrão etc, estes sim,Podem ser diretamente medidos,a^é
para cobrar as contas...) e de-s°cuparão
a central à medida queeste tempo se escoa.
, Então, é simples questão de re-
pstro obter o tamanho médio e o
empo médio de espera na fila e,
conseqüentemente, os dados neces-
®arios ao dimensionamento; vejam
ern que este experimento pode ser
rePetido milhões de vezes na má-
'luina (acelerando proporcional-
*hente o tempo, isto é, não se trata
e tempo real), obtendo-se estatís-lcasprecisas,
que levariam (se pu-essem
ser colhidas...) anos para
serem levantadas.
— Finalmente, o último caso é
quando não se consegue resolver
matematicamente um problema já
formulado (tecnicamente, é dito
que não se consegue solução analí-
tica).
Isto é muito comum em modelos
que envolvem distribuições de pro-
babilidade que se combinam de for-
ma desconhecida.
A solução via simulação é basea-
da na capacidade do computador
de resolver, em instantes, milhões
de operações, e consiste em combi-
nar as referidas distribuições de to-
das as maneiras possíveis (ou de in-
teresse), calcular os resultados
ponto a ponto e produzir uma cur-
va que o represente; depois, é só
aproximar esta curva por uma fun-
ção conhecida.
Um exemplo interessante, e mui-
to comum em teoria de busca, é
quando se tem mais que um Da-
tum, todos obtidos por sensores di-
ferentes; o problema de determi-
nar o Datum resultante, centro de
busca, quase sempre cai neste tipo
de simulação.
Esperamos que esta pequena e
forçosamente simplista digressão
tenha contribuído para o entendi-
mento do assunto.
Dois comentários devem ser fei-
tos para completá-la: primeiro,
que, com o aprimoramento dos
computadores e o enorme esforço
de pesquisa que vem sendo posto na
cadeira de simulação de sistemas,
é quase certo que este possa ser um
dos principais instrumentos do mé-
todo científico nos anos vindouros;
segundo, que, já atualmente, é de se
esperar que pelo menos 85% dos
problemas de tática devam ser si-
mulados, antes de se prosseguir, e
que os restantes 15% também de-
vem, por via das dúvidas! Isto
76
aponta na direção da essencialida-
de de dominar esta técnica e de pos-
suir os recursos para exercitá-la.
Voltando ao fio principal, vamos
dar dois exemplos de problemas tá-
ticos tratados, com sucesso, por si-
mulação.
Primeiro, retornando à busca
que usamos antes, vamos imaginar
que, ao invés da posição do alvo,
dentro da subárea, ser completa-
mente desconhecida (ou, em jar-
gão mais técnico, uniformemente
distribuída), nós tivéssemos um
Datum.
Ter um Datum significa, do pon-
to de vista estatístico, que temos
um ponto, a partir do qual a proba-
bilidade da presença do alvo vai di-
minuindo em todas as direções; se
o erro do instrumento for muito pe-
queno, ela diminui muito depressa
(no limite, se o erro for nulo, o Da-
tum é a posição do alvo e, portanto,
fora dele a probabilidade é zero);
se o erro for grande, a probabilida-
de diminui devagar.
Se a probabilidade diminui igual-
mente em todas as direções, teria-
mos uma figura como a figura 7, on-
de os círculos concêntricos ilus-
tram o problema da probabilidade
acumulada; por exemplo, no caso
A, um instrumento de erro conside-
rável, os círculos indicam 40% e
75%, respectivamente, o que signi-
fica que estas são as probabilidades
do alvo estar presente nas áreas
que eles encerram; no caso B, os
círculos, á mesma distância, já en-
cerram muito mais probabilidade,
ou seja, 80% e 99%, respectivamen-
te, tratando-se então de instrumen-
to mais preciso.
É possível provar que, sob certas
circunstâncias, cuja discussão não
caberia no escopo deste trabalho, o
percurso ótimo do sensor, ou seja,
aquele que maximiza a probabili-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dade de detecção ao fim de certo
tempo, é uma espiral!
Ora, nenhuma embarcação e ne-
nhuma aeronave vai descrever
uma espiral.
Por outro lado, como encontrar
um outro percurso que possa ser
descrito por uma plataforma e que
se afaste o mínimo possível do ní-
vel de probabilidade da espiral im-
possível? Ainda, que relação guar-
daria este percusso com o da espi-
ral em termos de, por exemplo, pro-
habilidade após certo tempo? Ou
seja, se com a espiral é possível
atingir 99% em 5 minutos, quantos
minutos são necessários para se
chegar ao mesmo valor com o no-
vo percurso?
w Uma resposta a estas perguntas
é o conhecido plano de quadrados
crescentes, fruto da simulação de
um problema analiticamente sem
solução.
Outro exemplo, seria o caso,
também já exaustivamente estuda-
do, do duelo helicóptero versus sub-
marino.
Este problema pode ser modela-
do como um jogo (teoria dos jgos
e/ou jogos diferenciais), como uma
primeira aproximação, uma mol-
dura para o assunto.
Entretanto, dentro do modelo, é
impossível prever e lidar com todas
as ações e reações dos dois coman-
dantes.
A solução é montar um jogo táti-
co, contendo um cubículo para o he-
licóptro e outro para o submarino,
ligados ao computador pelos res-
pectivos controladores e ao mode-
lo por um grupo de análise; o mo-
delo é assim completado e táticas
adequadas produzidas.
Nesta altura da descrição da eta-
pa de modelagem, esperamos ter
comunicado aos eventuais leitores
a complexidade do problema e a de-
desenvolvimento de tática 77
\\
/
Nx 75% \99%
\ / ' ~ -
/ \ \
/ D ATUM \ i , DATUM \ ^
|
I. 40% \ '80°/o I• \
\ V
'
\ /
Pendência do domínio de teoriasbásicas
da Pesquisa Operacional~e bancos de dados e de capacida-
e de simulação.
Há, entretanto, um último, masuidamental
fator, que é a equipe.
Uma equipe de modelagem deveSer composta
por oficiais operati-
^0S e por pessoal, civil e militar, de
esquisa Operacional (podem ser
Matemáticos, engenheiros, físicos,
; a mistura de formação básica® de fato desejável, mas devem to-
°s ter pós-graduação em Pesqui-
Operacional, voltada para pro-lernas
navais).
Os primeiros devem ser em pe-
'lueno número, os segundos, não;
Urna razão honesta seria de um pa-ra dez.
Os oficiais operativos podem ser
gerentes de projetos ou consulto-res:
de qualquer forma, devem serrGcérn-chegados
das hdes do mar e,n° caso dos gerentes, para lá devemv°ltar
ao fim de dois ou três anos,eriquanto
os consultores apenasc°mparecem
aos projetos eventual-rrierite,
quando necessário.
O pessoal de Pesquisa Operacio-nal tem
que ter alta permanência.Posto
que o assunto requer muito
. 7
tempo para aprender direito; sal-
vo algumas exceções de civis mais
antigos que se destacaram, o pes-
soai militar de Pesquisa Operacio-
nal fará a orientação técnica dos
projetos.
E importante que os operativos
ensinem algo de operações aos ana-
listas e que aprendam deles, tam-
bém, algo de Pesquisa Operacio-
nal; isto é vital para a comunicação
entre as duas peças essenciais da
equipe e para agilizar os serviços
(coleta de dados, realização de ex-
perimentos etc) a serem conduzi-
dos no mar.
Validação
A etapa seguinte à modelagem é
a validação dos modelos.
Para deixar claro o que se enten-
de por validação, devemos recordar
que quando expusemos o conceito
de modelo dissemos que uma par-
te ponderável, mas supostamente
irrelevante da realidade, é abando-
nada durante o processo de mode-
lagem.
Ora, os critérios de relevância
nem sempre são perfeitos e existe
sempre a possibilidade de que algo
78 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
de importante não figure no modelo.
A única maneira de verificar é o
confronto com o mundo real. A es-
te confronto é dado o nome de vali-
dação do modelo.
E preciso notar que validação de
modelos não é exclusiva dos estu-
dos de tática; de fatos, ela é corri-
queira em todas as atividades téc-
nicas e científicas.
Todavia, no caso particular da
tática, a validação completa só po-
de ser feita mediante o exame de
dados observados em um grande
número de operações e, principal-
mente, durante as guerras.
Ora, o levantamento destes da-
dos só se faz em longo tempo, e as
guerras são pouco freqüentes.
Então, necessariamente, a vali-
dação completa de modelos táticos
será um processo lento.
As modificações no equipamen-
to militar e as variações de postu-
ra estratégica, as grandes respon-
sáveis pela demanda de tática no-
vas, são, contudo, muito rápidas.
Para permitir que o adestramen-
to e outras atividades de tempo de
paz possam ser tempestivamente
exercidas, o que se faz é limitar a
validação a experimentos controla-
dos (ou semicontrolados), e, uma
vez corrigidos os modelos, promul-
gar as táticas, que passam a ficar
sob constante análise de operações
(a última etapa do processo), da
qual resultarão recomendações
que aprimorarão ainda mais os mo-
delos; trata-se, portanto, de um
processo interativo e evolutivo.
Conceituada desta forma, pode-
mos, a seguir, descrever a valida-
ção.
Ela consta de duas atividades:
— Primeiro, avaliação operacio-
nal (ou, talvez, para evitar confu-
são com a outra, experimentos ope-
racionais), que consta de uma sé-
rie de experimentos rigidamente
controlados, escritos à luz da técni-
ca estatística denominada desenho
estatístico de experimentos e que
se destina a testar se as respostas
obtidas através da manipulação do
modelo são semelhantes às obser-
vadas na realidade; em linguagem
técnica, se diz medir a aderência de
modelo à realidade.
Por exemplo, se uma cobertura
deve, de acordo com o modelo do
qual resultou, prover uma probabi-
lidade de deteção de x%, contra um
submarino, sob certas circunstân-
cias, a avaliação operacional (ou o
experimento operacional) seria
montada para testar se isto de fato
ocorre.
Evidentemente, uma discrepân-
cia notável levará ao reexame do
modelo e, muitas vezes, a análise do
experimento fornecerá pistas para
descobrir o que há de errado.
— Segundo, Free Play (ou Pro-
blemas de Batalha), que são expe-
rimentos sem controle rígidos, com
finalidade semelhante à avaliação
no que concerne à aderência do mo-
delo, mas que são capazes de levar
em conta a influência de decisões,
engenhosidade e outros fatores hu-
manos no problema.
Os Free Play são mais difíceis,
do ponto de vista estatístico, de
montar, de registrar e de analisar
resultados do que a avaliação; por
outro lado, propiciam muito mais
insight quando se trata de molelos
complexos.
Estas duas técnicas não são ex-
cludentes, faz-se uma, outra, ou
ambas, dependendo do caso.
É possível um número razoável
de interações entre modelagem e
validação, até que se considere os
resultados obtidos como satisfató-
rios; quando; finalmente, istoocor-
re, então se passa para a fase se-
¦DESENVOLVIMENTO DE TÁTICA 79
guinte, que é a implementação.
Implementação
A implementação consiste na in-c°rporação do procedimento táticol^cém-desenvolvido à doutrina dafarinha, e na produção e edição deinstruções, tabelas, gráficos, tem-Plates, programas de computadoretc, para todos os níveis de usuáriosda MB.
A implementação requer, basi-camente, um grande esforço de do-cumentação, inclusive atualização,em vários níveis.É interessante notar que nestaíase há um problema interessante,e sério, que é preservar o sigüo, sem
Prejudicar a divulgação necessá-
E claro que, em tática, o sigilo,além das implicações usuais, é es-Pecialmente importante porque,em muitos casos, revelar o nossoProcedimento pode anular a suapicácia; por outro lado, a comple-a surpresa tática, muitas vezes,ampüficai em várias ordens de
£randeza, a eficácia esperada.Mas também é claro que a divul-
&aÇão de assuntos táticos é indis-Pensável para fins de endoutrina-rtlento, instrução, análise, adestra-mento e mesmo desenvolvimentosPosteriores.
Estudos sobre a organização e°Peraçõés da fase de implementa-Cao, concialiando estes requisitosconflitantes, constituem um desfioa° talento de nossos oficiais.
Análise das Operações
A última etapa do desenvolvi-mento é a análise das operações.Esta é uma atividade exercidaem tempo de paz e em tempo de
^erra e que se destina a prover
uma validação contínua dos proce-dimentos táticos em vigor.
Quando tratamos da modela-gem, dissemos que o banco de da-dos sobre desempenho de sistemasdeve ser permanentemente alimen-tado pela coleta contínua que podeser feita durante os exercícios e asoperações navais; este é, também,o caso da análise de operações, coma diferença que, ao invés de obterdados referentes a desempenho desistemas (precisão de armas, tem-po de respostas, largura de varre-dura de sensores etc), ela se propõea medir a eficácia de procedimen-tos táticos e a fornecer subsídiospara aprimorá-los.
Em tempo de guerra, esta ativi-dade se reveste de importância ex-cepcional, não só porque este é oteste definitivo para os modelos,mas também porque o inimigousualmente muda as suas táticas eaparece com novos equipamentosvisando às vantagens da surpresa.
A literatura está repleta deexemplos de análise de operaçõesde guerra e conseqüentes variaçõestáticas.
A figura 8, copiada da referência[8], que é um dos maiores clássicosno assunto, exibe o efeito de medi-das e contramedidas, resultantesda instalação de novos sensores ede variação de procedimentos; adescrição pormenorizada de algu-mas análises efetuadas pelo ladoaliado, e que conduziram a provi-dências na área do material e naárea das operações, resultando emgrandes sucessos táticos, está nocapítulo 3 da referência menciona-da e é digna de estudo detalhado.
A equipe necessária à análise deoperações é oriunda da equipe demodelagem e deve trabalhar emestreito contato com os estados-maiores operativos.
80 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
TAXA DE VARREDURA OPERACIONAL
(EFICÁCIA DE VARREDURA)
£ 2 8 ° 00000 00
^1 —r—¦—p
VV00 N0TURN0 C/RADAR DE BANDA L
2 \
^
~
RECEPTOR DE BANgP^L INST. NO SUBMARINO
^ _ RADA??"De^B4NDA-S NOS AVIOES
- 0 "SUBMARINOS
TENTAM MdfJtER-SE SUBMERSOS
t 0 0MA«^P0SSIVEL
w f -
w .RECEPTOR^ DE BANDA-S INSTALADOS NOS
SUBMARINOS
1 c_ ii^l L_i I 11I
-P* (Ji
TAXA DE VARREDURA EM HEMIBELS
(ESCALA LOGARÍTMICA)
Para encerrar esta seção, exibi-
mos a figura 9, que sumariza tudo
o que foi dito.
É interessante notar que a ava-
liação das operações pode produzir
recomendações em todos os níveis;
de fato, é possível determinar in-
correções na formulação operativa
— por exemplo, uma mudança ra-
. 8
dical nos procedimentos do inimi'
go. Na modelagem, e mesmo na iro-
plementação, podemos estar dei-
xando de levar algo de relevante errt
conta, como no caso de um proce-
dimento mal documentado que in-
duzisse um usuário a erro.
Finalizando, é importante con-
signar que o processo foi extrema-
desenvolvimento de tática 81
PORWILACAO „* OPERATIVA *
• TAREFA Ao AMEA£A Io CENARIO J
SIMULACAO *—l sss;
o MODELAGEMMATEMATICA
0 ANALISE DOMODELO
? BANCO DE
<^EXEQOfvBL^> ¦ N.
f o MODELO \( o PROCEDIMENTOS I
TATICOS J
FREE PLAY(PROBLEMASDE
BATALHA)
AVALIAÇÃOOPERACIONAL(EXPERIMENTOSOPERACIONAIS)
IMPLEMENTAÇÃO
o APROVAÇÃOo DOUTRINAo EDIÇÃO DE PRO-
CEDIMENTOS
INFORMAÇÕES
AVALIAÇÃOOPERACIONAL
*
USONAS *ȣ*<>OPERATES OPERATES
(g)
J^ente simplificado em benefício da
lmitação de espaços; não se trata,
Portanto, de trabalho com preten-
s°es didáticas.
conclusões
Antes de enunciar e comentar al-s^mas ilações que podemos fazer
respeito do acima exposto, é pre-
1So fazer uma ressalva, destinada
Posicionar corretamente este ar-tigo.
. 9
Os conceitos aqui emitidos não
necessariamente correspondem ao
pensamento da Marinha ou fazem
parte de sua doutrina; são, geral-
mente, apenas frutos da experiên-
cia do autor, de seus estudos sobre
o assunto e de compilações sobre o
que foi possível saber de outras Ma-
rinhas.
Por outro lado, sendo o assunto
relativamente novo entre nós, não
tem este ensaio qualquer veleidade
de esgotá-lo e, muito menos, de pre-
PORKP 1LACAO * OPERATIVA
• TaREFAo AMEACA Io CENARIO y/
SIMJLACAO *—l sss;
'ESS15S AVAUA^Oo ANALISE DO OPERACIONAL
MODELO BANCO DE10008 DADOS
I— INFORMACdES<^EXfcyC)fvKL^> n N.
f o MODELO \( o PROCEDIMENTOS IV TATICOS J
AVALIACAO FREE PLAYSSXSZSm. validacAo <—(EXPERIMENTOS RAXAI HA|OPERACIONA IS) BATALHA)
5—<<al^>—a.
IMPLEMENT ACAO
o APROVACAOf o DOUTRINA *I o EDKJAO DE PRO- IX. CEDIMENTOS /
*
USONAS AN*aLJSEoperaqOes OPERATES
^^RECT)MENDA^E^^^
82 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
cisão metodológica; se for útil pa-ra informar aqueles que nunca li-daram com isto, e se servir comoplataforma sobre a qual se possaassentar o debate sobre o tema, en-tão o propósito para o qual foi escri-to terá sido plenamente atingido.
A primeira conclusão diz respei-to à complexidade da administra-ção do problema. Como vimos, odesenvolvimento de tática envolve,em vários níveis, diversos setoresda Marinha e, sem dúvida, é umcomplexo problema de organizaçãoe de administração que tem que serbem resolvido, sob pena de inutili-zar toda a possível competênciacientífica da equipe de PesquisaOperacional e todo o esforço do se-tor operativo; além disto, um sim-pies exame do fluxograma com queencerramos a seção anterior mos-tra que se trata de atividade extre-mamente dispendiosa: pagar ana-listas, manter computadores, ope-rar centro de jogos, realizar avalia-ção e experimentos operacionais,com a despesa que isto significa,navios, submarinos, aeronaves, ins-trumentos de medida etc, apenaspara citar alguns dos itens que en-tram na composição do custo deuma simples página de uma publi-cação tática.
Sendo o tema relativamente re-cente, estudos sobre a organizaçãodo esforço e a condução dos traba-lhos podem vir a fornecer subsídiospreciosos para o aprimoramento deuma atividade tão necessária e, in-clusive, para otimizar a alocaçãodos vultosos recursos necessários.
A segunda conclusão é concer-nente ao relacionamento com a na-cionalização de meios.
Como ficou claro ao longo do ar-tigo, as táticas, de modo geral, de-vem ser produzidas pela própriaMarinha, tendo em vista seus
meios, suas missões, suas ameaçase seus cenários.
A nacionalização, ainda que nãoimplicasse em degradação de de-sempenho, exigiria novas táticas,para os novos meios.
Entretanto, sabemos que nemsempre é possível produzir equipa-mentos e sistemas, no País, com asmesmas características dos impor-tados.
Então, é necessário variar as tá-ticas, de modo a manter ou, quemsabe, em alguns casos, aumentar aeficácia.
É oportuno lembrar (ver refe-rència [07]) que não é incomumque da análise tática surjam reco-mendações sobre equipamentos aserem produzidos ou linhas de pes-quisa na área do material.
A terceira conclusão se prendeao íntimo relacionamento que deveexistir entre o setor operativo e aprodução ou o aprimoramento detáticas.
De fato, o banco de dados depen-de inteiramente deste relaciona-mento, não só por causa da avalia-ção operacional, mas também porcausa da coleta permanente quedeve ser feita no mar durante osexercícios.
Como dissemos antes, ao fim daavaliação operacional, estão osanalistas em condições de produziros formulários necessários à cole-ta, formulários estes que devem,periodicamente, voltar preenchi-dos ao Centro de Análises, para re-dução, análise estatística e introdu-ção no banco de dados; embora es-te seja um trabalho bastante espe-cializado, na area de Pesquisa Ope-racional e de Estatística, devemosnotar que depende absolutamenteda qualidade das anotações nos for-mulários e, portanto, do entusiasmoe da compreensão do pessoal de
Desenvolvimento de tática 83
bordo.
Finalmente, os experimentos
Operacionais e os problemas de ba-
j^-lha e análise das operações, indis-
Pensáveis para a validação dos mo-
el°s, são obras conjuntas de ope-
ativos e de analistas.
Tudo isto indica que é preciso in-
^ementar, o máximo possível, es-
e Racionamento, e, a nosso ver, is-só é viável pela ampliação do co-
[^cimento por parte de uns, dasvidades
dos outros e por uma or-
jpnização ágil que permita o entro-
,amento, o intercâmbio e os enten-lrnentos
horizontais.A
quarta e última conclusão écerca
da equipe de modelagem,uvidade
que, como vimos, é cen-ral a todo o esforço.
A modelagem tática é feita porProfissionais,
analistas de opera-
s navais (é como se usa designa-
0s). cuja formação, como vimos
fites, pode e deve ser variada em
juvel de graduação, mas que, man-
^toriamente, devem ter extensão
/°u pós-graduação em Pesquisa
Peracional aplicada a assuntosmUitares.
Esta formação não é fácil de en-°ntrar
na praça, de vez que as nos-as universidades, ao contrário do
çjUe ocorre em outros países, não le-
onam> em seus cursos (je Mate-
"^ática Avançada ou Pesquisa Ope-
acional, assuntos militares.
^
^or outro lado, pessoas com es-a habilitação são extremamente
/'"içadas pela indústria de arma-ento,
por razões óbvias, e pelas
^Presas em geral, uma vez que o
lsticado treinamento em análi-
e e modelagem militar os tornamPtos a dominar os problemas mais
simples que o nosso estágio de de-
senvolvimento requer.
Ainda é preciso lembrar que a
atividade dos analistas não é con-
finada a seus escritórios. Como vi-
mos, devem trabalhar e se entender
com os operativos, e lidar com ma-
terial e publicações de elevado grau
de sigilo.
Tudo isto posto, e acrescentando
que nesta atividade a prática é vi-
tal, vemos que a Marinha se defron-
ta com o problema de formar equi-
pes, de retê-las e de integrá-las ao
convívio naval.
Não é um problema fácil, e é
mais um que se constituirá em de-
safio à nossa competência.
A Marinha do Brasil já deu pas-
sos importantes no sentido de de-
senvolver táticas adequadas aos
nossos usuários e meios, conforme
preconizado nete artigo; aliás, já
realizamos alguns trabalhos desta
natureza, embora estejamos longe
de atingir o nível que se faz neces-
sário. A instituição naval responsá-
vel por essa atribuição é o Centro
de Análises de Sistemas Navais
(CAfíNAV), ao qual cabe também a
avaliação da eficácia e, quando é o
caso, até mesmo a análise capaz de
orientar ajustagens ou correções
dos sistemas e meios navais, aqui
incluído o próprio programa de pre-
paro da Marinha (avaliação e aná-
lise essas que se valem de técnicas
similares às usadas para o desen-
volvimento tático), além de outros
trabalhos especiais.1 Para que o
CASNAV e seus problemas, sobre-
tudo o do seu pessoal, sejam correta-
mente compreendidos, é preciso
enfocar a instuitição tendo por pa-
râmetro essas atribuições com
(1) Do telefonema do Braga em 14.1030/2/86.
84 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Finalizando este ensaio, espero
ter contribuído para o entendimen-
to do assunto, devendo reconhecer
que levantei mais problemas do que
suas peculiaridades. resolvi e expressei mais dúvidas do
que certezas.
Mas a dúvida é o início do conhe-
cimento.
BIBLIOGRAFIA
1. BRAGA, M.J.F. Análise de sistemas e decisões militares. Rio de Janeiro, CASNAV, 1982-
29 p.
2. BRAGA, M.J.F. Avaliação operacional de sistemas. Rio de Janeiro, CASNAV, 1982, 25 p-
3. BRAGA, M.J.F. An introduction toSearch Theory. Monterey, Naval Postgraduate School.
1974, 117 p.
4. BRAGA, M.J.F. Sobre o conceito de sistemas. Rio de Janeiro, CASNAV, 1982, 37 p.
5. BRICK, E.S. Veste e avaliação de sistemas navais. Conceituação e metodologia. Revista
Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 100 (7/9), jul./set. 1980. P. 95-106.
6. COUTINHO, L. Sobre a Teoria do Combate de Lanchester. Niterói, UFF, 1982. 63 p.
7. JONES, R.V. Most secret war. London, Hodder and Stoughton, 1983. 702 P.
8. KOOPMAN, B.O. Search and screening. New York. Pergamon Press, 1980. 369 p.
9. MORSE, PM. & K3MBALL, G.E. Methodosof operationsreserch. Cambridge, MIT Press.
1950. 158 p.
10. PEREIRA, M.C.R. Análise operacional militar. Revista Marítima Brasileira, 101(10/12)-
53/62, out./dez. 1981.
11. STONE, L.D. Theory of optimal search. New York, Academic Press, 1975. 260 p.
12. TAYLOR, J.G. Lanchester models of warfece. Arligton, ORSA, 1983, 2 v.
13. UNITED STATES NAVAL ACADEMY, Annapolis. Naval operations Analysis. 2 ed. Anna-
lopis, 1979, 372 p.
14. WASHBURN. A.R. Search and detection. Arlington, ORSA, 1981. 1 v.
CASTEX
Hervé Coutau-Bégarie
WW** ^P ^'u
JTradução do
Capitáo-de-Mar-e-GuerraLUCIANO ALENCAR DE CAMPOS
X* alecido em Villeneuve-de-Rivie-re, no dia 10 de janeiro de 1968, o Al-mirante Castex continua ainda co-nhecido nos meios navais, mas suasTeorias estratégicas não são maislidas e nem reeditadas.há mais de50 anos. Juntamente com Guilbert,Lomini e Von Der Goltz, ele está nocírculo dos estrategistas que sãocélebres, ainda citados em deter-minadas oportunidades, mas cujopensamento não é verdadeiramen-te estudado.
Esta negligência é lamentável,pois a obra de Castex representa,não só pela sua amplitude comotambém pela sua originalidade, omáximo do pensamento estratégi-co naval, em contrapartida a Ma-han, que escreveu no fim do séculoXIX e que é sobretudo um mau teó-rico.
°ta do Tradutor — O presente artigo foi traduzido da Revista ColsBlens, semanário da Ma-"Ula francesa, de 7/9/85. A reprodução dos artigos nela contidos é permitida, desde que se
mei-cione a origem.
86 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Castex retirou ensinamentos da
Primeira Guerra e, até certo pon-
to, da Segunda Guerra Mundial.
Se retirarmos alguns assuntos já
ultrapassados dos seis volumes
(um deles póstumo) das Teorias,
encontraremos pensamentos que
podem ainda ajudar a compreen-
são de estratégia e de geopolítica
marítima na era nuclear.
Nascido a 27 de outubro de 1878
em Saint-Omer (Pas-de-Calais),
Raoul Victor Patrice Castex entrou,
como primeiro colocado, na Esco-
la Naval, em 1896, e saiu como pri-
meiro aluno, dois anos mais tarde.
Após diversas comissões embar-
cado no Mediterrâneo, ele foi desig-
nado, em 1900, para a Indochina.
Permaneceu naquele país, com in-
terrupções, até 1904 e trouxe consi-
go, em sua bagagem literária, três
livros de sua autoria: Les rivages
indochinois (As costas indochine-
sas), 1904, que se constitui em um
estudo dos pontos e do tráfego ma-
rítimo da Indochina; Le péril ja-
ponais en Indochine (O perigo japo-
nês na Indochina), 1904, que iden-
tifica o Japão como adversário da
França, no Extremo Oriente, e Jau-
nes contre blancs (Amarelos contra
brancos), 1905, que aborda o proble-
ma de defesa da Indochina após a
Guerra Russo-Japonesa. Em seu
primeiro livro, nós encontramos a
visão da história que perseguiu
Castex durante toda a sua vida, a
investida permanente do mundo
amarelo contra o mundo branco.
Retornando à França, ele ocupou
diversos postos em terra, dentre os
quais oficial-de-gabinete do minis-
tro, e, embarcado, tais como instru-
tor da Escola de Práticos e coman-
dante da Escola de Máquinas a Va-
por. Ao mesmo tempo, após haver
proposto uma reforma do comando
no livro Grande Estado-Maior Na-
vai (1909), ele se consagrou aos tra-
balhos históricos, que firmaram
sua reputação.
Sucederam-se Les idées militai-
res de la Marine au XVIIIeme siè-
cie, (1911) Uenvers de la guerre de
course (1912) (O inverno da guerra
de corso, sobre o comboio de San-
to Eustáquio para Lamotte-Picquet,
em 1913), La manoeuvre de la pra-
yaeLa bataille de Lepante (1914)-
Historiador consciencioso, cujos
livros são ainda hoje lidos, CasteX,
não é, entretanto, um erudito, mas
o que interessa, porém, são seus en-
sinamentos estratégicos, dos quais
podemos muito colher de história-
Ele se situa na linha dos Coman-
dantes Darrieus e Daveluy, figuras
de proa da Escola Histórica, que
triunfou sobre a Jovem Escola e
restaurou a primazia da destruição
da frota inimiga por meio da bata-
lha.
Mas esse triunfo continua limita-
do à estratégia. Na tática, a Esco-
la do Canhão, toda poderosa, após
a Batalha de Tsoushima, só consi-
dera combate em linha se for rea-
lizado por meio de grossa artilha-
ria. Justo retorno das coisas ao seu
lugar, após os excessos da Jovem
Escola. O torpedo foi deixado de la-
do.
Foi por reagir contra este novo
estado de espírito, que considerou
funesto para com a Jovem Escola,
que Castex iniciou a escrever L&
liaison des armes surmer, obra que
transporta para a tática os princí-
pios de manobra e traz de volta aS
armas abandonadas pela Escola
Histórica, para utilizar na estraté-
gia. Devido à declaração de guer-
ra, este livro ficou inacabado e iné-
dito.
Após a guerra de 1914 e 1918, ho-
norável e nada mais, em que aS
oportunidades de se estabelecei
J
castex87
Castex, ao centro, a bordo do Iphlgénie em 24 de Junho de 1899.
Qualquer distinção eram antes de
U(*° difíceis para um marinheiron° Mediterrâneo, Catex torna-se oPrimeiro chefe do Serviço de Docu-tentação
da Marinha, novamenteCriado.
Ao mesmo tempo, inaugu-
na Escola de. Guerra Naval o
?^rso de Estado-Maior e o Curso detática
Naval, para as outras For-
Ças.
A substância de seus ensinamen-tos foi reforçada na sua obra Ques-i°n de État-Major (dois volumes,
V*23-1924) e em Synthese de laGuerra
sous-marine (1928). Este úl-irno livro ocasionou um incidente
na conferência sobre o desarma-
^nto naval de Washington, em
^921-1922. A delegação britânica
aPoiou-se na obra de Castex crendo
^ssim obter a aprovação dos proce-
^mentos alemães, para fazer com
c'Ue a delegação francesa aceitas-
Se as limitações do emprego do sub-farino.
De fato, a primeira inter-
pretação baseou-se em uma defor-
mação, sem dúvida voluntária, do
texto de Castex, mas a França não
aceitou as limitações propostas,
mesmo com o furor de Castex, que
professou a mais viva desconfian-
ça com relação a conferências so-
bre desarmamento.
Após um comando no Mediterrâ-
neo, no Cruzador Jean Bart, e uma
passagem no Estado-Maior como
chefe do Terceiro Bureau, em 1926
— passagem breve, porque ele não
suportou as indecisões do chefe do
Estado-Maior-Geral, o Vice-Almi-
rante Salaun —, Castex tornou-
-se, em 1928, com 50 anos, o mais jo-
vem contra-almirante da Marinha
francesa.
Ele comandou em Marselha, du-
rante cinco meses, depois assumiu
a 1? Chefia do Estado-Maior-Geral,
substituindo o Almirante Violette,
em março de 1929. Naquela época,
começou a publicar cinco volumes
88
das Teorias estratégicas, que lhe
deram renome universal.
Nas 3.000 páginas, Castex reuniu
todos os princípios da estratégia
marítima. Mas, bastante curiosa-
mente, esta obra imensa, e reco-
nhecida por todos, não é totalmen-
te compreendida. Ali o leitor dese-
ja ver um prolongamento das teses
de Mahan sobre a superioridade do
mar sobre a terra e a necessidade
de obter o domínio do mar por meio
de uma batalha decisiva, mas, na
realidade, o pensamento de Castex,
que evoluiu fortemente em relação
aos seus escritos anteriores, apare-
ce muito mais complexo. O Castex
das Teorias ultrapassa as oposições
tradicionais entre a Escola Histó-
rica e a Escola Material, entre a
terra e o mar, e substitui tudo isso
por uma teoria sintética.
Em estratégia, ele lança uma
crítica ao dogma da batalha: as ba-
talhas devisivas são raras na His-
tória e elas não são sempre neces-
sárias para atingir o objetivo fixa-
do; por outro lado, o aparecimento
do submarino e do avião fez com
que elas não fossem suficientes pa-
ra resolver o problema das comuni-
cações. Castex estabeleceu, assim,
uma distinção entre dois tipos de
guerra: as guerras entre forças or-
ganizadas que procuram aniquilar
o adversário em uma batalha deci-
siva e a guerra das comunicações,
que visa obter a extenuação do ini-
migo pelo bloqueio.
Isso pode ser praticado por for-
ças de superfície (quando se possui
o domínio do mar) ou por forças
submarinas (quando se é o mais
fraco). Por exemplo, a Alemanha,
nas duas guerras mundiais.
Esta distinção foi imaginada in-
dependente de Castex pelo ameri-
cano Bernard Brodie, que formu-
lou, em primeiro lugar, a distinção,
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
tornada clássica hoje em dia, entre
sea-control e sea-denial.
Em geopolítica, Castex alia-se a
Mahan, que afirma a superiorida-
de da terra sobre o mar, para pro-
por uma visão complexa da dispu-
ta terra-mar.
Rejeitando o determinismo de
seus ilustres predecessores, ele mos-
tra que a saída desses dualismos
varia segundos os casos: do mar,
nada pode fazer contra uma potên-
cia continental como a Rússia, e,
em sentido inverso, no mar tudo se
decide contra uma potência marí-
tima, como a Grã-Bretanha ou o Ja-
pão. A maioria das vezes, nós nos
encontramos em uma situação in-
termediária, de um país que depen-
de ora da terra, ora do mar.
Um bloqueio marítimo pode pro-
duzir efeitos, mas eles não são de-
cisivos, a não ser o final de um tem-
po geralmente longo: o bloqueio
não impediu a Alemanha de resis-
tir quatro anos, de 1914 até 1918.
Após 1945, Castex pôs a termo as
suas teses, formulando no 6? volu-
me de suas Teorias uma concepção
de potência anfíbia: uma potência
marítima deve poder projetar uma
capacidade terrestre, enquanto que
uma potência terrestre deve dis-
por de uma capacidade marítima.
Dito de outra maneira, a vitória
irá para aquele que, tendo o contro-
le de seu elemento, será capaz de
enfrentar a potência adversária no
seu próprio elemento. "A
Alemanha
teria vencido a Inglaterra, se tives-
se ganho a Batalha do Atlântico."
Os aliados, donos dos mares, não
teriam reconquistado a Europa, se-
não pagando o preço de desembar-
ques gigantescos.
Castex expôs o fruto de suas re-
flexões aos estagiários da Escola
de Guerra Naval e do Centro de Al-
tos Estudos Navais, que ele coman-
imm '•' -^^k
MM*. *^_m-*J^jM.
O Vice-Almirante Castex,prefeito marítimo da 2?
Região (1936).<j°u por duas vezes, de 1932 a 1934 e^ 1938 e 1939. De 1936 a 1939, foi oPrimeiro e único diretor do Colégiofle Altos Estudos de Defesa Nacio-^ai, criado por Edouard Daladier.antecessor do Instituto de Altos Es-tudos da Defesa Nacional, criadoem I945t aquele Colégio teve por fi-nalidade iniciar os oficiais das trêsarmas e altos funcionários na rea-tidade global da Defesa Nacional.
A guerra veio muito cedo paraÇue a instituição tivesse tempo detestar suas idéias.Vice-Almirante em junho de1934, prefeito marítimo e coman-
^ante-em-chefe, em Brest, em ou-tubro de 1935, Castex poderia ter su-Cedido ao Almirante Durand-Vielc°mo chefe do Estado-Maior-Ge-al, mas o Almirante Darlan o pre-teriu.
. Almirante e membro do Conse-r»o Superior da Marinha em mar-Ço de i937t Castex tornou-se inspe-°r-geral das Forças Marítimas,
m agosto seguinte. Por ocasião daaeclaração de guerra, ele assumiuComando das Forças Marítimas
jÇ Norte, com quartel-general emDünquerque.Já em setembro de 1939, ele viu
paramente a fraqueza do disposi-rvo terrestre e preconizou a trans-°rmação de Dunquerque em umampo protegido capaz de resistir,111 caso de penetração alemã.
Suas advertências, julgadas pes-miistas, tiveram um único resuJ-
89
tado: sua passagem para a reser-va antecipada, em 24 de novembrode 1939. As razões de saúde apre-sentadas oficialmente foram ape-nas um pretexto.
Retirado para sua casa, em Vil-leneuve-de-Rivieu, o AlmiranteCastex assistiu, com tristeza e có-lera, à realização de seus prognós-ticos, em maio de 1940.
Desaprovou o armistício e man-teve uma atitude reservada a res-peito de Vichy. Da mesma manei-ra, condenou os excessos da depu-ração realizada após-guerra.
A partir de 1945, passou a colabo-rar na Revista de Defesa Nacionale publicou numerosos artigos, quese transformaram no já citado 6?volume das Teorias.
Pronunciou seguidamente confe-rèncias no Instituto de Altos Estu-dos de Defesa Nacional e na Esco-la de Guerra das Forças Armadas.
Diminuindo progressivamentetodas as atividades, a partir do fimdos anos 50, ele mostrou uma com-pleta lucidez, até a sua morte, oeor-rida em Villeneuve-de-Rivieu, quan-do estava com 80 anos, em 10 de ja-neiro de 1968.
Nenhum navio portou seu nomena popa e suas obras hoje não sãoencontradas em livrarias. Não sepode, senão, lamentar esta indife-rença, uma vez que sua influênciaresta viva na América Latina e queo estudo de seus temas figura ain-da no currículo das Escolas deGuerra Naval de vários países. É dese desejar que uma reedição desuas Teorias, aumentada de deta-lhes inéditos, que foram recente-mente encontrados em seus papéis,possa vir à luz.
A França não possui tanta estra-tégia a ponto de se permitir conti-nuar a ignorar o maior estrategis-ta dentre os estrategistas.
niiTlCAqestiwégia
revista trimestral de política internacional e assuntos militares
A GEOPOLÍTICA DA ERA NUCLEARColin S. Gray
O CONGRESSO E A POLÍTICA EXTERNACid Sampaio
Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba
AS RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL — ÁFRICAJacques dAdesky
A GUERRA NAS ESTRELASCarlos de Meira Mattos
A PENETRAÇÃO SOVIÉTICA NO ORIENTE MÉDIOJorge Zaverucha
DIMENSÕES AMERICANAS DA ANTÁRTICAChristian G. Caubet
40 ANOS DE YALTAAdolpho Justo Bezerra de Menezes
PENSAMENTO ORIGINAL: ELEMENTO DE SOBREVIVÊNCIAPARA O PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO
Lauro Ney Menezes
Assinatura anual: Cz$ 65,00Número avulso (Vol. III, n° 4): Cz$ 20,00NomeRuaCidade Estado CErZZ"\ZZ"".'.'.'.'.Fone Anexo cheque no valor deCz$ do Banco , n°
em nome doCENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS
Alameda Eduardo Prado, 705 - 01218 - São Paulo - SP
uma política de
Mobilização para a marinha
FRED HENRIQUE SCHMIDT
DE ANDRADE
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN)
(Continuação do número anterior)
(Parte final)
A MOBILIZAÇÃO DE MEIOS
MERCANTES - ALGUNS
ASPECTOS
A mobilização de meios mercan-
tes para o Poder Naval depende de
dois aspectos conflitantes:10
Marinhas de Guerra custam
muito caro; logo, por mais bem di-
mensionado e rico que seja o Poder
Naval, seus meios deverão ser insu-
ficientes para o cumprimento de to-
das as missões e tarefas decorren-
tes do confronto armado; e
não é lícito raciocinar que a
maioria dos meios adicionais ne-
cessários ao Poder Naval sejam
providos através da Mobilização da
Marinha Mercante, porquanto,
mais do que nunca, ela estará tam-
bém engajada em um sem-número
de atividades essenciais à vida na-
cional.
10. Entrevista com o Capitão-de-Mar-e-Guerra Milton Ferreira Tito, chefe da Divisãoe Assuntos de Mobilização da Escola Superior de Guerra.
92
A solução para o problema con-
siste na busca da harmonização, ou
seja, mobilizar-se-á apenas parte
dos meios mercantes. Isso será pos-
slvel através de adequados estudos
econômicos, técnicos, legais e logís-
ticos, elaborados com base nos di-
tames das Estratégias Nacional,
Militar e Naval, para o confronto
específico e nas operações de guer-
ra naval, delas decorrentes.
Mensionaremos os principais as-
pectos a considerar nesses estudos.
a. Aspectos técnicos
O desenvolvimento dos transpor-
tes intermodais, o aparecimento
dos containers ou contentores" fez
surgir no campo marítimo navios
de diversos tipos, como os porta-
contentores, os LASH e os Roll-
On/Roll Off ou, simplesmente, RO-
RO. O que interessa é que a combi-
nação desses meios possibilitou a
racionalização do manuseio de pra-
ticamente todos os tipos de carga,
inclusive as de grandes portes e di-
mensões.
Os contentores têm um sem-nú-
mero de aplicações, entre elas a de
possibilitar a entrega de grandes
quantidades de suprimentos balan-
ceados, em um único bloco, facili-
tando o abastecimento.
Percebendo toda a potencialida-
de dos contentores e demais técni-
cas mercantes, a Marinha dos EUA
iniciou, em 1975, juntamente com a
Maritime Administration, um pro-
grama conjunto de pesquisa, obje-
tivando o aumento da capacidade
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
operacional dos mercantes, a fim
de suplementar as necessidades
navais em caso de confrontos mili-
tares. Esse programa busca desen-
volver projetos capazes de possibi-
litar a rápida transformação dos
mercantes, adequando-os ao em-
prego militar. Nesse sentido, estão
sendo desenvolvidos vários equipa-
mentos, dentre eles:
elevadores desmontáveis,
apropriados ao manuseio da carga
em geral;pontões desmontáveis, fixados
em uma extremidade, dispondo de
um tipo de pau-de-carga capaz de
facilitar as monobras de passagem
da mesma, em alto-mar;
contentores modulados, espe-
cialmente projetados, uns para alo-
jar pessoal, outros para funcionar
como cozinhas, outros, ainda, como
oficinas de manutenções diversas12;
finalmente, aparecem os contento-
res capazes de abrigar helicópteros
e talvez aeronaves de decolagem
vertical AV-8/A e B Harrier, como
se fossem hangares. Por sobre o
conjunto de contentores, fixados ao
convés principal, é colocado um
convés de vôo, desmontável, equi-
pado com sky-jump. Por ante-a-ré
da superestrutura são instalados os
módulos de combustível. Esse pro-
jeto, intitulado Araphao, não apre-
senta, para sua consecução, neces-
sidades de "rompimento
de barrei-
ras tecnológicas", o que significa
custos relativamente baixos. Se-
gundo a Marine Corps Gazette, de
maio de 1982, eles são estimados em
11. O verbete contentor não consta do Novo Dicionário de Aurélio B. F. de Holanda. No
entanto, ele já é bastante difundido, razão pela qual o usaremos neste texto, daqui para dian-
te, grafado sem aspas.
12. Inclusive de eletrônica e aviônica.
UMA POLÍTICA DE MOBILIZAÇÃO... 93
menos de 20 milhões de dólares.Usando-os, pode ser possível trans-formar, em 24 horas, certos mer-cantes em miniporta-helicópteros,capazes de fechar, ao menos par-cialmente, as grandes lacunas deaPoio aéreo nas diversas operaçõeslavais em que o helicóptero se pro-ve imprescindível. Acredita-se que0 Araphao também possa operaraeronaves V/STOL. Também a^eal Marinha enveredou por cami-^os semelhantes, que foram rela-Üvamente testados na companhadas Malvinas. Relativamente, por-ÇUe a Armada argentina não fezsentir sua presença no conflito, oÇüe conferiu aos ingleses o contro-*e da área marítima de operações.
Os navios de menor porte, taiscomo traineiras, pesqueiros etc po-dem ser empregados em algumastarefas específicas de apoio e mes-mo em operações especiais, nasquais a exploração do Princípio daSurpresa e/ou a não-convencionali-dade sejam importantes. É sabido,Por exemplo, que a URSS empregasua imensa frota pesqueira e auxi-Üar em inúmeras tarefas paramili-tares.
Já de modo peculiar, os diversosupos de supply boats empregadosno apoio às plataformas marítimasde petróleo podem vir a ter valorem alguns tipos de operações deMinagem. Como as operações decontraminagem exigem navios es-Pecializados, de baixa assinaturaMagnética, os supply boats não'êm, nesse caso, aplicação. Para as°Perações de minagem, os seguin-tes requisitos se fazem necessáriosa° manuseio seguro das minas e
sua correta semeadura, que ossupply boats deveriam possuir:
boa estabilidade de platafor-ma;
boa capacidade de manobra;equipamentos para navega-
ção precisa;área livre no convés para ins-
talação dos dispositivos de lança-mento; e
borda livre baixa, facilitandoo arremesso das minas.
b. Aspectos logísticosEm decorrência das HG admiti-
das, uma simples olhada às áreasde operações onde possivelmente aMB venha a se engajar mostra que,em sua grande maioria, elas estãobem distantes dos centros produto-res do País. Isso exigirá muita ên-fase sobre a Função Logística Trans-porte, não dizendo respeito apenasà própria Marinha, eis que as For-ças Terrestres e Aéreas tambémdemandarão grande apoio para odeslocamento de suprimentos eequipamentos de toda ordem. Nocaso do Exército, há ainda que con-siderar a possibilidade de transpor-te de grandes efetivos de tropas.
A experiência adquirida pelaMarinha, ao longo de uma vasta sé-rie de operações anfíbias, demons-tra que os navios a empregar notransporte de cargas militares de-vem satisfazer a determinados re-quisitos:13
velocidade e raio de ação com-patíveis com os meios navais;
dimensões adequadas das es-cotilhas, permitindo a passagem deviaturas e equipamentos de gran-des dimensões;
13. Na verdade, esses requisitos, essencialmente técnicos, deveriam ter sido apresen-^dos na parte imediatamente anterior. Entretanto, para facilidade de compreensão, e porestarem diretamente ligados ao problema do transporte, fazemo-lo sob o rótulo dos AspectosloSísticos.
94
— aparelhos de manobra de pe-
so com capacidade média de 301 e,
pelo menos, uma lança para carga
entre 60-80 t, esta última servindo
aos maiores porões. Os aparelhos
devem possibilitar as manobras de
peso dos tipos double boom, swin-
ging boom e yard and stayu.
— guinchos e cabrestantes elétri-
cos, pois aqueles acionados a vapor
dão trancos à carga, podendo
prejudicá-la, além de aumentar a
possibilidade de acidentes em ho-
ras críticas.
Evidencia-se que os LASH e RO-
RO dispensam os requisitos acima,
devido às suas características
específicas.
Quanto às tropas, o navio de pas-
sageiros representa a solução ideal
para o transporte, desde que possua
compartimentos e porões para a es-
tiva dos equipamentos e suprimen-
tos que, forçosamente, a acompa-
nharão no embarque e travessia. Se
raciocinarmos em operações de as-
salto anfíbio, o problema é mais cri-
tico, porquanto o carregamento de
combate, diferentemente do admi-
nistrativo, exige maiores espaços
para a estiva seletiva.
Dimensionar exatamente a
quantidade de navios mercantes
por tipos necessários ao desempe-
nho da Função Transporte depen-
derá do problema específico, cuja
resolução não cabe aqui. No entan-
to, para fazê-lo, basta usar o acer-
vo de informações de que dispõe a
Marinha, assim como os dados ta-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
bulados pelo Exército e Aeronáu-
tica.
Para o combustível, a Frota Na-
cional de Petroleiros (FRONAPE)
dispõe de uma grande quantidade
de navios adequados, e seu empre-
go, em operações de transporte mi-
litar, do ponto de vista técnico, exi-
ge algumas alterações, facilmente
promovíveis, exceto para reabaste-
cimento no mar. A facilidade de
adaptações será maior se o proje-
to visar as alterações desde a cons-
trução do navio.
c. Aspectos econômicos
A idéia de utilização dos navios
mercantes e embarcações tem duas
facetas distintas: a introdução de
modificações em unidades já pron-
tas, ou a intervenção em projetos a
construir. Nesse último caso, apa-
recem duas variantes: unidades
concebidas sob o ponto de vista es-
tritamente comercial, cujo projeto
é alterado; ou unidades a construir
com evidente interesse militar, po-
rém de fácil exploração comercial-
Em ambas as facetas, os seguin-
tes problemas devem ser cuidado-
samente enfocados:
o custo das obras, seja de in-
trodução das alterações nas unida-
des prontas, seja naquelas cujo pro-
jeto é alterado antes da constru-
Ção;lucros cessantes durante a du-
ração da obra em navios prontos:
eles podem ser minimizados se a
obra for realizada quando o navio
parar para outros reparos progra-
mados pelo armador;
14. Tanto quanto se saiba, essas manobras não são feitas na MB, devido ao arranjo ge-rai da mastreação e disposição dos aparelhos de manobra de peso. A manobra corriqueira
mais comum nos Navios-Transporte da MB é o tíra-víra, algo semelhante ao yard and stay'¦
As manobras referidas são comuns na Marinha dos EUA e reduzem substancialmente os tempos
de carga e descarga dos porões. Esta informação foi obtida em coletânea do Curso de Em-
barque e Carregamento para Oficiais do CFN no CIAdestCFN.
UMA política de mobilização.. 95
, — lucros cessantes conseqüentes
as alterações (tanto nos navios
Prontos como naqueles a cons-
fruir), tais como: aumento no con-
Su®o de combustível em função do
ai,mento de peso, possíveis dimi-
•ttuições da capacidade de carga
etc.
Em aditamento, há de ser consi-clerado
que, no futuro, o armador
P°derá ser impedido de vender seu
jjavio no mercado estrangeiro, ca-
"endo, então, a justa compensação
P°r parte do Estado.
Finalmente, não menos impor-tante,
é muito possível que o navio
^Unca venha a ser mobilizado em
°da a sua vida útil. Então, esse é
risco financeiro a assumir peloEstado.
Mencionamos, sob o rótulo dosAspectos
logísticos, as possíveis ne-Cessidades
de transporte de pes-s°al,
implicando mobilizar navios
Passageiros. No entanto, no Bra-SÜ, tais navios foram vendidos por-lUe as linhas eram pouco rentáveise>
presentemente, as atividades
^rcantes brasileiras estão con-
^entradas no transporte de carga.
a Determinação de Necessida-Qes revelar ser imprescindível aexistência
de navios de passagei-^s, a solução mais lógica, conside-rando
a rentabilidade do armador,®stá
em subsidiá-la. Essa políticae subsídios
já tem lugar junto à
fiação comercial, ocorrendo to-
aas as vezes em que as conveniên-cias
nacionais indiquem ser preci-s° manter linhas deficitárias. Por
JlUe não adotar algo símile, em re-
aÇâo aos navios de passageiros?
Aspectos legais
A Mobilização de navios mercan-es e embarcações é facilitada pe-o Regulamento Para o Tráfego Ma-
timo, que dispõe:
"Art. 166 — A embarcação
construída no País ou encomen-
dada no estrangeiro, para pessoa
física ou jurídica de nacionalida-
de brasileira, está sujeita ao
atendimento de requisitos ou ca-
racterísticas que a tornem pos-
sível de operar como navio-auxi-
liar da Marinha.
Parágrafo único. Os custos pa-
ra o acréscimo desses requisitos
ou características serão atendi-
dos pelo Governo Federal."
Um outro aspecto assume rele-
vância em todo o problema: o da
formulação da Política Marítima
Nacional. O exame do Decreto-Lei
n? 200 mostra que:
"Art. 54 - (...)
§ 1? Cabe ao Ministério da
Marinha:
- (...)
II - (...)
III — estudar e propor dire-
trizes para a política Maríti-
ma Nacional."
(...)
§ 2? Ao Ministério da Mari-
nha competem as seguintes
atribuições subsidiárias:
I — orientar e controlar a
Marinha Mercante nacional
e demais atividades correia-
tas, no que interessa à segu-
rança nacional e prover a se-
gurança da navegação, seja
ela marítima, fluvial ou la-
custre." (Sic, nossos os gri-
fos.)
Destarte, a lei atribui ao Minis-
tério da Marinha o estudo de pro-
postas e diretrizes para a Política
Marítima Nacional, na qual, sem
dúvida, se insere o problema da
Mobilização da Marinha Mercante.
Além disso, o mesmo artigo, no pa-
96
rágrafo imediato, reforça essa
idéia, ao mencionar, claramente, a
Segurança Nacional.
No entanto, o mesmo decreto-
lei atribui autoridade, no setor de
transportes, ao Ministério dos
Transportes. A ele subordinado, en-
contramos a Superintendência Na-
cional de Marinha Mercante (SU-
NAMAM) que planeja, coordena e
executa a Política Brasileira de
Marinha Mercante. Para isso, a SU-
NAMAM dispõe de recursos, advin-
dos de um adicional sobre o frete
cobrado no transporte de mercado-
rias, a saber, o Fundo de Marinha
Mercante.15 Esse fundo é gerencia-
do por aquele órgão, que funciona
como um banco de fomento para a
indústria de construção naval.
Depreende-se que o verdadeiro exe-
cutor financeiro está subordinado
a outro Ministério, embora caiba, à
Marinha, a orientação e controle
da Política Marítima Nacional, es-
pecialmente nas atividades ligadas
à segurança.
Finalmente, mencione-se outra
interferência, dizendo, diretamen-
te, ã Mobilização do Poder Maríti-
mo, qual seja, a do Ministério do
Trabalho, quando trata das ativida-
des dos imensos contingentes hu-
manos, de todas as categorias, liga-
dos ao Poder Marítimo.
Essa infinidade de ingerências,
tal pluralidade de centros decisó-
rios, traz, em si, um enorme risco:
o do não-entendimento da Política
de Mobilização do Poder Marítimo
(de responsabilidade do MM), liga-
da que está à Política Nacional de
Marinha Mercante, ambas no con-
texto da Política maior, a Marítima
Nacional. Quer parecer, portanto,
que todos aqueles aspectos perti-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
nentes à Mobilização, no âmbito da
Marinha, podem estar sujeitos a in-
terpretações diferentes (e corres-
pondentes ações) capazes de preju-
dicar o Poder Naval quando for ne-
cessário empregá-lo violentamen-
te.
Faz-se mister, pois, um trabalho
pertinaz de explicação do papel do
Poder Naval, suas possibilidades,
limitações, seus problemas em ca-
so de irrupção do confronto e da ir*1'
portância da Mobilização do Poder
Marítimo. O propósito de tal traba-
lho será reduzir as limitações, me-
lhorar as possibilidades e ajudar a
resolver problemas que, afinal, in*
teressam a todos.
CATALOGAÇÃO E
LINGUAJAR TÉCNICO
Afirmou-se que a Mobilização
está intimamente ligada à Logísti-
ca, a ela subordinada, porquanto
ela nada mais seria do que ufl1
agente catalisador e acelerador
das Fases Básicas da Obtenção e da
Distribuição; que a Determinação
de Necessidades é feita considerai1'
do as HG específicas; que é neces-
sário dispor de informações técn1'
cas, nelas incluídos os Coeficientes
de Mortalidade; que a Obtenção e
a Distribuição geram os estoques
de paz e de guerra.
Por conseguinte, o planej amei1'
to logístico e o da Mobilização de-
pendem do correto manuseio de m1'
lhares e milhares de dados, IncW'
sive aqueles referentes ao controle
dos estoques. Logo, para fazer boa
logística e mobilizar corretamente
é necessário, antes de tudo, arrolai"
e catalogar. Este não é, porém, ui*1
trabalho simples, bastando meO'
15. Consta haver projeto de alterações legais a esse respeito
UMa política de mobilização. 97
Clonar, à guisa de exemplo, o fato de
Urn sistema de mísseis navais terCerca
de 200 mil componentes.
Acreditamos que as demais For-
Ças Armadas tenham problemas^ênticos. Considerando que, embo-ra os sistemas de armas sejam di-ferentes,
haverá, sem dúvida, com-
P°nentes idênticos, depreende-se,
Por lógico, que os bancos poderão,
Muitas vezes, servir a mais de uma°u a todas as Forças Armadas. Is-s° obriga à existência de uma úni-
Ça linguagem pertinente, tanto aos
\tens de aplicação comum comoa(lueles
peculiares.A linguagem única para os itens
na° tem, como poderia parecer àPrimeira vista, a preocupação de
Padronizar palavras, mas sim a de
Criar códigos alfanuméricos, nos
^Uais as letras e algarismos ex-Passem, exatamente, a natureza,dimensões,
destino, enfim, todas asesPecificações
de cada item. NãoSe está dizendo que o coturno seja
^krigatoriamente assim denomina-
°' a.o invés de botina ou borzeguim,^as
que um grupo de letras e alga-rismos
signifique calçado; outro,especifique
suas características;°utro,
ainda, que é um item de^aior
uso no âmbito do Exército,^as não dele privativo, e assimP°r diante. Logo, se, eventualmen-e' marinheiros dele procisarem,
saberão como obtê-lo, distribuí-lo e,
principalmente, quanto tempo du-
rará sob tais e quais condições de
uso. Esse tipo de trabalho, de imen-
so valor para a Logística e Mobili-
zação, já vem sendo feito, devendo
ser ampliado e consolidado.
Ampliar e consolidar o banco de
dados de uso comum é tarefa do
EMFA.
É um trabalho que exige boa von-
tade, dedicação, ausência de pre-
conceitos por parte de todos, assim
como a percepção nítida de que ca-
da caso será um caso e que, em ca-
da um deles, os interesses especí-
ficos da Marinha, Exército e Aero-
náutica precisam ser respeitados.
É fundamental perceber que a ge-neralização será deletéria.
No Brasil, o problema da catalo-
gação é ainda mais sério, devido a
um deficiente Sistema de Metrolo-
gia, Certificação e Normalização
de Qualidade, uma das Atividades
Técnico-Científicas Complementa-
res; agravam-na a diversidade da
tecnologia importada pela indús-
tria no decorrer de anos; adite-se
que as próprias Forças Armadas
importam meios de fontes diversas,
com padrões de medidas e especi-
ficações particulares.
Faz-se mister, então, considera-
das as deficiências, conjugar esfor-
ços nesse compo, visando à criação
dos bancos de dados, a partir daqui-
lo já existente.
bibliografia
'' ALBUQUERQUE, Djalma da Costa. A Mobilização Nacional e a Marinha Mercante. Prin-cipais providências de caráter político, econômico e técnico, visando à mobilização denavios mercantes em operações militares — TE-82. Trabalho Especial 1982. Tema n?15. Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas (CEMCFA). Escola Supe-rior de Guerra. Rio de Janeiro, RJ., 1982. 35p.
ANDRADE, Fred Henrique Schmidt de. Marinha, Estratégia, Ciência e Tecnologia. Re-vista Marítima Brasileira. 4? trimestre de 1981 até o 4? trimestre de 1982.
Mobilização Militar — Alguns aspectos de seu planejamento LS25-82. Escola Su-
perior de Guerra. 1982, 15p.
98 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
4. . Preparo da Mobilização Militar — Alguns Aspectos de seus planejamento. LS27-82.
Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro, 1982, 36p.
5. BRASIL. Estado-Maior das Forças Armadas. Escola Superior de Guerra. Manual Básico
1983. Rio de Janeiro, 1983
6. . Ministério da Marinha. Estado-Maior da Armada. EMA-400 — Manual de LO-
gistica Naval e Mobilização Marítima. RESERVADO Brasilia, DF., 1981.
7. CAMINHA, João Carlos Gonçalves. Delineamentos da Estratégia. Serviço de Documen-
taçâo Geral da Marinha. Rio de Janeiro, 1980.
8. CARROL, J. Kent. Sealift...The Achilles Heel of American Mobility. Defense 1982. Agosto
de 1982. p.9.
9. Dangers in the Big Buildup — Reagan's $ 1.6 trillion defense program creates unforeseen
problems. Time. New York, n? 12, março de 1982. p.38.
10. DYER, George C. Naval Logistics. United States Naval Institute, Anápolis, MD. 1960. 351P-
11. FLORES, Mario Cezar & VIDIGAL, Armando Amorim Ferreira. Desenvolvimento doP0'
der Naval brasileiro — Tópicos para debate. CONFIDENCIAL, s.ed.s.d.
12. SHAKER, Steven M.. Araphao: putting more Aviation afloat. Marine Corps Gazette. Ma10
1982. p.47.
13. VIDIGAL, Armando Amorim Ferreira. A evolução do pensamento estratégico naval b&'
sileiro. Abril 1982. 130p.
14. . Projeto de Nacionalização para o Setor Militar Naval. s. ed. 1981. 127p.
15. UNITED STATES OF AMERICA. Industrial College for the Armed forces. ConpendiW11
on Mobilization Legislation. Compiled by Colonel Stanley J. Glod. USAR Military F®
culty August. 1981
ENTREVISTAS
1. BÜRGER, Sérgio Luiz. Brigadeiro-do-Ar. À época da entrevista, AssiS'
tente do Ministério da Aeronáutica na Escola Superior de Guerra'
Atualmente, Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoi°
(COMGAP).
2. FREITAS, Antônio Munos de. Tenente-Coronel Aviador, ex-Instrutor d»
Escola Naval.
3. MOTA, Hamilton. Coronel Aviador. Membro do Corpo Permanefl'
te da Escola Superior de Guerra, Adjunto da Divisão de Assuntos M1'
litares. Relator do tema "Defesa
civil" no ano de 1982.
4. MOTTA, Fernando Luiz Verçosa Seroa da. Brigadeiro-do-Ar. Vice-P1"®"
sidente da Empresa de Infraestrutura Aeroportuária — INFRAEB^
uma política de mobilização. 99
5. NOVAIS, Mário Solé. Capitão-de-Fragata. Membro do Corpo Permanen-
te da Escola Superior de Guerra. Pós-graduação em Emgenharia de
Sistemas pela UFRJ. Mestrado em Engenharia Industrial pela PUC-
RJ. Adjunto da Divisão de Assuntos Tecnológicos da ESG e responsá-
vel, naquele estabelecimento, pelos jogos de guerra. Um dos princi-
pais introdutores dos modelos matemáticos de Logística e Mobiliza-
ção nos jogos de guerra da ESG.
6- PINHEIRO, Luiz Felipe. Brigadeiro-do-Ar. Atual Assistente do Minis-
tério da Aeronáutica para a Escola Superior de Guerra.
7- TITO, Milton Ferreira. Capitão-de-Mar-e-Guerra. Atual chefe da Divi-
são de Assuntos de Mobilização da Escola Superior de Guerra. Exer-
ceu, até bem pouco, o cargo de Capitáo-dos-Portos do Estado do Rio
de Janeiro, por um período de dois anos. Também foi encarregado da
Seção de Apoio de Material do Comando de Operações Navais e Ad-
junto da Subchefia de Mobilização do EMFA.
CAPÍTULO III - CONCLUSÃO
Novas roupagens para
velhos conceitos
^ive o mundo sob o risco e temor
holocausto nuclear.
A cada dia que passa, somam-se
aos arsenais das superpotências ar-
^as mais poderosas, precisas, rá-
Pidas e custosas.
Como ninguém pode saber, com
certeza, quais seriam os resultados
um confronto nuclear, a dissua-
são tornou-se parte fundamental no
^acionamento entre os EUA e a
URSS. Objetivando-a, diversos Es-
tados também conseguiram entrar
na posse das armas nucleares e ou-
fros segui-los-ão inexoravelmente.
Daí que, por paradoxal que pare-
?a, as máquinas militares das par-tes
maiores, antagônicas e irrecon-
ciliáveis, são continuamente aper-
feiçoadas numa tentativa de jamais
®erem empregadas. No entanto, a
lfonia de todo o processo, a trágico-
^édia da espécie humana, está em
elas poderão ser usadas, até
P°r acidente, levando a escaladas
^controláveis, que todos receiam.
Afinal, é a sobrevivência da espé-
cie que está em jogo, no jogo mun-
dial do poder.
O receio leva as partes maiores
a intervir, freqüentemente, nas de-
savenças das partes menores, sa-
crificando, se preciso for, até mes-
mo os interesses vitais dessas últi-
mas. Conseqüentemente, os mais
fracos buscam a solução de suas
querelas, agindo com rapidez, pro-
curando auferir o máximo de van-
tagens, antes da intervenção das
partes maiores.
Agravando o problema, a proli-
feração das armas não se restrin-
ge às nucleares. Os elevados custos
das demais, todas sofisticadas, exi-
gem maior produção, único modo
de barateá-las. Essa produção é co-
locada em todos os continentes. Ex-
pande-se o mercado, aumentam as
probabilidades de confrontos ar-
mados. Para evitá-los, todos procu-
ram, a seu modo e nível, dissuadir.
É a disssuasão não-nuclear.
100 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Aditem-se ao fenômeno a GRCformidável e excelente processo,concebido para servir aos desígniosexpansionistas da URSS. Ele é len-to e insidioso, podendo porém pas-sar à rapidez, sempre que possívele recomendável.à rapidez, sempre que possível e re-comendável.
Têm lugar, então, demoradosconfrontos políticos, intervaladospor outros armados, os quais ir-rompem inopinadamente. É o jogointernacional do poder, cujas re-gras não podem ser desprezadaspor nenhum Estado moderno.
A guerra é, hodiernamente, umalonga série de demorados confron-tos políticos, intervalados por ou-tros armados, tendendo à duraçãocada vez menor.
Concomitantemente, o homemvai dobrando seus conhecimentos, aperíodos cada vez mais curtos. Is-so ocorre em todos os seus camposde atividades. Aplica o que descobre,também às armas, e, no processode aperfeiçoá-las, adquire novos co-nhecimentos, gerando um círculovicioso.
Criadas estão as condições paraa emergência de seis fatores:
as próprias armas nucleares,com seus inauditos efeitos destru-tivos;
a liberdade de ação políticana arena internacional, conferidapela posse de armas próprias;
o peso da tecnologia bélica,extremamente onerosa, mesmo pa-ra as partes maiores;
a difusão restrita do conheci-mento tecnológico militar e abun-dante das armas sofisticadas, úni-co modo de reduzir custos;
a redução dos prazos de mobi-lização, hoje tendentes a Zero; e
a demanda por pessoal alta-mente qualificado, cuja prepara-
ção é sempre mais prolongada,onerosa e difícil.
Outrora, para chegar ao confron-to armado, os Estados desencadea-vam todo um ritual prévio. Dele, osaspectos mais importantes eram,via de regra, em seqüência crono-lógica, a troca de notas de protes-to, a retirada de pessoal diplomáti-co, a decretação da Mobilização,culminando, afinal, com a declara-ção formal de guerra.
A decretação da Mobilização vi-sava transformar e preparar a es-trutura de paz para o confronto dasarmas; além do mais, servia comoum alerta adicional ao provável ini-migo, funcionando até como dissua-sor último.
Hoje em dia, as declarações sãoarcaicas e a Mobilização traja rou-pagens diferentes. Não há maisprazos, nem se pretende alertar aninguém. O choque ocorre repenti-namente, o agressor explorando, aomáximo, os princípios da Surpresae do Objetivo. Procura-se desferirgolpes violentos e decisivos. Alémdo mais, o alcance, precisão e leta-lidade das armas possibilitam gol-pear o potencial da Nação, de mo-do muito mais cabal e completo doque no passado, dificultando, terri-velmente, a Mobilização.
Vencerá aquele que estiver pron-to. Aquele que possuir forças miÜ'tares versáteis, flexíveis e velozes,apoiadas por um complexo logísti-co em pleno funcionamento. Fun-cionar plenamente siginifica sercapaz de produzir e distribuir, atempo e hora, itens críticos dos su-primentos, rapidamente exauri-veis, nos modernos campos de ba-talha.
Mobilizar significa moderna-mente:
— considerando a ameaça nu-clear, planejar previamente, visaO'
ÜMa política de mobilização. 101
do à minimização de danos e à re-
cuperação e readaptação do Poder
Nacional, após os ataques;
buscar a dissuasão através da
Posse de máquina militar podero-sa e eficiente, sua credibilidade de
emprego conferida pela capacida-
de de produzir as próprias armas.
Esses são, por conseguinte, os as-
Pectos fundamentais de qualquerPolítica de Mobilização. Ela tem
início com a nacionalização do ar-
^lamento. Para tanto, é mister pia-nejar adquadamente o Preparo da
Mobilização, único processo de pos-sibilítar sua racional Execução.
AS FACETAS INDISPENSÁVEIS
A UMA POLÍTICA
DE MOBILIZAÇÃO
O tema desta monografia diz res-
Peito a uma Política de Mobilização
Para a Marinha.
Política é uma palavra que ad-
fiiíte várias interpretações. Dentre
elas, devem ser citadas:1
o sistema de regras respeitan-
tes à direção dos negócios públicos;o conjunto de objetivos que en-
f°cam determinado programa de
aÇão governamental, condicionan-
do a sua execução;
o princípio doutrinário que ca-
racteriza a estrutura constitucional
do Estado;
a habilidade no trato das rela-
Ções humanas, com vista à obten-
Ção dos resultados desejados.
Evidencia-se que qualquer Poli-tica de Mobilização para a Marinhaenquadrar-se-á em todas as inter-
Pretações acima. São as suas Face-tas Indispensáveis, porque:
a Mobilização obriga-se a res-
Peitar as regras de direção dos ne-
gócios públicos. Aliás, ela é, em si
mesma, um negócio público;
para mobilizar, faz-se mister
conceber uma série extremamen-
te variada de objetivos a alcançar
mercê de programas governamen-
tais; ao mesmo tempo, é preciso
continuar outros programas já em
andamento, cada um deles com
seus próprios objetivos;
ela deve obedecer aos precei-
tos da participação e representati-
vidade, respeitando a estrutura
constitucional do Estado brasileiro,
que professa a ideologia democrá-
tica;
finalmente, para ter sucesso,
ela dependerá de um adequado re-
lacionamento com o homem brasi-
leiro, sua psique, natureza e índole.
A POLÍTICA E AS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
DECORRENTES
Estabelecidas as Facetas Indis-
pensáveis da Política de Mobiliza-
ção para a Marinha, ela pode ser
formulada nos seguintes termos:
Considerando a globalidade e
unicidade Poder Nacional, assim
como as características, possibi-
lidades e limitações do Poder
Marítimo e do Poder Naval e ba-
seado nas Hipóteses de Guerra,
planejar e, em seguida, estabe-
lecer o Preparo da Mobilização
no âmbito do Ministério da Ma-
rinha, a fim de promover, quan-
do necessário, a sua rápida Exe-
cução
Em função das Facetas Indis-
pensáveis, a Política de Mobiliza-
ção para a Marinha demandará, ao
1. In: Novo Dicionário Aurélio, p. 1.109
102 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ser implementada, um sem-núme-ro de ações específicas. Tais açõesespraiam-se por todas as Expres-soes do Poder Nacional e, por serele uno e indivisível, muitas vezesdirão respeito a mais de uma delas,concomitantemente.
Essas ações devem ainda consi-derar os fatores que emergem doquadro do confronto militar hodier-no. Elas exigirão, quando do plane-jamento e execução, que a Marinhapreste a necessária assessoria aosescalões superiores e apresente-lhes as necessidades que deverãoser atendidas, a fim de efetivamen-te implementar o planejado. O pia-nejamento e a implementação sãodemorados, cobrindo vários anos, enão devem sofrer solução de conti-nuidade.
Assim, passaremos a relacionaras principais ações e, para ordenaro processo, fá-lo-emos por Expres-soes do Poder Nacional.
a. Ações na Expressão Política
Desenvolver um trabalhopertinaz de conscientizaçáo de to-dos os grupos sociais, inclusiveaqueles de oposição, porquanto de-les emergirão, inquestionavelmen-te, os líderes políticos com capaci-dade para tomar ou influir no pro-cesso de tomada de decisões.2 Ofulcro do trabalho está em mostrarque um resultado negativo, no con-fronto militar, poderá comprome-ter até mesmo a sobrevivência dasinstituições políticas. Seu ponto departida é o esclarecimento dos gru-pos sociais que constituem a Nação.Seguem-se, junto ao eleitorado, aspesquisas de opinião a respeito domodus faciendi da Mobilização,
levando-se os resultados aos poli ti;cos. É demorada, não se obtendoresultados de imediato. Sua com-plexidade e subjetividade exigemespecialistas de alto gabarito. Porenvolver todas as Forças Armadas,transcende a esfera da Marinha,devendo ser coordenada peloEMFA.
Entre outras, cabem as seguin-tes medidas específicas:
(1) De caráter geralinduzir, junto ao Congres-
so Nacional, convocações de auto-ridades e especialistas navais, aosquais caberá retratar, com fran-queza, os problemas da MB;
mostrar que a liberdadede ação política, na arena intercio-nal, é inestimável e que, quando dasdecisões pertinentes a determina-dos tipos de armamento, a relaçãocusto-benefício não pode ser consi-derada apenas do ponto de vista fl-nanceiro;
promover, em conjuntocom as demais Forças Armadas, f*elaboração de leis especiais perti-nentes à reciclagem e convocaçã0das Reservas.
(2) De caráter peculiarno Congresso Nacional e
demais órgãos da AdministraçãoFederal, com especial atenção pa-ra os Ministérios dos Transportes eTrabalho, desenvolver um trabalh0de conscientização sobre a impoi"'tância do Poder Marítimo com°provedor de meios adicionais, par*satisfação das necessidades do Po-der Naval, em caso de confronto ar-mado.
As seguintes medidas específl'cas são aplicáveis:
— análise cuidadosa dos proble'mas referentes aos custos e lucros
2. Esse trabalho avulta de importância na atual conjuntura nacional, a chamada Aber-tura, meta política básica do Presidente Figueiredo
Uma política de mobilização. 103
cessantes decorrentes das altera-
Ções a introduzir nos navios e em-
Marcações mercantes;
análise de relação custo-
benefício, não apenas em termos fi-
ttanceiros, mas também conside-
rando a Segurança Nacional e o pa-
Pel desempenhado pelo Estado, em
todo o processo, como provedor de
subsídios;
busca do máximo entrosa-
"ttento entre a Política Nacional de
farinha Mercante e a Política Ma-
rttima Brasileira, esta de nível su-
Perior àquela;
fomentar a ampliação da As-
sociação Nacional de Amigos da
farinha prestigiando-a, como já
Vem sendo feito; em aditamento,
respeitadas as necessidades de si-
Silo, apresentar-lhe as posibilida-des, limitações e problemas da MB.
Nessa medida peculiar, desempe-
nham papel extremamente rele-
vante todas as organizações da Ma-
rinha, cujos comandantes, direto-
res, etc. devem ser previamente en-
doutrinados e orientados.
b. Ações na Expressão Psicosso-
ciai
(1) Na prática, todas as ações,
a seguir enumeradas, bem como as
fedidas específicas, têm também
aplicação junto à Expressão Poli-
tica. Reciprocamente, aquelas re-
comendadas para a Expressão Po-
Utica são inteiramente aplicáveis à
Expressão Psicossocial.
(2) Isto posto, os mais amplos
segmentos da Nação deverão ser
conscientizados, em trabalho pia-Pejado e executado por especialis-
*as gabaritados, para, entre outros,
reconhecer a importância:
da vastidão da frontei-
ra marítima brasileira;
do papel do Poder Na-
vai como guardião dessa fronteira,
da qual poderão e deverão vir as
maiores ameaças à Segurança Na-
cional. Faz-se mister que a Nação
perceba que o mar não é um imen-
so santuário, mas sim que ele é ex-
piorado, intensivamente, com fins
belicistas;
dos recursos do mar e o
papel do Poder Naval em sua pro-
teção;
do valor do Poder Ma-
rítimo, como fator essencial ao pro-
gresso e desenvolvimento nacio-
nais.
(3) Cabem as seguintes medi-
das específicas, com especial ênfa-
se para aqueles grupos sociais, di-
reta ou indiretamente, ligados às
atividades do Poder Marítimo:
condução, a intervalos
determinados, de campanhas de
esclarecimento e pesquisas de opi-
nião, estas últimas medindo os sen-
timentos da população para com a
Marinha e o Poder Marítimo; as
pesquisas também servirão para
aferição de resultados, provendo o
necessário feedback;
— aproveitamento racional
dos meios de comunicação de mas-
sas;
promoções sociais, lite-
rárias, desportivas, etc., dirigidas
ao maior número possível de cias-
ses e faixas etárias, versando sobre
assuntos marítimos e navais;
promoções do tipo "Ve-
ja como a sua Marinha emprega o
dinheiro dos impostos que Você pa-
ga", e outras semelhantes;
oferecimento de vagas
em cursos, especialmente para pes-
soai de projeção nos diversos seto-
res da vida nacional. Atenção espe-
ciai deve ser dirigida aos oficiais da
Marinha Mercante e diplomatas, o
que, aliás, já vem sendo feito.
104 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
c. Ações na Expressão Econômica
O empresário, grande, médio
ou pequeno, é peça fundamental na
nacionalização do armamento. De-
les, os dois últimos são extrema-
mente relevantes para a produção
bélica, como fornecedores de toda
a sorte de componentes para a
grande indústria. Embora o empre-
sário possa ser motivado por inú-
meros fatores, o mais tangível é im-
portante é o lucro. A produção em
escala amplia as possibilidades de
lucro. Quando não houver lucro e a
Segurança Nacional exigir, cabe ao
Estado subsidiar o empresário. Em
adição, o refinamento tecnológico
extremo, aumentando os custos, re-
duz o número de encomendas, o que
pode ser capaz de dificultar a pro-
dução em escala devido à falta de
recursos financeiros. Aparece, en-
tão, o dilema de conciliar a sofisti-
cação com a eficiência e eficácia do
armamento (sofisticação versus
eficiência relativa e quantidade).
(1) Ressalvados os aspectos aci-
ma, devido à sua grande importân-
cia, citem-se as principais ações de
caráter geral:elaborar
planos de nacio-
nalização do armamento; tais pia-
nos devem partir do simples para
o complexo e não sofrer solução de
continuidade. O grau de complexi-
dade será aumentado, gradativa-
mente, de plano para plano;a nacionalização deve co-
meçar pelos armamentos, enge-
nhos, artefatos, munições, etc. de
elevadas Taxas de Consumo e de
Atrição;
a capacidade ociosa da in-
dústria, mormente a média e pe-
quena, deve ser aproveitada ao má-
ximo; o empresário será orientado
para o redimensionamento de sua
produção;
a nacionalização deve
partir dos itens de mais baixos Coe-
ficientes de Mortalidade; sempre
que possível, respeitadas as pecu-
liaridades de cada Fbrça Armada,
procurar-se-á a padronização de
itens similares com Coeficientes de
Mortalidade idênticos.
(2) As seguintes ações dizem res-
peito aos armadores:
custear e subsidiar as
obras de introdução de alterações
em navios prontos e nos projetos
daqueles que serão construídos;
custear e subsidiar os lu-
cros cessantes durante a duração
da obra nos navios prontos e provi-denciar sua execução quando o na-
vio parar para reparos programados;
custear e assumir os prejuí-
zos do armador em função das
obras introduzidas e em decorrên-
cia do impedimento de venda do na-
vio alterado para o estrangeiro.
(3) As seguintes medidas são de
aplicação válida:
de caráter geral:sempre
que for preciso
desenvolver novos tipos de arma-
mentos e engenhos, promover a
participação da universidade e do
empresário na Pesquisa Pura e
Pesquisa Aplicada, subsidiando-os;
antes de engajar a indús-
tria, nas Fases Básicas da Obten-
ção e Distribuição, testar as Neces-
sidades em Meios, através de jogos
de guerra especialmente concebi-
dos;
em função dos resulta-
dos dos jogos, promover a Obtenção
e a Distribuição, assim como o ade-
quado redimensionamento do par-
que industrial bélico; se necessá-
rio, fomentar a produção militar de
outras indústrias;
de caráter específico:
caso a Determinação de
Necessidades mostre que se deva
UMA POLÍTICA DE MOBILIZAÇÃO... 105
dispor de navios de passageiros, en-quanto as linhas normais se prova-rem deficitárias, pugnar por umaPolítica de subsídios ao armador;como o problema interessa tam-bém ao Exército, buscar o seuapoio.
d. Ações pertinentes ao PoderMilitar e ao Poder Naval
A Marinha, devido à sua or-Sanização, tem problemas de Mo-bilização peculiares ao Exército ea Aeronáutica. Ademais, o PoderNaval é o mais sensível a uns pou-eos impactos definitivamente des-truidores. Também é o de mais di-fícil Mobilização. Raramente, osMeios e Pessoal, mobilizados jun-tos ao Poder Marítimo, terão em-Prego em operações de combate, fe-nôrneno que não se observa no Po-der Terrestre. Este, enquanto per-sistir a vontade nacional, será mo-bilizável, permitindo a continuaçãoda luta. Todavia, esse fato simplesPassa, muitas vezes, despercebido.Raciocina-se, quase sempre, emtermos da Mobilização levada aefeitos nos EUA, à ocasião da Se-Sunda Guerra Mundial, quando osr»orte-americanos, mercê de seumienso potencial, foram capazesde prodizir até navios em série.Muitos julgam que o fenômeno po-deria se repetir no Brasil. Por ou-tro lado, cada militar tende a ver oProblema sob sua ótica, o que difi-culta a percepção de que, em casode confronto armado, a Mobiliza-Ção da Marinha, Exército e Aero-náutica pautar-se-á, respectiva-mente, por métodos inteiramentediferentes. Como a Política de Mo-bilização para a Marinha deve es-tar inserida em contexto maior, adificuldade de percepção das dife-renças pode conduzir a problemas
capazes de afetar, negativamente,o Preparo e a Execução da Mobili-zação para o Poder Naval.
Em função dos condicionantesacima, as seguintes ações são reco-mendáveis:
(1) Para ô caso de confrontonuclear
planejar a Mobilização doPoder Naval e do Poder Marítimoem termos de Minimização de Da-nos e de Recuperação e Readapta-ção do Poder Nacional, após oataque;
a seguinte medida é deaplicação válida: o planejamentodeve se fundamentar nos planos doescalão superior, sendo conduzido,concomitantemente, com planeja-mentos semelhantes do Exército eda Aeronáutica.
Como, caso configurado um ata-que nuclear, possivelmente o maiorônus da Mobilização venha a cairsobre as Forças Terrestres, espe-ciai atenção deve ser dada ao papelatribuível ao CFN.
(2) Para o caso de confrontosconvencionais e decorrentesda GRC
caso dos Meios:conceber jogos de guer-
ra para cada uma das HG admiti-das; os jogos deverão possuir cono-tações estratégicas, táticas, técni-cas e de mobilização de recursos doPoder Marítimo;
em função dos jogos deguerra, efetuar cuidadosas Deter-minações de Necessidades, procu-rando diminuir, ao máximo, o cará-ter aleatório de cada problema es-pecífico; os jogos de guerra deve-rão servir para auxiliar a identif i-cação dos itens de elevadas Taxasde Atrição e de Consumo, além deconsiderar os Coeficientes de Mor-talidade; com base na Determina-ção de Necessidades, dimensionar
106 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
os custos da Obtenção e Distribui-
Ção;— caso do Pessoal;
nos jogos de guerra aci-
ma, quantificar as perdas de Pes-
soai, bem como as necessidades de
recompletamento; para tanto, inse-
rir, nos jogos, os Prazos de Prepa-
ração de Pessoal, em função dos ní-
veis de conhecimentos;
com base nos resulta-
dos dos jogos, dimensionar a capa-
cidade dos órgãos de formação, es-
pecialização, aperfeiçoamento e os
indispensáveis meios necessários
ao adestramento, seja para o Pes-
soai da Ativa, seja para a recicla-
gem das Reservas.
As seguintes medidas são perti-
nentes:
emprego de especialistas ca-
pazes de formular os modelos ma-
temáticos determinísticos e proba-
bilísticos de controle de estoque, es-
senciais à concepção dos jogos;aproveitameto da estrutura e
experiência já adquirida pela MB
na formulação e condução dos jo-
gos de guerra;proteção dos resultados obti-
dos nos jogos por medidas adequa-
das de contra-informações, que de-
vem continuar durante todo o pro-
cesso de Obtenção e Distribuição
dos Meios;
conjugação de esforços com
as demais Forças Armadas e, sob
a coordenação do EMFA, prepara-
ção de bancos de dados, reunindo:
informações de natureza es-
tratégica, tática, logística e técni-
ca sobre cada um dos prováveis
oponentes listados nas HG;
informações de toda natureza
pertinentes ao desenvolvimento
das armas, engenhos, plataformas,
etc., suas características, possibi-
lidades e limitações, com especial
atenção para aquelas dos prováveis
oponentes;
— acompanhamento técnico das
inovações surgidas no exterior, que
possibilitem o emprego de navios
mercantes em operações de com-
bate; no caso das inovações perti-
nentes ao emprego com aeronaves
V/STOL, interessar a Aeronáutica
no problema.
UM SACRIFÍCIO VÁLIDO
Pretendemos, ao elaborar esta
monografia, delinear, de modoam-
pio, os principais aspectos ligados
à Mobilização. Muitos deles têm ca-
ráter aleatório, outros são subjeti-
vos e outros mais concretos.
Teceram-se comentários sobre
os aspectos políticos do problema
no seio de regimes democráticos,
caracterizados pela participação e
representatividade, as quais, afi-
nal, se contrapõem ao caráter com-
pulsório da Mobilização. Não é di-
fícil concordar que a harmonização
dos aspectos díspares de democra-
cia e mobilização depende de fato-
res subjetivos, obediente, porém,a
técnicas palpáveis de esclareci-
mento e conscientização dos grupos
sociais, inclusive os de oposição.
Entre esses grupos, não se preten-
derá obter o consenso, eis que isso
é extremamente difícil nas demo-
cracias.
Como fator fundamental de
conscientização está a percepção
da inevitabilidade do confronto mi-
litar, que não precisa chegar ao
choque das armas, em decorrência
do permanente jogo de interesses
existente entre Nações e Estados,
jogo esse cada vez mais exacerba-
do, porquanto o mundo se transfor-
mou em uma aldeia global.
Do jogo, o que emerge claramefl'
te é que um resultado funesto n°
confronto das armas pode encerrar.
Uma política de mobilização. 107
definitivamente, o confronto poli ti-
co. Assim, a existência de Forças
Armadas capazes de dissuadir e re-
taliar rapidamente constitui o me-
!hor modo de garantir a permanên-
cia do confronto político, evitando
chegar ao militar.
No entanto, a dissuasão e a reta-
liação nãò podem e nem devem es-
tar limitadas, cerceadas por tercei-
ros, capazes de impor restrições lo-
gíticas à máquina militar. O graude limitação será diminuido à pro-
Porção que o País produza seus pró-
Prios engenhos bélicos.
Dissuasão e retaliação exigem
credibilidade, a qual decorre da ca-
Pacidade das Forças Armadas, ofe-
recida por meios de produção na-
cional e, fundamentalmente, da
vontade política. Fora diferente,
nesse ultimo caso, Clausewitz não
teria entrado na imortalidade,
guando escreveu Da guerra.
Quanto à relação com a Expres-
são Psicossocial, ela também de-
Pende de fatores abstratos, obe-
dientes, todavia, a técnicas concre-
tas de sensibilização e, o que é im-
Portante, mensuráveis.
Economicamente, o problema,se bem que em parte dependente de
fatores abstratos, tem como gran-de condicionador um outro, extre-
lamente palpável e facilmente
Censurável, o lucro. É ele a mola-
destra das democracias.
Quanto ao Poder Militar e, par-ticularmente, no caso do Poder Na-
vál, procurou-se estabelecer algum
Processo de medida capaz de faci-
ütar a Mobilização. Para isso foi
Preciso, partindo da interligação
entre a Estratégia, a Tática e a Lo-
gística, subordinar a Mobilização a
esta última. Isso nos parece lógico,
ainda que adoutrinário, pois, com
base em tal raciocínio, considerou-
se a Mobilização como um acelera^
dor e catalisador das Fases Básicas
da Obtenção e da Distribuição.
Criou-se, em seguida, um con-
junto de relações matemáticas,,
aparentemente simples, mas de
fundamentação extremamente
complexa.
Para o correto uso das relações
e modelos matemáticos, será pre-
ciso dispor de uma infinidade de in-
formações fidedignas, a fim de re-
duzir, tanto quanto possível, os
grandes fatores aleatórios do pro-
cesso.
Enfim, tentou-se medir as condi-
ções do Preparo da Mobilização,
buscando o seu como fazer.
Agiu-se desse modo porque a Mo-
bilização tem sido tratada, de há
muito, segundo uma maneira abran-
gente e, ao que parece, até mesmo
esotérica. Na verdade, é bem pós-
sivel que sua medição nunca tenha
sido tentada. A esse propósito ca-
bem as palavras que, ao que cons-
ta, teriam sido proferidas por Co-
pérnico:"Se
tens um problema, mede-
o antes de tentar resolvê-lo; se
não possuis a régua para a me-
dição, inventa-a. Em seguida,
mede o problema."
Finalmente, lembremos nova-
mente a grande mensagem: a Mo-
bilização tem início com a Naciona-
lização. Ela merece alguns comen-
tários.
Ao nacionalizar, por certo, não
será possível obter, de imediato, ar-
mas tão sofisticadas quanto aque-
Ias dos países mais adiantados. No
entanto, poderemos lá chegar, des-
de que sejamos racionais e prag-
máticos.
A Nacionalização deve ser, de
início, simples, compatibilizando
eficiência relativa e quantidade
com sofisticação. Muitos dirão que,
em função da explosão de conheci-
108 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mentos, jamais seremos capazes de
atingir os níveis dos mais adianta-
dos no setor dos armamentos. Não
cremos. A princípios, a luta será ár-
dua, difícil; haverá muitos momen-
tos de total desalento. Mas, quando
a roda começar a girar efetivamen-
te, sua velocidade aumentará, e po-
deremos pensar, em seguida, no fe-
chameüto da.lacuna tecnológica. Se
continuarmos a importar, jamais
aceleraremos nossa roda.
Trata-se de uma escolha. Fica-
mos com a Nacionalização, cientes
de que, a princípio, nossos meios se-
rão pouco sofisticados, por vezes
até mesmo ineficientes. Mas tere-
mos, ao adotar essa linha de ação,
uma certeza: a de que nossos suces-
sores — quem sabe, os atuais aspi-
rantes da Escola Naval? — serão al-
mirantes da poderosa Marinha do
século XXI. E esses almirantes, a o
olhar o passado, agradecer-nos-ão os
sacrifícios feitos. Destarte, cabe ho-
je a nós lançar as bases da grande
marinha que o Brasil certamente
merece. Esse é o nosso sacrifício!
^SANYO
FAZ O BOM MOMENTO
TV A CORES — RÁDIOS — RADIOGRAVADORES
RÁDIOS-RELÓGIOS — TRI-SOM
Escritório Rio
Indústria Eletrônica Sanyo do Brasil Ltda.
Rua México, 41 — sala 801
Fone: 240-1889 — Rio de Janeiro — RJ.
i
o SUBMARINO DA CLASSE 211
UM NOVO SISTEMA DE ARMA
Na fase de concepção*
observações
preliminares
-A. Marinha alemã contribui, den-tro da Aliança Atlântica, para a de-
fesa naval no flanco norte da Euro-
Pa Ocidental. Em caso de guerra é
Preciso bloquear as forças do inimi-
na profundidade do espaço atra-vés do combate tático-ofensivo,
causando-lhe baixas, bloquear assuas forças, aproveitando os estrei-tos no mar, e proteger as vias ma-rítimas
e costas próprias.
Estas distintas tarefas estão gra-Suadas no tempo e no espaço, sen-
Ao todas elas interdependentes.
Quanto mais cedo se começar com
a concentração de forças e o blo-
queio de forças, tanto menos serão
°s esforços a dispensar para mis-
sões principalmente defensivas de
Segurança e proteção.
Os submarinos são, em compa-
ração com outros meios navais, me-
lhor equipados para as tarefas de
concentração de forças e bloqueio
de forças, uma vez que apenas eles
têm a capacidade de operar escon-
didos, e durante muito tempo, em
áreas controladas pelo inimigo. A
própria existência de submarinos
obriga o inimigo a instalar amplas
medidas de segurança, limitando
assim a sua liberdade operativa.
A Marinha alemã prevê, por is-
so, o emprego de submarinos no
Mar Báltico, que deve concentrar
forças inimigas a leste de Bornholm,
causando-lhes baixas e reduzindo
assim a força de ataque contra os
acessos ao Mar Báltico. Tudo isto
facilita consideravelmente a defe-
sa a oeste de Bornholm.
Fora do Mar Báltico, i.e., no Mar
do Norte e mares vizinhos, existe
* Tradução, do Capitão-de-Mar-e-Guerra Antonio Luiz Jaccoud Cardozo, do artigo U-
Boot Klasse 211, publicado na revista alemã Marine Fórum, n?s 1/2, jan./fev. de 1985, p. 9-12.
k.
110
também a necessidade de concentrar
as forças do inimigo na profundida-
de do espaço e de causar-lhe bai-
xas. A ameaça marítima cresceu
aqui ainda mais do que no Mar Bál-
tico, podendo-se constatar duas evo-
luções contrárias: por um lado,
manifesta-se a ampliação das ca-
pacidades oceânicas da Marinha
soviética e mais sensivelmente na
Frota Polar, sediada ali e operan-
do também ali; por outro lado, pô-
de-se verificar, desde fins dos anos
60, uma redução considerável do
potencial de forças navais de super-
fície da OTAN na mesma região.
Além disso, ficou bem evidente que
as forças, da Marinha norte-ameri-
cana, estão concentradas em ou-
tras regiões para o cumprimento de
tarefas globais.
As Marinhas da Europa Ociden-
tal têm que preparar-se, portanto,
para enfrentar o combate no flan-
co norte, em caso de uma guerra,
primeiro, sozinhas. Levando tudo
isto em consideração, fica bem evi-
dente a importância da defesa avan-
çada no mar na concepção geral e
com ela aumentou também a im-
portância do emprego de submari-
nos.
A Marinha alemã reagiu a esta
situação com a decisão de desenvol-
ver uma nova classe de submarinos
para o emprego específico no flan-
co norte, fora do Mar Báltico.
CARACTERÍSTICAS INICIAIS
O tipo de tarefas, as caracterís-
ticas da zona de operação e o grau
de ameaça determinaram as exi-
gências do novo sistema de arma:
o submarino da classe 211. Cabe
ressaltar aqui, entre outras coisas,
a exigência de uma alta capacida-
de de permanência no mar e sub-
merso, com.períodos curtos de es-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
nórquel, altas velocidades em
imersão e grande profundidade de
imersão.
Além disso, é necessário ter ca-
pacidades especiais para a caça de
outros submarinos, sendo impres-
cindível reduzir a um mínimo a
emissão de ruídos mediante medi-
das tomadas na construção. Deve-
rá ter sensores passivos potentes
para obtenção de um grande alcan-
ce de detecção também contra alvos
com nível de ruído reduzido.
Outra condição imprescindível é
uma alta e rápida capacidade de
reação quanto ao emprego das ar-
mas com base na avaliação da si-
tuação; isto exige a disponibilida-
de de um bom sistema de comando
e de direção de tiro. Para que pos-
sa combater submarinos e navios é
necessário poder levar um grande
número de torpedos eficientes, sen-
do preciso também prever medidas
e instações que garantam uma boa
capacidade de resistência. O siste-
ma de armas terá que dispor, além
disso, também, de um potencial su-
ficiente para uma modernização
posterior.
Outras características resultam
de um convênio a nível governa-
mental entre a República Federal
Alemã e a Noruega sobre coopera-
ção no setor de submarinos. O acor-
do obriga as duas partes a empre-
gar determinados equipamentos e
aparelhos a bordo dos submarinos
da classe 211 e dos submarinos pa-
ra a Marinha norueguesa (projeta-
dos) da classe 6071. Um projeto de
estudo investiga se as exigências
para o novo submarino da classe 21i
poderiam ser atendidas mediante
a utilização de projetos já existem
tes em estaleiros alemães ou escri-
tórios de projetos de desenvolvi-
mento. Os resultados desse estudo
têm mostrado até agora que os pro-
0 SUBMARINO DA CLASSE 211 - UM.. 111
jetos existentes não correspondemàs intenções estabelecidas, especí-ticamente no setor da caça de sub--Marinos. Por isso, a firma Inge-nieurkontor Lübeck foi encarrega-da de apresentar uma nova propps-ta.
CARACTERÍSTICAS DAPROPOSTA
Já foram apresentados os pri-¦tteiros resultados das investiga-Ções sobre a concepção do sistemade arma — o submarino da classe211.
Construção
A proposta se baseia em umaconstrução de um casco único, queserá executado em aço amagnéti-co. O submarino será dividido emduas seções pou uma antepara re-sistente à pressão e terá um deslo-camento de aproximadamente1-500 toneladas.
Grupo propulsor
Está previsto um sistema de pro-Pulsão convencional, i.e., um motorelétrico Doppel-Anker alimentadoPor uma bateria principal, dividi-da em duas seções, que acionará di-retamente um único hélice de pas-so fixo e bastante silencioso.
A carga da bateria é efetuadaPor meio de geradores de alta po-tência, acionados por motores Die-sei superalimentados.
A concepção da bateria principale dos grupos geradores Diesel tor-na factível a realização de períodoscurtos de esnorquel e longa perma-nência em imersão.
Sistemas de operação do navio
Está previsto dotar os diferentessistemas de operação de um eleva-do grau de automatização para au-mentar, por um lado, a segurançae reduzir, por outro lado, o númerodo pessoal. Por isso está previstocentralizar, na medida do possível,as funções de manobra e de contrô-le, que será realizada principalmen-te partindo de três postos a bordo:do painel de controle de máquinasserão controlados, entre outras coi-sas, o motor elétrico de propulsão,a bateria, os grupos geradores Die-sei, bem como o sistema hidráuli-co e as bombas de esgoto; do com-partimento de manobra será gover-nado o submarino no que diz respei-to a rumo, velocidade e profundida-de; além disso, podem ser realiza-das medidas de controle e de com-pensação do submarino; do postode manobra serão realizadas asmanobras básicas para trimageme compensação do submarino, ma-nobras de tanque de lastro e de tan-que de compensação para imersãoe emersão, manobras de pianos dear.
Direção de tiro eemprego das armas
Os submarinos da classe 211 se-rão os primeiros submarinos daMarinha alemã a disporem de umSistema de Comando e Direção deTiro que abrangerá toda a cadeiade funções, desde os sensores até osutilizadores. O seu sistema centralde computação, operação e de re-presentação está atualmente emfase de desenvolvimento por umafirma da Noruega, de acordo como convênio mencionado anterior-mente.
A obtenção de informações para
112 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
a apresentação e análise da situa-
ção é realizada inicialmente atra-
vés de sistemas acústicos de detec-
ção passiva. O sensor principal é o
sonar DBQS-21D, com o qual é pos-
sível controlar e medir, analisar e
classificar vários alvos simultanea-
mente. Este equipamento será ins-
talado também a bordo dos novos
submarinos noruegueses e dos sub-
marinos alemães da classe 206.
Para o controle a grande distân-
cia de áreas marítimas estará à
disposição também um sonar rebo-
cável (towed array sonar) e um so-
nar lateral (flank array sonar). Es-
ses sensores acústicos passivos que
operam na faixa de freqüências
baixas permitem uma detecção, me-
dição e classificação antecipada de
submarinos e embarcações de
superfície.
Para melhorar o quadro da situa-
ção e também para a identificação
do alvo existem dois periscópios op-
irônicos (SERO14 e SERO15): um
periscópio de ataque, que permite,
além da medição ótica de alvos,
também a determinação de distân-
cias com raios laser, e um periscó-
pio de observação, equipado para
medição ótica de distância, com câ-
mara de tevê com intensificação da
luz residual e receptor de imagem
térmica.
Com um moderno equipamento
de medidas de apoio eletrônico, se-
rá possível captar, mostrar, anali-
sar automaticamente e represen-
tar emissões eletromagnéticas em
uma faixa de freqüência bastante
ampla. Está prevista também a
instalação dos mais modernos
equipamentos de navegação, que
serão integrados em um sistema
assistido por computador. O siste-
ma assegura que a necessária pre-
cisão na navegação será alcançada
para garantir a determinação da
posição e do rumo do alvo. Os dados
fornecidos pelos sensores serão
processados quase imediatamente
por integração multissensorial e
com aproveitamento dos dados de
navegação otimizados pelo sistema
integrado de navegação e transfor-
mados em rumos do alvo.
O comando e direção de tiro é
controlado por quatro consoles
múltiplos: o console de comando
serve para representação gráfica e
análise da situação geral, para
coordenar o emprego dos sensores
e utilizadores e para controlar o sis-
tema; o console de dados do alvo
serve para controlar a geração aU-
tomática do rumo do alvo, e os dois
restantes consoles, para o lança-
mento e controle dos torpedos.
Armamento
Estará à disposição um torpedo
inteligente, guiado a fio DM2 A4,
que está sendo desenvolvido atual-
mente a partir do torpedo DM2A3
(já desenvolvido).
Instalações de comunicações
O equipamento de comunicações
está sendo planejado à base de uma
concepção que também está pre-
vista para instalação nos submari-
nos da classe 206/206A. Este siste-
ma leva em consideração as parti-
cularidades do sistema nacional de
controle de submarinos e permite
também a realização de comunica-
ções por parte de todas as outras
instalações de comando de subma-
rinos da OTAN. Além disso, o siste-
ma garante a cooperação tática
com as próprias forças de superfi-
cie e os aviões anti-submarino.
Autodefesa e capacidade
de discrição
Para garantir uma capacidade
0 SUBMARINO DA CLASSE 211 - UM...
suficiente de sobrevivência e uma
grande capacidade de discrição es-
tão previstas várias medidas, como
construção amagnética e medidas
amortecimento de ruídos, insta-
'ações de automedição acústica,
sensores contra radiação nuclear e
contaminação química, instalações
alarme antitorpedo, um equipa-
'hento sonar para a detecção de mi-
nas e uma vasta gama de medidas
camuflagem, de interferência e
despistamento contra os sonares
e as sono-bõias do inimigo.
Instalações de segurança e
de salvamento
Estão previstas várias medidas
Para garantir a segurança de ope-raÇão,
com as quais se pretende re-
^Uzir as conseqüências de even-*uais
avarias, erros de manobra ou°utros
acidentes. Para as situações°lue não podem ser dominadas com
fedidas e instalações de seguran-
Ça há um sistema de salvamento
Para a tripulação do submarino,sistema
esse que é utilizado tam-bém
por outras Marinhas amigas:a divisão do submarino em duas se-
Ções resistentes à pressão, que ga-rante
à tripulação, em caso de ava-r'a,
sobrevivência na seção intacta
submarino durante vários dias.
Dependendo da profundidade daagua,
os membros da tripulação
Poderão abandonar o submarino
P°r uma guarita de salvamentoc°m
um traje especial de salva-tYlento
ou serem resgatados por umSubmarino
de salvamento (DSRV)Acoplado
a uma outra escotilha.
tripulação
O submarino terá uma tripula-
Çâo de 29 homens (seis oficiais, no-
ve suboficiais e 14 sargentos). Eles
113
farão serviços em dois quartos em
cruzeiro de guerra e em três quar-
tos em cruzeiro de adestramento.
Instrução
Está previsto obter um simula-
dor para instrução do sistema de di-
reção de tiro do submarino da cias-
se 211, que deverá funcionar na Es-
cola de Armas Navais de Eckern-
fõrde.
Este equipamento deverá ajudar
a:
Instrução a equipe de ataque
do submarino nos setores de
detecção, avaliação da situa-
ção e emprego das armas em
todas as fases do emprego, de
maneira que será possível ob-
ter um aproveitamento máxi-
mo de todas as possibilidades
do sistemas;
instruir o pessoal de manobra
e reparos nos equipamentos e
aparelhos de comando e dire-
ção de tiro;
executar a manutenção e alte-
ração de software para aque-
Ias partes dos programas dos
equipamentos que podem ser
modificados.
O adestramento a bordo é reali-
zado com a ajuda de um programa
de simulações que abrange toda a
cadeia de funções do sensor até o
utilizador.
Apoio aos sistemas de armas
Para garantir a prontidão para
o emprego do sistema de armas du-
rante o período parcial de manuten-
ção e reparo (emprego fora das
operações) estará à disposição um
Grupo de Apoio ao Sistema de Ar-
mas do correspondente Esquadrão
114 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
de Submarinos. Esse Grupo, sedia-do na base do Esquadrão, apoia atripulação na manutenção e nos re-paros de equipamentos e apare-lhos, bem como no aperfeiçoamen-to de conhecimentos.
Em caso de necessidade, o Gru-po de Apoio ao Sistema de Armaspoderá atuar também em outrosportos, no arsenal e no estaleiro.
Durante exercícios comuns (co-mo, p.e., treino de lançamento detorpedos, instrução em águas ter-ritoriais estrangeiras), o Grupo deApoio ao Sistema de Armas estaráembarcado em um tender.
Potencial de modernização
A concepção do submarino daclasse 211 permitirá a colocaçãoposterior de instalações para o lan-çamento de mísseis contra alvos desuperfície e contra aeronaves anti-
-submarino, bem como para a mina-gem. Poderá ser instalado, tam-bém, se desejado, um grupo propul"sor parcialmente independente doar ambiente.
Perspectivas
O planejamento atual para a ob-tenção do submarino da classe 2Ü*prevê a assinatura de um contratode construção de seis submarinosdesta classe para o ano de 1988. -Aincorporação do primeiro subman-no está previsto para o ano de 1992-
Todas estas medidas, juntamen-te com as medidas de conservaçãoda capacidade de combate dos sub-marinos da classe 206, garantem aexistência de uma força de subm»'rinos eficientes também nos anoS90 para a realização das tarefas noflanco norte da OTAN, dentro e f°'ra do Mar Báltico.
CORRFAPREVIDÊNCIAPRIVADA
Ninguém pode ofereceruma grande proteçãose não for grande também
ATUALIZE SEU ENDEREÇO
SEDEAv. PresidenteVargas, 583/4.° and.Tels.: 221-0072 e224-0660 - Riode Janeiro - RJ ANAPP
SEÇÃO DA EGN
A VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO
Embarcada para o
adequado emprego do
^ODER NAVAL
"O mar é uma escola de resistên-
cia. Às suas margens os invertebra-
dos e os amorfos rolam nas ondas
e somem no lodo, enquanto os orga-
nismos poderosos endurecem às
tempestades."
Rui Barbosa
INTRODUÇÃO
Não é suficiente a uma Marinha
que pretenda ser poderosa, com o
grau de prontidão necessário ao seu
emprego imediato, dotar-se apenas
das plataformas e sistemas de ar-
mas mais modernos. São essen-
ciais o aprimoramento e a conser-
vação de um moral elevado e, ain-
da, que seus homens estejam mo-
tivados, preparados e adestrados
para o sucesso na guerra.
Na nossa Marinha tem-se obser-
vado que os marinheiros de melho-
res níveis de aptidão para a carrei-
ra têm optado preferencialmente
pelas especialidades de apoio, que
lhes permitem melhores perspecti-
vas de acesso na carreira e mesmo
mercado de trabalho mais recepti-
vo na vida civil. No entanto, para
aquelas especialidades de que de-
pende o adequado emprego das uni-
dades navais, principalmente no
que concerne a sensores, armas e
comunicações, são compulsados os
Carlos eduardo araújo motta
Capitão-de-Fragata
116
de menores níveis de aptidão com
o gravame das suas aspirações pes-
soais contrariadas, pois tais espe-
cialidades constituem normalmen-
te suas derradeiras opções.
Como obter, então, uma grande
Marinha, sem que suas melhores
praças pretendam ir para o mar?
Este trabalho pretende analisar
as influências do desenvolvimento
econômico-social e do processo se-
letivo adotado no CPA sobre o com-
portamento do sistema de praças
da Armada, especialmente no to-
cante à escolha da especialização,
e propor medidas, decorrentes da
análise procedida, que estimulem
os melhores marinheiros à vida
embarcada e à decisão pelas espe-
cialidades de que depende direta-
mente o adequado emprego do Po-
der Naval, em especial as relacio-
nadas com sensores, armas e co-
municações.
A VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO
EMBARCADA EM BENEFICIO
DAS ESPECIALIDADES
DE QUE DEPENDE
DIRETAMENTE O ADEQUADO
EMPREGO DO PODER NAVAL
Uma apresentação do problema
As especialidades intimamente
relacionadas com o adequado em-
prego das unidades navais, princi-
palmente no que concerne a senso-
res, armas e comunicações — tais
como Operação de Sonar (OS),
Operação de Radar (OR), Armas
Submarinas (AS), Direção de Tiro
(DT), Telegrafia (TL) — estão sen-
do inteiramente marginalizadas
pelas praças, em benefício daque-
Ias que facultam ao marinheiro
melhores perspectivas de acesso na
carreira e oportunidades de traba-
lho na vida civil, após passarem pa-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ra a reserva.
No processo atual de seleção pa*
ra os Cursos de Especialização, as
praças melhores classificadas na
Escala de Avaliação de Desempe-
nho para Marinheiros (EADM)>
que mede a aptidão para a carrei-
ra durante o estágio inicial, têm
atendidas suas primeiras opções de
especialidade, normalmente as de
apoio. Para atender as de menor
aceitação — as especialidades
mais importantes para o emprego
do Poder Naval — recorre-se às fai-
xas mais baixas de aptidão para a
carreira e atende-se tão-somente à
quarta ou quinta opção do mari-
nheiro. Decorre, portanto, que irão
compor esses importantes Quadros de
Especialistas exatamente aquelas
praças cujas aspirações foram con-
trariadas e que demostraram °s
menores níveis de aptidão durante
o estágio inicial.
Como obter, então uma Marinha
eficiente sem que seus melhores
homens tencionem ir para o mar-
Embora a operação do Sistema de
Praças deva levar em conta que 0
desenvolvimento da carreira visa
ao melhor emprego das praças, pa'
ra as necessidades do serviço, há °
dilema de, se compelidos forem os
melhores homens para as especia'
lidades no momento críticas, ter-se
aumentada a evasão seletiva; VoT'
quanto, em sua maioria, os mari-
nheiros de melhores níveis prefe-
rem abandonar o serviço ativo a en-
veredar por um caminho que lhes
exigirá, conforme entendem, o sa-
crifício como meio permanente de
vida.
O ponto comum às especialida*
des críticas — aquelas que, p°r
quaisquer circunstâncias, são siS-
tematicamente evitadas pelos ma-
rinheiros na época em que exercem
a opção de especialidade — é a con-
A valorização da função...
Anuidade do embarque em todas as
graduações. À necessidade do em-
Marque está associada a idéia de sa-
crifício, não apenas pela vida tipi-
ca de bordo como também em face
das oportunidades de realização
Pessoal que lhes são negadas pela'°nga ausência de terra, como, porexemplo,
a obtenção de um diploma
de curso de nível superior, instru-
Mento de valor inestimável para o
Egresso no Quadro de Oficiais Au-
Ciliares da Armada no futuro.
Por outro lado, é compreensível
e deve ser considerado nas soluções
ÍUe se busquem para o problema o
anseio natural dos componentes de
uma sociedade em desenvolvimen-to de galgarem, com rapidez, os pa-tamares da escala social, fenôme-
no conhecido como mobilidade ver-
tical.
Neste trabalho, enfocaremos a
farinha como um sistema intera-
Sindo com a sociedade, procuran-do-se detectar as variáveis ambien-
tais com interferência no problema
estudo e tentaremos apontar so-luções
que preencham os requisitos
de valorizar a função embarcada
ern benefício das atuais especiali-
dades críticas e permitir a progres-sâo social do homem no âmbito da
Própria Marinha.
A CARREIRA DA
PRAÇA NA ARMADA
A análise em maior profundida-de da carreira da praça da Arma-
da, permitindo entender suas aspi-
rações e comportamento conse-
^üente, requer sua apreciação em
três etapas distintas: os fatores mo-
Ovacionais que levaram à decisão
Pela carreira da Marinha, a fase de
Marinheiro a terceiro-sargento,
guando conquista a estabilidade, e
a última fase, que vai até a promo-
117
ção a suboficial ou ingresso no Qua-
dro de Oficiais Auxiliares da Arma-
da.
A decisão de entrar para a Ma-
rinha — Se no passado, para a de-
cisão dos jovens por uma profissão
prevaleciam o pendor e a vocação
natural para a atividade futura, ho-
je, com o desenvolvimento da estru-
tura econômica e social, as condi-
ções e exigências do mercado de
trabalho exercem, na maioria dos
casos, influência marcante na op-
ção pela futura atividade profissio-
nal, que deve atender, essencial-
mente, a três necessidades huma-
nas básicas: segurança, subsistên-
cia e aceitação social.
O próprio desenvolvimento eco-
nômico tem ainda notável influên-
cia nesse processo de escolha da
profissão em face da forte mobili-
dade social que ocasiona, pois a
educação passou a ser o instrumen-
to dos que não têm outra via de as-
censão. A aceitação social da pro-
fissão constitui, portanto, fator pon-
derável aos jovens no julgamento
de seus misteres futuros.
Estimulados pelos inúmeros
exemplos de sucesso profissional e
pessoal dos que, embora de origem
humilde, favorecidos pelo sistema
educacional ora existente, atingi-
ram patamares mais elevados da
escala social, faixas da população
brasileira procuraram na educação
o caminho para sua própria mobi-
lidade social. Dentre esses cami-
nhos coloca-se o sistema educacio-
nal da Marinha, que, oferecendo a
certeza da segurança, da subsistên-
cia e da aceitação social, desde a
admissão, tem sido procurado pe-
los jovens oriundos das classes me-
nos favorecidas economicamente,
ingressando no Corpo de Praças da
Armada.
De marinheiro a terceiro-sargen-
118 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
to — Egressos das Escolas de Apren-
dizes-Marinheiros e dos órgãos de
formação de reservistas navais, já
possuidores do certificado de con-
clusão do 1? Grau, são os marinhei-
ros distribuídos pelos navios, onde
cumprirão o estágio inicial da car-
reira. Nesse período, verdadeira-
mente começarão a conhecer a Ma-
rinha, a receber a experiência das
praças mais antigas, a avaliar suas
próprias possibilidades e chances
de progressão. Já se preocupam em
obter o certificado de conclusão do
2? Grau, requisito indispensável à
matrícula na Escola de Formação
de Sargentos e, normalmente, fre-
qüentarão cursinhos que os habili-
tem a vencer mais uma etapa. Nes-
sa ocasião, em que as viagens de-
veriam ser desejadas pelo próprio
sentimento de desafio e aventura
que deve habitar o coração de todo
homem ligado ao mar, cresce a sen-
sação de que as viagens atrapa-
lham, impedem o desenvolvimen-
to dos seus estudos, e, paulatina-
mente, o amor ao mar tão próprio
para ser cultivado nessa idade, ce-
de lugar à ojeriza pelas comissões
programadas, pois é somente em
terra que encontram os elementos
favoráveis à obtenção dos diplomas
exigidos pela Administração Naval,
indispensáveis ao prosseguimento
de suas carreiras.
Ao término do estágio inicial se-
rão avaliados pelas Escalas de Ava-
liação de Desempenho (EAD) e
preencherão seus questionários de
opção de especialidade. Ao escolher
uma especialidade, a par do pendor
que possa ter, o homem avalia as
vantagens e desvantagens a ela as-
sociadas e aponta aquela que lhe
assegure a maior probabilidade de
satisfazer suas necessidades de se-
gurança, subsistência e aceitação
social. Pondera sobre as especiali-
dades que facilitarão seu ingresso
na Escola de Sargentos, asseguran-
do-lhe a estabilidade e conseqüen-
te segurança, sobre a especialida-
de que lhe facultará exercer uma
atividade condignamente remune-
rada, caso venha a ser licenciado
ao término do oitavo ano de servi-
ço, garantindo assim suas subsis-
tência e da própria família, e ana-
lisa, ainda, aquela especialidade
que permitirá, após ser promovido
a terceiro-sargento, maiores facili-
dades de acesso ao Quadro de Ofl-
ciais Auxiliares da Armada, satis-
fazendo sua outra necessidade bá-
sica de maior aceitação social.
Concluído o curso de especializa*
ção, normalmente ao final do 4? ano
de efetivo serviço, o marinheiro e
promovido a cabo. Após três anos
nessa graduação e desde que conte
três anos de embarque na carreira,
poderá se inscrever para a EFSM-
Caso consiga aprovação na primei'
ra oportunidade e faça parte da pri-
meira turma, atingirá a graduação
de terceiro-sargento com cerca de
nove anos de efetivo serviço.
As praças que não houverem
preenchido os requisitos para pro-
moção a terceiro-sargento ao tér-
mino do oitavo ano de efetivo ser-
viço e não forem incluídas na Par-
cela Especial serão licenciadas do
serviço ativo. A inclusão na Parce-
la Especial, embora garanta-lhes a
estabilidade não os livra de serem
atingidos pela quota compulsória,
independentemente de suas espe-
cializações.
A última fase da carreira — Pr°"
movido a terceiro-sargento, é natu-
ral que o homem busque realizai"
uma outra necessidade humana bá-
sica: a de maior aceitação social-
Lutará por tornar realidade o sonho
de atingir o Oficialato, através da
admissão ao Quadro de Oficiais Au-
A VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO... 119
ciliares da Armada.Nesse ponto cabe uma digressão
sobre a adequação de a praça de-sejar um dia tornar-se oficial. Creioser difícil atingir a unanimidade nadiscussão desse tópico. Entretanto,P.ue malefícios traria manter naPraça a esperança representadaPela possibilidade de atingir o Ofi-cialato? Não seria essa esperançaanáloga àquela de todo jovem se-gundo-tenente, oriundo da EscolaNaval, de um dia atingir o Almiran-tado? O amadurecimento ao longoda carreira irá mostrar e conven-eer que somente a minoria das pra-Ças e dos jovens segundos-tenentesPoderá, no futuro, atingir o Oficia-lato e o Almirantado. Contudo, es-sa esperança de progressão pode-rá constituir-se em elemento de in-eentivo de grande valor psicológi-co, com efeitos benéficos para a dis-ciplina e o moral, concorrendo, ain-da, para a melhoria do nível do pes-soai subalterno.
Decorridos três anos após a con-clusão do curso de aperfeiçoamen-to, contando no mínimo um ano deembarque como sargento, poderáse inscrever no exame de admissãoao QOAA, desde que sua especiali-dade seja fixada como de interes-se para a Marinha e receba infor-mação favorável da autoridade sobcujas ordens estiver servindo, noque respeita às habilitações profis-sionais navais, entusiasmo pelacarreira, conduta civil e militar,bem como outros aspectos que o re-comendem ao exercício do Oficia-lato.
A seleção para admissão aoQOAA é constituída das provas deConhecimentos Técnico-Profissio-nais, de Comunicação e Expressão,de Conhecimentos Gerais e Títulose, ainda, de uma entrevista, exa-mes psicológico e de saúde, todas
de caráter eliminatório e classifi-catório.
Percebe-se, desde já, que aque-les sargentos que tiveram a carrei-ra voltada exclusivamente para omar, servindo muito tempo a bor-do ou em comissões especiais de di-fícil desempenho e por isto não ti-veram oportunidade de obter umagraduação universitária, mas que,dentro de sua especialidade e no de-sempenho de suas funções, de-monstraram comprovada capaci-dade profissional e conduta militarexemplar, estarão em condições in-feriores para disputar uma vaga doQOAA relativamente aos que, porhaverem optado por uma especia-lidade que lhes deu a oportunidadede permanecer maiores períodosem terra, conseguiram um diplomade nível superior.
Se considerarmos que o QOAAfoi criado com a finalidade de su-prir a MB com oficiais procedentesdo CPA, para o exercício de funçõesde caráter operativo e técnico com-patíveis com suas qualificações eespecialidades de origem, por queum diploma universitário deve va-ler tanto para admissão ao QOAA,enquanto uma vida exclusivamen-te voltada para o mar não é consi-derada dentre os atributos classifi-catórios para esse Quadro? Não sedeseja desestimular os que procu-ram nas universidades melhorarseu nível intelectual, mas buscar,para os que verdadeiramente seprofissionalizaram, uma igualdadede condições nessa fase da carrei-ra. Não se pode perder de vista opropósito da criação do QOAA, de-vendo seus componentes serem di-rígidos para funções relacionadascom suas especialidades de ori-gem, pois, certamente, não falta-riam oportunidades a bordo dos na-vios e centros de adestramentos pa-
120 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ra esses oficiais, hoje, em sua maio-
ria, exercendo funções administra-
tivas. Deve ser ressaltado, entre-
tanto, o importante passo dado nes-
se sentido, quando a Administração
Naval decidiu substituir a obriga-
toriedade da apresentação do diplo-
ma universitário para ingresso no
QOAA por um sistema, onde os di-
plomas apresentados somam ape-
nas para a classificação final dos
candidatos.
A parcela maior, natural, e dese-
jável, não atingiria o Oficialato. En-
tretanto, poderíamos ver criado um
estado de espírito amplamente fa-
vorável ao exercício dessas espe-
cialidades diretamente ligadas ao
emprego do Poder Naval, à vista do
sucesso profissional e pessoal dos
de maior capacidade, cujo valor
fosse reconhecido pela Marinha,
através de medidas que proporcio-
nassem maiores facilidades de aces-
so na carreira, assim como pela de-
signação para o exercício de fun-
ções, que, além de estimulá-los à
profissionalização crescente, pro-
vocasse, ainda, o reconhecimento
dos seus pares quanto à verdadei-
ra dimensão e real importância
atribuída pela Marinha às especia-
lidades que exigem dedicação inte-
gral à vida embarcada. Caminhos
que façam desabrochar uma nova
atitude mental no seio desses Qua-
dros de Especialistas, que lhes mo-
tive e faça-lhes crescer o orgulho,
devem ser pesquisados e persegui-
dos, pois não esses sentimentos os
reais multiplicadores da força im-
prescindível ao aprimoramento e
conservação de um moral elevado,
essencial ao sucesso na guerra.
EM BUSCA DAS SOLUÇÕES
Considerando-se que todo com-
portamento-social é alterável e o
homem caracteriza-se por ser o
animal social mais plástico em sua
capacidade de adaptação a novas
situações, as soluções a serem pes-
quisadas devem incentivar uma
mudança de atitude e um novo
comportamento dos jovens mari-
nheiros ante a escolha de sua futu-
ra especialidade. Essa transforma-
ção poderá ser obtida oferecendo-
se melhores perspectivas de reali-
zação profissional e pessoal àque-
les que optarem por uma carreira
dirigida para o serviço embarcado,
de modo a atrair os de melhores tá-
veis de aptidão para aquelas espe-
cialidades, cuja característica
principal é a continuidade do em-
barque. As medidas que venham a
ser sugeridas deverão contribuir
para uma mudança do atual esta-
do de espírito, motivando as praças
à profissionalização crescente,
criando-se o sentimento dentro do
CPA "de
que vale a pena uma vida
voltada para a Marinha". O maior
esforço deve ser no sentido de gerar
confiança — esse o grande desafio-
Sob o ângulo de realização pro-
fissional, seguiremos a carreira de
praça desde sua admissão ao CPA.
procurando identificar caminhos
que eliminem os óbices até agora
analisados e proporcionem melho-
res perspectivas de carreira.
Verificou-se que para a admissão
à Escola de Formação de Sargen-
tos é necessária a apresentação de
certificado de conclusão do 2?
Grau. Entretanto, a vida embarca-
da e os custos do estudo constituem
empecilhos à conquista desse obje-
tivo pelas praças que desejam se-
guir uma carreira normal. Embo-
ra seja esse um requisito adequa-
do, mormente quando se considera
o nível tecnológico encontrado nas
modernas unidades navais, exigir1'
do uma capacitação sempre maior
A VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO. 121
de seus operadores, a praça não de-
veria ver-se obrigada a preencherfora da Marinha um requisito de
carreira, importante, inclusive, pa-ra seu desempenho futuro. Como,
então, proporcionar a oportunidade
de concluir o 2? Grau, com as au-
sências determinadas pela vida
embarcada, sem ônus financeiro
Para as praças e ao mesmo tempo
contribuir para eliminar o senti-
¦nento de que as viagens "atrapa-
lham os estudos", desenvolvendo,
em contrapartida, uma maior de-
dicação ao serviço embarcado? O
caminho que se nos afigura estaria
em oferecer o Curso Supletivo do 2?
Grau a bordo dos navios, com a uti-
üzação do videocassete e as mes-
*has fitas dos telecursos ora exis-
tentes, mediante convênio com as
organizações que as editam. Esse
Curso seria oferecido à noite, du-rante os períodos de permanênciana sede, e poderia, nas comissões
Prolongadas, ser incluído nos pro-
gramas de adestramento nos na-
vios. Quanto à obtenção do diplo-
^a, submeter-se-iam as praças aos
Carnes necessários, juntamentecom o público civil, nas mesmas
datas regularmente oferecidas. Es-sa medida complementaria os cur-s°s
já organizados e oferecidos pe-'a Casa do Marinheiro, criados exa-tamente
para facilitar às praças aobtenção do diploma do 2? Grau.
Além das vantagens de preen-cher um requisito de carreira den-tro da própria Marinha e sem ou-
fras despesas, a adoção desse pro-cedimento traria em seu bojo outra
considerável conseqüência, em
Particular no Rio de Janeiro, a de
Prender a bordo o jovem marinhei-r°, desestimulando aqueles oriun-
dos de outras regiões do País de fre-
lüentarem locais nocivos e de con-viverem
com indivíduos que, por
sua índole, pudessem interferir no
desenvolvimento de seus hábitos
morais.
Quanto ao número de vagas por
especialidade para a EFSM, hoje
determinadas em função dos claros
existentes no sistema suboficial-
sargentos, poder-se-ia estudar a
possibilidade de diminuir a relação
candidato-vaga para essas especia-
lidades críticas, o que seria mais
um fator de incentivo, trabalhando-
se com taxas de administração su-
periores às das demais especialida-
des, o que também favoreceria, no
futuro, uma maior rotatividade en-
tre as funções embarcadas e em
terra, pois deve-se aceitar como vá-
lida a aspiração de um dia servir
em terra; e a Administração Naval
estará contribuindo para o moral
desses quadros de especialistas,
garantindo essa rotatividade. Ha-
verá um período de suas vidas em
que esses homens necessitarão cui-
dar mais de perto de seus interes-
ses pessoais e de suas famílias, ou
mesmo desejarão usufruir de am-
bientes mais confortáveis, escalas
de serviço mais folgadas e dos la-
zeres oferecidos pela sociedade mo-
derna. Medida eficaz no sentido de
contribuir para essa rotatividade
seria o de reestudar-se as TLA das
organizações militares de terra,
substituindo-se as funções que não
demandem pessoal de especialida-
des específicas, por praças de qual-
quer especialidade (QQE), preen-
chendo-as pelos voluntários que
apresentassem maiores quantitati-
vos de dias de mar e embarque.
Um outro ponto que deve mere-
cer especial consideração é o mo-
mento em que o homem terá defi-
nida sua situação quanto à perma-
nência no serviço ativo. Nessa oca-
sião — quando terá despendido oi-
to anos no SAM e estará caminhan-
122 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
do para a maturidade —, aqueles
que não houverem preenchido os
requisitos para promoção a tercei-
ro-sargento e não forem incluídos
na Parcela Especial serão licencia-
dos. No ato da escolha para inclu-
são na Parcela Especial, poder-se-
ia dar preferência às especialida-
des críticas, observando-se ainda
critérios de dias de mar e tempo de
embarque, em justo prêmio àque-
les que até então dedicaram-se so-
mente à Marinha, reduzindo-se, as-
sim, para essas especialidades, a
insegurança do processo seletivo e
criando-se, dessa forma, mais um
fator motivacional para as especia-
lidades hoje carentes dos melhores
cérebros.
Promovido a terceiro-sargento,
garantidas as necessidades básicas
de subsistência e segurança, a que
já nos referimos anteriormente, é
natural o homem buscar meios que
levem à maior aceitação social de
sua profissão. O caminho para con-
quistar esse objetivo é o exame de
admissão ao Quadro de Oficiais Au-
xiliares da Armada, o que poderá
fazer após concluído o curso de
aperfeiçoamento e desde que sua
especialidade seja fixada como de
interesse para a Marinha. Observa-
se, entretanto, que essas especiali-
dades não têm sido fixadas, o que
poderia passar a ser feito em bene-
fício das especialidades críticas,
criando assim um novo fator de es-
tímulo aos integrantes desses qua-
dros de especialistas. Esse proce-
dimento concorreu para que, no pe-
ríodo de 1979 a 1984, dentre os ofi-
ciais admitidos no QOAA, trinta e
sete viessem egressos do Quadro de
Escrita (ES) e dez do de Paioleiro
(PL), enquanto somente três foram
provenientes do Quadro de Opera-
dores de Sonar (OS), um do Quadro
de Operadores de Radar (OR) um
do Quadro de Sinaleiros (SI), ui"
do Quadro de Armas Submarinas
(AS), dois do Quadro de Artilharia
(AT), quatro do Quadro de Direção
de Tiro (DT), nenhum do Quadro de
Hidrografia e Navegação (HN) e oi-
to do Quadro de Telegrafistas (TL) •
Deve ser assinalado que, se fôsse-
mos ordenar as especialidades cri-
ticas, elas apareceriam como na
seqüência: OR, OS, AS, AT,
HN, SI e TL. Depreende-se, porta#-
to, a existência de uma série de in-
junções que não estão permitindo
aos especialistas desses quadros
galgarem o Oficialato.
Ao se considerar a finalidade
precípua do QOAA de suprir a
com oficiais procedentes do CPA
para o exercício de funções de ca-
ráter operativo e técnico compati'
veis com suas qualificações e espe'
cialidades de origem, verifica-Se
estar havendo uma inversão de p1*10'
ridades na composição desse Qua'
dro de Oficiais, pois é notório nã°
dispor a Marinha de tantas funções
operativas e técnicas a serem exer-
cidas por oficiais oriundos do S&r'
viço Geral de Apoio. Esse fato ori-
gina ainda outra distorção no ei*1'
prego dos oficiais do QOAA, p01
são designados em sua maioria, P^'
ra funções administrativas, send°
esquecida toda a experiência e c°'
nhecimentos adquiridos no exerci'
cio de sua especialidade.
Se o adestramento deve seI\a
principal atividade em tempo o
paz, uma enorme contribuição p°
deria advir caso fossem admitidos-
por exemplo, maior número de ofi'
ciais originalmente especializado
em OS e OR, para exercerem tüj}'
ções de instrutoria nos Centros d
Adestramento e Cursos de Especia'
lização ou mesmo servir como ajü'
dantes nas Divisões de Operaçõf
dos nossos navios. Também sen
A
A valorização da função. 123
adequado a um oficial do QOAA,°rtundo do SGM, exercer uma fun-
Ção de ajudante-de-divisão nos De-
Partamentos de Máquinas, ou mes-
mo de chefe de máquinas nos na-
vios de terceira classe. Sem dúvida,
não faltariam funções técnicas na
^HN e muito menos nas bases e ór-
Sãos de reparos da MB em geral.
Vê-se, portanto que, para cum-
Prir sua destinação, torna-se neces-
sário dar preferência a especialida-
des para admissão no QOAA e, em
Particular, àquelas cujo exercício
exija maior dedicação à vida em-
^arcada, não só para proporcionar
Maiores oportunidades de acesso
a°s componentes desses Quadrosde Especialistas, mas, principal-^ente,
porque a maioria das fun-
Ções operativas e técnicas existen-
tes requerem oficiais com essas
Qualificações.
A própria forma de seleção paraadmissão ao QOAA hoje adotada
contribui para que a praça fuja do
embarque, procurando posições es-
táveis em terra, onde possa con-
Quistar diplomas de cursos de nível
superior que lhes servirão de auxí-
tio para sua classificação na prova
^e títulos desse concurso. Mais
Unia vez, encontramos a Adminis-*ração
Naval exigindo de seus ho-
^ens, que pela própria natureza da
Profissão não podem manter víncu-l°s
maiores em terra além da pró-Pria família, a preencherem um re-
Quisito importante fora do sistema
^aval, caso almejem maior pro-
Sressão na carreira. Deve-se en-contrar
um meio para que aquelessargentos
que se dedicaram exclu-sivamente
à Marinha concorramao Oficialato em igualdade de con-
dições, ou mesmo superiores, com
°s que, servindo muito tempo em
erra, conquistaram um diplomade nível superior. O caminho, mais
uma vez, indica devam ser conside-
rados os predicados de tempos de
embarque e dias de mar, aferidos
pelo Diploma do Mérito Marinhei-
ro. Poder-se-ia estudar uma gra-
dação de pontos a atribuir aos agra-
ciados com esse diploma, nas mes-
mas proporções, ou mesmo supe-
riores, aos valores hoje atribuídos
aos diplomas de nível universitário.
Seria esse o grande reconhecimento
prestado aos eminentemente mari-
nheiros e que, em última análise,
constituem a principal parcela ca-
pacitada a exercer as funções téc-
nicas e operativas destinadas ao
QOAA de que necessita a Marinha.
Explicou-se anteriormente que
as soluções a serem pesquisadas
deveriam concorrer para uma mu-
dança de atitude e comportamen-
to do CPA e que essa transformação
poderia ser obtida oferecendo-se
melhores perspectivas de realiza-
ção profissional e pessoal aos que
se voltassem exclusivamente para
o serviço embarcado.
Vistas as medidas que poderiam
alargar as opções de caráter profis-
sional, analisar-se-á, em seguida,
algumas providências, de caráter
geral, que, certamente, dariam
contribuição eficaz ao moral e ao
bem-estar dos que se decidissem
pela continuidade do embarque ao
longo de suas carreiras.
E natural e justa a preocupação
dos que viajam, mormente ante o
quadro adverso da economia nacio-
nal, com a segurança física e finan-
ceira de seus familiares, nos perío-
dos em que estão ausentes. Certas
medidas poderiam amainar esse
quadro, como, por exemplo, a dina-
mização dos organismos, onde são
sediados os navios, oferecendo o
mais amplo apoio às famílias das
praças em viagem, que seus depen-
dentes tivessem alguma precedên-
124 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
cia nos atendimentos hospitalares,que, onde houvessem casas funcio-nais, às praças embarcadas fossemoferecidas prioridades na obtençãodessas residências e, ainda, a cria-ção de uma gratificação por cada100 dias de mar, que fosse sendogradativamente incorporada.
Além desse elenco de medidaspoder-se-ia ainda despertar juntoaos jovens oficiais o reconhecimen-to pela importância desses especia-listas, incutindo-lhes para que emtodas as oportunidades realcem osméritos desses homens, pois essesentimento de respeito e considera-ção decididamente estimulará naspraças mais jovens o interesse pe-las especialidades hoje marginali-zadas.
Indiscutivelmente, o conjunto deprovidências até agora sugeridasnão esgotam as soluções possíveispara um problema de tão amplo es-pectro. Todavia, estamos convictosque, se adotadas, concorreriam pa-ra gerar o clima de otimismo, indis-pensável à reversão da situaçãopresente.
CONCLUSÃO
A valorização da função embar-cada em benefício das especialida-des de que depende diretamente oadequado emprego do Poder Navalrequer essencialmente a implemen-tação de um conjunto de medidasmotivadoras da profissionalizaçãocrescente, gerando condições queofereçam ao homem a satisfaçãode três de suas necessidades bási-cas: subsistência, segurança emaior aceitação social.
Não é suficiente reconhecer asverdades, proclamando-se a impor-tância dessas especialidades. E im-prescindível colocá-las em prática— o que nem sempre é fácil —, exi-
gindo convicção e coragem. Daanálise realizada, podemos sinteti-zar as seguintes medidas que, seimplementadas, poderão concretae objetivamente concorrer para avalorização pretentida:
a) oferecer o Curso Supletivo do2? Grau a bordo dos navios por meiode videocassete, utilizando-se asmesmas fitas dos telecursos oraexistentes, mediante convênio comas organizações que as editam,complementando, assim, os cursoshoje oferecidos pela Casa do Mari-nheiro. Quanto à obtenção do dipl°'ma, as praças submeter-se-ão aosexames necessários, em conjuntocom os civis, nas datas regular-mente oferecidas;
b) diminuir a relação candidato-vaga para a EFSM para as especia-lidades de OR, OS, AS, AT, DT, SI.TL e HN, trabalhando-se esses Qua-dros com taxas de administraçãosuperiores aos demais, permitindoque o possível excesso nessas espe"cialidades proporcione uma deseja-vel rotatividade entre as funçõe-3embarcadas e em terra;
c) reestudar as TLA das orgamzações militares de terra, substi-tuindo-se as funções que não de-mandem pessoal de especialidadeespecíficas por praças de qualqu*3especialidade (QQE), o que contri-buirá para tornar possível a rotati-vidade entre as funções embarca-das e em terra;
d) preferenciar, dentre os qunão preencherem os requisitospromoção a terceiro-sargento, Pa_ra inclusão na Parcela Especial, aseguintes especialidades: OR, O*'AS, AT, DT, SI, TL e HN;
e) fixar, anualmente, as especia^lidades de interesse da Marinha Va'ra admissão ao QOAA, preferencj'ando-se aquelas cujo exercício eXja maior dedicação à vida emba
A VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO. 125
cada;
f) atribuir, na prova de títulos pa-ra admissão ao QOAA, um número
pontos ao Diploma do Mérito
Marinheiro equivalente ou superior
aos pontos atribuídos aos diplomas
Universitários apresentados peloscandidatos;
g) dinamizar os organismos, on-
são sediados os navios, destina-
dos a apoiar efetivamente as famí-
üas das praças em viagem;
h) permitir que os dependentes
das praças embarcadas tenham
Precedência nos atendimentos hos-
Pitalares quando esses militares es-
tiverem ausentes;
i) dar prioridade às praças em-
^arcadas na obtenção de casas fun-
cionais;
j) criar uma gratificação para
cada 100 dias de mar, a ser grada ti-
vãmente incorporada; e
1) despertar junto aos jovens ofi-
ciais a necessidade de reconhecer
a importância das especialidades
essenciais ao emprego do Poder
Naval, recomendando que em to-
das as oportunidades realcem os
méritos desses especialistas, pois
tal estímulo aumentará o interesse
dos jovens marinheiros pela vida do
mar.
Sendo o homem, em boa parte,
fruto de seus conceitos e pensamen-
tos, que se transformam em ações
e realidades, esse elenco de provi-
dências refletirá de forma positiva
dentro do CPA, vencendo-se assim
o grande desafio — o de gerar con-
fiança.
BIBLIOGRAFIA
1. BRASIL. Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão. Oficio n? 0671, de 20 de agosto
de 1982, à Diretoria de Ensino da Marinha. Fluxo de Carreira das praças "OS".
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha. Oficio n? 0994 de 2 de fevereiro de 1977
à Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha .Estudo para Valorização do QOAA.
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha. Relatório de Estudo de Estado-Maior
n? 001, de 5 de outubro de 1982. Evasão de praças especializadas.
Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha. Ofício n? 0732 de 12 de novembro de 1980
ao Ministro da Marinha. Evasão de praças.
5. Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha. Ofício n? 0253, de 4 de junho de 1981, ao
Estado-Maior da Armada. Efetivos de praças OR, OS, DT, AS e ES em órgãos de terra.
Escola de Guerra Naval. FI-219. Guia para a elaboração de referências biblio-
gráficas. Rio de Janeiro, 1981.
7. Escola de Guerra Naval. EGN-215-A. Guia para a elaboração de teses e mono-
grafias. Rio de Janeiro, 1981.
Leis, Decretos etc. Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Estatuto dos Militares.
9- Leis, Decretos etc. Decreto n? 87.179, de 18 de maio de 1982. Regulamento para
o Corpo de Praças da Armada.
10¦ Ministério da Marinha. Doutrina básica da Marinha, 1983.
126 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
11. COHN, Gabriel. Comunicação e indústria cultural. Rio de Janeiro, Companhia Editora
Nacional, 1977.
12. FERNANDES, Florestan. Mudanças sociais no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasi-
leira, 1974.
13. FONSECA, Maximiano Eduardo da Silva. Marinha: uma análise conjuntural. Conferên-
cia na Escola de Guerra Naval, em 6 de abril de 1982
14. LIDERANÇA, Military Review, Kansas, 1? trimestre 1981.
15. MARCONDES, José Vicente de Freitas. Problemas brasileiros. Revista Mensal de Cultu-
ra, Rio de Janeiro, n? 121, setembro de 1973.
16. PINTO, L. A. Costa. Sociologia e desenvolvimento. Rio de Janeiro, Civilização Brasileí
ra, 1975.
i
A TEORIA GEOPOLÍTICA DE
COHEN E SUA VALIDADE ATUAL
a
JAYME ALBERTO CASTRO PUGA
Capitão-de-Corveta
INTRODUÇÃO
O Professor Saul Bernard Cohen,
da Universidade de Boston, arqui-
tetou uma teoria geopolítica e a
propagou em conferências nas es-
colas de comando das Forças Ar-
madas norte-americanas.
Posteriormente, ela foi publica-
da em seu livro, Geography and Po-
litics in a World Divided, editado
em Londres em 1963.
Em 1973, esse livro foi reeditado
em Nova Iorque e apresentava sua
teoria ligeiramente modificada,
para poder melhor espelhar o cená-
rio internacional da nova época.
Este trabalho tem por propósito
avaliar a teoria do Professor Cohen
no quadro internacional de nossos
dias.
Inicialmente será exposta sucin-
tamente a teoria publicada em 1963
e suas variações de 1973; a seguir,
serão apresentados os pontos de
vista de estudos que foram publica-
dos a respeito, assim como aprecia-
o'Wf
128
ções pertinentes realizadas pelo au-
tor.
A teoria geopolítica do
Professor Cohen
A teoria de Cohen procurou re-
partir o mundo atual entre três gran-
des regiões geoestratégicas, cada
uma delas nucleada por uma super-
potência. Ao mesmo tempo, cada
região destas seriam subdivididas
entre várias unidades geopolíticas.
Estas unidades foram divididas,
baseando-se nas individualidades
de seus ecúmenos, nas singularida-
des de suas culturas, seus sistemas
comerciais e suas ideologias poli ti-
cas e principalmente nos canais de
intercomunicações entre seus focos
políticos.
Quanto às regiões geoestratégi-
cas, teriam como elos de união até
alianças militares, mas não chega-
riam até a unidade política e eco-
nômica.
As três grandes regiões geoes-
tratégicas seriam:
1?) Região dependente do comér-
cio marítimo, com as seguin-
tes unidades geopolíticas:
América do Norte e Central
América do Sul
África ao sul do Saara
Europa marítima e o
Magreb*
Ilhas da Ásia e Oceania
2?) Região continental eurásica,
formada pelas:
REVISTA MARÍTIMA BR ASILE IB A
Europa oriental
Ásia central continental
3?) Região asiática monzônica.
com as seguintes regiões
geopolíticas:
Ásia oriental
Ásia meridional
Separando a 1? e 2? regiões, loca-
lizou Cohen o cinturão fragmenta-
do do Oriente Médio, e separando a
l.a e 3.a, o cinturão do Sudeste asiá-
tico.
Estas regiões atuariam com0
amortecedores dos impulsos &*¦'
pansionistas das regiões geoestra-
tégicas, evitando o atrito que seria
causado entre elas pelo contato di-
reto. Estas regiões teriam caracte-
rísticas bem definidas de instabil1'
dade política no interior de cada es-
tado e até conflitos entre eles.
A — Como características da 1? re"
gião geoestratégica, teria-
mos:
Limites constituídos quaSe
todos por fronteiras marítimas-
Primazia nas comunicaçõeS
marítimas entre seus centros-
Orientação para as bacia®
oceânicas do Atlântico e do Pa^1'
fico.
Distribuição de matérias-
-primas e população que exige01
especialização e interdependert'
cia.
Altos níveis tecnológicos.
Depedência comercial da
bacia do Atlântico Norte.
*Magreb é a designação dada a um conjunto de terras úmidas e férteis dominadas Pe
Ias imponentes montanhas do Atlas, tendo como fronteiras naturais o Oceano AUântico, o
Mediterrâneo e o Deserto do Saara. Três países ocupam o Magreb: Marrocos, ArgéÜa e
Tunísia.
Tanto a vegetação como o clima são mediterrâneos, com florestas de carvalhos e pinbe1'ros, que vão sendo substituídos, por estepes ou desertos ã medida que as chuvas diminu®1*1'
A teoria geopolítica de cohen. 129
Existência de dois eixos
ecúmenos, o maior centrado en-
tre o Nordeste dos Estados Uni-
dos e o Oeste da Europa, e o me-
nor entre o Sudoeste dos Estados
Unidos e o Japão.
® — Para a 2? região, Cohen desta-
ca as seguintes caracteristi-
cas:
Limites na sua maioria
constituídos por zonas ermas e es-
tepes montanhosas.
Preponderância do trans-
porte terrestre nas conexões de
seus centros.
Existência de um eixo
ecúmeno desde a Silésia até a Si-
béria central, passando pelaUcrânia.
^ — Para a 3? região se destacam:
Tendências equilibradas em
sua orientação para o mar e o in-
terior, ou seja, separada da Eurá-
sia por larga faixa territorial e
também dispondo de longo lito-
ral.
Linhas de comunicações etransporte sem grande desenvol-vimento
e pouca dependência
Marítima.
Deficiência quanto a um ei-
ecúmeno amplamente desen-
volvido.
A 2? região geoestratégica seria
filais homogênea física, humana,
Política e economicamente. A1? se-
r*a a mais desigual em seus aspec-°s
globais, e a 3? a menos desenvol-
, no aspecto econômico e tam-
muito problemática em suafiião,
pelas grandes disparidades
/h todos os aspectos entre a Chinae a índia.
suaautocrítica, de dez anos
após, na 2? edição, de seu trabalho
de análise geopolítica, Cohen extin-
gue a 3? região geoestratégica, es-
tabelecendo uma região geopolíti-
ca independente — A índia — e ane-
xando a China à 2? região, pois con-
siderou que as divisões entre a Chi-
na e a Rússia não seriam perma-
nentes e que nada mais são que o
nascimento de núcleos diferentes
do comunismo mundial.
Para embasar sua teoria, o Pro-
fessor Cohen apresenta, em seu li-
vro já referido, extensa argumen-
tação analisando as várias regiões
geopolíticas em confrontos recípro-
cos.
Análise da doutrina de Cohen
Tentando enquadrar inicialmen-
te a teoria de Cohen entre as duas
escolas básicas, determinista ou
possibilista, somos levados a crer
que a mesma pende concretamen-
te para a primeira delas.
As ênfases realizadas em fatores
de espaço geográfico, recursos na-
turais e econômicos, história e sen-
tido estratégico em larga escala
nos levam a essa conclusão.
Observamos que o hemisfério sul
foi pouco considerado. Explica-se o
fato porque os estados nele situados
quase todos ainda vagam em está-
gios de subdesenvolvimento, na
maior parte das vezes relegados a
simples fornecedores de matéria-
prima aos estados desenvolvidos e
que normalmente esses estados es-
tão distantes das importantes li-
nhas de comunicações e dos ecúme-
nos geoestratégicos.
Em seus estudos, a nossa Esco-
la Superior de Guerra apresenta a
teoria do Professor Cohen como
realista e pragmática, harmônica
sob o ponto de vista internacional
existente, pois não lança mão de
130 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dogmatismos ou esquemas rígidos,que estariam em desacordo com aconstante evolução da Geografia,da Estratégia e da Política. Outroponto que a ESG considera comoimportante é o reconhecimento demais de dois centros emanadoresde poder, o que permitiria proverum equilíbrio mais fácil. A existen-cia de regiões amortecedoras dasfunções das grandes potências tam-bém afastaria os riscos de conf ron-tos e guerras totais.
Seguindo o conceito de FradeMerino, as teorias geopolí ticas sãomais ou menos artificiais, umasporque visam a uma concepçãomomentânea do mundo, que nãotem por que coincidir com os acon-tecimentos futuros.
Outras, por justificarem um in-teresse ou uma política particularde uma nação, até certo ponto lógi-cas, pois, na política, todavia, asnações têm que associar ideais cominteresses, predominando estes emúltima instância.
Disse Spykman:"O homem de estado que con-
duz a política exterior só podepreocupar-se com valores de jus-tiça, honradez e tolerância namedida que contribuam ao obje-tivo do poder e não interfiramcom ele. Podem ser usados aces-soriamente como justificaçãomoral para a busca do poder,mas devem ser descartados nomomento em que sua aplicaçãoacarreta debilidade. Não se pro-cura o poder para a realização devalores maiores; os valores sãoutilizados para facilitar e alcan-çar o poder."
Frade Merino obseva objetivida-de na doutrina de Cohen, ainda quefique nítida a tendência a favorecer
os fins políticos da grande potênciamarítima norte-americana, queprocura perpetuar seu domínio emtodas as zonas costeiras importán-tes do mundo atual.
A partição de Cohen é a maisrealista das normalmente estuda-das, o que se justifica por ser a maismoderna das já publicadas.
A identificação de zonas de atfl-to onde os interesses dos grandespoderes geostratégicos colidem epara Frade Merino o ponto de maiorvalor na teoria de Cohen.
A região do Oriente Próximo -verdadeiro barril explosivo de nos-sos dias, pela sua grande transcen-dência econômica para o Ocidentecarente de petróleo, a sua proximi*dade com o mundo europeu e pri^cipalmente apresentando a possib1'lidade de abrir acesso para os ma'res quentes ao emergente Poder Na*vai soviético, caso venha a cair ernsua órbita de influência —, sem "u'vida, será, por longos anos, a principal zona de atritos entre o Orie11'te e o Ocidente.
Notamos no sentido básico dteoria de Cohen uma contraposiÇaa Mac Kinder.
O poder central da Terra Cot*',ção, objetivo final daqueles que vsam ao poder mundial, Cohen equlibrou com o envolvimento do mudo marítimo, que, ao mesmo tem-po que o utilizava como o grande ede intercomunicações, o subtra1ao poder continental eurásico.
Frade Merino identifica o £ra,vde projeto do Presidente Kenne— The Grand Design —, que PreVd0uma unidade atlântica, tentancolocar toda a margem do granoceano sob a regência da potênnorte-americana, como uma i"tificação com a doutrina do Pi"0*sor Cohen.
A TEORIA GEOPOLÍTICA DE COHEN. 131
Conclusão
Acreditamos que Cohen baseou-¦se concretamente na bipolaridadedo mundo, flagrante quando publi-c°u sua teoria.
Ela era muito paupável nos de-tentores de tecnologia nuclear deentão.
As bipolaridades ideológicas, so-eiais e comerciais, não menos níti-das, levaram-no certamente a an-tever dois mundos geoestratégicos:um continental e outro marítimo.
No entanto, acreditamos que asatuais regiões geoestratégicas queCohen tão concretamente delimi-tou hoje apresentam não poucaserupções que lhes comprometemessa integridade.
As pressões ideológicas que háPoucas décadas eram barreirastangíveis que delimitavam frontei-ras concretas e quase intransponí-veis e que ao mesmo tempo agluti-navam blocos de estados em rígidosConjuntos com singularidades es-tratégicas, Cohen as identificou co-nio um dos mais importantes ele-mentos separadores entre aquelesdois mundos tão diversos.
Hoje, estas pressões estão bas-tantes mais diluídas. As defecçõesfta comunidade soviética ou pelo
menos dissidências manifestas es-tão a nos mostrar que, não fossemos estados militares que os supor-tam, outros seriam os limites entreestes dois mundos.
A Hungria, a Tchecoslováquia,as Alemanhas divididas e os atuaisPolônia e Paquistão sustentamuma face de nosso parecer. De ou-tro lado, Cuba, algumas novas no-ções africanas, algumas pequenasrepúblicas na América Central e aatualíssima crise argentina susten-tam o desequilíbrio ideológico e ominimizam como amálgama geo-estratégico atual.
A OTAN está hoje, bastante com-balida, inicialmente pela políticaindependente da França iniciadapor De Gaulle e seguida pelas con-tagiantes marés de pacifismo euro-peu, que não deseja ver a Europatornar-se a arena do duelo entremísseis intercontinentais soviéticose norte-americanos.
A OEA já apresenta sinais de fu-gir à influência norte-americanaque a sustentava como uma moldu-ra em sua política continental.
É suficientemente concreto ana-usarmos que o Professor Cohen te-nha de rever seu planisfério, mes-mo porque outra década se apre-senta para sua análise.
BIBLIOGRAFIA
*• BRASIL. Estado-Maior das Forças Armadas. Escola Superior de Guerra. Geopolítica —— LST — 78. Rio de Janeiro, 1978.
COHEN, Saul Bernard. Geography andpolitic in a world divided. New York, Oxford Uni-versity, 1973.
MERINO, Fernando Frade. Introducción a la Geopolítica. Madrid. Bibliográfica Espa-nola, 1969.
MUNDO DEPENDENTE DO COMÉRCIO MARÍTIMOAmérica» do Norte, Central e do SulEuropa Marítima e o MagrelaÁfrica ao Sul do SaaraIlhaa da Ásia e da Oceania
POTÊNCIA CONTINENTAL EURÁSICAEuropa OrientalÁsia Central Continental
mg ZONAS FRAGMENTADAS
REGIÃO GEOPOLÍTICA INDEPENDENTEÁsia OrientalÁsia Meridional
REGIÕES GEOESTRATfcTICAS MUNDIAIS E SUBDIVISÕES (COHEN)
o LADO PITORESCO DA VIDA NAVAL
Prezado leitor.
Atendendo a sugestões, iniciamos neste núme-
ro a experiência de apresentar casos pitorescos vi-
vidos no cotidiano do serviço ou mesmo extratos do
anedotário naval, razão pela qual sua colaboração se-
rá preciosa.
Porém, em se tratando de uma experiência, é
da maior importância que a Revista Marítima Bra-
sileira receba opiniões ou sugestões quanto à práti-
ca ora iniciada, para que possa a mesma ser reexa-
minada quanto ao acerto de sua efetivação.
Contamos com a sua cooperação.
A Direção.
A FOTOGRAFIA DO GRUPO
Q contratorpedeiro aproximava-"se
para atracar no cais de Angra
Reis, com o passadiço mais
cheio de gente do que o costume.
Além do comandante, do imediato
Wue acumulava as funções de en-carregado
de navegação) e do ofi-
cial de serviço, estavam a bordo ochefe
da Flotilha, seus assistentese ajudante-de-ordens. Todos esses,e mais o pessoal subalterno, davamum aspecto de multidão no restritoesPaço
disponível.
O comandante, querendo exibir
Para o chefe a eficiência do seu na-vi°,
determinou ao oficial de servi-
Ç°: Manobre para atracar."
O tenente concentrou-se na ope-raÇão,
tentando contrabalançarsUa
inexperiência. Mas o diabo é
todos os presentes queriam lhe
^ruma mãozinha. O comandante
^ssurava-lhe sugestões ao ouvido.
^ imediato expressava, claramen-
*e> suas opiniões acerca do ângulo
leme ou das velocidades mais fa-
voráveis, dirigindo-se mesmo ao ti-
moneiro e ao operador do telégra-
fo da máquina. Até o chefe da Fio-
tilha e seus auxiliares aventuravam
algumas idéias que pudessem aju-
dar o pobre oficial de serviço, con-
fuso em meio àquele vozerio.
O resultado da cooperação de
tantos manobreiros foi o esperado:
o navio deu uma rabanada mais
forte do que devia ao se alongar
com o cais, tirando-lhe uma boa las-
ca de cimento.
Não tendo sua demonstração ti-
do o êxito esperado, o comandante
achou que cabia uma palavra de re-
preensão ao tenente, já de orelhas
vermelhas e furioso com o papelão
que o tinham obrigado a fazer:
Olhe o seu retrato, que o senhor dei-
xou no cais!"
Com isso extravasou-se a paciên-
cia do coitado do tenente e a reação
foi natural: Desculpe-me, co-
mandante, mas se ali está uma fo-
to, não é minha só. É de um grupo.
E nele estou lá atrás..."
L
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
PROCEDIMENTOS PARA ASSINATURA
Remeter, por via postal, cheque em favor do Serviço de Documentaça0
Geral da Marinha, no valor de Cz$ 36,00.
Idem para o exterior, no valor de US$ 12.
Comparecer ao SDGM e fazer, pessoalmente, a assinatura.
Fazer a assinatura em qualquer agência do Banco de Crédito Real de Min^s
Gerais, através da conta n? 32446-1, aprovada pela Carta-Circular BH 21
em formulário existente no próprio banco.
Preencher modelo existente nas OM de consignação pela Caixa 443, Pafa
desconto em folha de pagamento, através da DFM.
Para maiores informações, preencha as lacunas abaixo e remeta esta página Para'
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL
Revista Marítima Brasileira
Rua Dom Manuel, 15 — Centro
20.010 — Rio de Janeiro — RJ
NOME:
ENDEREÇO:
CEP: CIDADE: ESTADO:
DATA: /19
FAÇA DE SEU AMIGO MAIS UM ASSINANTE DA RMB
Coações ao sdgm
Departamento de museu naval e oceanográfico
ilação de doações no decorrer do 4? trimestre de 1985
PEQAS DOADORES
Quadro: Duguay-Trouin forgant Embaixador Eduardo Chermont1'entree de Rio de Janeiro, gravura. de Brito
Colegao de fl&mulas de navios e es- Vice-Almirante Augusto Lopestabelecimentos navais. Cruz
Relogio de sol (diptico). Vice-Almirante (RRm) Octavio
Ferraz Brochado de Almeida
Estatueta do Almirante Tamanda- Vera Leao Velloso Ribeiror®. modelo em gesso, do escultor
Loao Velloso.
flaca — Reprodu?ao de cartaz: Lloyd BrasileiroLloyd Brasileiro, 1922.
Espada naval Luiza Clementina Pires Muniz
Aragao
Quadro: Tender Belmonte, 61eo Capitao-de-Mar-e-Guerra Nelios/tela,
de Nelio Ronchini. Ronchini Lima
^ina (miniatura) com mecanismo Centro de Muni?ao Almirante An-
disparo de inven?ao do Almiran- tonio Maria de Carvalhoe Antonio Maria de Carvalho.
^¦elogio de bolso Omega. Niobel Lemos Neiva
^"laqueta de identifica^ao da DNOG. Niobel Lemos Neiva
Jfedalha do Cinquenten&rio do Clu- Niobel Lemos Neiva
be Naval.
136 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Quadro: Marinha, aquarela, de Vil- Niobel Lemos Neiva
larinho, 1919; Cruz de Guerra.
Quadro: Amelia de Leuchtenberg, Semenge Engenharia Empreendi-
Imperatriz do Brasil, oleo s/tela, mentos
atribuido a Lebreton
Brasao do Aviso Hidrografico Ca- Aviso Hidrogr&fico Camocim
mocim
Placa com o nome dos comandan- Grupamento Naval do Leste
tes do Rebocador Triunfo.
Brasao do Navio Balizador Tenen- Navio Balizador Tenente Boaner-
te Boanerges. ges
Quadro: Naufrdgio do Cruzador Capitao-de-Mar-e-Guerra (RRm)
Bahia, oleo s/tela, de Nelio Ronchi- Nelio Ronchini Lima.
ni.
Quadro: Encouragado Aquidaba, Contra-Almirante (RRm) Athos
61eo s/eucatex, de Athos Monteiro Monteiro da Silveira
da Silveira.
Quadro: Cruzador Tamandare, Contra-Almirante (RRm) Athos
61eo s/eucatex, de Athos Monteiro Monteiro da Silveira
da Silveira.
Quadro: Corveta ClasseMatias de Contra-Almirante (RRm) Athos
Albuquerque, oleo s/tela, de Athos Monteiro da Silveira
Monteiro da Silveira.
Bandeira Nacional que pertenceu Luiz Antonio Patricio de Oliveira
ao Navio Mercante Comandante
Lyra.
Quadro: CS Jutai, oleo s/tela. Vice-Almirante Roberto Nunes
doações ao sdgm 137
Departamento de arquivo da marinha
ilação de doações, de dezembro de 1985 até fevereiro de 1986.
ARQUIVO HISTÓRICO
MATERIAIS DOADORES
Uma foto dos aspirantes do 1? ano Almirante Storino (Oswaldo Osiris
da Escola Naval (1912) na Ilha Storino)
das Enxadas.Quatro fotos da aula inaugural
da Escola de Guerra Naval pro-
ferida pelo Vice-Almirante Os¬
waldo Osiris Storino (1/10/57)
32 fotos dos ex-dire tores de Sau- Sri1 Maria Jose R da Silva
de da Marinha
Um calendario com reproduces Vice-Almirante Luiz Edmundo Bri¬
de fotos de navios de guerra, na- gido Bittencourt
vios mercantes, e outros, datan-
do do inicio do seculo.
-Um calendario com reproduces Almirante Raymundo da Costa Fi¬
de gravuras de Debret sobre gueira
Rio Antigo.
Duasfotos 18x24cm doEncoura- Contra-Almirante (RRm) Athos
9ado Sao Paulo, em tempestade. Monteiro da Silveira
^artitura musical de Gldria a Ma- Rita Muniz Barreto
rtnha de Thiers Cardoso.
Partitura musical do Hino do Pes- Almirante-de-Esquadra Henrique
cador Brasileiro Saboia
°peragao Santa Maria — Livro de Lygia Reisen Dias Fernandes
r6cortes sobre a revolta no Navio--Mercante
portugues Santa Maria,
em aguas brasileira, no ano de 1961.
MATERIAIS DOADORES
Uma foto dos aspirantes do 1? ano Almirante Storino (Oswaldo Osiris
da Escola Naval (1912) na Ilha Storino)
das Enxadas.Quatro fotos da aula inaugural
da Escola de Guerra Naval pro-
ferida pelo Vice-Almirante Os¬
waldo Osiris Storino (1/10/57)
32 fotos dos ex-dire tores de Sau- Sr? Maria Jose R da Silva
de da Marinha
Um calendario com reproduces Vice-Almirante Luiz Edmundo Bri¬
de fotos de navios de guerra, na- gido Bittencourt
vios mercantes, e outros, datan-
do do inicio do seculo.
-Um calendario com reproduces Almirante Raymundo da Costa Fi¬
de gravuras de Debret sobre gueira
Rio Antigo.
Duas fotos 18x24cm do Encoura- Contra-Almirante (RRm) Athos
9ado Sao Paulo, em tempestade. Monteiro da Silveira
P'artitura musical de Gldria a Ma- Rita Muniz Barreto
rinha de Thiers Cardoso.
Partitura musical do Hino do Pes- Almirante-de-Esquadra Henrique
cador Brasileiro Saboia
°peragao Santa Maria — Livro de Lygia Reisen Dias Fernandes
r6cortes sobre a revolta no Navio--Mercante
portugues Santa Maria,
em aguas brasileira, no ano de 1961.
138 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA DA MARINHA
Relação de doações no decorrer do 4? trimestre de 1985, com indica-
ção dos volumes doados:
Almirante Raimundo da Costa Fi- 92 volumes
gueira
Almirante Jose Uzeda de Oliveira 5 volumes
Senhor Ovidio Cunha 1 volume
Senhor Waldo Vieira 1 volume
Almirante Raimundo da Costa Fi- 92 volumes
gueira
Almirante Jose Uzeda de Oliveira 5 volumes
Senhor Ovidio Cunha 1 volume
Senhor Waldo Vieira 1 volume
Marinha de outrora
"Nas
costas do rio grande
^ ATINGIDO POR VIOLENTA
Tempestade o navio-escola
ALMIRANTE SALDANHA"
Sob o título acima, em 20 de maio
de 1959, o jornal "Correio
do Povo",
de Porto Alegre, publicou uma re-
portagem sobre um temporal que
foi enfrentado pelo então Navio-
Escola Almirante Saldanha, quan-
do em viagem do Rio de Janeiro pa-
ra a área do Arroio Chuí, em cam-
panha oceanográfica.
Mesmo considerando que tal re-
gistro teria sido melhor publicado
no ano passado, quando do cinqüen-
tenário do nosso tradicional Salda-
nha, só recentemente, ao fazermos
uma "limpeza"
em velhos guarda-
dos, encontramos o recorte da no-
tícia acima mencionada, o qual nos
chegou às mãos quando ainda cur-
sávamos o segundo ano do Colégio
Naval, nos idos de 1959. Assim,
transcrevemos abaixo a íntegra da
referida notícia, a qual apresenta
um pormenorizado depoimento do
Comandante do navio, o então Capi-
tão-de-Mar-e-Guerra Francisco Au-
gusto Simas de Alcântara, e temos
140 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
a certeza que trará grandes recor-
dações a todos aqueles que partici-
param do episódio a seguir relatado."RIO,
19 (C.P.) — "Sob violento
temporal, açoitado por rajadas de
vento que atingiam a velocidade de
80 milhas por hora, ocasionando
inúmeras avarias que lhe punham
em risco a própria segurança, o Na-
vio-Escola Almirante Saldanha
(hoje transformado em navio ocea-
nográfico) portou-se como um ver-
dadeiro herói" — declarou à im-
prensa o Comandante Francisco
Augusto Simas de Alcântara, que
regressou domingo ao Rio de Janei-
ro, após enfrentar verdadeiro fura-
cão no litoral do Rio Grande do Sul.
Informou-nos Comandante Alcân-
tara que foram três dias de vigília
ininterrupta, aqueles em que joga-
do pelas ondas altíssimas, o Almi-
rante Saldanha adernava 45 graus
para cada bordo.
E frisou: — "Para fugir à refre-
ga, já que sendo veleiro não pos-
suíamos motores capazes de resis-
tir à tormenta, navegamos a favor
do temporal, afastando-nos 600 mi-
lhas da costa."
Operação Oceanográfica
E foi o Comandante Alcântaf
mesmo, que dirigiu, de pé, durafl
todas aquelas horas de angústia- ^
manobras da nave, que nos con^ 0
sua epopéia: — "Partimos do P1
de Janeiro a 5 deste — declarou ^
em demanda à região do Chuí.
litoral do Rio Grande do Sul-
contrário das missões antigas ^
Almirante Saldanha — transpor^*
guardas-marinha em viageh1
instrução — nosso objetivo era
pesquisas oceanográficas. Essa '
ligadas aos trabalhos do Ano Ge
físico Internacional, agora chafl1
do Cooperação Geofísica InterrV
cional, se destinavam à colheita
dados que permitissem estabelec
o regime de migrações de pei*0 '
naquelas regiões, a fim de Pr°P°
cionar melhores pescas para as c
lônias do Sul. Vinculava-se esse se
viço, também, ao estudo das c°n^
ções de vida da fauna ictiológ*
naquela região, já que isso é fa
preponderante para que se det
mine e localize exatamente os
dumes. Dirigimo-nos para ali.
A Marinha de outrora 141
bacios" em grande parte por ins-
Aumentos de laboratórios e de pes-
luisas. Nesse incluiam-se termô-
tetros, microscópios, ampolas,
etc".
Vento todo o tempo
E continuou o comandante: —
De nossa saída do Rio já sabíamos
lue romperíamos uma frente fria
localizada naquela região. Contá-
vamos, no entanto, com ventos de
razoáveis intensidades, sem contu-
atingir as proporções que foram
yerificadas. Logo após a nossa saí-
^a da barra, isto é, com um dia de
alto-mar, já sentíamos que o vento
norte aumentava de intensidade,
^ão demos importância ao fato.
^esmo porque, isso era esperado.
Ao fim do dia II, quando recebemos
^formações meteorológicas, pelorádio,
avisaram-nos que a frente
aUmentava de intensidade e talvez
déssemos a ter tempo pior que o
6sPerado. Preparamo-nos, mas,
^•üida assim, não esperávamos pe-
que veio. O pior. De escuta per-^anente, aguardando informações
Meteorológicas que nos garantis-
a viagem dentro da rota, con-
Suamos o nosso trajeto. Sentia-
^os, cada vez mais forte, a inten-s*dade
do vento, ainda de direção'torte.
Ao mesmo tempo, nos instru-
bentos, acompanhávamos o desen-Volver
dos fenômenos meteorológi-c°s,
que acusavam queda rápida e
Acentuada da pressão. O barômetro
e°meçara a cair. Sua queda, toda-
Via, não se verificou dentro do es-
furado. Em ocasiões normais, quan-(1° os temporais são comuns, a que-^a barométrica varia de cerca de*°25
milibares a 1006. Esta foi mais
0fige. Nossa paciência e esperan-
Ça na melhora do tempo, fizeram-nos
acompanhar a baixa pressão
até que fossem indicados no mos-
trador, apenas, 983 milibares —
amostra de verdadeiro tufão."
Início da refrega
Agora, com certa ênfase, de-
monstrando ainda sinais de cansa-
ço pelos dias insones, o Comandan-
te Alcântara conta-nos como se deu
o retorno: — "Nesse momento deu-
se o imprevisto. Rumávamos para
o sul com vento norte. Bruscamen-
te, com uma velocidade assombro-
sa (estável a 50 e rajadas periódi-
cas de 80 milhas por hora) a venta-
nia mudou de norte para oeste. Pro-
curamos resistir, a princípio. Du-
rante 20 minutos, mantivemos a ro-
ta em demanda ao sul. Os motores
do barco, no entanto, fracos demais,
por se tratar de um veleiro, não ti-
veram força suficiente para vencer
o furacão. Em dado momento, o na-
vio, já desgovernado pela fúria da
ventania, dando uma guinada colo-
cou-se a favor do temporal. Não
tentamos recolocá-lo no rumo de-
pois disso — esclareceu o Coman-
dante. Seria arriscadíssimo. Um
perigo maior pairava: se o tempo-
ral mudasse a direção de Sudoeste
para Sudeste, o que é freqüente, se-
ríamos lançados para a terra.
Retorno: o fim andou próximo
Afirmou o Comandante Alcânta-
ra, esclarecendo que mesmo, no
pior da refrega, nem por um mo-
mento passou pela sua mente e da
de sua tripulação que um afunda-
mento pudesse ocorrer. "O
Almi-
rante Saldanha cuja velocidade a
todo motor nunca ultrapassou a 5
nós, fazia, por força da ventania,
para mais de 12, sem que pudésse-
mos contê-lo. Os vagalhões levanta-
dos a 9 metros de altura, varriam
L
142
nosso convés, de popa a proa,
ameaçando carregar tantos quan-
tos se aventurassem a trabalhar
ali, nos setores que necessitavam
continuar em atividade para segu-
rança de todos. Ademais, as ondas
laterais provocavam um jogo que
chegou a 45 graus revirando todo o
interior dos compartimentos."
Mergulho nas ondas e avarias
— "Foram, então, comunicadas
a mim as primeiras avarias, cujo
número se elevaria a muitas deze-
nas e a incidência se prolongaria
durante todo o período em que du-
rou o mau tempo. Partiram-se os
cabos dos mastros. Responsáveis
pela sustentação destes, deixaram-
nos à solta, em maior risco de
partirem-se, o que graças a Deus
não aconteceu — ressalvou. A se-
guir foi a vez da "carangueja"
dos
mastros (armações quase tão vigo-
rosas quanto estes, que ficam colo-
cadas ao cimo, permitindo a enfu-
nação das velas), que caiu estron-
dosamente sobre o convés. Foi um
sem número de outros acidentes,
que culminaram com o pior de to-
dos: infiltração de grande quanti-
dade de água pelo embuchamento
do hélice. Por ali, é comum entrar
alguma água, pois não é possível,
dado ao movimento do eixo, vedar
totalmente. No entanto, como os va-
galhões tiravam, por muitas vezes,
o hélice fora do mar, fazendo-o gi-
rar em seco, e por conseqüência au-
mentando bruscamente a sua rela-
ção, voltando a situação anterior
quando novamente dentro do meio
líquido. Isto feito repetidamente,
prejudicou aquele embuchamento,
obrigando-nos, em pouco tempo, a
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
utilizar, além das bombas normais,
as auxiliares, o que significava que
se tivéssemos outro rompimento,
estaríamos muito mal, pois nãose-
ria possível esgotar todo o navio-
Curva em direção ao Rio
Contou, a seguir, como atingira^1
o Rio: — "Não podendo voltar een-
frentar o mar, e impedidos de con-
trariar o temporal, deixamo-nos le'
var na direção do vento, até apr°'
ximadamente 600 milhas fora oa
costa, esperando que esmorecesse
o tempo. Iniciamos, então, uma
curva de grande amplitude, em d1'
reção ao Rio, a fim de que, mesm0
fustigados pelo vento, entrando nas
áreas de menor intensidade, pudeS'
semos atingir o porto. E realme^t
isso aconteceu. Com uma mudai1*
ça de vento para Oeste, navegam0
nessa direção, mudando-a para No*
roeste novamente, perfazendo ui*1
círculo que nos deixou no Rio de Ja'
neiro."
Culminando o seu relato, contai1'
do que levara para casa, como le1*1'
brança, a flâmula de comando d
3 metros, que ficara reduzida
uma tira de pouco mais de 20 cent
metros, contou-nos o Comandan
Alcântara que o balanço dos ferido
subiu a 21. "Esses,
todavia — esC
receu — não foram graves e, alern
dos riscos, que foram muitos, tive
mos somente uma perna quebra
da" — finalizou.
ALMIRANTE SALDANHA* "
Navio-Escola construído na Ing1
terra, nos estaleiros de Vicke
Armstrong Limited, em BarroW1
Furness. O Contra-Almirante A
naldo S. Pinto da Luz, quando
(*) NR: Notas extraídas do livro "Das Nossas Naus de Ontem aos Submarinos de Hoje", do
Contra-Almirante Lucas Alexandre Boiteux.
A marinha de outrora 143
listro da Marinha, conseguira do
Congresso Nacional os créditos ne-
cessários à construção de um na-
vio-escola, mas, em conseqüência
da revolução de 1930, não alcançou
ver realizado o projeto durante sua
gestão. O novo Governo, a bordo do
Encouraçado São Paulo, a 7 de se-
tembro de 1931, assinou o decreto
autorizando a concorrência para a
aquisição de "um
navio-escola de
conformidade com as especifica-
Ções, planos e mais estudos previa-Ciente organizados". O contrato pa-ra a construção foi assinado a 7 de
Janeiro de 1933, a bordo do Navio-
Auxiliar Vital de Oliveira, sendo na
toesma ocasião imposto ao navio o
lome de Almirante Saldanha. Des-
tinado a viagens de instrução, com
Propulsão a vela e provido de um
Oiotor Diesel auxiliar, a ser contruí-
do de acordo com as necessidades
e exigências dos serviços da mari-
ilha brasileira, como consta das es-
Pecificações, planos e arranjos ge-rais. Dimensões principais: Com-
Primento entre perpendiculares 80
tetros, comprimento total (excluí-
do o gurupés) 90 metros; boca mol-
dada, 13 metros; pontal moldado
(tomado a meia-nau, do compri-
^ento, da parte interna da barra da
Çuilha à parte superior do vão da
tolda na borda), 8,63 m; calado mé-
dio em plena carga, 6,71 m. Rela-
Ções lineares: Deslocamento 3.8001;
velocidade com o motor somente, 11
lós; capacidade total de óleo 3001;
raio de ação com o motor 15.000 mi-
lhas; superfície vélica, 2.600 m2;
Armamento: 4 canhões tiro rápido
Armstrong de 4", montados em re-
Paros duplos; 4 de 47 mm para sal-
vas, 1 metralhadora antiaérea de
*2.7 mm; 1 canhão antiaéreo de 3
Polegadas; um tubo torpédico de
^1", Weymouth; 1 canhão de 75 mm
Para desembarque; 1 metralhado-
ra Hotchkiss de 7 mm. As especifi-
cações definidas são para a cons-
trução e equipamento de um navio
construído de aço, no sistema trans-
versai, tendo uma proa lançada e
popa elítica com mastreação de es-
cuna de 4 mastros, envergando pa-
no redondo no mastro do traquete,
velas latinas quadrangulares, velas
de proa, gaff-tops e velas de estai
dentre mastros. A máquina propul-
sora, à meia-nau, consta de um mo-
tor Diesel a dois tempos, de cerca
1.000 C.V. de potência em todas as
auxiliares necessárias. Paraprodu-
ção de água doce e serviços auxilia-
res tem instalada uma caldeira ci-
líndrica de 200 C.V. com capacida-
de para suprir vapor a uma bomba
de serviço geral, aos destiladores,
etc.
Foi nomeado seu primeiro Co-
mandante o Capitão-de-Fragata
Sylvio de Noronha, a 30 de novem-
bro de 1933, que fiscalizou o final
das obras. O navio foi entregue ao
Governo Brasileiro a 11 de junho de
1934. O seu custo foi de 314.000 li-
bras.
Recebeu o nome de Almirante
Saldanha em honra ao Contra-Al-
mirante Luiz Felippe de Saldanha
da Gama, nascido em Campos, e
morto em combate a 24 de junho de
1895, em Campo Osório, no Rio
Grande do Sul. Oficial de grande fi-
dalguia e preparo técnico profissio-
nal, foi Diretor da Escola Naval,
com grande proveito. Destacou-se
na guerra contra o tirano do Para-
guai e no comando de vários navios.
Representou o Brasil na exposição
continental de Buenos Aires em
1882; no comando da Paraíba fêz
parte da comissão que observou a
passagem de Vênus pelo disco so-
lar, em Punta Arenas, no Estreito
de Magalhães; escreveu vários tra-
balhos e relatórios de muito mérito.
144
A 30 de maio de 1934 embarca-
ram no Rio para a Inglaterra a
guarnição do navio e os guardas-marinha, que deviam fazer a pri-
meira viagem. Eram estes da tur-
ma de 1933, e em número de 40. A
seu bordo foram ainda embarcados
16 segundos-tenentes e 4 acadêmi-
cos civis, 2 de direito e 2 de mediei-
na. Zarpou de Barrow in Furness
para a 1? viagem a 7 de julho; che-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
gou a Portsmouth a 9; daí seguiu
para Cherbourg, na França; partiu
para o Havre, Lisboa, Barcelona,
Spezia, Las Palmas, Fernando de
Noronha, Salvador e Vitória, e fun-
deou no Rio a 24 de outubro, tendo
navegado 8.800 milhas das quais
1.720 a vela. O maior de seus cruzei-
ros foi de 28 dias. Ao chegar foi fran-
queado ao público.
A
Hevista de revistas
COLABORADORES
AE (RRm) Eddy Sampaio Espellet
VA (RRm) Nayrthom Amazonas Coelho
CA (RRm) Odyr Marques Buarque de Gusmão
CMG Ruy Barcellos Capetti
CMG (RRm) Arnaldo de Oliveira Silva
CT Francisco José Ungeher Taborda
CT Alberto de Oliveira Jr.
CT (EN) Maurício Kivielewicz
Estados unidos
ír>ternational Defense Review, v. 18,
U/85, p. 1.745 a 1.752 The Taiwan
Navy _ building to a regional role
L. j. Lamb
Y autor L. J. Lamb é possuidor de
^iversos títulos nas áreas de Direi-
'°. Ensino e Ciência Política, todos
Adquiridos na Universidade de Io-
Estados Unidos. Ele viveu por
anos em Formosa e serviu noExército
americano como conse-lheiro
legal no Grupo Consultivo daAssistência
Militar em Taipé. SeusArtigos
apareceram em várias pu-Reações
profissionais.Como introdução ao assunto
^bordado, o autor expõe o desdo-
j^amento das forças soviéticas no
udeste Asiático — especialmente110
Vietnã —, descrevendo os meiosenvolvidos
e mostrando a ameaça•iUe
os elementos aeronavais repre-Sefltam
para as linhas de comuni-
cação marítimas ocidentais naque-
la região.
É ainda ressaltada a incapacida-
de de os países nessa área — Malá-
sia, Tailândia, Filipinas, etc. — de-
fenderem, sozinhos ou em conjun-
to, suas linhas de comunicação com
os Estados Unidos ou o Japão.
Enfatizando a importância da
China Nacionalista no esquema de
defesa aliado no Extremo Oriente,
o autor descreve os meios navais
existentes, bem como os sistemas
de mísseis ora em implementação.
É descrito também um programa
de expansão da Esquadra, quando
são consideradas a substituição de
unidades antigas por modernas, a
aquisição de meios a fim de aumen-
tar o efetivo da frota e a moderni-
zação das unidades ainda utilizá-
veis.
Com relação ao último tópico cita-
do — modernização de unidades —,
é interessante notar o programa de
atualização dos contratorpedeiros
classes Sumner e Gearing, que pre-
146 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
vê praticamente a reconstruçãodos navios, com a instalação de no-vos sensores e sistemas de armas,especialmente MSA e MSS.
É descrito, por fim, o relaciona-mento em termos de aquisição dearmas Estados Unidos/Formosa,sendo focalizadas as atitudes de ad-ministrações passadas dos EstadosUnidos, que aceitaram pressões daChina Comunista no sentido de res-tringir a venda de armas a Formosa.
Por fim, é novamente enfatizadaa importância de Formosa no tea-tro do Pacífico Oriental, sendo con-siderada catastrófica a neutralida-de da China Nacionalisata numconflito entre União Soviética e Es-tados Unidos e/ou Japão. Para evi-tar esta neutralidade, a administra-ção Reagan vem tentando resgataros erros de administrações anterio-res, restabelecendo a venda de ar-mamentos para Formosa, apesardos enérgicos protestos da ChinaComunista.
International Defense Review, mai.1985The sting takes wing — Miehael J.Gething
O artigo trata do desenvolvimen-to do caça naval F/A-18 Hornet, daMcdonnell Douglas.
A aeronave citada já está em ser-viço na Marinha e no Corpo de Fu-zileiros Navais dos Estados Unidos,nas Forças Armadas canadenses eem processo de aquisição pela Es-panha e Austrália. O avião é, porsuas características, um impactopara o mercado, fazendo com quea previsão realizada, em 1981, pelafábrica — sucesso idêntico ao doPhantom — esteja se tornando rea-lidade.
O autor inicia pela decisão da USNavy, tomada em 1974, de substi-
tuir seus F-4 e A-7pelo então corren-te binômio forte-fraco defendido pe-la USAF, que o materializou ado-tando os F-15 e F-16. A extremidadeforte do binômio era o F-14 Tom Catda Grumman, mas, como não have-ria fundos disponíveis para a ado-ção do F-14 nos números desejados,uma aeronave leve, de múltiplo em-prego, foi concebida. Este avião se-ria a extremidade fraca do bino-mio.
É descrita, então, a concorrênciaque se seguiu, originando a gênesedo F-18, que nada mais é do que aversão naval do YF-17 áa Northrop,que havia perdido a concorrênciada USAF para uma aeronave leve-
A Northrop permaneceu detento-ra dos direitos de produção da ver-são terrestre — então chamada deF-18-L —, a qual, entretanto, não en-controu mercado. As versões expor-tadas eram, praticamente, identi-cas às versões navais.
É analisado, em seguida, o de-senvolvimento do F-18 a partir doYF-17, chamando a atenção, espe-cialmente, para a adoção de turbi-nas F404-GE-40 (duas), do radarAPG-65 e da introdução de modifi'cações para permitir a adoção deum envelope de pouso a bordo mai*3conveniente, bem como reforços es-truturais para resistir a tais pousos.
Também é focalizada a adoça°de um sistema de vôo F2Y-BY-WI-RE, mostrando as dificuldades de-tectadas no desenvolvimento, ao salterarem as características de voda aeronave.
Posteriormente é descrito o sis-tema de armas do avião — o fervado besouro —, sendo listados arma"mentos e sensores, bem como con-figurações mais prováveis combus-tível x armamento.
Também é citado, na seção "Ar'mamento", o equipamento de guer'
Revista de revistas 147
ra eletrônica utilizado.
O autor descreve, então, as varia-
Ções surgidas do F-18, citando, in-
clusive, a idéia inicial de se desen-
volver duas versões diferentes —
&-18 e A-18 — para substituírem o
P-4 e o A-7. O conceito não foi vito-
rioso. Desenvolveu-se um avião de
Múltiplo emprego — caça e ataque— sendo produzido, apenas, peque-no número de versões especializa-
da.s, como fotorreconhecimento,
treinamento, etc.
Concluindo, o autor descreve o
^•18 como uma aeronave de múlti-
Pio emprego, confiável, que desem-
Penha, soberbamente, suas tarefas
de caça e ataque, tanto na defensi-
va como na ofensiva.
Holanda
Naval Forces, v. VI, n? V/85, p. 54
^he re-emergence of the corvette —
Capitão-de-Mar-e-Guerra A. H.
Lind
O Comandante Lind ingressou
na Escola Naval em 1949, sendo no-
meado oficial em 1952. Sua especia-lidade
é a guerra anti-submarino,tendo
servido a bordo de fragatase contratorpedeiros. Após cursar aEGN em 1970, o CMG Lind assumiu
as funções de oficial de Estado-^íaior
para Assuntos Estratégicose Nucleares no EMFA holandês.
1981, ele se tornou membro doCentro de Estudos de Defesa e, des-^e 1983, desempenha as funções deVice-Diretor
do Instituto Holandêsde Relações Internacionais.
O artigo trata do reaparecimen-t° das corvetas no panorama naval,
motivado, segundo o autor, pelo au-mento substancial dos custos deconstrução
e, sobretudo, de manu-tenção
das fragatas modernas.
O autor sugere que, apesar de o po-
der combatente das fragatas atuais
ter sido grandemente aumentado,
o decréscimo no número de unida-
des em serviço traria sérios proble-
mas — na eventualidade de um con-
flito de dimensões mundiais — pa-
ra a manutenção das linhas de co-
municação marítimas abertas ao
tráfego aliado.
Mais adiante são analisadas as
características julgadas necessá-
rias às fragatas para o desempenho
das suas funções na guerra moder-
na. São enfatizadas a capacidade
de combate nas três dimensões, a
grande autonomia, as boas condi-
ções de habitabilidade e as excelen-
tes qualidades marinheiras.
É, portanto, de se concluir que
um navio desse porte teria um eus-
to tal, que as perdas numa guerra
de atrito — escolta de comboios —
seriam proibitivas e igualmente di-
fíeil a reposição dessas unidades
em termos de tempo de construção.
Reportando-se à Segunda Guer-
ra Mundial, o autor faz uma breve
comparação entre as característi-
cas das corvetas empregadas na-
quela época e as requeridas aos na-
vios que participassem de um con-
flito atual.
Analisando as tarefas de tempo
de paz das Marinhas — principal-
mente a patrulha de águas territo-
riais contra intrusos de superfície
e/ou submarinos — é demonstrado
que, apesar de as fragatas poderem
desempenhar taferas de patrulha,
as corvetas seriam, mais uma vez,
a opção mais econômica.
A habilidade de combinar baixo
custo de construção e manutenção,
a possibilidade de emprego econô-
mico como navio-patrulha e gran-
de poder de fogo, possibilitado pe-
los armamentos modernos, torna-
riam as corvetas especialmente
adequadas para preencher os re-
148 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
quisitos da grande maioria das Ma-
rinhas do chamado Terceiro Mun-
do.
São, então, definidas as missões
de uma corveta moderna, tanto em
tempo de paz quanto em tempo de
guerra, destacando-se o seu empre-
go como navio de patrulha e de es-
coita.
Com base neste estudo, são, en-
tão, lançadas as linhas básicas do
desenho das novas corvetas, sendo
analisados aspectos como as carac-
terísticas gerais, autonomia, capa-
cidade de C3 (Comando, Controle e
Comunicação), guerra A/S, trans-
porte de MSS e MSA, artilharia,
propulsão e guerra eletrônica.
Finalmente, o autor chama a
atenção novamente para o proble-
ma da reposição das perdas de fra-
gatas em tempo de guerra e para
a impossibilidade de se manterem
abertas as linhas de comunicação
principalmente Estados Unidos
Europa, no caso da OTAN — com
o número de navios disponível na
maioria das Marinhas ocidentais.
O propósito das novas corvetas,
deslocando entre 800 e 1.5001 seria,
então, em tempo de paz, patrulhar
as águas territoriais e, em tempo
de guerra, reforçar as Marinhas —
especialmente as da OTAN — com
um número adicional de escoltas
para emprego, principalmente, em
pontos focais.
É citado, ainda, que foi introdu-
zido grande número de corvetas de
múltiplo emprego em Marinhas
não-ocidentais, sem uma contra-
partida nem mesmo projetada na
maioria das Marinhas da OTAN.
INGLATERRA
The Mariner's Mirror, v. 71, n? 2, p.
129-151: mai. 1985
The Isis of Ptolomy — Lucien
Basch
O artigo trata de uma descober-
ta, por arqueólogos soviéticos, em
1982, na Cidade de Nymphaeum, no
Mar Negro, em uma escavação, de
um afresco, com 15 m2de área, da-
tando do século III a. C., onde apa-
rece um barco a remo, medindo
l,20m de comprimento, com o nome
ísis inscrito na proa. Possivelmen-
te, uma trirreme.
Tece considerações, com rique-
za de detalhes, sobre os barcos e
descreve-os apoiado em desenhos
dos gregos, fenícios, romanos e
egípcios.
O autor conclui que se trata de
uma galera com três ordens de re-
mos, que não corresponde a ne-
nhum outro tipo de barco conheci-
do e que, pela sua superestrutura,
não pode ser classificado como trir-
reme; porém, afirma ser uma em-
barcação egípcia do tempo de Pt°*
lomeu, sendo provável que tranpor-
tava uma delegação de dignitários
egípcios em visita à Ásia Menor.
The Mariner's Mirror, v.71, n? 2, P-
167: Mai. 1985
The boatswain's call: an updatmg
— Peter Whitlock
Trata-se de uma nota em que se
mostra a origem do nosso conheci-
do apito de contramestre.
O apito de manobra era, antiga"
mente, o símbolo de autoridade-
Possivelmente, teve origem em
uma flauta (ou flautim) usada nas
galeras do Mediterrâneo, nos dias
do Império Grego.
A flauta determinava o ritmo das
remadas.
O apito já era utilizado pelos in'
gleses em 1248.
Recentemente foram encontra-
dos quatro apitos no Navio ÜLaXy
Rose, capitânia da esquadra de
Henrique VIII.
Sabe-se que, em 1485, o Lorde
Grande Almirante da Inglaterra.
Revista de revistas 149
na pessoa do Conde de Oxford, John
de Vere, usava o apito como símbo-
lo de sua autoridade.
Há vários retratos de almirantes
ingleses, no século XV, usando o
apito. Além dos ingleses, também
os portugueses o utilizavam.
Shakespeare, na sua peça A tem-
Pestade, refere-se ao mestre fazen-
do uso do apito em manobras no
meio de uma tempestade.
ITÁLIA
Rivista Marittima. Roma, 118 (11):41, nov. 1985
^regate nato e sovietiche a confron-
to — S. Tenente di Vascello (GN)Domenico Scala
No curso da história da constru-
Ção naval militar, podemos ressal-
tar diversos tipos de navios que
^arcaram sua época. Viveu-se aePoca de ouro dos encouraçados,
dos cruzadores de batalha, dos
Porta-aviões e, atualmente, vive-
«ios a era das fragatas.
Unidade dotada de motor a die-Sel, inicialmente destinada à caça
anti-submarino, sofreu verdadeirarevolução no campo da construçãonaval militar com o embarque dehelicóptero e a adoção de turbina a
gás.
Atualmente, as fragatas são uni-dades
polivalentes, muito bem ba-lanceadas,
com múltiplos objeti-v°s: do bombardeiro costeiro à de-lesa antiaérea de zona, da caçaanti-submarino ao engajamento alonga
distância com mísseissuperfície-superfície
e com o heli-cóptero
utilizado como radar.
Particularmente interessante é oernprego,
por parte das Marinhasocidentais,
da fragata para escoltade comboios,
principalmente na ro-"¦a do Atlântico Norte.
É importante notar que os sovié-'icos
não embarcam helicópteros
devido a uma concepção doutriná-
ria diferente da ocidental.
A turbina a gás deu a este tipo de
navio agilidade e potência. Uma
turbina a gás é leve, pouco proble-
mática, desenvolve enorme potên-
cia, silenciosa, pronta para o uso
em minutos e é facilmente automa-
tizada.
Realizações ocidentais e soviéticas
Recentemente, entrou em servi-
ço, nas Marinhas de todo o mundo,
elevado número de fragatas. Se
compararmos as diversas classes
enumeradas abaixo, poderemos
chegar, após uma análise, aos re-
sultados a seguir apontados.
- EUA: OliverHazard Perry (cias-
se);
- Canadá: PFC (classe);
- França: GeorgesLeygues (cias-
se);
- Holanda: Kortenaer (classe);
- Alemanha Ocidental: Bremen
(classe);
- Inglaterra: Sheffield (classe);
- Itália: Maestrale (classe);
- URSS: Krivak I e II.
A fragata de emprego mais fie-
xível é a da classe O. H. Perry, não
pesadamente armada, mas em
grau de ser auto-suficiente e de dar
adequada proteção. O seu compo-
nente antiaéreo e anti-submarino é
particularmente acentuado. O pri-
meiro, sobretudo, é importante em
uma época em que os meios aéreos
não têm necessidade de aproximar-
se dos navios para lançar seus mis-
seis. O deslocamento dessas unida-
des é de tal monta, que permite sua
tranqüilidade com qualquer estado
de mar que se apresente, porém
com limitações inaceitáveis para a
maior parte dos países europeus: a
presença de um único hélice, a falta
de proteção NBQ, a inadequabilida-
150 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
de ao bombardeio costeiro e ao en-gajamento de tiro naval, devidas àparticular concepção operativadesses navios, criados para opera-rem nos oceanos e voltados parauma política de âmbito mundial,que requer um número elevado deunidades e, portanto, a custo menor.
Atualmente está em estudo oprojeto de uma unidade chamadafragata-padrão OTAN, para os anos90. Tal realização é um desafio im-perativo que deve ser enfrentadopelas numerosas e indubitáveisvantagens que trazem, principal-mente pela troca de idéias e conhe-cimento.Rivista Marittima. Roma, 118 (12):17, dez. 1985I missil antinave sovietici — Tenen-te di Vascello (AN) Massimo Anna-ti
A Marinha soviética foi a primei-ra a dotar-se de grande número demísseis antinavio. Há 50 anos, adoutrina naval soviética está orien-tada para a máxima: "destruiçãode toda unidade naval potencial-mente inimiga que possa aproxi-mar-se à distância de ameaça à se-gurança continental da mãe-pátria".
Tal conceito represente, na rea-lidade, uma profunda evolução. Ini-cialmente, era prevista a criaçãode uma força naval essencialmen-te destinada a missões contra for-ças anfíbias de invasão ou em áreasde navegação restrita, combinan-do-se unidades velozes de superfí-cie com meios aéreos e submarinos.
A partir dos anos 50 se passou pa-
ra uma caracterização oceânica damissão, incluindo-se um inimigoconsiderado perigoso para a pátriasovié tiva, qual seja: o porta-aviões.Datam deste período a entrada emserviço de mísseis dotados de po-tentes ogivas, convencionais ou nu-cleares, e o emprego dos grupos-tarefas.
Característica fundamental dasforças soviéticas é a centralizaçãodas funções de comando, controlee informações, o que, por outro la-do, facilita a utilização simultâneae coordenada de todas as forças aé-reas, navais e submarinas, contraum só objetivo, conseguindo-se asaturação das defesas adversárias.Na verdade, uma tática derivadada guerrilha, que consiste em em-pregar, num curto espaço de tem-po e espaço, uma superioridade defogo, utilizando-se, o máximo, o fa-tor surpresa.
Por ter mudado o papel das For-ças Navais soviéticas, a missão pri'mária é sempre baseada no empre-go maciço e simultâneo de toda for-ça por um desfecho decisivo.
Diferença entre os mísseis soviéti-cos e ocidentais
Observando rapidamente algu-mas diferenças, podemos mencio-nar alguns parâmetros na tabelaabaixo, onde são comparados osmísseis ocidentais Harpoon e Tèseocom o seu similar soviético SS-N-9-
Considerando a densidade domíssil como a razão entre o seu pe-
MÍSSEIS DIMENSÕES PESO ALCANCE VEL (Mach)(m) (kg) (km)
SS-N-9 9.2 xO.66 3.000 118 0.9Harpoon 4.58 x 0.34 667 120 0.9Teseo 4.46 x 0.40 770 180 0.9
Revista de revistas 151
so e volume, veremos que os mis-seis ocidentais apresentam valores
entre 1.400 e 1.600kg/m3, e os mis-
seis soviéticos possuem um valor
entre 800 e 950kg/m3. Isto é, indis-
cutivelmente, ligado a fatores tec-
nológicos: a eletrônica está poucodesenvolvida, dado que são neces-
sários grandes volumes para con-
ter circuitos, ou seja, existe baixa
escala de integração e necessidade
de grandes motores para o trans-
Porte da grande massa de equipa-
bentos eletrônicos e igualmente
Pesada ogiva.
Outro elemento que nos chama a
atenção é o maior peso (e, portan-to, maior potência) da ogiva de
combate por parte dos mísseis so-
viéticos. Recordemos, por exemplo,
que, na guerra do Kippur, um mis-sil israelense tipo Gabriel, ogiva de
180kg, atingiu uma lancha classe
Osa sem afundá-la; por outro lado,
°L,'Eilath, em 67, e oIlKhaibar, em
foram afundados por mísseis
SS-N-2 Styx de ogiva de 410kg.
SUÍÇA
International Defence Review, v.!8, n? 8/85, p. 1.275-1.294.
Naval propulsion (Special Editorial
fature)
Trata-se de artigos, escritos porvários autores, sobre propulsão,c°m ênfase nas turbinas a gás. As-sim, Geoffrey Wood fala do futuro
da turbina a gás.Há 17 anos, o HMS Exmouth foi
Para o mar com a propulsão exclu-sivamente com turbinas a gás. Des-de então, no mundo ocidental, so-
^ente se desenvolveram duas tur-binas a gás: a Olympus da Rolls-
ftoyce e a LM 2500 da General Elec-tric, ambas para cerca de 26.000S-H.P., além de uma da Pratt &
^hitney, a FT4AZ, instalada nos
destróieres canadenses da classe
Tribal. Na faixa de 5.600 H.P., a Ge-
neral Electric e a Allison, da Sué-
cia, também desenvolveram turbi-
nas a gás. Os japoneses instalaram
nos seus rtavios da classe Hatsuyu-
ki a RR Spey, para 18.000 H.P.
O autor chama a atenção para a
grande sensibilidade quanto à qua-lidade do combustível, requerendo
a sua passagem por separadores
centrífugos e dois estágios de fil-
tros, antes de ser admitido na tur-
bina.
Na campanha das Falklands foi
notado o bloqueio dos filtros do se-
gundo estágio de combustível, com
apenas algumas horas de funciona-
mento.
' Nesta época de alto custo do
combustível, a ineficiência das tur-
binas a gás, com seu enorme des-
perdício de calor, é um assunto
preocupante. Assim, o sistema RA-
CER, em desenvolvimento pela fir-
ma Solar Turbines, está sendo con-
siderado para os últimos destróie-
res da classe Arleigh Burke, como
se verá a seguir.
Gás turbines and RACER
One way of reducing the fuel bill —
Keith Wilson
Tendo em vista os destróieres da
classe Arleigh Burke, a Solar Tur-
bines International produziu um
sistema denomidado RACER
(Rankin Cycle Energy Recovery),
que fornece vapor superaquecido
para uma turbina ligada ao eixo de
propulsão via engrenagem síncro-
na, conseguindo, também, reduzir
consideravelmente a assinatura in-
fravermelho do navio. O autor dá
detalhes do sistema, bem como um
gráfico.
Os construtores esperam, com
esse sistema, economizar 33% de
152 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
combustível, a uma velocidade mé-dia de 20 nós. Por outro lado, o RA-CER aumentará a potência da tur-bina a gás LM 2500 em 35% na ve-locidade máxima e 50% na de cru-zeiro.
O RACER é inteiramente auto-mático, com controle por micro-computadores, os seus testes foraminciados, em 1984, em terra e, nomomento, está sendo instalado nocargueiro, em construção, WilliamM. Callaghan, para o Military SeaLift Command, para o teste defini-tivo.
Propulsion installations for aircraftcarriersNavio-aeródromo francês
A França deve iniciar, este ano,a construção de um navio-aeródromo para substituir osatuais Foch e Clémenceau. O navioterá 34.600t de deslocamento e ve-locidade acima de 27 nós, transpor-tando qualquer tipo de aeronave, in-clusive o AEW Hawkeye. A sua pro-pulsão será nuclear, com dois rea-tores de água pressurizada e doiseixos, devendo entrar em serviçoem 1996. O projeto prevê, no futuro,a instalação de uma rampa de lan-çamento para aviões V/STOL.
Navio-aeródromo italianoO Garibaldi tem 13.400t de deslo-
camento e a sua propulsão possuia configuração COGOG, com qua-tro turbinas a gás GE/FIAT LM2500, em dois eixos, permitindouma velocidade acima de 30 nós.
A instalação de máquinas dessenavio tem uma particularidade,que é a adoção, pela primeira vez,de um acoplamento hidráulico re-versível, ao invés de uma engrena-gem redutora, para mudar a dire-ção de movimento dos hélices. Es-se sistema foi desenvolvido porFranco Tbsi e possui eficiência ope-rativa de 85% adiante e 52% atrás.O navio já está em operação.
Navio-aeródromo espanholCom 15.000t de deslocamento, o
Príncipe de Astúrias está em fasede acabamento no Estaleiro Bazan.em El Ferrol. Possui apenas um ei-xo, com velocidade máxima de 2&nós. A sua propulsão é produzidapor duas turbinas a gás LM 2500,numa configuração COGOG, comhelice de passo variável de 6,10m dediâmetro, com emissão de ar nasextremidades de suas pás, produzi-da por compressores que compri'mem o ar por dentro do eixo. É °maior helice de passo variável ins-talado em um navio. O sistema depropulsão pode ser controlado dopassadiço.
Como segurança, para cobrir osriscos de uma instalação com ape*nas um eixo, mesmo com duas tur*binas, o Príncipe de Astúrias teráduas unidades propulsoras auxilia*res Plenger. Cada uma delas com*preende um helice de quatro pás re-trátil, propulsado por motor elétri-co assíncrono de 800 H.P., permitin*do ao navio uma velocidade de 4/*nós, com mar 4.
noticiário marítimo
O "Noticiário
Marítimo" da Revista Marítima
Brasileira, uma publicação trimestral, reveste-se de
características próprias que justificam um esclare-
cimento quanto à sua finalidade. Destina-se preci-
puamente a:
a) divulgar os eventos considerados de maior
importância vividos pelas diversas OMs, dando aos
leitores uma visão panorâmica nacional da Marinha;
b) dar aos oficiais reformados e da reserva, in-
formações sobre a Marinha que tanto amaram e que
a ela dedicaram um grande número de anos de sua
existência;
c) permitir aos estudiosos do futuro que, pesqui-
sandoo "Noticiário
Marítimo", possam visualizar co-
mo era a Marinha de épocas passadas.
A Revista Marítima Brasileira solicita aos Se-
nhores Comandantes, Diretores e Encarregados que
enviem para a Rua Dom Manuel, 15, notas datilogra-
fadas descrevendo os principais eventos ocorridos em
suas OMs e comentando a importância dos mesmos.
Tais eventos podem ser: exercícios, operações, for-
maturas de término de curso, comemorações (data
de criação da OM, de Corpo, etc.), e, se possível, ilus-
tradas com fotografias em preto e branco ou slide.
A Direção da RMB agradece antecipadamente
a atenção dispensada com a certeza de que seu ape-
lo foi entendido e será plenamente atendido.
154
PENTATLO MILITAR - Reali-
zou-se no Rio de Janeiro, no perío-
do de 22 a 26 de outubro, em depen-
dências da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, o XXXIII Campeo-
nato de Pentatlo Militar do CISM.
O Pentatlo, composto de provas
de tiro, pista de obstáculos, natação
utilitária, lançamento de granada
e corrida através de campo, foi dis-
putado por 15 países. O Brasil, mais
uma vez, tornou-se campeão, com
o total de 21.395 pontos; em 2? lugar,
a China, com 21.105 pontos, e em 3?
lugar, a Argentina, com 21.054 pon-
tos. O CB-FN-EG Venino e o SD-FN
Maurílio fizeram parte da equipe
vencedora, tendo ambos alcança-
do, na classificação individual, res-
pectivamente, o 4? e o 6? lugares.
RESGATE DA CARGA ÚTIL DO
FOGUETE SONDA IV- A Corve-
ta Fòrte de Coimbra suspendeu da
Base Almirante Ary Parreiras dia 18
de novembro de 1985, com a missão
de executar o resgate da carga útil
do foguete, que seria lançado da
Barreira do Inferno, com ponto de
impacto previsto para 130 milhas
de Natal, na marcação de 100? em
apoio à Campanha São José dos
Campos, que consiste em uma sé-
rie de operações conjuntas realiza-
das pelo Centro de Lançamento de
Barreira do Inferno (CLBI), pelo
Instituto de Atividades Espaciais
(IAE), pelo Air Force Geophisics
Laboratory (AFGL) e pelo Deutsche
Fbrschungs-und Versuchsanstalt Fbr
Luft — Ind Rauhfahrt (DFVLR), vi-
sando ao lançamento do segundo pro-
tótipo do sistema veículo Sonda IV,
pelo qual o Brasil chegará ao veí-
culo lançador de satélites (VLS).
No dia 12 do mesmo mês, o co-
mandante da corveta e um oficial
do Grupamento Naval do Nordeste
compareceram a um brieffing da
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
operação no CLBI, quando foram
discutidos os aspectos mais impor-
tantes da faina de resgate e enfati-
zado o funcionamento do sistema
de recuperação, de origem ameri-
cana, e que pela primeira vez esta-
va sendo testado pelo Centro Tecno-
lógico Aeroespacial (CTA). Nos
lançamentos anteriores haviam si-
do empregados dispositivos desen-
volvidos pelo próprio CTA.
De acordo com o plano de opera-
ções do CLBI, no trecho descenden-
te da trajetória do foguete, quando
a carga atingisse 4.300m, seria ini-
ciada a seqüência da operação com
a ejeção do pára-quedas extrator.
Este, por sua vez, extrairia o pára-
-quedas principal, que, com sua aber-
tura total, acionaria o dispositivo
de inflar a bóia de flutuação. Após
o impacto no mar, seriam ativados
os dispositivos de auxílio à localiza-
ção, compostos de um marcador de
mar na cor verde fluorescente,
duas luzes estrobo e um rádio sina-
lizador.
A missão da corveta consistia
em, após posicionada próxima ao
ponto de impacto, informar as con-
dições meteorológicas da área e,
com o auxílio das aeronaves, encon-
trar e resgatar a carga útil, pára-
-quedas e a bóia de sustentação do
conjunto.
Logo após o lançamento do f°"
guete, a corveta foi informada de
que a carga útil havia caído um
pouco afastada do local inicial meu-
te previsto. A bóia foi localizada
através das suas luzes, ficando api-0'
vado o sistema de sinalização do
conjunto, que permitiu a sua loca-
lização, durante o dia, pelas aero-
naves e, durante a noite, pela cor-
veta.
VIAGEM DE APOIO AO INSTI*
TUTO RIO BRANCO - Em contl-
noticiário marítimo 155
nuação ao programa de formação
dos alunos do 2? ano do Curso de
Preparação à Carreira de Diplo-
mata do Instituto Rio Branco, reali-
zou-se no mês de novembro, pelo
terceiro ano consecutivo, a viagem
de estudos à Amazônia, com a par-
ticipação de quatro navios-patrulha
fluviais.
No dia 21 de novembro próximo
passado suspenderam de Manaus
os Navios-Patrulha Fluviais Ama-
pá, Roraima, Rondônia e Raposo
Tavares, tendo a bordo 29 alunos
daquele Instituto — sendo que três
deles de países amigos (Gana, Tan-
zânia e Gabão).
Foram visitados os Portos de
Santarém, Munguba (no Projeto
Jari) e Belém. Ao longo do roteiro,
realizou-se assistência médico-odon-
tológica à população ribeirinha da
localidade de Jarilândia, no Rio Ja-
ri.
A viagem teve como propósito
maior servir como conhecimento
da imensa região amazônica aos
hossos futuros diplomatas; como
não poderia deixar de ser, prestou-
•se sobremaneira ao correto e amis-
toso convívio que puderam desfru-
tar os homens das tripulações com
°s alunos daquele Instituto, podendoestes últimos observar o trabalho
^ue a Marinha realiza na região.
Ao término da estadia a bordo, no
dia 28 de novembro, em Belém, aque-
tes alunos constataram o quanto a
farinha pôde colaborar na sua for-
mação, no sentido de proporcionar--lhes
uma visão mais acurada dos
Problemas peculiares da região
amazônica.
COLEGIAIS DE SALVADOR FA-
ZEM VIAGEM EM NAVIO DA MA-
^INHA — Como parte das come-
Corações do Dia do Marinheiro, a
Cor veta Purus suspendeu da Base
Naval de Aratu, no dia 11 de dezem-
bro, com um grupo de 130 colegiais,
a fim de lhes proporcionar um con-
tato com um navio de nossa Marinha.
Durante o passeio pela Baía de
Todos os Santos foram designados
alguns oficiais e praças para mos-
trarem o navio, em especial o pas-
sadiço, o camarim de navegação e
a praça de máquinas. As crianças
demonstravam, a todo momento, o
maior interesse em saber o porquê
das coisas.
O evento foi de grande importân-
cia, pois despertou nos estudantes
o interesse pela vida do homem do
mar e constituiu-se em um incenti-
vo aos jovens na escolha da carrei-
ra naval. A boa impressão deixada
pela Marinha, transmitida a pais e
parentes, justificou plenamente o
trabalho de relações públicas nes-
te tipo de atividade.
ASSUNÇÃO DE CARGO - No
primeiro trimestre do corrente ano
ocorreram as seguintes assunções
de cargo de oficiais-generais: —
Subchefia de Apoio Logístico do Co-
mando de Operações Navais —
Contra-Almirante Paulo Cezar de
Aguiar Adrião, dia 24 de janeiro;
Estado-Maior da Armada (Sub-
chefia de Estratégia) — Contra-
-Almirante José Ribamar Miranda
Dias, dia 30 de janeiro;Subcomandante do Corpo de Fu-
zileiros Navais — Contra-Almirante
(FN) Fernando do Nascimento, dia
4 de fevereiro;
Diretor do Serviço de Auditoria
da Marinha — Contra-Almirante
(IM) Jair Marques Pimentel, dia 4
de fevereiro;
Comando da Força Aeronaval —
Contra-Almirante Pedro Steenha-
gen Filho, dia 4 de fevereiro;
De Assistente da Marinha na Es-
cola Superior de Guerra — Contra-
156
-Almirante Paulo Ronaldo Dalde-
gan Moreira, dia 6 de fevereiro;
Diretor do Centro de Controle de
Estoque da Marinha — Contra-Al-
mirante (IM) Antônio Carlos
Amendoeira, dia 6 de fevereiro;
Diretor do Hospital Central da
Marinha — Contra-Almirante
(MD) Hadoram Calazans, dia21 de
fevereiro;
Subchefe de Finanças do Estado-
-Maior das Forças Armadas — Con-
tra-Almirante (IM) Ney Salvador
Dias, dia 20 de fevereiro;
—Coordenador de Área Marítima
do Atlântico Sul — Buenos Aires —
Contra-Almirante Lysias Ruland
Kerr, dia 27 de fevereiro;
Comando do Controle Naval do
Tráfego Marítimo e Coordenador
da Área Marítima do Atlântico Sul
(CAMAS) — Contra-Almirante
(ARA) Geraldo Alão de Queiroz,
dia 26 de fevereiro;
Presidência da Comissão Naval
em São Paulo — Contra-Almirante
Mauro César Rodrigues Pereira,
dia 26 de fevereiro;
Subchefia de Avaliação e Contro-
le do EMA — Contra-Almirante
Sérgio Tasso Vasques de Aquino,
dia 28 de fevereiro;
Comandante do Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha —
Contra-Almirante Arnaldo Leite
Pereira, dia 3 de março;
Chefia do Estado-Maior da Es-
quadra — Contra-Almirante José
Júlio Pedrosa, dia 6 de março;
Comando da Força de Fragatas
Contra-Almirante Sérgio Alves
Lima, dia 7 de março.
ANIVERSÁRIO DO CFN - Por
ocasião do transcurso do aniversá-
rio do CFN, ocorrido a 3 de março,
o Exm? Sr. Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almi-
rante-de-Esquadra (FN) Carlos de
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Albuquerque, baixou Ordem do Dia
alusiva, da qual publicamos tre-
chos:"Na
oportunidade em que come-
moramos o 178? aniversário do Cor-
po de Fuzileiros Navais, com data
definida no fato histórico da chega-
da ao Rio de Janeiro, em 1808, dos
Soldados Marinheiros que então
proviam a proteção à Corte de Por-
tugal em sua transmigração para
o Brasil, é com muito júbilo e justi-
ficado orgulho que promovemos a
devida celebração desse evento que
tanto prezamos pela realização das
festividades alusivas.""Contudo,
é importante que em
nossas consciências reconheçamos
que a simples evocação de tais fei-
tos, contida apenas em palavras,
não constitui suficiente culto àque-
les que nos legaram a organização
à qual temos o orgulho e o privilé-
gio de pertencer.
O verdadeiro conteúdo de nosso
preito de gratidão, respeito e agra-
decimento deve residir, em verda-
de, na nossa crença em bem servir
à Marinha, pelo empenho e dedica-
ção desinteressada, sobretudo na
medida em que nos aplicamos coro
toda a nossa potencialidade.""Fuzileiros
Navais, assim com0
a própria Nação brasileira, a nos-
sa Marinha requer a participação
consciente de seus homens, espe-
cialmente pelo momento histórico
em que vivemos. O Corpo de Fuzi'
leiros Navais, no presente momen-
to, começa uma nova etapa de sua
evolução, ao dar início a um subs-
tancial programa de aquisição de
novos meios de elevado custo e ele-
vado grau de sofisticação. Uma fl°'
va perspectiva, portanto, se apre*
senta diante de nós e que se consti-
tui natural motivo de grande cofl-
tentamento. É nosso dever, pois'
bem justificarmos tal conquista-
noticiário marítimo 157
pelo devido trato desse material epelo nosso bom preparo para o seucorreto emprego. A boa consecuçãodessa nova fase que ora se inicia de-penderá, unicamente, do empenhode nossa capacidade. E a capacida-de profissional de cada um não pro-
duzirá os frutos esperados se amesma não repousar sobre o mili-tar cidadão, convicto do seu amorà Pátria e à sua corporação, e for-jado segundo os valores da hierar-quia, disciplina, lealdade e espíri-to de corpo."
MINISTÉRIO DA MARINHA - SDGM
PUBLICAÇÕES À VENDA
História Naval Brasileira
1? Vol. - Tomos I e II preço Cz$ 38,00
2? Vol. — Tomo II preço Cz$ 45,60
5? Vol. — Tbrno II preço Cz$ 48,00
Arte Naval preço Cz$ 57,00
O Rio de Janeiro e a Defesa de Seu Porto preço Cz$ 14,50
A Bahia e Seus Veleiros preço Cz$ 6,10
A Reconciliação do Brasil com o Mar preço Cz$ 6,10
Panorama do Poder Marítimo Brasileiro preço Cz$ 6,10
Carta — Anônimo — Antônio Sanches preço Cz$ 4,20
Campanha Cisplatina (gravuras) preço Cz$ 5,00
Gravuras Coloridas (un.) preço Cz$ 1,20
Relíquias Navais preço Cz$ 95,00
Estórias Navais preço Cz$ 20,00
Medalhas e Condecorações preço Cz$ 76,00
Marquês de Tamandaré (Biografia) preço Cz$ 22,80
Nossos Submarinos preço Cz$ 15,00
História do Brasil preço Cz$ 10,00
História Geral do Ocidente preço Cz$ 15,00
Delineamentos da Estratégia preço Cz$ 10,30
História Marítima preço Cz$ 5,00
4 Séculos de Lutas na Baía do Rio de Janeiro preço Cz$ 5,00
Dic. de Termos Náuticos Inglês/Português — Vol. preço Cz$ 11,80
Revista Marítima Brasileira
Assinatura (Brasil) preço Cz$ 36,00
Assinatura (exterior) preço US$ 12
Número avulso (Brasil) preço Cz$ 10,00
Número avulso (exterior) preço US$ 4
Revista Navigator (n? avulso) preço Cz$ 3,80
Coleção JaceguayVol. 1 (A Marinha D'Outrora) preço Cz$ 14,90
Vol. 2 (Patescas e Marambaias) preço Cz$ 5,00
Vol. 3 (Conselhos aos Jovens Officiaes) preço Cz$ 5,00
Vol. 4 (Reminiscências da Guerra do Paraguai) preço Cz$ 8,40
Vol. 5 (Efemérides Navais) preço Ct% 22,50
Vol. 6 (Luvas e Punhais) preço Cz$ 7,80
Vol. 7 (De Aspirante a Almirante) preço Cz$ 72,00
Vol. 8 (A Marinha do Meu Tempo) preço Cz$ 15,70
Vol. 12 (14 Meses na Pasta da Marinha) preço Cz$ 14,90
Vol. 13 (Gíria Maruja) preço Cz$ 5,00
Carrancas do São Francisco preço Cz$ 15,00
A Marinha do Brasil na 1? Guerra Mundial preço Cz$ 9,20
A Marinha do Brasil na 2? Guerra Mundial preço Cz$ 14,50
As Grandes Guerras da História preço Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Atlântico preço Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Pacífico preço Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Mediterrâneo preço Cz$ 14,50
O Mar Morrente (versos) preço Cz$ 10,00
Os preços acima são para o pessoal da MB. Ao público em geral será cobrada uma pequena sobretaxa.
MINISTERIO DA MARINHA - SDGM
PUBLICAgOES A VENDA
Historia Naval Brasileira
1? Vol. - Tomos I e II prego Cz$ 38,00
2? Vol. — Tomo II prego Cz$ 45,60
5? Vol. — Tamo II prego Cz$ 48,00
Arte Naval prego Cz$ 57,00
O Rio de Janeiro e a Defesa de Seu Porto prego Cz$ 14,50
A Bahia e Seus Veleiros prego Cz$ 6,10
A RecOnciliagao do Brasil com o Mar prego Cz$ 6,10
Panorama do Poder Maritimo Brasileiro prego Cz$ 6,10
Carta — Anonimo — Antonio Sanches prego Cz$ 4,20
Campanha Cisplatina (gravuras) prego Cz$ 5,00
Gravuras Coloridas (un.) prego Cz$ 1,20
Reliquias Navais prego Cz$ 95,00
Estorias Navais prego Cz$ 20,00
Medalhas e Condecoragoes prego Cz$ 76,00
Marques de Tamandare (Biografia) prego Cz$ 22,80
Nossos Submarinos prego Cz$ 15,00
Historia do Brasil prego Cz$ 10,00
Hist6ria Geral do Ocidente prego Cz$ 15,00
Delineamentos da Estrategia prego Cz$ 10,30
Hist6ria Maritima prego Cz$ 5,00
4 Seculos de Lutas na Baia do Rio de Janeiro prego Cz$ 5,00
Die. de Termos N&uticos Ingles/Portugues — Vol. prego Cz$ 11,80
Revista Maritima Brasileira
Assinatura (Brasil) prego Cz$ 36,00
Assinatura (exterior) prego US$ 12
Numero avulso (Brasil) prego Cz$ 10,00
Numero avulso (exterior) prego US$ 4
Revista Navigator (n? avulso) prego Cz$ 3,80
Colegao JaceguayVol. 1 (A Marinha D'Outrora) prego Cz$ 14,90
Vol. 2 (Patescas e Marambaias) prego Cz$ 5,00
Vol. 3 (Conselhos aos Jovens Officiaes) prego Cz$ 5,00
Vol. 4 (Reminiscencias da Guerra do Paraguai) prego Cz$ 8,40
Vol. 5 (Efemerides Navais) prego CZ$ 22,50
Vol. 6 (Luvas e Punhais) prego Cz$ 7,80
Vol. 7 (De Aspirante a Almirante) prego Cz$ 72,00
Vol. 8 (A Marinha do Meu Tempo) prego Cz$ 15,70
Vol. 12 (14 Meses na Pasta da Marinha) prego Cz$ 14,90
Vol. 13 (Giria Maruja) prego Cz$ 5,00
Carrancas do Sao Francisco prego Cz$ 15,00
A Marinha do Brasil na 1? Guerra Mundial prego Cz$ 9,20
A Marinha do Brasil na 2? Guerra Mundial prego Cz$ 14,50
As Grandes Guerras da Historia prego Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Atlantico prego Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Paclfico prego Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Mediterraneo prego Cz$ 14,50
O Mar Morrente (versos) prego Cz$ 10,00
Os pre?os acima sao para o pessoal da MB. Ao publico em geral serd cobrada uma pequena sobretaxa.
SR. ASSINANTE
ATUALIZE SEU ENDEREÇO
PREENCHA AS LACUNAS ABAIXO E REMETA PARA:
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Rua Dom Manuel, N° 15, Centro
20.010 — Rio de Janeiro, RJ
NOME:
ENDEREÇO:
CEP: CIDADE: ESTADO:
TELEFONE:
DATA: / 19
ASSINATURA
fale com quem tem mais
DE 40 ANOS DE TRADIÇAO
EM REPRESENTAÇÃO
DE EQUIPAMENTO MILITAR
tOnllSÊHBM
•¦ieldguard"
^,rETORES°E TIRO
*
JKffi
"AMBRUST"
ARMAANTI-TANQUE
euromissile
MÍSSEIS"ROLAND"e"MILAN"
GRETAG BORLETTI
CRIPTOGRAFOS ESPOLETAS
,4- ™yssen
1 HENSCHEL
7STELEDYNE
BLINDADOS " MARDER' DRONES, CAMERAS
(SIG)
I ^3™
w&jjARMAS LEVES
REPRESENTANTE
EXCLUSIVO
s/$v
AV. ERASMO BRAGA, 227-99- RIO DE JANEIRO - Tel. 252-4020 - TELEX: (021)21818
m
V / y / m J m fl
TURBINAS BE: PROPULSÃOPABA A MARINHA BRASILEIRA
Í43SÉSfe
A Turbina de gás marítimaLM 2500 da General Electricconstitui a máquina principalde propulsão do sistema com-binado diesel/turbina de gásdo programa de corvetas damarinha brasileira. A divisãode motores marítimos e indus-triais e serviço da GeneralElectric Company, Cincinnati,Ohio, Estados Unidos da Amé-rica, sente um orgulho imensode sua colaboração com a ma-
LM 2500 Módulo
rinha brasileira em apoio aoprograma de corvetas e dasua qualidade de membro dogrupo industrial brasileiro, cu-jos outros membros são aVarig S.A. e a General Electricdo Brasil S.A., grupo esse res-ponsável pela fabricação,assistência técnica e apoioàs turbinas de gás LM 2500no Brasil durante toda a vidaútil das novas corvetas.
GENERAL ELECTRICFazendo tudo para tornar sua vida melhor.
Sistemas Militares Ferranti:
Confiabilidade creditada por mais de 20 países.
Inclusive o nosso.
§r-.»r ^iwi-9'
^K«P"'' rt*-,-!" '• f »w- ' £j*B
Os sistemas modulares projetados pela Ferranti
são utilizados pelas Forças Armadas de inúmeros
países que acompanham a evolução das modernas
técnicas militares.
Estes sistemas, nucleados a computadores militares
das séries FM, Argus e F 100, encontram-se instalados
em aeronaves de patrulha e ataque, em unidades de
controle aéreo, assim como em blindados e unidades
fixas e móveis de controle de tiro.
O Brasil também faz parte desta elite.
As fragatas brasileiras Gasse Niterói já operam com
Sistemas de Informações de Combate e Controle
de Armas projetados pela Ferranti, e nucleados
em Computadores FM.
E novos navios brasileiros estarão equipados com
sistemas modulares Ferranti, nucleados em
computadores FM 1600E.
O treinamento, essencial para o uso econômico
de Sistemas que empregam tecnologia tão avançada.
é ministrado com facilidade e proficiência em
treinadores táticos e simuladores também projetados
pela Ferranti e nucleados pelos mesmos
computadores.
Simplicidade, flexibilidade e eficiência.
Com três palavras definimos os mais modernos
sistemas militares do mundo: FERRANTI.
FERRANTI - SÍMBOLO DE TECNOLOGIA
Sistemas Ferranti do Brasil
Rua Bispo Lacerda, 25 Del Castilho RJ.
Tel .: (021) 581-0996 CEP 21051
Telex (021) 21053.
I
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
2? trimestre ABRIL-MAIO-JUNHO 1986
SUMARIO
Formação e Aperfeiçoamento do Oficial da MB — HERICKMARQUÊS CAMINHA - Vice-Almirante (RRm) 9
Diário de uma Viagem à Antártida - ESTANISLAU FAÇA-NHA SOBRINHO - Vice-Almirante (IM-RRm) 25
O Papel dos Fuzileiros Navais na Estratégia Naval — SÉRGIOSERPA SANCTOS - Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) . 35
Uma Política de Qualidade para a MB - RUY BARCELLOSCAPETTI — Capitão-de-Mar-e-Guerra 45
Oficialato Mercante - RONALDO CEVIDANES MACHADOCapitão-de-Longo-Curso 63
Larga a Espia Um! - ALBERTO CARLOS DE AGUIAR —Capitão-de-Mar-e-Guerra 79
A Evolução do Imperialismo - PAULO ROBERTO GOTAÇCapitão-de-Fragata 87
Os Mercantes em Operações de Guerra — LUIZ ANTONIOMONCLARO MALAFAIA - Capitão-de-Fragata 99
Seção da EGNA Mobilização do Reino Unido no Conflito das Malvinas —
ROBERTO AGNESE FAYAD - Capitão-de-Corveta ... 111Uma Viagem de Formação deüomens do Mar — LUIZ FER-
NANDO PALMER FONSECA - Capitão-de-Corveta . 125O Renascimento das Táticas de Engajamento de Superfície
trad. FRANClSCO JOSÉ UNGEHER TABORDA -Capitão-Tenente 154
O Lado Pitoresco da Vida Naval 169Doações ao SDGM 173A Marinha de OutroraUma Força-Tarefa Brasileira nos EUA em 1890 — CARLOS
BALTHAZAR DA SILVEIRA - Capitão-de-Mar-e--Guerra (Ref.) 181
Revista de Revistas 201Noticiário Marítimo 207
MINISTRO DA MARINHA
Almirante-de-Esquadra Henrique Saboia
SECRETÁRIO-GERAL DA MARINHA
Almirante-de-Esquadra Walter Faria Maciel
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA
Diretor
Max Justo Guedes
Vice-Diretor
Capitâo-de-Mar-e-Guerra (IM) (RRm) Hydio Carrão da Cunha Pinto
Departamento de Publicações e Divulgação
Chefe: Capitão-de-Fragata (RRm) Jorge Telles Ribeiro
Ajudante: Primeiro-Tenente (CAF) Elizabeth Radicetti Pereira
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Consultor Especial
Vice-Almirante (RRm) Luiz Edmundo Brígido Bittencourt
Redação
Gilmar Barroso Pereira
Heloísa Loewe
Nília Fróes da Silva
Paulo Pistono
Raul Marcelino de Almeida Jr.
Regina Cardoso de Menezes
Sérgio Bellinello Soares
Diagramação
Sérgio Bellinello Soares
Expedição
Segundo-Sargento (MR) Carlos Antonio Nascimento
Cabo (PL) José Maurício do Nascimento
Marinheiro (RC) Amarildo Gomes Dias
Marinheiro (QSO) Sandro Éder Piola
Laerte Macedo Júnior
CARTAS DOS LEITORES
Lançaremos no próximo número uma nova seção,
com a finalidade de incentivar debates, abrindo espaço
ao leitor para comentários, adendos esclarecedores e ob-
servações sobre os artigos publicados.
De acordo com a sistemática a ser adotada, as car-
tas deverão ser enviadas à Revista Marítima Brasileira,
que as remeterá aos autores dos artigos. Elas serão res-
pondidas pelos mesmos, por carta, através da Revista, e
as que forem consideradas de interesse geral serão publi-
cadas em resumo, sem prejuízo da compreensão e clare-
za. As cartas que forem recebidas após o fechamento da
Revista serão respondidas no número posterior.
Contamos com sua colaboração para realizarmos
nosso objetivo, que é o de dinamizar a RMB, tornando-a
um eficiente veículo para idéias, pensamentos e novas so-
luções, sempre em benefício da Marinha mais forte e
atuante. Sua participação é importante!
A DIREÇÃO
NOSSA CAPA
|
A FRAGATA LIBERAL
ATIRA UM MÍSSIL EXOCET CONTRA ALVO DE SUPERFÍCIE
Estará o engajamento de superfície reconquistando a sua importân-cia?
Esse tema é tratado de maneira interessante no artigo "The
Renais-sance of Surface-to-Surface Warfare", de autoria do Comandante RobertB. Shields Jr. (USN), publicado na revista U.S.N.I. Proceedings. Sua tra-dução consta deste número da RMB, sob o título
"Renascimento das táti-
cas de engajamento de superfície".
15 1,* •• • ("> i' '" '
;-• • '••• -:u $ :.. --••• ^.. ,.^j
Kr* '..,
;4! J»f
...
';•^i,,''^v^,l" ^in™"'^,'U'"111'''''"
' Z
/fa ^1^^"'.
SiSi
FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO
DO OFICIAL DA MB
"''
-f.
V I )* '
HERICK MARQUES CAMINHA
Vice-Almirante IRRm)
PREÂMBULO
Desde as reformas que se proces-
saram na Real Armada portugue-
sa em fins do século XVIII, no rei-
nado de D. Maria I, a formação dos
oficiais que haveriam de comandar
os navios de guerra de Portugal re-
cebeu atenção especial do governo.
No período em que, do Brasil, a na-
ção portuguesa e seus domínios ul-
tramarinos foram governados pelo
Príncipe, depois Rei, D. João (VI),
a Administração Naval teve suas
atividades bastante amortecidas,
dado que, consciente ou inconscien-
temente, a Coroa administrou o
País como se a sua permanência
neste lado do Atlântico devesse ser
a mais transitória possível. Devido
a várias circunstâncias (a que não
faltou a inapetência do Rei de re-
gressar à Mãe-Pátria), a perma-
nência acabou durando 13 anos.
Na Academia dos Guardas-Ma-
rinha, nesse interregno, não sofreu
nenhuma alteração o curso que mi-
10
nistrava. Em levantamento reali-
zado pelo saudoso Levy Scavarda
(v. "A
Escola Naval através dos
tempos", in v. XIV de Subsídiospa-
ra a História Marítima do Brasil,
Rio de Janeiro, 1955), a primeira e
a segunda reformas do currículo da
Academia foram feitas durante as
Regências (em 1832 e 1839, respec-
tivamente). Em 1888, procedeu-se à
última reforma (oitava) realizada
durante o período imperial. Ainda
segundo Scavarda, no período repu-
blicano, até 1949, houve 16 reformas
de certa monta nos currículos da
Escola Naval, o que mostra quan-
to a Administração Naval se preo-
cupou em atualizar e aperfeiçoar a
formação dos seus futuros oficiais.
(Até 1937, a Escola só formava ofi-
ciais para o Corpo da Armada; em
1938, passou a formá-los também
para o Corpo de Fuzileiros; e, em
1939, para o Corpo de Intendentes.)
De 1939 até 1969, houve várias al-
terações no regulamento da Esco-
la (com modificações nos currícu-
los e na duração dos cursos minis-
trados). Em 1950, criou-se o Colégio
Naval, para o qual se transferiu a
atribuição que vinha sendo exerci-
da pelo Curso Prévio da Escola.
Em 1969, numa tentativa de
atrair maior numera de candidatos
para a carreira de oficial de Mari-
nha, o currículo do curso para ofi-
ciais da Armada foi modificado de
modo a equiparar-se ao Curso de
Engenharia de Operações-modali-
dade Mecânica, então sendo expe-
rimentado nas universidades civis.
Neste ponto, no artigo que se segue,
inicia-se uma exposição sucinta
das medidas então tomadas e dos
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
propósitos almejados pela Admi-
nistração Naval a esse respeito. Em
seguida, também sucintamente,
delineamos a última reforma rea-
lizada nos currículos da Escola, in-
traduzindo a "formação
diversifi-
cada dos aspirantes a guarda-mari-nha".
A orientação até então seguida
fora a de uma "formação
genera-
lista", dos guardas-marinha. Com
a última reforma, passou-se a
formá-los "diversificadamente",
encaminhando-os, desde o início do
curso na Escola, para distintos ra-
mos de especialidades.
Alinhando o material factual da
reforma com algumas opiniões e
pronunciamentos de autoridades
da área do ensino em outros países,
pretendemos levar os leitores da
Revista Marítima Brasileira a me-
ditarem sobre o assunto, e a obser-
varem se a mudança operada será
a que melhor atende aos reclamos
da nossa Marinha de Guerra por
oficiais que sejam, acima de tudo,"marinheiros
(seamen) e líderes",
e não preponderantemente técni-
cos. A necessidade de técnicos nos
navios modernos é indiscutível,
mas não nos parece maior do que
a de líderes atuantes, dotados de
acentuado espírito marinheiro. (O
técnico, de modo geral, tem uma
muito aguda percepção da "fatia"
setorial da sua especialidade, po-
rém escasso sentimento dos proble-
mas globais que resultam da coop-
tação de todos os setores. Talvez es-
sas duas classes de características
não possam coexistir, nos graus de-
sejáveis, num mesmo indíviduo.)
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO...
TÍTULO DE
ENGENHEIRO OPERACIONAL*
Em agosto de 1968, a direção da
Escola Naval, com aprovação do
Ministro da Marinha, empenhou-se
em ingressar como membro na Co-
missão Interescolar do Concurso de
Habilitação à Escola de Engenha-
ria — CICE. Tal participação visa-
va a incluir, nos exames vestibula-
res de ingresso às escolas de enge-
nharia do País, a opção "Escola
Na-
vai". A permanência de represen-
tante da Escola naquela Comissão
durou apenas dois anos.
Em fins de 1969, a direção da Es-
cola apoiou a idéia (que vinha to-
mando vulto nos meios navais bra-
sileiros) de que o curso ministra-
do aos Aspirantes que se destinas-
sem ao Corpo da Armada se amol-
dasse ao currículo aprovado peloMinistério da Educação e Cultura
para o Curso de Engenharia de Ope-
ração-Mecânica, a fim de que os
Guardas-Marinha do Corpo da Ar-
mada fizessem jus ao diploma de
Engenheiro Operacional. Com tal
medida, esperava-se atrair maior
número de candidatos para a Esco-
la, dada a possibilidade de que os
jovens que não se adaptassem à
carreira naval viessem a transfe-
rir-se, sem maiores percalços, pa-ra a carreira civil de engenheiro
operacional. O currículo adaptado
ao de Engenharia de Operação co-
meçou a vigorar no início do ano le-
tivo de 1969.
Todavia, a Engenharia Opera-
cional foi rejeitada pelo mercado de
trabalho, no meio civil, logo após
n
sua implantação. As Universidades
não conseguiram instituir um cur-
rículo satisfatório para ser minis-
trado em três anos, e limitavam-se
a lecionar todas as disciplinas da
Engenharia plena (cujo curso tinha
duração de cinco anos) nos três
anos estabelecidos para a Enge-
nharia Operacional. Nessas condi-
ções, a Escola Naval ficou sendo en-
carada como uma instituição de ní-
vel, relativamente baixo, já que os
engenheiros que formava eram
repudiados pelo mercado de traba-
lho. A essa altura, no meio civil, ne-
nhuma escola formava mais enge-
nheiros de operação.
Nos anos subseqüentes a 1969,
pesadas as vantagens e as desvan-
tagens da reforma que fora adota-
da na Escola Naval, constatou-se
que estas sobrepujavam aquelas.
Em conseqüência, em 1977 a refor-
ma foi desfeita, voltando a Escola
a ministrar aos Aspirantes do Cor-
po da Armada um curso destinado
a atender essencialmente aos re-
quisitos da carreira naval. "Uma
das desvantagens da adoção do
Curso de Engenheiro Operacional
na Escola Naval foi o desbalancea-
mento da carga curricular, com
uma queda na formação profissio-
nal do futuro oficial de Marinha"
(de um ofício de 1977 do Diretor-
Geral do Pessoal da Marinha ao Di-
retor de Ensino Naval).
FORMAÇÃO DIVERSIFICADA
DO OFICIAL DE MARINHA
No final da década de 60, foi sen-
tida nos cursos de aperfeiçoamen-
* Consignamos aqui os nossos agradecimentos ao CMG (EN) Carlos Peres Quevedo,do magistério da Escola Naval de Villegagnon, por nos haver posto ao alcance as fontes de
que nos servimos para a elaboração deste artigo. Agradecemos também ao Vice-AlmiranteLuiz Edmundo Brígido Bittencourt pelas sugestões que muito a melhoraram.
12 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
to de oficiais a necessidade de au-mentar a carga de assuntos técni-cos, a fim de preparar os oficiais demarinha para operarem e mante-rem os navios cuja construção fo-ra prevista no Programa de Reno-vação do Material Flutuante daMarinha Brasileira. Como se jul-gasse inconveniente ampliar a du-ração dos cursos de aperfeiçoa-mento além de 11 meses, concluiu-seque uma solução seria aprofundara formação tecnológica dos aspi-rantes a guarda-marinha. Comotambém não conviesse estenderalém de quatro anos e meio a dura-ção do curso da Escola Naval (in-cluído o estágio de adaptação deguarda-marinha, a realizar-se abordo de navio-escola), concluiu-se,ainda, após cuidadosos estudos le-vados a efeitos nos diferentes esca-lões administrativos competentes,que, para atingir aquele desidera-to, seria necessário diversificarcursos na Escola, concentrando de-terminadas disciplinas em cadaum deles e fixando os percentuaisde cada turma que deveriam cur-sá-los.
Dessa forma, esperava-se que,ao se apresentarem para fazer oscursos de aperfeiçoamento, comosegundos-tententes, as turmas, to-madas como um todo, tivessemmaior lastro intelectual e mais am-pia base acadêmica (de um artigodo CMG (EN) Carlos Peres Queve-do, divulgado no período mimeo-grafado Quevedâo, editado no Cur-so de Aperfeiçoamento de Eletro-nica para Oficiais). Tal soluçãofundamentava-se na filosofia ex-posta pelo Vice-Almirante JamesCalvert, ex-Superintendente daAcademia Naval de Annapolis (Es-tados Unidos da América), encar-
regado da implantação, em 1969, denovo sistema educacional naqueleestabelecimento de ensino do paísamigo, segundo a qual não mais seperguntaria "o que deve cadasegundo-tenente dar à Esquadra",e sim "o que deve cada turma desegundos-tenentes dar à Esqua-dra" (de um expediente de 1974, doSuperintendente de Ensino da Es-cola Naval ao Comandante da mes-ma). Em outras palavras, ao invésde fazer cada Aspirante conhecerde tudo um pouco, optou-se pelaorientação de dar-lhe sólidos co-nhecimentos em determinado setortecnológico de interesse da Mari-nha. Disso decorreria, complemen-tarmente, a vantagem de permitirque a formação de cada indivíduose adequasse melhor às respectivastendências pessoais, preparando-opara o desempenho de funções quedia a dia tornam-se mais comple-xas (do Relatório n.° 1, de outubrode 1976, da Comissão para Estudosda Formação e Carreira dos Ofi-ciais e Praças da Marinha CEAF-COPM, p. 6).
O desenvolvimento dos estudossobre a formação diversificada naEscola Naval foi demorado e meti-culoso, estendendo-se de 1970 a 1979.Em 1970, instituiu-se um grupo detrabalho (GT 008/1970) com a mis-são de analisar o tema "Reformu-lação dos currículos da Escola Na-vai considerando os atuais interes-ses da Marinha quanto ao ensino deEletrônica, além do Curso de Enge-nharia de Operação-Mecânica"*Em relatório datado de 06.01.1971,o mencionado grupo sugeriu que es-tabelecessem um Curso de Enge-nharia de Operação-EIetrônica eum Curso de Administração, que,juntamente com o de Engenharia de
* Que, como vimos, vinha sendo ministrado desde 1969.
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO...
Operação-Máquinas, fossem minis-
trados aos Aspirantes do Corpo da
Armada, do Corpo de Fuzileiros
Navais e do Corpo de Intendentes
da Marinha.
Em 24.06.1971, instituiu-se novo
grupo de trabalho (GT 002/1971),
com a missão de levantar as neces-
sídades para que se implantasse o
Curso de Engenharia de Operação-
Eletrônica. Seu relatório, datado de
21.10.1971, foi submetido à aprecia-
ção de diversas Diretorias especia-
lizadas e órgãos de direção setorial
e geral da estrutura administrati-
va do Ministério da Marinha.
Em 1973, outro grupo de trabalho
(GT 002/1973) foi instituído para es-
tudar a diversificação de cursos na
Escola Naval, de sorte a introduzir
preliminarmente quatro opções,
sendo duas de Engenharia plena
(Eletrônica e Máquinas), uma de
Administração de Sistemas, e uma
baseada na ampliação dos conheci-
mentos na área de Relações Inter-
nacionais. Pretendia-se que, além
de cursar uma dessas opções, o as-
pirante e o guarda-marinha rece-
bessem também adequado prepa-
ro técnico-profissional e preparo
marinheiro e militar durante os
respectivos estágios (escolar e pós-
escolar). Em 10.09.1974 (Ofício n?
1.856), a Escola encaminhou à Di-
retoria de Ensino da Marinha o re-
latório do GT 002/1973, declarando
que o acolhia e acrescentando uma
quinta opção (habilitação): Enge-
nharia Militar-Naval de Ciências do
Mar. Ao encaminhar o expediente
ao Diretor-Geral do Pessoal da Ma-
rinha, o Diretor de Ensino afirmou:
"Assim seriam atendidas as neces-
sidades crescentes de maiores co-
nhecimentos científicos, de modo a
proporcionar aos futuros oficiais a
capacidade de receber e operar os
complexos equipamentos que virão
13
nas fragatas classe Niterói" (des-
pacho de 05.02.1975).
Em outubro de 1974, a Diretoria
de Ensino recebeu, da Diretoria de
Engenharia, da Diretoria de Comu-
nicações e Eletrônica e do Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais pareceres e sugestões relacio-
nados com o relatório do GT 002/
1973. Em 13.03.1975, o Diretor-Geral
do Pessoal da Marinha determinou
ao Diretor de Ensino que promoves-
se novo exame do assunto, e, em de-
corrência, a Escola Naval instituiu
novo grupo de trabalho (GT 001/1975)
com a missão de estudar em maior
profundidade a Formação Diversi-
ficada na Escola Naval (FDEN)
nas áreas de Engenharia Militar-
Naval: Eletrônica, Engenharia
Militar-Naval: Máquinas, e Bacha-
relado de Administração de Siste-
mas. A idéia de uma Engenharia
Milita r-Naval: Ciências do Mar foi
rejeitada.
Concomitantemente ao estudo que
vinha desenvolvendo, em 24.02.1975 a
direção da Escola encaminhou à
Diretoria de Ensino um "exame
de
situação", no qual sugeria a extin-
ção do Colégio Naval.
Em 08.07.1975 (Ofício n? 1.381), a
direção da Escola encaminhou à
Diretoria de Ensino o relatório do
GT 001/1975, apresentando circuns-
tanciadamente as emendas das dis-
ciplinas que iriam constar dos cur-
sos previstos e as necessidades to-
tais (de professores, laboratórios,
etc.) para a implantação da FDEN.
Em despacho de 30.07.1975, dado
em continuação ao Ofício n? 1.956
da Escola, a Diretoria de Ensino
encaminhou ao Diretor-Geral do
Pessoal da Marinha o referido re-
latório.
Na Diretoria-Geral do Pessoal, o
assunto "Formação
Diversificada
na Escola Naval" foi submetido à
14
apreciação da Comissão para Es-
tudos e Análise da Formação e Car-
reira dos Oficiais e Praças da Ma-
rinha CEAFCOPM, que, no seu Re-
latório n? 1, de outubro de 1976, pro-
curou dar uma idéia sucinta das
possíveis soluções para o problema
resultante da especialização prévia
na Escola Naval e suas conseqüên-
cias nos Cursos de Aperfeiçoamen-
to do Corpo da Armada bem como
do Corpo de Fuzileiros Navais e do
Corpo de Intendentes da Marinha
(p. 3 do citado relatório). Ainda nes-
se relatório, propôs-se a criação de
uma quarta habilitação ou opção:
a de Sistemas de Armas.
Após a proposta de solução so-
frer pequenos ajustes em detalhes,
ao transitar pelos sucessivos trâmi-
tes administrativos do Ministério
da Marinha, o Ministro autorizou,
em 17.04.1978, a implantação, na
Escola Naval, do Plano de Forma-
ção Diversificada, devendo sua exe-
cução iniciar-se em 1979 com a tur-
ma do primeiro ano.
REFORMULAÇÃO DOS CURSOS
DE APERFEIÇOAMENTO
DE OFICIAIS
No decorrer dos estudos para a
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
formação diversificada na Escola
Naval, constatou-se a necessidade
de se alterarem a sistemática, os
programas e os currículos dos cur-
sos de aperfeiçoamentos de oficiais
que vinham sendo ministrados até
então. Todavia, devido à complexi-
dade da matéria e ao receio de exe-
cutar outra alteração de vulto no
desenvolvimento profissional dos
oficiais antes de verificar concreta-
mente os resultadoá da FDEN, sus-
tou-se, até melhor oportunidade, a
substituição dos cursos de aperfei-
çoamento pelos esboçados cursos
de qualificação técnica. Assim, a
reforma inicialmente idealizada foi
implantada apenas em parte.
DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL DOS OFICIAIS
DA MARINHA DO BRASIL
O quadro que se segue mostra,
de maneira sintética, a sistemáti-
ca de formação e aperfeiçoamento
dos oficiais da Marinha Brasileira
seguida entre 1960 e 1978, lado a la-
do, para cotejo com a que se plane-
jou para a FDEN. As notas que o
acompanham indicam o que, do pia-
nejado, não chegou a implantar-se*
* Neste quadro (que não incluiu a sistemática de desenvolvimento intelectual dos ofi-
ciais do Corpo de Saúde da Marinha), as expressões-chaves não devem ser interpretadas com
excessiva rigidez: para dar nele uma visão sumária e concisa do desenvolvimento intelec-
tual do oficial na Marinha brasileira, não seria possível registrar todos os detalhes da siste-
mática adotada.
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. 15
De 1960 a 1978 FDEN(Iniciada a implantação em 1979)
Colégio Naval: três anos comuns (ni- Colégio Naval: três anos comunsvel preparatório) (nível preparatório)
Escola Naval: dois anos comuns e CICLO ESCOLAR (como Aspirantedois anos diversificados em CA, FN a Guarda-Marinha, oito semes-e IM (1) três);
Escola Naval; três semestres co-Viagens de instrução de Aspirantes, muns ensino básico e cinco semes-no primeiro e no terceiro anos, de du- três diversificados em:ração aproximada de 15 dias — Habilitação em Administração de
Sistemas — IM (nível de bacha-relado)
Habilitação em Eletrônica — CAe FN (nível de graduação)
Habilitação em Mecânica — CAe FN (nível de graduação)
Habilitação em Sistemas de Ar-mas — CA (nível de graduação)
CICLO PÓS-ESCOLAR (como Guar-Viagens de instrução de guarda-ma- da-Marinha, dois semestres):rinha, de duração aproximada deseis meses. Estágios e cursos práticos de curta
duração;
Viagem de instrução de Guarda-Ma-rinha: um semestre.
Cursos de Aperfeiçoamento (espe- Curso de Qualificação Técnica de: (2)cialização diversificada) para:Oficiais do CA Armamento Operação (emprego de meios):
Aviação Naval Aviação — CA e FNComunicações Hidrografia — CAEletrônica Navios de Superfície — CA
(em escolas da Hidrografia e Na- Submarinos — CAMarinha) vegaçào
MáquinasSubmarino
Oficiais do CFN Artilharia Manutenção (apoio a meios):Comunicações Administração — IM, QC, QOA
16 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
(em escolas doExército)
(em escolas daMarinha)
EngenhariaInfantariaMaterial Bélico
AviaçãoEletrônica
Oficiais do CIM: Curso de Aperfei-çoamento de Intendência para Ofi-ciais (CAIO)
Engenharia (aberta a oficiais doCA, CFN e CIM) (3):
(em Universida-des), no Brasil
ArmamentoConstrução CivilConstrução NavalEletricidadeEletrônica
Armamento - CA, FN, QC, QOAEletrônica — CA, FN, QC, QOAMáquinas - CA, QC, QOA
Engenharia (aberta a oficiais doCA, CFN e CIM) (3)
Cursos de Qualificação para Fun-ções Técnicas (nível de pós-gradua-ção)
(em Universidades, no Brasil e noExterior)
Curso Básico, da Escola de Guerra Naval (Tática e Logística)(por correspondência)
Curso de Comando e Estado-Maior, da Escola de Guerra Naval (Tática,Logística e Estratégia)
Curso de Comando e Estado-Maior das Forças Armadas, da Escola Superior de Guerra
Curso Superior, da Escola de Guerra Naval (Tática, Logística, Estratégiae Política)
Curso Superior de Guerra, da Escola Superior de Guerra (Política, Eco-nomia, Sociologia, Estratégia Nacional)
Notas: (1) Fontes de ingresso na Escola Naval: Colégio Naval,Colégio Militar, Escolas Preparatórias de Cadetes doExército e da Aeronáutica, e o Concurso de Admissãoà Escola Naval. — De 1938 a 1959, o curso na EscolaNaval para o CA tinha duração de quatro anos, e, paraFN, de dois anos. Em 1955, instituiu-se o curso paraIM, que, até 1959, tinha duração de dois anos.
formação e aperfeiçoamento. 17
(2) Não chegaram a ser implementados nem implanta-
dos. Os currículos dos Cursos de Aperfeiçoamento, io-
ram, contudo, revistos, de forma a adaptá-los aos no-
vos currículos da EN.
(3) Após completar o curso de engenheiro, o oficial passa
para o Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
(CETN).
Siglas: CA — Corpo da Armada ou Curso da Armada
CFN — Corpo de Fuzileiros Navais
CIM — Corpo de Intendentes da Marinha
FN — Curso de Fuzileiros Navais
IM — Curso de Intendentes da Marinha
QC —
Quadro Complementar
QOA —
Quadro de Oficiais Auxiliares
HABILITAÇÕES OU OPÇÕES
ADOTADAS EM 1979 NA FDEN
Em Administração de Sistemas,
com especial ênfase nos assuntos:
administração de pessoal, adminis-
tração de material, finanças, ge-
rência, organização e métodos (nos
quais se destacam disciplinas co-
mo: Sistemas de Produção, Admi-
nistração de Sistemas, Análise de
Investimentos, Planejamento Go-
vernamental).
Fim Eletrônica, com especial ên-
fase nos assuntos: telecomunica-
ções e eletrônica digital (nos quais
se destacam disciplinas como: Pro-
pagação de Ondas Eletromagnéti-
cas, Antenas, Detecção de Ondas
Eletromagnéticas, Eletromagne-
tismo, Técnicas Digitais).
Em Mecânica, com especial ên-
fase nos assuntos: comportamento
do navio do mar; equipamentos dos
seus sistemas de propulsão, auxi-
liar, de governo, elétrico; materiais
e processos de fabricação dos mes-
mos (nos quais se destacam disci-
plinas como: Mecânica de Sólidos;
Termociências, Materiais e Tecno-
logia Mecânica, Desenho, Balísti-
ca, Máquinas, Projetos Mecânicos,
Eletrotécnica, Eletrônica Básica).
Em Sistemas de Armas, com es-
pecial ênfase nos assuntos relativos
a controles, informática, sistemas
físicos interdisciplinares — (nos
quais se destacam disciplinas co-
mo: Eletrônica, Técnicas Digitais,
Eletrotécnica, Fenômenos de
Transposição, Introdução à Enge-
nharia de Sistemas, Sistemas de
Controle, Simulação de Sistemas,
Controle de Processos por Compu-
tador, Automatização de Siste-
mas).
CURSOS MINISTRADOS NA
ESCOLA NAVAL EM 1979
Ensino Básico Comum — Tendo
por propósito geral aumentar o ca-
bedal científico, técnico e humanís-
tico do futuro oficial de marinha e
desenvolver a capacidade de aná-
lise e de síntese necessária à for-
mação do seu caráter, e a cápaci-
dade de formar juízos e opinar co-
mo oficial e como cidadão. Com-
preende as seguintes áreas de estu-
dos: Tecnologia Naval, Estatística,
Física (com aprofundamento dos
18
conhecimentos de Mecânica, Movi-
mento Ondulatório, Calor, Eletrici-
dade, Introdução ao Estudo da Re-
latividade Restrita, da Física
Quântica e da Física Nuclear), Ma-
temática (Cálculo Diferencial e In-
tegral, Análise Vetorial, etc.), Quí-
mica, Processamento de Dados,
Línguas e Formação Humanística.
Curso da Armada — Tendo por
propósito geral desenvolver, no fu-
turo oficial do Corpo da Armada,
capacidade para exercer as fun-
ções que lhe competem a bordo dos
navios da Marinha de Guerra, e
promover um embasamento técni-
co e profissional para exercer, na
época oportuna, o comando no mar.
Neste curso, trata-se dos seguintes
assuntos: Navegação, Operações,
Comunicações, Armamento e Má-
quinas. Os conhecimentos minis-
trados em sala de aula são postos
em prática em pequenos navios de
instrução (avisos). Nos períodos de
férias, os aspirantes embarcam em
navios da Esquadra, de sorte a con-
viverem desde cedo com os proble-
mas inerentes à vida de bordo.
Curso de Fuzileiros Navais —
Tendo por propósito geral desenvol-
ver, no futuro oficial do Corpo de
Fuzileiros Navais, capacidade pa-
ra exercer, nos primeiros postos da
carreira, funções operativas em
unidades de infantaria, e funções
administrativas nas unidades-tipo.
Nele, trata-se dos seguintes assun-
tos: Fundamentos do Combate An-
fíbio, Tbpografia de Campanha, In-
fantaria, Artilharia de Campanha
e Armas de Apoio, Engenharia,
Operações Anfíbias, Operações
Especiais.
Curso de Intendentes da Mari-
nha — Tendo por propósito geral de-
senvolver, no futuro oficial do Cor-
po de Intendentes da Marinha, ca-
pacidade para exercer, nos navios,
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
órgãos e estabelecimentos da Ma-
rinha de Guerra, como especialis-
tas, funções nas áreas de Adminis-
tração, Finanças, Abastecimento,
Contabilidade, Auditoria e Tomada
de Contas. Neste curso, trata-se dos
seguintes assuntos: Administração
Financeira, Administração de Pes-
soai, Administração de Material,
Economia, Contabilidade, Estatís-
tica, Direito, Processamento de Da-
dos, Técnicas Gerenciais, Técnicas
de Abastecimento, Técnicas de Nu-
trição, Mercadologia, Geografia
Econômica.
CONCEITOS E PRINCÍPIOS
DOS ESTUDOS DA FDEN
Dos estudos realizados para o es-
tabelecimento da FDEN, destaca-
mos alguns trechos que firmam
conceitos e princípios adotados na
sua formulação:"É
preciso ter sempre em men-
te que a Escola Naval se destina a
formar oficiais de marinha e não
engenheiros. A concessão de um di-
ploma que possa ter validade na
área civil deve ser uma conseqüên-
cia dos requisitos curriculares pa-
ra a obtenção da carta-patente (de
oficial de marinha), e não o contrá-
rio. Dessa forma, devem ser feitos
todos os esforços para impedir a
queda do padrão de formação pro-
fissional naval (...)". (Do Relatório
n.° 1, de outubro de 1976, da CEAF-
COPM, p. 6).
A formação diversificada não é
uma completa novidade na Mari-
nha Brasileira, que já teve quadros
separados ("da Armada", "de
Má-
quinas"), entre 1899 e 1923. "Oprin-
cipal problema resultante dessa di-
visão era a falta de formação ma-
ririheira dos maquinistas, impedin-
do-os de assumir outros cargos e
funções a bordo, que não os do seu
FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO. 19
ramo" (idem, p. 7). O Exército Bra-
sileiro diversifica a formação dos
seus Cadetes há muitos anos (idem,
p. 8)."A
missão da Escola Naval per-
manece a de formar oficiais habi-
litados ao desempenho das funções
como subalternos a bordo, e ao seu
futuro aperfeiçoamento." (De um
despacho de janeiro de 1978, do Che-
fe do Estado-Maior da Armada ao
Ministro da Marinha, no ensejo dos
estudos sobre a FDEN)."O
propósito básico da Escola
Naval é formar oficiais de marinha
graduados em Ciências Navais"
(De um ofício de outubro de 1981, do
Comandante da Escola Naval ao
Diretor de Ensino da Marinha)."Os
cursos da Escola Naval es-
tão montados visando a formar
segundos-tenentes que, em seu ní-
vel hierárquico, participem da con-
dução de um navio de guerra, do co-
mando e da instrução de uma tro-
pa de fuzileiros navais, ou dos pro-
cessos administrativos de apoio a
unidades e a forças operativas da
Marinha de Guerra do Brasil"
(Ibidem)."Os
cursos da Escola Naval es-
tão estruturados com vistas ao fu-
turo aperfeiçoamento técnico-
profissional dos oficiais, com base
nos currículos das diferentes áreas
de concentração de conhecimentos
(Habilitação, opções). Funciona,
portanto, a FDEN, como etapa de
especialização ou como préqualifi-
cação técnica do segundo-tenente,
sem se descurar dos ensinos bási-
cos e militar-naval, indispensáveis
a formação profissional do oficial
de marinha" (ibidem)."Inicialmente
abertas a todos os
Aspirantes, as habilitações ficaram
posteriormente disponíveis: Mecâ-
nica e Eletrônica, para os Aspiran-
tes do Corpo da Armada e do Cor-
po de Fuzileiros Navais; Sistemas
de Armas, para os Aspirantes do
Corpo da Armada; e Administra-
ção de Sistema, para os Aspirantes
do Corpo de Intendentes da Mari-
nha. (...) — A habilitação deve ser
considerada quando da atribuição
de funções a bordo; entretanto, a
sua finalidade, no campo profissio-
nal, é proporcionar ao oficial uma
melhor base acadêmica, aprofun-
dando os estudos em determinadas
áreas, para determinados cursos
de aperfeiçoamento, mas não ne-
cessariamente para apenas um.
(...) — Em outras palavras, um
segundo-tenente com formação di-
versificada deve, sempre que pos-
sível, ser empregado em funções
compatíveis^ com a sua "habilita-
ção", atendendo, todavia, ao inte-
resse do serviço naval e de modo a
não causar dificuldades intranspo-
níveis à gerência do pessoal das for-
ças e navios". (De um ofício de ju-
nho de 1984, do Diretor de Ensino da
Marinha ao Comandante-em-Chefe
da Esquadra e outras autoridades
navais de alto escalão).
IDÉIAS ATUAIS SOBRE A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Os seguintes trechos, respigados
em estudos de procedência estran-
geira, exprimem idéias que consi-
déramos úteis a uma melhor visão
do assunto deste artigo:"O
desafio que presentemente se
apresenta à nossa Pátria, nos ma-
res, é maior do que em qualquer ou-
tro tempo em nossa História, e so-
mente jovens altamente motivados,
bem educados e exaustivamente
adestrados serão capazes de aju-
dar nossa Marinha a responder a
tal desafio". (Vice-Almirante Wil-
liam P. Mack, Superintendente da
Academia Naval dos Estados Uni-
20 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dos da América, 1972-75; apud umfolheto de divulgação da finalidade,cursos, etc. da Academia Naval deAnnapolis)."Em nenhuma outra profissão,as conseqüências de utilizar pes-soai destreinado são tão devasta-doras ou irremediáveis quanto naprofissão militar" (General Dou-glas Mac Arthur, apud idem).
"Para garantir segurança nomar, o que a Ciência pode propor-cionar e a Organização Naval podeprever devem ser consideradosapenas como ajuda, jamais comosucedâneo, a um bom espírito ma-rinheiro, confiança em si mesmo esenso de mais estrita responsabili-dade, fatores que constituem requi-sitos fundamentais a todo homemdo mar doublé de oficial de mari-nha" (Almirante Chester W. Ni-mitz; apud idem).
Sobre a natureza do ensino a serministrado na Escola Naval —"Em um mundo no qual a evoluçãodas técnicas e das maneiras de pen-sar se acelera cada vez mais, noqual se contestam os valores funda-mentais da Vida, no qual o próprioconceito de Nação tende a esvaziar-se de parte da sua substância, a Es-cola Naval (*) tem por atribuiçãoformar os oficiais da Marinha na-cional nos anos de 1975 a 2000. (**)— Cabe à Escola orientar concre-tamente a educação e o ensino vol-tados para um futuro difícil de pre-ver com exatidão. Por isso, ela põemenos ênfase nos conhecimentosdo que nos métodos, na formaçãode juízos, no desenvolvimento daspersonalidades, e induz seus alunosa cultivarem a maior qualidade da
nossa época — a adaptabilidade. —Essa evolução de atitudes, de mé-todos de trabalho, de maneiras depensar, deve efetuar-se no mesmosentido das mudanças que marca-rão a Sociedade da qual a Marinha,integrante das Forças Armadas,faz parte. Nessa Sociedade, as For-ças Armadas têm uma missão mui-to peculiar: a defesa da Nação e apreparação para o combate. Os fu-turos chefes devem aprender a con-vencer, a fazer participar, mas tam-bém a saber mandar. Eles deverãoassociar seus subordinados cadavez mais à elaboração das decisões,permanecendo estas, contudo, sem-pre da exclusiva responsabilidadedo chefe. — É por isso que o ensinoe os métodos pedagógicos da Esco-la Naval devem procurar obter umdifícil equilíbrio entre termos tãocontraditórios quanto o liberalismoe o senso de disciplina, a participa-ção de todos e a responsabilidadede um só, o desenvolvimento — dosindivíduos e a comunhão dos pen-samentos". (CF J. J. L. Divies, daMarinha francesa — Exposição so-bre a Escola Naval Francesa, inProceedings, do Simpósio Interna-cional sobre o tema Educação nasAcademias Navais, realizado em24-25.06.1971, na Real Academia Na-vai em Den Halder, Holanda, p. 29.Desse simpósio participaram re-presentantes da Alemanha Ociden-tal, Bélgica, Canadá, Estados Uni-dos da América, França, Holandae Inglaterra.)
Sobre a necessidade de ensinarHistória nas etapas de formação ede aperfeiçoamento do oficial demarinha — "(....) temos numero-
* A apreciação, embora focalizando especificamente a Escola Naval Francesa, é vali-da também para a nossa.
** O trabalho foi escrito em princípios de 1971.
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO...
sas lições a aprender da História e
freqüentemente as ignoramos. É
importante que os Aspirantes sai-
bam algo sobre a Corporação à
qual irão dedicar a maior parte das
suas vidas. — É importante que se
conscientizem de como a Marinha
foi utilizada e o é hoje como arma
política, e isso se aprende pelo es-
tudo da História. — (....) Na Acade-
mia Naval da Inglaterra estamos,
no momento, ministrando quatro
cursos de História aos seus alunos:"Um
sobre a Paz e a Guerra", no
qual se mostra como, em ambas es-
sas situações, as forças militares,
sobretudo a Armada, foram utiliza-
das como arma política e como ar-
ma econômica na consecução das
políticas que cada Estado deseja
impor aos demais Estados; "Estu-
dos da História da Armada Real
Britânica", mais específicos da Ma-
rinha do que do Exército; e final-
mente "A
Comunidade Britânica
contemporânea, as Relações Exte-
riores, e os seus antecedentes his-
tóricos", abrangendo os fatos mais
recentes. (....) — Existe, ainda, um
quarto curso, a iniciar-se em se-
tembro de 1971, sobre "História
Mi-
litar, para os Reais Fuzileiros Na-
vais", que agora estão se juntando
a nós" (Henry George Stewart —
The initial training and education
of officers of the Royal Navy, in Pro-
ceedings citado, p. 159)."Os
Reais Fuzileiros Navais
assemelham-se a uma unidade do
Exército aliada à Marinha. Eles,
ainda que transportados pela Ma-
rinha, constituem um serviço des-
tinado a combater antes em terra
que no mar. São especialmente
equipados para constituírem uma
força terrestre anfíbia da Marinha.
Por isso, seu adestramento é mais
militar do que naval. Não necessi-
tam da Arte Naval, da Navegação
21
e de outros assuntos afins (exceto
para o pessoal que tiver de mano-
brar, em águas costeiras, embarca-
ções miúdas de desembarque lan-
çadas dos navios de desembarque).
Diria que a doutrina básica e o
adestramento com armas, no pri-
meiro ano da formação dos fuzilei-
ros, são essencialmente militares.
Depois, eles são entregues ao Co-
mando dos Fuzileiros Navais, onde
prestam serviços de natureza regi-
mental. Mais tarde, retornam à
Academia Naval para um ano de
estudos que incluem, entre outras
coisas, História Militar. Oficiais
Fuzileiros, posteriormente selecio-
nados, fazem o Curso de Estado-
Maior do Exército, em Camberley.
Esses oficiais têm maiores possibi-
lidades de virem a ser promovidos
(....); por essa razão, inclui-se o
Curso de História Militar, como o fi-
zemos." (Stewart, op. cit., pág. 160
do Proceedings).
Por exprimir idéias muito lúci-
das e atuais, transcrevemos, ainda,
trecho de uma entrevista concedi-
da por Shirley Williams, Ministra
da Educação da Grã-Bretanha de
1967 a 1970, ao Professor (e ex-oficial
de marinha) José Carlos de Azeve-
do, que exerceu o cargo de Reitor
da Universidade de Brasília entre
1975 a 1984, e publicada na edição de
07.10.1984 do Caderno Especial do
Jornal do Brasil.
JCA — "A Inglaterra é reconhe-
cida por ter um sistema educacio-
nal que dá muita ênfase à educação
geral e não à vocacional. Poderia
discorrer sobre as vantagens de um
sistema e do outro? Em outras pa-
lavras, se houvesse recursos limi-
tados, se tivéssemos de optar por
um dos dois sistemas, qual seria a
sua opção?"
SW — "A experiência da Ingla-
terra e também do Japão (que aca-
22
bo de visitar) é que a educação vo-
cacional e técnica é inútil quando a
criança não tem educação geral.
Não se pode ter um bom técnico
sem educação geral. Isso se deve à
rápida mudança da tecnologia. Se
treinarmos uma criança para
aprender determinada tecnologia,
ela poderá logo ser ultrapassada e
ficará sem condições de trabalho.
O essencial para a criança é"aprender
como aprender". E isso,
só a educação geral pode oferecer.
É mais importante ensinar uma
criança a usar um computador,
uma biblioteca, a ler um livro, do
que ensiná-la a ser um mecânico.
As máquinas mudam e as técnicas
também. A mecânica de um Ford
é diferente da de um Toyota. O que
aprendeu apenas no campo técnico
pode tornar-se inútil a curto prazo.
A tendência de todas as nações in-
dustrializadas é retornar à educa-
ção geral. Os japoneses me disse-
ram que não vão mais dar atenção
à educação vocacional antes de a
criança completar 16 anos. Antes
disso, ela precisa aprender ciên-
cias, a lingua japonesa e temas cor-
relatos. Todas as crianças devem
saber isso. É evidente que essa me-
todologia tem de ser adaptada pa-
ra atender às crianças que apren-
dem devagar e às que aprendem
depressa. Oferece-se um pouco de
educação vocacional para as crian-
ças que quiserem, mas só no último
ou no penúltimo ano da escola ge-
neralista. As escolas devem, por-
tanto, oferecer uma base muito am-
pia de educação e deixar para as fá-
bricas o ensino vocacional".
JCA — "Com isso a senhora quer
dizer que, na Inglaterra, o ensino
geral é com a escola, e o vocacio-
nal, com a indústria?".
SW — "É exatamente isso."
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
APENSO
Submetido à apreciação da dire-
ção da Escola Naval o artigo acima
reproduzido, foram apresentadas
as seguintes considerações e infor-
mações complementares, que o Au-
tor faz apensar ao mesmo para me-
lhor esclarecimento dos seus even-
tuais leitores,
A) CONSIDERAÇÕES SOBRE O
ENSINO MILITAR-NAVAL
A evolução por que passa omun-
do tem determinado profundas mu-
danças, tanto no campo da ciência
e tecnologia como no das relações
humanas. A EN tem procurado man-
ter seus currículos atualizados em
relação a essas transformações.
Não podemos, todavia, esquecer
que a missão da Escola é formar
oficiais dos três corpos, que sejam
profissionais; essa é a atribuição
do Centro de Ensino Militar-Naval.
Hoje, o CMN oferece ao Aspirante
inúmeras oportunidades de conta-
to com a realidade da profissão
através de estágios, visitas a navios
e estabelecimentos, instrução de
campo em OM do CFN e visitas li-
gadas ao Serviço de Intendência,
em pequenos grupos para um e/e-
tivo aproveitamento.
A partir de 1981, a instrução com-
plementar dos Aspirantes do Cor-
po da Armada, com o advento dos
Avisos de Instrução (Avln) e, pos-
teriormente, dos laboratórios de
operações, navegação e comunica-
ções, sofreu grande impulso. O em-
prego dos Avln e dos laboratórios
tem sido responsável pela integra-
ção do ensino teórico com a práti-
ca, principalmente através do tra-
balho de equipe.
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. 23
B) ALTERAÇÕES RECENTESNO CURRÍCULO
C) AVALIAÇÃO DEAPRENDIZAGEM
Em 1984, a DEnsM, por determi-nação ministerial, implementou oProjeto de Revitalização do Ensinode Liderança, do qual resultaramalterações no currículo da EN.
Essas alterações concentraram-se basicamente na área de forma-ção humanística, pois os estudosrealizados no citado projeto concluí-ram que a liderança, em seus vá-rios aspectos, só pode ser bem com-preendida se fundamentada em umasólida base de ciências humanas.
Em conseqüência, foram introduzidas as disciplinas AntropologiaFilosófica e História do Mundo Con-temporâneo; a disciplina Funda-mentos de Sociologia (que era mi-nistrada apenas na habilitação Ad-ministração) foi estendida a todosos Aspirantes; e a disciplina Lide-rança teve seu programa atualiza-do e ampliado. Essas alterações fo-ram feitas com remanejamento decarga horária, ou seja, sem aumen-tar o número total de aulas do curso.
Acredita-se, assim, que a forma-ção global do oficial de marinha foiaprimorada e a formação humanís-tica que recebe será capaz de com-plementar o aprofundamento técni-co que a Marinha atual exige. Ade-mais, uma formação mais sólidaem Ciências Humanas possibilita aanálise dos problemas relativos àliderança a partir de critérios cien-tíficos, o que representa um avanço.
O aperfeiçoamento do estudo daLiderança, aliado à prática e aoexemplo deverão transformar otécnico competente em líder atuante.
Embora a sistemática de avalia-ção de aprendizagem não diga res-peito, diretamente, ao tema do tra-balho, julgamos interessante apre-sentar breves informações a respei-to, de vez que exerce considerávelinfluência sobre a qualidade da for-mação.
Em 1979, houve um consenso naEN, entre professores, administra-dores e técnicos de ensino, quantoà inadequação da sistemática deavaliação então em vigor: osAspi-rantes eram submetidos a um nú-mero excessivo de provas escritasformais, que monopolizavam suaatenção, em detrimento da apren-dizagem. O tema foi discutido, es-tudos foram realizados e, em con-seqüência, adotou-se, a partir do se-gundo semestre de 1980, uma novasistemática de avaliação: osAspi-rantes passaram a ter apenas doisperíodos de provas por semestre;durante todo o período de aulas, po-rém, passaram a ser submetidos aum programa de avaliação conti-nua, que consiste em testes de cur-ta duração, aplicados mais infor-malmente, a cada sete aulas, apro-ximadamente. A avaliação conti-nua tem como principal vantagemestimular o estudo metódico, oúni-co que propicia efetiva aprendiza-gem; ao mesmo tempo, desestimu-la as chamadas "viradas" (estudointensivo às véspera da prova), quesão nocivas por, muitas vezes, ga-rantirem um bom resultado que,contudo, não corresponde a umaaprendizagem duradoura.
24
Desde sua implantação, a siste-
mática de avaliação contínua so-
freu alguns ajustes, visando ao seu
aperfeiçoamento. É certo, por outro
lado, que ainda não se conseguiu sa-
tis fazer plenamente a todos seg-
mentos envolvidos, o que, por sinal,
é difícil, tratando-se de avaliação.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
No entanto, a maioria das opiniões
concorda quanto ao fato de que os
Aspirantes estão estudando mais,
com mais freqüência, e tem sido
mais fácil atuar preventivamente
para melhorar o rendimento indivi-
dual.
%SANYO
FAZ O BOM MOMENTO
TV A CORES — RÁDIOS — RADIOGRAVADORES
RÁDIOS-RELÓGIOS — TRI-SOM
Escritório Rio
Indústria Eletrônica Sanyo do Brasil Ltda.
Rua México, 41 — sala 801
Fone: 240-1889 — Rio de Janeiro — RJ.
§SANYO
FAZ O BOM MOMENTO
TV A CORES — RADIOS — RADIOGRAVADORES
RADIOS-RELOGIOS — TRI-SOM
Escritorio Rio
Industria Eletronica Sanyo do Brasil Ltda.
Rua Mexico, 41 — sala 801
Fone: 240-1889 — Rio de Janeiro — RJ.
DIÁRIO DE UMA VIAGEMÀ ANTÁRTIDA
—*JAt
ESTANISLAU FAÇANHA SOBRINHOVice-Almirante (IM-RRm)
\J Instituto Brasileiro de EstudosAntárticos (IBEA), do qual sou umdos vice-presidentes, foi convidado,pela direção da Comissão Intermi-nisterial para os Recursos do Mar(CIRM), para se fazer representarna visita dos Ministros da Marinha,das Relações Exteriores e da Ciên-cia e Tecnologia à estação brasilei-ra na Antártida — Estação Coman-dante Ferraz. Por ocasião dessa vi-sita foi efetuada a transmissão dachefia da Estação e substituição dogrupo que a ocupara no verão, pelaturma que iria fazer a primeira in-vernação brasileira naquela área.
Tive o privilégio de ser indicadopara representar o IBEA nesse his-tórico evento e passo a relatá-lo soba forma de um diário de viagem.
15-03-86 — Sábado. Muito emocio-nado, fui o primeiro elemento da co-mitiva a chegar na estação do Cor-reio Aéreo Nacional (CAN), no Ga-leão. Eram 06:15 horas. A partir das
26
06:30 horas começaram a chegar os
demais integrantes do vôo no Hér-
cules C-130 ANTARTIC EXPRESS
I. Chegam familiares dos que vão
permanecer na Estação durante o
inverno, pessoal da imprensa, TV E,
TV Globo, amigos dos que vão via-
jar e outros. Presentes ainda os dois
primeiros chefes da Estação Co-
mandante Ferraz:
Capitão-de-Corveta (FN) Ed-
son Nascimento Martins
(Verão de 1983/1984)
Capitão-de-Fragata José Fer-
nando Ermel
(Verão de 1984/1985)
Da Marinha, participaram do
vôo:
Vice-Almirante (IM-RRm)
Estanislau Façanha Sobrinho,
Vice-Presidente do IBEA;
Capitão-de-Fragata Armando
Augusto Martins, assessor de
política marítima do Ministro
da Marinha;
Capitão-Tenente (QC-CA) José
Adalberto de Paula, coorde-
nador do grupo;Primeiro-Tenente (QC-IM)
Paulo Roberto Eiras Fernan-
des, ajudante-de-ordens do
Ministro da Marinha;
Dra. Janice Ramaquesa Trot-
ta, oceanógrafa da CIRM.
Às 08:00 horas os integrantes do
vôo foram agrupados para ouvir
um briefing realizado pelo Major-
Aviador Whitney, durante o qual foi
feito um relato de como seria o vôo
e algumas recomendações sobre
procedimentos a serem adotados
durante o mesmo. Às 08:34 horas,
decolamos para Guarulhos. Todos
estavam muito quietos por ocasião
da partida. Provavelmente, emo-
ção e surpresa.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Pousamos em Guarulhos às
09:30 horas. Ali embarcou o pessoal
de São Paulo: elementos da área de
ciência e mais dois da imprensa —
um repórter da revista Veja e uma
repórter da revista Mar, Vela e Mo-
tor. Em face do grande volume de
material a ser embarcado, só às 14
horas foi concluída a operação e de-
colamos então às 14:30 horas para
Pelotas, base de apoio e local do pri-
meiro pernoite. E, também, último
pouso em terra brasileira na via-
gem de ida.
O avião estava abarrotado de gen-
te, carga e bagagens pessoais. Qua-
se que não se podia movimentar a
bordo, mas o desconforto era espor-
tivamente enfrentado por todos.
Com o pessoal embarcado em
Guarulhos, ficamos com quatro
mulheres na comitiva:
uma física da Universidade
de São Paulo;
nossa oceanógrafa da CIRM;
a repórter da revista Mar, Ve-
la e Motor;
uma apresentadora da TV
Globo.
O calor a bordo era intenso.
Cerca das 18 horas, pousamos
em Pelotas, cansados e famintos.
No aeroporto o pessoal da Funda-
ção Universidade do Rio Grande
nos fez a entrega dos sacos conten-
do a dotação para o frio. Cada saco
continha:
um macacão de frio;
um par de botas;
um par de óculos escuros;
um par de luvas;
dois gorros.
Recebidos os sacos e entregues
à tripulação para embarque no
avião, fomos transportados, em ôni-
bus, para dois hóteis na cidade: o
Curi Hotel e o Curi Pálace.
diário de uma viagem. 27
Depois das 20:00 horas, sem ne-
nhuma combinação prévia, prati-
camente todos os membros da co-
mitiva foram jantar na Churrasca-
ria Lobão. Ótimo churrasco, rega-
do a vinho e cerveja. Também, a fo-
me era negra!
16-03-86 — Domingo. O despertar
nos hóteis foi às 05:00 horas. Após
o café, o ônibus apanhou o pessoal
nos dois hóteis e rumou para o ae-
roporto. Após as formalidades bu-
rocráticas com a Alfândega e a Po-
licia Federal, embarcamos no Hér-
cules às 07:50 horas e decolamos às
08:15 horas rumo a Punta Arenas.
Era o grande salto de seis horas de
vôo desconfortável. Entretanto, é
de justiça ressaltar-se que o des-
conforto era atenuado pela gentile-
za dos nosso companheiros da For-
ça Aérea.
Em Pelotas embarcaram mais
seis pessoas, com o que a comitiva
passou a contar com mais de 20 pes-
soas no total. Eu era o mais velho
a bordo.
Voamos sempre com bom tempo.
Às 09:45 horas passamos sobre
Buenos Aires, a cerca de 22.000 pés,
que, vista da cabine de pilotagem,
se mostrava em toda grandiosida-
de e esplendor.
Convidado pelo Tenente-Coronel
Spina, comandante do avião, tomei
assento em sua cadeira e ouvi ex-
plicações sobre o equipamento do
avião.
Entre os embarcados em Pelotas
estava uma equipe da RBS-TV, do
Rio Grande, que tomou algumas ce-
nas da cabine de comando. Desta-
cavam-se entre os embarcados em
Pelotas o vice-prefeito do Rio Gran-
de e o Professor Jomar Bessouat
Laurino, reitor da Fundação Uni-
versidade do Rio Grande.
A essa altura do vôo, 10:15 horas,
eram muito boas as informações
sobre o tempo em Punta Arenas e
Marsh. Temperaturas de 4o e 0o,
respectivamente, pouco vento, boa
visibilidade.
Às 10:45 horas foi-nos servido o
lanche em saquinhos plásticos, con-
tendo:
dois sanduíches;
uma barra de chocolate;
uma lata de guaraná;uma lata de coca-cola;
um chiclete.
Às 16:32 horas, pousamos em
Punta Arenas, onde a temperatura
era de 7,9°.
Pouco depois de nosso pouso, ta-
xiou próximo ao nosso avião um
Hércules C-130 da Força Aérea chi-
lena. Procedia de Marsh e trazia tu-
ristas de regresso de uma excursão
á Antártida.
O grupo foi distribuído por dois
hotéis, tendo o meu, que era bem
menor que o outro, ficado no Hotel
Cabo de Hornos, localizado numa
praça onde há uma estátua de Fer-
não de Magalhães.
À tarde, chegou de Santiago, pa-
ra aguardar a comitiva ministerial,
nosso adido naval, Capitão-de-Mar-
e-Guerra Arlindo Vianna Filho, que
ficou também no Cabo de Hornos.
Em Punta Arenas, os relógios fo-
ram atrasados em uma hora.
17-03-86 — Segunda-Feira. O dia
amanheceu bonito, com a tempera-
tura bastante camarada. Pouco de-
pois das 10 horas, os ônibus nos con-
duziram dos hotéis para o aeropor-
to, onde, ao chegarmos, fomos in-
formados de que o avião estava
com um problema técnico. Fica-
mos aguardando, enquanto os me-
cânicos lutavam com o problema.
Cerca das 14 horas, ficou definido
que o avião não ficaria pronto e, as-
sim, a partida para Marsh foi adia-
28
da para o dia seguinte, que era a da-
ta prevista para a cerimônia em
Ferraz.
Os ônibus nos reconduziram pa-ra os respectivos hotéis.
Às 15:00 horas retornei ao aero-
porto juntamente com o Coman-
dante Arlindo, os dois oficiais-de-
gabinete do Ministro da Marinha,
Comandante Martins e Tenente Ei-
ras, e ainda nosso cônsul honorário,
o cidadão chileno Mario Babaic. ía-
mos aguardar a comitiva ministe-
rial, que chegaria de Brasília, via
Viedna, na Argentina, num HS-125
da FAB. No aeroporto estavam
também as seguintes autoridades
chilenas:
Major-General Don Luiz Da-
nus Covian, comandante-em-
chefe da Região Militar Aus-
trai e intendente da 12? Re-
giào;Contra-Almirante Don Gusta-
voPfeiferNiedbalski, coman-
dante-em-chefe da 3.a Zona
Naval;
General-de-Brigada-Aviador
Don Fernando Rojas Vender,
comandante-em-chefe da 4.a
Brigada Aérea em Punta Are-
nas;
e mais alguns oficiais superio-
res.
Cerca das 16:35 horas (hora do
Rio), pousou o HS com a comitiva
ministerial, assim integrada:
Ministro da Marinha, Almi-
rante-de-Esquadra Henrique
Saboia;
Ministro das Relações Exte-
riores, Dr. Roberto Costa de
Abreu Sodré;
Ministro da Ciência e Tecno-
logia, Comandante Renato
Bayma Archer da Silva;
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Secretário da Comissão Inter-
ministerial para os Recursos
do Mar, então Capitão-de-
Mar-e-Guerra Luiz Philippe
da Costa Fernandes;
Assessor do Ministério da
Ciência e Tecnologia, Dr.
Mauro Iecker Vieira;
Terceiro-Secretário do Minis-
tério das Relações Exterio-
res, Dr. Antônio Tabajara.
Após a recepção, troca de cum-
primentos e liberação da bagagem,
a comitiva e os demais presentes se
deslocaram para o Hotel Cabo de
Hornos, onde ministros e assesso-
res foram hospedados. Tive a satis-
fação de vir do aeroporto com o Mi-
nistro da Ciência e Tecnologia, que
é meu colega de turma de 1941 da
Escola Naval.
No saguão do hotel, os Ministros
Saboia e Sodré concederam entre-
vista à imprensa.
Até as 18:00 horas, quando todos su-
biram para os respectivos aparta-
mentos, a informação era de que o
avião continuava em pane. À vista
disso, o Ministro Saboia, de acordo
com os dois colegas, decidiu adiar
a cerimônia na Estação Coman-
dante Ferraz para o dia 19, ou seja,
D + 1.
À noite, os ministros e comitiva
foram homenageados com um jan-
tar íntimo no Clube Naval, do qualtambém participei. Foi um jantar
simples, informal, mas extrema-
mente caloroso.
18-03-86 — Terça-feira. Às 06:00
horas, deixamos os hotéis, rumo ao
aeroporto. A comitiva permaneceu
no hotel.
Finalmente, com todos a bordo,
preparamo-nos para a decolagem
para Marsh. Mas, aí, novo proble-
ma com o avião e tornamos a
desembarcar.
diário de uma viagem. 29
Outra vez pronto o avião, reem-
barcamos às 12:55 horas e decola-
mos, afinal, às 13:10 horas (sempre
hora do Rio), para alegria geral.
Em Punta Arenas, o tempo estava
bom. Apenas o vento estava forte,
de 30 a 40 nós.
Após a decolagem, o Coronel Spi-
na, comandante do avião, convidou
a mim e ao Comandante Martins
para tomarmos assento na cabine.
Fbi ótimo, pois assim ficamos na l.a
classe do Hércules, onde o descon-
forto era bem menor.
Era emocionante constatar que
voávamos agora para a península
antártica.
Cerca das 15:25 horas, após um
vôo magnífico, pousamos na Base
chilena Tenente Marsh, nome dado
em homenagem ao pioneiro de vôos
chilenos para a Antártida. Duran-
te o vôo entre Punta Arenas e
Marsh, abrimos os sacos, coloca-
mos as botas e vestimos o macacão
para frio. Foi uma confusão para
executar essa faina no limitado es-
paço e com tanta gente a bordo.
Depois de liberado, cada um de
nós pegou seu saco e bagagens e fez
a caminhada da pista até a praia
entre as estações russa e chilena,
onde os botes do Navio de Apoio Ba-
rão de Teífé, fundeado em frente a
Marsh, nos conduziram para bordo.
Os botes são chamados de Krill por
causa do abundante crustáceo an-
tártico. Apesar do vento fraco, sem-
pre dava para nos respingar com
água gelada durante o percurso
praia — Barão de Teífé. Fui rece-
bido a bordo com cerimonial, o que
me causou vibrante emoção, dadas
as circunstâncias da oportunidade
e do local. Os civis presentes co-
mentavam comigo a beleza do ce-
rimonial. Realmente, nosso ceri-
monial é muito bonito e executado
em tão remota região do globo o
torna mais bonito e tocante.
A bordo, uns poucos ficaram bem
acomodados, mas a maioria acam-
pou na praça-dArmas, dado o nú-
mero de pessoas a alojar. Os corre-
dores do navio ficaram entulhados
de malas e sacos.
Jantamos com o comandante,
Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo
Roberto da Silveira Fe tal, eu e mais
quatro dos principais membros da
comitiva: o vice-prefeito dá cidade
de Rio Grande, o reitor da Funda-
ção Universidade do Rio Grande, o
coordenador de projetos científicos
e um geólogo.
Suspendemos cerca das 20 horas
rumo à nossa estação, onde fundea-
mos a 700 jardas, por volta de uma
hora da manhã.
19-03-86 — Quarta-feira. Fundea-
mos com a Ferraz pela popa. O
tempo estava encoberto, ventava
um pouco, mas o frio era bem su-
portável. Leve camada de neve co-
bria o convés do navio e a praia da
Estação estava coberta de gelo.
Muito bonita a nossa Estação
vista de bordo. O verde das instala-
ções e o vermelho dos depósitos de
combustível contrastando com o
fundo da montanha parcialmente
coberta de neve. O mar estava ver-
de e levemente ondulado pelo ven-
to fraco. Da proa para bombordo,
outras montanhas nas mesmas
condições e um pouco de névoa
completavam o majestoso e emo-
cionante cenário.
Desembarquei por volta das 10
horas, levando borrifos de água ge-
lada no percurso. Na praia, o krill
atracou no gelo e tivemos que cami-
nhar uns dez metros sobre os blo-
cos com todo cuidado para não es-
corregar. A caminhada sobre os
blocos de gelo deu para cansar. En-
tramos no refeitório da Estação,
limpando antes as nossas botas.
30 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Depois de pequeno descanso, saípara dar um giro pela Estação, su-bindo depois uma colina situadaatrás, onde há quatro cruzes de in-gleses ali sepultados. Próximo háuma construção inglesa abandona-da. Todos os presentes circulavampela área, filmando e fotografando.Pela primeira vez em minha vida,peguei em neve e o fiz com muitaemoção: era um almirante cearen-se na neve.
A comitiva ministerial e convi-dados, procedentes de Punta Are-nas, em Hércules da Força Aéreachilena, pousaram em Marsh e delá voaram para a Estação Coman-dante Ferraz nos dois helicópterosdo Barão de Teffé e em um helicóp-tero chileno, pousando ali por voltadas 12 horas.
O Ministro da Marinha, após re-ceber as honras de estilo, dirigiu-separa o refeitório com os demais mi-nistros, comitiva e convidados, pa-ra um chocolate quente.
Pouco depois formou-se o dispo-sitivo para a cerimônia em frenteao mastro, onde tremulavam asbandeiras do Brasil, Chile, Argen-tina, Uruguai e China, paises que sefizeram representar no evento. Ocenário era grandioso, imponente.Grande parte do céu estava azul,havia sol e o vento estava fraco. Aolonge, montanhas cobertas de nevee o mar verde rendado pelos blocosde gelo que silhuetavam a praia.Cumprido o cerimonial de recebi-mento do Ministro da Marinha, foiiniciada a cerimônia de transmis-são da chefia da Estação Coman-dante Ferraz, do Capitão-de-Fraga-ta Antônio José Teixeira para oCapitão-de-Corveta (FN) José Hen-rique Salvi Elkfury. Nesse momen-to, era iniciada também a primei-ra invernação brasileira na Antár-tida, já que o Comandante Elkfury
e seus dez companheiros, seis mi-litares e quatro civis, vão permane-cer na Estação durante todo o in-verno antártico. É o Brasil defini-tivamente posicionado na regiãoantártica. Sonho antigo de muitosidealistas, tornado realidade gra-ças especialmente à Marinha doBrasil.
Usaram das palavras os dois co-mandantes e o secretário da CIRM.Encerrando a cerimônia, o Minis-tro Sabóia pronunciou a seguintealocução:"Os feitos humanos não se perpe-
tuam na história da civilizaçãopor sua superficialidade fatual,mas sim por sua essência de va-lores. A coragem do homem, suacapacidade de trabalho, seu es-pírito de investigação e sua obs-tinação na busca do conhecimen-to e domínio dos recursos da na-tureza têm permitido a lavratu-ra de inúmeras páginas do livroda Humanidade.Hoje, exatamente por esses valo-res, brasileiros apõem, perantea sua nação e o mundo, um capi-tulo a mais.Basta olharmos para as edifica-ções singulares que nos cercam— a Estação Antártica Coman-dante Ferraz —, para aquilatar-mos a participação do empresa-rio e do trabalhador brasileiro naconstrução de algo que nos eranovo e_ inusitado.Basta admirarmos a silhueta doBarão de Teffé, contrastandocom esse cenário ímpar, para va-lorizarmos o esforço e denodo en-volvidos nas comissões já efetua-das, e em execução, nas águasglaciais ao sul do nosso continen-te. Basta vermos essa mescla ho-mogênea de 11 pesquisadores ecientistas, civis e militares, queora iniciam a primeira inverna-
DIÁRIO DE UMA VIAGEM. 31
ção brasileira na Antártida, pos-
sibilitando o labor científico du-
rante o ano todo, para termos
certeza de que o somatório de
seus esforços com os anteriores
evidencia a execução de uma ta-
refa plena de coragem física,
trabalho árduo, investigação
científica e obstinação produtiva.
Por isso, estamos ora presentes
na Estação Antártica Coman-
dante Ferraz. O Ministro das Re-
lações Exteriores, Dr. Roberto
Costa de Abreu Sodré, na quali-
dade de presidente da Comissão
Nacional para Assuntos Antárti-
cos; o Ministro da Ciência e Tec-
nologia, Renato Bayma Archer
da Silva, sob cuja orientação
atua o Comitê Nacional de Pes-
quisas Antárticas, e o Ministro
da Marinha, que vos fala, na qua-
lidade de ministro-coordenador
da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar; vie-
mos, em nome dos brasileiros,
com especial ênfase aos cientis-
tas e marinheiros, nos unir ao
ideal de trabalho da equipe de in-
vernação e prestar-lhe um prei-
to de gratidão antecipado, pelo
reconhecimento futuro que a
História assegurará ao que hoje
aqui se inicia."
A cerimônia foi singela, como to-
das as nossas cerimônias, mas re-
vestida de intensa emoção. Em al-
gumas faces viam-se correr as
lágrimas.
Em seguida, o Ministro da Mari-
nha descerrou uma placa alusiva
ao evento e depois percorreu a Es-
tação em companhia dos demais
ministros e convidados. O pessoalda imprensa teve oportunidade pa-ra conversar e tirar fotos com os
três ministros.
Cerca das 14:35 horas a comiti-
va dos ministros e convidados re-
tornou a Marsh e de lá para Punta
Arenas.
Acabava de ser escrita impor-
tante página da história pátria. A
presença de três ministros de Esta-
do em nossa remota Estação An-
tártica foi uma grande afirmação
do Brasil, com repercussão na co-
munidade das nações. Chegamos
para ficar e contribuir com nossas
pesquisas científicas e tecnológicas
para o bem-estar dos povos.
Nossa Estação está muito bem
instalada e a atuação de nosso pes-soai nos dá a impressão de que jáatuam ali há muito anos. O mesmo
pode-se dizer do pessoal do Barão
de Teffé. Como brasileiro e como
oficial de Marinha, fiquei empolga-
do, orgulhoso e confiante no traba-
lho de civis e militares.
Após a retirada das autoridades
e convidados, almoçamos na Esta-
ção. Empadão de camarão (cama-
rão mesmo, não krill) e estrogono-
fe de carne, regados a vinho bran-
co e em ambiente de grande
confraternização.
Regressei para bordo com o Co-
mandante Fe tal, às 16 horas. O mar
ainda estava bom, mas o vento já
estava mais forte, espalhando par-
te do gelo da praia. De quando em
vez, o hélice do bote triturava gelo,
com barulho parecido ao de liqui-
dificador. Quem voltou mais tarde
já levou água.
20-03-86 — Quinta-feira. O Barão
de Teffé suspendeu às 03:30 horas
para Marsh. Era o inicio do regres-
so de nossa grande aventura antár-
tica. Por volta das 09:00 horas, fun-
deamos em frente a Marsh. O dia
estava lindo: céu parcialmente
azul, mar calmo e pouco vento. Du-
rante a travessia, pude observar
uma montanha totalmente nua de
neve. Se tivesse umas vaquinhas
por lá seria uma cena sertaneja.
32 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Pouco depois de nosso fundeio, os
helicópteros do navio começaram
a decolar com fotógrafos e cinegra-
fistas, que, após cumprirem sua
missão, eram desembarcados em
Marsh. Lá pelas 10 horas foi minha
vez de despedir-me do navio e voar
para Marsh.
Em Marsh, enquanto aguardá-
vamos a chegada do nosso Hércu-
les, ficamos circulando pela área
lamacenta. Passamos pela estação
russa, ao lado da chilena, e fomos
até à praia, também silhuetada em
toda a sua extensão por blocos de
gelo. O tempo estava encoberto. Até
então não havia visto pingüins, o
que me dava certa frustração. Vir à
Antártida e não ver pingüins seria
difícil de explicar. Mas eis que sur-
gem na praia seis pingüins. Mal de-
ram tempo para ser fotografados, lo-
go mergulharam e saíram nadando.
A estação chilena é bem ampla.
Além do aeroporto, com pequeno
hangar, tem, ao lado deste, um ho-
tel para turistas razoavelmente
confortável. 14 famílias estão insta-
ladas na área e tivemos oportunida-
de de ver crianças brincando. Há,
ainda, posto do correio e pequena
loja de souvenirs. Na parte alta da
estação chüena há um poste com
muitas placas indicando a direção
e distância de Marsh a várias cida-
des do mundo:
São Paulo
Montevidéu
Londres
Buenos Aires
Nova Yorque
Moscou
Pequim
Pólo Sul
Punta Arenas
Equador
Berlim
Santiago
Tóquio
4.398km
3.047km
13.649km
3.065km
11.505km
15.509km
17.494km
3.095km
1.233km
6.910km
14.218km
3.404km
16.766km
O cearense não podia deixar de
calcular a distância para Fortale-
za: 6.770km.
Por volta das 12 horas, chegou
nosso avião. Enquanto era prepara-
do para o vôo de volta a Punta Are-
nas, o pessoal continuava circulan-
do pela área, agora mais fria. Os
helicópteros do Barão de Tèffé iam
e vinham, levando carga para bor-
do e trazendo para Marsh os inte-
grantes da missão.
Mais tarde, o tempo piorou, com
a queda de uma chuvinha fraca e
vento mais forte que incomodavam
muito. Finalmente, embarcamos
no Hércules. Dos que tinham vindo,
alguns ficaram para regressar no
Barão de Teffé, entre eles uma físi-
ca de São Paulo e a repórter da re-
vista Mar, Vela e Motor.
Decolamos às 16 horas, chegan-
do a Punta Arenas às 18:20 horas,
após uma viagem cansativa. O
tempo no local estava feio e venta-
va muito, aumentando, assim, a
sensação térmica. Novamente no
Hotel Cabo de Hornos, pudemos nos
recuperar.
À noite, o Comandante Arlindo
Vianna, nosso adido naval em San-
tiago, convidou o grupo da Mari-
nha, integrado por mim, Coman-
dante Martins, Tenente Eiras e Dr.a
Janice, e mais o Coronel Spina, co-
mandante de nosso Hércules, paraum jantar no Restaurante Asturias.
Foi um encontro muito agradável,
que encerrou a viagem à Antártida
com chave de ouro.
21-03-86 — Sexta-feira — Às 08:00
horas, deixamos o hotel, rumo ao
aeroporto. Lá nos juntamos ao pes-
soai que estivera trabalhando na
Estação Comandante Ferraz e no
Barão de Teffé nesta parte final do
verão antártico. Mesmo descontan-
do os que ficaram na Estação e no
navio, éramos 62 passageiros, o
i
diário de uma viagem. 33
que, acrescido das pilhas de sacos
de roupa de frio, malas, maletas e
outros volumes, dava para fazer
idéia do pandemônio a bordo. Isto
sem contar os tripulantes do avião,
que eram 17.
Decolamos rumo a Pelotas às
12:30 horas. Era o regresso ao Bra-
sil após ter o privilégio de partici-
par de importante página da histó-
ria pátria.
As 14:30 horas já fazia calor a
bordo. Estávamos voando no espa-
ço aéreo argentino, estando, às
15:15 horas, entre Viedna e Bahia
Blanca. Nossa chegada a Pelotas,
prevista para as 18:30 horas, foi an-
tecipada graças à colaboração do
vento. Chegamos às 17:50 horas ten-
do tido oportunidade de apreciar
Pelotas do alto, pois desde Punta
Arenas estou alojado na cabine.
Uma vez em terra, houve a faina de
devolução dos sacos com roupa de
frio, que transcorreu muito rápida.
Acertamos as formalidades com a
Alfândega e Polícia Federal, rea-
bastecemos e, às 19:30 horas, deco-
Íamos para Guarulhos. Desembar-
caram em Pelotas 13 pessoas.Pousamos em Guarulhos às
21:40 horas. Desembarcaram 22
pessoas e muito material. Agora
eram 27 passageiros para o Rio, o
que melhorou o conforto a bordo.
Às 22:55 horas decolamos para a
jornada final, chegando ao Galeão
às 23:50 horas. Terminava assim
uma esplêndida aventura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do que pude observar, nestes
poucos dias, só tenho motivos para
orgulho e satisfação. Nossa Esta-
çâo Comandante Ferraz está mui-
to bem montada e organizada. O
pessoal da Marinha, quer em terra,
quer a bordo do Barão de Teffé,
atua com a segurança e o desemba-
raço de veteranos. Nem parece queestamos há tão pouco tempo na
área. O mesmo deve ser dito dos ci-
vis, que se aplicam com entusias-
mo e dedicação em suas pesquisas.
É também oportuno ressaltar a se-
gurança e familiaridade com que a
nossa Força Aérea desempenha a
sua parte nesse grande empreendi-
mento, para o qual, felizmente, o
Brasil despertou a tempo. Não te-
nho dúvidas de que, a curto prazo,
vamos colher os dividendos dessa
histórica decisão de nossa presen-
ça na Antártida.
Gostaria de assinalar um fato
histórico regional dentro do quadrohistórico nacional: os dois almiran-
tes presentes á cerimônia, Almiran-
te-de-Esquadra Henrique Saboia e
Vice-Almirante (IM-RRm) Esta-
nislau Façanha Sobrinho, são, am-
bos, do Estado do Ceará.
Todos aqueles que no passado tan-
to lutaram por nossa presença no
continente branco estão de para-
béns. A magnífica realidade aí está.
Só há um lugar já
visitado
pelo homem onde a
Lachmann nao pode
chegar.
»/
Por enguanto.
Um dia, certamente, a Lachmann poderá contratar até espaçonaves
para o transporte de cargas. Desde já, porém, ela oferece as melhores
opções de transporte e assistência completa a quem exporta para qualquer
lugar do planeta. Deste planeta, bem entendido.
AGÊNCIA MARÍTIMA LAURITS LACHMANN S.A. |
^Multiport
Rua do Acre, 30 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20081
Tel.: (021) 296-4100 - Telex: (21) 22326 AMLL BR
in
o PAPEL DOS FUZILEIROS
NAVAIS NA ESTRATÉGIA NAVAL
SÉRGIO SERPA SANCTOS
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN)
INTRODUÇÃO
O assalto sobre território inimigo,
por tropas partindo de navios, exis-
te desde a antigüidade. Uma das
primeiras operações deste tipo de
que se tem registro ocorreu há mais
de 3.000 anos, quando os gregos ata-
caram a Cidade de Tróia, na Ásia
Menor, num assalto conduzido atra-
vés do Mar Egeu, conforme descri-
to nas Ilíadas de Homero.
O rei persa Dario construiu uma
frota anfíbia, inclusive com navios
dotados de rampa para desembar-
que de cavalos, o precursor dos mo-
dernos navios de desembarque, pa-
ra atacar os gregos em 490 a.C.
Júlio César, no ano de 56 a.C.,
lançou duas legiões romanas con-
tra as Ilhas Britânicas, conquistan-
to sua parte sul. Cada uma dessas
legiões era composta por 5.000 ho-
mens e, portanto, podemos de-
preender o significado desta opera-
ção. A Júlio César se dá o crédito de
ter sido um dos primeiros líderes
36
militares a reconhecer as peculia-
ridades da guerra anfíbia, como,
por exemplo, detalhes hidrográfi-
cos e informações sobre as praias,
embarcações de desembarque, tá-
ticas e treinamentos especiais.
A História nos mostra, ainda,
que desde a antigüidade as nações
com interesses marítimos soube-
ram manter e distinguir seus solda-
dos-marinheiros, precursores dos
atuais fuzileiros navais. São exem-
pio dessa conduta o Royal Marines
britânico, o Royal Netherlands Ma-
rines da Holanda, o Tercio da Ar-
mada espanhol, a Brigada Real de
Marinha de Portugal, a quem, no
Brasil, o Corpo de Fuzileiros Na-
vais deu continuidade histórica, e,
mais modernamente, o United Sta-
tes Marine Corps (USMC) dos Es-
tados Unidos.
Nos dias atuais, um exemplo
marcante desta política nos é ofe-
recido pela União Soviética. Após o
término da Segunda Guerra Mun-
dial, a Infantaria Naval soviética
foi reduzida em efetivo e em impor-
tância. Por volta de 1947, ela passou
a ficar subordinada às Forças de
Defesa Costeira e, provavelmente,
foi dissolvida nos meados dos anos
50. Não existem sinais evidentes de
sua reativação até o ano de 1964.
Em 1977, a Infantaria Naval sovié-
tica iniciou um processo de expan-
são, até atingir seu efetivo atual, de
cerca de 16.000 homens com equipa-
mento moderno e liderados por um
quadro de profissionais dedicados
à guerra anfíbia. Ao buscar a for-
mação de uma Marinha oceânica
para apoiar sua Política Nacional,
agora com interesses globais, a
União Soviética reativou e vem am-
pliando consideravelmente aquela
tropa e seus meios anfíbios.
O tempo vem demonstrando a
valia do Poder Naval de uma nação
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
contar com um componente anfíbio
e, recentemente, a Guerra das Mal-
vinas comprovou a real vantagem
da existência de uma tropa anfíbia
especializada e profissional.
O Brasil, por sua situação geoes-
tratégica não pode prescindir de
uma Marinha com capacidade oceâ-
nica, dotada de componente espe-
cializado para a projeção do Poder
Naval sobre terra — o Corpo de Fu-
zileiros Navais.
ASSALTO ANFÍBIO,
AINDA POSSÍVEL?
O fracasso britânico na campa-
nha de Galípoli, em 1915, durante a
Primeira Guerra Mundial, fez com
que os estrategistas militares anun-
ciassem o fim das operações anfí-
bias em larga escala. Após oito me-
ses sofrendo pesadas perdas, onde
uma cabeça-de-praia segura não
chegou sequer a ser estabelecida,
o desembarque da força britânica
terminou numa humilhante e eus-
tosa retirada. As comunicações pri-
mitivas entre os integrantes na
Força-Tarefa Anfíbia e da Força de
Desembarque e a inadequada es-
trutura logística em terra foram as
razões significativas para o insu-
cesso da operação.
Após a Primeira Guerra Mun-
dial, as Escola de Estado-Maior da
Grã-Bretanha passaram a estudar
Galípoli em profundidade. Uma das
primeiras constatações feitas foi a
de que o Manual de Operações Na-
vais e Militares Combinadas, onde
as operações anfíbias estavam en-
quadradas, concebido em 1913, era
produto de uma época na qual o
avião ainda não tinha provado o seu
valor como arma de guerra.
Durante anos, comissões forma-
das para discutir o assunto pouco
avançaram no desenvolvimento des-
O PAPEL DOS FUZILEIROS NAVAIS. 37
sas operações. Em 22 de fevereirode 1936, o Capitão-de-Mar-e-GuerraBC. Watson, diretor da Real Esco-la Naval de Estado-Maior (RoyalNaval Staff College), endereçou umdocumento intitulado "Memorandosobre os aspectos navais de opera-Ções combinadas e a necessidadedo seu desenvolvimento na épocade paz" ao Contra-Almirante R.M.Colvin, presidente da Real Escolade Guerra Naval (Royal Naval Col-iege). Nesse documento Watson su-geria, entre outros aspectos, que,para se obter o conhecimento e trei-namento especializado necessárioao sucesso de um desembarque,efetuado contra um litoral defendi-do, era essencial a existência de umcomitê permanente dedicado àsoperações combinadas e de umCentro de Desenvolvimento e Ades-tramento exclusivamente voltadoPara tal tipo de operação.
Porém, a recomendação maisimportante feita por Watson em seudocumento talvez tenha sido a deque os Royal Marines devessem serempregados na condução de opera-Ções anfíbias com a tarefa princi-pai de "conquistar e manter cabe-Ças-de-praia que possibilitassem odesembarque da força principal".Watson argumentou que os fuzilei-ros navais, pela sua formação liga-da ao mar, requeririam menor tem-Po de treinamento no emprego deequipamentos especiais que, certa-mente, exigiriam um conhecimen-to marinheiro.
As sugestões contidas no Memo-rando Watson, como passou a serconhecido o documento, foramapresentadas pelo chefe do Estado--Maior da Marinha em reunião dechefes de Estado-Maior das trêsforças singulares.
Não é possível afirmar que o Me-morando tenha sido o causador di-
reto da ativação, em julho de 1938,do Centro Intra-Serviço de Adestra-mento e Desenvolvimento (Inter--Service Training and DevelopmentCenter — ISTDC); porém, é inegá-vel sua importância na motivaçãopara a Royal Navy assumir suasresponsabilidades no segmento daguerra naval representado pelasoperações anfíbias.
Ao ter início a Segunda GuerraMundial, o ISTDC estava jiesativa-do, o que serve para caracterizar afalta de continuidade no esforço de-senvolvido no Reino Unido, no queconcerne ao estudo e desenvolvi-mento de técnicas e de material es-pecífico para as operações anfí-bias.
Nesse mesmo período, entre asPrimeira e Segunda Guerras Mun-diais, a Marinha e o Corpo de Fuzi-Ieiros Navais dos Estados Unidosnão aceitaram que o assalto anfíbioem força contra um litoral defendi-do fosse inviável. Analisaram deta-lhadamente o fracasso de Galípolie, como resultado, estabeleceramuma bem estruturada doutrina,tanto para os componentes navaiscomo para a Força de Desembar-que. Simultaneamente, considera-veis progressos foram obtidos nodesenvolvimento de equipamentosadequados às operações anfíbias.
O Tenente-Coronel Ellis, do Cor-po de Fuzileiros Navais dos Esta-dos Unidos, integrante do grupoque estudava o assunto, apontou aimportância estratégica das IlhasCarolinas, Marshall e Marianas noOceano Pacífico. Concebeu, então,um plano para combater os japone-ses, onde relacionava detalhada-mente a organização das unidades,tipos de embarcações, melhor ho-ra para o desembarque, etc.
Nessa época foram desenvolvi-das as viaturas anfíbias e embar-
S8 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
cações de desembarque, além detécnicas e táticas especialmentevoltadas para o assalto anfíbio.Quando os Estados Unidos foramenvolvidos na Segunda Guerra, co-nheciam mais sobre operações an-fíbias do que qualquer outra nação.
A guerra no teatro do Pacífico foiconduzida por meio de assaltos an-fíbios, até a invasão de Okinawa, úl-tima ação de superfície antes da ca-pitulação final do Império Nipôni-co.
. Ainda na Segunda Guerra, noteatro europeu e do Norte da Áfri-ca, foram realizadas inúmeras ope-rações anfíbias como ponto de par-tida de ofensivas dos aliados.
Quando a Segunda Guerra Mun-dial terminou, novamente as opera-ções anfíbias foram acusadas de in-viáveis. O surgimento do arma-mento nuclear, diziam os que defen-diam esta posição, invalidaria aconcentração de uma Força-TarefaAnfíbia na área do assalto anfíbio,por ser um alvo altamente compen-sador.
Uma vez mais, os fuzileiros ame-ricanos não acreditaram que seusdias de glória tivessem terminadoe dedicaram-se, como no passado,a desenvolver novas técnicas e tá-ticas para minimizar a ameaça nu-clear. Dentre outras medidas, de-senvolveram o emprego de helicóp-teros no movimento navio para ter-ra, bem como para dar mobilidadea suas tropas.
A Guerra da Coréia serviu paraprovar que os americanos estavamcertos e que as operações anfíbiasainda tinham grande valor nos con-flitos militares. A prova de sua va-lidade foi o desembarque em In-chon, no dia 15 de setembro de 1950,executado pôr fuzileiros navaisamericanos e sul-coreanos, quepermitiu envolver Forças norte-co-
reanas, ameaçando o corte de suaslinhas de comunicações marítimase, praticamente, salvando as For-ças da ONU, que se encontravam si-tiadas no perímetro de Pusan, alémde conseguir a reconquista de Seul,capital da Coréia do Sul. Recente-mente, a Guerra das Malvinas, em1982, entre argentinos e britânicos,e a invasão da Ilha de Granada pe-los americanos, em 1983, serviramde palco para inúmeros assaltos an-fíbios.
Os descrentes da validade do em-prego de tropas anfíbias nos diasatuais poderão argumentar que to-das as operações anfíbias realiza-das após 1945 aconteceram dentrode uma guerra do tipo antigo e quesua ocorrência num ambiente nu-clear é impossível. O contra-argu-mento que imediatamente nos vemà mente é de que os inúmeros con-flitos que ocorreram neste períodoforam do tipo convencional, incluin-do aqui as guerras insurrecionais erevolucionárias. De nada valeria auma nação estar soberbamentepreparada apenas para a guerranuclear, pois na eventualidade de sever envolvida num conflito conven-cional ela poderia amargar umaderrota. Quando uma nação é ar-rastada para uma guerra, ela nãopode escolher de qual tipo esta se-rá. Ela terá de combater no tipo deguerra que estiver acontecendo.
Hoje, os fuzileiros navais dos Es-tados Unidos estão pesquisando no-vos conceitos operacionais, paraadequar a atuação de forças anfí-bias ao desenvolvimento tecnológi-co do momento. Um grupo de estu-dos formado no Centro de Desen-volvimento do USMC, em Quantico,estabeleceu as linhas gerais das fu-turas operações de assalto anfíbionum documento denominado Phibs-trike 95. Entre outros aspectos, me-
0 PAPEL DOS FUZILEIROS NAVAIS. 39
rece destaque o conceito do assai-to anfíbio além do horizonte. Nes-te conceito, a Área dos Transporteslocaliza-se além do horizonte dosdefensores
que guarnecem o litoral
(além das 50 milhas). O movimen-to navio
para terra seria efetuado
Por viaturas sobre colchão de ar, osLanding Craft Air Cushion — LCACe> por aeronaves de rotores incliná-yeis
(tilt-rotor), cujo primeiro mo-delo, o MV-22 Osprey, está em de-senvolvimento.
De acordo com o General PaulKelley, comandante do USMC, o con-ceito de assalto anfíbio além do ho-rizonte
será a pedra de toque do êxi-t° de uma operação anfíbia.
Outro ponto que precisa ser ana-
usado, quando discutimos a valida-
de do emprego de forças anfíbias,e o relacionado com a mobilida-de oferecida
pelo transporte marí-timo. Este é, sem dúvida, o que me-^or combina a capacidade de trans-
Portar grande quantidade de
meios, a possibilidade de levar es-tes meios a grandes distâncias e de
Prolongar a duração da força ter-restre
na área do objetivo.
O respeitado historiador militarSir Basil Liddell Hart, em artigo
Publicado em 1960, afirmou quenuma avaliação superficial, as
torças aerotransportadas pode-
riam parecer serem o melhor e
mais rápido meio de intervenção
Para se contrapor a uma ameaçaem território longínquo. Porém,sua movimentação e a chegada no°cal de destino estão sujeitas a inú-
meras limitações".
Os navios, em relação aos aviões,aPresentam
a vantagem de seremcapazes
de apoiar a força em terraaPós o desembarque, enquantoa(Jueles
necessitam de imensos re-cursos,
materiais e humanos, paraaPoiá-los.
Recentemente, os Estados Uni-
dos criaram a Rapid Deployment
Force (RDF) destinada a intervir,
no mais curto espaço de tempo pos-sível, em regiões onde seus interes-
ses estejam ameaçados. Um dos
pontos importantes desta nova es-
tratégia é o pré-posicionamento de
equipamentos e suprimentos, em
navios ou depósitos, em território
amigo próximo às prováveis re-
giões de atução da RDF "(na
Ilha
Diego Garcia, por exemplo). Uma
das formas de emprego da RDF é
o seu transporte por via aérea pa-ra locais onde seu material esteja
estocado, reduzindo a quantidadede itens a serem levados das bases
nos Estados Unidos e acelerando a
entrada em ação da tropa pelo mo-
vimento aéreo.
Outro argumento utilizado con-
tra as força anfíbias é a alegada
vulnerabilidade dos navios, frente
aos modernos armamentos. Uma
vez mais utilizemo-nos do conflito
das Malvinas, para verificar que,apesar de os navios britânicos não
possuírem um sistema adequado
contra ataques aéreos e da ausên-
cia de alarme aéreo antecipado, as
perdas ocorridas não foram de tal
monta que impedissem a ação da
Força-Tarefa do Almirante Wood-
ward. Apesar da qualidade e da
bravura dos pilotos argentinos, eles
não foram capazes de impedir a
ação dos britânicos. Merecem real-
ce especial as ações no Estreito de
São Carlos, durante o assalto anfí-
bio, quando, apesar dos argentinos
terem jogado todo o peso de sua
aviação, a Força de Desembarque
não sofreu perdas nem qualquer
dos navios que a transportava foi
afundado.
O secretário da Marinha dos
EUA, John Leiiman, recentemente,
declarou "existirem
pessoas que
40 REVISTA marítima brasileira
afirmam serem vulneráveis navios
que navegam à velocidade de 30
nós; porém, depósitos de material
e armamento se movendo a zero nó,
e situados mais próximos do inimi-
go, não o são!
Aqueles que não acreditam na
atualidade das operações anfíbias
precisam não esquecer que uma for-
ça-tarefa anfíbia pode ser enviada
para o mar sem revelar seu desti-
no. Ela pode ser mantida fora da
área onde sua ação está prevista,
até que seja tomada a decisão poli-
tica do seu emprego. O mesmo não
ocorre com uma força aerotrans-
portada.
Liddell Hart afirmava que esta
característica confere às forças an-
fíbias uma capacidade de deterrên-
cia, pois o inimigo não terá certeza
do exato local de seu emprego, até
o último instante, o que obrigará
suas forças a serem mantidas em
condições de defender mais de uma
área, até que esta seja finalmente
definida.
Desde o término da Segunda
Guerra, são inúmeros os exemplos
de emprego bem-sucedido de for-
ças anfíbias, apesar do imenso
avanço tecnológico ocorrido desde
aquela época, o que nos permite
afirmar que o assalto anfíbio ain-
da é um instrumento valioso para
nações que dependem do mar.
O CASO BRASILEIRO
O Brasil é o único país da Amé-
rica do Sul com suas fronteiras in-
teiramente definidas por tratados
e não mantém disputas territoriais
com qualquer de seus vizinhos. Por
outro lado, o Brasil, há exatamen-
te 116 anos, isto é, desde 1870, não
entra em conflito armado no conti-
nente. Os pequenos problemas sur-
gidos foram resolvidos por inter-
médio da diplomacia. As únicas
participações em conflitos arma-
dos ocorreram durante a Primeira
e Segunda Guerras Mundiais.
O grande estadista indiano Ja-
waharlal Nehru afirmou que "no-
mear inimigos potenciais é fazer
inimigos reais", o que talvez expli-
que a atitude brasileira de não iden-
tificar publicamente possíveis
ameaças externas à sua soberania.
Isto, porém, não quer dizer que elas
não possam existir.
Um fato inegável é que o Brasil
possui uma larga fronteira maríti-
ma e que grande parte do nosso co-
mércio exterior flui através do
Atlântico Sul, sendo, portanto, im-
prescindível a defesa das linhas de
comunicações marítimas essen-
ciais à sua manutenção. Por outro
lado, importamos por via marítima
grande parte do petróleo que neces-
sitamos. Assim, somos extrema-
mente vulneráveis a um possível
corte de nossas comunicações ma-
rítimas. Ressalte-se, também, que
a maioria das áreas brasileiras de
importância econômica e com
maior densidade demográfica es-
tão localizadas numa estreita faixa
litorânea, de cerca de 500 quilôme-
tros, o que as torna vulneráveis a
ataques partindo do mar.
O Atlântico Sul funciona para o
Brasil como um largo rio, cujas
margens opostas podem vir a ser
ocupadas por inimigos potenciais.
Tal ponto de vista ressalta a neces-
sidade de se manter o controle ade-
quado de determinadas áreas ma-
rítimas e aumenta a importância
de se proteger as ilhas oceânicas
essenciais a tal projeção de poder.
Neste contexto, poderíamos imagi-
nar que as Fbrças de Fuzileiros Na-
vais estaria reservada uma parti-
cipação nas ações de projeção do
o PAPEL DOS FUZILEIROS NAVAIS. 41
Poder Naval sobre terra, com alta
precedência para as ilhas oceâni-
cas, cuja posse ou negação de uso
pelo inimigo contribuiria para a de-
fesa do litoral e proteção do tráfe-
go marítimo.
Outro emprego que se pode ima-
ginar para as tropas de fuzileiros
navais, dependendo dos interesses
nacionais, seria a participação em
operações anfíbias, integrando for-
Ças interaliadas, numa ação con-
junta, dentro de um teatro de ope-
rações marítimo no Atlântico Sul,
com o propósito de conquistar
áreas que permitam apoiar ações
navais visando à defesa do tráfego
niarítimo considerado como essen-
ciai.
Aspecto que merece ser levanta-
do é que, embora no momento o
Brasil não tenha divergência com
seus vizinhos que possam gerar si-
tuações de conflito ou guerra, não
devemos descartar a possibilidadede ocorrência de defrontação de po-deres no continente.
Numa guerra limitada, a nível
continental, o conjugado anfíbio
tem um alto valor, como reserva es-
tratégica em nível nacional, pois o
possível inimigo não saberá anteci-
Padamente o local de seu emprego,
ficando obrigado a empenhar par-te considerável de seu poder de
combate nas áreas passíveis de se-
rem atacadas por uma força-tarefa
anfíbia.
Outra possibilidade de emprego
Para as Fbrças de Fuzileiros Navais
seria sua utilização em operações
ribeirinhas, especialmente na Ba-
cia Amazônica, onde os rios, na sua
Maioria de penetração, pratica-mente, constituem as únicas vias
de comunicação.
Quanto às guerras revolucioná-
ria e insurrecional, o fato de o Bra-
sil não ser um país fortemente con-
centrado em torno de uma única
grande cidade nacional, como é co-
mum nos países-alvos dessas mo-
dalidades de guerra, mas sim cons-
tituído de diversos centros políti-
cos, culturais e econômicos regio-
nais, distantes entre si, situados
quase sempre no litoral e com gran-
de importância para a unidade na-
cional, indica que a Marinha possui
condições de desempenhar um pa-
pel muito especial na solução des-
te tipo de problema, com o empre-
go de seus fuzileiros navais.
Consideramos, pois, da maior
importância a posse, pela Marinha
brasileira, de uma capacidade an-
fíbia adequada à realidade da con-
juntura existente no País, compa-
tível com as exigências da Seguran-
ça Nacional, de modo a:
reter um trunfo estratégico
pela manutenção de uma ca-
pacidade dissuasória, com
vista aos poderes homólogos e
que desestimule aventuras mi-
litares contra nossa soberania
e integridade territorial;
permitir a participação em
operações anfíbias, de forma
seletiva, no caso de guerra ge-
ral; e
ter a capacidade de empregar
forças de grande mobilidade,
como as de fuzileiros navais,
nas situações pré-conflituosas
nos diversos estágios de de-
senvolvimento de uma guerra
revolucionária ou insurrecio-
nal.
CONCLUSÃO
Uma guerra pode acontecer de
maneira rápida e em locais inespe-
rados, como ocorreu nos casos das
Malvinas e da Ilha de Granada.
Uma nação envolvida num confli-
to desta maneira, para reagir ade-
42
quadamente, terá de improvisar
suas ações ou, então, contar com
tropas altamente adestradas já no
período de paz.
Na prática, a possibilidade de
uma nação enfrentar diferentes de-
safios no campo militar depende,
em larga escala, do grau de pronti-
ficação de suas Forças Armadas e
sua capacidade para lidar com si-
tuações inesperadas.
Os fuzileiros navais constituem
um grupo de profissionais com ele-
vado grau de adestramento, capa-
zes de serem empregados a qual-
quer momento, com que o Brasil
pode contar para a defesa de seus
interesses.
O Brasil de hoje, em razão do pe-
so relativo do seu Poder Nacional,
da base industrial de que dispõe e
do volume de seu comércio exte-'
rior, não pode manter uma concep-
ção militar-naval meramente de-
fensiva, como a que prevalecia
quando da Segunda Guerra Mun-
dial, com ênfase quase que exclu-
siva na proteção do tráfego maríti-
mo.
Assim, a par da importância que
a Marinha brasileira deva conferir
à tarefa de proteção do tráfego ma-
rítimo, as imposições da conjuntu-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ra vivida pelo Brasil no plano inter-
nacional indicam a necessidade de
a tarefa projetar poder integrar a
sua missão, com crescente desta-
que, visando à neutralização ou su-
peração de antagonismos que ve-
nham a surgir nos planos continen-
tal e extracontinental.
Estamos convencidos de que as
forças anfíbias continuam sendo
um valioso trunfo dentro da estra-
tégia militar de uma nação, pelo
seu alto grau de mobilidade e pela
sua eficácia como fator dissuasó-
rio.
A Marinha brasileira possui con-
siderável experiência neste seg-
mento da guerra naval — as opera-
ções anfíbias. Durante anos, gera-
ções de homens do mar se dedica-
ram ao estudo do problema e cria-
ram as condições para que fosse
construído o conjugado Armada-
-Fuzileiros Navais que hoje existe.
Cabe a nós manter e ampliar o que
por eles foi conseguido.
A História não nos perdoará se,
no futuro, o Brasil necessitar fazer
uso da capacidade que o Poder Na-
vai possui para efetuar desembar-
ques à viva força em território hos-
til e nós tivermos falhado no prepa-
ro do conjugado anfíbio de nossa
Marinha.
BIBLIOGRAFIA
1. ALBUQUERQUE, Carlos de. A Atuação do Comando-Geral do CFN. Rio de Janeiro, Es-
cola de Guerra Naval, 1985. Conferência proferida na EGN em 26 de setembro 1985.
2. BRASIL. Ministério da Marinha, Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Fuzi-
leiros Navais. Introdução às Operações Anfíbias. Rio de Janeiro, setembro 1981.
3. CAMINHA, J.C. Gonçalves. The South Atlantic: A brazilian view. Naval Forces, Utrecht,
III (VI): 50-57, 1985.
4. CLIFFORD, Kenneth J. Amphibious Warfare Development in Britain and America from
1920 — 1940. Laurens, N.Y., Edgewood Inc., 1983. 302p.
O PAPEL DOS FUZILEIROS NAVAIS... 43
5. CORTEZ, Domingos de Mattos. A Atuação do Comando-Geral do CFN. Rio de Janeiro,Escola de Guerra Naval, 1984. Conferência proferida na EGN em dezembro 1984.
6. ENGLISH, Adrian. Latin American Marines. Part 1: The Big Four. Navy International,Surrey, 1 (90): 39-42, Jan. 1985.
1- Latin American Marines. Part 2: The Remaining Forces. Navy International,Surrey, 2 (90): 121-122, Feb.1985.
8. EUA. Défense Intelligente Agency. Soviet and NSWP Amphibious Warfece. Washington,D.C., 73p, 1 Jun. 1984.
9- FERREIRA, Oliveira S. Política Externa e Defesa: O Caso Brasileiro. Política e Estra-tégia, São Paulo, 2 (11): 311-336, abr/jun.1984.
10. FLORES, Mário César. Mobilidade Estratégica Marítima e Projeção de Poder. RevistaMarítima Brasileira, Rio de Janeiro, 7/9 (103) jul./set. 1983.
Ul. LADD, J.D. The Roles of Marines in Naval Strategy. Naval Forces, Utetch, III (V): 42-48,March 1984.
12. LIPPMAN, David H. The Falklands War-Grace Under Pressure, Marine Corps Gazette,Quantico, VA, 7 (69): 65-74, July 1985.
13. LOPES, Ramon. Where Does The U.S. Marine Corps Go From Here? International De-fense Review, Zurich, 7: 1123-1128, July 1985.
14. MACONOCHIE, Alexander K. Across or Along: Soviet Amphibious Options in Northwes-tern Europe. U.S. Naval Institute Proceedings, Annapolis, 926 (106): 46-50, April 1980.
15- PAZOS, Gerardo et alli. El Rol Anfíbio em La Estratégia Naval. Revista da Escuela Su-perior de Guerra Naval, Buenos Aires, 18: 65-91, junio 1983.
16- PESCE, Eduardo ítalo. A Nova República e as Forças Armadas. Segurança e Defesa,Rio de Janeiro, 6: 10-15, 1985.
17. PORTER, Joseph. Will Hazeltine Replace Uk's Amphibious Fleet? Jane'sDefence Weekly,Surrey, 13 (4): 686-689, 28 September 1985.
18. WHELAN, Mathew J. The Growing Soviet Amphibious Warfare Capability. U.S. NavalInstitute Proceedings. Annapolis, 918 (105): 111-115, August 1979.
11 de Junho de 1865
O Brasil
batalhava pela
sua segurança.
Há exatamente 121 anos, no canal entre a ilha
Palomera e a foz do Riachuelo, travava-se uma
das mais importantes lutas pela segurança do
território nacional: a Batalha Naval de Riachuelo.
Graças à coragem e à habilidade dos marinheiros
do Brasil, tendo à frente o Almirante Barroso,
conseguimos assegurar decisivamente a vitória
na guerra contra o Paraguai.
Hoje, já não existem mais guerras e os dois
países são irmãos.
Também hoje, como ontem, a Coifa continua
batalhando pela sua tranqüilidade e a da sua
família, oferecendo proteção através dos seus
planos de benefícios.
Matriz: Av. 13 de Maio, 41
Rio de Janeiro — CEP 20031
Tel.: (021) 240-4822 cora
PECÚLIOS E PENSÕES F
UMA POLÍTICA
DE QUALIDADE
PARA A MB
<!!$
«#» §/
HUY BARCELLOS CAPETTI
Capitão-de-Mar-e-Guerra
INTRODUÇÃO
A iniciação do planejamento na-
vai no mais alto nível, quer seja de-
corrente da consideração do obje-
tivo de guerra, ou mesmo das mis-
sões gerais atribuídas à Marinha,
independente de quaisquer situa-
ções de conflito, deve estar orienta-
da para o preparo e o emprego do
Poder Naval (11). Daí decorre a
missão da Marinha, e se levarmos
em conta a maior possibilidade de
envolvimento em guerras rápidas,
devemos concluir que os esforços
de manutenção dos meios rapida-
mente mobilizáveis são prioritários
e essenciais, pois não haverá tem-
po de transformar o potencial do
Estado em poder efetivo, pelos
meios clássicos que o passado re-
cente tem ensinado [(29), p. 55].
Assim, faz-se mister que as orga-
nizações de apoio logístico da Ma-
rinha de Guerra, como os arsenais,
bases e demais estabelecimentos
reparadores e de apoio envolvidos,
46 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
sejam aperfeiçoados, num proces-
so continuo, como organizações ca-
pazes de responder à demanda das
necessidades navais em qualquer
situação que se apresente, dentro
das limitações fixadas.
Se de tal aperfeiçoamento decor-
rer uma organização racional e efi-
ciente de manutenção e reparo, ra-
pidamente ela poderá ser projeta-
da para os estabelecimentos civis
capazes de executarem atividades
industriais semelhantes, amplian-
do as possibilidades da Marinha de
Guerra de prontificação dos meios
navais, aeronavais e da expansão
da mobilização ao grau desejado.
O aperfeiçoamento implica num
esforço que venha a resultar numa
administração eficiente no setor,
onde o correto estabelecimento e
cumprimento dos prazos, a quanti-
ficação dos custos e a qualidade dos
serviços prestados sejam os ele-
mentos de referência.
Desenvolve-se o presente artigo
no sentido de estabelecer alguns
conceitos básicos, no entender do
autor, para a implementação da
qualidade, configurando um siste-
ma de qualidade desejável que per-
mita à Marinha exercer a função
logística de Manutenção e Reparo
com total eficiência.
O cumprimento dos prazos e a
quantificação dos custos, envolven-
do as funções logísticas menciona-
das, não são aqui tratados, mas de-
ve-se entender que são conceitos
que não podem existir independen-
temente entre si, dentro do atual
sistema de apoio da Marinha, nem
entre eles e o sistema de qualidade
que deve ser implantado.
Estabelecer uma orientação da
qual resulte um eficiente sistema
de Manutenção e Reparo na Mari-
nha de Guerra é assunto da mais al-
ta importância, pois dele resultará
um alto grau de prontidão do ma-
terial e eficiência das unidades
combatentes. E, como tal, ele será
contribuição essencial, no campo
considerado, para a SEGURANÇA
da Nação.
POLÍTICA DE QUALIDADE
PARA A MANUTENÇÃO
E REPARO
Em primeiro lugar, devemos es-
clarecer que a política de qualida-de deve abranger não só a Manu-
tenção e Reparo, mas também as
atividades de construção naval, a
fabricação por processo, a obten-
ção de materiais de empresas civis
para a Marinha de Guerra, etc. Is-
to porque os problemas de normas,
padrões e controle da qualidade são
uma preocupação de origem gover-
namental que deve ser projetada
para dentro da MB, de uma forma
ordenada, racional e lógica, e não
se manifestar como atividade queorote aqui e acolá, em decorrência
de necessidades locais e esforços
isolados. Hoje em dia, encontramos
alguns aspectos da qualidade im-
plantados, por exemplo, quase que
por uma imposição ditada pelas
atividades da construção naval, en-
quanto que a função manutenção e
reparo muito pouco ainda excita. Se
freqüentarmos os estabelecimen-
tos reparadores da MB, mormente
as bases navais, que têm sob sua
responsabilidade atividades de ma-
nutenção e reparo, veremos quase
sempre um mesmo quadro, qual se-
ja, muito pouco de controle e garan-tia de qualidade sistematicamente
implantado. O pouco que existe, en-
tendemos que não sobre ação de pa-
dronização ou coordenação, princi-
palmente por não existirem princi-
pios normativos orientadores das
funções de qualidade emanados de
UMA POLÍTICA DE QUALIDADE. 47
órgão de direção geral competen-te.
Contudo, sentimos, por um lado,
que a MB se preocupa com o pro-blema ainda que encetando açõeslimitadas
e sem caráter mais gene-ralizado
para resolvê-lo. Uma me-dida
genérica seria fazer compare-°er aos seminários de qualidade,Por exemplo, oficiais do EMA, daC*GMM e da DEN, além de enge-nheiros, e também pessoal do Cor-
Po da Armada com antigüidade su-ficiente
para conhecer as necessi-dades da MB segundo um enfoquernais amplo, e não somente sob a°tica das especialidades e aperfei-
Çoamentos.
Sentimos, por outro lado, a ne-
cessidade, para qualquer Marinha
de Guerra, da existência de especi-ficações elaboradas no mais alto ní-vel, abrangendo as necessidadesfundamentais,
diga-se de passa-gem iguais, das três Forças Arma-das, como por exemplo as estabe-lecidas no documento MIL-Q-9858A'Military
Especification — QUALI-
TY PROGRAM REQUIREMENTS",aprovado
pelo Ministério da Defe-sa dos Estados Unidos, em 1963(28), e de uso obrigatório pelos Mi-nistérios militares e de todas as or-
ganizações de suprimentos daque-le
pais, e que trata do aspecto qua-üdade vinculado a todo e qualquermaterial fornecido aos órgãos go-Ornamentais, de modo a garantirQue todas as imposições contra-tuais sobre material sejam atendi-
das.
No Brasil, e para as Fbrças Ar-
^adas, tão alto nível poderia ser oEMPA, na qualidade de membro doCONMETRO, Conselho de alto ní-Vel,
que, sob a presidência do Minis-tro da Indústria e do Comércio, tem
Por função o comando de toda a es-tratégia
para que seja alcançado o
desenvolvimento industrial e co-
mercial do País. Como não existe,
contudo, tal documentação, a difi-
culdade, no caso do Ministério da
Aeronáutica, no que diz respeito à
construção de aeronaves, foi con-
tornada pela publicação de diver-
sos documentos normativos sobre
qualidade (5) que vão dar origem
à documentação de mais baixo ní-
vel sobre, por exemplo, o sistema de
controle de qualidade de empresas
fabricantes de produtos aeronáuti-
cos (6).
Tecidas essas considerações ini-
ciais, vamos indicar, de modo mui-
to genérico, a política que deve ser
estabelecida na MB a respeito de
qualidade. Claro está que a mesma
política deverá circunstanciar a
construção naval, mas a orientação
sobre esta parte deve estar inseri-
da na publicação que trata especi-
ficamente do assunto, a não ser queo EMA optasse por uma publicaçãonormativa sobre qualidade, mais
abrangente, que orientasse as ações
na MB como um todo.
CONCEITOS BÁSICOS
São aqui apresentados alguns
conceitos básicos relativos à função
qualidade, essenciais para que o lei-
tor possa compreender as suges-
tões visando a sua implementação.
Pela extensão do trabalho, não é in-
teresse imediato nos aprofundar-
mos nesses conceitos, mesmo por-
que, com mais propriedade, são tra-
tados em publicações específicas
(19) e livra-nos de cometer algum
equívoco maior de conceituação.
Por outro lado, algumas traduções
de termos aqui adaptadas, segun-
do a concepção do autor, podem não
corresponder, com precisão, a sua
definição, mas, nos casos em quetal procedimento possa gerar dúvi-
48
das, será citada a expressão corres-
pondente no idioma de origem.
Adequabilidade Ao Uso (Fit-
ness For Use) — É um conceito
fundamental para o entendimento
do assunto. Popularmente denomi-
nada qualidade, é o atributo que
contribui para configurar o grau de
relacionamento entre as institui-
ções produtoras de bens e serviços
e os seres humanos, relacionamen-
to esse que só pode ser construtivo
se os bens e serviços satisfizerem
os utilizadores naquilo que se refe-
rir a preço, oportunidade de forne-
cimento e adequabilidade ao uso. É
de corrente aceitação, nos meios
militares, entre outros, a acepção,
também, de eficácia do sistema,
para definir a adequabilidade ao
uso\ outras expressões podem ser
encontradas, tais comoperforman-
ce do produto, eficiência do produ-
to, etc., mas no fundo todas se refe-
rem ao atributo, que, do ponto de
vista do utilizador, define, sob enfo-
que específico, o produto ou o ser-
viço como sendo satisfatório para
suas necessidades.
A adequabilidade ao uso é deter-
minada por aquelas características
do produto que o consumidor reco-
nhece como lhe propiciando bene-
fícios, como, por exemplo, o sabor
de uma torta, a recepção clara de
programas de rádio, a vida dos sa-
patos, a beleza da pintura (19), etc.
Assim, a adequabilidade ao uso é
julgada do ponto de vista do utiliza-
dor, e não do produtor, fabricante,
reparador, etc.
Conformidade ComAs Especi-
ficações — Nas sociedades primi-
tivas há pouca necessidade do esta-
belecimento de especificações for-
mais, isto porque o produtor e o con-
sumidor são, freqüentemente, as
mesmas pessoas, ou estão muito
próximos geograficamente, confi-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
nados a um mercado de dimensões
tais, que permite que a informação
de que o produto não mais é ade-
quado ao uso chegue rapidamente
ao conhecimento do produtor. As-
sim, este está, quase sempre, bem
municiado de elementos necessá-
rios para efetuar as ações correti-
vas apropriadas a restaurar a ade-
quabilidade ao uso dos seus produ-
tos, a despeito da inexistência de
especificações escritas.
Já nas sociedades industriais, a
adequabilidade ao uso não mais po-
de ser aferida por tais mecanismos,
dada a extensão dos mercados e
centros produtores, onde intera-
gem inúmeras pessoas sem qual-
quer vínculo ou contato entre si e
com os elementos consumidores,
quer seja pela quantidade, quer pe-
la extensão geográfica envolvida.
Podemos afirmar que somente
uma pequena minoria está correta-
mente posicionada para que suas
sugestões possam contribuir para
influenciar a meta real a ser alcan-
çada, qual seja, a adequabilidade
ao uso, sendo necessário prover a
coletividade com metas substituti-
vas, isto é, as especificações, atra-
vés das quais possa ser definida a
existência ou não da adequabilida-
de ao uso. Nos casos assim carac-
terizados as especificações tornam-
-se os elementos principais que con-
tribuem para caracterizar a ade-
quabilidade ao uso, sendo mais
apropriado referir-nos à conformi-
dade com as especificações do que
propriamente à adequabilidade ao
uso.
Tal é especialmente verdadeiro
para aqueles que produzem, parti-
cularmente, serviços e os transfe-
rem aos utilizadores por interme-
diários. Não havendo o contato di-
reto com os consumidores, os fabri-
cantes tendem a se sensibilizar
A POLÍTICA DE QUALIDADE. 49
is com o conceito de conformi-íe com as especificações do quen a adequabilidade ao uso. Osmo é verdadeiro para o fome-lento de bens em que não haja oitato direto do conjunto consumi-" com o conjunto produtor.Características Da Qualidade3ão o embasamento do conceitoadequabilidade ao uso. Uma ca-:terística da qualidade é, por de-ição, qualquer propriedade ouibuto dos produtos, materiais ouJcessos, necessários para carac-izar a adequabilidade ao uso. Po-*n ser de natureza técnica, comolureza, a indutância, a acidez,!.; física, como o gosto, estado,'.; de natureza relacionai com onpo, tal como a confiabilidade, ainutenibilidade, etc; contratual,no as provisões de garantia e ou-is; ética, tal como a honestidades oficinas, a cortesia dos vende-res, etc.Parâmetros Da Adequabilida-Ao Uso — São a qualidade do
ijeto, a qualidade de conforma-o, as habilidades e o apoio demutenção.
Qualidade de projeto: compõe-da identificação da adequabili-
de ao uso de determinado produ-ou serviço (qualidade de pesqui-de mercado), a escolha do pro-to ou serviço conceituais recep-os às necessidades identificadasusuário (qualidade de conceito),finalmente, a transformação donceitual num conjunto de especi-ações detalhadas que, se execu-3o, atenderá com satisfação àscessidades do usuário (qualida-de especificação).
Qualidade de conformação: éirau de relacionamento entre ooduto e o projeto. Muitas vezes émbém chamada de qualidade debricação, ou qualidade de produ-
ção, ou mesmo qualidade do produ-to. A qualidade de conformação éfunção de inúmeras variáveis, taiscomo a maquinaria, o ferramentalutilizado, a supervisão empregada,e muitas outras.
As habilidades [referidastambém como continuidade ao lon-go do tempo (10)]: para os produ-tos que sáo prontamente consumi-dos, os dois parâmetros anterior-mente mencionados são suficientespara determinar a adequabilidadeao uso. Contudo, para os produtosde vida longa, torna-se necessárioutilizar outros parâmetros, relacio-nados com o tempo, tais como aavaliabilidade, a confiabilidade, amanutenibilidade, etc, conceitosesses, felizmente, já do conheci-mento dos nossos leitores.
Apoio De Manutenção (FieldService) — [referida também co-mo assistência técnica (10)]: ter-mo aqui usado para definir a capa-cidade do usuário de obter serviçosque garantam o funcionamento doproduto após sua venda. Esta habi-lidade depende largamente:
do estabelecimento de contra-tos de prestação de serviços de ma-nutenção claros e inequívocos;
do estabelecimento de capaci-dade adequada de equipamentos efluxo de sobressalentes;
da formação e treinamento depessoal qualificado a diagnosticare reparar falhas;
do provimento de agilidade noatendimento às chamadas; e
da condução de tais atividadescom cortesia e integridade.
Função Qualidade — É a intei-ra coleção de atividades por meioda qual obtemos a adequabilidadeao uso, não importa onde essas ati-vidades sejam exercidas.
Objetivos Da Qualidade — As-sim como se determinam objetivos
50 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
para orientar a administração,também na função qualidade se po-dem estabelecer objetivos que anorteiem. São resultados a obteratravés do alcance de metas, queserão então definidas como os ob-jetivos a alcançar. Para que esses
Quanto à natureza do objetivo
— melhora do produto
— treinamento
mudança de procedimento
objetivos possam receber priorida-des, eles devem ser quantificados,e assim caberá ao administradorfazê-lo, de modo a que não recaiamno campo do subjetivo. São exem-pios de quantificações típicas des-ses objetivos:
Quantificação
colocar no mercado um ventila-dor;
com motor a prova de defeitosem junho de 1985;
conduzir um curso de treinamen-to sobre confiabilidade, de 20 ho-ras, para todos os projetistas, em1980;
computadorizar o sistema de re-gistros de qualidade até o finalde 1980.
Controle De Qualidade -Eoprocesso regulador pelo qual medi-mos o desempenho atual da quali-dade, o comparamos com padrõese atuamos nas divergências, a fimde corrigi-las (19).
Garantia Da Qualidade — É oconjunto de atividades que visaprover, a todos os envolvidos, a evi-dência necessária para estabelecera confiança de que as funções dequalidade estão sendo exercidasadequadamente (19).
Atividades Industriais — Ati-vidades industriais, no caso daconstrução e do reparo e manuten-ção navais, são o conjunto de ativi-dades responsáveis pela realizaçãode obras em meios navais em perío-do de reparos, conversão, moderni-zação ou construção em estaleirospúblicos ou privados, ou em outroestabelecimento qualquer de repa-ro (27).
Devemos enfatizar, neste ponto,que, no caso genérico da construçãoe manutenção e reparo navais, aqualidade está intrinsecamenteassociada às atividades industriaiscorrelatas, delas não podendo sersegregadas de maneira alguma,sob pena de termos, em nossasmãos, uma estrutura de construçãoou manutenção e reparo falha, se anegligenciarmos.
Cabe, aqui, um alerta quanto àconfusão que pode se estabelecerentre o controle de qualidade, comofunção da qualidade, e os métodosestatísticos freqüentemente aplica-dos no exercício da função mencio-nada. Assim, devemos entenderque vários recursos da estatísticasão aplicáveis ao controle estatísti-co da qualidade, à determinação deamostragem por atributos, à deter-minação de confiabilidade de itensou sistemas, etc., como são aplica-
UMA POLÍTICA DE QUALIDADE...
Veis, também, uma série de concei-tos relativos à teoria das probabili-dades. Contudo, essas técnicas nãosão controle de qualidade, mas sim
utilíssimas ferramentas, entre vá-rias outras,
para o exercício corre-to da função controle da qualidade,Principalmente
quando se trata dafabricação
de grandes lotes de itens°u o funcionamento de fases de pro-cessos exaustivamente repetitivos.
Estabelecidas essas definições
Primárias, cumpre-nos enfatizar
que não importa a forma de definira qualidade para o consumidor. O
lue é importante é reconhecer queela é
"caracterizada como a ade-
quação do produto às suas condi-
Çoes de uso, ou às funções a ele ine-rentes"
(20), sendo, então, "defini-
da através de determinados atribu-tos envolvendo toda uma atitude ge-rencial
e administrativa do fabri-cante, e também outros mecanis-
mos e instrumentos externos à em-
Presa, perfazendo um conjunto de
aÇões interdependentes e comple-ruentares,
particularmente a me-
trologia, a normalização e a certi-
ficação da conformidade" (20).
A metrologia, então, constitui-sena infra-estrutura e atividades ade-
quadas para a medição dos atribu-tos definidores da qualidade dese-
Jada, enquanto que as normas cons-tituem
a referência do nível de qua-üdade desejado, e, finalmente, aCertifícação
da conformidade ates-ta a conformidade do produto com
as normas ou especificações, e/ou
ainda mais, que sua fabricação es-tará sob contínuo controle do fabri-cante.
Essas são as áreas básicas de
atuação do sistema integrado de
Metrologia, normalização e quali-dade industrial, conhecido comoSINMETRO,
cujos objetivos princi-Pais são o desenvolvimento indus-
51
trial e comercial do país, em função
dos interesses dos consumidores,
usuários e produtores (20).
Uma vez estabelecidas as defini-
ções acima, procuraremos, a se-
guir, delinear o estabelecimento de
uma política de qualidade, para a
MB, voltada para os aspectos da
função logística Manutenção e Re-
paro. Mas o que vem a ser uma po-
lítica de qualidade para efeitos do
que desejamos alcançar? Política
de qualidade é o estabelecimento,
por escrito, do princípio ou princi-
pios que devem regular a conduta
de um estabelecimento construtor,
reparador (ESTAREP), centro de
reparos ou fábrica.
A política de qualidade emana
da vontade governamental de esta-
belecer a qualidade como objetivo
de governo e, a nível Força Arma-
da, no caso MB, deve decorrer da
missão particular desta, e, portan-
to, deve ser tão estável quanto for
a missão estabelecida. Sofrerá,
contudo, as revisões necessárias
para se adaptar à missão, sempre
que o objetivo da guerra ou as ta-
refas gerais atribuídas à MB em
tempo de paz (e que motivaram o
planejamento militar) sofrerem re-
visão. Tal consideração dá, à poli-
tica de qualidade, uma caracterís-
tica de permanência no tempo que
a faz, quando publicada, uma con-
sistente base de conduta. Feitas es-
tas considerações, podemos formu-
lar, a título ilustrativo, a seguinte
POLÍTICA DE QUALIDADE RELATIVA À
MANUTENÇÃO E REPARO:"A
política de qualidade dos ES-
TAREP e centros de reparos volta-
da para a Manutenção e Reparo é
prover serviços com a qualidade
que atenda às necessidades ditadas
pelas missões atribuídas aos meios
navais e aeronavais que apoiam, no
menor prazo e ao menor custo, con-
52
tribuindo, assim, para mantê-los
operando dentro das condições ma-
teriais determinadas pelo setor
operativo."
São pontos essenciais da política
de qualidade mencionada:
a clientela básica dos ESTA-
REP e os centros de reparos são os
meios navais e aeronavais que lhes
compete apoiar, conforme estabe-
lecido no documento de alto nível
que fixe as forças navais e efetivos;
o setor do material deverá en-
vidar esforços no sentido de apare-
lhar adequadamente os ESTAREP
e os centros de reparos para a exe-
cução de suas tarefas de manuten-
ção e reparo. Assim, a adequabili-
dade para atender às tarefas será
a referência principal para o desen-
volvimento dos ESTAREP e os cen-
tros de reparos, não devendo se per-
der de vista, contudo, a busca de li-
derança em qualidade e a compe-
titividade;
os ESTAREP e centros de re-
paros são basicamente estabeleci-
mentos que produzem serviços, no
qual estão embutidos produtos. Por
esta razão, deve ser dada ênfase à
conformidade com as especifica-
ções, muito embora sem se despre-
zar a necessidade de cultivar a ade-
quabilidade ao uso dos produtos
manuseados;
deve ser enfatizada a necessi-
dade dos ESTAREP e centros de re-
paros produzirem resultados de al-
ta confiabilidade, decorrente de
seus serviços, ainda que a preço ini-
ciai elevado, sem desprezar a ne-
cessidade, contudo, de otimizá-los;
o controle da qualidade nos di-
versos ESTAREP é centros de re-
paros poderá ser confiado a siste-
mas ou ser pessoal, dependendo do
porte do ESTAREP ou centro de re-
paros. Porém, nenhum desses esta-
belecimentos prescindirá de um
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mecanismo de controle que verifi-
que convenientemente o cumpri-
mento da política de qualidade aqui
estabelecida. Tal mecanismo de
controle deverá estar previsto no
Regimento Interno desses estabe-
lecimentos;
o mesmo deverá ocorrer com
o planejamento da qualidade. Qual-
quer que seja o método adotado, ne-
nhum ESTAREP ou centro de repa-
ros poderá prescindir de um plane-
jamento da qualidade compatível
com suas atividades;
os comandantes e direções de
ESTAREP e centros de reparos de-
verão participar ativamente do sis-
tema de qualidade implantado, po-dendo, contudo, delegar as tarefas
decorrentes quando necessário, em
função das diferentes necessidades
das subdivisões organizacionais
existentes, tais como departamen-
tos, divisões, etc. Quando delegan-
do competência, porém, os coman-
dantes e diretores de ESTAREP e
centros de reparos estabelecerão
como requisitos mínimos dos de-
partamentos e/ou divisões respon-
sáveis pelas funções de qualidade;o
preparo de um plano formal
para a garantia de qualidade queinclua, como conteúdo mínimo,
normas para o acompanhamento
das atividades (manutenção e re-
paro); normas para inspeções e
testes; e registro da qualidade do
produto final, segundo o enfoque do
utilizador (feedback);
a publicação do manual de
qualidade, que inclua os planos
formais, a definição de responsabi-
lidades, a organização responsável
pela qualidade, com fluxogramas e
organogramas correlatos, procedi-
mentos a adotar, etc.;
a execução de auditorias pa-
ra determinar a adequabilidade
UMA POLÍTICA DE QUALIDADE...
dos planos, e se estão sendo real-
mente executados.
Muito embora seja preconizado0 estabelecimento de uma políticade
qualidade para os ESTAREP e
centros de reparos, nada impede
Que, em função do porte* ou tarefas
atribuídas, algumas organizações
alcancem seus resultados pela de-
finição dos objetivos da qualidade,sendo as vantagens do seu estabe-
lecimento:
a) contribuir para a uniformida-
de de pensamento dos executores;
b) servir de estímulo para as
ações;
c) servir de pré-requisitos para°perar em bases de planejamento,e não de ações tomadas intempes-
tivamente, por ocasião de crises;
d) permitir comparação subse-
quente do desempenho em confron-
to com os objetivos.
Ao se estabelecer a política de
Qualidade, não deveremos deixar
de definir o que deva ser entendido
Por controle de qualidade e garan-tia de qualidade. Não importa a de-
íinição adotada, entre as muitas
existentes, mas deve ficar claro queuma é função a ser exercida pela
Produção, em contraste com a ga-rantia,
que deve ser uma função de
direção. A título de exemplo, esta-
beleceremos as seguintes defini-
Ções, muito embora já tenhamos ci-
tado outras:"Controle
da Qualidade — é uma
função de direção pela qual o con-
trole da qualidade de produtos aca-
bados ou matéria-prima é exercido
com o propósito de se evitar a pro-dução de materiais defeituosos"
(19); e"Garantia
da Qualidade — é um
Padrão sistemático e planejado de
53
todas as ações necessárias para se
obter confiança adequada de que o
produto se comportará satisfato-
riamente em serviço." (19)
A função Controle da Qualidade,
voltada para as atividades de Ma-
nutenção e Reparo, deve se realizar
preferencialmente através do con-
trole de processo, e não através de
inspeções (Listas de Verificação),
principalmente nas atividades in-
dustriais de maior complexidade,
de vez que o primeiro método sig-
nifica maior eficiência, menor nú-
mero de rejeições e, portanto, me-
lhores resultados para o ESTAREP
ou centro de reparos (sendo, por-
tanto, um processo positivo), ao
passo que o segundo implica em
maior número de rejeições e, por-
tanto, resultados economicamente
piores (19). Tal afirmativa revive a
idéia de que Controle de Qualidade
é uma função da produção exerci-
da nas oficinas. É o caso, por exem-
pio, da manutenção e/ou reparo de
um periscópio de um submarino
que implique na sua desmontagem
total. Aguardar o término do repa-
ro e verificar se cumpre suas fun-
ções pode trazer resultados desas-
trosos, pois algo pode não ter sido
realizado a contento durante o re-
paro. Assim, é melhor controlar o
processo ou método de realizar a
desmontagem, o reparo e monta-
gem final, passo a passo, pois com
isso já estaremos garantindo boa
parcela do sucesso desejado.
Por seu turno, a função de dire-
ção Garantia de Qualidade estará
submetendo o Controle de Qualida-
de a uma freqüente verificação, de
modo a assegurar que ela esteja
sendo executada corretamente, ga-
rantindo, assim, que o serviço de-
* Poderão ser considerados ESTAREP e centros de reparos grandes aqueles que tiverem'fiais de 500 homens na produção (departamento industrial, departamento da produção, etc.).
54
verá atender aos requisitos espera-
dos ou o produto se comportará
conforme especificado. Isto nos le-
va a imaginar que a função de di-
reção Garantia de Qualidade pode-
rá ser exercida, para as atividades
de Manutenção e Reparo, por meio
de auditorias. A mesma idéia é ver-
dadeira para a construção naval.
Finalmente, ao estabelecermos
uma política de qualidade, deve-
mos fixar uma série de princípios
básicos, alguns dos quais exempli-
ficamos a seguir:
Controle de recepção
Perícia (princípio básico) — to-
dos os ESTAREP e centros de repa-
ros disporão de um sistema de ins-
peção, com as dimensões e funcio-
nalidade adequadas, para a verifi-
cação de suprimentos de terceiros.
Controle de materiais ou produ-
tos para os serviços (princípio bá-
sico) — todos os ESTAREP e cen-
tros de reparos disporão de meios
de ensaios, quer seja utilizando
seus laboratórios, ou laboratórios
de terceiros.
Identificação e registro (princí-
pio básico) — os ESTAREP e cen-
tros de reparos farão registro per-
manente dos resultados do contro-
le de materiais e informarão os re-
sultados aos departamentos ou di-
visões de intendência, de modo a
que tomem as medidas corretivas
junto aos fornecedores quanto a
discrepâncias nos suprimentos.
Localização e disposição de ma-
terial não conforme (princípio bá-
sico) — todos os ESTAREP e cen-
tros de reparos deverão identificar
perfeitamente o fluxo, a localização
e a identificação de material não
conforme, devendo ser definido,
também, e claramente, o sistema
para sua recuperação ou alienação.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Controle durante o método e do
produto final
Inspeção do método (princípio
básico) — os procedimentos para
se realizar o Controle de Qualida-
de deverão estar definidos e regis-
trados no documento que estabele-
ce o método de realizar o serviço.
Inspeção final e registros (prin-
cípio básico) — os equipamentos
reparados e sistemas montados se-
rão submetidos a uma inspeção fi-
nal e/ou provas de desempenho an-
tes de liberados aos clientes e sem-
pre que necessário.
Identificação e registro (princí-
pio básico) — a informação sobre
a qualidade do produto deve ser dis-
seminada a todos os interessados.
Meios e equipamentos de inspe-
ção (princípio básico) — os meios
e equipamentos de inspeção deve-
rão ser os necessários para realizar
as fases do controle que permitam
avaliar a qualidade dos serviços,
sendo equivalentes, no possível, aos
dos meios navais onde irão funcio-
nar.
Calibração e revisão periódica
dos meios e equipamentos de inspe-
ção (princípio básico) — todos os
equipamentos de inspeção, medi-
ção e ensaio deverão ser aferidos e
calibrados, periodicamente, para
assegurar a exatidão dos resulta-
dos obtidos.
Serviços
Métodos (princípiobásico) — os
ESTAREP e centros de reparos
aplicarão métodos definidos para a
realização dos seus serviços.
Máquinas (princípio básico) —
as máquinas e sua manutenção de-
verão ser adequadas para a reali-
zação dos serviços desejados.
UMa política de qualidade. 55
Gabaritos, ferramentas e cali-ores
(princípio básico) — os ESTA-REP e centros de reparos deverãoempregar
adequadamente os ga-baritos
e ferramentas.
Pessoal
formação (princípio básico) — os
ESTAREP e centros de reparos,
spmpre que possível, manterão um
Slstema de formação de pessoal.
Motivação (princípio básico) —
deve ser enfatizada a importância
qualidade e empreendidas açõese campanhas no sentido de incutirsua importância ao pessoal.
Devem ser levados em conside-raÇão,
ainda para o estabelecimen-to de princípios básicos, tópicos so-°re a capacidade de armazenamen-to de produtos acabados (equipa-bentos ou sistemas prontos) aguar-dando instalação, as condições lo-cais de limpeza e arrumação, deCondicionamento, de capacidadede distribuição, de atendimento deserviços
em outros locais, etc.
UMA ORGANIZAÇÃO DA
QUALIDADE PARA A
MARINHA DE GUERRA
Até então desenvolvemos idéias,ainda
que superficiais, sobre o es-tabelecimento
de uma política de
Qualidade para a Marinha de Guer-
**a. Contudo, tal não basta para cris-talizar
a visão do autor quanto à so-
fução adequada para o problema deIrriplantar
uma estrutura, com ca-racterísticas
sistêmicas, que tratedos aspectos da qualidade envolvi-dos nas atividades industriais exe-lutadas
pelos ESTAREP, centrosde reparos e/ou de construção na-vais.
O conjunto de idéias, até entãoVentiladas,
são indícios mínimos de
que existe uma cultura, em termos
de atividades de engenharia, per-
feitamente dominada pelos países
mais adiantados industrialmente, e
que, com isso, passam a dispor de
capacidade para construir, reparar
e manter meios navais e aerona-
vais. Essa cultura está consolidada
numa série de publicações, umas
poucas citadas na bibliografia das
muitas disponíveis na MB, e que
materializam o cabedal de conhe-
cimentos que ensejam, com as de-
vidas adaptações às nossas neces-
sidades, implementar a estrutura
organizacional adequada à estraté-
gia que permita a consecução da
política estabelecida.
Ressaltamos, uma vez mais, que
qualidade é, antes de tudo, uma
mentalidade que deve impregnar o
pensamento dos administradores
navais do mais alto escalão ao mais
humilde servidor da nossa Marinha
de Guerra, qualidade não é preo-
cupação exclusiva dos homens de
apoio; deve ser a mentalidade,
também, dos operativos. E isso é
tão verdadeiro para os indivíduos
como para as organizações milita-
res. Assim, não acreditamos que se
deva atribuir, por exemplo, exclu-
si vãmente à Diretoria de Engenha-
ria Naval (DE N), ou â Diretoria de
Armamento e Comunicações da Ma-
rinha (DACM), a responsabilidade
total quanto à qualidade, mesmo
nos assuntos que são das suas intei-
ras responsabilidades. Há mais en-
tidades. As Diretorias devem ser
parte de um sistema mais amplo,
liderado pela Diretoria-Geral do
Material da Marinha (DGMM), e
elaborado em consonância com as
diretrizes governamentais
de mais
alto nível. E o caso, por exemplo, da
nacionalização, que, muito embora
seja um desejo de todos e tenha
mesmo traçadas diretrizes especí-
56
ficas no âmbito da MB, é antes de
tudo uma diretriz governamental.
A contrapartida da mentalidade
e das normas, regulamentos e ins-
truções que consubstanciam a cul-
tura em qualidade é a estrutura fi-
sica que a executa. Sob esse enfo-
que, gostaríamos de ressaltar a ina-
lienabilidade dos aspectos da qua-
lidade, das atividades industriais,
conforme já mencionamos ante-
riormente, e daí concluirmos que
todos os ESTAREP e centros de re-
paros e/ou construção navais de-
vem exercer, implantadas adequa-
damente, de acordo com a impor-
tância de cada um, as funções de
controle de qualidade, a nível da
produção, e de garantia de quali-
dade a nível da direção.
Tal estrutura organizacional,
por força da atual organização na-
vai, só poderia emanar do EMA, ou
da DGMM (8), na forma de Instru-
ções Gerais para Construção Naval
e Instruções Gerais para a Manu-
tenção e Reparos. Dentro do corpo
normativo editado pela DGMM po-
deriam estar consubstanciados os
princípios gerais que regem as or-
ganizações do sistema de qualida-
de da MB, em consonância com a
Política e Diretrizes Básicas (1) es-
tabelecidas para o setor do mate-
rial. A título de exemplos, citare-
mos algumas áreas que podem ser
organizadas genericamente e que
são de interesse simultâneo para as
atividades industriais de constru-
ção e manutenção e reparo, e para
a organização das Diretorias Espe-
cializadas, Arsenal, ESTAREP e
centros diversos de manutenção e
reparos.
— Definição de termos que ain-
da não foram definidos, e estão sen-
do introduzidos ha MB, como, por
exemplo: vida (no sentido do con-
junto de todos os ciclos de ativida-
revista marítima brasileira
des de um navio, e não em termos
de dano, conforme já conceituado);
condição de eficiência das forças;
disponibilidade operativa; ativida-
des industriais; listas de serviços
de rotina; inspeções pré-período de
reparos; lista de defeitos penden-
tes; concessões; desvios de especi-
ficações; experiências de mar ; da-
ta das experiências de cais; data
das experiências de mar; movi-
mentação simulada; data de mobi-
lização em emergência; data ope-
racional; livro-registro de período
de reparos; carga de trabalho; e
muitas outras (15).
Organização dos documentos
necessários ao exercício das ativi-
dades de construção naval e manu-
tertção e reparo. O principal propó-
sito da documentação de trabalho
é o estabelecimento de um sistema
de comunicação e registro entre os
diversos órgãos envolvidos nas ati-
vidades industriais consideradas. A
título de exemplo, e considerando
apenas a atividade de manutenção
e reparo, indicaremos: a ordem de
serviço, o aditamento à ordem de
serviço, a comunicação de irregu-
laridade técnica, as instruções pa^
ra alterações, modificações técni-
cas e substituições, os relatórios (fi-
nais de períodos de reparos e das
oficinas), as instruções de proces-
so e/ou métodos uniformes e pa-
drão, as especificações de teste e os
formulários de teste, o cronograma
de eventos principais, o cronogra-
ma de eventos-chaves, a programa-
ção quinzenal, o boletim semanal,
a ata de obras, os desvios de espe-
cificação, a lista de defeitos pen-
dentes, etc. (15).
Organização dos grupos fun-
cionais (3), ampliando-os à seme-
lhança do INDEX (24) e tornando
sua implantação obrigatória na es-
trutura de qualidade adotada.
UMA POLÍTICA DE QUALIDADE. 57
— Estabelecimento de quais os
testes, inspeções e experiências a
que devem ser submetidas as diver-
sas classes de navios, antes, duran-
te e no término dos períodos de re-
paros, bem como na construção e
após o seu término.
É flagrante a necessidade da or-
ganização de um subsistema de
aplicação de testes nos navios em
construção ou em manutenção e re-
paros, porque todos eles devem ser
submetidos a uma série de expe-
riências, inspeções e testes, visan-
do, genericamente, complementar
as atividades de garantia e con-
TROLE DE QUALIDADE. Mas não SÓ OS
ESTAREP e os estabelecimentos
construtores devem ser dotados de
uma organização apropriada para
a execução dessas provas. Também
os estabelecimentos de aceitação
(clientes) têm que possuir essas or-
ganizações e grupos de inspeções e
testes. Para exemplificarmos, e po-
larizando para a manutenção e re-
paro, diremos que dentro do AMRJ
deve existir uma organização que
seja especializada em aplicar tes-
tes, inspecionar, conduzir experiên-
cias de sua responsabilidade e ana-
lisar os resultados, a fim de produ-
zir as correções que se fizerem ne-
cessárias. Por outro lado, escolhen-
do uma força naval de navios tipo
como exemplo de cliente, afirmare-
mos que organicamente deverá
contar com um grupo de especialis-
tas que assessore, juntamente com
o comandante do navio, ao ComFbr-
tipo, na aceitação dos desvios de es-
pecificações decorrentes das ativi-
dades industriais executadas e dos
defeitos pendentes que não afetem
a segurança ou comprometam as
operações que estão programadas
para o navio considerado (15).
Deve existir, finalmente, uma ou-
tra organização que sirva de equi-
pe de inspeção, a nível DGMM, res-
ponsável pelo assessoramento des-
se escalão, e pela aceitação (2) de
navios recém-construídos para a
MB. Isso se aplicará, por exemplo,
nos casos em que estaleiros priva-
dos repararem ou construírem pa-
ra a MB, quando o meio naval de-
verá ser inspecionado material-
mente por essa equipe, que verifi-
cará suas condições e aceitará ou
não a qualidade dos serviços reali-
zados. Tal constitui a autoridade de
aceitação, em contrapartida à au-
toridade de inspeção, que normal-
mente pode ser exercida pela DEN.
Num exercício de imaginação
podemos vislumbrar tal equipe de
inspeções chefiadas pelo diretor-
-geral do Material da Marinha,
coadjuvado por representante das
DE, elementos das organizações e
grupos de testes dos ESTAREP e
Força-Tipo, todos com a tarefa de
assessorar o recebimento do navio
construído ou reparado num esta-
leiro particular.
Resumindo, imaginamos que de-
vam existir, na MB, três níveis de
inspeção — um, nível ESTAREP ou
estabelecimento construtor; outro,
nível ComFbrtipo, e finalmente o de
mais alto escalão — nível DGMM.
O primeiro nível, composto de con-
juntos de equipes, grupos e organi-
zações de testes, será responsável
pela condução das experiências,
testes e inspeções e pelo controle e
garantia de qualidade, e os dois úl-
timos, compostos de equipes, gru-
pos e organizações de testes, serão
responsáveis pela condução das ex-
periências, testes e inspeções e pe-
la garantia de qualidade nas ativi-
dades industriais realizadas. Tal
afirmativa, que generaliza a res-
ponsabilidade de todos os escalões
envolvidos pela garantia da quali-
dade, pode ser parcialmente corro-
58 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
borada pela citação de que:"GARANTIA DE QUALIDADE é Um
problema também da Força de Sub-marinos, sendo o comandante dosubmarino um dos escalões de res-ponsabilidade deste programa." (27)
Assim, acreditamos esteja justi-ficado o papel da DGMM na GA-rantia de qualidade na construçãode navios, mesmo que seja em es-taleiros situados no exterior, quan-do o procedimento, segundo nos en-sina Juran, poderá ser através deuma auditoria (no caso técnica), àsemelhança de uma auditoria fi-nanceira, conforme veremos adian-te [21-4 ref. (19)].
— Estabelecimento e organiza-ção, visando à padronização, de to-dos os documentos necessários aoexercício das atividades industriaisconsideradas. Quanto a este tópico,em especial no que diz respeito àmanutenção e reparo, cumpre aler-tar que se trata de organizar as pu-blicações técnicas já existentes, oque poderá ser feito segundo oagrupamento por assuntos, que, nocaso, poderiam ser os grupos fun-cionais já adotados na MB (2).
Uma das maiores dificuldadessentidas, na atualidade, para quetrabalha em manutenção e reparo,é a certeza de que as publicaçõestécnicas para a consulta aos diver-sos assuntos relacionados com asatividades industriais executadasnão estão atualizadas. Muitas sãode origem nacional, outras estran-geira, mas uma grande parte se de-satualiza rapidamente. A idéia bá-sica da organização propalada se-ria o levantamento completo de to-das as publicações existentes, entrelivros, planos, manuais técnicos,catálogos, listes, etc, qualquer queseja sua origem, e sua catalogaçãocentralizada e sistemática, permi-tindo, posteriormente, a classifica-
ção através dos modernos sistemasde computação e, finalmente, o con-trole de atualização.
Além de promover a completareorganização dessas publicaçõese levantamento do grau de atuali-zação que ostentam, as providên-cias indicadas proveriam acesso fá-cil ao assunto escolhido, permitin-do que pareceres técnicos fossemproduzidos em menor espaço detempo, baseados na totalidade dadocumentação existente, aumen-tando sua confiabilidade. Tal seriaa utilização consciente do banco dedados técnicos que começaria a serimplantado na MB. Por outro, issoviria faciltar grandemente a reu-nião de matéria geradora de instru-ções brasileiras, semelhantes àsexistentes nos demais países. Mui-to embora muita coisa tivesse queser copiada, muita seria tambémcriada, dentro dos moldes das pu-blicações estrangeiras a que temosacesso. Se levarmos em conta a ori-gem de vários dos nossos meios flu-tuantes e aéreos, isso viria a seconstituir num processo de transfe-rència de conhecimentos.
Claro está que, em primeiro pia-no, se impõe a regularização dessaspublicações nos moldes da sistema-tica de processamento de publica-ções na MB. Isto evitaria, entre ou-tras coisas, a falta de padronizaçãono procedimento em consultar a do-cumentação estrangeira existente,quer pelas características indivi-duais de cada pessoa, quer pela di-ficuldade em manter atualizadastais publicações, quer pela incerte-za de possuirmos todas as publica-ções que esgotam determinado as-sunto técnico. Além do mais, talprocedimento proveria o desejadorespaldo para a utilização, no âm-bito da unidade executora de ativi-dades industriais, de matéria téc-
tUMA POLÍTICA DE QUALIDADE...
nica alienígena, evitando o uso da-
quela que muitas vezes não se apli-
ca às nossas necessidades ou quenão é a mais correta.
Tais medidas de organização,
nos parece, contribuiriam para
criar a consciência de que temos de
elaborar nossa própria documenta-
Ção. Pela origem dos meios flutuan-
tes e aéreos da MB, teríamos a in-
dicação sobre a matéria em que se
basear. Traduzir e adaptar paranossa realidade é um passo a mais
na longa escalada. E onde não hou-
ver nada em que se basear, inovar
será desafio dos mais interessan-
tes.
Em breve, me parece mais uma
vez, estaríamos no caminho de ob-
ter material alienígena, quandoinevitável, impondo as nossas pró-
prias especificações. É flagrante a
dificuldade atual, ao se obter no ex-
terior um meio naval ou aeronaval,
em termos que nos submeter às es-
Pecifições do país de origem, sem
contudo conhecê-las. Aceitamos a
palavra de que se o produto é bom
Para a Marinha de origem, e se es-
sa Marinha nos garante o forneci-
niento, na mesma qualidade, então
é bom para nós. Que engano! Quan-
tas decepções temos sofrido!
A criação do corpo de especifica-
Ções gerais e militares da Marinha
brasileira pode ser um sonho, mas
nunca deixará de ser uma meta a
Perseguir. Pode ser até que essas
especificações venham a dificultar
a obtenção de material estrangei-
ro, e até mesmo na indústria nacio-
nal, pelo rigor devido àqueles pon-
tos em que impusermos uma carac-
terística naval. Mas, sem dúvida,
elas servirão de paradigma orien-
tador da nossa própria indústria,
Para atender às necessidades de
niaterial para a MB.
Entendemos que não seja essa
59
uma tarefa de organização que cai-
ba somente às DE, aos ESTA-
REP, etc., ou que deva ter origem
nesses estabelecimentos, de direi-
to. Em nosso entender, é uma tare-
fa de âmbito mais amplo e, como
tal, sua determinação e focalização
parecem estar intimamente vincu-
ladas ao EMA. Assim, parece-nos
oportuno, como conclusão final,
que deva ser prevista parcela do
Plano de Ação em favor da idéia de
organizar as publicações técnicas
existentes. Temos a quase certeza
de que tal projeto cedo frutificará,
rendendo sólidos dividendos às ne-
cessidades de qualidade da cons-
trução e manutenção e reparos da
MB.
Essas, e muitas outras medidas
comuns às áreas de construção e
manutenção e reparo, podem ser
implementadas, conforme mencio-
namos, em benefício de um sistema
de qualidade a ser implantado na
MB.
Devemos, finalmente, decidir
que padrão deverá orientar a orga-
nização de tal sistema de qualida-
de. Levando em consideração a tra-
dição que já temos em navios de
origem da US Navy, e que a mais
recente construção naval contrata-
da no exterior se refere a um sub-
marino IKL-1400, a ser construído
pela HDW, na Alemanha Federal, cu-
jo sistema de qualidade padrão NA-
TO está fundamentado nas AQAP-1,
que, por sua vez, se originam da
MIL STD-Q-9858A (19, 30), julga-
mos conveniente estruturar nosso
sistema de qualidade fundamenta-
do na MIL STD-Q-9858A (28), adap-
tada, no que for conveniente, às ne-
cessidades da MB. Tal seria bené-
fico, entre outras coisas, por expan-
dir as possibilidades de marketing,
quando passássemos a construir
submarinos em estaleiros nacio-
60 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
nais, principalmente para o merca-
do sul-americano, cujas Marinhas
de Guerra vêm, sistematicamente,
absorvendo cultura tecnológica dos
países que adotam o sistema de
qualidade alienígena acima men-
cionado.
Recente artigo publicado na Na-
vai Fbrces VI/1982 (18), o qual tradu-
zimos e comentamos, mostra como
funciona o sistema de qualidade
implantado na HDW, justificando,
em parte, a proposição que fazemos
de criar uma equipe de inspeções
técnicas da MB, que receberia a in-
cumbência de exercer a função de
GARANTIA DE QUALIDADE Sob a for-
ma de auditorias, conforme preço-
níza Juran [capítulo 22, ref. (19)].
Por outro lado, dentro do sistema
adotado no Brasil, tal equipe cons-
tituir-se-ia em elemento fundamen-
tal para respaldar o Documento de
Aceitação de Navio (DAN), enca-
minhado ao DGMM pelos gerentes
de projetos (2).
Urge, pois, implantarmos e im-
plementarmos uma estrutura sistê-
mica de qualidade que poderia ser,
a bem da conveniência que indica-
mos, padrão NATO, com as devidas
adaptações decorrentes das nossas
realidades, a fim de proporcionar-
mos as ferramentas a todos os im-
plicados com as atividades indus-
triais de construção, manutenção e
reparo, que permitam conduzi-las,
dentro dos prazos estabelecidos,
com a qualidade desejada, tudo is-
so a um custo otimizado. Sobrarão
mais recursos, portanto, para aten-
der às operações navais, elevando
cada vez mais o grau de apresta-
mento e operacionalidade da MB.
BIBLIOGRAFIA
1. BRASIL. Ministério da Marinha. Doutrina Básica da Marinha. Brasília. 1985.
2. BRASIL. Diretoria-Geral do Material da Marinha. Obtenção dos Meios Flutuantes paraMarinha. MATERIALMARINST 018401. Boi. do MM 07/1984.
3. BRASIL. Diretoria de Engenharia Naval. Informações sobre navios e outros meios flu-
tuantes. ENGENALMARINST 207201. 1973.
4. BRASIL. Estado-Maior da Armada. Instruções Gerais para Execução de Reparos, Ma-
nutenção e Alterações dos Navios e Aeronaves da Marinha. 1978.
5. BRASIL. Ministério da Aeronáutica. CTA-CI1142-01. Sistema de Controle de Qualidade
de Empresas Frabricantes de Produtos Aeronáuticos. Instituto de Fomento Indus-
trial. São José dos Campos. 1975.
6. BRASIL. Ministério da Aeronáutica. Portaria 47 GM, de 16/05/74.
7. BRASIL. Ministério da Marinha. Regulamento para a Diretoria de Engenharia Naval.
Decreto 81.797, de 15/06/78. DOU de 16/06/78.
8. BRASIL. Ministério da Marinha. Regulamento para a Diretoria-Geral do Material da Ma-
rinha. Decreto 64.462, de 05/05/69. DOU 915/69.
9. BRASIL. Ministério da Aeronáutica. Portaria 127, GM 5, de 16/12/75.
10. CALEGARE, Álvaro José de Almeida. Técnicas de garantia de qualidade. Rio de Janei-
ro. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A. 1985
UMA POLÍTICA DE QUALIDADE... 61
11. CAMINHA, João Carlos Gonçalves. Delineamento de Estratégia. 1980. 598 p.
12. CAPETTI, Ruy Barcellos. Garantia de Qualidade na HDW. Tradução adaptada Naval
Forces VI/82. No prelo. 1985.
13. CAPETTI, Ruy Barcellos. O reparo de submarinos ainda é diferente. Operiscópio. ForS.
14. CAPETTI, Ruy Barcellos. Submarinos convencionais. Aspectos da segurança no proje-
to. O periscópio. ForS. 1? sem./1985.
15. CAPETTI, Ruy Barcellos. Uma sugestão para revisão da IGERA. Texto apresentado à
Força de Submarinos. 1981.
16. FARGO, Robert. R. Quality assurance audit in the shipbuilding industry. Naval Engineers
Journal. 1970.
17. GRIMMER, Luiz Henrique. Sistema de abastecimento da Marinha. Rio de Janeiro. 1980.
72 p.
18. HIRCH, R. Quality assurance in naval shipbuilding. Naval Forces. A Special Suplement
HDW. Naval Division. Monch U.K. Nr. VI/1982.
19. JURAN, Joseph M., et. alii. Quality control handbook. McGrawHill Book Company 3th
edition. 1974.
20. SANTOS, Walter dos. A atuação do INMETRO. Palestra proferida na EGN. Painel "Trans-
ferência de tecnologia". Setembro/1984.
21. U. K. Naval Forces. A Special Suplement KOCKUMS Sweden. Monch U.K. Nr. III/1983.
22. U. K. Naval Forces. A Special Suplement THYSEN NORDSEEWERK. Monch U.K. V.
VI Nr. III/1985.
23. U. K. Royal Navy. The submarine refit guide. SMP 26. Office of the Flag Officer Subma-
rines. Port Blokhouse. Gosport. 1974.
24. USA. Bureau of Ships Consolidates Index of Drawings Material, and Services Related to
Construction and Government. NAVSHIPS 0902-002-2000. S.n.t.
25. USA. Departamerit of Defense. Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attri-
butes. MIL STD 105-D. 1963.
26. USA. Department of the Navy. Continuity of Submarine Safety Certification (Non Nu-
clear). NAVSHIPS 9080.15A. Naval System Ship Command. 1967.
27. USA. U. S. Navy Quality Assurance Manual. Consublantinst 4355.3.1971. USA. U. S. Navy.
Submarine Overhaul Maintenance Requirements. S. n.T.
28. USA. U.S. Department of Defense. Military Specification Quality Program Requirements.
MIL-STD-9858A. 1963.
29. VIDIGAL, Armando Amorim Ferreira e FLORES, Mário César. Desenvolvimento do
Poder Naval brasileiro. S/editor. 1976.
30. VIDIGAL, Armando Amorim Ferreira. O Emprego político do Poder Naval. S/editor, s.d.
ifesfcy-
8^* t/**yw
MPMP* M^mm ,
^4.
^li^j
SWS
%
. L ^
VEROLM! 4'
^
•
A CIDADE QUE
CONSTRÓI NAVIOS
O estaleiro VEROLME conta com milhares dehomens, e recursos tecnológicos próprios,desenvolvidos a partir da experiência e dadeterminação de funcionários bem treinados eequipados com o que há de mais moderno emconstrução e reparos de navios, plataformas de
prospecção e equipamentos off-shore.Líder no setor de construção naval, ocupa hojeuma área de 10 milhões de m2, dos quais 640mil destinados ao parque industrial,assegurando ao cliente um atendimento
completo e perfeito,dentro dos prazos estipulados.Construindo qualquer tipo de navio de até600.000 tpb, plataformas off-shore, navipeças,reparando navios, procurando na diversificaçãoum caminho para elevar o poder da IndústriaBrasileira, a VEROLME mantémo mesmo dinamismo para ^conquistar grandes vitórias
VEROLMEpelos mares do Brasil Ie do mundo.
Rua Buenos Aires, 68/36.° - 20075 - Rio de Janeiro - BrasilTel.: 292-3148 - Telex:21 23776
OFICIALATO MERCANTE
O
{\\X& ^li)
?nt
¦
APRESENTAÇAO
A Marinha Mercante é uma gran-de desconhecida dentro da socieda-
de brasileira. Talvez por ser uma
atividade-meio, talvez pela notória
falta de maritimidade da própriasociedade, talvez porque seja uma
atividade exercida quase sempre
longe de tudo e de todos nas gran-des distâncias dos mares.
Esses fatores, e certamente ou-
tros, fazem com que não vejam ne-
clc ronaldo CEViDÁNES machado la um dos instrumentos que têm
Capitão-de-Longo-Curso viabilizado, no passado e no presen-te, na paz e na guerra, a economia
e a segurança brasileiras. Enfim,
apesar da sua importância, apesar
de quase 500 anos de presença em
nossa história, apesar de ser um
dos pilares do nosso Poder Maríti-
mo, a Marinha Mercante ainda é
vista sem o merecido reconheci-
mento e, sobretudo, com inúmeros
preconceitos.
Dentro desse quadro, nada mais
natural que os oficiais que tripulam
rs-
Y* ¦
64 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
seus barcos sejam igualmente vis-
tos com pouca clareza e, comumen-
te, sob um enfoque distorcido.
Assim, neste trabalho, nosso pro-
pósito é mostrar, atráves de quase
cinco séculos, o lento evoluir da car-
reira do oficial mercante para, co-
nhecendo nossa história, termos
uma visão mais nítida de uma ati-
vidade tão difícil de ser exercida
com motivação num país com uma
sociedade tão afastada do mar.
Mas, apesar disso, a bordo de
nossos navios, em todos os mares
do mundo, já encontramos uma ofi-
cialidade responsável, orgulhosa e
consciente da importância daquilo
que faz na certeza de que, com a
maturação daquilo que é realizado
no Ciaga e Ciaba, em breve a Mari-
nha Mercante terá uma oficialida-
de ainda mais homogênea do que
hoje, conceituada em sua plenitude
e totalmente integrada com os
companheiros da Marinha de Guer-
ra, pois o próprio mar, o espírito, as
tradições e o sentimento marinhei-
ro fazem com que tudo os una e na-
da os separe, mesmo porque, na
atualidade, os oficiais mercantes
são oficiais da Reserva da própria
Marinha de Guerra.
Portanto, a realidade de hoje di-
fere totalmente daquela de um pas-
sado muito recente quando a pre-
sença da Marinha, na formação e
aperfeiçoamento dos oficiais mer-
cantes, era quase que só normati-
va, como iremos mostrar no decor-
rer deste trabalho, que, por facili-
dade de exposição, será apresenta-
do em três partes: O Passado, O
Presente e Conclusões.
O PASSADO
DAS ORIGENS AO FIM
DO SÉCULO XIX
TÓPICOS: O oficialato na Marinha
Mercante nos primor-
dios da navegação — A
origem da palavra pilo-
to e a antigüidade do
exercício dessa função
Os pilotos e o Brasil
da descoberta — Pri-
meiras cartas — Evolu-
ção da denominação do
oficial de náutica no sé-
culo passado — Presen-
ça da família imperial
e a influência à navega-
ção — Primeiro dese-
quilíbrio entre a oferta
e a necessidade de ofi-
ciais — Conceito do ho-
mem do mar no início
da atividade marítima
O aparecimento da
máquina e o surgimen-
to da dicotomia convés
versus máquina — Pri-
meiras providências
para a concessão de
cartas do pessoal dá
máquina — Criação
das primeiras escolas
A presença intensa
de oficiais estrangeiros
Realidade do oficia-
lato no fim do século
passado.
A autoridade do oficial a bordo
precede o estabelecimento de regu-
lamentos, pois nasceu, no passado
da navegação, de um sentimento in-
tuitivo próprio daqueles que, viven-
do um perigo comum, "tendem
a
confiar ao mais capaz a direção,
atribuindo, como corolário, o poder
de os comandar e a obrigação de
ser obedecido".
A esse homem, PerDoctus, mui-
tos séculos atrás, era dado o trata-
mento respeitoso significando, "Mui
Douto", visto que os demais mem-
bros da equipagem reconheciam
nele as virtudes e os conhecimen-
tos que não tinham. Não importa
oficialato mercante 65
¦-lue, julgado hoje, esse saber a maisfosse mínimo, porém, para umaépoca em que navegar era mistérioe um desafio, saber fazê-lo, maiscom coragem do que até mesmocom conhecimento, distinguia o ho-mem e o tornava merecedor do res-Peito daqueles que, como ele, esta-vam engajados na aventura mari-tima. Enfim, a diferença entre elee os demais é que a ele cabia levara embarcação.enquanto aos outros,a embarcação levava.
Essa primeira denominação la-tma Per Doctus foi, com o passardos anos, e por corruptela do termooriginal, sofrendo sucessivas modi-Reações para Perdoctus, Pedoto,Pedolto, até chegar, séculos atrás,a denominação de todos conhecida:Piloto.
Portanto, a categoria de pilototem raízes tão distantes no passa-do que podemos afirmar ter sido®le, mesmo incluindo os postos dafarinha de Guerra, o primeiro ofi-Clal a ter mando no mar, pois, co-1710 a história da navegação com-Prova, a Marinha de Guerra surgiuexatamente para dar proteção e de-jender os interesses já criados pe-• Marinha Mercante. Assim, os ofi-ciais de náutica de hoje devem terconsciência de que exercem umaatividade quase tão antiga como aPrópria navegação, cuja história osnossos antepassados ajudaram a
screver. Por isso mesmo sabemos"íue eles, os pilotos de então, forma-vam ao lado daqueles que, no dis-tante ano de 1500, pela primeiraVez, viam nossa terra.Depois, a muitos deles ficamos"evendo os nomes com que até ho-
Ie conhecemos ilhas, baías, rios, ca-°s, montanhas, enseadas, cidades,aixios, enfim, acidentes geográfi-c°s e marcos de navegação queeles, em sua rotina marinheira pe-
lo litoral brasileiro, foram desço-brindo e batizando.
Contudo, centenas de anos iriampassar sem que nenhum brasileirorecebesse uma carta de piloto.Uma das razões é o Alvará portu-guês, de 1795, que proibia aos bra-sileiros o exercício da Atividademarinheira.
Todavia, em nossas pesquisas,conseguimos constatar que, em1818, um brasileiro, Francisco Nu-nes de Souza, natural da Ilha deSanta Catarina, recebeu, outorga-da pelo rei de Portugal, Brasil e Al-garves, então residindo no Rio deJaneiro, uma carta de primeiropiloto-geral, após exames presta-dos perante a Real Academia deMarinha. Esse documento esteve,até recentemente, sob a guarda depadres de Friburgo e hoje é partedo acervo do Centro de Capitães daMarinha Mercante.
Esclarecemos que esse diplomalegal não consta dos arquivos da Di-retoria de Portos e Costas, vistoque, somente a partir de 1819, pas-saram a escriturar, no Livro de Re-gistro de Pilotos 001, as cartas con-cedidas. Em face disso, nos docu-mentos da Marinha, a primeiracarta registrada foi concedida, nodia 12 de maio do ano citado, ao na-vegador português Manoel Augus-to d' Azevedo e, pelas peculiarida-des do documento por ele recebido,consideramos oportuno transcreve-lo em parte:"Dom Marcos de Noronha e Bri-to, Conde dos Arcos, do Conselho deSua Majestade, Gentil Homem dasua Câmara, Tenente-General dosseus Reais Exércitos, Comendadorda Ordem de Cristo, Grã-Cruz deSão Bento de Aviz, Ministro e Secre-tário de Estado dos Negócios daMarinha e Domínios Ultramarinos,Inspetor Geral da Marinha. Faço
66
saber aos que esta Carta virem que,
em atenção ao que me expoz Ma-
noel Augusto d' Azevedo em seu re-
querimento, e as boas informações
que delle me derão os Lentes da
Academia Real da Marinha, o hey
por aprovado para UZAR DA ARTE
DE PILOTO COM EXCEPÇÃO DOS
PORTOS d AZIA, com obrigação de
apresentar nesta Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Marinha e Do-
mínios Ultramarinos as Derrotas
de toda a Navegação, que daqui
em diante fizer, para serem manda-
das examinar, se assim se julgar
conveniente e achando-se nellas er-
ro notável ser cassada a presente
Carta. O Porteiro e Guarda-Livros
da mesma Secretaria de Estado
preparará recibos da entrega das
mencionadas Derrotas. E o referi-
do Manoel Augusto d' Azevedo go-
zará de todos os privilégios e izen-
ções que justamente lhe pertence-
rem".
Podemos observar, analisando a
Carta transcrita, que ela era con-
cedida com limites. O primeiro é
que o beneficiário não poderia exer-
cer a arte de piloto nos portos da
Ásia e o segundo é que ele ficava su-
jeito à apresentação de derrotas
que, inclusive, poderiam ocasionar
eventualmente a cassação da pró-
pria carta.
Parece, portanto, que a autorida-
de, naquele passado distante, não
obstante as "boas
informações dos
Lentes da Academia Real da Mari-
nha", não confiava nos oficiais, vis-
to que, ainda no decorrer de 1819 e
durante o ano 1820, mais 25 cartas
de primeiro-piloto foram concedi-
das e todas, com exceção de uma,
com as limitações citadas. Ao úni-
co oficial que, em 1820, recebeu sua
carta sem qualquer ressalva era
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dado o título de primeiro-piloto-
geral.
Quatro anos depois, em 1824, pas-
sam a ser expedidas cartas de sota-
piloto, por tempo indeterminado e
sem qualquer limitação. O sota-
piloto foi o embrião do segundo-ofi-
ciai de náutica de hoje e a origem
dessa denominação era porque ao
piloto menos experiente cabia a
responsabilidade das manobras
dos panos a sotavento.
Os anos foram passando e o nú-
mero de cartas aumentando, sem
que outros brasileiros, além do já
citado, as recebessem até que, em
1831, é dado a José Maria Ribas, na-
tural de Rio Grande, o direito de"uzar
a arte de piloto", com exce-
ção dos portos dAzia. Aliás, é bom
salientar que os três tipos de cartas
conviveram por muitos anos, pois,
até 1865, elas eram expedidas para"1?
piloto com ressalva da Azia","1?
piloto-geral" e "sota-piloto".
So-
mente no decorrer de 1865 a autori-
dade passou a emitir cartas de pi-
loto sem qualquer outra referência.
Todavia, o mais importante não
é definir o tipo de cartas, e sim pro-
curar entender a razão pela qual,
a partir de 1819, tantas delas passa-
ram a ser expedidas. Acreditamos
que a resposta possa ser procura-
da em fatos políticos que trouxe-
ram conseqüências econômicas.
Na realidade, a vinda da famí lia
imperial para o Brasil acarretou
dois efeitos marcantes à navega-
ção: o primeiro, e maior deles, foi
a abertura dos portos a todas as na-
ções amigas. Em face disso, o flu-
xo de comércio marítimo ficou bas-
tante intensificado e diversificado,
pois deixou de ser feito só com Por-
tugal, como ocorria, para ser rea-
lizado com as principais nações da
OFICIALATO MERCANTE
ePoca, notadamente a Inglaterra;° segundo é que, com a presença
os soberanos na Bahia, e posterio-mente no Rio, o intercâmbio pelo*nar entre as principais cidadesrasileiras
também aumentou e,Corn° comprovação de uma coisa e
9utra, basta a leitura do jornal daePoca,
a Gazeta do Rio, cujos nú-nteros do início do século passadoestão arquivados na Biblioteca Na-C1°nal
do Rio de Janeiro.Esse incremento da navegação
acarretou a necessidade de pilotos,
nao disponíveis em número sufi-
^ente, naquela ocasião, neste lado
Atlântico, fazendo com que, em
10 e 1820, ocorresse o primeiro de-s®quilíbrio
entre a necessidade e a® erta no mercado de trabalho do
°mem do mar no Brasil.
A conseqüência dessa realidade01 a decisão, da autoridade da épo-
ca, de conceder cartas mesmo que,como
inicialmente feito, com res-salvas
e controle. Afinal estando osSovernos
do Brasil e Portugal atri-dos e, com o nosso comércio não
d
ais sendo feito só com Lisboa, po-ernos
supor que a presença de pi-
° °s Portugueses qualificados pas-
u a ser difícil e, sendo assim, asrtas
possivelmente passaram aconcedidas
a pessoal sem com-a habilitação, mesmo porque
ao era estranho, nos primórdios daavegação,
que homens da tripula-* °. comprovadamente marinhei-
s no conceito maior da palavra,
g.°rern sem
grande escolaridade,
passem postos de oficiais,
a h-SSa era a realidade da época e
istória comprova que, no início
a navegação, a grande parcela dos
a
^ens de bordo era formada por
^Ueles que, marginalizados em
c ^a' numa época de pequeno mer-
° de trabalho, procuravam oar como resposta a suas necessi-
67
dades de vida. Eram pois, em tese,
os menos qualificados e, por essa
razão, o legislador de então, saben-
do da falta de homogenidade das
tripulações do início da navegação,
criou regras rígidas que coibissem
a agressividade e a indisciplina.
Apesar desse ser o quadro da-
quele passado longínquo, a verda-
de é que ficamos devendo,a esses
marinheiros rudes, páginas das
mais bonitas da história marítima
e, através do trabalho profissional
deles, ao labutar com ventos, panos
e mar, inúmeras nações transfor-
maram o sonho de potência em rea-
lidade, pois, sem eles, o "Dever
ser"
jamais teria sido.
Mas, apesar disso, a verdade é
que pela baixa qualificação social
ios marinheiros do passado, por se--em eles indivíduos marginaliza-
ios em terra e pelo fato — destaca-
nos esse dado — de naquela época
a atividade comercial não ser con-
siderada uma ocupação condizen-
te, o conceito dos homens que tra-
balhavam a bordo era baixo.
Tbdavia, com o passar do tempo,
a simplicidade das primeiras em-
barcações, que possibilitavam a
utilização dos menos qualificados,
foi modificando e, a cada evolução,
foi sendo indispensável empregar,
cada vez mais, profissionais com-
petentes pelo significado sempre
ascendente dos interesses econômi-
cos envolvidos no gerenciamento
de uma unidade mercante.
Essa evolução da navegação co-
meçou a motivar, no passado, o es-
tudo da arte de navegar e da mari-
nharia como meio de garantir a se-
gurança dos investimentos feitos.
Assim os cursos e escolas de prepa-
ração dos navegantes foram sur-
gindo em várias partes do mundo.
Umas sob a responsabilidade de"Ligas
de comerciantes" e outras
68 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
de soberanos de então. Eles já sa-biam do velho ditado marinheiroque diz: "Mais vale uma boa guar-nição num velho barco do que umamá tripulação em um navio novo",ou seja: o homem já era, e continuasendo, o cerne de tudo. Enfim, elesintuitivamente perceberam o queMahan, muitos anos depois estabe-leceu quando afirmou que, para queo Poder Marítimo exista, é indis-pensável, não só, a existência depessoal que desempenhe ativida-des relacionadas com o mar, comotambém de escolas que preparemesse segmento de uma sociedade.
Contudo, no Brasil da metade doséculo passado, esse cuidado empreparar, em cursos ou escolas, ohomem da Marinha Mercante, ain-da estava longe, muito longe, de serrealizado, apesar de, desde 1807,Fulton já haver implantado, no RioHudson, a primeira linha de nave-gação utilizando um navio a vapor.
O registro da preocupação inicialdo Brasil com o emprego da máqui-na nos barcos mercantes ocorre em1845 quando, por Decreto Imperial,foram criados exames para obten-çaõ de cartas para o pessoal dasmáquinas. Somente 44 anos depois,em 1889, o referido decreto foi refor-muiado, sendo criados novos exa-mes e feitas exigências para trans-ferència de categorias.
Finalmente, em 1892, por inicia-tiva do Almirante Custódio de Me-lo, então Ministro da Marinha, fo-ram criadas uma Escola de Maqui-nistas e um Curso de Náutica, quedeveriam funcionar no Arsenal deMarinha, em Belém.
No ano seguinte, 1893, as leis ci-tadas foram regulamentadas fican-do criada a Escola de Pilotos e Ma-quinistas do Pará, sendo o primei-ro estabelecimento no gênero naAmérica do Sul e o segundo núcleo
de ensino na Marinha do Brasil sóprecedida, cronologicamente, pelaEscola Naval, já existente então. Asaulas no novo estabelecimento fo-ram iniciadas em março de 1894com a freqüência de dois maquinis-tas e oito pilotos.
A criação dessa escola era ofi-cialmente justificada pela necessi-dade de atender um problema re-gional de navegação na bacia doAmazonas e, sendo assim, aquelesque lá estudavam só ficavam habi-litados ao exercício da função na re-gião. Essa limitação permaneceuaté quase 1960 mas, durante todo otempo em que foi regional, umagrande parte daqueles que lá eramformados acabava conseguindocartas sem limitação após examesque, inicialmente, eram prestadosna Escola Naval e, posteriomente,na Escola de Marinha Mercante doRio de Janeiro.
No mesmo ano 1894, quando asaulas na Escola do Pará eram ini-ciadas, as mesmas autoridades quea criaram autorizaram, simulta-neamente, que fossem realizadosexames práticos para a concessão decartas ao pessoal que já estava emexercício na Marinha Mercante e quedesempenhava a profissão sem o res-paldo de embasamento teórico.
Em 1896 encontramos, no Livrode Registro de Cartas de Maquinis-tas da Marinha Mercante, a primei-ra carta de maquinista, pelo qual,na época, eram denominados de 4?,3?, 2? e 1? classes.
Um fato curioso que merece re-gistro é que enquanto as cartas denáutica, naquele passado, eramconcedidas, preponderantemente,ao homem do mar oriundo de ou-tros países, as cartas de máquinassó eram expedidas a brasileiros.
Enfim, ao término do séculoXIX, após 400 anos de descoberta,
OFICIALATO MERCANTE
Pouco havia sido feito na formaçãodo oficial mercante, pois a única es-cola era oficialmente de abrangên-cia regional, o acesso ao oficialatoera conseguido em decorrência deexames práticos ou em conseqüên-cia de derrotas defendidas na Es-cola Naval e a maioria das cartasoe náutica era concedida a estran-geiros. Essa era a realidade há 85anos e o resultado era a heteroge-neidade do grupo em prejuízo daatividade marítima e do conceitodo oficial mercante.
O PASSADOPERÍODO DE 1900 ATÉ 1939
TÓPICOS: O início do século e asprimeiras Cartas de Ca-pitão — Navios-Escola
Sistemática do em-barque como pratican-te — Escola de Pilotose Maquinistas do Rio deJaneiro — Primeira Es-cola de Marinha Mer-cante do Rio de Janeiro
Cartas de guerra —Nacionalização do co-mando — Escola deMarinha Mercante doRio de Janeiro no LloydBrasileiro — SegundaGuerra Mundial — Res-ponsabilidade da Mari-nha na formação do ofi-ciai mercante.
A evolução desse quadro foi len-a« muito lenta, não ocorrendo, nosPrimeiros anos do atual século, ne-numa modificação na formaçãoa oficialidade e, a bordo de nossosavios, o estrangeiro permanecia!? sua presença marcante.lodavia, o número excessivo de°mandantes e oficiais estrangeiros0rrespondia à realidade da época e
comum nas colônias ou em paísesque conseguiam a independência.Basta lembrar que, em decorrênciado Alvará de 1795, que proibia quebrasileiros fossem marinheiros, D.Pedro teve, em 1823, pela insuficiên-cia de oficiais, a necessidade de en-tregar ao Almirante Cochrane, assis-tido por outros oficiais ingleses o co-mando da primeira esquadra brasi-leira. Só que na Marinha de Guerraessa realidade durou pouco, enquan-to, na Marinha Mercante, ela perdu-rou até Getúlio Vargas.
A rotina dos primeiros anos doséculo foi quebrada, em 1908, coma concessão, pela primeira vez, deuma carta de capitão-de-longo-cur-so que, dentro da rotina da época,foi dada a um italiano e, nos anosseguintes, a vários outros estran-geiros até que, em 1911, um brasi-leiro, tenente da Armada, recebe acarta de capitão-de-longo-curso.
Nada mais aconteceu de relevan-te com a oficialidade da MarinhaMercante até 1914, quando tem iní-cio, na Europa, a Primeira GuerraMundial. Dela os nossos barcosparticiparam, especialmente de-pois do Decreto de Angaria que in-corporou, ao patrimônio nacional,navios alemães que estavam surtosera nossos portos. Neles, já sob opavilhão nacional, foram transpor-tadas, segundo testemunho escritodo Comandante José Martins deOliveira "tropas combatentes egrande cópia de materiais bélicosde todas as origens que se destina-vam ao front da velha Europa. Porsuas cobertas passaram soldados emarinheiros de todas as raças bir-maneses, anitas, marroquinos, se-negaleses, sem contar as tropas re-gulares do exército americano".Enfim, a participação da MarinhaMercante, como é a rotina dela nasguerras, teve um custo medido pe-
70
los navios afundados e pelos ho-
mens que, para sempre, ficaram no
mar.
Mas, enquanto alguns tripula-
vam os barcos nacionais nos mares
em conflito, uma nova geração, no
Brasil, iniciava a vida marinheira.
Isso porque, exatamente no perio-
do da guerra, em 1916, ocorreu um
avanço no preparo da oficialidade
mercante com a incorporação, pe-
lo Lloyd Brasileiro, de um veleiro,
a Barca Wenceslau Braz, antiga
corverta 1? de Março da nossa Ma-
rinha de Guerra. A finalidade era
de ser um navio-escola para o pre-
paro de pilotos. Por considerarmos
pertinente, passamos a transcrever
as seguintes informações forneci-
das pelo Comandante Aristides Cor-
deiro, um dos 50 praticantes que
participaram , em 1917, durante a
guerra, da primeira viagem de ins-
trução:"O
Navio-Escola Wenceslau Braz,
antigo 1? de Março, foi construído
em 1881 nos estaleiros nacionais do
Arsenal de Marinha, tendo perten-
cido à Armada até o ano de 1915,
sendo utilizado como navio de ins-
trução de guardas-marinha. Em
1891, quando ainda estava incorpo-
rado à Armada, foi o primeiro na-
vio de guerra do mundo que fun-
deou no Canal do Panamá, que, na-
quela época, tinha 11 metros cons-
truídos.
Em princípio de 1916, passou a
pertencer ao Lloyd Brasileiro, pelo
qual foi adquirido, com o fim de ser
aproveitado como escola de prati-
cantes de piloto da Marinha Mer-
cante nacional. Para esse fim fo-
ram feitos várias reformas e me-
lhoramentos. As suas dimensões
eram: comprimento, 50.96m; boca,
8.46m; tonelagem, 726,5t; e o seu
calado máximo, 14 pés. Era arma-
do em barca e possuía, à proa, um
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
canhão Hotckiss de 47 mm e uma
caldeirinha que fornecia vapor pa-
ra o serviço de amarras e guinchos.
A sua equipagem compunha-se de
80 tripulantes e nossa turma (pri-
meira viagem) de 50 praticantes.
Seu Comandante era o Capitão-de-
Longo-Curso Antônio Dias da Cu-
nha, que tinha, sob seu comando, os
seguintes oficiais: o imediato, um
primeiro-piloto, um segundo-piloto,
um terceiro-piloto, um médico, um
radiotelegrafista e um comissário."
Cabe registrar que o imeditato,
Capitão-de-Longo-Curso José Mo-
reira Pequeno, mais tarde coman-
dante do Lloyd Brasileiro, desapa-
receu no último conflito armado
quando torpedos afundaram o Cai-
ru, seu derradeiro comando. Sua
morte merece ser comentada, pois
é um exemplo digno de um chefe
marinheiro. Adoecendo em viagem
para Belém, foi para ele providen-
ciado substituí to; todavia, ao saber
do torpedeamento do Buarque, jul-
gou que seu desembarque seria
uma covardia, não existindo argu-
mento capaz de modificar sua de-
cisão. Preferiu permanecer e se-
guir o mesmo risco de seu barco e
de seus homens.
Os cruzeiros do Navio-Escola
Wenceslau Braz estendiam-se por
além-mar e em prolongadas via-
gens ao longo da costa brasileira.
A esse tempo, a lei estabelecia dois
anos de período de embarque para
os praticantes, depois dos quais fi-
cavam habilitados a prestar exame
perante uma rigorosa banca na Es-
cola Naval.
Lembramos que o embarque co-
mo praticante obedecia a certa sis-
temática: o candidato deveria
prestar um exame prévio de sufi-
ciência, na Capitania dos Portos,
que constava de português, aritmé-
tica e geografia. Normalmente, os
r
0fICIALATO mercante
candidatos já eram afeitos à vida
Marinheira ou familiares de co-
Mandantes, oficiais ou tripulantes
e> como nada era exigido em ter-M°s de currículo, era comum que
°ns tripulantes tentassem o exa-me
para troca de categoria.
. depois,
já com a caderneta delriscrição
como praticante, procu-**ava as empresas para embarque.Assim foi feito pelos 50 praticantes
^Ue embarcaram na Wenceslau
raz- Mas, como o número de can-
.atos era, rotineiramente, supe-
í~10r à lotação do navio-escola, nemos
^ue desejavam seguir carrei-ra tinham oportunidade de alcan-?ar vaga naquele veleiro. Os exce-
entes eram então embarcados em
navios em operação, sem qualquer
remuneração, até que completas-
Sem o interstício de aprendizadoe*igido
por lei.•^s conclusões
que podemos reti-ar da experiência da época são as
Seguintes:
a — Ao Lloyd coube a inciativa do
navio-escola, além de apro-
veitar, em suas unidades no
tráfego, parte dos candida-
tos que excediam a lotação
da Wenceslau Braz. A refe-
rida empresa ficava com o
ônus do custo da iniciativa.~ Cabia à Marinha apenas o
exercício do poder normativo.c — O processo produzia dois ti-
pos de candidatos à oficiali-
dade: um oriundo do navio-
escola, onde obtinham a
prática do dia-a-dia mari-
nheiro e os conhecimentos
teóricos transmitidos porcompetentes oficiais em-
barcados com essa finalida-
de; o outro correspondendo
ao grupo que fazia a prati-cagem em navios no tráfe-
go e sem apoio de instruto-
71
res. Assim, seu aprendizado
dependia de um esforço au-
todidata que, comumente,
era complementado em ter-
ra, após o embarque de dois
anos, por aulas particulares
antes do exame na Escola
Naval.
O Wenceslau Braz, alguns anos
após o término da Primeira Guer-
ra Mundial, já velho navio, deixou
os mares encerrando um ciclo im-
portante na iormação da nossa ofi-
cialidade.
Porém, como o Lloyd continuava
interessado na manutenção de um
navio-escola, armou sucessiva-
mente outros veleiros. Um deles foi
o Palhabote Presidente Wenceslau,
construído no Arsenal de Marinha,
e o outro a Galera Mearim, antiga
Henriette, da Marinha alemã. Os
dois barcos prestaram assinalados
serviços no preparo dos pilotos,
mas em 1923 deixaram a atividade
como navios-escola por determina-
ção da direção do Lloyd.
Todavia, em 1924, começam a
acontecer novos fatos que acabam
redundando na Escola de Marinha
Mercante do Rio de Janeiro. Po-
rém, esse caminho foi demorado e
com avanços e recuos, como vere-
mos.
O primeiro passo ocorreu quan-
do, no ano citado, um grupo de ofi-
ciais, lentes da Escola Naval, já
afeitos ao ensino na Marinha Mer-
cante, organiza uma sociedade co-
mercial e cria, no Rio de Janeiro,
um curso de navegação com o pro-
pósito de habilitar candidatos a pi-
lotos e capitães mercantes. O im-
portante é que, recebendo todo o
apoio do então Ministro da Mari-
nha, Almirante Alexandrino de
Alencar, a iniciativa é oficializada
pelo Decreto N? 4895, de dezembro
de 1924.
72 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Esse decreto, na verdade, esta-
belece a origem da Escola de Ma-
rinha Mercante do Rio de Janeiro,
cuja primeira denominação, dada
em 1925, foi Escola de Pilotos e Ma-
quinistas da Marinha Mercante e,
na legislação escolar implantada
nessa época, fica estabelecida a
criação dos cursos para comissá-
rios, até então nomeados pelos ar-
madores sem qualquer escolarida-
de prevista, e de radiotelegrafistas,
que até então só prestavam exames
no Telégrafo Nacional.
Segundo o testemunho de Velhos
Capitães, esse período foi assinala-
do por um elevado padrão de oficia-
lidade em decorrência da serieda-
de e adequação com que o ensino
era ministrado. Esse testemunho é
corroborado pelo fato de que, após
três anos de funcionamento, as au-
toridades navais da época concede-
ram autonomia para que nela fos-
sem expedidas as cartas profissio-
nais após cumpridas as exigências
da lei. Todavia, se essa decisão era
honrosa aos responsáveis pela esco-
la particular, não deixava de signi-
ficar, paralelamente, um preceden-
te perigoso, pela possibilidade de
outorga indevida de cartas, além de
que traduzia um afastamento ain-
da maior da Marinha em nossa
formação.
O preparo dos oficiais continou
dentro desse processo até que, em
1934, no primeiro período de Var-
gas, e quando Ministro da Marinha
o Almirante Protógenes Guima-
rães, esse quadro foi modificado pe-
lo Decreto N? 23.967 que estabele-
cia que os exames para oficiais de
náutica, maquinistas, comissários,
motoristas e outros, passassem a
ser feitos na Escola Naval ou em lo-
cal determinado pela Diretoria de
Ensino Naval.
A esse decreto seguiu-se outro,
no qual era anunciada a supressão
dos exames para o pessoal do mar,
por tempo indeterminado, e isso
porque, no pensar da autoridade
naval, haveria excesso de oficiais
mercantes. Ora, como na época de-
zenas de jovens, sem amparo al-
gum, vivenciavam a vida de prati-
cantes com o sonho da obtenção da
primeira carta, a decepção foi
grande. Por isso, atendendo ao re-
clamo de muitos, a decisão foi re-
vista, ficando estabelecido que a
Escola Naval, duas vezes ao ano,
abriria exames em caráter avulso
de acordo com normas estabeleci-
das pela Diretoria de Ensino Naval
ou seja: voltava tudo à realidade do
início do século.
A década de 1930, que em nosso
entender encerra o período de 439
anos, que classificamos como o
passado da oficialidade mercante,
foi caracterizada por três fatos
importantes:
— A outorga de "Cartas
de
Guerra" concedidas, gratui-
tamente, a quem durante a
Primeira Guerra Mundial
tivesse exercido, por dois
anos, função superior à da
carta que possuísse e que,
durante o conflito, tivesse
embarcado em navios trans-
portando tropas ou armas.
Isso, se fez justiça a muitos
bravos oficiais que saíram
do Brasil no início da guer-
ra e só regressaram anos
depois, no fim do conflito,
participando assim efetiva-
mente do esforço de guerra,
não deixou de ser um outro
precedente perigoso pela
possibilidade de interpreta-
çáo elástica do que a lei pre-
via.
— A luta dos oficiais pela nacio-
nalização do comando então
OFICIALATO MERCANTE 73
entregue esmagadoramen-
te, a estrangeiros, mormen-
te ingleses e portugueses.
Basta lembrar que nas duas
grandes empresas de nave-
gação da época — Costeira
e Lloyd — somente um de
seus comandantes era bra-
sileiro. Essa realidade aca-
bou quando o Presidente
Vargas, em 1937, tornou
obrigatório que o comando
de nossos navios fosse privi-
légio de brasileiros.
3 — A criação, em 1939, da Esco-
la de Marinha Mercante do
Rio de Janeiro, estabelecida
no Lloyd Brasileiro e com
uma estrutura, prevista em
lei, bastante mais completa
e abrangente.
Resumindo, diríamos que até ini-
cio de 1939 o oficialato continuava
sendo alcançado sem exigência
maior de escolaridade, a única es-
cola oficial funcionando continua-
va sendo regional, a Marinha per-
manecia presente praticamente
com seu poder normativo e, a cada
candidato, cabia um esforço quase
autodidata para alcançar e subir na
carreira ou seja: o desamparo
àqueles que queriam exercer a pro-
fissão era muito grande. Talvez, por
isso, esse processo precário de pre-
paro de oficiais deu grandes mari-
nheiros, pois que vivenciar uma vi-
da, gratificante mas árdua como é
a do homem do mar mercante, era
privilégio de uns poucos verdadei-
ramente vocacionados. Temos or-
gulho daqueles que nos precede-
ram, pois que deixaram uma tradi-
ção de genuínos marinheiros no
conceito maior da palavra.
O ano de 1939 corria quando, na
Europa, é iniciada aquela que seria
conhecida como a Segunda Guerra
Mundial. Como havia ocorrido por
ocasião do primeiro conflito deste
século, quando o preparo dos ofi-
ciais mercantes foi melhorado com
a incorporação de um navio-escola,
também na Segunda Guerra Mun-
dial as autoridades olharam com
mais atenção para a formação da
oficialidade. Assim, pelo Decreto-
Lei N? 1766, de 10 de novembro de
1939, passou a Escola de Marinha
Mercante do Rio Janeiro à subor-
dinação direta do Ministério da Ma-
rinha, com cursos básicos de for-
mação fixados em dois anos. Nela,
funcionando na sobreloja do velho
casarão do Lloyd Brasileiro, passa-
riam a ser formados capitães, pilo-
tos, maquinistas-motoristas e co-
missários em dois tipos de cursos:
de especialização, para os candida-
tos aos postos iniciais da carreira
e com duração de dois anos em re-
gime de internato, usando, para is-
so, navios do Lloyd; e o de aperfei-
çoamento, para melhoria de cartas
com a duração de seis meses. A ad-
missão ao curso de especialização
era feito por exame, e aos candida-
tos de náutica era exigido o primei-
ro grau de hoje, enquanto ao pes-
soai das máquinas, desde que tives-
se o Curso de Máquinas da Escola
Técnica, o acesso era assegurado.
Apesar da precariedade das ins-
talações, a nova sistemática era su-
perior a tudo que antes havia sido
feito e, sobretudo, marcava o fim da
época de acesso ao oficialato den-
tro do esquema autodidata de pra-
ticantes autônomos.
Foi previsto, na ocasião, que o
curso de especialização ou seja, o
inicial de dois anos, seria feito a
bordo de um navio-escola e, para
dar cumprimento ao que estabele-
cia a lei, o navio Alegrete foi arma-
do em navio-escola e assim funcio-
nou até que, em 1942, foi torpedea-
do no mar das Caraíbas. Em face
74
disso, o curso de aperfeiçoamento,
previsto para ser realizado em re-
gime de internato, passou, a partir
de 1942, a ser feito na Escola de Ma-
rinha Mercante, em regime de ex-
ternato e isso foi um retrocesso no
preparo da oficialidade.
A guerra, mais uma vez, encon-
trou nossos navios mostrando a
bandeira nos mais distantes mares
e, mesmo antes de o Brasil entrar
no conflito, nossos barcos e nossos
homens já eram sacrificados. A
perda foi grande. Muito grande
mas, apesar dos perigos do mar na-
quela ocasião, quem nele estava,
nele permaneceu e outros, apesar
de tudo, continuavam procurando
as escolas do Rio e Belém, para o
ingresso na vida marinheira mer-
cante. No mar, para sempre, só em
1942 e 1943 ficaram nove comandan-
tes, 113 oficiais e 375 tripulantes,
além de 501 passageiros civis e mi-
litares — que com eles naveg; ram.
Foi um custo elevado para apenas
dois anos, mormente considerando
que muitos desapareceram mesmo
antes de o Brasil entrar na guerra
e que nossa frota era muito peque-
na, na época.
Ao final do conflito, o Brasil pre-
cisava reconstruir sua Marinha
Mercante, fortemente prejudicada
durante os anos de luta no mar, e re-
fazer seu oficialato, que havia fica-
do reduzido pelo desaparecimento
de muitos.
A solução para isso continuava a
ser, preponderantemente, a precá-
ria escola do Lloyd, visto que Belém
continuava com a limitação da re-
gionalidade. Todavia, com o desen-
volvimento da navegação, em con-
seqüência das tecnologias empre-
gadas na guerra, a velha escola do
Lloyd ficava, a cada dia, mais ob-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
soleta e totalmente defasada das
inovações disponíveis nos novos na-
vios que, pouco a pouco, chegavam.
Acresce que durante o curso de dois
anos, o único contato com o mar
era, quando muito, uma rápida via-
gem no Navio-Escola Guanabara,
um veleiro da Marinha de Guerra,
recebido da Alemanha como inde-
nização de guerra. Depois, ao fim
de tudo, era o embarque como pra-
ticante para, após seis meses, ocor-
rer o recebimento das primeiras
cartas da carreira.
O processo, prevendo apenas o
ginásio e um curso de dois anos,
permitia que ainda muito jovens,
com 17,18 anos, os alunos assumis-
sem funções de responsabilidade e
chefia sobre tripulantes já muito
experientes e, por isso, se não já ti-
vessem uma personalidade forte,
ficavam sujeitos a influências ne-
gativas que prejudicavam o exerci-
cio do oficialato.
Apesar de todas as deficiências
do sistema, a verdade é que quase
todas as lideranças atuais da Ma-
rinha Mercante vieram dessa épo-
ca quando, pelos desestímulos e de-
samparo, era indispensável verda-
deira vocação marinheira para
procurar a Marinha Mercante co-
mo opção de vida.
Na década de 50, a estrutura da
escola, que em 1939 havia sido um
avanço, estava totalmente supera-
da e muito aquém das necessida-
des. Por isso mesmo, a turma de
1953, da qual fazíamos parte, sentia
que o caminho natural para a saí-
da do impasse seria motivar a Ma-
rinha para assumir oficialmente
nossa formação, pois que ela, até
então, continuava numa atitude dis-
tante, mantendo quase que apenas
seu poder normativo. Na época, já
OFICIALATO MERCANTE 75
em 1954, conseguimos que a Câma-
ra dos Deputados, sediada então no
Rio de Janeiro, instalasse uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito
para estudar a precariedade de
nossa situação e, numa entrevista
decisiva com o Sr. Ministro da Ma-
rinha, mostramos a realidade do
preparo do oficial mercante e ouvi-
mos dele a promessa de que estu-
dos seriam realizados para, em
breve, a Marinha assumir efetiva-
mente a responsabilidade da nossa
formação.
A promessa de 54 foi transforma-
da em realidade quando a Escola
de Marinha Mercante do Rio de Ja-
neiro foi, em 1958, para as novas ins-
talações na Avenida Brasil. Insta-
lações que foram, por sua vez, a ba-
se para a criação posterior do CIA-
GA e EFOMM.
Enquanto isso ocorria no Sul, no
Pará, nos últimos anos da década
de 50, os oficiais lá formados deixa-
ram, com justiça, de ser regionais.
Assim as duas fontes de ensino
mercante começaram, no limiar
dos anos 60, a conhecer novos tem-
pos pois, depois de 458 anos de Bra-
sil, e apesar da presença e da im-
portância da Marinha Mercante,
desde os primórdios da nossa his-
tória na viabilização do próprio
País, a Marinha começava afinal a
assumir a efetiva responsabilidade
de preparo da oficialidade mercan-
te, encerrando um longo período de
alheamento ou de presença apenas
normativa.
O PRESENTE
TÓPICOS: O desenvolvimento da
Marinha Mercante na
década de 60 — Censo
dos marítimos — Ensi-
no profissional maríti-
mo — Fundo de desen-
volvimento do ensino
profissional marítimo
A construção do CIA-
GA e CIABA e o apoio
de organismos da ONU
Exigências para o in-
gresso e duração dos
cursos da EFOMM —
Nova sistemática mili-
tar no preparo do ofi-
ciai mercante — Inte-
gração das marinhas
mercante e de Guerra.
A década de 1960, já com a Esco-
la de Marinha Mercante do Rio de
Janeiro funcionando nas novas ins-
talações, foi caracterizada pela
presença agressiva, a partir de
1967, da Marinha Mercante brasi-
leira nos mares do mundo. Para is-
so, ela tinha o suporte dos novos es-
taleiros e de toda uma política de
governo que reconhecia a impor-
tância do mar na viabilização dos
projetos brasileiros de crescimen-
to. Mas, na medida em que mostrá-
vamos nossa bandeira nos mais dis-
tantes portos e mares, fomos, si-
multânea e paulatinamente, en-
trando no contexto internacional
que, através de órgãos da ONU, pro-
curavam disciplinar a atividade ma-
rítima, inclusive no tocante ao pre-
paro do homem do mar mercante.
Toda essa realidade fez com que
os chefes navais da época sentis-
sem a necessidade de dar ao ensi-
no marítimo a dimensão que ele
merecia. Assim, já vivenciando a
problemática, a Marinha, via Dire-
toria de Portos e Costas, realizou,
em 1967, como passo inicial, o Cen-
so Marítimo a fim de conhecer, na
sua exata medida, a realidade da
Marinha Mercante. Afinal, era in-
dispensável guarnecer, e guarnecer
adequadamente, em quantidade e
qualidade, os navios oriundos do
76
Primeiro Programa de Construção
Naval.
Para viabilizar o investimento no
preparo do homem, foi então cons-
tituído o Fundo de Desenvolvimen-
to do Ensino Profissional Marítimo,
formado por contribuições ante-
riormente destinadas, pelas em-
presas de navegação, ao SENAI e
SESI.
Todavia, a estrutura das escolas
então existentes, no Rio e em Be-
lém, era inadequada para o atendi-
mento das necessidades e, sendo
assim, era indispensável a constru-
ção de estabelecimentos condizen-
tes com os propósitos do ensino pro-
fissional marítimo. A solução foi
encontrada com a participação da
ONU, sendo que a IMO deu a assis-
tência técnica e o PNDD o suporte
financeiro que viabilizaram a cons-
trução do Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA),
no Rio de Janeiro, e Almirante Braz
de Aguiar (CIABA), em Belém,
sendo que o primeiro com capaci-
dade para 800 alunos e o segundo
para 350.
Os novos regulamentos passa-
ram a exigir, para o ingresso nas
Escolas de Formação de Oficiais
dos Centros de Instrução, o segun-
do grau completo e os cursos pas-
saram a ser de três anos em regi-
me militar. Por isso mesmo, hoje os
jovens, ao receberem a primeira
carta como oficiais mercantes, re-
cebem, simultaneamente, o posto
de Segundo-Ttenente da Reserva. Es-
sa correspondência inicial está sen-
do hoje completada, com possibili-
dade de acesso até ao posto de capi-
tão-de-mar-e-guerra, por lei que de-
finiu que os oficiais mercantes são
oficiais da Reserva da Marinha de
Guerra.
A construção dos centros real-
mente trouxe uma série de vanta-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
gens, dentre as quais salientamos
as seguintes:
— A exigência do segundo grau
completo e o aumento da duração
dos cursos permitiram a formação
de oficiais com maior embasamen-
to e que, ao saírem das escolas, já
têm, comparativamente com a rea-
lidade anterior, uma idade mais
adequada ao exercício do oficiala-
to.
— A estrutura militar viabili-
zou a formação de oficiais com ele-
vado senso de disciplina e hierar-
quia, melhorando, portanto, o de-
sempenho da função a bordo.
— A carreira de oficial mercan-
te, dentro da nova estrutura, passou
a motivar uma parcela maior de
candidatos à carreira, permitindo,
assim, uma adequada seleção
inicial.
— O funcionamento da EFOMM
(CIAGA/CIABA) tem permitido
um contato estreito, especialmen-
te nos cursos de aperfeiçoamento,
entre os homens das duas marinhas
e, à medida que isso ocorre, arestas
e posicionamentos errados vão sen-
do revistos e a integração desses
dois componentes mais importan-
tes do Poder Marítimo vai sendo
benéfica à Marinha do Brasil em
seu todo.
Enfim, a realidade a partir da
década de 70 é muito diferente da-
quela de um passado muito recen-
te e a conceituação do oficial mer-
cante vem evoluindo na exata me-
dida em que as autoridades respon-
sáveis investem na formação das
novas gerações. Obviamente, como
durante séculos a oficialidade mer-
cante foi desconhecida e relegada,
o esforço à procura do ponto ótimo
deve persistir e isso é uma tarefa de
todos, notadamente dos próprios
oficiais e da Marinha do Brasil.
OFICIALATO MERCANTE 77
CONCLUSÕES
Por tudo o que foi exposto pode-
mos, resumidamente, concluir o se-
guinte:
— A carreira do oficial mercan-
te é quase tão antiga como a histó-
ria da própria navegação.
— O trabalho que os oficiais
mercantes realizam no mar sem-
pre foi, é e continuará sendo de fun-
damental importância na viabiliza-
ção do País e, por isso mesmo, a
Marinha Mercante é um dos ele-
mentos mais expressivos do Poder
Marítimo.
— Até um passado muito recen-
te, aspirar ao oficialato mercante
significava um esforço isolado e au-
todidata ou seja: a comunidade
marítima necessitava de oficiais
mas o investimento no preparo de-
les praticamente inexistia.
— As gerações passadas de ofi-
ciais, apesar de todos os desampa-
ros e desmotivações, deixaram
exemplos de vivência e espírito ma-
rinheiro que muito dignificam a
classe e a perda de muitos, nas duas
grandes guerras, honra para sem-
pre a oficialidade mercante.
— Somente nos últimos anos a
Marinha absorveu a responsabili-
dade do preparo do oficial mercan-
te, o que está sendo altamente
benéfico.
6 — A militarização da oficiali-
dade mercante tem permitido uma
integração desejável com os ofi-
ciais da Marinha de Guerra. Para
isso, tem sido de fundamental im-
portância a presença de capitães
mercantes na Escola Superior de
Guerra, na Escola de Guerra Naval
e no Curso de Administração de
Transporte Marítimo (CATM) da
Diretoria de Portos e Costas. En-
fim, o convívio entre eles tem per-
mitido o conhecimento e a troca de
informações em benefício final da
própria Marinha. Afinal, o oficial
mercante é a Reserva natural da
Marinha de Guerra.
Concluindo, diríamos que pode-
mos olhar o futuro com a certeza de
que ele, pelo que no presente está
sendo feito, trará uma oficialidade
ainda melhor do que a atual, bas-
tando, para que isso ocorra, que os
chefes navais continuem investindo
na formação e contínuo aperfeiçoa-
mento das novas gerações, e que
permaneçam prestigiando a oficia-
lidade mercante na certeza de que
a conceituação adequada do oficial
mercante, que em última análise é
sobretudo conseqüência da dedica-
ção e correção de cada um oficial,
será benéfica também à Marinha
de Guerra. Afinal, uma oficialida-
de mercante disciplinada, motiva-
da e competente é de fundamental
importância ao Poder Marítimo.
78 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
BIBLIOGRAFIA
CALMON, Pedro. História do Brasil. São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1951-56.
CAMINHA, João Carlos Gonçalves. História Marítima. Rio de Janeiro, Escola de Guerra Na-
vai, 1979.
DINIZ, Fernando Carlos Chagas. A carreira de Oficial de Náutica.
FATOS da história da navegação.
FLORES, Mário César. O poder marítimo: conceituação e componentes.
GARCIA FRANCO, Salvador. História dei arte y ciência de navegar.
Gazeta do Rio (anos 1808, 1819,1820)
LANDSTROM, Bjõrn. O navio. Lisboa, Publ. Europa-America, c 1961.
LIVRO de registro de machinistas.
MACHADO, Ronaldo Cevidanes. Evolução técnica e relacionamento a bordo. (Vídeo da Mui-
tivideo)
MAHAN, Alfred Thayer. The influence of sea power upon history: 1660-1783. Boston, Little,
Brawn, 1917.
OLIVEIRA, José Martins. A marinha mercante na última guerra. Rio de Janeiro, Jornal do
Comércio, 1946.
PRIMEIRO livro de assentamentos e registro de cartas de pilotos no ano de 1819.
REVISTA ALEGRETE.
REVISTA RIOMAR.
SAMPAIO LACERDA. Direito marítimo.
SEIDL, Herbert de Mattos. Os fundamentos do poder marl timo.
SILVA, Oswaldo F. da. Crônicas do ensino na marinha mercante.
SIMPÓSIO UMA POLÍTICA PARA O MAR. Rio de Janeiro.
SOUSA, Octávio Tarquínio de. José Bonifácio. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1974.
'LARGA A ESPIA UM!"
V******
^ W ^"'»
ALBERTO CARLOS DE AGUIARCapitão-de-Mar-e-Guerra
— "A coisa de que eu mais gos-taria realmente no meu comando éque eu pudesse ter comandado..."
Perplexo e estarrecido foi comofiquei, ao ouvir o comentário feitopor um colega prestes a deixar seucomando. Para quem acabava deassumir o comando de um navio eestava ansioso de exercitar os co-nhecimento que julgava ter acumu-lado durante a carreira, foi preocu-pante escutar aquela frase. Tenteianalisar e perceber o que havia emsuas entrelinhas, qual o verdadei-ro significado da colocação feita,aparentemente tão sincera e ama-durecida. Seria porquê a cadeia decomando decorrente da hierarquiamilitar era por demais centraliza-dora e o mantinha a rédeas curtas?Ou aquele futuro ex-comandanteera por demais inovador e se sentiafrustrado? Ou talvez tivesse sido dotipo pouco persistente ou voga so-lecada?
80
Do que conhecia, tanto a respei-
to daquele oficial quanto dos seus
chefes, verifiquei que essas respos-
tas não cabiam nas pessoas envol-
vidas e — sem encontrar as razões
que justificassem —
procurei ob-
servar com maior atenção, para
tentar entender o que ouvira.
Agora que meu tempo de coma-
dante já faz parte das recordações,
felizmente boas, percebo que algu-
mas daquelas razões puderam ser
definidas e agradeço a meus ex-
comandantes e colegas de profis-
são as lições e ensinamentos que
me permitiram, muitas vezes, des-
viar minha derrota dos perigos que
constantemente ameaçam a nobre
tarefa de comandar.
Basicamente pode-se identificar
três grandes adversários do exerci-
cio do comando: a falsa idéia de co-
mandar sem riscos, a burocracia
autofágica e o conforto da constan-
te concordância.
Na restrita bacia de manobra
em que adentra o oficial que passa
a usar a estrela dourada, os três pe-
rigos acima identificados parecem
ser os de maior ameaça à navega-
ção... a menos que pretenda ter
uma singradura, inexpressiva, vi-
ver fundeado e nunca sentir o orgu-
lho íntimo de ter realizado uma ma-
nobra que ele julgue bem-feita.
Vamos então focalizar cada um
desses monstros, sempre com o ex-
clusivo propósito de tentar emitir
um aviso aos navegantes, obtido da
experiência já adquirida, ou pelo
menos assinalar na carta a existên-
cia desses perigos submersos. Ca-
da um dos futuros comandantes
adotará as correções de rumo que
julgar mais convenientes ou — se
discordar — aumentará a velocida-
de e ignorará a existência desses
altos-fundos...
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
A falsa idéia do risco mínimo —
O comando de um navio pressupõe
uma série de condições. Não se de-
ve nomear um comandante sim-
plesmente porque tá na vez, nem se
deve querer comandar somente pa-
ra satisfazer mais um requisito da
carreira. A Marinha, ao selecionar
os oficiais que poderão comandar,
faz uma análise do que esses ofi-
ciais já mostraram ao longo de
suas carreiras e — igualmente im-
portante —
que potencialidades
têm aqueles oficiais, o que poderá
ser desabrochado ou aprimorado
no exercício do comando. É claro
que experiência, ou seja, dias de
mar, conta muito; mas também pe-
sa a performance apresentada por
um oficial que demonstrou, mesmo
longe do mar, em condições às ve-
zes adversas, um excelente desem-
penho. A escolha não é definida por
uma fria matriz matemática cujas
entradas se limitem a dias de mar,
tempo de embarque e antigüidade.
Há um exame mais minucioso de
toda sua fé de ofício: como ele se
comportou quando era um jovem
tenente, encarregado do paiol de
CAV da Base X-RAY? Como ele rea-
giu quando mandado assumir, a to-
que de caixa, a função de gestor do
material do Distrito? A avaliação
de sua eficiência ao longo de quase
ou mais de 20 anos dificilmente po-
derá induzir a uma injusta exclusão
e, normalmente, corrobora ou su-
blinha seu méritos, decorrentes de
sua passagem pelas comissões em-
barcadas.
A contrapartida que a Marinha
deseja pela outorga de tão impor-
tante responsabilidade é a plena
consciência de que o novo coman-
dante irá utilizar seu tempo de co-
mando para conduzir seu navio no
mais alto grau de eficiência opera-
tiva possível, tentanto inclusive
LARGA A ESPIA UM! 81
melhorá-lo, bem como aprimorar
suas qualidades de profissional,
permitindo assim que suas poten-cialidades
possam ser avaliadas.
Se o comandante empossado jul-
ga que não há nada a acrescentar,
que ele já aprendeu tudo que devia
e que a Marinha já sabe do que ele
é ou não capaz, não há por que des-
pediçar seu tempo no comando.
O desafio que surge é a necessi-
dade dos riscos a correr para satis-
fazer àqueles reclamos, afastando
a tentação de julgar ser mais com-
pensador não assumi-los; ou pelomenos, minimizar ao máximo tais
ônus do comando."Quem
não quer correr risco,
não suba a prancha." Uma frase an-
tiga, ouvida de um ex-comandante,
sintetiza toda a essência da idéia.
Não se está, obviamente, fazendo o
apanágio dos inconseqüentes, da-
queles que ignoram a leitura do
ecobatímetro, a sugestão do CIC, o
conselho do prático, a experiência
e o bom-senso do Roteiro, o aviso do
chefe de máquinas, as normas de
segurança do EGA, o toque sutil do
imediato sobre a força do vento ou
o perigo da manobra. Tudo isso de-
ve ser muito ponderado, cuidadosa-
mente analisado e compor o cená-
rio em que a decisão do comandan-
te será tomada. Nem deve o coman-
dante ter qualquer prurido de ver-
gonha em tomar como decisão a su-
gestão mais segura. O que se res-
salta é que ele também deve ponde-rar a sua experiência, e, se oportu-
no, e com autoconfiança, adotar
uma decisão, manobra ou atitude
Que o levará a adotar uma linha de
aÇão com algum risco, mas de mui-
to maior ganho. Por isso será natu-
ral que ele, após iniciar a sua ma-
nobra, possa escutar o silêncio do
Passadiço como também depois de
assinar um ofício com texto mais
direto e objetivo, sinta indecisão ou
inquietação estampada nos olhos
do chefe de departamento que le-
vantara o problema. A diferença
entre a preocupação de seus co-
mandados e a tranqüilidade com
que você adota determinadas deci-
sões vai ser proporcional à baga-
gem de experiências que trouxe pa-
ra bordo na hora em que subiu a
prancha. Assim, não queira que
eles julguem os riscos pelo mesmo
calibre que você usa. Às vezes,
acharão simples a faina de rebo-
que, mas você sabe quão grande é
o risco de ficar, na distância de uma
retinida de outro navio, com cabos
n'água e toda a ação da natureza fo-
ra de seu controle. Por outro lado,
verá oficiais mais antigos ficarem
tensos ou trêmulos ao darem as or-
dens em sua primeira aproximação
para uma faina de transferência no
mar, cujas condições de mar e ven-
to você avalia como ideais e os ris-
cos diminutos.
Há, contudo, um alto prêmio por
esses momentos em que sua pulsa-
ção acelera e o cérebro turbilhona,
processando todos os dados novos
ou chamando da memória todas as
informações armazenadas, na ân-
sia de procurar a melhor solução, a
decisão mais correta: a gratifican-
te sensação de tentar superar-se,
que só é permitida àqueles que re-
sol vem assumir um risco calculado.
E se você por qualquer motivo,
não for feliz em sua decisão, não de-
sanime. Embora não seja desejá-
vel, valeu como grande experiên-
cia, como uma valiosa informação,
para uma próxima vez. Aprende-se
muito mais nos erros do que no su-
cesso. Este embriaga e sempre go-
za de nossa simpatia, permitindo
distorções; aquele, ao contrário,
apura os sentidos e permite, na na-
tural autocrítica, a análise mais
82
bem-feita de suas causas. E não é
outro o motivo pelo qual a segunda
aproximação para a atracação,
quando se perde a primeira, é, qua-
se sempre, perfeita.
Estudado o problema cuidadosa-
mente, e uma vez convencido de
que há que correr alguns riscos, as-
suma-os, fazendo inclusive algumas
mudanças a bordo, por exemplo:
a) Após mostrar claramente sua
voga e adquirir a necessária con-
fiança, descentralize a administra-
ção: permita que expedientes roti-
neiros sigam diretos aos responsá-
veis e só subam à câmara já com
as providências tomadas; delegue
autoridade ao imediato, chefes de
departamento e, em certos casos,
ao oficial de serviço, para expedir
mensagens urgentes em sua ausên-
cia. Você tomará alguns sustos no
início, ao ver o que foi transmitido
em seu nome, mas logo todos os
seus oficiais aprenderão como vo-
cê gosta que seja feito e — melhor
que tudo — terão maior cuidado
com o que redigem. Entretanto, o
navio dificilmente será tesado por
seu COMINSUP pelo atraso em uma
informação não enviada porque o
comandante não aprovara a minu-
ta antes de baixar terra. Repetin-
do um velho comandante: "Se
vo-
cê perde tempo fazendo o serviço
dos outros, quem vai fazer o seu?"
b) Permita que seus oficiais ma-
nobrem o navio em situações mais
delicadas. Mostre-lhes como você
faz, uma ou mais vezes; explique-
lhes o que pode ocorrer e, sempre
que julgar oportuno, passe a mano-
bra. É muito mais difícil deixar al-
guém atracar seu navio do que
atracá-lo; mas aquele oficial passa-,
rá a ser muito melhor assessor e aju-
dará muito mais quando você tiver
de enfrentar uma monobra mais
complicada.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
c) Assuma totalmente os proble-
mas externos de seus oficias se jul-
gar que eles serão expostos ou des-
gastados externamente. Se o encar-
regado de divisão não conseguiu re-
solver até agora, não vai adiantar
usá-lo como moço de recados para
dizer o que o comandante espera do
órgão de apoio. Telefone pessoal-
mente ou pegue seu boné e vá à fon-
te discordante argumentar com o
peso de sua estrela dourada, na
busca de uma solução que provável-
mente já transcendeu o nível do te-
nente. Não tema expor-se, se a al-
ternativa pode queimar seus ofi-
ciais sem vantagens compensado-
ras para o navio.
d) Não hesite em brigar pelo seu
navio, mas não vá ao estado-maior
de seu COMINSUP reclamar por
qualquer problema fútil. Quando
for ponderar a respeito de algum
assunto importante, examine antes
os outros ângulos da questão, se o
COMINSUP possui outras razões
ou dados que seu navio desconhecia
e leve alguma solução para o pro-
blema. Se você vai à guerra é bom
que leve sua artilharia pesada; is-
so significa fatos e não apenas sua
opinião sem argumentação sólida.
Não se contente com pequenos ga-
nhos. Às vezes é preferível perder
nas pequenas contendas e vencer
as disputas decisivas. Mesmo por-
que não se pode vencer sempre. O
importante é que seu chefe e os ofi-
ciais de seu estado-maior saibam,
o mais cedo possível, que, ao termi-
nar o cafezinho que cortesmente
lhe foi oferecido, você apresentará
um problema importante e haverá
muitas razões para que você volte
para bordo satisfeito, inclusive no
caso de ter um NÃO como resultado,
pois ninguém conhece seu navio
melhor que você!
A autofágica burocracia — o nú-
LARGA A ESPIA UM! 83
mero 100 é uma marca de há muito
superada quando se tenta determi-
nar quantos diferentes documentos*
são, obrigatória e mensalmente, ex-
pedidos por um navio. Não fará di-
ferença se esse navio for de 1? cias-
se, do porte de um navio-aeródromo
ou de pequena tonelagem, como um
aviso de instrução. Se o primeirodispõe,
para cuidar do pessoal, de
um oficial superior, vários escrito-
rios e escreventes, diversos arqui-
vos e até uma divisão exclusiva-
mente para auxiliar a administra-
Ção, o AVIN ficará feliz se sua úni-
ca máquina de escrever não estiver
avariada ou o MN-QS que safa a da-
tilografia dos documentos não esti-
ver baixado ou fazendo um curso
expedito naquele mês... E, no en-
tanto, o cumprimento da maioria
das INST continuará a ser exigido
a todos os navios, estejam viajan-
do, docados, em grande reparos,
operando no estrangeiro, etc.
O que se questiona é a utilidade,
ou validade, das exigências compa-
rada à carga burocrática imposta
aos navios.
O resultado da infindável troca
de papéis, imposta pelo sistema bu-
rocrático naval, é que o comandan-te de um navio consome, no porto,a maior
parte de seu tempo como
um amanuense, assinando docu-
mentos, determinando respostas,
Providenciando relatórios, confe-
rindo listagens, rubricando mode-
los, etc.
A princípio, poderia parecer quecom o suspender do navio a faina
burocrática será suspensa ou pelo
menos bastante reduzida. Ledo en-
Sano! O sistema burocrático é bas-
tante autopreservativo para ape-
nas retrair-se e aguardar a próxi-
ma atracação, quando então ataca-
rá com muito mais força, mercê do
acúmulo da energia armazenada
durante o período da viagem.
Resta então pouco tempo ao co-
mandante para realmente coman-
dar? Quando ele vai percorrer o na-
vio, conversar com sua guarnição,
ler artigos ou publicações técnicas,
fazer reuniões ou assistir ao ades-
tramento interno, para mais fiel
avaliação de seu navio?
Poder-se-ia argumentar que no
mar haverá essa oportunidade,
mas que prontidão se pode esperar
de um navio em operação, com seu
comandante inspecionando os
paióis de mantimentos ou passan-
do os olhos na última SARMA-
RINST, que especifica as normas
com que se devem pautar os minis-
tros religiosos nas OM (distribui-
ção geral!)?...
Entretanto, mais nociva que a
máquina burocrática já em funcio-
namento c a doença causada por
esse sistema gerador de papéis. Al-
tamente contagiante, através dos
vírus da xerox e do computador, ela
vem sendo inoculada em quase to-
dos os órgãos de alto escalão e até
na mentalidade das praças mais
modernas. Para provar, basta soli-
citar uma informação — por exem-
pio, quantas praças entrarão de fé-
rias no próximo mês? O que qual-
quer encarregado de divisão devia
estar capacitado a atender em cin-
co minutos, consultando o livro da
divisão, levará algumas horas. O te-
nente sentará com seu sargentean-
te, confeccionará uma Comunica-
ção Interna (Cl), datilografada, ti-
rarão cópia, xerox para seu arqui-
* Neste artigo, o termo documento terá o significado de qualquer papel oficial geradoP°r uma OM em resposta às exigências normativas: of icio, relatório, mapa, listagem, plani-
formulário etc.
84 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
vo, consultarão o encarregado deadestramento, etc, etc. Provável-mente, quando a informação forprestada, já não terá validade, emface da informação obtida pelo co-mandante das datas da próxima co-missão!
Os exemplos — apenas ilustrati-vos — querem apenas ressaltar aangústia de todo mundo, criar ar-quivos, enviar cópias (que difícil-mente serão utilizadas) e preocu-par-se mais com a apresentação dainformação do que com seu conteú-do ou sua oportunidade.
De uma maneira geral, todas asexigências burocráticas são cria-das com a melhor das intenções emdinamizar o controle daquele par-ticular aspecto e naquele específi-co momento. A entidade criadora,contudo, por vezes parece ter es-quecido de verificar se aquela infor-mação já existe a seu alcance ou desua efemeridade. Por isso há casos,felizmente poucos, em que se en-viam informações a alguns órgãos,obtidas de documentos emitidosdesses mesmos órgãos; confeccio-nam-se relatórios atualizados queos destinatários solicitam, mas nãoterão capacidade de digerir ou, setiverem, não gerará qualquer mo-dificação ou ação para melhorar aeficiência do sistema que contrô-lam no intervalo de tempo decorri-do até a próxima informação exigi-da.
Com isso, a ponta da linha, o na-vio, gasta boa parte de seu tempo,em que poderia melhorar sua atua-ção, com conseqüente ganho derendimento do sistema, em atenderexigências que, na prática, poucomostram de proveito. Além de des-credibilizar, esse processo permiteque os registros ou informações im-portantes sejam mascarados pelossupérfluos, já que o jovem oficial lo-
go cedo tem a falsa impressão queparece ser mais importante aten-der à quantidade do que à qualidade.
A solução para o comandante édifícil. A única recomendação é: lu-tar bravamente essa inglória bata-lha, questionando-se da utilidadedo documento a enviar, indagandoda origem geradora do papel quala providência decorrente tomadapor aquela OM; apresentando a seuCOMINSUP razões e soluções maissimples para a eliminação de al-guns controles; exigir que suas so-litações ou correspondência inter-na e as minutas não sejam datilo-grafadas, a menos que explicita-mente determinado; deixar claro àoficialidade que a informação ver-bal ou a anotação da agenda de umoficial deve ter a mesma credibili-dade que uma CI datilografada, ar-quivada e cheia de cópias enviadassobre o assunto. Não deixe que onão recebimento de algo escrito sir-va de desculpa a qualquer subordi-nado para esquecer-se ou dar prio-ridade baixa ao cumprimento deordens ou tarefas.
Estamos nos acostumando a umaMarinha em que uma rubrica ini-dentificável tem mais valor do quea palavra do oficial, e isso pareceser o caminho oposto ao que tempermitido às Marinhas de todo omundo, há mais de 2000 anos, man-terem seu conceito, sua ética, seuprofissionalismo.
O conforto da constante concor-dância — ao receber minha primei-ra imediatice, após a rotina da pas-sagem das funções, meu anteces-sor — amigo e oficial de escol —disse-me o segredo do sucesso na-quela função: "Apenas diga NÃO àtripulação quando julgar que nãodeve concordar." É simples e fun-ciona. Haverá situações em que ocomandante perceberá pressões
LARGA A ESPIA UM! 85
dos seus oficiais no sentido de umaobvia (para eles) concordância, emum determinado aspecto. Mesmociente das dificuldades, dos perigosde ferir sensibilidades e do desa-
grado, o comandante tem como de-ver negar a pretensão, se seu foromtimo assim recomendar. Nova-mente ressalto que sua experiên-cia, sua amplitude de visão do pro-blema e, normalmente, seu conhe-cimento de dados ainda de informa-
Ção restrita devem permitir-lheum
julgamento mais criterioso decada caso.
O perigo maior reside quando secompara as repercussões da nega-
Çao de qualquer reivindicação como doce e agradável papel de bonzi-nho. Entretanto, julgado conve-mente, se explica o porquê discor-da, se mostra com franqueza e ar-
gumentação as outras implicaçõesexistentes
e se diz o não com a se-renidade
presumida de sua respon-sabilidade,
o comandante poderánao agradar, mas será entendido eobedecido,
mesmo que essa com-
Preensão leve algumas semanas
Para começar a emergir. Não deveser esquecido
que a vida militar énecessariamente
hierarquizada.e aobediência,
mesmo sem maioresexplicações,
é dever de todos.
Do mesmo modo que se deve con-trabalançar
essa bondade natural,nao se pode comandar em um regi-me de terror, onde qualquer argu-mento contrário ou início de diálo-
g° seja ceifado por negações. Lem-emo-nos sempre de que mesmo
o mais moderno marujo, emboranão entenda as razões de qualquermedida tomada, tem um sentimen-
o inato de justiça, cuja aplicação
Pelo comandante será evidenciadana maioria de seus atos ou decisões.
O conceito do que é ser justo,Preocupação de todo chefe, pode
contrariar a idéia, esposada por al-
guns, de que a justiça consiste em
tratar todos igualmente. Novamen-
te apelo para minha experiência
para endossar que a liderança se-
rá mais autêntica se entendermos
justiça como tratar desigualmente
os casos diferentes.
A coberta de rancho certamente
concordará que a pena imposta pe-
lo comandante ao marujo salafrá-
rio seja muito mais severa do quea do delicado boy da faxina do mes-
tre, embora tenham cometido a mes-
ma falta. A praça-d'armas entende-
rá por que houve concordância em
solecar uma determinada divisão e
em outra ocasião similar havia si-
do negado, com prejuízo para a li-
cença de alguns oficiais.
Do mesmo modo em que interna-
mente o comandante deve saber di-
zer não, dentro de sua cadeia de co-
mando, também ele deverá inda-
gar-se se seu chefe não seria mais
bem assessorado se conhecesse seu
ponto de vista discordante. E uma
vez convecido de que possui fatos e
fortes argumentos é um dever não
hesitar em apresentar sua idéia
contrária à do chefe.
Não se está querendo com isso
sacudir o pilar da hierarquia, que
sustenta o sistema militar, nem é
nenhum estímulo às ponderações
comezinhas, sem respaldo e muitas
das vezes feitas apenas com intui-
to de mostrara bandeira. A discor-
dância, a ponderação, a crítica, fei-
ta com solidez e serenidade, só
enaltece quem a faz, e o chefe sa-
berá apresentar melhores argumen-
tos e razões, que justificam suas
idéias, ou adotará algum novo as-
pecto para melhorar sua idéia ini-
ciai, com a colaboração do seu su-
bordinado. É falsa a idéia de que "o
chefe vai aborrecer-se com sua
idéia". Quase sempre o estado-
86
maior que bloqueia ou dificulta o
acesso ao chefe de uma nova solu-
ção ou idéia, que contraria a linha
de ação já adotada, o faz por impe-
dância em ter de refazer algum tra-
balho ou pseudo vaidade, por supor
que é privilégio do convívio com
uma autoridade ser capaz de ter
sempre a mais brilhante solução.
O comandante não deve recuar a
quaisquer óbices externos no sen-
tido de dificultar seu pleno exerci-
cio do comando, como também de-
ve evitar interferir no modus fa-
ciendi adotado pelo seu oficial na
condução de sua divisão ou depar-
tamento. Do mesmo modo que, não
gostando do que vê ou ocorreu, tem
o dever de chamar o oficial e lhe di-
zer o que espera ou o que quer que
seja feito, seu COMINSUP poderá
ser polidamente lembrado de que
as suas ordens serão sempre cum-
pridas, mas o como fazer, no âmbi-
to do navio, se nada tiver sido dito,
é prerrogativa do comandante.
Se estamos sempre cobrando de-
cisões importantes de nossos che-
fes, como podemos concordar em
não deixar que os tenentes — que
serão os futurtos chefes — tomem
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
decisões em seu nível de responsa-
bilidade?
Se insistirmos em castrá-los, a
priori, das por vezes tresloucadas
iniciativas, desde tenra carreira,
estaremos preparando-os para fiéis
seguidores da teoria do gato mor-
to*: se não incomodamos ninguém,
ninguém procura nos atrapalhar...
Pode ser que desviando dos pe-
rigos acima apontados o coman-
dante ainda assim não tenha uma
travessia tranqüila e fique desejo-
so de atingir o porto de desembar-
que. É até bem provável que, no iní-
cio, os ventos soprem mais fortes e
os anúncios de borrasca sejam fre-
qüentes. Mais vencidas as primei-
ras tempestades, ele verificará que
possui pleno governo do barco e as
etapas seguintes serão navegadas
com muito mais segurança e sere-
nidade. Mais do que isso, ele se per-
mitirá saborear seu tempo de via-
gem, desejando que a viagem seja
sem fim, e, ao seu final, quando ar-
riarem sua flâmula de comando,
entender que sua maior alegria em
sua vida profissional na Marinha
foi o tempo em que realmente co-
mandou!
NOTA DA REDAÇÃO — O então Capitão-de-Fragata Alberto Carlos Aguiar comandou o Con-
tratorpedeiro Rio Grande do Norte de 13 de setembro de 1984 a 7 de novembro de 1985, passan-do o cargo ao Capitão-de-Fragata Jeronymo Francisco Mac Dowell Gonçalves.
* Mais uma das brilhantes imagens com que o Almirante Vidigal costuma criar de promp-tu para ilustrar uma argumentação. Baseada no fato de que ninguém chuta ou pisa um gato
aparentamente morto. Se o encontramos pela frente, sempre será mais fácil contorná-lo e
seguir caminho. Isso permite ao gato, julgado morto, continuar vivendo sem aborrecimento,
ainda que mediocremente.
A EVOLUÇÃO DO IMPERIALISMO
O/*r\/sc*
VJíf W/ Xy,,
B,M *
PAULO ROBERTO GOTAÇ
Capitão-de-Fragata
INTRODUÇÃO
O presente artigo sintetiza a evo-
lução do imperialismo com ênfase
às fases do colonialismo e do neo-
colonialismo.
A posição adotada neste estudo
favorece o aspecto político, ressal-
tando seu caráter subordinador em
relação aos demais nos processos
de obtenção de hegemonia, detec-
tados desde os primeiros registros
históricos.
Na ligeira análise dos modelos
teóricos destinados a enquadrar
atos imperialistas, contrastam-se,
na área econômica, os esquemas
marxista e capitalista, os primei-
ros enfatizando a inevitabilidade da
própria ação capitalista e os últi-
mos insistindo que as forças endó-
genas daquela ação, através do es-
tabele cimento do comércio livre,
têm a capacidade de, a longo pra-
zo, alocar racionalmente os recur-
sos nos países subdesenvolvidos.
Em seguida, mencionam-se as
88
interpretações sociológica e poli ti-
ca. Esta, no entender do autor, ser-
vindo como motivação fundamen-
tal, embora mascarada pelos ou-
tros fatores, para toda ação impe-
rialista ao longo do desenvolvimen-
to histórico e aquela aparentemen-
te imperceptível nas ações moder-
nas.
RAÍZES DO NEOCOLONIALISMO
- O IMPERIALISMO
Grande parte da dificuldade de
se formular definições em ciências
sociais provém do fato de que é im-
possível desvincular a definição de
quem a formula. Trata-se, então, de
um processo no qual a interação
experimento-experimentador in-
flui decisivamente no resultado.
Nas ciências naturais, tais dificul-
dades são contornadas, uma vez
que, nelas, os fenômenos seguem o
seu curso independentemente da
vontade de quem os está examinan-
do ou do processo utilizado, exceção
feita à moderna teoria quântica1.
Consideradas tais limitações,
tentar-se-á delinear uma concei-
tuação de imperialismo, raiz do
neocolonialismo, através de uma
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
breve descrição dos fatos históricos
relacionados.
De maneira geral e ampla, o im-
perialismo pode ser definido como
sendo a política expansionista de
uma nação que a leva a adquirir e
exercer hegemonia sobre outras.
A hegemonia aqui referida pode
ser adquirida e exercida por méto-
dos que vão desde a pura conquis-
ta militar até as técnicas mais su-
tis de pressão econômica exercidas
sobre nações formalmente inde-
pendentes.
Desde que a História começou a
ser registrada, ações imperialistas
são facilmente detectadas.
Assim, a partir de 2800 a.C., su-
mérios, elamitas, babilônios, egíp-
cios, assírios, persas, gregos e ro-
manos sucederam-se na conquista,
manutenção e perda de vastos im-
périos. Suas motivações incluíam
desde a sensação de que a seguran-
ça só poderia ser provida pelo do-
mínio dos povos vizinhos diferen-
ciados por etnias, idiomas, etc.,
passando pela necessidade de se
manter ativa uma classe militar
guardiã da estrutura social, até a
criação e manutenção de rotas
marítimas.
1 Neste enorme edifício teórico, criado a partir do início do século e cuja construção
está ligada a nomes como Max Planck, Niels Bohr, Arnold Sommerfeld, Werner Heinsenberg,
Erwin Schroedinger, RA.M. Dirac, etc., os fenômenos intra-atômicos são descritos por leis
probabilísticas.
Em termos bem sucintos, e através de um dos modelos da teoria, isto significa que as
partículas que compõem aquele micromundo têm a elas associadas uma onda cuja amplitu-
de permite medir a probabilidade de estarem localizados num ou noutro ponto.
Desvanece, assim, a noção abstrata de ponto material exatamente localizado. No es-
queleto deste edifício está o fato de que a tentativa de localizar exatamente a partícula (ação
do experimentador) peturba o sistema de tal modo, que o curso subseqüente dos fatos leva
em conta esta intervenção.
Desta forma destrona-se — e aqui reside a verdadeira revolução filosófica gerada por
essas idéias — o secular determinismo das ciências ditas exatas, segundo o qual os fenôme-
nos naturais obedecem a uma encadeado esquema de causa e efeito, completamente alheio
a qualquer ação do observador.
A EVOLUÇÃO DO IMPERIALISMO 89
A partir do século XV, novas
perspectivas comerciais levaram
Portugueses e espanhóis a buscar o
domínio das vias marítimas, à ins-
talação de colônias destinadas ao
fornecimento de matérias-primas
e à exploração de riquezas mine-
rais. Na medida em que tais colô-
nias se desenvolviam, passavam a
constituir mercados para consumo
dos produtos metropolitanos. Tal
forma de imperialismo, que se ca-
racterizava pela anexação de terri-
tórios não contíguos, é normalmen-
te designado por colonialismo.
A corrente doutrinária que im-
Pulsionava esta atividade imperia-
lista era o mercantilismo, caracte-
rizado pela intervenção governa-
dental nas trocas internacionais
com o propósito de promover a
Prosperidade nacional e aumentar0 poder do Estado. No centro deste
Processo estava a necessidade de se
Manter uma balança de comérciofavorável,
ou seja, um superávitdas exportações sobre as importa-
Ções. Na busca de tal desiderato,três medidas eram necessárias: ta-rifas de importação elevadas, prê-mios às exportações e estímulo àmdústria
para que o país dispuses-Se da maior quantidade possível demercadorias
para venda.
O primeiro grande Estado — da-ta desta época a criação da nação-¦estado
— foi Portugal, cuja ascen-dência
se estende até o século XVI.Seguiram-lhe
Espanha, Países Bai-xos e França,
que se sucederamnas
perdas, emergindo então a In-
glaterra como resultado do seucrescente
poder marítimo.Sendo o mercantilismo um es-
cjuema puramente comercial, po-
e-se ter a impressão de que nestaase de conquista o aspecto econô-
mico predominava sobre os de-
mais. Na realidade, o colonialismo
tinha também, e principalmente,
metas políticas. Como afirma Ed-
ward Burns em sua História da Ci-
vilização Ocidental:"A
finalidade da intervenção nos
assuntos econômicos não era ape-
nas expandir o volume da indústria
e do comércio, mas também trazer
mais dinheiro para o tesouro do rei,
o que lhe permitiria construir ar-
madas, apetrechar exércitos e fa-
zer o seu governo temido e respei-
tado em todo o mundo."
A partir do século XVII, no en-
tanto, sementes de novas idéias co-
meçaram a surgir. Tais sementes
floresceram no solo fértil do sécu-
lo XVIII. A Revolução Industrial
trouxe consigo uma nova linha de
pensamento econômico, em parte
para justificá-la, em parte para
submetê-la a um esquema crítico.
As velhas idéias do mercantilismo
começaram a ser questionadas. A
semente do capitalismo moderno
era lançada por Adam Smith e seus
discípulos David Ricardo, James
Mill e Nassau Sênior. Estas doutri-
nas do laissez-faire, como ficaram
conhecidas, favoreciam fortemen-
te o comércio livre e desestimula-
vam, de certa forma, o velho colo-
nialismo.
Por volta de 1840, segundo alguns
autores, presenciou-se uma contra-
ção da atividade colonialista, mo-
tivada exatamente por fatores eco-
nômicos, havendo registros segun-
do os quais Gladstone e outros es-
tadistas qualificavam as colônias
como pesadas cargas.
Note-se, porém, que este clima
psicológico não impediu que os in-
gleses reprimissem as revoltas dos
cipaios, na índia (1817), e moves-
sem contra a China a guerra do ópio
(1840), para obrigá-la a franquear-
se ao comércio exterior.
Outros autores, como Gallager e
90 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Robinson, em um artigo escrito em1953, afirmam que nunca houve umdeclínio de interesse do colonialis-mo. Sustentam que, na realidade,não foi a essência que mudou, masos métodos utilizados. Vislumbra-se nesta interpretação, que pareceser menos apaixonada e mais ana-lítica, a submissão de interesseseconômicos a aspectos políticos.Em suas palavras:"Em toda parte, os governos in-gleses trabalharam para estabele-eer e conservar a supremacia in-glesa, fossem quais fossem osmeios que melhor se adaptassemàs circunstâncias dos seus diferen-tes pólos de interesse. A súmulausual da política do Império do co-mércio livre, como comércio e nãodomínio, deveria ser lida como co-mércio com controle informal, sepossível, e comércio com domínio,sempre que necessário."
Para ilustrar este ponto de vista,vale ressaltar que Londres estavasempre pronta a intervir quando setratava de garantir interesses vi-tais. Para alcançar tal propósito,adotava métodos tais como trata-dos comerciais, ameaças e outrosprocessos indiretos. Quando, po-rém, estes falhavam, recorria-se àanexação territorial. De 1841 a 1851,os ingleses anexaram formalmen-te a Nova Zelândia, a Costa do Ou-ro, atual Gana, Hong Kong e Natal,além de outras colônias.
Apesar de se aceitar esta conti-nuidade dos fatos históricos, não sepode negar que o que ocorreu a par-tir de 1870 foi uma autêntica erup-ção colonialista.
Ingleses, franceses, italianos, ho-landeses, espanhóis, alemães, japo-neses, portugueses e americanosdividiram o mundo entre si e, àsvésperas da Primeira Guerra Mun-dial, havia menos de uma dezena
de Estados autônomos (excetuan-do-se potências imperialistas, pai-ses da América Latina e da Euro-pa).
A perplexidade gerada por estesdados impresionantes, que de-monstram a magnitude e a rapidezdesta nova onda imperialista, só po-de ser comparada e até ultrapassa-da pelo processo de descolonizaçãoque iria ocorrer pouco mais demeio século após, fazendo surgir onovo colonialismo, com sua inter-pretação neocolonialista. SegundoG.W. Bali, nada se comparou em es-cala e significado à incrível passa-gem de mais de um bilhão de pes-soas, de status colonial, para a si-tuação de independência políticano período de duas décadas, e pelasdiversificadas e profundas conse-qüências que trouxe. Todo este pro-cesso, iniciado em 1870, desafiou, apartir do século XIX e meados doséculo XX, vários pensadores natentativa de enquadrar os aconte-cimentos dentro de um esquemaanalítico que abrangesse maior nú-mero de casos possíveis.
MODELOS TEÓRICOSASSOCIADOS
De acordo com o grande físico ematemático John von Neumann, "asciências não tentam explicar, mal in-terpretam, basicamente criam mo-delos". Nas ciências naturais, taismodelos constituem esquemas ma-temáticos que, acompanhados dedeterminadas proposições, descre-vem os fenômenos observados. Ouseja: no campo das ciências natu-rais, cria-se o modelo e vai-se parao laboratório, onde então se verifi-ca se ele é bem-sucedido. No casoafirmativo, ele passa a descreveruma gama mais ampla de fenôme-nos, incluindo os que já eram des-
A EVOLUÇÃO DO IMPERIALISMO 91
critos pelo antigo modelo, que pas-
sa a constituir um caso particulardo novo. A partir daí, este reina ab-
soluto até que novos fatos estreme-
Çam suas bases.
Os cientistas sociais também
tentam criar modelos. São esque-
mas de pensamento que explicam
os fatos históricos, sociológicos,
etc., e procuram antecipar o curso
dos acontecimentos com base nas
suas estruturas lógicas.
Aqui, porém, a tarefa é mais di-
fícil, primeiramente porque os mo-
delos competidores são muitos e
vêm carregados de subjetivismo,
fazendo, em conseqüência, que ca-
da autor defenda o seu com o má-
ximo empenho e procure enqua-
drar os fatos dentro dele, o que, de
um modo geral, todos conseguem.
Sendo assim, dificilmente um mo-
delo reinará absoluto, pois todos ou
nenhum serão bem-sucedidos.
Os modelos propostos para expli-
car o imperialismo se dividem, se-
gundo Benjamin Cohen, em três
grandes grupos: o econômico, o so-
ciológico e o político.Segue-se um breve estudo das
características gerais de cada um.
a) Econômico
Neste grupo estão incluídas to-
das as linhas de pensamento queconsideram os fatores econômicos
como fortemente preponderantesnas ações imperialistas.
O primeiro pensador a se mani-
festar foi o inglês John Hobson, noinício do século. Considerava o im-
Perialismo como resultado de umacontradição íntima do capitalismoconfigurada
pela hipótese do sub-consumo.
Consoante esta hipótese,0 regime capitalista, pelas suas ca-racterísticas,
tenderia a apresen-tar um quadro de poupança exces-
siva em mãos dos capitalistas. Tal
excesso poderia levar as socieda-
des capitalistas a um processo de
estagnação, a menos que fossem
asseguradas oportunidades de in-
vestimento.
Assim, os impulsos de anexação
colonial, na realidade, respondiam
a anseios visando assegurar mer-
cados que permitissem a exporta-
ção do capital, restabelecendo o
equilíbrio.
É importante frisar que não era
considerada a acumulação de capi-
tal como uma inevitabilidade do re-
gime capitalista, mas como uma
tendência que poderia ser reverti-
da, caso determinadas providên-
cias fossem tomadas. Como ele pró-
prio escreveu, referindo-se à Ingla-
terra:
"Se o público consumidor deste
país elevasse seu padrão de consu-
mo para acompanhar cada aumen-
to das forças produtoras, não pode-
ria haver qualquer excesso de bens
ou capital clamando pelo uso do im-
perialismo a fim de encontrar mer-
cados."
Depois vieram os marxistas, re-
presentados pela socialista alemã
Rosa Luxemburg e por Lenine e
seus seguidores.
Embora incorporassem algu-
mas idéias de Hobson, os marxis-
tas, de um modo geral, se caracte-
rizavam por considerarem o impe-
rialismo um estágio do capitalis-
mo, não uma tendência. Fazia-se
imperialismo porque o capitalismo,
através da composição orgânica
crescente do capital, impelia vigo-
rosamente nesta direção. A anexa-
ção colonial era inevitável e essen-
ciai à própria sobrevivência capita-
lista.
É duvidoso que os fatos posterio-
res tenham ratificado a linha mar-
Ü2
xista ou o ponto de vista economi-co, de um modo geral.
A observação dos Quadros I e II,que mostram a distribuição geo-gráfica dos investimentos externosfranceses e alemães a longo prazo,em 1914, e a participação no comer-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
sas entre os países desenvolvidosque entre as colônias (1914) e as me-nos desenvolvidas (1981).
Em 1914, os investimentos nascolônias correspondiam a 8,9% dototal investido pela França e Ale-manha e em 1981 os subdesenvolvi-dos participaram com 20% somen-
QUADRO I
Distribuição Geográfica dos Investimentos Externos Franceses eAlemães a Longo Prazo, 1914
França (%) Alemanha (%)
EUROPA 61,1 53,2Rússia 25,1 7,7Áustria/Hungria 4,9 12,9Turquia 7,3 7,7Outros 23,8 25,0
COLÔNIAS 8,9 12,8
OUTRAS 30,0 34,0
TOTAL 100,0 100,0
Fonte: HerbertFeis — Europe, The World'sBanker, 1870 — 1914 (No-va Iorque: Norton, 1965).
cio mundial, em 1981, respectiva-mente, atestam o fato de que tantono início do século como na atuali-dade as participações de investi-mento e comércio são mais inten-
te do volume total do comércio, oque mostra que não é inescapávelo efeito do capitalismo entre asações imperialistas ou neocolonia-listas.
A EVOLUÇÃO DO IMPERIALISMO 93
QUADRO II
Participa?ao no Comercio Mundial*
Exporta?ao Importapao
Grupo de paises (% sob re (% sob re o
total mundial) total mundial)
Estados Unidos e Canada 16,8 16,9
Japao 7,2 6,9
Europa Ocidental 44,2 47,5
Outros 1,8 1,7
PAISES CAPITALISTAS
DESENVOLVIDOS 70,0 73,0
Uniao Sovietica 3,2 3,0
Europa Oriental 4,7 5,3
Outros 1,1 0,9
PAISES DE ECONOMIA
PLANIFICADA 9,0 9,2
America Latina 5,1 4,8
Africa 2,7 2,7
Asia 12,6 9,9
Outros 0,6 0,4
PAISES SUBDESENVOLVIDOS 21,0 17,8
TOTAL MUNDIAL 100,0 100,0
* Refere-se ao valor, medido em dolares, sobre o total mundialde bens exportados e importados.
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados extraidos do Monthly Bul¬letin of Statistics. ONU —
junho de 1981.
Outro aspecto subestimado pelosMarxistas reside na capacidade docapitalismo
de, através de suas for-
Ças endógenas, regularizar sem re-correr
ao imperialismo, os efeitos
§erados pelo excesso de poupan-
Ça.
É preciso observar, porém, queais comentários não pretendem
concluir que os fatores econômicos
não tiveram sua importância no
processo colonizador. Foram im-
portantes, e em alguns casos deter-
minantes, mas não foram essen-
ciais, como se tentará descrever
adiante.
b) Sociológico
Este fator teve seu principal de-
94 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
fensor na figura do economista aus-tríaco Joseph Schumpeter, queapresentou seus pontos de vista noseu Imperialismo e classes sociais.
Na tentativa de colocar o impe-rialismo numa perspectiva tempo-ral mais ampla, de modo a abran-ger as formas vigentes na antigui-dade, para as quais a explicaçãoeconômica aparentemente não en-contra respaldo, Schumpeter repe-liu violentamente os dogmas mar-xistas da inevitabilidade e afirmouque a causa fundamental estava naestrutura social das nações. Atri-buiu ao imperialismo uma compo-nente atávica no sentido de que osremanescentes da classe guerrei-ra, uma vez cessada a causa paraa qual teria sido criada, necessita-vam , para manutenção do próprioequilíbrio da estrutura social, deatividades que lhe garantissem aperpetuação. O imperialismo sur-gia então para preencher este vá-cuo.
Conforme o próprio Schumpe-ter:
"A explicação está, ao invés dis-so, nas necessidades vitais de situa-ções que levaram povos e classes aserem guerreiros para evitar suaextinção — e no fato de que dispo-sições psicológicas e estruturas so-ciais formadas em situações seme-lhantes, num passado remoto, umavez estabelecidas firmemente, ten-dem a se manter e a continuar emefeito muito tempo depois de teremperdido seu sentido e sua funçãopreservadora da vida."
Apesar do raciocínio schumpete-riano se aplicar a determinadas si-tuações imperialistas da antiguida-de, seu valor como modelo teóricopara ações mais modernas perdeum pouco de força, uma vez que asmotivações atuais são muitas vezes
explicitamente econômicas ou po-lí ticas.
c )Político
Aqui reside, e este é o ponto devista favorecido no presente estudo,a verdadeira mola de todas as for-mas de imperialismo. O desejo depossuir armadas equipadas e exér-citos poderosos impulsionava o co-lonialismo do século XV, patrocina-do pelo mercantilismo; o impasseno quadro de poder gerado pelo re-sul tado da Guerra Franco-Prussia-na e a conseqüente emergência daPrússia como potência detonarama explosão colonialista a partir de1870; a disputa pela influência po-lítica, com o conseqüente franquea-mento de pontos estratégicos, ca-racteriza as nuanças neocolonialis-tas, mascaradas pelos interesseseconômicos.
Tais disputas políticas explicam,por exemplo, por que a França, an-siosa por uma reabilitação paracompensar a derrota sofrida dian-te da Alemanha, foi levada a adqui-rir numerosos atóis no Pacífico, aAlemanha e a Itália estenderamsuas soberanias a terras estéreis daÁfrica e, mais modernamente, osrussos invadiram o Afeganistão, osamericanos desembarcaram emGranada e os argentinos se aventu-raram nas Ilhas Falklands (açõesinequivocamente imperialistas). Édifícil a detecção de atrativos eco-nômicos nestes exemplos.
Não se deseja, porém, suprimiros outros fatores determinantes(econômicos, religiosos, etc). A in-terpretação que se quer dar aqui éque, de um modo geral, todos ser-vem de meios e não de fins aos pro-pósitos políticos dos estadistas, cu-ja grande preocupação é a seguran-ça e a manutenção do poder adqui-
A EVOLUÇÃO DO IMPERIALISMO
rido pelos seus Estados. Tais propó-sitos
podem ou não estar em har-
monia com os anseios econômicos.
Se não estiverem, pior para estes
últimos.
A ERA NEOCOLONIALISTA
Como se sabe, na atualidade, as
nações independentes se dividem
em três grupos cujos contornos, às
vezes, se tornam indefinidos, o quenão impede, porém, de se poder lo-
calizar perfeitamente a maior par-
te delas no grupo ao qual pertence.Assim, há os países do chamado
Primeiro Mundo, compreendendo o
Centro Metropolitano do Capitalis-
mo. São os países desenvolvidos:
Estados Unidos, Canadá, os não co-
munistas da Europa e o Japão. Pai-
ses tais como Austrália, África do
Sul e Nova Zelândia também estão
incluídos pelas altas rendas que
dispõem.
O Segundo Mundo é o mundo dos
Estados comunistas, incluindo
Cuba e Albânia.
O Terceiro Mundo abriga meta-
de da população mundial e com-
Preende os Estados da América La-
tina cujas independências políticasforam consolidadas há mais de um
século, os da Ásia e da África, inde-
Pendentes, na sua grande maioria,
no decorrer do grande movimento
descolonizador ocorrido após a Se-
gunda Guerra Mundial. E aí que,segundo
muitos autores, se desen-volvem os processos do neocolonia-lismo ou neo-imperialismo, que di-zem respeito às relações entre pai-Ses desenvolvidos e menosdesenvolvidos.
O neocolonialismo é o modeloteórico
que tenta mostrar como oCrescimento
dos países menos de-senvolvidos
é afetado pelas opera-
Ções de comércio e investimento
95
dos países do Primeiro Mundo. Sua
essência, portanto, é de natureza
econômica com componente forte-
mente marxista.
Assim, Janes 0'Connor, no arti-
go "The
Meaning of Economic Im-
peralism", de 1971, declara:"A
política neocolonialista é, pri-
meiramente, e acima de tudo, pia-
nejada para impedir que os países
recém-independentes consolidem
sua independência política e, por-
tanto, para conservá-los economi-
camente dependentes e seguros no
sistema capitalista mundial."
Kwame Nkrumah, no seuLeNeo
Colonialisme, dernier Stade de
L'Imperialisme, é mais incisivo:"A
essência do neocolonialismo
é que o Estado que lhe está subor-
dinado, em teoria, é independente
e tem todos os adornos externos de
soberania internacional. Na reali-
dade, o seu sistema econômico e,
portanto, a sua política interna são
dirigidos do exterior."
Como se manifesta, segundo a
teoria do neocolonialismo, tal de-
pendência? Primeiramente, pelo
comércio com os países do Tercei-
ro Mundo. A tecnologia e o know-
how gerados pelo pioneirismo in-
dustrial permitem que os países de-
senvolvidos desfrutem da grande
vantagem na comercialização dos
produtos manufaturados ao mesmo
tempo em que, com a conseqüente
demanda de matéria-prima por
parte desses mesmos países desen-
volvidos, se desencorajarem quais-
quer iniciativas, junto aos menos
desenvolvidos, de surgimento de
uma indústria. Tais operações são
manipuladas pelas grandes empre-
sas multinacionais que suposta-
mente agem em nome dos seus Go-
vernos.
Apesar de ser inegável que as
operações comerciais com os pai-
96
ses menos desenvolvidos interes-
sam sobremaneira aos interesses
dos paises ricos, sua importância
relativa não deve ser exagerada co-
mo demonstram os dados relativos
a 1981, já apresentados.
Outro canal que é usado para ge-
rar e manter a dependência é a alo-
cação de investimentos nos países
menos desenvolvidos, por parte das
empresas multinacionais. Tais in-
vestimentos localizam-se em áreas
que vêm de encontro diretamente
aos interesses das próprias multi-
nacionais, incluindo-se aí os setores
primários. Tal esquema, com todos
os males que traz (remessa de lu-
cros, subutilização de mão-de-obra
local impedindo a criação de uma
competência nacional, etc.), tam-
bém aumenta a brecha entre os de-
senvolvidos e não desenvolvidos.
Também os padrões culturais e
o padrão de gostos de uma nação
podem influir no nível de consumo
de seus habitantes. A teoria neoco-
lonialista assevera que tais padrões
podem ser moldados pelas empre-
sas interessadas, junto às nações
menos desenvolvidas, no sentido de
que o consumo recaia, preferen-
cialmente, em produtos oriundos de
centros mais avançados, o que po-
de inibir a força criadora nativa.
É claro que outros métodos po-
dem ser utilizados (ajudas, em-
préstimos, etc). Fatalmente, po-
rém, após alguns desdobramentos,
recairiam dentro de uma destas ca-
tegorias.
Tbdos os aspectos mostrados são
apontados pelos adeptos da teoria
neocolonialista como irreversíveis
dentro do esquema capitalista. Ou
seja: todos os processos visam ex-
clusivamente à dependência e ex-
ploração com a conseqüente perpe-
tuação do atraso. O capitalismo, as-
sim, no seu próprio esquema evolu-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
tivo, não permitiria o ingresso dos
menos desenvolvidos no clube dos
desenvolvidos.
Tal linha de pensamento é idên-
tica à argumentação marxista for-
mulada no início do século, trans-
plantada para as condições vigen-
tes nas relações contemporâneas.
Hoje, como naquela época, tal li-
nha não levou em consideração os
fatores endógenos que, eventual-
mente, poderiam opor-se ou mino-
rar o fluxo irresistível do capitalismo.
Não se quer aqui dizer que a re-
lação entre países assimétricos não
deixem estigmas nos menos desen-
volvidos. O que se quer colocar é
que podem surgir forças internas
que podem tender a minimizar os
males de tal assimetria.
Mesmo na atualidade, os ideais
de Hobson adaptados às situações
atuais competem com os dogmas
da teoria do neocapitalismo. Tais
idéias tentam mostrar que o efeito
geral do resultado das relações en-
tre países ricos e pobres não impli-
ca necessariamente na imposição
da dependência e exploração des-
tes últimos.
Apontam o fato de que o comér-
cio livre global traria como efeito,
automaticamente, a alocação ra-
cional dos recursos nos países me-
nos desenvolvidos, ao contrário da
teoria neocolonialista que afirma
que a interação de países desiguais
implica numa alocação desvanta-
josa para os países pobres.
Na teoria dos jogos de John von
Neumann, já citado, as lutas econô-
micas desenvolvem-se sob forma
de jogos. São consideradas todas as
variáveis possíveis. Os resultados
líquidos são ganhos ou perdas (ga-
nhos negativos) para os contendo-
res.
Segundo os neocolonialistas, o
resultado líquido de todo jogo teria
A EVOLUÇÃO DO IMPERIALISMO
de ser sempre nulo: se alguém ga-nhar, implica na perda automática
Por parte do outro ganhador. O de-
senvolvimento da teoria mostra,
contudo, que, dependendo das fases
que aparecem no decorrer do pro-cesso, os jogos podem ter desfecho
não nulo. Ou seja: uma situação na
qual todos os contendores ganhamou perdem.
Será o neocolonialismo realmen-
te a convulsão final do imperialis-
mo econômico? Será que as rela-
Ções entre ricos e pobres promo-vem o progresso destes últimos a
longo prazo? Será não nulo o resul-
tado geral do jogo? São alguns dos
dilemas colocados diante de um ho-
Wem moderno.
CONCLUSÃO
No centro da discussão está a
Pergunta: nas várias fases do im-
Perialismo, teriam sido os Gover-
nos estimulados por comerciantes
e financistas a realizarem campa-
nha de expansão colonial? Será que°s Governos, em plena época neo-
colonialista, objetivam abrir cami-
nhos para as multinacionais?
Os fatos históricos e os atuais pa-recem mostrar que no verdadeiro
Pano de fundo, dominando todas asformas de imperialismo, está, nas
Palavras de Richard Hammond, "o
97
velho e eficiente jogo da política e
do poder".
Como se viu, a grande erupção
colonialista, a partir de 1870, teve
sua verdadeira origem no impasse
formado no quadro do poder da Eu-
ropa. A conquista colonial foi uma
extensão da luta pelo prestígio po-
lítico na Europa e pode-se hoje afir-
mar que foi uma das determinan-
tes da eclosão da Grande Guerra.
A Segunda Guerra Mundial de-
terminou uma nova estrutura de
poder, desta vez em escala mun-
dial, e as potências ocidentais e
orientais (lideradas pelos Estados
Unidos e União Soviética) passa-
ram, a partir de então, a empreen-
der uma luta feroz na conquista da
influência política.
Qual o papel desempenhado pe-
Ias operações econômicas nessas
disputas? Ao que parece, consti-
tuem, juntamente com outros fato-
res menos importantes, mecanis-
mos úteis na consecução das aspi-
rações políticas. Não são pouco fre-
qüentes divergências entre empre-
sas multinacionais e o Governo de
seus países de origem e nestes con-
flitos as implicações de poder pre-
dominam. Os acontecimentos evi-
denciam que, se interesses econô-
micos e políticos coincidem, me-
lhor para a economia. Caso contrá-
rio, pior para esta.
98 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
BIBLIOGRAFIA
1. BURNS, Edward Mc Nall, História da civilização ocidental, v. I. Porto Alegre, Editora
Globo, 1975. Tradução de Lourival Gomes Machado, Lourdes Santos Machado e Leo-
nel Vallandro.
2. COHEN, Benjamim J. A questão do imperialismo. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976.
Tradução de Maria Isabel da Silva Lopes.
3. DUROSELLE, Jean Baptiste. Europa de 1815 hasta nuestros dias. Barcelona Editorial
Labor, 1971. Tradução para o espanhol por Ana Salles.
4. ESAÚ, Elias e Pinto, Luiz Gonzaga de Oliveira. História Geral da Civilização. São Paulo,
Saraiva S.A. 1975.
5. IMPERIALISM. In: EnciclopaediaBritannica. Chicago, EnciclopaediaBritannica, 1952,
V. 12, p. 122-122B.
6. IMPERIALISMO. In: Enciclopédia Abril. São Paulo, Abril Cultural, 2? ed., 1976, v. 6, p.335-340.
7. MAGDOFF, Harry. Militarism and imperalism. American Economic Review 60 (2):
237-246. May, 1970.
8. MORAES, Lauro Escorei Rodrigues de. A crise da descolonização na África — Naciona-
iismo — Comunismo — Neocolonialismo. Rio de Janeiro, Escola Superior de Guer-
ra, julho de 1969.
9. NKRUMAH, Kwame. Le neocolonialisme, dernier Stade de 1'imperialisme. Paris, Edi-
tions Presence Africaine, 1973.
10. NEUMANN, John von. Collected works. V. VI, Oxford, Pergamon Press, 1976.
11. SCHUMPETER, Joseph A. Imperialismo e classes sociais. Rio de Janeiro, Zahar Edito-
res, 1961. Tradução de Waltensir Dutra.
12. VESENTINI, José Willian. Sociedade e espaço. São Paulo, Editora Átila, 1983.
13. Wolff, Richard D. Modern imperialism: the view from the metropolis. American Econo-
mie Review 60 (2): 225-236. May, 1970.
OS MERCANTES EMOPERAÇÕES DE GUERRA
I ' 1I
INTRODUÇÃO
A rapidez com que se possa exe-cutar a mobilização de navios mer-cantes para atender às necessida-des da Marinha em crises interna-cionais é assunto de capital impor-táncia para qualquer país e para osestudiosos tornou-se de especialatenção após o exemplo da Ingla-terra na chamada Guerra das Mal-vinas/Falklands.
Por coincidência, chegaram si-luiz antonio monclaro malafaia multaneamente, à RMB, duas ex-
Capitão-de-Fragata celentes colaborações sobre o as-sunto,* analisado de maneira diver-sa e ambas contendo conclusões ex-tremamente úteis à Marinha doBrasil, razão pela qual foi resolvidopublicá-las no mesmo número daRevista, pois julgamos que, assimprocedendo, oferecemos aos nossos
* "Os mercantes em operações de guerra", de autoria do Capitão-de-Fragata Luiz An-io Monclaro Malafaia, e "A mobilização do Reino Unido no conflito das Malvinas, de auto-do Capitão-de-Corveta Roberto Agnese Fayad, na Seção da EGN.
100
leitores uma das mais interessan-
tes maneiras de um assunto ser es-
tudado.
A Redação
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nos séculos XV e XVI, um navio
mercante, adequadamente modifi-
cado, tornava-se um excelente na-
vio de guerra, pois este nada mais
era do que um simples barco arma-
do com canhões. No século XVIII,
já se notavam algumas distinções
entre a construção de um navio de
comércio e a de um de guerra. Mas
foi com o advento da propulsão a
vapor e do casco de ferro que sur-
giu a verdadeira belonave, perma-
necendo aquele em suas atividades
comerciais.
Com o passar dos anos verificou-
-se que os mercantes poderiam ser
empregados em apoio a operações
militares. Ao final do último sécu-
lo, navios de comércio armados em
cruzadores-auxiliares já atuavam
como corsários, fustigando as li-
nhas marítimas inimigas.
Durante a Primeira Guerra
Mundial, o advento da guerra sub-
marina irrestrita, em 1917, forçou
o Almirantado britânico a criar o
sistema de comboios e armar os
mercantes com canhões, notada-
mente, para autodefesa contra os
submarinos na superfície.
Navios afretados foram utiliza-
dos durante as duas guerras mun-
diais, com sucesso, em operações
de esclarecimento, de minagem e
de ataque ao tráfego marítimo ini-
migo. Mercantes armados aliados
chegaram a travar combate com
cruzadores alemães. Outros, dis-
pondo de canhões, patrulharam a
região entre a Grã-Bretanha, a Is-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
lândia e a Groenlândia, nos primei-
ros meses da Segunda Guerra. Cor-
sários alemães, por outro lado,
afundaram quase 240 embarca-
ções, totalizando 1,2 milhão de to-
neladas, nos dois conflitos.
Os desembarques anfíbios reali-
zados em 44/45 e as grandes distân-
cias a cobrir, no Pacífico, deram
uma nova dimensão ao emprego
dos mercantes em apoio a opera-
ções de guerra.
Por ocasião da Guerra da Cor-
réia, em face da carência de navios
de passageiros, os Estados Unidos
chegaram a transportar tropas em
cargueiros, utilizando-se de conten-
tores, especialmente construídos
para serem usados como alojamen-
tos, cozinhas e sanitários.
Os anos 50 foram caracterizados
por uma perda gradual de impor-
tância do navio mercante (NM),
em face da sua extrema vulnerabi-
lidade às novas armas: os subma-
rinos de alta velocidade, os artefa-
tos nucleares e outras.
No entanto, em meados de 82, o
conflito Malvinas/Falklands veio a
redescobrir o valor do navio de co-
mércio em apoio a forças navais,
quando mais de 50 deles, afretados
ou requisitados, operaram entre a
Grã-Bretanha e o Atlântico Sul.
A NECESSIDADE DO EMPREGO
DO NAVIO MERCANTE NA
GUERRA MODERNA
O aumento do comércio maríti-
mo nas últimas décadas tem sido
significativo. Em 1939, oLdoyd's Re-
gister apresentava um total de
29.763 navios (68,5 milhões de tpb).
chegando a cerca de 75.000 navios
(424,7 milhões de tpb) nos diaS
atuais. Quase 95% do comércio oci-
dental é realizado por mar.
°s MERCANTES EM OPERAÇÕES. 101
Em contrapartida, o elevadocusto de um moderno navio de com-bate, aliado à recessão mundial,
tem sido responsável pela gradualredução
das frotas de guerra dos
Países do inundo livre, levando-os
a um quadro pouco animador: es-coitas insuficientes para proteção
seus navios capitais e do tráfe-
marítimo aliado.
A idéia de formar um comboio de
&randes dimensões é desaconselha-^a, em face da sua vulnerabilida-de a um ataque nuclear. Por outrolado,
um navio mercante navegan-
escoteiro seria presa fácil para os
Modernos submarinos e aeronavescom
mísseis ar-superfície (MAS).Enquanto
os estrategistas tenta-vam resolver este problema, sems°lução
até os dias atuais, uma no-Va e eficiente arma anti-submarino(AS) era apresentada ao mercadouiundial,
na década de 70: o heli-cóptero.
Surgia, em decorrência, um no-Vo conceito na utilização do navio
Mercante em operações militares:
0 Porta-contentor adaptado para
°Perar com helicópteros AS.
Modernamente, admite-se que0s mercantes
podem ser enquadra-dos em duas diferentes formas deemprego
em operações militares:requisitado
ou afretado pa-
^a o apoio a operações militares.
~°mo exemplo recente, o conflito
das Malvinas e a Rapid Deploye-
ment Force dos Estados Unidos;utilizado
para transportar sis-ernas
de autodefesa em paraleloc°m
suas atividades comerciais.
Caso um mercante venha a ope-rar
dentro ou próximo à área de um
J°Uflito, terá, logicamente, de so-
]íier al£umas adaptações para me-
0r desempenhar suas novas tare-as- O tempo necessário para a rea-Zação
dessas alterações poderá
ser abreviado, caso tenha havido
um adequado planejamento ante-
rior, em tempo de paz. Plataformas
para pouso de helicópteros, por
exemplo, poderão estar estocadas
em terra prontas para a montagem
a bordo, quando necessário.
A POLÍTICA DE EMPREGO
DE MERCANTES EM
ALGUNS PAÍSES
Os Estados Unidos possuem uma
organização governamental res-
ponsável pela movimentação de
mercantes em apoio às Forças Ar-
madas. Esta organização, conheci-
da como Military Sealift Command
(MSC), é constituída por navios de
carga geral, porta-contentores,
porta-barcaças, petroleiros etc. As
tripulações são civis, mas, even-
tualmente, alguns militares pode-
rão embarcar para o desempenho
de atividades específicas. O MSC é
comandado por um almirante da US
Navy (USN), e seus meios são su-
bordinados ao Comando de Opera-
ções Navais quando realizam
transporte em apoio a operações
militares. Normalmente, em tem-
po de paz, estão sob a supervisão di-
reta do Departamento de Defesa.
Na verdade, poucos navios perten-
cem ao Governo, sendo a maioria
afretada a empresas particulares.
Quando incorporados a grupamen-
tos operativos, passam à condição
de navios-auxiliares da USN.
Apesar da frota mercante norte-
-americana contar com mais de 20
milhões de toneladas, apenas al-
guns navios são adequados a pres-
tar apoio à USN, segundo recentes
estudos realizados pelo MSC.
Foram assim selecionadas as se-
guintes embarcações:
— todos os navios porta-barca-
ças tipo lash (Ligheter Aboard
102 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Ship): para transportar embarca-ções de desembarque (até 200 tone-ladas) nas operações anfíbias;
três porta-barcaças tipo sea-bee, da Lykes Lines: para trans-portar embarcações de desembar-que de até 800 toneladas nas opera-ções anfíbias;
poucos navios porta-carretas(roll-on/roll-of ou roro): paratransportar veículos militares eblindados (os Estados Unidos pos-suem um número muito reduzidode roro);
alguns navios-tanques, porta--contentores e de carga geral;
o SS United States: a ser em-pregado como navio-hospital.
Após a revolução iraniana e aocupação do Afeganistão por tro-pas soviéticas, o governo norte--americano decidiu criar a RapidDeploymente Force (USRDF),composta por unidades da Marinhade Guerra ( e Mercante), do Exér-cito, da Força Aérea e dos Fuzilei-ros Navais, e estacioná-las em umponto focai no Oceano Índico. EsteComando combinado teria a tare-fa de ocupar, rapidamente, uma áreaestratégica na região do Oriente Mé-dio, mantendo-a até a chegada dasForças de ocupação definitiva.
Em virtude da disponibilidadede transporte de tropas por via ma-ri tima ser muito pequena, em facedo limitado número de navios depassageiros de bandeira america-na, foi deixada à Força Aérea a ta-refa de conduzi-las até à área doobjetivo, cabendo aos navios do MSCo transporte de material e supri-mentos para o apoio das ações emterra, durante um período determi-nado.
Além dos 13 navios-auxiliares, jáincorporados, baseados, principal-mente, em Diego Garcia, o MSC de-cidiu adquirir ou afretar, recente-
mente, alguns mercantes para au-mentar a capacidade de transpor-te da USRDF. São eles:
oito porta-contentores tipoSL-7, de 23 mil toneladas e 33 nós develocidade, da Sealand. Receberãoum convôo à ré para operar com he-licópteros ou aeronaves V/STOL erampas laterais para embarque/de-sembarque de blindados. O contra-to para conversão está orçado em60 milhões de dólares, por navio.Poderão transportar uma divisãode infantaria mecanizada completa;
cinco navios RORO de 14 miltoneladas, classe Caroliners, daMaersk Line. As alterações in-cluem colocação de convôo, umajumborização e reforço nas rampasroro, permitindo o transporte deviaturas e equipamentos de umabrigada de fuzileiros navais. O pri-meiro deles encontra-se em fase fi-nal de prontificação;
três navios RO-RO/porta-con-tentores, classe Waterman. À se-melhança dos Caroliners, recebe-rão convôo, reforço nas rampas ejumborização de cerca de 120 pés;
— três navios-tanques de 38 miltoneladas e um de 18 mil toneladas,afretados à Overseas Co. e Exxon,respectivamente.
Grã-Bretanha
A Grã-Bretanha, com uma Ma-rinha Mercante de mais de 30 mi-lhões de toneladas, possui uma or-ganização semelhante à america-na, a Royal Fleet Auxiliary Servi-ce (RFAS), mas subordinada ao Al-mirantado. Os navios são, também,guarnecidos por civis, prestandoapoio à Royal Navy em tempo depaz ou de guerra. Se houver a ne-cessidade de complementar esteapoio o Ministério da Defesa, ba-seado em legislação apropriada,
os MERCANTES EM OPERAÇOES. 103
poderá, rapidamente, afretar ou re-
luisitar navios a armadores nacio-nais ou estrangeiros, adaptando-os
Para operações específicas. Even-tualmente, tais mercantes poderãoser incorporados a grupamentosoperativos, à semelhança dos daRFAS, e operar dentro de zona decombate sob o controle operativoda Marinha, como demonstrado naGuerra das Falklands. Todo este
Processo de utilização de mercan-tes em apoio a operações da RoyalNavy é conhecido, na Inglaterra,
Por STUFT, ou seja, Ships TakenUP From Trade.
União Soviética
A Marinha Mercante soviética,
Por outro lado, conta com mais de30 navios ro-ro aptos a transportartropas
mecanizadas, mais de umadezena
de navios lash capazes dedesembarcar
barcaças junto a
Praias, diversos cargueiros prontosa operar com carga militar de as-salto
e a maior frota de navios de
Passageiros do mundo. Como todos°s mercantes
pertencem ao Esta-do, não deverá existir impedimen-to legal ou financeiro ao pleno em-Prego dos navios de comércio em^Poio
às ações de sua Marinha deGuerra.
OS MERCANTES NAS
FALKLANDS/MALVINAS
Tão logo as forças argentinaschegaram
a Port Stanley, o Minis-erio da Defesa Britânico (MoD)
lr>iciava o processo de requisição e
tretamento de diversos navios que
iriam a operar em apoio à FT-317,
urante o Operação Corporate (re-ornada
das Malvinas).
, O Governo inglês parece ter uti-
lzado mais de meia centena de
mercantes em operações entre a
Grã-Bretanha e a Zona de Exclusão
Total (ZET). Poucos, no entanto, fo-
ram os que, efetivamente, opera-
ram no interior dela. Quase todos
continuaram com suas tripulações
civis, sendo que alguns receberam
militares para o guarnecimento de
metralhadoras e canhões antiaé-
reos. Apenas cinco pesqueiros de
alto-mar, de 1.200 tpb (Northella,
Cordella, Fornella, Pict e Junella),
tiveram suas tripulações substituí-
das por guarnição militar, enquan-
to eram utilizados como navios-var-
redores. Após as adaptações reali-
zadas, os navios passaram por um
período de cerca de 20 dias de ades-
tramento, sendo, após, incorpora-
dos ao 11? Esquadrão de Varredo-
res. Foram os reponsáveis pela lim-
peza de minas nas Geórgia do Sul
e imediações de Port Stanley.
Quatro navios de passageiros fo-
ram empregados na área de opera-
ções. O Queen Elizabeth II, Cam-
berra e Norland foram transforma-
dos em transportes de tropas, ten-
do deslocado para o Atlântico Sul
cerca de 7.000 soldados. O Camber-
ra e o Norland chegaram, inclusi-
ve, a participar do desembarque
em San Carlos, na madrugada de 21
de maio. O Uganda, o quarto navio
de passageiros, foi modificado em,
apenas 48 horas (em Gibraltar),
para atuar como navio-hospital,
com capacidade para 1.000 leitos.
Todos receberam convôo para heli-
cópteros, equipamento para comu-
nicações com satélite e facilidades
para reabastecimento de combus-
tível no mar.
Foram, também, afretados mais
de duas dezenas de navios-tanques.
Os de médio e grande portes, nor-
malmente, operavam entre a Grã--Bretanha e Ascensão ou entre As-
censão e as proximidades da ZET,
104
onde trasferiam combustível para
os de pequeno porte ou para os da
RFAS. Estes é que entravam na
área de operações para efetuar o
reabastecimento dos navios de
combate. Quase todos os mercantes
dispunham de equipamento para
receber combustível no mar, esti-
mando-se que tenham realizado
cerca de 1.500 fainas, ao todo.
Três rebocadores de alto-mar fo-
ram requisitados para operar na
área Fálklands/Geórgias do Sul. Um
deles, o Irishman, chegou a rebocar
o HMS Sheffield em direção às
Geórgias do Sul, antes que o mesmo
viesse a afundar no dia 10 de maio.
Para o transporte de munições,
sobressalentes e gêneros alimentí-
cios, o MoD contou com o auxílio de
diversos navios de carga geral, fri-
goríficos e até um navio-tanque pa-
ra água potável. A maioria dos car-
gueiros dispunha de convôo para
efetuar reabastecimento vertical.
Como a Royal Navy não mais dis-
pusesse de navios-oficina, foram
requisitados dois navios de apoio a
plataformas de petróleo, dotado de
guindastes e oficinas próprias. Por
contarem com um convés corrido,
sem obstrução, puderam operar
com helicópteros. Durante a crise
efetuaram uma série de serviços
em navios mercantes e de guerra,
destacando-se a troca do hélice do
HMS Avenger, a substituição de
uma turbina a gás do HMS Sou-
thampton e reparos gerais na popa
e hangar do HMS Glamorgan, atin-
gido por um míssel superfície-super-
fície MM-38. Após a reocupação das
Malvinas foram os responsáveis pe-
la recuperação, de diversos objetos
e publicações a bordo de navios
afundados em San Carlos.
Alguns navios RO-RO foram, tam-
bém, utilizados. Um deles, por
exemplo, além de ter recebido dois
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
canhões Bofors de 40mm, transpor-
tou três helicópteros AS Se a King,
no convés, até à área de operações.
Mas, na verdade, uma das gran-
des vedetes do conflito foi o porta--contentor. Este navio, por suas ca-
racterísticas particulares, foi aque-
le que melhor se adaptou para ope-
rações com aeronaves. O Atlantic
Conveyor, de 14 mil toneladas, ope-
rou com aeronaves V/STOL GR3
Harrier e helicópteros Chinook, até
seu afundamento, ao ser atingido
por um míssel ar-superfície AM-39.
Seu irmão gêmeo, o Atlantic Cau-
seway, chegou a ser utilizado comc
navio-aeródromo-auxiliar, trans-
portando dez helicópteros Sea King
do 829 Squadron. A mais rápida
adaptação foi efetuada no Porta
Contentor Bezant, que, em apenas
cinco dias, teve redesenhadas suas
chaminés, recebendo luzes para
pouso noturno e contentores espe-
ciais para acomodação de pessoal
e material necessário à operação
de Harrier e helicópteros. Partiu
para a ZET levando quatro Har-
rier, seis Wasp e três Chinook, além
de 6.500 toneladas de materiais di-
versos.
Após a rendição argentina, o Go-
verno inglês sentiu ser necessário
incorporar à Royal Navy alguns na-
vios para dar prosseguimento ao
apoio de suas forças estacionadas
em Port Stanley e Grytviken.
Assim, em 1983/84, adquiriu os
seguintes meios:
— ex-navio de apoio a platafor-
mas de petróleo Stena Inspector,
que, após sofrer adaptações tais co-
mo a retirada de equipamentos de
mergulho e tanques de cimento,
instalações de paióis, oficinas e alo-
jamento para os artífices, foi incor-
porado como navio-oficina, o HMS
Diligence (custo da obra: 1 milhão
de libras);
os MERCANTES EM OPERAÇÕES. 105
Porta-Contentor Bezaní, a ser
utilizado como navio de apoio a he-
licópteros, em substituição ao anti-
go HMS Engadine. Poderá, tam-
bém, operar como navio-aeródro-
mo-auxiliar, levando oito helicópte-
ros AS, ou, então, como navio-trans-
Porte de ataque, transportando veí-
culos no porão e carga no convés.
Em todas estas versões, contento-
res especiais proverão acomoda-
Ções adicionais para pessoal, ofici-
nas, paióis etc. O contrato de con-
versão chegou à casa dos 30 mi-
Ihões de libras;
Porta-Contentor Astronomer,
de 28 mil tpb, com velocidade de 22
nós e que, durante a crise Falklands/
Malvinas, esteve afretado ao Go-
verno inglês. Após adaptações efe-
tuadas, foi convertido em navio de
aPoio a helicópteros e rebatizado
como RFA Reliant, podendo operar
c°ni cinco AS Sea King. Primeiro
navio a testar o sistema SCADS, a
ser comentado posteriormente, foi
empregado, com sucesso, na eva-
cuação de cidadãos e funcionários
britânicos da capital libanesa, no
mício do corrente ano;três
ex-navios de apoio a pia-taformas
de petróleo, que foramtransformados
em barcos-patru-^ha, recebendo dois canhões de40mm.
São os atuais HMS Protec-or' HMS Guardian e HMS Sentinel,
componentes da Falklands Island
Patrol.
Além destes, o Ministério da De-esa afretou dois navios ro-ro dina-
niarqueses, de 1.600 toneladas, pa-
£a substituir, temporariamente, os
f^A Sir Galahad e Sir Tristan, des-
Ruídos nas Falklands. São eles o Sir
Caradoc e Sir Lamorak.
A Marinha argentina chegou,ambém,
a utilizar mercantes em°Perações
de esclarecimento du-rante o conflito. Antes do início das
ações, o Cargueiro Rio de la Plata
acompanhou o Camberra durante
algum tempo, até ser interceptado
e afastado pelo HMS Antílope.
Sabe-se, ainda, que o pesqueiro de
alto-mar Narval foi afundado por
aeronaves inglesas quando execu-
tava esclarecimento dentro da
ZET. Vários outros mercantes fo-
ram empregados em tarefas seme-
lhantes, não havendo maiores infor-
mações a respeito.
SENSORES E SISTEMAS DE
ARMAS EM CONTENTORES
Nos últimos anos, vários fabri-
cantes de armamento ingleses e
americanos, visando à redução nos
custos e diversificação de emprego,
vêm desenvolvendo projetos para a
instalação de sistema de armas em
contentores. A grande vantagem
dessa concepção seria a de propi-
ciar uma rápida montagem a bor-
do de navios-auxiliares e mercan-
tes sem a necessária realização de
modificações estruturais.
No caso de armas guiadas, o sis-
tema, genericamente, seria consti-
tuído por vários contentores, cada
um destinado a uma aplicação es-
pecífica. Assim, ter-se-ia contento-
res para o lançador, para o paiol de
mísseis, para os radares de busca
e direção de tiro, para a fonte gera-
dora de energia, para acomodações
da guarnição da arma, etc.
O Dynamic Group da British Ae-
rospace já dispõe de versões modu-
lares de lançadores de alguns mis-
seis conhecidos, como, por exem-
pio, o MSS Sea Eagle SL,o MSA Sea-
wolf e o MSA Sea Dart LW.
No presente momento dois rada-
res de busca, em versão modular,
já estão disponíveis no mercado
ocidental. Um deles é o radar
106
AWS-5A, da Plessey, com capacida-
de de detectar aeronaves e mísseis
em perfil de vôo baixo, além de po-
der ser associado a um equipamen-
to IFF. Apresenta alta resolução e
possui circuitos especiais que mini-
mizam o emprego de contramedi-
das eletrônicas (CME). O segundo
é o radar Decca 2459, com menor
potência, mais compacto e com
menos recursos que o anterior. Um
pequeno computador a ele acopla-
do (CTC — Comand Tactical Con-
sole) fornecerá, instantaneamente,
os elementos do alvo (caso sua ve-
locidade seja inferior a 600 nós), fa-
cilitando o problema de tiro. Dispõe
ainda de interface para três dife-
rentes armas, mísseis ou canhões.
Todos os dois radares são passíveis
de ser montados, em até 48 horas,
em qualquer tipo de navio.
Um sistema de armas completo,
isto é, sensores, mísseis e unidades
complementares, será uma das
partes integrantes do Shipborne
Containerised Air Defense System
(SCADS), ora em testes prelimina-
res na Royal Navy.
PRINCIPAIS PROCESSOS PARA
ADAPTAÇÕES EM MERCANTES
Projeto Arapaho
O Reserve Merchant Ship Defen-
se Sistem (RMSDS) ou Projeto
Arapaho, como é mais conhecido,
foi desenvolvido para o governo
norte-americano com a finalidade
de prover facilidades para que na-
vios mercantes pudessem dispor de
até seis helicópteros para opera-
ções de guerra, a baixo custo.
O Sistema em questão poderá
ser montado, em cerca de 12 a 18 ho-
ras, em navios do tipo porta-conten-
tor, lash ou ro-ro, desde que não
possuam obstruções no convés.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Basicamente, o mercante rece-
beria equipamento para o controle
de vôo, pouso noturno, manutenção,
combate a incêndio, reabasteci-
mento de combustível de aeronaves,
etc. Os contentores a serem embar-
cados, além de formarem o convés
de vôo e hangar, propiciaram insta-
lações completas e adequadas pa-
ra acomodar o destacamento aéreo
embarcado (cerca de 60 a 80 ho-
mens), havendo, apenas, a ocupa-
çáo de 25 a 30% do espaço disponí-
vel para carga.
Além dos Estados Unidos, a Grã-
-Bretanha, Canadá, Alemanha Oci-
dental, Chile, Austrália, Nova Ze-
lândia e Holanda participam, dire-
ta ou indiretamente, do desenvolvi-
mento do Projeto. Acredita-se que
o sistema completo, montado a bor-
do, tenha um custo aproximado de
16 milhões de dólares, exclusive as
aeronaves.
Os primeiros testes do Arapaho
foram realizados a bordo do Porta--Contentor Export Leader (18 mil
toneladas), de bandeira norte-ame-
ricana, em outubro de 1982, ocasião
em que seis diferentes tipos de he-
licópteros (UH-1, UH-2, SH-3,
CH-47, CH-53 e SH-60) operam de
bordo durante dois dias. Acredita-
-se que navios de porte semelhante
possa operar, também, com o avião
V/STOL AV-8B.
Apesar de considerar como sua
principal tarefa neutralizar as
ações de submarinos inimigos, um
navio Arapaho poderá ser empre-
gado, com eficiência, em várias ou-
tras, a saber:
realizar evacuação aeromédi-
ca (EVAM);
apoiar operações de contra-
-medidas de minagem (CMM);proteger o tráfego marítimo,
complementando os escoltas;
i
OS MERCANTES EM OPERAÇÕES. 107
realizar busca e salvamento
(SAR);
apoiar assalto anfíbio; e
prover apoio logístico móvel
(por reabastecimento vertical).
WAMS — Wartime Adaption
of Merchant Ships
Uma das conseqüências diretas
do último conflito anglo-argentino
foi o aprofundamento dos estudos e
Projetos no que tange a alterações
de navios comerciais para empre-
go militar. Na Grã-Bretanha, este
Processo de adaptação é conhecido
Pela sigla WAMS.
Presentemente, três opções dis-tintas estão à disposição do Minis-tério da Defesa inglês:
a) SCADS (Shipborne Containe-rised Air Defense System);
b) DE MS estágio II (DefensivelyArmed Merchant Ships);
c) DEMS estágio III.
O SCADS é um sistema a ser ins-talado em porta-contentor, lash ouRo-Ro, transformando-o em navio--aeródromo-auxiliar
e possibilitan-do
que o mesmo tenha a capacida-de de se defender contra determi-nado tipo de ameaça. É baseado noProjeto
Arapaho, sendo, porém,mais completo e flexível. Cerca de70 contentores especiais são coloca-dos a bordo, provendo convôo, han-
£ar, facilidades para reabasteci-
perito de combustível e combate a
jneêndio, equipamento para contro-
e de vôo, paióis e oficinas de aviô-nica, além de alojar, confortável-mente, os membros do destaca-^ento aéreo embarcado. Um dos
^ontentores, conhecido como AIC
Action Information Center), é, narealidade,
um mini-CIC, onde setua a integração sensor/arma-
j^ento. Mísseis (ou canhões) de de-
esa de ponto e chaffem versão mo-
dular podem, também, comple-
mentar o arranjo, juntamente com
uma pista sky-jump para decola-
gem de aviões V/STOL.
Uma das grandes vantagens pro-
porcionada pelo SCADS é a rapidez
com que todo o sistema é montado
a bordo, pois cerca de 48 horas após
o mercante ter recebido a sua car-
ga comercial estará pronto para
suspender.
O sky-jump possibilitará que aero-
naves Se a Harrier possam decolar
com quatro mísseis ar-ar AIM-9L e
combustível suficiente para perma-
necer por 90 minutos em patrulha
aérea de combate (PAC) em um
ponto a 100 milhas do navio-mãe.
Eventualmente, substituindo-se o
AIM-9L por Se a Eagle estas aero-
naves poderão atuar como vetor de
míssil ar-superfície.
A Bristish Aerospace foi a em-
presa britânica escolhida para for-
necer à Ftoyal Navy a primeira par-
tida de contentores para o SCADS,
ao preço de 6 milhões de libras.
O sistema DEMS estágio II pro-
porcionará ao mercante facilidades
para operar helicópteros em para-
leio com a instalação de canhões
antiaéreos de tiro rápido ou mísseis
superfície-ar para defesa de ponto.
Em caso de emergência, o navio te-
rá condições de efetuar reabasteci-
mento de Se a Harrier, caso a aero-
nave pouse/decole verticalmente.
Por último, o sistema DEMS es-
tágio III, consistindo, apenas, na
instalação de metralhadoras de
20mm ou canhões Bofors de 40mm
a bordo de navios comerciais.
Por suas características instrín-
secas, o radar de busca AWS-5A é
o mais adequado para compor o
SCADS, e o DECCA 2459, menos so-
fisticado, o ideal para navios que
108
venham a utilizar um dos sistemas
DEMS.
Com o atual estado da arte, um
mercante portador de SCADS dis-
põe, apenas, de capacidade de au-
todefesa, não estando apto a pro-
ver proteção a outros navios de um
comboio. Um míssil lançado contra
ele, por exemplo, poderia ser des-
viado, vindo a atingir um navio de-
sarmado. Acredita-se que isto te-
nha ocorrido em 1982, quando o
Atlantic Conveyor foi atingido porum Exocet lançado, aparentemen-
te, sobre o HMS Hermes. Para evi-
tar que fatos semelhantes accnte-
çam, desenvolveu-se o Mel's Matil-
da-Protean, equipamento de medi-
da de apoio à guerra eletrônica
(MAGE) acoplado a um lançador
chaff, pouco sofisticado e de fácil
instalação. Testes recentes mostra-
ram que poderá ser usado, com efi-
ciência, contra mísseis Styx/SSN-9
ou semelhantes. Por seu relativo
baixo custo, é o adequado para na-
vios cujo valor de carga não com-
pense a adoção dos sistemas SCADS
ou DEMS.
Na Grã-Bretanha, alguns navios
já foram selecionados pelo MoD pa-
ra eventual utilização em situações
de emergência. Os novos ACL, ro-
RO, da Cunard, também conhecidos
como G3, poderão ter o sistema
SCADS com sky-jump para Sea
Harrier. Igualmente, os porta-con-
tentores OCL classe Jervis Bay, de
27 mil toneladas, estão aptos a re-
ceber o SCADS com sky-jump,
além de um radar AWS-5A e MSA
Seawolf ou canhão Vulcan/Pha-
lanx. No convés à ré poderão ope-
rar com helicópteros AS Sea King.
Um navio típico para receber as fa-
cilidades DEMS é o de carga geral
classe Geestport, já empregado na
Guerra das Falklands como navio
de apoio logístico.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Síntese Conclusiva
Ao longo do presente trabalho,
após comentários sobre o desempe-
nho de navios mercantes em confli-
tos passados, notadamente por oca-
sião da crise anglo-argentina em
82, abordamos a crescente necessi-
dade que os governos contemporâ-
neos têm em lançar mão de suas
frotas mercantes para o apoio a
operações militares. Em rápidas
pinceladas, descrevemos a política
adotada pelos Estados Unidos, Grã-
-Bretanha e União Soviética para o
afretamento ou requisição de mer-
cantes e os papéis desempenhados
pelo Military Sealift Command e
pela Royal Auxiliary Fleet Service.
Mostramos, ainda, o estado da ar-
te no tocante a sensores e sistemas
de armas modulares susceptíveis
de serem montados a bordo. Por úl-
timo, discorremos, sucintamente,
sobre o Projeto Arapaho e o siste-
ma inglês WAMS.
Como conclusão, podemos dizer
que:o navio mercante, à semelhan-
ça do ocorrido ao longo do presen-te século, é, ainda, de uma importân-
cia inestimável em qualquer opera-
ção militar, principalmente em pai-
ses onde a situação econômica im-
pede a manutenção de uma grande
e onerosa Marinha de Guerra;
se um governo deseja, rapida-
mente, mobilizar meios marítimos
para fins militares, necessita ter
não somente uma organização pre-
parada para controlá-los, mas,
também, leis adequadas que ve-
nham a abreviar, facilitar e ampa-
rar legalmente o processo em ques-
tão;
as decorrentes alterações a se-
rem introduzidas no navio mercan-
te só poderão ser efetuadas em
tempo reduzido, caso tenha havido
os MERCANTES EM OPERAÇOES. 109
uma anterior seleção de navios e
adequado planejamento, projeto e
execução dessas adaptações;
— os mercantes que viessem a re-
ceber os sistemas WAMS ou Arapa-
ho não substituiriam os navios es-
Pecialmente construídos para o
combate, mas iriam auxiliá-los em
algumas de suas tarefas, principal-
mente naquelas relacionadas com
a proteção do tráfego marítimo,
apoio a operações anfíbias, etc.
Finalmente somos de opinião
que a manutenção de numerosa e
diversificada frota mercante é,
além de uma necessidade comer-
ciai, um requisito básico para au-
xiliar a defesa de uma país, na me-
dida em que há a possibilidade de
a mesma ser utilizada em apoio à
sua Marinha de Guerra.
BIBLIOGRAFIA
1. AMBROSE, A. F. Requisitioned merchant ship numbers grows. Navy International. Lon-
don: 1099-1100, Jun. 82
2. . The arming of merchant ships: STUFT, WAMS, SCADS and DEMS. Navy
International. London: 282-289, May. 83.
. The US RDF: By air and sea-speed and quantity. Navy International. Lon-
don: 1502-1507, Dec. 82.
4. . The fourth arm. Navy International. London: 344-345, Jun. 83.
5. BARNES, John. Merchant ships for the military environment. Maritime Defence. Lon-
don: 83-85, Mar. 83.
6. BRASIL. Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão. Adaptação de navios mer-
cantes. Leituras Selecionadas n? 6. Rio de Janeiro: 47-55, out. 83.
Escola de Guerra Naval. EGN-21ÕA. Guia para elaboração de teses e monogra-
fias. Rio de Janeiro, 1981.
8. CL ARE, W. H. T. Packaging — A growing trend in naval weapon systems developments.
Maritime Defence. London: 319-320, Aug. 83.
9. FLORES, Mário C. Mobilidade estratégica marítima e projeção de poder. Revista Marí-
tima Brasileira. Rio de Janeiro: 57-73, jul./ago./set. 83.
10. FRIEDMAN, L. Regional reviews. Proceedings. Annapolis: 41-43, Mar. 84.
11- LENTON, H. T. An auxiliary aircraft/helicopter carrier. Maritime Defence: London:
119-120, Apr. 84.
12. MARITIME WORLD LIMITED. The fourth arm. Navy International. London: 344-345,
Jun. 83.
13. MULQUIN, James J. ARAPAHO update. Proceedings. Annapolis: 103-106, Jan. 83.
H, WOOD, Geoggrey. "Reliant" completes helicopter operation trials. Maritime Defence.
London: 542, Dec. 83.
15. US shipbuilding. Maritime Defence. London: 185-189, May. 83.
16 "Astronomer" to be converted ARAPAHO-style. Maritime Defence. London: 212,
Apr. 84.
Projetos navais avançadosincorporam o canhão57mm MK 2.
^Bwg*m
mm
Com uma cadência de 220 tiros porminuto, mais do que o dobro de seuconcorrente mais próximo, o ca-nhão BOFORS 57 mm MK 2 é o úni-co canhão de calibre médio a teruma excelente capacidade paracombater alvos aéreos.
A sua munição, dotada de espoletade proximidade, aumenta a área deum míssel no fator de 350x.
Com a nova granada HCER de al-cance extendido, o MK 2 passa a tero mesmo alcance dos canhões de
.-•*•-.-.¦.¦•..
CBV Indústria Mecânica S.A.
até 100mm, contra alvos de superfí-cie. A alta cadência de tiro do MK 2permite um maior volume de fogono alvo por minuto, e o arrebenta-mento com retardo garante a des-truição dentro do alvo.
O MK 2 permite ao atirador escolhero tipo de munição a ser utilizada. Atroca é feita automaticamente.
O canhão BOFORS 57 mm MK 2 es-tá agora em produção seriada paranavios de 36 m/240 tons até 135m/4200 tons.__l____k_____d__l_i(^________________________l
. fé |BOFORS
Cia. T. Janér Comércio e Indústria
SEÇÃO DA EGN
A MOBILIZAÇÃO DO REINO
UNIDO NO CONFLITO
DAS MALVINAS
fm*)
sJasaBMmmi
''vw
ROBERTO AGNESE FAYAD
Capitão-de-Corveta
INTRODUÇÃO
Ao tentarmos abordar o assunto
mobilização, percebemos que em
muitos países encontra-se uma ten-
dência pacifista, provavelmente
oriunda da ausência de guerras
próximas ou do equilíbrio estabele-
cido pela dissuasão nuclear exerci-
da pelas superpotências.
Tal situação enganosa, no entan-
to, não tem sido confirmada nos úl-
timos anos, em todas as partes do
mundo, onde diversos conflitos
ocorreram e vêm ocorrendo sem os
longos períodos de tensão política
prévios, sem mesmo ter havido de-
claração formal de guerra entre os
contendores.
Como conseqüência, os prazos de
mobilização são muito curtos e
tem-se observado o fato óbvio de
que aquelas nações que se prepa-
ram desde o tempo de paz conse-
guem lograr a vitória, a despeito de
todos os óbices circunstanciais.
Sendo assim, tornou-se da maior
112
relevância para o lado inglês a fa-
se do preparo da mobilização, que,
convenientemente elaborada, pos-
sibilitou uma fase de execução con-
siderada surpreendente pelo mun-
do inteiro e até mesmo sem para-
leio na história militar, consideran-
do as distâncias e prazos envolvidos.
INSTRUMENTOS LEGAIS DA
MOBILIZAÇÃO DA MARINHA
MERCANTE INGLESA
Considerando o aspecto da ins-
trumentação legal para a mobiliza-
ção, cabe-nos ressaltar que a expe-
riência inglesa de guerra já tem
despertado naquele povo uma ne-
cessidade de preparação contínua.
Assim, temos, como exemplo, a
criação, em 1924, no Reino Unido,
do Principal Supply Officers Com-
mittee, que coordenava as provi-
dências para suprimentos de guer-
ra das três forças singulares para
evitar os atrasos ocorridos em 1914,
com a finalidade de assegurar a uti-
lização das indústrias britânicas
com a maior eficiência durante
uma emergência.
Assim é que, dois dias após a in-
vasão argentina nas Malvinas, foi
aprovado pela Rainha Elizabeth II,
no Castelo de Windsor, o Requisi-
tion of Ships Order 1982, a regula-
mentação de emergência que se fa-
zia necessária para a ocasião.
Os poderes que a Rainha outor-
gou através dessa regulamentação
ao Governo remontam a 1189, quan-
do foram usados pela primeira vez
por Ricardo I, para a Terceira Cru-
zada.
Tal ordem permitia que todo se-
cretário de Estado inglês pudesse
requisitar para o serviço de Sua
Majestade qualquer navio britâni-
co, assim como tudo a bordo desse
navio, onde quer que ele estivesse.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Estipulava também que o proprie-
tário do navio requisitado deveria
receber uma indenização pelo uso
durante o seu emprego no serviço
de Sua Majestade, bem como uma
compensação por qualquer dano,
ao navio ou â carga, ocasionado por
aquele emprego.
Como exemplo da indenização ci-
tada anteriormente, podemos lem-
brar que a taxa diária paga pelo Mi-
nistério da Defesa britânico para a
utilização do Transatlântico Queen
Elizabeth II foi de US$ 225.000; pa-
ra o Navio-Hospital Uganda e o
Transatlântico Canberra, US$
175.000, separadamente.
Sem dúvida, aquele instrumen-
to legal era necessário, tendo em
vista que muitos proprietários,
mesmo que quisessem voluntaria-
mente ceder seus navios, estariam
sujeitos às ações legais por parte de
seus contratantes, cujos afreta-
mentos estavam vigendo.
Ainda no que concerne aos valo-
res assegurados dos navios, onde o
Governo assumia total responsabi-
lidade pelas perdas, é interessante
notar que serviu de base às nego-
ciações com os proprietários o Ato
de Compensação, promulgado em
1939 pelo Governo inglês.
A regulamentação de emergên-
cia permitiu que mais de 50 navios
fossem requisitados em poucas se-
manas para apoiar a Marinha Real
na retomada das Malvinas.
SELEÇÃO DE MERCANTES
Ao se iniciar o trabalho de sele-
ção dos mercantes, pensou-se em
utilizá-los apenas em áreas calmas,
à retaguarda das forças navais, fo-
ra de zonas de perigos.
A primeira necessidade urgente
foi o transporte da Terceira Briga-
da de Comando, reforçada pelos Se-
A MOBILIZAÇÃO DO REINO UNIDO. 113
gundo e Terceiro Batalhões do Re-gimento de Pára-Quedistas.
Embora se dispusesse do HMSHermes, que poderia transportartoda essa tropa, não se poderia con-tar com ele, já que toda sua capa-cidade estava destinada ao trans-Porte de aeronaves. Devido ao gran-de número de tropas a ser transpor-tado, a escolha recaiu sobre o Can-berra, transatlântico de 44.800 tone-ladas, adequado para operar numaarea excepcionalmente conturbadaPelo tempo.
Obviamente, num teatro 8.000milhas distantes, onde o apoio lo-<?ístico de reabastecimento a partirde bases fixas era praticamentemexistente, devido a problemas po-líticos, evidenciou-se a necessida-de de navios-tanques para supri-mento de óleo diesel, óleo combus-tível e toda uma gama de óleos ne-cessários aos navios de diversos ti-Pos na área.
Muitos problemas surgiram naSeleção de navios, visto que váriosdeles, embora capazes de executardeterminadas tarefas, tais como osferry do Canal da Mancha, que po-dem transportar veículos e mesmotr°pa, não poderiam ser emprega-dos no Atlântico Sul, por falta de re-sistência estrutural.
Como critério básico na seleçãodos navios mercantes, foram obser-vados os seus raios de ação, suas re-Slstências estruturais e suasestabilídades.
No processo de seleção dos mer-cantes, existiam os planos de usodos navios roll-on-roll-off para re-f°rço da OTAN na Noruega, assimcomo de navios-tanques para abas-ecer mercantes fundeados e pe-P_uenos navios na manutenção deauxílios à navegação ou como var-redores e mineiros.Porém, o teatro das Malvinas exi-
gia navios com enorme resistênciaestrutural e grande estabilidade.
Há que se notar o preparo da mo-bilização da Inglaterra, bem elabo-rado pela constatação de que os na-vios ingleses tinham suas caracte-rísticas perfeitamente registradasno Departamento de Comércio eque os exercícios, executados emapoio à OTAN, propiciaram uma es-treita ligação entre aquele Departa-mento e o Ministério da Defesa.
Tal era a preparação que, no pró-prio dia da invasão das Malvinaspelos argentinos, as reuniões sobrea retirada dos mercantes do tráfe-go tiveram início no Ministério daDefesa. A seleção dos navios paraos diversos fins a que se destinavamfoi feita baseando-se nos registrosdo Departamento de Comércio, on-de o conselheiro de fretes do mer-cado exerceu papel vital na identi-ficação dos navios adequados.
O processo de inspeção e vistoriados navios foi bastante exaustivo efoi realizado desde a Europa oci-dental até o Oceano Índico; as equi-pes visitavam os navios e enviavamseus relatórios por telefone para oDepartamento de Navios, em Bath,onde as decisões eram tomadascom auxílio de computadores paraverificação das possibilidades deadaptação quanto à estabilidade eoutros requisitos.
Para se ter uma idéia da rapidezdo trabalho, mencionamos o fato deque o navio Porta-Container Astro-nomer, de 27.800 toneladas, foi ins-pecionado em menos de três horase teve seu projeto de alteração exe-cutado a bordo do próprio navio, en-quanto se dirigia ao estaleiro deDevonport.
ADAPTAÇÃO DOS MERCANTES
No processo de adaptação dos
114
mercantes, inúmeras foram as ne-
cessidades. Teceremos alguns co-
mentários sobre as mais importan-
tes.
Inicialmente houve a colocação
de conveses de vôo para helicópte-
ros, onde 17 navios receberam esta
adaptação, com capacidade que va-
riavam desde a possibilidade de
pouso de um helicóptero Wasp até
um Chinook de 46.000 libras de pe-
so. Os transatlânticos Canberra e
Uganda foram os primeiros a rece-
ber os conveses de vôo, aproveitan-
do-se os espaços disponíveis, inclu-
sive aqueles das piscinas, onde a re-
sistência estrutural dos navios já
era adequada a suportar o peso de
até cem toneladas d'água.
A modificação mais notável foi,
sem dúvida, a dos porta-containers
e navios roll-on-roll-off, que aqui po-
deriam ser classificados como na-
vios de carga geral, em transpor-
tadores de aeronaves. A necessida-
de de se prover maior número de
aeronaves e uma possibilidade de
recompletamento no teatro de ope-
rações determinaram a utilização
de tais navios transformados. O pri-
meiro navio a ser adaptado foi o
Atlantic Conveyor, que transportou
helicópteros e aeronaves para a
área de operações. Utilizaram-se
containers comerciais para prote-
ção das aeronaves. Uma aeronave
Sea Harrier foi mantida em alerta
para defesa. Pouco antes de ser
atingido, o Atlantic Conveyor con-
seguiu decolar todos os seus Har-
rier e dois helicópteros, muito em-
bora não tenha sido provido com ra-
dares e equipamentos de comuni-
cações apropriados. O Atlantic
Causeway, o Contender Bezant e o
Astronomer também foram adap-
tados como transportadores de ae-
ronaves, com hangares completa-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mente cobertos e oficinas de manu-
tenção.
No campo das comunicações
houve várias adaptações no que
concerne ao uso de satélites, do sis-
tema, Marisat, como também ao
uso da faixa de UHF para comuni-
cações locais com os navios da Ma-
rinha inglesa. Houve também ne-
cessidade de se instalar sistemas
de navegação por satélite em vários
mercantes.
Em face do longo tempo de per-
manência no mar desses mercan-
tes, foi necessário adaptá-los com
grupos destilatórios extras. Nesse
caso, foi utilizado um sistema que
na época ainda estava em estudo
pela Marinha da Inglaterra, mas
que, pela premência de tempo, foi
aprovado e instalado em quase to-
dos os navios.
No que concerne ao reabasteci-
mento no mar, todos os mercantes
foram rapidamente adaptados com
as conexões necessárias, sem qual-
quer dificuldade.
No Anexo A é mostrado um qua-
dro com um sumário dos navios
mercantes retirados do tráfego, e
no Anexo B pode ser vista uma lis-
ta na ordem cronológica de suas
adaptações, bem como seus pro-
prietários e seus locais de transfor-
mação.
Cabe-nos agora citar alguns
exemplos significativos de adapta-
ções para melhor compreensão do
problema enfrentado pelos ingle-
ses.
O Transatlântico Canberra, de
44.800 toneladas, construído em
1961 e capaz de desenvolver 27 nós,
foi requisitado como navio-trans-
porte de tropas e de assalto no dia
4 de abril e atracou em Southamp-
ton no dia 7 do mesmo mês; nele fo-
ram feitas adaptações de dois con-
veses de vôo para helicópteros, de
A MOBILIZAÇÃO DO REINO UNIDO...
equipamentos para reabasteci-
ttiento no mar e de um pequeno hos-
Pitai. No dia 9 de abril, já estava na-
vegando rumo ao sul, transportan-
do 2.400 homens. Alguns outros
Mercantes, utilizados como trans-
Porte de tropas e navios de assalto,
Podem ser citados, como o Elk e o
Norland. ONorland, de 12.900 tone-
ladas, também foi adaptado com
conveses de vôo para helicópteros,
equipamentos de comunicações e
de navegação por satélite e com
grupos destilatórios extras. O Eu-
ropic Ferry, de 4.200 toneladas, o
Baltic Ferry, de 6.400 toneladas, e
o Nordic Ferry, de mesma tonela-
gem, foram também adaptados
com conveses de vôo para helicóp-
teros, com equipamentos para rea-
bastecimento no mar e com equipa-
bentos de comunicações e navega-
Ção por satélite. Todos estes navios
acima citados efetivamente toma-
ram parte do assalto na Baía de São
Carlos.
Adaptação marcante também,
no que concerne a navios de trans-
Porte de tropas, foi a do Transatlân-tico
Queen Elizabeth II, de 67.140 to-
neladas, capaz de desenvolver 28
nos de velocidade. Além dos conve-ses de helicópteros, do equipamen-to de reabastecimento no mar, suasacomodações
foram aumentadas
Para alojar 3.150 homens. As tropas
que conduziu foram transferidas
Para o Canberra e o Norland e, pos-teriormente,
transportou de volta ànglaterra
os setecentos sobrevi-
Yfntes dos HMS Antelope, Ardent e^oventry;
Ao todo, foram nove mercantesutilizados
como transporte de tro-
Pas e navios de assalto.No que diz respeito à adaptação
os mercantes em transportadorese aeronaves, o exemplo mais mar-
cante é o do Atlantic Convenyor, tal-
115
vez por ter sido o primeiro da série
e cuja adaptação em Devonport ter
sido feita em apenas nove dias. Es-
te navio, de 14.900 toneladas, teve
seus conveses superiores modifica-
dos de modo a se retirar todas as
obstruções para usá-los como con-
veses de vôo.
Foram instaladas oficinas de re-
paro de aeronaves, assim como sis-
temas de tanques de combustível
para aeronaves e de oxigênio líqui-
do para os pilotos dos Harriers. O
sistema da rede de incêndio tam-
bém foi modificado. As adaptações
usuais de equipamentos de comu-
nicações é de reabastecimento no
mar também foram feitas. O traba-
lho foi todo executado na Base Na-
vai de Devonport. Trabalho seme-
lhante foi executado nos Mercantes
Atlantic Causeway, Contender Be-
zant e no Astronomer, sendo que
neste último foram colocados dois
canhões de 20mm antiaéreos, dois
lançadores de janelas e um despis-
tador contra ataques torpédicos.
No que concerne aos navios-
tanques, o primeiro a ser adaptado
foi o British Esk, de 29.900 tonela-
das. Foi adaptado com equipamen-
tos de reabastecimento no mar tan-
to para o método de través quan-
to para o de popa. Além deste, hou-
ve a adaptação de 14 outros navios-
tanques.
Quanto aos navios utilizados co-
mo navios-oficina, podemos citar o
navio de apoio de plataformas Ste-
na Seaspread, de 6.000 toneladas e
que foi adaptado com a instalação
de máquinas, paióis para sobressa-
lentes e equipamentos de comuni-
cações. Fbi estacionado numa área
a leste das Malvinas para executar
reparos nos navios atingidos na ba-
talha. Outro exemplo, na mesma
classe, é o Stena Inspector, de 5.800
116
toneladas, também um navio de
apoio de plataformas.
Na utilização como navios de
apoio logístico, tivemos seis navios
de carga geral empregados, tal co-
mo o Lycaon, de 11.800 toneladas,
que recebeu equipamentos de rea-
bastecimento no mar, de comunica-
ções e foi carregado de munição e
gêneros. Alguns deles transporta-
ram mísseis, veículos e garagens
de manutenção de veículos.
Alguns pesqueiros de alto-mar,
de deslocamentos entre 1.200 e 1.500
toneladas, foram utilizados como
navios-varredores ou caça-minas.
Receberam esses navios os equipa-
mentos de varredura de acordo
com planos preexistentes. Foram
eles o Pict, o Fornella, o Junella, o
Northella e o Cor delia.
Alguns rebocadores de alto-mar
também foram adaptados com equi-
pamentos de salvamento e de rebo-
que, tais como o Salvageman, de
1.500 toneladas, o Irishman e o
Yorkshireman, de 680 toneladas.
Como navio-hospital, tivemos a
adaptação do Transatlântico Ugan-
da, de 16.900 toneladas, que foi
adaptado em Gibraltar em apenas
65 horas, com a instalação de con-
vés de vôo para helicópteros, equi-
pamentos para hospital, comunica-
ções e reabastecimento no mar.
Utilizou-se também um navio de
apoio de plataformas, o Wimpey
Seahorse, como lançador de amar-
ras nos portos das Ilhas Geórgias
do Sul e Malvinas, o que era neces-
sário devido aos fortes ventos da
região.
ACERTOS
Não poderíamos iniciar este
item sem mencionar que a mobili-
zação de uma Marinha só é plausí-
vel naqueles países que dispõem de
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
uma infra-estrutura de estaleiros,
portos, diques, carreiras e oficinas
especializadas, além de tecnologia
e do conhecimento na área de cons-
tração naval, numa escala que pos-
sa atender à demanda de uma
guerra. E isto foi o que aconteceu
na Guerra das Malvinas, no que diz
respeito à Inglaterra. Considera-
mos este o principal e fundamental
acerto, a partir do qual todos os de-
mais foram conseqüências.
Na Marinha inglesa, bastante
profissionalizada, vamos encontrar
um segundo acerto fundamental,
que foi a pronta disponibilidade de
material militar, a partir de uma
formação de estoques consciente e
previdente. Não houve, a não ser
em raros casos, necessidade de se
recorrer aos fornecedores para a
obtenção dos itens estruturais prin-
cipais para as adaptações dos mer-
cantes.
Um outro acerto de relevância
foi a disponibilidade de vários pia-
nos de adaptações prontos, permi-
tindo a conversão rápida dos mer-
cantes para emprego militar. As-
sim, podemos citar os planos dos
Navios-Tanques British Tamar e
British Esk, previstos para utilizá-
los como abastecedores de escol-
tas, muito antes do conflito. Pode-
mos também mencionar os planos
de adaptações dos pesqueiros para
navios-varredores e caça-minas
previamente existentes, o que pos-
sibilitou um período médio de nove
dias para a conversão, sendo que
em um deles esse período foi de
apenas quatro dias. Para os navios-
tanques, houve casos de apenas um
dia de duração na transformação.
Como acerto também considera-
mos toda uma tradição de leis e
atos, ao longo da história da Ingla-
terra, que possibilitou, num mo-
mento de extrema urgência, a edi-
a Mobilização do reino unido...
Ção de uma regulamentação apro-
Priada para a ocasião, sem grandesdelongas
parlamentares, embasa-
da numa autoridade emanada da
Rainha Elizabeth II.
Não podemos também omitir
aqui o controle perfeito das carac-
turísticas dos mercantes ingleses,
existente no Departamento de Co-
mércio, e seu estreito relaciona-
mento com o Ministério da Defesa,
0 que possibilitou que as reuniões,conforme
mencionado anterior-
^ente, tivessem início no própriodia da invasão das Malvinas.
ERROS
Ao contemplarmos o estrondosoSucesso
da campanha inglesa, po-daríamos
pensar que não houve er-rÇs no aspecto da mobilização; po-rem.
como em toda empreitada hu-mana, houve alguns erros que a se-
Suir mencionamos.
Na adaptação dos navios, inicial-mente,
os ingleses pensaram utili-zar apenas os estaleiros civis e que® es
Poderiam fazer a maior parte°s trabalhos necessários. No en-anto, logo perceberam que o volu-
1116 de trabalho e sua sofisticaçãoexigiriam
o concurso de todos os es-aleiros
militares.
Nas primeiras adaptações, devi-
° à premência de tempo, os navios
pegavam aos estaleiros com ins-
/uções muito genéricas; o que re-
.ou na elaboração de listas de su-Pimentos
de itens muito extensas,
£urnas até improvisadas. Istocasionou
congestionamento des-es itens nos estaleiros. SomenteP°s as primeiras modificações é
jUe houve uma racionalização de
etodos.
Na análise deste tópico, verifica-0s também
que foram poucos osercantes
adaptados com siste-
117
mas de defesa antiaérea. A insta-
lação de canhões de defesa de pon-
to, tais como o Oerlikon de 20mm,
foi feita em apenas alguns navios,
como o Rangatira, o Astronomer e
o Strathewe.
REFLEXOS DA MOBILIZAÇÃO
NOS SISTEMAS DE ARMAS
Conforme mencionamos ante-
riormente, a defesa de ponto an-
tiaérea dos mercantes requisita-
dos, devido à premência de tempo
das modificações, não foi muito
considerada pelos projetistas. Mas
a guerra é uma indesejável mestra,
e o afundamento do Atlantic Conve-
yor, que era a maior conquista em
termos de seleção e adaptação, co-
locou várias indagações e respon-
sabilidades no Governo inglês
quanto à mobilização dos mercan-
tes.
Primeiramente, pouco foi permi-
tido fazer para minorar aquela de-
ficiência nas adaptações, mas as
indagações lançadas ao Ministério
da Defesa foram prontamente aten-
didas pela indústria britânica.
Inúmeros sistemas de defesa an-
tiaérea foram projetados e apre-
sentados pelas indústrias, alguns
dos quais citaremos.
A empresa British Manufacture
Research Company, membro do
grupo Oerlikon-Buehrle, apresen-
tou o canhão de 20mm e o de 30mm,
sendo que o primeiro foi aquele an-
teriormente instalado no Rangati-
ra, no Astronomer e no Strathewe.
As empresas British Aerospace,
Plessey e Fairey Engineering de-
senvolveram o projeto denominado
SCADS (acrônimo de shipborne
Containerised Air Defense System),
que consiste num sistema que pos-
sibilita aeronaves Harrier ou heli-
cópteros operarem em um navio
118 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mercante e prove sua autodefesacom mísseis e janelas. Todo o equi-pamento para operação e manuten-ção das aeronaves, tais como rada-res de busca e controle e comunica-ções, é provido em unidades de con-tainers. O equipamento de apoio étambém provido em containers, asaber, os dispositivos para abaste-cimento, geradores de energia elé-trica e material de combate a in-cêndio. Este projeto é uma evolu-ção do Projeto Arapaho, desenvol-vido pelas Marinhas britânicas eamericana, no qual helicópterosanti-submarino poderiam operarde conveses de vôo instalados emum navio porta-containers. Somen-te para se ter uma idéia da impor-tância do SCADS, o navio que estásendo construído para substituiçãodo Atlantic Conveyor será dotadodeste sistema.
No que diz respeito ao armamen-to propriamente dito, a empresaBritish Aerospace apresentou seustrês sistemas principais de mísseisem containers: o Seadart, o Sea-wolfe olkara.
Não restam dúvidas quanto àviabilidade desses projetos, princi-palmente no que concerne a custos.Pelos primeiros estudos realizadosnas indústrias inglesas, foi verifica-do que um navio mercante poderiaser armado por menos de um terçodo custo de um navio de guerra queprovesse a mesma potência de fo-go. Além do mais, advogam aque-las indústrias, com base na Histó-ria, que os navios mercantes estàoespalhados pelo mundo e, numa eclo-são de conflito, são alvos fáceis deoportunidade; caso estes sistemasde defesa estivessem instalados, se-riam um fator de deterrência;acresça-se a isto tudo a dispensa de
escoltas, que, de outra maneira, se-riam necessários, possibilitandocom isto uma melhor operaciona-lidade dos mesmos em outras tare-fas.
Além destes, podemos citar oSistema Matilda, que prove alarmeautomático contra mísseis em fasede ataque, indicando o setor de ata-que em menos de um segundo apósseus radares adquirirem o alvo edisparando janelas automática-mente, nâo requerendo, sequer, umoperador treinado, já que é todo au-tomático e pode ser instalado emqualquer tipo de navio.
LIÇÕES PARA O BRASIL
Não é demais ressaltar, ao ini-ciarmos este tópico, que o PoderNaval é aquele que se apresenta co-mo o mais difícil de ser mobilizado,já que seu elemento principal, o na-vio, demanda longos prazos deobtenção.
De acordo com as Diretrizes Ge-rais de Política Marítima Nacio-nal, aprovadas pelo Presidente daRepública em 14 de março de 1983,são bem claras, entre suas açõesestratégicas, aquelas referentes àmobilização: "contribuir para oplanejamento da mobilização ma-ri tima; estabelecer normas a se-rem cumpridas em tempo de paz,para a construção de navios mer-cantes selecionados, adequados auma rápida mobilização" (5:117).
Tendo em vista que o Presidén-te da República, para a consecuçãoda Política Marítima Nacional, éassessorado pela Comissão Maríti-ma Nacional, composta de repre-sentantes de vários ministérios ecuja presidência pertence ao Minis-tério da Marinha, verificamos a im-portância de nossa Força Singularno que concerne á mobilização.
A mobilização do reino unido. 119
O instrumento normativo de exe-
cução da mobilização na Marinha
estabelece as atribuições de cada
componente da estrutura organiza-
cional do Ministério da Marinha.
acordo com aquele documento,de concepção sistemática, são en-
feixados quatro subsistemas —
pes-soai, material, serviços e ativida-des marítimas. Cada um destessubsistemas
tem tarefas tais comoa determinação de necessidades, oestabelecimento
de prioridades, aidentificação
de carências e o pia-nejamento
do preparo e execuçãoda mobilização, assim como a des-
Mobilização.
Existem quatro níveis de plane-
Jamento e execução da mobiliza-
Ção, desde o Estado-Maior da Ar-
Mada até os Órgãos Regionais deExecução.
Os órgãos operativossão clientes desse sistema, utilizan-do os recursos mobilizados.
A despeito de toda esta instru-tentação
legal na Marinha, háMuito
que se fazer no sentido deuorrnatização
e controle do assun-o Mobilização.
Há necessidade da existência desetores
específicos dentro das
jJiretorias-Gerais e das Diretorias
specializadas, devidamente lota-
dos de pessoal qualificado técnica-Mente,
tendo em vista a grandeProfundidade
do trabalho a reali-2ar, sua continuidade e sua abran-§encia sistêmica.
Embora haja atribuições diver-®^s
para os órgãos do Ministério daarinha,
há necessidade de defini-voes mais claras e precisas, princi-Pai mente de controle da ação pia-ejada;
há que existir uma eficien-® troca de informações e entendi-
entos horizontais entre os diver-
°s setores, a fim de que se consigaM cadastramento
geral para aten-lrnento
de todas as necessidades
da Marinha. Na era da informáti-
ca, não nos parece muito difícil a
implementação de tal sistema, a
partir dos dados atualmente dispo-
níveis nos diversos setores do siste-
ma, a fim de se agilizar a fase do
preparo, que é vital para se poder
chegar à fase da execução, caso
necessário.
No caso da mobilização dos mer-
cantes exemplificados pelo episó-
dio das Malvinas, as lições para o
Brasil se tornam evidentes. Temos
hoje uma Marinha Mercante pon-
derável, com quase dez milhões de
toneladas, com os mais diversos ti-
pos de navios, cuja seleção e adap-
tação para a mobilização seria per-
feitamente possível, conforme ten-
taremos mostrar.
Nossa frota mercante é relativa-
mente jovem e veloz, com grande
número de navios cargueiros, po-
dendo desenvolver 21 nós de veloci-
dade de cruzeiro. A seleção desses
navios, feita pelo Estado-Maior da
Armada, assessorado pelo Coman-
do de Operações Navais, se efetua-
ria naturalmente em face das hipó-
teses de guerra e das necessidades
combatentes, observados vários
pré-requisitos nos mercantes, tais
como: para os navios-tanques, a
tancagem, a velocidade de cruzei-
ro e as facilidades de transferência
de óleo; para os navios-transporte
de tropa ou carga, a capacidade pa-
ra viaturas, pessoal e carga, bem
como aparelhos de carga, raio de
ação e velocidade; para os navios
de desembarque de carros de com-
bate, a capacidade de helicópteros,
a capacidade de porões, a velocida-
de de cruzeiro e o raio de ação; pa-
ra os navios de apoio logístico, a dis-
ponibilidade de espaços, a existên-
cia de paióis ventilados, a velocida-
de de cruzeiro e raio de ação; para
os navios-hospital, a capacidade de
120
transporte de pessoal e facilidades
de pouso de helicópteros e enferma-
ria, assim como o raio de ação.
Após esta primeira catalogação,
surgiria a necessidade de adapta-
ções a serem planejadas, como a
necessidade de acomodações, faci-
lidades para reabastecimento no
mar, conveses de vôo para helicóp-
teros. Esse planejamento ficaria,
obviamente, afeto à Diretoria-
Geral do Material da Marinha,
através da Diretoria de Engenharia
Naval.
No caso da construção de novos
mercantes, a Marinha, através da
Diretoria de Portos e Costas, esta-
beleceria os requisitos necessários
ã futura mobilização, tais como:
prevenção contra incêndio, acomo-
dações, estabilidade, salvamento e
outros previstos no Regulamento do
Tráfego Marítimo. Estes requisitos
deveriam ser bem semelhantes
àqueles exigidos pela Diretoria de
Engenharia Naval, para que as mo-
dificações futuras não fossem mui-
to grandes nem dispendiosas.
Neste ponto surge logo a indaga-
ção sobre a cobertura financeira
para a execução dos projetos dos
mercantes, assim delineados. Ob-
viamente que o Estado teria que
custear, pois qualquer requisição
seria feita em nome do Estado, sen-
do a Marinha apenas uma institui-
ção para a sua defesa.
A Marinha, pelas Diretrizes Ge-
rais da Política Marítima Nacio-
nal, tem que estabelecer estas nor-
mas para a construção de navios
mercantes selecionados e adequa-
dos à mobilização.
No que tange à legislação, no
nosso entender, ainda dentro das
Diretrizes Gerais da Política Marí-
tima Nacional, cabe à Marinha"propor
a atualização, o aprimora-
mento e a harmonização da legis-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
lação pertinente, ajustando-a aos
interesses do desenvolvimento e da
segurança do País" (5:115).
E é neste sentido que temos mui-
to a fazer, pois é necessário que a i
legislação brasileira defina em que
condições se dará a requisição dos
meios da Marinha Mercante, como
ocorrerão as indenizações e segu-
ros aos armadores, assim como se
fará o custeio pelo Estado dos
acréscimos referentes ao atendi-
mento dos requisitos para navios
em construção. Outro ponto impor-
tante a definir diz respeito aos de-
veres e direitos das tripulações ci-
vis, quando convocadas como Re-
serva da Marinha. Para este último
item, a 2? Conferência de Paz de
Haia estabelece que um navio mer-
cante adaptado ficará sob a autori-
dade direta do Estado a que perten-
cer, sua tripulação estará sujeita à
disciplina militar e será incluído na
lista de navios de guerra daquele
Estado.
No caso brasileiro, cremos ser
perfeitamente possível a elabora-
ção de uma legislação que norma-
tize a tripulação civil dos mercan-
tes mobilizados na condição de
militares.
Uma das grandes lições advin-
das do episódio das Malvinas, que
se aplica perfeitamente ao Progra-
ma de Reaparelhamento de Meios,
é a de que, devido à escassez de re-
cursos do orçamento da Marinha,
poderemos concentrá-los na cons-
trução de navios combatentes ape-
nas. Aos mercantes mobilizados,
como complementares ao Poder
Naval, ficariam as tarefas dos
navios-auxiliares, tais como os
navios-tanques, navios de apoio lo-
gístico, navios-transporte de tropas
e de carga e navios-hospital.
Consideramos ser esta uma das
maiores lições que nossa Marinha
A MOBILIZAÇÃO DO REINO UNIDO. 121
deveria absorver, principalmenteno
que concerne à nossa capacida-
de anfíbia, que é insuficiente paratransporte de nosso Corpo de Fuzi-
leiros Navais e que terá de ser com-
Plementada pela mobilização dos
Mercantes.
Portanto, corramos contra o
tempo já perdido, porém partindo
de bases sólidas, representadas pe-
la experiência daquela que até o
início de nosso século foi a maior
Marinha do mundo e, até hoje, é
uma das mais profissionalizadas.
ANEXO A
NAVIOS MERCANTES RETIRADOS DO TRÁFEGO
TRANSATLÂNTICOS
SS Canberra
RMS Queen Elizabeth II
SS Uganda
NAVIOS-TANQUES
MV Alvega
MV Anco Charger
MV Balder London
MV British Avon
MV British Dart
MV British EskMV British Tamar
MV British Tay
MV British Te st
MV British TrentMV British WyeMV Fort TorontoMV G.A. WalkerMV Scottish EagleMV Shell Eburna
ROLL-ON/ROLL-OFF
(CARGA GERAL)
Atlantic Causeway*s Atlantic ConveyorMV Baltic FerryMV Contender BezantMV Elk
MV Europic Ferry
NAVIO PORTA-CONTAINERS
MV Astronomer
NAVIOS MISTOS
MV Norland
TEV Rangatira
MV Saint Edmund
RMS Saint Helena
NAVIOS DE CARGA GERAL
MV Avelona Star
MV Geestport
MV Laertes
MV Lycaon
MV Saxonia
MV Strathewe
NAVIOS DE APOIO OFFSHORE
MV British Enterprise III
MV Stena Inspector
MV Stena Seaspread
MV Wimpey Sea Horse
REBOCADORES
MT Irishman
MT Salvageman
MT Yorkshireman
122 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
MV Nordic Ferry PESQUEIROS DE ALTO-MAR
MV Tor Caledonia
MV Cordelia
NAVIO LANQADOR DE CABO MV Farnella
MV Junella
SUBMARINO MV Northella
MV Pict
CS Iris
ANEXO B
SUMÁRIOS DE NAVIOS MERCANTES
EM ORDEM CRONOLÓGICA DE MODIFICAÇÕES
N A V10 PROPRIETARIO DATA DA PERI°D0 DA LOCAL
RETIRADA MODIFICAQAO
Elk P & 4 Abril 6- 9 Abril Southampton
Canberra P & 4 Abril 7- 9 Abril Southampton
British Esk BP 5 Abril 7-11 Abril Portland
British Tay BP 5 Abril 7-11 Abril Devonport
Salvageman United Towing 6 Abril 8-10 Abril Portsmouth
Irishman United Towing 7 Abril 8-10 Abril Portsmouth
British Tamar BP 7 Abril 9-10 Abril Portsmouth
British Dart BP 9 Abril 9-11 Abril Portsmouth
British Test BP 9 Abril 9-11 Abril Portsmouth
Fort Toronto Canadian Pacific 10 Abril 10-19 Abril Southampton
British Trent BP
12 Abril 12-13 Abril Portsmouth
Yorkshireman United Towing 7 Abril 12-13 Abril Portsmouth
Stena Stena 10 Abril 12-18 Abril Portsmouth
Seaspread
Northella J. Marr 11 Abril 13-24 Abril Rosyth
Farnella J. Marr 11 Abril 15-24 Abril Rosyth
Junella J. Marr 11 Abril 15-24 Abril Rosyth
Cordelia J. Marr 11 Abril 16-24 Abril Rosyth
Uganda P & 10 Abril 16-19 Abril Gibraltar
Atlantic Cunard 14 Abril 16-25 Abril Devonport
Conveyor
G. A. Walker Canadian Pacific 16 Abril nao modificado
em dguas —
inglesas
Europic Ferry Townsend Thoresen 19 Abril 19-22 Abril Southampton
British Wye BP 19 Abril 19-21 Abril Portsmouth
Eburna Shell 13 Abril 19-20 Abril Devonport
Anco Charger P & 18 Abril 20-22 Abril Portsmouth
A MOBILIZAÇÃO DO REINO UNIDO... 123
Pict United Trawlers 16 Abril 20-24 Abril Rosyth
British Avon BP 20 Abril 21-22 Abril Portsmouth
Norland P & 17 Abril 22-25 Abril Portsmouth
Iris British 24 Abril 26-29 Abril Devonport
Lycaon Ocean Transport 16 Abril 27 de Abril Southampton
& Traiding a 4 de Maio
Saxonia Cunard 28 Abril 30 de Abril Portsmouth
a 8 de maio
Alvega Finance for 28 Abril 1- 5 Maio Portsmouth
Shipping
Baltic Ferry Townsend Thoresen 2 Maio 3- 9 Maio Portsmouth
Nordic Ferry Townsend Thoresen 3 Maio 4- 9 Maio Portsmouth
Queen Eliza- Cunard 4 Maio 4-12 Maio Southampton
beth II
Wimpey Sea- Wimpey Marine 4 Maio 5-13 Maio Rosyth
horse
Atlantic Cau- Cunard 4 Maio 6-14 Maio Devonport
seway
Balder London Parley Augusstson 6 Maio 7-10 Maio Portsmouth
Geestport Geest Line 6 Maio 9-20 Maio Portsmouth
St. Edmund Sealink 12 Maio 13-19 Maio Devonport
Scottish Eagle King Line 26 Abril 15-18 Maio Portsmouth
Contender Sea Containers 10 Maio 15-19 Maio Devonport
Bezant
Tbr Caledonia Whitwill Cole 14 Maio 16-20 Maio Southampton
Rangatira Union Steam 15 Maio 24 de Maio Devonport
a 11 Junho
St. Helena Curnow Shipping 22 Maio 24 de Maio Portsmouth
a 9 Junho
Laertes Ocean Transport 28 Maio 29 de Maio Devonport
& Trading a 8 Junho
Astronomer T & J Harrison 20 Maio 31 de Maio Devonport
a 7 Junho
Avelona Star Blue Star 28 Maio 31 de Maio Portsmouth
a 10 Junho
Stena Inspector Stena 25 Maio 1- 6 Junho Charleston
Navy Yard
Strathewe P & 3 Junho 17-28 Junho Southampton
124 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
BIBLIOGRAFIA
1. BOWLER.John Francis. Shipborne Containerised Air Defense System. S.I., British Ae-
rospace, s.d.
2. BRASIL. Estado-Maior da Armada. Política básica da Marinha. Brasília, 1983. Reservado.
3. BRASIL. Estado-Maior da Armada. Sistema de Mobilização Marítima (SIMOMAR), 1976.
Reservado.
4. FORTUNA, Hernani Goulart. A política marítima e a mobilização do poder marítimo.
Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 103. (7/9): 87-118, jul./set. 1983.
5. GRÃ-BRETANHA. Her Majesty's Stationery Office. The Falklands campaign: the les-
sons. s.n.t.
6. JEREMIAH, John Brian. Containerised naval weapon systems for merchant ships. s.l.,
British Aerospace, s.d.
7. PRESTON, Antony. Sea combat of the Falklands. London, Collins, 1982.
8. RANKING, R.B., Close range naval anti-aircraft guns. S. 1., British Manufacture and
Research, s.d.
9. Simpósio UMA POLÍTICA PARA O MAR (1983: Rio de Janeiro). Uma política para o
mar, realizado de 8-19 ago. 1983. Rio de Janeiro, EGN, 1983.
10. VILLAR, Roger. Merchant ships aí war. Annapolis, Naval Institute Press, 1984.
Eficiência, agilidade,
competência, seriedade.
Valores que o Banco Safra
guarda com segurança
há muitos anos.
^ Banco Safra SA
Tradição Secular de Segurança
UMA VIAGEM DE FORMAÇÃODE HOMENS DO MAR
*t^ ''**#
LUIZ FERNANDO PALMER FONSECACapitão-de-Corveta
UM GRANDE SUSTO
Acenderam a luz, da cabine domeio, na minha cara. Lá dormia-mos eu e mais três guardas-mari-nha do meu quarto de serviço. Açor-dei assustado, quando, a um só tem-po, percebi que havíamos mudadode rumo, pois o balanço e a aderna-gem do barco mudaram sensível-mente; que um guarda-marinhaprocurava desesperadamente algu-ma coisa no cafofo (pequenos ar-mários) dos ternos; e que havia vo-zes dando ordens no convés.
O que houve? — perguntei.Partiu o brandal! — respon-
deu o guarda-marinha.Imeditamente nos gritaram
lá de cima:Postos de emergência! Todos
para cima!Todos do 2? quarto de serviço (eu
e mais oito guardas-marinha subi-mos vestidos como estávamos, pe-las gaiútas de meia-nau e popa.
Os segundos que levei do meu be-
126 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
liche ao convés nunca mais vou es-
quecer. Estávamos a 200 milhas de
Lisboa, na regata Newport (EUA)-
Lisboa, e, portanto, a 200 milhas da
terra mais próxima; era aproxima-
damente 01:30 horas da madruga-
da e nos aproximávamos do ponto
12 de uma ortodromia de 13 pontos
distribuídos ao longo das 3.200 mi-
lhas da travessia entre os dois con-
tinentes.
Ser acordado de repente, dentro
de um veleiro, com a informação de
que um brandal de um mastro de
alumínio de 30 metros partiu-se, e
com um mar que há cinco dias va-
riava entre força 8 e 9 é o mesmo
que ser acordado em casa com o
brado de: "Acorda
que o edifício es-
tá caindo!Em um barco de casco
de alumínio, o risco de rompimento
do casco com a quebra do mastro é
aumentado consideravelmente.
A temperatura no convés era em
torno de 7°C e o vento a tornava in-
suportável, para quem não estives-
se usando os abrigos de frio adequa-
dos. O vento aparente1 era N-NW,
entrando pelo través de BB com 30
nós e navegávamos com a vela
grande rizada na 1? forra e com a
giba2 a uma velocidade de até 13
nós na descida da onda.
Quando chegamos ao convés,
ofuscados com as luzes de duas lan-
ternas que nossos companheiros do
1? quarto empunhavam agitada-
mente, já estávamos amurados a bo-
reste e com o grande sendo arriado.
O comandante, que pulara como
gato do seu beliche (cochilava
quando ouviu o estampido do bran-
dal se partindo), já se encontrava no
leme quando alcançamos o convés.
Numa manobra perfeita e com
um reflexo incomum, ele salvou o
mastro, o barco e a tripulação. Pe-
na que eu não tivesse assistido
àquele instante e à sua manobra.
O Doe, chefe do 1? quarto, correu
para chamá-lo, mas não chegou à
gaiúta — soubemos depois. O Co-
mandante pulou da gaiúta para o
leme, e, já ciente de que era um
brandal partido, gritou:Estou arribando!
Mata o grande a meio! Vou
cambar em roda!
Passa o brandal volante!... e
já amurado a BE.
Arria o grande!
Ao arribar, ele evitou que o bar-
co sofresse os solavancos das ondas
que nos pegavam por BB e que, na
realidade, forçavam mais o mastro
do que a pressão causada pela for-
ça do vento nas velas. Ainda, para
não deixar o mastro sofrer trancos,
ao invés de cambar por d'avante, o
que seria a primeira tendência de
quase todos, para ter logo o bran-
dal partido a sotavento, ele cambou
em roda, evitando a batida forte
das velas na linha do vento, duran-
te uma cambada por d'avante, pois
com a superfície vélica do Cisne
Branco (vela grande 140m2 e giba
2.190m2), o mastro sofre fortes
trancos ao panejar na cambada.
Assim, numa questão de segundos,
ele evitou o que provavelmente te-
ria sido fatal: trancos no mastro. Os
guardas-marinha presenciaram e
aprenderam como em determina-
das situações é necessário tomar-
se uma decisão rápida e certa e
É o que interessa num barco à vela — pois é o vento resultante que efetivamente atua
nas velas, indicando a partir de que intensidade devemos trocá-las.
Espécie de genoa com punho da escota alto, própria para mar picado e vento folgado
l
UMA VIAGEM DE FORMAÇÃO. 127
que, para isto, é fundamental umelevado nível de adestramento.
O que supúnhamos ter sido acausa da quebra foi confirmado eminspeção e análise da seção parti-da em terra: houve fadiga de ma-terial. Já supúnhamos isto, porquevínhamos navegando amurados aBB com o mesmo vento relativo, gi-ba 2 e 1? forra no grande há novedias, e, neste período, pegamos ven-tos de 50 nós (vento aparente) portrês vezes. Estes ventos duraramcerca de um dia, amainando depoisPara 30 nós, para depois de um oudois dias, aumentar novamente até50 nós. Como durante todo este tem-Po nada houve com os brandais, ape-sar do mar cada vez mais forte,concluímos que a causa do rompi-mento só podia ser fadiga.
Com o grande já sendo arriado ea giba 2 em cima para não deixar0 mastro sofrer trancos causadosPelas ondas, agora de alheta, o co-mandante mandou um guarda-ma-rinha apanhar um cabo de aço de3/8" e de 7 x 19, que um dia foi adri-Ça do grande, guardado com muitocarinho pelo nosso mestre — juntocom os uniformes dos oficiais —,°«ue, nos preparativos para a via-Sem, foi mandado preparar, com otamanho suficiente, pelo coman-dante, para a eventualidade de uma°.uebra de brandal, embora estesSeJam vergalhões extremamenteresistentes de aço temperado etugstênio. Os guardas-marinhaaPrenderam que, para se ir ao mar,e fundamental preparar o materialac*equadamente em terra. Aquelecabo dava para quebrar o galhoc°m as velas reduzidas ao máximo,"^as como colocá-lo de forma asubstituir o ângulo formado pelacruzeta, que não podia ser utiliza-da, pois o brandal, que se partiraJustamente na curva provocada pe-
la cruzeta, ficou com sua parte su-perior embutido nela?
A manobra foi tão rápida que, aotomarmos pé da situação e já ter-mos a visão desofuscada pelas lan-ternas, o mestre, e o SO-MO, ajuda-dos pelos guardas-marinha do 1?quarto, já estavam passando o ca-bo pela muleta, disparada para BBe segura pelo seu encaixe no mas-tro e pelos brandais restantes. A ex-tremidade inferior do cabo foi pas-sada por uma patesca na borda fai'sa e dali para uma catraca, onde foitesada até à tensão adequada. Nochicote superior foi feita rapidamen-te uma alça, por onde passamos acinta que normalmente trabalhavano burro da retranca. Enquanto omestre fazia a alça, com o coman-dante no leme tentando diminuir ostrancos no mastro provocados pe-las ondas, pude ver, com a lanter-na, o quanto aquele enorme mastrode alumínio fletia lateralmente pa-ra BB. Calculei que a flecha na bar-riga tinha aproximadamente 40cmpara fora da posição correta.
Era realmente assustador. Nãosei como não quebrou!
O comandante mandou que todossaíssem do pé do mastro.
Pronta a alça, alguém teria quesubir e passar a cinta, de modo aabraçar a mastro por cima da 2?cruzeta. Não foi preciso perguntarquem arriscaria a vida subindocerca de 20 metros num mastroprestes a se quebrar, que, além dederrubá-lo, lhe daria uma pancadafatal, caso se partisse. Um guarda-marinha intendente, encarregadodos aparelhos de bordo, já estavacom a cadeirinha de subir no mas-tro vestida e com o cinto de segu-rança passado. Os guardas-mari-nha souberam admirar o colegaque, num momento crítico, soube
128
arriscar sua vida em prol dos de-
mais.
Içamos o guarda-marinha. Ele
passou a cinta e desceu.
Dos 40cm, o mastro passou a fie-
tir lateralmente cerca de 20cm
após a manobra. Acredito que toda
a faina, da hora que acordei, ao
guarda-marinha intendente a salvo
no convés e o cabo tesado, passa-
ram-se uns longos 20 minutos. Co-
muniquei ao comandante que ain-
da existia risco, pois o mastro ain-
da fletia bastante lateralmente.
Sugeriu-se usar o resto do cabo de
fortuna, de modo a que, em mano-
bra semelhante, fosse passado pe-
lo pau de Spinaker, o que proporcio-
naria um melhor ângulo de ataque
ao mastro, com a vantagem da al-
tura do pau de Spinaker ser variá-
vel no mastro.
Uma decisão difícil, coisa comum
na vida de Marinha, foi tomada.
O guarda-marinha intendente
queria subir de novo, quando o co-
mandante falou:
É muito arriscado para quem
sobe no mastro!
O pior já passou.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
— Só se vai subir amanhã, com
dia claro, e, quem sabe, com o mar
melhor!
Içamos a giba 4 (bem pequena),
arriamos a giba 2 e cambamos pa-
ra o rumo inicial. Velejamos assim,
a 4 nós, numa noite aflita em queninguém dormiu, aguardando o
amanhecer. O dia clareou, o mas-
tro agüentou, o guarda-marinha su-
biu de novo e passou a outra cinta.
O mastro, então, praticamente não
fletia nada além do normal. Içamos
a vela grande de temporal e man-
tivemos a giba 4 içada na proa. O
barco passou a navegar a 6 nós. Os
guardas-marinha puderam avaliar
o risco que envolve uma decisão vi-
tal e quando ele vale a pena ser cor-
rido.
Na manhã do segundo dia, após
a quebra do brandal, avistamos o
Cabo da Roca, ponto mais ociden-
tal da Europa, e depois de 13 dias,
20 horas 14 minutos e 28 segundos,
cruzamos a linha de chegada, pró-xima a Cascais, na foz do Tejo,
abrindo logo em seguida um vinho
que o imediato havio ganho em
Newport, na véspera da largada.
* 'tfiifciitiir r'
- Ai % iff * I wft
Aparelho de fortuna usado para substituir o brandal da 2? cruzeta.
, '.ft.
UMA VIAGEM DE FORMAÇÃO. 129
Dias mais tarde, soubemos quetínhamos
batido o recorde da tra-vessia Newport-Lisboa, homologa-do Pela ASTA (American Sail Trai-ning Association).
Entramos no Tejo, capengas,com a muleta e o pau de Spinakerdisparados
para BB e só podendoatracar
por BE. Atracamos na do-ca da Marinha, e o português querecebeu
nossa espia perguntou,com tom de gozação:
— o que hou-ve com o Brasil na Copa ó pá?...
—
Ninguém gostou daquela recepção
aPós tão árdua travessia.
A travessia do Atlântico emregata
e nossa rotina a bordo
Nos pontos 6 e 7 da ortodromia,
^ situação realmente era dura.
Neste trecho, estávamos na latitu-
45°N e um típico ciclone (ex-tratropical)
da latitude de 60° nosatingiu
soprando de NW. O vento
Permaneceu quase dois dias com 50
nos (aparente), levantando um
mar realmente muito grosso (for-Ça 9) . Quem estivesse de pau no le-
^ tinha uma ordem fundamental:
, proibido olhar para a popa." Oacanho
das ondas crescendo naP°pa era realmente assustador ePoderia
provocar pânico no timo-eiro. Elas vinham pela alheta de
levantavam a popa do barco,
I
Ue então descia aumentando a ve-ocidade
em até cinco nós. Nester.echo
foi comum atingirmos 16
r°®',Na descida da onda, o timonei-
tinha que se esmerar para não
QeiXar a proa correr para BB. Com
s timoneiros bem adestrados, lo-
s° demos grandes planadas que du-
aram às vezes 10 minutos. Planar
^
m uma maxibarco de 24 metros
ao
ma SensaÇão indescritível. Com
^Müele mar assustador, aprende-
s cada vez mais a perceber o
quão marinheiro é o Cisne Branco.
Os guardas-marinha se entrosa-
ram com ele, maravilhosamente, e
aprenderam a tratá-lo como deve
ser tratado um navio que possui al-
ma: com respeito e carinho. Prin-
cipalmente naquela dura travessia,
eles aprenderam que éramos 21, so-
zinhos, atravessando o Atlântico, 20
homens e o Cisne Branco. Eles pas-
saram a respeitá-lo.
Logo no segundo dia após a saí-
da em Newport, começou um ne-
voeiro que durou cinco dias, e era
tão espesso que mal víamos a proa
do barco. E logo ao Sul da Nova Es-
cócia, rota de todos os navios que
vêm da Europa para Nova Iorque!
O Andréa Dórea não saía da minha
cabeça!...
Durante os cinco dias, a buzina
manual de cerração soou de três
em três minutos. Ela servia tam-
bém para aquecer quem a guarne-
cia. Por mais de uma vez, escuta-
mos o barulho de um motor poten-
te por perto, sem que nada pudés-
semos ver ou detectar no radar, que
só era ligado ao escutarmos ruído
de navio próximo, para não gastar
baterias. Com o barco adernado, a
varredura do radar sempre apre-
sentava problemas de detecção.
Confesso que o nevoeiro me ener-
vava. Parecia que nunca ia termi-
nar! que iamos chegar à Europa
dentro dele!
O frio intenso e a umidade de
quase 100% fizeram com que tivés-
semos de trocar toda a roupa de lã
usada por baixo dos abrigos, assim
como a luva e o gorro, ao terminar
o serviço, pois estavam sempre en-
charcados.
Pelas anteparas escorria a umi-
dade, provocada pelo resfriamento
excessivo do alumínio em contato
com a água fria do mar, molhando
130
nossos colchões. Nosso mestre,
sempre perguntava:—
Quando vamos começar a des-
cer? Já chega de subir! (Referia-se
ao traçado da ortodromia de 13 pon-
tos).
O ponto 7 era na latitude 45°N e,
antes de atingi-lo, o nevoeiro se dis-
sipou e deu lugar ao ciclone que nos
pegou três vezes durante o resto da
travessia.
Até o ponto 6, tínhamos a preocu-
pação dos icebergs pois estávamos
navegando dentro da linha de pos-
sibilidade de encontrá-los naquela
época do ano. E, com o nevoeiro
denso, não gostávamos nem de pen-
sar no que poderia acontecer.
O banho, na travessia do Atlân-
tico, foi diferente. Ao invés de banho
de balde, na popa, diariamente,
passamos a usar o banheiro de
meia-nau, que tem rede de água
salgada e que, apesar da baixíssi-
ma temperatura da água do mar,
pelo menos era abrigado. O banho
passou a ser de três em três dias,
pelo menos para mim, mas como
sempre existiam os que não eram
muito chegados...
O serviço em viagem era um por
um, dado por dois quartos, de nove
homens cada. Só o comandante e o
cozinheiro, um cabo padeiro, não
davam pau. Os horários eram 00-04-
08-12-18-00. E nossa rotina em rega-
tas foi invarialvemente: dar pau-
dormir-comer-dar pau. Na travessia
do Atlântico, o frio foi quem mais
combateu nosso moral. Lembro-me
perfeitamente de quanto o frio ten-
dia a nos deixar apáticos; quando
de serviço, sentávamos sete ho-
mens embaixo da capuchana do
cockpit.
Para quebrar esta apatia, era co-
mum o pedido jogado no ar, feito a
quem o acatasse: — guarda-mari-
nha apanha lá um café! — Não ra-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ro alguém subia não só com o café,
mas também com a pipoca quenti-
nha, excelente companheira notur-
na e muito apreciada pelos veleja-
dores. A nenhum dos guardas-ma-
rinha e praças faltou, em momen-
to algum, tenacidade, motivação e
camaradagem, mesmo nos piores
momentos. Tbda essa união, que fez
da tripulação e barco uma verda-
deira equipe, era materializada
num cartaz pregado logo na 1? per-
nada, Rio-Salvador, na entrada do
paiol de velas, e que dizia:
- EU NÃO... NÓS.
Os guardas-marinha percebe-
ram como a tenacidade é importan-
te para se alcançar um objetivo e
que perda teríamos se ela faltasse
a um só homem.
Outro fato que nos quebrava a so-
nolência apática era o ronco do nos-
so mestre, quando cochilava.
Se o frio tendia a baixar o moral,
o rancho o elevava. E isto foi logo
notado pelos guardas-marinha. Tam-
bém seria impossível passar des-
percebido, tal sua qualidade. A de-
dicação do cozinheiro era total e foi
durante toda a viagem um fator
fundamental para elevar o moral.
Pão-doce, tortas, pizzas, feijoada,
sofiscados tipos de peixes e simples
e bem feitos filés com fritas foram
feitos com a competência de fazer
inveja a qualquer restaurante de
primeira categoria, em uma cozi-
nha de lm2. Quem já encontrou
uma cozinha apertada, quente e
sem ventilação, com o mar grosso,
imagina o que eu, particularmen-
te, acho ser uma tortura.
Durante toda a travessia do
Atlântico, somente obtivemos duas
passagens meridianas, cada uma
cruzada com uma reta do sol, ou
seja, dos 13 dias de travessia, ape-
nas obtivemos posição astronômi-
ca em dois dias. Durante os demais
Uma viagem de formação...
foi impossível observar, em virtu-ae do céu ter permanecido comple-
mente encoberto. A respeito disto,no Caribe, fizemos uma importan-te compra: o NAVSAT. A validadeda compra foi confirmada na tra-Vessia,
quando, pelo fato de estar-mos em regata, era essencial quesoubéssemos
nossa posição pelomen°s diariamente, a fim de corri-girmos nosso abatimento, na tenta-lva de obtermos um bom resulta-
do.
Durante toda a viagem o quartoe serviço era o responsável pelas
Manobras de vela que pudessem
Ser feitas com os nove homens que° compunham.
Todas podiam sereitas
com um quarto, exceto gibe0u
qualquer outra em que a força dovento
exigisse uma maior prontidão.Além disso o quarto de serviço
umpria as rotinas de navegação,
aquinas e convés, limpeza dos ba-
eiros e demais compartimentos,
q
anutenção de equipamentos etc.
s Suardas-marinha entenderammo é importante a organização
uma convivência prolongada e em
mbiente confinado.
rol^ ServiÇo de navegação e meteo-
Ca ?^a f°i feito por um homem dea quarto de serviço, que se re-
sezavam de modo a que todos fizes-
dia ° serviÇ° em iguais períodos de
s de mar. O serviço de comuni-Çoes foi realizado da mesma for-
fna.
faltando aproximadamente três
a Para chegarmos a Lisboa, foi
íCada a prova de Navegação e
ma ^0roloSia a todos os guardas-
A nrm^a- Durou dois dias seguidos,
e Qj^Va foi essencialmente prática
p0jg
'' co,m° não podia deixar de ser,
maS ®stávamos
navegando com o
e
r forÇa 8, ventos de 30 a 35 nós,
gyj71
regata. Assim era chamadoa-marinha
por guarda-mari-
131
nha desde que não fizesse falta à
manobra de seu quarto e feita a
prova oral. Foi realmente cansati-
vo, mas chegamos em Lisboa com
as notas prontas.
O principal do aprendizado de
navegação astronômica e meteoro-
lógica durante os oito meses de via-
gem foi o caráter essencialmente
prático com que os guardas-mari-
nha o tiveram. Esta oportunidade
foi fundamental a estes oficiais da
Marinha que não viram a navega-
ção como coisa misteriosa. E assim
não foi em vão ver os guardas-
marinha tentando apanhar a altu-
ra meridiana com a latitude igual
e de mesmo nome que a declinação
e comentando:
— Ih! O sol endoidou!
Mas a instrução na viagem não
se limitou à navegação e manobras
de vela. Durante toda a viagem,
quando o mar permitia, é claro, ha-
via, à tarde, uma hora de adestra-
mento, exceto nas regatas, quando
as atenções e forças eram concen-
tradas para o melhor desempenho
do barco. Assim, os guardas-mari-
nha também tiveram adestramen-
to e provas práticas de nós e voltas,
apito, nomenclatura naval, e depois
das provas foram realizados ani-
mados concursos de apito, nós e vol-
tas e de navegação, da saída do Me-
diterrâneo a Recife, nos quais os
vencedores ganharam prêmios. Sa-
biamente, o comandante soube
manter a tripulação sempre moti-
vada, após terminadas e ganhas
quase todas as regatas, embora, às
vezes, tenha sido difícil dormir ao
som dos desafinados Canarinhos do
Mestre, os quais, já segundos-
tenentes, ao chegarmos no Rio,
compuseram a Banda de Apito pa-
ra o cerimonial de recepção ao
Exm.° Sr. Ministro da Marinha.
132
Fbram feitas, também, palestras
sobre os portos a serem visitados,
primeiros socorros, administração
naval e exercício real de tiro com
armas portáteis. Mas foi, acima de
tudo, através de papo no cockpit,
em dias de vento camarada, que os
guardas-marinha tiveram realça-
da a importância das tradições na-
vais e do convívio no dia-a-dia a
bordo.
Nos portos, nossa viagem se di-
ferenciou muito das viagens de ins-
trução convencionais, em virtude
da maior participação dos guardas-
marinha na prontificação do barco
para próxima pernada. Era fácil
entender que só podíamos contar
conosco e que o tempo destinado a
turismo e diversão seria sacrifica-
do. Assim, baseadas num livro que
era dividido pelas diversas divi-
sões, cada uma tendo um guarda-
marinha como encarregado, as fai-
nas eram divididas para quando es-
tivéssemos no porto. Nesse livro, ao
alcance de todos, eram lançados
por qualquer um, desde o coman-
dante até o próprio encarregado da
divisão, as deficiências, reparos e
aquisições a serem feitas no próxi-
mo porto. Deste modo, ao atracar-
mos, e depois das fainas de limpe-
zas interna e externa, os guardas-
marinha responsáveis pelas suas
incumbências tratavam de zerar
sua folha do livro, a partir do que
estariam liberados, exceto quanto
a representações.
Era difícil conseguir zerar o livro
e, praticamente, só depois das 18:00
horas saímos do barco licenciados,
mas não era raro os guardas-mari-
nha ficarem a bordo, por livre e es-
pontânea vontáde. Todos tinham
fainas nos portos e todos compreen-
deram como era importante para o
conjunto se a sua parte fosse con-
cluída e bem feita. Os guardas-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
marinha se sentiam importantes,
não só como velejadores ou navega-
dores durante as travessias, mas
também na preparação e manuten-
ção do nosso barco.
Como um benefício a mais, o fa-
to de irem à luta para safar os pro-
blemas de suas divisões os desini-
biu nos idiomas estrangeiros, prin-
cipalmente o inglês. Houve casos de
guardas-marinha que chegaram ao
Caribe mudos e deixaram Newport
conversando animadamente nas
recepções que eram oferecidas em
comemoração às regatas.
QUASE QUE TODOS SÃO
ENVENENADOS NO CARIBE
A corrente provocada pelos ali-
seos de SE e NE dos dois hemisfé-
rios aumentou nossa velocidade de
avanço depois de partirmos de Fbr-
taleza com destino a Port of Spain,
em quase três nós. Com isso, che-
gamos a Trinidad Tobago dois dias
antes do programado pelo ComOp-
Nav, e como não podíamos atracar
antes, em virtude de motivos diplo-
máticos, o comandante resolveu re-
conhecer as ilhas vizinhas, en-
quanto arrumávamos o barco. Em
contato com a Guarda-Costeira lo-
cal, foi-nos aconselhado fundear na
enseada da ilha Chacachacare, pró-
xima a Trinidad, em virtude de
suas boas qualidades para fundeio.
Entramos na enseada e nos sur-
prendeu o fato de, por binóculo,
constatarmos a existência de vá-
rias casas de madeira em estilo in-
glês, porém desabitadas.
Fundeamos e aproveitamos pa-
ra limpar e arrumar o barco, ao fim
do que o comandante programou
uma pelada na praia próxima, se-
guida de um churrasco. A pernada
durara dez dias e estávamos todos
ávidos para pisar no chão.
uma viagem de formação...
Terminada a faina, arriamos ob°te inflável e fomos para a praia,deixando
dois guardas-marinha deserviço
a bordo. Enquanto jogásse-mos a pelada, o cozinheiro ia pre-Parar o churrasco. Mas foi necessá-n°
cortássemos, com o seu fa-cão de cuca, alguns galhos e arbus-os
próximos, para varrer da praiaas
Pedras que lá existiam, e assim•jogássemos
sem machucar os pés.ssim foi feito e jogamos 1? x 2?
Quarto, e o mestre, homem impar-ciai
que a ninguém protegia, foi ojuiz e teve
juízo. O jogo terminou 8x 8'
graças ao seu desempenho co-0:10 mediador. Chegou a hora dacarne!
Já era quase noite. Não es-ando a carne ainda bem assada,
Cortamos um queijo e alguns come-
ram sanduíches antes do prato
Principal. O churrasco seguiu noi-
j6
adentro, à luz da fogueira. Lá pe-
as 19 horas, o cozinheiro começou
cse queixar de ardência nos olhos!
°mo eu estava cansado, quase não
a°mi e fui no bote para bordo. Logo
sPos chegar no barco, comecei a
o htr d°r no estômago e pude ver
ote trazendo também o cozinhei-Para bordo. No barco já havia al-ern corri dor de estômago. Com ozinheiro
vieram o Doe e mais al-
v-- disse que seus olhos esta-
v
m ardendo muito e que não esta-
vendo absolutamente nada. Mi-
con aumentou muito; tomei um
P° de leite e fui deitar, para vermelhorava.
Como eu, haviamls uns três a bordo. A dor aumen-
taya cada vez mais e o Doe já ten-
cido descobrir
0 que teria aconte-
quando eu e o guarda-mari-
0 u ' deitado
ao meu lado, ouvimos
me
I<U"10 de al&° batendo no estaia-
snrT ° barco e que distribuía oSOn^Çor
todo o casco.
Para n°
^?as^ro' • falei. Corremosa gaiúta e, no convés, vimos
133
que o estai de popa batia em cabos
de algum tipo de transmissão que
passavam de um lado para outro da
enseada. Tínhamos garrado, e co-
mo o problema da dor de estôma-
go mantivesse quem estava a bor-
do cobertas abaixo, não sentimos o
vento apertar e o barco garrar.
Quando o guarda-marinha ligou
o motor, o comandante já estava a
bordo, vindo de terra, com mais al-
guns guardas-marinha, também
com dor de estômago. Só me lem-
bro que corri para a proa com um
guarda-marinha e, enquanto o co-
mandante manobrava, içamos o
ferro, logo ajudados pelos que aca-
bavam de chegar. O mais incrível
é que, enquanto puxava o ferro,
constatei que a dor havia passado.
Mas o susto fora grande. Mais da
metade da tripulação ainda estava
em terra e, dos que estavam a bor-
do, todos reclamavam da tal dor de
estômago.
O vento apertou e fundeamos
mais longe do cabo de transmissão
com dois ferros e, como nestas ho-
ras acontece tudo de uma só vez, o
motor do bote pegou, entre a praia,
agora longe, e o barco. Pinalmen-
te, os dois ferros unharam, e os
guardas-marinha que ainda esta-
vam em terra conseguiram voltar
para bordo. O vento foi amainando,
mas a dor de estômago voltou e pra-
ticamente todos a sentiam. Ao
amanhecer, a situação melhorou;
alguns já não sentiam dor e pedi-
ram para reconhecer o Farol da
Ilha e as casas lá existentes. Com
o tempo bom, o comandante con-
cordou e eles foram. Mas voltaram
horas depois, muito assustados.
Um dos guardas-marinha procurou
o comandante e falou, nervoso:
— Comandante, sabe o que são
aquelas casas? Um leprosário!... e
nós falamos com eles!
134
Obviamente associou-se a dor de
estômago ao leprosário e àquela
ilha sinistra. O Doe, que passara a
noite acordado tratando da dor nos
olhos do cozinheiro, que ainda não
melhorara, tratou de acalmar a to-
dos e dizer que lepra não era trans-
mitida por contato. Mas a má im-
pressão ficou. As dores foram pas-
sando e os olhos do cozinheiro, em-
bora ainda bem inchados, já melho-
ravam, no final do segundo dia na-
quela misteriosa ilha.
Atracamos no dia seguinte e, em
conversa com pessoal da Guarda
Costeira, soubemos que estivemos
perto da morte, pois os arbustos
que cortamos para varrer a praia
eram mantinhia, árvore cuja seiva
é veneno fatal, se ingerida direta-
mente apenas uma gota. Só o con-
tato do facão do cozinheiro, molha-
do da seiva, no queijo e na carne
cortados por ele foi suficiente para a
intoxicação forte que sofremos. O
cozinheiro, que manuseou o facão,
cortou os galhos e esfregou os olhos
para tirar areia, poderia ter ficado
cego. Felizmente, nada aconteceu
de grave e passamos seis dias em
Port of Spain, onde soubemos que
a Guerra das Malvinas havia come-
çado, através de nosso embaixador
naquele país, que nos recebeu ma-
ravilhosamente, ao que os guardas-
marinha, se iniciando no aprendi-
zado social, corresponderam, ele-
gendo a embaixatriz madrinha do
Cisne Branco.
De lá, fomos para St. Thomas,
nas ilhas Virgens (americanas),
passando antes por Tobago. Foi
uma viagem curta de dois dias e
meio, com vento constante entre 30
e 35 nós. Na madrugada do primei-
ro dia, levei um grande susto. Ao su-
bir para dar pau, às 4 horas, vi a
sombra das Ilhas Granadinas a BB,
o que era normal, pois tinhamos
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
saído de Tobago na tarde do dia an-
terior, deixando as Ilhas de Barla-
vento do Caribe por sotavento.
Acontece que, apesar de termos cor-
rigido bastante o rumo para BE de-
vido à corrente das Guianas, as
ilhas estavam muito perto. Minha
intenção, ao traçar o rumo, era en-
trar entre as Ilhas S. Vicente e San-
ta Lúcia e depois seguir direto pa-
ra St. Thomas, mas se mantivésse-
mos aquele rumo, bateríamos em
S. Vicente. Desci para consultar a
carta e constatei o quanto havia-
mos caído. Cerca de 10 milhas pa-
ra W, durante as 12 horas de nave-
gação em que percorremos cerca
de 100 milhas. Ao subir de novo, já
constatamos estar vendo as arre-
bentações nas pedras das Granadi-
nas, perigosamente perto. Orça-
mos tudo que foi possível, e mesmo
assim foi preciso cambar, ganhar
altura, para depois entrar entre S.
Vicente e Santa Lúcia, de onde pas-
samos para sotavento das ilhas e
aproamos a St. Thomas. Naquelas
águas é necessário tomar-se cuida-
do com a corrente, pois ela é sem-
pre de aproximadamente 3 nós de
E para W, em virtude dos alísios de
NE que ali sopram forte e constan-
temente. Nos canais entre as ilhas,
a corrente aumenta bastante, as-
sim como o vento.
Atracamos em Charlotte Amalie
— St. Thomas, e nos deliciamos
com o ambiente tipicamente velei-
ro. Naquela ilha em que a lenda diz
que o pirata Barba-Azul tinha sua
sede (existe até um castelo no alto
de uma colina que dizem ter sido
sua morada), o misticismo do Ca-
ribe, de seus piratas, corsários e na-
vegadores, tomou conta de todos.
O Caribe é realmente um lugar
belíssimo e exótico. Lá todos se sen-
tiam descendentes de algum ances-
trai pirata. E os piratas eram es-
uma viagem de formação. 135
Pertos, pois a beleza das ilhas, a
transparência das águas e os ven-
tos sempre soprando fazem do Ca-ribe o lugar ideal para velejar.
Favorecidos pelos mesmos ven-
tos que nos levaram a St. Thomas,
navegamos de volta ao sul, para La
J^uaira na yeneZuela, de onde par-
tiriamos para nossa primeira rega-
ta. Fbi outra travessia rápida comventos
E de 30 a 35 nós, onde trata-nios de experimentar as velas no-vas- recém-recebidas em St. Tho-nias. Ao todo, levávamos agora 24velas:
Vela grande
— duasGenoa
n? 1 — uma pesada,
uma leveGenoas
n?s 2, 3 e 4 — uma~ Gibas n?s 1, 2, 3, 4 e 5 — uma~~ Balão 0,75 — um
Balão 1,3 — três
Balão 1,7 — dois
~~ Balão 2,6 — umBalão
de temporal — umArrastadeira
(blooper) — umaVela
de estai — uma~~ Grande de temporal — um~~ Buja de temporal — umaUm dos problemas que tínhamos
era 0 de conciliar um barco que, fa-zendo
um cruzeiro de oito meses, ti-n a que correr regatas.
Assim, era indispensável que,
scT ^ <^uaira' aliviássemos o pe-
? barco; e o que mais concor-a para isso era escolhermos ade-
H adamente
as velas a serem usa-
fjas' Parece fácil, mas é tarefa di-
cil, pois em regata, para determi-
adas condições de vento ou dear, o uso de velas adequadas re-
resenta sensível aumento de velo-
cidade.
Em viagens, as velas tinham que
d©r
es^alllac'as pelo barco, de acor-
da ri°m a disP°siÇao usada, quando
Pa
e^erfninaÇão de suas medidas
ra o cálculo do rating, e mesmo
para que não tivéssemos trim pela
proa ou pela popa. Assim, um
guarda-marinha ficou preocupado,
depois que contou para sua namo-
rada que dormia com a genoa 4.
Quem seria essa tal de Genoa? E se-
rá que já era a quarta?... As genoas
1, 2 e 3 eram estendidas desde a
proa até à cabine do meio e transi-
távamos dentro do barco sobre
elas. E assim era em todo o barco,
os paineiros sumiam de proa à po-
pa sob as velas. Os cafodos difícil-
mente conseguiam ser abertos, im-
pedidos pelas velas, e deste modo,
antes de suspendermos, separáva-
mos o que havia de essencial para
pernada e colocávamos dentro de
sacos individuais, onde também se
guardava a roupa de cama. Estes
sacos se mostraram de tremenda
utilidade para a arrumação inter-
na do barco durante as longas tra-
vessias. Osbeliches eram quentes,
exceto o dos oficiais e das praças,
de modo que, ao acordar para dar
pau, o guarda-marinha colocava to-
da a sua roupa de cama dentro do
saco, que, uma vez fechado, podia
ser colocado sobre as velas e literal-
mente pisado.
Chegamos a La Guaira e nos pre-
paramos para a regata.
A PRIMEIRA REGATA:
LA GUAIRA-CAPE MAY
Antes da largada para a La Guai-
ra-Cape May, o Navsat pegou e cor-
remos a regata sem ele. A largada
foi muito bonita e festiva, e, ao con-
trário das demais largadas que da-
ríamos dali para frente, saímos
muito bem. A linha era definida por
uma bóia e por uma fragata vene-
zuelana, onde estavam a comissão,
imprensa e centenas de convida-
dos. Nos aproximamos da linha,
por cima, com o balão verde e ama-
136 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
relo em cima, bandeira nacionaliçada no seu mastro e nossa bandei-ra de regatas na adriça de boreste.A bandeira de regatas foi confeccio-nada pela mãe de um guarda-ma-rinha e ostentava um cisne pirata,com perna de pau e gancho, em ati-tude agressiva. O balão foi arriadoe içada a genoa 1, em manobra si-multânea, executada uma por ca-da quarto. Entramos na orça, portrás da fragata, até que o coman-dante percebeu que sairíamos es-capados e ordenou:
— Vou cambar em roda! Camba-mos quase sobre a linha e, já bempróximos da fragata venezuelana,completamos o giro cruzando porum fino a proa do Eleanor, queavançava para a linha. Cambamosnovamente, desta vez por d'avante,deixando-o a nosso sotavento, pelaalheta de boreste. O comandantearribou um pouco, ganhamos velo-cidade e largamos na frente, na po-sição mais a barlavento possível,pois passamos a dois metros da po-pa da fragata, de onde os convida-dos nos aplaudiam e ouviam o somda clássica Capitain Blood, músicaque um guarda-marinha descobriuentusiasmar a todos e que sempreera tocada nas largadas de regatas.Nas chegadas, tocávamos o CisneBranco. Os aplausos eram, eviden-temente, pela bela manobra que ocomandante fez, pela rapidez dasduas cambadas, uma em roda e ou-tra por d'avante, em cima da linha,num espaço apertado, e tambémpelo espetáculo que é um maxibar-co manobrando, com 20 homenstrabalhando à.uma no convés, per-feitamente sincronizados, que elesviam de cima, dos conveses da fra-gata, e tão de perto. Enfim, o CisneBranco deixou a fragata repleta derepórteres e convidados por barla-vento numa bela manobra e com a
bandeira nacional bem visível emnossa popa, e os guardas-marinhaentenderam a importância da pre-sença marcante da nossa bandeiraem eventos internacionais.
Nossa viagem teria sido diferen-te sem o mestre.
Antes da passagem de comando,houve quem da tripulação anteriorcomentasse, com a melhor das in-tenções e preocupado com a segu-rança de nossa viagem, a respeitodo mestre:
— Ele vai bater fofo!... As traves-sias são cansativas, o serviço é 1/1e quando o pau cantar..., não seinão... ele já tem idade!...
Todos puderam constatar que nomestre estava a maior fonte deenergia de bordo. Ele foi incansá-vel, em viagem e nos portos. Quan-tas vezes, ao chegarmos a bordo,nos portos, tarde da noite, encontra-vamos o mestre na oficina, com osóculos na ponta do nariz, emendan-do uma escota, costurando uma ve-la, arrumando os paióis, emendan-do espias, falcaçando cabos ou re-tocando uma pintura — fazendo ta-refas que não poderiam ser feitasem viagem por absoluta falta detempo e que, graças a ele, mantive-ram o barco sempre pronto para apróxima pernada. Logo os guardas-marinha aprenderam a admirá-loe a dar o devido valor a um tradi-cional, velho e competentíssimoMR que, acima de tudo, ama a Ma-rinha e suas tradições e que tantashistórias tinha a nos contar no cok-pit e que com tudo isso ajudou aformá-los. Sua presença nos servi-ços noturnos foi logo disputada pe-los componentes dos dois quartosde serviço, que, é lógico, queriamter durante zero às quatro o mestrecomo companheiro e escutar as es-tórias de Marinha que começavamno velho Encouraçado Minas Ge-
UMA VIAGEM DE FORMAÇÃO...
rais e iam até o Clube Naval de Bra-sília. Confesso que eu e o Doe che-gamos a disputar a presença doMestre em nossos quartos.
Tudo o que foi relatado sobre oMestre pode ser repetido para o su-boficial motorista, com uma dife-rença. Este falava muito pouco ...°u melhor, não falava nada ... sótrabalhava. Assim como o mestre,ele também veio do Clube Naval deBrasília, onde era encarregado dereparos mecânicos e da garagemde barcos. Também nos portos, onosso MO era incansável, dedican-do-se dia e noite a reparar avariasocorridas na travessia anterior e°iUe nunca foram poucas. Invaria-velmente, tínhamos bombas pegan-do, redes furadas, circuitos elétri-cos avariados, frigorífica com va-zamento e, para complicar, tudo is-to instalado entre os paineiros e ocasco, numa altura de meio metro.j™ era nesses buracos que o nosso*K) vivia mergulhado, com umaPaciência de monge, durante quan-to tempo fosse necessário, massempre calado.
O excelente estado do materialde convés e máquina com que che-gamos ao regressar deve-se, prin-cipalmente, a estas duas praças,<?ue formaram uma dupla perfeitae Que deram aos guardas-marinhaa consciência do que é capaz o nos-So Pessoal subalterno.
Durante a regata La Guaira-^ape May, na qual levamos noveuias e meio, após passarmos doisdjas intermináveis encalmados noj^ar dos Sargaços (Triângulo das-°ermudas), o vento foi refrescan-do e, após o Cabo Hatteras, nos trêsátimos dias da regata, entrou for-te de NW com 40 a 45 nós. O contra-vento, com o vento soprando no sen-"do oposto à corrente do golfo, le-vantou muito mar (força 8).
137
O contravento foi duro, o barcobatia muito e a troca de velas eraintensa e cansativa, pois, quandoamainava o vento, trocávamos a ge-noa por uma maior, visando dar tu-do que o barco permitisse.
Numa destas trocas, chegamosa usar a genoa 2, mas logo o ventorefrescou e trocamos para a 3, de-pois para a 4 e rizamos o grande na3? forra. Devido às inúmeras e su-cessivas trocas, as velas foram pos-tas no paiol sem serem ensacadas,pois estavam totalmente molhadas e,deste modo, ocupavam todo o espa-ço do paiol. Assim, com a 4 em ci-ma, e com a 2 totalmente ferradano convés, presa na borda falsa, re-solvemos deixá-la onde estava, poiso paio estava lotado e ela a barla-vento, bem ferrada, não apresenta-va maiores problemas. Passaram-se horas, e cambamos. O barco con-tinuava a caturrar violentamente ea água varria toda a proa. Ninguémnotou que, com a velocidade de 11nós, e a borda toda na água, a ge-noa 2 ficou a sotavento e ia se en-chendo de água, formando uma boi-sa entre duas trapas. Esta bolsa iase enchendo entre a borda falsa e abalaustrada e, quando a notamos etentamos puxá-la para dentro dobarco, não conseguimos. A quanti-dade de água já era enorme. O co-mandante estava acordado, assu-miu o leme e mandou chamar todosao convés.
— Postos de emergência!...Todos subiram já com o cinto de
segurança vestido, o que era condi-ção essencial para se ir à proa comaquele mar. E lá fomos todos, pro-curando passar o cinto onde fossepossível. Não foi raro ver ao meu la-do passar um guarda-marinha ououtro caindo para sotavento, contrasua vontade, levado por uma onda,até que o cabo do cinto de seguran-
138
ça tesasse e ele se firmasse, já sain-
do pela balaustrada de sotavento. E
lá pra baixo (sotavento) fomos to-
dos, por vontade própria ou da na-
tureza, para tentar puxar a genoa
2 para dentro. Nas rajadas, o bar-
co adernava mais e ficávamos lite-
ralmente todos dentro d'água, só
com o peito de fora.
Puxamos, puxamos e nada!... O
comandante, então, gritou:— Vou arribar para estabilizar o
barco e aí então vocês tentem de
novo!
Cabe aqui dizer que todas as or-
dens dadas por ele eram claras, em
voz alta e ricamente recheadas
com adjetivos que nossas mães de-
testariam escutar, mas ao mais pu-
ro estilo veleiro.Os recheios, ele gri-
tava tão alto, que às vezes eu me
preocupava se a mãe de algum guar-
da-marinha não os escutaria no ou-
tro hemisfério. Parece brincadeira,
mas é a impressão que dava. Mas
todo velejador sabe que não há es-
tímulo melhor. Dá raiva!
Arribou, estabilizou, não conse-
guimos puxar a genoa, perdemos
altura durante alguns minutos e lá
vieram mais ordens recheadas. A
propósito, nesta regata, desde o pri-
meira dia, não víamos mais nossos
oponentes, que ficaram pela popa,
mais isto não significava poder per-
de altura num contravento que tal-
vez eles nem pegassem.
Só restavam duas soluções: sol-
tar a vela e, provavelmente, perdê-
la ou furá-la na bolsa. O comandan-
te ordenou furá-la. Mas não seria
fácil furá-la. Com o barco no con-
travento, era impossível, pois quem
tentasse furá-la, debruçado pela
borda ou mesmo peado e por fora
do barco, corria o sério risco de vi-
rar homem ao mar em virtude da
força das ondas e da velocidade do
barco, mesmo sem a genoa 4, que
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
já tinha sido arriada. Até mesmo se
arriássemos todas as velas e parás-
semos o barco, não conseguiríamos
içá-la, tal o peso da bolsa d'água
que se formou.
Com o barco arribado e só com
a vela grande em cima, a altura
borda-fundo da bolsa era aumenta-
da consideravelmente, mas era a
melhor solução. A esta altura, a
tensão e o cansaço, depois de tan-
tas tentativas, já eram grandes em
todos. O guarda-marinha encarre-
gado das velas, sempre muito dedi-
cado, repetia a todo instante, na es-
perança de não perder a vela.
Vamos lá moçada, puxa, pu-
xa!...
Não, espera aí, assim não dá,
cuidado para não rasgar!
Quando o comandante deu a or-
dem para furá-la, ele ficou tão tris-
te, que parecia que ia chorar, pois
iam furar um ente querido seu. Na-
quele momento de cansaço exaus-
tivo, enquanto resolvíamos como o
homem ia se pendurar ou ser arria-
do, tomando o cuidado de peá-lo
muito bem, pois a velocidade era de
10 nós e o problema poderia ser
bem maior com um homem ao mar,
o mestre já com a faca na mão e
uma disposição de um garoto de 15
anos, só falou o seguinte:
Segura minhas pernas!...
Não deu tempo de falar não! Ele,
literalmente, mergulhou pela bor-
da abaixo, sendo seguro pelas cane-
Ias e, dè cabeça para baixo, esfa-
queou a vela com raiva, embaixo da
superfície da água.
A vela logo se esvaziou e a puxa-
mos para dentro do paiol. Içamos
a genoa 4 e entramos na orça nova-
mente. E, como em tantas vezes du-
rante a viagem e as regatas, a ge-
noa 2 que, como as outras velas,
sempre era rasgada nas piores con-
dições de vento e mar, foi costura-
uma viagem de formação. 139
da logo após, sem um minuto de
descanso, pelos guardas-marinha
da Divisão de Velas, sempre orien-
tados pelo nosso grande mestre.
O mestre não bateu fofo e de-
monstrou, durante os oito meses,
uma vitalidade que os guardas-marinha entenderam só existir em
Çtuem ama o que faz e que superou
seus 50 e tantos anos.
A partir daí, alguém apelidou-o
de Seadog, e pegou!A aproximadamente um dia da
Itfiha de chegada, aterramos propo-sitalrnente
ao sul da foz do Rio De-laware e, após intensa e angustiante
Procura visual, pois o radar, com o
barco adernado, apresentava pro-Alemãs
de detecção, identificamos,a noite, duas bóias que delimitavamum banco. Cambamos e continua-^°s no contravento, agora sem nosafastármos
muito da costa, até que,no dia seguinte, pela manhã, chega-m°s à bóia que delimitava a linhade chegada. Ao nos aproximarmosdela, conforme havíamos combina-^°.
pedimos ao comandante que as-sumisse
o leme. Ele relutou, man-dando
um guarda-marinha guarne-Cer e ter o privilégio de cruzar a li-nha. O guarda-marinha escolhidodisse
que não assumiria o leme, e°dos olharam
para o comandante,
guando ele, num misto de surpresa® emoção,
com os olhos cheios
a£ua, guarneceu o leme e deu lo-
§° umas cinco ordens, todas juntas.A alegria era geral e, em meio a
u^i frio bastante grande, içamos aandeira
nacional, um guarda-ma-**mha
soltou bolas de gás amarra-as ao barco, que rebocamos du-
fante algum tempo, enquanto os ou-r°s soltavam serpentinas, soavamuzinas
e bem alto tocava o Cisnefanco.
Foi uma festa, como se-lam todas as chegadas de regatasali
Para frente, independente de
nossa classificação. As classifica-
ções foram sempre motivos para
outras comemorações em terra,
mas o importante é que ali, no mar,
onde ninguém podia nos ver ou es-
cutar, fazíamos a nossa singela e to-
cante comemoração. Nós e o Cisne
Branco, sozinhos, navegando, e não
era raro ver alguém sair de fininho
para a proa com os olhos cheios
d'água.
Os guardas-marinha sentiam ca-
da vez mais, e nós oficiais também,
a importância da bandeira nacio-
nal içada na popa, tão longe de nos-
sas casas, não só nas largadas ou
desfiles navais, geralmente festi-
vos, mas também na solidão do
mar, onde, em vez de fotografias e
filmes de jornalistas internado-
nais, estávamos nós, repletos de sa-
tisfação pelo dever cumprido em
mais uma etapa e entrosando cada
vez mais aquela tripulação mara-
vilhosa que a cada milha entendia
melhor o significado do Mundo dos
Homens do Mar a que um dia se re-
feriu Platão.
O CISNE BRANCO
E OS 300 ANOS DE FILADÉLFIA
Navegamos no Delaware todo o
dia e a noite, até às 4 horas, quando
chegamos a Filadélfia. O coman-
dante, que não dormia a quase dois
dias, permaneceu acordado duran-
te a navegação no Rio Delaware,
sempre muito movimentado. A cer-
ca de duas horas do cais, ao descer
ao camarim de navegação para con-
sultar a carta, ele dormiu em pé e
suas pernas se dobraram, fazendo
com que ele caísse. Ele dormiu até
chegarmos, quando foi acordado, e
atracou.
No dia seguinte, pela manhã, os
repórteres já foram nos visitar e à
tarde já erámos notícia nos jornais,
M
o
II IIII I f
lM //
11
' > ^k«Vi^^tt& WM ^
cr? //IV ! «¦ >
'iJmEX£*^ II ' fl ¦
"*•'¦ " -*1 r
s» nWfiiiMrfi -• - ~~ r II T M^t Hf ^Ml imm |H
a MmKMuSSnc^iifl Kjm pp»>p? » . i
3 . *¦ /I II ..ttJllfl >r ^£|H Vf ^5.i ca
d B 2iP . "* *>r2 n* >o% /«¦•?'> ¦"-' - - w isw s*
S- Hi if «: x
i
S3>
n
uma viagem de formaçao. 141
c°m um guarda-marinha numa fo-to, ocupando meia página, pulandoPela gaiúta de proa para o paiol deyela, e a manchete: Brasileiroschegam
primeiro para a festa dos300 anos.
Ali começou uma verdadeira
Maratona de representações. Du-rante 15 dias, lá atracados, erámosvisitados
diariamente por centenasde
pessoas e, nos três dias das co-ftiemorações
oficiais do 3 ? Cente-uário de Filadélfia, erámos vistos,Sem exagero, por milhares de pes-soas
que passeavam pela marina e
lueriam conhecer o barco brasilei-ro
Que chegou na frente na Venezue-la—Cape
May. Poucos sabiam que0 barco é de construção americana.
Acho que dificilmente o Brasil e
a nossa Marinha poderia m aprovei-
j-ar melhor oportunidade para mos-
trar nossa bandeira, embora esti-
^essemos num simples barco à ve-
a¦ Para isto contribuiu em muito amentalidade
marítima do povoamericano.
No dia da parada navalPelo Delaware,
por exemplo, calcu-amos cerca de 1 milhão de pessoas
esPalhadas pelas margens do rio e
^aciçamente concentradas no cais
e Penn's Landing, onde atracaria-
^°s- Acho que foi aí a nossa-melhor
a'uação representando o Brasil na-
Ruelas comemorações. Como che-S^mos
primeiro no tempo real, des-
. amos logo na popa do Eagle, que
e Um Tall Ship da Guarda Costeira®
que abriu o desfile. Nessa hora,a° bastou a imaginação do nosso°mandante,
mas fomos ajudadosambém
pelo vento, que soprou pe-Popa na hora certa. E com as mar-
§ens repletas pelo povo que assistia
0 desfile, içamos o balão verde e
,^larel° ao lado da arrastadeira°oper)
vermelha, azul e branca.Assim, desfilamos com as cores
dabandeira do Brasil e dos Estados
Unidos lado a lado. Ao entrarmos no
canal para o cais, bem próximo à
margem repleta de gente, o coman-
dante mandou tocar o hino ameri-
cano, previamente gravado para
estas ocasiões, e o povo começou a
nos aplaudir. Ao vermos nossa ban-
deira na popa, a emoção foi igual
em toda a tripulação, formada em
postos de continência. No dia se-
guinte, um jornal comentou, mos-
trando a foto: A saudação que o
barco brasileiro fez aos 300 anos de
Filadélfia.
Para o sucesso de nossa repre-
sentação, também foi vital a atitu-
de dos guardas-marinha. Eles logo
notaram o quanto eram importan-
tes suas atitudes em terra e não fo-
ram poucas as vezes em que co-
mandantes de barcos vizinhos, ad-
ministradores de marinas, visitan-
tes, etc., foram ao nosso comandan-
te elogiar o comportamento, a edu-
cação e, sobretudo, a prestativida-
de, tão comum ao brasileiro, por
eles demonstrados.
O prefeito de Filadélfia fez a en-
trega dos prêmios em praça públi-
ca, para a qual nos dirigimos em
desfile pelas ruas de acesso, bem ao
estilo americano, formando cada
tripulação um grupamento. E nova-
mente o povo estava presente, lo-
tando todo o trajeto e a praça onde
se deu a entrega dos prêmios. Lá,
como já tínhamos sido informados,
foi anunciado como vencedor no
tempo corrigido o Swan Venezuela-
no Supercílio. Esta notícia, desde
que foi divulgada a bordo, deixou
alguns guardas-marinha com o mo-
ral abatido. O Cisne Branco foi
anunciado como vencedor no tem-
po real e segundo no corrigido. Mas,
apesar da tristeza de todos, na ho-
ra da entrega do prêmio ao Super-
cílio, um guarda-marinha puxou
um Quiricomba ao Supercílio, que
142 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
todos recitaram em voz alta, assus-tando inicialmente a todos que lo-tavam a praça e que ao final foienormemente aplaudido. Ao sercumprimentado pelo nosso coman-dante, o comandante do Supercíliodeclarou ao microfone estar im-pressionado com tal demonstraçãode desportividade.
Na regata de quase dez dias, ti-nhamos que chegar três dias e trêshoras na frente dele e só chegamostrês dias. Perdemos por três horas,talvez um pequeno bordo errado,mas os guardas-marinha ganha-ram para sempre o que existe demais bonito numa competição, aovalorizar a vitória do adversárioleal.
Os prêmios em todas as regataseram recebidos por grupos de cin-co homens, formados sempre porum oficial, três guardas-marinha eum praça.
A SEGUNDA REGATA:CAPE MAY-NEWPORT
Saímos mal na Cape May-Newport; tínhamos alguma dúvidaquanto aos intervalos entre os tirosna largada e ficamos para trás. Ovento nos ajudou e permaneceurondando entre SE e SW, com apro-ximadamente 30 nós. Velejamosquase o tempo todo com o balão emcima. Na madrugada do primeirodia, durante uma forte rajada, ecom ondas a favor, atingimos amaior velocidade de toda nossa via-gem: 18 nós na descida de uma on-da! O Cisne Branco é o navio maisrápido em que já servi na Marinha!Foi uma sensação indescritível poisele vibrava de proa à popa, pare-cendo querer sair d'água. O barco,mais uma vez, demonstrou como émarinheiro e equilibrado. Chega-mos a Newport em primeiro no
tempo real, com o balão verde eamarelo em cima e a 15 nós.
Era uma tarde muito bonitaquando recebemos o tiro, passandoentre os 12 metros que treinavampara a American's Cup do ano se-guinte.
Todos a bordo ficamos entusias-mados com Newport, cidade ondese respira vela. Repetiram-se as pa-radas e entregas de prêmios de Fi-ladélfia, só que desta vez fomosanunciados como vencedores nostempos real e corrigido. Comemo-ramos num tradicional restauran-te de velejadores, tomando cham-panha de canudo dentro da enormetaça.
O abastecimento para a traves-sia foi uma faina. Para as perna-das, todos os espaços embaixo dospaineiros eram ocupados com gar-rafas de água mineral. Quando sus-pendemos para a largada, todos osespaços estavam totalmente lota-dos. Onde náo estavam velas, haviacaixas de comida ou de água. Nos-sa preocupação era grande, porquequando chegamos da La Guaira—Cape May, estávamos literalmentea zero de água e quase a zero de co-mida. Como a travessia do Altânti-co seria mais longa, tratamos denos precaver.
Antes da largada, tivemos maisuma demonstração da mentalida-de marítima americana, num des-file naval onde calculamos teremparticipado três mil barcos. E maisuma vez fomos alvo das atenções aotocarmos a bordo o hino america-no em postos de continência à escu-na estilizada, guia do desfile, cujatripulação trajava roupas da épocados colonizadores e onde ia a im-prensa.
Após algumas manobras erra-das, largamos seguidos bem de per-to e a sotavento por uma lancha do
UMA VIAGEM DE FORMAÇAO. 143
sindicato do 12 metros inglês Victo-
ry, que nos observava atentamente,
0 que nos deixou muito orgulhosos.
A bordo, levávamos uma verdu-
ra,chamada Alfa-Alfa, que me foi
recomendada por contatos em ter-
ra. Trata-se de uma semente quenecessita somente ser imersa em
água para que em quatro dias cres-
Ça, tornando-se saborosa e adequa-
da para longas travessias, onde lo-
go nos primeiros dias as verduras
comuns se deterioram. A caixa on-
de ela foi desenvolvida apareceu no
segundo dia de regata com os dize-
res: "Horticultura Cisne Branco —
Mantenha-se afastado!"
AS QUARTA E QUINTA
REGATAS EM PORTUGAL
Em Lisboa ficamos 29 dias. Os
guardas-marinha foram licencia-
dos por dez dias, em duas turmas
Para conhecerem a Europa. Foi pe-
dido um brandal novo à Hood, nos
Estados Unidos, que chegou e foi
instalado sem maiores problemas.Enquanto nos preparávamos para0 resto da viagem, os guardas-niarinha
já demonstravam certa
tristeza por terem terminado as re-
gatas. Foi quando soubemos que
Poderiam correr mais duas regatas
até o Sul de Portugal. A Cascais—
baleeiras e a Baleeiras—Vila Mou-
ra. Pomos autorizados, confirma-
•hos nossa presença e no dia da lar-
gada, após a parada naval pelo Te-
3°, onde cumprimentamos o Presi-
dente da República de Portugal, ar-
riando a genoa, fundeamos para
aguardar a largada. O vento refres-
cou, chegando a 40 nós nas rajadas.
Mais uma vez, um mal-entendido
no intervalo entre tiros nos fez sair
hlal. A linha de partida, muito mal
Posicionada, estava tão próxima às
Pedras, que os barcos, para largar,
tinham que se aproximar no con-
travento, por cima da linha, montar
a bóia e largar com o vento de po-
pa. Fomos os últimos a largar.
Eram aproximadamente 20 barcos,
entre alemães, ingleses e portugue-
ses. Alguns grandes, como o nosso,
porém pesados, e outros, como os
Swans ou os Fasts, pequenos e le-
ves. O comandante ordenou que já
içássemos o grande rizado na 2?
forra e, então logo largamos, iça-
mos o balão de temporal. Havia
bastante mar e o balão de tempo-
ral, menor que os outros em com-
primento, elevou o centro vélico do
barco, que pendulava muito, pois
estávamos com vento quase de po-
pa rizada. Com o comandante se
desdobrando no leme, descíamos
em uma onda atrás da outra. A ve-
locidade oscilava ente 13 a 16 nós.
No convés, sentíamos o barco sair
d'água na planada, tal como um La-
ser. Eu, que queria obter uma po-
sição bem determinada por pontos
de terra, no início daquela regata
de percurso médio, senti alguma di-
ficuldade, pois já escurecia e rapi-
damente nos afastávamos dos pon-
tos possíveis de serem marcados e,
principalmente, porque o espetácu-
lo de nossa passagem pelos barcos
que saíram bem a nossa frente me
prendia ao convés. Passamos real-
mente de passagem pelo meio de
todos. Já em terceiro, assistimos a
um Swan, bem próximo, à nossa
frente, atravessando no vento. A
tensão era grande e a vontade de
observar os oponentes tinha que ser
suplantada pela preocupação em
marear nosso próprio barco e man-
tê-lo seguro. Antes de zero hora já
estávamos em primeiro, e, na ma-
drugada, com o vento bem mais
fraco, já não víamos luzes pela po-
pa. Ao amanhecer, montamos o Ca-
bo de São Vicente e, aproveitando
144
uma brisa bem junto à costa, segui-
mos no contravento bem fraco até
cruzar. E nos pusemos a esperar os
demais... A espera se tornou longa
e a alegria crescia minuto a minu-
to, ao sentirmos que provalvemen-
te ganharíamos no corrigido tam-
bém.
No dia seguinte, fomos para a
raia para mais uma regata. Esta,
só de 40 milhas. Levamos a bordo o
presidente da Aporvela e o Almi-
rante Almeida d' Eça, que a todo
momento tentava me ajudar na na-
vegação!... Salmos no meio e fomos
chegando para frente. O vento es-
tava fraco e, quando já estávamos
bem na frente, alguém nos pergun-
tou, pelo VHF, onde estávamos.
O comandante disse nossa posi-
ção correta e um outro barco por-
tuguês entrou no canal e disse ser
impossível que o Cisne Branco es-
tivesse tão adiantado, pois ele esta-
va completamente encalmado. O
comandante respondeu que o Cisne
Branco fazia o vento!...
Chegamos na frente e repetiu-se
a história de Baleeiras.
À noite, soubemos que ganhamos
as duas regatas também no tempo
corrigido e festejamos. Nossas rega-
tas haviam terminado e tínhamos
cumprido bem nossa missão. Todos
estavam muito alegres. Os guardas-
marinha compreenderam e viram
a repercussão, nos Estados Unidos
e em Portugal, dos nossos resultados
e a importância deles para a repre-
sentação de nosso país. Mas acima
de tudo, notava-se neles, a esta a 1-
tura, um enorme orgulho próprio,
satisfação e que se sentiam cientes
de que naqueles quatro meses, tra-
balhando como uma equipe, ha-
viam conseguido o que achávamos
quase impossível! Eles sentiram
realmente, pela primeira vez, a sa-
tisfação do dever cumprido.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Logo na próxima pernada, Vila
Moura — Cádiz, viria outra lição.
Um guarda-marinha, ao sairmos
de Vila Moura, comentou, sem mal-
dade:
— Já que as regatas acabaram,
agora vamos fazer um verdadeiro
cruzeiro pelo Mediterrâneo!
Ele deu à frase uma entonação de
que dali para frente seria sopa,
pois, se até ali nos saímos bem com
regatas, o que dizer sem elas! O
castigo veio rápido. Na chegada a
Cádiz, pegamos, num contravento,
o vento mais forte de toda a via-
gem. Nas rajadas, chegou a 65 nós
(aparente).
Ele foi refrescando logo pela ma-
nhã e ao meio-dia já estava com 60
nós. O céu permaneceu completa-
mente azul todo o tempo e o levan-
te soprava exatamente vindo da di-
reção de Cádiz. Foi uma tarde du-
ra. Eu tentava imaginar de onde vi-
ria tanto vento. Como poderia haver
uma baixa pressão que, em última
análise, era decorrente de simples
variações térmicas, capaz de pro-
vocar um vento daqueles? Ao olhar
para cima, me dava a impressão de
ver o vento.
Com o vento e a corrente, o bar-
co caiu muito.
Conseguimos identificar Cádiz
no final da tarde, e entramos no ca-
nal já escurecendo. Atracamos já
à noite e, no dia seguinte, soubemos
que um veleiro, também grande,
havia se destruído nas pedras pró-
ximas à boca do canal, ao tentar se
aproximar.
Foi triste ver o veleiro espetado
nas pedras, quando deixamos Cádiz.
GIBRALTAR - O PAU CANTOU!
Durante os dois dias que passa-
mos em Cádiz, o comandante acom-
panhava, junto à Marinha espanho-
UMA VIAGEM DE FORMAÇÃO. 145
la,a intensidade do vento em Gi-
braltar.
Já sabíamos que ali teríamos ou-
tra parada dura e as informações
vindas de lá diziam que o vento con-
tinuava forte, 40 nós (vento verda-
deiro).
Em Cádiz aconselhavam-nos a
não suspender enquanto não tivés-
semos informações do vento ter
rondado para poente ou ter amai-
nado bem, pois a corrente provoca-
da com o vento de levante certa-
mente nos impediria de entrar no
Mediterrâneo. Vale aqui lembrar
que o Cisne Branco tem um motor
que desenvolve, no máximo, 6 nós e
com muito pouca potência.
Como uma garganta — aproxi-
madamente quatro milhas na sua
parte mais estreita — Gibraltar
faz com que o vento só sopre em
duas direções: ou de E ou de W.
Mesmo que um pouco antes ou um
pouco depois do vento tenha dire-
ção diferente destas, no estreito ele
ronda para E ou W, se estrangula e
aumenta enormente sua velocidade.
Depois do segundo dia de espera,
suspendemos e fomos tentar. Foi
realmente difícil. Resolvemos ten-
tar entrar borde jando entre o meio
do estreito e a costa da África, por-
que ali nos pareceu que o vento es-
tava mais fraco.
Obedecendo a uma célebre fra-
se do comandante, que dizia: "Se
fosse fácil , não teria graça", che-
gamos nas proximidades do estrei-
to à noite, quando todos os gatos são
Pardos, e, à medida que entráva-
nios mais um pouco, o vento aper-
tava maisi Rizamos o grande na 4*
forra e mantivemos a geona 4, que
dava potência para vencer a cor-
rente.
Fazer uma navegação precisaera difícil, em virtude da forte cor-
rentada, das cambadas sucessivas
e da baixa visibilidade causada pe-
los borrifos. Entramos no estreito
marcando com certa dificuldade
somente um farol na costa africa-
na. No mais, víamos muita sombra
de montanhas e luzes de navios
mercantes entrando e saindo.
O vento aparente atingiu 60 nós
e, com o comandante sempre no le-
me, trocamos sucessivamente de
quarto de serviço, com uma baixís-
sima velocidade de avanço.
O quarto que não estivesse de
pau não conseguia dormir, pois as
cambadas sucessivas faziam dar a
a impressão de que tudo estava sen-
do arrancado no convés.
Com tantas cambadas, veio o
cansaço. Mas se não cambássemos
rápido, não andávamos para fren-
te. E, além de rápidas, elas tinham
que ser precisas e seguras, pois as
lambadas das escota e contra-esco-
ta, ambas de aço, tranqüilamente
cortariam o pescoço de alguém me-
nos esperto que bobeasse do cock-
pit para a proa.
O tráfego de grandes navios mer-
cantes era intenso. Lá pelo meio do
estreito, ouvimos alguém nos cha-
mando pelo VHF, que dizia ali não
ser lugar para um barco à vela. Foi
triste ter que arribar, após tão sua-
dos metros ganhos, para deixar
passar um navio mercante que não
se desviou de sua rota, apesar de
nossos rumos de colisão.
Ao amanhecer, estávamos den-
tro do Mediterrâneo. Levamos de 8
horas da noite às 6 horas da manhã
para vencer uma distância de apro-
ximadamente 18 milhas. Estáva-
mos todos exaustos e o Cisne Bran-
co mais uma vez mostrou o quão
marinheiro ele é. No dia seguinte,
tivemos um fora de leme, reparado
em duas horas pelo nosso MO, e já
percebíamos que não teríamos pro-
priamente o cruzeiro pelo Mediter-
146
râneo sonhado por aquele guarda-
marinha.
Como, "se
fosse fácil, não teria
graça", na saída do Mediterrâneo
tivemos exatamente a mesma situa-
ção, só que desta vez com o vento
soprando de W, o poente. Ao nos
aproximarmos do estreito, à tarde,
já podíamos ver o mar encarneira-
do pela proa.
Logo veio a noite e ali estávamos
novamente lutando para vencer Gi-
braltar. Como na entrada, usamos
o grande na 4.aforra e a genoa 4 pa-
ra dar potência. Nas cambadas, en-
trávamos a escota da genoa até o li-
mite, a fim de tentar orçar o máxi-
mo. Até que, depois de uma camba-
da, ao ser atochada a escota, a ge-
noa não agüentou e rasgou, fazen-
do um só estrondo, do punho da es-
cota até o meio da testa. Içamos,
então,a giba 5 no seu lugar, com as
desvantagens de não orçar tanto
quanto a genoa 4 e não dar ao bar-
co a mesma potência.
De madrugada, constatamos
que havíamos parado de avançar e
que o vento parecia cada vez mais
forte.
O cansaço aumentava em todos,
até que o comandante, numa pas-
sagem de quartos, reuniu todos e
nos participou que pretendia arri-
bar em Gibraltar.
As reações dos guardas-marinha
variaram da indiferença provoca-
da pelo total esgotamento físico,
passando pelo apoio à atitude cons-
ciente, até o desgosto, mais provoca-
do por ter que se dobrar a um desa-
fio, do que por ter sido vencido pela
natureza. Essas reações, eu cons-
tatei nitidamente nos rostos dos
guardas-marinha. Acho que, após
termos vencido Gibraltar pela se-
gunda vez, todos concordaram que
foi mais uma decisão acertada e
consciente, tomada onde não cabia
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
aceitar riscos tentando provar que
podíamos bater também à natureza.
Fundeamos em Gibraltar e des-
cansamos. O mestre e o pessoal da
Divisão de Velas, sempre incansá
veis, costuraram a genoa 4 e, logc
pela manhã, saímos para nova ten
tativa.
O vento estava um pouco maií
fraco. Aproximadamente 50 nóí
aparentes na garganta. Tentamos
novamente com a giba 5 o o grandí
na 4? forra. Com a luz do dia, tud(
era mais fácil, principalmente to
car na orça e desviar dos navios.
Saímos e logo após o estreito (
vento amainou.
À tarde, já velejávamos agrada
velmente com vento N pelo travéí
de boreste rumo à Ilha da Madeira
O REGRESSO
Fomos, com boa velocidade, nu
ma agradável velejada, até à boni
ta e sempre florida Ilha da Madei
ra, levando cinco dias de Puerto Ba
nus a Funchal.
Já da Ilha da Madeira a Las Pai
mas, a calmaria foi enervante <
motoramos quase todo o tempo.
Em Las Palmas foram definidoí
quais os espaços que os guardas
marinha teriam a mais para trazei
alguma compra.
Durante toda a viagem, cadí
guarda-marinha teve, para todo:
seus pertences, um volume de apro
xidamente 0,5 m3. Em Las Pai
mas, este volume foi aumentadi
em, aproxidamente, mais 0,5 m!
divididos entre a sauna e o paiol d'
velas, agora vazios de cartas e ai
gumas velas, respectivamente.
Das Canárias, fomos para Sãi
Vicente, no Arquipélago de Cabi
Verde. Como estávamos atrasado
em relação à Ordem de Movimeri
to do Comando de Operações Na
uma viagem de formação...
vais, em virtude de terem sido com-
Putadas 800 milhas a menos desta
travessia, ao invés de ficarmos dois
dias em São Vicente, como progra-filado, ficamos apenas duas horas,
durante as quais recebemos água.
Foi o tempo suficiente para que se
juntasse um grande amontoado de
habitantes locais que brigaram fu-
riosamente, quando lhes foi jogado
üm boné de nosso uniforme de ve-
Ia. Durante essas duas horas, fo-
mos visitados por um jovem casal
de médicos brasileiros que muito
impressionou os guardas-marinha
Pela sua demonstração de abnega-
Ção.
No total, de Las Palmas a Reci-
fe, levamos 17 dias.
Fiquei impressionado como en-
bordávamos nas longas travessias!
Foi uma rápida velejada até Re-
cife. Os alisios rondando de NE a
SE, ao aproximarmo-nos do Brasil,
nos fizeram navegar com a média-
de 10 nós.
Logo na saída de São Vicente,
Passamos uns dois dias com vento
de N — NE soprando entre 30 a 40
nós (aparentes).
No terceiro dia, o vento apertou
pouco e chegou a 45 nós.
Ao assumirmos o 1? quarto, o ser-
viÇo de 4 às 8 horas, já estávamos
Azados na 3? forra e com a velha e
cansada genoa 4 em cima, quando
ela começou a rasgar-se no punhoda amura.
O comandante, que já estava no
!eme, ordenou ao meu quarto queJÇássemos
a giba 5.
Mandei que o mestre e um guar-da-marinha a trouxessem para ci-*ha,
enquanto o resto do quarto pas-savam
suas duas escotas de sota-
vento e a escota de barlavento.
Terminamos de passar as esco-*as e esperamos, esperamos, espe-rarnos...
Um guarda-marinha des-
147
ceu para ajudar a procurar. Depois
desceram mais dois. Postei-me a
meia-nau, na altura do mastro, e es-
perei, esperei... Olhei para o co-
mandante e vi que ele não estava
nada satisfeito, embora ainda não
nos tivesse contemplado com elo-
gios.
Achei que já era demais, fui pa-
ra a proa bastante irritado, enfiei a
cabeça pela gaiúta de proa, que ba-
lançava bastante com o mar de tra-
vés, e, vendo todos do 2? quarto mis-
turados com a profusão de velas,
gritei:
Como é que é? Será que é tão
dificil achar e içar uma giba?...
Cabe aqui lembrar que cada ve-
la, enquanto navegando, tem seu lu-
gar de guarda. Este lugar, apesar
de estar escrito no inventário de ve-
las na porta do paiol de velas, já ha-
via sido decorado por todos. Acon-
teceu que, com as compras de Las
Palmas, algumas velas tinham si-
do trocadas de lugar. E, assim, a gi-
ba 5 simplesmente não estava sen-
do encontrada.
Surgiram logo os comentários:
Tenho quase certeza de que es-
ta vela desembarcou em Lisboa.
Acho que ela está no lazarete
disse alguém, seguindo para a
popa com outro, a fim de achá-la ou
escapar do meu mau-humor.
Mandei que acordassem o encar-
regado de vela. Acordaram-no e, ao
ser perguntado onde estava a giba
5, ele queimou no ato:
Beliche de boreste, em cima.
Já procuramos lá. Não está!
alguém disse.
Se minha irritação já aumenta-
va, imaginei a do comandante. Eu
continuava de cabeça para baixo,
na gaiúta de proa, tentando imagi-
nar a cena e tomando coragem pa-
ra ir à popa e dizer, após mais de 15
148 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
minutos, a um comandante furioso,que não achamos a giba 5!
Acorda todo mundo! — gritei!Quero todo mundo procurando!
O barco deve ter ficado com trimpela proa, pois erámos 19 homensna proa e um na popa!
Passou pela minha cabeça quedesta vez seríamos engolidos! Elenem estava xingando, pensava eu.Desta vez sua raiva teria atingidoo limite. Também pudera! Perderuma vela dentro do barcol
Eu já o imaginava como o Holan-dês Voador, furioso, espumando,praguejando de ódio pelo erro queele jamais perdoaria.
Já se passavam 20 minutos! Aesta altura, todos já falavam alto nopaiol de velas e alguns já mareavam.
Tomei coragem e me convenci.Vou lá encará-lo e dizer-lhe: "Nãoachamos a giba 5. A culpa é minha".Afinal, como sempre disse aos guar-das-marinha perante o comandan-te eu sou o responsável por tudoneste barco...
Foi quando escutei o mestre di-zendo: — olha a giba 4 ali.
Com toda sinceridade, levantei acabeça e pude sentir que o vento jánão estava tão forte. Até hoje nãosei se foi por pura influência da si-tuação, mas naquele momento eurealmente senti o vento mais fraco.E, com toda honestidade, caminheiaté à popa, segurando-me no guar-da-mancebo, olhei para o coman-dante e falei:
O vento está mais fraco. O se-nhor não quer içar a giba 4?...
Não, quero a 5!Ciente.
Voltei para proa e ordenei:Todo mundo continua procu-
rando!Esperei alguns minutos e, como
não a achássemos mesmo, voltei àpopa e falei ao comandante:
Não achamos a giba 5. Não seionde ela está! Não adianta maisprocurar!
Ele então falou:Iça a giba 4!
Quando começamos a içar o sa-co da giba 4, alguém perguntou:
Que saco é este aí?Achei!
Um guarda-marinha esteve sen-tado em cima da vela durante gran-de parte do tempo de procura.
Içamos a giba 5, logo após troca-da pela 4 e, até hoje, toda vez emque nos encontramos, o que não éraro, brincam comigo, principal-mente o comandante, por eu tertentado esconder dele a perda dagiba 5. Mas não desisto e ainda es-tou tentando convencê-los de quenão foi nada disso...
Vai ser difícil!...
A CHEGADA
Na manhã do último dia da tra-vessia, vimos uma vela no horizon-te, pela bochecha de boreste. Aproa-mos a ela, e passamos a cinco me-tros pelo través de uma jangadacom três homens. A festa foi gran-de, e os jangadeiros se assustaramcom a nossa gritaria. Era o primei-ro contato com o nosso país após oi-to meses de viagem.
Nesta mesma noite, atracamosem Recife aproximadamente às 24horas. Logo no dia seguinte, fica-mos deslumbrados com a belezadas praias.
Foi fácil concluir que não tinha-mos, durante oito meses, passadopor nenhum lugar como a Praia daBoa Viagem. Foi bom sentir osguardas-marinha redescobrirerncomo o nosso país é bonito, e, me-lhor ainda, escutar um guarda-ma-rinha voltar de uma compra de ma-
UMA VIAGEM DE FORMAÇÃO. 149
terial eletrônico e comentar, ale-gremente:
— Mas que diferença! Que aten-dimento! Estou desacostumadocom tanta gentileza, até cafezinhome ofereceram na loja em que fuifazer compras!
Como verdadeiros homens do'nar, os guardas-marinha tiverama oportunidade de diferenciar oscostumes de vários países ociden-teis, apreciando e valorizando osbons costumes do povo brasileiro.Dali para frente, acho que não hou-ve um tripulante que não proferis-se, de boca cheia, e cheia de certe-2a, a frase: "O Brasil é o melhorPaís do mundo para se viver!"
A alegria tomou conta de todosem Recife e ninguém conseguiadeixar de contar os dias para a che-gada. A chegada em Arraial do Ca-°o, as famílias, foi emocionante, as-sim como emocionante foi a chega-da ao Rio. Ao nosso querido e tão es-Perado Rio de Janeiro. Mas quise-ra eu, como guarda-marinha ter ti-do oito meses como aqueles! Estra--Tnando, mareando, sofrendo, acos-amando, decidindo sozinho, conhe-cendo, avaliando o meio no qual, te-Qfto certeza, eles esperam passara*naior parte de suas vidas.
Nesta tão esperada chegada ao-^io de Janeiro, fundeamos naságuas da Praia de ltaipu e, ali, até0 21? tripulante — o Cisne Branco~~ chorou, ao ouvir, pela última vez,
as palavras de nosso comandante àsua tripulação reunida na proa. Poirealmente um momento de enormegrandeza em que quase se podia to-car a união daqueles 21 marinhei-ros, irmanados pela solidariedadede oito meses de mar.
Também foi emocionante e gra-tificante ver todo o Corpo de Aspi-rantes formado á nossa espera edesfilar em nossa homenagem, as-sim como assistir nosso comandan-te, merecidamente, ser agraciado,com a Medalha de Serviços Distin-tos, pelo Exm? Sr. Ministro da Ma-rinha.
A nossa viagem não terminou!Não terminou não por causa do
saudosismo que toma conta de to-dos, ao vermos as fotos e filmes fei-tos durante a viagem nem tampou-co pelas freqüentes e agradáveisreuniões, geralmente velejandoque costumávamos realizar, masporque, passados hoje três anos dasua realização, além do orgulho deter tripulado o Cisne Branco, senti-mos perfeitamente que, mais doque consolidar o espírito de aventu-ra e o desejo de liberdade, aquelesoito meses integrados ao mar nostornaram profundos conhecedoresdo meio no qual exerceremos, portoda a vida, nossa profissão; semdúvida, ela tem contribuído muitoe assim continuará a fazê-lo, paraque mantenhamos nossos navios enossa vida bem navegados.
150 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
REGATAS CORRIDAS PELO CISNE BRANCO
NA VIAGEM DE INSTRUÇÃO DE 1982
I I I I I Is
I I I I /
I / f
' —> $ / w
$ J
"
f
* ° 3
•
? 8 5
<3 g <3 <8 ,
Barcos Concorrentes 11 17 6 25 30
not "A" p "R"
L,ai. (2) (4) (4)
Classifica^ao do Cisne 1? 1? 1? 1? 1?
Branco no tempo real ...
Idem no tempo 2? 1? 1? l? l?
corrigido ^
(1) Duração da regata: 9 dias.
Diferença para o 1? colocado: 3 horas.
(2) Não estão incluídos os "Tall
Ships".
(3) Tempo recorde para travessia homologado pela ASTA (American Sai-
ling Trainning Association).
(4) Participaram barcos portugueses, espanhóis, alemães, franceses, ita-
lianos e ingleses.
uma viagem de formação.151
TRIPULAÇÃO DO VO CISNE BRANCO (1982)
Capitão-de-Corveta Ralph Rabello de Vasconcellos Rosa
Capitão-de-Corveta (Md) José Mendonça Dayer
Capitão-Tenente Luis Fernando Palmer Fonseca
Guardas-Marinha Ronny Alfredo Sounenhohl
Mareio Leite Teixeira
Edmilson Franco Fraga
João Carlos Corrêa de Albuquerque Feijó
Camilo Lélis de Oliveira
João Antônio de Souza Neto
Nélson Batista Oliveira de Souza
Luciano Lunardelli Salomon
Regis Castro Athayde
Cláudio Pedrosa de Oliveira
Luis Odair Azevedo Gomes Raymundo
Janito Flores
Nélson Ávila Thome Júnior
Luís Frederico Almeida Moitrel
Praças SO (MR)
SO (MO)
CB (CO)
Manuel Fernandes Vieira
Adonias Clemente dos Santos
Ladisval Pereira de Araújo
SIEMENS
Equipamentos e sistemas elétricosSiemens da mais alta qualidade econfiabilidade equipam milhares denavios espalhados por todo o mundo.Atualmente, a Siemens fornece painéis de comando edistribuição, geradores principais e auxiliares, geradores deeixo, motores elétricos e painéis para maquinaria de convés,sistemas completos de automação, sistemas de detecção ealarme contra incêndios, equipamentos de telefonia, caboselétricos, entre outros produtos fabricados especialmente paraa indústria naval.Estes equipamentos e sistemas atendem às mais exigentesnormas técnicas internacionais, permitindo operação mesmosob severas condições.A Siemens oferece, também, uma completa rede de postos deAssistência Técnica espalhados por todos os pontos do mundo,o que é uma garantia de confiabilidade para seus produtos.
Siemens: equipamentos elétricos parapequenas embarcações ou grandes navios.
Siemens S.A. - Departamento de Equipamentosde Transporte - Setor NavalRua Leopoldo, 351 - Andaraí - CEP 20541 - Rio de Janeiro -RJ - Telefone: (021) 208-9292 - Telex: (021) 21038 e 21890
JllíA GALERA
1IIL
REVISTA DOS ASPIRANTES DA ESCOLA NAVAL
A GALERA, Revista dos Aspirantes da Escola Naval, tem desempenhado
papel relevante na Marinha, não só como veículo de divulgação de suas ativi-
dades — particularmente as que envolvem nossa Escola —, mas, sobretudo,
por seu inestimável valor histórico.
Editada desde 1925, A GALERA chega hoje a sua 135.a edição com uma no-
va proposta: queremos torná-la obra acessível a todos, com perspectivas de
melhor divulgar e aprimorar nosso trabalho. Dessa forma, temos prazer em nos
colocar ã disposição de todos os que estiverem interessados em nos prestar
auxílio, entrando em contato conosco, ou adquirindo exemplares de nossa re-
vista. Para tanto, anexamos modelo a ser preenchido e enviado, junto a um che-
que em favor de A GALERA, para:
ESCOLA NAVAL
REVISTA "A
GALERA"
RIO DE JANEIRO - RJ
CAIXA POSTAL 1749
Desde já agradecemos aos nossos novos colaboradores.
SOCIEDADE ACADÊMICA PHOENIX NAVAL — SAPN
A GALERA
NOME:
POSTO:
°M EM QUE SERVE:
endereço para entrega:
N ° DE EXEMPLARES SOLICITADOS:
PREÇO UNITÁRIO: C?$ 20,00
1IILJllí
O RENASCIMENTO DAS
TÁTICAS DE ENGAJAMENTO
DE SUPERFÍCIE*
APRESENTAÇÃO
O artigo "The
renaissance of sur-
face-to-surface Warfare", publica-
do na revista Proceedings de feve-
reiro de 1985, chamou a atenção pe-
la maneira como aborda o proble-
ma da guerra de superfície. Sua lei-
tura parece útil, na medida em que
apresenta novos conceitos adotados
pela Marinha dos Estados Unidos.
O aperfeiçoamento das táticas de
engajamento de superfície é impor-
tante para o correto emprego das
sofisticadas armas recém-incorpo-
radas aos arsenais de algumas Ma-
rinhas e que tanto modificaram o
perfil de combate das forças de su-
perfície.
Os encargos da Marinha norte-
-americana muito diferem das ne-
cessidades estratégicas e da dispo-
nibilidade de recursos das outras
Marinhas. Qualquer tendência de
pura e simples adoção de conceitos
alienígenas, no equacionamento de
necessidades, poderá ser deletério.
Contudo, esse artigo pode ser con-
siderado ferramenta para um me-
lhor entendimento das atividades
necessárias ao domínio das ações
da guerra de superfície. Cumpre
ainda ressaltar que sua leitura de-
ve ser conduzida com apurado sen-
so crítico. Só assim poderemos che-
gar a conclusões condizentes com
a realidade.
O tradutor
INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, o sinal favorito
de Lorde Nelson — engajar o ini-
migo mais de perto — envolveria
uma situação tática extremamente
complexa, associada a tão variadas
ameaças, como seu autor jamais a
teria imaginado. Quando este sinal
foi içado pela última vez, durante
* Tradução do Capitão-Tenente Francisco José Ungeher Taborda.
0 Renascimento das táticas. 155
a Batalha de Trafalgar, em 1805,
Nelson tinha como única preocupa-
Ção a ameaça representada por na-
yios de superfície. Até 1916, por oca-
sião da Batalha da Jutlândia, a
guerra no mar restringiu-se, basi-
camente, ao engajamento de super-
fície, embora os submarinos e os
observadores aéreos começassem
a complicar o problema da guerranaval. Até então, a linha de batalha,
a precisão da manutenção do pos-to e o fogo coordenado eram a tôni-
Ca das manobras navais.1
A Segunda Guerra Mundial trou-
Xe um tipo diferente de guerra no
toar. A iniciativa, a flexibilidade e
a transferência da primazia do po-der ofensivo da esquadra para os
navios-aeródromos foram as gran-des novidades que se impuseram,depois de 1945, os encouraçados fo-ram
gradualmente descomissiona-dos e os navios de superfície fica-ram, basicamente, relegados a ati-vidades
defensivas de escolta anavios-aeródromos.
Ao que tudo in-dica, a guerra naval está sofrendo,novamente,
uma mudança radical
seus fundamentos.
Os seguintes fatores são os res-
Ponsáveis pela retomada da impor-
tância dos navios-não-aeródromos
na guerra de superfície (GS):
os mísseis superfície-superfí-c*e
(MSS) tornam-se cada vez mais
Precisos e seletivos, e o seu alcan-Ce tem aumentado gradativamente;
a crescente vulnerabilidadedas aeronaves frente a unidades desuperfície
com grande capacidadede defesa antiaérea;
a premente necessidade de
poupar o limitado número de aero-
naves de ataque baseadas em na-
vios-aeródromos, para projeção do
poder aeronaval sobre as bases do
inimigo;
o custo dos submarinos nu-
cleares (SSN) e a sua comprovada
eficácia contra a "principal
força
de ataque — os submarinos" — do
Almirante Sergei Gorshkov, o vene-
rando comandante da Marinha so-
viética. Esse fato pode impedir o
emprego dos SSNs contra forças de
superfície, uma vez que mesmo
uma pequena probabilidade de per-da de um submarino nuclear signi-
fica um risco por demais elevado,
em relação à sua missão principal;a crescente capacidade de so-
brevivência dos navios de superfí-
cie, decorrente da incorporação dos
sistemas de armas para defesa de
ponto, contra-ataques de aeronaves
tripuladas ou mísseis, exceção fei-
ta a ataques conduzidos com armas
nucleares ou aos ataques maciços
de MSS;
devido à maior autonomia, à
capacidade de manterem-se em
áreas remotas, aos melhores senso-
res, às facilidades para o comando,
controle e comunicações (C3), à
maior quantidade de armas e à pos-
sibilidade de transportarem aero-
naves de reconhecimento (helicóp-
teros ou, em futuro breve, aerona-
ves V/STOL), os navios de superfí-
cie vên? adquirindo crescente capa-
cidade para desfechar ataques coor-
denados de MSS, o que, até o pre-sente, são considerados a melhor táti-
ca de engajamento para destruir
navios de superfície inimigos.2
NT — Na própria Jutlândia, Jellicoe teve contra si a hipotética ameaça de submari-n°s e minas, que teriam restringido sua manobra, permitindo a evasão das forças de superfí-
alemães.
NT — Também não se deve deixar de considerar o custo dos modernos NAe e suasaeronaves
orgânicas.
156
A AMEAÇA
Sir James Cables, um estrategis-
ta naval britânico, declarou que"seria
absurdo acreditar que os
submarinos soviéticos sejam uma
ameaça do passado. Contudo, no
gráfico demonstrativo do poder na-
vai soviético, a curva de crescimen-
to dos meios de superfície de impor-
tância capital superou a dos sub-
marinos... em 1978, e a diferença
aumenta cada vez mais." O apare-
cimento de navios poderosos e de
múltiplo emprego, como o Kirov, e
a construção de um navio-aeródro-
mo de propulsão nuclear sugerem
um emprego mais agressivo das
forças navais soviéticas. Navios
com poderosas armas de superfície
e eficientes sistemas de defesa an-
tiaérea (DAA), tais como o Udaloy,
o Sovremennyy e o Krasina, indi-
cam que os soviéticos estão for-
mando um grupo de batalha seme-
lhante aos dos Estados Unidos. O
Ivan Rogov é capaz de transportar
um batalhão de fuzileiros navais,
completamente equipado. Esses
novos navios representam grande
aumento na capacidade soviética
de projeção de poder naval.
Estrategistas ocidentais não es-
tão de acordo quanto ao provável
emprego dessas forças em opera-
ções de guerra. Andrew Hull acre-
dita que a principal atividade da
Marinha soviética seja a guerra
anti-submarino (GAS) e o apoio ao
Exército vermelho. Ele não vê ne-
nhuma ameaça significativa às li-
nhas de comunicações marítimas
necessárias ao Ocidente. Entretan-
to, Norman Friedman visualiza
uma esquadra de intervenção ca-
paz de navegar em conjunto, e su-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
gere que os soviéticos atacarão o
tráfego marítimo ocidental e suas
linhas de comunicações maríti-
mas, ainda que seja apenas para
impedir que os submarinos nuclea-
res de ataque da OTAN tenham li-
berdade de ação para atacar os
submarinos nucleares lançadores
de mísseis estratégicos (SSBN) so-
viéticos. Formulando uma suposi-
ção menos controvertida, Norman
Polmar declara que "o
ponto mais
significativo é que a missão funda-
mental da Marinha soviética tem
sido, e ainda é, a defesa do solo pá-
trio. Contudo, seu perímetro de de-
fesa tem se expandido continua-
mente em direção ao alto-mar".3
Um crescimento dos meios de de-
fesa soviéticos pode parecer muito
agressivo aos olhos ocidentais.
Os novos navios soviéticos são al-
vos muito difíceis de serem elimi-
nados, mas já é hora de estudarmos
com seriedade a melhor maneira
de colocá-los fora de ação. Se uni-
dades de superfície soviéticas fo-
rem empregadas no Mar da Norue-
ga, certamente irão ameaçar as ae-
ronaves de alarme aéreo antecipa-
do (AEW), o coração da defesa ae-
roespacial do flanco norte da
OTAN, que, desse modo, ficará se-
riamente debilitada. Forças de ata-
que ocidentais, nucleadas em na-
vios-aeródromos, serão incapazes
de levar a guerra ao solo soviético
enquanto um grupo de ação de su-
perfície (GRASUP), nucleadopelo
Kirov, estiver operando na área.
Assim, será negado à OTAN o seu
meio mais eficaz de tomar a inicia-
tiva. Ataques à área de Mur-
mansk/Mar Branco poderão preo-
cupar Moscou e resultar na dimi-
nuição da pressão naval soviética
3 NT — Motivado pelo aumento do alcance do armamento disponível ao bloco ocidental-
1
0 Renascimento das táticas. 157
no front central. Um GRASUP lide-
fado pelo Kirov, navegando no
Atlântico, poderá destruir as defe-
sas anti-submarino da área, im-
Prescindíveis ao esforço de guerrada OTAN na Europa. Qual será, en-
tão, o melhor método de destruir es-
ses poderosos navios soviéticos?
VARIANTES PARA O
ENGAJAMENTO DE
SUPERFÍCIE
Paul Nitze estima que os soviéti-
cos enviarão de 30 a 60 submarinos
Para patrulhar o Atlântico Norte,tendo em vista o ataque às linhas de
comunicações marítimas necessá-rias ao Ocidente. A neutralização
dessa ameaça, somada à necessi-
dade de prover apoio às forças de
ataque de superfície, poderá exigir0 emprego de todos os submarinosde ataque da OTAN, logo nos pri-meiros estágios do conflito. Por
°casião do conflito das Falklands,
0 HMS Conqueror demonstrou a su-
Perioridade dos submarinos nu-cleares contra forças navais de su-
Perfície moderadamente defendi-das.4 Contudo, afundar o Kirov,com deslocamento quase três vezessuperior
ao do General Belgrano,será bem mais difícil. Atingi-lo
abaixo da linha-d'água poderá dei-*ar ainda, muitas de suas armas esensores
em condições operacio-nais. Além do mais, os submarinosnucleares
não podem operar efi-cientemente
nas águas rasas do
Màr de Barents, do Mar Mediterrâ-neo ou do Mar da China.
Os Kirov e Udaloy refletem a
crescente atenção que os soviéticos
estão dispensando aos modernos
navios de superfície com grandecapacidade para a GAS. Os subma-
rinos de ataque da OTAN correrão
sérios riscos ao conduzirem ata-
ques torpédicos a um moderno
GRASUP soviético. O período logo
após o ataque será perigoso, e mes-
mo uma pequena probabilidade de
perda de um submarino nuclear po-derá excluir o emprego do torpedo
como arma de ataque a um grupode navios capazes de ações AS. Is-
to é particularmente provável,considerando-se a alta prioridadedas missões nas quais os submari-
nos nucleares de ataque são inex-
cedíveis, como na GAS e no apoio
direto a forças navais.
Os mísseis subsuperfície (MSub/
Sup), do tipo Harpoon, Tomahawk
e SM-39-Exocet, são armas valio-
sas, mas não é provável que um úni-
co submarino seja capaz de lançar
uma salva grande o suficiente pa-ra neutralizar por completo uma
força-tarefa (FT) densamente ar-
mada.5 As deficiências de C3, ine-
rentes aos submarinos, dificultam
a já problemática identificação de
alvos além do horizonte, tornando
quase impossível a coordenação de
submarinos para ataques conjun-
tos subsuperfície/superfície. Além
do mais, o submarino também cor-
re o risco de se expor quando lança
seus mísseis. Por essas razões, não
parece razoável lançar submarinos
nucleares contra unidades capazes
de reações AS eficientes, até que a
NT — Parece uma comparação exagerada, pois o Belgrano e seus escoltas eramnavios construídos há mais de 40 anos. Supõe-se que o desempenho A/S dos novos cruzadores® navios de escolta da URSS sejam bem superiores. Desse modo, certamente um SSN nãoera tanta liberdade de manobra para realizar o seu ataque.
NA — Esta suposição reside na premissa de que é necessário uma salva de quatroMísseis para neutralizar um navio de superfície eficiente.
158 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
batalha contra os submarinos so-
viéticos no Atlântico esteja resolvi-
da a favor da OTAN.
Acredita-se que aeronaves ba-
seadas em navios-aeródromos se-
jam capazes de atacar forças sovié-
ticas não nucleadas em navios da
classe Kirov, desde que um percen-
tual de baixas da ordem de 10 a
20%, por reide, seja considerado
aceitável. Tal taxa de perdas é ba-
seada na Guerra das Falklands e no
conflito árabe-israelense de 1983.
Após quatro sortidas por aeronave,
a simples multiplicação de tais per-
das se traduzirá na disponibilidade
de apenas 41 a 66% das aeronaves
dos esquadrões de ataque (para um
percentual de baixas de 20 e 10%,
respectivamente). Parece difícil a
substituição dessas aeronaves nas
frentes mais avançadas e, certa-
mente, as perdas resultantes de um
ataque à queima-roupa a um gru-
po de batalha defendido por navios
da classe Kirov serão muito maio-
res. Neste caso, é improvável que
sobrem aeronaves em quantidade
suficiente para cumprir aquela que
seria a principal missão das aero-
naves baseadas em navios-aeródro-
mos — o ataque às bases do inimi-
go, principalmente às grandes ba-
ses localizadas em seu território, e
o apoio a unidades em terra.
Um ataque coordenado efetuado
por navios de superfície e aerona-
ves baseadas em navios-aeródro-
mos, portando armas de longo al-
cance, é eficaz. Entretanto, esses
ataques provaram ser de difícil
coordenação sem o emprego exces-
sivo dos meios de comunicações, o
que pode eliminar o elemento sur-
presa. A maior restrição feita a es-
se tipo de ataque é que se um navio-
-aeródromo está perto o suficiente
para desfechar um ataque efetivo,
ele também está vulnerável aos
submarinos inimigos e aos mísseis
de longo alcance — um significati-
vo ensinamento de GS proporciona-
do pelo conflito das Falklands. Se-
ria uma estupidez arriscar o 25 de
Mayo "depois
de ter perdido o Ge-
neral Belgrano", especialmente
quando seus aviões podiam operar
de bases em terra.6
Ataques conduzidos por navios
de superfície armados de MSS e ae-
ronaves baseadas em terra, dota-
das de armamento de grande al-
cance, têm a vantagem de que a
coordenação ar/superfície não co-
loca em risco nenhum navio-aeró-
dromo7. Em um cenário onde a GS
prepondera, o poder aeronaval tá-
tico deve ser empregado somente
após ter sido alcançado um certo
grau de controle da área marítima,
de modo a reduzir a vulnerabilida-
de do navio-aeródromo. As armas
de longo alcance devem ser utiliza-
das de modo a se assegurar que os
aviões sejam empregados naquelas
missões que realmente irão garan-
tir a vitória sobre o inimigo — a des-
truição de suas bases.
No Mar da Noruega, a melhor
opção para um primeiro combate
de superfície é um GRASUP, apoia-
do por aeronaves baseadas em ter-
NT — Não se pode esquecer das reduzidas dimensões do teatro de operações de então.
NA — Multo mais questionável é a decisão de não empregar os contratorpedeiros San-
tíssima Trinidad e Hercules, então armados com mísseis Exocet. Se um desses navios sobre-
vivesse até o momento de engajar o HMS Hermes ou o HMS Invincible com seus mísseis, os
resultados da guerra poderiam ter sido bem diferentes. Também deve ser levado em conta
que as bases aéreas da Argentina continental jamais foram atacadas.
NT — Nem sempre exeqüível..
I
0 Renascimento das táticas. 159
ra, composto de um encouraçado
escoltado por fragatas da classe
Oliver Hazard Perry (FFG-7). Es-
sas fragatas, com helicópteros em-
^arcados, e até mesmo com apenas
a metade de sua dotação de MSS
Harpoon, são uma arma anti-super-
fície formidável, de custo relativa-
mente reduzido. Se baseado no Nor-
deste dos Estados Unidos, esse
GRASUP seria a força ideal paratal missão, pois, graças à sua loca-
üzação, ele estaria um dia de via-
gem mais perto que uma esquadra
de ataque baseada em uma grandebase americana da costa leste.
Além disso, seria uma força prati-camente auto-suficiente, conside-
rando a capacidade que o encoura-
Çado tem de reabastecer seus es-
c°ltas, durante a travessia do
Atlântico. Com o emprego de táti-
cas de guerrilha, esse GRASUP po-deria escapar ao sobrecarregadosistema
de vigilância soviético e
causar grandes danos nas águas
dos mares da Noruega e de Ba-rents,
antes da chegada de uma es-
Quadra de ataque. No futuro, algunsSpruances
dotados de lançadoresverticais
de mísseis poderiam ser
acrescentados a esse GRASUP. Tais
navios são silenciosos, difíceis de
serem detectados passivamente e,
armados com mísseis Tomahawk,
t°rnam-se capazes de desfechar
ataques de surpresa com grande
Poder de destruição.
Há quem argumente que os na-vios
de superfície sejam úteis so-^ente como plataformas de ataquea submarinos
por ocasião de umataque
preventivo, levado a efeiton° início do conflito. Acrescentam
Qüe os submarinos de ataque e o^emento
aerotático possuem van-
tagens no que diz respeito à surpre-
saeã capacidade de despistamen-
to, nos estágios posteriores da guer-
ra. Outros afirmam que o elemen-
to aerotático possui grandes vanta-
gens no que se refere ao comando
e controle das ações de GS.
Os navios de superfície moder-
nos são de propulsão extremamen-
te "silenciosa."
Se aproveitarem as
eventuais condições de baixa visi-
bilidade e o tráfego mercante para
se ocultar, apoiados por reconheci-
mento aéreo e satélites de observa-
ção, utilizando o mínimo as comu-
nicações e o máximo os meios de
despistamento, formaturas bastan-
te dispersas possuem uma boa
chance de burlar um sistema de vi-
gilância que estará saturado pelo
acompanhamento de navios-aeró-
dromos, de submarinos e do tráfe-
go mercante.
A vantagem do elemento aerotá-
tico, no comando e no controle das
ações de combate, reside no fato de
que as aeronaves de um mesmo es-
quadrão sempre operam em con-
junto e decolam de uma mesma
plataforma ou base. Navios de
guerra poderão apresentar a mes-
ma coordenação desde que se ades-
trem em conjunto e sejam desen-
volvidas, e exercitadas com serie-
dade, táticas de combate simples e
realmente eficazes.
NÓS ESTAMOS PRONTOS?
Recentemente foram desenvolvi-
das armas que aumentaram a ca-
pacidade de ataque a unidades de
superfície. Já existe um grande nú-
mero de navios e aeronaves capa-
zes de lançar os excelentes Har-
poon e Tomahawh* Os encouraça-
8 NT — Podemos incluir também os mísseis Exocet, Otomat, Penguin e Gabriel, con-Slderando
apenas armas do bloco ocidental.
160 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dos estão sendo reincorporados, fo-ram instituídas táticas para o em-prego dos mísseis Harpoon e expe-didos inúmeros memorandos pro-pondo novas táticas de engajamen-to. Exercícios táticos gerados porcomputadores de bordo e jogos deguerra a nível de estado-maior es-tão qualificando os responsáveispelas ações da GS. Os navios de su-perfície estão começando a adotaras técnicas de análise dinâmica dealvos em movimento, há muito dedomínio exclusivo dos submarinos.Entretanto, a despeito de todos es-ses avanços, a capacidade de com-bate de superfície da Marinha ame-ricana não é melhor que regular,devido a inúmeras deficiências deequipamentos, procedimentos eadestramento.
O PROBLEMA:PROCEDIMENTOS
DEFICIENTES
A atual doutrina de emprego dasaeronaves nucleadas em navios--aeródromos relega a um segundoplano as tarefas de vigilância eidentificação de alvos de superfície.Tais tarefas são tratadas como ati-vidades meramente subsidiárias.As tripulações dos Hawkeye estãosempre preocupadas com a defesaantiaérea (DAA) e o alarme aéreoantecipado (AEW). Mostram-se in-capazes de contribuir de maneiraefetiva na compilação do quadro tá-tico de superfície. Um Vicking do-tado de link de dados é uma exce-lente plataforma de vigilância,mas raramente um deles é empre-gado no interesse da GS. Há um ex-cesso de avaliação feita dentro deum cockpit de um A-7 cruzando a350 nós e 8.000 pés de altitude, o que
resulta em reportar apenas os con-tatos de interesse. Todo contato desuperfície detectado na área de vi-gilância de uma força naval deveser cuidadosamente acompanhado.Até que o Comandante da Guerrade Superfície (CGSUP), mercê deuma criteriosa avaliação, o tenhaclassificado como amigo, todos ossistemas de armas devem ter seusproblemas de tiro resolvidos a par-tir do momento que estejam dentrodo alcance. A exata localização dosnavios mercantes na área de ope-rações é tão importante quanto aposição das unidades amigas e ini-migas, para que os alvos além dohorizonte sejam designados comsucesso.
À noite, os procedimentos paraidentificação positiva de alvos sãoparticularmente pobres. Conduziras ações noturnas de guerra de su-perfície de modo a assegurar queum navio-aeródromo não seja ata-cado por forças amigas pode serconsiderado meio caminho andadopara um grande sucesso. Poucosnavios são capazes de conduzir efi-cientemente os procedimentos deidentificação noturna, o que podelevar ao ataque de unidades ami-gas. Do mesmo modo, forças hostispodem lograr uma penetração fur-tiva nas formaturas de seus inimi-gos. Em noites escuras, pode se tor-nar impossível, até mesmo para ex-perimentadas tripulações de heli-cópteros, determinar se um navionavegando às escuras é militar ounão, mesmo quando em vôo libra-do sobre ele. Com as atuais técni-cas de vigilância, esclarecimento edesignação de alvos além do hori-zonte, os navios dificilmente lança-rão seus mísseis Harpoon9 contraalvos que estejam próximos de seu
9 NT - Idem 7.
0 RENASCIMENTO das táticas...
alcance máximo. Para se utilizar
com eficácia os mísseis 1bmahawkm,
agora com alcance aumentado, as
táticas de seu emprego e as técni-
cas de designação de alvos devem
ser melhoradas em muito.
A SOLUÇÃO
O comandante do grupo de bata-
lha deve exigir do CGSUP uma vi-
gilância cerrada de modo a manter
0 acompanhamento, a designação
e a identificação de todos os alvos
de superfície presentes na área de
trânsito da força. Desse modo, o
CGSUP certamente necessitará de
maior número de meios adequados
ao exercício da vigilância com a efi-
ciência desejada. Uma análise cui-
dadosa dos meios disponíveis pode-rá revelar a falta de uma aeronave
leve de múltiplo emprego (LAMPS)°u um helicóptero CH-46 detalhado
Para a tarefa de identificação de al-
vos. Aeronaves baseadas em terra
também podem ser empregadas.
Todo comandante de força-tarefa
^dependente, incluindo aí as uni-
dades escoteiras, deve estabelecer
u®a área de vigilância. Cabe ao
oficial no Comando Tático (OCT) a
responsabilidade pelo acompanha-
Alento e identificação de qualquerc°ntato de superfície, com o mesmo
entusiasmo despendido a um con-
tato aéreo ou submarino. Essa área
Poderá se estender até 300 milhas
Para um grupo de batalha nuclea-
do em um navio-aeródromo ou
restringir-se a 50 milhas quando se
tratar de uma fragata dotada de
üm LAMPS. A dimensão de tal
área pode variar, dependendo da
disponibilidade de meios aéreos e
da sua densidade de tráfego. Con-tudo,
o OCT deve recorrer a todos
161
os meios disponíveis para manter
o quadro tático de superfície o mais
atualizado possível.
Equipamentos de visão noturna
estabilizados, para helicópteros, e
maior ênfase nos procedimentos de
identificação por senhas e contra-
-senhas poderão reduzir os proble-
mas da identificação noturna. Al-
guns sonares de superfície podem
detectar, e às vezes classificar, al-
vos de superfície a grandes distân-
cias. Muitos sonares e receptores
de medidas de apoio à guerra ele-
trônica (MAGE) possuem suficien-
te poder de resolução em marca-
ção, de modo a permitir uma acu-
rada análise do acompanhamento
dinâmico dos alvos de superfície.
Contudo, poucos navios utilizam
com proficiência tão simples técni-
cas passivas de acompanhamento
de alvos e de resolução do proble-
ma do tiro. Poucos operadores de
sonar ou de equipamentos de guer-
ra eletrônica (GE) compreendem
que seus sensores são tão impor-
tantes para a GS quanto para a GAS
ou para a GE. Sem dúvida, o ades-
tramento desses operadores deve
ser incrementado no sentido de
apoiar a GS.
Para se alcançar uma compila-
ção mais precisa do quadro tático,
e até certo ponto menos nebulosa,
o CGSUP precisará de maiores re-
cursos de informações. Melhores
informçs a respeito do tráfego mer-
cantfr esperado em sua área pode-
rá simplificar o problema da iden-
tificação. O Lloyd's, de Londres, pu-
blica uma relação, diariamente
atualizada, que contém as derrotas
e os destinos da maioria dos navios
mercantes. Tais informações, já
formatadas para computadores,
são de fácil aquisição e podem ser
10 NT — Idem 7.
162
introduzidas em um minicomputa-
dor de bordo. Uma atualização se-
manai, enviada pelo método postal,
poderá manter o banco de dados
bem confiável.11 Uma sub-rotina
do programa poderá apresentar to-
dos os navios esperados dentro de
uma área de 300 milhas ao redor do
navio. Essas informações, correia-
cionadas com os dados enviados pe-
los satélites de observação, poderão
ser valiosas na compilação de um
complexo quadro tático de superfí-
cie.
O PROBLEMA:
DEFICIÊNCIAS DE
ADESTRAMENTO
Os problemas com o adestra-
mento resultam não só da falta de
procedimentos de busca e ataque
simples e padronizados. Também
são frutos da complexidade ineren-
te à avaliação dos exercícios de GS
realizados em áreas de grandes di-
mensões. A GS é uma especialida-
de tão sofisticada quanto a GAS.
Seu objetivo é semelhante, embora
as distâncias e os sensores envolvi-
dos possam ser diferentes. Cada
uma dessas atividades requer uma
vigilância de longo raio de ação e
táticas coordenadas para localizar
o inimigo e conduzir com precisão
um ataque maciço. Todavia, fruto
da experiência de combate, os na-
vios da Marinha americana pos-
suem uma organização padroniza-
da para o serviço por quartos du-
rante a GAS, formaturas flexíveis
e planos de busca e ataque bastan-
te simples. A maior parte dos na-
vios de superfície está pronta para
implementar esses planos rapida-
mente.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
O adestramento de GAS é minu-
cioso e exaustivo. TTm oficial espe-
cialmente treinado é designado o
principal responsável pela profi-
ciência do navio na GAS. Em terra
encontram-se disponíveis simula-
dores para que seja mantida a pro-
ficiência tática das equipes de GAS
através de longas séries de exerci-
cios que visam alcançar a tão alme-
jada eficiência. Em contrapartida,
no que diz respeito à GS, não há pro-
cedimento simples e bem conheci-
do para a busca e ataque a alvos de
superfície. Como conseqüência de
um grande número de procedimen-
tos experimentais e táticas reco-
mendadas, cada CGSUP desenvol-
ve seu próprio plano de engajamen-
to. Como resultado, cada exercício
possui uma doutrina de vigilância
completamente diferente, procedi-
mentos de controle aéreo e busca
diversos, além de utilizarem planos
de ataque diferentes. Poucos navios
possuem equipes adestradas para
a GS. Poderiam ser compostas por
um oficial responsável pelo cenário
tático de superfície, controladores
de aeronaves, plotadores, além de
operadores de radar, de sonar, de
equipamentos de GE e de direção
de tiro (DT) e de auxiliares diver-
sos. Normalmente, a tarefa da equi-
pe de superfície detalhada para
acompanhar os exercícios simula-
dos resume-se em assegurar que
haja alguém para proferir a tão ne-
cessária expressão mísseis lança-
dos, por ocasião do engajamento ao
final dos problemas de batalha.
Treinadores de terra raramente
são empregados para o adestra-
mento de toda a equipe de superfí-
cie. A despeito de a GS apresentar
complexidade semelhante à GAS,
11 NT — É de se esperar que nem sempre tais informações estejam disponíveis a quem
delas necessitar. Não devemos nos esquecer que interesses nacionais sempre estarão em jogo.
0 RENASCIMENTO das táticas. 163
são realizados um número ínfimo
de exercícios de busca, acompa-
nhamento e coordenação de meios
em proveito do adestramento de
GS, se comparados ao número da-
queles destinados à busca da per-feição na GAS.
Poucos oficiais da Marinha ame-ricana estão conscientes das signi-íicativas capacidades para a GSdos navios aliados. Pouco esforço é
feito no sentido de desenvolver e
exercitar procedimentos conjuntos
^e GS. Nas imediações do Mar da
Noruega existem navios ingleses e
noruegueses armados com MSS esubmarinos de ataque britânicos
armados com o sub-Harpoon. Um
número considerável de aeronaves
baseadas em terra e adequadas ao
ataque de alvos navais estão esta-
tonadas nessa área. O Estreito de
Kattegat é guardado pelos barcosde
patrulha dinamarqueses daclasse Willemoes, que usualmenteempregam
seus mísseis Harpoonc°m acurada precisão. Contudo, os
Procedimentos existentes para co-ordenar
os esforços dessas forçasraramente
são exercitados. Cadaforça nacional da região tende a lu-tar a sua própria batalha de super-fície, dando pouca atenção à coor-denação
de esforços.
A SOLUÇÃO
O instrumento básico para me-lhorar
o adestramento na GS éadaptar
o já consagrado regime deadestramento
empregado na GAS.
^uipes especializadas no .taquede superfície devem ser introduzi-das em todos os navios que pos-Suem
o Harpoon. Um oficial deveSer
adestrado no emprego de taisarmas,
e a ele deve ser dada a res-
Ponsabilidade das ações acima
d'água. O oficial de serviço no Cen-
tro de Informações de Combate
(CIC) seria o mais adequado para
esse serviço, já que os principais
problemas são a designação de al-
vos e o controle da vigilância feita
com meios aéreos. Deveriam ser
desenvolvidos exercícios para cada
uma das distintas fases do proble-
ma de superfície, incluindo a desig-
nação de alvos, o acompanhamen-
to de alvos detectados por meios
passivos, ataques coordenados e
análise dinâmica de alvos em mo-
vimento. Tais exercícios deverão
ser exaustivamente aplicados nos
adestramentos com simuladores,
de modo a promover técnicas de GS
padronizadas a nível de esquadra.
Devem ser instituídas competições
nos exercícios, nos simuladores de
terra e entre os navios, de modo a
assegurar a manutenção do eleva-
do nível de adestramento. Poste-
riormente, por ocasião dos exerci-
cios da esquadra com os navios no
mar, poderão ser elaborados cená-
rios mais complexos, envolvendo
combinações diferentes de exerci-
cios básicos. Tais exercícios tornar-
se-iam a prova de fogo para a con-
quista do domínio das táticas em-
pregadas na GS.
Táticas simples e padronizadas
devem ser desenvolvidas e incorpo-
radas às publicações básicas dos
aliados. Isso diminuirá o tempo de
reação e aumentará a capacidade
de coordenação entre as unidades
da Marinha americana, além de fa-
cilitar a operação conjunta com as
Marinhas aliadas da OTAN. Proce-
dimentos coordenados de GS de-
vem ser praticados em todas as
oportunidades com unidades de su-
perfície aliadas e, em particular,
com unidades aéreas baseadas em
terra que tenham capacidade de
atacar, com eficiência, alvos sobre
Mesmo se nunca for atacado, uf• -r.-rrt.-m-,' ,-1r ¦,«.¦¦!¦¦ :tm.-j/r,; ' - r—'"Tf ¦¦¦'«"¦ Sr--"-- •" J <<£&.*<&¦-iWVtttt-tW^^ ""¦' •<£(*wgM*^H^HaBi^i^^ii^aM^ms^^mxwHKSHH^^i^i!^aawi^MiflHHHÊB^
¦¦''¦''.,; r- *l r-i.-.l*-., " • ..'
, ... ;-. ¦
- r: ¦;¦ :^V^:.-';' ¦¦"¦:¦¦¦ ri:': '^y'1!^^^zW^tM^^^^^^_B___^ ''"'mr. _ . «£**'
St ¦*•:¦ ^^ffi''r'^-4^"^ %^~»m^^ÍÍ^>*Wl ''&-*$**?*** $88¦ SWiiimiíi"i *à^t*í^wÊzn^mi,m^~ zzí^Z?.T.í'*$È_í
•¦-•-• ¦
"",-'¦¦¦ ¦' .
o mar. As potencialidades das Ma-rinhas da OTAN devem ser estuda-das com esmero por ocasião doscursos de qualificação de oficiaispara a GS.
O PROBLEMA:LIMITAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS
Existem duas limitações deequipamentos que comprometemseriamente a eficiência na GS: aimpossibilidade de recarregar nomar os cofres lançadores dos mis-seis Harpoon e a inadequabilidadedo Link 11 do NTDS (Navy TacticalData System) para a GS. A primei-
ra pode levar o CGSUP a ser dema-siado econômico no emprego detais armas e forçá-lo a cometer inú-meros erros táticos. Um erro seriaconduzir um ataque limitado e, con-seqüentemente, ineficaz, na espe-rança de manter em reserva umacerta capacidade de ataque. Outratentação seria a de sustar o fogo atéque estivesse absolutamente certoda posição de todas as forças do ini-migo. Isso pode fazer com que oCGSUP perca a batalha pela pri-meira salva.
As deficiências do NTDS sáo con-seqüências do fato de o sistema tersido projetado para o apoio das
tais
precisa ser bem defendido.
,.i Que este momento nãoLhegue
nunca.
. E, se o Deus brasileiro
vinunca c^efíara-
, ; Mas. mesmo que nunca
um a®cat^>.e fundamental para
P Pais a organização e adnutençào
de um sistema de«esa
qUe garanta a segurança
PovoU terri^()r'° e a paz de seu
„ f., A Aerospatiale desenvolve
(ipf riÇa armamentos
[fnsiyos, especialmentencebidos
para neutralizar
objetivos militares. O Exocet,
que domina o navio inimigo.
O Roland *.
que elimina o perigodo avião de ataque. O Milan* e o
Hot*, que atravessam as
blindagens dos carros de
combate mais modernos.
E o AS 30 Laser, queenfrenta um Blockhaus a lOkm
de distância.
Um desempenho jaamplamente comprovado em
inúmeras operações de defesa.
Forque esta é a vocação e
a missão da Aerospatiale: manter
a paz, oferecendo o sistema
defensivo mais confiável
que existe.
Para dissuadir e, senecessário, repelir qualqueragressão.
Protegendo a nação,
defendendo o seu povoe garantindo a paz.
Mesmo que o país nuncaseja atacado.
'Parte do Programa Kuromissilc
aerospatiale*
^ípov
HipB aerospatiale
Vxosp atk* "
^¦Ções de defesa aeroespacial, sen-
Portanto, adequado para alvosransitórios
e de elevada velocida-Qe>
que requerem decisões rápidas6 engajamentos.
Um link de dadosldeal
para alvos de superfície deve-
fia ser estável e simples. A cinemá-lCa da GS é lenta e pode ser acom-
Panhada por um link de dados que
ransmita suas informações em
Utna reite pequena. Com a conse-
^Uênte redução do tempo de trans-fissão,
a probabilidade de o siste-*ha
ser detectado será menor, o quelrninui
as chances de ser bloquea-°- Com o processamento simultâ-e° dos acompanhamentos dos al-
vos de superfície, submarinos e aé-
reos, no mesmo link de dados, aos
alvos de superfície são atribuídos a
terceira prioridade nos procedi-
mentos de plotagem e acompanha-
mento. Além do mais, grande per-
centagem de exercícios de GS é
conduzida por um NTDS que atri-
bui aos alvos de superfície símbo-
los de validade questionável. A re-
construção de ataques a alvos que
estejam fora do alcance-radar da
unidade atacante, ou cujas coorde-
nadas tenham sido enviadas por ae-
ronaves, têm demonstrado que, se
fossem ataques reais, teriam sido
grandes insucessos.
166 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
AS SOLUÇÕES
A solução óbvia para a falta deum sistema de recarregamento demísseis para unidades no mar é de-senvolver um. Caso isso se mostreimpraticável para unidades que uti-lizem o sistema de cofres lançado-res, devem ser providenciados es-toques adequados desses mísseis,juntamente com o material neces-sário ao seu manuseio, em localida-des próximas às áreas de operação.Tal estocagem irá prover aoCGSUP uma reserva avançada eajudará a eliminar a tentação deconduzir ataques limitados. Para oproblema do NTDS, a melhor solu-ção é um segundo link dedicado aosalvos de superfície e submarinos. Oacompanhamento desses tipos dealvos é semelhante a um sistemasimples, com baixa reite de trans-missão de dados, poderá satisfazeràs necessidades dos ambientes desuperfície e submarino. Caso semostre impraticável, deverá serdesignado um coordenador de al-vos de superfície (CAS) para a for-ça, pois, do contrário, a existênciade um único coordenador de alvostorná-lo-á sempre sobrecarregadocom a compilação do cenário aéreo.
CONCLUSÕES
Para permitir que os navios deguerra de superfície alcancem oseu potencial máximo no que dizrespeito à GS, tendo em vista o au-mento crescente da ameaça sovié-tica, são feitas as seguintes reco-mendações:
— Alocar uma área de vigilânciade superfície a toda e qualquerunidade-tarefa. Determinar aoCGSUP o acompanhamento, a de-signação e a identificação de todosos contatos de superfície, empre-
gando todos os meios e informaçõesdisponíveis.
Desenvolver e praticar planosde busca e métodos de ataque sim-pies, padronizados para empregointeraliado, de modo a aumentar aoperacionalidade das forças ame-ricanas e da OTAN.
Aumentar a ênfase ao adestra-mento das ações de GS, com a cria-çáo de equipes de ataque de super-fície, com a designação de um ofi-ciai especialista em GS para cadanavio dotado de MSS, desenvolvernovos exercícios de GS, dar maiorênfase aos exercícios feitos em si-muladores táticos e buscar a máxi-ma eficiência possível nas ações deGS.
Utilizar os treinadores/simu-ladores de terra e adequá-los aoadestramento das equipes de GS.Encorajar a competição entre osnavios, por ocasião dos exercíciosde porto.
Desenvolver GRASUPs nu-cleados em cada um dos encoura-çados. Seus escoltas seriam consti-tuídos de fragatas da classe OliverHazard Perry (FFG-7), com suascapacidades totais de MSS, ou decontratorpedeiros da classeSpruance (DD-963), dotados de lan-cadores verticais. Tais forças se-riam destinadas a operações avan-çadas, com apoio aérotático basea-do em terra, nas águas do Mar daNoruega, do Mar Mediterrâneo edo Mar da China.
Desenvolver uma capacidadede rearmamento de MSS para na-vios no mar, dotados de sistemas delançamento por cofres, ou estabe-lecer depósitos avançados dessesmísseis em áreas próximas aos tea-tros de operações, de modo a dar a°CGSUP uma reserva de MSS ade-quada.
0 Renascimento das táticas. 167
— Desenvolver um link de dadosadequado
ao cenário de superfície,°u revisar os procedimentos deacompanhamento
atuais, de modoa assegurar
que seja dada a devi-
importância aos alvos de super-fície.
A despeito do grande progressoVerificado
no âmbito da GS desde0 aParecimento dos mísseis Har-Poon, e do aumento da importânciadada
a este tipo de guerra, ainda é
^ecessário um grande impulso no
,esenvolvimento de táticas nestaarea,
de modo a enfrentar a amea-?a de superfície soviética. A GS não
pode ser uma atividade secundária
para as equipes de superfície dos
CICs. As ações não devem ser res-
tritas a ataques ocasionais desfe-
chados, tendo por base dados de
precisão questionável. Deve ser
considerada como uma atividade
de tempo integral, que requer uma
atualização constante e um contí-
nuo aperfeiçoamento das técnicas
de resolução do problema do tiro.
Os navios não podem se dar ao lu-
xo de desperdiçar os poucos e pre-
ciosos mísseis que usualmente
transportam. Os ataques precisam
ser conduzidos com rapidez e pre-
cisão, bem coordenados e decisivos.
CORRFA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Ninguém pode oferecer
uma grande proteção
se nào for grande também
ATUALIZE SEU ENDEREÇO
SEDE
Av. Presidente
Vargas, 583/4.° and.
Tels.: 221-0072 e
224-0660 - Rio
de Janeiro - RJ Anapp
Oik))
A A O> .
f(M
o
RECUPERAR
É GERAR LUCROS
lavegue no mar tranqüilo da economia recuperando
as peças desgastadas e transformando-as em novas através demoderna tecnologia com pessoal técnico
i de alto nível.A Neutron direciona a sua rota rumo àrecuperação, fabricação ou nacionalização
de peças e materiais na área naval e indus-
trial, tais como: coroa de êmbolo, válvulas, sedes
de discargas e admissão, cabeçote, saia de êmbolo, cilindroshidráulicos de qualquer capacidade e bombas hidráulicas de alta pressão.
Serviços especiais de usinagem pesada de peças até 10 toneladas ediâmetro máximo de 1.600 mm. Fabricação de bombas centrífugas verticais
em aço inox para água salgada ou produtos químicos, com vazão de até130 m3/h.
Sistema Holandês para recuperação de coroas de êmbolo.
rnciiTOon)
Peças e Assistência Técnica Autorizada
IIEBHERR
M0T0RES Neutron Indu.trl, . Comércio Ltd., Gu.nd.s.os
Rua Bela, 939 • São Cristóvão - Rio de Janeiro • RJ ¦ CEP 20930Tel.: (021) 580-7434 • Telei (021) 33962 NEUT
a
o LADO PITORESCO
DA VIDA NAVAL
Prezado leitor.
Atendendo a sugestões, iniciamos neste núme-
ro a experiência de apresentar casos pitorescos vi-
vidos no cotidiano do serviço ou mesmo extratos do
anedotário naval, razão pela qual sua colaboração se-
rá preciosa.
Porém, em se tratando de uma experiência, é
da maior importância que a Revista Marítima Bra-
sileira receba opiniões ou sugestões quanto à prática
ora iniciada, para que possa a mesma ser reexami-
nada quanto ao acerto de sua efetivação.
Contamos com a sua cooperação.
A Direção.
PRA QUE MÁQUINAS?
O velho Navio-Auxiliar Silvestrede Matos aproxima-se para a atra-cação no cais de Recife. Tendo co-
comandante e imediato doisbrilhantes
oficiais hidrógrafos,fazia-o
sem prático. A manobra nãof°ra fácil, mas o navio já estavadentro do quebra-mar, ao abrigodos ventos e correntezas, particu-larmente
fortes naquele agosto doano de l97x.
Veio, então, a primeira ordem doc°mandante
ao imediato, procu-rando
quebrar o seguimento do na-Vlo,
que se aproximava do cais naestupefaciente
velocidade de 5 nós,'buito
próxima de sua máxima,
guando navegando com mar e ven-to de popa.
— Máquinas atrás 1/3!, foi a vozde comando, calma e serenamenteemitida,
em acordo com o tempe-
Emento e as atitudes do Capitão-
-de-Mar-e-Guerra Cambuci, com-
petente filósofo do mar.
As máquinas não atendem, co-
mandante!, respondeu o imediato
após acionar em vão o telégrafo de
manobra. A atitude era a mesma
do comandante. O Capitão-de-Fra-
gata Amoldo também não era de se
alterar. Seu temperamento asseme-
lhava-se em muito ao de seu chefe.
O Silvestre de Matos não era um na-
vio comum!
Passados alguns instantes, nada
mudara no cenário e o navio conti-
nuava aproado ao cais.
Máquinas atrás 2/3!, coman-
dou o imperturbável Cambuci.
As máquinas não atendem, co-
mandante!, repetiu o imediato, ain-
da sem se alterar.
O silêncio no passadiço era com-
pleto. Só não se ouviam voar as
moscas porque elas ainda não ha-
viam embarcado. Iriam fazê-lo às
centenas em Recife!
NR — Estas quatro historietas são parte de um livro a ser proximamente publicado.
170
E o cais se aproximando!
Repetiu-se o ritual:
Máquinas atrás toda força!
As máquinas não atendem,
comandante!
Ninguém se perturbou. O cais
cresceu e de repente um estrondo.
O navio se chocara com as defensas
e com seu local de atracação. Tre-
meu, balançou, mas isso não era
novidade, ele vivia a tremer e ba-
lançar: um pequeno amassado na
bochecha de boreste e eis o navio
parado ao longo do cais no local de-
vido.
Todos se entreolham e fitam o
comandante.
E o velho Cambuci, sem se alte-
rar, vira-se para o imediato e diz:
Imediato! Navio em posição!
Dobrar a amarração! Baldear o
navio e licenciar a guarnição logo
em seguida!
O Silvestre de Matos não era,
realmente, um navio comum!
O BICENTENÁRIO
DA INDEPENDÊNCIA
DOS ESTADOS UNIDOS
Nova Iorque vivia dias de festa.
Comemoravam os Estados Unidos o
bicentenário de sua independência.
A cidade juntava a seus oito mi-
lhões de habitantes outros tantos
vindos de todos os recantos do país,
para assistirem, em particular, à
parada naval que se realizaria na-
quele 4 de de julho de 1976.
A Marinha brasileira e o Brasil
ali estavam representados pelo
Contratorpedeiro Sergipe. Por uma
feliz coincidência, esse navio fora,
na Marinha americana, o James C.
Owens, USS-776, com o lema bem
apropriado à ocasião: "Thespiritof
776". Agora era um navio eficiente
e feliz!
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
A chegada
Eram 46 os navios que, às 07 ho-
ras do dia 3, iniciaram a demanda
do porto, divididos em três colunas.
Estavam representados 21 países.
O Sergipe ocupava o posto número
14 da segunda coluna. Tinha na sua
proa o Hobart, australiano, e à ré o
Duperre francês.
Recebido o prático, próximo à
barca-farol de Ambrose Light, o
Sergipe prosseguiu seu caminho. A
partir da Verrazano — Narrows
Bridge, a formatura passou a ser
acompanhada por centenas de em-
barcações miúdas, cujas tripula-
ções acenavam e saudavam os vi-
sitantes com entusiasmo.
Pouco a pouco, no entanto, podia-
-se perceber que os barcos que se-,
guiam os navios de guerra concen-
travam-se, em número muito
maior, nas proximidades do Sergipe.
Qual a explicação? Muito sim-
pies: a rede de fonoclamas do na-
vio mudara o repertório musical.
As marchas militares haviam sido
substituídas por interpretações de
música popular brasileira.
Era o samba entrando à barra.
Era a alegria dos marinheiros bra-
sileiros a transbordar e contagiar
a todos!
Assim foi até o ponto de fundeio.
Uma vez fundeado, cerca das 14
horas, começou a faina de retoque
na pintura e preparação para a re-
vista naval. Autorizado pelo co-
mandante do navio, o conjunto mu-
sical de bordo deslocou-se para a
popa e passou a proporcionar pre-
texto para um minicarnaval nos ia-
tes e lanchas.
O entusiasmo crescia e com ele
o número de embarcações miúdas.
Alguns mais animados começavam
uma troca de souvenirs em que pos-
te rs do Rio de Janeiro, bonés de ma-
0 lado pitoresco da marinha 171
rinheiros, chaveiros, etc. eram tro-
cados por camisetas americanas,
isqueiros e outras bugigangas, per-
tencentes ao inventário das coisas
inúteis em uma embarcação de
recreio.
Nesse troca-troca, em que a tri-
Pulação do Sergipe granjeou a sim-
Patia maior dos iatistas, a mais sur-
Preendente das trocas foi aquela
ern que um marujo, tendo dado seu
boné de viagem, deixou uma moça
ein apuros, por não ter mais com
Que retribuir. Após breve momen-
to de reflexão, a desinibida jovemencontrou a solução: tirou e lançou
Para bordo seu soutien.
Terminou aí o troca-troca, poração do oficial de serviço, temero-
so do que poderia vir depois.
A Noite do Dia Três
Navio pronto, limpo e arrumado,c°mo baixar terra? As lanchas de
bordo não se mostravam suficien-tes
para um licenciamento geral e0 comandante não se dispunha a li-
cenciar apenas os oficiais. E todos
queriam ver um pouco da festa emterra!
Após gestões junto ao oficial de
ügação, conseguiu-se incluir o Ser-
&*pe no roteiro das conduções de li-
Çenciados dos navios americanos e
as 20 horas aqueles que não esta-vam de serviço baixaram terra. Oregresso
para bordo foi dissemina-
conduções às 2 , 3 e 4 horas pa-ra
praças e às 4h 30 min paraoficiais.
Dia 4 de julho, 4h 20 min da•hanhã!
O comandante e alguns oficiaischegam
ao cais e se deparam comUrna cena surpreendente. Todas as
Praças que haviam saído de bordo
encontravam-se espalhadas pelo
cais, disciplinadamente dispostas,
ao tempo sofrendo os rigores do frio
da madrugada nova-iorquina. E só
havia eles. Nenhum americano!
Questionado, um dos sargentos
do navio deu a explicação:
Estamos aqui, a grande maio-
ria, desde uma e trinta. Já vieram
três lanchões para levar os licencia-
dos. Ocorre que, quando eles se
aproximam, saem dezenas de ame-
ricanos daquele prédio ali — e
apontou para um edifício de quatro
andares que se assemelhava ao
prédio do Primeiro Distrito Naval
no Rio, porém um pouco menor —,
muitos bêbados, outros sonolentos
e, com violência, embarcam, após
empurrarem quem estiver em seu
caminho.
E por que vocês não os empur-
ram também?, perguntou um dos
oficiais.
E pode?, respondeu rápido o
Cabo (MR) Maltês, crioulo tipo
guarda-roupa, logo excitado com a
perspectiva de uma ação
O imediato nos recomendou
disciplina e por essa razão evita-
mos um rolo com os gringos, com-
pletou o Terceiro-Sargento (CA)
Bemvindo, apelidado a bordo de
"Pezão", por calçar 46, bico largo.
Vendo o entusiasmo se alastrar
entre as praças e mesmo alguns ofi-
ciais, o comandante decidiu exer-
cer seu poder moderador e exerci-
tar sua liderança. Deu a ordem:
Muito bem! Quando a próxi-
ma lancha se aproximar, vocês se
organizem de modo a embarca-
rem. Não agridam ninguém. Ape-
nas se defendam, pois sei que não
precisarão de violência.
Tenente Pedro Lima! Distri-
bua e instrua o pessoal. Tem cinco
minutos para isso.
172 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Pedro Lima, EGA* do navio, sa-fo e decidido não precisou de segun-do estímulo. Quando a lancha seaproximou e, como das vezes ante-riores, os americanos, alertadospor uma sirene interna, tentaraminvadir o pátio de embarque encon-traram à sua frente uma muralha,intransponível: "Pezão", Maltês,Arlindo (conhecido como "BodeCheiroso"), Liomar (o popular "As-terix") e alguns outros que, se nãoeram tão fortes, tinham a malíciados nossos marinheiros. Algumaspernas, estrategicamente coloca-das, causaram pequenas quedas e,para resumir e encurtar a narrati-va, todos embarcaram, e o coman-dante o fez por último, sem que nin-guém lhe tocasse. O soccer vence-ra o rugby.
O Comício em Times Square
Atracados, incólumes, puderamos tripulantes do Sergipe baixarterra, felizes e descontraídos. Emgrupos alegres, logo se integraramao clima de festa que dominava acidade.
Foi com um desses grupos, aque-le que reunia o pessoal do conjuntode bordo, portanto, rico de cuícas,
frigideiras e tamborins, que se pas-sou um quase incidente. Vinhameles dançando e cantando, integra-dos à alegria geral. Assim entra-ram em Times Square, confrater-nizados com marujos do Sagres edo Libertad, e se depararam cominflamado comício racista que de-via reunir, em exaltada agitação,cerca de 200 negros americanos,ovacionando em coro um oradorque exaltava o poder negro e prega-va a violência contra os brancos.
E nosso pessoal, ainda mais ago-ra, quando misturado a argentinose portugueses, mesclando brancos,pretos, mulatos, louros!
Não se intimidaram os mari-nheiros. Não chegavam a 50, mas ti-nham animação e coragem de mui-tos mais. Continuaram a cantar edançar e foram se aproximando dolocal do comício. Quanto mais seaproximavam, menor se fazia o co-ro racista.
E chegaram mais e mais!A surpresa explodiu então. Eram
250 a dançar e cantar, irmanados efelizes! O orador e cinco ou seis deseus mais diretos adeptos saíramde fininho!
Não há racismo que resista à pu-ra alegria de nossa raça, de nossosmarinheiros!
* Encarregado-Geral do Armamento, denominação antiga do hoje chefe do Departa-mento de Armamento.
DOAÇÕES AO SDGM
departamento de museu naval e oceanográfico
Relação de doações no decorrer do 1? trimestre de 1986
PE^AS DOADORES
acervo do almirante adalberto Luiz F. Monteiro de Souza e Carlos
de barros nunes Augusto de Souza Caravelle
CONDECORAQOES
Ordem do Merito Naval — Idem
Gra-Cruz.
Ordem do Merito Militar — Idem
Comendador.
Ordem do Merito Aeronautico — Idem
Grande Oficial.
Ordem do Merito Rio Branco — Idem
Gra-Cruz.
Ordem da Coroa da Belgica — Oficial. Idem
Ordem de Bernardo O'Higgins Idem
(Chile) — Gra-Cruz.
Ordem do Grande Cordao da Nu- Idem
vem e Bandeira (Republica da Chi¬
na) — Gra-Cruz.
Ordem do Merito da Seguran^a Na- Idem
cional (Coreia) — Gra-Cruz.
Estrela das Forgas Armadas — Idem
Equador.
Merito Especial, da Armada do Idem
Mexico.
Ordem del Sol de Peru — Grande Idem
Oficial.
Ordem de Sao Bento de Aviz — Gra- Idem
-Cruz.
Ordem do Merito Naval, da Vene- Idem
zuela, 1? classe.
Alta Distingao da Academia Brasi- Idem
leira de Medicina Militar.
Ordem do Merito de Brasilia — Idem
Gra-Cruz.
D. Pedro I, do Museu Historico de Idem
Sao Paulo.
Ordem de Estacio de Sa — Gra-Cruz Idem
Inconfidencia. Idem
Ordem do Merito Juridico Militar. Idem
174 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
PEQAS DOADORES
Honra do Merito, da Sociedade de Idem
Direito Aeronautico e do Espa<?o.
Ordem do Merito do Trabalho — Idem
Gra-Cruz.
Merito Maua. Idem
MEDALHAS COMEMORATIVAS
Vinte e sete nacionais. Luiz F. Monteiro de Souza e Carlos
Augusto de Souza Caravelle
Duas estrangeiras. Idem
BRASOES
Dez nacionais. Luiz F. Monteiro de Souza e Carlos
Augusto de Souza Caravelle
Tres estrangeiros. Idem
PLACAS DE PLATINA, BRONZE E METAL
Quarenta e duas nacionais. Luiz F. Monteiro de Souza e Carlos
Augusto de Souza Caravelle
Sete estrangeiras. Idem
DIVERSOS
Pavilhao de ministro (miniatura, Luiz F. Monteiro de Souza e Carlos
em tape^aria) Augusto de Souza Caravelle
Bandeira nacional (um pano). Idem
Espada naval e Espadim de guar- Idem
da-marinha.
Bandeja oferecida pelas unidades Idem
subordinadas.
Suporte para livros, em madeira, Idem
com aplicagao de prata.
Quadro: Almirante Adalberto de Idem
Barros Nunes, oleo s/madeira, as-
sinatura ilegivel.
DOAQOES AO SDGM 175
PE^AS DOADORES
ACERVO DO ALMIRANTE JOSE
MOREIRA MAIA
MEDALHAS E CONDECORAQOES
Servi?os de Guerra — uma estrela. Laura Lahmeyer Leite Maia e Eva
Maia Machado de Oliveira
Ordem do Merito Naval — Gra-Cruz. Idem
Ordem do Merito Militar — Gran- Idem
de Oficial.
Ordem do Merito Aeronautico — Idem
Corpo de graduados especiais.
Militar de Ouro. Idem
Militar de Platina. Idem
Legiao do Merito (EUA) — Idem
Comando.
Cruz Peruana el Merito Naval — Idem
Gra-Cruz.
Ordem do Merito Militar — Portu- Idem
gal — l? classe.
Ordem do Merito Juridico. Idem
diversos
Espada naval, talim e bastao de Laura Lahmeyer Leite Maia e Eva
comando. Maia Machado de Oliveira
Medalha comemorativa da incor- Contra-Almirante (FN) Giovani
poragao da Ilha da Trindade ao pa- Gargiulo
trimonio da Marinha.
Medalha comemorativa do cin- Capitao-de-Mar-e-Guerra (RRm)
qtientenario da Odontoclinica Cen- Max Justo Guedes
tral da Marinha — 1935/1985.
Brasao do Batalhao de Manuten^ao Batalhao de Manutengao e Abaste-
e Abastecimento. cimento
Identificador de astros n? 2102 C/A Elizabeth Luna
TYPE.
176 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
PEÇAS DOADORES
Soquete de marfim (utensílio de Comando do Segundo Distritofarmácia), segunda metade do sé- Navalculo XVII.
Sextante H. Hughes e Son. — Lon- Idemdres, 1919.
Fuzil Winchester modelo (G), cali- Centro de Munição Almirante An-bre 7,62 mm, n? 1853951. tônio Maria de Carvalho
Fuzil Springfield, semi-automático, Idemcalibre 7,62 mm, n? 3400582.
Fuzil Springfield, repetição, calibre Idem7,62 mm, n? 1208480.
Fuzil-metralhadora Browning, ca- Idemlibre 7,62 mm FMB, n? 532431.
Fuzil Rock Sland, calibre 7,62 mm. Idem
Sabre Springfield (pequeno). Idem
Sabre Springfield (grande). Idem
Espingarda Remington, calibre 12, Idemn? 495288.
Espingarda Stevens, calibre 12, n? Idem55533.
Espingarda Savage, calibre 12, n? Idem75686.
Fuzil-metralhadora Hotckiss, cali-bre 7 mm, n? 6885.
Modelo naval — Fragata classe Ni-terói em metal prateado.
Idem
Diretoria Geral do Material da Ma-rinha
doações ao sdgm 177
departamento de arquivo da marinha
Relação do material doado, de 15/02 a 15/05 de 1986
ARQUIVO HISTÓRICO
MATERIAIS DOADORES
Ache gas para a Historia do Institu- Severino Sombra
to de Geografia e Historia Militar
do Brasil (publicagao).
Fichas de Informagoes do Servigo Capitao-de-Fragata Douglas Eden
de Carta de Navegagao Aerea (no Brotto
ano de 1934).
Acervo do Almirante Jose Moreira Laura Lahmeyer Leite Maia e Eva
Maia. Maia Machado de Oliveira
Organizagao Administrativa do Capitao-de-Mar-e-Guerra Frederi-
Navio-Escola Almirante Saldanha, co Corner Montenegro Bentes
durante a XIII Viagem de Instru-
?ao.
Recortes de jornais sobre o Navio- Capitao-de-Corveta Pedro Gomes•Escola Almirante Saldanha eabio- dos Santos Filho
grafia do Almirante Washington
Perry de Almeida.
Folhetos sobre a inauguragao do Almirante Stanislau Faganha So-
palacio da Ilha Fiscal e sobre a Cor- brinho
veta Camocim.
Cartas de Francisco Otaviano ao Maria Christina de Almeida Braga
Conselheiro Francisco Xavier Pin¬
to Lima.
178 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ARQUIVO ICONOGRÁFICO
MATERIAIS DOADORES
Onze fotos referentes ao Almiran- Capitão-de-Mar-e-Guerra (RRm)te Alberto da Cunha Pinto; uma fo- Hydio Carrão da Cunha Pintoto do NHi Rio Branco, e um álbumcom fotos e recortes de jornais so-bre a Comissão de Metalurgia daMarinha.
Cinqüenta e três fotos relativas à Diana Lavigne Quintanilhacarreira do Almirante Carlos Au-gusto Gaston Lavigne.
Uma foto da vinheta alegórica dos Comandante Estácio dos Reisnovos inventos e melhoramentos naciência naval militar.
Duas fotos do Navio-Escola Almi- Laura Lahmeyer Leite Maia e Evarante Saldanha. Maia Machado de Oliveira
DO AÇÕES AO SDGM 179
departamento de biblioteca da marinha
Relação de doações no decorrer do 2? trimestre de 1986:
Almirante Figueira
Elizabeth Luna
Almirante Oswaldo Pinto de Carvalho
Hector Tanzi
Vice-Almirante Fernando de Carvalho Chagas
Ministro Gualter Godinho
Capitão-de-Mar-e-Guerra Amadeu Martire Filho
Capitão-de-Mar-e-Guerra Luiz Carlos Burgos
Capitão-de-Mar-e-Guerra Frederico Corner Montenegro
Bentes
Capitão-de-Fragata Elígio Ferreira de Moura Filho
Embaixador Mário Calábria
Gipuzkoako Ozeanografi Elkartea
Waldo Vieira
Batista Aragão
Roberto Alves da Cunha
110 volumes
100 volumes
24 volumes
3 volumes
2 volumes
Gilberto Caixeta da Silva
Ana Lúcia Cabral Duarte Pereira
Diana Lavigne Quintanilha
1 volume
1 volume
1 volume
1 volume
1 volume
1 volume
1 volume
1 volume
1 volume
Coletâneas de
fotografias
1 volume
1 volume
1 volume
TOimCA
eESmTÉGIA
revista trimestral de política internacional e assuntos militares
O Futuro das Relações Brasil-Estados Unidos
Sérgio Franklin Quintella
Alexandre de S. C. Barros
Paulo Kramer
Mahan e a Teoria do Poder Naval
João Carlos G. Caminha
Diplomacia e Hegemonia no Cone Sul
Clodoaldo Bueno
Resistência à Opressão:
Posição e Ação das Forças Armadas
Cláudio Pacheco
Política Externa:
Privilégio do Poder Executivo?
Vera de Araújo Grillo
Assinatura anual: CzS 65,00
Número avulso: Cz$ 20,00
Nome
Rua
Cidade Estado CEP
Fone Anexo cheque no valor de
CzS do Banco
n" em nome do <
CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS
Alameda Eduardo Prado, 705 - 01218 - São Paulo -SP
(011) 826-7577
I
Marinha de outrora
Uma FORÇA-TAREFA
brasileira nos
EUA EM 1890
CMG (Ref.) CARLOS BALTHAZAR
DA SILVEIRA
Após a sua proclamação, a Repú-
blica se instalava timidamente. As
grandes nações não se atreviam a
reconhecer a nova forma de gover-
no, até que os Estados Unidos o fa-
zem em seguida ao Chile, Uruguai,
Paraguai e Argentina. Era preciso
dar realce internacional a esse ato
de solidariedade continental, tão
encarecida por José Bonifácio, Joa-
quim Nabuco, Ruy e Rio Branco.
Uma constante da nossa política in-
ternacional.
Deodoro resolve enviar aos Esta-
dos Unidos uma divisão naval pa-
ra louvar tão fraterno procedimen-
to. O Almirante Balthazar é o seu
chefe e transfere seu pavilhão pa-ra o Aquidaban, que, com o Guana-
bara, aporta em Nova Iorque a 26
de novembro de 1890. Júlio e Carlos
Noronha comandam as unidades.
Tal missão de alta diplomacia do
mar contribuiu enormemente parasolidificar os laços de amizade en-
182 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
tre ambos os países, como está res-saltado nos relatórios do Dr. José doAmaral Gurgel Valente, então nos-so ministro em Washington. O Al-mirante Balthazar entregou aoPresidente Harrison uma medalhade ouro e paládio, como marco deuma desejada unidade continental,uma semente do que depois se en-tenderia como a Doutrina de Mon-roe. Várias foram as festas, visitase até uma sessão especial no Sena-do americano, fato que só é costu-me acontecer para certos chefes deEstado.
Sobre este importante serviço di-plomático, noticiou o jornal cario-ca O Paiz, de 31 de dezembro de1890*:
"Pelos telegramas que temos pu-blicado e expedido pelo nosso corres-pondente especial em New York,sabe-se que chegou há tempos aque-la cidade a divisão brazileira, envia-da pelo governo, em missão extraor-dlnária, aos Estados Unidos.
A medalha, cuja entrega ao Pre-sidente da República era o fim prin-cipal da viagem e que estava expôs-ta, nesta cidade, na casa Farani, foimuito admirada na América doNorte e o "New York World" diz seruma das mais bellas que se tem atéhoje cunhado.
Ao fazer a sua entrega ao Presi-dente dos Estados Unidos, o Con-tra-Almirante D. Carlos Balthazarda Silveira, Comandante da Divi-são, pronunciou, em corretíssimoinglês, as seguintes palavras: 'Sr.Presidente. Tenho maior prazer, co-mo representante do Governo doBrazil, de apresentar-vos esta car-ta, expressão sincera dos sentimen-tos da nação brazileira para com oPresidente dos Estados Unidos, de
sua gratidão, pelo reconhecimentoda forma republicana de seu gover-no e pela visita que aos portos doBrazil fez a poderosa esquadraamericana sob as ordens do Almi-rante Walker. Tenho também pormissão depositar-vos nas mãos es-ta medalha, cunhada expressa-mente para rememorar tão nota-veis acontecimentos. Espero queseja ella o symbolo eterno de umeterno affecto entre os dois povos.''Almirante, respondeu o Presi-dente, tenho profunda satisfação deouvir de vossos lábios e de receberestas provas de respeito e de ami-zade do presidente, e do povo dosEstados Unidos do Brazil. Alegra-mo-nos com o advento da repúbü-ca ao território brazileiro e temosinabalável certeza de que a vossanação continuará sempre a trilhara senda da ordem e prosperidade,que encetou. Esperamos que as re-lações, tão cedo e tão auspiciosa-mente começadas entre as duas re-públicas irmãs, sejam inquebran-táveis e produzam mútuas ventu-ras.'
Offereceu depois o presidente danação amiga um banquete à offi-cialidade brazileira, tendo à noitelogar um esplêndido baile, dado pe-lo governo nos salões da Casa Bran-ca."
Por seu turno, o jornal america-no New York Daily Tribune, de26/11/1890, publicou a seguinte no-tícia:
NAVIOS DE GUERRABRASILEIROS AQUI
SAUDADO POR SALVASDE CANHÃO
NR — Conservou-se propositadamente a grafia da época.
a Marinha de outrora 183
* * *
eles vieram trazendo
A MEDALHA DE HONRA
DA JOVEM REPÚBLICA
* * *
TROCADAS cortesias oficiais
* * *
"O esquadrão brasileiro, trazen-
do a grande medalha de ouro envia-
pela nova república do Sul para0 Presidente dos Estados Unidos,como um símbolo de gratidão peloseu
pronto reconhecimento do atual
Soverno, foi avistado ao largo defíighlands
às 2:30 na tarde de on-tem.
O cruzador de casco de aço Aqui-daban foi avistado primeiro arvo-rando
o pavilhão do Contra-Almi-rante
Balthazar da Silveira. Nave-
£ando a uma certa distância, maisPara ré, vinha a corveta de casco deladeira Guanabara, sob o coman-do do Capitão-de-Mar-e-GuerraCarlos
de Noronha. A canhoneirados Estados Unidos Yorktown e oaviso Dolphin estavam fundeadosdentro
do Hook, onde, por váriosdias, eles tiveram de esperar a che-£ada dos brasileiros.
Quando os navios visitantes pas-savam
pelas praias baixas do Hook,sua
aproximação foi sinalizada pa-ra os navios americanos e prepara-?°es foram feitas para saudar aandeira do almirante brasileiro.
Quando o esquadrão brasileiro
jhontou o Hook e aproximou-se do
dgar onde o Dolphin e Yorktown es-avam fundeados, uma salva de 15lr°s
sacudiu a baía baixa e foi re-c°nhecida
pelo Aquidaban. Eram^Uase cinco horas quando o navio-CaPitânia
e o seu companheiro, o
Guanabara, finalmente fundearam
por fora do "Southwest
Spit", e o
Captain Yates Stirling, represen-
tando o Contra-Almirante Gherar-
di, foi a bordo do Aquidaban paraapresentar ao Almirante da Silvei-
ra as boas-vindas às águas ameri-
canas e conceder a ele a permissão
de entrar no porto.
Logo após, o "cutter"
de revista
Chandler chegou trazendo a bordo
o Dr. W.H. Smith, oficial de saúde
do porto, que, diante da garantia do
cirurgião de bordo de que não ha-
via a bordo qualquer caso de doen-
ça infecciosa, deu à 'esquadra'
per-missão para prosseguir. Então, na
escuridão da noite, um rebocador
veio até o navio-capitânia (brasilei-
ro) trazendo a bordo o Ministro do
Brasil em Washington, o Cônsul-
Geral brasileiro naquela cidade,
Mr. Charles R. Flint do C.R. Flint
& Co., Captain S.M. Lachlan, geren-
te-geral da U.S. and Brazil Mail
Stanship Co., e outros.
Uma recepção informal foi ofe-
recida pelo Almirante da Silveira
em sua cabine no Aquidaban, es-
tando presentes muitos oficiais do
Yorktown e do Dolphin.
As 8 horas nesta manhã, os na-
vios brasileiros suspenderão e, es-
coitados pelo Yorktown e Dolphin,
passarão pelos "Narrows",
e os for-
tes de lá darão uma ruidosa salva
quando por eles passarem. Das pa-redes vermelhas do Castelo de Wil-
liam, uma outra salva será dada
quando da passagem da esquadra
pela "Governor's
Island".
O Contra-Almirante Gherardi,
no seu capitânia Philadelphia, quese encontra fundeado desde domin-
go em frente à Rua 23 no North Ri-
ver, espera a vinda dos brasileiros.
Tão logo os navios visitantes anco-
rarem nos lugares reservados pa-ra eles, à ré do Philadelphia, salvas
184
serão trocadas entre os dois capita-
nias. O Almirante Gherardi irá for-
malmente, acompanhado de seu es-
tado-maior, visitar o Almirante da
Silveira; será recebido no Aquida-
ban em postos de continência, os fu-
zileiros formados, os tambores ru-
fando e as trombetas tocando uma
fanfarra.
Com todas as circunstâncias da
etiqueta oficial, o Almirante brasi-
leiro receberá as boas-vindas aos
Estados Unidos. Quando o Almi-
rante Gherardi tiver regressado a
bordo do Philadelphia, o Almiran-
te da Silveira retribuirá a visita.
Cumprida a cortesia oficial, o Al-
mirante brasileiro, acompanhado
de seu estado-maior, irá para o
Fifth Avenue Hotel, onde o Almi-
rante Walker, representante do Pre-
sidente, e o Tenente T.B.M. Maron,
representante do Secretário da Ma-
rinha, lá estarão para recebê-los.
A medalha que o Almirante da
Silveira traz é de ouro e platina e
pesa 14 3/4 onças. Tem 3 polegadas
de diâmetro e 1/4 de polegada de
espessura. Em uma das faces en-
contra-se uma figura alegórica do
Brasil e uma estrela de 5 pontas en-
volvida por um ramo de louro, com
a seguinte inscrição suspensa nas
duas pontas inferiores da estrela:'Estados
Unidos do Brasil, 15 de no-
vembro de 1889' o qual traduzido
significa..., sendo a data aquela em
que o Brasil se tornou uma repúbli-
ca. No reverso está uma águia ame-
ricana carregando nas suas garras
as armas dos Estados Unidos com
um ramo de louro em uma garra e
um ramo de carvalho na outra. A
águia está voando em direção ao
Brasil com um ramo de oliva no seu
bico. Em baixo está a inscrição 'À
República dos Estados Unidos da
América' ou..."
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Do New York Daily Tribune,
30/11/1890:
UMA RECEPÇÃO
NA CASA BRANCA
UM BRILHANTE GRUPO SE
ENCONTRA PARA SAUDAR OS
OFICIAIS BRASILEIROS
ALGUNS DOS NOTÁVEIS
PERFIS E FIGURAS
DA OCASIÃO:
ALMIRANTE WALKER
E SR. BLAINE
«Wash. Nov. 29 — Aqui estão al-
gumas observações feitas durante
o nosso caminhar através das salas
da Casa Branca na noite passada,
quando a recepção do Presidente
aos oficiais brasileiros estava no
seu clímax. Primeiro, os cumpri-
mentos pela magnífica Banda de
Música dos Fuzileiros, tocando com
muita sensibilidade na ante-sala da
Casa Branca. Não há melhor ban-
da militar no mundo. As famosas
bandas de Londres, Paris e Viena
são dificilmente um confronto pa-
ra sua excelência. Apenas em Ber-
lim é que algo parecido pode ser en-
contrado. O ponto de evidente supe-
rioridade da banda é a sua garra e
seu talento. Seu líder, Sousa, que a
tem a seu cargo por vários anos, e
responsável, naturalmente, pela
sua excelência. Antes do seu tempo
havia uma banda comum com ne-
nhuma pretensão de superioridade.
À direita, quando você entra na
Casa Branca, encontravam-se os
atendentes de cor. Estes atenden-
tes, nas salas de espera de senho-
ras e senhores, não estavam de li-
bré; nem elas trajavam a rigor, co-
mo se vestem freqüentemente ert1
casas particulares. Eles estavam
com roupas de trabalho e aparen-
A MARINHA DE OUTRORA 185
temente tinham o sucesso da recep-Ção nos seus corações, como se elesfossem os anfitriões. É ímpar ver osorriso de boas-vindas e saudaçãodada por este pessoal para alguémque eles raramente tinham visto naCasa Branca. O novel espetáculo dealguns desses atendentes apertan-do as mãos de alguns dos convida-dos, que tinham nos braços suas ca-Pas, foi visto algumas vezes.
Isto é natural, para cada um emWashington que reconhece o fato deque o pessoal de cor são os últimosbons criados existentes e que suademonstração de afetividade nãoarranha nem de leve o desrespeito.
De fato, é uma genuína afeiçãoQue o pessoal de cor têm para aque-les que sabem tratá-los, e isto cons-titui a base de seus bons serviços.Quando duas senhoras estavam seafastando de uma calorosa saúda-Ção de um atendente cor de caféque acabara de assegurá-las que foibom para seus olhos verem antigosamigos uma vez mais na CasaBranca, uma delas relatou uma es-tória característica de atendentesde cor. Ela empregou uma moça decor que deu uma grande satisfaçãoa amigos dela. Ela não podia fazernada com esta moça e um dia cha-mou-a para perguntar por que ela,que foi tão boa atendente para Mrs.A, estava sendo tão má para ela. Aresposta foi esta: 'É isto aí, Mrs. B,a senhora não tem firmeza comigo.*J*S. A, ela foi sempre firme comi-<?o e é isto justamente o que preci-samos.'
Distribuídos pelas partes entreas salas de espera e o hall principal,Postavam policiais de uniforme. Adistância destas primeiras salas aoPequeno "Blue Parlor", onde o Pre-sidente estava, é pequena. LogoaPós as brilhantes boas-vindas dass°rridentes faces negras, o Salão
Azul era alcançado. Este Salão foiredecorado e está muito melhora-do, sob o ponto de vista da cor. Osazuis estão mais acolhedores e ago-ra se harmonizam. Na decoraçãoanterior existiam vários tons deazul, os quais se separavam à luz dogás, alguns tornando-se verdes, acombinação produzindo algumacoisa que não um efeito agradável.Aqui, exceto pelo oficial fardadoque falava o seu nome quando al-guém avançava na fila formal deoficiais de Marinha à direita, nãohavia nada para marcar a grandediferença existente entre aquilo euma recepção na casa de um cava-lheiro na vida privada. O Presiden-te e a Sra. Harrison estavam cor-diais, sem efusão; eles estavamdignos, sem estarem empertiga-dos. Em nenhum sentido haviaqualquer diferença para as recep-ções dadas na sua casa na Rua 15,onde eles moravam quando a Sra.Harrison estava no Senado.
As luvas de lamê da Sra. Harri-son impediam-me de apertar suasmãos. O Presidente apertava asmãos de todas as autoridades e osamigos pessoais da Sra. Harrisonrecebiam dela, ao passarem porela, um convite para permanece-rem no Salão Azul, o qual era gran-de o suficiente para abrigar confor-tavelmente talvez de 50 a 60 pes-soas.
À direita da Sra. Harrison, o Al-mirante Walker e seu estado-maiorfizeram os oficiais brasileiros pare-cerem decididamente de pequenaestatura. Quase todos os oficiaisamericanos estavam acima da mé-dia de altura, enquanto que os bra-sileiros, com uma ou duas exce-ções, estavam abaixo da média. OAlmirante Walker tinha a sua cabe-ça e ombros acima de seu estado-maior.
186
Fbi ele quem por tantos anos ocu-
pou o cargo de chefe do Bureau, o
qual determina as comissões para
seus companheiros de Marinha.
Ele foi, certa vez, alvo de muitas
críticas. Ele não podia dar a todo
oficial uma comissão que lhe agra-
dasse, e onde existe uma comissão
desagradável a esposa e os paren-
tes geralmente fazem um ataque
concentrado sobre ele. Ele logo
tornou-se habituado a este grito de
guerra, tanto que adquiriu a repu-
tação de coração duro. Mas, quan-
do ele foi para o mar, a sua admi-
nistração do Esquadrão Branco
mostrou a alguns de seus antigos
críticos, que diziam que ele havia
sido feito apenas para a vida de es-
critório, que ele foi igual a qualquer
um de sua patente em serviço sob
o ponto de vista de conhecimento e
que ele era superior à massa em
habilidade administrativa.
Um pouco atrás do Presidente, e
à sua esquerda, junto à parede, es-
tava o Sr. Blaine, que tinha uma boa
palavra para cada um. Ele, vesti-
do a rigor, seu cabelo branco e bar-
ba brilhando sob a luz mortiça.
Seus olhos escuros eram como es-
trelas. Ele era o centro de atração
dos visitantes brasileiros. Para ele,
pioneiro de política que fez a capi-
tal nacional tão familiar aos sul-
americanos, era que dirigiam seus
olhares curiosos; era sobre ele que
conversavam e todos estavam entu-
siasmados sobre a futura política,
a qual fará as nações deste conti-
nente agir juntamente sobre uma
harmoniosa base para a proteção
de seus melhores interesses, tanto
comercial como diplomático. O Sr.
Blaine fitava a todos que o rodea-
vam com o seu aguçado olhar. Ele
era constantemente abordado por
alguém do círculo interior, que se
apressava em lhe fazer alguma
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
pergunta ou desejar-lhe uma boa-
noite.
Atrás dele estavam os outros
membros do Gabinete, com suas
esposas. A maioria dos membros
do Gabinete eram homens física-
mente grandes e aparentavam es-
tar acima do melhor dos termos
com os senadores e membros do
Congresso que vinham ocasional- i
mente para falar com eles e isto,
também, sem qualquer menção à
política.
Nada poderia melhor atender a
naturalidade e a demonstração
desta recepção do que a saudação
dada pela esposa de um membro do
Gabinete a uma jovem senhora que
estaria ausente por vários anos.
Elas se encontravam lá pela pri-
meira vez desde a volta da última.
A esposa do secretário abraçou efu-
sivamente a sua amiga ausente de
muito tempo e beijou-a com um vi-
gor raramente visto em uma recep-
ção formal.
O calor desta sala era grande e
trouxe à luz discussão sobre o sis-
tema de aquecimento das casas do
país. Um distinguido oficial de Ma-
rinha que viajou por todos os países
disse que pensava que a delicade-
za de mulheres americanas e a au-
sência de cor do inverno vêm do
nosso hábito de superaquecer nos-
sas casas.
Uma das figuras notáveis era o
Almirante Jouett, que está na re-
serva. Ele era o mais alegre e mais
ativo oficial na sala. Quando al-
guém olhava para sua cor, seus
olhos que cintilavam, seu cabelo
castanho quase ainda não tocado
pelo branco, e sua maneira ativa,
era natural que se perguntasse por
que ele estava na reserva.
Uma outra figura extremamen-
te interessante para mim era um
jovem oficial que, a despeito de sua
A MARINHA DE OUTRORA 187
idade, seria sempre jovem e favo-
rito da sorte. Ele é tão jovem hoje
como há 15 anos, quando da sua pri-meira comissão. Eu o vi no centro
de um grupo de admiradores no Sa-lâo de Leste, com seu peito inflado
de orgulho e seu pé direito lançado
Para frente, na mesma atitude queeu o vi numa recepção em Londres
no último verão. Ele é o mesmo ho-
ttiem de sorte sobre quem eu ouvi
em Roma, Viena, Berlim e em Pa-ris. Ele vem e vai aparentemente
ao seu desejo. Onde quer que este-
ja, havendo algo brilhante em algu-
ttia parte do mundo, ele tem a sor-
te de receber alguma missão queexija a sua presença lá. Como ébem afeiçoado e se conduz muito
corretamante, ele faz uma propa-ganda de sua terra natal, numa ma-tteira altamente positiva para o De-
Partamento da Marinha.
Não havia muitos diplomatas
Presentes, pois vários deles ainda
hão tinham voltado à cidade.
O embaixador espanhol eraconspícuo, com a sua ausência
hiarcando sua falta de simpatia,
Primeiramente com a Repúblicabrasileira e, segundo, com a poli ti-ca do Governo, que olha para o Sul.Os diplomatas, nos seus uniformesde
gala, são sempre objeto de espe-ciai interesse. Eles são inteiramen-te diferentes de qualquer coisa per-tencente à vida de seu país; seus
hiovimentos são observados com ohiesmo respeitoso pavor que brota-ria de atos distintos se eles estives-sem em uma recepção particularnas vestes típicas de suas regiões.
No Salão do Leste havia umadensa atmosfera de naftalina. Istoera ocasionado pela presença de
Muitos convidados em uniforme. Is-to é a mesma atmosfera encontra-^a em recepções oficiais em todasas
partes do mundo, onde oficiais
estão presentes em uniformes, os
quais, a maior parte do ano, são
guardados em alguma arca, para
protegê-los das traças. Uma mu-
lher, satiricamente, sugeriu a um
poderoso membro da Casa que ele
pedisse ao Congresso para passar
uma lei exigindo que os oficiais de
Marinha e do Exército deixassem
seus uniformes ao sol por, ao me-
nos, 48 horas antes de qualquer re-
cepção oficial para as quais eles
afortunadamente tenham sido con-
vidados.
No Salão do Leste, a prata cinza
das paredes e do teto faziam um
fundo absorvedor para as fracas lu-
zes. É aqui que a recepção apare-
cia no seu melhor. Aqui, a atmosfe-
ra é fria e ninguém tinha dificulda-
de de se movimentar. Foi neste Sa-
lão que eu tive minha atenção vol-
tada para uma deslumbrante jo-
vem senhora de branco, que estava
de braços com sua mãe. Um amigo
delas disse: "Olha
esta jovem. É a
sua primeira aparição na socieda-
de de Washington e ela está tão
aturdida pelo brilhantismo do quelhe está em volta que mal pode res-
pirar." Ela mal ouvia qualquer pa-lavra que lhe era dirigida e não se
aventurava a falar sob a atemori-
zadora influência das luzes, da mú-
sica, do movimento da multidão e
da procissão dos uniformes com
cheiro de cânfora dos oficiais.
Era cerca das 11 horas quando a
Sra. Harrison, conduzida pelo bra-
ço do Almirante brasileiro Silveira,
andou vagorosamente pelo Salão
do Leste. Isto foi o ritual para o en-
cerramento. Houve alguma conver-
sa e movimento após isto, mas, lo-
go após a Sra Harrison ter cami-
nhado pelo Salão, praticamente to-
do mundo se retirou."
T.C. CRAWFORD
188
OS CONVIDADOS BRASILEIROS
EM MOUNT VERNON
"Wash. 29/11 — Os oficiais da
Marinha do Brasil visitaram Mount
Vernon, hoje, no U.S Despatch —
(barco a vapor), o qual foi coloca-
do à sua disposição pelo Secretário
de Marinha. A execução foi admi-
ravelmente preparada e conduzida
por S.A. Brown, do Departamento
do Estado; presentes o Comandan-
te Coules, o Tenente Mason, repre-
sentando o Secretário Tracy, e o
Cap-Ten. Stanton, representando o
Almirante Walker. Além dos ofi-
ciais brasileiros, os convidados in-
cluíam o Ministro Valente do Bra-
sil, com sua casaca, e um distingui-
do grupo de funcionários federais,
com suas esposas e filhas. A Ban-
da dos Fuzileiros tocava. Um dos
eventos da excursão foi um fino al-
moço. Quando o grupo chegou à
tumba de Washington, eles foram
surpreendidos e ficaram contentes
ao ver, em local proeminente, um
arranjo de flores de cinco pés na
maior dimensão, no centro do qual
existia uma cópia da bandeira do
Brasil, tendo abaixo uma inscrição,
que dizia, em letras brancas: 'Em
memória de George Washington,
da Marinha do Brasil'. Isto foi uma
total surpresa para todos os ame-
ricanos presentes e foi considerado
como um gentil tributo de parte dos
visitantes. A comitiva retornou a
Washington cerca de 4 horas.
À noite, os brasileiros foram re-
cepcionados com um jantar ofere-
cido pelo Metropolitan Club. O Al-
mirante Rodgers presidiu e o Almi-
rante Silveira ocupou o lugar de
honra. Entre outròs convidados es-
tavam os Secretários Blaine e
Tracy, o Almirante Walker e os
Cap-Ten. Stanton e Mason. O Pre-
sidente Rodgers acompanhou-se,
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
nas ocasiões, pelo Juiz John Davis,
Mr. S.A Brown, Major Marcellos
Bailey, e outros membros do clube."
ALMIRANTE CARLOS
BALTHAZAR DA SILVEIRA
Nasce Carlos Balthazar da Sil-
veira a 6 de junho de 1843 ha Rua
dos Capitães (hoje Rua Rui Barbo-
sa), na Cidade de Salvador, Bahia,
filho do advogado e Deputado Pro-
vincial D. Augusto Balthazar da Sil-
veira e de Constança Pinto Paca
Balthazar da Silveira. Seguindo
uma tradição muitas vezes cente-
nária, só usa o sobrenome paterno,
enobrecido na formação e consoli-
dação do Reino de Portugal e, prin-
cipalmente, nas lutas pela Restau-
ração de 1640. Como seus antepas-
sados, não teve título nobiliárquico,
pois, como explicitou seu tio, D.
Francisco Balthazar da Silveira, ao
Imperador D. Pedro II: "Não
tenho
recursos para honrar qualquer títu-
lo, nem o título acrescenta honras
ao meu nome."
Durante o Império, usou o Dom
antes do seu nome, realmente um
patrimônio ímpar da mais elevada
nobreza; mais uma legenda de leal-
dade, dedicação e fidelidade à Pá-
tria do que um motivo de orgulho.
Na Repúbica houve por bem fa-
zer guardar esse patrimônio nas
consciências dos seus descenden-
tes.
É matriculado na Escola Naval
em março de 1858 e recebe o galão
de guarda-marinha em novembro
de 1860, como chefe de classe, ten-
do, entre outros, como colegas de
turma Arthur Silveira da Motta
(Barão de Jaceguay), Carlos Fre-
derico de Noronha, José Pinto da
Luz, Joaquim Pereira de Melo
(Barão de S. Marcos). Faz sua via-
gem de instrução na Corveta Ba-
A MARINHA DE OUTRORA 189
hiana, visitando a América do Nor-
te, Europa e África.
Como segundo e primeiro-tenentes, está sempre no passadi-
Ço dos navios Rio Formoso, D. Ja-
nuária, Paraense. O marinheiro es-
tava bem temperado, e, a 25 de abril
de 1865, na passagem de Cuevas,
porta-se de tal forma no convés do
Magé que o Governo o agracia com
a Comenda da Rosa. A 16 de abril
de 1866, na passagem do Exército
comandado por Osório para a mar-
gem esquerda do Paraguai, foi o jo-vem
primeiro-tenente a bordo do
Magé que sinalizava, ora determi-
nando o fogo para limpeza do ter-
reno, ora determinando o avanço do
bravo Herval.
Em outubro de 1868, o Comando-
em-Chefe da Esquadra, sob as or-
dens do Visconde de Tamandaré,
em Combinação com o Marquês de
Caxias, determina que o Monitor
Piauhy, comandado interinamente
pelo Primeiro-Tenente Balthazar
(imediato do Capitão-Tenente Wan-
denkolk), faça o reconhecimento de
Angustura.
Em novembro é efetivado no seu
primeiro comando: em plena guer-ra, lança pela borda a chibata e de-
clara: "Quero o respeito pelo meu
mérito real e não pelas galas for-
mais". E o pequeno Monitor Piauhy
não destoava na Companhia dos
Encouraçados Herval, Mariz e
Sarros, Colombo e Cabral. Em vir-
tude do seu pequeno calado, o atre-
vimento do Piauhy não tem limi-
tes; é duramente bombardeado e
seu comandante, até o fim da vida,
guardava pequenos estilhaços de
granada na vista esquerda que não
Puderam ser extraídos.
Em abril de 1869, participa da ex-
Pedição ao Rio Manduvirá com o"seu
Piauhy" na divisão sob o co-
mando de Jerônimo Gonçalves.
Deixemos o Primeiro-Tenente Bal-
thazar descrever: "Corríamos
pa-
ra o desconhecido; navegávamos
em rio, se assim lhe podemos cha-
mar, em que os nossos práticos nun-
ca haviam entrado e nunca o ti-
nham ouvido mencionar. A sua lar-
gura era tal que parávamos cons-
tantemente as máquinas para cor-
tar os galhos das árvores que amea-
çavam derrubar as chaminés e os
mais baixos arrancavam os ferros
dos toldos e as respectivas casta-
nhas de um e de outro bordo. De
quando em quando, encalhávamos,
com a proa ficando ela presa entre
grossos troncos de árvore." (Cam-
panha do Paraguai, p. 71, ed. 1900,
Almirante C. Balthazar da Silvei-
ra.)
Ainda no ano de 1869, em setem-
bro, com o "seu
Piauhy", segue pa-
ra a foz do Rio Apa, onde participa-
ria das operações conjuntas com as
tropas do General Câmara.
A 2 de dezembro é promovido a
capitão-tenente — equivalente, ho-
je, a capitão-de-corveta — por atos
de bravura, após cinco anos ininter-
ruptos de serviços de guerra.
Além do "seu
Piauhy", coman-
dou, em tempos de paz, nove na-
vios: Felippe Camarão, Pedro Af-
íonso, Vital de Oliveira, Araguaya,
Itamaracá, Ypiranga, Forte Coim-
bra, Nictheroy e Solimões. De 1878
a 1881 é o comandante da Nictheroy
transmitindo em sucessivas via-
gens de instrução sua experiência
aos guardas-marinha.
Essa inigualável experiência —
dez sucessivos comandos — leva o
Governo Imperial a designá-lo co-
mo membro da Comissão de Me-
lhoramentos de Material de Guer-
ra, sob a presidência do Conde
d'Eu. Seus pareceres a respeito de
armamento, várias vezes discor-
dantes dos de Custódio de Mello, re-
190
ceberam apoio de Saldanha e Júlio
Noronha.
Em outubro de 1882 é o membro
mais moderno do Conselho Naval,
então o órgão que estudava a alta
Política Naval, um embrião do atual
Almirantado.
Em julho de 1883 é promovido a
capitão-de-mar-e-guerra e assume
o comando da Solimões, partici-
pando da Esquadra sob a chefia do
seu colega Arthur de Jaceguay. Em
fins de 1884, uma grave enfermida-
de na vista, seqüela da campanha
do Paraguai, afasta-o do comando.
Volta à atividade em 1886 para co-
mandar o Corpo de Imperiais Ma-
rinheiros; tal missão, dadas as cir-
cunstâncias políticas do momento,
era de indiscutível relevância.
Em 1888, assume a presidência
do Clube Naval, melhora as condi-
ções da Caixa Beneficente, faz apa-
recer com regularidade o Boletim
e, acima de tudo, elabora, com os
companheiros de Diretoria, subs-
tancioso parecer que opina pela na-
cionalização do armamento com a
construção do canhão inventado pe-
lo seu guarda-marinha na Nicthe-
roy, Antônio Severino de Castilho.
Em 15 de outubro de 1889, passa
o comando do Corpo de Imperiais
Marinheiros e fica sem comissão;
foi um ato político decorrente de
sua participação no Conselho de In-
vestigação a que foi submetido Cus-
tódio de Mello e que concluiu pela
não culpabilidade do indiciado pe-
lo Chefe-de-Esquadra Barão de La-
dário.
A 16 de novembro de 1889, com-
pareceu ao Paço Imperial para se
apresentar a Pedro II; é um ato de
dignidade, de desássombro, de so-
lidariedade e apreço ao vencido,
respeitável sob todos os pontos de
vista.
Deodoro, sem mesquinhez,
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
nomeia-o capitão do Porto do Rio de
Janeiro e, a 8 de maio de 1890, rece-
be os bordados de contra-almirante
e assume o Comando da Divisão de
Cruzadores.
Deodoro e Floriano muito o esti-
mavam e dessa estima deram repe-
tidas provas.
No final de 1889, recebe a incum-
bência de levar ao Governo dos Es-
tados Unidos os agradecimentos do
Brasil pelo pronto reconhecimento,
pela grande nação do norte, do no-
vo regime republicano. O faz no co-
mando de uma divisão naval cons-
tituída do Encouraçado Aquidaban
e da Corveta Guanabara.
Além dos inúmeros compromis-
sos públicos, houve também con-
versações reservadas nas quais
eram indagadas as possibilidades
e necessidades do Brasil, bem co-
mo o empenho dos Estados Unidos
em fortificarem o "gigante
do Sul",
livre das influências européias,
mais especificamente britânicas,
uma herança da coroa lusitana."Quem
sabe se não seria mais con-
veniente passar todas as dívidas
com credores europeus para Wall
Street?..."
Nasce aí o almirante-diplomata,
respondendo: "Sr.
Presidente, não
tenho poderes do meu Presidente
para responder tão importante pro-
posição. Transmiti-la-ei. E, tam-
bém, lembrarei, na oportunidade,
ao meu Presidente que, no meu juí-
zo, não é bom termos um único
comprador para nossos bens e um
único credor. By the Way em 1822
nos tornamos independentes..." A
fineza do trato e a firmeza de pon-
tos de vista não são incompatíveis
com a diplomacia. Aliás, com a ver-
dade não se pode barganhar.
Em janeiro de 1891 é-lhe ofereci-
da a pasta da Marinha; pondera a
Deodoro a natureza civil do cargo
A MARINHA DE OUTRORA 191
e prefere a Chefia do Estado-Maior
da Armada. A 7 de junho, vai ao Pa-
lácio Itamarati, então sede do Go-
verno, agradecer as felicitações
que Deodoro lhe enviara pelo seu
aniversário. O Presidente faz-lhe o
convite para presidir o Estado do
Rio Grande do Sul. O Almirante
Balthazar recusa e coloca o cargo
de chefe do Estado-Maior da Arma-
da à disposição. Novamente a 6 de
agosto do mesmo ano é-lhe ofereci-
da a Presidência do Estado de São
Paulo, nova recusa, novo convite,
agora, com a garantida eleição de
senador por seu Estado natal.
Garanto-lhe a vitória, declara
Deodoro.
Não me convém assim a sena-
toria, pois, ou seria um senador
de cilha na barriga, o que é in-
coadunável com o meu feitio, ou
então teria que abdicar logo que,
entre nós, surgisse uma diver-
gência de qualquer espécie, re-
truca o Almirante Balthazar.
Começa o lastimável ciclo dos
pronunciamentos que foi previsto
por Cotegipe e temido por Ouro
Preto. Deodoro dissolve o Congres-
so; a ascensão de Saldanha ao Al-
mirantado é contestada; os Almi-
fantes Marques Guimarães e Coe-
lho Neto têm suas divisões navais
reduzidas em prol de uma outra a
ser entregue ao novel almirante.
Instala-se a cizania na Marinha. O
Almirante Balthazar solicita de-
missão do cargo de chefe do Esta-
do Maior da Armada e retira-se pa-
ra a chácara de sua sogra, na Gá-
vea. Custódio dá o golpe de 23 de no-
vembro de 91. No dia 29 do mesmo
mês Floriano chama-o ao Palácio
Itamarati, então sede do Governo,
e convida-o a permanecer no cargo,
Uma vez que, como lhe sugerira o
Almirante Balthazar, Custódio não
mais contestaria a promoção de
Saldanha. A sua primeira ordem do
dia é censurada pelo Ministro Cus-
tódio; outra atitude não poderia to-
mar senão a de, novamente, entre-
gar o posto mais ambicionado por
um marinheiro.
Floriano, seu companheiro da
campanha do Paraguai, conhece-o
bem e, conseqüentemente, respei-
ta-o. Não pode prescindir dos seus
serviços. A desordem, a baderna, o
descalabro nas finanças campeiam
no Estado do Rio de Janeiro. O Go-
verno Federal temia que a instabi-
lidade na terra fluminense se pro-
pagasse e o atingisse. Se, no mo-
mento, não podia deslocar Custó-
dio, outrossim não lhe convinha
condenar Balthazar ao ostracismo;
e, assim, a 11 de dezembro de 1891,
o Estado do Rio de Janeiro tem a di-
rigir os seus destinos um almiran-
te ao qual, em diversas épocas, ou-
tros se seguiriam: Ary Parreiras,
Protógenes, Amaral Peixoto, Lúcio
Meira e Faria Lima. Foi realmen-
te um pacificador e saneador das fi-
nanças públicas: recusou o estado
de sítio; reintegrou juizes de direi-
to e eliminou os que indevidamen-
te tinham sido providos; readmitiu
serventuários da Justiça dispensa-
dos sem motivos justos; ao deixar
o Governo, todo o funcionalismo es-
tava pago em dia, a dívida pública
diminuída, os cofres públicos com
saldo, e resgatou 1865 apólices de
conto de réis... Solucionou para o
Estado a intrincada questão atinen-
te aos direitos de exportação com
o Governo Federal, que lhe deu vul-
tosa indenização. Deu condições a
que o café se deslocasse do Vale do
Paraíba para o noroeste fluminen-
se, cujos Municípios de Itaperuna,
Pádua e São Fidélis floresceram
bastante. No final da década de 1920
eram esses municípios os maiores
192 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
produtores de café do Brasil."Por que não quis continuar no
Governo do Estado do Rio de Ja-neiro, em que comprovou os seusdotes de administrador?", per-gunta-lhe Floriano.
"Não seria decente, Sr. Maré-chal, que eu presidisse a minhaprópria eleição", responde Bal-thazar.Volta, então, à Marinha onde en-
contra um ambiente cada vez me-nos oxigenado. As divergências en-tre o Marechal Floriano e o Almi-rante Custódio eram públicas e no-tórias. Custódio, excelente profis-sional, não desfrutava na classe daslideranças de um Wandenkolk, Sal-danha, Balthazar ou Júlio Noronha.Logo no regresso do Almirante Bal-thazar à Marinha, convida-o parachefiar uma missão no Império daChina e do Japão; uma recusa for-mal é a resposta ao exílio de luxo.O Barão de Ladário aceita essa co-missão.
Cada dia que se passava, mais oMinistro Custódio se distanciavados seus camaradas, o que não é na-da bom em qualquer tempo. O Con-selho Naval não merecia nem aomenos uma visita de cortesia.
Não ia bem a Marinha. Em 1893o Almirante Custódio deixa a pas-ta da Marinha. O Marechal Floria-no convoca ao Palácio Itamarati oAlmirante Saldanha que compare-ce em segundo uniforme; convida-o para ocupar a pasta vaga e ouveuma contundente negativa.
O Almirante Balthazar é, em se-guida, convidado; durante três ho-ras e meia daquele 29 de abril de1893, faz minunciosa exposição dasituação do País e concorda emaceitar a pasta, desde que fosse:1?) anulado o decreto de reformados 13 generais, e 2?) pacificado oEstado do Rio Grande do Sul, onde
não era pequeno o sangue derrama-do.
Entre primeiro para o Minis-tério e depois, Almirante, faremostudo isso que o Senhor está propon-do.
Não vim fardado, estou à pai-sana porque entendo o caráter ci-vil, político do cargo que V. Ex? mequer distinguir. Quero a concilia-ção. Quero dar-lhe glórias, Maré-chal. Eu não quero entrar diminuí-do para o Governo; e se V Ex? nãotomar essas providências, que re-puto patrióticas, o seu substituto se-rá compelido, pelo Poder Judicia-rio, a reintegrá-los e a apaziguar aterra de Osório.
Contava Balthazar a seus fami-liares que, quando aludiu à suasubstituição, Floriano o encarou detal forma que ele se convenceu deque não era intenção do ocupantedo Itamarati trocar de residência...
Na noite daquele mesmo dia, foio Almirante Balthazar convocadonovamente ao palácio.
A 13 de junho é nomeado mem-bro do Conselho de Investigação aque fora submetido o AlmiranteWandenkolk. É o relator e concluipela incompetência do referidoConselho, por se tratar de ura aeu-sado que, sendo senador, não pode-ria ser processado sem a prévia li-cença dos seus pares. Rui Barbosa,Amaro Cavalcanti e Quintino Boca-yuva pedem a remessa dos autos aoSenado. Floriano, exasperado,amargamente, declara: "OBaltha-zar há de me pagar." Agrava-se a si-tuação do País. Júlio de Noronha éconvidado para o Ministério e colo-ca como condição a ida de Baltha-zar para a Chefia do Estado-Maiorda Armada. Nada feito.
A 6 de setembro de 93 irrompe arevolta do Almirante Custódio, im-propriamente chamada de Arma-
A MARINHA DE OUTRORA 193
da, uma vez que jamais contou com
Ponderável parcela do Almiranta-
do e da Oficialidade.
Encontram-se a bordo de uma
lancha atracada no Cais dos Minei-
ros os Almirantes Saldanha e Bal-
thazar, que, a todo custo, queriam
evitar a temerária aventura. Saem
ambos desse encontro convictos de
que o Brasil não merecia cair na fa-
se dos pronunciamentos. Saldanha
dá uma lição prática de grandeza
patriótica procurando Custódio no
Aquidaban. Balthazar dirige-se ao
Itamarati; é recebido imediata-
mente por Floriano. Os apelos de
conciliação, de pacificação, caem
no vazio.
Em janeiro de 94 é nomeado
vice-presidente do Conselho Naval
e a 29 de junho pede transferência
Para a reserva ; motivou tal pedidoa alegação inverídica da mensa-
gem presidencial no tocante ao co-
fiando da esquadra legal, poiseram feitas considerações pouco li-
sonjeiras aos almirantes da ativa,
se bem que os próprios amigos do
Governo não houvessem sido convo-
cados para aquela missão.
Outrossim, quando a Revolta
Passou a admitir que "a
lógica, as-
sim como a justiça dos fatos, auto-
rizaria que se procurasse à força
das armas repor o Governo do Bra-
sil onde estava a 15 de novembro de
1889, quando num momento de sur-
Presa a estupefação nacional ele foi
conquistado por uma sedição mili-
tar, de que o atual Governo não é se-
não uma continuação", o Almiran-
te Balthazar, não obstante seu reco-
nhecido respeito ao Império, não
luis se associar a tal anacronismo
adverso ao sentimento da Nação.
Durante quatro anos, dedica-se
exclusivamente à educação dos fi-
toos, até que, em outubro de 1898,
Campos Sales convida-o para ocu-
par a pasta da Marinha. Nas reu-
niões do Ministério que iria tomar
posse a 15 de novembro, dois pontos
tinham indiscutível relevância: a
nossa crítica situação financeira,
para a qual Joaquim Murtinho pe-
dia especial atenção. O Reino Uni-
do ameaçava colocar a sua bandei-
ra na nossa Alfândega. Sob a firme
liderança do Presidente, todo o Mi-
nistério se conscientizou da gravi-
dade da situação e Murtinho sa-
neou as finanças, possibilitando ao
sucessor de Campos Sales os recur-
sos pra um desenvolvimento sadia-
mente alicerçado.
O outro ponto delicado era o nos-
so relacionamento com a Argenti-
na. Problemas que só podem exis-
tir entre irmãos. Dificilmente tere-
mos problemas com nações de con-
tinentes distantes. Entretanto, co-
mo entre irmãos, é também com as
nações lindeiras que encontramos
as mais comoventes provas de soli-
dariedade. Tínhamos, então, peque-
nas questões de fronteira com a pá-
tria de Sarmiento. Concomitante-
mente, o adido militar do Cáiser
sondava as autoridades argentinas
acerca de uma possível invasão de
tropas germânicas nos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná. O General Garmendia foi
incumbido pelo Presidente Roca de
transmitir ao futuro Presidente
Campos Sales a total e formal re-
pulsa do seu Governo à embrioná-
ria teoria que mais tarde se deno-
minou de espaço vital. O futuro
Chanceler Olinto Magalhães não se
sentia com autoridade para parla-
mentar com Roca. Fbi Mallet, o Mi-
nistro da Guerra escolhido, que
lembrou a Campos Sales o relacio-
namento dos Tenentes Roca e Bal-
thazar nas barrancas do Paraguai.
O Almirante Balthazar foi ao enco-
tro do Presidente Roca em alguma
194 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
estância no Uruguai. Desse encon-
tro supersigiloso só se conhecem os
resultados que espelham o pensa-
mento de Saenz Pena: "Tudo
nos
une, nada nos separa." Com o am-
biente desanuviado, foi Roca con-
vidado a visitar o Brasil; foi o pri-
meiro chefe de Estado a fazê-lo; foi
recepcionado na residência parti-
cular do Ministro da Marinha; pre-
senteou uma única autoridade bra-
sileira, o Almirante Balthazar, com
a espada que lhe fora oferecida pe-
los seus comandados como recor-
dação de seus feitos militares; um
presente muito pessoal, muito gra-
tificante, como símbolo de uma in-
destrutível amizade entre as duas
nações e que, por esta razão, está
hoje no Museu de Marinha.
Na sua passagem pelo Ministé-
rio podem ser realçados os seguin-
tes pontos: a) alterou o ensino na-
vai de forma a possibilitar a fusão
dos Corpos da Armada e de Máqui-
nas; b) suprimiu os Arsenais da
Bahia e Pernambuco, de indiscutí-
vel ineficiência; c) tratou da loca-
lização do Arsenal do Rio de Janei-
ro na Ilha do Boqueirão, pois afir-
mava: "é
minha firme convicção de
que o Arsenal não deve ser muda-
do para fora de nossa baía"; d) con-
seguiu que todos os saldos das ver-
bas orçamentárias fossem utiliza-
dos no melhoramento da frota e
compra ou construção de novos na-
vios; e) não consentiu que o monte-
pio fosse extinto, como preconizava
Murtinho; f) criou o quadro de ad-
vogados para praças quando pro-
cessados pela Justiça Naval.
A 3 de maio de 1913 falece o Al-
mirante D. Carlos Balthazar da Sil-
veira, que de Ruy merece as só-
brias palavras: "Seu
nome sempre
foi puro, sua inteligência não tem
negadores."
NR — Em 1943 o então Serviço de Documentação da Marinha publicou o terceiro livro
de uma coleção que biografou Tamandaré, Marcílio Dias e Balthazar da Silveira.
1
A MARINHA DE OUTRORA 195
-v.. .. '<*.
'V*v. t V» ' •
O AQUIDABAN
Navio couraçado construído nos
estaleiros da firma Samuda & Bro-
thers, na Inglaterra, sob a fiscali-
zação do Chefe-de-Esquadra José
Costa Azevedo, posteriormenteSarão do Ladário. Foi lançado ao
^ar a 17 de janeiro de 1885, medin-
do 280 pés de comprimento, 52 deboca, 18 de calado e 5.029t de deslo-
ca.mento. "É armado — diz Garcez
palha — com quatro canhões de re-
trocarga, Armstrong, de 20 tonela-
^a.s, em duas torres dispostas dia-
Sonalmente; quatro canhões de 5"
no convés superior e 15 metralhado-r&s
Nordenfeldt. Tem cinco porti-nholas
para lançamento de torpe-dos Whitehead, sendo uma delas à
Popa. As máquinas, caldeiras,
Paióis de pólvora e bombas hidráu-
ücas para mover as torres são pro-
Agidos pela couraça do costado e
aÇo, e cuja espessura varia de 7 a
polegadas e por um convés tam-
encouraçado de 12." As máqui-
são inteiramente independen-
tes, compound, de ação direta e de
três cilindros, de força de 6.500
H.P.; as caldeiras, em número de
oito, estão instaladas em quatro
compartimentos. O navio tem com-
bustível para 23 dias, andando dez
milhas por hora. As duas torres que
giram com as meias torres são re-
vestidas com uma couraça de aço
de 10'. Era aparelhado à galera,
com velas envergadas. Tinha uma
só chaminé. Porça das máquinas:
6.200 cavalos-vapor. Seus planos fo-
ram traçados pelo notável enge-
nheiro naval Sir Ed. Reed, com as
modificações de engenheiros brasi-
leiros (Trajano de Carvalho, e ou-
tros). As máquinas foram construí-
das pela firma Hamphreys & Tenet
e davam ao navio apenas a veloci-
dade de 16 milhas. A capacidade
das carvoeiras era de 600 toneladas
em carga natural e de 700 em sobre-
carga, permitindo ao navio um raio
de ação superior a 4.500 milhas com
velocidade econômica. Seu custo
foi de 345.000 libras esterlinas.
196 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
\
\ \
\
WWBBBBmii HHIHH
CORVETA GUANABARA
Navio de casco de madeira e pro-
pulsão mista, construído no Arse-
nal de Marinha do Rio de Janeiro,
projetado pelo Engenheiro Naval
Trajano de Carvalho.
Teve sua quilha batida em 16 de
junho de 1876 e tinha de compri-
mento 200 pés; de boca, 41 pés e 2
polegadas; e de pontal, 24 pés. Foi
lançado ao mar no dia 23 de agosto
de 1877, após as homenagens pres-
tadas ao Mestre-Construtor José da
Silva Menezes — que recebeu a pa-
tente de segundo-tenente — e ao
Contramestre Herculano José de
Carvalho, condecorado com a insíg-
nia de Cavalheiro da Rosa.
Era aparelhado à galera e enver-
gava pano. Sua máquina tinha a for-
ça de 500cv, que movimentava uma
hélice imprimindo-lhe a velocidade
de 9 milhas por hora, deslocando
1914 toneladas. Teve mostra de ar-
mamento em 1? de fevereiro de
1879, sendo artilhado com nove ca-
nhões de calibre 70 e dois de calibre
9. Sua lotação era de 223 homens n»
paz e 276 em tempo de guerra. SeU
primeiro comandante foi o Capitão-
de-Fragata Manuel Lopes da CruZ'
NR — As traduções dos jornais norte-americanos e os históricos dos navios foram fei-
tos pelo Corpo Editorial da RMB
batismo de fogo
Quando cheguei a Buenos Aires,ern fins de 1865, para servir na es-
quadra em operações contra o Pa-raguai, tive ordem de embarcar na
Canhoneira Parnaíba. Creio quea preferência que o meu tio Taman-daré deu a esse vaso de guerra pa-ra
que eu nele iniciasse a carreiradas armas era devida ao especialcarinho
que lhe votava entre todos°s navios que, sob as suas vistas, ti-flham sido construídos na Europa.
® que a Parnaíba tinha um cas-
co de linhas esbeltas, uma mastrea-
Ção elegante e um não sei quê de
simpático em seu todo. Por isso ha-via certo empenho para embarcar
hela e a sua oficialidade e guarni-Ção eram sempre escolhidas.
No dia que marquei com giz o•heu beliche na praça-d'armas, oseu estado-maior era assim com-
Posto: Comandante Abreu; Ime-
diato Alves; Oficiais Pereira Pinto,honrado, Lacerda e Afonso Henri-
^ues, estes dois últimos antigos noftavio, desde antes de Riachuelo;hiédico Dr. Valadão; Comissário Si-
mões; Escrivão Barros, e aspiran-
te quem estas linhas escreve.
De toda oficialidade só vivem ho-
os dois extremos, o comandantee o aspirante.
Não é meu propósito descrever ocaráter de cada um desses compa-Cheiros; basta-me dizer que vivia-
^os na mais cordial harmonia soba severa,
porém sempre benévola,disciplina do Comandante Abreu.
Também o Alves era um imediato
de mão cheia. Falava cinco línguas,
tinha viajado e estudado muito na
Europa, numa demorada comissão
de que fora incumbido pelo Minis-
tério da Marinha, e era inflexível,
sem nunca zangar-se, emjjuestões
de serviço. Os outros eram rapazes
alegres e sempre dispostos a diver-
tir-se, o que lhes era permitido, na
medida possível, pelo comandante
e imediato. O escrivão tinha toma-
do à sua conta o Dr. Valadão, exce-
lente sujeito que ainda chorava um
grande brilhante que se lhe tinha
extraviado na Batalha do Riachue-
lo. Durante as refeições troçavam-
lhe pilhérias que zangavam às ve-
zes o pobre do doutor, mas por pou-co tempo. Eu, como simples quati,
apenas tinha o direito de sorrir-me
e de aprender, calado, as regras do
debique de bordo.
Em fevereiro de 1866 levantamos
amarras e seguimos Paraná aci-
ma, comboiando o Onze de Junho,
vaporzinho de rodas em que ia o al-
mirante com o seu numeroso esta-
do-maior para iniciar as operações
contra os paraguaios, que acaba-
vam de abandonar Corrientes.
As noites eram então muito escu-
ras e fundeávamos depois do sol
posto. A banda de música do Onze
de Junho ecoava nas barrancas de-
sertas do Paraná até o toque de si-
lêncio. Depois ainda ficávamos a
ouvir as narrações do Afonso Hen-
riques sobre a última campanha da
Do livro Quadros Pátrios, de Henrique C. R. Lisboa, Enviado especial e Ministro Pleni-Potenciário dos Estados Unidos do Brasil.
198
Parnaíba. Ele sentava-se na esca-
da de cata-vento e nós todos o ro-
deávamos, os que o tinham acom-
panhado ajudando-o nas suas re-
cordações e confirmando-as, os ou-
tros, os novos, estremecendo a ca-
da perigo, a cada façanha que ele
contava. Assim, ali no próprio lu-
gar em que tinha se passado essa
cena de sangue, nos descrevia ele
a abordagem da Parnaíba por dois
vapores inimigos.
Levanta-se para pintar-nos ao vi-
vo o heroísmo de Marcílio Dias e a
gloriosa morte de Greenhalgh, de-
fendendo com o seu corpo o sagra-
do pendão, cercado de inimigos,
que ia abatendo com espada e re-
volver até sucumbir. Ele, Afonso
Henriques, estava aí, ferido, esten-
dido na tolda, sem poder socorrer
o bravo companheiro. Depois, sen-
tiu uma comoção tremenda; o na-
vio pareceu-lhe sacudido por terrí-
vel terremoto. Fazendo um esforço
supremo, levantou-se, comprimin-
do a ferida, para ver os paraguaios
correrem, atirarem-se n'água e,
por cima da amurada, o gurupés do
Amazonas que acabava de partir
ao meio um dos vapores para-
guaios. Então desmaiou e não pôde
ouvir as aclamações com que foi
saudada a vitória, nem ver a fuga
do resto da esquadra inimiga.
Mostrou-nos o lugar exato em
que encalhou o Jequitinhonha, na-
vio cujo nome tinha 13 letras, cuja
oficialidade se compunha de 13 pes-
soas e que foi abandonado no dia 13
de junho. Ainda vimos também os
destroços dos vapores paraguaios
metidos a pique e os restos dos seus
redutos levantados na barranca,
até perto de Corrientes.
Já nessa cidade encontramos a
esquadra pronta a partir para o
Passo da Pátria. Compunha-se de
três encouraçados e umas 20 canho-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
neiras de madeira, afora grande
quantidade de transportes e por1'
tões.
A nossa partida de Corrientes foi
imponente. O almirante arvorava o
seu pavilhão no Transporte Ap&<
que foi fundear na ponta da barran-
ca logo acima da cidade, para ver
desfilar todos os outros navios. NeS-
sa barranca estavam formados os
batalhões do nosso exército que
compunham o corpo de ocupaçã0
de Corrientes e que deviam al1
guardar os hospitais e os depósitos
de munições e víveres. Uma bate-
ria de artilharia estava pronta a
corresponder à salva com que urfl
dos navios da esquadra devia anun-
ciar os primeiros movimentos ri°
acima. Foi assim, no meio das sal-
vas de artilharia, dos ribombos da
música marcial e das entusiásticas
aclamações dos habitantes, da tro-
pa e da marinhagem subida às ver-
gas, que deixamos Corrientes para
ir buscar o inimigo no seu próprio
território. A Parnaíba ia na frente,
lugar de honra que lhe designara °
almirante sem hesitar, como se foS-
se coisa que não admitisse dúvida,
e o seu aspirante ia no passadiç0'
orgulhoso de si por ver-se ator neS-
sa majestosa cena em que 40 vapo-
res remexiam com seus propulso-
res as lodacentas águas do Paraná,
tingindo de negro-fumo o ar satura*
do do cheiro de pólvora, vibrante do
estrondo da artilharia, do re tumba1"
de 50 bandas de música e dos hur-
ras de milhares de vozes!
Quando chegamos ao Passo da
Pátria, a Parnaíba foi destinada a
formar parte da divisão que devia
guardar as Três Bocas, sob as of-
dens do Chefe José Maria Rodr1'
gues.
Nessa mesma noite, estava eü
docemente embebido em sonhos d®
glória, impressões das cenas da
batismo de fogo 199
n^anhã, vendo-me herói de encarni-
Çados combates, quando fui violen-
temente despertado pela rude mãodo cabo da guarda, o qual me gri-t°u
que estava tocando "A
postos!Vesti-me às pressas, tomei a espa-
e o revólver e corri até o passa-diço, meu posto de combate às or-dens do comandante. Só então per-cebi os relâmpagos que ilumina-Vam de vez em quando o mato dacosta
paraguaia e ouvi o sibilo dasbalas
que passavam por cima daAlinha cabeça. As minhas pernascomeçaram
a tremer, por mais es-forços
que eu fizesse para contê-la-s; a cada sibilo, eu curvava-me
^stintivamente, sem consciênciado
que fazia, apenas compreenden-do
que as minhas 16 primaverascorriam
grande risco de chegarema seu fim. Fui despertado desse le-tergo... de medo pela voz do coman-dante: "Cumprimente-as,
rapaz,
^e elas merecem respeito". Ele
Passeava, sempre calmo, no passa-diço;
já as conhecia de Riachuelo,
Mercedes e Cuevas. Felizmente,aos nossos primeiros tiros, o inimi-
So cessou o fogo e, dez minutos de-
Pois, só ouvíamos do lado do mato0 lamentoso canto do urutau. Fbi es-Se o meu batismo de fogo.
Poucos dias depois fui chamadoa servir no estado-maior do almi-rante,
no Apa. Despedi-me da mi-
Parnaíba chorando; eu era tãoCriança!
Com que orgulho a vi figu-
^ar depois nos combates de Itapiru,
^asso da Pátria e Ilha do Cabrito!
c°m que angústia, eu corria a bor-
do para ver se as balas inimigas ti-
^am poupado aqueles companhei-r°s!
E que prazer de abraçá-los to-
J°s, salvos, intactos, naquele dia da
hecatombe do Tamandaré, quando
a Pátria perdeu Mariz e Barros,
^assimon, e outros bravos!
Em 1867, fui de novo designado
para embarcar na Parnaíba. Ela
ocupava então o posto de honra na
vanguarda da esquadra de madei-
ra, em frente a Curupaiti. O seu ca-
nhão raiado de 70 era o único que
podia alcançar as baterias inimi-
gas.
Nessa época havia grande escas-
sez de oficiais na Esquadra. A che-
gada de navios novos e os claros
produzidos pela morte, pelos feri-
mentos ou doença tinham reduzido
o efetivo de alguns navios a coman-
dante, imediato e um guarda-mari-
nha. O serviço era pesado; pela
manhã, eu desembarcava em Cu-
ruzu para presidir ao corte de le-
nha, expedições essas que os para-
guaios interrompiam por vezes a
bala e sabre, e numa das quais per-
deu a vida, entre outros, o coman-
dante do Porte de Coimbra, Primei-
ro-Tenente Reis.
Cabia-me depois o quarto do
meio-dia às seis e, à noite, duas ho-
ras de ronda de escaler, ao alcance
da fuzilaria inimiga. De vez em
quando pescava-se um torpedo. Com
que glória (e que medo), trouxe eu
também uma noite o meu!
Mas em novembro recebeu a
Parnaíba o seu golpe mortal. No
dia 3 desse mês ouvimos forte ca-
nhoneio do lado de Tuiuti. Era o cé-
lebre ataque ao corpo do Porto Ale-
gre, de cujo acampamento tinham
conseguido os paraguaios levar um
Witworth de calibre 32 e vários La-
hitte. No dia 5, pela manhã, foi a
Parnaíba obsequiada com tiros
certeiros da primeira daquelas pe-
ças; morreram um guardião e vá-
rias praças e o casco sofreu algu-
mas avarias. Daí por diante, tive-
mos a distração diária de um due-
lo entre o nosso 70 e o 32 paraguaio.
Mas um dia fomos vencidos. Várias
balas penetraram no navio, produ-
zindo avarias grossas. Uma furou o
200
convés por cima do beliche do meu
colega Herman Gade, derretendo a
provisão de velas de estearina que
ele pacientemente economizava da
sua ração diária. Outra arrebentou
dentro do paiol de foguetes de Con-
greve, que começaram a estalar co-
mo enorme carta de bichas. O in-
cêndio que se manifestou ameaça-
va comunicar-se a outros paióis de
munições. Correu-se aos baldes,
preparou-se a bomba, enquanto
continuava o certeiro fogo do inimi-
go, ao qual não podíamos responder
por ter se descoberto naquela ma-
nhã uma enorme racha na alma do
nosso Witworth.
No meio da natural confusão que
produzem tais situações, um mari-
nheiro (nunca se soube quem) sol-
tou a amarra e as balas paraguaias
continuaram a cair n'água, no mes-
mo lugar em que antes estávamos.
No dia seguinte, a Parnaíba teve
ordem de ir reparar as avarias no
Arsenal do Cerrito e eu fui transfe-
rido para o Cabral.
Em abril de 1868, eu estava doen-
te no hospital flutuante. O pesado
serviço de bordo e dois meses de
destacamento nos pântanos do
Chaco tinham-me arruinado a saú-
de. Um dia, o diretor do hospital re-
cebeu um ofício do chefe do Estado-
Maior ordenando-lhe que escolhes-
se entre os oficiais doentes um que
estivesse nos casos de fazer servi-
ço na Parnaíba, que ia partir para
o Rio de Janeiro a fim de ser con-
denada. Era preciso guardar os ofi-
ciais válidos, que já eram poucos.
A escolha recaiu em mim. Era
minha sina enterrar a Parnaíba.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Ela vinha comandada pelo Pais
Leme e os outros oficiais eram o
Manuel Mancebo e o Alves Barbo-
sa (hoje contra-almirante), creio
que todos inválidos como eu.
Em maio fundeou na Baía do Ri°
de Janeiro (hoje Baía de Guanaba-
ra) a heróica moribunda, fazendo
água por todos as costuras, mas
trazendo a salvamento o seu carre-
gamento de oficiais e marinheiros
inválidos, que só depois da vistoria
puderam apreciar os perigos que ti-
nham corrido nesse féretro ambu-
lante, incapaz de resistir ao menor
temporal. Como oficial mais mo-
derno, fui designado para coman-
dar o navio em desarmamento. Du-
rante dois meses, assisti à sua ago-
nia. Vi sair de bordo a sua artilha-
ria, o aparelho, as peças da máqui-
na, tudo quanto ainda havia nela de
aproveitável. Um dia só ficou o cas-
co, o esqueleto, e tocou-me a vez de
deixá-la também! Até desembar-
car no Arsenal, não a perdi de vis-
ta, reconstruindo na memória
aquelas linhas esbeltas, aquele ar
garboso e simpático que a torna-
vam a preferida entre os navios da
Esquadra. Recordava-me de Ria*
chuelo e outros combates narrados
pelo Afonso Henriques naquelas
noites calmas, quando as vibrações
da banda do Onze de Junho acaba-
vam de morrer nas vastas campi'
nas do Paraná! E, sem ser já tão
criança, não me envergonhei de
verter lágrimas de saudades, ao ar-
rançar a vista daquela ruína, da-
quele cadáver que fora outrora a
minha gloriosa Parnaíba.
Rio de Janeiro, 1892.
REVISTA DE REVISTAS
COLABORADORESAE (RRm) Eddy Sampaio EspelletVA (RRm) Nayrthom Amazonas CoelhoCA (RRm) Odyr Marques Buarque de GusmãoCMG Ruy Barcellos CapettiCMG (RRm) Arnaldo de Oliveira SilvaCTF rancisco José Ungeher TabordaCT Alberto de Oliveira Jr.CT (EN) Maurício Kivielewicz
ALEMANHA
Tecnologia Militar, n? 6/85, 38-45El empleo de buquês de la MarinaMercante para misiones militares(La participación de la IngeneríaNaval Civil en la construción de bu-ques para la Armada) — CláudioAlejandro Morones
JN a introdução, o autor mencionaa necessidade que tiveram as na-ções, em função de suas respecti-vas políticas, de dispor de Mari-nhas capazes de operar no mar lon-ge de suas bases, dando origem àbusca de soluções ao problema decomo obter fontes ou meios de rea-bastecimento.
Surgiram, então, os chamadosnavios de reabastecimento ou deapoio logístico que em sua evoluçãovão sendo aperfeiçoados e afastan-do-se em concepção dos considera-dos puramente mercantes, sem che-gar, porém, à complexidade de pro-jeto das unidades de combate.
Entretanto, a necessidade de se-rem efetuadas operações especiaislevou ao aparecimento de diversostipos de navios auxiliares, tais co-mo: balizadores, hidrográficos,oceanográficos, varredores e caça-minas, transportes de tropa e hos-pitais, que podem ser construídospela indústria naval tradicional-mente orientada para a construçãode navios mercantes, sem que sejarequerida uma especialização oucapacitação especial.
O propósito do artigo é expor, demodo breve, as principais tendên-cias de utilização de navios auxilia-res pelas Armadas modernas e aspossibilidades de a indústria navalcivil das nações em desenvolvimen-to construí-los, refletindo a opiniãodo autor nos conceitos vertidos semenvolver as autoridades da institui-ção que presta serviço.
São também analisadas as pos-sibilidades de utilização dos naviosdas frotas mercantes de bandeiranacional como auxiliares de esqua-
202
dras ou forças, sendo descritos os
principais tipos que são aplicáveis
a este fim (navios roll-on/roll-off,
porta-containers, petroleiros, car-
ga-geral, porta-barcaças) e as mo-
dificações e adaptações necessá-
rias.
ALEMANHA
Tecnologia Militar, n? 7/85, 20-27
Misiles senuelo anti-buque y desa-
rollo de los senuelos — Michel
Dulieu
O autor faz uma resumida apre-
sentação dos atuais tipos de mísseis
antinavios, ou superfície-superfí-
cie, a futura evolução desta amea-
ça, dos sistemas de busca ou procu-
ra do alvo e dos sinais emitidos por
um navio.
Em seguida, passa a analisar as
contramedidas eletrônicas para
despistamento dos mísseis e os mé-
todos de despistamento, geralmen-
te com a criação de falsos alvos que
emitem sinais verossímeis aos do
navio e atraem os mísseis.
Descreve sucintamente os siste-
mas de despistamento eletromag-
nético e'infravermelho.
Aborda as contramedidas anti-
rádio, direcionamento como a bi-
modal, a bi-espectral, a análise ele-
tromagnética espectral, o segui-
mento de avanço frontal, o de re-
presentação de imagens de teleme-
tria e outros, que equipam os mis-
seis, a fim de eliminarem o despis-
tamento criado por falsos alvos.
Próximo ao final do artigo, resu-
me as condições a que devem obe-
decer os despistadores eletromag-
néticos e infravermelho do futuro,
que são: confusão, distração (isto
é, no sentido de desvio) e sedução.
Por fim, apresenta um breve es-
tudo dos equipamentos de lança-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
mento de despistadores e mostra as
dificuldades que há, por vezes, de
lugar a bordo para esses equipa-
mentos, e aponta o uso de gerado-
res de sinais, que são lançados pa-
ra se constituírem em despistado-
res fora do navio.
ALEMANHA
Tecnologia Militar, n.° 8/85, 22-32
Las Islãs Malvinas: tres anos des-
pués dei conflicto — Federico G. C.
Landaburu
O artigo é uma análise das ope-
rações desenvolvidas pelos argen-
tinos tanto na fase de preparação
para a tomada das ilhas como na
fase de desenvolvimento dos com-
bates, quando aconteceu a opera-
ção britânica de retomada do ar-
quipélago.
O autor relata os meios aéreos
empregados durante as duas fases.
Na primeira, para o transporte, ex-
ploração e reconhecimento, que
continuaram durante a segunda fa-
se, relacionando os meios emprega-
dos nas diferentes atividades, como
as aeronaves militares Hércules
C-130 e Fokker F-27, aeronaves co-
merciais das empresas aéreas ar-
gentinas, L-188 Eletra e Fbkker F-28
da Aviação Naval, no transporte de
pessoal e material, Boeing 707.920
C, Hércules C-130, Fokker F-27,
Learjet -35A, das Forças Aéreas, e
Netuno P-2 e Tracker S-2 Grum-
man, da Marinha.
Analisando a segunda fase, o au-
tor relaciona os navios britânicos
afundados e avariados pelos ata-
ques aéreos argentinos, tais como:
dois contratorpedeiros classe 42,
duas fragatas classe 21 e um navio
de desembarque grande que foram
afundados, sendo que outro foi gra-
vemente avariado, e um navio
REVISTA DE REVISTAS
transporte de material que tam-
bém foi afundado. Duas fragatas
classe 22, duas do tipo Leander,
uma tipo 42, uma tipo 21, dois con-
tratorpedeiros tipo County e um na-
vio de desembarque sofreram ava-
rias de diferentes gravidades.
Relata que nas ações ofensivas
foram utilizados, da Força Aérea,
os seguintes aviões de combate: Mc
Donnell Douglas A-4B/C Sky Hawk,
Dassault Mirage III, Dagger (Nes-
her) MV e B-62. Da Aviação Naval
foram empregados: Aeromacchi
MB-339A, Mc Donnell Douglas A-4Q
Sky Hawk e Dassault Super Eten-
dard.
Aponta o emprego dos helicópte-
ros nas operações de apoio, tendo a
Fbrça Aérea usado 14 deles das mar-
cas e para as tarefas a seguir rela-
cionadas: seis Bell B-212, dois Hug-
hes H-269 HN, dois Sikorsky S-58,
dois Sikorsky S-61, e dois Chinook
CH-47, de carga, para ações de bus-
ca e salvamento, desde as suas ba-
ses em terra.
A Aviação Naval empregou três
Sikorsky Sea KingS-61 D4 em tare-
fas anti-submarino e transporte, se-
te Aerospatiale Alouette III (nossos
Esquilo) em tarefas de busca e res-
gate, interligação (ponte) entre
contratorpedeiros, e dois Westland
Sea Lynx WG 13 em atividades aé-
reas de multipropósito.
Discorre sobre a defesa aérea
com o emprego de meios antiaé-
reos tanto de radares tridimensio-
nais Westinghouse AN/TPS-43 e ou-
tros de busca aérea Alert MKII, ar-
tilharia antiaérea do Exército, com
canhões duplos Oerlikon, de 35 mm,
com diretoras Sky Guard, canhões
Hispano-Suiza, de 30 mm, e unida-
de de calibre 20 mm, complemen-
tada com mísseis Tiger Cat e Ro-
land do Exército, assim como ca-
nhões de 40 mm, mísseis Tiger Cat
203
do Batalhão de Artilharia Antiaé-
rea do Corpo de Fuzileiros Navais.
Apresenta, em quadros resumi-
dos, os efeitos da artilharia antiaé-
rea e mísseis Roland sobre a avia-
ção britânica.
Faz comentários sobre as ações
dos AA da Aviação Naval, que con-
siderou notáveis.
Ao final, faz uma análise crítica
das falhas argentinas, principal-
mente nas comunicações-e a falta
de pistas mais adequadas para a
operação de determinadas aerona-
ves em certos locais.
ESTADOS UNIDOS
Proceedings, Annapolis, 111/6/988,
p. 107, jun/1985.
The "SANTA
CRUZ" - A Record
Setter — Robert L.Scheina
Em breve histórico do desenvol-
vimento do submarino convencio-
nal, da Segunda Guerra até os dias
de hoje, o autor subdivide os sub-
marinos convencionais em três
grupos, segundo sua sofisticação
tecnológica. Segundo o autor, a pri-
meira geração de submarinos é ca-
racterizada pelos submarinos de
casco duplo, projetados e construí-
dos durante a Segunda Guerra. So-
freram sucessivas atualizações que
lhes incorporaram melhoramentos
desenvolvidos no pós-guerra, tais
como o esnorquel e baterias com
capacidade muito maior. Os sub-
marinos que representam essa
classe são os americanos da cias-
se Guppy, com suas inúmeras va-
riantes, os de origem inglesa da
classe Porpoise, de projeto poste-
rior à Segunda Guerra, e os mais
modernos da classe Oberon, estes
presentes nas marinhas britânica,
australiana, canadense, brasileira
e chilena. A primeira geração tam-
204 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
bém inclui os franceses das classesNarval, Daphne e Agosta, que tam-bém tiveram algum sucesso de ex-portação.
A segunda geração é representa-da pelos submarinos projetados pa-ra ações em águas costeiras, mascom capacidade para operar emáguas profundas. Essa geração desubmarinos tornou-se operacionalno final dos anos 50 e continua a serconstruída e melhorada. O subma-rino alemão do tipo 209 e sua nume-rosa família são o mais conhecidoexemplo. Esse tipo de navio conso-lidou o projeto do submarino con-vencional de um único casco, pelaprimeira vez empregado pelos ale-mães ao final da Segunda GuerraMundial.
A seguir, classifica o submarinoalemão da classe TR-1700, da qualo Ara Santa Cruz faz parte, comoum submarino diesel-elétrico deterceira geração, construído espe-cificamente para operações oceâ-nicas. Suas excepcionais qualida-des foram conseguidas com a com-binação dos desenvolvimentosmais recentes na tecnologia dossubmarinos diesel-elétricos comcaracterísticas hidrodinâmicas sóencontradas nos submarinos nu-cleares. Como prova da importàn-cia desse novo projeto, é apresenta-do o fato de que, durante as provasde mar, o Santa Cruz foi acompa-nhado por inúmeros navios — dosblocos Ocidental e Oriental — à ca-ta de informações a respeito de suaperformance.
No que diz respeito à sua veloci-dade e raio de ação, o submarinopode alcançar velocidades superio-res a 25 nós, quando submerso. Suaautonomia permite uma viagem deida e volta de Nova Iorque à Cida-de do Cabo, na África do Sul. Quan-to ao armamento, permite a utiliza-
ção das armas mais sofisticadasatualmente disponíveis ou em de-senvolvimento, incluindo os torpe-dos americanos Mk-48 ou os mis-seis sub-superfície da classe Exo-cet SM-39 ouSub-Harpoon. Sua ma-nobrabilidade possibilita a opera-ção em águas restritas. O nível deruído não excede ao do estado domar um. Outras característicasimportantes sobre seu desempenhosão também apresentadas.
Em seguida, breve estudo com-parativo demonstra as vantagens edesvantagens de um submarinodiesel-elétrico de concepção avan-cada em relação a um submarinonuclear de ataque. Finalizando oartigo, o autor declara que "se umanação projeta seu poder ao redor domundo, possivelmente ser-lhe-á di-fícil arranjar um lugar para sub-marinos convencionais em suas es-quadras... Contudo, se a preocupa-ção principal de um pais é a preser-vação de sua soberania e opera suamarinha em um teatro marítimode dimensões limitadas, a melhorescolha poderá ser a dos submari-nos convencionais da nova gera-ção..."
PORTUGAL
Baluarte, n? 6/85Jogos de guerra — Cervaens Rodri-gues
O autor do artigo é o Capitão-de-Fragata Cervaens Rodrigues, daMarinha de Guerra de Portugal,que justifica sua competência pa-ra escrever sobre tal, pelo fato deter cursado no estrangeiro, princi-palmente nos Estados Unidos e In-glaterra, assuntos ligados à Invés-tigação Operacional, matéria naqual enquadra os jogos de guerra,
REVISTA DE REVISTAS 205
essencialmente vinculados ao cam-
po da simulação.
Motiva o autor a escrever o arti-
go o alerta que filmes recentes, co-
mo War Games, trazem à baila,
evidenciando os perigos do uso in-
discriminado dos computadores na
condução dos jogos de guerra, cu-
jos aspectos têm sido objeto de
crescente interesse, na atualidade.
Cabe, assim, perquirir o que são, na
realidade, os jogos de guerra, qual
a sua utilidade militar e como po-dem ser praticados nos diversos
ambientes, no âmbito nacional ou
estrangeiro.
Definindo os três objetivos atuais
dos jogos de guerra como: a) para
treino de pessoal militar; b) para
ensaio de planos; e c) para investi-
gação, o Capitão-de-Fragata Cer-
vaens os enquadra em três grandes
ramos que, no entanto, não esca-
pam à conformação das mais ela-
boradas, às técnicas ou ramos da
investigação operacional, aperfei-
çoadas sucessivamente, com vistas
ao planejamento das operações mi-
litares.
Após breve bosquejo sobre a evo-
lução dos jogos de guerra, conclui,
baseado em definições estabeleci-
das por nações como os Estados
Unidos, o Canadá e a Inglaterra, na
sua maior amplitude, se estenden-
do a aplicações tanto do domínio
militar como do político e adminis-
trativo. Define, em seguida, os di-
versos tipos de jogos, enfatizando
suas características comuns, além
das particulares, que permitem agru-
pá-los sob enfoque dos diversos mo-
dos de execução e quanto à manei-
ra como são seguidas as regras, en-
tre outras.
O autor dá, a seguir, vários exem-
pios de aplicações dos jogos de
guerra em ensaios de planos, citan-
do diversas batalhas e campanhas
em que foram usados como instru-
mento de efetivo preparo e treina-
mento das operações relacionadas.
No campo da investigação, tece
interessantes considerações sobre
a simulação de diferentes situa-
ções, desde o emprego de forças de
dimensões ampliadas, até sua apli-
cação em casos de extrema simpli-
cidade, adequadas contudo, para
fins de treinos específicos e para es-
tudo de problemas que não exijam
a interação de um grande número
de unidades, dando um exemplo
concreto apresentando o jogo Sol-
dado de Chumbo, de autoria do Dr.
George Gamow, do Gabinete de In-
vestigação Operacional do Exérci-
to, e professor da Universidade de
Washington. É um jogo de confron-
to entre carros blindados, de movi-
mentos simples, que tem por obje-
to a destruição de um número má-
ximo de carros inimigos com o mí-
nimo de perdas para as forças pró-
prias.
Finalmente, concluindo o artigo,
o autor apresenta sua opinião de
que, com o uso dos jogos de guerra,
perde-se em realismo, ganhando-se, contundo em flexibilidade e pos-sibilidade de análise e intervenção.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
1986
SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA:
Assinale qual a forma de pagamento desejada:
? em anexo, cheque em favor do Serviço de Documentação Geral da
Marinha, no valor de Cz$ 36,00.
? em anexo, cheque em favor do Serviço de Documentação Geral da
Marinha, no valor de US$ 12,00 (exterior).
? para desconto mensal em folha de pagamento, por intermédio de Cai-
xa Consignatária, no valor de Cz$ 3,00.
Preencha e remeta esta página para:
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Rua Dom Manuel, 15 — Centro
20.010 — Rio de Janeiro — RJ
NOME:
ENDEREÇO:
CEP: CIDADE: ESTADO:
DATA / /19 N? DE CORPO (MB):
ASSINATURA
FAÇA DE SEU AMIGO MAIS UM ASSINANTE DA RMB
NOTICIÁRIO MARÍTIMO
W "Noticiário
Marítimo" da Revista Marítima
Brasileira, uma publicação trimestral, reveste-se de
características próprias que justificam um esclare-
cimento quanto à sua finalidade. Destina-se preci-
puamente a:
a) divulgar os eventos considerados de maior
importância vividos pelas diversas OMs, dando aos
leitores uma visão panorâmica nacional da Marinha;
b) dar aos oficiais reformados e da reserva, in-
formações sobre a Marinha que tanto amaram e quea ela dedicaram um grande número de anos de sua
existência;
c) permitir aos estudiosos do futuro que, pesqui-sandoo
"Noticiário Marítimo", possam visualizar co-
mo era a Marinha de épocas passadas.A Revista Marítima Brasileira solicita aos Se-
nhores Comandantes, Diretores e Encarregados queenviem para a Rua Dom Manuel, 15, notas datilogra-
fadas descrevendo os principais eventos ocorridos em
suas OMs e comentando a importância dos mesmos.
Tais eventos podem ser: exercícios, operações, for-
maturas de término de curso, comemorações (datade criação da OM, de Corpo, etc.), e, se possível, ilus-
tradas com fotografias em preto e branco ou slide.
A Direção da RMB agradece antecipadamente
a atenção dispensada com a certeza de que seu ape-
lo foi entendido e será plenamente atendido.
208
tropicalex 1/86 — No dia 5 de ja-
neiro suspendeu do Rio de Janeiro
a Força-Tarefa 10, comandada pe-
lo Exmo. Sr. Vice-Almirante Hugo
Stoffel, Comandante-em-Chefe da
Esquadra, para a Operação Tropi-
calex 1/86, com o propósito de ava-
liar o desempenho dos navios da
Esquadra, mantê-los em elevado
grau de prontidão, adestrar as tri-
pulações e familiarizar os aspiran-
tes da Escola Naval e alunos do
Curso de Formação de Oficiais da
Reserva da Marinha com a vida no
mar. Foram realizados exercícios
de Controle de Avarias, Guerra
Anti-Submarina, Guerra Eletrôni-
ca, Defesa Antiaérea, Transferên-
cia de Carga e Combustível, Rea-
bastecimento de helicópteros em
vôo, com a participação também de
aeronaves da Segunda Força Aero-
tática, navios-varredores subordi-
nados ao Comando do Segundo Dis-
trito Naval e uma corveta subordi-
nada ao Comando do Terceiro Dis-
trito Naval.
A Operação Tropicalex 1/86 foi
realizada no litoral Leste e Nordes-
te do Brasil e teve na pernada
Recife-Fortaleza a presença do Ex-
mo. Sr. Comandante de Operações
Navais, Almirante-de-Esquadra
Luiz Leal Ferreira embarcado no
NAeL Minas Gerais.
Uma parte da Força-Tarefa 10 vi-
sitou os portos de Recife, Fortaleza
e Salvador e outra parte visitou os
portos de Recife, Maceió e Salva-
dor, tendo sido também visitada a
Ilha de Fernando de Noronha.
A Força-Tarefa 10 foi composta
pelo NAeL Minas Gerais, três fra-
gatas, cinco contratorpedeiros, um
navio-transporte, um navio-oficina
e três submarinos, tendo retornado
ao Rio de Janeiro no dia 31 de janei-
ro.
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
OPERAÇÃO NORDESTEX-I/86 — Em
cumprimento ao Programa de Mo-
vimentações do Comando do Se-
gundo Distrito Naval, um grupo-
tarefa composto dos Navios-
Varredores Aratu, Atalaia, (Capi-
tânea), Albardão e Araçatuba, sob
o Comando do Capitão-de-Mar-e-
Guerra Carlos Augusto da Silva Fi-
gueira, suspendeu no dia 15 de fe-
vereiro para realizar exercícios de
contramedidas de minagem e
inter-navios no litoral do nordeste.
Foram efetuados todos os tipos
de varreduras previstos para os
Navios-Varredores Classe Aratu em
áreas de exercícios próximas aos
portos de Natal e Recife, com gran-
de proveito para o adestramento
das tripulações e para a coleta de
dados sobre a guerra de minas dos
portos e áreas do Brasil.
Nesta comissão foi ainda empre-
gada como navio-mineiro a Corve-
ta Purus que após incorporada no
porto de Recife, efetuou lançamen-
to de minas de contato de exercício
e atuou como dan-layer do grupo de
contramedidas de minagem.
O grupo-tarefa retornou à Base
Naval de Aratu, em Salvador, após
12 dias de ausência.
ANIVERSÁRIO DE INCORPORAÇÃO DE
navio — O Aviso de Transporte Pi-
raim, subordinado à Flotilha de
Mato-Grosso, completou a 10 de
março de 1986 o seu quarto ano de
incorporação ao Serviço Ativo da
Armada.
Por ocasião da data o Capitão-
Tenente Ubiratan Casartelli, Co-
mandante do Navio, emitiu a Or-
dem do Dia n? 0001/86 alusiva ao fa-
to, a qual transcrevemos na ínte-
gra:"Comemoramos
hoje o quarto
aniversário de incorporação ao Ser-
NOTICIÁRIO MARÍTIMO 209
viço Ativo da Armada do Aviso de
Transporte Fluvial Piraim.
Piraim, assim é conhecido um
dos braços em que se bifurca o rio
Cuiabá, logo abaixo de Barão de
Melgaço, para formar a Ilha do Pi-
raim com o outro braço, que conti-
nua a ser denominado Cuiabá.
Foi à margem direita do rio Pi-
raim, em Porto Melgaço, que Au-
gusto Melgaço Leverger, o Barão de
Melgaço, organizou e comandou a
resistência que impediu o avanço
paraguaio em direção a Cuiabá.
Primeiro navio da nossa Mari-
nha a ostentar esse nome, foi esta
a forma encontrada para homena-
gear o feito militar de Leverger,
digno da gratidão de todos os
brasileiros.
Nos seus primeiros quatro anos
de vida pode o Piraim orgulhar-se
de uma valiosa folha de serviços
prestados. Foram até hoje 274.5
dias de mar e 19.837 milhas navega-
das. Nesse relativamente curto pe-
ríodo, alcançou os mais longínquos
pontos do pantanal matogrossense
e portos estrangeiros, mostrando a
nossa bandeira nas mais variadas
missões atribuídas. Teve a grata sa-
tisfação de alcançar localidades
onde nenhum outro navio da nossa
Marinha ter antes alcançado. Por-
to índio, Lagoa Uberaba, Baía do
Castelo, Lagoa Mandioré, Rio Ta-
quarí são alguns exemplos vivos
desses locais.
Tripulação do Piraim!
Nós somos parte integrante des-
te modesto, mas não menos impor-
tante navio da nossa Marinha. Ca-
be a nós a obrigação de mantê-lo
sempre pronto, com dedicação e
empenho de verdadeiros marinhei-
ros e acima de tudo de autênticos
profissionais, a desempenhar com
a máxima eficiência as futuras ta-
refas que lhe forem atribuídas.
Parabéns jovem Piraim! Que a
sua "estrela"
continue a brilhar
ainda por muitos outros anos, para
que os futuros homens que por aqui
passarem, possam orgulhar-se, co-
mo nós nos orgulhamos hoje, de
fazer-mos parte da tripulação des-
te valioso barco."
PRIMEIRA INVERNAÇÃO NA ANTÁRTI-
da — Realizou-se no dia 14 de mar-
ço do corrente ano, na Estação An-
tártica Comandante Ferraz, a ceri-
mônia de passagem de função de
comando do Capitão-de-Fragata
José Antônio Teixeira para o
Capitão-de-Corveta (FN) José
Henrique Salvi Elkfury.
Presentes à cerimônia o Exmo.
Sr. Ministro da Marinha, o Exmo.
Sr. Ministro das Relações Exterio-
res e o Exmo. Sr. Ministro da Ciên-
cia e Tecnologia. Por ocasião da ce-
rimônia o Capitão-de-Mar-e-Guer-
ra Luiz Philippe da Costa Fernan-
des — Secretário-Interino da Co-
missão Interministerial para os Re-
cursos do Mar, emitiu a Ordem de
Serviço n? 0013/86, aludindo ao fa-
to, a qual transcrevemos, na ínte-
gra, a alocução contida."Coroando
o esforço de nossa
presença científica no continente
gelado, promove-se pela primeira
vez uma invernação brasileira.
Estende-se a Operação Antártica IV,
para além dos meses de verão aus-
trai, com a permanência, por mais
um solstício, de 11 brasileiros, de
cujo profissionalismo e de cuja
competência dependerá a continui-
dade do programa nacional de pes-
quisa na Antártica.
Assim, um novo ciclo tem início,
na história de nossa fecunda ativi-
dade nestas latitudes, num ritmo
que se afirma por sua constância e
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA210
por seu lúcido amadurecimento, e presente, este caminhar para o fu-
pela crescente participação dos turo!
9BBP* 4 ' ' *v $
BRBfei %
HI ? li
BHbBe s
nossos pesquisadores, das diversas
áreas das ciências da natureza.
Das primeiras viagens do Navio
de Apoio Oceanográfico Barão de
Teífé e do Navio Oceanográfico
Professor Wladimir Besnard,
passou-se à tarefa de construir e
consolidar a Estação Antártica Co-
mandante Ferraz. Ao iniciarmos
hoje esta invernação, evocamos a
lembrança de todos aqueles que co-
laboraram para torná-la possível:
aqueles que por sua capacidade de
sonhar, vislumbraram esta maior
presença do Brasil; aqueles que,
como Ferraz, ajudaram a nascer o
Programa Brasileiro; aqueles que,
por seu conhecimento científico e
por sua pertinácia, participaram e
participam dos projetos que se de-
senvolvem por descobrir os segre-
dos deste imenso chão, dos mares
contíguos e do ar sobrejacente; e
ainda aqueles que, no trabalho si-
lencioso, anônimo, forte e insubsti-
tuível, permitiram e continuam
permitindo este despertar para o
Finalmente, cabe ressaltar a
honrosa presença nesta cerimônia
do Exm? Sr. Ministro de Estado da
Marinha — Almirante-de-Esqua-
dra Henrique Saboia — na condição
de Ministro Coordenador da Comis-
são Interministerial para os Recur-
sos do Mar. O destaque ainda adqui-
re significante relevância, com a
presença do Exmo? Sr. Ministro de
Estado das Relações Exteriores e
Presidente da Comissão Nacional
para Assuntos Antárticos — Rober-
to Costa de Abreu Sodré e do Exm?
Sr. Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia — Renato Bayma Ar-
cher da Silva — sob cuja égide se
posiciona o Comitê Nacional paraPesquisas Antárticas, órgão de li-
gação com o Comitê Científico de
Pesquisas Antárticas (SCAR). A
presença de tão altas autoridades
concede a esta cerimônia a soleni-
dade dos grandes momentos, sem
retirar-lhe a simplicidade imposta
pela gélida e circundante imensi-
dão austral."
NOTICIÁRIO MARÍTIMO 211
costeirex-86 — Sob o comando do
Vice-Almirante Valbert Lisieux
Medeiros de Figueiredo, Coman-
dante do 1? Distrito Naval, foi rea-
lizada, no período de 17 a 20 de mar-
ço, a Operação Costeirex SE I, na
área de São Sebastião, litoral de
São Paulo, que consistiu na defesa
do Terminal Almirante Barroso —
TEBAR e do porto de São Sebas-
tião.
Desse exercício participaram
unidades do Grupamento Naval do
Sudeste, Rebocadores Tritâo e Tri-
dente -, unidades da Esquadra, Na-
vio de Desembarque de Carros de
Combate Duque de Caxias; Contra-
torpedeiro Alagoas, Contratorpe-
deiro Piauí e Submarino Riachue-
lo\ do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro e Delega-
cia da Capitania dos Portos do Es-
tado de São Paulo, em São Sebas-
tião. Como esse exercício foi reali-
zado em terminal petrolífero hou-
ve uma participação efetiva da
Petrobrás.
As Operações Costeirex têm co-
mo objetivo adestrar as forças dis-
tritais, na defesa de portos e termi-
nais, incentivando a participação
de órgãos civis, como a Portobrás,
Petrobrás e outros, nas ações de se-
gurança das instalações.
promoção de oficiais — Foram
promovidos, em 31 de março, os se-
guintes oficiais: a Almirante-de-
Esquadra, o Vice-Almirante Hugo
Stoffel; a Vice-Almirante, o Contra-
Almirante Edson Ferracciú e o
Contra-Almirante Médico Amihay
Burla; e a Contra-Almirante os Ca-
pitães-de-Mar-e-Guerra Luiz Phi-
lippe da Costa Fernandes, Maurício
Halpera e Waldemar Nicolau Ca-
nellas Júnior.
ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO
— Por ocasião do aniversário da
Revolução Democrática de 1964 o
Exmo. Sr. Ministro da Marinha, Al-
mirante-de-Esquadra Henrique Sa-
boia, expediu a Ordem do Dia n?
0001/86, alusiva ao fato, a qual trans-
crevemos abaixo:"A
evocação do passado tem si-
do elemento fundamental na cons-
trução do futuro das nações. Àque-
les que presenciaram ou participa-
ram dos feitos que hoje vêm com-
por nossa história, cabe testemu-
nhar, perante as novas gerações, so-
bre suas circunstâncias. Afinal,
passo a passo, degrau por degrau,
os que nos antecederam colocaram
seus esforços e, muitas vezes, suas
vidas, na tarefa de legar-nos um
porvir melhor.
Vinte e dois anos atrás, a nação
brasileira deparou-se com uma si-
tuação amplamente indesejável de
instabilidade política, econômica e
social. Num ato de vontade coleti-
212
va, atuando de forma firme e deci-
dida, em momento de união exem-
plar, soube ela efetuar as mudan-
ças necessárias para a reorienta-
ção do caminho a trilhar.
Para a Marinha, meus comanda-
dos, essa correção de rumo signifi-
cou um justo e oportuno rconheci-
mento e revalorização dos mais bá-
sicos princípios da hierarquia e dis-
ciplina militares. Afastamo-nos de
uma situação anárquica e de insu-
bordinações para uma posição de
correta e serena conformidade com
nossos regulamentos e preceitos
doutrinários. Asseguro-vos, como
testemunha que fui desse passado
não tão remoto, que, não houvera o
31 de março de 1964, certamente
não teríamos hoje a Marinha disci-
plinada, unida, atuante e profissio-
nal de que hoje tanto nos orgulha-
mos.
Assim, faz-se mister preservar-
mos esta data entre aquelas que
merecem comemoração especial.
Com isso estaremos evitando que
se olvidem as valiosas lições do
passado e asseguraremos nossa
contribuição para o juízo de valor
que só a história poderá atribuir a
tão marcante evento."
NAVIO OCEANOGRÁFICO ALMIRANTE
SALDANHA REALIZA DEMONSTRAÇÃO
— Às vésperas do início de mais
uma de suas longas viagens de es-
tudos e pesquisas oceanográficas,
o Almirante Saldanha recebeu, em
abril, a visita de numeroso grupo
de visitantes que assistiram a uma
demonstração dos trabalhos nor-
malmente realizados a bordo. O
evento teve ampla cobertura da im-
prensa carioca, pois previa a movi-
mentação do navio para uma área
distante 80 milhas da barra do Rio
de Janeiro e o pernoite no mar, jus-
tamente no período em que o come-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
ta de Halley, em sua decepcionan-
te passagem pela terra, atingiria o
seu ponto de maior aproximação.
O grupo de visitantes foi consti-
tuído de uma representação de três
deputados federais e dois estaduais
conduzida pela assessoria parla-
mentar do Ministro da Marinha; do
Reitor da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro; de 11 professo-
res e inúmeros alunos de todas as
universidades sediadas no Rio de
Janeiro; de seis aspirantes da Es-
cola Naval; de técnicos de institui-
ções ligadas aos assuntos de pesca
e de elementos de diversos veículos
de imprensa.
A demonstração constituiu-se
em palestra inicial do comandante
do navio CMG Renato Tarquínio
Bittencourt, seguida de coleta de
amostras de água e do fundo, com
o emprego de garrafas oceanográ-
ficas e de busca-fundos; a seguir os
laboratórios de física, química, bio-
logia, radioatividade e meteorolo-
gia simularam todas as operações
que são rotineiramente realizadas
durante as campanhas oceanográ-
ficas, oferecendo aos visitantes
uma idéia geral sobre a aplicação
e razão de ser do navio.
Mais do que uma simples exibi-
ção, o evento teve particular impor-
tância para o navio, pois veio de-
monstrar, de público, que apesar de
já prestar serviços há 52 anos, o Al-
mirante Saldanha, remoçado e mo-
dernizado, representa um inesti-
mável patrimônio da Marinha e da
comunidade científica brasileira.
Poucos dias após a demonstra-
ção, o navio mais uma vez deixou o
porto do Rio de Janeiro para cum-
prir a Comissão Nordeste III, com
duração de três meses, quando
atingirá e ultrapassará os notáveis
registros de 7.000 estações oceano-
gráficas, 4.700 dias de mar e 670. 000
NOTICIÁRIO MARÍTIMO 213
milhas percorridas, sem dúvidaum recorde difícil de ser igualadopor qualquer outro navio do mundo.
OPERAÇÃO ÁFRICA 86 — ApÓS tercumprido em dois meses de comis-são, 37 dias de mar, regressou aoRio de Janeiro no dia 10 de abril,um grupo-tarefa comandado peloComandante da Fragata União,Capitão-de-Mar-e-Guerra CarlosEdmundo de Lacerda Freire. Alémda Fragata, o grupo-tarefa eraconstituído pelo ContratorpedeiroRio Grande do Norte, SubmarinoTonelero e Navio-Transporte Mara-jó, os quais mostraram a nossabandeira nos portos de Lagos, Abid-jan, Las Palmas e Dakar. Aos doisúltimos aportaram apenas a fraga-ta e o contratorpedeiro.
Esta comissão teve como propó-sito estreitar relações com os povosvisitados e suas marinhas, o reco-nhecimento de áreas marítimas doAtlântico Sul, a contribuição paraa conquista de mercados de produ-tos e serviços brasileiros, a difusãoda cultura brasileira, a familiariza-ção das tripulações com operaçõesem áreas afastadas do litoral, comlongas linhas de comunicação des-providas de facilidades logísticas.
Durante as travessias foram rea-lizados diversos exercícios, desta-cando-se reabastecimento no mar,transferência de carga leve, exer-cícios de guerra anti-submarina,guerra antiaérea, guerra eletrôni-ca, controle de tráfego marítimo,além de exercícios continuados econstantes inter COC/CIC.
O ponto alto das visitas foi, semdúvida, a operação conjunta com aMarinha nigeriana, pela primeiravez, quando foram conduzidos compleno êxito exercícios táticos, deguerra anti-submarino, passagemde carga leve, e tendo como desta-
ques o vôo do helicóptero da mari-nha nigeriana, controlado pelaUnião, que pela primeira vez voousobre o mar e, os pousos do helicóp-tero Lynx da União a bordo da Fra-gata Aradu, da classe MEKO 360,primeiro realizado em um navionigeriano.
Visando atender à divulgação deaspectos da economia brasileira,foi montada a bordo uma exposiçãode produtos e serviços brasileiros,notadamente da indústria bélica eda indústria de construção naval,além da distribuição de pacotescontendo material de divulgação de37 empresas e entidades brasileiraspara as principais autoridades e re-presentantes comerciais que visita-ram o navio.
Durante a estadia nos portos foimarcante a presença do conjuntoEuzi-Bossa, que acompanhou o GTa bordo da União, tendo inclusivegravado um programa para a TVsenegaleza e se apresentado nas ci-dades de Lagos e Abidjan, para opúblico. Também foi um fator decongraçamento importante o timede futebol do GT, que realizou jogosnos portos de Lagos, onde perdeupor 2 X O; Abidjan, onde empatouem 3 X 3 e Dakar, onde logrou suaprimeira vitória por 4X1, semprecontra a representação das mari-nhas dos países visitados.
MISSÃO DOS AVISOS DE INSTRUÇÃO DAescola naval — O embarque de as-pirantes em navios de nossa Arma-da, durante o verão, para adestra-mento e complementação deaprendizagem militar-naval, temsido e será sempre uma prática im-prescindível e de ponderável im-portància na formação dos futurosoficiais da Marinha do Brasil.
Entretanto, tendo em vista queas viagens de instrução a bordo de
214
unidades da Esquadra, da Direto-
ria de Hidrografia e Navegação e
das forças distritais só podem ser
efetivadas uma vez por ano, era ine-
vitável a existência de um longo pe-
ríodo entre a teoria dos bancos es-
colares e a prática a bordo.
Os avisos de instrução, incorpo-
rados à Escola Naval, vieram
preencher esta lacuna.
Com tal medida, a Marinha do
Brasil deu um grande passo no sen-
tido de potencializar o componen-
te vital de sua missão: o profissio-
nalismo naval.
Ao embarcarem nos Avisos de
Instrução Aspirante Nascimento,
Guarda-Marinha Jansen e Guarda-
Marinha Brito, para adestramento
prático, durante as diversas saídas-
tipo, nas disciplinas afetas à carrei-
ra naval, nossos aspirantes, do 1? ao
4? ano, aprendem a respirar o ar
marinheiro de nossa profissão.
Há cinco anos, os futuros dirigen-
tes dos destinos de nossa Armada
dividem os quatro anos da Escola
Naval entre os bancos das salas de
aula e os laboratórios e anfiteatros
de Villegagnon com os conveses dos
avisos de instrução.
Os avisos de instrução, navegan-
do escoteiros ou em grupos de tare-
fa, representam, em termos de pre-
paração militar-naval dos aspiran-
tes brasileiros, bem mais que um
mero recurso instrucional, adicio-
nado ao currículo com o propósito
de enriquecer o binômio teoria/prá-
tica. A missão é abrangente e as
perspectivas são promissoras.
Antes de receberem a espada e
os galões de guardas-marinha, os
aspirantes já terão conduzido, em
cenário real, fainas de homem ao
mar, pegar a bóia, carga leve, fun-
deio de precisão, abandono, postos
de combate e de incêndio, atraca-
ção e desatracação; terão realiza-
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
dos manobras táticas, exercícios
inter-CIC e de comunicações vi-
suais, navegação oceânica, costei-
ra, em águas restritas e com baixa
visibilidade; estarão familiariza-
dos com o desempenho das funções
administrativas a bordo, tais como:
encarregado de comunicações, de
convés, de navegação, de pessoal,
além das chefias de máquinas, ope-
rações e intendência (para o 4?
ano); ajudantes de divisões (3?
ano) e serviços de praças, exceto
rancho (2? ano).
Por outro lado, em viagem, fa-
zem às vezes de timoneiro, vigia, si-
naleiro, telefonista, plotador do
quadro de contatos, plotador de su-
perfície, operador de radar, oficial
de serviço no passadiço e no CIC.
Práticas complementares, tais
como exercício de tiro real, de táti-
ca anti-submarino e operações com
aeronaves, etc., são realizadas a
bordo de navios de nossas forças
navais.
Essas atividades forjam o que há
de mais vital na formação dos fu-
turos oficiais de marinha: a moti-
vação, mola geradora de desenvol-
vimento das qualidades de lideran-
ça, do espírito de profissionalismo
e da competência técnica que apli-
carão a bordo.
Desde que iniciaram suas ativi-
dades, subordinadas ao Centro de
Ensino Militar Naval da Escola Na-
vai, os avisos de instrução comple-
taram 248 dias de mar e percorre-
ram 28.975 milhas náuticas.
Os avisos de instrução da Esco-
la Naval, com capacidade para
transporte e adestramento de 24 as-
pirantes, foram construídos pela
Empresa Brasileira de Construção
Naval (EBRASA), sediada em Ita-
jaí, Santa Catarina.
Seus nomes são homenagens ao
Aspirante Nascimento, morto na
noticiário marítimo 215
Guerra do Paraguai, e aos Guar-
das-Marinha Brito e Jansen, que
perderam a vida na explosão do
Cruzador Bahia, durante aSegun-
da Guerra Mundial.
Suas características principaissão: comprimento total, 28 m; bo-
ca, 6,5 m; calado máximo, 1,8 AR;
deslocamento, 150 t; e lotação, dois
oficiais e nove praças.
Os navios possuem dois motores
diesel (MCP) MWM com potênciade 320 BHP cada, permitindo uma
velocidade máxima de 12 nós a 2000
rpm.
Durante o verão em curso, os avi-
sos de instrução realizaram três co-
missões para adestramento de as-
pirantes, formando grupos-tarefa,tendo visitado Parati, Angra dos
Reis, Paranaguá, São Francisco do
Sul, Itajaí, Ubatuba e Santos.
Durante as travessias, foram
cumpridos 75 eventos e realizados
exercícios de suspender e fundear;
atracação e desatracação; de ma-
nobras táticas; navegação em
águas restritas, costeira e estima-
da; de abandono; de postos de com-
bate; de comunicações visuais com
bandeiras, semáfora e holofote e,
sobretudo, nossos aspirantes ades-
traram-se no equilíbrio e coordena-
ção de movimentos sobre os conve-
ses de um navio no mar.
sargento fuzileiro naval recebe
Medalha do exército dos estados
Unidos — Em cerimônia realizada
no dia 17 de abril do corrente ano,
no Consulado dos Estados Unidos
da América, o Segundo-Sargento
FN-CN Normando Batista dos San-
tos, que atualmente serve no Cen-
tro de Instrução e Adestramento do
Corpo de Fuzileiros Navais, foi
agraciado com a Medalha de Em-
preendimentos do Exército dos Es-
tados Unidos por sua dedicação, co-
mo membro integrante da Equipe
Multinacional de Instrutores da Es-
cola das Américas, durante o perío-
do em que lá esteve, de 22.4.83 a
26.4.85. O desempenho meritório do
Sargento Normando enaltece suas
qualidades, dignifica a Escola das
Américas e engrandece o Corpo de
Fuzileiros Navais.
Parabéns, Sargento Normando!
parlamentares em visita à MARI-
nha — A convite do Ministro da
Marinha, Almirante-de-Esquadra
Henrique Saboia, uma comitiva de
13 parlamentares, entre senadores
e deputados, visitou diversas orga-
nizações militares sediadas no Rio
de Janeiro.
As visitas, que se desenvolveram
de 24 a 25 de abril último, cumpri-
ram a seguinte programação:Dia 24, pela manhã, embarque
dos congressistas na Fragata
União e no Submarino Amazonas,
que saíram para manobras ao lar-
go do litoral do Rio de Janeiro.
Dia 25, pela manhã, visita às ins-
talações do Instituto de Pesquisas
da Marinha, na Ilha do Governador.
À tarde, visita às instalações do
Centro de Mísseis e Armas Subma-
rinas Almirante Luiz Augusto Pe-
reira das Neves.
ministro saboia dá posse a novos
diretores-gerais — Realizou-se a
30 de abril a passagem do cargo de
Diretor-Geral do Material da Mari-
nha, e no dia 2 de maio a de Coman-
dante de Operações Navais e Dire-
tor-Geral de Navegação. Ambas as
solenidades foram presididas pelo
Exmo. Sr. Ministro da Marinha, Al-
mirante-de-Esquadra Henrique Sa-
boia, e realizadas no salão nobre de
seu gabinete no Rio de Janeiro, Edi-
fício Tamandaré, 3? andar.
O novo Diretor-Geral do Material
216 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
da Marinha é o Almirante-de-Es-quadra Hugo Stoffel, promovido aoposto máximo da carreira, em 31 demarço passado. O Almirante Stof-fel recebeu o cargo do Almirante--de-Esquadra Mário Jorge da Fon-seca Hermes.
No cargo de Comandante deOperações Navais e Diretor-Geralde Navegação, foi empossado o Al-mirante Mário Jorge da FonsecaHermes, em substituição ao Almi-rante-de-Esquadra Luiz Leal Fer-reira, designado para o cargo deChefe do Estado-Maior da Armada.
PRÊMIOS DE DESEMPENHO DA FORÇADE CONTRATORPEDEIROS PARA 1985 -
Para estimular o aprimoramentooperativo e administrativo dos con-tratorpedeiros, foram instituídosprêmios a serem concedidos anual-mente aos que mais se destacaramnos setores de Operações, Arma-mento, Convés, Máquinas e Admi-nistraçâo.
Além desses prêmios setoriais,também foi instituído, para conces-são anual, um prêmio para o con-tratorpedeiro que obtiver o melhordesempenho global, denominado"Distintivo de Eficiência".
Todos os prêmios são de possetransitória.
Durante o ano de 1985, os seguin-tes contratorpedeiros fizeram jusaos prêmios a seguir mencionados:Distintivo de Eficiência, Contrator-pedeiros Rio Grande do Norte eMarcílio Dias; Troféu CT Paraíba
Setor de Administração — Con-tratorpedeiro Marcílio Dias; Tro-féu CT Paraná — Setor de Máqui-nas — Contratorpedeiro Rio Gran-de do Norte; Troféu CT Pará - Se-tor de Convés — ContratorpedeiroRio Grande do Norte; Troféu CTPernambuco — Setor de Operações
Contratorpedeiro Marcílio Dias;
Taça Almirante Ayres da FonsecaCosta — Setor de Armamento —Contratorpedeiro Marcílio Dias;Troféu Desportivo — Contratorpe-deiro Alagoas.
ANIVERSÁRIO DA FORÇA DE MINAGEME varredura — A Força de Mina-gem e Varredura, subordinada ao2? Distrito Naval, completou, dia 12de maio, o seu 25? aniversário. Naocasião, o Comandante da Força,Capitão-de-Mar-e-Guerra Alfredode Almeida, expediu a Ordem deServiço n? 0001/86, a qual transcre-vemos abaixo, na íntegra.
"Completa hoje a Força de Mi-nagem e Varredura mais um im-portante marco de sua existência,o vigésimo quinto ano de atividadesvoltadas para os interesses e obje-tivos maiores da Marinha.
A atual FORMINVAR foi criadapelo Aviso Ministerial n? 0818, de 12de maio de 1961, ficando no seu pri-meiro ano de vida subordinada ao1? Distrito Naval. Da sua constitui-ção inicial, constavam então osNavios-Varredores Javari e Jutaí,recém-recebidos dos Estados Uni-dos, e a sua organização traduzia aluta, a perseverança e as conquis-tas de várias forças e estabeleci-mentos que, desde 1916 até aqueladata, estiveram sempre dedicadosà guerra de minas e à defesa dosportos.
Posteriormente, nos anos de 1962e 1963, e já subordinada à Esqua-dra, recebia a Força de Minageme Varredura seus novos meios flu-tuantes, Navios-Varredores Juruá eJuruena, além dos Navios-PatrulhaPiranha, Piraquê e Pirapiá.
Em 1967, a Força de Minagem eVarredura passou a se chamar Es-quadrão de Minagem e Varredurae, em 1971, com a transferência dosnavios-patrulha para o Grupamen-
NOTICIÁRIO MARÍTIMO
to Naval do Sul, ficou restrito aos
quatro navios-varredores.
Ainda neste ano, e atendendo aos
altos interesses navais, consumou-
se a transferência do Esquadrão de
Minagem e Varredura para o 2?
Distrito Naval, passando seu co-
mando a funcionar na área da Ba-
se Naval de Aratu.
Nesta ocasião, e consciente da
importância da guerra de minas no
contexto nacional moderno, decidiu
a Marinha promover a renovação
das unidades do esquadrão, enco-
mendando à Alemanha a constru-
ção de quatro navios-varredores.
Estas unidades foram incorpora-
das entre novembro de 1971 e de-
zembro de 1972, recebendo, respec-
tivamente, os nomes de Aratu,
Anhatomirim, Atalaia e Araçatuba
e, três anos mais tarde, os seus ir-
mãos mais velhos Javari, Jutaí, Ju-
ruá e Juruena deixavam o esqua-
drão para passar à subordinação do
2? Distrito Naval.
Em fevereiro de 1976, chegavam
as últimas unidades encomenda-
das, NV Abrolhos e NV Albardâo,
passando o Esquadrão de Minagem
e Varredura a dispor dos meios flu-
tuantes existentes até o dia de hoje.
Finalmente, em 1977, ocorreu a
alteração da denominação de Co-
mando do Esquadrão de Minagem
e Varredura para o de Comando da
Fbrça de Minagem e Varredura que
persiste na atualidade.
Todo este rememorar histórico
de uma fase repleta de glórias e
marcada por uma imensa gama de
operações realizadas dentro do
campo da guerra de minas torna-
se, sem dúvida, mandatório em
uma data tão especial como a quecomemoramos.
Nós, que hoje temos grande par-cela na responsabilidade pela segu-
rança do nosso tráfego marítimo e,
217
principalmente, dos acesssos aos
portos, não podemos deixar de vol-
tar os pensamentos aos nossos an-
tecessores, que tanta dedicação
ofereceram a esta Força, forjando
o conceito de que desfrutamos no
meio naval.
Entretanto, se a lembrança do
passado nos enrijece e enche de or-
gulho, a visão do presente nos im-
pulsiona no sentido de não permi-tir que o sucesso alcançado dificul-
te a busca constante do aperfeiçoa-
mento.
Hoje, ao completar vinte e cinco
anos de idade, procuramos através
da preparação teórico-prática do
nosso pessoal, da análise operacio-
nal dos nossos meios, ora realizada
pelo CASNAV e, principalmente, pe-lo contato freqüente dos três ele-
mentos homem-mar-navio, atingir
o rendimento ótimo da nossa Fbrça
de Minagem e Varredura.
São estes seis navios de madei-
ra e os homens de ferro que os guar-necem os responsáveis pela conse-
cução desse objetivo e pela compro-
vação de que atuamos exatamente
como reza o nosso lema: Onde a Es-
quadra for, nós estivemos.
Meus comandados! Esta é a
mensagem que desejei trazer nes-
te dia de tantas alegrias e recorda-
ções. Uma mensagem de orgulho e
consciência da grandeza da missão
que nos foi atribuída mas, princi-
palmente, uma mensagem de in-
centivo e determinação para quecontinuemos a mostrar, no mar e na
terra, a eficiência e a altivez mari-
nheira, características da Fbrça de
Minagem e Varredura.
Feliz aniversário, Fbrça de Mina-
gem e Varredura, e que bons mares
continuem a marcar seu gloriosodestino!"
218
30? ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE INS-
TRUÇÃO DO CORPO DE FUZILEIROS NA-
vais - No dia 18 de dezembro de
1985, foi realizada a cerimônia de
encerramento de cursos de 1985, do
CIAdestCFN. A cerimônia foi pre-
sidida pelo Exmo. Sr. Almirante-de-
Esquadra (FN) Cr rios de Albu-
querque, Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, e con-
tou com a presença de almirantes
FN da ativa e ex-comandantes do
CIAdestCFN. Na ocasião, foram
agraciados com a Medalha Sargen-
to Borges as praças que concluíram
os cursos em primeiro lugar.
Após a cerimônia de encerra-
mento, foram prestadas homena-
gens especiais ao Exmo. Sr. Almi-
rante (FN-RRm) Sylvio de Camar-
go. Na oportunidade, o Exmo. Sr.
Contra-Almirante (FN) Luiz Carlos
da Silva Cantídio, Comandante do
CIAdestCFN, dirigiu a palavra ao
homenageado, tendo sido após des-
cerrada, no salão nobre, uma pia-
ca que perpetuará o reconhecimen-
to do CIAdestCFN ao idealismo e
capacidade de realização do Almi-
rante Camargo. Uma réplica da
placa foi oferecida pelo Exmo. Sr.
Vice-Almirante (FN) Olavo Freire
da Rocha, Comandante de Apoio do
CFN, ao almirante (FN) Camargo.
Da mensagem do Comandante do
CIAdestCFN aos formandos trans-
crevemos alguns trechos abaixo:"Formandos
de 1985!
No decorrer dos cursos que aca-
bam de realizar foram transmiti-
dos conhecimentos e informações
fundamentais para desempenho de
funções em cada especialidade e
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
para melhor uso do material, cres-
centemente sofisticado, que vem
sendo incorporado às nossas forças.
Esta é a finalidade do Centro de
Instrução e Adestramento. A partir
de agora, os conhecimentos adqui-
ridos serão sistematicamente pra-
ticados, no processo de adestrata-
mento desenvolvido em cada unida-
de, de modo a assegurar a todos
destreza, perícia e confiança. Isto
é o que deseja do adestramento. A
recompensa pelo interesse, dedica-
ção, empenho e espírito de sacrifí-
cio, quer durante os cursos quer no
adestramento, virá sob a forma
mais gratificante: o respeito da Na-
ção ao profissionalismo dos seus fu-
zileiros navais. Assegurar esta re-
compensa é tarefa permanente de
cada um de nós.""Com
a entrega dos diplomas e
divisas a que fizeram jus, comemo-
ramos, com o sentimento de missão
cumprida, 30 anos de atividades.""Esta
cerimônia, em consequên-
cia, se reveste de um sentido todo
especial. Por isso, aqui, também es-
tão presentes como construtores
dessas três décadas de aprimora-
mento funcional: ex-comandantes-
gerais, ex-comandantes do nosso
Centro de Intrução e Adestramen-
to e todos os almirantes fuzileiros
navais da ativa.""Seu
trabalho começa bem antes
de cada aula e não termina nem
mesmo com esta cerimônia. A re-
compensa pelo trabalho que desen-
volvem não lhes pertence, pois o
verdadeiro prêmio para os instru-
tores e professores é o êxito dos alu-
nos."
NOTICIÁRIO MARÍTIMO 219
|^J
FUNCIONÁRIA DA CNBW É HOMENA-
GEADA PELA MARINHA AMERICANA
— O Hospital Naval de Bethesda, si-
tuado nos arredores de Washington,
nos Estados Unidos, prestou home-
nagem à funcionária Dora Fich-
man Brooks, da Comissão Naval
Brasileira em Washington, pelos
bons serviços prestados à Marinha
daquele país.
O Contra-Almirante Gothardo de
Miranda e Silva, ex-Adido Naval
nos EUA, endossou através de ofí-
cio enviado à Revista Marítima
Brasileira as excepcionais qualida-
des da funcionária Dora, expressan-
do-se da seguinte forma: "Sou
tes-
temunha pessoal do excepcional
auxílio prestado por Dora Fichman
Brooks a todo o pessoal da Marinha
do Brasil e seus dependentes, no to-
cante a entendimentos junto ao
Hospital Naval de Bethesda; por
outro lado, a homenagem que lhe
foi prestada, como se depreende do
texto abaixo, só enobrece a nossa
Marinha, através da relevante par-
ticipação de uma de suas mais an-
tigas funcionárias e se constitui
num exemplo de dedicação ao ser-
viço para todos nós".
Citação meritória emitida pelo
CMG (Md) R.B. Johnson, Diretor
do Hospital Naval de Bethesda."Sra.
Dora Fichman Brooks.
Tradicionalmente o Adido Naval
Brasileiro e os homens e mulheres
do contingente brasileiro aqui nos
Estados Unidos têm sido generosos
nos seus elogios àqueles que repre-
sentam a medicina da Marinha dos
Estados Unidos. Embora esse reco-
nhecimento seja por nós sincera-
mente muito apreciado, há aqueles
poucos abnegados que represen-
tam seus compatriotas e que cors
tinuam como heróis ocultos. Não há
dúvida que você esteja na vanguar-
da desses indivíduos.
Demonstrando um interesse,
sempre presente, pela saúde e bem-
estar de seus compatriotas, você
tem dedicado inumeráveis horas de
seu tempo assegurando que o con-
tínuo e completo cuidado médico
seja provido não importando ser
problema grave ou não. Atuando
como amiga, companheira, intér-
prete, sua energia inesgotável, de-
dicação e grande personalidade
têm aumentado nosso desejo de dar
atenção aos nossos amigos brasilei-
ros, os quais, verdadeiramente, em-
punhariam o lema do nosso coman-
do: Caringis what we do best (Tra-
tar é o que fazemos de melhor). Seu
sorriso radiante e seu senso de hu-
mor têm sido excelentes instru-
mentos para ajudar-nos a manter
nossas próprias perspectivas e para
nos assegurar uma atitude calma
em situações que, de outra manei-
ra, poderiam se tornar muito es-
tressantes.
Através de longas horas de dedi-
220
cada preocupação e apoio, você
projetou a imagem do Hospital Na-
vai Bethesda, como uma institui-
ção que proporciona um cuidado
completo a todos os nossos pacien-
tes. Embora, obviamente, mostran-
do um interesse especifico em seus
companheiros brasileiros, você tem
sido uma nobre porta-voz do hospi-
tal inteiro, assim como de muitos
médicos, individualmente, perten-
centes ao mesmo. Pela sua doação
de amizade e franqueza direta, vo-
cê encorajou a equipe a fazer o es-
forço extra que faz a diferença en-
tre o bom e o excelente cuidado mé-
dico.
É fora de dúvida que devido ao
resultado de sua sincera participa-
ção e dedicação é que a amizade
que existe entre a U.S. Navy e o Go-
verno do Brasil tenha sido tremen-
damente engrandecida. Por isso
nós estamos realmente gratos. Si-
multaneamente fomos todos bene-
ficiados pela oportunidade de pes-
soalmente interagir com você em
sua inesgotável energia e desinte-
ressada devoção. Como dizemos na
Marinha dos Estados Unidos, você
realmente merece o tradicional
Well done (manobra bem executa-
da). Estamos sinceramente espe-
rançosos que, de algum modo, em-
bora modestamente, possamos co-
meçar a expressar nosso sincero
reconhecimento pelos soberbos re-
sultados de seu extraordinário de-
sempenho."
O PRIMEIRO EXERCÍCIO DE REABAS-
TE CIMENTO DOS "MATADORES" — Os
aviões Harrier AV-8A da Marinha
espanhola realizaram com êxito
seu primeiro exercício aéreo de
reabastecimento.
Seis aeronaves Harrier, equipa-
das com motores Pegasus — os"Matadores"
como são chamados
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
pela Marinha da Espanha — reali-
zaram sua missão em conjunto
com o Hércules C-130 da Força Aé-
rea espanhola a partir de Saragos-
sa.
O exercício teve lugar no céu
aberto, sobre a Baía de Cadiz, per-
to de Rota, local onde fica baseada
a 8? Esquadrilha dos Matadores.
A Marinha espanhola tem opera-
do os Harrier AV-8A desde 1977;
atualmente, possui 11 aviões desse
tipo. Para complementar sua es-
quadrilha, a Marinha deve receber
mais 12 Harrier AV-8A dentro de
pouco tempo.
A chegada desses aviões vai
coincidir com a da nova aeronave
da Marinha, o Príncipe das Astú-
rias, que deverá receber sua homo-
logação técnica em 1987.
TELEVISÃO VIA SATÉLITE PARA NA-
vios — Através do sistema de co-
municações via satélite, INMAR-
SAT, já se tem o serviço de televi-
são à disposição dos navios.
O Conselho do INMARSAT, re-
presentado pela maioria dos parti-
cipantes da cooperativa internacio-
nal de 45 países, decidiu em reunião
aprovar, a título de experiência por
um ano, um serviço de televisão pa-
ra navios.
O novo serviço se aproveita da
capacidade dos canais do satélite
para transmitir dados em alta ve-
locidade, com um baixo índice de
erros, combinando com o recente
progresso da "compressão
do ví-
deo", que reduz a quantidade de da-
dos exigidos para sustentar uma
imagem completa.
Os navios que adotarem o novo
serviço de televisão necessitarão
de uma antena especial e equipa-
mentos associados.
A operação do serviço, que se es-
pera iniciar em breve, foi precedi-
NOTICIÁRIO MARÍTIMO 221
da de uma série de experiênciasbem sucedidas, realizadas no iníciodo ano com o Navio de passageirosQueen Elizabeth II, pela Communi-cations Satellite Corporation (COM-SAT), a organização que represen-ta os Estados Unidos no Conselhodo INMARSAT.
A COMSAT pretende prover, aosdiversos fornecedores de progra-mas de televisão, oito horas não no-bres para transmitir "sinais com-primidos" de vídeo (768kbps) pelarede INMARSAT, via estações ter-restres costeiras especialmenteequipadas, em Santa Paula, na Ca-lifórnia, e Southbury, em Connecti-cut.
Espera-se, também, que outrosoperadores de estações terrestrescosteiras ofereçam o serviço de te-levisão a prováveis propagadoresde notícias, atualidades, esportes ematéria semelhante destinada anavios e instalações marítimas.
Esse serviço especializado glo-bal de televisão estará disponívelnuma base programada mensal-mente ou ocasionalmente.CHAMADA DE TELEFONIA PARA GRU-pos — Durante esse mesmo encon-tro, o Conselho também decidiuaprovar a introdução de um servi-ço experimental de telefonia paragrupos, por um ano, a partir de 1?de maio de 1986.
SR. ASSINANTE
ATUALIZE SEU ENDEREÇO
PREENCHA AS LACUNAS ABAIXO E REMETA PARA:
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA
Rua Dom Manuel, N9 15, Centro
20.010 — Rio de Janeiro, RJ
NOME:
ENDEREÇO:
CEP: CIDADE: ESTADO:
TELEFONE:
DATA: / 19
ASSINATURA
MINISTERIO DA MARINHA - SDGM
PUBLICAgOES A VENDA
Historia Naval Brasileira
1? Vol. - Tbmos I e II prego Cz$ 38,00
2? Vol. - Tbmo II prego Cz$ 45,60
5? Vol. - Tomo II prego Cz$ 48,00
Arte Naval Prego Cz$ 57,00
O Rio de Janeiro e a Defesa de Seu Porto prego Cz$ 14,50
A Reconciliagao do Brasil com o Mar prego Cz$ 6,10
Panorama do Poder Maritimo Brasileiro prego Cz$ 6,10
Carta — Anonimo — Antonio Sanches prego Cz$ 4,20
Campanha Cisplatina (gravuras) prego Cz$ 5,00
Gravuras Coloridas (un.) prego Cz$ 1,20
Reliquias Navais prego Cz$ 95,00
Estorias Navais prego Cz$ 20,00
Medalhas e Condecoragoes prego Cz$ 76,00
Nossos Submarinos prego Cz$ 15,00
Hist6ria do Brasil prego Cz$ 10,00
Historia Geral do Ocidente prego Cz$ 15,00
Delineamentos da Estrategia prego Cz$ 10,30
Hist6ria Maritima prego Cz$ 5,00
4 Seculos de Lutas na Baia do Rio de Janeiro prego Cz$ 5,00
Die. de Termos N&uticos Ingles/Portugues — Vol. prego Cz$ 11,80
Revista Maritima Brasileira
Assinatura (Brasil) prego Cz$ 36,00
Assinatura (exterior) prego US$ 12
Numero avulso (Brasil) prego Cz$ 10,00
Numero avulso (exterior) prego US$ 4
Revista Navigator (n? avulso) prego Cz$ 3,80
Colegao JaceguayVol. 1 (A Marinha D'Outrora) prego Cz$ 14,90
Vol. 2 (Patescas e Marambaias) prego Cz$ 5,00
Vol. 3 (Conselhos aos Jovens Officiaes) prego Cz$ 5,00
Vol. 4 (Reminiscencias da Guerra do Paraguai) prego Cz$ 8,40
Vol. 5 (Efemerides Navais) prego Cz$ 22,50
Vol. 6 (Luvas e Punhais) prego Cz$ 7,80
Vol. 7 (De Aspirante a Almirante) prego Cz$ 72,00
Vol. 8 (A Marinha do Meu Tempo) prego Cz$ 15,70
Vol. 12 (14 Meses na Pasta da Marinha) prego Cz$ 14,90
Vol. 13 (Giria Maruja) prego Cz$ 5,00
Carrancas do Sao Francisco prego Cz$ 15,00
A Marinha do Brasil na 1? Guerra Mundial prego Cz$ 9,20
A Marinha do Brasil na 2? Guerra Mundial prego Cz$ 14,50
As Grandes Guerras da Historia prego Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Atlantico prego Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Pacifico prego Cz$ 14,50
A Guerra Aeronaval no Mediterraneo prego Cz$ 14,50
O Mar Morrente (versos) prego CzJ 10,00
Os pre?os acima sao para o pessoal da MB. Ao publico em geral serd cobrada uma pequena sobretaxa.
Composição, Arte, Fotolito
Impressão e Acabamento
IMPRENSA NAVAL
Rod. Washington Luiz, Km 1
Duque de Caxias — RJ
FALE COM QUEM TEM MAIS
DE 40 ANOS DE TRADIÇAO
EM REPRESENTAÇÃO
DE EQUIPAMENTO MILITAR
cantiavei
DIRETORESDE TIRO
ç7
RADARES, MÍSSEIS, LASER,GUERRA ELETRÔNICA
MI\AR
MINAS SUBMARINAS
FABRIQUE NATIONALE
EZZ3"AMBRUST"
ARMAANTI TANQUE
A
GRETAG
§^DCRIPT0GRAFOS
HARRIS
EQUIPTO. COMUNICAÇÃO
SCHERmULY
PIROTÉCNICOS
^
Hinamissile
MÍSSEISROLAND' E "MILAN"
BORLETTI
^t»SpoV\TS,«ro$poHo\iMrospatiak^rosp atiok^ospoW
MÍSSIL "EXOCET"
bcwas
PRODUTOS EXPLOSIVOS.CONSULTORIA
REPRESENTANTEEXCLUSIVO
Haefller
O s a
AV ERASMO BRAGA. 227 99- RIO DE JANEIRO - Tel. 252 4020 • TELEX: (021121818
H
TURBINAS GE: PROPULSAO
PARA A MARINHA BRASILEIRA
A Turbina de gás marítima
LM 2500 da General Electric
constitui a máquina principal
de propulsão do sistema com-
binado diesel/turbina de gás
do programa de.corvetas da
marinha brasileira. A divisão
de motores marítimos e indus-
triais e serviço da General
Electric Company, Cincinnati,
Ohio, Estados Unidos da Amé-
rica, sente um orgulho imenso
de sua colaboracão com a ma-
LM 2500 Módulo
rinha brasileira em apoio ao
programa de corvetas e da
sua qualidade de membro do
grupo industrial brasileiro, cu-
jos outros membros são a
Varig S.A. e a General Electric
do Brasil S.A., grupo esse res-
ponsável pela fabricação,
assistência técnica e apoio
às turbinas de gás LM 2500
no Brasil durante toda a vida
útil das novas corvetas.
GENERAL ELECTRIC
Fazendo tudo para tornar soa vida melhor.