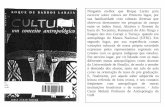Texto jovens militantes
Transcript of Texto jovens militantes
1
JOVENS MILITANTES: ENGAJAMENTO, IMPLICAÇÃO E DESENCANTO1
RESUMO: O texto apresenta parte dos resultados da pesquisa “Juventude em
pauta: a juventude como campo de intervenção social”, onde a juventude é abordada
não como uma condição de vida, uma categoria analítica, um sujeito ou ator social e sim
como um campo de intervenção que, no decênio passado, se tornou um campo
significativo de interesses e investimentos públicos e privados. Após fazer uma breve
apresentação do perfil dos jovens entrevistados, jovens que tiveram um engajamento
político significativo nas mobilizações ao redor da temática juvenil, todos moradores da
região Nordeste, comento as etapas de suas trajetórias e discuto algumas questões que
surgem da análise do material coletado: natureza dos conflitos, participação como
implicação e acionamento identitário.
Palavras chaves: juventude, participação, engajamento político, movimentos
sociais.
1. Introdução
No começo dos anos 2000 o tema da juventude adquiriu visibilidade na agenda
pública brasileira (cf. Brenner, Lânes e Carrano, 2005, Papa e Freitas, 2011). No mesmo
período, os governos petistas, em consonância com orientações que se tornaram
dominantes no contexto internacional2, investiram significativamente na chamada
participação3 como forma de legitimar as propostas políticas que atingem determinados
segmentos sociais. A ideia é que propostas e programas devem ser elaborados (e
executados) com a participação dos diretos interessados4.
Surgem então algumas iniciativas voltadas a mobilizar jovens (organizados ou
não), entidades sociais e especialistas para participar da discussão sobre as chamadas
“políticas públicas” dirigidas ao segmento jovem . São iniciativas diversas e
1 Texto produzido no âmbito da pesquisa “Juventude em pauta: a juventude como campo de
intervenção social”, financiada com recursos da FAPERJ. A ideia que sustenta a proposta de pesquisa é abordar a juventude não como uma condição de vida, uma categoria analítica, um sujeito ou ator social e sim como um campo de intervenção que, no decênio passado, tem se tornado um campo significativo de interesses e investimentos públicos e privados. 2 Para uma análise da influência dos organismos multilaterais nesse processo, cf. Bandeira, 1999 e, numa visão crítica, Maranhão, 2009. 3 Coloco em itálico as palavras utilizada no sentido nativo, ou seja, no sentido utilizado no interior do campo. 4 Para uma análise critica sobre esse processo, cf. Moroni, 2005.
2
promovidas por agentes distintos (parlamentares, organizações partidárias, organismos
multilaterais, ONGs e Fundações empresariais), dentre as quais cabe destacar:
a) o processo de discussão promovido pela Comissão Especial de
Juventude da Câmara Federal, que entre 2003 e 2006 realizou a Semana
Nacional de Juventude, audiências públicas em todos os estados e duas
Conferências Nacionais;
b) o chamado “projeto Juventude” promovido pela ONG “Instituto
Cidadania”, ligada ao presidente Lula, que entre 2003 e 2005 realiza um amplo
processo de consulta, pesquisa, debate e elaboração de propostas com o intuito
de subsidiar a elaboração de uma Política Nacional de Juventude;
c) as “redes”5 e os Fóruns criados em âmbito regional e local por
iniciativas de órgãos governamentais e projetos sociais de ONGs6.
Esse processo de discussão e mobilização7 culminou, em 2005, na elaboração de
um Plano Nacional de Juventude e de uma proposta de emenda parlamentar (PEC da
juventude); e na aprovação de uma Medida Provisória (transformada sucessivamente em
lei) que criou a Secretaria Nacional de Juventude (órgão vinculado à Presidência da
Republica) e o Conselho Nacional de Juventude, instância de caráter consultivo.
A partir da criação do Conselho Nacional, Estados e Municípios também se
ativaram para criar seus conselhos de juventude em âmbito local, o que motivou os
atores engajados a se mobilizar para discutir as leis de criação dessas instâncias e sua
composição, bem como para garantir a própria participação nos Conselhos instalados.
5 Na região Nordeste foram atuantes pelo menos 4 redes: a Rede Jovens do Nordeste, o projeto “Redes e Juventudes”, a Rede Sou de Atitude e a Rede Juventude e Meio Ambiente-REJUMA. 6 Alguns grupos tentaram também articular a organização de um Fórum Nacional de Movimentos e Organizações Juvenis que, apesar de nunca ter conseguido financiamentos para realizar um encontro nacional próprio, teve um rico espaço de debate num grupo virtual (o “construindoteais”) e tornou-se um ator político significativo nas instâncias de debate público. 7 Houve também duas edições do encontro “Vozes Jovens”, realizado pelo Banco Mundial.
3
Naqueles anos, algumas ocasiões de encontro em nível nacional foram
importantes para criar um clima de mobilização e de reconhecimento entre os jovens
que os frequentavam. Além dos espaços já citados, vale lembrar o acampamento nas
edições do Fórum Social Mundial que aconteceram no Brasil (entre 2002 e 2005) e do
Fórum Social Brasileiro (em 2003 e 2006).
Os jovens que entrevistei no âmbito da pesquisa “Juventude em pauta: a
juventude como campo de intervenção social”8 se envolveram muito ativamente nessas
mobilizações, encontros, processos de discussão; todos tiveram um papel de destaque
em âmbito local e, alguns, também em âmbito nacional. São jovens moradores de
alguns estados do Nordeste (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia) e
participantes (como público alvo ou/e como educadores e gestores) de programas
sociais promovidos por ONGs ou organismos públicos. São, excetuado um, moradores
de regiões periféricas, oriundos da classe popular, pardos ou negros; todos participaram
de várias articulações, entre as quais os muitos espaços de debate promovidos pelo
projeto “Redes e Juventudes” entre 2002 e 2006. Participar dessas iniciativas9, que
durante alguns anos ocuparam de forma significativa seu tempo e plasmaram suas
experiências, foi um marco importante em suas vidas.
Tanto em âmbito acadêmico (cf. Matos, 2012, p. 50) como no âmbito político, é
comum considerar que, nesses anos, houve a articulação de “movimentos juvenis”,
nomeação que evoca a ideia de um movimento social, ou seja, um conjunto de atores
que compartilham uma causa, formas de ação e laços de solidariedade entre os
8 Foram 15 jovens, com os quais conduzi, entre 2010 e 2012, entrevistas temáticas sobre suas trajetórias de envolvimento em ações sociais e políticas. Agradeço a disponibilidade deles em compartilhar comigo suas experiências e reflexões. Os argumentos aqui colocados são, obviamente, de minha inteira responsabilidade. 9 Os jovens moradores do Recife e do interior do Estado de Pernambuco citaram, em particular, uma iniciativa como especialmente significativa no processo de formação política deles, a Roda de Dialogo Permanente sobre Juventude, um espaço de diálogo promovido por algumas entidades não governamentais do Recife, com o intuito de debater criticamente questões da atualidade e elaborar propostas.
4
participantes (cf. Blumer, 1982). Não cabe, nos limites desse texto, e não é meu objetivo
de pesquisa, discutir a validade dessa afirmação. O que me interessa sublinhar é que os
encontros recorrentes, as agendas lotadas de compromissos, a multiplicação dos
espaços de debate alimentaram nesses jovens o sentimento de “ser parte de” e a
expectativa de que algo inédito estivesse acontecendo. Vale notar que a partir de 2005
as ocasiões de encontro ficaram reduzidas às reuniões promovidas para realizar uma
eleição (de delegados ou conselheiros) e as Conferências (municipais, estaduais ou
nacional).
A metodologia da pesquisa previa a realização de entrevistas temáticas com
alguns jovens, com o intuito de analisar suas trajetórias de atuação no âmbito dessas
mobilizações. Nesse texto, pretendo explorar as representações e os sentidos atribuídos
por eles à sua atuação enquanto militantes, ou seja, indivíduos engajados numa luta ou
movimento.
Os jovens entrevistados descreveram seus percursos entre múltiplas experiências
de participação, nas mobilizações em defesa dos direitos da juventude, das mulheres,
dos negros, assim como seus envolvimentos em grupos juvenis, projetos de ONGs,
Fundações empresariais e órgãos públicos, redes e articulações regionais e nacionais.
Suas narrativas revelam as muitas contradições e confusões entre profissionalização e
militância, trabalho social e engajamento político10
, os conflitos pessoais e políticos
com os quais se deparam, na atualidade, indivíduos que tentam engajar-se em
movimentos e ações coletivas.
Na primeira parte do texto, tipifico as etapas de suas trajetórias; na segunda,
discuto algumas questões que surgem da análise do material coletado. Em particular,
pretendo abordar de que forma a questão da identidade, considerada, na literatura sobre
10 O trabalho de André Sobrinho (Sobrinho, 2012) vai nessa mesma direção de discutir o engajamento político via envolvimento em projetos sociais como público alvo ou/e profissional.
5
movimentos sociais, questão chave para entender o engajamento em ações coletivas,
tem sido acionada no âmbito dos movimentos juvenis.
As reflexões aqui colocadas não pretendem ser conclusivas, e sim contribuições
para o debate.
2. Breve perfil dos entrevistados
Vou traçar, a seguir, um breve perfil dos jovens que cito no texto. Perfis que
considero casos emblemáticos das trajetórias de jovens engajados em ações de cunho
político via projetos sociais.
a) Iran
Crescido num barraco em terreno de invasão, na periferia da cidade, Iran é filho
de um cozinheiro e de uma dona de casa. O avô tinha sido, durante a ditadura, militante
do sindicato rural, e o pai se engajou nas mobilizações no bairro. Com muito esforço, a
família consegue que ele frequente um colégio público municipal de boa qualidade, no
centro da cidade, onde ele se engaja ativamente no grêmio estudantil . Tenta também
disputar a presidência da Associação de moradores. Depois de frequentar os projetos de
uma ONG, se envolve de cabeça no Fórum da Juventude da cidade, participando de
muitas atividades, de muitas viagens inclusive no exterior. Nesses anos, consegue
concluir uma faculdade particular. Passou concurso numa instituição de pesquisa, e hoje
também da aula num cursinho comunitário.
b) Paulo
Filho de um vigia e de uma vendedora de cosméticos, cresceu numa vila da
COHAB, numa cidade da região metropolitana. Sua primeira atividade “de juventude”
foi um encontro de jovens, no centro da cidade, onde um amigo do bairro o levou. Ali,
despertou interesse para se inscrever num curso da ONG que o amigo frequentava. Na
época, trabalhava como promotor de venda da Nestlé. Começou, então, a frequentar
6
muitas iniciativas no campo da juventude. Se aproximou de um grupo político
partidário, e se envolveu ativamente na campanha pela eleição de uma deputada
estadual, que depois o convida para assumir o cargo de assessor em seu gabinete. Chega
também a assumir o cargo de Conselheiro Nacional do CUNJUVE. Atualmente, esta
retomando um curso de comunicação numa faculdade particular, abandonado por causa
dos muitos compromissos políticos.
c) Renato
Jovem morador de uma pequena cidade do interior, Renato se engajou desde
cedo no grêmio estudantil. Por causa de suas habilidades comunicativas, começou a
trabalhar na elaboração do jornal da escola. Assim conheceu o trabalho de um projeto
desenvolvido por uma serie de entidades locais, financiado por algumas fundações
empresariais, e durantes alguns anos foi assessor de comunicação do projeto. Foi assim
que se engajou nas mobilizações em favor da juventude, participando de varias redes
regionais e nacionais. Foi conselheiro do CONJUVE durante duas gestões. Hoje é
candidato a vice-prefeito na sua cidade.
d) Jaleila
Moradora do subúrbio da cidade, Jaleila foi uma adolescente bastante retraída, já
que o pai não a deixava com muitas liberdades. O pai não tinha trabalho fixo, a mãe era
dona de casa. Filha única, gostava de estudar, o que no seu meio era uma exceção. As
condições econômicas da família sempre foram muito precárias, por causa de uma grave
doença do pai. Sempre tentando conciliar trabalho e estudo, trabalhou num projeto da
prefeitura que pretendia mobilizar jovens nas escolas, através do trabalho de animação
cultural. Dali passou a trabalham em outros programais municipais, onde trabalha até
hoje. Participante assídua dos muitos fóruns de discussão e mobilizações em prol da
juventude. Hoje está cursando sua segunda faculdade na universidade pública.
7
e) Eduardo
Jovem negro morador do subúrbio da cidade, filho único de mãe solteira (o pai
abandonou a família muito cedo) começou seu engajamento a partir do envolvimento
em projetos sociais de ONGs. Formou um grupo de jovens, no seu bairro, onde ainda é
muito ativo. Militante de muitas causas (questão racial, juventude, economia solidaria)
não sossegou até não conseguir entrar num dos cursos de direito mais prestigiosos da
cidade, contrariando as estadísticas sobre o destino dos jovens negros, pobres,
moradores de periferia. Trabalhou em vários projetos sociais, e hoje é assessor de um
deputado federal negro.
f) Geovane
Morador de uma pequena cidade do interior, de família muito pobre, marcada
pelo alcoolismo do pai. Quando estava na escola, ouviu falar de um projeto que algumas
fundações empresariais iam começar a desenvolver na região. Fez o curso de formação
que o projeto oferecia, e depois passou a atuar como educador e gestor na mesma
instituição. Dali passou a trabalhar como gestor de programas governamentais, na
capital do Estado, onde vive e trabalha até hoje. Foi candidato a vereador na sua cidade,
mas não conseguiu se eleger. Terminou a faculdade numa universidade particular do
interior.
g) Elisa
Moradora de uma pequena cidade do interior, família numerosa, pai autoritário,
sofreu bastante por não se adequar ao destino reservado às mulheres em seu meio social,
ou seja, ser uma esposa submissa. Envolveu-se ativamente no movimento de mulheres
da região, e também nas mobilizações em prol da juventude, onde conheceu seu
companheiro, também militante, com o qual foi morar na capital do Estado. Hoje
trabalha numa das secretarias do governo estadual.
8
3. O engajamento
A grande maioria dos jovens entrevistados iniciaram seu engajamento político
em consequência de seu envolvimento nas atividades de projetos sociais desenvolvidos
por ONGs, participando como público alvo das ações propostas pelos projetos11
. Esse
fato deve ser explicado. No decorrer dos anos 2000, as entidades passaram a propor e
exigir do público alvo de seus projetos o engajamento em atividades de defesa de
direitos daquele determinado segmento populacional (que sejam mulheres, negros,
jovens). Concretamente, isso significava participar dos espaços onde, supostamente,
esses direitos estariam sendo discutidos para, possivelmente, ser garantidos através da
formulação de políticas públicas12
.
Como exemplo dessa perspectiva podemos citar o objetivo do projeto Redes e
Juventudes, assim formulado:
“Contribuir para fortalecer atores com capacidade de intervenção na definição
dos direitos dos jovens e na formulação e execução de políticas que implementem esses
direitos.” Especificamente, “Contribuir para que os jovens se tornem atores sujeitos de
direitos, com participação na sociedade e capacidade de diálogo. Ou seja: contribuir
para que possam expressar suas demandas e dialogar com outros setores da sociedade;
contribuir para que se construa uma agenda de políticas públicas para o cumprimento
destes direitos.” (Redes e Juventudes, 2003, p. 3)
Esta passagem do mero atendimento (considerado, agora, de caráter
assistencialista) à proposta de um engajamento de tipo político passou a ser, em alguns
casos, uma exigência dos financiadores. A ampliação dos canais de participação no
11 Não cabe aqui descrever o tipo de atividades propostas nesses tipo de projetos. Em linha geral, são atividades de capacitação que combinam objetivos formativos (geralmente consideradas complementares à formação escolar) com o objetivo do ocupar o tempo ocioso dos jovens. Para alguns, e especificamente para os projetos dos quais os jovens entrevistados participaram, é central o objetivo de formar jovens enquanto agentes de desenvolvimento local. Para uma analise dos projetos desenvolvidos por ONGs cf. Tommasi, 2005 e Sobrinho, 2012; para uma analise dos programas desenvolvidos em âmbito governamental cf. Sposito, 2007. 12 Para uma discussão crítica sobre o significado atribuído à expressão políticas públicas cf. Lima e Castro, 2008.
9
quadro do fortalecimento da democracia brasileira, exigia a formação de um pessoal
qualificado para ocupar os espaços onde, supostamente, as propostas de políticas
públicas estavam sendo elaboradas. Conselhos, fóruns, conferencias proliferaram, tanto
em âmbitos local como nacional, enquanto marca distintiva e de legitimação do modus
operandi dos governos petistas.
No campo da juventude, o protagonismo juvenil virou uma palavra de ordem,
propondo que os jovens assumam “um papel central nos esforços por mudança social”
(Gomes da Costa, 1996, p. 36).
Ao mesmo tempo, a centralidade da questão identitária postula o necessário
envolvimento dos diretos interessados na discussão das políticas públicas que se
dirigem a eles. Assim, as mulheres devem se engajar na discussão e proposição de
políticas para as mulheres, os negros na discussão e proposição de políticas que
promovam a igualdade racial, os jovens nas políticas dirigidas a eles. Chama a atenção
que esse tipo de indução à participação13
foi promovido tanto pelas ONGs mais atuantes
no campo da promoção dos direitos, com uma historia de atuação no âmbito do
processo de redemocratização do país, como pelas ONGs e projetos sociais mais
especificamente ligados ao chamado terceiro setor de cunho empresarial. Efeito do que
Evelina Dagnino chama de confluência perversa entre o discurso democrático-
participativo e o discurso neo-liberal (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006, p. 16)
Foi assim que se constituiu um tipo de militante que não tem sido formado nos
espaços tradicionais de participação política, os partidos e sindicatos. Nos encontros
nacionais, a diferenciação entre os chamados jovens de projetos e os jovens militantes
de partidos políticos era evidente. Os primeiros sofriam inclusive certa discriminação
por parte dos segundos, que os acusavam de ser despolitizados, ou seja, de não ter
13 Em outro texto, já identificamos os rasgos dessa participação induzida no âmbito de programas governamentais (Tommasi, 2007, pp. 223-226).
10
clareza sobre as questões estruturais do âmbito político, como a luta de classe, o papel
do Estado e da classe trabalhadora. Os jovens de projetos reivindicavam seu
pertencimento ao campo indefinido dos movimentos sociais, mas seu atrelamento aos
projetos como público alvo (o que, no geral, significava receber uma bolsa, mesmo
sendo esta de valor sempre muito limitado) ou como educadores, ou seja, profissionais
remunerados, denunciava que seu engajamento não era de cunho exclusivamente
ideológico-político.
Por outro lado, o objetivo das entidades era ocupar espaços em instâncias
setoriais diversas. Assim, um jovem que se destaca pela coragem e facilidade de meter
a cara e expressar sua opinião, é recrutado para ocupar uma cadeira em alguma
instância de participação, não importa qual seja a área ou segmento (saúde, mulher,
criança e adolescente, juventude).
“Existe uma carência muito grande de pessoas que se posicionam, então a
partir do momento que você se mostra, se dispõe a isso, a discutir, a falar, a colocar
suas ideias, sem saber se está certo ou errado, ai você é tido como liderança, mas no
final das contas você não está liderando nada, você está sendo liderado por outros
interesses. Tem vez que o cabra não sabe nem falar, só porque ele junta dez pessoas é
tido como uma liderança.” (Paulo14
)
Os relatos dos meus entrevistados sobre a relação com as ONGs responsáveis
pelos projetos revelam dinâmicas geralmente bastante conturbadas. Com muita ênfase,
por exemplo, Elaine defende que ela não é produto do trabalho da ONG, assim como os
gestores da ONG gostavam de enfatizar publicamente, inclusive comparando o custo de
um jovem formado pela ONG com o custo da manutenção de um jovem na FEBEM,
argumentando ser mais barato investir na prevenção supostamente operada pelos
projetos da ONG do que na repressão e contenção operada pelos órgãos do estado. Essa
14 Os nomes são fictícios.
11
ideia de produto, inclusive, está mais em sintonia com a lógica do mercado do que com
os ideais da educação popular aos quais a ONG se remete, comenta Elaine.
Ao mesmo tempo, diz ela, parece que você tem uma “dívida impagável” com a
entidade, e por isso precisa se envolver em todas as atividades propostas, assumir
inclusive as muitas tarefas que demandam a gestão dos projetos. De público alvo, os
jovens tornam-se educadores, técnicos, gestores. Mas sempre percebendo que nunca
conseguem conquistar, dentro da entidade, o respeito e a autonomia da qual gozam os
profissionais adultos.
Mesmo assim, o envolvimento nas atividades dos projetos, que para os jovens
que se destacam representa também a possibilidade de participar de viagens, conhecer
lugares e pessoas distantes, é um momento significativo em sua trajetória. Para alguns, a
possibilidade de sair de um ambiente social e familiar no qual se sentem estranhos.
Jovens mulheres que não aceitam viver o destino e a condição de mulher submissa,
relegada ao papel de esposa e mãe; jovens que gostam de livros, de discutir ideias, que
se percebem inquietos e se preocupam com a transformação de seu entorno.
Nos movimentos sociais foi onde eu nasci de verdade, nasci para o mundo,
antes eu era bem tímida, retraída. Eu cresci me sentindo um peixe fora d’água e
quando eu cheguei nesse espaço eu me vi em casa, no movimento social, onde a gente
pensa parecido (Jaleila)
Para a maioria dos que se engajam em atividades políticas, inevitavelmente
surge o encontro e o envolvimento com a política partidária. Encontro sempre difícil já
que não dominam os códigos das práticas da política partidária. Assim, geralmente,
depois de certo tempo, entram em embates, que acabam se expressando em conflitos
pessoais, com os que se movem com mais desenvoltura nesses espaços. Clivagens
sociais se reproduzem. Os jovens que manejam os códigos e ocupam lugares de
destaque dentro das instâncias de partido (e de governo) são jovens de outro segmento
12
social, jovens que tiveram sua socialização política nos espaços do movimento
estudantil, na universidade. Clivagens sociais que, inevitavelmente, expressam também
clivagens raciais. Nas disputas, os jovens de projeto, ou seja, os jovens pobres,
geralmente perdem.
4. Desencanto
Para a grande maioria dos meus entrevistados, ao entusiasmo pela participação e
engajamento seguiu o desencanto. Por um lado, hoje percebem que, se pessoalmente
tiveram algum ganho, de forma geral sua atuação, mesmo no momento de auge das
mobilizações, não conseguiu atingir resultados tangíveis para outros jovens, ou melhor,
para a juventude brasileira.
“A gestão e as políticas me garantiram muita coisa, meu sustento, mas para a
maioria dos jovens não garantiu muita coisa” (Jaleila)
“A gente não conseguiu viabilizar nada” (Paulo)
“Em Pernambuco deve ter mais de 90 municípios que têm alguma instituição
de juventude, mas não fazem nada, não tem recursos disponíveis para fazer. Fica
aquela coisa engessada. Porque para ter a Casa de Juventude é preciso ter uma
instituição de juventude. (Geovane)
Os espaços de participação são esvaziados de um efetivo papel político, ou seja,
percebem que não é nesses espaços que as decisões sobre a destinação dos recursos
públicos e as definições programáticas são tomadas.
“Não vai ter controle social, nunca vai ter controle social, porque o governo só
vai indicar aqueles que são mais próximos dele” (Iran)
“Eu acho que esse modelo de participação dos conselhos já está saturado. A
sociedade civil não tá preparada suficientemente para ocupar esses espaços, aí vem
repetindo as lideranças. Os conselhos não deliberam sobre nada. Só existe ali porque a
13
maioria dos convênios que o estado faz com os municípios exige. Os fundos não
funcionam porque nunca os prefeitos depositam o dinheiro.” (Geovane)
Por outro lado, centrar no objetivo de ocupar esses espaços enfraqueceu outras
possibilidades e objetivos de mobilização. As articulações viraram disputas por ocupar
uma cadeira de um Conselho, ou ser delegado em alguma conferência.
“eu sinto que a juventude que participou daqueles processos aderiram muito,
criticaram muito pouco, institucionalizaram muito facilmente, na perspectiva de ter
algum tipo de mobilidade social individual. Trata-se de um segmento muito excluído e
fica difícil exigir tal grau de desprendimento e de crítica, muitos jovens viram naquilo
uma possibilidade de ascensão social, ascensão através da política. O principal
resultado disso tudo é que algumas pessoas se gabaritaram. Isso virou para alguns
movimento a prioridade, ocupar espaços” (Eduardo)
A fragilidade dos movimentos frente à centralidade assumida pelas ditas
instâncias de participação já foi sublinhada nos estudos da Evelina Dagnino e de seu
grupo de pesquisa (cf. Dagnino, 2002). Aqui cabe salientar que, para os indivíduos
jovens, as consequências são bastante críticas, justamente porque o desencanto acontece
em um momento da vida em que se define um projeto de vida, profissional e pessoal.
A crise financeira pela qual passa a grande maioria das entidades não
governamentais na atualidade, pelo menos aquelas que pautaram suas ações na defesa
de direitos e ampliação dos espaços de participação democrática, torna mais difícil uma
inserção profissional no setor. Isso é particularmente evidente nos estados do Nordeste.
Para alguns, um pequeno grupo, resta o engajamento nas formas da política
tradicional. Aceitando as regras do jogo.
Assim, as trajetórias dos jovens entrevistados podem ser sintetizadas em dois
percursos típicos: engajamento e encanto – decepção com o mundo da política e as
práticas que ali acontecem – refluxo para o âmbito privado; ou : engajamento –
14
aceitação das regras do jogo – construção de uma carreira política profissional. Num
caso como no outro, o que se perde é a carga de conflito questionadora da ordem
existente, o sentimento de “ser parte de” um conjunto, um coletivo, um movimento, o
engajamento em ações coletivas (cf. Melucci, 1991). Seja, na maioria dos casos, por
causa da decepção; seja pela aceitação das regras do jogo e a projeção na política como
carreira pessoal.
Para aqueles jovens que continuam engajados em atividades que dizem respeito
ao campo da política instituída, como assessores de políticos que ocupam cargos nos
órgãos legislativos locais ou nacional, ou como ocupantes de uma cadeira em algum
Conselho, as formas da política parecem estar impregnadas de um substancial
pragmatismo. A política é o âmbito da negociação de interesses, dos acordos de porta
fechada, da gestão dos conflitos através da partilha de recursos. Política como técnica,
administração das coisas (Arendt, 1990, p. 217).
Nessa política como gestão de interesses não há lugar para a explicitação de
conflitos entre adversários (Mouffe, 2005, p.20), ou seja, sujeitos falantes que se
reconhecem na oposição. Alguns autores, como Chantal Mouffe e Jacques Rancière,
fazem uma distinção entre a “política”, ou seja, as práticas e instituições que organizam
a sociedade (a gestão), e o “político”, cuja característica distintiva é a dimensão do
conflito (Mouffe, 2005 e 2007; Rancière, 1996). Para Chantal Mouffe, o político se
caracteriza pela dimensão do antagonismo, constitutiva da sociedade humana.
“Considero que é apenas quando reconhecermos a dimensão do "político" e
entendermos que a "política" consiste em domesticar a hostilidade e em tentar conter o
potencial antagonismo que existe nas relações humanas que seremos capazes de
formular o que considero ser a questão central para a política democrática.” (Mouffe,
2005, p. 20)
15
Jacques Rancière, por sua vez, argumenta que é o desentendimento, não o
consenso, que constitui a política: “a subjetivação política se elabora não no âmbito de
uma partilha de valores indentários, mas através do conflito, nas ações e nas palavras
que miram um bem público, na confrontação com outros sujeitos agentes e falantes”
(Magni, 2007, p.13).
Os relatos dos entrevistados são repletos de anedotas sobre a cooptação de
alguns pelo sistema político dominante, o enfraquecimento dos mais frágeis que acabam
caindo no circuito das drogas-violência, a repressão ou estigma (a queimação) dos quais
são alvo aqueles que expressam posições de conflito, a pressão que sofrem os que
ocupam posições que tradicionalmente não lhe são reservadas. São, me parece, formas
diferentes de gestão da população jovem, em particular, dos jovens que se envolvem em
atividades políticas.
De fato, as tentativas de organizar movimentos juvenis esbarram na dificuldade
de encontrar apoio para desenvolver atividades que têm um cunho político, ou seja,
encontros, discussões, elaboração de plataformas. A outra face do discurso que
essencializa uma suposta identidade juvenil foi a recusa, por parte das ONGs que
tradicionalmente apoiaram (por meio da assessoria técnica) a organização e articulação
política dos movimentos sociais, a apoiar articulações de jovens, com o argumento de
que os jovens têm que ser autônomos e se organizar por si mesmos (ou seja, sem a
intervenção de adultos). As fundações empresariais, por sua vez, só apoiam a realização
de atividades que elas possam orientar e que tenham como finalidade o que elas
acreditam que tenha que ser feito, ou seja, apoiar a formação de jovens gestores que
realizem ações sociais e/ou culturais nas comunidades; dessa forma, para estas
instituições, os jovens passariam de ser considerados problema a ser parte da solução
(cf. Gomes da Costa, 1996; para uma visão crítica, cf. Tommasi, 2012).
16
Assim, o campo da política instituída tem sido ocupado quase que
exclusivamente pelas formas tradicionais de organização política, os partidos e os
grêmios estudantis. As “Redes” dos quais alguns de nossos interlocutores participam e,
supostamente, representam nos espaços de interlocução com o poder público, como eles
mesmos admitem só existem como siglas para poder legitimar-se como representante
de um coletivo. Ou seja, são siglas vazias. As tão celebradas novas formas de se
organizar politicamente15
parecem ser, na prática, extremamente frágeis.
Por sua vez a juventude negra, que tem sido um ator político significativo,
levantando uma bandeira antagonista, a luta contra o extermínio da juventude negra, e
questionando o papel das políticas de segurança como políticas de controle da
população jovem, tem grande dificuldade para se articular com os outros segmentos da
juventude organizada, ou seja, partidos e grêmios. Levantando uma bandeira que
questiona a política de segurança do governo federal, bate de frente com as
organizações juvenis que são aliadas fortes do governo petista (como a União Nacional
dos Estudantes - UNE). Eduardo comenta a respeito das consequências que esse tipo de
atitude acarreta:
“Quando nós ocupamos o espaço do poder, nós estamos num não lugar, e
ocupando esses espaços nós temos que ter uma postura subserviente, quando você sai
dessa margem de subserviência você sofre uma pressão muito grande, muito forte e
nem todos nós temos condição de suportar essas pressões. Isso inviabiliza o nosso
projeto nacional, porque os caras vão minando as pessoas. Na hora que ele vai falar
ele está sozinho, ele está fortalecido politicamente, mas será que pessoalmente está?”
(Eduardo)
15 Há uma extensa literatura que reproduz o discurso formulado por alguns autores (cf. Melucci, 1991) sobre as formas organizativas inovadoras dos movimentos sociais como formação de redes (Scherer-Warren, 1993)
17
5. Algumas questões para o debate
5.1.Dificuldade para nomear o conflito
Uma constante foi, nas narrativas dos entrevistados, fazer referência a um
conflito que, na maioria dos casos, aparece como um acontecimento que marca de
forma significativa suas trajetórias. No geral, é o relato de conflitos que se manifestam
no plano privado, nas relações pessoais. Conflitos pelo controle de recursos, para ocupar
posições de poder no âmbito das atividades desenvolvidas, acabam se manifestando e
sendo expressos como conflitos pessoais.
Muitas vezes, eles fazem referência a conflitos com pessoas de outra geração,
geralmente os coordenadores dos projetos, identificando-os como conflitos geracionais.
Outras vezes, relatam conflitos que aconteceram entre eles, expressando se tratar de
conflitos decorrentes da quebra de acordos, das posturas personalistas de alguns, de
interesses particulares que não levam em conta o “coletivo”; às vezes, as acusações são
mútuas. São conflitos, de novo, expressos no plano pessoal. Raramente identificam
nesses conflitos diferentes posicionamentos políticos e ideológicos, a expressão de
interesses antagônicos no âmbito de uma distribuição desigual de recursos materiais e
simbólicos, particularmente aguda na sociedade brasileira.
Essa dificuldade em nomear e expressar o conflito, apontando nele interesses
inconciliáveis, tornando públicas posições distintas, ruptura de acordos, quebra de
lealdades, a meu ver,não decorre somente da confusão e indistinção entre público e
privado, que vários autores identificaram como constitutiva da sociedade brasileira (cf.
Chaui, 2000, p. 90-91). A própria dinâmica das atividades dos projetos, as orientações
metodológicas e teóricas das quais os consultores são porta-vozes impedem a expressão
de posições antagônicas, desestimulam a pluralidade dos pontos de vista; ao contrário,
há o que podemos chamar de “culto do consenso”. Da mesma forma, a constituição de
18
uma suposta comunidade juvenil composta por jovens que compartilham uma mesma
condição juvenil, impede o reconhecimento da existência de interesses de classe
antagônicos que perpassam essa condição comum.
As dinâmicas que os projetos promovem nos momentos de encontro coletivo, os
laços afetivos incentivados, a responsabilização no interior do grupo, visam reforçar a
identificação coletiva com interesses e objetivos comuns, oportunamente moldados; as
cartilhas que orientam essa atividades rezam que todas as decisões devem ser tomadas
na base do consenso.
Ao que parece, a influência da teoria da ação comunicativa do Habermas, a
suposta existência de uma esfera pública homogênea, são marcas significativas da
matriz discursiva que orienta as ações no campo, especificamente no âmbito das
atividades promovidas pelo setor privado. Toda uma gama de dinâmicas propostas
alimentam formas de interação que eliminam a possibilidade de expressão de conflitos e
procuram subsidiar a boa gestão comunicativa para a produção do consenso. Os
conflitos, quando existem, supostamente decorrem de uma falta de habilidade na gestão
das relações interpessoais, especificamente no que diz respeito aos que são identificados
como problemas de comunicação.
Ao mesmo tempo, não se inclui nos programas de formação promovidos pelos
projetos a leitura de autores que fazem do conflito uma ferramenta analítica para a
compreensão da sociedade. O referencial teórico remete, com força, à ideia de fortalecer
o indivíduo, a liderança, a criatividade e capacidade de ação independentemente das
condições sociais de partida. O sucesso do conceito de “resiliência” no meio dos
projetos sociais promovidos pelas fundações empresarias é parte dessa concepção.
Mesmo quando os conceitos de cidadania e de luta por direitos são incluídos nas
discussões e formações promovidas, são dissociados de uma teoria da ação do Estado
19
(que supostamente deveria garantir esses direitos), de uma análise da produção e
distribuição dos recursos, materiais e simbólicos, sobre às quais as ideias de cidadania e
de direitos possam se ancorar; dessa forma, viram invólucros vazios. Ao invés, a
responsabilização individual, o incentivo ao uso da criatividade e do talento pessoal,
colocam a conquista da cidadania e de direitos como decorrentes exclusivamente do
esforço do indivíduo. É o que chamei de uma “subjetividade empreendedora” que se
expressa no terreno das intervenções sociais.
5.2 A armadilha da participação: se participo o bicho pega, se não participo o bicho
come
Os relatos dos entrevistados sobre suas experiências nas denominadas instâncias
de participação e outras ocasiões de encontro com os representantes do governo
mostram tratar-se, geralmente, de algo que podemos definir como armadilha: se
participam, tornam-se cúmplices de decisões, práticas e programas sobre os quais,
efetivamente, não têm nenhum controle nem possibilidade de influência, já que, como
eles dizem, “chegam já prontos” para ser simplesmente referendados e, assim,
legitimados, justamente por meio da participação da sociedade civil. Se não participam,
são etiquetados como “radicais” ou “sectários” e percebem-se excluídos de qualquer
possibilidade de influir nos processos decisórios. Difícil escapar da armadilha. Porque a
implicação16
aparenta representar a oportunidade de provocar mudanças efetivas, de não
ficar na reivindicação estéril ou no discurso inconsequente. Mas, eles sabem, não é
nesses espaços abertos para a participação que as decisões são tomadas. Nesse caso, a
implicação funciona como instrumento de legitimação.
16
Utilizando esse termo faço referência á ideia de “procedimentos de implicação” formulada por J. Donzelot para nomear o envolvimento, a responsabilização dos cidadãos na gestão dos riscos da vida econômica e social. Ele situa aqui o nascimento da chamada “sociedade civil” (Donzelot, 1994, p. 183)
20
Eduardo relata que seu grupo, um grupo de jovens negros muito ativo no âmbito
da campanha contra o extermínio da juventude negra, defende e pratica a ação direta;
num dado momento, é convidado a participar da elaboração do currículo para a
disciplina “diversidade cultural” de um curso para policiais. Argumenta que o grupo
acredita que não é através de cursos desse tipo que a política de segurança pública vai
ser transformada: “não adianta oferecer cursos e cursos e encher o cara de armas” .
Mesmo assim, como dizer não ao convite que chega como um reconhecimento da
atuação política do grupo?
“Nós estamos virando especialistas na temática da juventude negra, mas
a nossa juventude continua morrendo. A gente contribui, legitima esses espaços,
mas não vê nossa realidade ser transformada.” (Eduardo)
Ele representa o Fórum da Juventude Negra no Conselho Nacional de Segurança
Pública, onde, ele diz, as decisões sobre as ações do governo chegam já prontas. Mas, se
ficar de fora, irá perder a oportunidade de circular nos espaços da política instituída, de
tecer relações que poderão se tornar rentáveis na hora de procurar um trabalho ou o
apoio político necessário à realização de algum projeto. Assim, vários fazem referência
às disputas pessoais que se manifestam na hora de escolher quem irá ocupar uma
cadeira num Conselho; e ao fato que os que as ocupam representam siglas vazias, ou
seja, supostas entidades, ou “redes” que só existem na fala de quem as representa. De
fato, para quem sabe aproveitá-la, ocupar uma cadeira num Conselho representa uma
oportunidade de se tornar visível no mundo da política, de tecer relações e alianças, de
mostrar as habilidades requeridas para fazer carreira nesse âmbito; de ser socializado
com respeito às regras do jogo da política instituída. Um Conselho representa, sem
dúvida, um espaço que oferece visibilidade para as organizações e os indivíduos
participantes, um espaço onde é possível ter acesso a informações sobre programas e
21
financiamentos. Visibilidade que favorece a construção de alianças importantes na hora
de estabelecer parcerias que assegurem o financiamento da entidade; ou na hora de
procurar emprego para os indivíduos.
As disputas para ocupar alguma cadeira num Conselho muitas vezes são algo
que marca de forma definitiva, tanto do ponto de vista pessoal como da construção do
coletivo. Articulações políticas se dissolvem, organizações entram em crise, indivíduos
perdem o reconhecimento do grupo e seu processo de individuação é abalado.
A armadilha da participação lembra o conceito de “double bind” elaborado por
G. Bateson e difundido pelo trabalho de P. Watzlawick (Watzlawick, Beavin e Jackson,
1971) que pode ser exemplificado como uma incongruência entre o discurso explicito (o
que se diz) e o nível não verbal (a metacomunicação), situação que imobiliza o
interlocutor já que para ele é impossível ativar simultaneamente uma resposta às duas
mensagens que se contradizem. No caso da participação, a incongruência entre o
discurso e a experiência concreta, repleta de situações que contradizem o discurso, num
contexto altamente significativo, em particular para quem experimenta a distância entre
seu contexto de origem (códigos valorativos e de comportamento) e o dos palácios de
governo, provoca situações de sofrimento pessoal não indiferentes, pela dificuldade de
dar sentido à própria ação. Ainda mais porque, para quem representa supostamente um
coletivo, a volta para casa implica dever responder às cobranças do grupo sobre as
atitudes tomadas no âmbito das instâncias de participação.
Vale ressaltar, rapidamente, a incongruência vivida entre o luxo dos hotéis que
frequentam quando participam das atividades dos projetos sociais ou dos Conselhos, e a
precariedade da situação financeira cotidiana. Eduardo relata ocasiões em que teve que
dormir no aeroporto de sua cidade natal, depois de ter chegado, à noite, após ter
participado de reuniões nos palácios de governo em Brasília, por não ter sequer o
22
dinheiro para tomar um táxi e voltar para casa, e ter sido obrigado a esperar até o
horário de início das corridas de ônibus, na madrugada.
Se no plano das atividades políticas as experiências de participação nessas
instâncias muitas vezes enfraquecem as ações coletivas, paralisam o engajamento nos
grupos de origem, dispersam as energias, no plano pessoal se traduzem em
desmotivação, confusão, sofrimento. Experiências difíceis para serem compartilhadas e
contidas no âmbito do coletivo. Pelo contrário, hoje é a concorrência, muito mais do que
a solidariedade grupal, que orienta os comportamentos mesmo no âmbito das formas da
política.
“a militância é um caminho incerto, muito instável que exige competências das
mais variadas, você não tem que saber só ler e escrever, falar, você tem que ter um
psicológico muito forte, você tem que ter uma espiritualidade muito forte, você tem que
ser quase um super homem, uma super mulher, para sobreviver nessa guerra”
(Eduardo).
5.3 A questão identitária
Num artigo recente (Sposito, 2012), Marília Sposito, repercorrendo a literatura
sobre movimentos sociais e se referindo em particular à obra de H. Lefebvre e A.
Melucci, aponta a centralidade das leituras que, a partir da escola sociológica francesa
de A. Touraine, entendem as ações coletivas como motivadas pela busca de afirmação
de identidade culturais por parte de segmentos populacionais específicos: as mulheres,
os gays, as minorias étnicas. A subjetividade dos membros desses grupos sofreria um
dano causado pelo não reconhecimento e depreciação de sua identidade pelo grupo
dominante. Reparar esse dano, reconhecer a diferença, preencher os déficits em termos
de políticas públicas dirigidas a esses segmentos, dar visibilidade às suas demandas e
questões: é sobre esses temas que as lutas se organizam.
23
As leituras sobre os movimentos juvenis seguem essa mesma linha
interpretativa. Os jovens seriam mais um grupo populacional que coloca suas questões e
reivindica seus direitos, a partir da suposta singularidade da condição juvenil (cf.
Abramo, 1997 e 2005, Instituto Cidadania, 2005).
Nos últimos anos a centralidade da questão identitária no âmbito dos
movimentos sociais começa a ser questionada, justamente por parte das expoentes de
um desses grupos, as mulheres. Nancy Fraser, filósofa e teórica feminista
estadunidense, assim formula sua crítica aguda às “políticas de identidade”:
“O modelo da identidade é profundamente problemático. Entendendo o não
reconhecimento como um dano à identidade, ele enfatiza a estrutura psíquica em detrimento
das instituições sociais e da interação social. Assim, ele arrisca substituir a mudança social
por formas intrusas de engenharia da consciência. O modelo agrava esses riscos, ao
posicionar a identidade de grupo como o objeto do reconhecimento. Enfatizando a
elaboração e a manifestação de uma identidade coletiva autêntica, auto-afirmativa e
autopoiética, ele submete os membros individuais a uma pressão moral a fim de se
conformarem à cultura do grupo. Muitas vezes, o resultado é a imposição de uma identidade
de grupo singular e drasticamente simplificada que nega a complexidade das vidas dos
indivíduos, a multiplicidade de suas identificações e as interseções de suas várias filiações.
Além disso, o modelo reifica a cultura. Ignorando as interações transculturais, ele trata as
culturas como profundamente definidas, separadas e não interativas, como se fosse óbvio
onde uma termina e a outra começa. Como resultado, ele tende a promover o separatismo e
a enclausurar os grupos ao invés de fomentar interações entre eles. Ademais, ao negar a
heterogeneidade interna, o modelo de identidade obscurece as disputas, dentro dos grupos
sociais, por autoridade para representá-los, assim como por poder. Consequentemente, isso
encobre o poder das facções dominantes e reforça a dominação interna. Então, em geral, o
modelo da identidade aproxima-se muito facilmente de formas repressivas de
comunitarismo.” (Fraser, 2007, pp. 106-107).
24
Por sua vez, o sociólogo N. Rose discute as novas formas de comunitarismo no
âmbito do que considera uma nova territorialização das estratégias de governo:
comunidades, múltiplas e fragmentadas, substituem a centralidade da sociedade como
sujeito e objeto de governo (no sentido atribuído por M. Foucault ao termo governo, no
contexto da discussão sobre governamentalidade, ou seja, a gestão da população):
“Cada afirmação sobre a comunidade se refere a algo que já existe e que nos
interpela: nosso destino comum como gays, como mulheres negras, como pessoas com
HIV, como membros de um grupo étnico, como moradores de uma vila ou um subúrbio,
como pessoas com deficiência. Mas o nosso pertencimento a cada uma dessas
comunidades particulares é algo sobre o qual temos que ser conscientizados, precisando
para isso do trabalho de educadores, de campanhas, de ativistas, de manipuladores de
símbolos, narrativas e identificações. Dentro desse estilo de pensamento, a comunidade
existe e, ao mesmo tempo, deve ser alcançada, mas a sua conquista não é nada mais do
que o nascimento da presença de uma forma de existir que é pré-existente.
‘Governar através da comunidade’ envolve uma variedade de estratégias para
inventar e instrumentalizar estas dimensões de pertencimento entre indivíduos e
comunidades a serviço de projetos de regulamentação, reforma ou mobilização.” (Rose,
1996, p. 334)
Assim, para alguns autores internos ao campo da juventude, o acionamento da
identidade juvenil seria o resultado de um processo de tomada de consciência, que
requer uma ação político-pedagógica. Escreve Helena Abramo, “a identidade juvenil
não é ela mesma, ‘natural’, referida a uma essência. Tem de ser descoberta, acionada, à
proporção que fizer sentido existencial e político para eles.” (Abramo, 2008, p. 98).
Para meus entrevistados, a juventude não é uma identidade e sim uma categoria
que deve ser acionada para poder participar de um campo de intervenção específico. Ou
seja, a categoria juventude identifica um campo do qual se entra e se sai segundo os
25
interesses e as circunstâncias, assim como há o campo da saúde, da educação, da
questão racional, ou o campo das lutas das mulheres.
Paulo narra que sua primeira atividade “de juventude” foi um encontro de
jovens, no centro da cidade, onde um amigo do bairro o levou. Ali, despertou interesse
para se inscrever num curso da ONG que o amigo frequentava. Na época, trabalhava
como promotor de venda da Nestlé. Como não conseguiu entrar no curso dirigido aos
jovens, que estava lotado, entrou no curso de políticas públicas e em menos de um ano
virou conselheiro no Conselho municipal de saúde e também coordenador de uma rede
de conselheiros de saúde. Mas “como eu me destacava no de Políticas Públicas, eu era
cotado para ir às atividades de juventude, não por discutir juventude, mas por ser
jovem”.
Jaleila, por sua vez, que trabalhou como educadora no Projovem17, faz
considerações interessantes ao redor da suposta existência de uma identidade juvenil:
“Os meninos do Projovem às vezes não entendiam o porquê daquela política
para eles, pois eles já se consideravam grandes, já eram adultos, eram pais de família,
não entendiam porque um projeto oferecia 100,00 reais para elevação da escolaridade,
para eles isso deveria ter sido feito antes. Para quem está na faixa etária da juventude é
mais difícil se sentir juventude.”
Sem dúvida, a ideia de juventude como sujeito político, a evocação de uma
suposta identificação numa comunidade juvenil homogênea, faz passar em segundo
plano a evidente heterogeneidade das situações de vida dos jovens. Diversidade de
situações e experiências de vida que não se resolve, nem do ponto de vista analítico,
nem do ponto de vista da organização de atores coletivos, simplesmente colocando um
17 Programa do governo federal direcionado aos jovens entre 15 e 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental, voltado à elevação da escolaridade através do oferecimento de uma bolsa em troca da frequência de uma modalidade escolar ad hoc que combina educação básica, qualificação profissional e ação comunitária.
26
“s” à palavra juventude. Além disso, é a forma como os jovens interagem com outros
segmentos sociais que configura e dá sentido à sua ação.
No campo da juventude, as diferenças (de classe, gênero, etc.) são colocadas em
segundo plano com respeito a uma suposta homogeneidade (ou melhor,
“singularidade”) da condição juvenil; ou oportunamente valorizadas e essencializadas,
quando se trata de delimitar “caixinhas identitárias” no interior das quais encerrar os
jovens negros, os jovens deficientes físicos, as jovens mulheres, os jovens índios, como
ocorreu no processo de implantação do Conselho Nacional de Juventude18
.
Nesta mesma linha de análise, Taciana Gouveia, socióloga e educadoras
feminista, comenta:
“O deslocamento das questões públicas de um coletivo maior para indivíduos que
possuem determinados atributos não possibilita a criação de sujeitos políticos, mas sim a
formação de grupos de interesses. E estes, por sua vez, terminam por enfraquecer o
reconhecimento e a atuação política como sendo necessariamente da ordem da
conflitividade e, portanto, relacional. A política produzida a partir da lógica dos grupos de
interesses termina por ser de sentido apenas inclusivo e não transformativo, dado que não
afeta de modo radical as estruturas de poder.” (Gouveia, 2011, pp. 276-277)
Desarmar o conflito, produzir a ordem, é um dos efeitos do acionamento
identitário no âmbito da gestão da população jovem.
6. Referências bibliográficas
Abramo, H. W. (1997), Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil, in:
Juventude e Contemporaneidade - Revista Brasileira de Educação, n. 5 e 6, ANPED.
Abramo, H. W. (2005). Condição juvenil no Brasil contemporâneo In: Abramo, H. W. e
BRANCO, P. P. M. (orgs.) Retratos da Juventude Brasileira : análises de uma pesquisa
nacional, São Paulo : Instituto Cidadania/Editora Fundação Perseu Abramo.
18 O CONJUVE (Conselho Nacional de Juventude) foi criado através de um decreto presidencial em 2005 (cf. http://www.soleis.com.br/D5490.htm).
27
Abramo, H. W. (2008). O que é ser jovem no Brasil de hoje? In: A. L. Souto, Ser joven en
Sudamerica. Diálogos para la construcción de la democracia regional. Santiago de Chile:
Ibase, Polis, CIDPA, IDRC.
Arendt. H. (1990). Da revolução. São Paulo: Atica.
Bandeira, P. (1999). Participação, Articulação de Atores sociais e Desenvolvimento Regional.
Brasilia: IPEA.
Blumer, H. (1982). Movimentos Sociais. In: Lee, A. M. Princípios de Sociologia. São Paulo:
Ed. Herder. Cap. XXII, p. 244-270
Brenner, A. K., Lanes, P. e Carrano, P. C. (2005), A arena das políticas públicas de juventude
no Brasil : processos sociais e propostas políticas, in: Revista de Estúdios sobre Juventud-
JOVENes, Ano 9, n. 22, enero-jun., México : Centro de Investigación y Estúdios sobre
Juventud, Instituto Mexicano de la Juventud.
Chaui, M. (2000). Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo.
Dagnino, E. (2002). Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra.
Dagnino, E., Olvera, A., Panfichi, A. (2006). A Disputa pela construção democrática na
América Latina. São Paulo: Paz e Terra.
Donzelot, J. (1994). L'invention du social. Paris: Ed. du Seuil.
Foucault, M. (1979). A governamentalidade. In: M. Foucault, Microfisica do Poder. Rio de
Janeiro: Ed. Graal.
Fraser, N. (2007). Reconhecimento sem ética? Lua Nova (70), 101-138.
Gomes da Costa, A. C. (1996), Protagonismo juvenil: Adolescência, Educação e Participação
Democrática, S. Paulo: Modus Faciendi e Fundação Odebrecht.
Gouveia, T. (2011). Juventudes: os sujeitos, as questões, os movimentos, o tempo. In: F. Papa e
M. V. Freitas, Juventude em pauta: políticas públicas no Brasil. São Paulo: Ed. Petropolis.
Instituto Cidadania (2005), Documento de Conclusão do Projeto Juventude, São Paulo.
28
Lima, A. C. S., e Castro, J. P. M. E. Política(s) Pública(s). In: Pinho, Osmundo; Sansone, Livio
(eds.). (Org.). (Org.). Raça: Perspectivas Antropológicas. Raça: Perspectivas Antropológicas.
Salvador: ABA/EDUFBA, 2008, v. , p. 141-193.
Magni, B. (2007), Pensare la politica sotto il segno della divisione: l‟itinerario eretico di
Jacques Rancière (Introduzione) in : RANCIÈRE, J., Il disaccordo, Roma : Meltemi
Maranhão, T. (2009). Governança global e pobreza: do consenso de Washington ao consenso
das oportunidades. Tese de doutorado, Programa de pós-graduação em Sociologia. São Paulo:
USP.
Matos, D. (2012). Juventude e narrativas identitárias ações táticas de deslocamento das
posições-de-sujeito propostas por narrativas midiático-massivas. Tese de doutorado, Programa
de pós graduação em Comunicação. Belo Horizonte: UFMG.
Melucci, A. (1991). L'invenzione del presente: movimenti sociali nelle societá complesse.
Bologna: Il Mulino.
Moroni, J. (2005). Participamos, e daí? - Texto para Debate. Rio de Janeiro: Observatório da
Cidadania .
Mouffe, C. (2005). Por um modelo agonistico de democracia. Revista de Sociologia e Política
(25), 11-23.
Papa, F. e Freitas, M. V. (2011). Juventude em pauta: políticas públicas no Brasil. São Paulo:
Ed. Petropolis.
Rancière, J. (1996), O desentendimento, São Paulo: Ed. 34.
Redes e Juventudes (2003). Projeto. mimeo.
Rose, N. (1996). The death of the social? Re-figuring the territory of government. Economy and
Society , 25 (3), 327-356.
Scherer-Warren, I. (1993). Redes de movimentos sociais. São Paulo: ed. Loyola.
Sobrinho, A. d. (2012). “Jovens de projetos” das ongs:de público alvo a trabalhadores do
"social". Dissertação de Mestrado, UFF, Faculdade de Educação, Niteroi.
Sposito, M. P. (org.) (2007) Espaços públicos e tempos juvenis. São Paulo: Global.
29
Sposito, M. p. (2012). Ações coletivas, jovens e engajamento militante. In: Carrano, P.; Fávero,
O. (org.). Narrativas juvenis e espaços públicos: Olhares de pesquisas em educação, mídia e
ciências sociais. Rio de Janeiro, no prelo
Tommasi, L. D (2005). Abordagens e práticas de trabalho com jovens : um olhar das
organizações não governamentais brasileiras. In: Revista de Estúdios sobre Juventud-JOVENes,
Ano 9, n. 22, enero-jun., México : Centro de Investigación y Estúdios sobre Juventud, Instituto
Mexicano de la Juventud.
Tommasi, L. D. (2007). A mobilização dos jovens na cidade do Recife: produção de cultura e
direito ao lazer. In: M. P. Sposito, Espaços públicos e tempos juvenis. São Paulo: Global.
Tommasi, L.D. (2012). Nem bandidos nem trabalhadores baratos: trajetórias de jovens da
periferia de Natal. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , vol. 5, n. 1
Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (1971). Pragmatica della comunicazione umana.
Roma: Astrolabio.





























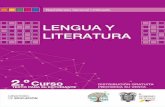













![[Escriba texto]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315a80bc32ab5e46f0d6828/escriba-texto.jpg)