Texto 02 Michel Conan
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Texto 02 Michel Conan
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
1
MICHEL CONAN
A invenção das identidades perdidas
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
2
Da desaprovação dos portos em águas profundas à desaprovação dos pousos
de helicópteros em geleiras, por toda parte elevam-se vozes exigindo que o
planejamento do território, que a construção de qualquer tipo de edifício e que
a utilização da natureza sejam mais respeitosos com a paisagem. Uma
exigência social vaga e polissêmica, mas insistente, é dirigida aos políticos, aos
planejadores e aos usuários do território para que eles assegurem a todos a
fruição de um novo bem público, a paisagem. Exige-se que o patrimônio
fundador da existência de uma sociedade que vive em harmonia com o mundo
seja preservado.
Existem várias tradições culturais que oferecem referências a partir das quais
pode-se tentar compreender o objeto visado por esta exigência. Os paisagistas
e certos arquitetos sabem compor paisagens em harmonia com um castelo,
organizar um parque de lazer ou uma reserva natural. Mas parece que as
questões que surgem no presente correspondem a situações sociais novas e
apelam por novas maneiras de pensar as paisagens. De fato, as ideias a
respeito das paisagens, como as ideias a respeito da história e da tradição,
evoluem com o tempo.
As sociedades que nos precederam forjaram suas ideias a respeito da maneira
de apreciar ou de criar paisagens. Mas a história não para. As transformações
das sociedades levam a uma renovação constante das mentalidades, das
relações sociais, das formas da economia e da dominação da natureza pelas
organizações humanas. Assim também, as sociedades contemporâneas estão
em busca de novas ideias sobre a apreciação e a criação das paisagens.
Como elas procedem? Como se pode compreender as condições de produção
das ideias sobre a paisagem em uma sociedade? A quais aspectos da
organização social é preciso estar atento e como as ideias antigas sobre a
paisagem são recusadas, transformadas ou reutilizadas? Seria preciso
responder a estas questões para poder lidar com a redefinição do papel do
paisagista, para saber como ele poderá superar as limitações que fazem pesar
sobre ele as determinações de sua posição social e as pulsões do seu
inconsciente.
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
3
Todo nosso esforço se volta à apresentação de uma forma nova de
reflexividade1 na conduta do pensamento do paisagista. Esta reflexividade
consiste, muito simplesmente, em permitir-lhe, em cada situação concreta em
que é colocado pelo seu trabalho, reexaminar suas ideias sobre a paisagem à
luz de uma análise das condições de produção de ideias sobre a paisagem e
sobre a organização do espaço.
Método:
Compreender os ritos sociais
Para compreender o que estas novas exigências relativas à paisagem põem
em jogo na sociedade, não se partirá de uma definição a priori de paisagem,
mas, muito prosaicamente, de uma análise do que é comum a todas as
situações em que as paisagens são invocadas em uma dada sociedade. Isto
conduz ao interesse pelos ritos sociais contemporâneos. Certos ritos sociais
criam significações partilhadas, objetivos comuns, identificações e morais
coletivas, mas também conflitos entre grupos portadores de representações e
de objetivos diferentes. Alguns dentre eles têm a ver com a paisagem. É
preciso conhecê-los e analisá-los para compreender as condições para a
invenção coletiva de novas paisagens nos dias de hoje.
Esta pesquisa se abre para nós. Ela requer observações precisas e exaustivas
antes que teorias simples e operatórias possam ser apropriadas pelos
paisagistas e lhes permitam contribuir, com uma relativa clarividência, para o
processo de construção das paisagens contemporâneas. Esbocemos as
grandes linhas de trabalho que estão surgindo.
1 A reflexividade é um procedimento metodológico utilizado em ciências humanas, em que o pesquisador submete seu próprio trabalho a uma análise crítica. Ver, por exemplo, BOURDIEU, Pierre, S c i e n c e d e l a s c i e n c e e t r é f l e x i v i t é , 2001 (N.T.).
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
4
Os ritos de apropriação de um território:
produções e lazeres
Os grupos sociais que se manifestam em relação à paisagem são muito
diversos. Eles o fazem, geralmente, para defender um território contra uma
transformação. Eles se reagrupam segundo as relações de propriedade que
mantêm com este território. Entende-se aqui por relação de propriedade os
ritos de interação provenientes de um direito ou de um costume. O direito de
passagem ou de caça, o hábito de tirar fotos, a exploração econômica de uma
terra por um fazendeiro, são exemplos de relações de propriedade que podem
se aplicar a um mesmo território, mesmo se diferem do direito civil de
propriedade da terra. A apropriação do território designa o conjunto das
condutas pelas quais as pessoas realizam estas relações de propriedade. O
seu reconhecimento é extremamente importante e nos leva a precisar porque a
paisagem não pode ser confundida nem com o país, nem com o lugar, nem
com o espaço geográfico no sentido em que é entendido nas classificações
habituais.
Para compreender estas distinções é necessário reconhecer as diferentes
utilidades de um território. De fato, se se considera o território em que um
grupo de pessoas exerce uma particular relação de propriedade – uma família
de fazendeiros sobre as suas terras, ou os membros de uma sociedade de
caça sobre o seu domínio –, pode-se observar ali ritos de propriedade que
concorrem para a sua utilidade social. O exercício da propriedade do território
faz parte da atividade econômica. Mas, se certos modos de uso de um território
contribuem para a sua utilidade econômica, outros, como a observação
sistemática, a análise de amostras de água, de terra, ou de rocha, contribuem
para a sua utilidade científica; outros ainda, como cartazes eleitorais ou rotas
alfandegárias, contribuem para a sua utilidade política. É evidente que estas
utilidades não são mutuamente excludentes. Elas resultam dos sistemas de
interesses que a organização social produz. De fato, são estes interesses que
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
5
definem as unidades de medida das utilidades. Mas há outras relações de
propriedade provenientes de modos de uso do território para utilidades cujo
valor é inquestionável. São os ritos de lazer no sentido mais amplo do termo.
Eles correspondem a formas de propriedade que repousam sobre ideias de
natureza estranhas à concepção dominante na produção econômica. Assim,
passear em família, fruir esteticamente o espetáculo na natureza, nela meditar
ou devanear, são outros modos de se apropriar de um território. Percebe-se
logo a multiplicidade das formas de leitura de um território que são praticadas
nestas ocasiões, a partir de sistemas de decodificação tão diferentes como as
ciências da natureza, a história social, a geografia, as artes e as letras, as
tradições locais e o folclore, em suma, a partir de um conjunto de celebrações
culturais.
País, lugar, paisagens e espaços
A teoria dos ritos de interação desenvolvida por Randal Collins a partir,
notadamente, dos trabalhos de Emile Durkheim e de Erwin Goffmann fornece
um primeiro quadro de análise. De fato, cada um destes ritos produz
sentimentos, símbolos e ideais comuns, partilhados pelos membros do grupo
que os pratica, sob três condições, a saber: 1) que eles gerem interações com
a participação de todos os membros do grupo, conjunto ou sub-grupo; 2) que
eles obedeçam a modelos que especificam práticas e palavras; 3) que os
grupos disponham de, ao menos, um objeto simbólico, um emblema que
encarne a ideia do grupo. Assim, cada grupo que exerce uma relação de
propriedade sobre um território é suscetível de fazer do próprio território seu
emblema. Se estas três condições são preenchidas, sentimentos, ideais e
símbolos específicos do grupo são produzidos segundo os rituais que lhe são
próprios. Assim, por exemplo, o valor emblemático de um território é diferente
conforme a relação de propriedade contribua para uma utilidade social ou para
o lazer. No primeiro caso, trata-se de um país para o grupo que faz uso de sua
propriedade para fins de produção econômica; no segundo caso, trata-se de
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
6
um lugar para o grupo que faz uso de sua propriedade para fins mais ou menos
explícitos de celebração cultural.
Porém, certos ritos de celebração cultural obedecem a modelos que
especificam apenas o modo de uso do território – o piquenique em família, por
exemplo –, ao passo que outros, aos quais se reservará o nome de paisagem,
especificam, ademais, uma maneira de pensar e de manifestar aquilo que faz a
singularidade da experiência do lugar, por exemplo: tirar uma fotografia da
Ponta do Raz2 porque é um belo suvenir; ou comparar a floresta de Laon, na
Drôme (uma típica configuração de sinclinal em falésia), com a arca de Noé,
para exaltar seu valor de refúgio e o sentimento de liberdade que ela
proporciona ao se passear por ela. No primeiro caso, o fotógrafo testemunha,
querendo ou não, uma certa concepção histórica de beleza, no segundo, o
espectador joga, deliberadamente, com associações culturais entre o mito e a
geografia.
Assim, um mesmo território, segundo os grupos que fazem uso dele, pode ser
ao mesmo tempo país, lugar e paisagem, ou não ser nada disto. Pode-se, por
exemplo, conhecer um território e designá-lo em um mapa, ou nas ações
cotidianas, por uma categoria abstrata, como riacho, cumeeira, talvegue, sem
que ele seja o objeto de uma apropriação por um grupo preciso. Cada um
destes espaços pode ser nomeado, designado, organizado; mas ele não se
tornará país, lugar ou paisagem a não ser pelo valor simbólico que lhe
conferem os ritos de propriedade efetuados pelos membros de um grupo
social.
Hipótese fundamental
A paisagem é um símbolo do grupo que se torna coeso ao apropriar-se,
mediante formas de experiência ritualizadas, de um lugar que lhe assinala uma
2 Pointe du Raz, promontório que avança sobre o mar, na região da Bretanha, França (N.T.).
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
7
identidade esquemática, e o valor que lhe é atribuído é um símbolo dos ideais
coletivos do grupo. Por sua materialidade, pelo valor de representação e pelo
sentido que lhe é adicionado, ele constitui um emblema do grupo. De fato, a
paisagem, enquanto emblema, representa o grupo e o modo psicológico sob o
qual ele adquire coesão no ritual. Este modo psicológico pode ser a meditação
religiosa (Cf. Emerson e os transcendentalistas americanos), a apropriação
estética (Cf. Gilpin e os turistas contemporâneos), a exploração científica (Cf.
Young e os geógrafos a partir do século XIX), a observação ecológica (Cf. John
Muir, Aldo Leopold e os “Deep Ecologists” contemporâneos). Nada impede que
outros modos psicológicos sejam inventados pelas sociedades. Eles têm em
comum fornecer uma esquematização de uma fração de mundo que confere
uma unidade estrutural à sua representação. Graças ao seu valor esquemático,
a paisagem representa, pela aparente imobilidade da matéria, a permanência
do grupo, a despeito da efemeridade de seus membros. A prática da
experiência ritual da paisagem suscita, assim, um simbolismo coletivo.
Como se manifesta o simbolismo coletivo da paisagem?
Antes de mais nada, os membros do grupo compreendem que o valor que eles
conferem à paisagem é materializado, ao mesmo tempo, no mundo externo a
eles e neles mesmos. Aquele que experimenta o valor de uma paisagem prova
que ela é também depositária de uma parte deste valor. Se, como os discípulos
de Emerson, ele é tocado pela transcendência da paisagem, ele se dá conta de
que há uma alma que constitui uma parcela da transcendência que lhe permite
comunicar-se com a transcendência que a paisagem encarna. Se, como os
admiradores da escola de Barbizon, ele é tocado pela beleza da paisagem, ele
se dá conta de que dispõe de uma faculdade estética que lhe permite
reconhecer, melhor que outros homens, esta beleza, e que esta faculdade
adorna seu espírito, torna-o belo. Se, como os “Deep Ecologists” americanos,
ele é tocado pela harmonia primitiva de um biótipo, ele reconhece um instinto
que desperta nele a lembrança do mundo antes do homem. Por outro lado, se,
fora dos rituais de apreciação da paisagem, a convivência gera conflitos ou
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
8
contradições no grupo social, isto acaba refletido na paisagem. Pelo contrário,
se os grupos só existem por ocasião dos rituais de apreciação da paisagem,
porque seus membros não vivenciam em conjunto outros ritos de interação, a
paisagem simboliza a harmonia.
A paisagem pode então dar lugar a simbolismos coletivos muito diferentes
entre si, mas cada um contribui para a orientação das práticas dos membros do
grupo de diversas maneiras:
a. O reconhecimento do valor da paisagem dita uma moral da organização:
há atos que são moralmente recomendáveis porque vão a favor da paisagem,
outros que são moralmente condenáveis porque “desfiguram, destroem, matam
a paisagem”. Esta moral da organização prescreve certas ações e interdita
outras.
O respeito a esta moral testemunha, aos olhos dos membros do grupo, sua
cultura, ou sua sensibilidade, ou sua humanidade. Ele assegura, a cada um
dos membros do grupo, o respeito social por parte dos outros membros do
grupo e a garantia de fazer parte do grupo. Ao contrário, a recusa a se
conformar à moral da organização, ou aos diferentes rituais da experiência da
paisagem, expõe cada membro a reprovações, sanções e, finalmente, à
exclusão do grupo. Cada um é então induzido a respeitar a moral do grupo
social ao qual pertence. Assim, uma vez que sobre um mesmo território
existem diversos grupos que aderem a diferentes morais de organização, os
conflitos entre eles são conflitos entre sistemas morais, bem como conflitos de
uso ou de direito de propriedade.
b. As situações de experiência coletiva, em acordo com o ritual da
paisagem, suscitam um engajamento afetivo intenso das pessoas que delas
participam. Isto as torna capazes de se mobilizar de modo profundamente
altruísta em prol das visões coletivas do grupo (a exaltação do valor da
paisagem), mas também enfraquece sua capacidade de reflexão crítica.
Quando uma pessoa simboliza o grupo, ela detém toda a potência do grupo e
canaliza a energia afetiva dos seus membros para a direção que ela propõe. O
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
9
líder carismático é criado pelo grupo que ele dirige, e ele dispõe de um poder
de orientação das ações do grupo controlando a moral que funda sua
autoridade. Ele é então levado a justificar permanentemente sua ação pela
exaltação da moral do grupo. Os membros do grupo obtêm da ação coletiva um
benefício evidente: eles se sentem mais fortes e mais úteis do que se
estivessem isolados. Isto os encoraja a se fundir na identidade coletiva do
grupo (eventualmente isto pode conduzir à interiorização da figura do chefe
carismático).
A produção das paisagens
Historicamente, de Teócrito à escola de Barbizon, a invenção de uma nova
paisagem parece ser produzida por um grupo social que, embora privilegiado,
está também submetido a constrições sociais novas das quais ele não pode se
esquivar. Em um passado distante, foram os cortesãos, depois, no século
XVIII, cidadãos ou nobres em luta contra o poder real, e, no século XIX,
burgueses urbanos em conflito com a aristocracia fundiária ou com o
proletariado industrial. Cada um destes grupos se reconheceu em um país
mítico onde as contradições por eles vividas eram abolidas ou onde os
habitantes gozavam dos mesmos prazeres que eles: a Arcádia, o país bíblico,
os campos romanos, depois, as províncias remotas da Escócia, da região dos
lagos na Inglaterra, de Dalarna, na Suécia, ou da fronteira do far-west nos
Estados Unidos. As terras povoadas de selvagens, como se dizia, passaram a
fazer sucesso desde Cristóvão Colombo, assim como todos os países julgados
exóticos pelos habitantes da Europa e da América do Norte. Artistas deram
corpo a esses sonhos, criando representações que permitiram o
estabelecimento de rituais de apreciação da paisagem.
Então, a partir do século XVIII, configuraram-se rituais de apreciação estética
da própria natureza, seguindo um processo de artialização do olhar que
permitiu, por sua vez, uma artialização da natureza in situ para aperfeiçoá-la
enquanto paisagem, como mostrou A. Roger. A invenção do turismo no século
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
10
XVIII tornou possível outras formas de apreciação da paisagem. Os circuitos
dos santuários naturais no leste dos Estados Unidos, no século XIX, ou ainda
as peregrinações nacionalistas dos anos 1930, na época do “See America
First”, são alguns exemplos.
Do mesmo modo, de Audubon a Aldo Leopoldi, as ciências da natureza
forneceram matéria para outras leituras da paisagem. Hoje, a arqueologia
fornece novas chaves, tanto em Lejur, na Dinamarca, como em Samobriva, na
França. Parece que a esquematização reflexiva da natureza depende cada vez
menos de uma representação artística, e cada vez mais de modelos materiais,
de inspiração científica, cujo valor mítico não é menor do que o da pintura de
Poussin (ele foi admirado em seu tempo pelo conhecimento da história antiga,
o que dava verossimilhança [conveniência] às suas paisagens).
Parece então evidente que a história da paisagem só pode ser compreendida
como um capítulo da história das sociedades, consagrada ao exame das
transformações das relações de domínio sobre a natureza, da evolução das
ideias e da formação dos rituais.
Os efeitos sociais destas invenções da paisagem são extremamente variáveis.
De fato, elas podem simbolizar sonhos nostálgicos, fugas românticas para fora
da sociedade, visões utópicas de transformação, ou ainda a exaltação de uma
natureza a construir, ou de uma raça a purificar. A partir do fim do século XVIII,
a paisagem esteve ligada à ideia de nação. Mas o próprio simbolismo
nacionalista é aberto a significações diferentes: na Suécia, no fim do século
XIX, ele tinha por finalidade reunir as províncias e unificar o país sob a égide da
burguesia. Na Alemanha, sob o terceiro Reich, ele visava a exclusão dos
estrangeiros e a purificação da raça, sob a égide do estado nazista. Nestes
dois casos, este simbolismo, longe de ser um sonho nostálgico, foi instrumento
de uma dominação social. É um convite a não se engajar muito ingenuamente
na apologia de não importa qual concepção de paisagem.
A paisagem é uma invenção urbana?
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
11
Entre todos os grupos de pessoas que frequentam a floresta de Fontainebleau,
ou a vereda dos Douaniers, perto de Paimpol, é fácil verificar que muito poucos
descobrem, ali, paisagens: sua evocação de uma visita ao local se esgota com
a descrição de práticas que eles efetuaram ou de observações que puderam
fazer. Faltam-lhes as palavras, os gestos e as práticas para re-situar estas
práticas ou experiências em relação a um esquema de apreensão do lugar
onde elas se desenvolveram, que designem este lugar como uma entidade
composta por características cuja complexidade possa ser evocada ou
partilhada. São citadinos que evocam os percursos dos rochedos na floresta de
Fontainebleau como metonímias da alta montanha, ou os sub-bosques por
onde passeiam como pinturas da escola da Barbizon. São também citadinos
que contemplam as costas de granito rosa da Bretanha com os olhos voltados
ao pitoresco.
A história européia faz emergir analogias perturbadoras. Como os pintores que
iam à floresta de Fontainebleau no século XIX, estes citadinos vão hoje a estes
lugares para retomar forças, para se distanciar dos conflitos que a existência
na cidade lhes impõe. A fuga da cidade conduz à procura de lugares investidos
de um valor de natureza. Horácio elogiava os méritos do campo, queixando-se
de uma condição de citadino que ele não queria abandonar. Boileau fez o
mesmo, bem como, depois deles, todos os citadinos atingidos por projetos de
reconfiguração do território, numa ação solidária de um grupo contra o
responsável por algum prejuízo a um emblema do grupo. O próprio
responsável costuma avaliar mal o alcance simbólico do prejuízo que causou.
De fato, se é o respeito ao ritual que dá distinção à multidão de pessoas
solidárias de um grupo, o não respeito denuncia o estrangeiro e significa uma
ameaça à identidade do grupo. Isto suscita, então, uma resposta que não é
proporcional aos atos, mas ao sentido que o grupo solidário lhe atribui. Ora, à
medida em que um ritual conduz um grupo a definir seus ideais e a distinguir
entre os atos a favor e os opostos a estes ideais, tal grupo é investido,
necessariamente, de uma moral particular, colocando-se em conflito com os
estrangeiros em nome da cólera moral.
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
12
Vê-se, então, que a compreensão de uma situação conflituosa associada à
transformação do uso da terra pede um exame sistemático das relações de
propriedade exercidas sobre o território. É preciso saber, em cada caso, qual é
o grupo de pessoas a que o território diz respeito, em que consistem os ritos de
interação entre estas pessoas, quais são os emblemas do grupo e de que
modo eles lhe são fornecidos pelo próprio território, que sentimentos estes
emblemas inspiram, à expressão de que ideais eles estão vinculados, como
estes ideais definem uma moral do grupo e, em particular, uma moral do uso
da terra. Além disso, cada conflito local suscitado pela reconfiguração de uma
paisagem pode produzir uma reverberação nacional, ou até mais ampla. Mais
ainda, para situar os conflitos no campo das relações sociais a eles
concernentes, é preciso, por um lado, avaliar se eles se opõem a outras morais
coletivas e, por outro, quais são os principais grupos da sociedade suscetíveis
de se reunir em torno de emblemas comuns.
Este inventário permitirá ao menos descobrir, por trás dos conflitos de interesse
mais manifestos, os conflitos de identidade, com enfrentamentos de ordem
moral que podem deslocar as questões atinentes aos conflitos de interesse
específicos, e tornar derrisórios os esforços para chegar a um compromisso por
meio de cálculos racionais baseados só na consideração dos interesses em
jogo.
Derivas identitárias e relações de força
Não se deve confundir organização do espaço com organização da paisagem.
Os conflitos atuais, ligados a inúmeras intervenções na organização do espaço,
desde a interrupção de um caminho de passeio para a instalação de um campo
de golfe, até a passagem de uma auto-estrada em uma zona protegida,
revelam dois tipos de lógica. Uma está enraizada no campo das instituições e
das práticas de poder, garantindo-lhes o exercício e, frequentemente, a
legitimidade. Ela é exercida por atores que intervêm pontualmente sobre o
território, no mais das vezes em nome de uma racionalidade técnica. A outra
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
13
está enraizada no campo das identidades coletivas; ela é exercida por atores
que intervêm ritualmente sobre o território e que são às vezes suscetíveis de
mobilizar solidariedades nacionais muito amplas, as quais lhes conferem um
contra-poder face às instituições por um apelo à conservação ou à reconquista
do país, do lugar, ou da paisagem.
Estes conflitos existem há muito tempo, mas parece que adquiriram uma
importância nova devido às populações urbanas investirem o território com
práticas rituais de lazer, em busca de lugares onde viver protegidas das
constrições associadas às mudanças sociais ou técnicas que elas sofrem nas
cidades. Assim, criam-se novas identidades locais em aliança mais ou menos
estável com as identidades locais existentes, até mesmo dominantes ou
hegemônicas, como em certos “parques naturais”. Mas elas são capazes de
mobilizar a atenção pública. Cada conflito que suscita tal debate contribui para
a emergência e para o reforço destas identidades coletivas. Assim, as
intervenções no uso do solo em nome de uma reorganização econômica
contribuem, muito involuntariamente, para o desenvolvimento de identidades
locais promovedoras de uma moral anti-técnica. A racionalidade técnica se
volta contra ela mesma no inconsciente profundo de seus promotores.
Todas as situações suscitadas por estes conflitos parecem ser singulares,
irredutíveis a um modelo ou a alguma tipologia. Mas elas têm traços comuns
aos quais se deve estar atento, pois estes conflitos constroem uma história, um
servindo de referência ao outro. Tomemos três deles: o refluxo da confiança no
progresso técnico; a exigência de consulta aos cidadãos; a dominação
paradoxal da área rural pelos citadinos em nome de esquemas culturais anti-
urbanos.
Cada um deles põe em causa formas de poder existentes, o que obriga o
observador que quer compreender estes conflitos a ampliar sua atenção bem
além do território limitado no qual eles se desenrolam. A metade do século XX
viu os domínios técnicos se beneficiarem da confiança maciça dos cidadãos.
Esta confiança foi abalada. Isto tem consequências importantes: os aparelhos
econômicos que fundavam sua legitimidade sobre a racionalidade técnica
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
14
vêem suas margens de manobra se modificar mas, de modo talvez mais
importante, estão em vias de transformação as formas de penetração da
consciência política pelas técnicas. Portanto, são as ideologias tecnicistas e a
capacidade dos aparelhos técnicos de impor decisões que estão em vias de
transformação.
A vontade das associações, dos habitantes novos ou velhos, dos grupos
afetados de um modo ou de outro por qualquer intervenção no uso do solo, de
se fazer ouvir e compreender é cada vez mais manifesta. Mas não se pode
parar por aí: há também instituições de todos os tipos que exigem ser
escutadas. Em um país onde as instituições públicas e civis permitem que
centenas de milhares de pessoas representem seus concidadãos, há um déficit
de atenção para os pontos de vista expressos. Evidentemente, a transformação
destas vozes, que hoje clamam no deserto, em diálogos concertados, pode
modificar profundamente as formas de exercício do poder.
Enfim, talvez de modo ainda mais geral que seus predecessores, são inúmeros
os citadinos contemporâneos que opõem, em suas mentes, a cidade e a
natureza. Estudando de modo sistemático certas representações pelas quais
esta oposição passa, foi possível descobrir que ela é muito compartilhada. Há
apenas uma pequena fração dos citadinos que escapam totalmente da
oposição entre a cidade, fonte do mal, e a natureza, fonte do bem. Mas não há
uma cultura ou uma ideologia comum a todos os demais. Ao contrário, as
representações da oposição entre a natureza e a cidade são extremamente
variáveis. Contudo, a maior parte delas parece exprimir uma busca de proteção
psicológica face à fragmentação das identidades que a cidade impõe,
percebida como símbolo do poder da sociedade sobre homens e mulheres. O
apelo à natureza parece então exprimir a esperança de que, afastando-se da
cidade, pode-se encontrar uma verdadeira identidade, uma autenticidade
perdida. Isto talvez esclareça um aspecto das relações, muitas vezes difíceis,
entre citadinos e pessoas do campo. Estas importam sem cessar signos
urbanos do progresso, perturbando profundamente as aspirações defensivas
dos citadinos. Estes últimos se apóiam então em textos da lei e em práticas
administrativas de uso do solo, que são concebidos por pessoas urbanas, que
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
15
são majoritárias e fortemente impregnadas por suas representações, levando à
clivagem entre cidade e natureza. Ora, agindo assim, os citadinos, como
demonstrou brilhantemente Michel Marie, investem na área rural para
reencontrar uma identidade comum fundada simbolicamente em um território;
eles provocam conflitos de identidade com os habitantes e usuários tradicionais
destes lugares, destruindo assim o sonho que eles acreditaram poder viver.
Pelo fato da proteção da paisagem ter por finalidade impedir modificações no
território julgadas inaceitáveis pelos citadinos que ali vão procurar uma nova
identidade, é preciso dar toda a atenção aos efeitos de dominação ideológica
que a escolha dos esquemas da paisagem pode acarretar.
Não se pode deixar de observar que um dos efeitos desta nova forma de
conflito em nossas sociedades contribui para o reforço das identidades
construídas por pequenos grupos unidos por uma relação de propriedade. Há,
assim, uma proliferação e uma fragmentação das identidades locais. Não é o
menor dos paradoxos os citadinos virem a um território em nome do retorno ao
chão natal e contribuírem para a explosão da identidade local. Portanto, não
são somente os mecanismos de poder que parecem estar no meio da
tormenta, mas igualmente as identidades coletivas, ou, dito de outra maneira,
as condições da confiança mútua entre os cidadãos.
Rumo a um novo papel dos paisagistas
Tais problemas de sociedade não se resolvem transformando ou criando
paisagens. Mas sua análise tem vantagens. Uma delas é evitar que o
paisagista venha a ser, inconscientemente, aliado incondicional de um ator
particular nestes conflitos. Por exemplo, pode ser tentador esposar a causa de
grupos que falam em termos de paisagem ou em termos de ecologia, se se é
formado nesta ciência. Ou, ainda, pode ser fácil acreditar que os argumentos
racionais a favor de uma obra de arte justifiquem descartar o exame de
qualquer outra sugestão, reduzindo a contribuição do paisagista à produção do
seu décor. Estas atitudes não são condenáveis em si, desde que sejam
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
16
refletidas. Ainda assim é preciso ter consciência das implicações desta posição
sobre as diferentes partes presentes nos conflitos, latentes ou abertos,
provocados por tal projeto de uso do solo.
Outras atitudes são possíveis. Pode-se resolver os conflitos com a espada,
como se fez com o nó górdio. Estas foram as formas ordinariamente adotadas
nas intervenções no uso do solo ocorridas durante os “trinta gloriosos”3. Pode-
se também buscar transformá-los pela negociação. Pode-se, para usar a
linguagem metafórica dos negociadores, passar de um jogo com resultado nulo
a um jogo com resultado positivo: reformular os problemas afim de abrir
perspectivas de solução aceitáveis por todas as partes envolvidas em um
conflito, de modo que todos ganhem alguma coisa, que o resultado lhes pareça
justo, plausível e passível de durar no futuro. Já existem métodos de
negociação que obtiveram sucessos deste tipo. Seguramente, serão
inventados outros novos.
Eles têm em comum reunir representantes de todas as partes interessadas nos
rituais de negociação que visam, entre outras coisas, fazer emergir no seio dos
grupos presentes a consciência de formarem uma coletividade pluralista: uma
coletividade cuja identidade provém da reunião de diferentes grupos, sistemas
de valor e modos de agir que a constituem.
Esta coletividade tem necessidade de produzir as condições de duração de sua
existência. Ela tem também necessidade de emblemas. Pode ser que ela
chegue a isto sem paisagistas. Parece-nos possível que os paisagistas a
ajudem a tanto, precisamente inventando paisagens que condensem
emblemas de diferentes grupos e que organizem a coexistência das diferentes
relações de propriedade. Esta paisagem seria então, ao mesmo tempo,
pragmática e simbólica. Para produzi-la, o paisagista deveria saber propor,
mais para sentir as reações do que para fazer valer um ponto de vista de
3 Referência ao excepcional crescimento da economia capitalista nas três primeiras décadas após o término da segunda guerra mundial, em 1945 (N.T.).
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
17
“técnico da paisagem”. A maneira de cumprir esta tarefa está para ser
inventada.
O papel do paisagista
Os conflitos entre grupos sociais podem, em geral, ser resolvidos pela
negociação quando se trata de conflitos distributivos, em que os atores se
opõem em virtude de suas diferenças de interesse. Estas são acompanhadas
evidentemente, no mais das vezes, por diferenças parciais nos sistemas de
valores. É o que permite a um mesmo objeto, o resultado da negociação, ser
muito apreciado pelas partes envolvidas, pois elas não atribuem o mesmo valor
a cada um dos aspectos deste objeto. Para conduzir tais negociações é
aconselhável, em princípio, separar totalmente os debates referentes às
relações entre as pessoas (em particular os debates morais) dos debates
referentes aos interesses em jogo. Ora, em um conflito relativo a um território,
constatou-se que grupos diferentes podiam, por uma parte, fazer deste
território, ou de alguns de seus aspectos, um emblema de sua identidade, e,
por outra parte, investir de valor moral seu uso e sua organização espacial.
Percebe-se então, sem dificuldade, que o próprio princípio da negociação
racional não se aplica facilmente.
Pode-se, contudo, reter algumas ideias. É preciso que o resultado da
negociação seja considerado justo por todas as partes interessadas; que ele
seja eficaz, ou seja, que ele substitua uma situação de barganha em torno de
um ponto de compromisso não aceitável por todos, por uma situação de co-
produção na qual cada parte envolvida encontre um interesse específico
substancial; que ele seja confiável ou realizável sem surpresas más; e que ele
seja durável, isto é, que não corra o risco de ser rapidamente colocado em
cheque pelos fatos. Para ser considerado justo por todas as partes, é preciso
que estas tenham contribuído para sua elaboração, em condições nas quais
elas tenham podido fazer compreender e reconhecer, mutuamente, suas
questões, seus pontos de vista, suas morais e suas identidades.
Tradução: Vladimir Bartalini, para uso exclusivo da disciplina AUP 5810 – Paisagismo, do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1o semestre de 2012.
18
Isto significa demandar às partes que dêem início à formação de uma
identidade coletiva que integre suas diferenças, respeitando-as. Para que o
resultado seja eficaz é preciso inventar novas formas de organização e de uso
do território, afim de melhor satisfazer aos interesses mais variados dos grupos
presentes, respeitando as morais de organização do território que são suas.
Isto significa demandar que o negociador se faça auxiliar por um planejador
capaz de compreender a condução da negociação, os interesses e os valores
das partes envolvidas, afim de ajudá-las a inventar alternativas de organização
e uso do solo.
Para ser factível e durável, é preciso que o acordo obtido entre os
negociadores que representam os diversos grupos de interessados seja
compreendido e reconhecido por todos. É preciso então que a implementação
deste acordo desencadeie o desenvolvimento de uma nova identidade mais
ampla, respeitando as identidades pré-existentes e integrando-as. É preciso
então que este acordo seja refletido e que cada um possa representar para si o
objeto do acordo, reconhecendo nele um valor emblemático. Além do
compromisso entre os usos a que este território satisfaz, trata-se de criar um
lugar onde se comemore o acordo durável entre os grupos que se opunham, e
fazê-lo de modo que cada um possa representar para si a singularidade de sua
experiência do lugar. Para isto é útil que o planejador seja um paisagista, afim
de assegurar que a nova organização do território se torne um emblema
comum a todos os grupos. Isto exige que a criação das opções de organização
leve em conta tanto as formas culturais de lazer próprias a cada grupo, quanto
seus interesses. Nesta perspectiva, a análise inventiva proposta por Bernard
Lassus constitui um instrumento estratégico nas mãos de um paisagista
chamado como consultor para auxiliar um negociador a encontrar uma solução
durável para um conflito de organização do território.




















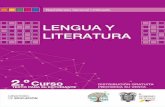













![[Escriba texto]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315a80bc32ab5e46f0d6828/escriba-texto.jpg)




