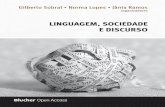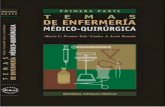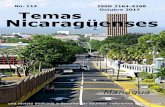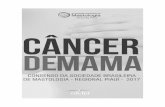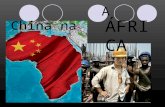Temas Selecionados - Sociedade Brasileira de Hepatologia
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of Temas Selecionados - Sociedade Brasileira de Hepatologia
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 1
Temas Selecionados
TS-001 (180)
TRATAMENTO DA INFECÇÃO CRÔNICA PELO GENÓTIPO 1 DO VÍRUSDA HEPATITE C (HCV-1) COM PEG-INTERFERON E RIBAVIRINA(PEG+RBV): A COORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULALMEIDA PRL, MATTOS AA, ZANIN P, AMARAL KM, FELTRIN AA, TOVO CV, PICON PDSecretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS); Curso de Pós-Graduação em Hepatologia da FFFCMPA;Hosp
Fundamento: A literatura é escassa no que diz respeito a trabalhos fora do contextodos ensaios clínicos e, por conseqüência, destituídos do viés de seleção que os carac-teriza. Objetivos: Avaliar a resposta sustentada (RS) ao tratamento de pacientes comhepatite crônica pelo HCV-1 no programa do Ministério da Saúde. Métodos: Estu-do de coorte misto, sendo analisados os tratamentos de pacientes com HCV-1 comPEG+RBV por 48 semanas. Não havendo a resposta virológica precoce (RVP) o trata-mento era interrompido. Foram avaliados fatores preditivos de RS (sexo, idade, IMC,grau de fibrose, carga viral e assistência médica privada) através de análise de regres-são logística (ARL). O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: A coorteconstituiu-se de 323 indivíduos, a média de idade foi 51,1 ± 10,1 anos. O IMCmédio foi de 26,8 ± 4,4kg/m2. A carga viral mediana foi de 645.000UI/ml, sendoque 57% da população apresentava alta carga viral. Houve elevado percentual depacientes com fibrose avançada (43,6% com F3 e 30,3% com F4). O tratamento foiinterrompido em 33 (10,2%) pacientes por efeitos adversos e em 75 (23,2%) devi-do à ausência de RVP. Completaram as 48 semanas de tratamento 215 (66,6%)pacientes, dos quais 114 (35,3%) com RS por intenção de tratamento. Na ARL,foram preditivos de RS os fatores relacionados à menor idade, fibrose avançada ecarga viral menor de 600.000UI/ml.
RSFator N no % p
Sexo feminino 143 53 37,1 0,33Idade até 40 anos 54 29 53,7 0,03IMC (kg/m2) até 25 100 30 30,0 - 25,1 a 30,0 167 65 38.9 0,09 > 30,0 56 19 33,9 0,77Instituição privada 163 61 37,4 0,97Fibrose F1 + F2 82 43 52,4 - F3 137 49 35,8 0,02 F4 95 18 18,9 < 0,01Carga viral < 600.000 184 57 31,0 0,03
Conclusões: O tratamento com PEG+RBV em pacientes portadores de hepatite crô-nica pelo HCV-1, no contexto de programa de saúde pública, não reproduz as taxasobtidas nos grandes ensaios clínicos, na medida que trata-se de população nãoselecionada e, por conseqüência, mais freqüentemente portadora de fatores prediti-vos de má resposta.
TS-002 (530)
YKL-40 E ÁCIDO HIALURÔNICO COMO MARCADORES NÃO-INVASI-VOS DE FIBROSE HEPÁTICA EM TRANSPLANTADOS RENAIS COM IN-FECÇÃO CRÔNICA PELO HCVSCHIAVON LL, NARCISO-SHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, LANZONI VP, SILVA AEB, FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: Transplantados renais possuem prevalência elevada de infecção peloHCV. A história natural e o manejo terapêutico desta população são controversos. Ainvasividade e as variabilidades de amostra e interpretação inerentes à biópsia hepá-tica limitam sua indicação rotineira na avaliação destes indivíduos. Nosso objetivofoi avaliar o desempenho do YKL-40 e do ácido hialurônico (AH) como marcadoresnão-invasivos de fibrose hepática em transplantados renais com infecção crônicapelo HCV. Métodos: Estudo transversal que incluiu transplantados renais com HCV-RNA (+) e biópsia hepática avaliada segundo critérios da SBP/SBH. Análise univaria-da foi usada para identificar fatores associados à presença de fibrose significativa (E> = 2). O desempenho diagnóstico do YKL-40 e do AH e os seus melhores pontos decorte foram avaliados por curvas ROC. Resultados: Foram incluídos 85 pacientes,sendo 60% homens. A média de idade foi 44,9+/-9,4 anos. O tempo médio detransplante foi de 6,5+/-4,9 anos. Fibrose significativa foi identificada em 14/85pacientes (17%). À análise univariada, o achado de E > = 2 foi associado a maiormédia de idade (48,6+/-5,1 anos vs. 44,2+/-10,0 anos, P = 0,020) e a maior tempode transplante (10,1+/-5,4 anos vs. 5,7+/-4,5 anos, P = 0,002). Além disso, entre
aqueles com E > = 2, foram encontradas maiores prevalências de diabetes mellitus(43% vs. 16%, P = 0,030) e de APP > = 2 (85% vs. 28%, P < 0,001). Apesar de nãoter alcançado diferença estatística, foram observadas maiores médias de YKL-40 en-tre os pacientes com E > = 2 (292+/-163ng/dL vs. 233+/-154ng/dL, P = 0,198).Níveis significativamente mais elevados de AH foram encontrados naqueles com E >= 2 (medianas de 108ng/dL vs. 37ng/dL, P = 0,002). As áreas sob as curvas ROCforam: YKL-40 = 0,615 e AH = 0,765. Para o ponto de corte inferior, a sensibilidade,a especificidade, o VPP, o VPN e a acurácia foram, respectivamente: YKL-40 < = 105:93%, 32%, 21%, 96% e 42%; AH < = 27: 93%, 32%, 21%, 96% e 42%. Para oponto de corte superior, a sensibilidade, a especificidade, o VPP, o VPN e a acuráciaforam, respectivamente: YKL-40 > = 418: 29%, 87%, 31%, 86% e 78%; AH > = 120:50%, 85%, 39%, 90% e 80%. Restringindo-se a indicação de biópsia hepática aosindivíduos com valores intermediários de cada marcador, esta poderia ser correta-mente evitada em 32% com o YKL-40 e 35% com o AH. Conclusões: O YKL-40 e oAH são marcadores não-invasivos promissores de fibrose hepática em transplanta-dos renais com infecção crônica pelo HCV.
TS-003 (532)
TX-3: MODELO PREDITIVO DE FIBROSE HEPÁTICA AVANÇADA EMTRANSPLANTADOS RENAIS COM INFECÇÃO CRÔNICA PELO HCVSCHIAVON LL, CARVALHO FILHO RJ, NARCISO-SHIAVON JL, BARBOSA DV, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: Transplantados renais possuem prevalência elevada de infecção peloHCV. A evolução e o manejo terapêutico desta população são controversos. A invasivi-dade e as variabilidades de amostra e interpretação inerentes à biópsia hepática limi-tam sua indicação rotineira na avaliação destes indivíduos. Nosso objetivo foi identifi-car marcadores não-invasivos de fibrose hepática em transplantados renais com HCV.Métodos: Estudo transversal que incluiu transplantados renais com HCV-RNA (+) ebiópsia hepática avaliada segundo critérios da SBP/SBH. Análises uni e multivariadaforam usadas para identificar os fatores associados à presença de fibrose significativa(estadiamento > = 2). O desempenho diagnóstico das variáveis incluídas no modelofinal foi avaliado por curvas ROC. Resultados: Foram incluídos 102 pacientes, sendo60% homens. A média de idade foi 44,1+/-9,4 anos. O tempo médio de transplantefoi de 6,7+/-4,8 anos. Fibrose significativa foi identificada em 20 pacientes (20%). Aanálise de regressão logística identificou o tempo de transplante (OR 1,226, IC95%1,073–1,402, P = 0,003), o nível de AST (OR 2,123, IC95% 1,253–3,598, P = 0,005)e o número de plaquetas (OR 0,990, IC95% 0,981–0,999, P = 0,048) como variáveisindependentemente associadas à fibrose significativa. A fórmula de regressão resultan-te foi: Escore de Risco = [0,204 x Tempo de Tx (anos)] + [0,753 x AST (xLSN)] – (0,010x Plaquetas/1.000) – 2,442. A área sob a curva ROC (AUROC) para este modelo foi0,869+/-0,081. Baseando-se na fórmula da regressão, um modelo simplificado foiproposto: TX-3 = [Tempo de Tx(anos) x AST(xLSN)]/Plaquetas(x100.000). A AUROCpara o novo modelo foi 0,867+/-0,081. Para o ponto de corte inferior (< = 4,0), asensibilidade, a especificidade, o VPP, o VPN e a acurácia foram, respectivamente:90%, 70%, 42%, 97% e 74%. Para o ponto de corte superior (> 9,6), a sensibilidade,a especificidade, o VPP, o VPN e a acurácia foram, respectivamente: 60%, 94%, 71%,91% e 87%. A proporção de classificações incorretas foi de apenas 9%. Restringindo-se a indicação de biópsia aos pacientes com valores intermediários, esta poderia sercorretamente evitada em 68% dos casos. Conclusões: Um índice de fácil aplicação,criado a partir de variáveis simples como tempo de Tx, nível de AST e número deplaquetas podem sugerir a presença de fibrose hepática significativa em transplanta-dos renais com infecção crônica pelo HCV.
TS-004 (384)
TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS C (HCV) EM CO-INFECTADOS PELO HIV COM O ESQUEMA DE INTERFERON ALFA-2(IFN-ααααα) E RIBAVIRINA: RESULTADOS DE ESTUDO MULTICÊNTRICONACIONALBRANDÃO-MELLO CE1,2, AMENDOLA PIRES MM1, RIGO JFO3, PAVAN MH4, TOVO CV3, GONÇALES JR F4, COE-LHO HSM2, MATTOS AA3 1
Ambulatório de Doenças do Fígado (UNIRIO); 2 - Serviço de Hepatologia (UFRJ) 3 – Curso de Pós-Graduação emHepatologia - FFFCM d
Fundamentos: A imunodeficiência induzida pelo HIV parece acelerar o curso dainfecção pelo vírus HCV e é habitualmente acompanhada de rápida progressão paracirrose e insuficiência hepática. O tratamento com interferon-α (IFN-α) e ribavirina(RBV) é acompanhado, principalmente naqueles com títulos de CD4 > 350 céls/mm3, de resposta virológica sustentada (RVS) entre 12-20%. Objetivo: Avaliar aRVS ao tratamento com IFN-α2 e RBV para co-infectados pelos vírus HCV-HIV em 3centros de referência nacionais. Pacientes e métodos: No período compreendido
S 2 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
entre Junho 2001- 2004 foram tratados co-infectados HCV - HIV, entre 16 e 65 anos,com IFN-α2 (3.0 milhões UI/3 x sem.) e RBV (1-1.2 gr/dia) por 6 a 12 meses, quepreenchessem os seguintes critérios de inclusão: a) infecção pelo HCV comprovadapela presença do HCV-RNA por PCR; atividade de doença avaliada pelos níveis séri-cos de ALT (> de 1,5 x o LSN) e por biópsia hepática. b) infecção pelo HIV confirma-da por anti-HIV positivo (Elisa, W.Blot). A genotipagem do HCV foi realizada portécnica de seqüenciamento. Foram considerados para fins de tratamento aquelespacientes com CD4 > 200 céls/mm3 e infecção HIV e HCV compensada. Resulta-dos: 178 pacientes preencheram os critérios para o tratamento. A média de idadefoi 42,4 anos, sendo que 79% eram do sexo masculino e 65% com genótipo 1. Amédia de títulos de CD4 variou entre 459 a 529 céls/mm3 e a grande maioria dospacientes encontrava-se em uso de TARV (85%). Dos 178 pacientes, 163 forambiopsiados, sendo que 48% exibiam fibrose em pontes ou cirrose. A RVS por ITT foi19.6%, sendo respectivamente de 12%, 27% e 23% nas cidades do Rio de Janeiro,Porto Alegre e Campinas, sendo de 10% para os co-infectados pelo Gen.1 e de 33%para os com Gen.3. Conclusão: Os índices de RVS obtidos com IFN-α e RBV foramsimilares aos encontrados nos estudos internacionais (12-20%) e justificam, portan-to, a procura por outros esquemas que ofereçam melhores taxas de RVS.
TS-005 (476)
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C (HCV) E O CONTEXTO DA PRI-MEIRA INJEÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS E PRÁTICAS CORRENTES DEINJEÇÃOOLIVEIRA MLA, HACKER M, OLIVEIRA SAN, DO Ó KR, YOSHIDA CFT, TELLES P, BASTOS FIFundação Oswaldo Cruz e Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Usuários de drogas injetáveis (UDIs) desempenham papel chave na epidemiologia dainfecção pelo HCV. Alguns autores sugerem que circunstâncias e comportamentos daprimeira injeção de drogas são cruciais e provavelmente se reproduzam ao longo da"carreira" de injeção de drogas. Contudo, este enfoque tem sido escasso na literatura aoredor do mundo e ausente no Brasil. O contexto e o comportamento na primeira injeçãode drogas e sua relação com práticas de injeção subseqüentes, assim como a associaçãodestes comportamentos com a infecção pelo HCV entre injetadores recentes foram in-vestigadas. A prevalência e o s fatores preditores de infecção pelo HCV entre UDIs foitambém explorada. UDIs (n = 606) foram recrutados em "cenas" de uso de drogas doRio de Janeiro, entrevistados e testados para infecção pelo HCV. Análises descritivas devariáveis sociodemográficas e comportamentais da primeira e da mais recente injeção(últimos 6 meses) foram levantadas. Tabelas de contingência foram empregadas parainvestigar associações entre variáveis de primeira injeção e comportamento de injeçãode UDIs ativos (n = 272) e infecção pelo HCV entre jovens injetadores (n = 292). Teste deMcNemar foi utilizado para explorar mudanças no compartilhamento de seringas/agu-lhas entre a primeira e a mais recente injeção. Regressões logísticas múltiplas foramrealizadas para identificação de fatores preditivos da infecção pelo HCV (UDIs ativos). Ocompartilhamento de agulhas foi mais prevalente na primeira injeção (51.3%) do quena entrevista inicial (36.8%). Aqueles que compartilharam seringas/agulhas na primeirainjeção mostraram-se ainda engajados em práticas diretas ou indiretas de compartilha-mento. Entre injetadores jovens (< 30 anos), aqueles que reportaram compartilhamentona primeira injeção apresentaram-se com chance 4 vezes maior de infecção pelo HCV.Um declínio na prevalência do HCV foi observada entre UDIs ativos (11%), consideran-do um estudo prévio da mesma população (1994-1997). História de prisão e maiorduração do uso injetável de drogas foram identificados como fatores preditivos indepen-dentes para a infecção pelo HCV. Para bloqueio efetivo da transmissão do HCV, políticasde prevenção devem ser focadas às necessidades dos indivíduos no início do uso injetá-vel, desde a sua primeira injeção até o desencorajamento da transição de rotas não-injetáveis para auto-injeção de drogas ilícitas.
TS-006 (557)
TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA EM IDOSOSPINHEIRO-ZAROS IM, NARCISO-SHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, BARBOSA DV, LANZONI VP,FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP)
Fundamentos: Embora a progressão da fibrose hepática seja acelerada a partir daquinta década de vida, há poucos dados na literatura sobre a segurança e eficácia dotratamento da hepatite C crônica em idosos. Este estudo tem como objetivo, avaliara eficácia e o perfil de segurança da terapia antiviral em pacientes idosos com hepa-tite C crônica. Métodos: Foram analisados pacientes tratados entre 1996 e 2006,exclusivamente no âmbito do SUS, com RBV associada ao IFN convencional (IFNc),Peg-IFN α-2a ou Peg-IFN α-2b, seguindo protocolo padronizado pelo nosso Servi-ço. Resultados: Foram incluídos 382 pacientes, sendo 56% homens. A média daidade foi 47,4 ± 11,2 anos. Quanto ao tipo de IFN, 201 (52%) receberam IFNc, 64(17%) Peg-IFN 2a e 117 (31%) Peg-IFN 2b. Cinqüenta e cinco (14%) apresentavamidade > = 60 anos. Comparados aos pacientes mais jovens, os idosos apresentarammaiores prevalências do gênero feminino (61% vs. 27%, P < 0,001), de APP 3/4(63% vs. 44%, P = 0,011) e de estadiamento 3/4 (50% vs. 36%, P = 0,053). Alémdisso, indivíduos > = 60 anos mostraram menor hemoglobina (Hb) basal (P < 0,001)e menor atividade de protrombina basal (P = 0,032). Durante o tratamento, neces-sidade de redução de dose da RBV e interrupção da terapia por citopenia foram mais
freqüentes entre os idosos (35% vs. 9%, P < 0,001 e 9% vs. 1%, P = 0,004, respec-tivamente). Dentre as citopenias, Hb < 10g/dL (46% vs. 19%, P < 0,001) e neutro-penia < 750/mm3 (31% vs. 14%, P = 0,002) foram mais comuns entre os idosos. Osidosos também apresentaram maior incidência de tonturas (20% vs. 11%, P = 0,050)e de diarréia (26% vs. 12%, P = 0,009). Quanto aos efeitos psiquiátricos, observou-se menor freqüência de irritabilidade nos idosos (13% vs. 25%, P = 0,041), nãohavendo diferença em relação à incidência de depressão (22% vs. 28%, P = 0,330).Da mesma forma, não foi identificada maior de incidência de infecções em idosos(18% vs. 13%, P = 0,255). As taxas de RVS em idosos e nos jovens foram semelhan-tes (71% vs. 60% P = 0,112). Conclusões: Indivíduos > = 60 anos apresentam maiorincidência de vários efeitos colaterais associados à terapia combinada IFN + RBV,particularmente anemia e neutropenia significativas, as quais comumente necessi-tam de redução e/ou interrupção dos antivirais. Entretanto, a maior gravidade daslesões histológicas e a probabilidade significativa de RVS sustentam a indicação detratamento neste subgrupo de portadores de hepatite C crônica.
TS-007 (120)
IMPORTÂNCIA DA ULTRA-SONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA DOEN-ÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICABOENTE LA, MATTEONI LA, LEAL RA, CAMPOS FD, SOARES D, ARAÚJO C, D’ALMEIDA F, ATHAYDE ACM, COTRIM HPFaculdade de Medicina – Universidade Federal da Bahia
Fundamentos: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) está relacionada amúltiplos fatores, elevada freqüência e amplo espectro, que inclui esteatose, esteato-hepatite e cirrose. A esteatose é considerada sua forma de melhor prognóstico, mas compotencial evolutivo. A DHGNA é em geral assintomática e a ultra-sonografia de abdô-men (USA) é um dos principais métodos diagnóstico. Objetivos: Avaliar a prevalência deesteatose hepática em ultra-sonografias de abdômen em uma amostra da população;determinar a freqüência da DHGNA nestes indivíduos. Métodos: Estudo retrospectivoavaliou resultados de USA realizados entre agosto de 2004 a julho de 2005 em umserviço de referência em diagnósticos por imagem em Salvador-Bahia. Das USA realiza-das foram selecionados casos com diagnóstico de esteatose hepática, consultados pron-tuários clínicos dos pacientes, e preenchido um questionário previamente preparado. Aesteatose foi graduada como leve, moderada, intensa, difusa ou focal. Critérios diagnós-ticos para DHGNA: ausência de etilismo, presença de fatores de risco, e exclusão deoutras causas de doença hepática. Resultados: De 11.474 USA realizadas, 18,05% (568)tiveram diagnóstico de EH. A esteatose foi classificada como grau leve em 61,6%, mode-rada em 27,1% e intensa em 4,9. Dados clínicos foram obtidos de 185 dos 568 (32,57%)casos de EH, que apresentavam uma média de idade de 55,9 anos. Destes, 65,4% (121)apresentavam critérios para DHGNA, 9,2% (17) relatavam história de consumo alcoóli-co de moderada a grande, e em 25,4% (47) o consumo alcoólico não foi documentado.Dos indivíduos com critérios para DHGNA, 56,2% eram do gênero masculino comidade média de 56,46. O IMC médio foi de 31,8kg/m². Destes, obesidade ou sobrepesoesteve presente em 45,5% dos casos, dislipidemia em 42,2%, diabetes mellitus ou into-lerância a glicose em 15,7%, e hipertensão arterial em 41,2%. A glicemia média dospacientes foi de 101,41; a média do colesterol total foi de 227, 17, do HDL foi de 46, 87,e o LDL foi de 144,36mg/dl. AST estava aumentada em 12,5% (8). ALT estava aumenta-da em 23,1% (15). Conclusões: O estudo mostra elevada freqüência da DHGNA entreos indivíduos com diagnóstico de esteatose em ultra-sonografias de abdômen. Mostratambém que obesidade, diabetes e hiperlipidemia foram os fatores de risco importantesnestes casos, e corrobora com a hipótese de que a DHGNA é hoje uma das principaiscausas de doença hepática em todo o mundo.
TS-008 (454)
DOENÇA DE WILSON: ANÁLISE DO GENÓTIPO ATP7B E CORRELAÇÃOCOM FENÓTIPO NUMA SÉRIE DE 95 CASOSEVANGELISTA AS, BÜTTNER J, BARBOSA ER, PORTA G, MACHADO AAC, BOCHOW B, CARRILHO FJ, SCHMIDT HJ,CANÇADO ELR, DEGUTI MMDepartamentos de Gastroenterologia, Neurologia e Pediatria da FMUSP; Charité, campus Mitte, Univ Humboldt,Berlim, Alemanha
Fundamentos: A doença de Wilson (DW) caracteriza-se pelo acúmulo de cobre noorganismo, lesando cérebro e fígado. Mais de 300 mutações no gene ATP7B já foramassociadas à DW. Em nossa instituição, análise prévia de 58 casos-índice detectou 25mutações distintas. Objetivo: Avaliar a associação entre genótipo e forma clínica deapresentação na DW. Casuística e métodos: Foram estudados 95 casos de DW, 83dos quais casos-índice. Consideraram-se as formas de apresentação inicial: hepática(H), n = 34; neurológica (N), n = 39; assintomática (A), n = 21; bem como o principalórgão acometido (H ou N). Pesquisaram-se mutações no gene ATP7B por seqüencia-mento direto dos 21 éxons e respectivas bordas intrônicas, em DNA leucocitário desangue periférico. Para cálculo de freqüências alélicas, consideraram-se apenas os ca-sos-índice. Resultados: Foram identificadas 38 mutações distintas. As mais freqüentesforam p.A1135fs (28,31%) e p.L708P (13,85%). A mutação p.H1069Q, que atingefreqüências superiores a 80% na Europa, ocorreu em apenas 4,81%. As demais muta-ções ocorreram em freqüências menores ou iguais a 4,21%. Os portadores de genóti-po A1135fs homozigoto (n = 11) apresentaram inicialmente forma N em 55% (n = 6)e H em 45% (n = 5); os portadores de genótipo L708P homozigoto (n = 10) manifes-taram inicialmente forma H em 30% (n = 3) e N em 40% (n = 4). O padrão N
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 3
representou 41% (39/95) da casuística total. Conclusões: As duas mutações maisfreqüentes representam apenas 42,26% dos alelos, e não determinam, por si só, aforma de apresentação clínica (H ou N). Outros genes que determinam a susceptibili-dade ao depósito de cobre e fatores ambientais adicionais devem estar envolvidos nafisiopatogenia da DW. A peculiaridade dos genótipos dos brasileiros com DW e a baixafreqüência das mutações encontradas enfatizam a necessidade de se ampliar o núme-ro de casos estudados em nosso país.
TS-009 (513)
ANÁLISE FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DE PACIENTES COM HEMOCRO-MATOSE HEREDITÁRIA: RESULTADOS DE ESTUDO MULTICÊNTRICONACIONALCOUTO CA, BITTENCOURT PL, VIEIRA CM, CANÇADO ELR, MARIN MLC, PALÁCIOS SA, COUTO OFM, FERRARI
TCA, GOLDBERG AC, CARRILHO FJFaculdade de Medicina da UFMG, Hospital Português de Salvador, Bahia e Faculdade de Medicina da USP
Introdução: A hemocromatose hereditária (HH) é uma doença autossômica recessi-va caracterizada por sobrecarga sistêmica de ferro responsável pelo desenvolvimen-to de cirrose hepática (CH), diabetes melito (DM), miocardiopatia (MCP), artrite ehiperpigmentação cutânea. No Brasil, 53% dos pacientes com HH apresentam ho-mozigose para a mutação C282Y (C282Y+/+) ou heterozigose combinada para asmutações C282Y e H63D (C282Y+/H63D+) do gene HFE. Objetivos: Descrever ascaracterísticas clínicas e laboratoriais da HH nos pacientes brasileiros e correlacionara expressão clínica da doença com o genótipo. Pacientes e métodos: Foram avalia-dos pacientes com HH provenientes de três centros nacionais de referência queaceitaram participar do estudo com diagnóstico baseado nos seguintes critérios:índice de saturação de transferrina (IST) > 45%, ferritina > 300µg/l e siderose grausIII-IV. A pesquisa das mutações C282Y e H63D do HFE foi realizada por PCR-RFLP.Resultados: Trinta pacientes (27 homens, idade mediana de 49 [20-81] anos foramincluídos no estudo. Avaliação clínico-laboratorial revelou presença de CH, DM eMCP, respectivamente em 72%, 36% e 12%. As medianas do IST e ferritina foram,respectivamente, de 86 [36-100]% e 2228 [576-13170]µg/l. A presença de C282Y+/+ foi observada em 47% dos pacientes, enquanto que C282Y+/H63D+ foi apresen-tada por 10% dos casos. Comparação de variáveis clínicas e laboratoriais dos pa-cientes, com e sem C282Y+/+, revelou que os indivíduos com homozigose paraC282Y exibiram níveis mais altos de ferro (350 vs. 185mg/ml nos pacientes semC282Y+/+, p = 0,01) e ferritina (3091 vs. 1365µg/l nos pacientes sem C282Y+/+, p= 0,05) quando comparados com aqueles pacientes sem homozigose para C282Y.Conclusões: O fenótipo da HH no Brasil é semelhante ao encontrado nos EUA eEuropa do Norte, a despeito da ausência de C282Y+/+ em mais da metade dospacientes acometidos pela doença. No entanto, pacientes com C282Y+/+ apresen-tam maior sobrecarga laboratorial de ferro. O diagnóstico de HH no nosso meio étardio, sendo realizado freqüentemente após o desenvolvimento de CH.
TS-010 (166)
RESPOSTA HIPERTENSIVA PORTAL HEPÁTICA À ANGIOTENSINA II E ÀBRADICININA EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOSKIMURA DC, RECK JR J, BORGES DR, KOUYOUMDJIAN MUNIFESP
Fundamentos: Os sistemas calicreína-cinina e renina-angiotensina estão envolvidosem ações fisiológicas e patofisiológicas de maneira interativa. Um dos pontos deinteração é a enzima conversora de angiotensina (ECA), envolvida na conversão daangiotensina I em angiotensina II (AII) e na hidrólise da bradicinina (BK). Os peptí-deos vasoativos, AII e BK, causam resposta hipertensiva portal (RHP). O efeito dessesdois peptídeos em fígado de ratos SHR (espontaneamente portadores de hiperten-são arterial) ainda não havia sido estudado. Nosso objetivo foi estudar a RHP hepá-tica à AII e à BK em SHR. Método: Foram utilizados 12 ratos Wistar (W) normotensose 16 SHR que tiveram sua pressão arterial caudal aferida, sendo de 117 ± 3,0 e de193 ± 12,7mmHg, respectivamente (teste t, P = 0,0005). A RHP foi avaliada emmodelo de perfusão de fígado isolado e exanguinado de rato. Amostra de sangue daaorta abdominal foi retirada para dosagem sérica da ECA. As veias porta e cavainferior torácica e o ducto biliar foram canulados. A viabilidade hepática foi avaliadaatravés da depuração de bromosulfaleína (BSP) e produção de bile. BK (200nmol)ou AII (2nmol) foram injetadas na veia porta e a pressão portal foi monitorada. Aação das substâncias vasoativas foi analisada segundo dois parâmetros: ganho máxi-mo de pressão (GMP) obtido pela diferença entre a pressão inicial e o máximo valorregistrado e RHP (área sob a curva do gráfico “ganho de pressão x tempo de perfu-são”). Resultados: A produção de bile (µl/min.g fígado) e a depuração de BSP (t½,min) foram de 0,9 ± 0,06 e 2,3 ± 0,1 e de 0,9 ± 0,05 e de 2,1 ± 0,1 nos grupos W eSHR, respectivamente (teste-t, p > 0,05). A atividade da ECA sérica (U/ml) foi tam-bém igual nos dois grupos de ratos: W (n = 12) 38,6 ± 4,4 e SHR (n = 16) 32,3 ± 3,4assim como o GMP e a RHP induzida por AII. O GMP (cmH2O) assim como a RHP(cmH2Oxmin) à BK foram maiores (teste-t, p = 0,0120 e p = 0,0075, respectiva-mente) nos SHRs (n = 6) (6,3 ± 0,5 e 9,5 ± 1,3) quando comparada aos ratos Wistarnormotensos (n = 6) (4,0 ± 0,6 e 4,9 ± 0,2). Conclusão: A resposta hipertensivaportal aumentada à BK nos SHRs é compatível com a hipótese de número aumenta-do de receptores de BK no fígado. Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP, FADA.
TS-011 (63)
RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO RENAL E A CONCENTRAÇÃO SÉRICA DECREATININA EM PACIENTES COM CIRROSE. IMPORTÂNCIA PARA AVA-LIAÇÃO DO PROGNÓSTICOTERRA C, TORRE A, MARTÍN-LLAHÍ M, BACCARO ME, GUEVARA M, CALAHORRA B, RESTUCCIA T, ARROYO V,GINÈS PHospital Clínic de Barcelona – Barcelona – Espanha
Fundamento: O deterioro da função renal é uma complicação freqüente dos pa-cientes com cirrose. A creatinina sérica é o parâmetro mais utilizado clinicamentepara avaliar a função renal. Entretanto, a relação entre a função renal e a creatininasérica em pacientes com cirrose não foi avaliada criteriosamente até a presente data.Além disso, ainda que esteja bem estabelecido que o desenvolvimento de insuficiên-cia renal grave determina péssimo prognóstico em pacientes com cirrose, se desco-nhece se uma alteração moderada da função renal tem algum significado prognós-tico. Métodos: Para determinar a relação entre a função renal, a creatinina sérica ea sobrevida, 539 pacientes com cirrose foram estudados, 246 (46%) dos quais ti-nham determinação de filtrado glomerular (FG) por técnicas muito sensíveis (clea-rance de inulina ou iotalamato). Se construíram curvas ROC para determinar osvalores de creatinina sérica com maior sensibilidade e especificidade para um deter-minado valor de FG. Resultados: O valor de creatinina sérica que melhor se relacio-nou com uma função renal normal (FG > 80ml/min) foi de 1mg/dl (área abaixo dacurva – AAC: 0,76). Por outro lado, o valor de creatinina sérica que melhor predisseuma alteração grave da função renal (FG < 40ml/min) foi de 1,5mg/dl (AAC: 0,91).No conjunto dos 539 pacientes, o grau de alteração da função renal se correlacio-nou com a sobrevida. Os pacientes com função renal normal (creatinina sérica ≤1mg/dl) tiveram uma mediana de sobrevida de 713 dias em comparação com 383dias dos pacientes com alteração moderada da função renal (creatinina sérica entre1 e 1,5mg/dl) (p < 0,001). Os pacientes com alteração severa da função renal (crea-tinina sérica > 1,5mg/dl) tiveram péssimo prognóstico, com uma mediana de sobre-vida de apenas 88 dias (p < 0,001). Em uma análise multivariada, a creatinina séricafoi um fator preditivo independente de mortalidade. Conclusões: Em conclusão,em pacientes com cirrose o valor máximo de creatinina sérica indicativo de umafunção renal normal é 1mg/dl. Valores entre 1 e 1,5mg/dl são indicativos de insufi-ciência renal e se associam com redução da sobrevida.
TS-012 (156)
ESTUDO PILOTO CONTROLADO RANDOMIZADO PARA AVALIAR AEFICÁCIA DO TRANSPLANTE DAS CÉLULAS TRONCO AUTÓLOGASMONONUCLEARES EM PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA CRÔNI-CA AVANÇADALYRA AC1,2, SOARES MBP1,3, SILVA LFM1, BRAGA EL1,2, OLIVEIRA SA3, FORTES MF1, SILVA AGP1, BRANDÃO PSA1,SANTOS RRS1,3, LYRA LGC1,2
1. Hospital São Rafael; 2. Serviço Gastro-Hepatologia, Universidade Federal da Bahia; 3. FioCruz – Bahia
Estudos em modelos animais de doença hepática demonstraram que o transplantede células mononucleares (CMN) melhora a fibrose hepática. Recentemente verifi-camos que a terapia com CMN autólogas nos pacientes com hepatopatia crônica ésegura, exequível e pode alterar a função hepática. Objetivo: Avaliar a eficácia dotransplante de CMN nos pacientes com doença hepática crônica avançada. Méto-dos: 30 pacientes em lista de transplante hepático foram randomizados, de formanão-cega, sendo 15 para receber terapia com CMN e 15 controles sem terapia.Cerca de 50ml de sangue da medula óssea foram coletados e preparados com gra-diente de ficoll-hypaque para isolamento de CMN. Um mínimo de 100 milhões deCMN enriquecidas foi introduzido na artéria hepática. A análise basal incluiu avalia-ção clínica, laboratorial e de imagem. Albumina sérica, bilirrubinas, RNI, escore deChild-Pugh e MELD foram escolhidos como “endpoints” para avaliar eficácia. Apósa terapia os pacientes foram avaliados durante 90 dias quanto a eventos clínicos etestes laboratoriais. A análise estatística foi feita com analise das mudanças relativasaos achados basais e utilização de modelos de efeitos randômicos. Resultados: Mé-dia de idade, perfil hepático basal, escore Child-Pugh e MELD foram similares mambos os grupos, exceção aos níveis da albumina (g/dl) que foram mais elevadosno grupo controle (3,31 vs 2,79, p = 0,053). Durante o acompanhamento, nogrupo controle (GC), um paciente faleceu e outro em estado grave, foi transplanta-do. No grupo intervenção (GI), um paciente faleceu. Os níveis séricos da albuminaaumentaram no grupo intervenção enquanto permaneceram estáveis no grupo con-trole (p = 0,034 com mudança relativa (MR) do achado basal de +16% no GI e +2%no GC). O Child-Pugh diminuiu no grupo intervenção comparado ao grupo contro-le (p = 0,017, com MR de -8% no GI e +4% no GC). Os níveis das bilirrubinasaumentaram no GC e diminuíram no GI durante os primeiros 60 dias após o trata-mento, mas retornaram para níveis basais ao término de 90 dias. O RNI foi seme-lhante nos dois grupos. Conclusões: A infusão de CMN autólogas na artéria hepáti-ca parece melhorar a função hepática dos pacientes com hepatopatia crônica avan-çada durante pelo menos 90 dias e pode ser uma opção promissora de tratamentopara estes indivíduos. Estudos maiores e mais longos são necessários para validarnossos resultados, para definir a duração deste efeito benéfico e para determinar sehaverá uma melhora da sobrevida.
S 4 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
Temas Livres
TL-013 (109)
ASSOCIAÇÃO ENTRE MARCADORES INFLAMATÓRIOS SOLÚVEIS EALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS HEPÁTICAS EM PACIENTES COMHEPATITE C CRÔNICAMOURA AS, CARMO RA, TEIXEIRA JUNIOR AL, LEITE VHR, CHAVES DE RESENDE HA, CARDOSO LER, ROCHA MOCPrograma de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Infectologia e Medicina Tropical – da Faculdade de Medicinada UFMG – Belo Horizonte
Introdução: O padrão de resposta inflamatória de pacientes com hepatite C crônicapode influenciar a progressão da doença já que a agressão hepatocitária é principal-mente imuno-mediada. Esse padrão pode ser avaliado pela dosagem sérica de qui-miocinas, subgrupo de citocinas responsável pelo recrutamento de leucócitos, e dosreceptores solúveis de fator de necrose tumoral (sTNF-R1 e sTNF-R2), que atuamcomo moduladores da ação desse fator. Objetivo: Investigar a associação entre osníveis séricos de quimiocinas e de receptores solúveis de TNF e alterações histopato-lógicas presentes na biópsia hepática. Material e métodos: Foram analisados pa-cientes com hepatite C crônica, mono-infectados, virgens de tratamento, sem co-morbidades hepáticas, acompanhados no Ambulatório de Referência em HepatitesVirais do CTR-Orestes Diniz. Os níveis séricos de quimiocinas (eotaxina, IP-10, MCP-1, MIG, MIP1-alfa) e de receptores solúveis de TNF foram dosados, utilizando-setécnica de ELISA. A biópsia hepática, realizada em intervalo inferior a 12 meses dacolheita do plasma analisado, foi classificada de acordo com o METAVIR. Resulta-dos: Dos 53 pacientes analisados, 50% eram do sexo masculino, a média de idadefoi de 46,5 anos e 72% eram genótipo 1. Atividade inflamatória moderada/acentua-da (A ≥ 2) estava presente em 40% dos pacientes e fibrose acentuada/cirrose (F ≥ 3)em 24%. Observou-se associação entre maior atividade inflamatória e níveis séricosmais elevados de eotaxina (p = 0,02), de sTNF-R1 (p = 0,03) e sTNF-R2 (p = 0,01).Apenas os níveis séricos de sTNF-R2 estiveram associados com fibrose hepática (p =0,04). Os demais marcadores analisados (IP-10, MCP-1, MIG e MIP1-alfa) não secorrelacionaram com inflamação ou fibrose à biópsia hepática. Conclusão: Níveisséricos elevados de eotaxina e de receptores solúveis de TNF parecem refletir umaatividade inflamatória mais intensa à biópsia hepática, enquanto apenas a elevaçãode sTNF-R2 associou-se à fibrose mais intensa.
TL-014 (134)
INFLUÊNCIA DOS GENES DAS CÉLULAS NK E DOS LIGANTES HLA-CNA RESPOSTA À TERAPIA ANTIVIRAL DE PACIENTES COM INFECÇÃOCRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE CCARNEIRO VL1, LEMAIRE D1, SOUZA SS2, BENDICHO MT1, CAVALCANTE L2, SANTANA N, LYRA LGC2, LYRA AC2
1. Pós-Graduação Imunologia – Instituto de Ciências da Saúde (ICS) – Universidade Federal da Bahia (UFBA),Salvador, Bahia, Brasil. 2. Serviço de Gastrohepatologia Hospital Universitário Prof. Edgar Santos (HUPES)-Univer-sidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia, Brasil
Fatores imunológicos e genéticos do hospedeiro podem ter um papel importantena resposta ao tratamento antiviral na hepatite crônica C. A ativação das célulasnatural killer (NK) é importante para limitar a replicação viral no fígado. A terapiacom interferon parece ser mais efetiva em pacientes com hepatite C em que ascélulas NK são ativadas por esta droga. A função das células NK é regulada por umequilíbrio entre os sinais gerados por seus receptores celulares (KIR) de ativação einibição através da interação com moléculas de HLA classe I nas células-alvo. Khakooet al (Science, 2004) mostraram que a presença do par receptor-ligante KIR2DL3/HLA-C1 têm um papel na eliminação do VHC na infecção aguda. Objetivos: Avaliaro papel dos genes KIR incluindo o par receptor-ligante KIR2DL3/HLA-C1 em pacien-tes com hepatite C crônica submetidos à terapia antiviral. Métodos: Foi comparadaa freqüência dos genes KIR e seus pares receptores-ligantes entre 41 pacientes não-respondedores e 45 pacientes respondedores à terapia antiviral; 102 doadores vo-luntários de sangue foram utilizados como controles. A genotipagem do KIR e HLA-C foi realizada com o Kit PCR-SSO (One Lambda, EUA). Resultados: Não houvediferença entre respondedores e não-respondedores em relação à etnia; houve umapredominância de mulheres entre os não-respondedores. O grupo controle apre-sentou uma maior freqüência de indivíduos não-brancos. Foi observada uma menorfreqüência dos genes KIR2DL5 (38% vs 64%) (p = 0,018) e KIR2DS3 (24% vs 46%)(p = 0,03) entre respondedores quando comparados com não-respondedores e, emcontrapartida, uma maior freqüência do par receptor-ligante KIR2DL3/HLA-C1 en-tre pacientes respondedores (64% vs 39%) (p = 0,018). A aplicação do teste deMantel-Hazel revelou que o genótipo do VHC não foi um fator determinante dasdiferenças encontradas. Quando todos os pacientes com hepatite C foram compa-rados com os controles, foi observada uma maior freqüência dos genes KIR2DL5(OR = 1,79; CI = 1,01-3,19), 2DS5 (OR = 1,96; CI = 0,98 – 4,05) e 3DL3 (OR = 2,39;CI = 1,05 – 5,83) nos pacientes com hepatite C. Conclusões: Fatores do hospedeirocomo os genes KIR2DL5 e KIR2DS3 estão associados com uma ausência de resposta
à terapia antiviral ente os pacientes com hepatite crônica C. O par receptor-liganteKIR2DL3/HLA-C1 pode favorecer a resposta à terapia antiviral. Além disso, os genesKIR2DL5, 2DS5 e 3DL3 podem contribuir na predisposição para o desenvolvimentoda infecção crônica pelo VHC.
TL-015 (220)
RELAÇÃO ENTRE HLA E ESTADIAMENTO DA INFECÇÃO CRÔNICA PELOVÍRUS DA HEPATITE C (HCV)SILVA PM, HANNA KL, BARBOSA HPP, CAMPOS CFF, FABRICIO-SILVA GM, BARQUETTE FRS, PORTO LCMS, PEREZ
RM, FIGUEIREDO FAFLaboratório de Histocompatibilidade/IBRAG e Serviço de Gastroenterologia/HUPE – Universidade do Estado do Riode Janeiro
Fundamentos: Alguns alelos do HLA já foram identificados como relacionados àgravidade da fibrose em pacientes com hepatite crônica C, como, por exemplo,HLA-DRB1*11, DQB1*03, Cw*04 e DRB1*08. Entretanto, até o momento, há pou-cos estudos na população brasileira. O objetivo deste estudo é pesquisar a existênciade associação entre o HLA da classe I e II e o grau de fibrose hepática em pacientesbrasileiros com infecção crônica pelo HCV. Métodos: Foram estudados 90 pacien-tes com infecção crônica pelo HCV (HCV-RNA positivo) submetidos à biópsia hepá-tica. Em todos os pacientes foi realizada determinação dos HLAs: A, B, Cw, DRB1 eDQB1. Os achados histológicos foram relatados, conforme a classificação de Ishak.A amostra foi dividida em 2 grupos quanto à fibrose: grupo com fibrose ausente/leve - FL (F ≤ 3 de Ishak) e grupo com fibrose avançada/cirrose hepática - FA (F ≥ 4 deIshak). Análise estatística foi realizada utilizando o teste Qui-quadrado e teste Exatode Fisher. Resultados: Na amostra estudada, 46 pacientes (51%) apresentavam fi-brose leve ou ausente (FL). Na análise comparativa, não houve diferença quanto aosexo (masculino 48% vs. 50%; p = 0,99) e quanto à duração da doença (24 9 vs.25 6; p = 0,65). O grupo com FA era composto por doentes mais velhos (48 11vs. 53 11; p = 0,02). No grupo FA, observou-se maior freqüência dos alelos daclasse I HLA A*24 (80% vs. 20%; p = 0,02) e do alelo da classe II DRB1*06 (59% vs.42%; p = 0,04) quando comparados ao grupo FL. Por outro lado nesse grupo,houve menor freqüência dos alelos HLA A*32 (0% vs. 100%; p = 0,03) e HLA Cw*02(21% vs. 79%; p = 0,04). Conclusão: Os resultados desse estudo demonstraramque existe associação do estadiamento com alelos HLA. A identificação de alelos“protetores” (associados à doença mais leve ou inicial) e de alelos “facilitadores”(associados à doença mais avançada) reforça o conceito de que os fatores relaciona-dos ao hospedeiro têm uma participação importante na progressão da hepatitecrônica C. O HLA-A*32 na fibrose leve e HLA-A*24 na fibrose avançada foram iden-tificados como novos alelos relacionados à fibrose ainda não descritos em outraspopulações.
TL-016 (248)
ESTUDO ABERTO, RANDOMIZADO E MULTICÊNTRICO, DE GRUPOSPARALELOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DAS DO-SES DE 135 E 90MCG DE PEG IFN ALFA-2A ADMINISTRADAS PARAPACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA C E DOENÇA RENAL EM HEMO-DIÁLISECHEINQUER H1, FERREIRA ASP2, SILVA R3, TREVIZOLI J4, TATSCH F5, FERRAZ M6
1. FFFCMPA, 2. UFMA, 3. FAMERP, 4. H. BASE, 5. Roche, 6. UNIFESP
Fundamentos: Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise têm uma maiorprevalência de infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) em comparação com apopulação geral. A hepatite C está relacionada a diminuição da sobrevida do en-xerto após o transplante renal. Como a ribavirina é mal tolerada, o uso de interfe-ron peguilado (PEG IFN) em monoterapia parece ser a alternativa preferencialnesta população. Métodos: Oitenta e cinco pacientes com HCV em hemodiáliseem 8 países foram randomizados 1:1 para PEG IFN alfa-2a 135 ou 90mcg/semanapor 48 semanas de tratamento. Destes, 38(45%) foram avaliados em centros bra-sileiros. O desfecho primário foi a resposta virológica sustentada (RVS), definidapor HCV RNA < 50UI/mL 24 semanas após o término do tratamento. Os desfechossecundários foram a proporção de pacientes com HCV RNA < 50UI/mL e diminui-ção ≥ 2log no HCV RNA nas semanas 12, 24 e 48 do tratamento. Resultados: Dos85 pacientes 4 não receberam medicamento e 7 descontinuaram (2 recusas emparticipar, 2 respostas insuficientes, 2 óbitos e 1 evento adverso). Nos grupos 135e 90mcg, respectivamente, a média da idade era 43 e 44 anos; genótipo 1: 76 e74%; gênero masculino: 61 e 69% e carga viral média: 5,6 log10 em ambosgrupos. A análise interina da resposta virológica dos pacientes dos grupos 135 e90mcg mostrou os seguintes resultados: 1) semana 12: diminuição ≥ 2log10 em71 e 70% e HCV RNA negativo em 61 e 37% dos pacientes, respectivamente; 2)semana 24: diminuição ≥ 2log10 em 66 e 72% e HCV HCV RNA negativo em 58
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 5
e 49% dos pacientes, respectivamente. Cinqüenta e cinco e 44% dos pacientescom genótipo 1 e 67 e 64% dos pacientes com genótipo não-1 apresentavamHCV RNA negativo na semana 24, respectivamente. Verificou-se neutropenia en-tre 500 e 750cel/mm3 em 7% e hemoglobina < 8,5g/dL em 13% dos casos. Hou-ve dois óbitos: cardiomiopatia hipertrófica e consumo deliberado de substâncias.Conclusões: A análise interina da resposta virológica mostra que um percentualsignificativo de indivíduos com doença renal crônica em hemodiálise apresentaviremia indetectável durante o tratamento com PEG IFN alfa-2a nas doses de 135e 90mcg. Aguardam-se os resultados da RVS. Considerando-se as característicasespecíficas desta população, o perfil de tolerabilidade do medicamento foi aceitá-vel.
TL-017 (259)
ESTUDO MULTICÊNTRICO E RANDOMIZADO AVALIANDO A EFICÁCIAE TOLERABILIDADE DA COMBINAÇÃO PEG-IFN ALFA-2A E RIBAVIRI-NA POR 48 OU 72 SEMANAS DE TRATAMENTO EM PACIENTES COMHEPATITE C CO-INFECTADOS COM HIV: ANÁLISE INTERINA DE EFICÁ-CIA E POPULACIONALCHEINQUER H, BRANDÃO C, PILOTTO J, FIGUEIREDO J, GONÇALES F, MEIRELLES A, MENDES-CORREA MC, MORAES
E, TATSCH F, BARONE AFFFCMPA (Porto Alegre, RS) 1, Gaffree e Guinle (Rio de Janeiro, RJ) 2, Fiocruz RJ (Rio de Janeiro, RJ) 3, USP RibeirãoPreto (Ribeir
Fundamentos: em pacientes com infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV),a chance de alcançar a resposta virológica sustentada (RVS) ao interferon peguila-do (PEG IFN) e ribavirina (RBV) depende fundamentalmente da cinética viral doHCV nas fases iniciais do tratamento. Sabe-se que pacientes sem resposta virológi-ca precoce (RVP), definida como HCV RNA negativo ou queda ≥ 2 log no HCV RNAna semana 12 de tratamento, apresentam mínima possibilidade de RVS. O objeti-vo deste estudo foi avaliar o percentual de RVP e as características dos pacientesco-infectados incluídos em estudo multicêntrico nacional para tratamento comPEG-IFN alfa -2a e RBV, em comparação com os mesmos dados obtidos em estudomulticêntrico internacional (Apricot). Metodologia: 180 pacientes com hepatitecrônica C foram randomizados 1:1 para 48 ou 72 semanas de tratamento comPEG- PEG-IFN alfa-2a e ribavirina. Resultados: a análise interina de 145 pacientesnos braços 48 e 72 semanas, mostrou respectivamente: 66,7 e 70,9% dos pacien-tes do gênero masculino; 68,2 e 31,8% brancos; 78,9 e 77,9% com carga viralbasal ≥ 800.000 cópias/mL; 5,8 e 12,1% com cirrose (Metavir F3/F4). Dos 145pacientes, 141 foram analisados quanto ao HCV RNA na semana 12, sendo verifi-cada RVP em 94 pacientes (66,7%). Destes, 36 (38,3%) apresentaram HCV-RNAqualitativo negativo na semana 12 e 58 (61,7%) apresentaram HCV-RNA positivocom queda ≥ 2log. O estudo internacional de PEG-IFN alfa-2a e RBV em pacientesco-infectados HCV/HIV (Apricot) apresentou RVP de 71%. O estudo brasileiro apre-sentou maior prevalência de homens, de não-brancos e maior média basal de HIV-RNA em comparação com o estudo internacional. Conclusões: a associação PEG-IFN alfa-2a e RBV promoveu RVP em percentual significativo de pacientes co-infec-tados com HCV e HIV. Os resultados forma semelhantes aos encontrados no estu-do internacional Apricot, embora com algumas diferenças nas características dapopulação estudada. Dados de resposta virológica sustentada são aguardados paradefinir se a RVP possui o mesmo significado em pacientes co-infectados tratadospor 48 ou 72 semanas.
TL-018 (285)
COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES NÃO INVASIVOS NA PREDIÇÃO DE FI-BROSE AVANÇADA EM PACIENTES COM HEPATITE CMANHÃES FG, LUZ RP, SCHMAL AR, RIBEIRO JC, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMHUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A avaliação do grau de fibrose de pacientes com hepatite C é im-prescindível para a decisão sobre o tratamento. A biópsia hepática, apesar de ser ométodo ouro nesta avaliação, não é isenta de riscos e, em certos casos, não pode serrealizada devido à presença de contra-indicações. Assim, diversos índices não-inva-sivos de avaliação vêm sendo propostos para selecionar pacientes com graus maisavançados de fibrose e evitar a biópsia hepática. O objetivo deste estudo foi compa-rar o desempenho diagnóstico de diferentes índices não invasivos na detecção degraus mais avançados de fibrose em pacientes com hepatite C. Metodologia: Fo-ram incluídos pacientes com infecção crônica pelo vírus C submetidos à biópsiahepática. Foram coletados retrospectivamente valores de AST, ALT e plaquetas, refe-rentes à época da biópsia hepática. Os índices avaliados foram: AST/ALT, a combina-ção de AST/ALT com diferentes níveis de corte de plaquetas e o APRI (AST to plateletratio index). O APRI foi calculado pela seguinte fórmula: AST/LSN x 100/plaquetas(109/L), onde LSN corresponde ao limite superior da normalidade da AST. Estesíndices foram comparados ao grau de fibrose, classificado segundo Ishak. Resulta-dos: Foram avaliados 253 pacientes, 54% do sexo masculino, com idade de 47 ± 11anos (19-73). Nesta amostra, 34 (13%) apresentavam fibrose avançada (F4-F6). Osvalores de sensibilidade (S), especificidade (E), valores preditivos positivo (VPP) enegativo (VPN) e acurácia (A) dos diferentes índices na detecção de fibrose avança-da estão representados na tabela abaixo:
S E VPP VPN A
AST/ALT 27% 91% 31% 89% 82%AST/ALT & Plaq < 200 18% 93% 29% 88% 83%AST/ALT & Plaq < 150 15% 96% 36% 88% 85%AST/ALT & Plaq < 125 12% 98% 44% 88% 86%AST/ALT & Plaq < 100 3% 98% 20% 87% 85%APRI > 1,5 50% 88% 39% 92% 83%APRI > 2 38% 92% 41% 91% 85%
A área sob a curva ROC (AUROC) da relação AST/ALT foi de 0,679 e do APRI foi de0,781. Valores de APRI maiores de 1,5 apresentaram a maior sensibilidade e valorpreditivo negativo. Conclusão: O APRI mostrou-se superior na detecção de fibroseavançada em comparação à relação AST/ALT isolada e AST/ALT combinada à conta-gem de plaquetas. Este índice pode ser útil na prática clínica para evitar a realizaçãode biópsia hepática em uma parcela de pacientes.
TL-019 (306)
DINÂMICA DA ALT DURANTE O TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔ-NICA COM INTERFERON CONVENCIONAL (IFNC) E INTERFERONSPEGUILADOS (PEG-IFN)EL BATAH PN, CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, NARCISO-SCHIAVON JL, SAMPAIO JP, BARBOSA DV, FERRAZ
MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: A avaliação periódica dos níveis de ALT é rotina durante o tratamen-to da hepatite C crônica. Embora redução da ALT durante a terapia antiviral sejausual, exacerbações e dissociação bioquímico-virológica têm sido observadas. Nos-so objetivo foi avaliar a dinâmica da ALT durante o tratamento e sua relação com aresposta virológica sustentada (RVS). Métodos: Foram analisados pacientes trata-dos no âmbito do SUS entre 1996 e 2006 com RBV associada ao IFNc, Peg-IFN α-2aou Peg-IFN α-2b, seguindo protocolo padronizado pelo nosso Serviço. Resultados:Foram incluídos 239 pacientes, 51% homens e 43% com estadiamento ≥ 3. A mé-dia da idade foi 47,1 ± 10,8 anos. Quanto ao tipo de IFN, 58 (24%) receberam IFNce 181 (64%) foram tratados com Peg-IFN 2a ou 2b. Foram identificados 4 padrõesde comportamento da ALT até a 24a semana de terapia: G1) ausência de normaliza-ção: 18 (31%) com IFNc e 65 (36%) com PEG-IFN; G2) elevação superior ao nívelbasal: 16 (28%) com IFNc e 36 (20%) com PEG-IFN; G3) normalização persistente:21 (36%) com IFNc e 66 (36%) com PEG-IFN; e G4) ALT normal antes e durante aterapia: 3 (5%) com IFNc e 14 (8%) com PEG-IFN (P = 0,593 para todos os grupos).Dos tratados com IFNc, 7 obtiveram RVS (12%) e 6 destes mostraram o padrão G3(P = 0,032 vs. demais padrões). Dentre os tratados com PEG-IFN, o padrão de com-portamento da ALT não influenciou a RVS (P = 0,216); entretanto, comparando-seos pacientes que permaneceram com ALT normal durante a terapia (G3 e G4) comaqueles que mantiveram ALT elevada (G1 e G2), observou-se uma tendência demaior RVS entre os pacientes com ALT normal (P = 0,071). Apenas 1/20 (5%) dentreos tratado com IFNc que apresentaram elevação de ALT superior à ALT basal duranteo tratamento evoluiu com RVS, enquanto que 17/49 (35%) dos que receberamPEG-IFN e que mostraram elevação de ALT alcançaram RVS (P = 0,001). Conclu-sões: A ausência de normalização da ALT com o uso de IFNc+RBV é um bom predi-tor de falha terapêutica. Embora a RVS seja mais freqüente entre os tratados comPEG-IFN+RBV que têm sua ALT normalizada, a RVS pode ser obtida com padrõesvariados de comportamento da ALT.
TL-020 (223)
EVENTOS ADVERSOS DURANTE O TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔ-NICA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE INTERFERON CONVENCIONAL(IFNC), INTERFERON PEGUILADO (PEG-IFN) ALFA-2A E PEG-IFN ALFA-2BSAMPAIO JP, CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, NARCISO-SCHIAVON JL, EL BATAH PN, BARBOSA DV, FERRAZ
MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Eventos adversos (EA) são comuns durante a terapia da hepatite Ccrônica. Prejudicam a qualidade de vida e podem comprometer a RVS, tanto pelamenor aderência como pela eventual redução da dose ou suspensão das drogas.Este estudo determinou as incidências de EA durante o uso de 3 esquemas de terapiada hepatite C crônica. Métodos: Foram analisados pacientes tratados no âmbito doSUS entre 1996 e 2006 com RBV associada ao IFNc, Peg-IFN α-2a ou Peg-IFN α-2b,seguindo protocolo padronizado pelo nosso serviço. Resultados: Foram incluídos382 pacientes, 56% homens. A média da idade foi 47 ± 11 anos. Quanto ao tipo deIFN, 201 (52%) receberam IFNc, 64 (17%) Peg-IFN 2a e 117 (31%) Peg-IFN 2b.Comparados aos que receberam IFNc, aqueles tratados com Peg-IFN (2a/2b) apre-sentaram menor prevalência de E 3/4 (32% vs. 44%, P = 0,021) e de APP 3/4 (40%vs. 53%, P = 0,014). No grupo PEG-IFN (2a/2b), reduções de dose de IFN e RBVforam mais freqüentes que no grupo IFNc (10% vs. 3%, P = 0,002 e 21% vs. 6%, P< 0,001, respectivamente). Os tratados com Peg-IFN mostraram maior incidênciade sínd. gripal (94% vs. 67%, P < 0,001), dermatite/prurido (53% vs. 27%, P <
S 6 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
0,001), emagrecimento > 10% (37% vs. 7%, P < 0,001), diarréia (18% vs. 10%, P =0,029), uso de antidepressivos (27% vs. 6%, P < 0,001), infecções (19% vs. 8%, P =0,001), Hb < 10g/dL (29% vs. 16%, P = 0,003), neutropenia < 750/mm3 (23% vs.10%, P = 0,001) e plaquetopenia < 50.000/mm3 (12% vs. 5%, P = 0,010). Ostratados com Peg-IFN 2a exibiram maior incidência de sínd. do pânico (5% vs. 0%,P = 0,043) e aqueles que receberam Peg-IFN 2b tiveram maior freqüência de alopé-cia (19% vs. 3%, P = 0,003). As incidências de citopenias não foram diferentes entreos pacientes tratados com os dois Peg-IFN. Conclusões: Apesar de ter sido empre-gada em pacientes com doença menos significativa, a terapia com Peg-IFN, quandocomparada ao IFNc, resultou em > incidência de citopenias significativas e de váriosoutros EA. Entre os Peg-IFNs, a incidência de citopenias parece ser semelhante, maso perfil de sinais/sintomas colaterais pode variar conforme o tipo de Peg-IFN.
TL-021 (226)
HEPATITE C EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA: PACIEN-TES EM TRATAMENTO CONSERVADOR APRESENTAM EVOLUÇÃO HIS-TOLÓGICA MAIS AGRESSIVA?LEMOS LB, PEREZ RM, LEMOS MM, DRAIBE SA, LANZONI VP, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: As características da infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV)entre portadores de doença renal crônica (DRC) em tratamento conservador (pré-diálise) são pouco conhecidas e não se sabe se as características observadas nospacientes em hemodiálise podem ser extrapoladas para esse grupo. Os objetivosdesde estudo foram avaliar as características demográficas, laboratoriais e histológi-cas da infecção crônica pelo HCV entre portadores de DRC em tratamento conserva-dor e compará-las com as observadas em pacientes em hemodiálise. Métodos: Apartir de uma coorte de 1041 portadores de DRC em tratamento conservador, fo-ram selecionados para inclusão no estudo 39 pacientes que apresentavam anti-HCVpositivo e HCV-RNA positivo. Estes pacientes foram comparados com pacientes emhemodiálise com infecção pelo HCV (relação 1:3) quanto às características demo-gráficas, laboratoriais e histológicas. Foi calculada a taxa de progressão de fibrose(TPF) através do quociente entre o escore de fibrose e o tempo de infecção. Resulta-dos: Portadores de DRC em tratamento conservador apresentavam idade mais avan-çada (57 ± 10 vs. 45 ± 12; P < 0,001) e maior freqüência de ALT elevada (71,8% vs.41,0%; P = 0,001) e AST elevada (64,1% vs. 26,5%; P < 0,001). Na análise histoló-gica, havia maior proporção de hepatite de interface (67% vs. 47%; P = 0,033) e deestadiamento mais avançado (71,8% vs. 16,2%; P = 0,001) entre os portadores deDRC em tratamento conservador. Nos pacientes nos quais o tempo de infecçãopôde ser estimado, observou-se que os pacientes na fase pré-dialítica apresentavamtempo de infecção mais prolongado (22 vs. 6 anos; P < 0,001), não sendo observa-da diferença na TPF entre os grupos (P = 0,692). Conclusão: Portadores de DRC emtratamento conservador com infecção crônica pelo HCV apresentam aminotransfe-rases mais elevadas e lesão histológica mais grave que os pacientes em hemodiálise.Entretanto, como a TPF entre os grupos foi semelhante, essa maior gravidade histo-lógica provavelmente reflete o maior tempo de infecção nesse grupo, não havendoevidências de que a hepatite C apresente uma evolução mais agressiva entre porta-dores de DRC em tratamento conservador.
TL-022 (460)
ANÁLISE DA FREQÜÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À ANEMIA DU-RANTE O TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA C COM INTERFERONPEGUILADO E RIBAVIRINAPACE F, MEIRELLES DE SOUZA AF, OLIVEIRA JM, BARBOSA KVBD, MORAES JP, SOUZA MH, LIMA TS, SANGLARD
LAM, AMARAL JR FJServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatites Virais – HU/CAS - Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-U
Fundamentos: O tratamento da hepatite crônica C (HCc) com IFN peguilado eribavirina obtém cerca de 50% de resposta virológica sustentada (RVS). O desafioimediato consiste na otimização das doses e do tempo de tratamento, paralelamen-te à redução e controle dos eventos adversos. O objetivo deste estudo é verificar afreqüência de anemia e as variáveis correlacionadas a este evento em portadores deHCc tratados com IFN peguilado e ribavirina. Métodos: Estudo retrospectivo, ba-seado no banco de dados do CRH-UFJF. Foram incluídos pacientes em tratamentopara HCc em uso de IFN peguilado e ribavirina com pelo menos três meses detratamento. Níveis de hemoglobina foram dosados no pré-tratamento, 15°, 30°,60° e 90° dia de tratamento. Considerou-se anemia taxa de Hb menor ou igual a10g/dl e/ou uma queda da Hb superior ou igual a 3g/dl do nível basal. Foramcorrelacionadas variáveis demográficas, laboratoriais e histológicas na tentativa deidentificar fatores associados ao desenvolvimento de anemia. Resultados: Entre os96 pacientes tratados no CRH-UFJF neste período, 54 foram incluídos no estudo. Amédia de idade observada foi 52,4 ± 8,9 anos e 30 (44%) pacientes eram do sexomasculino. O genótipo 1 do HCV foi observado em 42 (78%) e a carga viral pré-tratamento foi superior a 850.000UI em 17 (31%) pacientes. A presença de fibrosegraus 3 ou 4 de METAVIR foi encontrada em 25 (50%) dos 50 pacientes submetidosà análise histológica. IFN peguilado α-2a foi utilizado em 27 (50%) pacientes. Ane-mia foi observada em 25 (46%) pacientes. Nenhuma das variáveis analisadas mos-
trou-se associada ao surgimento da anemia. Conclusões: Anemia é um achadofreqüente entre portadores de hepatite crônica C tratados com IFN peguilado eribavirina. Neste estudo, não foi possível a identificação de fatores associados aodesenvolvimento de anemia.
TL-023 (477)
DECLÍNIO DA PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HCV ENTRE USUÁ-RIOS DE DROGAS INJETÁVEIS DO RIO DE JANEIRO: ANÁLISE COMPA-RATIVA DE DOIS ESTUDOS SECCIONAISOLIVEIRA MLA, TELLES PR, MIGUEL JC, OLIVEIRA SAN, DO Ó KR, YOSHIDA CFT, BASTOS FIFundação Oswaldo Cruz
Usuários de drogas injetáveis (UDIs) estão freqüentemente engajados em comporta-mentos de risco, favorecendo uma rápida e extensiva transmissão do HCV entreredes de UDIs. Desta forma, uma alta prevalência de infecção pelo HCV (65,0%-98,0%) tem sido encontrada em diferentes cenários. Recentemente, um declínio daprevalência de patógenos transmitidos pelo sangue tem sido descrita entre algumasamostras de UDIs dos EUA, Espanha e Brasil. O objetivo deste estudo foi investigarmudanças no perfil sociodemográfico, padrão de injeção de drogas e infecção peloHCV entre UDIs do Rio de Janeiro, considerando dados de 2 estudos seccionais. Umtotal de 772 UDIs foram recrutados em "cenas de uso" do Rio de Janeiro, durante osperíodos de 1994 a 1996 e 1999 a 2001: “Projeto Brasil" (N = 166) e Estudo Multi-cêntrico Fase II/Organização Mundial de Saúde (N = 606), respectivamente. Dife-renças no padrão sociodemográfico, padrão de injeção de drogas e infecção peloHCV entre os dois períodos estudados foram explorados usando o teste qui-quadra-do. Um relevante declínio na prevalência de infecção pelo HCV foi encontrada entreUDIs do Rio de Janeiro. Isto pode ser explicado parcialmente pela redução das fre-qüências totais de injeção de drogas e compartilhamento de agulhas, associadoscom grande engajamento dos UDIs em iniciativas de redução de riscos relacionadosao uso injetável de drogas. Adicionalmente, outros fatores podem ter contribuídopara este cenário, incluindo saturação e mudanças na cena de uso injetável. Estesresultados preliminares demonstram a importância de iniciativas correntes de redu-ção de riscos, as quais devem ser reforçadas e expandidas constantemente.
TL-024 (471)
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA RECORRÊNCIA DO VÍRUS DA HE-PATITE C (VHC) APÓS TRANSPLANTE DE FÍGADO EM UM CENTRO DEREFERÊNCIAMORAES ACP¹, JUCÁ N², CARVALHO M¹, SILVA CCC², BARRETO VST², PEREIRA LMMB¹,²1-Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, Brasil
Fundamentos: A recorrência da hepatite C após transplante hepático varia em rela-ção à evolução da fibrose e alguns pacientes rapidamente desenvolvem cirrose he-pática. Objetivo: Avaliar as alterações histopatológicas da recorrência do VHC nospacientes submetidos ao transplante de fígado no serviço de transplante hepáticodo Hospital Universitário Oswaldo Cruz-PE e Instituto do Fígado de Pernambuco(HUOC/IFP) no período de maio de 2000 a maio de 2006. Pacientes e métodos:Apenas casos de recorrência de hepatite C diagnosticados por HCV-RNA qualitativono soro e características histopatológicas consistentes com hepatite C foram consi-derados. 44 pacientes foram submetidos à biópsia no sexto mês e anualmente até oquinto ano de seguimento, com uma média de 34,8 meses. O índice de atividadehistológica foi avaliado de acordo com a classificação METAVIR. Resultados: Diag-nóstico precoce da recorrência da hepatite C foi obtida no sexto mês da biópsia emapenas 3 casos e durante o período de seguimento, treze pacientes (29,5%) mostra-ram fibrose 1 e apenas 2 (4,5%) apresentaram níveis de fibrose 2 e nenhum pacienteapresentou padrão histológico de cirrose hepática ao final desse período. Avaliaçãohistopatológica nos demais pacientes evidenciou apenas lesões hepáticas mínimasem todo o período de seguimento. Conclusão: Apesar da recorrência sorológica doVHC em todos os pacientes, a avaliação histopatológica atingiu índices de fibrosehepática (34%) inferiores ao relatado na literatura.
TL-025 (388)
AVALIAÇÃO DA RESPOSTA VIROLÓGICA AO FINAL DO TRATAMENTO(RVF) E SUSTENTADA (RVS) COM O ESQUEMA COMBINADO DE IN-TERFERON ααααα- 2 (IFN-ααααα) E RIBAVIRINA EM CO-INFECTADOS HCV E HIVAMENDOLA PIRES MM1, BRANDÃO-MELLO CE1,2, SOUZA CT1, GRIPP K1, BRASIL-NERI C, BERGAMASCHI I, COE-LHO HSM2
Ambulatório de Doenças do Fígado do HU Gaffreé e Guinle (HUGG)-UNIRIO; 2 - Serviço de Gastroenterologia eHepatologia - HU Cleme
Fundamentos: A história natural da co-infecção pelos vírus HCV e HIV é habitual-mente acompanhada de rápida progressão para cirrose e insuficiência hepática. Oemprego do interferon-α2 (IFN-α) e da ribavirina (RBV) é acompanhado de respostavirológica sustentada (RVS) em 12-20% dos casos, principalmente, entre aquelescom títulos de CD4 > 350 céls. por mm3. Objetivo: Avaliar a resposta virológica aofinal do tratamento (RVF) e sustentada (RVS) com a terapia combinada de IFN-α(standart) e RBV para co-infectados pelos vírus HCV-HIV na cidade do Rio de Janeiro.Pacientes e métodos: No período compreendido entre 2001-2006 foram incluídos
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 7
e tratados portadores de co-infecção HCV e HIV matriculados nos ambulatórios dedoenças do Fígado do HUGG e HUCFF. A infecção pelo HCV foi comprovada atravésda presença do HCV-RNA por PCR. A atividade da doença foi avaliada pelos níveisséricos de ALT (> de 1,5 x o LSN) e por biópsia hepática. A infecção pelo HIV foiconfirmada por anti-HIV positivo (Elisa e W.Blot). A genotipagem do HCV foi obtidapor seqüenciamento. Foram considerados para fins de tratamento aqueles pacientescom CD4 > 200 céls e infecção HIV e HCV compensada. Resultados: Dentre 265pacientes avaliados, 84 preencheram os critérios para o tratamento. A média deidade foi de 42,5 anos, sendo que 80% eram do sexo masculino e 69% com genó-tipo 1. A média de títulos de CD4 e carga viral do HCV-RNA foi, respectivamente, de457 células por mm3 e 9.12 x 105UI. e, 64% exibiam fibrose em pontes ou cirrose.A grande maioria dos pacientes encontrava-se em uso de TARV (86%). A média deALT e γGT foi de 90UI e 147UI. Dos 84 pacientes, 16% alcançaram RVF e 12,3%RVS, sendo este último grupo de co-infectados pelo HCV Gen.3. Conclusão: Osíndices de RVS com IFN-α e RBV foram similares aos encontrados nos estudos inter-nacionais (12-20%), porém, ainda assim justificam a procura por novas drogas queofereçam melhores taxas de RVS.
TL-026 (391)
IMPACTO POSITIVO DA TERAPIA ANTIVIRAL NA EVOLUÇÃO A LON-GO PRAZO DE PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA C E FIBROSE AVAN-ÇADACARDOSO AC, MOUCARI R, ASSELAH T, RIPAULT MP, BOYER N, MARTINOT-PEIGNOUX M, MAYLIN S, FIGUEIRE-DO-MENDES CG, BEDOSSA P, MARCELLIN PService d’Hépatologie et INSERM CRB3, Hôpital Beaujon, France, Service d’Anatomie Pathologique et de Microbiologie,Hôpital Beau
Introdução: A principal conseqüência da hepatite crônica C (HC-C) em fases avan-çadas de fibrose (F) hepática F3 e F4 são suas potenciais complicações: hemorragiadigestiva alta (HDA), ascite (ASC) e carcinoma hepatocelular (CHC). A influencia daterapia antiviral (TAV) na evolução a longo prazo da HC-C ainda não foi determina-da. Objetivo: avaliar a influencia da TAV na morbidade de pacientes F3 ou F4. Pa-cientes e métodos: 244 pac com HC-C e METAVIR F3 ou F4 foram avaliados retros-pectivamente. Todos receberam no mínimo um tratamento (TTO) com Interferon(convencional ou PEG), com ou sem Ribavirina, por pelo menos 12 sem. A incidên-cia cumulativa de HDA, ASC e CHC foi comparada entre os pac que atingiram, ounão, RVS. A influencia da resposta ao TTO na lesão hepática foi avaliada por 64biópsias pareadas. Resultados: Características da amostra: masc (68%), media deidade (55 ± 10 a), media de IMC (26 ± 6kg/m2). Média de HCV RNA - 1,08 ± 1,34106 IU/ml. Genótipos (GEN): 1 (60%), 2(9%), 3 (16%), 4 (14%). A media de tempode acompanhamento foi 5 a (1-18) após a primeira biópsia, e 2 a após o ultimo TTO(1-15). A RVS ocorreu em 34% dos pac, e foi mais freqüente naqueles com F3 emcomparação aos F4 (44% vs. 21%, p < 0,001), e em pac com GEN 2 ou 3 que nosGEN 1 ou 4 (56% vs. 23%, p < 0,001). A RVS não se associou com idade, IMC, HCVRNA, inflamação ou esteatose. Os pac sem RVS desenvolveram com maior freqüên-cia complicações da cirrose quando comparados aqueles que a alcançaram: HDA(7% vs. 1%, p = 0,05), ASC (21% vs. 5%, p = 0,005). A incidência cumulativa deCHC foi maior em pac que falharam ao TTO (p = 0,06). A segunda biópsia foirealizada, em media, 2 anos após o termino do TTO (1-15). A analise pareada mos-trou diminuição de no mínimo 1 ponto no score de F em 41% dos pac com RVS e deapenas 11% naqueles sem RVS (p = 0,005). Conclusão: Em pac com F3 ou F4, RVSa TAV estão associadas com significativa regressão da F e menor numero de compli-cações a longo prazo.
TL-027 (402)
TRATAMENTO DA CRIOGLOBULINEMIA SINTOMÁTICA EM PORTADO-RES DE HEPATITE C CRÔNICA COM MONOTERAPIA COM RIBAVIRINAE PLASMAFERESE–RELATO DE CASOMACHADO JR, OLIVEIRA AC, EL BACHA I, PARISE ERSetor de Hepatologia da UNIFESP-São Paulo
Introdução: A crioglobulinemia mista (CGM) representa a principal complicaçãoextra-hepática da hepatite C crônica (HCC), acometendo cerca de 20% dos pa-cientes em nosso meio (PARISE ER, et al. 2007). A terapêutica com Interferon eRibavirina (RBV) é o tratamento ideal dessa condição. Apesar disso, alguns pacien-tes que alcançam resposta virológica sustentada (RVS) permanecem com CGMsintomática, enquanto pacientes não respondedores (NR) podem apresentar rea-tivação do quadro clínico com a interrupção do mesmo. Métodos: 5 portadoresde HCC confirmada por HCV-RNA e biópsia hepática, não etilistas, sem outrashepatopatias e com idades entre 50-68 anos foram avaliados. Apenas 1 deles erado gênero masculino, todos apresentavam genótipo 1, 3 casos tinham fibroseavançada (F3,F4) e 4 deles tinham carga viral elevada pré-tratamento. A dosagemde crioglobulinas foi estimada pelo método de Lowry e classificada conforme oscritérios de Brouet. Resultados: Todos apresentaram CGM (policlonal) com mani-festações de vasculite, especialmente púrpuras em MMII, 2 deles também comneuropatia periférica e artralgias. Nenhum apresentou acometimento renal. 1 pa-ciente recusou o tratamento e os demais receberam PEG Interferon+RBV 48 sema-nas. Destes, 1 com RVS e 2 NR que permaneceram CGM positivos e o paciente
não tratado receberam monoterapia com RBV, na dose de 0,75 a 1,0g/d por 1-2anos, sem efeitos adversos significativos no período. Apenas o paciente com RVSnão respondeu à monoterapia. Os demais apresentaram importante redução deALT e AST, mas não da carga viral e redução significativa dos níveis de CGM comdesaparecimento dos sintomas. Em um dos casos, a retirada da RBV foi pronta-mente seguida de elevação dos níveis de CGM, das enzimas hepáticas e reapareci-mento da vasculite, resolvidos após a reintrodução da medicação. Os 2 pacientesque mantiveram CGM após RVS foram submetidos a 3 sessões de plasmafereseno primeiro caso e 8 no segundo. O primeiro tem dosagens negativas de CGM há2 anos e o segundo há 1 ano. Conclusões: A monoterapia com RBV representauma alternativa terapêutica segura e eficaz no controle da CGM sintomática empacientes com infecção viral ativa, enquanto a plasmaferese pode ser utilizadacom sucesso nos pacientes sintomáticos com RVS.
TL-028 (64)
HEPATITE C CRÔNICA: AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA VI-RAL E DO HOSPEDEIRORAMOS JA1, HOFFMANN L2, RAMOS AL3, SOARES JAS4, VILLELA C5, ÜRMÉNYI TP6, SILVA R7, PORTO LCMS8,COELHO HSM9, RONDINELLI R10
1,2,6,7,10. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, UFRJ; 8. UERJ; 3,4,5,9,10. Faculdade de Medicina, UFRJ; Riode Janeiro (RJ)
A Hepatite pelo Vírus C é um problema de saúde no Brasil com 3 milhões deinfectados. A evolução da infecção e a resposta ao tratamento variam por fatoresgenéticos do hospedeiro e/ou características da população heterogênea de HCV(quasispecies). O trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade genética dohospedeiro (polimorfismo de IL-10) assim como as quasispecies virais em pacien-tes com HCV genótipo 1 nos extremos de resposta terapêutica. Os produtos deRT-PCR, realizados com iniciadores específicos para regiões do genoma corres-pondentes as proteínas E2, NS5A e NS5B, foram diretamente seqüenciados paraavaliação da quasispecie predominante e clonados para avaliação das quasispeciesindividualizadas. Cerca de 60 clones foram seqüenciados para identificar muta-ções nestas regiões. Os resultados observados nos primeiros pacientes mostraramdiversidade de quasispecies individualizadas por apresentarem uma ou mais mu-tações pontuais entre os clones que resultaram em alterações sinônimas e nãosinônimas nas proteínas estudadas. Para avaliação de polimorfismo de IL-10 foianalisado o DNA de 35 pacientes para os polimorfismos –592, –819 e –1082. Parao polimorfismo –592, 12 pacientes foram genotipados como CC (34,3%), 20como AC (57,15%) e 3 como AA (8,55%). Para o polimorfismo –819, 12 pacien-tes foram genotipados como CC (34,3%), 20 como TC (57,15%) e 3 como TT(8,55%). Para o polimorfismo –1082, 9 pacientes (25,14%) eram heterozigotosGA e 26 (74,86%) homozigotos AA. Nenhum indivíduo –1082 GG foi encontra-do. As freqüências alélicas para os polimorfismos –1082 (A 0,87 e G 0,13), –819 (T0,38 e C 0,62) e –592 (A 0,38 e C 0,62) foram feitas com o programa GDA versão1.1. Essas freqüências foram comparadas com as de um grupo de indivíduos sau-dáveis onde somente o genótipo do locus –1082 apresentou diferença significati-va (p = 0,02). Os resultados sugerem que diferenças nas quasispecies podem for-necer um fator preditivo de resposta ao tratamento dos pacientes e que fatores dohospedeiro, como o polimorfismo no promotor do gene da IL-10, podem influen-ciar o curso da infecção por HCV. Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ.
TL-029 (525)
SEGUIMENTO A LONGO PRAZO DE PACIENTES COM HEPATITE C CRÔ-NICA COM RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA (RVS) A DIFEREN-TES FORMAS DE INTERFERON: EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍ-NICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO –HCFMRP-USPFERREIRA SC, ARRAES LRG, CARNEIRO MV, SOUZA FF, TEIXEIRA AC, SECAF M, VILLANOVA MG, FIGUEIREDO JFC,PASSOS AD, RAMALHO LNZ, MARTINELLI ALCDivisão de Gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-cina de Ribeirão Preto
Introdução: Terapia antiviral combinada da hepatite C crônica tem como objetivoatingir RVS (negativação do HCV-RNA após 6 meses do término da terapia). Estudoscontrolados demonstram aumento das taxas de RVS de 6-20% com monoterapiacom Interferon (IFN) a 42-82% com IFN peguilado e ribavirina. No entanto, a dura-bilidade da resposta ainda é desconhecida e o tempo de seguimento destes pacien-tes permanece a ser definido. Objetivos: Avaliar a durabilidade da resposta virológi-ca em pacientes com hepatite C crônica acompanhados por pelo menos 12 mesesapós a RVS, tratados no HC-FMRP-USP. Material e métodos: Foram estudados 77pacientes com hepatite C crônica tratados com diferentes esquemas e que tiveramRVS. Os seguintes genótipos foram observados: 38,9%: genótipo 1, 38,9%: genóti-po 3, 9,1%: genótipo 2 e 12,9% genótipo indeterminado). Cirrose hepática foiobservada em 14,2%. Dez pacientes receberam monoterapia com IFN, 45 IFN eribavirina e 22 IFN peguilado alfa-2a ou 2b e ribavirina. Sessenta e três pacientes(81,8%) receberam um esquema de tratamento, 12 pacientes (15,5%) dois trata-mentos e 2 pacientes (2,7%) três tratamentos. O HCV-RNA qualitativo no soro foirealizado utilizando-se o kit comercial COBAS AMPLICOR HCV, v2.0. Resultados:
S 8 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
Houve predomínio do sexo masculino (70,1%) e da raça branca (89,6%), commédia de idade de 45,6 ± 10 anos. O tempo médio de seguimento foi de 43 meses(12–144). A recorrência de infecção pelo HCV não foi observada em nenhum dos 77pacientes. Um paciente cirrótico desenvolveu carcinoma hepatocelular (CHC) du-rante o seguimento. Conclusão: Não houve recorrência da infecção pelo HCV emnenhum paciente, reforçando o bom prognóstico a longo prazo dos pacientes comRVS, exceto naqueles com doença hepática avançada e risco de CHC. Mais estudosa longo prazo se fazem necessários. Palavras Chave: Hepatite C, Resposta Virológi-ca, HCV-RNA.
TL-030 (538)
TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA NO ÂMBITO DO SUS: ESTU-DO COMPARATIVO ENTRE INTERFERON CONVENCIONAL (IFNC) EINTERFERONS PEGUILADOS (PEG-IFN)CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, NARCISO-SHIAVON JL, SAMPAIO JP, EL BATAH PN, BARBOSA DV, FERRAZ
MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: Até novembro de 2002, o tratamento da hepatite C com genótipo1 consistia da associação de IFNc e ribavirina (RBV). Com a portaria 863, tornou-se disponível o uso dos Peg-IFNs para estes indivíduos. Nosso objetivo foi analisaro impacto da terapia combinada Peg-IFN + RBV na taxa de RVS e os fatores predi-tivos de falha no tratamento da hepatite C crônica. Métodos: Foram analisadosapenas pacientes tratados no âmbito do SUS com infecção pelo genótipo 1 doHCV, entre 1996 e 2006, com RBV associada a IFNc, Peg-IFN α-2a ou Peg-IFN α-2b, seguindo protocolo utilizado em nosso Serviço. Resultados: Foram incluídos239 pacientes, 51% homens e 43% com estadiamento (E) > = 3. A média da idadefoi de 47,1+/-10,8 anos. Quanto ao tipo de IFN, 58 (24%) receberam IFNc, 64(27%) Peg-IFN 2a e 117 (49%) Peg-IFN 2b. Em relação às características pré-tratamento dos 3 grupos, não houve diferença quanto ao gênero, à idade e àsprevalências de carga viral > = 800.000UI/mL, de E > = 3 e de APP > = 3. O IMC foimenor no grupo que recebeu Peg-IFN 2b quando comparado aos tratados comPeg-IFN 2a (25,1+/-3,6 vs. 26,4+/-4,3, P = 0,041). A RVS global (análise intentionto treat) foi de 35%, assim distribuída: IFNc + RBV = 12%; Peg-IFN 2a + RBV =41%; e Peg-IFN 2b + RBV = 44% (P < 0,001 entre o IFNc e os Peg-IFNs; P = 0,700entre o Peg-IFN 2a e o Peg-IFN 2b). Na análise univariada, E > = 3 (P = 0,044), APP> = 3 (P = 0,002), presença de esteatose (P = 0,041), maior nível de GGT (P <0,001), menor atividade de protrombina (P = 0,008), menor albuminemia (P =0,024) e tratamento com IFNc (P < 0,001) foram associados à não-obtenção deRVS. O IMC basal não influenciou a RVS. Na análise de regressão logística, maiornível de GGT (P = 0,002; OR 1,443; IC 95% 1,140–1,825) e tratamento com IFNc(P = 0,001; OR 7,388; IC 95% 2,319–23,531) foram associados de forma inde-pendente à falha terapêutica. Conclusões: A terapia com Peg-IFN resulta em au-mento considerável na RVS no tratamento de pacientes com hepatite C crônicacom genótipo 1. O nível elevado pré-tratamento de GGT é importante fator predi-tivo negativo de RVS. Não foi observada diferença significativa de eficácia entre os2 tipos de Peg-IFNs.
TL-031 (131)
POLIMORFISMO DO GENE DA LINFOTOXINA ALFA EM CRIANÇAS COMHEPATITE AUTO-IMUNE TIPO 1OLIVEIRA LC, RAMASAWMY R, PORTA G, BITTENCOURT PL, OKAY TS, KALIL J, GOLDBERG ACLaboratório de Investigação Médica – LIM36-FMUSP; Laboratório de Imunologia – InCor-FMUSP; Departamentode Hepatologia – ICr-FMU
Introdução: A susceptibilidade genética à hepatite auto-imune tipo 1 (HAI-1) noBrasil foi associada aos alelos HLA-DRB1*1301 e DRB1*0301. No entanto, apesardesses alelos serem encontrados em 90% dos pacientes brasileiros, é possível haversuscetibilidade adicional conferida por genes próximos, situados no Complexo Prin-cipal de Histocompatibilidade (CPH), em desequilíbrio de ligação com o lócus DRB1.O gene da linfotoxina alfa (LTα) está situado na região de classe III do CPH e codificauma citocina que apresenta um importante papel na reação inflamatória. Algunsdos seus polimorfismos acarretam modificação na produção da citocina e foramrecentemente associados a várias doenças auto-imunes. Objetivos: Avaliar a influên-cia dos polimorfismos do gene da LTα na susceptibilidade genética a HAI-1. Pacien-tes e métodos: Cento e cinco crianças (75 mulheres, idade média 9,3 + 0,6 anos)com o diagnostico de HAI-1 estabelecido de acordo com critérios internacionais e246 indivíduos saudáveis provenientes da região metropolitana da cidade de SãoPaulo foram investigados. A pesquisa dos polimorfismos do gene da LTα nas posi-ções +80 e +252 do MCP-1 foi realizada por PCR-RFLP. Resultados: Não foramobservadas diferenças nas freqüências dos genótipos do gene da LTα na posição+80 nos pacientes com HAI-1, quando comparados ao grupo-controle. Porém, avariante polimórfica G na posição +252 apresentou freqüência aumentada nos pa-cientes com HAI-1 (p = 0,03). A distribuição dos alelos AA e AG + GG nos pacientese no grupo-controle foi, respectivamente, de 33% e 65% e 48% e 49%. Conclu-sões: A variante G na posição +252 do gene da LTα, localizado próximo ao genemajoritário HLA-DRB1, contribui para a susceptibilidade genética a HAI-1 o CPH.Financiado pela FAPESP.
TL-032 (315)
CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA ANTI-MITOCÔNDRIA NEGATIVO: POSITI-VIDADE DOS AUTO-ANTICORPOS ANTINUCLEARES (ANA) E ANTI-SP100OLIVEIRA EMG, BADIANI R, BECKER VR, PEREZ RM, LEMOS LB, ANDRADE LE, DELLAVANCE A, SILVA ISS, SILVA
AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A cirrose biliar primária (CBP) é uma doença auto-imune colestáticado fígado, caracterizada histologicamente por destruição dos ductos biliares interlo-bulares levando a uma ductopenia progressiva. O diagnóstico é baseado em crité-rios clínicos, histológicos e imunológicos. O anticorpo anti-mitocôndria (AMA) émarcador sorológico da doença com alta sensibilidade e especificidade, sendo en-contrado em 90 a 95% dos pacientes. O perfil imunológico da CBP pode tambémapresentar anticorpos antinucleares (ANA) com diferentes padrões, dentre os quaisse destaca o padrão de múltiplos pontos nucleares (MPN), cuja especificidade anti-gênica pode ser atribuída a proteínas de um mesmo domínio celular: Sp-100 eantígeno leucocitário promielítico (PML). A especificidade dos anticorpos anti-sp100/PML é de 97% e a sensibilidade é de 30% na CBP. O objetivo deste estudo foi avaliara reatividade do anti-Sp100/PML em pacientes com diagnóstico de CBP AMA-nega-tivo. Métodos: Foi realizada pesquisa do anti-Sp100 em 8 pacientes com diagnósti-co clínico, laboratorial e histológico de CBP AMA-negativo. Primeiramente foi reali-zada pesquisa ANA. Amostras com padrão MPN fortemente sugestivo de anti-Sp-100/PML foram submetidas à imunofluorescência indireta em células HEp-2 comsoro humano diluído a 1/80 e soro de coelho anti-Sp100 (Chemicon) 1/200, res-pectivamente marcados com conjugado FITC (anti-Ig humana) e Alexa 568 (anti-Igde coelho). Foram considerados como anti-sp100/PML positivos os soros que apre-sentaram total colocalização de acordo com dois examinadores. Resultados: Os 8pacientes estudados eram do sexo feminino, com média de idade de 43 ± 8 anos. Odiagnóstico de CBP foi estabelecido por colestase associada a achados histológicostípicos. Os níveis de fosfatase alcalina observados eram de 2,8 ± 2,1 xLSN e de GGTde 7,5 ± 5,8 xLSN. Sete (88%) pacientes apresentavam FAN positivo, com títulos de1/80 a 1/2560 e padrões variados, com predomínio do centromérico. O anti-Sp100foi negativo em todos os casos. Conclusão: O anti-Sp100 não se mostrou útil para odiagnóstico de cirrose biliar primária em pacientes com AMA negativo nesta amos-tra de pacientes.
TL-033 (359)
MELD COMO PREDITOR DE EVOLUÇÃO PARA FORMA FULMINANTENA HEPATITE AGUDA GRAVEPEREIRA GHS, ROMA J, GONZALEZ AC, ZYNGIER I, FOSSARI RN, COELHO M, CARIÚS LP, MOREIRA LFP, BALBI E,PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia – Hospital Geral de Bonsucesso (RJ)
Fundamentos: Hepatite aguda grave é uma condição caracterizada por rápida de-terioração da função hepática em indivíduos previamente hígidos, com potencial deevolução para forma fulminante e necessidade de transplante hepático (TxH) emcaráter emergencial. Não existem critérios prognósticos definidos que prevejam aevolução destes pacientes. Métodos: Análise prospectiva dos pacientes internadospor hepatite aguda grave (definida como afecção aguda associada a icterícia, comduração inferior 12 semanas, cursando com TAP inferior a 50%, na ausência deencefalopatia hepática) no período de Fevereiro de 2006 a Julho de 2007. O grupofoi comparado conforme a evolução (recuperação ou forma fulminante) e os resul-tados expressos como média + DP. Resultados: Foram incluídos 19 pacientes (14do sexo feminino), com média de idade de 29,1 + 15,9 anos. Hepatite auto-imune(n = 6) e droga (n = 5) foram as etiologias mais comuns. O tempo entre a instalaçãoda icterícia e o critério de gravidade (TAP < 50%) foi de 13,8 +10,8 dias (variação 3-49 dias). 13 pacientes recuperaram-se, 7 dos quais submetidos a tratamento especí-fico, saindo do critério de gravidade em 7,7+13 dias (1-33 dias). Evoluíram paraforma fulminante 6 pacientes, os quais preencheram critérios para TxH após perío-do de 2,5+1,7 dias de internação. Destes, 5 foram transplantados após um períodode 4,4 + 1,7 dias (3-7dias). Idade, sódio sérico e número de critérios do King´sCollege na admissão não foram diferentes entre os grupos. A instituição de trata-mento específico (0% vs 50%, p = 0,024), e MELD inicial (33,3+6,8 vs 25+5,5, p =0,011) foram as únicas variáveis diferentes entre os grupos. Analisando especifica-mente o MELD, o ponto de corte de 29, com sensibilidade de 91% e especificidadede 83%, foi o que apresentou o melhor poder discriminativo quanto a evolução.Conclusões: Hepatite aguda grave foi comumente uma doença de mulheres jovens,com instalação e evolução para forma fulminante em curto espaço de tempo. Ainstituição de tratamento específico, conforme a etiologia, conferiu melhor prog-nóstico. O MELD mostrou-se útil em prever quais pacientes evoluíram para formafulminante.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 9
TL-034 (576)
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE 2.245 PRÉ-DOADORES DE SANGUE EN-CAMINHADOS PARA A LIGA DE HEPATITES DA UNIFESPNARCISO-SHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, MARIYA FA, SCHIAVON LL, SILVA AEB, FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Candidatos a doadores de sangue são freqüentemente encaminha-dos para centros de referência em Hepatologia para o esclarecimento de sorologiaspositivas para HBV/HCV e de ALT elevada (excluída da triagem em 2004). Este estu-do descreve a avaliação de tais pacientes pela Liga de Hepatites da EPM/UNIFESP.Métodos: Estudo transversal de pré-doadores com ALT elevada, HBsAg(+), anti-HBc(+) e anti-HCV(+) atendidos na Liga de Hepatites entre set/1997 e ago/2006. Osdados foram obtidos por revisão de prontuários padronizados. Resultados: Foramincluídos 2.245 pacientes com idade de 37 ± 11 anos, 71% homens. Os motivos doencaminhamento foram: ALT elevada – 322 (14%); HBsAg(+) – 217 (10%); anti-HBc(+) – 1.055 (47%); e anti-HCV(+) – 651 (29%). Pacientes com ALT elevadamostraram > IMC (29,1?4,5, P < 0,001), > proporção de homens (90%, P < 0,001)e > porcentagem de etilistas (37%, P < 0,001), diabéticos (6%, P < 0,001) e dislipi-dêmicos (51%, P < 0,001). Os indivíduos com anti-HBc(+) apresentaram > média deidade (39 ± 11 anos, P < 0,001). Entre aqueles com anti-HCV(+), houve > prevalên-cia de uso de drogas intravenosas (8%, P < 0,001) e de transfusão de hemoderiva-dos (14%, P < 0,001). Dentre os encaminhados por ALT elevada, os principais diag-nósticos foram: doença hepática alcoólica (31%) e esteatose não-alcoólica (16%).Daqueles HBsAg(+), 74% eram portadores crônicos do HBV e 21% foram caracteri-zados como HBsAg falso-(+). Entre os com anti-HBc(+), 75% apresentavam imuni-dade natural ao HBV e 23% mostraram-se falso-(+). Dos pacientes com anti-HCV(+),a viremia foi confirmada em 54%. As proporções de diagnóstico, abandono, alta eseguimento foram:
ALT elevada HBsAg(+) Anti-HBc(+) Anti-HCV(+) P
Diagnóstico 105 (33%) 153 (70%) 838 (79%) 440 (68%) < 0,001Abandono 217 (67%) 064 (30%) 217 (21%) 211 (32%) < 0,001Alta 052 (16%) 046 (21%) 823 (78%) 219 (34%) < 0,001Seguimento 053 (17%) 107 (49%) 015 0(1%) 221 (34%) < 0,001
Conclusões: Serviço de atendimento especializado em pré-doadores recusados comindícios de hepatopatias apresenta significativa resolutividade. A alta taxa de aban-dono daqueles encaminhados por ALT elevada pode refletir características específi-cas desta subpopulação.
TL-035 (132)
POLIMORFISMOS DOS GENES DA QUIMIOCINA MCP-1 E DO RECEP-TOR DE QUIMIOCINA CCR-5 NÃO ESTÃO ENVOLVIDOS NA SUSCEPTI-BILIDADE A HEPATITE AUTO-IMUNE EM CRIANÇASOLIVEIRA LC, PORTA G, BITTENCOURT PL, GOLDBERG AC, OKAY TS, KALIL J, RAMASAWMY RLaboratório de Investigação Médica – LIM36-FMUSP; Departamento de Hepatologia – ICr-FMUSP; Hospital Portu-guês, Salvador, Bahia
Introdução: O gene MCP-1 codifica uma quimiocina envolvida na migração demonócitos para sítios inflamatórios, cuja síntese encontra-se aumentada em váriasdoenças inflamatórias do fígado. Por outro lado, o receptor 5 de quimiocina (CCR-5) tem importante papel de regulação de células T, sendo que sua variante CCR5-β32 é não-funcional e está associada a várias doenças auto-imunes, incluindo escle-rose múltipla, artrite reumatóide e colangite esclerosante primária. Objetivos: Ava-liar a influência do polimorfismo do gene MCP-1 na posição -2518 e da variante β32do gene CCR5 na susceptibilidade genética a hepatite auto-imune tipo 1 (HAI-1).Pacientes e métodos: Cem crianças (75 mulheres, média de idade 9,3 + 0,3 anos)com o diagnostico de HAI-1 estabelecido de acordo com critérios internacionais e278 indivíduos saudáveis provenientes da região metropolitana da cidade de SãoPaulo foram investigados. A pesquisa dos genótipos do MCP-1 na posição -2518 edo alelo CCR5 β-32 foi realizada por PCR-RFLP. Resultados: As freqüências do aleloCCR5 Ä-32 foram similares nos pacientes com HAI-1 quando comparados ao grupo-controle (10% vs. 16%, p = NS), assim como também a distribuição dos genótiposdo gene MCP-1 na posição -2518. As freqüências dos genótipos AA, AG e GG nospacientes com HAI-1 e no grupo-controle foram, respectivamente, de 49%, 41% e10% e 48%, 40% e 12%. Conclusões: A susceptibilidade genética a HAI-1 não estáassociada à deleção de 32 pares de base do CCR-5 ou a polimorfismos funcionais dogene MCP-1. Financiado pela FAPESP.
TL-036 (554)
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, BIOQUÍMICA E HISTOLÓGICA DA HEPA-TITE B CONFORME O GENÓTIPO DO HBVALVARIZ RC, CARVALHO FILHO RJ, PACHECO MS, SILVA GA, PINHO JRR, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites (EPM/UNIFESP) e Instituto Adolfo Lutz
Fundamentos: Estudos asiáticos comparam as características da hepatite B entreinfectados com os genótipos B e C, enquanto no Ocidente, essas comparações sãofeitas entre os indivíduos com genótipos B e D. Em São Paulo, onde convivem oci-
dentais e orientais, a possibilidade de infecção pelo HBV com os diferentes genóti-pos nos levou a este estudo. Objetivos: Determinar a prevalência dos genótipos doHBV em portadores de infecção crônica pelo HBV e correlacioná-los com dadosepidemiológicos e alterações bioquímicas e histológicas. Métodos: Foram incluídospacientes com infecção crônica pelo HBV com HBV-DNA detectado no soro por PCRqualitativo (limite de detecção: 1000 cps/mL) e prontuários adequadamente preen-chidos. Portadores de outras hepatopatias foram excluídos. Todos foram submeti-dos a avaliações demográficas (idade, gênero, etnia), epidemiológicas (fator de ris-co para a infecção, consumo de álcool), bioquímicas (testes bioquímicos e funcio-nais) e histológicas [diagnóstico, atividade necroinflamatória periportal (APP) e fi-brose]. A pesquisa dos genótipos do HBV foi feita por seqüenciamento direto daregião S do HBV. Resultados: Dos 73 pacientes estudados, 57 (78%) eram homens.A média da idade foi 39,1 ± 13,2 anos. Quanto à etnia, 59 (81%) pacientes eramocidentais e o consumo excessivo de álcool esteve presente em 7 (9,6%). 50 pacien-tes (68,5%) não apresentaram fator de risco para a infecção, enquanto que trans-missões vertical e horizontal foram identificadas em 4 (5,5%) e 19 (26%), respecti-vamente. Em 69,9%, a ALT encontrava-se alterada e 69 (94,5%) foram submetidosà biópsia hepática. Alterações mínimas ou esteatose hepática foram encontradas em16 pacientes (23,2%), hepatite crônica em 37 (53,6%) e cirrose hepática em 16(23,2%). Fibrose hepática significativa (E > ou = 2) foi encontrada em 30 pacientes(47,6%), enquanto hepatite de interface (APP > ou = 2) foi identificada em 37 (62,7%).Os genótipos do HBV ficaram assim distribuídos: A (44%), B (6%), C (14%), D(27%) e F (7%). O genótipo G foi encontrado em 2 pacientes (1 associado ao D).Em relação às variáveis analisadas, não se observaram diferenças entre os diversosgenótipos, exceto pelo predomínio da etnia oriental naqueles com genótipos B e C(P < 0,001). Conclusões: Nos pacientes de etnia oriental, houve predomínio dainfecção pelos genótipos B e C do HBV. Além disso, ao se revisar a literatura, esta é aprimeira vez que a infecção pelo genótipo G do HBV foi descrita em nosso país.
TL-037 (467)
MARCADORES SÉRICOS DE FIBROSE HEPÁTICA NA ESQUISTOSSOMO-SE MANSÔNICASILVA CCCC, DOMINGUES ALC, LOPES EPA, LINS CN, BORGES R, MARTINS JR, LUNA CF, MOURA IFHospital das Clínicas – Universidade Federal de Pernambuco-Recife-PE
Fundamentos: A esquistossomose mansônica (EM) é doença hepática que constituirelevante problema de saúde no nordeste brasileiro. Para diagnostico da fibrosehepática (FH) desta enfermidade é utilizado de modo rotineiro a ultra-sonografia(USG) de abdômen, e a biópsia hepática não é exame utilizado de rotina em seudiagnóstico. Atualmente marcadores biológicos vêm sendo empregados para o diag-nóstico da FH na EM no intuito de avaliar a gravidade da doença. Objetivo: Corre-lacionar os níveis séricos de gama-GT, ácido hialurônico (AH), relação AST/ALT econtagem de plaquetas com o grau de fibrose periportal estabelecido pelo exameultra-sonográfico em pacientes com esquistossomose mansônica. Métodos: Foramincluídos 61 pacientes com EM sendo 59% do sexo feminino, com idade média de46,7 anos, e 16 indivíduos (funcionários) serviram como controle. As dosagens deAST, ALT e gama-GT foram realizadas por método cinético automatizado, a conta-gem de plaquetas no Celldyn e o ácido hialurônico foi dosado por fluoroensaio. Oexame de USG (ALOKA SSD-500) foi realizado pelo mesmo investigador, empre-gando as classificações do Cairo e Niamey. Resultados: Observou-se correlação en-tre o número de plaquetas e o grau de fibrose hepática pela classificação do Cairo (p= 0,002) e de Niamey (p = 0,054), bem como entre os níveis séricos de AH com aclassificação do Cairo (p = 0,001) e de Niamey (p = 0,001) O nível sérico de AH de11µg/dL foi capaz de distinguir os pacientes com grau I de fibrose daqueles comgraus II/III (Cairo) com sensibilidade de 87% e especificidade de 83%. Já o nívelsérico de AH de 20µg/dL foi capaz de distinguir os pacientes com grau C/D defibrose daqueles com graus E/F (Niamey) com sensibilidade de 60% e especificidadede 65%. Não se encontrou correlação entre os níveis séricos de gama-GT e a relaçãoAST/ALT com o grau de fibrose hepática. Conclusão: A contagem de plaquetas e onível sérico de AH revelaram boa correlação com o grau de fibrose periportal empacientes com EM podendo distinguir pacientes com formas leves de fibrose dasformas graves.
TL-038 (370)
PREVALÊNCIA DOS ALELOS S E Z DA DEFICIÊNCIA DE ALFA-1-ANTI-RIPSINA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA HEPÁTICABALDO G, NONNEMACHER K, LIMA L, SEGAL SL, KIELING CO, VIEIRA SMG, FERREIRA CT, SILVEIRA TR, GIUGLIANI
R, MATTE UCentro de Terapia Gênica e Laboratório Experimental de Hepatologia e Gastroenterologia do Hospital de Clínicas dePorto Alegre
Fundamentos: Alfa-1-antitripsina (A1AT) é uma protease produzida pelos hepatóci-tos, e sua deficiência está relacionada a um amplo espectro de manifestações hepá-ticas. Os alelos mais freqüentemente associados a essa deficiência são o Pi*S e o Pi*Z.Tem sido atribuído ao alelo Pi*Z, mesmo em heterozigose, um papel de gene modi-ficador. Objetivos e métodos: Avaliar a freqüência das mutações E264V (Pi*S) eE342K (Pi*Z) no gene da A1AT em um grupo de crianças com doenças hepáticas dediversas causas (n = 200 pacientes) e em uma amostra de indivíduos normais (n =
S 10 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
150), através das técnicas de PCR (Reação em cadeia da polimerase) e RFLP (Restric-tion Fragment Length Polymorphism). Os dados foram descritos em freqüência ecomparados pelo teste do qui-quadrado, com nível de significância de 0,05. Resul-tados: As freqüências genotípicas para o alelo Pi*Z foram de 10% para homozigotose 7,5% heterozigotos. Entre os controles, nenhum homozigoto foi diagnosticado esomente 1 heterozigoto (p < 0,001 e 0,003). Para o alelo Pi*S as freqüências não semostraram diferentes entre os hepatopatas e os controles, tanto para homozigotos(1,3% x 0,7%) quanto para heterozigotos (15,3% x 12,0%). A prevalência geral doalelo Pi*Z mostrou-se significativamente maior nos pacientes (13,8%) que nos con-troles (0,3%, p < 0,001). Não foi constatada diferença entre os grupos para o aleloPi*S (6,8% x 6,7% nos hepatopatas e controles, respectivamente; p = 0,99). Con-clusões: Houve maior prevalência do alelo Pi*Z nas crianças com hepatopatia, oqual poderia estar contribuindo, como gene modificador, para a doença. O aleloPi*S parece não elevar o risco de hepatopatia em crianças.
TL-039 (185)
EXPRESSÃO DO VEGF EM ESTRUTURAS HEPÁTICAS NA ATRESIA BI-LIARSANTOS JL, MEURER L, MATTE U, KIELING CO, LORENTZ A, LINHARES AR, EDOM PT, SILVEIRA TRLaboratório Experimental de Hepatologia e Gastroenterologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. UniversidadeFederal do Rio
Introdução: Na maioria dos casos de Atresia Biliar (AB) a colangiopatia se mantémprogressiva após a portoenterostomia (POE), evoluindo para cirrose, falência e trans-plante hepáticos. Há heterogeneidade clínica, com um subgrupo de pacientes apre-sentando malformações extra-hepáticas (MEH), entre as quais anomalias de laterali-dade (ALAT). Recentemente descrevemos espessamento de túnica média (TMA) emramos arteriais hepáticos na AB, progressivo, sugerindo anomalia vascular com re-modelagem da TMA. O transcriptoma na AB comparado com outras causas decolestase neonatal (OCN) mostrou sobre-expressão de VEGF. Neste estudo avalia-mos a expressão imunoistoquímica do VEGF nas estruturas hepáticas de pacientescom AB. Material e métodos: Foram avaliadas biópsias em cunha parafinizadasobtidas na POE de 52 pacientes com AB, incluindo casos sem (n = 38) e com MEH (n= 14), entre estes, 5 com ALAT, marcadas por imunoistoquímica com VEGF (DAKO,1:400, ABC-peroxidase). Biópsias de 8 OCN com idade semelhante e necropsias de8 pacientes sem hepatopatia (SH) serviram de controles. Um patologista, “cego”quanto aos diagnósticos, analisou a expressão do VEGF em estruturas hepáticas,incluindo ductos biliares (DB) e ramos arteriais hepáticos. Realizou-se quantificaçãomorfométrica da espessura da parede (Esp) e do diâmetro luminal (DI) arteriais (n =450 vasos), calculando-se a Razão Esp/DI (REDI). A extensão da fibrose foi avaliadapor escore específico para AB. Resultados: As expressões do VEGF em DB e TMAcorrelacionaram-se com a extensão da fibrose hepática (r = 0,52; P < 0,001 e r =0,58; P < 0,001, respectivamente). Em DB a expressão do VEGF correlacionou-seainda com a REDI (r = 0,32; P = 0,011). VEGF expressou-se mais em DB e TMA na ABque nas OCN (P = 0,020 e P = 0,010, respectivamente) e nos SH (P < 0,001 paraambos). O grupo com MEH não diferiu das OCN quanto à expressão do VEGF emDB e TMA (P = 0,355; P = 0,222) e, especificamente, o grupo com ALAT não diferiudas OCN nestas estruturas (P = 978; P = 0,655). Porém, as expressões do VEGF emDB e TMA foram significativamente maiores nos casos sem MEH em relação às OCN(P = 0,019; P = 0,010). Conclusão: A heterogeneidade da expressão do VEGF emDB e artérias na AB sugere que o insulto causador da doença atua em distintasetapas de desenvolvimento nos diferentes subgrupos.
TL-040 (211)
NÍVEIS SÉRICOS DE CORTISOL EM PORTADORES DE CIRROSE HEPÁTICALUZ RP, MANHÃES FG, SCHMAL AR, CARVALHO JR, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Foi descrita freqüência elevada de insuficiência adrenal em portadoresde cirrose hepática avançada com sepse grave, porém ainda não está estabelecido seeste achado está relacionado ao quadro infeccioso ou à disfunção hepática. O objetivodeste estudo foi avaliar níveis séricos de cortisol basal em portadores de cirrose hepá-tica e sua relação com a função hepática. Metodologia: Foram estudados pacientescom cirrose hepática que realizaram determinação dos níveis de cortisol pela manhãpor técnica de quimioluminescência. Foi realizada análise comparativa entre os pa-cientes com níveis de cortisol basal < 10mg/dL (G1) e aqueles com cortisol ≥ 10mg/dL(G2) em relação às variáveis demográficas, MELD e Child. Resultados: Foram avalia-dos 42 pacientes (75% homens, idade 56 ± 9 anos) com cirrose hepática (58% HCV,19% álcool, 13% HBV, 10% outras), sendo 41% Child A, 48% B e 11% C. A média docortisol basal foi de 15,0 ± 5,2mg/dL (mediana = 15,3mg/dL) e 8 (19%) pacientesapresentavam cortisol < 10mg/dL (G1). Na análise comparativa, não havia diferençaentre os grupos quanto ao sexo (p = 0,99) e idade (p = 0,14). Entre os pacientes comcortisol < 10mg/dL, observou-se maior proporção de Child B e C (100% vs. 50%; p =0,05) e MELD mais elevado (19 ± 7 vs. 12 ± 5; p = 0,04). Conclusões: Níveis séricos decortisol basal apresentaram associação inversa com o grau de disfunção hepática.Estes dados podem representar reserva adrenal reduzida pela própria doença hepáti-ca, e sinalizam um risco elevado de insuficiência adrenal em pacientes com cirroseavançada em situações críticas, mesmo na ausência de quadros infecciosos.
TL-041 (127)
FATORES DE RISCO PARA RECIDIVA DE VARIZES ESOFÁGICAS APÓSERRADICAÇÃO COM TRATAMENTO ENDOSCÓPICO EM PACIENTESCIRRÓTICOSMONICI LT, SOARES EC, MEIRELLES-SANTOS JOUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Campinas – SP
Fundamento: A ligadura elástica endoscópica (LE) é o método mais utilizado paraprofilaxia secundária da hemorragia por varizes esofágicas. Um dos problemas destetratamento é o elevado grau de recidiva varicosa após a erradicação, que varia de 20a 48% dos pacientes já no primeiro ano. A recidiva está associada a risco de ressan-gramento e exige um seguimento endoscópico destes pacientes e retratamentos. Aassociação de LE com escleroterapia por injeção reduz a chance de recidiva emrelação à LE utilizada isoladamente. Os fatores de risco para a recidiva de varizesnestes pacientes não haviam sido previamente estudados. Métodos: Setenta pa-cientes cirróticos com antecedente de hemorragia varicosa tratados com a associa-ção de LE com escleroterapia seqüencial foram seguidos endoscopicamente após aerradicação, num intervalo de 1-3-6-12 meses, por um período mínimo de um anopara detecção de recidiva de varizes. Foi realizada análise univariada e uma análisemultivariada do tipo “stepwise” dos fatores que poderiam estar associados à recidi-va: idade, gênero, classificação de Child-Pugh, calibre inicial das varizes, presença degastropatia da hipertensão portal e de varizes gástricas, piora na severidade da hi-pertensão portal durante o tratamento e ressangramento durante o mesmo. Resul-tados: O tempo médio de seguimento foi de 33 meses. A recidiva de varizes ocorreuem 18,6% dos pacientes no primeiro ano de seguimento, aumentando para 22,8%no segundo ano. O único fator que apresentou risco significativo para recidiva vari-cosa foi a presença de varizes gástricas, com um odds ratio de 3,98 (p = 0,029).Nesta casuística, a recidiva de varizes esofágicas ocorreu em 16% dos pacientes semvarizes gástricas contra 44% daqueles com varizes gástricas. Conclusões: A presen-ça de varizes gástricas aumenta o risco de recidiva de varizes esofágicas após erradi-cação com tratamento endoscópico. Pacientes com varizes gástricas devem mere-cer seguimento endoscópico mais rigoroso após erradicação das varizes esofágicas.
TL-042 (552)
ANÁLISE DOS SCORES DE GRAVIDADE COMO PREDITORES DE MOR-TALIDADE EM CIRRÓTICOS HOSPITALIZADOS: RESULTADOS PRELIMI-NARESGALPERIM B, VOLPATO RC, RODRIGUES CA, TOVO CV, ALMEIDA PRLServiço de Gastroenterologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) de Porto Alegre – RS
Introdução: A mortalidade dos pacientes cirróticos hospitalizados é elevada. Diver-sos índices têm sido propostos na avaliação da gravidade da doença hepática. Obje-tivo: Analisar os scores de Child, APACHE II e MELD como índices prognósticos demortalidade hospitalar em pacientes cirróticos. Material e métodos: Foram avalia-dos prospectivamente todos os pacientes cirróticos que internaram através da emer-gência no Serviço de Gastroenterologia no HNSC, em um período de 6 meses. Osscores CHILD, MELD e APACHE II foram registrados, bem como o desfecho (alta ouóbito). O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: Foram avaliados 51cirróticos neste período. Trinta e quatro eram homens (66,7%). A média de idade foi54,6 ± 12,0 anos. Álcool e/ou o vírus da hepatite C (HCV) foram responsáveis pelaetiologia de 43 (84,3%) casos. Quanto ao Child, 26 (51,0%) eram A ou B, e 25(49,0%) C. A mediana do score MELD foi 15, sendo que 22 (43,1%) apresentavamMELD < 15 e 29 (56,9%) MELD = 15. A mediana do score APACHE II foi 9, sendoque 13 (25,5%) apresentavam índice < 9 e 38 (74,5%) índice = 9. A mortalidadehospitalar foi 31,4% (16 casos). Quanto ao score Child, houve 06 (23,7%) óbitosnaqueles A ou B e 10 (40,0%) naqueles C (p = 0,19). Quanto ao score MELD, houve02 (9,1%) óbitos dentre aqueles com índice < 15 e 14 (48,2%) naqueles com MELD= 15 (p < 0,01). Quanto ao score APACHE II, não houve óbitos dentre aqueles comscore < 9, e houve 16 (42,1%) dentre aqueles com score = 9 (p < 0,01). Conclu-sões: Os scores MELD e APACHE II se mostraram bons preditores de mortalidade emcirróticos hospitalizados.
TL-043 (141)
INFECÇÃO OCULTA PELO VIRUS DA HEPATITE B (HBV) EM PACIENTESCOM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISEMOTTA JS, PEREZ RM, MELLO FCA, LAGO BV, GOMES AS, FIGUEIREDO FAFServiço de Gastroenterologia/HUPE – Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Laboratório de Virologia Molecu-lar-IOC-FIOCRUZ
Fundamentos: A presença de HBV-DNA detectável em pacientes HBsAg negativo,independente da presença de anticorpos contra o HBV (anti-HBc e/ou anti-HBs),caracteriza a infecção oculta pelo HBV. Sua prevalência e significado clínico aindasão pouco conhecidos, sobretudo em grupos específicos, como os pacientes emhemodiálise. Os objetivos foram avaliar a prevalência de infecção oculta pelo HBVem pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) em hemodiálise, comparar a pre-valência de infecção oculta entre pacientes com anti-HCV positivo e negativo, ecomparar as características demográficas, epidemiológicas e laboratoriais entre pa-cientes com e sem infecção oculta pelo HBV. Métodos: Foram estudados 100 pa-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 11
cientes com IRC em hemodiálise com HBsAg negativo, sendo 50 com anti-HCVpositivo. Em todos os pacientes foi realizada pesquisa de HBV-DNA por técnica dePCR qualitativo, com limite de detecção estimado de 100 cópias/mL. Nos casospositivos, foi realizada determinação da carga viral em duplicata, por PCR em temporeal, e o seqüenciamento genético. Resultados: A média de idade foi de 51 ± 16anos (21-92 anos), 51% eram do sexo feminino e a média de tempo de hemodiálisefoi de 6 ± 4 anos (0-20 anos). A presença do HBV DNA foi detectada em 15 pacien-tes (15%). A média da carga viral foi de 1634 ± 318 cópias/mL (150-4557). Dos 15casos, só foi possível o seqüenciamento de 5 e, destes, 4 apresentaram mutaçãoYMDD (nenhum tinha uso prévio de lamivudina). A infecção oculta foi detectada em12% dos pacientes com anti-HCV positivo e em 18% daqueles com anti-HCV nega-tivo (p = 0,40). Não houve diferença entre os pacientes com e sem infecção ocultapelo HBV quanto ao sexo (p = 0,45), idade (p = 0,79), tempo de diálise (p = 0,22),ALT (p = 0,59), anti-HBc (p = 0,17) e anti-HBs (p = 0,33). Conclusões: A prevalênciade infecção oculta pelo HBV em pacientes portadores de insuficiência renal crônicaem hemodiálise foi de 15%. Não houve diferença na prevalência entre pacientesanti-HCV positivo e negativo. Nenhuma variável foi capaz de identificar a presençade infecção oculta pelo HBV.
TL-044 (488)
CORRELAÇÃO ENTRE OS GENÓTIPOS DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBV)E A PRESENÇA DE MUTAÇÃO NA REGIÃO PRÉ-COREALVARIZ RC, CARVALHO FILHO RJ, PACHECO MS, SILVA GA, PINHO JRR, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) e Instituto Adolfo Lutz
Fundamentos: Os genótipos do HBV são definidos por uma divergência na seqüên-cia completa dos nucleotídeos > ou = a 8%. Até o momento, 8 já foram reconheci-dos (A até H). Vários trabalhos vêm mostrando a relação entre os genótipos do HBVe a prevalência de mutantes na região pré-core. No Brasil, a prevalência desse mu-tante em pacientes HBeAg-negativo é baixa (45%) e uma das causas seria a distribui-ção genotípica do HBV. Objetivos: Determinar a prevalência dos genótipos do HBVem portadores de infecção crônica e correlacionar com a presença do mutante pré-core. Métodos: Estudo retrospectivo que incluiu pacientes com infecção crônicapelo HBV atendidos no Ambulatório de Hepatites com HBV-DNA detectado no soropor PCR qualitativo (limite de detecção = 1000 cps/mL) e prontuários adequada-mente preenchidos. Aqueles com outras hepatopatias foram excluídos. Todos fize-ram avaliações virológicas (presença da mutação pré-core nt 1896 e genótipo doHBV). A pesquisa do mutante foi feita com a enzima de restrição BSU36 I e o genó-tipo foi determinado por seqüenciamento da região S do HBV. Resultados: 73 pa-cientes foram analisados, 57 (78%) homens. A média de idade foi 39,1 +/- 13,2anos. Trinta e dois pacientes (43,8%) apresentavam HBeAg positivo e 41 (56,2%)negativo. A mutação pré-core nt 1896 foi identificada em 16/35 pacientes HBeAg-negativo (45,7%) e em 1/29 HBeAg-positivo (3,4%). Houve predomínio dos genó-tipos A (43,8%) e D (27,4%) no grupo estudado. Genótipo F foi encontrado em 5pacientes (6,8%). Genótipos B e C corresponderam a 20% da amostra (6% e 14%,respectivamente). O genótipo G foi encontrado em 2 pacientes, sendo 1 associadoà infecção pelo genótipo D. Não foram encontrados pacientes com genótipos E e H.Não houve diferenças entre os diversos genótipos em relação às variáveis analisadas.Ao se comparar separadamente pacientes com genótipos A e D, observou-se maiorproporção de pacientes HBeAg-negativo (80% vs. 47%, P = 0,018) e maior preva-lência de mutação na região pré-core (39% vs. 10%, P = 0,030) naqueles comgenótipo D. Conclusões: Os genótipos A e D foram os mais prevalentes na popula-ção estudada. A maior freqüência do genótipo A pode justificar a baixa prevalênciado mutante pré-core encontrada (45% dos pacientes HBeAg-negativo).
TL-045 (339)
REGENERAÇÃO IRREGULAR É UM ACHADO DIFUSO E POSSIVELMEN-TE RELACIONADO COM CARCINOMA HEPATOCELULAR EM PACIEN-TES COM CIRROSE HEPÁTICA E HEPATITE CMELLO ES*, CHAGAS AL#, BARBOSA AJ*, KIKUCHI LOO#, VEZOZZO DCP#, CARRILHO FJ#, ALVES VAF*
Departamentos de Gastroenterologia # e Patologia*, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SãoPaulo, Brasil
Fundamentos: Regeneração irregular (RI), displasia de pequenas células (DPC) edisplasia de grandes células (DGC) são lesões não nodulares frequentemente encon-tradas em fígados cirróticos e em associação com o carcinoma hepatocelular (CHC).Estudos prévios associaram a presença dessas lesões com um risco aumentado deCHC. Entretanto, o seu papel na hepatocarcinogênese ainda permanece incerto.Objetivo: Avaliar a associação de nódulos displásicos de alto grau (NDAG) e CHCcom a presença de RI, DGC e DPC no tecido não-tumoral de explantes de fígadoscirróticos secundários a hepatite C (VHC). Material e métodos: Analisamos a pre-sença e distribuição da RI, DGC e DPC no tecido hepático não-tumoral de 21 ex-plantes de fígados cirróticos secundários a hepatite C, com ou sem NDAG/CHC.Todas as amostras foram avaliadas pelo mesmo patologista, com experiência empatologia hepática, que desconhecia a presença ou não de NDAG/CHC no explantehepático. O teste exato de Fisher foi aplicado para análise estatística. Resultados:Dos 21 casos analisados, sete apresentavam CHC (com ou sem NDAG), 2 apenasNDAG e 12 nenhuma das duas lesões. A RI foi observada em 9 explantes, sendo 6
em pacientes com NDAG/CHC e 3 sem NDAG/CHC (p = 0,0713). A DPC estevepresente em 3 pacientes, todos com NDAG/CHC (2 com CHC e 1 com NDAG) enão foi encontrada em pacientes sem NDAG/CHC (p = 0,0631). A DGC foi identifi-cada em 5 casos com CHC e 2 sem CHC ou NDAG (p = 0,0805). A RI foi na grandemaioria dos casos (91%) um achado difuso, enquanto a DPC e DGC apresentaramuma distribuição predominantemente focal no parênquima. Conclusão: No nossoestudo, a RI, DGC e DPC foram observadas com maior freqüência em explanteshepáticos com NDAG/CHC. A regeneração irregular parece ser, pela sua distribui-ção difusa no parênquima hepático, entre as alterações estudadas, o marcador derisco para CHC mais promissor para avaliação em biópsias hepáticas percutâneas.Porém, um aumento da casuística é importante para uma melhor avaliação do papeldessas lesões como fatores de risco para CHC.
TL-046 (364)
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTÂNEA DO AGHBE E DO DNA-VHB SÉRICOS EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA B (HCB) SUB-METIDOS A DIFERENTES ESQUEMAS ANTIVIRAISDA SILVA LC, DA NOVA ML, ONO-NITA SK, PINHO JRR, CARRILHO FJDisciplina de Gastroenterologia Clínica - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Fundamentos: As recomendações atuais sobre a monitorização de pacientes comHCB sob tratamento com anti-virais (Lok et al, Hepatology 2007; Lai et al, Ann IntMed 2007) não mencionam a necessidade de quantificar o AgHBe sérico concomi-tantemente à dosagem do DNA-VHB. Em acompanhamento a longo prazo de pa-cientes tratados com lamivudina (LAM), nosso grupo observou uma dissociaçãoentre DNA-VHB e o AgHBe sérico (Da Silva et al, DDW 2005) em alguns pacientes.Objetivo: Determinar a freqüência dos três padrões diferentes de comportamentodo AgHBe x DNA-VHB. Padrão I: queda concomitante de ambos marcadores virais(intervalo entre ambos, inferior a 6 meses); padrão II: negativação do AgHBe maspersistência de detecção do DNA-VHB (em prazo superior a 6 meses); padrão III:negativação do DNA-VHB mas persistência do AgHBe (> 6 meses). Casuística eMétodos: Analisamos 23 pacientes, 21 tratados com LAM e 2 outros com PegIFN +LAM. A resistência à LAM (todos com mutação no domínio YMDD) em 9 pacienteslevou-nos a administrar PegIFN a 7 pacientes e adefovir (ADV) a 2 pacientes, totali-zando 32 séries de tratamento. Para a quantificação do DNA-VHB utilizamos o PCR(Amplicor-Monitor Roche ou PCR “in house”, por diluição) e do AgHBe a técnica doMEIA AXSYM (Abbott). Pacientes que não apresentaram negativação do DNA-VHB edo AgHBe foram considerados não-respondedores sendo excluídos da presente aná-lise, à exceção dos 9 pacientes que receberam nova série terapêutica. Consideramosresposta viral a negativação do DNA-VHB e do AgHBe. Resultados: Cinco de 21pacientes tratados com LAM (23,8%) e cinco de seis (83,3%) pacientes tratadoscom PegIFN + LAM apresentaram padrão I (Teste Exato de Fischer, p = 0,015). Opadrão II foi observado em apenas 3 pacientes dos quais um paciente apresentouuma negativação espontânea do AgHBe, com persistência do DNA-VHB. O padrãoIIIA (queda lenta mas progressiva do AgHBe) foi observado em 5 séries (4 pacientes)e o IIIB (sem queda do AgHBe) em 4 séries de tratamento (3 pacientes). Conclusão:A determinação simultânea do DNA-VHB e do AgHBe fornece dados preditivos im-portantes, pois os padrões I e IIIA tendem a mostrar evolução para uma respostaviral.
TL-047 (453)
PESQUISA DO VÍRUS DA HEPATITE B EM ENXERTOS DE DOADORESANTI-HBC POSITIVOSSITNIK R, MEIRA-FILHO SP, PANDULLO FL, FONSECA LEP, ZURSTRASSEN MPC, HIDALGO R, REZENDE MB,AFONSO RC, REBELLO PINHO JR, FERRAZ-NETO BHHospital Israelita Albert Einstein – São Paulo
Fundamentos: Fígados provenientes de doadores anti-HBc positivos/AgHBs negati-vos são implantados em receptores Anti-HBs positivos utilizando lamivudina no pós-operatório. Iniciamos um estudo piloto para determinar a presença do DNA do vírusda Hepatite B (HBV-DNA) em enxertos provenientes de doadores Anti-HBc positivospor uma metodologia recentemente padronizada na instituição. Métodos: De mar-ço de 2006 a agosto de 2007, foram obtidos, durante a cirurgia de banco, 11espécimes de biópsia hepática por agulha de enxertos procedentes de doadoresanti-HBc positivos/AgHBs negativo. Um dos pacientes realizou uma segunda biópsiahepática 1 ano após o transplante hepático. Os fragmentos de biópsia foram coloca-dos em um tubo com 300ul de Brazol (LGC do Brasil) preservando os ácidos nucléi-cos. Utilizamos PCR em tempo real para pesquisa do HBV-DNA, com primers quecobrem a região S e amplificam todos os genótipos virais conhecidos. Como contro-les da reação, foram utilizados os kits “TaqMan Exogenous Internal Positive ControlReagents” e “Pre Developed TaqMan Assays Reagents Human PO” (Applied Biosys-tems, EUA), sendo que o primeiro amplifica um DNA exógeno e controla possíveisinibições da reação de PCR, enquanto o segundo amplifica uma região do DNAgenômico e controla o processo de extração. Ambos devem ser amplificados para oresultado ser considerado válido. Resultados: A pesquisa do HBV-DNA no tecido foipositiva em 3 casos estudados. Em uma amostra, o controle interno não foi amplifi-cado, não sendo possível determinar a presença do HBV. Um dos enxertos positivopara HBV-DNA, após 1 ano continua positivo na biópsia, embora negativo no plas-
S 12 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
ma. Nenhum paciente apresentou sinais de infecção pelo vírus da Hepatite B nopós-operatório. Conclusões: Em 27,3% das amostras de enxertos hepáticos prove-nientes de doadores de fígado Anti-HBc positivos foi detectado HBV-DNA. A presen-ça do HBV-DNA não foi um fato incomum. O potencial benefício que o teste préviode HBV-DNA no tecido possa trazer aos receptores não foi ainda elucidado.
TL-048 (526)
AVALIAÇÃO DO GRAU DE LESÃO HEPÁTICA EM PACIENTES COM IN-FECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) EM FASE REPLI-CATIVA CURSANDO COM DIFERENTES PADRÕES DE ALTFERREIRA SC, SOUZA FF, TEIXEIRA AC, CHACHA SGF, SECAF M, VILLANOVA MG, FIGUEIREDO JFC, PASSOS AD,ZUCOLOTO S, MARTINELLI ALCDivisão de Gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-cina de Ribeirão Preto
Introdução: Avaliação seriada da ALT é indicada na infecção crônica pelo HBV comoparâmetro de detecção de lesão hepática e orientação de realização de biópsia. Poroutro lado, é reconhecida a falta de correlação entre níveis de ALT e grau de lesãohepática. Objetivos: Avaliar a lesão hepática em pacientes com infecção pelo HBVem fase replicativa cursando com diferentes padrões de ALT. Material e métodos:Foram estudados 95 pacientes com infecção crônica pelo HBV [HBeAg positivos(+)e HBeAg negativos(-)] em fase replicativa (HBVDNA > 104cópias/ml), atendidos noAmbulatório de Hepatites, HCFMRP (1992-2006), com biópsia hepática. Os pacien-tes foram divididos de acordo com o padrão de ALT: ALT elevada (ALT > 1,5xlimiteda normalidade) e ALT normal ou levemente elevada (< 1,5xlimite normalidade),média de 4 dosagens, em tempo médio de 51 meses. Resultados: Grupo HBeAg(+):35 pacientes, 66% homens, 32 ± 12 anos, 25 com níveis elevados de ALT e 10 comALT normal. Os valores médios de ALT foram 96,5UI/L (40-545). Houve tendência aidade maior (p = 0,06) nos paciente com ALT alterada. Não houve diferença nadistribuição dos casos quanto à atividade necroinflamatória comparando-se ALT al-terada (mínima/leve 9/25; moderada/grave: 16/25) e ALT normal (mínima/leve 4/10; moderada/grave: 6/10), bem como quanto aos graus de fibrose (ALT alterada:fibrose mínima/leve: 20/25 e moderada/grave: 5/25; ALT normal: mínima/leve: 8/10 e moderada/grave: 2/10). Os níveis de HBV-DNA foram maiores nos com ALTalterada (p < 0,0001). Grupo HBeAg(-): 60 pacientes; 71,7% homens; 39 ± 11 anos;34 com níveis normais de ALT e 26 com ALT elevada. Os valores médios de ALTforam 70UI/L(35-877). Não houve diferença na idade do paciente com ALT normalou alterada. Não houve diferença na distribuição dos casos quanto à atividade ne-croinflamatória comparando-se ALT alterada (mínima/leve: 10/26; moderada/gra-ve: 16/26) e ALT normal (mínima/leve 21/34; moderada/grave: 13/34), bem comoquanto aos graus de fibrose (ALT alterada: fibrose mínima/leve: 19/26 e moderada/grave: 7/26; (ALT normal: mínima/leve: 32/34 e moderada/grave: 2/34). Os níveisde HBV-DNA foram maiores nos com ALT alterada (p < 0,0001). Conclusão: Níveisde ALT persistentemente normais ou minimamente alterados não implicaram emgraus diferentes de lesão hepática tanto em pacientes HBeAg positivos ou negativoscom replicação viral. Palavras-Chave: HBV, ALT, HBV-DNA, Fibrose.
TL-049 (371)
OS PRIMEIROS SEIS MESES DE UTILIZAÇÃO DO LIFALTACROLIMUS NOTRANSPLANTE HEPÁTICOKIELING CO, VIEIRA SMG, FERREIRA CT, SILVEIRA TRServiço de Pediatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Fundamentos: O tacrolimus (TAC) é atualmente a principal medicação imunossu-pressora utilizada no transplante (Tx) de fígado de crianças e adolescentes. Recente-mente, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul passou a fornecer TACproduzido por um laboratório brasileiro (Lifal®) em substituição ao produzido pelaJanssen-Cilag®. Objetivos: Avaliar os efeitos da substituição do Prograf® (PT) peloLifaltacrolimus® (LT) no nível sanguíneo (NS), na dose e na função do enxerto emcrianças e adolescentes do Programa de Transplante Hepático Infantil do Hospital deClínicas de Porto Alegre. Materiais e métodos: Foram incluídos pacientes com maisde 6 meses de Tx, dose de TAC estável e sem disfunção do enxerto. Prospectivamen-te, após a substituição do fornecedor, foi verificada a ocorrência de alteração da ALT,necessidade de ajuste da dose para manter o NS (1 a 7ng/mL), rejeição, perda doenxerto e óbito. Foi comparado o NS anterior com o da primeira coleta posterior atroca do TAC (teste t, P < 0,05). Resultados: Dos 62 transplantados em acompanha-mento ambulatorial, 53 (85,5%) utilizam TAC. Destes, 29 (54,7%) passaram a usaro LT. Sete (24,1%) não foram incluídos na análise por apresentarem disfunção doenxerto (6) e dose de TAC estável (1). Nos 22 estudados, o tempo de uso do LTvariou de 21 a 243 dias, sendo que 16 (72,7%) utilizaram por mais de 90 dias e queem 7 (31,8%) o uso já ultrapassou 180 dias. Não ocorreu nenhum óbito, perda doenxerto e rejeição e nenhum paciente apresentou alteração de ALT, uréia e creatini-na. Foi necessário ajustar a dose em 7 pacientes (31,8%), sendo aumentada em 1 ediminuída em 6. Não houve diferença (P = 0,603) do NS antes (4,6+-1,3ng/mL) eapós (4,9+-2,5ng/mL) a troca da TAC. Conclusões: Durante os 6 meses de acompa-nhamento, a utilização do LT tem se mostrado efetiva e segura, fornecendo NSadequado. Um maior número de paciente acompanhado por um maior períodopoderá consolidar esses resultados.
TL-050 (462)
ACURÁCIA DO ÍNDICE DE RISCO DO DOADOR NA SOBREVIDA DOENXERTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE FÍGADONO ESTADO DE SÃO PAULOBOIN IFSF, LEONARDI MI, LEONARDI LS, PEREIRA LAUnicamp - SET-SP
Fundamentos: Algumas características dos doadores têm sido estudadas em rela-ção ao prognóstico dos receptores. Um risco quantitativo associado a algumadestas características foi relatado por Feng (2006) que sugere que este índice derisco do doador (IRD) seja informado no processo de doação para melhor adequa-ção do binômio doador/receptor buscando uma sobrevida maior dos receptores.Objetivo: Verificar a sobrevida e fatores preditivos utilizando-se o IRD em SãoPaulo. Método: Através de dados coletados pelo Sistema Estadual de Transplantesda Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo analisamos, no períodode janeiro de 2003 a junho de 2007, retrospectivamente 1500 doadores de fíga-do. Destes 1264 foram estudados por apresentarem os dados necessários para ocálculo do IDR (idade do doador: idade, procedência (local, regional ou nacional),raça (branca, negra ou outra), causa da morte (hipóxia, TCE, AVCH ou outras),altura (cm), tempo de isquemia total (horas) e tipo de enxerto (split, reduzido,cadavérico ou coração parado). Do receptor foram avaliados a idade e a sobrevidado enxerto. O IDR foi estratificado em faixas de 0 a 1,25 (A), de 1,26 a 1,50 (B) eacima de 1,51(C). Resultados: A idade média dos doadores foi de 37,1 ± 16,3 e aidade média do receptor foi de 43,1 ± 18,4. O tempo de isquemia médio foi de9,7 ± 3,2. Detectamos 504 (39,9%) óbitos e 760 (60,1%) vivos.: A análise deregressão de Cox mostrou como fatores preditivos a idade do doador (p = 0,003),a distância da procedência (p = 0,04) e a altura do doador (p = 0,03). A sobrevidaestá na tabela abaixo:
1º 2º 3º
A 69,1% 65% 63%,0B 64%,0 60% 56%,0C 58%,0 57% 54,1%
(p = 0,01; qui-quadrado = 9,11)
Conclusão: O IDR foi capaz de distinguir com acurácia o grupo de doadores queapresentaram a menor sobrevida do enxerto e a idade e altura do doador e o localde captação do enxerto. Isto pode ser transposto para que doadores de maior riscopossam ser informados durante o processo de alocação de órgãos.
TL-051 (485)
FATORES PREDITIVOS DE PERDA PRECOCE DO ENXERTO EM TRANS-PLANTE HEPÁTICO COM DOADOR VIVOALVES RCP, ANTUNES EAF, MATTOS CAL, PUGLIESE V, SALZEDAS A, GODOY AL, SEDA J, KONDO M, CHAPCHAP
P, CARONE EHospitais A.C. Camargo-Sírio Libanês
O número de pacientes adultos submetidos a transplante hepático com doadorvivo tem aumentado. A seleção adequada de candidatos, assim como os aspectostécnicos da cirurgia são importantes para determinar os fatores de risco relaciona-dos ao procedimento. O objetivo deste estudo foi analisar os fatores preditivos deperda precoce do enxerto, definido como mortalidade do receptor ou retrans-plante até o primeiro trimestre após o procedimento em receptores adultos. Fo-ram analisados setenta e três pacientes transplantados nos Hospitais AC Camargoe Sírio-Libanês – São Paulo, durante o período de novembro de 1997 à maio de2007. A sobrevida cumulativa dos receptores durante este período foi de 71,2% edos enxertos de 65,7% com mediana de 17,3 meses (0 à 117 meses). Os procedi-mentos foram divididos em 2 grupos: Grupo 1 – pacientes que apresentaramperda precoce do enxerto – 15 (20,5%) e Grupo 2 – pacientes que não apresenta-ram perda precoce do enxerto – 58 (79,5%). Foram analisados os fatores prediti-vos de perda precoce do enxerto, os relacionados ao receptor: Idade, Meld (Mo-del of End-stage Liver Disease) acima de 18 pontos, Status UNOS (United Networkfor Organ Sharing), etiologia da hepatopatia, Classificação de Child-Turcote e Hi-ponatremia (Sódio sérico < 130mEq/L). Os fatores relacionados ao enxerto foram:GRWR (Graft Ratio Weight Ratio) > ou < que 1%, tipo de enxerto (Lobo Direitocom ou sem veia hepática média e Lobo Esquerdo) e a associação destas variáveis.Na análise univariada somente variáveis relacionadas ao receptor tiveram correla-ção com perda precoce do enxerto: Meld > 18 pontos, com valor de p = 0,003 eHiponatremia com valor de p = 0,000. Quando comparada a sobrevida dos dife-rentes tipos de enxertos, observamos menor sobrevida para enxertos do tipo LoboDireito com GRWR < 1% sem veia hepática média log rank, valor de p < 0,005.Pacientes com função hepática comprometida (Meld > 18) devem ser candidatosà receber enxertos com a veia hepática média (lobo direito ou esquerdo) e depreferência com GRWR superior a 1% visando diminuir a perda precoce dos en-xertos.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 13
TL-052 (572)
INFUSÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES DERIVADAS DA MEDULAÓSSEA AUTÓLOGA EM PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICA: ASPEC-TOS RADIOLÓGICOS E EVIDÊNCIAS LABORATORIAIS DE MELHORA DAFUNÇÃO HEPÁTICAREZENDE GFM1, COUTO BG1, FONSECA LMB2, GUTFILEN B2, SCHMIDT FMG1, ALVES ALA2, RESENDE CMC2,COELHO HSM1, CARVALHO ACC3, GOLDENBERG RCS3
1 Departamento de Clínica Médica, UFRJ; 2 Departamento de Radiologia, UFRJ; 3 Instituto de Biofísica CarlosChagas Filho, UFRJ
Conduzimos um ensaio clínico fase 1 para avaliar exequibilidade, segurança e ciné-tica celular na terapia com células mononucleares derivadas de medula óssea autó-loga (CMMOA) em pacientes (pcts) adultos com cirrose hepática listados para trans-plante. (ClinicalTrials.gov ID NCT00382278). Métodos: Foram incluídos pcts comescore Child-Pugh B7-C10 e com baixo MELD, sem expectativa de transplante he-pático em 12 meses. Tomografia computadorizada (TC) e ultra-sonografia comDoppler (USD) excluíram a presença de hepatocarcinoma e trombose de vasos he-páticos. Sob anestesia local, foram aspirados 100ml de medula óssea da crista ilíaca.As CMMOA foram isoladas por centrifugação em gradiente de Ficoll-Hypaque, 10%das células foram marcadas com SnCl2-99mTc, outra pequena amostra foi utilizadapara contagem e teste de viabilidade. As células foram infundidas na artéria hepáticapor cateterismo. Cintilografia de corpo inteiro (CCI) foi realizada 3 e 24 horas pósinfusão. Os pcts foram submetidos a avaliação clínica, bioquímica e de imagemperiódicas ao longo de um ano. Resultados: Oito pcts foram incluídos, recebendo2,0 a 7,8 x 108 células. A CCI mostrou relação entre o local de infusão e a distribui-ção das células. O fígado reteve, em média, 41% da radiação total. A USD mostrouacentuada queda da resistência da artéria hepática em três pcts, mantida por pelomenos 6 meses. Os pcts mostraram aumento médio do nível sérico de albumina de2,96 a 3,47g/% (= +17,2%). Houve redução transitória do nível sérico de bilirrubinana maioria dos pcts. Um pcte apresentou dissecção da artéria hepática durante ocateterismo, com reperfusão espontânea. Um pcte foi submetido ao transplantehepático e faleceu uma semana após. Um pcte apresentou sangramento por varizesgástricas 10 semanas após a infusão. Um pcte desenvolveu diabetes mellitus e nódu-los subcutâneos recorrentes em mãos e antebraço no 10º mês de evolução, compa-tíveis com fasciite eosinofílica. Nenhum pcte desenvolveu nódulos hepáticos, porUSD ou TC, durante o acompanhamento. Conclusão: A infusão de CMMOA naartéria hepática de pcts cirróticos é exequível e parece ser segura, podendo contri-buir para a melhoria da função hepática. Não há evidência de correlação entre ascomplicações observadas e a terapia com CMMOA. Nas pesquisas com células tron-co, a cintilografia com células marcadas pode ser útil para conhecermos a cinéticacelular, enquanto a USD pode revelar as conseqüências hemodinâmicas de sua dis-tribuição.
TL-053 (194)
VALOR PROGNÓSTICO DO SÓDIO SÉRICO NOS PACIENTES EM LISTADE TRANSPLANTE HEPÁTICOSCHMAL AR, TORRES ALM, BASTO ST, LUZ RP, MANHÃES FG, CARVALHO JR, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM,RIBEIRO J, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: O MELD score vem sendo utilizado como fator prognóstico nospacientes em lista de transplante hepático. Entretanto, muitos pacientes com doen-ça hepática avançada, apresentam MELD baixo e alta taxa de mortalidade. Compli-cações graves da cirrose como síndrome hepatorrenal e ascite estão relacionadas deforma significativa à hiponatremia, com prognóstico reservado. Entretanto, o valorprognóstico do sódio sérico como parâmetro isolado tem sido pouco avaliado. Oobjetivo deste estudo foi avaliar o valor preditivo de mortalidade do sódio sérico,relacionando-o com Child-Pugh e MELD. Metodologia: Foi realizado estudo retros-pectivo com pacientes listados para transplante hepático no período de janeiro/1997 a julho/2006, sendo selecionados para inclusão os pacientes que apresenta-vam informação sobre sódio sérico no momento da inscrição (+/- 6 meses) e dadospara cálculo do MELD. Foi realizada análise comparativa da mortalidade entre pa-cientes com sódio sérico inferior a 135 e aqueles com sódio acima deste valor (testesde Qui-quadrado). Foi aplicada análise de regressão de Cox. Resultados: Foramincluídos 472 pacientes (61% homens, idade 51+/-13 anos). A média do sódiosérico foi de 139+/-5mEq/L (120-149). Setenta e sete (16%) apresentavam Na <135mEq/L e a mortalidade foi mais elevada neste grupo (53% vs. 36%; p = 0,005).Pacientes com hiponatremia apresentavam MELD mais elevado (18 vs 13; p < 0,001)e maior proporção de Child-Pugh C (58% vs. 33%; p = 0,001). Quando seleciona-dos exclusivamente pacientes com Child B, observou-se maior mortalidade entre ospacientes com Na < 135mEq/L (55% vs. 30%; p = 0,029). Entre os pacientes ChildC, não houve relação entre o valor do sódio sérico e a mortalidade. Da mesmaforma, quando analisados especificamente pacientes com MELD < 15, também seobservou maior mortalidade entre os pacientes com Na < 135mEq/L (46% vs. 24%;p = 0,032). Na análise de regressão de Cox, Na < 135 permaneceu como variávelindependentemente associada à mortalidade (p < 0,001; OR: 2,0, IC: 1,4 -2,9).Conclusão: O sódio sérico se associou à mortalidade, mesmo em pacientes com
doença hepática não tão avançada pelos parâmetros convencionais (MELD < 15 eChild B), representando, portanto, um marcador mais precoce de gravidade e riscode óbito. Sua utilização na prática clínica pode auxiliar na identificação de pacientescom maior risco de complicações.
TL-054 (420)
VÍRUS C E TRANSPLANTE HEPÁTICO: 12 ANOS DE EXPERIÊNCIA NOTRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICASTUCCHI RSB, ANGERAMI RN, BOIN IFSF, LEONARDI MIUnidade de Transplante Hepático – UNICAMP
Objetivos: Descrever a experiência de 12 anos de um Hospital Universitário notratamento da recidiva da hepatite crônica pelo vírus C (VHC). Material e métodos:De setembro de 1991 a julho de 2006 todos os pacientes submetidos a transplantede fígado no HC da UNICAMP com diagnóstico histológico de recidiva de hepatitecrônica C foram submetidos a tratamento antiviral. O tempo mínimo de tratamentoproposto foi de 18 meses. No período de 1995 a setembro de 2003 todos os pa-cientes foram tratados com interferon convencional (IFN) e ribavirina (RBV). A partirde outubro de 2003, os pacientes com genótipo 1 foram tratados com RBV e IFNpeguilado (alfa 2a se peso > que 75Kg e alfa 2 b no demais). Os pacientes comgenótipo 3 foram tratados com IFN convencional e RBV. A escolha do esquema dedrogas imunossupressoras foi feita pela equipe cirúrgica. Resultados: 47 pacientesforam tratados neste período. Trinta e sete pacientes do sexo masculino (78,7%) edez do sexo feminino (2,3%). A idade média na época do transplante foi de 48 anos.Vinte e quatro pacientes (51,1%) eram genótipo 1, 12 genótipo 3 (25,5%) e em 11pacientes (23,4%) não foi possível pesquisar genótipo. O tempo médio entre otransplante e o início do tratamento do VHC foi 30 meses. O tempo médio detratamento foi 16 meses, variando de 4 a 36 meses. Trinta e cinco pacientes (74,5%)receberam IFN convencional, três (6,4%), peguilado alfa 2 a e 9 (19,1%), peguiladoalfa 2 b. A resposta virológica sustentada (RVS) ocorreu em 21 de 43 dos pacientes(48,8%). Em 4 pacientes não foi possível obter a análise da RVS. Dos 21 pacientescom RVS, 20,9% eram genótipo 3, 9,3%, gen1 e 18,6% não foram genotipados.RVS foi observada em 16,7% (4 de 24) dos pacientes com genótipo 1, em 75% nogenótipo 3 (9 de 12) e em 72,7% nos pacientes não genotipados (8 de 11). A RVSfoi observada em 85,7% dos pacientes com F1/F2 (18 de 21), 9,5% com F3 (2pacientes) 4,8% com F4 (1 paciente). A sobrevida em 5 anos foi de 79,2% nospacientes com genótipo 1 e de 100% no genótipo 3. A sobrevida em 5 anos dospacientes com RVS foi de 94% (20 em 21) e de 68,2% nos pacientes sem RVS.Conclusões: É possível conseguir boas taxas de sobrevida em 5 anos nos pacientestransplantados de fígado com recidiva de hepatite C tratados por longos períodos.Deve-se instituir biópsias hepáticas protocolares buscando alcançar melhores taxasde RVS.
TL-055 (115)
INFLUÊNCIA DA CIRURGIA BARIÁTRICA NA EVOLUÇÃO DA DOENÇAHEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA EM OBESOS GRAVESANDRADE AR, COTRIM HP, SOARES DD, ALVES E, ALMEIDA AM, MELO V, ALMEIDA CGFAMEB-Universidade Federal da Bahia; FIOCRUZ; Núcleo Obesidade-Bahia
Fundamentos: A cirurgia bariátrica tem sido preconizada como uma das formasde tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) em obesosgraves. Entretanto, este é ainda um tema em discussão. Este estudo teve comoobjetivo avaliar a evolução da DHGNA em obesos submetidos à cirurgia bariátrica.Método: Estudo coorte, onde foram avaliados obesos graves com diagnósticohistológico de DHGNA após perda de peso. Foram incluídos pacientes antes eapós a perda de peso, e foram utilizados para análise, os critérios HAIR e BAAT, quesão considerados marcadores de gravidade da DHGNA. HAIR: Hipertensão arte-rial, ALT > 40 e resistência à insulina (HOMA ≥ 3); Critérios BAAT; idade > 50 anos,IMC ≥ 28, ALT > 2X valor de referência, triglicérides > 150. A presença de pelomenos 2 critérios em qualquer dos escores foram são considerados marcadores dedoença avançada. Resultados: Foram avaliados 44 pacientes com idade média de38,9 ± 12,7 anos, sendo 63,8% do sexo feminino, com IMC médio de 45,4 ± 5,8.Antes da cirurgia 61,4% dos pacientes apresentavam síndrome metabólica e 50%esteatose à ultra-sonografia. Após perda de peso médio de 46kg em uma médiade 20,9 ± 5,75 meses (12 a 20). Na avaliação inicial 50% (22) dos pacientesapresentavam critérios de gravidade (HAIR). Após a perda de peso, 1 (4,5%) pa-ciente tinha apresentava mais de 2 destes critérios de gravidade. Houve controleda pressão arterial em 47,7% (21) dos pacientes, queda da ALT em 31,8%, econtrole da resistência à insulina. Dos 28 (63,6%) dos pacientes com HOMA ≥ 3,antes da cirurgia, apenas um continuou com resistência a insulina. Na avaliaçãopelos critérios BAAT 70,45% (31) dos obesos com DHGNA apresentavam critériosde gravidade. Após a perda de peso observou-se queda do IMC em 100%, sendoque 70,4% ficaram com IMC < 28kg/m2. Houve melhora da ALT em 31,8% etriglicérides em 52,3% dos pacientes. Conclusão: Os resultados mostram queconsiderados os principais critérios de gravidade, o tratamento da obesidade atra-vés da cirurgia bariátrica influencia na evolução clínica e no prognóstico de pa-cientes com diagnóstico de DHGNA.
S 14 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
TL-056 (113)
PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA NA PROGRESSÃO DA DOENÇA HEPÁ-TICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA): DA ESTEATOSE AOCARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC)STEFANO JT1, OLIVEIRA CPMS1, CORRÊA-GIANNELLA ML2, KUBRUSLY MS1, BELLODI-PRIVATO M1, MELLO ES3,OLIVEIRA AC1, BACCHELLA T1, CALDWELL SH4, ALVES VAF3, CARRILHO FJ1
1. Departamento de Gastroenterologia – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Fundamentos: A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) abrange umlargo espectro de doença, desde casos de esteatose simples até, esteato-hepatite(ENA), cirrose e carcinoma hepatocelular (CHC). Os aspectos fisiopatológicos destaprogressão ainda são pouco conhecidos. O objetivo desse estudo foi caracterizar operfil de expressão gênica e delinear vias moleculares e processos celulares nos dife-rentes estágios de evolução da DHGNA. Métodos: Dentre 408 pacientes diagnosti-cados com CHC no momento da ultra-sonografia, identificamos 7 casos (1,7%)com CHC secundário a ENA. O diagnóstico de CHC foi baseado na classificação do“Barcelona Clinic Liver Cancer” (BCLC) e confirmado histologicamente. Para a hibri-dização dos microarranjos de cDNA [CodeLink™ Human Whole Genome Bioarrays(GE Healthcare Biosciences, Chalfont St. Giles, UK)] utilizou-se tecidos hepáticos de3 pacientes diagnosticados com CHC moderadamente diferenciado (> 3,5cm) se-cundário a ENA e comparados a 9 pacientes com diagnóstico de DHGNA (3 estea-tose simples, 3 ENA e 3 cirroses secundárias a ENA) e, 3 fragmentos hepáticos nor-mais provenientes de doadores de fígado para transplante. Os valores de expressãogênica foram normalizados individualmente e os dados analisados pelo programaGenMapp/MAPPFinder (http://www.genmapp.org/), o qual utiliza informações pro-venientes do Gene Ontology Consortium (http://www.geneontology.org/GO.doc.html). Resultados: As vias moleculares com alterações mais significativasforam às relacionadas à atividade mitocondrial e apoptose nas seguintes compara-ções: 1) controle e esteatose; 2) esteatose e ENA, e 3) cirrose secundária a ENA eCHC secundário a ENA. Porém, não se observou diferenças significativas na modula-ção destas vias entre ENA e cirrose secundária a ENA. As vias relacionadas à respostaimune estavam significantemente alteradas somente na comparação cirrose secun-dária a ENA e CHC secundário a ENA. Conclusão: Apesar das alterações mitocon-driais na patogênese da DHGNA já estarem bem estabelecidas, nenhum estudodemonstrou sua participação no desenvolvimento do CHC secundário a ENA. Oconhecimento destas alterações na evolução do CHC pode vir a ser clinicamente útilcomo marcador molecular para diagnóstico precoce e tratamento.
TL-057 (331)
IDENTIFICAÇÃO DA ESTEATOEPATITE NA DOENÇA HEPÁTICA GOR-DUROSA NÃO ALCOÓLICA ATRAVÉS DE TESTES NÃO INVASIVOS HA-BITUALMENTE EMPREGADOS NO ESTUDO DESSES PACIENTESPARISE ER, OLIVEIRA CPMS, SILVA GF, CARRILHO FJ, SANTOS VN, FURUYA JR CK, SALGADO ALFUniversidade Federal de São Paulo, Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Botucatu
Fundamentos: A DHGNA acomete cerca de 20% da população mundial, mas ape-nas 10-15% desses pacientes apresentam esteatoepatite não alcoólica (NASH), compotencial evolutivo para a cirrose e a insuficiência hepática. Vários testes têm sidoempregados com o objetivo de identificar os portadores de NASH. Objetivo: Estudomulticêntrico em portadores de DHGNA submetidos à biópsia hepática percutânea,para avaliar retrospectivamente a capacidade de testes habitualmente empregadosna prática médica em identificar de forma não invasiva portadores de NASH. Méto-dos: Pacientes com diagnóstico de DHGNA caracterizados à biópsia de acordo comos critérios de Matteoni et al. para identificação da esteatoepatite. Dosagens de ALT,AST, GGT, glicemia, colesterol total e HDL colesterol e triglicérides através de méto-do automatizado. Insulina plasmática de jejum através de imunofluorimetria. Índicede resistência insulínica calculada pelo modelo homeostático, HOMA-IR. Análise es-tatística pelo χ2, regressão binária e curva ROC. Resultados: foram incluídos noestudo 253 pacientes. A idade média foi de 52+13 anos, sendo 51% do gêneromasculino. O diagnóstico de NASH foi estabelecido em 65% dos casos. Em análiseunivariada estiveram significantemente associados à presença de NASH na biópsiaas variáveis idade, IMC, Insulina, Glicose, Homa-IR, AST e Diabetes Após regressãobinária estiveram independentemente associadas ao diagnóstico de NASH[OR(IC95%)] o IMC 2,438 (1,098-5,414) p = 0,029; AST 1,005 (1,001-1,009) p =0,029; Diabetes 3,649 (1,42-8,112) p = 0,001. Com esses dados foi calculado fór-mula: (IMCx2,4)+(AST)+(Diabetes x 3,6). Com essa fórmula foi construída curvaROC para 296 pacientes (casuística original + 43 casos novos) que mostrou ASC =0,709 (0,648-0,769), p < 0,001. O diagnóstico de NASH para valores > 2,9 apresen-tou sensibilidade de 70% e especificidade de 62,5%. Conclusão: A presença desobrepeso, diabetes mellitus e AST alterada em pacientes com DHGNA podem serpreditivos de NASH na biópsia hepática. Estudos em populações com diferentesprevalências de NASH à biópsia devem ser efetuados.
TL-058 (143)
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA EM ADOLESCEN-TES: RELEVÂNCIA DO SOBREPESO COMO FATOR DE RISCOROCHA R, GUIMARÃES I, BITENCOURT A, BARBOSA D, ALMEIDA A, SANTOS A, CUNHA B, FERRAZ AC, COTRIM HPFaculdade de Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia
Fundamentos: O aumento da freqüência de obesidade entre adolescentes tem con-tribuído para o aparecimento de doenças crônicas como a Doença Hepática Gorduro-sa Não Alcoólica (DHGNA). Entretanto, também é de interesse avaliar a relação entresobrepeso e esta doença. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a impor-tância o sobrepeso como fator de risco para DHGNA em adolescentes assintomáticos.Métodos: Estudo observacional transversal, onde foram estudados adolescentes entre11 e 18 anos com sobrepeso de escolas públicas e privadas em Salvador-Bahia, noperíodo de outubro de 2005 a outubro de 2006. A avaliação incluiu circunferência dacintura (CC), índice de massa corporal (IMC), níveis séricos de aminotransferases (ALT,AST e GGT), glicemia, insulina, HDL-c e triglicérides, medida pressão arterial e ultra-sonografia abdominal. Foram critérios para diagnóstico de DHGNA: presença de este-atose em métodos de imagem, história negativa ou ocasional de ingestão de bebidasalcoólicas (≤ 140g/semana), e investigação negativa para outras doenças hepáticas. Aresistência à insulina foi avaliada pelo HOMA [homeostasis model assessment], consi-derando ponte corte HOMA ≥ 3,16. Resultados: De 648 adolescentes avaliados, 158apresentavam sobrepeso e foram incluídos no estudo. A média de idade foi de 14,2 ±2,1 anos, e 65,8% eram do sexo feminino. Nestes, 0,6% (n = 1) tinha AST elevada,1,3% (n = 2) GGT elevada e 0,6% (n = 1) AST, ALT e GGT elevadas. A ultra-sonografiafoi normal em todos os casos. Nenhum dos adolescentes com elevação de amino-transferase apresentou CC aumentada ou resistência à insulina e apenas o adolescentecom AST, ALT e GGT elevadas tinha síndrome metabólica. O HOMA apresentou fracacorrelação estatisticamente significante com GGT (r = 0,2; p < 0,05). Conclusão: Nopresente estudo não foi observado correlação entre DHGNA e sobrepeso em adoles-centes assintomáticos. O acompanhamento destes indivíduos através de um estudolongitudinal é de interesse, pois houve associação do sobrepeso com obesidade cen-tral e resistência à insulina, fatores comumente relacionados à DHGNA.
TL-059 (146)
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA): COM-PARAÇÃO ENTRE PACIENTES COM E SEM DIABETES MELLITUS (DM)LEITE NC, FERNANDES TP, BATISTA AD, SEGADAS-SOARES JA, NABUCO LC, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM,COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: DM é um fator de risco para a DHGNA, podendo estar presente em 10a 55% dos pacientes com DHGNA, porém ainda não está estabelecido seu impacto nagravidade da doença hepática. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalênciade DM em portadores de DHGNA e comparar as características demográficas, labora-toriais e ultra-sonográficas em pacientes com e sem DM. Metodologia: Foram incluí-dos pacientes com US revelando fígado hiperecogênico, com redução da atenuaçãodo feixe sonoro compatível com infiltração gordurosa hepática e/ou biópsia hepática(BH) sugestiva de DHGNA pelos critérios propostos por Brunt (1999). Os pacientesque apresentavam cirrose à BH e/ou redução volumétrica do fígado, esplenomegalia,veias hepáticas portalizadas, aumento do diâmetro (> 1,2cm) e/ou redução do fluxoportal (< 15cm/seg) foram considerados portadores de doença avançada. Foram ex-cluídos pacientes com ingestão alcoólica ≥ 20g/dia. Os critérios para o diagnóstico deDM foram aqueles definidos pela Associação Americana de Diabetes (2006). Foi reali-zada análise comparativa entre os pacientes com e sem DM em relação às variáveisdemográficas, laboratoriais e achados ultra-sonográficos. Resultados: Foram avalia-dos 366 pacientes com DHGNA, sendo 221 (60%) do sexo masculino, com média deidade de 52+13 (21-86) anos. Nessa amostra, 78 pacientes (21%) apresentavam DM.Os pacientes com DM apresentavam idade mais elevada (59+11 vs. 50+12; p < 0,001),maior freqüência do sexo feminino (53% vs. 36%; p = 0,008), assim como de níveisanormais de AST (54% vs. 38%; p = 0,015), de relação AST/ALT > 1 (37% vs. 18%; p< 0,001) e de achados ultra-sonográficos de doença hepática avançada (35% vs. 11%;p < 0,001). Considerando-se os pacientes com evidências ultra-sonográficas e/ou his-topatológicas de DHGNA, os pacientes diabéticos apresentaram maior prevalência dedoença avançada (36% vs. 13%; p < 0,001). Conclusões: DM é um importante fatorassociado à DHGNA e sua presença se associa a níveis mais elevados de enzimas hepá-ticas e sinais de doença hepática avançada. Estes achados ressaltam a importância dese adotar condutas diagnósticas e terapêuticas mais efetivas nesse grupo de pacientes.
TL-060 (172)
MODELO EXPERIMENTAL DE CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) NAESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA (ENA) EM RATOS SPRAGUE-DAWLEYLIMA VMR, OLIVEIRA CPMS, CALDWELL SH, OLIVEIRA EP, MATSUMOTO PT, CHAMMAS C, CERRI G, ALVES VAF,CARRILHO FJFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP, Brasil
Fundamentos: O carcinoma hepatocelular (CHC) ocupa o 5o lugar em prevalênciade câncer no mundo e o 3o lugar na mortalidade global. Sua incidência vem aumen-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 15
tando especialmente em países ocidentais devido ao aumento da hepatite C, daobesidade e do Diabetes Mellitus. A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHG-NA) constitui uma epidemia mundial, podendo evoluir desde esteatose simples atéesteato-hepatite (ENA), cirrose e carcinoma hepatocelular (CHC). Baseando-se nes-tas evidências, faz-se necessário o desenvolvimento de modelos experimentais quepossibilitem o entendimento da hepatocarcinogênese na DHGNA. Métodos: Foramutilizados 7 ratos Sprague-Dawley (4 machos e 3 fêmeas), pesando 200-250g, sub-metidos à dieta hiperlipídica deficiente em colina por 16 semanas, associada à solu-ção aquosa de N-Nitrosodiethylamine (Sigma Co.) 13-15mg/kg/dia. Os animaisforam anestesiados com cloridrato de S(+) cetamina 100mg/kg e Xylazina 10-13mg/kg por via intraperitoneal para realização da ultra-sonografia de abdome e, posteriorsacrifício. Fragmentos de tecidos hepáticos previamente fixados em solução de For-mol 4% foram processados e submetidos às colorações de hematoxilina-eosina (HE)e Tricromo de Masson. A análise histológica foi realizada por um único patologistaexperiente para definir a presença de: esteatose macro/microvesicular, focos de ne-crose, fibrose perivenular e portal, infiltrado inflamatório, cirrose, displasia e carcino-ma hepatocelular. Resultados: Ao término do experimento a sobrevida dos animaisfoi 100%. No exame ultra-sonográfico constatou-se a presença de esteatose emtodos os animais e a presença de lesões nodulares focais em 6 deles. No examemacroscópico verificou-se esteatose em todos os animais e cirrose, com distribuiçãonão uniforme nos lobos hepáticos, em 86% (6/7) dos animais. Este achado foi com-provado posteriormente pelo exame histológico. Na microscopia todos os animaisapresentaram ENA definida como: presença de esteatose, inflamação, fibrose e balo-nização. Nos animais com cirrose foram evidenciados nódulos displásicos e CHC. OCHC variou de moderadamente diferenciado a indiferenciado. Conclusão: Desen-volveu-se experimentalmente um modeloanimal de cirrose e CHC associado à DHG-NA. Este modelo torna-se útil para estudos futuros da carcinogênese hepática naDHGNA e de suas abordagens terapêuticas.
TL-061 (175)
POLIMORFISMO NO GENE DA SUBUNIDADE CATALÍTICA DA GLUTA-MATO-CISTEINA LIGASE (GCLC) NA DOENÇA HEPÁTICA GORDURO-SA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA)OLIVEIRA CPMS, STEFANO JT, CAVALHEIRO-LUNA AM, LIMA VMR, SANTOS TE, VIEIRA SM, SANTOS VN, PARISE
ER, CORRÊA-GIANNELLA ML, CARRILHO FJFaculdade de Medicina USP/UNIFESP
Fundamentos: Recentemente, especial atenção tem sido dada ao papel do estresseoxidativo e a disfunção nas defesas celulares antioxidantes na etiopatogênese daDoença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). O gene glutamato-cisteínaligase (GCLC) codifica uma subunidade da enzima que catalisa a primeira etapa nasíntese da glutationa. O polimorfismo na região -129 C/T no gene GCLC está asso-ciado à baixa atividade desta enzima na doença coronariana e na lesão renal noDiabetes tipo I. O objetivo deste estudo foi examinar o efeito deste polimorfismo nometabolismo antioxidante na DHGNA. Métodos: Após extração de DNA de sangueperiférico de 75 pacientes com diagnóstico histológico de DHGNA [16 esteatosesimples e 59 esteato-hepatite (ENA)] e de 100 indivíduos saudáveis (controles), aregião promotora do gene GCLC foi amplificada por PCR em tempo real e o poli-morfismo -129C/T foi determinado por polimorfismo no comprimento dos frag-mentos de restrição com a enzima Tsp45I. A freqüência deste polimorfismo foi com-parada à freqüência observada nos controles. Resultados: A presença de pelo me-nos um alelo T no polimorfismo -129 C/T no gene GCLC, que está associada commenor atividade da região promotora, foi identificada em maior percentagem empacientes com ENA (22%) que em pacientes com esteatose (6,3%). Após análise deregressão logística das variáveis independentes: sexo, idade, IMC, presença de dia-betes, dislipidemia, HOMA (Homeostasis Model Assement) e hipertensão arterial,apenas o HOMA conferiu risco para esteato-hepatite nesta população (p = 0,016;OR > 2,0-2,5, e IC com 95%). Conclusões: (1) Embora sem diferença estatistica-mente significante, o polimorfismo na região -129 C/T no gene GCLC esteve pre-sente em maior percentagem na esteato-hepatite; (2) O HOMA > 3 foi a únicavariável que conferiu risco para esteato-hepatite; (3) A ausência de diferença estatis-ticamente significativa para pelo menos 1 alelo T e esteato-hepatite, provavelmentese deve ao pequeno número de amostras. Para que possa evidenciar esta diferença apartir dos dados atuais é necessária a ampliação da casuística para 59 indivíduos nogrupo de esteatose.
TL-062 (549)
FREQÜÊNCIA DE ACHADOS ULTRA-SONOGRÁFICOS DE ESTEATOSEEM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2)LEITE NC, CARDOSO CRL, SALLES GFC, ARAÚJO ALE, NOGUEIRA CAV, FREITAS L, DIAS SBServiço de Clínica Médica - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: DM é um fator de risco para a doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA), porém ainda não está estabelecida a prevalência de DHGNA empacientes diabéticos. O objetivo deste estudo foi determinar a freqüência de esteato-se à ultra-sonografia (US) em portadores de DM2 e identificar os fatores que secorrelacionaram com a sua presença. Metodologia: Foram incluídos pacientes en-tre 18 e 65 anos portadores de DM2. Os critérios para o diagnóstico de DM foram
aqueles definidos pela Associação Americana de Diabetes (2006). Todos os pacien-tes foram submetidos à US com o mesmo examinador e os critérios utilizados paraesteatose foram fígado com ecogenicidade aumentada em comparação aos rins,redução da visualização do lume de veias hepáticas e diafragma. Foram excluídospacientes com infecção pelo HBV, HCV, HIV e ingestão alcoólica = 20g/dia nos últi-mos 5 anos. Foi realizada análise comparativa entre os pacientes com e sem esteato-se à US em relação às variáveis clínico-demográficas e laboratoriais. Resultados:Foram avaliados 161 pacientes com DM2, sendo 113 (70%) do sexo feminino, commédia de idade de 55+8 (29-65) anos. Nesta amostra, 136 (84%) tinham hiperten-são arterial, 144 (89%) dislipidemia e 110 (68%) apresentavam algum grau deesteatose à ultra-sonografia. Os pacientes com esteatose apresentaram maior fre-qüência de obesidade (61% vs. 18%; p < 0,001), do uso de metformin (82% vs.55%; p < 0,001), maiores medidas de circunferência abdominal (106+12 vs. 95+8;p < 0,001), relação cintura/quadril (mediana: 1,0 vs. 0,98; p = 0,006), assim comode níveis de triglicerídeos séricos (mediana: 162 vs. 113; p = 0,01) e ALT (mediana:39 vs. 36; p = 0,013).. Não houve associação entre sexo (p = 0,50), idade (p = 0,34),tempo de diagnóstico de DM2 (p = 0,15), valores de glicemia (p = 0,19), hemoglo-bina glicosilada (p = 0,80), níveis de AST (p = 0,83) e gamaglutamil-transferase (p =0,23) com a presença de esteatose. Conclusões: A freqüência de esteatose à ultra-sonografia é muito elevada em pacientes portadores de DM2. As medidas antropo-métricas, os níveis de triglicerídeos séricos e ALT foram os fatores associados à pre-sença de esteatose. As variáveis relacionadas ao controle e tempo de DM2 não cor-relacionaram-se com os achados utra-sonográficos de esteatose.
TL-063 (565)
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA FULMINANTE EM PACIENTES OBESO-MÓR-BIDOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICAOLIVEIRA E SILVA A DE, CARDOZO VDS, ROCHA BS, WAHLE RC, NÉSPOLI PR, SOUZA EO, DAZZI FL, MANCERO
JPM, LARREA FIS, PERÓN JR G, RIBEIRO JR MAF, COPSTEIN JLM, GONZALEZ AM, D’ALBUQUERQUE LACCentro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A cirurgia da obesidade pode induzir em obesos mórbidos o apare-cimento de insuficiência hepática fulminante irreversível, onde está indicada a reali-zação de transplante de fígado (TxF). Métodos: Descrever a ocorrência de hepatitefulminante em pacientes obeso mórbidos após realização de cirurgia bariátrica. NoCentro Especializado em Terapia do Fígado (CETEFI) estudaram-se 5 mulheres comIMC > 40Kg/m2, 2(40%) tratadas pela cirurgia de Fobi-Capela e 3(60%) pela cirur-gia de Scopinaro. A amostra estudada apresentava extremos de idades entre 21-38anos e MELD variando entre 16-38, com IMC antes da cirurgia bariátrica variandode 42-67,6Kg/m², e que cursaram com perda de peso de 30 a 93Kg ao longo do 1ºtrimestre de pós-operatório, com tempo de instalação da insuficiência hepática va-riando de 2 a 18 meses após a cirurgia bariátrica. Resultados: Dos 5 pacientes, 3(60%) foram a óbito antes do TxF e 2 (40%) submeteram-se ao TxF valendo-se dedoador vivo ou cadáver. As duas pacientes transplantadas haviam sido submetidas acirurgia de Scopinaro, sendo que em uma delas tal cirurgia foi preservada, entretan-to a paciente faleceu no 1º mês de pós-transplante, e no outro caso, a cirurgiabariátrica foi desfeita antes do TxF, visando não dificultar a absorção dos imunossu-pressores empregados usualmente e tal pacientes permanece viva após um ano doTxF em acompanhamento ambulatorial. Conclusões: As técnicas de Fobi-Capela eScopinaro mostram-se efetivas na indução de perda de peso. Tem o inconvenientede associar-se ao desenvolvimento de complicações graves, tais como supercresci-mento bacteriano em segmento de intestino delgado desviado resultando em pro-dução aumentada de endotoxinas. Quando cursam com mobilização maciça dessasmoléculas, além de outras como TNF , interleucinas 1 e 6, fibrinogênio e proteínaC reativa liberadas a partir da gordura intraperitoneal, a qual funciona como órgãoendócrino, desenvolvem necrose hepatocelular extensa, com falência funcional doparênquima, levando a que sejam conduzidos pelo transplante de fígado. É reco-mendável que aqueles conduzidos por cirurgia bariátrica do tipo disabisortivas comona técnica de Scopinaro, devem ser cuidadosamente avaliado do ponto de vistafuncional hepático, por isso o grupo sugere que aqueles pacientes com esteatoseavançada ou esteato-hepatite com cirrose estão contra-indicada este tipo de cirurgiapelo risco elevado de grave disfunção hepática celular no pós-operatório imediato.
TL-064 (52)
INCIDÊNCIA DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EM PACIENTES COMCIRROSE PELO VÍRUS C COM E SEM RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTEN-TADACHEINQUER H, CHEINQUER N, COELHO-BORGES S, FALAVIGNA M, WOLFF FH, ZWIRTES RF, DORIGON G, SILVA
CA, STIFT J, SILVEIRA ECZServiço de Gastroenterologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, RS, Brasil
Fundamentos: O tratamento com interferon convencional (IFN) ou interferon pe-guilado (PEG-IFN) com ou sem ribavirina (RBV) é capaz de alcançar resposta viroló-gica sustentada (RVS) em pacientes com cirrose causada pelo vírus da hepatite C(VHC). Estudos recentes indicam que pacientes com cirrose pelo VHC que alcança-ram a RVS parecem apresentar menor incidência de carcinoma hepatocelular (CHC)durante o seguimento. Métodos: Foi analisada coorte de 151 pacientes VHC positi-vos com diagnóstico de cirrose compensada (Child A) tratados com algum esquema
S 16 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
a base de IFN ou PEG-IFN, com ou sem RBV. Foram incluídos apenas pacientes comseguimento ≥ 12 meses após o final do tratamento com visitas semestrais contendoultra-sonografia, alfa-fetoproteína e testes laboratoriais hepáticos. Definiu-se RVS porRNA-VHC negativo seis meses pós-tratamento medido no soro por técnica de PCRqualitativo com limite de detecção de 50UI/mL. CHC foi definido por exame anato-mopatológico e/ou achado de nódulo hepático em pelo menos dois métodos deimagem, havendo captação do contraste na fase arterial em pelo menos um deles.O estudo foi aprovado pela comissão de ética da instituição e todos pacientes assina-ram consentimento informado. Resultados: A média de idade foi de 53,1 ± 9,5anos; 91 (60,3%) eram homens; 41 (30,8%) com genótipo 1 (de 133 avaliados).RVS foi alcançada em 71 pacientes (47%). Os grupos com e sem RVS apresentaramdistribuição semelhante de idade e sexo, porém houve maior prevalência de porta-dores do genótipo 1 no grupo sem RVS (39,7 vs 21,5%). O seguimento médio foide 38,6 ± 25,7 meses nos pacientes com RVS e 31,6 ± 21,5 meses nos pacientes semRVS (P = 0,1). A incidência global de CHC foi de 15,3% (23 casos), sendo 4 casos(5,6%) no grupo com RVS e 19 casos (23,8%) no grupo sem RVS (P = 0,002). Aredução de risco para CHC associada a RVS foi de 76% (risco relativo: 0,24; IC95%:0,08-0,66). Conclusões: Pacientes cirróticos com RVS apresentaram menor incidên-cia de CHC em comparação àqueles que não obtiveram sucesso terapêutico. Esseachado sugere que a eliminação do VHC exerce efeito protetor contra o desenvolvi-mento dessa neoplasia, conferindo melhor prognóstico.
TL-065 (114)
IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS MARCADORES MOLECULARES NOCARCINOMA HEPATOCELULAR RELACIONADO À INFECÇÃO PELO VÍ-RUS DA HEPATITE B OU C E TUMORES NÃO VIRAISBELLODI-PRIVATO M, KUBRUSLY MS, STEFANO JT, OLIVEIRA AC, MACHADO MCC, BACCHELLA T, CARRILHO FJDepartamento de Gastroenterologia – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil
Fundamentos: O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um processo complexo asso-ciado a mudanças na expressão gênica. A hepatite crônica relacionada à infecçãopelo vírus da hepatite B (VHB) e C (VHC) é o principal fator associado à carcinogêne-se do CHC. Alguns CHC não estão relacionados com infecção viral prévia. Os aspec-tos moleculares deste tipo raro de CHC, ainda não estão bem estabelecidos. O obje-tivo desse estudo foi evidenciar semelhanças e diferenças na quantidade de RNAmentre os três tipos de CHC: não viral (NV-CHC) e virais (VHB-CHC ou VHC-CHC)utilizando-se microarranjos de cDNA. A determinação do perfil molecular permitirádistinguir alterações genéticas comuns e vias metabólicas envolvidas na carcinogê-nese hepática desses três tipos de CHC. Métodos: Amostras de tumor isoladas cirur-gicamente de nove pacientes (3 VHB-CHC, 3 VHC-CHC e 3 NV-CHC) foram avalia-das quanto à expressão do RNAm utilizando-se a plataforma CodeLink™ HumanWhole Genome Bioarrays (GE Healthcare Biosciences). O número de genes diferen-cialmente expressos em todas as condições foi selecionado utilizando-se dois crité-rios: a diferença de expressão de pelo menos duas vezes e o teste t com p < 0,05. Asvias metabólicas moduladas nas diferentes condições foram determinadas utilizan-do-se o KEGG Pathway Database (http://www.genome.jp/kegg/pathway.html). Re-sultados: Diferenças significativas nos níveis de expressão gênica foram encontradasnas seguintes comparações: 1.671 genes para VHB-CHC vs NV-CHC, 2.257 genespara VHB-CHC/VHC-CHC vs NV-CHC, 1.141 genes para VHB-CHC vs VHC-CHC e1.584 genes para VHC-CHC vs NV-HCC. Nenhuma via metabólica comum comgenes diferencialmente expressos foi evidenciada nos grupos comparados. Vias me-tabólicas específicas foram moduladas: VHB-CHC vs NV-CHC (2,4-Dichlorobenzoa-te degradation, Ascorbate and Aldarate metabolism, Coumarine and phenylpropa-noid biosynthesis, Fatty acid biosynthesis, Glycosaminoglycan degradation, Hepa-ran sulfate biosynthesis), VHB-CHC/VHC-CHC vs NV-CHC (Amyotrophic lateral scle-rosis-ALS), VHB-CHC vs VHC-CHC (Alkaloid biosynthesis I, Novobiocin biosynthesis,O-Glycan biosynthesis) e VHC-CHC vs NV-HCC (Glyoxylate and dicarboxylate meta-bolism, Nicotinate and nicotinamide metabolism). Conclusões: Este estudo reveladiferenças na assinatura molecular entre CHC não virais (NV-CHC) e virais (VHB-CHC ou VHC-CHC). Estudos complementares estão sendo realizados para caracteri-zar marcadores moleculares específicos para as diferentes etiologias de CHC.
TL-066 (500)
AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO PRÉ-TRANSPLANTE HEPÁTICO EM PA-CIENTES COM CARCINOMA HEPATOCELULAR SECUNDÁRIO ÀS HE-PATITES VIRAIS CRÔNICASCARREIRO G, DOTTORI M, SANTORO-LOPES G, COELHO HS, BASTO S, RAMOS ALPrograma de Transplante Hepático do H. U. Clementino Fraga Filho - UFRJ
Fundamentos: O transplante hepático (TH) é hoje, provavelmente, a melhor opçãoterapêutica no tratamento do carcinoma hepatocelular (CHC) em fígado cirrótico.Muitas vezes, principalmente na era pré-MELD (“Model of End-stage Liver Disease”-modelo de doença hepática terminal), é necessário a administração de um métodoterapêutico local até a disponibilização de um órgão para o TH. Objetivo: Série decasos demonstrando o resultado histopatológico, avaliado no explante, do trata-mento neoadjuvante do CHC em pacientes com hepatite viral B ou C. Pacientes emétodos: Avaliamos 27 pacientes com diagnóstico pré-TH de CHC. Havia 20 pa-cientes do sexo masculino, a idade média dos pacientes foi de 55,3 anos, 22 pacien-
tes tinham hepatite C e 26 pacientes tinham até 3 tumores identificados. Utilizamosa quimioembolização transarterial (QETA), a alcoolização e a ablação por rádio-freqüência (ARF) ou como terapêutica única ou em combinação. O resultado dotratamento foi expresso como o grau de necrose encontrado nos nódulos tratados.Quando havia necrose de todo o nódulo, sem visualização de células viáveis de CHCao exame microscópico do explante, consideramos o resultado como NECROSETOTAL. Quando havia, à microscopia do explante, pequenos nichos de células deCHC viáveis no nódulo tratado, principalmente encontrados na periferia do mesmo,consideramos o resultado como NECROSE SUBTOTAL. Quando encontrado, à mi-croscopia do explante, células de CHC viáveis nos nódulos tratados que não preen-chessem os dois critérios supracitados, consideramos o nódulo como ATIVO. Resul-tados: Dos pacientes avaliados, 21 foram submetidos a pelo menos uma sessão deQETA, 7 submeteram-se a pelo menos uma sessão de alcoolização e 2 pacientesforam submetidos a ARF. A mediana de tempo entre o diagnóstico do CHC e o iníciode algum tratamento paliativo foi de 71 dias (IIQ 43- 111 dias). A mediana de tempoentre o diagnóstico do CHC e a listagem foi de 66 dias (IIQ 16- 131 dias). Observa-mos que 18 pacientes (66,7%) obtiveram necrose total ou subtotal dos nódulosquando analisados o explante. Nos 18 pacientes que se submeteram exclusivamen-te à QETA, obtivemos necrose total ou subtotal em 12 casos (66,7%). A taxa deexclusão em fila de espera no período de 1 ano foi de 26%. Conclusão: Em nossasérie, observamos que o tratamento neoadjuvante, principalmente a QETA, teve boaeficácia em provocar necrose total ou subtotal dos tumores tratados.
TL-067 (582)
MULHERES PRÉ-DOADORAS DE SANGUE COM ANTI-HCV POSITIVO:EXISTEM DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO AOS HOMENS?NARCISO-SHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, MARIYA FA, SCHIAVON LL, SILVA AEB, FERRAZ
MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Estudos sugerem que as mulheres infectadas pelo vírus C apresen-tam progressão mais lenta da fibrose hepática. Poucos estudos compararam as ca-racterísticas epidemiológicas e histológicas de homens e mulheres pré-doadores desangue. Métodos: Estudo transversal de pré-doadores com anti-HCV (+), atendidosna Liga de Hepatites entre set/1997 e ago/2006. Os dados foram obtidos por revi-são de prontuários padronizados. Resultados: Foram incluídos 651 pacientes commédia de idade de 36 ± 11 anos, sendo 66% homens. As mulheres apresentarammaior proporção de profissionais de saúde (12% vs. 3%, P < 0,001) e de anteceden-tes transfusionais (18% vs. 12%, P = 0,049). Por outro lado, exibiram menores pre-valências de promiscuidade sexual (3% vs. 22%, P < 0,001) e de uso de drogasinjetáveis (2% vs. 11%, P < 0,001) e menor porcentagem de etilistas (5% vs. 29%, P< 0,001). Não houve diferença entre as médias de idade (36,0 ± 11,4 vs. 35,7 ± 11,1anos, P = 0,776). Laboratorialmente, as mulheres mostraram maior contagem deplaquetas (mediana de 236.500 vs. 209.500/mm3, P < 0,001) e menores níveis deAST (mediana de 0,78 vs. 0,92 xLSN, P = 0,001), ALT (mediana de 0,84 vs. 1,14xLSN, P < 0,001) e de GGT (mediana de 0,75 vs. 1,12 xLSN, P < 0,001). Na repeti-ção da sorologia, não houve diferença na porcentagem de anti-HCVs (-) entre mu-lheres e homens (32% vs. 28%, P = 0,650). Contudo, a pesquisa de HCV-RNA séricofoi mais freqüentemente negativa em mulheres (41% vs. 26%, P = 0,002). Quanto àhistologia, houve menor proporção de casos de estadiamento avançado (E3/4) en-tre as mulheres (23% vs. 37%, P = 0,044). Entretanto, não houve diferenças emrelação à APP (57% vs. 60%, P = 0,664). Conclusões: Apesar de serem mais expos-tas à transmissão transfusional, as mulheres pré-doadoras de sangue com anti-HCV(+) apresentam menor prevalência de HCV-RNA (+), sugerindo maior taxa de clarea-mento espontâneo do HCV entre as mulheres. Além disso, as mulheres apresentamevidências de doença hepática menos avançada, o que pode estar associado a ca-racterísticas próprias do sexo feminino ou à menor prevalência de fatores associa-dos, como o uso abusivo de álcool.
TL-068 (574)
PROGRESSÃO DA FIBROSE HEPÁTICA EM DIFERENTES POPULAÇÕESDE PORTADORES DE INFECÇÃO CRÔNICA PELO HCV: O VALOR DAALTOLIVEIRA EMG, BADIANI R, PEREZ RM, CARVALHO-FILHO RJ, MELO IC, BECKER VR, LANZARA G, LEMOS LB,SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A ausência de correlação entre níveis de ALT e achados histológicosna infecção crônica pelo HCV tem tornado a determinação dos níveis desta enzimapouco útil no manuseio desses pacientes. Além disso, o comportamento da ALTpode mostrar particularidades entre diferentes grupos de pacientes, tornando seuemprego ainda mais questionável. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto daALT na taxa de progressão da fibrose em diferentes grupos populacionais. Méto-dos: Foram avaliados pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica com biópsiahepática e tempo de infecção conhecido, de três diferentes grupos populacionais:não-urêmicos, portadores de insuficiência renal crônica (IRC) e transplantados re-nais. Foram avaliados sexo, idade, tempo de infecção, níveis de ALT, estadiamento etaxa de progressão de fibrose (TPF) nos diferentes grupos. A TPF foi calculado divi-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 17
dindo-se o grau de fibrose (estadiamento) pelo tempo de infecção em anos. Resul-tados: Foram estudados 445 pacientes: 219 (49%) nao-urêmicos, 173 (39%) comIRC e 53 (12%) transplantados renais. Dos 445 pacientes, 53% eram homens, commediana de idade de 47 anos. Na amostra total 65% apresentavam ALT elevada(86% dos não-urêmicos, 44% dos IRC e 51% dos transplantados renais). A TPF foide 0,09 em não-urêmicos, 0,08 em IRC e 0,07 UF/ano em transplantados renais.Quando pacientes com ALT normal e elevada foram comparados quanto a TPF (UF/ano) e tempo estimado para desenvolvimento de cirrose, observou-se, respectiva-mente: em não-urêmicos, 0,045 e 89 anos para ALT nl e 0,1 e 40 anos para ALTelevada (P < 0,001); em IRC, 0,05 e 80 anos para ALT nl e 0,012 e 32 anos para ALTelevada (P = 0,006); em transplantados renais, 0,000 e ∞ (infinito) para ALT normale 0,16 e 24 anos para ALT elevada. Conclusão: A despeito da conhecida baixacorrelação entre níveis de ALT e achados histológicos na infecção crônica pelo HCV,a ALT se mostrou um bom marcador da taxa de progressão da fibrose hepática emdiferentes grupos populacionais com infecção pelo HCV.
TL-069 (121)
HEPATITE B E DELTA: AVALIAÇÃO DE UMA SÉRIE DE CASOS NA RE-GIONAL DO JURUÁ - ESTADO DO ACREVALLE SN, PEDREIRA H, KAY A, BRAGA W, PARANÁ RUniversidade do Estado do Amazonas
Hepatite B e Delta: avaliação de uma série de casos na regional do Juruá – estado doAcre. Estima-se que aproximadamente 1/3 da população mundial já teve contatocom o vírus da hepatite B e que cerca de 350 a 500 milhões são portadoras e desses18 milhões estão infectados pelo vírus da hepatite delta (VHD). A região Amazônicaé caracterizada como uma das regiões do mundo de maior ocorrência dos doisvírus. A caracterização clínica de ambos é variada, desde formas assintomáticas atéfulminantes. Evidências clínicas e laboratoriais de surtos de hepatite fulminante emcomunidades fechadas na Amazônia brasileira demonstram a presença marcante dadoença na região, justificando assim o presente estudo. Estudo de base populacio-nal aponta os municípios da regional do Juruá com maior prevalência. Objetivo:Descrever biologia molecular e aspectos clínicos e epidemiológicos da infecção pelovírus da hepatite B e Delta em pacientes atendidos no ambulatório de infectologiado Hospital Geral de Cruzeiro do Sul. Metodologia: Estudo descritivo de uma sériede casos, foi aplicado um questionário para coleta de dados de prontuário médico eda Ficha de Notificação para as Hepatites Virais, lançadas no SINAN. Amostras cole-tadas previamente foram processadas para biologia molecular (genotipagem). Re-sultados: Avaliado 355 pacientes, 243 foram originados do prontuário médico, 104de fichas de notificação e 8 de atestado de óbito. Taxa de incidência de hepatite B naregião variou de 42/100.000hab/ano à 117/100.000hab/ano. Todas as formas clí-nicas foram identificadas, com maior número de pacientes (84%) na forma crônica,com média de idade 28 anos. Reatividade de 55,6% para Anti-VHD e 78,1% para oAnti-HBe. O óbito foi associada a co-infecção VHB/VHD. A resposta terapêutica,através da soroconversão de HBeAg e resposta bioquímica foi de 66,6%, mas nospacientes Anti-HBe a resposta variou de 36,8 a 44,6%. A cura ocorreu em 1,7% (6/353). Os genótipos VHB encontrados foram A, F e D, com predomínio para o genó-tipo A, enquanto para o VHD o genótipo encontrado foi o III. Conclusões: Os doen-tes dessa casuística são compostos de adultos jovens, com idade média de 28 anos.A transmissão intrafamiliar parece ser a via mais importante. Associação entre óbitoe história familiar de hepatite demonstra a importância desse vírus como agenteetiológico de doença ictérica em nossa região. A co-infecção VHB/VHD foi expressi-va em todas as formas clínicas. Os pacientes Anti-VHD e Anti-HBe foram maus res-pondedores ao tratamento.
TL-070 (575)
MARCADORES NÃO-INVASIVOS DE FIBROSE HEPÁTICA AVANÇADAEM PORTADORES DE HEPATITE B CRÔNICACARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, CORAINE LA, NARCISO-SHIAVON JL, NISHIYAMA KH, CARA NJ, BARBOSA DV,LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: A biópsia hepática é um procedimento rotineiro na avaliação depacientes com hepatopatias. Entretanto, trata-se de um método invasivo e sujeito avariabilidades amostral, intra- e interobservador. Assim, marcadores indiretos de fi-brose hepática têm sido cada vez mais avaliados, com disponibilidades e acuráciasvariáveis. Nosso objetivo foi avaliar o desempenho de testes sanguíneos simplescomo preditivos de fibrose hepática avançada em portadores de hepatite B crônica.Métodos: Estudo transversal que incluiu pacientes com HBsAg (+) e alguma evidên-cia de replicação viral (HBeAg (+), HBV-DNA > 105 cp/mL, HBcAg (+) no tecido e/ou atividade histológica). Os achados histológicos foram avaliados conforme SBH/SBP. Fibrose avançada foi definida como estadiamento = 3. Três modelos foramavaliados: APRI = (AST[xLSN]/Plaquetas[109/L]) x 100; FIB-4 = (Idade[anos] x AST[U/L])/(Plaquetas[109/L] x ALT[U/L]½); e GAPRI = GGT[xLSN] x APRI. Curvas ROC ava-liaram a performance diagnóstica destes modelos com o intuito de predizer a pre-sença de fibrose avançada ao estudo histológico. Resultados: Foram incluídos 120pacientes, 73% homens, 20% orientais e 75 (65%) HBeAg (+). A média de idade foi40,9 ± 14,4 anos. Fibrose avançada foi identificada em 45 pacientes (38%). As áreas
sob as curvas ROC foram: APRI = 0,835 ± 0,039; FIB-4 = 0,827 ± 0,039; e GAPRI =0,851 ± 0,039 (P > 0,05 entre os modelos). Considerando pontos de corte clássicospara APRI e FIB-4, suas acurácias, VPP e VPN foram, respectivamente, 81% e 83%,68% e 81% e 84% e 84%. Usando-se pontos de corte definidos por curva ROC, oGAPRI mostrou acurácia = 87%, VPP = 78% e VPN = 92%. A proporção de classifica-ções incorretas foi de 20%, 17% e 13% para APRI, FIB-4 e GAPRI, respectivamente.Restringindo-se a indicação de biópsia hepática aos indivíduos com valores interme-diários de cada modelo, esta poderia ser corretamente evitada em 62% com o APRI,61% com o FIB-4 e 66% com o GAPRI. Conclusões: Índices de fácil aplicação,criados a partir de variáveis simples como idade, GGT, ALT, AST e número de plaque-tas, podem sugerir a presença de fibrose hepática avançada na hepatite B crônica.
TL-071 (534)
APLICAÇÃO DO SCORE MELD NA HEPATITE FULMINANTEROMA J, GONZALEZ ACG, GUEDES C, ZYNGIER I, VEIGA ZST, POUSA F, PAN MCC, ENNE M, PACHECO LM,BALBI EHospital Geral de Bonsucesso
Fundamento: A indicação de transplante hepático (TH) na insuficiência hepáticaaguda é baseada nos Critérios de King’s College e Clichy. Recentemente o índiceMELD, um score de gravidade de doença hepática crônica, tem sido estudado paraindicação de TH de urgência na insuficiência hepática fulminante (IHF). No entanto,não existe um valor máximo estabelecido que defina morbimortalidade e risco cirúr-gico proibitivo. Nosso objetivo é estabelecer uma pontuação máxima, através doscore Meld nos casos de IHF de alto risco. Pacientes e métodos: Foram realizados238 transplantes hepáticos no período de novembro de 2001 a agosto de 2007 emnosso serviço. Destes, foram analisados 29 transplantes por hepatite fulminante,dentre os quais 19 eram adultos (idade maior que 18 anos). O score MELD dospacientes falecidos após transplante, grupo 1 (n = 9) foi comparado com o scoreMELD do grupo 2 (n = 10), sobreviventes. Também tentamos definir qual valorMELD contra-indicaria o transplante hepático de urgência. Os valores MELD foramcomparados usando teste- t student, com p < 0,05, definido como estaticamentesignificante. Resultados: A média do score MELD foi 59 ± 12 para o grupo 1 e 38 ±7,1 para o grupo 2 (p < 0,05). Todos os pacientes com score MELD > 51 faleceramno período pós transplante. Conclusão: Muitas variáveis influenciam no prognósti-co do paciente com IHF tais como infecção, disponibilidade do órgão, qualidade doenxerto, falência de múltiplos órgãos e status neurológico do receptor. Em nossacidade, onde a captação de órgãos é muito baixa e a mortalidade em urgência zeroé alta, o score Meld poderia nos auxiliar na identificação de pacientes nos quais obenefício de transplantar seria desprezível.
TL-072 (116)
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA EM OBESOS GRA-VES: RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁLCOOL E FIBROSE HEPÁTICACOTRIM HP, ALMEIDA A, MAY D, ALVES E, BITTENCOURT A, CALDWELL SH, FREITAS LAFAMEB – Universidade Federal da Bahia; CPqGM-FIOCRUZ-BA; Núcleo de Cirurgia e Obesidade-BA
Fundamento: O consumo moderado de álcool tem sido associado a uma menorfreqüência de resistência à insulina (RI) e diminuição de risco cardiovascular emobesos graves. Este estudo teve como objetivo principal avaliar a relação entre pe-queno ou moderado consumo de álcool e gravidade da doença hepática gordurosanão alcoólica (DHGNA) em obesos graves. Pacientes e métodos: Estudo de cortetransversal, que avaliou obesos graves que se submeteram a cirurgia bariátrica entreoutubro de 2004 a maio de 2005. Os pacientes foram classificados em 3 grupos:G1: consumo moderado de álcool (> 20g/ e < 40g/dia); G2: consumo baixo (<20g/dia); G3: sem consumo de álcool. O consumo de álcool foi determinado atra-vés de entrevistas seriadas e questionários. RI foi determinada pelo homeostasis modelassessment (HOMA). HOMA ≥ 3 foi considerada com RI. DHGNA foi classificada nasbiópsias como: esteatose isolada (Tipo I); esteatose + inflamação (Tipo II); esteato-hepatite ou esteatose e balonização (Tipo III); esteato-hepatite com fibrose e/oucirrose (Tipo IV). O projeto foi aprovado pelo CEP CPqGM- FIOCRUZ, Bahia). Resul-tados: Foram avaliados 132 pacientes, 83 (63,8%) do sexo feminino com média deidade de 37.27 +/- 11.06. O IMC médio foi de 43.9 +/- 5.6kg/m2. G1, G2 e G3incluíram 19, 56 e 57 pacientes respectivamente. Os diagnósticos histológicos doG1 (moderado de álcool) foram: 10,5% (2) dos casos apresentavam fígado normal,89, 5% (17) DHGNA TIPO III ou IV. G2 (consumo baixo de álcool): 10,7% (6) fígadonormal e 1,8% (1) Tipo I e II, e 87, 5% (49) Tipo III ou IV da DHGNA. G3 (semconsumo de álcool): 10,5% (6) fígado normal, 3,5% (2) Tipo I ou II e 86% (49) TipoIII e IV. Um paciente do G3 (sem consumo de álcool) apresentava cirrose. RI foiavaliada em 102 pacientes e se correlacionou com consumo moderado ou negativode álcool em 81,3% e 78,7% casos respectivamente (p < 0,05). Em pacientes combaixo consumo alcoólico 55% não apresentavam RI. Conclusões: a) baixo ou mo-derado consumo alcoólico não foi associado com gravidade da DHGNA em obesosgraves; b) a freqüência de esteato-hepatite com fibrose foi semelhante em pacientescom e sem história de ingestão alcoólica; c) o baixo consumo alcoólico se correla-cionou com ausência de resistência à insulina em mais da metade dos casos. Adissociação entre os efeitos da RI versus histologia é consistente com a complexa eainda não bem compreendida interação entre álcool, obesidade e doença hepática.
S 18 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
Posters
Complicações da Cirrose HepáticaPO-001 (126)
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICAATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CIRROSE DO HUTBARBOSA WF, WATANABE APF, LOPES TP, MOREIRA ME, RUIVO GF, CAPPELLANES CAUniversidade de Taubaté
Fundamentos: A cirrose hepática é o estágio final comum de uma série de proces-sos patológicos hepáticos de diversas causas, como o etilismo e as hepatites crônicasvirais. A incidência global e a mortalidade da cirrose são altas em diversos países. Adoença tem alto custo social e graves complicações. O objetivo deste estudo foideterminar a etiologia da cirrose hepática nos pacientes atendidos no Ambulatóriode Cirrose Hepática do Hospital Universitário de Taubaté (HUT). Métodos: Estudotransversal prospectivo. Foram avaliados pacientes atendidos consecutivamente noambulatório, durante um ano. Resultados: A amostra foi de 80 pacientes, 66,3% dosexo masculino com 51 ± 13 anos. O consumo de álcool foi a etiologia prevalenteda cirrose hepática (46,3%), seguida da hepatite C (15,0%) e da associação entreconsumo de álcool e hepatite C (13,8%). A cirrose de etiologia criptogênica bemcomo a esteatohepatite foram encontradas em 7,5% dos casos cada uma, seguidada hepatite auto-imune (2,5%). Etiologias como Síndrome de Render Osler Weber,Síndrome de Budd-Chiari, hepatite B isoladamente, associação de hepatite B comhepatite C e álcool, bem como Doença de Wilson e associação esquistossomose ehepatite C foram diagnosticadas, cada uma, em apenas 1 paciente. Conclusão: Sãode suma importância o diagnóstico precoce, o conhecimento das etiologias maisfreqüentes e o prognóstico estimado dos pacientes com cirrose hepática devido àescassez de dados na literatura científica. Essas estimativas proporcionam benefíciosna medida em que promovem diminuição no número de internações e os custos aoSistema Público de Saúde.
PO-002 (184)
ASCITE COMO MANIFESTAÇÃO ISOLADA DE HIPOTIREOIDISMO –RELATO DE CASOLIMA VERDE ABL, ROLIM TML, MACEDO MRF, CORSINO GA, OLIVEIRA ALST, PESSOA FSRPHospital Geral de Fortaleza – Fortaleza/CE
Fundamentos: Ascite é uma manifestação incomum do hipotireoidismo. Apenas 4%dos pacientes com hipotireoidismo apresentam ascite, e apenas 1% dos casos deascite é devido ao mixedema. Uma revisão de literatura mostrou a descrição de 44casos de ascite mixedematosa, sendo que em 17 a ascite foi a primeira manifestaçãodo hipotireoidismo. Na maioria dos casos relatados, pacientes com ascite mixedema-tosa, requerendo paracentese de alívio, têm hipotireoidismo bastante sintomático, delonga data. A análise do líquido ascítico usualmente mostra um exudato, com alto teorde proteínas e de colesterol e com predominância de linfócitos. O aumento da per-meabilidade capilar parece desempenhar um papel importante na patogênese da as-cite. Uma característica consistente com o diagnóstico é a boa resposta à reposiçãocom hormônio tireoidiano, que leva a completa resolução da ascite. Métodos: Revi-são de prontuário. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 57 anos, com aumentodo volume abdominal e adinamia há 6 meses, já tendo realizado paracentese de alívio,sem esclarecimento diagnóstico. Negava edema de membros inferiores. Ao examefísico estava hipocorada, com bulhas cardíacas hipofonéticas e apresentava piparotepositivo. A paciente tinha a função hepática preservada e o gradiente soro-ascite dealbumina foi 0,3. O US abdominal e pélvico mostrava apenas ascite volumosa e a EDAevidenciou esofagite erosiva leve. O RX de tórax mostrava área cardíaca aumentada,sem derrame pleural. O ecocardiograma evidenciou derrame pericárdico discreto e FE32%. A função tireoidiana mostrou um TSH elevado (73,8) com T3 e T4-livre diminuí-dos (< 40 e < 0.3, respectivamente). Foi então firmado o diagnóstico de ascite mixede-matosa e iniciada reposição de levotiroxina em doses crescentes, bem como terapêu-tica para ICC. A paciente evoluiu com redução completa da ascite após o início dareposição hormonal. Conclusão: A ascite mixedematosa é rara, mas deve ser lembra-da no diagnóstico diferencial de casos de ascite de origem peritoneal, já que existeterapia simples e eficaz com reposição hormonal.
PO-003 (191)
RELATO DE CASO: TROMBOSE DE VEIA PORTATADDEO EF, RASSLAN Z, SEPARELLO FJ, GOLIM V, LIMA CA, KIM DKHospital Central I. Santa Casa de São Paulo – SP
A trombose da veia porta provoca muitas vezes descompensações hepáticas gravescomo ascite, hemorragia digestiva alta e insuficiência hepática dependendo do graude acometimento. Tem como causas trombos sanguíneos ou infiltração tumoral.
Trata-se de paciente do sexo feminino, 52 anos, procedente de São Paulo, do lar;história de dor abdominal há 1 semana com aumento do volume abdominal e apa-recimento de manchas em tórax e membros superiores; sem febre e vômito. Aoexame: icterícia 2+, hipocorada 2+, pele com telangiectasia (tórax, face e membrossuperiores); abdome: ascite 4+, circulação colateral cava-cava. Nos exames labora-toriais: AST: 600U/L; ALT: 800U/L; BT: 2,50; BD: 1,70; FA: 250; gama GT: 180;HbsAg +, anti HBsAg < 10, HBe +, anti HBe Ag +, anti HBc IgM +, anti HCV -; TP:46%. USG abdome: volume lobo hepático direito reduzido, trombose veia porta eascite. Tratada com diuréticos, evoluiu com redução da ascite e desaparecimentodas telangiectasias. Neste caso trata-se de paciente portadora de HBV crônica quefez “flair” com insuficiência hepática, coagulopatia e trombose de veia porta.
PO-004 (192)
SANGRAMENTO GASTROINTESTINAL NO DEPARTAMENTO DE EMER-GÊNCIA: ESTUDO DEMOGRÁFICO E ETIOLÓGICO ATRAVÉS DA ENDOS-COPIA DIGESTIVA ALTAFONSECA NETO OCL, ROCHA JÚNIOR ET, ARCOVERDE LCA, MIRANDA ALServiço de Cirurgia Geral e do Trauma do Hospital da Restauração, Recife - PE
Fundamentos: A hemorragia digestiva alta necessita de uma rápida definição diag-nóstico/terapêutica para obter-se bom prognóstico. A endoscopia digestiva é o prin-cipal aliado nessa condição, podendo contribuir de forma diagnóstica e/ou terapêu-tica. A etiologia varia com aspectos epidemiológicos como: idade, sexo, local deorigem e hábitos sociais e, em 8-10% dos casos, tem causa desconhecida. São agen-tes etiológicos: doença ulcerosa péptica, varizes esofágicas, tumores, esofagite, den-tre outras causas. Objetivo: Demonstrar o perfil epidemiológico da hemorragia di-gestiva alta dos pacientes admitidos no setor de emergência do Hospital da Restau-ração, Recife - PE. Material e método: Selecionamos laudos de endoscopias diges-tivas altas realizadas no Serviço de Endoscopia do Hospital da Restauração-PE, perío-do entre setembro e novembro de 2005 (986 laudos), analisamos as variáveis: sexo,idade, indicação, diagnóstico, procedimentos realizados e complicações. Realiza-mos cálculos matemáticos nesses dados, elaborando tabelas com auxílio de progra-mas de computador (Excel e SPSS) e confeccionamos gráficos para exposição dosresultados. Resultados: Das 986 endoscopias digestivas altas, 540 eram pacientesdo sexo masculino (54,8%) e 446 do sexo feminino (45,2%). A média de idadegeral foi 47,7 anos (47,3 anos para o sexo masculino e 48,3 anos para o feminino).A indicação mais freqüente foi hemorragia digestiva alta (394 casos – 39,9%), 252pacientes do sexo masculino (63,9%) e 143 do sexo feminino (36,1%). A médiageral de idade foi 54,5 anos, tendo-se uma média de 52,6 anos para os homens e57,5 anos para as mulheres. Quanto à origem, 251 casos decorreram de varizesesofágicas (64%), 41 pacientes de úlcera duodenal (10,5%), 31 casos por úlceragástrica (8%), Síndrome de Mallory-Weiss em 10 pacientes (2,5%), esofagite em 37indivíduos (9%), em 7 casos, tumores Bormann III (2%), gastrite em 13 pacientes(3%), etiologia desconhecida 10 casos (2,5%). Dos pacientes com varizes esofági-cas, 225 (90%) procediam de zonas endêmicas (esquistossomose) e em 26(10%)não se controlou o sangramento com esclerose ou ligadura. Conclusão: A hemorra-gia digestiva alta é bastante incidente e prevalente em nosso meio, tendo a partici-pação de fatores epidemiológicos na sua etiologia. No nosso meio, varizes do esôfa-go constituem a principal etiologia.
PO-005 (208)
PERFIL DA CELULARIDADE DA ASCITE CIRRÓTICA COMPLICADA PORPERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEAGUZZO PL, ROSA JMS, MOCHCOVITCH MD, CARVALHO JR, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: O diagnóstico da peritonite bacteriana espontânea (PBE) se baseiana celularidade do líquido ascítico, com uma contagem de polimorfonucleares (PMN)igual ou superior a 250 células/mm3. O objetivo deste estudo foi descrever a varia-ção do número de leucócitos e a ocorrência de predomínio de células mononuclea-res em relação aos PMN em amostras de líquido ascítico de pacientes cirróticos comPBE. Metodologia: Foram analisadas retrospectivamente 1060 amostras de líquidoascítico coletadas entre novembro de 2003 e agosto de 2006. Foram excluídas 236por pertencerem a pacientes sem hepatopatia e 66 por dados incompletos. Das 758amostras restantes 158 apresentavam critério diagnóstico de PBE (PMN maior ouigual a 250 células/mm3). Resultados: Das 158 amostras incluídas no estudo, 38,6%apresentavam celularidade do líquido ascítico até 1000 células/mm3 com a seguintedistribuição: 13,3% com contagem até 500 células/mm3 e 25,3% de 501 até 1000células/mm3. Nos líquidos restantes, a distribuição foi: 20,3% de 1001 até 2000células/mm3, 19,6% de 2001 até 5000 células/mm3, 13,9% de 5001 até 10000células/mm3 e 7,6% acima de 10000 células/mm3. Dessa forma, 78,5% apresenta-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 19
vam celularidade até 5000 células/mm3. Em 18% das amostras, a porcentagem depolimorfonucleares era menor que 50%, com predomínio de mononucleares. Con-clusões: A PBE geralmente se apresenta com baixa celularidade, na maioria doscasos até 5000 células/mm3. Contagens mais elevadas, sobretudo acima de 10000células/mm3, são raras e indicam a necessidade de investigação de outras causas deinfecção abdominal. A porcentagem de polimorfonucleares é maior que 50% namaior parte das amostras. No entanto, o predomínio de mononucleares não excluio diagnóstico de PBE.
PO-006 (209)
ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE PROTEÍNA DO LÍQUIDO ASCÍTICO EDIAGNÓSTICO DE PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA EM CIR-RÓTICOSROSA JMS, GUZZO PL, MOCHCOVITCH MD, CARVALHO JR, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Valor de proteína no líquido ascítico inferior a 1g/dl é consideradofator preditivo de peritonite bacteriana espontânea (PBE). O objetivo deste estudofoi comparar os níveis de proteína do líquido ascítico em pacientes portadores decirrose hepática com e sem PBE, e avaliar se existe relação entre a ocorrência de PBEe proteína < 1g/dl no líquido ascítico. Metodologia: Foram analisadas retrospecti-vamente 1060 amostras de líquido ascítico coletadas entre novembro de 2003 eagosto de 2006. Foram excluídas 236 amostras por pertencerem a pacientes semhepatopatia e 481 por não terem informação sobre proteína no líquido ascítico.Foram incluídas no estudo 343 amostras. Pacientes com diagnóstico de PBE foramcomparados com aqueles sem PBE. O diagnóstico de PBE foi definido pela conta-gem de polimorfonucleares no líquido ascítico igual ou superior a 250cels/mm3.Resultados: Entre as 343 amostras incluídas, 86 (25,1%) apresentavam critério paraPBE. A mediana da proteína no líquido ascítico foi de 1,2g/dl. Não houve diferençaentre a mediana em cada um dos grupos (p = 0,56). A proteína do líquido ascíticofoi menor que 1g/dl em 40,1% do grupo sem PBE e em 40,7% do grupo com PBE(p = 0,92). Conclusões: Apesar da proporção elevada de líquidos ascíticos comníveis de proteína inferior a 1g/dl, não houve associação entre este dado e o diag-nóstico de PBE. Os dados deste estudo sugerem que a proteína do líquido ascíticonão deva ser utilizada como critério isolado para indicação de profilaxia antibióticaprimária em portadores de cirrose hepática com ascite.
PO-007 (210)
NÍVEIS SÉRICOS DE COLESTEROL-HDL EM PORTADORES DE CIRROSEHEPÁTICALUZ RP, MANHÃES FG, SCHMAL AR, CARVALHO JR, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Embora já tenha sido demonstrado que portadores de cirrose hepá-tica avançada apresentam níveis mais baixos de colesterol total, a associação entrecolesterol-HDL e função hepática ainda não está claramente estabelecida. O objeti-vo deste estudo foi avaliar a relação entre níveis séricos de colesterol-HDL e funçãohepática. Metodologia: Foram analisados os dados de pacientes com cirrose hepá-tica, acompanhados no ambulatório de cirrose no período 2005 a 2007, que reali-zaram determinação dos níveis de colesterol-HDL. Foram excluídos os pacientescom doença hepática colestática. Os pacientes com níveis de colesterol-HDL < 40mg/dL foram comparados com aqueles com colesterol-HDL ≥ 40mg/dL em relação avariáveis demográficas, clínicas e laboratoriais. A função hepática foi avaliada peloChild, que foi calculado utilizando exames laboratoriais realizados no mesmo dia emque o colesterol-HDL foi medido. Resultados: Foram avaliados 191 pacientes comcirrose hepática, 58% homens, com idade de 57 ± 11 anos, sendo 69% Child A,25% B e 6% Child C. As principais etiologias observadas foram: HCV em 72%,álcool em 8% e HBV em 5%. A média do colesterol-HDL foi de 45 ± 17mg/dL e 76(40%) pacientes apresentavam colesterol-HDL < 40mg/dL. Na análise comparativaentre os grupos, observou-se que não houve diferença quanto à idade (p = 0,82) epresença de diabetes mellitus (p = 0,47). Os pacientes com colesterol-HDL < 40mg/dL, apresentaram maior prevalência do sexo masculino (67% vs. 52%; p = 0,04), deascite (29% vs. 13%; p = 0,01) e de Child B ou C (41% vs. 25%; p = 0,02). Conclu-são: Existe relação entre os níveis de colesterol-HDL e a função hepática, indepen-dente da presença de diabetes. Estes dados reforçam o conceito de que o colesterol-HDL possa ser um marcador prognóstico em pacientes com cirrose hepática.
PO-008 (237)
O GRADIENTE DE ALBUMINA SORO-ASCITE (GASA) TEM ALTO VA-LOR PREDITIVO PARA DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE HIPERTEN-SÃO PORTA EM PACIENTES COM ASCITEABAS N, FERREIRA ASP, DINIZ NETO, JA, CARVALHO CSF, MELO IC, ARRAES SEGUNDA ZF, LEITÃO V, BRITO JA,CAMPOS DC, DOMINICI AJServiço de Gastroenterologia do Hospital Universitário da UFMA
Fundamentos: O fator envolvido na formação da ascite é a vasodilatação esplânc-nica, resultando em aumento na resistência do fluxo portal, formação de colate-rais e shunts para a circulação sistêmica. Tem sido mostrado em vários estudos que
o GASA tem importância no diagnóstico da ascite causada por hipertensão porta.Este estudo visa identificar o valor diagnóstico do GASA ≥ 1,1 na hipertensãoporta, determinando especificidade, sensibilidade e valores preditivos deste teste.Métodos: Foram revisados 186 prontuários no arquivo do Serviço de Gastroente-rologia do Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) cujos pacientes eram por-tadores de ascite de etiologias variadas, internados no intervalo de janeiro de 2000/2005. Sessenta e oito pacientes foram excluídos por não apresentarem dados su-ficientes para o estudo. Resultados: Participaram do estudo 118 pacientes, compredominância do sexo masculino (61%). A média de idade foi de 52 anos edesvio padrão de 17. Cento e dois (86,5%) pacientes tinham diagnóstico de hi-pertensão porta (presença de varizes de esôfago e/ou evidencias aos exames deimagem), 16 tinham ascite de outras etiologias (tuberculose e carcinomatose pe-ritoneal). Entre os 102 pacientes com hipertensão porta o GASA ≥ 1,1 foi observa-do em 98 (sensibilidade de 96%). Entre os pacientes sem evidências de hiperten-são porta (n = 16), observou-se GASA > 1,1 em apenas um paciente (especificida-de de 94%). Foram ainda calculados os valores preditivos positivo e negativo doteste, que foram 99% e 79% respectivamente Conclusão: O GASA foi confirmadocomo um teste de alto valor diagnóstico para ascite causada por hipertensão por-ta. Em situações onde não é possível a realização de exames de imagem ou endos-copia digestiva este teste simples pode confirmar a presença de hipertensão portaem pacientes com ascite.
PO-009 (266)
CONTRIBUIÇÃO DA CÁPSULA ENDOSCÓPICA NO DIAGNÓSTICO DEHEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEM NÃO ESOFÁGICA NA HIPER-TENSÃO PORTALPOLETTI PB, PALOMO LM, MUCARE M, SIPAHI HM, GUZ BHospital do Servidor Público Estadual de São Paulo
Introdução: Hemorragia digestiva causada por varizes esofagianas e/ou por gastro-patia hipertensiva são complicações freqüentes da Hipertensão Portal. Sangramentocom origem em outros locais do trato gastrointestinal não é comum; quando osangramento ocorre no intestino delgado, geralmente não é diagnosticado e é de-nominado Sangramento de Origem Obscura. Com o advento da Cápsula Endoscó-pica, tem sido possível detectar varizes ectópicas em intestino delgado, localizandoassim o sítio do sangramento e evitando exames endoscópicos repetidos e/ou pro-cedimentos mais invasivos como arteriografia. Diferentemente do sangramento porvarizes esofágicas, o sangramento por varizes ectópicas é raro (1-5% de todos ossangramentos por varizes). Relatamos 2 casos de Sangramento de Origem Obscuraem pacientes com Hepatopatia Crônica com Hipertensão Portal, cujo sítio de san-gramento não foi identificado por endoscopias e colonoscopias repetidas. Os pa-cientes foram submetidos ao exame com Cápsula Endoscópica e observou-se altera-ções vasculares com sangramento ativo em intestino delgado. Diante disso, pode-mos concluir que a Cápsula Endoscópica pode auxiliar no diagnóstico de Hemorra-gia Digestiva de Origem Não Esofágica na Hipertensão Portal.
PO-010 (267)
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE FITAS DE REAGENTE PARA ESTEARA-SE LEUCOCITÁRIA E A CITOMETRIA CONVENCIONAL NO DIAGNÓS-TICO DE PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEABASTOS FAM, SILVERIO AO, ABREU GO, BROKESTAYER E, BRANCO AB, MORAES LM, MESQUITA MMServiço de Gastroenterologia e Hepatologia da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e do Hospital Geral deGoiânia; Faculdade de
Fundamento: A peritonite bacteriana espontânea (PBE) é a mais séria complica-ção infecciosa nos pacientes cirróticos, com elevada taxa de morbidez e mortali-dade. Sendo, portanto, necessário o diagnóstico e tratamento precoce. O presen-te estudo objetiva comparar as fitas de reagente para estearase leucocitária (FREL)com a citometria convencional para o diagnóstico de PBE. Métodos: Foram ana-lisadas 68 amostras de líquido ascítico (LA) de 34 pacientes cirróticos internadosna SCMG e HGG. Para o estudo utilizamos a FREL da MAKROMED 10 . Parte doLA depois de coletado era utilizado para a FREL, aguardando cerca de 120 segun-dos para posterior leitura, os resultados anotados em número de cruzes, de acor-do com a especificação do fabricante, e, simultaneamente, outra parcela do LA eraencaminhado para a citometria. Consideramos como portadores de PBE aquelespacientes que apresentavam 250 polimorfonucleares/mm no LA. Resulta-dos: Dos 34 pacientes, 22 (64,7%) eram do sexo masculino com idade variandode 8 a 70 anos. Cinco (7,35%) líquidos preenchiam critérios diagnósticos de PBEpela citometria, a FREL foi positiva um (20,0%). A FREL foi negativa em todas asoutras 63 amostras com contagem de polimorfonucleares ≤ 250/mm3. A sensibi-lidade da FREL foi de 20,0%, a especificidade de 100,0%, o valor preditivo positi-vo de 100,0% e o valor preditivo negativo de 94,02%. Conclusão: A baixa preva-lência de PBE na população ora estudada dificultou uma melhor avaliação do pa-pel das FREL no diagnóstico de PBE, não obstante, o referido teste mostrou ser umteste específico (100,0%) e com bom valor preditivo positivo (100,0%) e negativo(94,02%). Portanto o método torna-se uma opção atraente no diagnóstico da PBEpor ser prático, rápido e barato.
S 20 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-011 (276)
ÍNDICES PROGNÓSTICOS DA CIRROSE EM INFECÇÃO BACTERIANA: COM-PARAÇÃO DA RELAÇÃO AST/PLAQUETAS (APRI) COM CHILD-PUGHRIBEIRO MFGS, NETO EMVS, STRAUSS EClínica de Gastroenterologia – Hospital Heliópolis, São Paulo, SP
Fundamentos: A relação entre AST e plaquetas tem sido utilizada para predizer grausde fibrose e cirrose, principalmente em Hepatite C. Sua eventual utilização em cirrose,particularmente em processos infecciosos e sua relação com a classificação de Child-Pugh, ainda não investigadas, merecem avaliação. Pacientes e Métodos: Foram ava-liados 280 pacientes com cirrose hepática diagnosticada por dados clínicos, bioquími-cos, endoscópicos, de ultra-som e/ou histopatológicos, num período de cinco anos.205 pacientes (73,2%) eram do sexo masculino e 75 (26,8%) feminino, com idademédia de 51.7 anos. Em todos os pacientes foram analisados, além dos dados clínicose laboratoriais para APRI e Child-Pugh, as prevalências de ascite, hemorragia digestivaalta, encefalopatia hepática e percentual de óbitos. Os índices de APRI e Child foramcalculados quando da internação dos pacientes e também de sua alta. Infecção bacte-riana estava presente 104 pacientes (37,1%) e esse grupo foi comparado aos 176casos sem infecção bacteriana, em termos dos índices prognósticos e outros dadosclínicos. Resultados: A distribuição por sexo e idade foi semelhante entre os pacientesinfectados e não infectados. Foram mais prevalentes nos infectados: ascite (89.4% x74,4%), encefalopatia hepática (37,5% x 15,3) e letalidade (7,7% x 2,3%) enquantoHDA foi semelhante nos dois grupos (19,2% x 19,9%). No grupo de infectados aclassificação de Child-Pugh foi: A (0%) B (36,5%) e C (63,5%) enquanto naqueles seminfecção A (3,4%), B (53,4%) e C (43,7%). Os valores de APRI no grupo infectadoforam menores que 0,5 em 41,3%; de 0,5 – 1,5 em 38,5% e > 1,5 em 20,2%, en-quanto no grupo sem infecção foram < 0,5 em 47,2%, de 0,5-1,5 em 34,7% e > 1,5em 17,0%. Quando comparados entre si, não foi encontrada qualquer relação entreos valores de Child-Pugh e APRI, ou seja, valores baixos de APRI coincidem com ChildC, assim como valores altos de APRI são encontrados em pacientes A, B ou C de Child.Os dados evolutivos mostraram que houve melhora dos índices de APRI e Child nosnão infectados, enquanto nos infectados houve piora do APRI com discreta melhorado Child. Conclusões: 1) O índice APRI, de fácil acesso, mostrou valores preditivos noacompanhamento de pacientes com cirrose. 2) Na presença de infecção bacterianahouve piora do APRI, indicativo de seu mau prognóstico.
PO-012 (279)
FATOR DE CRESCIMENTO SÍMILE À INSULINA DO TIPO 1 (IGF 1) COMOMARCADOR DE GRAVIDADE EM PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICABATISTA AD, TAPAJOS M, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamento: IGF1 é um polipeptídeo sintetizado no fígado, essencial em diversasfunções anabólicas teciduais. Há relatos da redução dos seus níveis na cirrose hepática.Este trabalho teve como objetivo avaliar os níveis de IGF1 em portadores de cirrosehepática e sua relação com a função hepática e evolução clínica. Métodos: Foramincluídos pacientes com cirrose hepática, acompanhados em serviço de hepatologia.Em todos foi realizada dosagem do nível sérico de IGF1 por método imunoradiométri-co pós-extração (valores normais até 50 anos: 101-303ng/ml; acima de 50 anos: 78-258ng/ml). Os níveis de IGF1 foram comparados entre os pacientes segundo o escorede Child-Pugh, presença de carcinoma hepatocelular (CHC) e evolução para óbito.Resultados: Foram avaliados 186 pacientes, 103 (55%) do sexo masculino, com ida-de de 58 ± 11 anos (23-90), sendo 72% Child A, 22% Child B e 6% Child C. Vinte eum pacientes (11%) apresentavam CHC. Os níveis de IGF1 estavam baixos em 71(38%) e normais em 115 (62%) pacientes. Observou-se IGF1 baixo em 52% dospacientes com Child A e em 85% daqueles com Child B/C (p < 0,001). Quandocomparadas, as medianas do IGF1 mostraram-se menores nos pacientes com Child B/C (74ng/mL no Child A, 25ng/mL no Child B e 25ng/mL no Child C; p < 0,001).Pacientes com diagnóstico de CHC apresentavam níveis mais baixos de IGF1 quandocomparados aos portadores de cirrose sem CHC (mediana de 25 vs. 61ng/ml; p =0,01). A mortalidade foi de 20% entre os pacientes com IGF1 baixo e de 3% entreaqueles com IGF1 normal (p = 0,001). Em 68 pacientes foi realizada uma segundadeterminação de IGF1 com intervalo médio de 16 ± 7 meses. Em 57% destes houvequeda dos níveis de IGF1, com redução significativa na comparação entre a primeirae a segunda dosagem (p = 0,04). Conclusão: Os níveis de IGF1 se associaram ao graude função hepática e à mortalidade em pacientes com cirrose, podendo ser utilizadocomo um indicador de gravidade no seguimento clínico desses pacientes.
PO-013 (360) – PRÊMIO LUIZ CARLOS DA COSTA GAYOTTO
PO-014 (465)
ESTUDO DO LIQUIDO ASCÍTICO EM PACIENTES INTERNADOS NO HU-UFSGARCEZ SRC, FIGUEIREDO NETO R, SANTOS EHS, SANTOS IM, PACHECO MS, NASCIMENTO TVBNúcleo de Hepatites da Universidade Federal de Sergipe
Introdução: A ascite é uma complicação comum e representa um importante even-to na doença hepática. Ela se desenvolve tardiamente durante o curso da doença,
estando associada a altas taxas de mortalidade. Outras doenças, porém, tambémsão causas de ascite, apesar de serem muito menos freqüentes. Dessa forma, a para-centese com estudo do líquido ascítico é de fundamental importância para o diag-nóstico diferencial desses pacientes. Destaca-se a relevância da determinação donível de proteínas totais e do gradiente de albumina soro-ascite (GASA), como tam-bém do exame citológico com contagem de células que servirão como guia paraavaliação do paciente. Objetivos: Avaliar etiologia da ascite com base no estudo doliquido ascítico e a importância do GASA como preditor de hipertensão portal (HP),alem de estimar a prevalência de PBE. Pacientes e métodos: Foram revisados 57prontuários no período de jun/06 a mai/07 no HU-UFS. Os pacientes foram analisa-dos considerando história patológica pregressa analise bioquímica e citológica doliquido ascítico e dosagem de componentes séricos. Resultados: Os pacientes estu-dados apresentavam media de idade de 58,3 anos. 70,2% eram homens. 54 ascites(94,7%) tinham etiologia por HP (17 esquistossomoses, 21 alcoólicas, 7 hepatitesvirais, 3 Doença de Wilson, 3 Neoplasia de vias biliares, 3 cirrose idiopática) e 3 deetiologia peritoneal (3 casos de carcinomatose peritoneal). 51 pacientes (89,4%)apresentavam GASA > 1,1 e 6 pacientes (10,4%) apresentaram GASA < 1,1. O GASA> 1,1 apresentou VPP de 100% e sensibilidade de 94,4% para etiologia HP. 8 pacien-tes (14%) apresentaram peritonite bacteriana espontânea (PBE). Destes, todos apre-sentaram proteína total no liquido ascítico < 1,0g/dl. Conclusão: 1- Alta prevalênciade ascite por HP no HU-UFS 2- PBE esteve diretamente relacionada à proteína total <1g/dl no liquido ascítico 3- Elevada acurácia do GASA para diagnostico de ascite porHP.
PO-015 (482)
AVALIAÇÃO DO USO DE FITA REAGENTE NO DIAGNÓSTICO DE PERI-TONITE BACTERIANA ESPONTÂNEASANTOS PAL, SANTOS GAL, SILVA KCP, PEREIRA LA, SILVA TAE, CARVALHO FILHO JP, WYSZOMIRSKA RMAFHospital Universitário Professor Alberto Antunes/Univerdidade Federal de Alagoas
Fundamentos: Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE) é uma freqüente e grave com-plicação em pacientes cirróticos e com ascite, tornando-se fundamental que seudiagnóstico seja feito de forma rápida e adequada. O diagnóstico em geral é realiza-do através da contagem de leucócitos no líquido ascítico. Estudos utilizando fitateste para esterase leucocitária sugerem que o método seja sensível. Objetivo: Ava-liar a importância do uso de fita reagente para urinálise no diagnóstico de PBE.Métodos: Trinta e nove pacientes com ascite moderada a severa, atendidos noambulatório de Hepatologia do HUPAA foram incluídos, com um total de 39 para-centeses. A citometria foi considerada positiva acima de 250 polimorfonucleares(PMN) e a leitura da fita Combur Test UX, seguiu recomendação do fabricante,considerando: negativa - até 10 PMN/mm3; positiva +: 25 PMN/mm3; ++: 75 PMN/mm3; +++: 500 PMN/mm3. A paracentese foi realizada seguindo técnica padroni-zada, e o líquido ascítico coletado foi usado para imersão da fita reagente, e encami-nhado para contagem de PMN e cultura microbiológica. Foi avaliada sensibilidade,especificidade, valor preditivo positivo e negativo por proporção correta de acertos.Para comparar as curvas de fita e citometria foi realizada curva ROC, e estatística deKappa e para comparar os métodos foi utilizado o teste qui quadrado. Resultados:Dos 39 pacientes, 25 (64,1%) eram do sexo masculino e 19 (35,9%) do sexo femi-nino, média de idade de 55,8+1,6 anos. A sensibilidade da fita, em comparação àcultura do líquido ascítico foi de 100%, especificidade de 94,4%, valor preditivopositivo de 60%, valor preditivo negativo de 100%, proporção correta de acertosde 94,8%. A comparação entre as curvas ROC de resultados da fita reagente e cito-metria mostram que são métodos coincidentes (p = 0,2821). A concordância entreos dois métodos diagnósticos mostrou índice Kappa de 0,8040 (p = 0,00001). Con-clusão: O uso de fita reagente para urinálise no diagnóstico de PBE mostrou-seeficaz, com alta sensibilidade e especificidade, quando comparada com citometria ecultura do líquido ascítico, sendo um método de fácil execução, que pode ser reali-zado à beira do leito, com o resultado imediato, contribuindo assim para o inícioprecoce da terapêutica, quando indicada.
PO-016 (486)
RESULTADOS DO TRATAMENTO DA SÍNDROME HEPATORRENAL DOTIPO I COM ESQUEMA DE TERLIPRESSINA E ALBUMINAKALIL JR, BARBOSA DS, MOTTA MP, NERY MS, CERQUEIRA LA, SOARES MA, ZOLLINGER CC, BITTENCOURT PLUnidade de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Português, Salvador, BA
Introdução: O tratamento da síndrome hepatorrenal do tipo I (SHR-1) com vaso-constrictores esplâncnicos, associados à infusão de albumina, foi associado à rever-são da insuficiência renal (IR) em 50%-80% dos casos em estudos-piloto e de sériede casos. Estudos randomizados, entretanto, demonstraram, recentemente, menoreficácia, revelando regressão de IR em apenas 39%-44% dos pacientes tratados.Objetivo: Avaliar os resultados do tratamento da SHR-1 com uso de esquema deterlipressina e albumina. Pacientes e métodos: Foram reavaliados todos os porta-dores de cirrose hepática (CH) que apresentaram IR na Unidade de Gastroenterolo-gia e Hepatologia do Hospital Português entre 2004 e 2006. Sete pacientes (5 ho-mens, média de idade de 59 anos) com SHR-1, com média de pontuação de Child-Pugh e MELD de 12.4 e 25, respectivamente, foram submetidos a tratamento preen-cherem: 1) critérios do Clube Internacional da Ascite (1994) para SHR-1 e 2) elegibi-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 21
lidade para indicação de transplante de fígado. O tratamento foi realizado comdoses escalonadas de terlipressina (0,5-2mg 4/4 h) associada a infusão de altas do-ses de albumina (0,5-1mg/kg/dia). Resultados: Reversão de SHR-1 não foi observa-da em nenhum paciente, sendo que apenas um obteve estabilização dos níveis decreatinina. Todos os pacientes faleceram antes de completar o esquema terapêutico,com duração média do tratamento de 3.75 dias, sendo a causa mortis: morte súbita(n = 1), choque refratário associado a hemorragia digestiva (n = 1), insuficiênciahepática associada a insuficiência de múltiplos órgãos (n = 1), e sepse (n = 2). Con-clusões: O tratamento da SHR-1 com terlipressina e albumina não se associou areversão da IR e redução de mortalidade associada à SHR-1 em nossa casuística,possivelmente devido a presença de insuficiência hepática em fase avançada na maioriados indivíduos tratados.
PO-017 (519)
CIRROSE HEPÁTICA: AVALIAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE PA-CIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOSÉDO RIO PRETO – SPBEDIN EP, GUERRA JR AH, VOLPATTO AL, NASSER F, PEREIRA PSF, MEDEIROS GHA, SILVA ECServiço de Gastro-Hepatologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - SP
Introdução: A cirrose hepática (CH), inicialmente silenciosa do ponto de vistaclínico, apresenta na sua evolução graves manifestações clínicas e complicações epor isto responde por alta morbimortalidade. O objetivo deste estudo foi descre-ver os aspectos clínicos e epidemiológicos de pacientes cirróticos descompensa-dos internados em hospital universitário. Materiais e métodos: Foram avaliadas,retrospectivamente, todas as internações realizadas nos anos de 2005 e 2006 noServiço de Gastro-Hepatologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto/FAMERP, através de seus prontuários médicos e analisadas as decorrentes de pa-cientes cirróticos Resultados: Houve no período 559 internações; destas 440 fo-ram de pacientes com descompensações de cirrose. De 321 pacientes, 77,2%(248) eram do sexo masculino, com idade média de 53,8 anos, 88% raça brancae 89% procedentes de São José do Rio Preto-SP e região. O álcool e o VHC respon-deram pela maioria das causas de cirrose (65%), sendo álcool em 52,3% e VHCem 12,7%. As descompensações foram devidas à ascite em (52,7%), encefalopa-tia (27,8%) e hemorragia digestiva (10,42%). Durante a internação, 15% dospacientes foram à óbito. A pneumonia foi a predominante entre as infecções.Conclusão: Os pacientes foram, em sua maioria, homens brancos na sexta décadade vida. A etiologia da CH foi principalmente álcool e VHC, totalizando mais dametade das conhecidas causas da doença. A descompensação principal comomotivo da internação foi ascite. A pneumonia figurou entre as principais infecçõesnestes pacientes.
PO-018 (545)
TERLIPRESSINA E ALBUMINA NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIARENAL AGUDA EM HIPERTENSÃO PORTAL NÃO CIRRÓTICA: RELATODE CASOAMORIM PD, TAKEUTI CY, TERRABUIO DRB, CARRILHO FJ, SZEJNFELD D, PEREIRA OI, CANCADO ELRDepartamentos de Gastroenterologia e Radiologia da FMUSP, São Paulo
Fundamento: A síndrome hepatorrenal (SHR) é uma das etiologias de IRA na doen-ça hepática descompensada e hipertensão portal. Ocorre vasoconstrição intensa dacirculação renal, como conseqüência final de vasodilatação esplâncnica. Uma dasopções de tratamento é a associação de terlipressina/albumina. Fístula intra-hepáti-ca arterioportal (FIHAP) é causa rara de hipertensão portal não cirrótica, podendoser congênita ou adquirida, não havendo descrição em literatura de complicaçãocom SHR. Relato de caso: RJM, 26 anos, feminina, previamente hígida, com perdaponderal de 20Kg em 10 meses. Na evolução apresentou ascite volumosa e episó-dios repetidos de hemorragia digestiva alta, sem elucidação diagnóstica nos exameslaboratoriais iniciais. Foi submetida à biópsia hepática videolaparoscópica, compatí-vel com esclerose hepatoportal. Durante investigação do quadro consumptivo, fo-ram realizadas colonoscopia, com detecção de varizes em sigmóide e reto, e tomo-grafia de abdome, com 2 FIHAP nos segmentos VII/VIII e II e espessamento do cólonesquerdo com calcificações. 7 meses antes da biópsia hepática, havia realizado 2exames ultra-sonográficos evidenciando shunts intra-hepáticos, demonstrando queas fístulas estavam presentes antes da biópsia. Foi submetida a embolização dasfístulas, porém manteve ascite tensa, com necessidade de paracenteses por descon-forto respiratório. Evoluiu com IRA, sendo atribuída etiologia pré-renal em razão desódio urinário persistentemente menor que 10mEq/L, sem proteinúria significativa.Apesar de expansão volêmica com albumina, não houve melhora da função renal.Embora sem diagnóstico de cirrose hepática, mas com ascite refratária e intensacongestão do sistema esplâncnico iniciou-se terapia com terlipressina e albumina,com reversão total da IRA. Foi submetida a nova embolização das fístulas com con-trole da ascite. Conclusões: FIHAP é causa rara de hipertensão portal não cirrótica. Aembolização das fístulas é efetiva, porém vários procedimentos podem ser necessá-rios. O uso da terlipressina com albumina pode ser considerado em situações espe-ciais de IRA em hipertensão portal não cirrótica, quando se observam condiçõespropícias para o desenvolvimento de SHR.
ColestasePO-019 (112)
CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA ASSOCIADA À ESCLERODERMIARESENDE NP, COUTO OFM, PINTO MRC, CARVALHO EB, ANDRADE RB, MATA LAC, COUTO CA, FERRARI TCAAmbulatório de Fígado. Instituto Alfa de Gastroenterologia. HC-UFMG, Belo Horizonte
Introdução: A cirrose biliar primária (CBP) é uma doença crônica do fígado de prová-vel etiologia auto-imune caracterizada pela destruição progressiva dos ductos biliaresintra-hepáticos, levando à fibrose e cirrose. Afeta predominantemente mulheres naquinta década de vida, tendo como características a presença de colestase e do anti-corpo anti-mitocôndria (AMA). A associação com outras doenças auto-imunes é co-mum e pode alterar o curso natural da CBP e a estratégia terapêutica. Objetivo: Rela-tar o caso de uma paciente com CBP e esclerodermia. Relato: D.L.S., 55 anos, comdiagnóstico prévio de diabetes melitus (DM). Em propedêutica para fadiga, apresen-tou alterações em provas de função hepática: elevação em AST, ALT, FA e GGT. Semhistória de etilismo e icterícia prévia. Sorologia para hepatite B e C negativa. Ao examefísico notou-se hepatomegalia discreta. US de abdome sem outras alterações relevan-tes. Pesquisa de auto-anticorpos: AMA + (1:160), anti-músculo liso + (1:40), fatorantinuclear + (1:2560 padrão misto nuclear pontilhado fino denso e pontos isolados ecitoplasmático pontilhado). Biópsia hepática: alterações típicas da fase ductal floridada CBP. Iniciado tratamento com ácido Ursodesoxicólico 15mg/kg/dia. Em seguimen-to clínico apresentou espessamento cutâneo em face, mãos, antebraços e pés, comedema difuso das mãos e dedos (puffy fingers), úlceras em polpas digitais, poliartralgiade ritmo inflamatório, artrite em punho e joelho direitos, fenômeno de Raynaud, xe-rostomia e xeroftalmia, sendo feito o diagnóstico de esclerose sistêmica limitada. Evo-luiu com piora clínica, astenia limitante, necessitando internação hospitalar, sendoassociada prednisona. Houve melhora inicial, mas a dose precisou ser reduzida devidoao difícil controle do DM. Iniciado metotrexate em dose baixa (7,5mg/semana) comboa tolerância. Atualmente bem, com melhora do padrão bioquímico e retorno àsatividades cotidianas. Conclusão: A CBP é freqüentemente associada a outras condi-ções auto-imunes. A identificação da síndrome de sobreposição específica é importan-te, pois implica em prognóstico diferenciado, necessitando conduta individualizada.
PO-020 (479)
LINFONODOMEGALIA PERI-HEPÁTICA NA COLANGITE ESCLEROSAN-TE PRIMÁRIA (CEP): APRESENTAÇÃO ATÍPICACHINDAMO MC, CASTAGNARO MA, AFONSO FS, PEREIRA MT, TORRES MCHospital Barra D’Or - Rio de Janeiro
Fundamentos: Aumento de linfonodos peri-hepáticos na ausência de neoplasia abdo-minal é um achado freqüente nas hepatopatias crônicas, estando relacionado princi-palmente a etiologia auto-imune e grau de atividade inflamatória da doença. Na CEPa prevalência de linfonodomegalia abdominal pode chegar até 77%, de acordo como método utilizado, em dimensões que variam de 0,8 a 4cm. Descrevemos a seguirum caso de CEP associado a volumosa massa de linfonodos. Paciente do sexo femini-no, 30 anos, iniciou o quadro com hemorragia digestiva por ruptura de varizes deesôfago. Referia prurido cutâneo há 5 anos. Ao exame: bom estado geral, anictérica,hipocorada, sem sinais de hepatopatia crônica. Fígado impalpável, esplenomegalia,ausência de ascite e de edema de membros. USG abdominal evidenciava fígado devolume normal, dilatação das vias biliares intra-hepáticas, vesícula biliar normal, trom-bose da veia porta com transformação cavernomatosa, esplenomegalia (17,5cm) emassa heterogênea lobulada de 5,2 x 4,9cm no hilo hepático. RNM de abdome comespessamento parietal do colédoco e impregnação pelo material paramagnético; massacom sinal intermediário em T1 e T2 no hilo hepático de 5,5cm, com realce peloagente paramagnético, contribuindo para estenose da via biliar. Laboratório: pesquisade FAN, AML, AMT e ANCA negativos; dosagem de afeto PTN, CEA e Ca19,9 normais;investigação para doença metabólica, tóxica e viral negativa. Submetida a videolapa-roscopia com achado de grande massa linfonodal no pedículo biliar com processoinflamatório local; fígado discretamente irregular com pigmentação amarelada na su-perfície. Biópsia hepática identificou alterações compatíveis com CEP e biópsia delinfonodos mostrou hiperplasia reacional. Foi submetida a CPRE com achado de este-nose de 3cm no colédoco, ducto hepático esquerdo com estenose na bifurcação e luzirregular (rosário); ramos intra-hepáticos finos e retificados. Realizada colocação deendoprótese biliar. Conclusão: Grande aumento de linfonodos peri-hepáticos mime-tizando doença maligna pode estar relacionado a hiperplasia reacional em pacientecom CEP. No entanto, nesta condição, a necessidade de diferenciação com doençamaligna determina a realização de investigação invasiva.
PO-021 (578)
COLESTASE GRAVE COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE LÚPUS ERI-TEMATOSO SISTÊMICO (LES): RELATO DE CASOBRITO JDR, FREIRE DRQ, CORREIA LPMP, REIS JS, SILVA ISS, MARTINS RD, SILVA AEB, LANZONI VP, FERRAZ MLGEscola Paulista de Medicina/Unifesp
Introdução: Anormalidades na bioquímica hepática ocorrem em pacientes com LESdurante a evolução da doença. No entanto, usualmente são alterações leves e ines-pecíficas, as quais podem ser atribuídas ao uso de drogas, esteatose hepática por
S 22 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
corticóide, bem como hepatites virais. Quando alterações graves estão presentes,investigação adicional é necessária para adequada abordagem diagnóstica e tera-pêutica. Descreveremos um caso grave de LES com acometimento hepático, sendoeste a primeira manifestação da doença. Relato de caso: M.J.A., feminino, 50 anos,admitida na enfermaria do Serviço de Gastroenterologia do Hospital São Paulo comicterícia progressiva, febre e dor abdominal há 15 dias. Negava uso de drogas, al-coolismo e hemotransfusões. Ao exame: icterícia e hepatomegalia dolorosa. Exameslaboratoriais mostravam: ALT e AST > 5x LSN, FA e GGT > 10x LSN, BT > 10x LSN,albumina 2,4g/dL; RNI 1,18; Hb 9,5g/dL; leucograma 5600/mm3 sem desvio eplaquetas 124.000/mm3. Excluída colestase obstrutiva com US de abdome e colan-gioressonância. Infecções virais - A, B, C, CMV e EBV – também foram descartadas.Durante a internação, apresentou vasculite em membros superiores e inferiores, umepisódio de crise convulsiva, derrame pericárdico e proteinúria (1,74g/24h). Reali-zados auto-anticorpos que mostraram positividade para FAN 1:1280, anti-SM e anti-DNA, com AMA, anti-LKM e anti-músculo-liso negativos, o que contribuiu para odiagnóstico de LES. Optado pela realização de biópsia hepática percutânea paraesclarecimento da colestase, a qual revelou esteatose macro e microgoticular e pre-sença de colestase intracanalicular. Realizada pulsoterapia com metilprednisolona eintrodução de imunoglobulina humana, no entanto, a paciente evoluiu com pioraclínica, hemorragia alveolar, insuficiência respiratória aguda e óbito, a despeito doscuidados intensivos instituídos. Conclusão: Apesar de rara, colestase grave podefazer parte do espectro clínico do LES, inclusive como apresentação inicial da doen-ça.
Doenças Hepáticas Auto-imunesPO-022 (168)
FREQÜÊNCIA DE DOENÇA CELÍACA E DE SEUS MARCADORES SORO-LÓGICOS EM PACIENTES COM HEPATITE AUTO-IMUNE TIPO 1FRANCA R, BITTENCOURT PL, FREITAS LAR, CUNHA LM, TORALLES MBP, PARANÁ R, LYRA LG, LYRA AC, SILVA LRUniversidade Federal da Bahia; Hospital Português, Salvador, Bahia; Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, FIOCRUZ,Salvador, Bahia
Introdução: Marcadores sorológicos de doença celíaca (DC), tais como anticorposanti-transglutaminase (anti-tTG) e anti-endomísio (AAE) podem ser observados empacientes com hepatite auto-imune (HAI) tipo 1 em portadores de cirrose em faseavançada. No entanto, a prevalência de DC propriamente dita em portadores deHAI tem sido pouco avaliada. Objetivos: Avaliar a prevalência de anti-tTG e AAE emportadores de HAI-1 e de DC nos indivíduos com sorologia positiva para esses auto-anticorpos. Pacientes e métodos: A freqüência de IgA anti-tTG e IgA AAE foi deter-minada em 64 pacientes (54 mulheres, média de idade 19 [5-67] anos) com diag-nóstico de HAI-1 estabelecido de acordo com critérios internacionais. Pacientes comresultados positivos ou intermediários para esses auto-anticorpos foram submetidosa biópsia duodenal por via endoscópica e a pesquisa de HLA-DQ2. Resultados:Anti-tTG e AAE foram detectados, respectivamente, em 6 (9%) e em um paciente(1.6%) com HAI-1. Resultados positivos e limítrofes para IgA anti-tTG foram obser-vados, respectivamente, em dois (3%) e 4 (6%) pacientes. Apenas um paciente comHLA-DQ2 e com sorologia positiva para IgA anti-tTG e IgA AAE apresentou quadrohistológico de DC à biópsia intestinal. Dois pacientes com resultados positivos oulimítrofes para IgA anti-tTG e HLA-DQ2 apresentaram mucosa normal à biópsia in-testinal. Conclusões: Anticorpos IgA anti-tTG e/ou AAE foram observados em 9%dos pacientes com HAI-1, mas DC foi confirmada em apenas um (1,6%) deles. Aocorrência de IgA anti-tTG nos outros pacientes pode ser atribuída a presença decirrose hepática ou a DC potencial ou latente.
PO-023 (170)
EVOLUÇÃO CONSECUTIVA DE COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIAPARA HEPATITE AUTO-IMUNE TIPO I EM INTERVALO DE SEIS MESES:RELATO DE CASOBITTENCOURT PL, FREITAS LARHospital Português, Salvador, Bahia e Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, FIOCRUZ, Bahia
Introdução: Formas hídridas de colangite esclerosante primária (CEP) e hepatiteauto-imune (HAI) são descritas em cerca de 10% dos pacientes com HAI e CEP,particularmente na faixa etária pediátrica. A maioria dos pacientes apresenta ca-racterísticas clínicas, laboratoriais e histológicas típicas ou compatíveis com CEP eHAI desde a apresentação inicial da doença. Por outro lado, evolução consecutivade HAI para CEP, mas não de CEP para HAI, é descrita ocasionalmente na literaturamédica. Objetivos: Descrever caso de paciente com CEP com evolução para HAIem seis meses associada à perda progressiva de função hepática. Relato do caso:Paciente masculino de 44 anos acompanhado por elevação de enzimas hepáticas:AST: 182UI/L; ALT: 265UI/L; fosfatase alcalina: 247UI/L; gamaglutamiltrasferase:1.185UI/L. Investigação para doença hepática revelou exclusivamente presençade CEP evidenciada à CPRE por irregularidades em árvore biliar intra-hepática ecolangite destrutiva associada a pericolangite à biópsia hepática. Realizou colo-noscopia que revelou pancolite ulcerativa, ficando em uso de ácido ursodeoxicó-lico (AUDC) 25mg/kg/dia e subseqüentemente mesalasina (5-ASA) 3,2g/dia. Evo-
luiu com queda das enzimas hepáticas até seis e três meses, respectivamente,após uso do AUDC e 5-ASA, quando apresentou pico de aminotransferases comAST: 506UI/L e ALT: 778UI/L. Devido a suspeita de hepatite medicamentosa por 5-ASA, foi suspensa a medicação com queda significativa nos níveis de aminotrans-ferases. Como o paciente evoluiu com ascite e hipoalbuminemia dois meses após,foi realizada reavaliação diagnóstica que evidenciou ocorrência de anticorpo anti-músculo liso 1:640 e antinúcleo 1:160 e presença de hepatite de interface comdenso infiltrado linfoplasmocitário formando rosetas de hepatócitos e fibrose emponte em evolução para cirrose. Iniciada imunossupressão com prednisona e aza-tioprina com compensação subseqüente da ascite. Conclusões: Evolução conse-cutiva de CEP para HAI pode ocorrer em curto intervalo de tempo e deve seraventada em portadores de CEP que evoluam com aumento de aminotransfera-ses e/ou perda rápida de função hepática.
PO-024 (171)
PREVALÊNCIA DE AUTO-ANTICORPOS HEPÁTICOS EM POPULAÇÃORURAL DO NORDESTE BRASILEIROBITTENCOURT PL, CUNHA LM, MOREIRA A, ABRANTES-LEMOS CP, PARANÁ R, ANDRADE ZAHospital Português, Salvador, Bahia; Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz, FIOCRUZ, Salvador, Bahia; LaboratórioLPC; Faculdade de M
Introdução: Os auto-anticorpos (AA) hepáticos são marcadores diagnósticos dasdoenças auto-imunes do fígado, particularmente hepatite auto-imune (HAI) e cir-rose biliar primária, podendo também ser encontrados, em baixos títulos, emaproximadamente 15%-20% dos portadores de hepatite C e em até 5%-10% dapopulação normal. Objetivos: Avaliar a prevalência de auto-anticorpos hepáticosem população rural do nordeste brasileiro e sua correlação com infecção por vírushepatotrópicos. Pacientes e métodos: Foram avaliados 706 moradores do muni-cípio de Cavunge-BA, participantes de estudo sentinela para avaliação da preva-lência de infecção por vírus da hepatite A, B e C. Todos foram submetidos à deter-minação de IgG anti- VHA, anti-HBc total, AgHBs e anti-VHC e à pesquisa dosauto-anticorpos antimúsculo liso (AAML), antinúcleo (AAN), antimicrossoma defígado e rim tipo 1 (AAMFR1) e antimitocôndria (AAM) pela técnica de imunofluo-rescência indireta, empregando-se como substrato cortes de fígado, rim e estô-mago de rato e células Hep-2. A triagem de AA foi realizada com diluição inicial de1:40 para AAML, AAM e AAMFR1 e 1:80 para AAN. Resultados: Reatividade glo-bal para AAML foi observada em 89 (13%) pacientes, sendo observado padrãovaso na titulação de 1:40 (n = 51); padrão vaso 1:80 (n = 18); padrão glomérulo1:40 (n = 2); padrão vaso e glomérulo 1:40 (n = 7); padrão vaso e glomérulo 1:80(n = 11). Nenhum paciente apresentou reatividade para o padrão tubular. Reativi-dade para AAN na titulação > 1:80 foi encontrada em 1% dos pacientes testadose para AAM em apenas um indivíduo na titulação de 1:80. Não houve correlaçãosignificante entre estado de infecção por vírus B e C e presença de auto-anticorposcirculantes. Conclusões: Auto-anticorpos foram observados em 13% dos indiví-duos e sua positividade não se correlacionou com infecção por vírus B e C. Amaioria dos indivíduos com AA positivos apresentou AAML em títulos baixos ecom padrão de reatividade diferente daquela observada nas doenças auto-imunesdo fígado.
PO-025 (281)
HEPATITE AUTO-IMUNE – ESTUDO COMPARATIVO DA APRESENTA-ÇÃO CLÍNICA SEGUNDO A FAIXA ETÁRIABATISTA AD, DOTTORI MF, FERNANDES TP, GUARANÁ DE ANDRADE T, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM,SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A hepatite auto-imune (HAI) é uma doença hepática necroinfla-matória, mais prevalente em mulheres jovens. Uma maior prevalência é tambémdescrita no climatério. Não está claramente estabelecido se há diferença na apre-sentação clínico-laboratorial entre os dois picos de incidência. O objetivo desteestudo foi comparar as características clínicas e laboratoriais da apresentação ini-cial da HAI em pacientes com idade inferior e superior a 40 anos. Metodologia:Foi realizada análise retrospectiva da forma de apresentação clínica de 70 pacien-tes com diagnóstico de hepatite auto-imune, acompanhados em serviços públicose privados de hepatologia. Os grupos com idade < 40 anos (G1) e > 40 anos (G2)foram comparados quanto ao sexo, presença de sintomas no início da doença,além da presença de icterícia, ascite, encefalopatia hepática e hipertensão portalna apresentação da doença. Os grupos foram também comparados quanto aosníveis séricos iniciais de aminotransferases, gamaglutamil transferase, fosfatase al-calina, albumina, gama globulina e tempo de atividade de protrombina (TAP).Foram utilizados os testes de Qui-quadrado, Exato de Fisher, t de Student e Mann-Whitney para a análise estatística. Resultados: Foram estudados 70 pacientes,sendo 89% mulheres, com média de idade 27 16 (9-73) anos. Quatorze pa-cientes (20%) apresentavam idade acima de 40 anos. Os pacientes mais jovens(G1) apresentavam maior freqüência de icterícia (75% vs. 36%; p = 0,029), níveisséricos mais elevados de gama-globulina (2,9 1,3 vs. 1,6 0,3; p < 0,001) evalores mais baixos de atividade da protrombina (60 21% vs. 77 24%; p =0,028). Não houve diferença entre os grupos quanto ao sexo, presença de sinto-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 23
mas no início da doença, ascite, encefalopatia hepática, hipertensão portal, níveisséricos de aminotransferases, gamaglutamil transferase, fosfatase alcalina e albu-mina. Conclusão: Pacientes mais jovens tendem a ter uma apresentação inicialmais agressiva da hepatite auto-imune, possivelmente relacionada a maior expres-são imunológica da doença nesta faixa etária.
PO-026 (283)
RESPOSTA AO TRATAMENTO DA HEPATITE AUTO-IMUNETERRABUIO DRB, CARRILHO FJ, CANÇADO ELRFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
O tratamento de escolha da HAI é a associação azatioprina/prednisona. A repostacompleta ocorre em 60-80% dos casos em dois anos. 70-80% dos pacientes reci-divam após a suspensão do tratamento. Não estão bem estabelecidos: após quan-to tempo de remissão bioquímica (RB) deve ser suspensa a medicação, se é neces-sária e após quanto tempo deve ser realizada a biópsia hepática de controle e qualo critério de remissão histológica (RH). Métodos: Foram avaliados 230 pacientescom HAI. O tratamento baseou-se, em geral, na associação de azatioprina 50mg eprednisona 30mg/d, com ajuste da dose ou mudança do esquema imunossupres-sor até normalização das enzimas hepáticas normais. Nos pacientes com gluta-mil transpeptidase > 5x o valor de referência após um ano de tratamento, foiassociado o ácido ursodesoxicólico (AUDC). Após 18 meses de RB foi realizadabiópsia hepática de controle e o critério de RH foi de atividade periportal 0 ou 1.Quando em RH, a medicação foi suspensa ou o paciente foi incluído em protoco-los com cloroquina. Resultados: 230 pacientes (198 mulheres), idade média àapresentação de 29,3 ± 17 anos. 82,6% eram portadores de HAI-1, 10,9% HAIsem marcador, 6,5% HAI-2. 81% tiveram biópsia hepática inicial, 73,7% comestádios 3 e 4 (58,6% com cirrose). 6 pacientes não foram submetidos a trata-mento, 4 transplantados por hepatite fulminante e 2 por recusa. Em 71% doscasos, a indução de remissão foi com azatioprina/prednisona, em 19% predniso-na em monoterapia. Em 53 pacientes foi associado AUDC ao esquema inicial commelhora bioquímica. 48,7% dos pacientes atingiram RB, 60,2% destes atingiramRH. O tempo decorrido para a primeira RH foi de 1868 ± 1439 dias. A dose paraRH utilizada foi de: azatioprina 84 ± 23,6mg, prednisona 7,8 ± 2,1mg, AUDC 600± 245mg e cloroquina 250mg. 61% dos pacientes apresentaram recidiva da doençaapós suspensão do tratamento, 70,5% em até 6 meses, 13% após um ano. Emrelação à evolução clínica, houve 37 óbitos (16%), 6% perdas de seguimento,10% transplante hepático e 8% inclusão em lista de transplante. Conclusão: AHAI é doença agressiva, com cirrose hepática freqüente na biópsia inicial. O tem-po para remissão histológica foi maior que o descrito em literatura. A recidivaapós suspensão da medicação, apesar de freqüente, foi menor nesse estudo. OAUDC foi de valor em subgrupo específico de pacientes.
PO-027 (284)
EVOLUÇÃO DA GESTAÇÃO NA HEPATITE AUTO-IMUNETERRABUIO DRB, CARRILHO FJ, CANÇADO ELRFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Na cirrose hepática (CH), a gestação apresenta 15 a 20% de aborto espontâneo ealto risco de prematuridade e óbito fetal. O risco de sangramento varicoso, particu-larmente no segundo trimestre, é de 20 a 45%. A HAI afeta mulheres em idade fértile sob tratamento adequado, há regressão da atividade da doença e melhora clínica,possibilitando a ocorrência de gestações. Há poucos estudos na literatura sobregestação na HAI e nos mais recentes, as taxas de perda fetal atingem 25% e deabortos espontâneos 17%. O uso de azatioprina ainda é controverso durante a gra-videz e aleitamento. Habitualmente quiescente durante a gestação, apresenta recidi-vas puerperais principalmente nos primeiros seis meses. Métodos: Avaliaram-se asgestações ocorridas em 198 mulheres com HAI no período de 1986 a 2006, emrelação ao tipo de HAI, à presença CH, às taxas de abortamento espontâneo e pre-maturidade, à medicação utilizada durante gestação, ocorrência de recidivas puer-perais e malformações fetais e morbimortalidade materna. Resultados: 30 pacien-tes apresentaram 43 gestações, idade média de 22 anos. 77% eram portadoras deHAI tipo 1, 13% tipo 2 e 10% sem marcadores. 87% tinham exame histológico e73% exibiam CH. A taxa de aborto espontâneo foi de 25,6% e a de prematuridade14%. O tratamento durante a gestação foi prednisona em monoterapia em 58,3%,sem tratamento em 16%, 10% prednisona no 1º trimestre e azatioprina e predniso-na nos 2º e 3º, 7% ciclosporina e prednisona, 7% tacrolimus e 2,3% azatioprina eprednisona durante toda gestação. Houve 44% de recidiva gestacional, em 5 casoshouve aumento de enzimas hepáticas durante a gestação, em 18 a recidiva foi puer-peral, num período médio de 73 dias. Em 28% das gestações não houve recidiva,em 2 gestações houve aumento < 2x das enzimas hepáticas. Em uma das pacientes,o diagnóstico de HAI ocorreu após hemorragia digestiva alta puerperal. Não houvedescrição de malformações fetais. Uma paciente apresentou ascite após cesárea porsofrimento fetal e outra, infecção puerperal com necessidade de redução da imu-nossupressão. Conclusão: A evolução da gestação nessa casuística foi semelhante àdescrita em literatura. O acompanhamento deve ser realizado em centro apto aresolver possíveis intercorrências materno-fetais. No período pós-parto a recidiva éfreqüente, é necessária monitorização bioquímica rigorosa.
PO-028 (286)
FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTA BIOQUÍMICA NA HEPATITE AUTO-IMUNECARVALHO FILHO RJ, NARCISO-SCHIAVON JL, SCHIAVON LL, BARBOSA DV, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: A hepatite auto-imune (HAI) é uma doença rara, de difícil manejo eprognóstico reservado, pois muitos pacientes não respondem ao tratamento. As ami-notransferases são habitualmente usadas como marcadores de resposta à terapia imu-nossupressora e sua normalização está associada a menor risco de recaída após asuspensão do tratamento. Este estudo teve como objetivo identificar os fatores asso-ciados à obtenção de resposta bioquímica em portadores de HAI. Métodos: Estudotransversal de pacientes com diagnóstico de HAI (provável ou definitivo pelos critériosda IAHG, 1999) atendidos entre 1985 e 2007 no Setor de Hepatites da UNIFESP-EPM.A análise histológica foi baseada nos critérios da SBP/SBH. Fibrose avançada foi carac-terizada pelo estadiamento ≥ 3. Colestase foi definida como níveis de FA ≥ 1,5x LSN eGGT ≥ 2,0x LSN. Resposta bioquímica foi definida como normalização da ALT após 12meses de tratamento. Resultados: Foram incluídos 45 pacientes tratados por pelomenos 12 meses com prednisona com ou sem azatioprina. A média de idade foi 34,4± 15,6 anos, sendo 40 (89%) mulheres e 31 (66%) caucasóides. Quarenta pacientes(91%) possuíam HAI tipo 1. Resposta bioquímica foi obtida em 23/45 indivíduos(51%), tendo sido associada a maiores níveis de albumina pré-tratamento (3,6 ± 0,8vs. 3,1 ± 0,7, P = 0,043). Houve menor freqüência de anticorpo anti-músculo liso entreos pacientes respondedores (55% vs. 81%, P = 0,065). Foi observada também umatendência a maior taxa de resposta bioquímica entre aqueles sem fibrose avançada(86% vs. 43%, P = 0,086). A presença de colestase pré-tratamento não influenciou aresposta (43% vs. 56%, P = 0,440). Dentre os 23 pacientes com resposta bioquímica,14 foram rebiopsiados após mediana de tempo de 2 anos de tratamento e 9 deles(64%) apresentavam hepatite de interface à análise histológica. Conclusões: Respostabioquímica após 1 ano de tratamento é observada em cerca de metade dos casos deHAI. Está associada à presença de doença hepática menos avançada, mas não é predi-tiva da obtenção de resposta histológica após 2 anos de tratamento. A duração ótimada imunossupressão na HAI permanece indefinida.
PO-029 (290)
PREVALÊNCIA E IMPACTO DA COLESTASE NAS HEPATITES AUTO-IMU-NESNARCISO-SCHIAVON JL, SCHIAVON LL, CARVALHO FILHO RJ, BARBOSA DV, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: A hepatite auto-imune (HAI) é uma doença rara, de difícil manejo eprognóstico reservado, pois muitos pacientes não respondem ao tratamento. Umsubgrupo destes pacientes apresenta indícios clínicos, bioquímicos e/ou histológi-cos de colestase. Este estudo teve como objetivo identificar a freqüência e o impactoda presença de colestase em portadores de HAI. Métodos: Estudo transversal depacientes com diagnóstico de HAI (provável ou definitivo pelos critérios da IAHG,1999) atendidos entre 1985 e 2007. Colestase foi definida laboratorialmente pelapresença de níveis de FA > 1,5 x LSN e GGT > 2,0 x LSN. A análise histológica foibaseada nos critérios da SBP/SBH. Resultados: Foram incluídos 80 pacientes, commédia de idade 32 ± 15 anos, sendo 71 (89%) mulheres, 46 (64%) brancos. Entreos 73 pacientes que realizaram a pesquisa de auto-anticorpos, 66 (90%) foram clas-sificadas como tipo 1,4 (6%) tipo 2 e 3 (4%) tipo 3. Colestase foi encontrada em45% dos pacientes, tendo sido associada à presença de raça negra (42% vs. 14%, P= 0,022), menores níveis de albumina (3,01 ± 0,83 vs. 3,45 ± 0,63, P = 0,036) emaior atividade necroinflamatória parenquimatosa (90% vs. 44%, P = 0,041). Hou-ve maior freqüência de proliferação ductular entre os pacientes colestáticos (23% vs.0%, P = 0,052). Embora sem alcançar diferença significante, indivíduos com colesta-se apresentaram maiores prevalências de estadiamento 3/4 (86% vs. 60%, P = 0,141)e atividade periportal 3/4 (100% vs. 84%, P = 0,279). Dos 27 indivíduos com coles-tase pré-tratamento, 7 (26%) permaneceram com colestase após 6 meses de terapiacom prednisona e/ou azatioprina. Após 24 meses de tratamento, colestase persistiuem apenas 3 casos (11%). A incidência de colestase de novo ao fim de 6 meses deterapia foi de 13%. Conclusões: Colestase bioquímica constituiu achado freqüentena HAI e se associou à presença de maior intensidade dos achados histológicos. Opredomínio em indivíduos da raça negra sugere um componente genético na gêne-se desta alteração. O tratamento com prednisona e/ou azatioprina levou à resoluçãoda colestase na grande maioria dos casos.
PO-030 (296)
LINFOMA NÃO-HODGKIN ASSOCIADO AO USO CRÔNICO DE AZA-TIOPRINA EM PACIENTE COM HEPATITE AUTO-IMUNE: RELATO DOSEGUNDO CASO NA LITERATURAFREIRE DRQ, BRITO JDR, CORREIA LPMP, FELDNER ACCA, REIS J, SILVA AEB, LANZONI VP, SILVA ISS, FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina – São Paulo/SP
Introdução: O uso de tiopurinas – azatioprina (AZA) e 6-mercaptopurina – tem sidorelacionado ao desenvolvimento de linfoma em pacientes com doença inflamatóriaintestinal ao longo de décadas. Uma recente metanálise evidenciou risco relativo de
S 24 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
4,18, no entanto, os resultados são conflitantes, pois o risco pode estar relacionadoao uso das medicações, à gravidade da doença, ou a uma combinação de ambos.Em pacientes transplantados, e com doses maiores de imunossupressores, o riscoparece ser maior. Os dados na literatura são escassos quanto ao risco em pacientescom hepatite auto-imune. Relato do caso: M.A.S., feminino, 65 anos, encaminhadaa serviço ambulatorial especializado em hepatologia por elevação das enzimas he-páticas: AST 2xLSN, ALT 4xLSN, GGT 2xLSN. Durante investigação, diagnosticou-sehepatite auto-imune (HAI), com 15 pontos no score diagnóstico. Apresentava FAN1:320 e biópsia hepática apresentando infiltrado linfoplasmocitário e células emroseta, compatível com o diagnóstico de HAI. Hepatites virais, medicamentos e ou-tras possíveis etiologias foram descartados. Iniciada indução com prednisona 50mg/dia e azatioprina (AZA) 50mg/dia, a seguir aumentada para 100mg/dia, com des-mame da corticoterapia e normalização da bioquímica hepática. Após 2 anos emuso da medicação, a paciente encontrava-se assintomática, no entanto, em exameultra-sonográfico de rotina, observou-se extensa linfonodomegalia, mesentérica eretroperitoneal, que foi confirmada por tomografia computadorizada do abdome.Realizada videolaparoscopia com biópsia excisional de linfonodos e biópsia hepáticaem cunha. Ambos os tecidos mostraram infiltração por células atípicas e linfócitos,correspondendo a Linfoma Não-Hodgkin, cuja imunohistoquímica demonstrou lin-foma linfocítico de pequenas células. A paciente foi encaminhada para tratamentocom Clorambucil e a Azatioprina foi suspensa, com reintrodução da prednisona nadose mínima toleravél. Conclusão: Pacientes em uso crônico de azatioprina têmrisco potencial de desenvolver linfoma em algum momento da evolução, indepen-dente da doença de base. No caso da HAI, este é o segundo relato desta ocorrênciana literatura. Dessa forma, enfatizamos a necessidade de vigilância dos pacientescom hepatite auto-imune em uso dessa medicação.
PO-031 (328)
ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA HEPATITE AUTO-IMU-NE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO – UFCNÓBREGA ACM, PINHEIRO SR, PIERRE AM, BRAGA LLC, HYPPOLITO EB, UCHOA LV, FERNANDES SG, PEREIRA KB,LIMA JMCServiço de Gastro-hepatologia do HUWC da Universidade Federal do Ceará-UFC
Introdução: A hepatite auto-imune (HAI) trata-se de processo inflamatório persis-tente de causa desconhecida que ocorre no parênquima hepático. É caracterizadapela presença de hepatite de interface ao exame histopatológico, hipergamaglobu-linemia e pela presença de auto-anticorpos. Casuística e métodos: estudo de série de60 pacientes com diagnóstico de HAI por análise histopatológica e/ou através dosistema de escores do International Autoimmune Hepatitis Group acompanhadosno Serviço de Gastro-hepatologia do HUWC-UFC. Resultados: Dos 60 pacientescom diagnóstico de HAI 52 pacientes (86,7%) eram do sexo feminino. A média deidade ao diagnóstico foi de 36,5 anos variando de 7 a 77 anos, sendo observadosdois picos de idade 7 a 25 anos (44%) e 51 a 77 anos (35,6%). Observou-se aindaque o tempo desde o início dos sintomas até o diagnóstico teve uma mediana de20,3 meses, variando de 1 a 156 meses, sendo a forma de apresentação mais co-mum ao diagnóstico cirrose/hepatopatia crônica, presente em 2/3 dos pacientes. Oescore internacional foi definitivo para HAI em 40,5%. No diagnóstico foram obser-vados níveis de aminotransferases em média de AST = 11 X LSN (0,5 -51,8 X LSN) ede ALT = 9,5 X LSN (0,5 - 51,3 LSN), níveis de fosfatase alcalina em média de 1,47 XLSN (0,24 - 8,7 X LSN), gamaGT de 3,4 X LSN (0,5 -13,8 X LSN), proteína total =7,7g% (5,5 - 12,8), albumina = 3,3 (1,8 - 4,7), TAP = 61,1% (24 - 100%), BT = 7,1(0,4 - 34,6) e BD = 4,4 (0,1 - 22,5). Em 78% dos pacientes foi observada globulinaelevada. Foi realizada pesquisa do FAN em 47 pacientes sendo positivo em 48,9%.Em 58,5%, dos 41 pacientes que fizeram o anti-músculo liso, o resultado foi positi-vo. O anti-LKM1 foi positivo em apenas 3 casos. Discussão/Conclusão: Observou-se um predomínio do sexo feminino, maior prevalência em pacientes jovens, bemcomo a elevação predominante de aminotransferases, sendo que em 1/3 níveis com-patível com hepatite aguda. O tempo de diagnóstico foi bastante variável e emalguns casos bastante prolongado, talvez sendo responsável pelo encontro de tan-tos casos em fases de hepatopatia crônica e/ou cirrose. Predominou a HAI tipo I, eapenas 3 casos a HAI tipo II.
PO-032 (329)
ANÁLISE DA RESPOSTA TERAPÊUTICA EM 60 PACIENTES PORTADO-RES DE HEPATITE AUTO-IMUNE NO CEARÁPINHEIRO SR, PIERRE AM, NÓBREGA ACM, BRAGA LLC, HYPPOLITO EB, UCHOA LV, FERNANDES SG, PEREIRA KB,LIMA JMCServiço de Gastro-hepatologia do HUWC da Universidade Federal do Ceará-UFC
Introdução: A hepatite auto-imune (HAI) é uma doença pouco freqüente, que cursacom um processo inflamatório persistente de causa desconhecida, evoluindo emsurtos de agressão ao parênquima hepático, que se não diagnosticada e tratadaadequadamente evoluirá para cirrose em mais de 50% dos casos. Dois regimesterapêuticos são comumente utilizados: corticoterapia isolado, ou associada a aza-tioprina (AZA). Objetivo: Avaliar taxa de resposta ao tratamento e classificar em:completa (aminotransferases normais com melhora clínica pós-tratamento), parcial(aminotransferases elevadas, porém com queda de pelo menos 50% do valor basal)
ou não resposta. Assim como motivos de recidiva pós-tratamento e mortalidade.Casuística e métodos: Análise de 58 pacientes portadores de HAI em acompanha-mento no ambulatório de Hepatites do HUWC no período de 1987 a 2007. Foramavaliados dados de apresentação clínica, diagnóstico, esquema terapêutico utiliza-do, resposta terapêutica e complicações. Resultados: Dos 60 pacientes avaliados 2apresentavam aminotransferases normais ao diagnóstico não sendo iniciado trata-mento, 7 iniciaram tratamento com prednisona e AZA e 51 prednisona em monote-rapia, entretanto a AZA foi acrescentada ao esquema 1 a 2 meses após. Dos pacien-tes que iniciaram tratamento foi avaliada a taxa de resposta em 44 pacientes: 29pacientes (63%) apresentaram resposta completa, 13 pacientes (29,5%) respostaparcial e 2 pacientes (4,5%) sem resposta. Observou-se recidiva em 17 pacientes,destes 10 pacientes (58,8%) a recidiva ocorreu quando a medicação foi reduzidapelo médico (como meio de diminuir efeitos colaterais das drogas), em 5 pacientes(29,45%) a terapêutica foi suspensa pelo próprio paciente e em 11,7% (2 pacientes)a recidiva ocorreu sem causa específica. Dos 58 pacientes acompanhados, óbitoocorrer em 3 pacientes (5%) dos casos: dois por hemorragia digestiva alta e um porneoplasia pulmonar. Apenas um paciente foi submetido a transplante hepático. Con-clusão: Observou-se resposta ao esquema de corticóide e AZA na maioria dos pa-cientes (63%), semelhante à literatura mundial, alta taxa de recidiva, geralmenterelacionada com a tentativa de redução da medicação ou retirada.
PO-033 (418)
CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA (CBP): APRESENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DE63 CASOSMANHÃES FG, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, CHINDAMO MC, NABUCO LC, CARREIRO G, BRANDÃO-MELLO, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A evolução da CBP está associada a vários fatores como apresenta-ção clínica e estadiamento histológico no momento do diagnóstico. O objetivo des-te estudo foi realizar uma análise descritiva das características clínicas iniciais depacientes com CBP, e correlacioná-las com a evolução da doença. Metodologia:Foram avaliados retrospectivamente 63 pacientes com diagnóstico de CBP acompa-nhados na rede pública e clínica privada. Foram estudadas as características clínicas,laboratoriais, histológicas no momento da primeira consulta e evolução dos pacien-tes. Resultados: Cinqüenta e cinco pacientes eram do sexo feminino (84%), commédia de idade de 53 ± 13 anos (23-79). Quarenta e sete (75%) pacientes apresen-tavam sintomas na primeira avaliação, sendo prurido o mais freqüente (64%), segui-do por fadiga em 45%. Associação com doenças auto-imunes foi encontrada em 17(27%) pacientes, com predomínio de hepatite auto-imune (11%) e síndrome CREST(6%). O exame físico no diagnóstico estava alterado em 41 (65%) casos, com hepa-toesplenomegalia em 63% e icterícia em 35%. As medianas da FA e -GT eram,respectivamente, 505U/L (37-3370) e 437U/L (20-2660) e da ALT e AST, 84U/L (12-400) e 91U/L (17-582), respectivamente. A pesquisa de AMA foi realizada em 51casos, sendo positiva em 49 (96%). Entre os 47 pacientes submetidos à biópsiahepática, 44% apresentavam doença avançada (estágio 3 e 4). A mediana do escoreda Clínica Mayo à época do diagnóstico foi de 5,7 (3,5-9,1). A mediana do tempode acompanhamento foi de 4 anos (1-16). As principais complicações desenvolvi-das ao longo do acompanhamento foram osteopenia (41%), cirrose (37%) e he-morragia digestiva alta (19%). O óbito ocorreu em 15% dos casos e o transplantefoi realizado em 13% dos pacientes. Houve associação entre o escore da ClínicaMayo no diagnóstico com a mortalidade observada (p = 0,02). Conclusão: O diag-nóstico de CBP ocorre, na sua maioria, na fase sintomática, com uma proporçãoelevada de pacientes com doença histológica avançada. O escore da Clínica Mayomostrou-se um bom preditor de mortalidade e deve ser utilizado na prática clínica.
PO-034 (517)
HEPATITE AUTO-IMUNE: AVALIAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA ERESPOSTA AO TRATAMENTOBEDIN EP, GUERRA JR AH, VOLPATTO AL, SILVA EC, NASSER F, PEREIRA PSF, DE SANTI-NETO D, MEDEIROS GHA,ROCHA MF, SILVA RCMAServiço de Gastro-Hepatologia e Unidade de Cirurgia e Transplante de Fígado do Hospital de Base da Faculdade deMedicina de São
Fundamentos: Hepatite auto-imune (HAI) é uma doença inflamatória com poten-cial evolução para cirrose, caracterizada por fenômenos auto-imunes, como eleva-ção de gamaglobulinas e presença de auto-anticorpos. O objetivo deste estudo foiconhecer as características clínico-epidemiológicas e resposta ao tratamento de pa-cientes com HAI de nossa região. Pacientes e métodos: Análise retrospectiva deprontuários de pacientes com HAI, atualmente atendidos. Resultados: Foram iden-tificados 38 pacientes (73,7% mulheres), idade média 27 ± 17 anos ao diagnósticoe 81,6% raça branca. Pelos critérios internacionais, 25 (65,8%) tiveram diagnósticoprovável e 13 (34,2%), definitivo de HAI. Anticorpo anti-músculo liso foi positivo em52,7% dos casos (19/36), FAN em 35% (10/28), anti-microssomal de fígado e rimem 7,7% (2/26) e anti-mitocôndria em 7,1% (2/28). Apresentação clínica inicial:hepatite aguda 44,7% (17/38), hepatopatia crônica descompensada 39,4% (15/38) e seis pacientes (15,9%) assintomáticos investigados por alterações laborato-riais. Média da ALT foi 10,4xLSN, AST 27,2xLSN, GGT 4,5xLSN, FA 1,7xLSN, BT
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 25
7,2mg/dl, albumina 3,1g/dl e gamaglobulina 2,84g/dl. Biópsia hepática ao diag-nóstico realizada em 31 pacientes: hepatite de interface 100% (31), infiltrado linfo-plasmocitário 83,8% (26), roseta de hepatócitos 54,8% (17); fibrose não avançada(F1-F2) 32,25% (10), fibrose avançada (F3) 19,35% (6) e cirrose (F4) 48,4% (14). Otratamento combinado (prednisona e azatioprina) foi realizado em 30 pacientes;resposta até o momento avaliada em 24 pacientes: 15 (62,5%) resposta completa e9 (37,5%) parcial. Média de ALT e AST após 2 anos de tratamento foi 0,88xLSN e1,04xLSN, respectivamente. Resposta histológica após 2 anos em 10 pacientes mos-trou melhora da atividade necroinflamatória em 8 e da fibrose em 5. Conclusão:Houve predomínio em mulheres jovens e a maioria dos pacientes já se apresentava,ao diagnóstico, com fibrose hepática avançada (pré-cirrose/cirrose). O tratamentocombinado apresentou excelente resposta bioquímica e melhora da atividade ne-croinflamatória em 80% e da fibrose em 50% dos casos.
Doenças HepáticasMetabólicas (exceto NASH)
PO-035 (123)
CARACTERÍSTICAS AO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE PA-CIENTES COM DOENÇA DE WILSON (DW)COUTO OFM, GALIZZI-FILHO J, COUTINHO MFP, MATA LAC, ANDRADE RB, RESENDE N, BRAGA E, COUTO CA,FERRARI TCAAmbulatório de Fígado, Instituto Alfa de Gastroenterologia, HC-UFMG, Belo Horizonte
Fundamentos: A doença de Wilson (DW) é decorrente de um distúrbio no metabo-lismo do cobre (Cu), causando lesão hepática e neurológica. A idade e a forma deapresentação variam e algumas vezes o diagnóstico é retardado pela sutileza dossintomas e falha na suspeição. O tratamento é baseado em drogas quelantes ou queimpedem a absorção do Cu no intestino. Se instituído precocemente, evita a pro-gressão da doença. Apesar de eficazes, tais medicamentos podem apresentar efeitoscolaterais (EC). Objetivos: Apresentar os dados demográficos, clínicos e laborato-riais ao diagnóstico de 50 pacientes (pcts) com DW e os dados de seguimento de 30deles, acompanhados entre 1999 e 2007 no HC-UFMG. Resultados: 26 pcts dosexo feminino com idade de apresentação entre 3 e 33 anos e média de 16. Odiagnóstico foi feito a partir de screening em 11 pcts. Em 3 pcts a apresentação foina forma de hepatite fulminante. Houve hepatite sem cirrose em 15, cirrose em 13casos, descompensada em 6. Treze pcts apresentaram distúrbios neurológicos aodiagnóstico, sendo o mais comum disartria (10pcts). Anel de Kayser Fleischer (KF)foi identificado em 31 pcts. Havia história de DW na família em 37 pcts e em 28casos havia pais consangüíneos. Ceruloplasmina variou entre 2 e 51mg/dL, commédia de 8mg/dL. O Cu urinário (24h) variou entre 30 e 2250µg (VR até 80), commédia de 380µg. As aminotransferases estavam elevadas em 27 pcts, havendo maiorprevalência de elevação nos pacientes mais jovens. No seguimento de 30 pcts emperíodo médio de 72 meses, 23 foram tratados com Penicilamina (DP) e 7 comzinco (Zn). Não houve reação de hipersensibilidade. Um pcte apresentou piora neu-rológica após início do tratamento. De 17 pcts com KF, 11 o negativaram. Dos pctsem uso de DP, 4 apresentaram EC importantes necessitando troca de medicamento– sínd lúpus like, sínd nefrótica e cútis laxa (2). Onze pcts permaneceram com algumgrau de seqüela neurológica. Houve óbito em 3 pcts. Conclusões: A DW apresenta-se através de achados clínicos e laboratoriais diversos e inespecíficos. A história clíni-ca e familiar detalhada, seguida da propedêutica adequada, são os melhores instru-mentos para a realização de um diagnóstico precoce. Nossos achados reforçam osdados da literatura, que mostram dificuldade de reversão do quadro quando a doençase encontra instalada, ressaltando a importância do diagnóstico precoce e da tera-pêutica precisa. EC foram comuns durante o tratamento da DW, sendo, em suamaioria, efeitos leves.
PO-036 (169)
POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR ASSOCIADA A MUTAÇÃOGLU47GLY DA TRANSTIRRETINABITTENCOURT PL, FIGUEIRA YM, SANTOS EHS, NASCIMENTO TVB, FRANÇA AVC, SARAIVA MJHospital Português, Salvador, Bahia; Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe; Instituto de Biolo-gia Celular e Mo
Introdução: A polineuropatia amiloidótica familiar (PAF) é uma amiloidose heredi-tária autossômica dominante associada a mutações no gene da transtirretina (TTR).No Brasil, foram descritos pacientes com PAF associada a TTR Val30Met apresentan-do o fenótipo clássico da doença, caracterizado por polineuropatia sensitivo-motorae disautonomia progressiva e boa evolução após o transplante de fígado nas fasesiniciais da doença. Objetivos: Descrever o primeiro caso de PAF não relacionado aTTR Val30Met no Brasil e caracterizar o fenótipo da doença nos familiares acometi-dos. Pacientes e Métodos: Foram avaliados clinicamente indivíduos de uma mesmafamília com casos de PAF sem a mutação TTR Val30Met por PCR-RFLP. Seqüencia-mento do gene da TTR foi realizado para pesquisa de outras mutações na amostrade DNA do caso índice. Resultados: Seis pacientes (4 homens; média de idade de38 + 4 anos) apresentavam sinais de PAF, sendo a sintomatologia mais freqüente:
disautonomia caracterizada por hipotensão ortostática (n = 6); alterações do ritmointestinal (n = 5) e incontinência urinária (n = 2); polineuropatia sensitivo-motoragraus II-IV (n = 5) e distúrbios psiquiátricos (n = 3). Síndrome do túnel carpiano foiidentificada em quatro pacientes e insuficiência cardíaca com disfunção diastólicaem três outros pacientes, sendo que dois apresentavam aumento de espessura desepto interventricular. Idade ao início dos sintomas foi de 35 + 4 anos. Avaliação docaso-índice demonstrou polineuropatia de padrão axonal e depósito amilóide, res-pectivamente, na eletroneuromiografia e na biópsia de nervo sural. A análise porseqüenciamento do gene da TTR revelou a variante Glu47Gly. Conclusões: O fenó-tipo da PAF associada a TTR Glu47Gly é semelhante à observada na variante clássicaVal30Met, com exceção da elevada freqüência de acometimento cardíaco e síndro-me de túnel carpiano. Como o envolvimento cardíaco pode ser progressivo nestavariante da TTR, a despeito do transplante de fígado, é necessária avaliação cardio-lógica pré-operatória criteriosa e consideração de transplante duplo de fígado ecoração em casos selecionados.
PO-037 (336)
TRATAMENTO DE UM CASO DE HEMOCROMATOSE JUVENIL COM DE-FERIPRONA E DESFEROXAMINACAVALCANTE DBL, FELGA GEG, STILHANO AS, NAKHLE MC, CARRILHO FJ, CANÇADO ELR, DEGUTI MMServiço de Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP e Disciplina de Gastroenterologia Clínica daFMUSP
Fundamentos: Hemocromatose Juvenil (HJ) é uma condição hereditária raríssima,caracterizada pelo acúmulo maciço de ferro que leva a insuficiência cardíaca, hepá-tica, diabetes mellitus e hipogonadismo já na 2ª ou 3ª década de vida. O tratamentopadrão da sobrecarga de ferro pela flebotomia pode estar contra-indicado devido àcardiopatia descompensada. Apresentamos um caso em que o tratamento intensivocom desferoxamina e deferiprona por 6 semanas promoveu melhora clínica e labo-ratorial, fato registrado previamente apenas uma vez na literatura. Relato de Caso:RMD, masculino, 31 anos, previamente assintomático, apresentou nos últimos doismeses insuficiência cardíaca descompensada. A investigação revelou: hepatomega-lia, pele bronzeada, índice de saturação de transferrina (IST) de 99,29%, ferritina =8545UI/mL e ALT = 195UI/mL, provas de função hepática inalteradas, glicemia dejejum 134mg/dL, hormônio luteinizante 1,3UI/L (normal: 12 a 29,7UI/L), hormôniofolículo-estimulante < 1,0UI/L (normal: 2,9 a 7,8UI/L), testosterona total 12ng/dl(normal: 271 a 965UI/L). A dosagem sérica de hepcidina foi de 10,2ng/mL (VR: 10- 200ng/mL), e não se detectaram mutações do gene HFE. O ecocardiograma reve-lou fração de ejeção (FE) de 30%. Iniciou-se infusão contínua de desferoxamina30mg/kg/dia e administração oral de deferiprona 75mg/kg/dia durante 45 dias.Houve regressão da insuficiência cardíaca classe funcional IV para II e clareamentoda cor da pele. Após esse período, observaram-se: FE = 46%, IST = 95,73%, ferritina= 2100UI/mL, ALT = 94UI/mL. Reduziu-se então a desferoxamina para 20mg/kg/diae manteve-se a dosagem de deferiprona para seguimento ambulatorial. Conclusão:A quelação intensiva com deferiprona e desferoxamina pode ser indicada nos casosde HJ com insuficiência cardíaca descompensada, com resultados em curto prazofavoráveis.
PO-038 (413)
DOENÇA DE WILSON (DW) - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVOLUTI-VAS DE PACIENTES ACOMPANHADOS NO HUCFFCHINDAMO MC, PEREZ RM, MAZZILLO F, SNAIDER M, VILLELA-NOGUEIRA CA, LEITE NC, DOTTORI M, TORRES
ALM, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A DW caracteriza-se por depósito excessivo de cobre no fígado esecundariamente no cérebro, rins e córneas, com manifestações clínicas variadas. Oobjetivo deste estudo foi avaliar as características clínicas e aspectos evolutivos dadoença. Métodos: Foram incluídos pacientes com diagnóstico de DW acompanha-dos no HUCFF no período de 1999 a 2007. Os pacientes foram avaliados quanto aforma de apresentação da doença (hepática, neuropsiquiátrica ou pré-sintomática),manifestações clínicas e alterações laboratoriais. Foram definidos como pré-sinto-máticos os pacientes sem alteração clínica, com diagnóstico de DW a partir de scre-ening familiar. Resultados: Foram avaliados 23 pacientes, 13 (56%) do sexo mascu-lino, com média de idade de 26 ± 10 anos (12-53). A média de idade no início dossintomas foi de 19 ± 6 anos (11-30). A mediana do tempo de evolução da doençano momento do estudo foi de 5 anos (0-30). História familiar para DW foi verificadaem 48% (11/23) dos pacientes. A forma de apresentação inicial da doença foi hepá-tica em 48% dos casos (hepatopatia crônica sem cirrose em 52%, cirrose em 32% einsuficiência hepática aguda em 16%), neurológica em 48% e pré-sintomática em4%. Dos pacientes com apresentação neurológica inicial, 73% (8/11) apresentavamdoença hepática (45% cirrose). Outras manifestações encontradas foram colelitíaseem 17%, hemólise em 9% e nefrolitíase em 9%. O anel de Kayser Fleischer foiverificado em 36% dos pacientes avaliados (8/22): 75% (6/8) com manifestaçãoneurológica inicial e 25% com manifestação hepática inicial. A mediana do valor daceruloplasmina foi de 4mg/dL (0-18), do cobre sérico 31µg/dL(10-98) e do cobreurinário 72µg/24h (19-640). Os pacientes apresentaram a seguinte evolução noperíodo de acompanhamento: 70% estavam em seguimento, 4% foram transplan-
S 26 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
tados, 13% evoluíram para óbito e 13% perderam o acompanhamento. Conclu-sões: As manifestações hepáticas e neurológicas foram igualmente presentes na apre-sentação da doença. Os pacientes com apresentação neurológica isolada tiveramelevada prevalência de alterações hepáticas e achado mais freqüente do anel deKaiser-Fleischer.
PO-039 (423)
CUPRÚRIA EM PAIS DE PACIENTES COM DOENÇA DE WILSON ANTESE DEPOIS DA ADMINISTRAÇÃO ORAL DE D-PENICILAMINAWARDE-VIEIRA J3, OLIVEIRA PO1, WARDE KRJ3, JULIANO Y2, DEGUTI MM3, BARBOSA ER4, CARRILHO FJ3, CANÇADO
ELR3
Instituto de Química USP1, Medicina Preventiva UNIFESP2, Departamento de Gastroenterologia3 e Neurologia FMUSP4,São Paulo
Fundamentos: A doença de Wilson (DW) é distúrbio da excreção biliar de cobre, deherança autossômica recessiva, devido a mutações no gene ATP7B. O cobre, quenão se liga à apoceruloplasmina, circula no organismo ligado a aminoácidos e depo-sita-se principalmente no fígado e no cérebro, sendo excretado em maiores cifraspelos rins. A cuprúria basal maior do que 100µg/24h pode auxiliar no diagnóstico,embora cerca de 20% dos pacientes com DW cursem com níveis normais. A admi-nistração de 1,0g d-penicilamina (dPA) pode promover, em crianças com DW, valo-res maiores que 1600µg/24h e é considerada como teste mais sensível e específicopara o diagnóstico de DW. Casuística e métodos: Foram obtidos os níveis séricos deenzimas hepáticas, cobre e ceruloplasmina e a cuprúria basal de 24h de 25 pais (H)e 25 mães (M) de pacientes com DW (média de idade 61 anos [H], 57 anos [M]). Aseguir os indivíduos receberam 1,0g dPA, por via oral, dividido em duas tomadas,com coleta da urina de 24h para dosagem do cobre urinário, cuja determinação foirealizada pelo método de espectrometria de absorção atômica. A análise estatísticados dados foi feita pelos testes t de Student não pareado e pelos testes não paramé-tricos de Wilcoxon e de Mann-Whitney. Resultados: Os níveis médios de enzimashepáticas foram semelhantes nos dois grupos, exceto o nível de fosfatase alcalina,maior nas mulheres (H = 68,7UI/L; M = 81,7UI/L). Os níveis médios de ceruloplasmi-na (H = 21,7mg/dL; M = 27,8mg/dL) e de cobre sérico (H = 71,4µg/dL, M = 88,0µg/dL) foram maiores em mulheres do que em homens (p < 0,001). A cuprúria médiabasal masculina foi de 26,2µg/24h, enquanto a feminina foi de 18,3µg/24 (p =0,005). Após dPA, a cuprúria nos homens foi de 521,7µg/24h e nas mulheres de525,3µg/24h (p = NS). Conclusões: Os pais apresentaram cupremia e níveis deceruloplasmina menores e cuprúria basal maior do que as mães, enquanto os valo-res da cuprúria após dPA foram semelhantes. Foi definida, possível faixa de variaçãoda cuprúria após 1,0g de dPA em heterozigotos brasileiros para o gene da DW.
PO-040 (424)
RELATO DE CASO: HAMARTOMA MESENQUIMAL EM ADULTOBARBOSA CC, GIRÃO MS, MARTINS CF, PIMENTEL VL, MACHADO RL, VILLANOVA MG, ZAMBELLI LN, MARTINELLI
AL, OLIVEIRA RB, MUGLIA VFHospital das Clínicas de Ribeirão Preto – USP
Paciente TCS, feminina, 24 anos, sem profissão, natural de SP, em exame clínico derotina teve diagnóstico de hepatomegalia. No mesmo mês, realizou USG abdominale TC abdominal, cujos laudos foram compatíveis com o achado clínico de hepato-megalia, além de nodulações hipoecóicas (USG) e áreas hipodensas de natureza aesclarecer (TC). No mês de junho, foi encaminhada a nosso serviço para elucidaçãodiagnóstica. Realizou, sob internação, no mesmo mês, biópsia hepática, de áreacomprometida e de área não comprometida, com diagnóstico compatível comHamartoma Mesenquimal pelo anatomopatológico. Pela extensão do comprometi-mento hepático, foi pesquisada síndrome de hipertensão portal com EDA (junho de2006), que revelou varizes de fino calibre. Todas as sorologias para hepatite foramnegativas, bem como os exames para doenças auto-imunes. Durante a internação,evoluiu com ascite volumosa, sendo realizada paracentese diagnóstica e de alívio,com análise compatível com exsudato e a pesquisa negativa para células neoplási-cas, e culturas. Em revisão na literatura médica, segundo Stringer et al (Journal ofPediatric Surgery 2005 – 40, 1681-1690), é rara a apresentação dessa doença emadultos, com 18 casos descritos em pacientes acima dos 18 anos. A sintomatologia,habitualmente, é de dor e distensão abdominal.
PO-041 (437)
AVALIAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE UM GRUPO DE PACIEN-TES COM DOENÇA DE WILSONDE BEM RS, SILVEIRA CRS, OGATA JY, GOMES EM, GONZAGA CE, TEIVE H, MUZZILLO DAServiço de Hepatologia – Hospital de Clínicas (HC) – UFPR – Curitiba – PR – Brasil
Fundamentos: A Doença de Wilson (DW) é uma enfermidade herdada por caráterautossômico recessivo, que se caracteriza por um desarranjo no metabolismo docobre, resultando no acúmulo deste metal de maneira anormal em diversos tecidos,em especial no fígado e nos gânglios da base. Método: avaliação clínico-epidemio-lógica retrospectiva da casuística de um grupo de pacientes com Doença de Wilson.Resultados: Foi avaliada uma amostra de 20 pacientes portadores de DW atendidosno Ambulatório de Hepatologia Geral do HC-UFPR, 7 mulheres e 13 homens, todosda raça branca, com idades entre 27-44 anos e 8-49 anos, respectivamente. Todos
os pacientes são procedentes dos estados do Paraná e Santa Catarina, com predo-mínio de ascendência européia em 18 casos. Treze pacientes apresentavam históriafamiliar de DW, sendo que 11 foram os casos-índice. Não se verificou qualquer dadorelativo à consangüinidade nas gerações ascendentes. Quinze pacientes apresenta-vam clínica por ocasião do diagnóstico, sendo o tempo médio decorrido desde onascimento até o aparecimento dos sintomas de 22,4 ± 8,91 anos e o tempo para sefazer o diagnóstico pós-clínica variando de 1 mês a 15 anos. No momento do diag-nóstico os níveis de ceruloplasmina média foram de 9,9 ± 5,17µg/ml e os de cobreurinário de 500,4 ± 474,64µg/24hs. Dos 20 pacientes, 9 apresentaram maior aco-metimento hepático (anel de Kaiser-Fleisher em 5), 10 neurológico (anel de Kaiser-Fleisher em 9) e 1 sem sinais ou sintomas. Em 4 casos verificou-se doença neuroló-gica e hepática conjunta. Todos os pacientes permanecem em tratamento com D-penicilamina e/ou acetato de zinco. A despeito da terapêutica houve progressãoneurológica em 1 caso e hepática em 2 casos. Conclusões: 1. A maioria dos casosteve início do quadro antes dos 35 anos de idade. 2. Houve predomínio de ascen-dência européia. 3. Os achados clínicos assim como os níveis de ceruloplasmina ede cobre urinário foram importantes para o diagnóstico. 4. Apesar do tratamento eda boa aderência ao mesmo, 3 pacientes apresentaram agravamento da doença.
PO-042 (455)
HEMOCROMATOSE JUVENIL: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DOSA-GEM DA PRÓ-HEPCIDINAEVANGELISTA AS, NAKHLE MC, MELLO ES, NASCIMENTO-LIMA AS, ALVES VAF, CARRILHO FJ, CANÇADO ELR,DEGUTI MMGrupo de Hepatologia Clínica e Laboratório de Gastroenterologia e Hepatologia Tropical (LIMs 06 e 07) do Depto.de Gastroenterol
Fundamentos: A hemocromatose juvenil (HJ) caracteriza-se pelo acúmulo acentua-do de ferro no organismo, lesando fígado, coração, hipófise em adultos jovens.Objetivos: Reconhecer os aspectos clínicos da HJ numa série de casos e dosar a pró-hepcidina sérica. Casuística e métodos: Foram incluídos 4 casos diagnosticadosnos últimos 17 anos. Levantaram-se retrospectivamente os dados clínicos, laborato-riais e anatomopatológicos do momento do diagnóstico. Dosou-se a pró-hepcidina,pelo método ELISA, com o kit Hepcidin ProHormone®, (DRG Gmb, Alemanha). Re-sultados: Os casos estão listados a seguir, de acordo com número do caso; sexo/idade (anos); primeira manifestação clínica; demais órgãos acometidos; ferritina.Caso 1) M, 31 anos; ICC grau IV; fígado, pâncreas, pele; 8.500mg/dL. Caso 2) M, 35anos; DM e hipogonadismo; fígado, pele, ossos; 10.980mg/dL. Caso 3) F, 24 anos;hipogonadismo (amenorréia); coração, fígado, ossos, pele, 8.069mg/dL. Caso 4)M, 22 anos; hipotireoidismo; pele, fígado, hipófise. Os casos 3 e 4 relataram umirmão cada com quadro clínico semelhante. Todos os casos foram negativos para asmutações HFE (C282Y, H63D, S65C). Três pacientes encontram-se compensadosprolongadamente (6-17 anos), mas um (Caso 1) não aderiu ao tratamento e tevecomo causa de óbito mais provável a descompensação cardíaca, 3 meses após oinício dos sintomas. Dois pacientes foram biopsiados, sendo constatada cirrose he-pática e deposição de ferro tecidual. Os pacientes apresentaram respectivamente osseguintes níveis de pró-hepcidina sérica ou plasmática: 10,2; 9,8; 10,5 e 10,3ng/mL. (Referência: 10-200ng/mL). Conclusões: A HJ é condição sistêmica rara e gra-ve, que compromete órgãos nobres de indivíduos na sua terceira ou quarta décadade vida. Embora o envolvimento hepático tenha sido comum a todos os casos, asmanifestações mais proeminentes foram de natureza cardíaca e hipofisária. Todos oscasos apresentaram níveis de pró-hepcidina no limite inferior da referência; entre-tanto, a utilidade deste método como ferramenta auxiliar no diagnóstico e no ras-treamento familiar deverá ser avaliada em estudos futuros.
Doenças NeoplásicasPO-043 (60)
TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR COM INJEÇÃO PER-CUTÂNEA DE ÁLCOOL ANTES DO TRANSPLANTE DE FÍGADOBRANCO F, BRÚ C, BRUIX J, VILANA R, BIANCHI L, MATTOS AA, TOVO C, DITTRICH SComplexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Programa de Pós-Graduação em Hepatologia da FundaçãoFaculdade Federal de Ciênci
Este estudo tem como objetivo avaliar a sobrevida dos pacientes que realizaramtransplante ortotópico de fígado (TOF), submetidos ao tratamento do carcinomahepatocelular (CHC) com injeção percutânea de álcool (IPA) quando em lista deespera, bem como verificar a eficácia do tratamento em produzir necrose tumoral,evitar o dropout, diminuir a recorrência tumoral e identificar as complicações rela-cionadas ao tratamento. Foram analisados retrospectivamente, na Unidade de Cân-cer de Fígado do Hospital Clínic de Barcelona, grupo BCLC, 97 pacientes com CHCque estavam em lista de espera para TOF de agosto de 1999 a dezembro de 2003.Sessenta e dois (56,3%) pacientes foram tratados com IPA (grupo 1) e 35 (31,8%)não receberam terapia antitumoral no período prévio ao TOF (grupo 2). O tempomédio de espera em lista para o TOF foi de 8 meses, semelhante nos dois grupos. Oseguimento realizado após o TOF foi em média 23,5 meses, com o mínimo de 1ano. Oitenta e um CHCs em 62 pacientes submetidos ao TOF foram tratados com
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 27
IPA. Necrose de 80 a 100% foi observada em 61,3% dos pacientes. A presença denódulos adicionais no explante dos pacientes do grupo 1 foi significativamente menorque nos pacientes do grupo 2 (p = 0,002). Três pacientes (4,8%) do grupo 1 e 3(8,5%) do grupo 2 foram excluídos da lista de espera, todos por progressão tumoral(p = 0,46). Três (5,1%) e dois (6,2%) casos dos grupos 1 e 2 respectivamente,apresentaram recorrência do. Não foram evidenciadas complicações maiores apósas 421 sessões de IPA. Complicações menores ocorreram em 10 casos (2,37%).Nenhum óbito ou dropout ocorreu como resultado do tratamento. Não houve evi-dência de implante tumoral no trajeto da agulha relacionado ao tratamento comIPA. Após o TOF, a sobrevida estimada em 3 anos nos pacientes do grupo 1 e 2 foi67,7% e 77,4% respectivamente com redução para 64,4% e 70,7% quando a aná-lise é realizada por intention-to-treat. (p = 0,48). A despeito de não evidenciarmosaumento na sobrevida, diminuição do número de dropout bem como da recorrên-cia tumoral no grupo tratado, acreditamos que tal achado possa estar relacionadoao período curto de espera em lista. Não foram observadas complicações maioresrelacionadas ao procedimento, necrose maior que 80% foi evidenciada na maioriados pacientes tratados (61%) e menor número de nódulos adicionais foi observadono explante deste grupo.
PO-044 (193)
HIPERPLASIA NODULAR FOCAL MÚLTIPLAALMEIDA LSM, ALVIM MTP, FARIA RJ, LIMA VM, MACHADO VMM, VIANA AMA, VIDAL JNHospital universitário de Brasília
Introdução: A hiperplasia nodular focal (HNF) é o segundo tumor hepático benignomais comum e até 20% se apresenta como HNF Múltipla cuja prevalência na popu-lação encontra-se entre 0,31% e 0,6%, predominando em mulheres na menacme.Não apresenta tendência à malignização. A Tc da HNF Múltipla pode demonstrarachados atípicos como ausência do realce da cicatriz estrelada central, comum noscasos de HNF clássica. Portanto, nestes casos o exame histopatológico torna-se ne-cessário para o diagnóstico. O tratamento geralmente é conservador, exceto noscasos de lesões de grande proporções. Relato do caso: Paciente feminina, 17 anos,com história de dor em hipocôndrio direito, cíclica há 2 anos, sem demais comorbi-dades. Ao exame físico apresentava fígado a 10cm do RCD, sem sinais periféricos deinsuficiência hepática e hipertensão portal. Apresentava sorologias virais para hepa-tites A, B, e C negativas, AFP: 2,53mg/dl e função hepática preservada. A Tc deabdômen evidenciou fígado de dimensões aumentadas às custas de múltiplas lesõesnodulares confluentes, bem delimitadas, comprometendo segmentos II, IV, V e VI.Não havia cicatriz central evidente. A RNM demonstrou múltiplas massas hepáticasisointensas e hipointensas em T1 e T2 não sendo possível diferenciar HNF Multifocalde Hepatocarcinoma fibrolamelar. Optou-se portanto pela realização de biópsia he-pática que demonstrou sinais sugestivos de HNF. Apesar de sintomática o tratamen-to foi conservador já que a paciente apresentava sintomatologia intermitente e boaresposta a analgésicos comuns. Conclusão: Neste raro caso de HNF Múltipla a RNMnão foi capaz de fechar o diagnóstico, necessitando do exame histopatológico paraconclusão diagnóstica. Apesar do comprometimento extenso do parênquima hepá-tico, a função hepática não foi comprometida e a paciente apresentou melhora doquadro álgico com o uso de analgésicos comuns não necessitando de intervençãoinvasiva.
PO-045 (197)
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL NO CARCINOMA HE-PATOCELULAR- CORRELAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁ-FICAS E HISTOPATOLÓGICASKALAKUN KC, CHEINQUER H, CORAL G, CERSKI TPós-graduação em Hepatologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
Fundamentos: Pacientes com cirrose hepática têm alto risco para o desenvolvimen-to de carcinoma hepatocelular (CHC) o qual constitui importante causa de mortenesta população. Sabe-se que o diagnóstico precoce destas lesões pode alterar esteprognóstico; portanto, neste estudo foi avaliada a sensibilidade da Tomografia Com-putadorizada Helicoidal Trifásica (TCHT) no diagnóstico do CHC, assim como estu-dada a associação entre os achados tomográficos e características histopatológicasdesta neoplasia. Métodos: 40 pacientes com CHC foram incluídos. Nos pacientescom dois ou mais nódulos, somente o nódulo maior foi analisado. Os critérios usa-dos para o diagnóstico de CHC na tomografia foram a hipervascularização arterial eo padrão mosaico. Foi utilizado o ponto de corte de 5cm para o tamanho da neo-plasia em relação às características avaliadas. O nível de significância utilizado foi de5%. Resultados: Foram detectados à TCHT 60 nódulos, nos 40 pacientes. Os nódu-los com hipervascularização na fase arterial foram vistos em 25 (62,5%) pacientes.As lesões que tiveram impregnação em padrão mosaico foram 7 (17,5%). A sensibi-lidade da TCHT para o diagnóstico de CHC foi de 78% com IC 95% (61,4 – 90,7).A hipervascularização e padrão em mosaico foram correlacionados ao tamanho daneoplasia, assim como a presença de necrose e de invasão vascular à tomografia.Vinte e três pacientes (57,5%) foram classificados como grau 1 ou 2 de Edmondson-Steiner sem correlação com o tamanho ou características tomográficas. Invasão vas-cular microscópica foi observada em somente 3 pacientes (7,5%), mas esteve pre-sente na tomografia em 13 pacientes (32,5%). Necrose neoplásica à avaliação ana-
tomopatológica foi identificada em 14 pacientes (35%). A mesma esteve presenteem 19 (47,5%) à tomografia. Não houve correlação entre as características histoló-gicas e o tamanho do tumor. Conclusões: A TCHT é um método com boa sensibili-dade para o diagnóstico do CHC. Não houve correlação entre os achados tomográ-ficos e a graduação histológica. O tamanho do nódulo não influenciou as caracterís-ticas histológicas encontradas, mas correlacionou-se com o diagnóstico por examede imagem.
PO-046 (198)
TRATAMENTO CIRÚRGICO NO CARCINOMA HEPATOCELULAR EMPACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICASILVA MF, MATTOS AA, FONTES PRO, WAECHTER FL, PEREIRA-LIMA L, CORAL GPós-Graduação em Hepatologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre/IrmandadeSanta Casa de POA
Fundamentos: O carcinoma hepatocelular é uma complicação freqüente e quedetermina pior prognóstico aos pacientes com cirrose hepática. Dentre as opçõesterapêuticas com o intuito curativo, a ressecção cirúrgica e o transplante ortotópi-co de fígado constituem os principais tratamentos. O objetivo desse estudo éavaliar os resultados da ressecção hepática para o tratamento desta neoplasia empacientes com cirrose hepática com relação à sobrevida, à identificação de fatoresprognósticos e à incidência de recidiva tumoral. Métodos: Foram avaliadas ascaracterísticas clínicas, laboratoriais, endoscópicas e histopatológicas de 22 pa-cientes submetidos à ressecção hepática entre os anos de 1996 e 2005 e determi-nados os níveis séricos de bilirrubinas e alfa-fetoproteína, grau de disfunção hepa-tocelular (avaliado pelas classificações Child-Pugh-Turcotte e Model for End-StageLiver Disease), tamanho e número de nódulos, invasão microvascular e presençade lesões satélites. O nível de significância estatística utilizado foi de 5%. Resulta-dos: A média de idade foi de 62,09 anos, sendo 17 do sexo masculino. Dezoitopacientes apresentaram nódulo único, sendo que em 11 o tumor media menosque cinco centímetros. A sobrevida variou entre dez dias e 120 meses, com umamédia de 33,5 meses. No final do primeiro, terceiro e quinto anos, identificou-seuma sobrevida de 61,90%, 16,67% e 11,11%, respectivamente. No que se refereà sobrevida e à identificação de fatores prognósticos, foi identificada uma relaçãoentre sobrevida e invasão microvascular (p = 0,016). Não foi observada diferença,com significância estatística, nas curvas de sobrevida entre os níveis séricos debilirrubinas e alfa-fetoproteína, grau de disfunção hepatocelular, tamanho e nú-mero de lesões. Entretanto, foi identificada uma probabilidade de recidiva tumoralmaior no grupo de pacientes que apresentavam invasão microvascular no estudohistopatológico (p = 0,03). Conclusão: Apesar do pequeno número de pacientesestudados, observaram-se resultados pouco satisfatórios com o tratamento cirúr-gico do carcinoma hepatocelular. A seleção adequada dos casos pode ser um fatorimportante para a melhoria desse resultado.
PO-047 (207)
TUMOR INFLAMATÓRIO MIOFIBROBLÁSTICO DO FÍGADO (PSEUDO-TUMOR INFLAMATÓRIO): RELATO DE CASOCARVALHO EB, COUTO OFM, TOFANI MLM, RESENDE NP, MATA LAC, ANDRADE R B, CASTRO, LPF, COUTO
CA, FERRARI TCAAmbulatório de Fígado – Instituto Alfa de Gastroenterologia. HC-UFMG, Belo Horizonte/MG
Introdução: O tumor inflamatório miofibroblástico (TIM), antes denominado pseu-dotumor inflamatório, é uma lesão benigna que raramente acomete o fígado. Até opresente, existem cerca de 80 casos relatados na literatura mundial. É definido comoum processo fibroinflamatório, de etiologia desconhecida, ocasionalmente relacio-nada à agressão prévia inflamatória ou infecciosa do parênquima hepático. Estudosrecentes propõem uma associação com doenças auto-imunes do sistema pancrea-to-biliar, como a pancreatite auto-imune e a colangite esclerosante primária. Ainda écontroverso se ele representa um processo reacional ou uma neoplasia verdadeira.Sua apresentação pode ser como uma massa única ou múltiplos nódulos medindoaté 20cm. Na maioria dos casos, localiza-se na periferia do fígado, sendo o acompa-nhamento clínico a conduta adequada. Quando de localização peri-hilar, pode re-querer drenagem biliar, ressecção ou mesmo transplante hepático em casos selecio-nados. A importância clínica reside na sua diferenciação de outras lesões hepáticas,principalmente as neoplasias malignas. Relato do caso: paciente do sexo feminino,48 anos, com quadro clínico de dor abdominal em hipocôndrio direito e perdaponderal. A tomografia computadorizada do abdome demonstrou um nódulo he-pático de 4,5 x 3,5cm, no segmento VII/VIII, sugerindo um hemangioma de aparên-cia atípica. A função hepática e os marcadores tumorais (CEA, α-fetoproteína e CA19.9) eram normais. A histologia da lesão demonstrou parênquima hepático substi-tuído por infiltrado inflamatório misto disposto em meio de tecido conjuntivo. Aimuno-histoquímica confirmou a natureza fibroinflamatória da lesão, com antígeno(anticorpo-clone) vimentina, actina e CD34 positivos. Diante do diagnóstico de TIMdo fígado, optamos por tratamento conservador, realizado através de monitoraçãoclínica e radiológica da paciente. Conclusão: O TIM é uma rara lesão benigna cujodiagnóstico diferencial com lesões hepáticas malignas pode ser difícil. A opção detratamento clínico ou cirúrgico está relacionada ao tamanho e localização do tumore à presença de complicações.
S 28 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-048 (244)
METÁSTASE ÓSSEA DE HEPATOCARCINOMABOENO ES, FERREIRA GER, SANTOS W, VIDAL BPM, MELO VAC, TADDEO EF, MOUTINHO RS, FREITAS IN,ALTIERI LServiço de Gastroenterologia – Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo – São Paulo, SP
Fundamentos: O Hepatocarcinoma (HCC) é o quinto tumor sólido mais comumem todo o mundo e a terceira maior causa de mortalidade por câncer. A incidênciado HCC não é uniforme, variando de acordo com a prevalência das doenças hepá-ticas subjacentes numa determinada região. Está bem estabelecido que as infecçõescrônicas pelo vírus B e C e a doença hepática alcoólica estão relacionadas ao HCC.Com a utilização rotineira do screening para HCC tem sido possível realizar o diag-nóstico precocemente. O principal local das metástases é o próprio fígado. Contu-do, metástases extra-hepáticas têm sido mais observadas devido à melhora nosmétodos diagnósticos e terapêuticos do HCC. Os locais mais acometidos são: pul-mões, linfonodos, ossos e glândula adrenal. Objetivo: Relatar um caso de HCCdiagnosticado pelo acometimento ósseo. Caso clínico: GCC, 55 anos procurou pron-to-socorro com dor torácica importante há quatro dias. A dor irradiava para dorso,tinha característica de queimação, era de moderada intensidade e piorava com amudança de decúbito. O paciente também relatava que há quatro meses havianotado o surgimento de nodulações nas regiões frontal, temporal, esternal e naclavícula. Antecedentes pessoais: nefrolitíase e portador de hepatite C; ex-tabagista10 maços/ano. Ao exame físico, o paciente apresentava-se em bom estado geral,afebril, anictérico, eupnéico, com nodulações de cerca de 3cm de diâmetro sendo amaior na região frontal, de caráter indolor, de consistência fibroelástica, móvel. Asauscultas cardíaca e respiratória estavam normais e abdômen sem visceromegalias.O raio X de tórax identificou lesões líticas na coluna vertebral e no esterno. A origemprimária destas lesões foi investigada durante a internação. A tomografia de abdô-men identificou áreas hipodensas mal definidas no segmento VI do fígado. Em rela-ção aos marcadores tumorais, a alfa-fetoproteína foi 697mg/dl. Foi realizada biópsiada nodulação frontal que teve como resultado infiltração de adenocarcinoma. Con-clusão: O HCC pode ser diagnosticado em pacientes sem sinais clínicos de descom-pensação da doença hepática. A presença de metástase óssea está relacionada àdoença mais avançada, comprometendo o prognóstico e a sobrevida destes pacien-tes.
PO-049 (253)
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO CLÍNICA DOS PACIENTES PORTADORES DECARCINOMA HEPATOCELULAR ACIMA DE 5.0 CM DE DIÂMETROSANTOS MF, RIBEIRO MA, GONÇALVES ALL, PASTANA JC, FORMIGA FB, SUPINO C, AQUINO CGG, FERREIRA FG,SZUTAN LAFaculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Introdução: Apenas cerca de 20% dos pacientes portadores de carcinoma Hepato-celular (CHC) tem possibilidade de tratamento com intenção curativa (hepatecto-mia ou transplante hepático). Seguem-se os critérios de Milão para que o pacientepossa ser indicado para TX – 1 nódulo até 5.0cm ou 3 nódulos de até 3.0cm. Obje-tivo: Avaliar a evolução clínica, resultado do tratamento e sobrevida de pacientesportadores de CHC maiores que 5.0cm atendidos no grupo de fígado da Santa Casade SP. Casuística e método: Estudo retrospectivo de 23 pacientes portadores deCHC maiores que 5.0cm de diâmetro atendidos no Ambulatório do Grupo de fíga-do da Santa Casa de SP de 1996 a 2006. Quatro pacientes do sexo feminino (18.2%)e 18 (81.8%) do sexo masculino. A média de idade foi 59 anos. Dez (43.4%) tinhamdiagnóstico concomitante de cirrose hepática. A presença de vírus C foi detectadaem 5 casos, vírus B em 3 e alcoolismo em 13. A - feto proteína estava aumentadaem 16 pacientes, sendo que em 7 estava > 1000 (30.43%). Resultados: Dez pacien-tes não tinham condição clínica para qualquer tipo de tratamento, apenas sendomedicados com sintomáticos, evoluindo a óbito em torno de 1 mês; 6 pacientesforam submetidos a hepatectomia, 8 pacientes realizaram quimioembolização va-riando de 1 a 4 sessões e 3 foram submetidos a alcoolização. A sobrevida dos pa-cientes submetidos a hepatectomia variou de 18 meses a 8 anos. Os que foramsubmetidos à quimioembolização de 8 a 18 meses. Conclusão: Nas condições dopresente estudo pudemos averiguar que a minoria dos pacientes tem condição deressecabilidade, porém quando esta é possível aumentou o tempo de sobrevida e aqualidade de vida.
PO-050 (365)
QUEDA DOS NÍVEIS SÉRICOS DO DNA DO VHB NÃO ACOMPANHADADE REDUÇÃO SIMULTÂNEA DO AGHBE EM PACIENTES COM HEPATI-TE CRÔNICA B AGHBE (+) SOB TERAPÊUTICA ANTIVIRALDA SILVA LC, DA NOVA ML, ONO-NITA SK, PINHO JRR, CARRILHO FJDisciplina de Gastroenterologia Clínica - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Fundamentos: A determinação simultânea do DNA e do AgHBe séricos permitiu-nos verificar a existência de três padrões de comportamento, um dos quais caracte-rizado pela queda rápida e progressiva do DNA-VHB e sem redução concomitantedo AgHBe (padrão III) (Da Silva et al, DDW 2005). Objetivo: Mostrar a importânciadesse padrão de comportamento na condução da terapêutica antiviral. Casuística e
métodos: Foram avaliados 10 séries de tratamento de 8 pacientes com hepatitecrônica B AgHBe (+) e submetidos a diferentes antivirais e que foram acompanhadoscom determinações de DNA-VHB por PCR quantitativo e do AgHBe pelo métodoMEIA AXSYM (Abbott). Consideramos como curvas discordantes a persistência doAgHBe após negativação do DNA-VHB por períodos superiores a 6 meses. Resulta-dos: Durante esse período, nosso estudo mostrou: 1) Em seis de dez séries houvequeda lenta porém progressiva, caracterizando o respondedor viral lento (padrãoIIIA). Um desses pacientes mostrou negativação do AgHBe com soroconversão (e/ae) somente após 26 meses de tratamento com Peg-IFN-alfa2b e lamivudina. 2)Quatro de dez séries mostraram persistência dos níveis do AgHBe apesar da indetec-tabilidade do DNA-VHB, caracterizando uma ausência de resposta sorológica (pa-drão IIIB). Esse padrão de resposta é seguido de reativação viral, havendo elevaçãoulterior dos níveis de DNA-VHB. Conclusões: 1) Os padrões observados mostram anecessidade de persistir com o tratamento quando se detecta o padrão IIIA ou mo-dificá-lo quando se observa o padrão IIIB. 2) Os tipos de comportamento sorológicosugerem que não se deve estipular “a priori” o tempo de tratamento, seja cominterferon, seja com derivados nucleosídeos.
PO-051 (376)
COLANGIOCARCINOMA CENTRAL (CC) COMO PRIMEIRA MANIFES-TAÇÃO DE DOENÇA DE CAROLI (DC) EM PACIENTE COM 72 ANOS DEIDADEOLIVEIRA E SILVA A¹, ALVES VAF², MELLO ES², WAHLE RC¹, CARDOZO VDS¹, ROCHA BS¹, NÉSPOLI PR¹, SOUZA
EO¹, DAZZI FL¹, D’ALBUQUERQUE LAC¹¹Centro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo,SP. ²Centro de I
Fundamentos: Mais do que 80% dos pacientes com DC apresentam sintomas antesdos 30 anos de idade, com risco e desenvolvimento de colangiocarcinoma em 7% a14% desses pacientes. A apresentação inicial já com colangiocarcinoma é rara e é omotivo desse nosso trabalho. Métodos: Relato de um caso de doença de Calori comapresentação atípica. Resultados: Paciente 72 anos, sexo masculino, hígido até 10dias antes da primeira consulta, quando evoluiu com icterícia, prurido, febre, calafri-os e anorexia. Submetido a colangiorressonância magnética, identificou-se dilata-ção de vias biliares intra-hepáticas, com lesão nodular sólida de 2,0cm no nível dajunção de ductos hepáticos direito e esquerdo. Durante realização de laparotomia,comprovou-se fígado cirrótico colestático. Promoveu-se então hepatectomia esquerdae reconstrução do trânsito, valendo-se de anastomose biliodigestiva. O estudo ana-tomopatológico revelou um adenocarcinoma bem diferenciado de ductos biliares,com invasão do tecido adiposo hilar e de filetes neurais. Adicionalmente, observou-se dilatação irregular da árvore biliar mais central do lobo, especialmente dos ductossegmentares, acompanhada por extensa mal formação da placa ductal, caracteri-zando DC. Múltiplos focos de displasia epitelial de alto e de baixo grau foram evi-denciadas. Conclusões: Apesar da grande maioria dos pacientes com DC teremmanifestação clínica nas primeiras três décadas de vida, alguns poucos permanecemassintomáticos até fases mais avançadas da vida (1), não devendo, portanto, estadoença ser desconsiderada no diagnóstico diferencial das doenças colestáticas doadulto. Em nosso caso, além do característico padrão de dilatação das vias biliaressegmentares, foi identificada extensa mal formação da placa ductal, achado típicodesta doença. A freqüência de colangiocarcinoma situa-se em torno de 7%, e algu-ma vez está associada à presença de displasia epitelial da árvore biliar, como nopresente caso.
PO-052 (394)
HEMANGIENDOTELIOMATOSE HEPÁTICA E SÍNDROME DE BUDDCHIARI- RELATO DE CASOBASTO ST, SOUSA C, FERNANDES ES, RAMOS AL, LEMOS JR V, MARTINEZ R, COELHO HSM, RIBEIRO JServiço de Hepatologia e Programa de Transplante Hepático – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
32 anos, sexo feminino. Aparecimento de ascite há cerca de 2 anos após gestação deseu primeiro filho. No último ano evoluindo com emagrecimento progressivo, icterí-cia e necessidade de paracentese de alívio, sendo identificada ascite de aspecto quilo-so. O exame físico evidenciava paciente caquética, ictérica, com estigmas de insufi-ciência hepática como teleangectasias, eritema palmar. Apresentava síndrome de der-rame pleural em hemitórax direito, ascite de grande monta e circulação colateral ab-dominal visível. Exames laboratoriais mostravam evidência de hepatopatia avançadacom bilirrubina total de 2,8; albumina 1,8 e TAP de 34%. A investigação para etiologiade doença hepática mostrou sorologias para hepatites virais negativas, assim com aavaliação de doença auto-imune, doença de wilson, deficiência de alfa 1 antitripsina.Foram realizados também testes para trombofilia, todos negativos. Ultra-sonografiaabdominal com doppler de sistema porta não evidenciava fluxo nas veias suprahepá-ticas, descrevendo aspecto compatível com síndrome de Budd Chiari. Foi realizadatambém tomografia de abdome superior que descrevia fígado de volume normal comcontornos regulares, com realce heterogêneo pelo meio de contraste no parênquimahepático. Veias hepáticas e ramos portais intra-hepáticos mal individualizados. Foi sub-metida a transplante hepático em nov/2006. Enxerto proveniente de “split”, loboesquerdo. Apresentou colestase e ascite de difícil controle no pós operatório. Eviden-ciada trombose de artéria hepática aos 10 dias de pós operatório. Sendo submetida a
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 29
retransplante hepático. Evoluiu favoravelmente com boa função do enxerto, receben-do alta com 14 dias após o retransplante. Seguimento ambulatorial com melhoraprogressiva do estado geral, ganho ponderal de 8kgs. O explante dessa pacientemostrava fígado com neoplasia vascular difusa que se projetava para luz de vasoshepáticos e sinusóides. A pesquisa imunohistoquímica com o anticorpo anti fator VIIIfoi positiva nas células neoplásicas, configurando hemangioendotelioma epitelióideassociado a alterações hepáticas crônicas compatíveis com obstrução vascular. Discus-são: Trata-se de um caso raro, descrevendo neoplasia de linhagem vascular de malig-nidade moderada, cuja maior série de casos descrita na literatura apresenta 137 pa-cientes, aqui observada na sua forma de apresentação difusa. O hemangioendotelio-ma hepático pode se apresentar com disfunção hepática em cerca de 30% dos casos.Frequentemente o diagnóstico passa desapercebido até a realização de transplantehepático, que tem sido descrito como a terapêutica mais indicada nesses casos, comsobrevida de 85% em 1 ano. Existem apenas 2 trabalhos na literatura descrevendoessa patologia evoluindo com um quadro de síndrome de Budd Chiari, o que torna ocaso acima descrito ainda mais singular.
PO-053 (558)
COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO (CIH) DETECTADO APÓSLONGO PRAZO DE CLAREAMENTO DO VÍRUS DA HEPATITE C (VHC).A PROPÓSITO DE 2 CASOSOLIVEIRA E SILVA A DE¹, ALVES VAF², MELLO ES², WAHLE RC¹, CARDOZO VDS¹, ROCHA BS¹, NÉSPOLI PR¹,SOUZA EO¹, DAZZI FL¹, D’ALBUQUERQUE LAC¹¹Centro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo,SP. ²Centro de I
Fundamentos: No Brasil, a causa exata do CIH é desconhecida. Fatores de risco, noentanto, são hepatolitíase, colite ulcerativa, colangite esclerosante primária, cistosde colédoco, nitrosaminas (carcinógenos químicos). Recentemente atribui-se im-portância etiológica ao vírus da hepatite C, especialmente naqueles que foram sub-metidos a terapêutica com interferon, porém são raros os casos em que tal neoplasiamaligna desenvolve-se anos após erradicação do agente viral, motivo de nossa abor-dagem nesse trabalho. Métodos: Relato de 2 casos de CIH detectado após longoprazo de clareamento do VHC. Resultados: Primeiro paciente masculino, 44 anos,com tumor de 7,6cm em lobo esquerdo, e paciente feminina, 61 anos, com tumorde 2,0cm em lobo esquerdo; ambos cirróticos no início do tratamento com interfe-ron alfa padrão, monoterapia por 6 meses, genótipo 3A, com tempo de erradiaçãodo VHC de 66 e 65 meses, respectivamente. Conclusões: A terapia com interferon,promovendo o clareamento do RNA-VHC, reduz a incidência do carcinoma hepato-celular no longo prazo. Propõe-se que isto se dá pela interrupção do acúmulo deaberrações genéticas determinadas pelo processo inflamatório crônico e pela intera-ção da proteína do “core” VHC com as proteínas intracelulares e receptores intranu-cleares para TNF . No entanto, cada vez mais casos de colangiocarcinoma empacientes com VHC, vários deles já tratados com interferon, têm sido reportados. Afisiopatogenia dessa interrelação com o desenvolvimento do CIH ainda permanecedesconhecida, mas esse trabalho reforça a proposta de que tais pacientes, mesmonegativos para o RNA-VHC, sejam periodicamente avaliados, a cada 6-12 meses, nabusca de identificar ainda em fase mais precoce essas lesões nodulares sólidas malig-nas. Uma série de 18 casos com CIH em pacientes portadores do VHC reportadarecentemente revela melhor prognóstico destes casos do que nos que não têm VHC.
PO-054 (559)
IMUNO-HISTOQUÍMICA DO HEPATOCOLANGIOCARCINOMA (HCC).EXPERIÊNCIA INICIALOLIVEIRA E SILVA A DE¹, ALVES VAF², MELLO ES², WAHLE RC¹, CARDOZO VDS¹, ROCHA BS¹, NÉSPOLI PR¹,SOUZA EO¹, DAZZI FL¹, D’ALBUQUERQUE LAC¹¹Centro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo,SP. ²Centro de I
Fundamentos: A biópsia hepática é o “padrão-ouro” para o diagnóstico de nóduloshepáticos com hipótese de malignidade, especialmente quando pequenos e no con-texto de hepatopatias crônicas. O presente estudo visa demonstrar a contribuiçãodo pelo estudo imuno-histoquímico em casos com aspecto histológico misto, comcélulas similares a hepatócitos mescladas com outras reminiscentes de epitélio biliar,recentemente compreendidos como carcinomas hepáticos relacionados a célulasprogenitoras bipotenciais. Métodos: Amostras de tecido hepático de 3 pacientes dosexo masculino, dois com 64 e um com 57 anos, sendo dois portadores de cirrosepor esteatohepatite não alcoólica e outro induzido pelo vírus da hepatite C. As amos-tras fixadas em formol e incluídas em parafina foram submetidas a estudo histopato-lógico, complementado pela pesquisa imuno-histoquímica de citoqueratina 7, doantígeno carcino-embriônico (ac policlonal anti-CEA gold-5) e do antígeno Hep-Par-1 (marcador hepatocitário) nos 3 casos, sendo adicionalmente efetuadas pes-quisas de citoqueratinas 8 e 18 em um caso, citoqueratinas 1,5,10, 11 e 14 em umcaso e alfa-feto-proteína em 2 casos. Resultados: A reação para citoqueratina 7 epara citoqueratina 19 foram positivas em padrão fibrilar/difuso no citoplasma decélulas nas áreas colangiocelulares, enquanto a reatividade para CEAp ocorreu emambas as áreas, notando-se padrão canalicular nas áreas hepatocelulares acinares eluminal nos elementos colangiocelulares, com citoqueratinas 8 e 18 marcando am-
bas as áreas. Grânulos citoplasmáticos de Hep-Par-1 caracterizam diferenciação he-patocelular. A pesquisa de alfa-fetoproteína resultou negativa nos dois casos em quefoi efetuada. Conclusões: A pesquisa imuno-histoquímica mostra-se complementoútil ao estudo histopatológico em casos de carcinomas hepáticos que apresentamelementos hepatocelulares mesclados a áreas de aspecto biliar. A positividade paraCEAp delineando estruturas canaliculares e para Hep-Par-1 demonstra diferenciaçãohepatocelular, enquanto a expressão de citoqueratinas 7, 19 e daquelas marcadaspelo anticorpo 34BE12 identificam o componente colangiocelular. Desta forma, opainel mínimo que sugerimos para tal diagnóstico diferenciado inclui CEAp, Hep-Par-1 e citoqueratina 7.
PO-055 (560)
HEPATOCOLANGIOCARCINOMA (HCC), NEOPLASIA PRIMÁRIA DOFÍGADO (NPF) DE BAIXA PREVALÊNCIA. ASPECTOS CLÍNICOSOLIVEIRA E SILVA A DE¹, ALVES VAF², MELLO ES², WAHLE RC¹, CARDOZO VDS¹, ROCHA BS¹, NÉSPOLI PR¹,SOUZA EO¹, DAZZI FL¹, D’ALBUQUERQUE LAC¹¹Centro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo,SP. ²Centro de I
Fundamentos: Essa forma rara de NPF encerra ambos os componentes, do carcino-ma hepatocelular e do colangiocarcinoma, em vários graus. Descrito inicialmenteem 1949, não tem ainda história natural e terapêutica bem definida. Nesse trabalhonos preocupamos com nossa experiência nesse tipo de câncer. Métodos: Entre marçode 2004 e janeiro de 2007, diagnosticamos 3 casos de HCC, todos do sexo mascu-lino, com idades entre 57 e 64 e média de 62 anos, buscando identificar etiologia dacirrose, distribuição segmentar dos nódulos, comportamento de marcadores soro-lógicos e tratamento instituído. Resultados: O primeiro paciente de 64 anos apre-sentava 2 nódulos, o maior com 2,0cm no maior diâmetro em segmento VII e outrocom 1,7cm em segmento IV, portador de cirrose por esteatohepatite não alcoólica,com nível de alfa-fetoproteína (AFP) normal, antígeno carcinoembrionário (CEA) de37ng/ml tendo sido submetido a transplante hepático (TxF). O segundo pacientede 64 anos apresentava 2 nódulos, o maior com 4,3cm em segmento VII e outrocom 1,6cm em segmento IV, portador de cirrose relacionado à hepatite crônica C,com AFP de 10,9ng/ml, CEA de 22ng/ml também submetido a TxF. O terceiropaciente de 57 anos, com nódulo único de 5,5cm em segmento IV, portador de co-infecção pelos vírus das hepatites B e C, com AFP de 19,3ng/ml, CEA de 32ng/ml,submetido a ressecção cirúrgica. Comentários: Cirrose hepática de diferentes etio-logias estava presente em todos os 3 casos desta série, achado de acordo com asdiversas séries da literatura e que possivelmente implica a cirrose na patogênesedesta neoplasia. Na maior parte das vezes, os achados clínico-patológicos se asse-melham mais aos do carcinoma hepatocelular (CHC) do que os do hepatocarcino-ma. Em algumas séries, no entanto, o comportamento biológico desta neoplasiaparece ser mais agressivo do que o do CHC, o que pode indicar a necessidade deabordagem terapêutica personalizada.
PO-056 (566)
CARCINOMA HEPATOCELULAR EM CIRRÓTICOS PORTADORES DE ES-TEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICAOLIVEIRA E SILVA A DE, CARDOZO VDS, ROCHA BS, WAHLE RC, NÉSPOLI PR, SOUZA EO, DAZZI FL, MANCERO
JPM, LARREA FIS, PERÓN JR G, RIBEIRO JR MAF, COPSTEIN JLM, GONZALEZ AM, D’ALBUQUERQUE LACCentro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Carcinoma hepatocelular (CHC) revela-se como uma complicaçãotardia da obesidade após cirrotização do fígado secundaria à esteato-hepatite nãoalcoólica (EHNA), sendo que a incidência de CHC em portadores de CHC ainda nãoestá estabelecida na literatura mundial. Métodos: Relatar 5 casos de carcinoma he-patocelular em pacientes cirróticos portadores de esteato-hepatite não alcoólica.Resultados: No Centro Especializado em Terapia do Fígado (CETEFI), no período dedezembro de 1993 a junho de 2006, 30 pacientes cirróticos portadores de CHCforam transplantados. Desses, 2 foram secundários a EHNA, sendo todos do sexomasculino e obesos mórbidos, e outros 3 pacientes cirróticos com CHC por EHNA,encontravam-se fora dos critérios para transplante hepático, sendo submetido atratamento paliativo. A idade dos pacientes estudados variou de 59 a 79 anos, apre-sentando IMC de 32 a 45Kg/m², sendo que todos apresentavam hipertensão arte-rial, diabetes mellitus e síndrome hepatorrenal. O padrão histológico mais comumfoi o multinodular difuso presente em três casos, sendo os dois casos submetidos atransplante hepático intervivos evoluíram para óbito, um deles no intra-operatóriopor falência miocárdica na fase de reperfução e o outro por falência múltipla deórgãos no 15º pós-operatório. Conclusões: A morbimortalidade neste grupo depacientes é muito alta. Atribui-se que tal evolução nefasta deva-se à exposição crôni-ca dos hepatócitos a radicais livres de 02 e citocinas, todos promotores de expansãode células progenitoras com diminuição das ovais que associadas a mutações doDNA e instabilidade cromossomal. O risco cirúrgico em obesos mórbidos, associa-dos à comorbidades graves, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipi-demias, hipercoagulabilidade e glomerulopatias, é elevado. Independentementedesses aspectos aqueles com CHC devem ser conduzidos pelo transplante de fígadouma vez que não existam contra-indicações formais tais como invasão vascular oumetástases, por isso deverá ser indicado nos estágios iniciais da neoplasia.
S 30 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-057 (570)
CARCINOMA HEPATOCELULAR COM NÍVEIS NORMAIS DE ALFA-FE-TOPROTEÍNAMARCHIORI R, SOARES RCC, ALENCAR ALG, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, CHINDAMO MC, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A dosagem periódica de alfa-fetoproteína (AFP) é recomendada parascreening de carcinoma hepatocelular em pacientes com cirrose hepática. Emboraníveis elevados de AFP estejam freqüentemente associados à doença avançada, arelação inversa, entre AFP normal e doença precoce, não é bem estabelecida. Esteestudo teve como objetivo avaliar a freqüência e as características clínicas do carci-noma hepatocelular (CHC) com níveis normais de AFP na apresentação inicial. Ca-suística e metodologia: Foram estudados portadores de CHC, diagnosticado apartir de imagem sugestiva (nódulo com hipercaptação na fase arterial em CT ouRNM), que apresentavam níveis de AFP < 10UI/mL no momento do diagnóstico. Ospacientes foram avaliados quanto às características demográficas, etiologia da doençahepática, sinais e sintomas clínicos, grau de função hepática e estágio do CHC (nú-mero de nódulos hepáticos, tamanho dos nódulos (cm), presença de invasão vascu-lar, metástases à distância e tamanho do tumor superior a 50% do tamanho dofígado). Resultados: A partir de uma amostra inicial de 201 pacientes com CHC,foram identificados 55 pacientes (30%) com AFP normal que foram incluídos nesteestudo, sendo 45 (82%) do sexo masculino, com média de idade de 63 ± 11 anos(28-82). As principais etiologias foram: hepatite C em 50% e álcool em 20%. Cirroseestava presente em 78% dos pacientes e a distribuição do Child foi: A em 51%, B em36% e C em 13%. Na apresentação inicial, as principais manifestações foram: asciteem 40%, encefalopatia em 32%, dor em hipocôndrio D em 30%, emagrecimentoem 15%, febre em 11%, icterícia em 10% e HDA em 8%. Em relação ao estágio dadoença, 28% dos pacientes apresentavam mais de 3 nódulos e 52% apresentavamlesão única, sendo o tamanho do nódulo > 3cm em 82% destes. Em 18% dos casos,o tumor ocupava mais de 50% do fígado. Invasão vascular foi observada em 13%dos pacientes e metástase à distância em 7%. Conclusão: Em portadores de CHCcom AFP normal, foi freqüente o achado de doença avançada, sem possibilidade detratamento curativo. Embora seja utilizada como teste de screening, a AFP normalnão deve ser considerada um marcador de doença precoce.
PO-058 (571)
CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) - ESTUDO COMPARATIVO DAAPRESENTAÇÃO CLÍNICA INICIAL ENTRE DOIS PERÍODOS DE TEMPOSOARES RCC, MARCHIORI R, ALENCAR ALG, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, CHINDAMO MC, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: O diagnóstico do CHC em fase inicial é fundamental para aumentara chance de tratamento curativo. Mas, apesar do screening recomendado para suadetecção, ainda não há evidência de que o diagnóstico de CHC em nosso meioesteja sendo realizado em fase mais precoce. Este estudo teve como objetivo avaliara apresentação clínica do CHC no momento do diagnóstico em dois períodos distin-tos: 1997 -2001 vs. 2002-2007. Metodologia: Foram estudados pacientes comdiagnóstico de CHC realizado entre 1997 e 2007, estabelecido a partir de imagemsugestiva (nódulo com hipercaptação na fase arterial em CT ou RNM) e/ou elevaçãode alfa-fetoproteína (AFP) em fígado cirrótico ou por diagnóstico histológico. Ospacientes foram classificados em dois grupos segundo o ano do diagnóstico: 1997-2001 (G1) e 2002-2007 (G2) e comparados quanto às características demográficas,etiologia da doença hepática, sinais e sintomas clínicos, função hepática e estágiodo CHC no momento do diagnóstico. Resultados: Foram incluídos 200 pacientescom CHC, 75% homens, com idade de 62 ± 12 anos (28-89). Em 79 (40%) odiagnóstico foi estabelecido até 2001 (G1) e em 121 (60%) a partir desta data (G2).As principais etiologias da doença hepática foram: hepatite C (60%), álcool (12%),hepatite B (11%) e NASH (8%). Cirrose estava presente em 86% dos pacientes(48% Child A, 36% Child B e 16% Child C). Na análise comparativa, os grupos eramsemelhantes quanto à etiologia da doença hepática (p = 0,28), score Child (p =0,70), presença de febre (p = 0,58), emagrecimento (p = 0,61), massa palpável (p =0,74), encefalopatia (p = 0,36), ascite (p = 0,27), icterícia (p = 0,64) e níveis de AFP(p = 0,89). Com relação ao estágio do CHC, não houve diferença quanto à presençade mais de um nódulo tumoral (47% vs. 49%; p = 0,79), invasão vascular (17% vs.22%; p = 0,38), tumor maior que 50% do fígado (40% vs. 32%; p = 0,29) e metás-tase à distância (8% vs. 10%; p = 0,69). Conclusão: Neste estudo, não se observoumudança, ao longo da última década, na apresentação clínica inicial do CHC quan-to à extensão do tumor e grau de disfunção hepática. Estes dados indicam a neces-sidade de criteriosa reavaliação das práticas de screening rotineiramente utilizadas,visando a obtenção de um diagnóstico mais precoce.
Fibrose HepáticaPO-059 (124) – PRÊMIO TOMAZ FIGUEIREDO MENDES
PO-060 (149)
DERIVAÇÃO DE ESCORE NÃO INVASIVO PARA AVALIAR A FIBROSE EMHEPATOPATAS VÍRUS C POSITIVOMOLL AJ1, SILVA FA2, PITTELLA AM3, NUNNES VCSR1
1. Ultra-sonografia da Rede Labs D’Or, 2. Radiologia do Hospital Quinta D’Or – UNIGRANRIO, 3. Clínica Médica/Hepatologia do Hospital Quinta D’Or – UNIGRANRIO
Rede Labs D’Or – Rio de Janeiro
Fundamentos: Estagiar a fibrose é importante em hepatopatas crônicos. A análisehistopatológica em fragmento de biópsia hepática (BH) é ainda padrão-ouro. A BHé invasiva e passível de complicações. Trabalhos sobre métodos não invasivos vêmsendo desenvolvidos e validados para apreciar fibrose. Destacam-se o FibroTest (FT),método sorológico na avaliação do índice de fibrose e o eco color Doppler (ECD)para avaliar doença hepática difusa. Desenvolvemos o Escore ALICE (EA) baseadoem sete parâmetros ao eco color Doppler. O objetivo do estudo é derivar o EA ecorrelacioná-lo ao FT, estabelecendo concordância entre ambos. Métodos: realiza-do estudo retrospectivo (11/2005 a 07/2007), totalizando 28 portadores de hepa-topatia crônica VHC positivo (17 homens e 11 mulheres; média de idade 51,68 ±12,59 anos). Os pacientes foram submetidos ao FT e ao EA (equipamento HDI 5000(Philips®)), sem conhecimento dos resultados séricos do FT pelos autores.
Tabela I. Escore ALICE
Variáveis 0 1 2 Escore
Avaliação do Volume Hepático Normal Aumentado Reduzido
Lobometria - Morfologia LE < LD LE = LD LE > LD
Índices da Veia PortaDiâmetro VP até 1,2cm 1,21cm-1,4cm > 1,4cmVelocidade fluxo VP > 16cm/s 12cm/s-16cm/s < 12cm/s ou
hepatofugal
Características do parênquimaSuperfície Lisa Irregular NodularEcotextura e ecogenicidade Homogêneo Finamente Heterogêneo e
heterogêneo hiperecogênico
Esplenometria Normal 11-12cm > 12cm(< 10,9cm)
Total 14
Para verificar o grau de concordância entre o FT e o EA aplicamos o coeficiente decorrelação não paramétrico de Kendall’s tau-b (r = 0,55** (p = 0,000) significativoao nível de 1%). Resultados: os valores do FT são divididos em muito baixo: 0,00– 0,30 e alto: > 0,60. Os índices variaram entre 0,08 e 0,89 e a pontuação do EAentre 0 e 7; 0 (53,6%); 1 (17,9%); 2 (7,1%); 3 (7,1%); 4 (3,6%); 5 (3,6%); 6(3,6%); 7 (3,6%). O FT é ainda de alto custo, porém menor que o da BH, além denão invasivo. O ECD é relativamente barato, acessível e não invasivo. O EA é defácil realização e reprodutibilidade, além de executado em curto período de tem-po. Acreditamos que a combinação dos dois métodos traga melhora na acuráciadiagnóstica da fibrose reduzindo a necessidade de BH. Conclusão: Houve concor-dância entre o FT e a derivação do EA. A amostra estudada foi piloto para avaliar ocomportamento das duas variáveis. Sugerimos a sua validação com o aumento donúmero amostral.
PO-061 (154)
CONTAGEM DE PLAQUETAS TEM ALTO VALOR PREDITIVO PARA IDEN-TIFICAR GRAUS MAIS AVANÇADOS DE FIBROSE HEPÁTICA EM POR-TADORES DE INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE CCOCHRANE MS, DOMINICI AJ, CARVALHO CSF, DINIZ NETO JA, BISIO APM, SILVA EA, SOUSA MT, ARRAES
SEGUNDA ZF, CAVALCANTI MC, FERREIRA ASPNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis-MA
Fundamentos: Este estudo teve o objetivo de identificar a associação entre a relaçãoAST/ALT, níveis GGT e contagem de plaquetas com os graus de alteração da arqui-tetura do fígado (grau de fibrose) e calcular o valor preditivo destes testes paraidentificar graus mais avançados de fibrose. Métodos: Foram revisados todos osprontuários de portadores da infecção crônica pelo HCV atendidos entre 2003 e2005, com os seguintes critérios de inclusão: maiores de 18 anos, anti-HCV e HCV-RNA positivos, biópsia hepática disponível para revisão, registros no prontuário dosvalores de AST, ALT, GGT e contagem de plaquetas do período da biópsia. A classi-ficação histopatológica do fígado obedeceu àquela adotada pelas Sociedades Brasi-leiras de Patologia e Hepatologia (SBP/SBH). Os valores de ALT, AST E GGT foramapresentados como um índice de relação entre valores encontrados e valores supe-riores da normalidade – LSN. Foram calculadas as correlações de Spearman entre
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 31
graus de estadiamento (0 a 4) e valores da relação AST/ALT, índice da GGT e conta-gem de plaquetas. Naqueles em que houve correlação, foram determinados pontosde corte por uma curva ROC para identificar valores preditivos para o diagnóstico degraus mais avançados de fibrose (3 e 4). Resultados: Foram avaliados 52 pacientes.A média da idade foi de 51 ± 9. Havia 60% de homens. Dezenove pacientes (36,5%)apresentavam graus mais avançados de fibrose (3-4). Não houve correlação entreAST/ALT e índice de GGT com graus mais avançados de fibrose. Encontrou-se fortecorrelação negativa entre contagem de plaquetas e graus de fibrose (-0,60 p <0,0001). O valor de 130.000 plaquetas foi definido por uma curva ROC como sen-do o de melhor sensibilidade e especificidade, com valor preditivo positivo de 100%para identificar graus mais avançados de fibrose (3-4). Conclusão: contagem deplaquetas mostrou-se um teste com alta especificidade para o diagnóstico de grausmais avançados de fibrose em portadores crônicos do HCV, podendo dispensar abiópsia hepática nestes casos.
PO-062 (287)
FATORES PREDITIVOS DE FIBROSE HEPÁTICA SIGNIFICATIVA EM POR-TADORES DE HEPATITE C CRÔNICACARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, NARCISO-SCHIAVON JL, EMORI CT, MELO IC, BARBOSA DV, LANZONI VP,FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Estudos clássicos identificaram o gênero masculino, a idade à épocada infecção e o abuso etílico foram identificados como fatores associados à rápidaprogressão da fibrose hepática em portadores crônicos do HCV. Entretanto, taisestudos não avaliaram outros parâmetros de potencial influência sobre a evoluçãoda hepatite C crônica. Este estudo objetivou identificar fatores preditivos de fibrosesignificativa em portadores de infecção crônica pelo HCV. Métodos: Estudo trans-versal que incluiu pacientes com HCV-RNA (+) submetidos à biópsia hepática avalia-da conforme critérios da SBP/SBH. Análises uni e multivariada foram usadas paraidentificar os fatores associados à presença de fibrose significativa (estadiamento > =2). Resultados: Foram incluídos 549 pacientes, 54% homens. A média de idade foi46,7 ± 13,3 anos. Fibrose significativa foi identificada em 274 pacientes (50%).Comparados àqueles com fibrose ausente ou leve, indivíduos com fibrose significa-tiva mostraram-se mais velhos (51,2 ± 12,0 vs. 42,3 ± 13,1 anos, P < 0,001). Alémdisso, entre os pacientes com fibrose significativa, foi observada uma maior propor-ção de obesos (25% vs. 14%, P = 0,017), diabéticos (16% vs. 7%, P = 0,001),hipertensos (34% vs. 18%, P = 0,001), etilistas (23% vs. 15%, P = 0,029) e anti-HBc(+) (29% vs. 18%, P = 0,010). Não foi observada influência do gênero, do genótipodo HCV ou do modo de contaminação pelo HCV sobre o estadiamento. À análisemultivariada, idade (OR 1,094, IC95% 1,022–1,171, P = 0,010), obesidade (OR6,117, IC95% 1,037–36,080, P = 0,045) e anti-HBc (+) (OR 8,647, IC95% 1,717–43,806, P = 0,009) permaneceram como fatores independentemente associados àpresença de fibrose significativa. Conclusões: Contato prévio com o HBV e a presen-ça de condições associadas à síndrome metabólica são preditivos de fibrose signifi-cativa em portadores crônicos do HCV. A ampla cobertura vacinal contra o HBV e ocontrole metabólico adequado podem impactar positivamente a evolução da hepa-topatia associada à infecção crônica pelo HCV.
PO-063 (293)
APRI: UM SIMPLES E VALIDADO PREDITOR DE FIBROSE HEPÁTICA NAHEPATITE CNUNES FILHO AC, AZEVEDO TC, CABRAL MA, MARQUES RR, COELHO DL, GODOY MC, LOPES EP, BARROS FM,FILGUEIRA NAServiços de Clínica Médica e Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE – Recife/PE
Objetivo: Avaliar o escore Aspartato Aminotrasferase (AST)/Plaquetas (PLT) (APRI)como preditor de presença ou ausência de fibrose hepática significativa em pacien-tes portadores do vírus da hepatite C (HCV). Fundamentos: A decisão de tratar oHCV é baseada geralmente na presença ou ausência de fibrose significativa na bióp-sia hepática. No entanto, a biópsia hepática é invasiva, acarreta riscos ao paciente eé de difícil acesso em alguns serviços. Portanto, um marcador de fibrose não invasi-vo, simples e que utilizasse exames laboratoriais rotineiros seria de grande utilidade.O escore de APRI é um índice simples, validado e que apresenta boa acurácia. Méto-dos: Analisamos retrospectivamente os prontuários de 216 pacientes portadores deHCV, confirmados por HCV-RNA, virgens de tratamento, que apresentavam dadosdemográficos, aminotransferases, plaquetas e biópsia hepática. O estadiamento dafibrose foi realizado utilizando a classificação de METAVIR. Ausência de fibrose oufibrose leve foi considerada F0 e F1 e fibrose significativa F2, F3 e F4. O escore deAPRI é calculado através da seguinte formula: (AST/LSN) x 100/PLT(103/mm3), ondeLSN é limite superior da normalidade. Como ponto de corte utilizamos APRI > 1,50como preditor de fibrose hepática significativa e APRI ≤ 0,50 como preditor deausência de fibrose significativa (de acordo com Wai et al). Resultados: Dos 216pacientes, 93(56,95%) apresentavam fibrose significativa e 18 (8,33%), cirrose. Dototal, 59 pacientes apresentaram APRI > 1,5; 48, APRI ≤ 0,5 e 106, APRI entre essesvalores (zona intermediária). Dentre os 59 pacientes com APRI > 1,50, 55 (93,2%)seriam corretamente classificados como portadores de fibrose hepática significativa.Já entre os pacientes com APRI ≤ 0,5, 31 de 48 (65%) seriam corretamente diagnos-
ticados como ausência de fibrose ou fibrose leve. Utilizando esses valores comoponto de corte, identificaríamos corretamente a presença ou ausência de fibrosesignificativa em 40% dos pacientes. Conclusão: Na prática clínica, o Escore de APRI> 1,50 pode reduzir a necessidade de biópsia hepática num percentual significativode pacientes com HCV, pois apresenta um valor preditivo positivo de 93,3%, com-patível com os dados disponíveis na literatura que oscilam em torno de 90%.
PO-064 (294)
COMPARAÇÃO DE MARCADORES NÃO-INVASIVOS DE FIBROSE HE-PÁTICA EM PACIENTES PORTADORES DO VÍRUS CNUNES FILHO AC, AZEVEDO TC, CABRAL MA, LOPES DL, MARQUES R, MELO MC, BARROS FM, LOPES EP,FILGUEIRA NAServiços de Clínica Médica e Gastroenterologia do HC/UFPE, Recife
Objetivo: Comparar a acurácia diagnóstica de dois escores simples e não-invasi-vos de fibrose hepática: Aspartato Aminotrasferase (AST)/Plaquetas (PLT) (APRI) eAST/ALT (AAR) como preditores de presença ou ausência de fibrose significativana biópsia hepática dos pacientes portadores do vírus da hepatite C (HCV). Fun-damentos: Informação sobre o estadiamento da fibrose hepática é essencial parao manejo de pacientes portadores de hepatite crônica pelo HCV. O padrão ouropara o diagnóstico de fibrose é a biópsia hepática, que apresenta algumas limita-ções: erros de amostragem; variações inter e intra-observador e complicações ine-rentes ao procedimento. Portanto, a utilização de métodos não-invasivos que ava-liassem o grau de fibrose de forma simples e acurada seria de grande valia naprática clínica. Métodos: Analisamos retrospectivamente os prontuários de 216pacientes portadores de HCV, confirmados por HCV-RNA. O estadiamento da fi-brose foi realizado utilizando a classificação de METAVIR. Ausência de fibrose oufibrose leve foi considerada F0 e F1 e fibrose significativa F2, F3 e F4. O escore deAPRI é calculado através da seguinte formula: (AST/LSN) x 100/PLT(103/mm3),onde LSN é limite superior da normalidade e o índice AAR é a simples divisão AST/ALT. Como pontos de corte utilizamos APRI > 1,50 e AST/ALT > 0,66 como predi-tores de fibrose hepática significativa e APRI ≤ 0,50 e AST/ALT ≤ 0,66 como predi-tores de ausência de fibrose significativa. Resultados: Dos 216 pacientes,93(43,05%) apresentavam fibrose leve ou ausência de fibrose, enquanto 123(56,95%) apresentavam fibrose significativa. Do total, 59 pacientes apresentaramAPRI > 1,50 e 146 AAR > 0,66; 48 APRI ≤ 0,5 e 70 AAR ≤ 0,66. Seriam corretamentediagnosticados como portadores de fibrose hepática significativa 55 dos 59 pa-cientes (93,2%) com APRI > 1,50 e 97 dos 146 (66,4%) com AAR > 0,66. Quantoà estimativa de ausência de fibrose significativa, 31 dos 48 (64,6%) com APRI ≤0,5 e 44 dos 70 (62,9%) com AAR ≤ 0,66 seriam corretamente diagnosticados.Conclusão: O escore de APRI apresenta melhor acurácia diagnóstica quando com-parado ao AAR, principalmente em relação ao valor preditivo positivo.
PO-065 (295)
MÉTODO PRÁTICO PARA IDENTIFICAR DE FORMA NÃO-INVASIVA FI-BROSE SIGNIFICATIVA NOS PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA PELOVÍRUS CNUNES FILHO AC, AZEVEDO TC, CABRAL MA, LOPES DL, MARQUES RR, CASTRO MS, BARROS FM, LOPES EP,FILGUEIRA NAServiços de Clínica Médica e Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE, Recife – PE
Objetivo: Avaliar a performance da associação dos escores Aspartato Aminotrasfera-se (AST)/Plaquetas (PLT) (APRI) e AST/ALT (AAR) como preditor de presença ouausência de fibrose significativa nos pacientes portadores do vírus da Hepatite C(HCV). Fundamentos: O padrão ouro para o diagnóstico de fibrose é a biópsiahepática, no entanto, esta apresenta algumas limitações: risco de complicações;erros de amostragem e variações inter e intra-observador. Portanto, marcadores defibrose não invasivos, simples e que utilizassem exames de baixo custo seriam degrande utilidade. Uma revisão sistemática recente sugeriu que o uso combinado dosíndices melhoraria a acurácia da análise, quando comparados com cada um isolada-mente. Métodos: Analisamos retrospectivamente os prontuários de 216 pacientesportadores de HCV, confirmados por HCV-RNA. O estadiamento da fibrose foi reali-zado utilizando a classificação de METAVIR. Ausência de fibrose ou fibrose leve foiconsiderada F0 e F1 e fibrose significativa F2, F3 e F4. O escore de APRI é calculadoatravés da seguinte formula: (AST/LSN) x 100/PLT(103/mm3), onde LSN é limitesuperior da normalidade e o índice AAR é a simples divisão AST/ALT. Como ponto decorte utilizamos APRI > 1,50 e AST/ALT > 0,66 como preditores de fibrose hepáticasignificativa e APRI ≤ 0,50 e AST/ALT ≤ 0,66 como preditores de ausência de fibrosesignificativa. Resultados: Dos 216 pacientes, 123 (56,95%) pacientes apresenta-vam fibrose significativa e, destes, 18 (8,33%) apresentavam cirrose. Do total, 47pacientes apresentaram APRI > 1,50 e AST/ALT > 0,66; 20, APRI ≤ 0,5 e AST/ALT ≤0,66. Dentre os 47 pacientes com APRI > 1,50 e AAR > 0,66, 45 (95,74%) seriamcorretamente classificados como portadores de fibrose hepática significativa. Já en-tre os 20 pacientes com APRI ≤ 0,5 e AST/ALT ≤ 0,66, 15 (75%) seriam corretamentediagnosticados como ausência de fibrose ou fibrose leve. Conclusão: A utilizaçãoem conjunto do escore de APRI e relação AST/ALT pode ser de grande valia naprática para diminuir o número de biópsias hepáticas, pois apresenta valor preditivopositivo de 95,74%.
S 32 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-066 (301)
MARCADOR NÃO-INVASIVO DE FIBROSE (APRI) EM PACIENTES HE-MOFÍLICOS COM INFECÇÃO PELO HCVEMORI CT, VAEZ R, SANDRA VA, FERNANDO L, MELO IC, UEHARA SNO, WAHLE RC PEREIRA PSF, PEREZ RM,SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Entre os marcadores não-invasivos de fibrose hepática em portado-res de hepatite C, o índice APRI (AST to Platelet Ratio Index) tem demonstrado boaacurácia. Tendo em vista o alto risco de realização de biópsia hepática em hemofíli-cos, o APRI poderia representar um parâmetro não-invasivo para auxiliar na seleçãode pacientes com indicação de tratamento. O objetivo deste estudo foi avaliar adistribuição do APRI em hemofílicos, aplicando limites previamente descritos na lite-ratura (Hepatology 2003; 38:518-536). Métodos: Foram incluídos pacientes he-mofílicos com anti-HCV positivo, que estão em acompanhamento no ambulatóriode hemofilia. Foram realizadas dosagens de ALT e AST por método cinético automa-tizado e os resultados foram expressos sob a forma de um índice, determinado peloquociente entre os valores obtidos e o limite superior da normalidade (LSN) para osexo. A contagem de plaquetas foi realizada por método automatizado. Para pes-quisa do anticorpo anti-HCV, foi utilizado teste imunoenzimático (ELISA de 3ª gera-ção). O APRI foi calculado pela fórmula: [AST (xLSN)/contagem de plaquetas] x100.000. Para estimativa do grau de fibrose, os seguintes valores de APRI foramconsiderados: APRI ≤ 0,5 = sem fibrose significativa e APRI > 1,5 = com fibrosesignificativa. Para estimativa da presença de cirrose hepática, foram considerados:APRI ≤ 1 = ausência de cirrose e APRI > 2 = cirrose. Resultados: Foram avaliados 66pacientes com média de idade de 36 ± 13 anos. Quanto ao tipo de hemofilia, 88%dos pacientes apresentavam hemofilia A e 12% hemofilia B. Com relação à gravida-de, 16% tinham hemofilia leve, 26% moderada e 58% grave. Apresentavam ALTelevada 30 (46%) pacientes e AST elevada 24 (36%). A mediana do APRI foi de 0,46(0,5 - 6,01). Com relação à estimativa de fibrose, observou-se APRI ≤ 0,5 em 36(55%) e APRI > 1,5 em 4 (6%). Quanto à cirrose, 51 (77%) pacientes apresentavamAPRI ≤ 1 e 3 (5%) APRI > 2. Conclusões: A maioria dos hemofílicos avaliados apre-senta valores de APRI sugestivos de fibrose pouco avançada, considerando-se valo-res previamente estabelecidos na literatura. Apesar dos valores APRI acima de 1,5terem sido pouco freqüentes entre os hemofílicos estudados, quando presentes re-forçam a indicação de tratamento nesses pacientes.
PO-067 (419)
AVALIAÇÃO DO ESCORE FIB-4 NO DIAGNÓSTICO DE FIBROSE HEPÁ-TICA EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS CLIMA JMC, FERNANDES SG, HYPPOLITO EB, VALENÇA JR JT, PEREIRA KB, PIERRE AM, NÓBREGA ACM, PINHEIRO
SR, FROTA CC, LIMA JWOServiço de Gastro-hepatologia do HUWC da Universidade Federal do Ceará, e Hospital São José (SESA) Fortaleza -Ceará
Introdução: A biópsia hepática (BH) ainda é o método padrão na avaliação do graude fibrose na hepatite C crônica (HCC), entretanto, é um método invasivo, não ébem aceita por boa parte dos pacientes, necessita de um bom fragmento para aná-lise, e embora seguro, raramente complicações sérias e até fatais podem ocorrer.Nos últimos anos vários escores utilizando parâmetros laboratoriais, não invasivos,têm surgido tentando selecionar pacientes com graus mais avançado de fibrose.Objetivo: Avaliar a acurácia do escore FIB-4 em detectar graus mais avançados defibrose (F3-F4) em pacientes HCC. Casuística e método: 150 pacientes HCC quesubmeteram a BH entre 2000 a 2006 foram incluídos. Todos apresentavam ELISA ePCR qualitativo HCV RNA positivo, realizaram hemograma, AST, ALT, TP, INR, GGT,Proteínas totais e frações. Utilizou-se a classificação METAVIR (F0-F4). O escore FIB-4de cada paciente foi calculado utilizando a fórmula: idade (anos) x AST (U/L)/conta-gem de plaquetas (109/L) x raiz quadrada da ALT (U/L). Calculou-se a sensibilidade(SEN), especificidade (ESP), valores preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) utili-zando-se cut-offs previamente descrito no trabalho original. A curva ROC foi calcu-lada utilizando programa STATA 9.2. Na análise das variáveis dicotômicas foi utiliza-do o teste do χ2. Resultados: 150 pacientes HCC, 67% eram do sexo masculino, amédia de idade foi de 47,1 ± 10,2. Quanto ao grau de fibrose F0 em 47 casos(31,3%), F1 em 29 casos (19,3%), F2 em 33 casos (22%), F3 em 14 casos (9,3%) eF4 em 27 casos (18%). Para discriminar fibrose avançada à área sob a curva ROCencontrada foi de 0,7919 ± 0,0411 e intervalo de confiança [0,7113 a 0,8724;95%]. Quando se utilizou FIB-4 < 1,45 o VPN para excluir fibrose avançada foi de92,4% dos casos, por outro lado, quando FIB-4 > 3,25 o VPP de fibrose avançada(F3-F4) foi de 62% dos casos. Conclusão: o escore FIB-4 apresenta uma boa acurá-cia em diferenciar pacientes com pouca fibrose (F0-F1-F2) podendo ser utilizado naprática clínica no algoritmo de priorização da BH, entretanto não substitui o valor dabiópsia hepática.
PO-068 (531)
FATORES QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DO ÍNDICE AST/PLA-QUETAS (APRI) COMO MARCADOR DE FIBROSE SIGNIFICATIVA EMPORTADORES CRÔNICOS DO HCVSCHIAVON LL, NARCISO-SHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, BARBOSA DV, LANZONI VP,FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: O caráter invasivo da biópsia hepática (BxH) e suas potenciaisvariabilidades de amostra e interpretação têm suscitado o desenvolvimento demarcadores não-invasivos de fibrose hepática. É possível que o desempenho diag-nóstico destes marcadores seja influenciado por características específicas de sub-grupos de portadores do HCV. O objetivo deste estudo foi identificar fatores deinterferência na acurácia do APRI. Métodos: Estudo transversal que incluiu pacien-tes com HCV-RNA(+) e que foram submetidos à BxH avaliada segundo critérios daSBP/SBH. O índice APRI foi aplicado como modelo preditivo de fibrose significati-va (E > = 2), sendo assim calculado: (AST[xLSN]/Plaquetas[100.000/mm3]) x 100.Os pacientes com diagnóstico correto foram comparados com aqueles diagnosti-cados incorretamente pelo APRI quanto a variáveis clínicas e virológicas. Resulta-dos: Foram incluídos 520 pacientes com média de idade de 47+/-13 anos, sendo54% homens. Dentre estes, 266 pacientes (51%) foram classificáveis pelo APRI,utilizando-se pontos de corte clássicos (< = 0,5 e > 1,5). E > = 2 foi identificada em274 pacientes (53%). Foram diagnosticados erroneamente 46 indivíduos (17%).Na análise univariada, o gênero masculino foi a única variável significativamenteassociada à predição incorreta pelo APRI (61% vs. 44%, P = 0,033). Entre os ho-mens, 28/124 foram diagnosticados incorretamente (23%), o que ocorreu emapenas 18/142 mulheres (13%). As áreas sob as curvas ROC do APRI foram: Geral:0,802; Homens: 0,760; e Mulheres: 0,840. Para o ponto de corte inferior (< =0,5), a sensibilidade, o valor preditivo negativo e a acurácia foram, respectivamen-te: Geral: 89%, 78% e 64%; Homens: 86%, 72% e 59%; e Mulheres: 92%, 84%e 70%. Para o ponto de corte superior (> 1,5), a especificidade, o valor preditivopositivo e a acurácia foram, respectivamente: Geral: 93%, 88% e 69%; Homens:94%, 84% e 66%; e Mulheres: 93%, 90% e 73%. Conclusões: O índice APRIapresentou boa performance em predizer fibrose hepática significativa em pacien-tes com hepatite C crônica. Entretanto, deve-se considerar que seu desempenhoem pacientes do gênero masculino é consideravelmente inferior ao observado emmulheres, possivelmente devido a outros fatores associados à elevação da AST emhomens.
PO-069 (533)
VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ÍNDICES APRI EFIB-4 COMO MARCADORES DE FIBROSE HEPÁTICA SIGNIFICATIVA EMPORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICACARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, NARCISO-SHIAVON JL, EMORI C.T, MELO IC, BARBOSA DV, LANZONI VP,FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: Apesar de ser procedimento padrão na avaliação das hepatopatiascrônicas, a biópsia hepática é um método invasivo e sujeito a variabilidades amos-tral, intra- e inter-observador. Assim, marcadores indiretos de fibrose hepática têmsido propostos, com disponibilidades e acurácias variáveis. Nosso objetivo foi validare comparar o desempenho de dois modelos propostos como preditivos de fibrosehepática significativa em portadores de hepatite C crônica. Métodos: Estudo trans-versal que incluiu pacientes com HCV-RNA (+) submetidos à biópsia hepática avalia-da conforme critérios da SBP/SBH. Fibrose hepática significativa foi definida pelapresença de estadiamento > = 2. Os modelos analisados foram: APRI = (AST[xLSN]/Plaquetas[100.000/mm3]) x 100; FIB-4 (adaptado para uso de AST e ALT em xLSN)= (idade[anos] x AST[xLSN]) x 10/((Plaquetas[100.000/mm3]) x (raiz quadrada daALT [xLSN]). Curvas ROC avaliaram e compararam a performance diagnóstica dosmodelos em predizer fibrose significativa à biópsia. Resultados: Foram incluídos520 pacientes, 54% homens. A média de idade foi 46,7+/-13,3 anos. Fibrose signi-ficativa foi identificada em 274 pacientes (53%). As áreas sob as curvas ROC foram:APRI = 0,802+/-0,019 e FIB-4 = 0,813+/-0,019 (P = 0,449). Dentre os indivíduosincluídos, 266 (51%) foram classificáveis pelo APRI e 371 (71%) pelo FIB-4. Foramdiagnosticados erroneamente 46 indivíduos (17%) pelo APRI e 81 (22%) pelo FIB-4.As áreas sob as curvas ROC foram: APRI = 0,802 e FIB-4 = 0,813. Para o ponto decorte inferior, a sensibilidade, a especificidade, o VPP, o VPN e a acurácia foram,respectivamente: APRI < = 0,5: 89%, 39%, 60%, 78% e 64%; FIB-4 < 2,6: 75%,72%, 73%, 73% e 73%. Para o ponto de corte superior, a sensibilidade, a especifi-cidade, o VPP, o VPN e a acurácia foram, respectivamente: APRI > 1,5: 45%, 93%,88%, 63% e 69%; FIB-4 > = 5,0: 44%, 94%, 87%, 62% e 68%. Restringindo-se aindicação de biópsia hepática aos indivíduos com valores intermediários de cadamodelo, esta poderia ser corretamente evitada em 42% com o APRI e 56% com oFIB-4. Conclusões: Índices de fácil aplicação, criados a partir de variáveis simplescomo idade, ALT, AST e número de plaquetas, podem sugerir a presença de fibrosehepática significativa na hepatite C crônica. Os desempenhos preditivos do APRI edo FIB-4 são semelhantes.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 33
Hepatite BPO-070 (54)
INFECÇÃO PELOS VÍRUS DAS HEPATITES B, C E D EM GESTANTES ESUSPEITOS DE SEREM PORTADORES DE DOENÇAS SEXUALMENTETRANSMISSÍVEIS NO MUNICÍPIO DE JURUTI, OESTE DO ESTADO DOPARÁNUNES HM, SOARES MCP, SOUZA OSC, FAVACHO JFR, MONTE FILHO GB, OLIVEIRA AMSCInstituto Evandro Chagas
Fundamentos: Dentre as hepatites virais, o vírus da hepatite B (HBV) é consideradocomo agente de doença de transmissão sexual e perinatal claramente definido e écontroversa a importância da transmissão do vírus da hepatite C (HCV) pela viasexual. Esta pesquisa objetivou avaliar a freqüência das infecções pelos vírus dashepatites B, C e D em gestantes e em indivíduos suspeitos de serem portadores dedoenças sexualmente transmissíveis (DST), e orientar medidas de controle para sub-sidiar um plano de ações junto à Secretaria de Saúde de Juruti-PA considerando ocrescimento populacional e as atividades introduzidas pela exploração de importan-te reserva de bauxita no município. Método: Entre novembro e dezembro de 2006,foram coletadas amostras de soro dos participantes da pesquisa para análise dosmarcadores sorológicos das hepatites B, C e D por técnicas imunoenzimáticas. Oprojeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Evandro Chagas(CAAE 0013.0.072.000-6). Resultados: No inquérito foram incluídos 345 indiví-duos com idades variando entre 10 meses e 90 anos, sendo que 66,1% eram mulhe-res. A análise das amostras mostrou prevalência global de 0,3% para o HBsAg+; de10,4% para o anti-HBc total+/anti-HBs+ e 27,5% para o anti-HBs+ isolado. Na únicaamostra HBsAg+, foram testados o HBeAg e o anti-HBe com resultados negativo epositivo respectivamente e o anti-HD total com sorologia negativa para o vírus dahepatite D. Não foram detectadas pessoas infectadas pelo HCV. Conclusões: Carac-terizamos, em base laboratorial: a) presença de portador crônico do vírus da hepa-tite B; b) detecção de um grande número de susceptíveis para o HBV e c) ausênciade portadores do vírus das hepatites C e D. É recomendada a implantação de medi-das de vigilância epidemiológica efetivas nesta região, atualmente submetida a grandefluxo migratório, para eventualmente detectar de forma precoce o surgimento deinfecção pelo HCV e pelo HDV. Apoio: Alcoa/Omnia Minérios Ltda/CNPq/IEC/SEM-SA de Juruti.
PO-071 (61)
GENOTIPAGEM DO VÍRUS DA HEPATITE B EM UMA COORTE DE PA-CIENTES AVALIADOS EM UM HOSPITAL GERALBECKER CE, BOGO MR, MATTOS AA, BRANCO F, TOVO C, DITTRICH SAmbulatório de Gastroenterologia e Unidade de Hemodiálise do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre ePrograma de Pós-Gr
No Brasil, o Ministério da Saúde estima que pelo menos 15% da população já foicontaminada com VHB. Selecionamos 67 pacientes com marcadores de infecçãocrônica pelo VHB, que estavam em acompanhamento no ambulatório de gastroen-terologia e na unidade de hemodiálise do Complexo Hospitalar Santa Casa de PortoAlegre-RS. Avaliamos a prevalência dos genótipos e sua relação com o fator de riscopara a aquisição do VHB bem como com o padrão sorológico da doença hepática.Dos 67 indivíduos selecionados, 15 eram pacientes em hemodiálise e 52 estavamem acompanhamento ambulatorial. A análise qualitativa para DNA-VHB, pela PCR,foi positiva em 79,1% das amostras (53/67). O genótipo foi determinado em todasas amostras DNA-VHB positivas. A análise demonstrou a presença dos genótipos A,D e F, sendo que o genótipo mais freqüente foi o tipo D. A hemodiálise foi o fator derisco mais prevalente (38,8%), uma vez que 11 pacientes ambulatoriais adquiriramo VHB enquanto do tratamento dialítico no passado. Os subtipos encontrados fo-ram: adw, ayw e adw4. Correlacionando os genótipos com o padrão sorológico dadoença hepática, verificamos que o genótipo D foi mais freqüente nos pacientescom replicação viral ativa, portadores sãos do VHB e pacientes com hepatite B crô-nica, já o genótipo A foi mais freqüente em pacientes HbeAg positivos com ALTnormal. Há necessidade de um maior número de estudos relacionados à genotipa-gem do VHB para que possamos concluir as variações demográficas e implicaçõesdesta variabilidade genética na evolução clínica dos portadores do VHB.
PO-072 (190)
RELATO DE 7 CASOS DE PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE B EMACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA DO HOS-PITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALTADDEO EF, SANTOS W, FERREIRA GER, VIDAL BPM, MELO VA, ALTIERI L, FREITAS IN, LIMA APHospital do Servidor Público Municipal – São Paulo/SP
Vários estudos têm demonstrado a preocupação em relação ao HBV devido a suaevolução para formas crônicas e o aparecimento de hepatocarcinoma. Estão emseguimento no nosso serviço 7 (sete) casos de paciente portadores de HBV, 3 femi-ninos e 4 masculinos com média de idade de 41 anos, diagnosticados nos anos2001 (2), 2003 (1), 2005 (2), 2007 (2) cujos contatos foram: 4 profissionais, 1
sexual, 2 indeterminados, sendo que uma na gestação. Os 2 (dois) casos de 2001foram diagnosticados na fase aguda e evoluíram para portadores crônicos negati-vando o HBeAg. Nos demais casos foram achados de exame HBsAg +, antiHBsAg –, antígeno “e” negativo e enzimas hepáticas normais, outras sorologias negativas.Na evolução só um dos casos (2001) evoluiu com “flair”, cuja biópsia demonstroufígado reacional, os demais mantém o mesmo padrão. Hoje temos um novo arsenalde medicamentos para diminuir a carga viral dos portadores HBV quando em ativi-dade replicativa, sendo a carga viral extremamente importante, num futuro próxi-mo os genótipos também orientarão para o prognóstico.
PO-073 (200)
EXISTE PIOR RESPOSTA VIROLÓGICA AO TRATAMENTO COM LAMI-VUDINA EM PORTADORES DE HEPATITE B COM CIRROSE?NABUCO LC, CELLES R, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, BRANDÃO-MELLO CE, SEGADAS-SOARES JA, COELHO
HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Nos portadores de hepatite crônica C, o grau de fibrose hepática éum importante fator preditivo negativo de resposta ao tratamento. Nos pacientescom hepatite crônica B, o impacto da cirrose na resposta virológica inicial ainda nãofoi determinado. O objetivo deste estudo foi comparar a taxa de resposta virológicano 6o mês de tratamento com lamivudina entre portadores de hepatite crônica Bcom e sem cirrose hepática. Metodologia: Foram incluídos portadores de hepatitecrônica B submetidos a tratamento com lamivudina (150mg/dia) e que realizaramdeterminação do HBV-DNA na 24a semana de tratamento. Em todos os pacientesforam determinados os níveis de ALT e HBeAg pré-tratamento. Os pacientes comcirrose (G1) e sem cirrose (G2) foram comparados quanto à resposta virológica.Foram avaliadas a carga viral pré-tratamento, a negativação do HBV-DNA (respostavirológica inicial) e a falha primária de resposta, caracterizada por ausência de redu-ção da carga viral de pelo menos 2 log10 na 24a semana de tratamento. Resulta-dos: Foram avaliados 41 pacientes com hepatite crônicas B tratados com lamivudi-na; 31 (76%) do sexo masculino; idade média de 48 ± 15 anos (11 - 78). Dezoitopacientes (44%) eram HBeAg positivo e 34 (94%) apresentavam ALT elevada pré-tratamento. A mediana do HBV-DNA pré-tratamento foi de 6,4 log10 (4,4 – 9,3).Vinte e sete pacientes (66%) apresentavam cirrose e constituíram o grupo 1 (G1).Os pacientes do G1 apresentavam idade mais avançada (54 ± 10 vs. 39 ± 18; p =0,011), porém não havia diferença entre os grupos quanto ao sexo (p = 0,71), ALT(p = 1,0), perfil HBeAg (p = 0,21) e carga viral pré-tratamento (p = 0,15). Na 24a
semana de lamivudina, 93% dos pacientes do G1 apresentaram resposta virológicainicial vs 93% do G2 (p = 1,0). Falha primária de resposta foi observada em 7% doG1 e em 7% do G2 (p = 1,0). Conclusão: Em portadores de hepatite B, a presençade cirrose hepática não representa um fator preditivo negativo para a resposta viro-lógica inicial ao uso do lamivudina.
PO-074 (201)
AVALIAÇÃO DE RESPOSTA VIROLÓGICA INICIAL EM PORTADORES DEHEPATITE B TRATADOS COM LAMIVUDINANABUCO LC, CELLES R, QUINTAES RF, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, BRANDÃO-MELLO CE, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A resposta virológica inicial ao tratamento com lamivudina tem sidocada vez mais valorizada como parâmetro para orientar estratégias terapêuticas deforma a reduzir a resistência antiviral. Existem poucos dados sobre a freqüênciadesta resposta em nossa população. O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa deresposta virológica inicial e a falha terapêutica primária ao tratamento com lamivu-dina, em pacientes com hepatite crônica B, virgens de tratamento. Metodologia:Foram incluídos portadores de hepatite crônica B submetidos a tratamento comlamivudina (150mg/dia) e que realizaram determinação do HBV-DNA na 24a sema-na de tratamento. Em todos os pacientes foram determinados os níveis de ALT,HBeAg e carga viral pré-tratamento. Foram avaliadas, na 24a semana, a respostavirológica inicial (RVI), definida como HBV-DNA < 1.000 cópias/ml e a falha primáriade resposta, caracterizada por ausência de redução de pelo menos 2 log em relaçãoao HBV-DNA basal. Resultados: Foram avaliados 58 pacientes com hepatite crônicaB; 48 (83%) do sexo masculino; idade de 46 ± 15 (11-78) anos. Apresentavam ALTelevada pré-tratamento 89% dos pacientes. Vinte e oito (48%) pacientes eram HBe-Ag positivo e a mediana do HBV-DNA pré-tratamento foi de 6,4 log. Trinta (48%)pacientes apresentavam cirrose. Na 24a semana de lamivudina, 46 (79%) pacientesapresentaram RVI e 8 (14%) apresentaram HBV-DNA detectável, com carga viral > 3log (3,1 - 6,0 log), porém com queda > 2log em relação aos níveis basais. Quatro(7%) pacientes apresentaram queda < 2log, caracterizando falha primária de res-posta. Ao final do primeiro ano de tratamento, observou-se breakthrough em ape-nas 2/31 (7%) pacientes que realizaram HBV-DNA no 12o mês de tratamento. Con-clusão: Em nossa população, a resposta virológica inicial ao tratamento com lamivu-dina foi elevada e a freqüência de breakthrough ao final do primeiro ano foi baixa.Estes dados sugerem que, frente às dificuldades de quantificação da carga viral narede pública, a avaliação inicial da resposta virológica possa ser adiada para o finaldo primeiro ano de tratamento.
S 34 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-075 (202)
RESPOSTA AO TRATAMENTO COM ADEFOVIR ASSOCIADO A LAMI-VUDINA EM PACIENTES COM HEPATITE B RESISTENTES A LAMIVUDI-NANABUCO LC, CELLES R, QUINTAES RF, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Nos pacientes com resistência à lamivudina, a associação com ade-fovir parece ser a melhor estratégia terapêutica, sendo observada, em estudo recen-te (Rapti I., 2007), resposta virológica de 57% e 68% na 24a e 48a semanas detratamento, respectivamente. O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa de respostavirológica ao tratamento combinado adefovir + lamivudina em pacientes com resis-tência à lamivudina. Metodologia: Foram incluídos portadores de hepatite crônicaB com resistência à lamivudina (LAM), que realizaram tratamento com adefovir (ADV)por pelo menos 12 meses. Resistência à LAM foi definida como o reaparecimento doHBV-DNA ou elevação de 1 log em relação aos níveis de HBV-DNA durante trata-mento. Foi avaliada, na 24a semana, a resposta virológica inicial (RVI), definida comoHBV-DNA < 1000 cópias/ml. Foi também avaliada a resposta virológica na 48a se-mana de tratamento. O esquema de tratamento adotado foi ADV (10mg/dia) asso-ciado à LAM (150mg/dia). A determinação da carga viral do HBV foi realizada emtodos os pacientes pré-tratamento e na 24a semana de tratamento. Resultados:Foram avaliados 22 pacientes com hepatite B; 19 (86%) do sexo masculino; idadede 49 ± 12 (24-72) anos. Todos os pacientes apresentavam ALT elevada pré-trata-mento. Dezessete (77%) pacientes eram HBeAg positivo e a mediana do HBV-DNApré-tratamento foi de 7,6 log. Onze (50%) pacientes apresentavam cirrose. Na 24a
semana de ADV/LAM, apenas 6 (27%) pacientes apresentavam RVI. A mediana dequeda de HBV-DNA foi de 2,5 (0 - 5,5 log). Entre os 16 pacientes que realizaramdeterminação da carga viral na 48ª semana, 8 (50%) apresentavam HBV-DNA <1.000 cópias/ml. A mediana de queda de HBV-DNA foi de 3,3 (0,7- 6,0 log). Con-clusão: A resposta virológica inicial ao adefovir é baixa entre os pacientes com resis-tência à lamivudina. É possível que a carga viral elevada e a grande proporção depacientes com perfil HBeAg positivo nesta população tenham contribuído para esseachado.
PO-076 (203)
ESTUDO COMPARATIVO DA HEPATITE B NA REDE PÚBLICA E PRIVA-DANABUCO LC, CELLES R, QUINTAES R, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, BRANDÃO-MELLO CE, SEGADAS-SOA-RES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: É possível que as diferenças socioeconômicas e culturais determi-nem perfis de apresentação clínica distintos entre pacientes com hepatite crônica Bda rede pública e privada. O objetivo deste estudo foi comparar o perfil epidemioló-gico e clínico entre portadores de hepatite crônica B atendidos em serviço público eclínica privada. Metodologia: Foram incluídos portadores de hepatite crônica Batendidos ambulatorialmente em um hospital universitário da rede pública e pacien-tes atendidos em consultórios privados. Foram selecionadas para estudo as seguin-tes variáveis: sexo, idade, ALT, perfil HBeAg, PCR-HBV carga viral, fase da infecçãopelo HBV (imunotolerante, hepatite crônica, cirrose e portador inativo) e realizaçãode tratamento antiviral. Resultados: Foram incluídos 365 pacientes com hepatitecrônica B, sendo 203 (56%) da rede pública e 162 (44%) de clínica privada. Nãohouve diferença entre os grupos quanto à idade (p = 0,11) e sexo (p = 0,34). Ospacientes de clínica privada apresentaram mais freqüentemente ALT elevada (73%vs. 55%; p = 0,006); perfil HBeAg positivo (43% vs. 24%; p < 0,001) e evidência decirrose hepática (46% vs. 26%; p = 0,001). A carga viral foi realizada em 96% dospacientes privados e em 60% dos públicos (p < 0,001), sendo mais elevada nospacientes privados (6,0 log vs. 4,2 log; p < 0,001). O tratamento foi indicado em59% dos pacientes privados e em 34% dos públicos (p < 0,001). Conclusão: Ospacientes atendidos na rede privada apresentam mais freqüentemente evidênciasclínicas de doença hepática relacionada ao vírus B e maior prevalência de cirrose.Este achado possivelmente está relacionado à forma de identificação da infecçãopelo HBV, uma vez que a infecção pelo HBV é detectada, na rede pública, pelatriagem sorológica em bancos de sangue e, na rede privada, pela detecção de ALTelevada em exames periódicos, refletindo maior proporção de casos com doençaclínica neste grupo.
PO-077 (224)
DISSOCIAÇÃO BIOQUÍMICO-HISTOLÓGICA EM PORTADORES DE HE-PATITE B CRÔNICACORAINE LA, CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, NARCISO-SCHIAVON JL, NISHIYAMA KH, CARA NJ, BARBOSA
DV, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: Níveis da ALT > 2 vezes o limite superior do normal (xLSN) têm sidopreconizados como preditivos de lesões histológicas significativas na hepatite B crô-nica. A partir de metanálises, sugere-se que pacientes com ALT < 2x LSN respondammal ao tratamento antiviral e, portanto, devam ser apenas acompanhados sem tera-
pia. Nosso objetivo foi avaliar a relação entre os níveis da ALT e os achados histoló-gicos em pacientes com hepatite B crônica. Métodos: Estudo transversal que incluiupacientes HBsAg (+) e alguma evidência de replicação viral (HBeAg (+), HBV-DNA >105 cp/mL, HBcAg (+) no tecido e/ou atividade histológica). Os achados histológi-cos foram avaliados segundo critérios da SBH/SBP. Fibrose significativa foi definidapela presença de estadiamento (E) 2/3/4 e atividade necroinflamatória (ANI) signifi-cativa pela presença de hepatite de interface (APP 2/3/4). Resultados: Foram incluí-dos 120 pacientes, 73% homens, 20% orientais e 65% HBeAg (+). A média da idadefoi 41 ± 14 anos. Fibrose e ANI significativas foram identificadas em 72 (60%) e em81 (73%) pacientes, respectivamente. Nível da ALT ≥ 2x LSN foi encontrado maisfreqüentemente em orientais (63% vs. 38%, P = 0,027). Houve tendência à associa-ção entre nível da ALT ≥ 2x LSN e presença de fibrose e ANI significativas (P = 0,097e P = 0,070, respectivamente). Entretanto, 51% dos pacientes com fibrose significa-tiva, 54% daqueles com ANI significativa e 53% com indicação de tratamento (E ≥2 e/ou APP ≥ 2) apresentavam ALT < 2x LSN. Dentre os 49 pacientes com ALT maispróxima da biópsia < 2x LSN e que possuíam no mínimo 3 determinações da ALT noano anterior à realização da biópsia, 26 (53%) apresentavam ALT persistentemente< 2x LSN. Destes, 42% apresentavam fibrose e 65% ANI significativas. Além disso,65% tinham indicação histológica de tratamento. Daqueles com ALT ≥ 2x LSN, 14%não tinham indicação de tratamento baseado na histologia. Conclusões: Existe con-siderável dissociação entre níveis da ALT e achados histológicos em pacientes comhepatite B crônica. Portanto, biópsia hepática deve ser indicada em todos os indiví-duos com evidências de replicação viral significativa, independentemente dos níveisda ALT.
PO-078 (243)
PREVALÊNCIA SOROLÓGICA DO ANTI-HBC EM PRÉ-DOADORES DESANGUE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE - PBDE JANEIRO DE 2005 A JANEIRO DE 2007FLORENTINO GSA, MACHADO MKMX, NÓBREGA RTQ, LEITE DFB, FLORENTINO AVA, SPINELLI VUniversidade Federal de Campina Grande – UFCG
Fundamentos: Determinar a prevalência do marcador de contato do vírus B dahepatite em pré-doadores de sangue do Hemocentro Regional de Campina Gran-de-PB. Metodologia: Estudo de prevalência, retrospectivo, no período de janeirode 2005 a janeiro de 2007. Foram avaliadas 44541 fichas de candidatos a doado-res de sangue cadastrados no arquivo do Hemocentro Regional e selecionados8617 candidatos considerados inaptos. Destes foram identificadas 843 inaptidõespor anti-HBc positivo. Delas foram estudados aspectos sociodemográficos comoidade, gênero, estado civil, grau de escolaridade, tipo sanguíneo, fator Rh e proce-dência. Dados clínicos e etiológicos não foram incluídos por não constarem nasfichas individuais dos doadores. Resultados: A prevalência do anti-HBc em pré-doadores de sangue foi de 4,9%, cuja faixa etária mais expressiva variou de 31 a40 anos (30,8%), com predomínio do gênero masculino (86,1%), casados (54,6%),com primeiro grau incompleto (45,1%), tipo sanguíneo O (47,9%), fator Rh posi-tivo (80%), sendo a maioria procedente de Campina Grande (63,8%). Conclu-são: A prevalência encontrada do marcador de contato do vírus da hepatite B(anti-HBc) assemelha-se aos percentuais observados na Região Sudeste (3,5%) e aoutros países da América Latina como Venezuela (3,2%) e Argentina (2,1%), emcontraste com uma maior prevalência observada na Ásia (19,1%), nas RegiõesNorte (21,4%) e mesmo no Nordeste do nosso país (especialmente em Recife-12%), mostrando que o caráter crescente desta prevalência no sentido Sul paraNorte pode variar de um Estado para outro, dentro de uma mesma região. Atéentão foram vistos menores percentuais no Sul brasileiro (1,6%) à semelhança doque acontece no Chile (0,6%) e parte da Europa (1,5%). Os dados encontradoscorroboram a literatura brasileira no tocante à faixa etária mais avançada e à esco-laridade, sugerindo que o tempo de exposição é um dos fatores que interferempara o incremento da infecção pelo vírus da hepatite B, e que a aquisição deconhecimentos é fundamental para que ocorra a adesão às medidas de prevençãocontra este vírus.
PO-079 (264)
CARCINOMA HEPATOCELULAR: RELATO DE CASO NA ADOLESCÊNCIAPICCOLI LZ, BALBINOTTI RA, BALBINOTTI SS, LONGHI VC, SALVATI G, DAHMER CHospital Geral de Caxias do Sul
Fundamentos: O Carcinoma Hepatocelular é a neoplasia maligna primária defígado mais prevalente. Dentre os fatores de risco conhecidos citamos a cirrosehepática, hepatites crônicas B e C e esteatohepatite não-alcóolica. Na fase inicialapresenta-se de forma assintomática ou com sintomas inespecíficos, como dor emhipocôndrio direito. O diagnóstico é freqüentemente realizado nas fases avança-das da doença ou através de exames de rastreamento semestral nos pacientescirróticos. Métodos: Descrição de quadro clínico, evolução e exames comple-mentares. Resultados: Relatamos o caso de uma paciente do sexo feminino, 15anos de idade, que compareceu ao Hospital Geral de Caxias do Sul com quadrode dor abdominal, dispnéia em repouso, inapetência e perda ponderal de aproxi-madamente 6kg em 2 meses. Ao exame físico a paciente encontrava-se com mu-cosas levemente ictéricas, ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares diminuí-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 35
dos em bases bilaterais, ascite volumosa, abdômen doloroso à palpação em epi-gastro e hipocôndrio direito, hepatomegalia além de circulação colateral e telan-giectasias. Realizou-se biópsia hepática com estudo imunohistoquímico que evi-denciou ausência de cirrose e confirmou o diagnóstico de hepatocarcinoma. Osmarcadores sorológicos eram negativos para hepatites virais e auto-imunes, bemcomo os marcadores de doença metabólica. A Tomografia Computadorizada deAbdômen mostrou fígado com múltiplos nódulos hipodensos associados a pre-sença de linfonodos retroperitoneais. A Tomografia Computadorizada de Tóraxmostrou nódulo de contorno lobulado com densidade de partes moles, localizadono segmento apical do lobo superior direito e outros dois nódulos em lobo médioe superior esquerdo. A dosagem de alfa-fetoproteína revelou valor acima de 10000.Optou-se pelo tratamento paliativo, com o consentimento familiar. A pacienteevoluiu para óbito em dois meses. Conclusões: O Carcinoma Hepatocelular émais prevalente em pacientes com fatores de risco, sendo a sua detecção precoceum processo relevante para o tratamento e a evolução do mesmo. Porém há al-guns casos em que não se consegue determinar fatores de risco ou etiológicos,evoluindo estes com prognóstico reservado.
PO-080 (265)
HEMANGIOMA HEPÁTICO GIGANTE ASSOCIADO À SÍNDROME DE KA-SABACH-MERRITTGABRIEL SB, PEREIRA MLL, MENDES L, TREVIZOLI JE, BIRCHE MC, NETO CJHospital de Base do Distrito Federal
A síndrome de Kasabach-Merritt, descrita em 1940 é a associação entre heman-giomas gigantes e coagulopatia de consumo. As alterações hematológicas de-correm do aprisionamento e destruição das hemácias e plaquetas na intimidadeda massa de células endoteliais que formam o hemangioma, ocasionando hipo-fibrinogenemia, trombocitopenia e elevação dos produtos de degradação dafibrina. Demonstrar um caso de hemangioma hepático gigante associado à sín-drome de Kasabach-Merritt. MAMF, 47 anos, feminina notou aumento do volu-me abdominal há sete meses. À USG, TC e biópsia hepática da massa abdominalem setembro de 2006 revelaram hemangioma hepático. Hipertensa, em uso deCaptopril . O exame físico apresentava-se emagrecida, hipocorada e com massaabdominal extensa desde apêndice xifóide até região pélvica, de consistênciaendurecida, indolor à palpação. TAP = 42%, plaquetas de 124000, Hb = 10 e D-dímero = 7149. Foi proposto tratamento cirúrgico, mas a paciente recusou. Foide alta e permanece assintomática. Os hemangiomas gigantes (> 10cm) podemestar associados à síndrome de Kasabach-Merritt como visto neste caso. Apesarda biópsia percutânea por agulha fina ainda ser foco de debate, por risco dehemorragia fatal, foi realizada sem intercorrência. Os pacientes sintomáticosdevem ser considerados para ressecção cirúrgica bem como os que têm compli-cações (ruptura, hemorragia intraperitoneal) e quando não se pode excluir ma-lignidade pelos estudos radiológicos. Ainda assim, o tratamento deste quadropode representar um desafio para a equipe médica. Nosso caso corrobora osachados na literatura no que tange aspectos epidemiológicos, sintomatologia epropedêutica diagnóstica.
PO-081 (268)
AVALIAÇÃO DO ESQUEMA DE VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B DOSFUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIABASTOS FAM, FREITAS AB, SILVERIO AOServiço de Gastroenterologia e Hepatologia da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e Faculdade de Medicina daUniversidade Cato
Fundamento: Estima-se que exista no mundo cerca de 450 milhões de portadoresde hepatite pelo vírus B (HVB); essas pessoas têm risco 200 vezes maior de desenvol-ver carcinoma hepatocelular. A transmissão via parenteral é uma importante formade transmissão desse agente, sobretudo em profissionais de saúde. O objetivo doestudo é avaliar a efetividade e eficácia da vacina contra o HVB e o esquema devacinação dos funcionários do nosso Hospital. Métodos: Foram avaliados 221 regis-tros de vacinas dos funcionários no período de 2002 à 2004. Um total de 146funcionários (66,1%) apresentaram todos os dados completos e compuseram nossapopulação de estudo. As variáveis analisadas foram sexo, idade e soroconversãoapós esquema completo de vacinação contra HVB. Consideramos como sorocon-versão a presença do anticorpo contra o antígeno de superfície do HVB (anti-HBs).Resultados: Ocorreu soroconversão em 107 funcionários (73,3%), 37 (25,3%) nãosoroconverteram e 2 (1,4%) possuíam taxa indeterminada de anti-Hbs. Quandoavaliamos separadamente o gênero observamos que soro conversão em 81/101(75,7%) das mulheres e em 26/45 (24,3%) dos homens (p = 0,006). Também ob-servamos que a média de idade dos pacientes que apresentavam soro conversão foimenor (35,8 ± 8,9 versus 42,6 ± 13,8; p = 0,03). Conclusão: A taxa de soro conver-são observada no presente estudo (73,3%) foi menor que o relatado na literatura.Portanto, torna-se imprescindível reavaliar o esquema de vacinação atual e/ou aqualidade das vacinas utilizadas, ficando evidente a necessidade da verificação dasoroconversão para Anti-HBs após a conclusão do esquema vacinal, sobretudo nospacientes mais velhos e do gênero masculino.
PO-082 (272)
SOROPREVALÊNCIA DA HEPATITE VIRAL B EM UMA COMUNIDADEURBANA DE MACEIÓ-ALLEITE, FN, COSTA FGB, PINHEIRO LM, FILHO MAB, ANDRADE TF, LIRA JD, COSTA AB, SAMPAIO MBT, LANCET
CMC, WISZORMISKA RMFAUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Maceió-AL
Fundamentos: A hepatite viral B é a principal causa de doença hepática aguda ecrônica, estimando-se em 350 milhões de portadores do VHB. Cerca de 5-10% dosinfectados evoluem para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. A soroprevalên-cia no Brasil do AgHBs varia de 1,9% a 13,5%, e de Anti-Hbs de 10,4% a 90,3%. Osestudos epidemiológicos sobre o VHB no Brasil e Nordeste são escassos. O objetivo doestudo foi identificar a prevalência do VHB em comunidade urbana, e avaliar fatores derisco. Método: Estudo prospectivo, transversal, em comunidade urbana de Maceió,com amostra de 388 sujeitos definidos aleatoriamente entre indivíduos cadastradosem PSF. Critérios de inclusão: maiores de 18 anos, residentes há mais de 2 anos nacomunidade. Exclusão: gestantes, nutrizes, índios e deficientes mentais. Foi utilizadoquestionário específico para avaliar fatores de risco (cirurgias prévias, promiscuidade,transfusão sanguínea, profissionais de saúde, doença hepática crônica, DST, tatua-gens, piercings, tratamento dentário). A determinação sorológica de AgHbs, Anti-Hbse Anti-Hbc foi realizada no HEMOAL, utilizando kits ABOTT (Elisa 3a geração). Deacordo com a sorologia, agruparam-se os indivíduos em: infectados (AgHbs positivo),imunes (Anti-Hbs positivo), suscetíveis (AgHbs, Anti-Hbc, Anti-Hbs negativos) e incon-clusivos (Anti-Hbc positivo isolado). Resultados: Dos 388 indivíduos incluídos, houvepredomínio do gênero feminino 290/388 (74,74%), 98 masculinos (25,26%), médiade idade de 40 anos, mínima de 18 e máxima de 76 anos (± 13,8 DP). Foram detec-tados 7/388 (1,8%) indivíduos infectados, 280/388 (72,16%) suscetíveis, 77/388(19,84%) imunes e 24/388 (6,18%) inconclusivos. O fator de risco estava presente em337/388 (86,85%) e ausente em 51/388 (13,15%). Conclusão: A soroprevalência doVHB na população estudada foi de 1,8%. Verificou-se que os fatores de risco estiverampresentes em 86,85% dos indivíduos estudados. O elevado índice de suscetíveis aVHB, 280/388 (72,16%), justifica campanha de vacinação nesta população.
PO-083 (274)
CO-INFECÇÃO HIV/AIDS E VIRUS DA HEPATITE B E C: FREQÜÊNCIA EFATORES DE RISCOLISBOA FOR, FERREIRA ALL, COSTA FGB, COSTA DP, GALVÃO GJC, FARIAS JLR, SECUNDO IV, LOUREIRO TS,WISZORMISKA RMAF, LACET CMCUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Fundamentos: A co-infecção HIV e hepatites virais B e C, vêm se configurando comoum dos mais importantes problemas de saúde pública, devido ao impacto da co-infecção destas hepatites nos indivíduos infectados pelo vírus HIV ou com Aids. Asoroprevalência da co-infecção VHB/HIV é 5 a 8%, enquanto que a co-infecção VHC/HIV varia de 17 a 36% dos casos. Este trabalho objetivou avaliar a freqüência dosmarcadores sorológicos para o vírus da hepatite B e C nos pacientes HIV positivos.Métodos: Estudo epidemiológico, descritivo, transversal, retrospectivo, amostra de106 pacientes em segmento ambulatorial no Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, no perío-do de 2003 a 2005. Foram incluídos pacientes: maiores de 10 anos, preenchimentocorreto do questionário e sorologia para o VHB e VHC. Os exames foram realizados noLACEN-AL. A sorologia para HIV1e/ou2 foi testada e ratificada através de kit Biotest(Elisa 3° geração). Os marcadores do VHB determinados foram AgHBs, anti-HBs, anti-HBc IgG e IgM, foi utilizado o kit ABBOTT (Elisa 3a geração). De acordo com a sorolo-gia para o VHB, os pacientes foram alocados em: suscetíveis (AgHbs, Anti-Hbc, Anti-Hbs negativos), imunes (AgHBS positivo, Anti-HBs positivo), infectados (AgHbs positi-vo, Anti-Hbs negativo) e inconclusivos (AgHBs e Anti-HBs negativos, Anti-HBc IgGpositivo). Em relação à sorologia do VHC, agrupados em: infectados (Anti-VHC positi-vo e suscetíveis Anti-VHC negativo. Resultados: A idade variou entre 10 e 64 anos(média de 37 anos) e predomínio entre 35 a 49 anos (47%), sendo 62/106 (58,5%)do sexo masculino e 44/106 (41,5%) do sexo feminino. Foram detectados 5/106(4,7%) indivíduos co-infectados VHB/HIV, 60/106 (56,60%) suscetíveis para o VHB,31/106 (29,24%) imunes para o VHB, 10/106 (9,43%) inconclusivos. Na pesquisa doVHC, foi verificado 5/106 (4,7%) co-infectados VHC/HIV, 101/106 (95,3%) suscetí-veis para o VHC e nenhum indivíduo co-infectado pelo VHC/VHB/AIDS. A analise dosfatores de risco foi prejudicada pela amostra insuficiente, mas fatores de risco estive-ram presentes 4/5 (80%) dos infectados pelo VHC. Conclusão: A freqüência dos mar-cadores sorológicos para o vírus da hepatite B e C nos pacientes HIV/AIDS, foi de 4,7%para ambas as infecções. A suscetibilidade a infecção pelo VHB foi elevada, de 56,60%.
PO-084 (275)
PADRÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA HEPATITE B EM SERVIDORES DE UMHOSPITAL DA REDE PUBLICA DO ESTADO DE ALAGOASCOSTA DP, GALVÃO GJC, FARIAS JLR, SECUNDO IV, LISBOA FOR, LOUREIRO TS, WYSZOMIRSKA RMAF, LACET CMCUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Fundamentos: A hepatite B se constitui em importante problema de saúde pública. Ainfecção crônica pelo VHB está presente em cerca de 300 a 350 milhões de indivíduose 1 a 2 milhões evoluem para a óbito por complicações relacionadas ao VHB. Os
S 36 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
profissionais de saúde possuem um risco de 2 a 10 vezes maior em contrair infecçãoque a população geral. Em Maceió-AL, há uma carência de estudos de soroprevalênciada hepatite B nas pessoas que trabalham em ambiente hospitalar. O Objetivo desteestudo é verificar a freqüência dos marcadores sorológicos para o VHB nos servidoresdo Hospital Escola Hélvio Auto e avaliar o padrão de imunidade nos indivíduos vacina-dos comparando-os aos não vacinados. Métodos: Estudo epidemiológico, prospecti-vo de corte transversal, com amostra de 158 indivíduos, do Hospital Escola HélvioAuto - HEHA alocados em dois grupos, vacinados e não vacinados. Feita coleta desangue e a determinação dos marcadores virais (AgHBs, Anti HBs e Anti HBc) pelométodo imunoenzimático (ELISA) de 3ª geração no Hemocentro de Alagoas. Na aná-lise foram utilizados testes descritivos e analíticos, com um p de 5%. Resultados:Verificou-se positividade dos marcadores do VHB em 91/158 (42,4%) servidores doHEHA e ausência em 67/15/8(42,4%) dos mesmos. Em relação à imunização, 106/158 (67,1%) eram vacinados e 52/158 (32,9%) não vacinados. A positividade isoladado Anti Hbs nos vacinados foi de 53/106(50%). Já nos não vacinados, verificou-se 17/52(32,7%) de positividade para o mesmo marcador. Conclusão: Foi verificada susce-tibilidade ao HVB em 42.4% dos servidores em Ambiente Hospitalar. O índice deimunidade pós - vacinal está inferior ao relatado na literatura.
PO-085 (278)
FREQÜÊNCIA DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DO VHB NOS SER-VIDORES DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE ALAGOASFARIAS JLR, FERREIRA RC, COSTA DP, GALVÃO GJC, COSTA FGB, LEITE FN, SECUNDO IV, WYSZOMIRSKA RMFA,LACET CMCUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Introdução: A hepatite B constitui um dos mais importantes problemas de saúdepública. É considerada uma das mais prevalentes infecções ocupacionais contraídasno ambiente hospitalar estando sob maior risco todo e qualquer profissional desaúde que lide com exposições cutâneas ou manipule sangue, constituindo os prin-cipais meios de transmissão dessa doença. Após um acidente com agulha, estima-seque o risco de contaminação com o VHB é de 6 a 30%. O objetivo desse estudo foiidentificar os marcadores sorológicos do VHB em servidores do Hospital Escola Dr.Hélvio Auto – HEHA e relacioná-los com os grupos de risco. Metodologia: Foramobtidas amostras de soro de 115 servidores do HEHA. A aplicação do questionário ea coleta de sangue para a obtenção de soro foram realizadas após consentimentolivre e esclarecido. Distribuíram-se os participantes em dois grupos: um de alto riscopara adquirir infecção com VHB (médicos, equipe de enfermagem, equipe do labo-ratório, limpeza e esterilização) e outro de baixo risco (equipes do setor administra-tivo, fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional). Realizada a coleta de sangue e adeterminação dos marcadores virais (AgHBs, Anti HBs e Anti HBc) pelo métodoimunoenzimático (ELISA) de 3ª geração no Hemocentro de Alagoas. Resultados:Dos 115 sujeitos estudados, 68/115 (59,13%) eram do gênero feminino e 47/115(40,86%) do gênero masculino, com média de idade 44 anos. O perfil sorológicoevidenciou positividade dos marcadores do VHB de 61/115 (53,04%) e negativida-de em 54/115 (46,95%) dos servidores. Classificou-se 44/61(72,2%) dos positivospertencentes ao grupo de Alto Risco e 17/61(27,8%) como grupo de Baixo Risco.Ausência de HbsAg em ambos os grupos. Conclusões: A ausência de marcadores deinfecção (HbsAg) pode estar relacionada ao tamanho da amostra. A freqüência dosmarcadores do VHB não demonstrou diferença significativa entre servidores expos-tos a alto ou a baixo risco de contaminação.
PO-086 (308)
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO-LABORATORIAL DE PRÉ-DOADORES DE SAN-GUE COM ANTI-HBC POSITIVONARCISO-SCHIAVON JL, SCHIAVON LL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, MARIYA FA, SILVA AEB,FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: A positividade do anticorpo anti-HBc total é a principal causa derejeição após triagem sorológica de candidatos a doadores de sangue. O diagnósti-co diferencial do achado de anti-HBc(+) com HBsAg(-) pode exigir desde um sim-ples teste de anti-HBs até métodos de biologia molecular, como a pesquisa de HBV-DNA. Métodos: Estudo transversal de pré-doadores com anti-HBc(+) e HBsAg(-)atendidos na Liga de Hepatites da EPM/UNIFESP entre set/1997 e ago/2006. Ospacientes foram divididos em três grupos: G1 – anti-HBc(+) e anti-HBs(+); G2 – anti-HBc(-) e anti-HBs(-); e G3 – anti-HBc(+) e anti-HBs(-). Os grupos G1 e G2 foramcomparados quanto a variáveis clínicas, epidemiológicas e laboratoriais. Resulta-dos: Foram incluídos 1.130 pacientes com média de idade 38,7 ± 11,0 anos, sendo68% homens. Dentre os pacientes incluídos, 525 (46%) não retornaram para exa-mes confirmatórios. Os 605 restantes foram assim distribuídos: G1: 307 (51%); G2:132 (22%); e G3: 166 (27%). Comparando-se os grupos G1 e G2, os indivíduoscom indícios sorológicos de contato prévio com o HBV (G1) apresentaram maiorprevalência de antecedentes de doença sexualmente transmissível (DST) (13% vs.5%, P = 0,015) e maior proporção de pacientes com anti-HCV(+) (10% vs. 2%, P =0,006). Além disso, o grupo G1 mostrou maior média de idade (41,0 ± 10,8 vs. 35,2± 10,8 anos, P < 0,001), maior nível de ALT (mediana de 0,74 vs. 0,66 vezes o limitesuperior do normal [xLSN], P = 0,024) e maior nível de AST (mediana de 0,72 vs.
0,66 xLSN, P = 0,009). Entre os indivíduos que exibiram o padrão conhecido como“anti-HBc isolado” (G3), 51/166 (31%) foram submetidos à pesquisa de respostaanamnéstica e 30 pacientes (59%) apresentaram resposta positiva. Dentre os 21pacientes restantes (41%), 8 soroconverteram o anti-HBs após 2 ou 3 doses devacina e 2 apresentaram HBV-DNA sérico (+). Conclusões: Pré-doadores de sanguecom anti-HBc(+) apresentam prevalência elevada de anti-HCV(+) e de antecedentesde DSTs. Esses dados sustentam a transmissão horizontal como a principal via decontaminação pelo HBV em nosso meio. A pesquisa de resposta anaméstica podeesclarecer o diagnóstico da maioria dos casos de anti-HBc isolado.
PO-087 (309)
IMPACTO DA INFECÇÃO PRÉVIA PELO VIRUS DA HEPATITE B EM PRÉ-DOADORES DE SANGUENARCISO-SCHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, MARIYA FA, SCHIAVON LL, SILVA AEB,FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Estudos recentes sugerem que portadores de hepatite C crônica comindícios de infecção prévia pelo HBV apresentam fibrose mais avançada, pior respostaao IFN e maior risco de hepatocarcinoma, independentemente da detecção de HBV-DNA. Este estudo avalia o impacto da infecção prévia pelo HBV nas característicasclínico-histológicas de pré-doadores de sangue com anti-HCV(+). Métodos: Estudotransversal de pacientes encaminhados de Bancos de Sangue com anti-HCV(+), aten-didos na Liga de Hepatites da EPM/UNIFESP entre set/1997 e ago/2006. Os pacientescom anti-HBc(+) e (-) foram comparados quanto a variáveis clínicas, epidemiológicas,laboratoriais e histológicas. Resultados: Foram incluídos 651 pacientes com média deidade de 36 ± 11 anos, sendo 66% homens. Dentre os pacientes incluídos, 84 (13%)apresentaram anti-HBc(+). Comparados aos indivíduos anti-HBc(-), os pacientes comindícios sorológicos de contato prévio com o HBV apresentaram > média de idade (P< 0,001), > prevalência de gênero masculino (77% vs. 65%, P = 0,023), de anteceden-tes de promiscuidade sexual (24% vs. 14%, P = 0,017) e > proporção de uso dedrogas intravenosas (22% vs. 6%, P < 0,001). Além disso, aqueles com anti-HBc(+)mostraram > média de IMC (P = 0,010), > níveis de AST (P = 0,017), ALT (P = 0,010),bilirrubina direta (P = 0,029) e de GGT (P = 0,003). Anti-HCV falso-(+) foi mais fre-qüente entre os pacientes com anti-HBc (-) (32% vs. 14%, P = 0,010) e HCV-RNA(+)foi mais prevalente entre os anti-HBc(+) (83% vs. 66%, P = 0,009). Biópsia hepática foirealizada em 198 pacientes com HCV-RNA(+). O achado de fibrose avançada (E3/4) eAPP moderada ou intensa foi mais comum em indivíduos com anti-HBc(+) (35% vs.11%, P < 0,001; e 41% vs. 17%, P = 0,001). IMC (OR 1,12, IC95% 1,01–1,25, P =0,042) e anti-HBc(+) (OR 3,05, IC95% 1,10–8,47, P = 0,031) se associaram de formaindependente ao achado de E3/4. Conclusões: Em pré-doadores de sangue com anti-HCV(+), a presença de anti-HBc(+) torna mais provável a confirmação do diagnósticode hepatite C crônica. Além disso, o contato prévio com o HBV se associa a lesõeshistológicas mais graves em portadores crônicos do HCV.
PO-088 (310)
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DAS MULHERESPRÉ-DOADORAS DE SANGUE COM HBSAG POSITIVONARCISO-SCHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, MARIYA FA, SCHIAVON LL, SILVA AEB,FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Fatores relacionados ao hospedeiro, tais como consumo excessivo deálcool, idade avançada e infecção dupla com HCV ou HIV, têm sido associados a maiorrisco de desenvolvimento de hepatopatia grave pelo HBV. Entretanto, há exigüidadede informações na literatura sobre as diferenças clínico-laboratoriais entre mulheres ehomens portadores crônicos do HBV. Este estudo teve como objetivo definir o perfildas mulheres pré-doadoras de sangue com HBsAg (+). Métodos: Estudo transversalque incluiu pacientes encaminhados de Bancos de Sangue com HBsAg (+), atendidosna Liga de Hepatites entre setembro/1997 e agosto/2006. Os dados foram obtidospor revisão de prontuários padronizados. Mulheres e homens foram comparados comrelação a variáveis clínico-epidemiológicas e laboratoriais. Resultados: Foram incluí-dos 217 pacientes com média de idade de 34,3 ± 10,7 anos, sendo 24% mulheres.Estas apresentaram menor freqüência de história de promiscuidade sexual (6% vs.25%, P = 0,004) e menor proporção de etilistas (2% vs. 20%, P = 0,002). Não houvediferença em relação à idade (33 ± 10 vs. 35 ± 11 anos, P = 0,273). Laboratorialmente,as mulheres mostraram maior contagem de plaquetas (223.030 ± 51.090 vs. 191.230± 52.250/mm3, P = 0,004) e menores níveis de AST (mediana de 0,65 vs. 0,76 xLSN,P = 0,011), ALT (mediana de 0,63 vs. 0,76 xLSN, P = 0,001), bilirrubina direta (media-na de 0,20 vs. 0,30mg/dL, P = 0,023) e de FA (mediana de 0,54 vs. 0,60 xLSN, P =0,018). Houve uma menor proporção de portadores crônicos do HBV com HBeAg (+)entre as mulheres, apesar de não ter sido observada diferença estatística (4% vs. 18%,P = 0,166). Conclusões: Além de serem menos expostas à transmissão sexual e aoetilismo, as mulheres pré-doadoras de sangue com HBsAg (+) apresentam caracterís-ticas laboratoriais que sugerem uma menor gravidade da doença hepática associadaao HBV em comparação com os homens. Estudos adicionais são necessários paradeterminar se estes achados são relacionados ao gênero per se ou a outros fatores,como por exemplo, o etilismo.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 37
PO-089 (313)
RELAÇÃO ENTRE GENÓTIPO DO HBV E POSITIVIDADE DO HBEAG EMIMUNOCOMPETENTES E PORTADORES DE DOENÇA RENALSOUZA LO, MOUTINHO R, MATOS CA, PEREZ RM, OLIVEIRA EMG, CARVALHO-FILHO RJ, SILVA AEB, SILVA ISS,FERRAZ MLServiço de Virologia - Instituto Adolfo Lutz e Setor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federalde São Paulo
Fundamentos: Entre os pacientes portadores de infecção crônica pelo vírus B com ge-nótipo D, tem sido descrito na literatura uma maior freqüência do perfil de HBeAgnegativo. Em nossa população, a relação entre os genótipos do HBV e HBeAg é poucoconhecida. Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar a prevalência de HBeAgpositivo entre os diferentes genótipos do HBV, em imunocompetentes e em doentesrenais. Métodos: Foi estudada uma amostra de 109 pacientes composta por 40 pacien-tes imunocompetentes, e 69 doentes renais: 38 renais crônicos em hemodiálise e 31transplantados renais. Em todos os pacientes foi realizada determinação do HBeAg (IMxÒassay - Abbott Laboratories, Chicago, IL) e do genótipo por seqüenciamento parcial daregião S, amplificado por nested-PCR. Foi realizada análise comparativa entre os genóti-pos predominantes quanto à positividade do HBeAg. Resultados: Dos 109 pacientesanalisados (74% homens) e 47 (43%) apresentavam HBeAg positivo. A freqüência dosgenótipos nesta amostra foi de: genótipo A em 37%, B em 1%, C em 4%, D em 54% eF em 4%, com predomínio do genótipo D entre os pacientes renais (80%) e do genóti-po A entre os imunocompetentes (78%). Na análise comparativa, não houve diferençana positividade do HBeAg entre os pacientes com genótipo A e os portadores dos de-mais genótipos (33% vs. 49%; P = 0,088). Por outro lado, observou-se maior freqüênciade HBeAg positivo entre os pacientes com genótipo D, quando comparados ao demaisgenótipos (52% vs. 33%; P = 0,046). Conclusões: Nesta amostra, diferentemente doque tem sido descrito na literatura, observou-se associação entre genótipo D e a presen-ça de HBeAg. Esta associação pode ser uma característica própria deste genótipo ouestar relacionada à amostra estudada, que incluiu um número expressivo de portadoresde doença renal, nos quais o genótipo D pode apresentar um comportamento atípico.
PO-090 (314)
DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS DO VÍRUS DA HEPATITE B EM IMU-NOCOMPETENTES E PORTADORES DE DOENÇA RENAL – EXISTE DI-FERENÇA?SOUZA LO, PEREZ RM, CARVALHO-FILHO RJ, SILVA AEB, SILVA ISS, FERRAZ MLServiço de Virologia - Instituto Adolfo Lutz e Setor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federalde São Paulo
Fundamentos: A freqüência dos genótipos do vírus da hepatite B (HBV) tem distribui-ção geográfica heterogênea. A freqüência dos genótipos em cada população reflete opadrão da formação e da migração desta população. No Brasil, a freqüência de genó-tipos mostra predomínio do genótipo A, com menor freqüência dos demais genóti-pos. Em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) e transplantados renais (TxR),a prevalência de infecção pelo vírus B é alta e ainda não se conhece o perfil de distribui-ção de genótipos do HBV neste grupo de pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliare comparar a freqüência dos genótipos do HBV em diferentes populações: imuno-competentes, portadores de IRC e pacientes transplantados renais. Métodos: Foramestudados 123 pacientes: 50 imunocompetentes, 39 com IRC e 34 transplantadosrenais. Para determinação do genótipo do HBV foi realizada inicialmente amplificaçãoparcial do gene S por Nested-PCR e a seguir foi realizado seqüenciamento para deter-minação do genótipo. A freqüência dos genótipos foi comparada entre os grupos,empregando-se os testes de Qui-quadrado e Exato de Fisher. Resultados: Em imuno-competentes observou-se predomínio do genótipo A (68%), seguido do genótipo D(18%). Entre pacientes com IRC predominou o genótipo D (85%), seguido do genó-tipo A (10%). Entre transplantados renais observou-se distribuição semelhante à dosrenais crônicos, com genótipo D em 74% (P = 0,24) e genótipo A em 18% (P = 0,50).Na análise comparativa entre imunocompetentes e portadores de doença renal (IRC +TxR), observou-se diferença significativa na distribuição dos genótipos, com predomí-nio do genótipo A em imunocompetentes (68% vs 14%; P < 0,001) e do genótipo Dem renais (80% vs 18%; P < 0,001). Conclusões: A freqüência dos genótipos do HBVem pacientes imunocompetentes é semelhante àquela previamente descrita na litera-tura. Entretanto, observou-se uma distribuição diferente dos genótipos, tanto na po-pulação de pacientes com IRC, quanto na de TxR. Esta diferença pode estar relaciona-da a um maior poder de adaptação do genótipo D em situações de imunodeficiênciaou à maior facilidade de transmissão do genótipo D no ambiente de hemodiálise.
PO-091 (355)
PREVALÊNCIA DE MARCADORES DE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPA-TITE B E CORRELAÇÃO COM ESTÁGIO DE FIBROSE EM PORTADORESDE HEPATITE C CRÔNICAPEREIRA GHS, CARIÚS LP, FOSSARI RN, COELHO M, GALVÃO ACG, ZYNGIER I, VEIGA ZST, FLAUSINO KCG,AHMED EO, PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia- Hospital Geral de Bonsucesso (RJ)
Fundamentos: Evidencia de contato prévio com vírus da hepatite B (HBV) é freqüen-temente encontrada em portadores de hepatite C crônica. O papel da infecção prévia
pelo HBV na intensidade da fibrose neste grupo não está definido. Métodos: Pesquisade marcadores sorológicos de infecção pelo HBV foi realizada nos portadores de hepa-tite C no período de Março de 2004 a Março de 2007. Foram incluídos pacientessubmetidos a biópsia hepática e aqueles que apresentavam evidências clínicas, labora-toriais, ultra-sonográficas ou endoscópicas de cirrose, e excluídos os que apresenta-ram HBsAg positivo. Os pacientes foram divididos conforme não possuíssem evidên-cia de contato prévio com o HBV (antiHBc negativo-grupo 1), apresentassem reativi-dade apenas ao anti-HBc (grupo 2) ou evidência de infecção resolvida (antiHBc eantiHBs positivos-grupo 3). Resultados: Foram analisados 310 pacientes (média deidade de 52 + 10 anos) dos quais 129 cirróticos. O fator de risco mais frequentementeencontrado foi hemotransfusão (43%), seguido por procedimentos invasivos (27%) euso de seringas não descartáveis na infância/adolescência (23%). 214 pacientes nãoapresentavam evidencia de contato prévio com o HBV, enquanto 38 possuíam antiHBc positivo isolado e 54, evidencia de infecção resolvida. O grupo antiHBc isoladopossuía maior número de homens (p = 0,02) e uso de drogas IV foi referido pornúmero maior de pacientes com infecção resolvida pelo HBV (p = 0,01). Não houvediferença de média de idade, tempo de contágio, estágio de inflamação e grau defibrose (escala de Ishak) e prevalência de cirrose entre os 3 grupos.
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Sexo (m)* 52% 76%* 56%Tempo (anos) 22,3 24,4 25,5Estágio 2,7 + 1,5 3,2 +1,5 2,9 + 1,7Grau 5,6 + 2,0 6,4 + 1,7 5,8 + 2,2
Conclusões: evidencias de contato com vírus da hepatite B estavam presentes em30% dos portadores de hepatite C submetidos a avaliação histológica ou portadoresde cirrose. Este contato prévio não determinou graus mais avançados de fibrose,nem maior prevalência de cirrose.
PO-092 (366)
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTÂNEA DO AGHBE E DOS NÍ-VEIS DE HBV-DNA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE ADEFOVIR EMPACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA B RESISTENTES À LAMIVUDINA.ESTUDO PILOTODA SILVA LC, DA NOVA ML, ONO-NITA SK, PINHO JRR, CARRILHO FJDisciplina de Gastroenterologia Clínica - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Fundamentos: Tem-se demonstrado que a queda simultânea dos níveis de DNA doVHB e do AgHBe nem sempre ocorre, particularmente durante a administração delamivudina (LAM) (Da Silva et al, DDW 2005). Adefovir (ADV) tem sido administradoa pacientes com hepatite crônica B (HCB) e resistentes à lamivudina (LAM-R) na dosediária de 10mg. Contudo, alguns estudos sugerem que os pacientes deveriam receberdoses mais altas de adefovir (Ono-Nita et al, JCI 1999). Como os análogos nucleosíde-os podem levar à queda rápida e significativa dos níveis séricos de DNA do VHB,estudamos prospectivamente os níveis de DNA do VHB e AgHBe em quatro pacientesresistentes à lamivudina e em uso de adefovir. Objetivo: Verificar se a queda dos níveisde DNA do VHB é acompanhada da queda dos níveis séricos do AgHBe. Casuística emétodos: Os níveis séricos de DNA do VHB foram determinados pelo método daRoche Amplicor (limite: 1x10*3UI/ml a > 40x10*6UI/ml) e os níveis de AgHBe peloMEIA AXSYM (Abbott) cada 3 a 6 meses durante um período médio de 104 semanas(56-156 semanas). Resultados: Apesar da queda dos níveis da carga viral ou da indec-tabilidade pelo PCR em todos os pacientes, o não declínio do AgHBe foi observado emdois de quatro pacientes durante o acompanhamento de 56 e 100 semanas, respecti-vamente, sugerindo que o efeito antiviral não foi satisfatório. Um dos paciente comníveis persistentes do AgHBe (“AgHbe não respondedor”) mostrou recidiva viral na96a semana de adefovir e o outro paciente com o mesmo padrão sorológico respon-deu rapidamente ao tenofovir. Conclusão: A determinação quantitativa simultânea doAgHBe e dos níveis séricos do DNA do VHB pode fornecer maiores informações sobrea resposta viral durante a terapia com ADV em pacientes resistentes à LAM.
PO-093 (403)
PREVALÊNCIA DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE TRIAGEM PARAHEPATITE B EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO COMPLEXO HOSPITA-LAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIAMARQUES P, SCHINONI MI, MEYER R, ANDRADE J, REGO MV, PARANÁ R, SCHAER R, SIMÕES JM, FREIRE SMUniversidade Federal da Bahia
Objetivo: Com o objetivo de avaliar a prevalência dos marcadores sorológicos detriagem para hepatite B, fatores de risco associados e resposta vacinal, um estudotransversal foi realizado no Complexo HUPES-UFBA. Métodos: Os dados foram cole-tados por meio de um questionário clínico-epidemiológico e amostras de sangue fo-ram colhidas dos voluntários que afirmaram esquema completo de vacinação contrahepatite B. O soro foi submetido à análises dos seguintes marcadores sorológicos:AgHBs, Anti-HBc total e Anti-HBs. Resultados: Dos 341 indivíduos que doaram amos-tra de sangue, 81,5% eram do sexo feminino e 18,5% masculino, 7,6% (26/341)apresentaram soropositividade para o vírus da hepatite B (AgHBs e ou Anti-HBc total).
S 38 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
Dentre os 26 indivíduos acima citados o tempo de profissão em anos variou de 8-40com uma média de 19,5 ± 8,5 anos. Relataram história prévia de acidente com instru-mento pérfuro-cortante no ambiente de trabalho 50% (13/26) destes indivíduos. Emrelação ao comportamento de risco vale ressaltar que 57,7% (15/26) nunca ou quasenunca usavam preservativos. Dos 315 indivíduos que foram analisados para taxa deresposta vacinal. Observou-se que 15,9% (50/315) eram Anti-HBs negativos. Encon-trou-se uma associação positiva entre faixa etária menor que 40 anos e resultadopositivo para o anti-HBs, RP = 1,22 (IC 95%; 1,10-1,35) p = 0,000. Conclusão: Aexistência de indivíduos vacinados e Anti-HBs negativos reforça a importância da ava-liação sorológica após o esquema de vacinação de maneira rotineira nesta população.A prevalência dos marcadores de infecção pelo VHB foi maior na população estudadado que na população em geral de Salvador relatada previamente na literatura.
PO-094 (404)
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CAMPANHA CONTRA HEPATITE B OCU-PACIONAL ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO COMPLEXO HOSPI-TALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIAMARQUES P, FREIRE SM, MEYER R, SCHINONI MI, REGO MV, PARANÁ R, REIS EJFB, CARVALHO PMP, ANDRADE JUniversidade Federal da Bahia
Objetivo: Com o objetivo de avaliar a situação vacinal e ampliar a cobertura devacinação contra hepatite B entre os profissionais de saúde, foi realizada uma cam-panha de cunho institucional no Complexo HUPES. Métodos: A campanha foi rea-lizada em três etapas. Foi utilizada a vacina recombinante LG. Um questionário,baseado em aspectos profissionais e socioeconômicos foi aplicado em 631 profissio-nais de saúde. Resultados: A média de idade foi de 40,45 anos, sendo 77% femini-no e 23% masculino. Em relação ao comportamento de risco: 10,6% fizeram acu-puntura, 5,7% tatuagem, 17,3% afirmaram ter tido mais de três parceiros sexuais/ano, 45,8% quase nunca usavam preservativos, e 4,1% foram submetidos à transfu-são de sangue. Dos 83.8% vacinados previamente, 51,2% referiram ter respeitado ointervalo entre as doses, mas somente 28,2% comprovaram o esquema apresentan-do a caderneta de vacinação. Os dados mostraram que 73% dos profissionais nãorealizaram sorologia para o Anti-HBs. Durante a campanha de vacinação, 412 dosesde vacinas foram aplicadas a 316 indivíduos. Destes, 75% receberam somente umadose, devido ao fato de estarem complementando o esquema vacinal ou não aderi-rem ao esquema de vacinação recomendado. Conclusões: Além de constatar baixaadesão em concluir o esquema vacinal entre os profissionais que iniciaram a vacina-ção nesta campanha, a falta de comprovação do esquema vacinal completo comtrês doses, e a ausência de controle sorológico, evidencia a não valorização da vaci-na como medida preventiva eficaz contra VHB, demonstrando a necessidade deuma política de conscientização dirigida aos profissionais com risco de infecção.
PO-095 (409)
DIAGNÓSTICO DE HEPATITE B AINDA SUSCITA DÚVIDAS EM MÉDI-COS DE SÃO PAULOLANZARA G, MENDES CP, OTAKE TM, RODRIGUES TUniversidade Federal de São Paulo, São Paulo
Fundamentos: A hepatite B é uma doença infecciosa de grande incidência, acome-tendo 400 milhões de pessoas no mundo. Devido ao seu grande impacto, é impor-tante o diagnóstico correto da mesma. Objetivos: Descrever o perfil clínico-epide-miológico de pacientes atendidos no Ambulatório Geral de Infectologia do HospitalSão Paulo/Universidade Federal de São Paulo encaminhados por “sorologia positivapara hepatite B”; determinar quais foram os desfechos mais freqüentes destes casose comparar estas características ao longo do tempo, procurando identificar diferen-ça significativa. Método: Estudo retrospectivo com levantamento de dados de pron-tuários do Ambulatório Geral de Infectologia da UNIFESP, no período de 1997 a2007. Resultados: Foram analisados 23 pacientes, dos quais 65% eram do sexomasculino, com idade média de 37 ± 11 anos (21-65 anos), 54,5% naturais de SãoPaulo, 56,5% trabalhadores, 52% encaminhados de Unidades Básicas de Saúde.Destes, 40% tabagistas, 16% etilistas, 5% usuários de drogas ilícitas, 41% promíscu-os, 83% referiram praticar sexo desprotegido e 40% com antecedentes de DSTs.Quanto ao diagnóstico final, 68% tratavam-se de cicatriz sorológica, 26% eramhepatite B aguda e 5% outros diagnósticos. Comparou-se os pacientes atendidos de1997 a 2002 com os de 2003 a 2007 e não se verificou diferenças estatisticamentesignificativas, exceto a idade, que tendeu a ser menor nos atendimentos mais recen-tes (p = 0,065). Conclusão: Nesta amostra destacou-se a grande freqüência deencaminhamentos de pacientes sem a doença ativa. Acreditamos que medidas deeducação continuada podem ser importantes para mudar este cenário.
PO-096 (415)
AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA DA VACINAÇÃO CONTRAHEPATITE B ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA DA UFPBROCHA HAC, SERAFIM ACP, MELO MKS, GONDIM AS, NASCIMENTO RQ, ROCHA FAUniversidade Federal da Paraíba
Fundamentos: A hepatite viral do tipo B constitui um dos mais importantes proble-mas de saúde pública, e um dos principais fatores predisponentes do carcinoma
hepatocelular. A hepatite B tem transmissão vertical, sexual e parenteral, o que incluios profissionais de saúde no grupo de risco. A vacinação é a medida mais segurapara a sua prevenção e, no Brasil, é indicada para toda população menor que 20anos e para as pessoas de grupos de risco. Após o término do esquema vacinal, maisde 90% dos indivíduos desenvolvem respostas adequadas de anticorpo, mostran-do-se altamente eficaz, embora o tempo de imunogenicidade ainda seja desconhe-cido. Recentes estudos indicam que a memória imunológica permanece intacta pelomenos por 23 anos e confere proteção contra a doença e infecção crônica do vírusda hepatite B (HBV), contudo os níveis de anti-HBs podem se tornar baixos oudeclinarem a níveis indetectáveis. Métodos: Foi aplicado questionário e realizada atitulação de anticorpos anti-HBs entre 98 acadêmicos do curso de Medicina da Uni-versidade Federal da Paraíba (UFPB) que receberam pelo menos uma dose da vaci-na. Resultados: Observou-se que entre os 98 alunos analisados, 59% deles obtive-ram níveis séricos de anticorpos superiores a 100mUI/mL (resultado imunológicosatisfatório), enquanto 24% resposta moderada (10-100mUI/mL) e 17% respostainadequada (menor que 10mUI/mL). Em relação ao sexo e titulação de anticorposadquirida, viu-se que 60% e 58% do sexo masculino e feminino, respectivamente,obtiveram resposta satisfatória. Ao se analisar o número de doses da vacinação deacordo com a titulação do anti-HBs adquirida, verificou-se que os indivíduos com 2e 3 doses alcançaram titulações satisfatórias maiores que 100mUI/mL (60% e 67%respectivamente). Entre aqueles que tomaram as 3 doses, viu-se que 64% (34/53)deles respeitaram o intervalo de tempo recomendado, de maneira que 64% (22/34)destes apresentaram resposta imunológica satisfatória. Entretanto, 36% (19/53) nãorespeitaram esse tempo e, mesmo assim, 73% (14/19) obtiveram títulos de anticor-pos maiores que 100mUI/mL. Conclusão: A maioria dos acadêmicos estudados estádevidamente protegida contra a hepatite B, independentemente do sexo. Eviden-ciou-se, ainda, que a titulação de anticorpos adquirida com duas ou três doses davacina é praticamente equivalente. Além do mais, o intervalo entre as doses adminis-tradas não interferiu no resultado final dos anticorpos adquiridos, com as três dosespreconizadas.
PO-097 (416)
AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE BENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA DA UFPBROCHA HAC, SERAFIM ACP, MELO MKS, GONDIM AS, NASCIMENTO RQ, ROCHA FAUniversidade Federal da Paraíba
Fundamentos: A Hepatite B apresenta distribuição epidemiológica abrangente, en-volvendo todos os continentes. Estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas em todomundo já entraram em contato com o vírus, sendo que 350 milhões são portadorescrônicos da doença. Esta infecção de origem viral pode ser transmitida por via verti-cal, sexual e parenteral, incluindo, desse modo, os profissionais de saúde no grupode risco. Quando incompletamente ou não imunizados, estes apresentam risco decontaminação 30 vezes superiores aos da população geral, sendo, portanto, impor-tante a conscientização entre os estudantes da área de saúde, já que a vacinação é amedida mais segura de prevenção da hepatite B. Métodos: O estudo foi realizadoatravés da aplicação de questionário entre estudantes de Medicina na UniversidadeFederal da Paraíba (UFPB), separados em ciclo básico (do 1º ao 4º período) e profis-sional (do 5º ao 12º período), que visou colher informações sobre a prevalência davacinação, e o grau de importância atribuído por tais estudantes. Resultados: Den-tre os 117 alunos estudados, 84% (98/117) receberam pelo menos uma dose davacina contra hepatite B. Entre os citados, 89% (87/98) eram do profissional e 11%(11/98) eram do básico. No período avaliado, 46% dos vacinados (45/98) nãoreceberam a vacinação de forma completa. Em relação ao número de doses toma-das, aqueles que receberam as três doses da vacina, 57% era do sexo feminino e43% do masculino. Ao questionar sobre a justificativa para a não vacinação ouvacinação incompleta, o esquecimento (30%) foi a alternativa mais citada, seguidade negligência (22%) e falta de tempo (14%). Conclusão: Observou-se que a maio-ria dos estudantes de Medicina da UFPB demonstrou interesse pela proteção vaci-nal, não havendo diferença estatística significante de acordo com o sexo para osvacinados com três doses. Apesar de o Ministério da Saúde preconizar a vacinaçãodesde a infância, evidenciamos que a conscientização de sua importância ocorreu,principalmente, no ciclo profissional, pois há risco efetivo de contrai-la. Há, tam-bém, necessidade de maior disciplina para a vacinação completa e correta, uma vezque as justificativas expostas para a vacinação inadequada não são aceitáveis paraesta classe de risco, visto conhecimento sobre o tema. Sugerimos a vacinação dosfuturos profissionais de saúde como medida de prevenção da hepatite B, e reforçá-la através de medidas de educação em saúde desde o ciclo básico.
PO-098 (432)
AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA DE PACIENTES COM INFECÇÃO CRÔNI-CA PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM ACOMPANHAMENTO NO SERVI-ÇO DE GASTROCLÍNICA – UNICAMPGOMES VP, SEVÁ-PEREIRA T, RUPPERT GFS, NASSIF CES, LORENA SLS, SOARES ECDisciplina de Gastroenterologia - DCM - Faculdade de Ciências Médicas/Gastrocentro - UNICAMP. Campinas, SP
Fundamentos: A infecção crônica pelo vírus da hepatite B (VHB) caracteriza-se pelavariabilidade de manifestação clínica e evolução. Para se prever a evolução e definir
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 39
conduta para pacientes com infecção pelo VHB, devemos nos basear em dados desorologia (principalmente o antígeno AgHbe), transaminases, histologia, além dedetecção e quantificação do VHB-DNA. Objetivo e métodos: Avaliação retrospecti-va através de fichas clínicas do perfil sorológico, indicações de tratamento e evolu-ção de pacientes portadores de infecção crônica pelo VHB (definido como AgHbs+por mais de 6 meses) acompanhados no ambulatório de hepatites do serviço deGastroclínica do Hospital de Clínicas da Unicamp nos últimos 2 anos. Resultados:Foram avaliados 107 pacientes AgHbs+, dos quais 98 apresentavam dados sorológi-cos e de evolução para a análise retrospectiva. O VHB-DNA qualitativo pôde serrealizado pelo menos 1 vez em 76 pacientes. Entre os 98 pacientes estudados, 36(36,7%) eram AgHbe+, enquanto 62 (63,2%) eram AgHbe negativo. Do grupoAgHbe+, 24 foram submetidos a tratamento, sendo 6 inicialmente com Interferon(4 retratados com lamivudina) e 18 com lamivudina (1 retratado com Adefovir). Nototal, 11 tiveram negativação do AgHbe (8 com soroconversão) e 12 continuaramAgHbe+. Dentre os 12 pacientes AgHbe+ que não fizeram tratamento, apenas 3tiveram soroconversão espontânea. Dos 62 pacientes AgHbe-, 23 pacientes recebe-ram tratamento para hepatite B (11 com VHB-DNA+, os outros por evidencias infla-matórias). O tratamento inicial foi IFN em 4 pacientes (todos foram retratados comLamivudina) e Lamivudina em 19. Três pacientes tratados com Lamivudina recebe-ram posteriormente Adefovir e 1 Entecavir. Trinta e nove dos pacientes com AgHbenegativo não tinham indicação de tratamento, pois apresentavam PCR- ou transa-minases normais e histologia sem atividade inflamatória. Durante o acompanha-mento, 5 pacientes evoluíram a óbito por complicações de cirrose hepática (1 porPBE, 2 por HDA, 2 pós Tx hepático). Conclusões: A hepatite B crônica é uma doençabastante heterogênea e de difícil manuseio. Em nossa experiência, a maior parte dospacientes apresentava-se inicialmente com AgHbe negativo, e praticamente metadedos pacientes teve indicação de tratamento.
PO-099 (433)
COMPORTAMENTO DO PERFIL SOROLÓGICO E EVOLUÇÃO DA HEPA-TITE B NOS TRANSPLANTADOS RENAISSEVÁ-PEREIRA T, URBINI-SANTOS C, LORENA SLS, NASSIF CES, ALVES-FILHO G, SOARES EC, MAZZALI MDisciplina de Gastroenterologia e Disciplina de Nefrologia - DCM - Faculdade de Ciências Médicas/Gastrocentro -UNICAMP. Campinas
Fundamento: A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) nos transplantados renaistem sido motivo de estudo devido ao seu possível impacto na evolução do pacientee sobrevida do enxerto. O comportamento sorológico é muitas vezes diferente napopulação imunossuprimida, apresentando maior variabilidade e dificultando suainterpretação. Objetivo e métodos: Avaliação da prevalência de infecção crônicapelo VHB (definido como HbsAg + por mais de 6 meses) em transplantados renaisacompanhados no Serviço de Nefrologia da UNICAMP e análise retrospectiva docomportamento do perfil sorológico e evolução destes pacientes. Resultados: Aprevalência de VHB foi de 4,2%, sendo identificados 36 pacientes entre os 850transplantados renais atualmente em acompanhamento, dos quais 15 com sorolo-gia positiva para hepatite C. No momento do transplante, 31 pacientes já apresen-tavam HbsAg+, sendo 15 com marcador sorológico de replicação (HbeAg +) e 15com HbeAg- (1 não tinha este dado). Dos 15 pacientes inicialmente HbeAg+, 6tiveram soroconversão espontânea para AntiHbe+, dos quais 3 apresentaram tam-bém negativação do HbsAg. No grupo de 15 pacientes com HbeAg-, todos, excetoum, apresentavam AntiHbe+. Três pacientes evoluíram com reativação do HbeAg(incluindo o único AntiHbe-), e um paciente negativou espontaneamente o HbsAg.Apenas um paciente teve clínica de reagudização da hepatite B. Em relação ao trata-mento, três pacientes receberam Lamivudina pré-transplante (HbeAg-, porém comPCR+ e atividade histológica significativa) e 12 pacientes receberam Lamivudinaapós o transplante: um HbeAg-, por reagudização da hepatite, e 11 com HbeAg+ (8inicialmente HbeAg+, os 2 com positivação do HbeAg, e 1 sem o dado inicial e queapós revelou-se HbeAg+). Dentre estes, 5 apresentaram evidencia de resistência aLamivudina e 2 tiveram perda do HbeAg sem soroconversão. Os 4 restantes man-tém HbeAg+, sem sinais de atividade. Durante o acompanhamento, 5 pacientesadquiriram o VHB, sendo 4 destes com aparente imunidade pré-transplante para ahepatite B (2 previamente vacinados, 2 imunes por doença) e somente 1 com soro-logia negativa para o VHB. Conclusão: Pacientes transplantados renais devem tersorologia de hepatite B avaliada de rotina devido à freqüente alteração do perfilsorológico. A interpretação e importância destas variações são de difícil avaliação, eas decisões de conduta devem levar em conta, sempre que possível, os níveis detransaminases, alterações histológicas e carga viral.
PO-100 (443)
HEPATITE B – APRESENTAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA EM AM-BULATÓRIO ESPECIALIZADO NO AMAZONASCAMPOS JG, ROCHA CM, CAMARGO KM, SILVA MJS, KIESSLICH D, BESSA A, FERREIRA LFServiço de Hepatologia - Hospital Universitário Getúlio Vargas - Universidade Federal do Amazonas – Manaus/AM
Introdução: A região Amazônica é considerada de elevada prevalência para o vírusda hepatite B (HBV), onde caracteristicamente a transmissão ocorre ainda na primei-ra infância, evoluindo para a cronicidade na maioria dos casos. Objetivo: Avaliar aepidemiologia e a forma de apresentação clínica da infecção pelo HBV. Métodos:
Estudo retrospectivo de pacientes HBsAg positivos acompanhados ambulatorialmenteno período de 2000 a 2007. Foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, sexo,naturalidade, profissão, vida sexual, ingesta alcoólica, hemotransfusão, tatuagem,cirurgia, hemodiálise, história familiar de hepatite, modo potencial de contágio,sorologias anti-HCV e anti-Delta (HDV). Resultados: Foram analisados 127 pacien-tes, com média de idade de 39 ± 13 anos, sendo 73% (93/127) homens e 99%heterossexuais. O modo potencial de contágio foi indeterminado em 87%, intra-familiar em 5%, sexual em 5% e parenteral em 3%. Quanto ao número de parceirossexuais: 49% (62/127) referiram um parceiro/ano, 15% (19/127) 2 a 5 parceiros/ano e 11% (14/127) mais de 5 parceiros/ano; 25% (32/127) não tiveram contatosexual no último ano ou esta informação não foi registrada. Ingesta alcoólica maiorque 20g/dia esteve presente em 22% (12/54) dos casos. Identificaram-se comofatores de risco: naturalidade (87% outros municípios do Amazonas vs 13% Ma-naus) e história familiar de hepatite. As formas de apresentação clínica foram: hepa-topatia crônica com hipertensão portal (varizes esofagianas ou esplenomegalia) em53% (67/127), hepatite crônica sem hipertensão portal em 41% (52/127), hepatiteaguda em 1% (2/127), e hepatocarcinoma em 1% (1/127); 4% (5/127) aguardamdefinição diagnóstica. Ocorreu co-infecção com HDV em 58% (40/69), com HCVem 12% (12/104) e com HCV/HDV em 3% (1/33). O antígeno HBe foi negativo em66% (48/63). Conclusão: Os fatores de risco encontrados demonstram que a trans-missão em áreas hiper-endêmicas para a hepatite B ocorre por contato intra-domici-liar. A presença de sinais de hipertensão portal e ausência de HBeAg na avaliaçãoinicial indicam o diagnóstico tardio dessa doença. A alta prevalência de co-infecçãocom HCV ou HDV contribuiu para a gravidade dos casos.
PO-101 (449)
IMPORTÂNCIA DO HBV-DNA QUANTITATIVO (PCR REAL TIME) EMPORTADORES DE HEPATITE B CRÔNICA, HBEAG NEGATIVO COM ALTNORMAL OU DISCRETAMENTE ELEVADAREZENDE REF, PIMENTA ATM, FERREIRA RM, PASQUALIM M, GRIMM LCA, SILVA AAC, SANTA MLSSAmbulatório de Hepatites-Núcleo de Gestão Assistencial (NGA 59), Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto(SMS-RP)
Fundamentos: A quantificação da carga viral do vírus da hepatite B (VHB) é funda-mental para diferenciar portadores inativos do VHB de hepatite B crônica HBeAgnegativo, mutante pré-core. Nesta última população, níveis séricos de HBV-DNA >10.000 cópias/ml têm sido relevantes para avaliação de biópsia hepática e decisãoterapêutica. Objetivo: Investigar a freqüência de carga viral > 10.000 cópias/ml, emportadores de hepatite B crônica, HBeAg negativo com ALT normal ou discretamen-te elevada, utilizando o método de PCR quantitativo em tempo real (PCR real time).Analisar as diferenças demográficas entre os pacientes com hepatite B crônica HBe-Ag negativo, ALT normal ou discretamente elevada, com HBV-DNA quantitativo <10.000 cópias/ml (grupo 1) daqueles com HBV-DNA quantitativo > 10.000 cópias/ml (grupo 2). Casuística e métodos: No período de agosto de 2002 a junho de2007, foram avaliados 228 portadores de hepatite B crônica HBeAg positivo e HBe-Ag negativo. Foram incluídos 79 portadores de hepatite B crônica HBeAg negativo,virgens de tratamento, com ALT normal ou discretamente elevada (< 1,5 LSN), quepossuíam pelo menos 1 dosagem de carga viral pelo método de PCR Real time.Foram excluídos co-infectados com hepatite C, HIV, renais crônicos e imunossupri-midos. Realizou-se coleta de dados demográficos, pesquisa de marcadores sorológi-cos (HBsAg, anti- HBcIgG, HBeAg, anti HBe, anti-HCV e anti-HIV), dosagem de ALT,e HBV-DNA quantitativo (PCR real time). Resultados: Quarenta e seis (58,2%) erammulheres, idade média 40,7 (18 a 73 anos). Cinqüenta e oito (73,4%) e 21 (26,5%)pacientes apresentaram HBV-DNA sérico quantitativo < 10.000 e > 10.000 cópias/ml respectivamente. As medianas de carga viral do grupo 1 [62% mulheres, médiade idade 41,2 (18 a 73 anos)] e do grupo 2 [52,3% mulheres, média de idade40,2% (19-60 anos)] foram de 1.110 cópias/ml e 46.760 cópias/ml respectivamen-te. Vinte e dois pacientes do grupo 1, realizaram mais de 1 dosagem da carga viral,com intervalo mínimo de 6 meses, sendo que 6/22 (27,2%), apresentaram na se-gunda dosagem, HBV-DNA sérico quantitativo > 10.000 cópias/ml. Não houve dife-renças de sexo e idade entre os grupos 1 e 2. Conclusão: A quantificação da cargaviral demonstrou que, em nosso serviço, 35% dos portadores de hepatite B crônicaHBeAg negativo com ALT normal ou discretamente elevada necessitam de possívelabordagem terapêutica.
PO-102 (458)
SOROCONVERSÃO HBSAG →→→→→ ANTI-HBS EM PORTADORES DE HEPA-TITE CRÔNICA B E POLIARTERITE NODOSA SUBMETIDOS AO TRATA-MENTO COM LAMIVUDINE – RELATO DE 2 CASOSMORAES JP, MEIRELLES SOUZA AF, PACE F, BARBOSA KVBD, OLIVEIRA JM, SOUZA MH, PIRES LA, MEIRELLES DSPGUERRA RR, NORONHA MFAServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: Cerca de 30% dos pacientes com PAN apresentam evidência soroló-gica de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB). A Lamivudine, um análogo nucleo-sídeo, é uma alternativa viável no tratamento da Hepatite crônica B em situações decontra-indicação ao uso do Interferon. O objetivo é relatar 2 casos de portadores de
S 40 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
HCB (cirrose hepática) e PAN submetidos ao tratamento com Lamivudine, obtendo-se supressão da replicação viral e soroconversão para anti-HBs. Caso 1: Paciente 74anos, feminina, apresentando Hepatite crônica B e Poliarterite nodosa tratado por42 meses. Laboratório inicial: Plaquetas: 94000/mm³; Alb: 2.5g/dl; BT/BD: 0.7/0.5mg/dl; AST/ALT: 70/53U/l; AP: 88%; a-fetoproteína: 5.1UI/ml; HBsAg: +, HBeAg:+, anti-HBe: -, anti-HBs: -, HBV-DNA: 3.200.000 cópias/ml. USG com sinais de hepa-topatia crônica. Iniciado tratamento com Lamivudine 150mg via oral/dia. 36º mês:AST/ALT: 13/15U/l, HBeAg: -, anti-HBe: +, HBsAg: -, anti-HBs: + (895UI); HBV-DNA:indetectável. Tratamento suspenso após seis meses da confirmação do perfil soroló-gico. Caso 2: Paciente 57 anos, masculino, portador de Hepatite crônica B e Poliar-terite nodosa tratado por 48 meses. Laboratório inicial: Plaquetas: 326.000/mm³;Alb: 6.6g/dl; BT/BD: 1.7/0.6mg/dl; AST/ALT: 155/222U/l; AP: 63%; α-fetoproteína:2.7UI/ml; HBsAg: +; HBeAg: +; anti-HBe: -; anti-HBs: -; HBV-DNA: positivo. USG comsinais de hepatopatia crônica, esplenomegalia e ascite discreta. BX hepática: Hepati-te crônica em atividade. METAVIR: A1 F4. Iniciado uso de Lamivudine 150mg/dia.48º mês: AST/ALT: 17/10U/l, HBeAg: -, anti-HBe: +, HBsAg: -, anti-HBs: -. Lamivudi-ne suspensa após 48 meses de tratamento. No sétimo mês após suspensão do trata-mento houve o surgimento do anti-HBs (13,6UI) e o HBV-DNA manteve-se negati-vo. Conclusão: O uso da Lamivudine pode ser uma alternativa viável no tratamentoda hepatite crônica B e poliarterite nodosa. A soroconversão HBsAg - anti-HBs, comodescrito neste estudo, é um evento raramente observado na literatura.
PO-103 (461)
ASCITE QUILOSA (AQ) E CIRROSE HEPÁTICA: RELATO DE CASO E RE-VISÃO DA LITERATURACINTRA MTG, VIANA ACL, PEREIRA AB, JUNIOR EPCR, SILVA LDHospital Universitário Risoleta Tolentino Neves (HURTN) – Belo Horizonte/MG
AQ é condição rara, caracterizada pela presença de líquido ascítico com aspectoleitoso, que resulta de concentração aumentada de triglicerídeos (TGL). Ocorre emdiversas situações, destacando-se linfomas, infecções, traumas, cirurgias e cirrosehepática. AQ ocorre em 0,5 a 1,0% dos pacientes cirróticos, porém o mecanismofisiopatológico ainda é pouco conhecido. Entretanto, sugere-se que nessa situação,AQ esteja associada à disrupção de vasos linfáticos devido à hipertensão portal.Descrevemos o caso de um paciente com cirrose hepática associada à infecção peloVHC (vírus da hepatite C) e ao uso de álcool, sexo masculino, 36 anos, feoderma,que foi admitido no HURTN devido aumento do volume abdominal e emagreci-mento (15Kg). Ao exame físico, apresentava-se subictérico, com mucosas hipocora-das e ausência de linfadenomegalias. ACV: BNRNF (PA, 110x60mmHg; FC, 92bpm);AR: MV reduzido em bases; AD: Ascite volumosa e esplenomegalia discreta. Exames:líquido ascítico (aspecto leitoso; TGL, 1500mg/dL; proteínas, 3g/dL; glicose, 100mg/dL; Leucócitos, 25/mm3; mononucleares, 100%; adenosina deaminase < 40U/L,amilase, 10U/L; pesquisa de BAAR, fungos e bactérias, negativa). Exames laborato-riais: TGO, 28U/L; TGP, 26U/L; GGT, 121U/L; FA, 108U/L; BD, 0,4mg/dL; albumina,2,4g/dL; Linfopenia (LG: 3.200, 544 linfócitos); amilase, 51U/L e LDH, 153U/L. Pro-vas de função renal, Rx de tórax e ecocardiograma sem alterações. Sorologias nega-tivas (VHB e HIV). EDA: varizes de esôfago de fino calibre. Marcadores tumorais eeletroforese de proteínas normais. US e TC de abdômen: hepatopatia crônica fibro-sante, ascite volumosa, pâncreas atrófico, esplenomegalia, rins normais e ausênciade linfoadenomegalia retroperitoneal e peri-aórtica. TC de tórax: ausência de linfoa-denomegalia mediastinal, área de cavitação em segmento anterior do lobo superioresquerdo. Fibrobroncoscopia com biópsia: pesquisa de BAAR e neoplasia foram ne-gativas. Biópsia hepática: hepatite crônica em atividade e fibrose discreta, associadoao VHC (Metavir, A1 e F1). Com base nesses achados, o diagnóstico de AQ foirealizado e instituído o tratamento com octreotide 100mg subcutâneo (TID) e nutri-ção parenteral total, ocorrendo remissão da AQ. De forma interessante, no presenteestudo, AQ foi associada à cirrose hepática e à hipertensão portal. Entretanto, opaciente está sob controle ambulatorial rigoroso, pois dentre as causas da AQ desta-ca-se o linfoma, entidade que tem sido, recentemente, associada ao VHC.
PO-104 (463)
ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE HEPATITEB, TRIADOS PELO BANCO DE SANGUE E ENCAMINHADOS A LIGA DEHEPATITE DE SERGIPE HU-UFSSANTOS IM, BATISTA AC, CABRAL LW, VEIGA CT, FIGUEIREDO NETO R, GARCEZ SRC, MACHADO RA, SANTOS
EHS, SILVA GES, NASCIMENTO TVBNúcleo de Hepatites da Universidade Federal de Sergipe
Introdução: A Liga de hepatite de Sergipe é um projeto de extensão da Universida-de Federal de Sergipe (UFS), composta por alunos e professores do curso de medi-cina. Ela se presta a atendimento ambulatorial dos pacientes com hepatites virais detodo o estado, sendo a maioria dos pacientes provindos do hemocentro de Sergipe(HEMOSE). A maior parte dos hemocentros do país utiliza o anti-hbc para realizar atriagem para hepatite B. Esse marcador é bastante sensível para doença, porém tempouca acurácia no seu diagnostico. Objetivo: Avaliar o diagnostico final dos pacien-tes com suspeita de hepatite B e estimar os fatores de risco que essa população estáexposta, além da prevalência de etilismo. Pacientes e métodos: Estudo transversaldescritivo. Foram revisados 580 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório
da liga de hepatite de Sergipe no período de jun/05 a mai/07. Os prontuários foramanalisados considerando motivo de encaminhamento, diagnostico final ou descon-tinuidade de acompanhamento, fatores de risco e prevalência de etilismo. Resulta-dos: Os pacientes estudados apresentavam media de idade de 36,99 ± 10,88 anos.82,2% eram homens. Em relação ao diagnostico final: 336 (58,1%) apresentaraminfecção passada, 40 (6,96%) eram falso-positivo para anti-hbc 39 (6,75%) eramanti-Hbc isolado, 28 (4,91%) tinham hepatite B crônica e 132 (22,7%) abandona-ram o acompanhamento. Os principais fatores de riso incriminados foram o sexoinseguro (47,14%) e ser profissional de saúde (14,4%). A prevalência de etilismo napopulação foi de 37,14%. Conclusão: Os resultados estão de acordo com os daliteratura, mostrando uma incidência maior de infecção passada, e uma taxa de falsopositivo e hepatite B crônica em torno de 5%.
PO-105 (468)
PERFIL SOROLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE BEM UM CENTRO DE REFERÊNCIACAMPOS AGS1, PEREIRA LMB2, MELO FILHO RM2, PEREIRA LB2, AROUCHA DCBL1, SILVA CCCC2, PEREIRA LMMB1,2
1 Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Ciências Médicas/Universidade de Pernambuco, Brasil
Fundamentos: A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) acomete cerca de 400 milhõesde pessoas em todo mundo e pode ser apontada como uma das mais importantesviroses do gênero humano. O sistema de vigilância epidemiológica (SVE) das hepatitesvirais apresenta várias limitações que inviabilizam obter um quadro realístico da magni-tude do problema no país, estando as estimativas de freqüência, geralmente, subestima-das. Essas limitações nos apoiaram na necessidade de realizar estudo clínico sorológicodos pacientes portadores de hepatite B. Objetivo: Traçar o perfil sorológico dos pacien-tes atendidos no ambulatório de hepatologia do Hospital Oswaldo Cruz/Instituto doFígado de Pernambuco (HUOC/IFP) em Recife-PE, no período de janeiro 2003 a junho2007. Métodos: Foram incluídos 170 pacientes advindos do ambulatório de hepatolo-gia do HUOC/IFP, o qual atende a população triada de ambulatórios dos hospitais darede pública, além da triagem de pacientes referidos dos bancos de sangue, sendoavaliados os marcadores sorológicos pelo método ELISA para HBV (HBsAg, anti-HB-cIgM, anti-HBcIgG, HBeAg, anti-HBe e anti-HBs em todos pacientes HBsAg positivos eapenas HBsAg e anti-HBs nos que apresentaram positividade para anti-HBc. Foram ex-cluídos os pacientes que apresentavam hepatite aguda e os pacientes que receberampreviamente vacina para hepatite B. Resultados: Dos 170 pacientes, 123(72%) homense 47(28%) mulheres com média de idade de 42 anos. 80 dos 170 (47%) pacientesapresentaram HBsAg e Anti-HBe positivos, em contraste com 26 (15%) portadores repli-cantes (HBsAg e HBe positivos). Dos 170 pacientes, 64 (37%) foram anti-HBc positivo eHBsAg negativo, dos quais 35 (20%) apresentaram positividade para o anti-HBs e 29(17%) anti-HBs negativo. Conclusão: Foi observado uma maior prevalência de pacien-tes portadores crônicos anti-HBe positivo quando comparado com o grupo de portadorreplicante, sugerindo a necessidade iminente da realização do HBV DNA como rotinanesses pacientes. Palavras chaves: hepatite B, sorologia, hepatologia.
PO-106 (494)
HEPATITE B AGUDA COLESTÁTICA GRAVERIOS DA SILVEIRA PCIrmandade Santa Misericórdia de Angra dos Reis – RJ – Brasil
Fundamentos: As manifestações clínicas da hepatite aguda B classificam-se em:típica, colestática, grave, fulminante e com manifestações extra-hepáticas. As mani-festações clínicas e laboratoriais refletem mais a resposta imune do hospedeiro aovírus do que a lesão direta do vírus. Cerca de 30% dos infectados são sintomáticoscom icterícia que em raras ocasiões pode prolongar-se persistindo alterações dofluxo biliar (hepatite colestática). Faz-se necessário diagnóstico diferencial com icte-rícia obstrutiva e hepatites graves com necrose confluente (submaciça). Na hepatitecolestática a fisiopatologia é duvidosa, descrita pela 1ª vez por Eppinger como for-ma colangítica de hepatite a colestase intra-hepática é hepatocanalicular. Métodos:Através da descrição de um caso abordaremos esta entidade rara. Caso Clínico:homem negro, 33 anos a 40 dias com diagnóstico de hepatite B aguda (HBsAg++;Anti HBc IgM++; ast = 1450; alt = 1650; bt = 9,6) com icterícia progressiva e acen-tuada (bt = 46; bd = 33,8; fa = 529; ggt = 105) internado com prurido, acolia,colúria hepatomegalia e astenia. Paciente evoluiu com queda de ast, alt, hipotensãoarterial, hipoglicemia, hematêmese, melena, oligúria e IRA sendo transferido paraUTI, iniciado hemodiálise, aminovasoativa, antibioticoterapia, IBP, albumina, nalo-xone, hemotransfusão e suportes. Investigação para hepatite A, C, CMV, HIV, HAI,LE, mononucleose e hemocromatose foram negativas; EEGD = gastrite enant. leveantral erosiva c/ hematina; RX tórax = infiltrado basal bilateral e leucocitose combastões. Após 9 dias na UTI permaneceu hospitalizado por 17 dias. Resultados:Após 25 dias alta hospitalar com hemograma normal, função renal recuperada (u =38; c = 1,6); albumina = 3,7; fa = 663; ggt = 613; bt = 5.0 (bd = 3,7); tap = 13/100%; ast = 104; alt = 82. No ambulatório após 30 dias: ast = 13; alt = 16; fa = 102;ggt = 27; u = 37; c = 1,3 e HBsAg negativo. Após 90 dias AntiHBs positivo e após 14meses alta definitiva (hc = normal; vhs = 15; u = 40; c = 1,4; bt = 0,6; ast = 24; alt =32; fa = 137; ggt = 39; tap = 13/100%). Conclusões: A forma colestática apesar daintensidade do quadro clínico-laboratorial é benigna com cura em quase todos ca-sos, nas primeiras semanas é semelhante a forma típica da HAB evoluindo a seguir
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 41
com hiperbilirrubinemia acentuada, queda das transaminases, elevação de fa e ggt.É importante diferenciá-la da forma subaguda que cursa com sinais clínicos de insu-ficiência hepática e suas complicações.
PO-107 (504)
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PORTADORES DE HEPATITE B E C COMPRESENÇA DE ESTEATOSE E/OU ESTEATO-HEPATITEPOLARO EN, BRITO RC, SANTOS LCL, SANTOS KAS, SILVA LD, LOPES RAM, GUIMARÃES APRUniversidade Federal do Pará (Belém-Pará)
Fundamentos: O fígado é o órgão que mais freqüentemente sofre esteatose, o quereflete seu papel central no metabolismo das gorduras. A coexistência com vírus dashepatites acelera a progressão de danos ao fígado, podendo ocasionar fibrose. Ob-jetivo: Analisar comparativamente a associação do HCV e do HBV com a esteato-hepatite e/ou esteatose, avaliando a prevalência em relação a idade, sexo, proce-dência e elevação de transaminases. Métodos: Estudo retrospectivo de pacientescom infiltração gordurosa diagnosticados pela Liga de Hepatites do Hospital Univer-sitário João de barros Barreto, no município de Belém, no período de Abril de 2005à Abril de 2007, por métodos complementares (USG e/ou Biópsia) que possuíam afinalidade de auxiliar na avaliação dos pacientes com sorologia positiva para Hepati-te B e C. Para a análise estatística, utilizou-se o teste do qui-quidrado ( 2). Resulta-do: Foram estudados 32 pacientes portadores de esteatose e/ou esteato-hepatite,com média de idade de 42 ± 15 anos, com mínimo de 20 e máximo de 70. Predo-minaram pacientes do sexo masculino (56,3%), procedentes da zona metropolitanade Belém (78%). O VHB prevaleceu em 25% dos casos, o VHC em 40,6% dos casos.Destes contaminados pelo vírus B, constatou-se que 25% pertenciam à faixa etáriade 20-40 anos, 62,5% a de 41-60 anos e 12,5% a de acima de 60 anos. Não houverelação estatística relevante entre os sexos. E em apenas 2,1% foram encontradoscom transaminases alteradas. No entanto, dos infectados pelo vírus C observou-sepor maior prevalência no grupo etário mais jovem, 46,1%. Conclusão: A análise dosresultados revelou que na população em estudo a esteatose hepática e/ou esteato-hepatite é mais severa em pacientes com HCV em relação aos com HBV, a uma faixaetária predominantemente mais jovem associada a aumento de transaminases.
PO-108 (505)
NECROSE CUTÂNEA ASSOCIADA AO USO DE INTERFERON ALFA-2A:RELATO DE CASORODRIGUES JC, OLIVEIRA JMR, JUNIOR JRA, SILVA LD, BRITO RC, GUIMARÃES APRUniversidade Federal do Pará (Belém-Pará)
Fundamentos: O interferon é uma droga utilizado para o tratamento de doenças comoa leucemia mielóide crônica, esclerose múltipla e hepatite B crônica. Embora raro, exis-tem relatos na literatura de necrose cutânea, como complicação após tratamento comINF. Objetivo: Relatar um caso de necrose cutânea após injeção de interferon alfa-2a empaciente com infecção crônica pelo HBV. Método: Realizou-se entrevista individual empesquisa em prontuário. Relato de caso: F.M., 31 anos, solteiro, sexo masculino, naturalde Ribeirão Preto, residente em Belém-PA, diretor de marketing, portador crônico deinfecção pelo vírus B (A1F2), detectado após realização de sorologias provavelmentedevido relação sexual desprotegida em abril de 2006 (HBsAg +,anti-HBc total +,anti-HBs+,anti-HBc IgM -, anti-HCV - e anti-HIV 1 e 2 -) em tratamento com interferon alfa-2a 5MUI/dia, injeção subcutânea. Após vinte e duas semanas de tratamento com interferonalfa-2a, o paciente evoluiu com lesão eritematosa dolorosa em flanco direito 9 dias apósaplicação do medicamento. US concluiu celulite. O tratamento com interferon foi sus-penso. Exames colhidos nessa fase mostraram: hemograma e bilirrubinas sem alteraçõese HBV DNA com mais de 40 milhões de cópias. Paciente foi internado com área denecrose em flanco direito. Dois dias de antibioticoterapia estabeleceu-se lesão ulceradadrenando secreção purulenta. Realizou-se desbridamento da ferida e drenagem da se-creção. A cultura exibiu Stafilococcus aureus. Iniciou-se nova antibioticoterapia associadaàs sessões de câmara hiperbárica. O paciente recebeu alta com melhora e ferida semsecreção. Cinco dias depois, foi novamente hospitalizado com ferida drenando conteú-do de coloração esverdeada. Cultura da amostra apresentou Pseudomonas aeruginosa.Instituiu-se antibioticoterapia adequada. Há quatro meses o paciente encontra-se emprocesso de cicatrização da ferida com cultura e hemocultura negativas, realizando exa-mes específicos para controle da carga viral da hepatite B e iniciará tratamento comentecavir. Considerações finais: A terapia com interferon alfa pode ter como complica-ção a necrose cutânea. Embora o mecanismo patogênico permaneça desconhecido,múltiplos fatores podem ser considerados, como a injeção peri-arterial ou intra-arterial.
PO-109 (507)
ANÁLISE DA SOROCONVERSÃO DO ANTICORPO CONTRA O ANTÍGE-NO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B EM PROFISSIONAIS DESAÚDENAZAR AN1,2, MELO LOR1,2,4, BASTOS AP3, SANTOS RC3, PITTELLA AM1,3, MATOS HJ2,4
Universidade do Grande Rio (1), Universidade Estácio de Sá (2), Hospital Quinta D’Or (3), Universidade do Estadodo Rio de Janeiro
Fundamentos: A hepatite B (HB) e suas seqüelas permanecem como um grandeproblema de saúde pública. O risco de se contrair esta doença entre os profissionais de
saúde (PS) é maior do que o da população geral adulta. A vacina é um método seguroe eficaz na prevenção primária da HB. Objetivos: Analisar a soroconversão do anticor-po contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBs) em PS, analisar operfil dos PS que responderam à vacinação, definir o esquema vacinal recebido eidentificar condições que reduziram a resposta à vacina. Métodos: O estudo foi uminquérito soro epidemiológico transversal, retrospectivo e realizado em um hospitalterciário. No período entre 1/1/2004 e 31/07/2006, foram realizadas 1115 sorologiaspara a titulação do anti-HBs no soro dos PS de risco baixo ou alto para a ocorrência deacidentes pérfuro-cortantes. As variáveis estudadas foram: idade, sexo, peso, altura,índice de massa corporal, prática de atividades físicas, história atual ou passada detabagismo, quantidade de anos fumados, quantidade de cigarros fumados por dia,quantidade de anos sem fumar, história social do uso de derivados etílicos, presençade doenças infecciosas preexistentes, presença de doação de sangue ou hemotransfu-são no passado, história prévia de acidentes de trabalho ou de acidentes pérfuro-cortantes e esquema vacinal recebido. Resultados: Dos exames realizados, 729 foramreagentes (R) e 386 não reagentes (NR), caracterizando uma soropositividade de 65,4%(IC 95%: 62,6 – 68,2). As idades foram mais elevadas no grupo NR (p = 0.000), houvemais mulheres nos dois grupos (p = 0.009), verificamos um maior número de PS dealto risco no grupo R (p = 0.000) e um maior número de PS vacinados contra a HB (p= 0.000) e com o esquema completo (p = 0.000) no grupo R. Segundo a regressãologística binária não condicional, as variáveis que permaneceram como tendo influên-cia independente associadas ao anti-HBs foram pertencer ao grupo de risco (p = 0,000)e ser vacinado com o esquema completo ou incompleto contra a HB (p = 0,000). Asvariáveis, sexo (p = 0,181) e idade (p = 0,150) demonstraram-se como não significa-tivas nesta regressão logística. A adesão dos nossos PS à vacina contra a HB foi de41,7%. Conclusões: Os PS estão mais expostos à HB e devem ser vacinados com oesquema proposto pela OMS. As idades mais elevadas reduzem a resposta à vacina eesquemas vacinais diferenciados são preconizados para os casos não respondedoresao esquema convencional.
PO-110 (508)
GENÓTIPOS DO VÍRUS DA HEPATITE B E MUTAÇÕES DE RESISTÊNCIAEM PACIENTES EM TRATAMENTO COM LAMIVUDINE A LONGO PRA-ZO: CARACTERIZAÇÃO DO GENÓTIPO G NO BRASILBOTTECCHIA M, SOUTO FJD, DO Ó KMR, AMENDOLA M, BRANDÃO CEB, NIEL C, GOMES SLaboratório de Virologia Molecular, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ; Núcleo de Estudos de Doenças Infecciosas eTropicais, Faculdade de Ciências; Médicas, Universidade Federal do Mato Grosso; Hospital Alcides Carneiro, Petró-polis, Rio de Janeiro; Hospital Universitário Gaffreé e Guinle
A Lamivudine é um análogo nucleosídeo usado para o tratamento da Hepatite B crô-nica. A principal limitação do uso da lamivudine é a seleção de mutações de resistênciaque aumenta com o tempo de utilização da mesma. O vírus da Hepatite B (HBV)isolado tem sido classificado em oito genótipos (A até H) com distintas distribuiçõesgeográficas. Os genótipos do HBV também podem influenciar as propriedades pato-gênicas e o tratamento. No trabalho nós analisamos a distribuição dos genótipos dovírus da Hepatite B, a natureza e a freqüência da resistência a lamivudine entre os 36pacientes submetidos ao tratamento com a lamivudine por um período de 12 a 84meses. Resultados: Metade dos pacientes eram homossexuais. Apenas 4/36% (11%)dos pacientes eram HBVDNA negativos. Como esperado para um grupo brasileiro, ogenótipo A (24/32 indivíduos positivos, 75%), D (3/32, 9.3%) e F (1/32, 3%) estavampresentes. Uma amostra era genótipo C, que é um genótipo raro no Brasil. Três amos-tras eram genótipo G, que nunca tinha sido detectado no Brasil. As mutações deresistência a lamivudine foram identificadas em 20/32 (62%) amostras de HBVDNApositivos. A carga viral dos pacientes portadores do vírus da Hepatite B com ou semmutações de resistência a lamivudine não foram diferentes (2.7 x 107 e 6.9 x 107cópias/ml, respectivamente). Quinze pacientes mostraram dupla mutação de resistên-cia a lamivudine L180M/M204V. A tripla mutação rt173V/180M/204V, que age comoum escape de mutação a vacina, foram demonstradas em 2 indivíduos. Os três genó-tipos G isolados foram seqüenciado por inteiro; todos os três mostravam dupla muta-ção L180M/M204V e apresentavam uma grande divergência genética quando com-parados com outros genótipos G isolados. Conclusões: Uma grande proporção (55%)dos pacientes submetidos a tratamento prolongado com lamivudine apresentammutação de resistência com elevada carga viral. O potencial de transmissão do mutan-te do vírus da hepatite B deve ser monitorado. A identificação dos genótipos C e G,raramente detectado na América do Sul, parece indicar uma diferente distribuição dogenótipo observado em pacientes não tratados. Disparidades na forma de contamina-ção (o genótipo G parece estar relacionado com o comportamento homossexual) e ogenótipo C é mais agressivo entre os genótipos da Hepatite B que deve explicar apresença de os raros genótipos no presente
PO-111 (510)
APARECIMENTO DE MUTAÇÃO DE RESISTÊNCIA A LAMIVUDINE E IN-SUFICIÊNCIA HEPÁTICA FULMINANTE - RELATO DE CASOBOTTECCHIA M, DO Ó KMR, ARÁUJO NM, GOMES SDepartamento de Virologia, Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz – Rio de Janeiro, Brasil
A lamivudine inibe a replicação do vírus da Hepatite B. A principal limitação do usoda lamivudine é o aparecimento de mutação de resistência. A resistência ocorre
S 42 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
através da troca do aminoácido M550V ou M550I no motif YMDD da polimerase doHBVDNA. A variação M550V pode estar acompanhada pela mutação L526M. Adesse estudo foi investigar as mutações associadas com a resistência a lamivudine.Em um paciente portador de hepatite B crônica que morreu de insuficiência hepáti-ca fulminante após 3 anos de uso da lamivudine. Métodos: Paciente de 58 anos deidade, HbsAg, AntiHBc e HbeAg positivo em 2000. Permanecendo com todos essesmarcadores sorológicos positivos em todos os exames de rotina. O paciente come-çou a usar a lamivudine em agosto de 2001. O HBV isolado. Foi quantificado porPCR em tempo real e o HBV (gene S0 foi seqüenciado em 3 amostras isoladas, umaem setembro de 2000, antes de iniciar a lamivudine, outra em novembro de 2003 eoutra em abril de 2004. Resultados: Todas as seqüências desse paciente pertenciamao genótipo A, subtipo Aa. Nenhuma mutação na polimerase associada a lamivudi-ne foi encontrada na amostra de 2000. Na amostra de 2003, 2 populações, umacom mutação de resistência M550I e outra com dupla mutação (L526M, M550V)foi observada. A outra amostra coletada na época da morte do paciente (abril de2004) mostrou dupla mutação (L526M, M550V). O HBVDNA foi detectado emníveis moderados nas 3 amostras. Conclusão: Os fatores que causam o aparecimen-to de hepatite fulminante quando aparece a mutação de resistência a lamivudinepermanecem desconhecidos. Ambos, a carga viral e as variações do genoma pare-cem estar implicados na patogênese da doença. Em nosso caso, o paciente desen-volveu hepatite aguda fulminante após 4 meses do aparecimento da mutação. Pare-ce que a dupla mutação de resistência (L526M, M550I) ligados a outras substitui-ções na polimerase, não na mutação M550I estavam envolvidas neste caso de hepa-tite B fulminante.
PO-112 (511)
AVALIAÇÃO DA RESPOSTA VIROLÓGICA NA SEMANA 48 AO TENOFO-VIR FUMARATO (TDF) NO TRATAMENTO DA CEPA DO HBV RESISTEN-TE À LAMIVUDINA (CRL) EM CO-INFECTADOS PELO HBV E HIVBRANDÃO-MELLO CE1,2, AMENDOLA PIRES MM1, GRIPP K1, MOTTA IG1
1 Ambulatório de Doenças do Fígado – HU Gaffrée e Güinle (UNIRIO) 2 HUCFF (UFRJ)
Fundamentos: Com o advento da terapia HAART houve melhora na qualidade daresposta imune celular, porém, paradoxalmente, houve o desenvolvimento de for-mas avançadas de doença hepática crônica. O tratamento da co-infecção HBV-HIVcom lamivudina produz baixa resposta virológica (10%), além da emergência decepas resistentes (CRL) em 90% dos casos ao final de 4 anos. Para estas formasindica-se o emprego dos novos análogos núcleos(t)ídicos, como o Adefovir (ADF),Tenofovir (TDF) e Entecavir (ETV). Objetivo: Determinar a taxa de resposta virológi-ca na semana 48 ao tratamento de resgate com TDF em co-infectados HBV-HIV coma cepa CRL. Pacientes e métodos: No período compreendido entre junho 2000 àjunho de 2007 foram avaliados os dados demográficos, clínicos, sorológicos (HBe-Ag-anti-HBe), histológicos e de resposta virológica (HBV-DNA por PCR quantitativo)de co-infectados HBV-HIV com CRL tratados com TDF. Resultados: Foram analisa-dos 57 pacientes, 96% do sexo masculino, com média de idade de 42.8 ± 8.5 anos,com predomínio de aquisição sexual (80%). Destes, 32 estavam em uso de lamivu-dina (59,3%), 16 em uso de TDF (29,6%), 6 de Entecavir (11,1%) e 3 pacientes nãousavam qualquer medicação ARV nem anti-HBV. Dos 16 em uso de TDF, todos eramhomens; 13 eram HBeAg (+); 4 já se apresentavam com cirrose clínica ou histológicae 3 com fibrose leve (F1-2). As médias de ALT, AST, GamaGT, Albumina, Atividade deProtrombina e Bilirrubina foram, respectivamente, de 77UI, 67UI, 93UI, 3.9g; 84%e 0,9mg. As médias de CD4 e de carga viral do HBV-DNA foram, respectivamente,de 423 céls¤mm3 e 4.1 x 108 copias¤ml. Ao final de 12 meses, 10/13 obtiveramnegativação da carga viral do HBVDNA por PCR. Conclusão: 1) A cepa (CRL) doHBV caracterizou-se por formas de hepatite crônica HBeAg (+) e elevada carga viraldo HBV-DNA; 2) A resposta virológica com o emprego de TDF para as cepas CRL foiacompanhada de significativa redução na carga viral do HBV-DNA tornando o TDFuma das drogas mais promissoras no tratamento de resgate das formas de hepatitecrônica B resistentes a lamivudina.
PO-113 (524)
AVALIAÇÃO DA LESÃO HEPÁTICA EM PORTADORES DE INFECÇÃOCRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) CURSANDO COM ALTNORMAL OU LEVEMENTE ALTERADA E NÍVEIS SÉRICOS BAIXOS DEHBV DNAFERREIRA SC, SOUZA FF, TEIXEIRA AC, CHACHA SGF, SECAF M, VILLANOVA MG, FIGUEIREDO JFC, PASSOS AD,ZUCOLOTO S, MARTINELLI ALCDivisão de Gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-cina de Ribeirão Preto
Introdução: O estado de portador inativo do HBV é definido pela presença do antíge-no de superfície da hepatite B (HBsAg) por período superior a 6 meses, níveis de ALTpersistentemente normais, ausência do HBeAg, presença do anti-HBeAg, níveis baixosou indetectáveis do HBV-DNA por reação da polimerase em cadeia e ausência oumínima atividade inflamatória à biópsia hepática. Entretanto, o limite da carga viral doHBV associado a lesão hepática não significativa ainda não esta definido. Objetivos:Avaliar a lesão hepática em pacientes com infecção crônica pelo HBV cursando comALT persistentemente normal e HBV DNA < 104 cópias/ml e, a relação entre o grau de
lesão hepática e os níveis de HBV DNA. Material e métodos: Vinte e quatro pacientesHBsAg positivos, HBeAg negativos com ALT persistentemente normal ou levementealterada (< 1,5xLSN - limite superior da normalidade) em dosagens seriadas e HBV-DNA < 104 cópias/ml, atendidos no Ambulatório de Hepatites do HC-FMRP-USP en-tre 2001 e 2006, foram submetidos a biópsia hepática. Esta foi analisada consideran-do-se o grau de atividade necroinflamatória (escore de HAI de 0 a 18) e de fibrose(escore de 0 a 4) utilizando-se a classificação de Knodell et al. 1981, modificada porDesmet et al. 1994. O HBV DNA foi avaliado pelo método b–DNA (Bayer). Resulta-dos: Houve predomínio do sexo masculino (75%), com média de idade de 38,3 ±12,2 anos (16-60). Todos os pacientes apresentaram valores séricos de ALT normais ou< 1,5 LSN, com número médio de dosagens de 3 por ano, durante tempo médio deseguimento de 53 meses (3 a 130). O nível médio do HBV-DNA sérico foi de 2.774cópias/ml (1.000 a 9.994). Vinte e dois pacientes (92%) apresentaram fibrose leve(F1) e atividade necroinflamatória mínima ou leve (HAI < 8) e apenas 2 pacientesapresentaram HAI e fibrose moderadas. A presença de esteatose foi evidenciada ape-nas nos casos de lesão histológica moderada. Um destes pacientes apresentou consu-mo de álcool superior a 40g/dia. O nível sérico de HBV DNA dos pacientes com lesãohepática moderada foi semelhante ao daqueles com lesão hepática mínima ou leve.Conclusões: Valores de HBV DNA abaixo de 104cópias/ml e ALT < 1,5xLSN foramassociados à lesão hepática mínima ou leve na grande maioria dos casos sendo fide-dignos para caracterizar o estado de portador inativo. Palavras Chave: Hepatite B,Portador inativo, HBV DNA, ALT.
PO-114 (579)
DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS DO VÍRUS DA HEPATITE B EM PA-CIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE: COMPARAÇÃO EN-TRE MONOINFECTADOS PELO HBV E PORTADORES DE CO-INFECÇÃOHBV/HCVSOUZA LO, PEREZ RM, CARVALHO-FILHO RJ, MOUTINHO R, SILVA AEB, SILVA ISS, FERRAZ MLInstituto Adolfo Lutz e Setor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, SãoPaulo, SP
Fundamentos: Em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), a prevalênciados vírus de hepatite B e C é considerada alta, em comparação com a população emgeral, sendo também comum o achado de co-infecção. Diversos trabalhos afirmamque a presença de co-infecção altera a evolução da doença, posto que pode ocorrerum fenômeno de interferência viral quando ambas as infecções estão presentes emum mesmo indivíduo. A comparação entre a freqüência dos genótipos do HBV,entre pacientes com e sem co-infecção pelo HCV ainda não foi relatada em nossapopulação. Objetivos: Verificar se existe diferença na freqüência de genótipos doHBV em pacientes IRC, com e sem co-infecção pelo vírus C. Métodos: Foram estu-dados 39 pacientes com IRC, HBsAg positivos. A co-infecção foi caracterizada pelapresença de anti-HCV positivo. O HBV-DNA foi isolado e, posteriormente, foi realiza-da a amplificação parcial do gene S por técnica de nested-PCR. Este material foisubmetido a seqüenciamento para posterior genotipagem. A análise estatística foirealizada pelo programa SPSS v.10.0. Resultados: Dos 39 pacientes analisados, 33(85%) eram do sexo masculino e 19 (49%) eram co-infectados pelo vírus C (BC). Afreqüência dos genótipos foi de: genótipo D - 33 pacientes (85%), genótipo A - 4pacientes (10%), genótipo C - 1 paciente (2,5%) e F 1 paciente (2,5%). Em análisecomparativa entre pacientes monoinfectados pelo HBV e pacientes BC, a presençado genótipo A foi de, respectivamente, 10% vs. 10,5% (P = 0,99) e a presença dogenótipo D foi de 85% vs. 84% (P = 0,99). Conclusões: A distribuição dos genóti-pos do HBV em pacientes com IRC com infecção isolada pelo HBV é semelhante à depacientes com IRC co-infectados pelo HCV. A presença do vírus C parece, portanto,não influenciar a prevalência de algum determinado genótipo do HBV.
Hepatite CPO-115 (53)
RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA A INTERFERON PEGUILADO ERIBAVIRINA EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA C NÃO RESPON-DEDORES OU RECIDIVANTES A INTERFERON E RIBAVIRINACHEINQUER H, CHEINQUER N, COELHO-BORGES S, ZWIRTES RF, FALAVIGNA M, WOLFF FH, DORIGON G, KRUMEL
CF, NARDELLI EF, KLIEMANN DServiço de Gastroenterologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, RS, Brasil
Fundamentos: Alguns pacientes com hepatite crônica C não alcançam RVS apóstratamento com interferon convencional (IFN) associado à ribavirina (RBV). O usode interferon peguilado (PEG-IFN) com RBV pode aumentar a chance de sucessoterapêutico nesses indivíduos que apresentaram falha ao primeiro tratamento. Mé-todos: Foi analisada coorte de 85 pacientes com vírus da hepatite C (VHC) positivocom diagnóstico histológico de hepatite crônica C, todos compensados, com ALTelevada, que haviam sido não respondedores (NR) ou recidivantes (REC) a IFN/RBV.O RNA do VHC foi medido no soro por PCR qualitativo com limite de detecção de50UI/mL, sendo NR definido por PCR positivo na semana 24 do tratamento e RECdefinido por PCR negativo ao final do tratamento (24 semanas para genótipos 2/3
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 43
ou 48 semanas para genótipo 1) com PCR positivo durante o seguimento. Foramexcluídos pacientes que não realizaram o tratamento inicial de forma adequada. Osegundo tratamento foi realizado com PEG-IFN alfa-2a (180mcg/semana) e RBV(1.000-1.250mg/dia) por 48 semanas, independente do genótipo, nos pacientesque apresentaram PCR negativo na semana 24. O estudo foi aprovado pela comis-são de ética da instituição e todos pacientes assinaram consentimento informado. Aanálise foi realizada por intenção de tratamento. Resultados: A média de idade foi50,6 ± 8,8 anos; 50 (58,8%) eram homens; 25 (29,4%) com genótipo 1 e 59 (72%)com fibrose F3 ou F4 Metavir (de 82 avaliados). A carga viral média foi de 3.319.000± 521.000UI/mL (de 39 avaliados) e a RVS foi alcançada em 29 pacientes (34,1%),sendo 10 (25,6%) dos 39 NR e 19 (41,3%) dos 46 REC. A RVS nos 39 pacientes NRcom genótipo 1 vs 2/3 foi de 29,4% vs 22,7%, respectivamente (P = 0,6). Por outrolado, a RVS nos 46 pacientes REC com genótipo 1 vs 2/3 foi de 25% vs 44,7%,respectivamente (P = 0,3). Conclusões: Pacientes NR e REC a IFN/RBV, independen-te do genótipo do VHC, apresentaram percentual não desprezível de RVS quandoretratados com PEG-IFN/RBV. O fato da maioria dos pacientes incluídos terem genó-tipo não-1 deveu-se, provavelmente, à elevada prevalência do genótipo 3 em nossomeio, bem como à baixa RVS obtida nesses indivíduos com o tratamento conven-cional fornecido pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (Alves A.V. et al. Arq.Gastroenterol. 40: 227-232, 2003).
PO-116 (55)
HEPATITE C EM HEMODIÁLISE: IDENTIFICAÇÃO DE FALSOS POSITI-VOS DO ANTI-VHCGALPERIM B, MATTOS AA, STEIN AT, SCHNEIDER NC, BURIOL A, FONSECA A, LUNGE V, IKUTA NCurso de Pós-Graduação em Hepatologia da FFFCMPA; Pós-Graduação de Saúde Coletiva e Simbios Laboratório-ULBRA; Serviços de Gastroenterologia H.N.S. Conceição e Hospital Mãe de Deus; P. Alegre, RS, Brasil
Introdução: A elevada prevalência e o potencial de transmissão da vírus da hepatite C(VHC), em pacientes de hemodiálise (HD), determinam medidas preventivas como arealização periódica do teste anti-VHC. Entretanto, taxas de falsos positivos em até15% dos casos têm sido descritas, o que demanda exames confirmatórios nos casospositivos. O objetivo foi identificar falsos-positivos do anti-VHC, em pacientes de HD,utilizando o valor do índice sinal/cut-off (s/co) do teste como discriminador. Méto-dos: Durante o período de Ago/2005 a Ago/2006 325 portadores de doença renalcrônica em hemodiálise, de quatro unidades distintas, representativos do total de pa-cientes em tratamento nesta cidade, foram prospectivamente estudados. Foi utilizadoo nível crítico discriminador de 8 para o índice s/co. Foi medida a ALT e realizado oteste anti-HCV (quimioluminescência ampliada). As amostras positivas foram testadaspor PCR qualitativa (limite de detecção de 200 copias/ml) em 2 ocasiões distintas. Oestudo foi aprovado pelos comitês de ética das quatro instituições participantes. Re-sultados: Da amostra de 325 pacientes 107(33%) tinham anti-VHC reagente e 68(21%) a PCR positiva. A comparação entre os 94 anti-VHC reagentes com índice s/co≥ 8 com os 13 com índice < 8, mostrou respectivamente; PCR positiva em 71,2% vs7,6% (p < 0,001), valor médio da ALT 34 ± 19 vs 24 ± 9 (p = 0,02). A sensibilidade ea especificidade do teste imunológico com índice s/co ≥ de 8 em relação a PCR foi de98,5% e 44% respectivamente. Ressalte-se não ter sido observado nenhum caso defalso negativo. Conclusão: A demonstração de associação entre os marcadores reaisde infecção com os testes reagentes e com índice s/co maior do que oito, sugerem aexistência de maior freqüência falsos positivos entre os que apresentam índice menordo que oito, sendo para estes obrigatoriamente recomendado testes confirmatórios.Por outro lado, a ausência de falsos negativos dispensa a utilização de técnicas molecu-lares para o diagnóstico do VHC nestes pacientes.
PO-117 (56)
HEPATITE C EM HEMODIÁLISE: SERIAM AS DROGAS INJETÁVEIS OATUAL VILÃO?GALPERIM B, MATTOS AA, STEIN AT, SCHNEIDER NC, BURIOL A, FONSECA A, LUNGE A, IKUTA NCurso de Pós-Graduação em Hepatologia da FFFCMPA; Pós-Graduação de Saúde Coletiva e Simbios LaboratórioULBRA; Serviços de Gastroenterologia H.N.S. Conceição e Hospital Mãe de Deus; P. Alegre, RS, Brasil
Introdução: O tempo em tratamento de hemodiálise (HD) tem sido descrito comoprincipal fator independente de risco para transmissão do VHC nestes pacientes.Entretanto, a semelhança da população geral, o uso e drogas injetáveis tem sidotambém identificado como fator de risco para infecção pelo VHC. O objetivo foi ode avaliar a importância do uso de drogas injetáveis como fator de risco para infec-ção pelo VHC em pacientes de HD. Métodos: Durante o período de Ago/2005 aAgo/2006, 325 portadores de doença renal crônica em hemodiálise, de quatro uni-dades distintas, representativos do total de pacientes em tratamento nesta cidade,foram prospectivamente estudados. Os pacientes responderam a instrumento estru-turado para informações demográficas, fatores de risco para o VHC e tratamento.Foi medida a ALT, realizado o teste anti-HCV (quimioluminescência ampliada) e aPCR qualitativa (limite de detecção de 200 copias/ml) em todos os pacientes. Oestudo foi aprovado pelos comitês de ética das quatro instituições participantes.Resultados: Da amostra de 325 pacientes, 68 (21%) tinham a PCR positiva. A com-paração entre os 68 com a PCR positiva e os 257 com a PCR negativa mostrourespectivamente; tempo de HD (média/meses) (71 ± 65 vs 52,4 ± 54,6; p = 0,02),transfusão de sangue (92% vs 72%; p < 0,01), uso de droga injetável (13% vs 0,7%;
p < 0,01), valor médio da ALT (39 ± 19 vs 26,5 ± 25; p < 0,01). Na análise deregressão logística mostraram-se associadas independentes ao desfecho: tempo deHD maior do que 5 anos, transfusão de sangue e uso de drogas injetáveis com ORajustados de 2,1 (1,2 a 3,8), 3,7 (1,4 a 9,5) e 22,6 (4,2 a 119,6) respectivamente.Conclusão: O tempo de tratamento em HD e ter realizado transfusões de sanguepermanecem como fatores de risco independentes. Entretanto, a robusta associaçãoentre o uso de drogas injetáveis com os marcadores reais de infecção nos levam aidentificar neste comportamento um fator relevante para infecção pelo VHC empacientes de hemodiálise atualmente.
PO-118 (59)
COMPARAÇÃO ENTRE A MEDIDA DE ELASTICIDADE HEPÁTICA (FI-BROSCAN®) E A BIÓPSIA HEPÁTICA EM PACIENTES TRANSPLANTA-DOS POR CIRROSE VIRAL CFEITOSA F, RADENNE S, BIZOLLON T, OLIVEIRA A, PARANÁ R, TREPO CHôpital de l’Hôtel-Dieu, Lyon, França e Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia
Fundamentos: A biópsia hepática é considerada padrão ouro no acompanhamentode pacientes submetidos ao transplante hepático. Devido à sua não-invasividade, amedida de elasticidade hepática (Fibroscan®) vem ganhando espaço na avaliação dafibrose nestes pacientes. Nosso objetivo foi comparar os resultados do Fibroscan®
com os da biópsia hepática em pacientes transplantados por cirrose viral C. Méto-dos: Todos os pacientes pós-transplantados por cirrose viral C que tiveram umavisita médica no hospital Hôtel-Dieu em 2006 foram convidados a participar doestudo. 38 pacientes (27 homens), entre 44 e 75 anos (média 58,3) foram incluídosno estudo. Foram avaliados o tempo entre a biópsia e o transplante e entre a biópsiae o Fibroscan®. Os resultados do Fibroscan® foram convertidos em escore Metavir(utilizando-se valores já validados1) e comparados aos resultados das biópsias. Re-sultados: 15 pacientes (39%) tiveram fibrose inferior à F2 na biópsia hepática e 3(8%) foram F4. Para o Fibroscan®, esses valores foram 16 (42%) e 9 (24%). A médiado intervalo entre o transplante e a biópsia foi de 76,8 meses (3-172) e de 3,2, entrea biópsia e o Fibroscan® (0-9). A concordância observada entre os métodos foi de0,71 (27 pacientes) e a concordância esperada, 0,51. A sensibilidade do Fibroscan®
foi de 0,76 (IC = 0,58-0,94) e a especificidade, 0,65 (IC = 0,53-0,76) com valorespreditivos positivo e negativo de 0,72 e 0,65. A prevalência e a prevalência corrigidaforam de 0,55 e 0,57. As razões de verossimilhança positivo e negativo foram calcu-lados em 2,2 e 0,37. O intermethods riliability mostrou um índice kappa de 0,41 (IC= 0,09-0,73; significância estatística > 0,5). Conclusões: Nossos resultados não mos-traram correlação entre o Fibroscan® e a biópsia hepática nestes pacientes. Estadiscordância pode ser devida à alta proporção de casos com fibrose leve o queindica a necessidade de validação específica dos valores do escore Metavir com asmedidas do Fibroscan no contexto da transplantação, indicando novos estudos. 1.Ziol M, Handra-Luca A, Kettaneh A, Christidis C, Mal F, Kazemi F, de Lédinghen V,Marcellin P, Dhumeaux D, Trinchet JC, Beaugrand M. Noninvasive assessment ofliver fibrosis by measurement of stiffness in patients with chronic hepatitis C. Hepa-tology. 2005 Jan;41(1):48-54.
PO-119 (62)
ASPECTOS GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS DOS GENÓTIPOS DOVÍRUS DA HEPATITE C EM MACEIÓ/ALAGOASWYSZOMIRSKA RMAF, ALMEIDA JÚNIOR ED, BARBOSA LFM, SANTOS LL, LOUREIRO LVM, MONTENEGRO NCF,BISNETO MGB, ALMEIDA TC, OLIVEIRA TSDepartamento de Clínica Médica/HUPAA/Universidade Federal de Alagoas. Apoio: FAPEAL e Roche
Fundamentos: A hepatite C é um importante problema de saúde pública no mun-do, sendo a transmissão por hemoderivados um importante elo na cadeia epide-miológica. A identificação dos genótipos de vírus da hepatite C tem papel importan-te na avaliação da reposta terapêutica e no prognóstico da doença. Objetivos: Ava-liar associações entre os genótipos e características geográficas e demográficas emdoadores de sangue. Metodologia: Doadores dos Centros de Hemoterapia (CHT)da cidade de Maceió/AL no ano de 2003, com sorologia positiva para VHC foramconvocadas, a fim de obter dados demográficos e amostra para genotipagem doVHC. Resultados: Dos 32.472 doadores estudados, 303 apresentaram positividadepara VHC. Destes, 111 compareceram à convocação e realizaram coleta de amostrapara detecção do VHC-RNA pelo método do PCR, tendo sido observado positivida-de em 14 (12,61%) indivíduos, com idade média de 47,71 ± 7,84 anos, maioria dosexo masculino. A análise dos genótipos mostrou genótipo 1 em 64,3%, sendo57,1% do subtipo 1b, 28% de 3a, 7% de 1a e 7% de 2b. O genótipo 3 foi observa-do em 28,6% e genótipo 2 em 7,1% dos indivíduos. A distribuição dos genótiposnão foi diferente entre os gêneros e os grupos etários (p > 0,05). O bairro do Tabu-leiro na cidade de Maceió apresentou a maioria (26,67%) dos infectados. Conclu-são: A prevalência dos genótipos identificados está em concordância com estudosanteriores realizados entre doadores de outros estados da região do Nordeste, sen-do mais prevalentes os genótipos 1 e 3. Não foram identificados doadores de san-gue infectados pelo VHC fora dos limites da região metropolitana de Maceió, consi-derando que a capital sedia a maior parte dos CHT. Fato marcante observado é aconcentração de cerca de 30% dos infectados em um único bairro da cidade deMaceió.
S 44 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-120 (106)
AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE HEPATITE C E DIABETES MELLI-TUS TIPO 2 EM UM ESTUDO TIPO CASO-CONTROLE NO CENTRO-OESTE BRASILEIROCORRÊA DA COSTA LMF, MUSSI ADH, BRIANEZE M, SOUTO FJDUniversidade Federal de Mato Grosso, MT Laboratório, Cuiabá
Fundamentos: Para avaliar o papel do vírus da hepatite C (VHC) na gênese dodiabetes mellitus tipo 2, foi realizado estudo caso-controle comparando a freqüên-cia de marcadores de VHC entre pacientes diabéticos com pacientes sem diabetesou intolerância à glicose. Métodos: Os casos foram pacientes ambulatoriais de umhospital universitário do Centro-Oeste brasileiro, recrutados entre abril e outubro de2005. Os controles, na razão de 1:1 foram selecionados no mesmo hospital, e pa-reados por sexo e idade. Já ter recebido diagnóstico de diabetes ou de intolerância àglicose foi critério de exclusão para o grupo de controles. Os candidatos a controletinham que ter duas glicemias de jejum recentes com glicose plasmática < 100mg/dL. Pacientes de ambos os grupos foram analisados para infecção pelo VHC, atravésde ensaio imunoenzimático (ELISA). Reação em cadeia de polimerase (PCR) e immu-noblot foram utilizados para confirmação. Resultados: Foram formados dois gru-pos com 206 indivíduos cada. A maioria era do sexo feminino (> 70%) e a média deidade foi de 55 anos. Os grupos eram comparáveis, porém, o grupo de diabéticostinha maior média de peso (p < 0,00001), assim como de índice de massa corpórea(p < 0,00001), e mais indivíduos com baixa renda (p < 0,001). A prevalência confir-mada de anti-VHC no grupo de diabéticos foi de 3/206 (1,4%), que foi igual à dogrupo controle (1% e 2%, considerando-se como negativos ou positivos os pacien-tes com immunoblot indeterminado, respectivamente). Os grupos só diferiram quantoao diabetes e algumas variáveis sabidamente mais comuns nos diabéticos (peso,IMC, cor negra, renda e escolaridade). A freqüência da infecção pelo vírus da hepa-tite C encontrada no grupo de portadores de diabetes mellitus tipo 2 foi de 1,4%.Enquanto nos não-diabéticos e sem-intolerância à glicose, foi de 1% a 2% (quandocomputados aqueles com immunoblot indeterminado). Não houve associação en-tre presença do anti-VHC e diabetes do tipo 2. Dado que sugere não ser vantajosorastrear infecção pelo VHC em diabéticos. Conclusão: Este estudo não demonstrouevidência do papel da infecção pelo VHC como um fator etiológico relevante entrepacientes diabéticos, não permitindo recomendar o rastreamento do VHC nessegrupo.
PO-121 (110)
ASSOCIAÇÃO ENTRE MARCADORES INFLAMATÓRIOS SOLÚVEIS ERESPOSTA AO TRATAMENTO COM INTERFERON E RIBAVIRINA EMPACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICAMOURA AS, CARMO RA, TEIXEIRA JUNIOR AL, MORAVIA LB, SALIBA R, ROCHA MOCPrograma de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Infectologia e Medicina Tropical – da Faculdade de Medicinada UFMG – Belo Horizonte
Introdução: A ação do interferon e da ribavirina em pacientes com hepatite Ccrônica depende fundamentalmente da ação imunomodulatória desses medica-mentos. Assim, o padrão de resposta inflamatória do paciente pré-tratamento podeinterferir com a taxa de resposta. Esse padrão pode ser avaliado através da dosa-gem sérica de quimiocinas, subgrupo de citocinas responsável pelo recrutamentode leucócitos, e dos receptores solúveis do fator de necrose tumoral (sTNF-R1 esTNF-R2), modulador da ação desse fator. Objetivo: Investigar a associação entreos níveis séricos de quimiocinas e de receptores solúveis de TNF e resposta aotratamento com interferon e ribavirina em pacientes com hepatite C crônica.Material e métodos: Foram incluídos pacientes com hepatite C crônica, mono-infectados, sem comorbidades hepáticas, submetidos a primeiro tratamento noAmbulatório de Referência em Hepatites Virais do CTR-Orestes Diniz. Foram anali-sadas as respostas virológicas em 12 semanas (RVP), ao final (RVF) e 24 semanaspós-tratamento (RVS) de pacientes com hepatite C crônica tratados com interfe-ron convencional e ribavirina por 24 semanas (pacientes com genótipos 2 ou 3),ou com interferon peguilado e ribavirina por 48 semanas (pacientes com genóti-po 1). A RVP foi analisada apenas em pacientes com genótipo 1. Os níveis séricosde quimiocinas (eotaxina, IP-10, MCP-1, MIG, MIP1-alfa) e de sTNFR1 e R2 foramdosados, em amostras pré-tratamento, utilizando-se técnica de ELISA. Resulta-dos: Dos 53 pacientes incluídos no estudo, 29 pacientes concluíram o tratamentoaté o momento. Destes, 62% eram do sexo masculino, a média de idade era de46,5 anos, 66% eram genótipo 1 e 24% tinham cirrose. Em pacientes com genó-tipo 1, RVP foi alcançada em 68%, RVF em 45% e RVS em 37% dos casos. Empacientes com genótipos 2 e 3, a RVF foi alcançada em 67% e RVS em 38% doscasos. Níveis séricos de sTNF-R1 mais elevados estiveram associados a uma maiortaxa de RVS (mediana 1140 x 927pg/ml; p = 0,02). Não houve associação entresTNF-R1 ou R2 com RVP ou RVF. As quimiocinas analisadas não demonstraramassociação com resposta ao tratamento. Conclusão: Níveis séricos de sTNF-R1estiveram associados com resposta sustentada ao tratamento com interferon eribavirina em pacientes com hepatite C crônica, podendo refletir um padrão deresposta inflamatória mais favorável ao tratamento naqueles com níveis séricosmais elevados desse receptor.
PO-122 (117)
INFLUÊNCIA DA ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA NA RESPOSTAAO TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS C COM INTER-FERON PEGUILADO E RIBAVIRINAANDRADE AR, SALES B, ALMEIDA CA, NACHEF B, BRANDÃO CA, ALMEIDA A, FERNANDES R, SIQUEIRA AC,FREITAS AL, COTRIM HPFaculdade de Medicina – Universidade Federal da Bahia
Fundamentos: A idade, gênero, genótipo, intensidade da fibrose e sobrecarga deferro são considerados fatores que podem influenciar na resposta terapêutica dospacientes com hepatite crônica pelo vírus C (HCC). Entretanto, a importância daesteatose e esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) na resposta ao tratamento temsido discutida. Objetivo: Avaliar a influência da EHNA na resposta ao tratamento daHCC com interferon peguilado (INF-P) e ribavirina (RB). Métodos: Estudo de caso-controle envolvendo pacientes com diagnóstico clínico, sorológico e histológico deHCC tratados com INF-P 2b (PegINTRON) e RB entre 2003-2007. Excluídos casosde co-infecção HCV-HIV, ingestão etílica ≥ 140g/semana e casos que não completa-ram o tratamento. Considerou-se caso o paciente sem resposta inicial ao tratamento(n = 74) e controles os pacientes respondedores (n = 116). Utilizou-se análise multi-variada para avaliar fatores de risco associados à falha inicial ao tratamento. Resulta-dos: Foram avaliados 190 pacientes genótipo 1 e destes 61,1% (116) responderamao tratamento. A média de idade entre os respondedores de 49,0 ± 9,4 anos e não-respondedores de 51,8 ± 9,0 (p = 0,048). A taxa de resposta foi inferior entre ospacientes com esteatose, mas sem significância estatística (67,6% x 56,9%; p =0,141). Os pacientes com EHNA apresentaram taxas menores de resposta ao trata-mento do que aqueles sem EHNA (31,3% x 67,1%; p < 0,001). Os pacientes comEHNA não diferiram com relação aos demais quanto à presença de hipertensãoarterial, dislipidemia, diabetes, níveis de glicemia, idade e IMC (p > 0,05). Observou-se pior resposta ao tratamento em casos com graus mais avançados de fibrose (taxade resposta: F0 = 100%; F1 = 87,5%; F2 = 64,4%; F3 = 57,1%; F4 = 44,1%; p =0,008), e sobrecarga de ferro (40,6% x 65,2%, p = 0,009). A análise multivariadademonstrou que EHNA (OR = 4,057; 95% IC = 1,731–9,512; p = 0,001), sobrecar-ga de ferro (OR = 2,377; 95% IC = 1,038–5,444; p = 0,041) e fibrose ≥ F2 (OR =4,642; 95% IC = 1,303–16,543; p = 0,018) foram fatores independentemente asso-ciados à não-resposta ao tratamento. Conclusões: Resposta inicial ao tratamentocom interferon peguilado 2b foi significante; EHNA estava associada a menores ta-xas de resposta ao tratamento; a EHNA demonstrada na maioria dos casos, todosgenótipo 1, não estava associada a fatores de risco conhecidos para doença hepáti-ca gordurosa não-alcoólica (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, obesidade).Estudos para avaliar resposta sustentada foram iniciados.
PO-123 (125)
PREVALÊNCIA DA GENOTIPAGEM DO HCV EM PORTADORES DE HE-PATITE C, CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E FORMA DE TRANS-MISSÃOWATANABE APF, LOPES TP, YUNES A, PACHECO F, JACOPUCCI FUniversidade de Taubaté
Fundamentos: Os genótipos do HCV estão subdivididos em mais de 50 subtipos.Cada subtipo tem características próprias de agressividade e resposta ao tratamen-to. Não foi descrita a prevalência e sorotipos predominantes na região do Vale doParaíba. Objetivos: Determinar a prevalência, epidemiologia e freqüência da geno-tipagem do HCV nos pacientes de uma cidade do Vale do Paraíba. Avaliar se aprevalência do genótipo está relacionada com a possível forma de contágio e com-parar as características epidemiológicas entre pacientes portadores da infecção peloHCV e os portadores de co-infecção HCV/HIV. Métodos: Estudo transversal. Foramavaliados pacientes entre 18 e 70 anos de idade, atendidos de forma consecutiva noAmbulatório de Hepatites da Policlínica da Prefeitura de Taubaté, durante o períodode um ano. Resultados: A amostra foi de 65 pacientes, sendo 69,2% do sexo mas-culino. A média de idade foi de 45 ± 10 anos. A co-infecção HIV/HCV foi observadaem 16,9%. O genótipo 1 foi o mais prevalente, observado em 63,0%, seguido dotipo 3 que correspondeu a 35,4%. Apenas um (1,5%) paciente apresentou o subti-po 5a. As possíveis formas de contágio, como tatuagem, uso de drogas injetáveis etransfusão sanguínea, não estiveram associadas a um genótipo específico. Em rela-ção às características epidemiológicas como sexo, idade, uso de drogas injetáveis,não foram estatisticamente significativas quando se comparou pacientes mono-in-fectados (HCV) e co-infectados (HCV/HIV), apenas a transfusão sanguínea estevemais associada com a co-infecção, já que todos os pacientes co-infectados tinhamhistória de transfusão. Conclusão: Houve maior prevalência do sexo masculino comidade de 45 ± 10 anos. A prevalência do genótipo do HCV não está relacionada comas formas de contágio. A transfusão sanguínea esteve mais associada com a co-infecção, já que todos os pacientes co-infectados tinham história de transfusão.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 45
PO-124 (129)
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E ECONÔMICA DE DOIS ANOS DE EXPE-RIÊNCIA NO 1O PÓLO DE TRATAMENTO ASSISTIDO E COMPARTILHA-DO DE HEPATITE C NO ESTADO DO RIO DE JANEIROGDALEVICI C, PINTO AMM, THULER LCSHospital Central do IASERJ da SES-RJ
Fundamento: A infecção crônica pelo vírus da hepatite C é reconhecida como umproblema global de saúde pública. Estima-se que atualmente 3% da populaçãomundial encontra-se infectada, atingindo 170 a 200 milhões de portadores do vírusC de hepatite. A prevalência no Brasil é muito variável conforme a região estudada,e baseado em informações de hemocentros da região Sudeste a prevalência entrepré-doadores de sangue foi de 1,42%. A terapêutica mais eficaz atualmente paraesta doença é a combinação de interferon peguilado e ribavirina, e este esquemaencontra-se disponível também em pólos de aplicação assistida mantidos pelos ór-gãos de saúde no Brasil. Objetivo: Definir o perfil epidemiológico dos pacientes emtratamento com interferon peguilado alfa-2b e ribavirina no pólo de tratamentoassistido e compartilhado do Hospital Central do IASERJ do Rio de Janeiro, e estimara economia com o compartilhamento da medicação. Método: Foram analisados107 pacientes assistidos no período de janeiro de 2005 a fevereiro de 2007. Análisedos dados foi feita através do programa Epi-Info. Resultados: Dos indivíduos estu-dados 54 (50,9%) eram do sexo feminino, com idade média de 51,0 (17 a 72 anos).Apresentavam os seguintes fatores de risco: transfusão - 46 casos (53,5%); cirurgiaprévia - 59 casos (55,1%); uso de droga ilícita - 11 casos (10,6%); abuso de álcool10 casos (9,6%); acidente pérfuro-cortante 2 casos (1,9%); acidente de carro equeimadura - 2 casos (2,8%). 2 pacientes (2%) apresentavam co-infecção HIV/HCV.Num período de 25 meses a farmacoeconomia foi equivalente a 470 ampolas deinterferon peguilado alfa 2b de 120 microgramas (média de 4,4 ampolas/paciente).Apenas 2 pacientes abandonaram o tratamento. Conclusão: O pólo de tratamentoassistido e compartilhado é um método de tratamento eficiente, com pequena taxade abandono e que também proporciona economia de recursos públicos.
PO-125 (130)
AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES EM ACOMPANHAMEN-TO NO PÓLO DE TRATAMENTO ASSISTIDO E COMPARTILHADO DOESTADO DO RIO DE JANEIROGDALEVICI C, PINTO AMM, THULER LCSHospital Central do IASERJ da SES-RJ
Fundamento: Poucas são os estudos que tratam da satisfação dos pacientes porta-dores de hepatite crônica C que se submetem ao tratamento em pólos de tratamen-to assistido. Em São Paulo, Ruiz e Zylbergeld publicaram um trabalho em 2004 naRevista Brasileira de Medicina que avaliou este assunto e concluiu que a grandemaioria dos pacientes (87,3%) sentia-se satisfeita com o tratamento em pólo deaplicação assistida e compartilhada, e apenas 5% dos pacientes responderam quegostariam de aplicar a medicação em casa. Os aspectos positivos apontados foram aaplicação do interferon peguilado por enfermeiros treinados, o armazenamentocorreto da medicação e principalmente a troca de experiências em portadores damesma doença, o que estimularia a aderência ao tratamento, apesar dos efeitosadversos da terapia. Objetivo: Avaliar o grau de satisfação dos pacientes em atendi-mento no pólo de tratamento assistido e compartilhado do Hospital Central doIASERJ no Estado do Rio de Janeiro. Método: Foram aplicados questionários indivi-duais e anônimos que indagavam sobre a qualidade do atendimento prestado eforam respondidos por 19 pacientes em tratamento. Resultados: Onze pacientes(61,1%) consideraram ótimo e 7 (38,9%) avaliaram como bom o fato de seremencaminhados para tratamento em um pólo assistido. A primeira impressão da áreafísica foi boa ou ótima por 17 pacientes (89,4%). Avaliação do atendimento admi-nistrativo, médico, farmacêutico e de enfermagem foi considerado ótimo ou bompor 100%, 94,7%, 100% e 100% dos pacientes respectivamente. Conclusão: Osresultados da pesquisa confirmaram que o grau de satisfação é bastante elevadoentre pacientes que são acompanhados em pólo de tratamento assistido e compar-tilhado.
PO-126 (151)
BAIXA RENDA E USO DE NAVALHA EM BARBEARIA SÃO FATORES DERISCO PARA AQUISIÇÃO DE HEPATITE CFONSECA LMR, BISIO APM, NEIVA R, FALCÃO FP, CARVALHO CS, DINIZ NETO JA, DOMINICI AJ, FERREIRA ASPNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis, MA
Fundamentos: Por ocasião da doação de sangue detectam-se muitos portadores dovírus da hepatite C (HCV). Este estudo teve os objetivos de determinar a prevalênciado anticorpo para o HCV (anti-HCV) em doadores voluntários de sangue no Hemo-centro de São Luis (HEMOMAR) e Identificar fatores de risco associados. Métodos:Estudo do tipo caso-controle, com casos positivos para o anti-HCV. Controles foramselecionados entre doadores do mesmo dia com anti-HCV negativo, pareados porsexo e idade, na proporção de 1:1. Foram avaliadas as diferenças entre casos econtroles, em relação a fatores de risco associados à aquisição do HCV. Foi utilizadoo teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher, quando recomendados. Uma análise de
regressão logística identificou fatores independentemente associados com a presen-ça do anti-HCV. Resultados: Durante o ano de 2004 houve 28.599 doadores, sendodetectados 110 casos com anti-HCV positivo, configurando uma prevalência de0,38%. Vinte e sete pacientes não compareceram à entrevista e foram excluídos. Oestudo foi completado com 83 casos e 83 controles. As seguintes variáveis apresen-taram associação (P < 0,010) com o anti-HCV, na análise bivariada: ter cor parda ounegra (P = 0,02), baixa escolaridade (P = 0,001), renda inferior a dois salários míni-mos (P = 0,001), falta de saneamento básico (P = 0,08) uso de drogas ilícitas (P =0,06), transfusão de sangue (P = 0,003), uso de navalha em barbearia (P = 0,08) ehistória de detenção em instituição penal (P = 0,08). Após análise de regressão logís-tica, permaneceram como fatores independentemente associados: baixa renda OR= 5,041 (IC95%: 1,485 – 17,113; P < 0,001), transfusão de sangue OR = 12,100(IC95%: 1,452 – 21,837; P = 0,02) e uso de navalha em barbearia OR = 2,687(IC95%: 1,001 – 7,214; P = 0,04). Conclusão: Este estudo mostrou uma baixa taxade prevalência do anti-HCV entre doadores voluntários de sangue. Entre os fatoresindependentemente associados à presença do anti-HCV, observou-se baixa renda, oque pode significar falta de acesso a serviços adequados de saúde. O uso de nava-lhas em barbearia, hábito ainda atual no nosso meio pode estar se constituindo emum mecanismo de disseminação desta infecção.
PO-127 (152)
SOROCONVERSÃO DO ANTI-HCV EM DOADORES HABITUAIS DE SAN-GUEFERREIRA ASP, FONSECA LMR, DOMINICI AJ, FALCÃO FP, NEIVA R, SILVA EA, LUCENA EA, CARVALHO CS F, DINIZ
NETO JA, BISIO APMNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis – MA
Fundamentos: Muitos doadores de sangue têm o hábito de o fazerem periodica-mente. Este estudo teve o objetivo de Identificar indivíduos com o anti-HCV positivoe que tivessem uma doação anterior com este teste negativo, entre doadores volun-tários de sangue no Hemocentro de São Luis (HEMOMAR) e identificar possíveisfatores de risco para contaminação. Métodos: Estudo do tipo caso-controle, comcasos positivos para o anti-HCV (que tinham este exame negativo em doação ante-rior). Controles selecionados entre doadores com anti-HCV negativo e que tambémtinham exame negativo em uma doação anterior, pareados por sexo e idade naproporção de 1:1. Todos os pacientes com anti-HCV positivo foram submetidos àrealização do HCV-RNA por PCR qualitativo. Foram avaliadas as diferenças entrecasos e controles, em relação a fatores de risco associados à aquisição do HCV. Asseguintes variáveis foram comparadas, tanto para todos os todos os indivíduos comanti-anti-HCV positivo, quanto apenas para aqueles com HCV-RNA positivo: cor pardaou negra versus branca, baixa e alta escolaridade, renda superior ou inferior a doissalários mínimos, uso de drogas ilícitas, transfusão de sangue, presença de tatua-gens, uso de navalha em barbearia, tratamento dentário, história de cirurgia, realiza-ção de endoscopia digestiva, promiscuidade sexual, prática de compartilhar alicatese barbeadores e história de detenção em instituição penal. Foi utilizado o teste doQui-quadrado ou Exato de Fisher, quando recomendados. Resultados: Em 2004houve 28.599 doadores sendo detectados 26 casos com anti-HCV positivo e quetinham anti-HCV negativo em doação anterior realizada entre 2001 e 2004. Noveindivíduos não compareceram à entrevista e foram excluídos. O estudo foi então,realizado com 17 casos e 17 controles. A média de idade foi de 28 anos, o tempomédio entre as doações foi de 12,8 meses. Apenas quatro apresentaram o HCV-RNApositivo. Quando comparados os fatores de risco para aquisição da infecção, entrecasos e controles, não se encontraram associações estatisticamente significantes.Conclusão: Este estudo permitiu verificar que tem havido novas infecções pelo vírusda hepatite C na comunidade, com mecanismos indeterminados de transmissão.
PO-128 (153)
HEPATITE AGUDA PELO VÍRUS DA HEPATITE C: DIFERENTES FORMASDE APRESENTAÇÃO E EVOLUÇÃOFERREIRA ASP, DOMINICI AJ, BISIO APM, MELO IC, CARVALHO CSF, DINIZ NETO JA, SOUZA MT, POLARY CMM,ANDRADE HP, SOUSA MTNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis (MA)
Fundamentos: Este estudo teve o objetivo de descrever as apresentações e evolu-ções dos casos de hepatite aguda C acompanhados no Núcleo de Estudos do Fíga-do do HU-UFMA. Métodos: Resgataram-se os dados de prontuários de pacientesatendidos neste ambulatório especializado, entre 2001 e 2007 com diagnóstico dehepatite aguda por HCV. Resultados: Foram identificados 12 casos de hepatite agu-da pelo HCV. O diagnóstico foi definido pela presença do anti-HCV em casos dehepatite aguda onde foram afastadas outras causas e havia fator de risco parenteral.Apenas dois casos apresentaram-se com anti-HCV negativos inicialmente que logoapós tornaram-se positivos. Dois eram portadores de insuficiência renal crônica (IRC)em diálise e não apresentaram manifestações clínicas, os outros estavam ictéricos. Amédia de idade foi de 40 anos, sete (60%) eram homens. Os mecanismos de conta-minação foram procedimentos hospitalares em todos eles: dois faziam hemodiálise,sete foram submetidos à cirurgia, um havia sido submetido à polipectomia endos-cópica, um havia sido internado para tratamento de erisipela e um foi submetido àtransfusão de sangue. Todos apresentaram pico de ALT maior que 10 vezes o limite
S 46 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
superior da normalidade com média de 33 vezes. Três pacientes (25%) já apresenta-ram HCV-RNA negativos na fase de apresentação e assim permaneceram por 12meses de acompanhamento, o anti-HCV por imunoblot foi positivo em todos eles,configurando-se clareamento espontâneo da infecção. Os dois pacientes portadoresde IRC foram tratados com Interferon (IFN) peguilado alfa-2a 180µg/semana por24 semanas e tiveram resposta virológica sustentada (RVS). Três foram submetidos atratamento com IFN convencional 5 MUI/dia por 4 semanas seguidos por 5 MUI 3xsemana por mais 20 semanas e todos tiveram RVS, dois foram tratados com IFNconvencional e ribavirina por 48 semanas e apenas um teve RVS, um foi tratado comPeg-IFN alfa 2a 180µg/sem e ribavirina por 24 semanas com RVS, um paciente nãofoi submetido a tratamento por contra-indicação ao IFN e um paciente ainda estáem tratamento. Conclusões: Hepatite aguda pelo HCV pode ter apresentação se-melhante a outras hepatites virais e sempre deve estar entre as suspeitas diagnósti-cas.
PO-129 (155)
TRATAMENTO DE HEPATITE CRÔNICA C EM SERVIÇO PÚBLICO: EFI-CÁCIA E FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTASOUZA PT, CAMPOS DC, CARVALHO CSF, DINIZ-NETO JA, PINHO TR, BISIO APM, POLARY CMM, RAMOS VP,DOMINICI AJ, FERREIRA ASPNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis-MA
Fundamentos: Este estudo teve como objetivos avaliar os resultados da terapia an-tiviral específica contra a hepatite C crônica em uma amostra de pacientes atendidosem um hospital público, bem como a identificação de fatores associados à respostafavorável. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo, através do resgate de dadosrelativos a pacientes com hepatite C no período de janeiro de 2003 a janeiro de2006. Foram avaliados idade, sexo, estádio de fibrose hepática, níveis de ALT, GGT eHCV-RNA antes do início do tratamento, genótipo do HCV, esquema terapêutico,realização de tratamento anterior, resposta virológica precoce na 12a semana (RVP)para o genótipo 1 e resposta virológica sustentada (RVS). Resultados: Foram avalia-dos 68 pacientes, que apresentavam registro de todos os dados necessários, a maio-ria eram homens (58%), com média de idade de 53 ± 9 anos, estavam infectadoscom genótipo 1(62%), apresentavam graus de fibrose hepática maiores ou iguais aF2 (75%) e foram tratados com Interferon peguilado (80%). Observou-se RVS em53% dos pacientes, sendo ela associada, em comparação bivariada, a fibrose menosavançada, genótipos não-1, sexo feminino e concentrações séricas reduzidas de ALTe GGT. Não houve associação com carga viral. Observou-se associação independen-te, após análise de regressão logística multivariada, entre RVS com fibrose menosavançada e genótipo não-1 (2 e 3). A ausência de RVP apresentou valor preditivonegativo igual a 90% para RVS. Quando se compararam os resultados apenas parapacientes com genótipo não 1 (n = 26), tratados com Interferon convencional (n =14) ou peguilado (n = 12), observou-se que a taxa de RVS com interferon peguiladofoi de 90%, sendo que com o tipo convencional esta foi de apenas 50%. Conclusão:As taxas RVS em pacientes tratados neste serviço público foram semelhantes às rela-tadas na literatura. A falta de associação com carga viral pode ser explicada pelarealização deste exame por laboratórios e técnicas diferentes, fazendo as compara-ções pouco confiáveis. As taxas mais baixas de RVS para genótipo não 1 com IFNconvencional devem ser avaliadas com cautela no nosso país.
PO-130 (160)
ALTERAÇÕES TIREOIDEANAS INDUZIDAS PELO INTERFERON PEGUI-LADO (PEG-IFN) EM PACIENTES COM INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HE-PATITE CCHINDAMO MC, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, STERN C, BRANDÃO-MELO CE, NABUCO LC, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: O tratamento com interferon é capaz de induzir o desenvolvimentode disfunção tireoideana em pacientes com hepatite crônica C. A freqüência e osfatores relacionados a estas alterações entretanto, não estão plenamente estabeleci-das. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e fatores associados à disfunçãotireoideana induzida pelo PEG-IFN, em portadores de infecção pelo vírus C. Méto-dos: Foram incluídos portadores de hepatite C, virgens de tratamento, submetidosa tratamento com PEG-IFN e RBV. Todos os pcs realizaram avaliação da função tireoi-deana e anti-TPO, antes e durante o tratamento. Foi realizada análise comparativaentre os pcs que desenvolveram disfunção tireoideana e os que não desenvolveram.Resultados: Foram incluídos 196 pcs, 56% do sexo feminino, com média de idadede 50 ± 12 anos (19-75 anos). A distribuição do genótipo foi: 1a em 20%, 1b em66%, 3 em 13% e 4 em 1%. Cirrose hepática estava presente em 30% dos casos. Aprevalência de hipotireoidismo pré-tratamento foi de 6,1%. O anticorpo anti-TPOestava presente em 21 pcs (10,7%). Durante o uso de PEG-IFN 15% dos pcs apre-sentaram alguma forma de disfunção tireoideana: 4% redução do TSH, 6% elevaçãodo TSH e 5% redução transitória seguida de elevação do TSH. A mediana do tempopara alteração do TSH foi de 4 meses. Não houve associação entre a presença deanti-TPO positivo pré-tratamento e disfunção tireoideana (p = 0,38). Entre os pcscom anti-TPO pré-tratamento negativo, 13% apresentaram positivação do anticor-po durante o tratamento, e destes, 53% desenvolveram disfunção tireoideana. Na
análise comparativa observou-se que entre os pcs que apresentaram disfunção ti-reoideana, havia maior proporção do sexo feminino (83% vs. 52%, p = 0,002) egenótipo não 1 (45% vs. 16%, p = 0,007), e menor proporção de cirrose (10% vs.34%, p = 0,031). Entre 14 mulheres com genótipo não 1 observou-se aparecimentode disfunção tireoideana em 6 (43%) dos casos. Conclusão: A prevalência de altera-ções tireoideanas induzidas pelo PEG-IFN foi elevada, e associou-se ao sexo femininoe genótipo não 1, o que ressalta a importância da monitorização da função tireoide-ana sobretudo neste grupo específico de pacientes.
PO-131 (161)
ANEMIA INDUZIDA PELA TERAPIA COMBINADA DE INTERFERON PE-GUILADO (PEG-IFN) E RIBAVIRINA (RBV) EM PORTADORES DE HEPA-TITE C CRÔNICACHINDAMO MC, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, LEITE NC, NABUCO LC, BRANDÃO-MELLO CE, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A terapia combinada de PEG-IFN e RBV para o tratamento da he-patite C está associada ao desenvolvimento de anemia hemolítica. O objetivo des-te estudo foi avaliar a freqüência, magnitude e fatores de risco para anemia indu-zida pelo uso de PEG-INF + RBV e seu impacto RVS. Metodologia: Foram incluí-dos 291 pcs tratados com PEG-IFN α2b (1,5µg/kg/semana) e RBV (750 a 1250mg/dia) por 48 semanas. Foram realizados hemogramas nos meses 1, 2, 3, 6, 9, 12 detratamento. Foi avaliada a freqüência e o momento da redução da Hb para níveisinferiores a 10g/dL e 8,5g/dL, e a ocorrência de queda de Hb ≥ 2g/dL em relaçãoa Hb pré-tratamento. Resultados: A média de idade foi de 49 ± 11 (16-75) anos e51% eram do sexo feminino. Queda dos níveis de Hb foi observada em 99% dospcs. A redução média da Hb foi de 2,9g/dL e a mediana do tempo para o pacienteatingir o menor valor de Hb foi de 3 meses. Houve queda de Hb < 2g/dL em 24%dos pcs, entre 2 e 3,9g/dL em 55% e > 4g/dL em 21%. Durante o tratamento 44pcs (15%) apresentaram redução da Hb para níveis < 10g/dL e destes, 9 (3% dototal) apresentaram redução da Hb para níveis < 8,5g/dL. A mediana do tempopara atingir o menor nível de Hb entre pcs que apresentaram Hb < 10g/dL foi de6 meses e entre os que atingiram Hb < 8,5g/dL foi de 9 meses. Na análise compa-rativa, observou-se que pcs com queda de Hb para níveis < 10g/dL, apresentavammaior prevalência do sexo feminino (80% vs. 46%, p < 0,001), idade mais avança-da (55 ± 11 vs. 48 ± 11, p < 0,001) e níveis mais baixos de Hb pré-tratamento(13,5 ± 1,2 vs. 14,2 ± 1,3, p < 0,001). Não houve diferença entre os gruposquanto ao IMC (p = 0,78), níveis de ferritina pré-tratamento (p = 0,53), presençade cirrose (p = 0,34) e taxa de RVS (p = 0,94). Houve necessidade de redução dadose de RBV em 84 pcs (29%) e suspensão do tratamento em 5 pcs (2%). Nãohouve diferença na RVS entre os pcs com e sem necessidade de redução de dosede RBV (47% vs 50%, p = 0,64). Conclusão: Hemólise durante o tratamento comPEG-IFN e RBV é um evento muito freqüente, com queda média dos níveis de Hbde 2,9g/dL. Monitorização cuidadosa dos níveis de Hb é necessária sobretudo empacientes mais idosos e do sexo feminino.
PO-132 (163)
É POSSÍVEL UTILIZAR INTERFERON PEGUILADO NO TRATAMENTO DEPORTADORES DE HEPATITE C COM CONTAGEM DE PLAQUETAS <75.000/MM3?CHINDAMO MC, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, LEITE NC, STERN C, BRANDÃO-MELO CE, NABUCO LC,SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Muitos pacientes com hepatite C e doença hepática avançada têm otratamento contra-indicado pelos níveis de plaquetas, uma vez que a Portaria 863de 2002 do Ministério de Saúde estabelece como critério para utilização do interfe-ron peguilado (PEG-IFN), contagem de plaquetas acima de 75.000/mm3 para por-tadores de cirrose hepática. Para que novos critérios sejam estabelecidos, são neces-sárias mais informações sobre a segurança da utilização deste tratamento em pcsplaquetopênicos. O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento da conta-gem de plaquetas durante o tratamento com PEG-IFN associado à ribavirina (RBV)em portadores de hepatite C com plaquetopenia. Metodologia: Foram estudadosportadores de hepatite C, com contagem inicial de plaquetas < 75.000/mm3, sub-metidos a tratamento com PEG-IFN α-2b (1,5µg/kg/semana) e RBV. O tratamentofoi suspenso nos pacientes que não obtiveram resposta virológica no 6o mês detratamento. Em todos os pcs foi realizada contagem de plaquetas mensal, sendorecomendada a suspensão se contagem de plaquetas < 30.000/mm3. Foram avalia-dos a taxa de RVS, freqüência da suspensão do tratamento e de redução de dose.Resultados: A partir de uma amostra inicial de 370 pcs tratados com PEG-IFN e RBV,foram selecionados para inclusão neste estudo 16 pcs com contagem de plaquetasbasal ≤ 75.000/mm3. A média de idade era de 54 ± 8 anos (39-69 anos), sendo 10(63%) do sexo masculino. Todos os pcs eram portadores de cirrose e 15 (94%)apresentavam genótipo 1. Doze pcs (75%) apresentaram redução da contagem deplaquetas durante o tratamento, sendo indicada redução de dose do PEG-IFN em 4(25%). A contagem de plaquetas pré-tratamento era de 63.133 ± 9.804/mm3
(41.000-75.000/mm3) e houve redução do número de plaquetas durante o trata-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 47
mento para 54.400 ± 16.025/mm3 (p = 0,04) não sendo necessário, entretanto,suspender o uso de PEG-IFN em nenhum caso. Dois pcs (13%) apresentaram RVS.Conclusão: Deve ser avaliada a possibilidade de tratamento com PEG-IFN e RBV emportadores de hepatite C com plaquetopenia significativa, considerando que estespcs podem apresentar RVS e não foram observadas complicações graves durante otratamento.
PO-133 (165)
CO-INFECÇÃO HIV/HCV: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, HISTOPATOLÓ-GICOS E LABORATORIAIS DE 47 PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOS-PITAL DE REFERÊNCIA EM BELÉM-PARÁAMARAL ISA1, SOARES MCP2, MÓIA L1, MIRANDA ECB1, BARBOSA MSB1, DEMACHI S3, ARAÚJO M3, NUNES
HM2, CONDE S1
1. Grupo do Fígado-FSCMPA, 2. Seção Hepatologia do Instituto Evandro Chagas, 3. Serviço de Anatomia Patológi-ca-UFPA
Fundamentos: Com o advento da HAART, os pacientes com HIV/aids, tiveram au-mento da sobrevida, redução da morbidade e mortalidade por doenças relaciona-das à aids e passaram a apresentar doenças ligadas ao fígado por hepatites virais.Casuística e métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de pacientesatendidos no serviço de hepatopatias do Hospital da Fundação Santa Casa de Mise-ricórdia do Pará, de agosto de 2004 a janeiro de 2006, procedentes de unidade dereferência para AIDS. Os pacientes, de ambos os sexos, tinham idade superior a 18anos e eram portadores do HIV confirmados por ELISA e Imunofluorescência Indire-ta ou Western Blot, com anti-HCV positivo por ELISA e confirmado por RT-PCR.Foram submetidos a avaliação clínica, epidemiológica e demográfica, além de exa-mes incluindo: dosagem de aminotransferases, contagem de linfócitos TCD4+, car-ga viral para HIV, carga viral para HCV, genotipagem do HCV e exame histopatoló-gico de fragmento de fígado, quando indicado. Resultados: Atendidos 47 pacien-tes com idade média de 42 anos, 85,1% (40/47) do sexo masculino, 40,9% (18/47)com nível de escolaridade fundamental, 19,1% eram casados, 74,4% solteiros e4,3% viúvos, a maioria procedente de Belém, Pará (91,5%) e 87,2% estavam utili-zando TARV. Em relação ao uso de drogas 44,7% utilizavam drogas injetáveis, 42,6%usavam cocaína por via nasal. Ademais, 12,8% incluíam-se entre HSH, 29,8% erambissexuais e 57,4% heterossexuais. A média de AST encontrada foi de 80,3mg/dl(ep = 10,28), de ALT 78 (ep = 9,3) e de linfócitos TCD4+ 381 células/mm3. Foramdetectados os genótipos 1 (51,4%), genótipo 2 (2,6%) e genótipo 3 (35,8%) doHCV. A carga viral média do HIV era de 2,59 log10 HIV-RNA (ep = 1,32) e a cargaviral média do HCV = 5,68 log10 HCV-RNA (ep = 0,15), 7,8% (35) pacientes foramsubmetidos a biópsia hepática e pela classificação METAVIR, Ao = 4 (11,8%), A1 =18 (51,4%), A2 = 11 (31,4%), A3 = 2 (5,7%), F0 = 5 (13,9%), F1 = 6 (16,7%), F2 =13 (36,1%), F3 = 6 (16,7%), F4 = 6 (16,7%). Conclusões: A casuística diz respeitoa pacientes jovens, imunologicamente estáveis, predominando grau de fibrose demoderado a severo (F2, F3 e F4).
PO-134 (167)
HOMOCISTEÍNA COMO PREDITOR DE ESTEATOSE EM PORTADORESDE HEPATITE C CRÔNICASIQUEIRA ERF1,2, OLIVEIRA CPMS2, MUNIZ MTC3,4, SILVA KA3,4, CAVALCANTI MSM3,4, FREITAS EM3,4, SILVA
FS3,4, MONTENEGRO F3, PEREIRA LMMB1, CARRILHO FJDepartamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Instituto do Fígadode Pernambuco da Um
Introdução: A associação entre Hepatite C Crônica (HCV), esteatose e homociste-ína ainda não está bem esclarecida. Mutações em genes relacionados à rota dofolato e/ou deficiência de B12 e B6 estão relacionados a hiperhomocisteinemia. Avariante termolábil da MTHFR (metileno tetrahidrofolato redutase) é a mais co-mum desordem hereditária do metabolismo do ácido fólico. Objetivo: O objetivodeste trabalho foi avaliar a associação entre a concentração plasmática de homo-cisteína, folato, B12 e o polimorfismo C677T da MTHFR termolábil nos casos dehepatite C crônica com e sem esteatose hepática. Métodos: Foram avaliados osparâmetros bioquímicos, homocisteína (Hcy), folato e B12 de 50 pacientes porta-dores de hepatite C crônicos confirmados através da identificação do HCV RNAcom biópsia hepática compatível com e sem esteatose. A concentração plasmáticade homocisteína foi determinada por imunoensaio competitivo, folato e B12 poreletroquimiolumunescência. O polimorfismo do gene MTHFR foi analisado em 25pacientes e 30 controles através de PCR-RFLP. Resultados: Não foi observada dife-rença significativa (teste Mann-Whitney) quando comparados pacientes com esem esteatose no que se refere à Hcy (z(U) = 1,7678; (p = 0,0771), folato (z(U) =1,07; p = 0,28) e B12 z(U) = 0,249; p = 0,80). Não foi encontrada associação dopolimorfismo C677T nos pacientes quando comparados com o grupo controle (p= 0,961). Conclusões: Os resultados preliminares deste estudo sugerem que nãoexiste uma relação entre a concentração plasmática de homocisteína e os casos deesteatose hepática em portadores de Hepatite C Crônica. A pequena amostra podeter limitado a capacidade de detectar diferença estatística significante, necessitan-do-se de estudos futuros com maior número de pacientes para ratificar ou nãoque, como a doença cardiovascular, a homocisteína constitui um risco nos casosde esteatose por Hepatite C.
PO-135 (177)
ASSOCIAÇÃO ENTRE A HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITEC (VHC) E DIABETE MELITO EM PACIENTES MONOINFECTADOS PELOVHC E CO-INFECTADOS COM O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HU-MANA (HIV)MENEZES MO, TOVO CV, MATTOS AAServiço de Gastroenterologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre (RS) e Curso de Pós-Gradua-ção em Hepatologia
Introdução: Várias são as manifestações extra-hepáticas do VHC, dentre as quaisdestacamos a presença de diabete melito (DM). Objetivo: Determinar a prevalên-cia de DM em pacientes com hepatite crônica pelo VHC e naqueles co-infectadosVHC/HIV, bem como comparar o perfil laboratorial e histológico. Material e mé-todo: Foram avaliados dois grupos: um com pacientes monoinfectados pelo VHCavaliados prospectivamente e de forma consecutiva, e outro com pacientes co-infectados por VHC/HIV cujos dados foram obtidos retrospectivamente. Foramanalisados dados demográficos (idade, gênero e raça) e laboratoriais (aminotrans-ferases, albumina, bilirrubina total, tempo de protrombina, plaquetas), bem comoo genótipo do VHC. O diagnóstico de DM foi baseado nos critérios da AssociaçãoAmericana de Diabete Melito. Os achados à biópsia hepática foram classificadossegundo o escore METAVIR. O nível de significância assumido foi de 5%. Resulta-dos: Foram avaliados 135 pacientes monoinfectados VHC, dos quais 30 (22,2%)apresentavam DM, e 117 pacientes co-infectados VHC/HIV sendo 35 (29,9%)com DM (p = 0,164). A média de idade foi de 48,28 ± 9,68 anos nos monoinfec-tados e 40,83 ± 9,01 anos nos co-infectados (p < 0,001). Nos monoinfectados, 66(48,9%) eram homens, e 93 (79,5%) nos co-infectados (p = 0,032). A maioria erade raça branca nos dois grupos (p = 0,506). Quanto aos exames laboratoriais, asaminotransferases foram significativamente mais alteradas naqueles pacientes semDM. Quanto aos demais exames laboratoriais, não houve diferença estatistica-mente significativa entre os grupos. Houve maior prevalência de genótipo 2 ou 3,sendo que dentre aqueles co-infectados observou-se correlação entre estes genó-tipos e a presença de DM. Em relação ao grau de fibrose, nos pacientes co-infecta-dos houve predomínio de fibrose avançada (F3-F4) dentre aqueles com DM (p <0,001). Conclusões: A prevalência de DM nos pacientes monoinfectados peloVHC e co-infectados VHC/HIV é alta, no entanto, não houve diferença na preva-lência de DM entre os grupos avaliados. Os pacientes co-infectados com DM apre-sentaram mais fibrose à histopatologia.
PO-136 (178)
INTERFERON CONVENCIONAL (IFN) VERSUS INTERFERON PEGUILA-DO (PEG) ASSOCIADOS À RIBAVIRINA (RBV) NO TRATAMENTO DEPACIENTES CO-INFECTADOS PELO VÍRUS DA HEPATITE C (GENÓTIPO1) E DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HCV-TOVO CV, ALMEIDA PRL, RIGO JO, ZANIN P, DAL MOLIN RK, JOHN JA, ALVES AV, MATTOS AASecretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS); Curso de Pós-Graduação em Hepatologia da FundaçãoFacu
Fundamentos: Tem sido sugerido que os pacientes co-infectados HCV/HIV devamser tratados com PEG+RBV porque as taxas de resposta virológica sustentada (RVS)seriam maiores do que aquelas obtidas com IFN+RBV. No entanto, há escassez detrabalhos na literatura comparando as duas opções de tratamento nesta populaçãode pacientes, em especial fora do cenário de ensaios clínicos. Objetivos: Avaliar aRVS ao tratamento com IFN+RBV versus PEG+RBV em pacientes co-infectados HCV-1/HIV, bem como os fatores preditivos de resposta, no âmbito do programa doMinistério da Saúde. Métodos: Estudo de coorte misto, onde foram revisados pron-tuários da SES-RS de pacientes co-infectados HCV-1/HIV tratados com IFN+RBV (an-tes de 2002) ou PEG+RBV (a partir de 2002) por um período de 48 semanas. Foramavaliadas as características demográficas (idade, gênero e peso), contagem de célu-las CD4 e histopatologia - atividade inflamatória [A] e fibrose [F] - segundo classifica-ção METAVIR. O nível de significância adotado na análise estatística foi de 5%.Resultados:
Fator IFN+RBV PEG+RBV P ORn = 22 n = 59 (IC95%)
Idade, anos (média ± DP) 40 ± 9 42 ± 9 0,37 ––Gênero masculino (%) 82 76 0,77 ––Peso, kg (média ± DP) 72 ± 11 69 ± 12 0,26 ––CD4, céls/mm3 (mediana) 454 432 0,51 ––A2 + A3 (%) 73 100 < 0,01 ––F3 + F4 (%) 46 67 0,13 ––RVS (%) 14 23 0,54 1,9
(0,5 a 7.3)
Conclusão: Os pacientes co-infectados HCV-1/HIV tratados com PEG+RBV apresen-taram chance 1,9 vezes maior de obter RVS do que aqueles tratados com IFN+RBV.Este resultado não apresentou significância estatística, provavelmente pelo pequenonúmero de pacientes avaliados.
S 48 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-137 (181)
MONOINFECTADOS PELO GENÓTIPO 1 DO VÍRUS DA HEPATITE C(HCV-1) VERSUS CO-INFECTADOS HCV-1/VÍRUS DA IMUNODEFICIÊN-CIA HUMANA (HIV): SÃO POPULAÇÕES DIFERENTES E COM RESPOS-TAS DISTINTAS AO TRATAMENTO?ALMEIDA PRL, ZANIN P, MATTOS AA, TOVO CV, JOHN JA, DAL MOLIN RK, ALVES AVSecretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES-RS); Curso de Pós-Graduação em Hepatologia da FFFCMPA;Hos
Fundamento: Alguns estudos sugerem que co-infectados HCV/HIV apresentem piorresposta ao tratamento anti-HCV, embora haja escassez de informações no que dizrespeito a trabalhos fora do contexto de ensaios clínicos. Objetivos: Avaliar a eficá-cia do tratamento com PEG-interferon/ribavirina (PEG+RBV) em pacientes infecta-dos pelo HCV-1, comparando o perfil e a resposta virológica sustentada (RS) dapopulação de monoinfectados com aquela observada em co-infectados HCV-1/HIVno programa do Ministério da Saúde. Métodos: Estudo de coorte misto, sendoavaliados os tratamentos de pacientes monoinfectados pelo HCV e co-infectadosHCV/HIV com PEG+RBV por 48 semanas. Não havendo a resposta virológica preco-ce (RVP), o tratamento era interrompido. O nível de significância adotado na análiseestatística foi de 5%.Resultados:
HCV (n = 323) HCV/HIV (n = 59) p
Idade (m ± DP) 51,1 ± 10,1 42,1 ± 8,9 < 0,001Sexo masc- n (%) 180 (55,7%) 45 (76,3%) 0,005IMC (m ± DP) 26,8 ± 4,4 24,1 ± 3,3 < 0,001Carga viral-VHC(mediana) 645.000 1.178.000 0,003> 600 x 103 - n (%) 184 (57,0%) 39 (66,1%) 0,20F3 - n (%) 137 (43,6%) 27 (49,1%)F4 - n (%) 95 (30,3%) 10 (18,2%) 0,24RS - n (%) 114 (35,3%) 13 (22,0%) 0,066
A população de co-infectados deste estudo mostrou-se, comparativamente àquelade monoinfectados, ser significativamente mais jovem, mais freqüentemente mas-culina e com menor IMC. Conclusões: A despeito das duas populações estudadasapresentarem algumas características distintas, a RS nos co-infectados não foi signi-ficativamente menor que nos monoinfectados, talvez pelo menor número de pa-cientes no grupo HCV/HIV.
PO-138 (182)
TIPO DE RESPOSTA NA SEMANA 12 VERSUS RESPOSTA VIROLÓGICASUSTENTADA (RVS) NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM HEPATITECRÔNICA POR VÍRUS C (HCV) TRATADOS COM INTERFERON PEGUI-LADO E RIBAVIRINA (PEG-IFN+RBV)ALMEIDA PRL, ZANIN P, MATTOS AA, TOVO CVSecretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES-RS); Curso de Pós-Graduação em Hepatologia daFun
Fundamento: Tem sido descrito que a resposta virológica precoce (RVP) apresentaalto valor preditivo negativo para a obtenção da RVS. Objetivos: Avaliar o papel daRVP obtida na semana 12 de tratamento na RVS ao tratamento com PEG-IFN+RBVem pacientes infectados com genótipo 1 do HCV no âmbito de um programa de-senvolvido na SES-RS. Métodos: Estudo de coorte misto, onde foram avaliados pa-cientes infectados com genótipo 1 do HCV tratados com PEG-IFN+RBV por umperíodo de 48 semanas. Não havendo a RVP o tratamento era interrompido. O nívelde significância adotado foi de 5%. Resultados: A coorte constituiu-se de 323 indi-víduos. Cento e oitenta (55,7%) eram do gênero masculino. A média de idade foi51,1 ± 10,1 anos. Da coorte inicial, somente foram avaliados os 215 pacientes queobtiveram RVP. A RVS foi obtida em 114 pacientes (35,3%). Em 9 pacientes com RVS(9/114 = 7,9%) não foi aferida a RVP.
PCR na semana 12 n RVS OD IC95% P n0 %indetectável 180 99 55,0 5,0 2,5 a 10,0 - < 0,01redução de 2 logs 35 6 17,1 - - -Total 215 105 48,8
Em relação ao tipo de RVP obtida, 180 (83,7%) apresentavam HCV-RNA indetectá-vel e 35 (16,3%) redução superior a 2 logs mas ainda com replicação viral detectá-vel. Dentre aqueles com viremia indetectável, 55% (99/180) atingiram RVS em com-paração com apenas 17,1% (6/35) daqueles que apresentaram redução de 2 logs (p< 0,01). Conclusões: O subtipo de RVP apresentada pelos pacientes na semana 12demonstrou ser fortemente preditivo da obtenção da RVS.
PO-139 (183)
HEPATITE C EM CANDIDATOS AO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPI-TAL GERAL DE FORTALEZA – ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E PRO-POSTA DE NOVO PROTOCOLO DE TRATAMENTOLIMA VERDE ABL, ROLIM TML, MACEDO MRF, CORSINO GA, OLIVEIRA ALT, PESSOA FSRPHospital Geral de Fortaleza – Fortaleza/CE
Fundamentos: Protocolos de tratamento de HCV em renais crônicos utilizam a biópsiahepática no início do acompanhamento para excluir cirrose. Nota-se hepatite crôni-ca em quase 100% dos casos, mas cirrose em apenas 10%. Desenvolvemos umprotocolo de tratamento em que a biópsia hepática somente é realizada em renaiscrônicos não respondedores ao interferon-α (INF). Método: Estudo de 14 pacientesem hemodiálise com HCV acompanhados no ambulatório de Hepatologia do HGF,no período de janeiro/2005 a março/2007, quanto à genotipagem, transaminases,provas de função hepática, EGD e US abdominal. Os pacientes foram tratados comINF 3MU SC 3x/semana. Os não-respondedores foram submetidos à biópsia hepá-tica para decidir a necessidade de transplante duplo. Resultados: Selecionados 14pacientes em hemodiálise portadores de hepatite C, 8 masculinos e 6 femininos,com média de idade de 46 anos. Dez são genótipo 1; 2 do genótipo 3, apenas 2pacientes não têm genotipagem. A TGP variou entre 19 – 189, sendo que 7 pacien-tes (50%) tinham TGP > 40. Quatro pacientes são cirróticos, Child A5, os demaistêm função hepática preservada. A EGD mostrou varizes esofágicas de fino calibreem 1 paciente. O US sugeriu hipertensão porta em 3 casos. Do total de pacientes, 3não toleraram o tratamento por efeitos colaterais, estando aguardando biópsia he-pática pré-transplante renal. Uma paciente foi a óbito meses após o término dotratamento bem sucedido com INF, porém antes do transplante. Quatro pacientesainda estão no 5o mês de tratamento até o momento da redação deste resumo. Dametade restante, 3 concluíram o tratamento por 1 ano, com negativação da PCR,sendo que 2 pacientes já receberam o transplante renal e 1 ainda aguarda na fila. Osoutros 3 pacientes persistiram com PCR positiva no 6o mês de tratamento, sendosuspenso o INF e encaminhados à biópsia hepática para avaliar a necessidade dotransplante simultâneo renal e hepático. Conclusão: A maioria dos pacientes é ge-nótipo 1. A função hepática permitia iniciar INF em todos os casos. Efeitos colateraisintoleráveis ocorreram em apenas 3 casos. O protocolo ainda se encontra em curso,sendo passível de modificação de acordo com os resultados.
PO-140 (199)
ANÁLISE DA RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA EM PACIENTESCOM HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C E ESTEATOSEHEPÁTICAMATTOS AA, PICCOLI LDZ, CORAL G, EDELE DS, MATTOS AZFundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre/Rio Grande do Sul
Fundamentos: A hepatite crônica pelo vírus C (VHC) e a Doença Hepática Gorduro-sa Não-Alcoólica (DHGNA) são reconhecidas como as causas mais comuns de doen-ça hepática nos países ocidentais. Por outro lado, a esteatose hepática é observadaem aproximadamente 50% dos pacientes infectados pelo VHC, sendo descrito quea mesma diminui a chance de resposta virológica sustentada (RVS) quando do trata-mento do VHC. O objetivo deste estudo é analisar a RVS em pacientes com hepatitecrônica pelo VHC e esteatose. Métodos: Para tanto, foram analisados prontuáriosdos pacientes tratados para hepatite crônica C, sendo avaliadas a idade do paciente,a genotipagem do VHC, o resultado da PCR, o IMC (peso/altura²), a presença deDM (glicemia jejum igual ou maior 126mg/dL em 2 amostras) e os achados histoló-gicos com estadiamento conforme a Classificação Brasileira de Hepatites Virais eClassificação Histológica da DHGNA. Resultados: Foram estudados 91 pacientes eincluídos 59 pacientes; dentre os pacientes incluídos no estudo, 37 apresentavamesteatose hepática. Quando avaliadas as seguintes características: idade > 40 anos,IMC > 25kg/m², genótipo (1, 2 ou 3) e fibrose (1 e 2 ou 3 e 4), não se observoudiferença estatisticamente significativa entre os grupos. Na análise bivariada obser-vando-se RVS e as seguintes características: esteatose hepática, idade, IMC, genóti-po e grau de fibrose, só houve diferença estatística significativa em relação à idade >40 anos (p = 0,03). Conclusão: Neste trabalho demonstrou-se que idade < 40 anosé fator preditivo positivo de boa resposta virológica no tratamento da hepatite C.Não foi demonstrada a influência da esteatose hepática na RVS destes pacientes,provavelmente devido ao tamanho da casuística.
PO-141 (212)
MARCADORES SOROLÓGICOS DE AUTO-IMUNIDADE TIREOIDIANAEM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA: FATORES VIRAIS E O TRA-TAMENTO COM PEG-INTERFERON ASSOCIADO À RIBAVIRINAVASCONCELOS LRS1, MELO FM1, RAMOS H3, MOURA P1, CAVALCANTI MSM1, PEREIRA LMMB2,4
1. Instituto de Ciências Biológicas – Universidade de Pernambuco – ICB/UPE, 2. Depto. de Clínica Médica- Faculda-de de Ciências Medi
Fundamentos: As doenças auto-imunes são patologias comumente associadas coma Hepatite C crônica (HCVC), sendo as da tireóide as mais freqüentes. A infecçãopelo vírus da Hepatite C (HCV) e o tratamento da HCVC com alpha-interferon (IFN-α) associado ou não à Ribavirina (RBV) são relacionados ao desenvolvimento de
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 49
marcadores sorológicos de auto-imunidade antitireoidiana (AAT) e disfunções tireoi-dianas (DT). Objetivamos estudar o tratamento da HCVC com IFN-α na sua formapeglada (Peg-IFN) associado à (RBV) com características virais no desenvolvimentode AAT. Métodos: Anticorpos Anti Peroxidase Tireoidiana (Anti TPO) e Anti Tireo-globulina foram dosados por Quimioluminescência (Roche). Os pacientes foramatendidos no serviço de Gastroenterologia do Hospital Oswaldo Cruz da Universida-de de Pernambuco. O Presente projeto tem aprovação no comitê de ética local.Resultados: Determinamos a prevalência de auto-anticorpos Anti-Tireoglobulina(Anti-Tg) e Anti-Peroxidase Tireoidiana (Anti-TPO) em 286 indivíduos, sendo 111(39%) casos de HCVC tratados, 51 (18%) de pacientes virgens de tratamento e 124(43%) indivíduos sadios. Evidenciamos AAT em 13 (11,8%), 5 (9,8%) e 3 (2,4%)nos pacientes tratados, naqueles virgens de tratamento e indivíduos sadios, respec-tivamente. Estes dados preliminares mostraram uma correlação estatística signifi-cante quando o Grupo de pacientes com HCVC tratados (p = 0,01; OR 5,35; IC 1,41– 29,89) e o Grupo de pacientes não tratados (p = 0,0474; OR 4,38; IC 0,81 –29,08) com Peg-IFN/RBV foram comparados com indivíduos sadios. Esta diferençanão foi significante quando comparamos os grupos de pacientes (p = 0,928; OR1,22; IC 0,38 – 4,63). Conclusões: Este trabalho sugere que o HCV pode ser um dosfatores responsáveis pelo desenvolvimento de auto-imunidade tireoidiana, indepen-dente da terapia com Peg-IFN/RBV e que os AAT se desenvolvem durante o trata-mento são transitórios. O sexo feminino também foi confirmado como importantefator de risco de desenvolvimento de AAT nos pacientes com HCVC. Palavras-cha-ve: Hepatite C, Marcadores sorológicos, doenças Autoimunes da Tireóide, Peg-In-terferon e Ribavirina.
PO-142 (213)
POLIMORFISMO DO ÉXON 1 DO GENE DA LECTINA LIGADORA DEMANOSE (MBL2) EM PACIENTES INFECTADOS COM HCV E MARCA-DORES SOROLÓGICOS DE AUTOIMUNIDADE TIREOIDIANAVASCONCELOS LRS1, BARRETO AVMS1, MELO FM1, RAMOS H3, MOURA P1, CAVALCANTI MSM1, PEREIRA LMMB2,4
1. Instituto de Ciências Biológicas – Universidade de Pernambuco – ICB/UPE, 2. Depto. de Clínica Médica- Faculda-de de Ciências Medi
Fundamentos: A lectina ligadora de manose (MBL) é uma proteína de fase agudada imunidade inata. Ela reconhece e liga-se aos arranjos de resíduos de carboidratosnas superfícies de células e vírus facilitando a fagocitose de patógenos. A MBL tam-bém reconhece células apoptóticas, restos celulares e imunocomplexos. O polimor-fismo do gene MBL2 é responsável por níveis baixos ou indetectáveis de MBL sérica.A deficiência de MBL tem sido associada ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, Dermato-miosite, Síndrome de Sjögren e a Doença Celíaca, todas doenças auto-imunes. Ainfecção crônica por HCV (HCVC) tem sido associada ao desenvolvimento de dis-função tireoideana e a produção de anticorpos anti-tireoidianos (AAT). O tratamen-to com alpha-interferon (IFN-α) associado à ribaverina (RBV) também influencia nodesenvolvimento de AAT. Métodos: Investigamos a associação do polimorfismo doéxon 1 do MBL2 com marcadores sorológicos de AAT em 162 pacientes com HCVCdo nordeste do Brasil. Os pacientes foram atendidos no serviço de Gastroenterolo-gia do Hospital Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco, sendo que 111pacientes foram tratados com IFN-α peglatado (Peg IFN-α)/RBV e 51 pacientes eramvirgens de tratamento. Como grupo de comparação foram incluídos 124 indivíduossadios doadores de banco de sangue. A genotipagem do MBL2 foi realizada porPCR em Tempo Real (PCR-real time) segundo Hladnik et al., 2002; Anticorpos AntiPeroxidase Tireoidiana (Anti TPO) e Anti Tireoglobulina foram determinados porQuimioluminescência (Roche). Resultados: Os pacientes com HCVC (n = 162) apre-sentam 11% de positividade para AAT enquanto nos indivíduos sadios este percen-tual foi de 2,4%. A freqüência do polimorfismo para o MBL2 foi significativamentemais alta nos pacientes com HCVC do que nos indivíduos sadios (p = 0,01; OR =4,44; IC 1,37 – 18,67). Os pacientes com HCVC e AAT positivo (n = 18) apresenta-ram uma alta freqüência do polimorfismo para o MBL2, 22% vs 10% nos indivíduossem AAT (n = 144), entretanto esta diferença não foi significativa (p = 0,28; IC 0,40– 8,43). Conclusão: O polimorfismo do gene MBL2 parece não estar associado como desenvolvimento de AAT nos pacientes com ou sem tratamento para HCV, entre-tanto devido ao reduzido número de pacientes no grupo infectado com AAT (n =18) esta observação não pode ser considerada definitiva, sendo necessários maisestudos para se estabelecer o papel do polimorfismo do MBL2 no desenvolvimentode AAT nos pacientes com HCVC.
PO-143 (214)
ASSOCIAÇÃO DE FIBROSE E RESPOSTA TERAPÊUTICA NA INFECÇÃOPOR HCV COM A LECTINA LIGADORA DE MANOSE (MBL)BARRETO AVMS1, VASCONCELOS LRS1, MELO FM1, RAMOS H3, MOURA P1, BELTRÃO E3, CAVALCANTI MSM1,PEREIRA LMMB2,4
1. Instituto de Ciências Biológicas – Universidade de Pernambuco – ICB/UPE, 2. Depto. de Clínica Médica- Faculda-de de Ciências Méd
Fundamentos: A MBL é uma proteína de fase aguda produzida pelo fígado e suadeficiência tem sido associada com a susceptibilidade a algumas infecções. Suasprincipais funções estão relacionadas com a ativação do sistema complemento (CS),opsonização e modulação da resposta inflamatória. Mostrar a associação do poli-
morfismo no MBL2 com a marcação para MBL em biópsias de pacientes infectadospor HCV e a resposta ao tratamento. Métodos: A classificação METAVIR foi usadapara um estudo piloto com 10 pacientes atendidos no Hospital da Universidade dePernambuco-UPE, e 2 biópsias de indivíduos não infectados pareados por proveni-ência foram usadas como controle. Os pacientes foram tratados com IFN -peguila-do/ribavirina (pegIFN-RIBA). O sangue periférico foi usado para extração de DNA egenotipagem. A genotipagem do MBL2 leva a três genótipos distintos o AA-homo-zigoto selvagem, A0-heterozigoto e 00-homozigoto mutante, a técnica de PCR emtempo real foi realizada segundo Hladnik et al. (2002), e a deposição de MBL foiobservada pela técnica de imunohistoquímica, usando-se soro policlonal de coelhoanti-MBL. Resultados: Os 10 pacientes foram distribuídos seguindo o genótipo: 4(AA), 3 (A0) e 3 (00). Foi observada uma associação com o grau de fibrose e aintensidade de marcação para MBL. Sendo que os pacientes que apresentavam ogenótipo AA a marcação foi mais forte do que os outros genótipos. Todos pacientesque eram não respondedores ao tratamento na 4a semana (HCV-RNA +) tinhamfibrose intensa e também intensa marcação para MBL. Conclusões: A associação damarcação de MBL com a falha da resposta ao tratamento da infecção por HCV podeindicar um reflexo da inflamação causada pelo próprio vírus ou evidenciar um papelimunomodulador da MBL no controle da inflamação. Contudo, estudos para esta-belecer o verdadeiro envolvimento desta lectina na evolução da doença hepáticapor HCV precisam ser elaborados. Palavras-chave: HCV, MBL, Polimorfismo. ApoioFinanceiro: CNPq, MS, FINEP.
PO-144 (216)
PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO DA HEPATITE C NOS INDIVÍDUOSSOB SUPORTE HEMODIALÍTICOALBUQUERQUE MGA1, CAVALCANTI MSM1, MELO MMM1, XIMENES RAA1, PEREIRA LMMB1,2
1. Faculdade de Ciências Médicas – Universidade de Pernambuco – FCM/UPE, 2. Instituto do Fígado de Pernambuco– IFP/PE, Brasil
Fundamentos: Pacientes sob hemodiálise (HD) constituem grupo com risco eleva-do para a aquisição do HCV. Métodos: Foi conduzido estudo de corte transversal,com caráter analítico, para estimar a prevalência do anti-HCV, do HCV-RNA, a eleva-ção da ALT e identificar os fatores de risco associados à infecção pelo HCV, emcatorze centros de HD de Pernambuco de dez./2002-out./2003. Resultados: Foiencontrada prevalência média do anti-HCV de 11,4% (271/2.377), variando de 4-27%. Foram selecionados 271 casos (anti-HCV+) e 582 controles (anti-HCV-). HCV-RNA foi detectado em 71,9% (195/271) dos anti-HCV+. Em virtude da baixa ativi-dade da ALT nos renais crônicos em HD, foi reduzido o ponto de corte do valor danormalidade da ALT (40 para 23UI/L), encontrando-se níveis da ALT elevados (p <0,05), tanto nos pacientes anti-HCV+, quando comparados aos anti-HCV-, quantonos anti-HCV+ com PCR+, comparados aos anti-HCV+ sem viremia (PCR-) Análisemultivariada final revelou cinco variáveis com risco independente para aquisição doHCV: faixa etária 35-44 (OR = 1,70; IC 95% = 1,02–2,54; p = 0,0409) e 55-64 anos(OR = 1,93; IC 95% = 1,11–3,35; p = 0,0190), tempo em HD (> 9 anos, OR = 6,98;IC 95% = 3,75–12,9; p = 0,0000), número centros freqüentados (> 2, OR = 1,71; IC95% = 1,15–2,53; p = 0,0071), número de hemotransfusões (> 7, OR = 5,54; IC95% = 2,90–10,5; p = 0,0000), número cirurgias (> 6, OR = 5,85; IC 95% = 1,84–18,6; p = 0,0028). Conclusões: Prevalência média do anti-HCV em Pernambuco foibaixa relacionada ao Brasil e ao mundo. Com a presença de viremia em aproxima-damente três quartos dos anti-HCV+, faz-se necessário a identificação desses indiví-duos, em associação com o monitoramento especial dos grupos identificados comode risco, com o objetivo de diminuir a disseminação nosocomial e definir a doençahepática, principalmente nos candidatos a transplante renal. PCR inibida em 14,8%(40/271), alerta para mais uma dificuldade no diagnóstico do HCV nos hemodialisa-dos. Redução do limite superior do valor do ponto de corte da ALT pôde oferecermelhor avaliação, alertando para os portadores de viremia, intensificando rendi-mento diagnóstico, através da ALT. Associação significativa do tempo em hemodiá-lise, número de centros freqüentados e número de cirurgias, com o HCV, sugeretransmissão nosocomial. O número de hemotransfusões mostrou ser um risco inde-pendente para a aquisição do HCV, apesar do rastreamento pelos bancos de sanguee da diminuição de transfusões pelos renais crônicos.
PO-145 (217) – PRÊMIO LUIZ CARLOS DA COSTA GAYOTTO
PO-146 (218) – EXCLUÍDO
PO-147 (219)
ASSOCIAÇÃO ENTRE HLA E INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE CSILVA PM, FABRICIO-SILVA GM, HANNA KL, ALMEIDA BS, MARQUES MTQ, RODRIGUES JP, RONDINELLI E, PEREZ
RM, FIGUEIREDO FAF, PORTO LCMSLaboratório de Histocompatibilidade/IBRAG, Serviço de Gastroenterologia/HUPE – Universidade do Estado do Riode Janeiro e Laboratório de Metabolismo Macromolecular FTC Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Tem sido estudadas associações entre HLA e susceptibilidade à infec-ção pelo vírus da hepatite C (HCV), já tendo sido identificados alguns alelos, como,por exemplo, HLA-DRB1*11 e DQB1*0301. Em estudo comparativo com pacientescom HCV em Campinas (SP-Brasil), uma maior freqüência do alelo DRB1*07 foiobservada entre os controles, indicando um possível fator de proteção. Os objetivos
S 50 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
deste estudo foram avaliar as freqüências de alelos de HLA classe I e II em pacientesbrasileiros com infecção crônica pelo vírus da hepatite C e compará-los com umgrupo controle de indivíduos do REDOME (Registro Brasileiro de Doadores de Me-dula Óssea). Métodos: Foram estudados 221 pacientes, com média de idade de 50± 11 anos, com infecção pelo HCV que realizaram tipificação HLA de classe I e II.Cento e treze (51%) pacientes eram do sexo masculino. Quanto à etnia, 48% erambrancos, 28% mestiços, 13% negros e 11% de outras etnias. Esses pacientes foramcomparados com um grupo controle composto por 1070 doadores de medula ós-sea cadastrados no REDOME pareados por sexo, etnia e região de procedência.Análise estatística foi realizada utilizando o teste Qui-quadrado e teste Exato deFisher. Resultados: No grupo de pacientes com HCV, observou-se maior freqüênciados alelos HLA-A*23 (OR = 1,6; IC = 1,1-2,4; p = 0,01) e -B*41 (OR = 2,2; IC = 1,1-4,5; p = 0,02) e do alelo da classe II DRB1*12 (OR = 2,1; IC = 1,1-3,9; p = 0,02)quando comparados ao grupo controle. Por outro lado, a freqüência do alelo DRB1*08(OR = 0,5; IC = 0,3-0,9; p = 0,02) foi menor no grupo com HCV. Conclusão: Osresultados desse estudo permitiram identificar associações de hepatite C com alelosde HLA que não haviam sido relatadas anteriormente. A existência de alelos que seassociam à presença de infecção pelo vírus C reforça o conceito de que os fatoresrelacionados ao hospedeiro parecem ser mais importantes do que as característicaspróprias do vírus C na susceptibilidade a essa infecção. (Apoio CNPq, SUS-Faperj).
PO-148 (221)
RELAÇÃO ENTRE HLA E ATIVIDADE INFLAMATÓRIA NA INFECÇÃOCRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C (HCV)SILVA PM, BARBOSA HPP, CAMPOS CFF, HANNA KL, CASTILHO MCF, CARDOSO JF, PORTO LCMS, PEREZ RM,FIGUEIREDO FAFLaboratório de Histocompatibilidade/IBRAG e Serviço de Gastroenterologia/HUPE – Universidade do Estado do Riode Janeiro
Fundamentos: Alguns alelos do HLA já foram identificados como relacionados àgravidade da fibrose em pacientes com hepatite crônica C, como, por exemplo,HLA-DRB1*11, DQB1*03, Cw*04 e DRB1*08. Entretanto, até o momento, há pou-cos estudos na literatura sobre a associação com atividade necroinflamatória. Oobjetivo deste estudo é pesquisar a existência de associação entre o HLA da classe Ie II e o grau de atividade necroinflamatória hepática em pacientes brasileiros cominfecção crônica pelo HCV. Métodos: Foram estudados 69 pacientes com infecçãocrônica pelo HCV (HCV-RNA positivo) submetidos à biópsia hepática. Em todos ospacientes foi realizada determinação dos HLAs: A, B, Cw, DRB1 e DQB1. Os achadoshistológicos foram relatados, conforme a classificação de Ishak. A amostra foi dividi-da em 2 grupos quanto à atividade necroinflamatória: grupo com atividade necroin-flamatória ausente\leve - AL (A ≤ 6 de Ishak) e grupo com atividade inflamatóriaacentuada - AA (A ≥ 7 de Ishak). Análise estatística foi realizada utilizando o testeQui-quadrado e teste Exato de Fisher. Resultados: Na amostra estudada, 38 pacien-tes (42%) apresentavam atividade necroinflamatória leve ou ausente (AL). Na análi-se comparativa, não houve diferença quanto ao sexo (masculino 55% vs. 50%; p =0,68), quanto à duração da doença (24 9 vs. 25 6; p = 0,32) e quanto a idade(50 11 vs. 49 11; p = 0,42). No grupo AA, observou-se maior freqüência do aleloda classe I HLA-A*68 (88% vs. 13%; p = 0,02) quando comparados ao grupo AL.Conclusão: Os resultados desse estudo demonstraram que existe associação da ati-vidade necroinflamatória com alelos HLA. A identificação de um alelo “promotor”da inflamação reforça o conceito de que os fatores relacionados ao hospedeiro têmuma participação importante na evolução da hepatite crônica C. O HLA-A*68 foiidentificado como novo alelo relacionado a inflamação ainda não descrito em outraspopulações. (Apoio CNPq e SUS/)FAPERJ).
PO-149 (222)
DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES COM SO-ROLOGIA POSITIVA PARA O VÍRUS DA HEPATITE CFRANCISCHELLI CT, OLIVEIRA NETO LA, SILVA FAP, BARBOSA WF, RUIVO GFAmbulatório de Hepatite da Prefeitura Municipal de Taubaté e Disciplina de Clínica Médica da Universidade deTaubaté-SP
Fundamentos: A hepatite C é doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C(HCV), que acarreta um processo inflamatório no fígado. Recentemente se correla-cionou a hepatite C com alterações metabólicas como resistência à insulina, esteato-se hepática e hiperuricemia, sendo que o objetivo deste estudo foi detectar altera-ções metabólicas em pacientes com HCV. Métodos: Estudo transversal, com coletade dados clínicos e laboratoriais. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: sorolo-gia positiva (grupo HCV) ou negativa para o HCV (grupo controle). Excluiu-se pa-cientes com distúrbios metabólicos prévios, co-infectados por hepatite B ou SIDA eusuários de fármacos associados a distúrbios metabólicos. Determinações laborato-riais: glicose, insulina, ácido úrico, fibrinogênio, lípides, etc, sendo a sensibilidade àinsulina determinada pelo índice HOMA. Análise estatística realizada com o progra-ma Graph Pad Prism 5.0, sendo considerado significante p < 0,05. Resultados:Analisou-se os dados clínicos e laboratoriais de 60 pacientes (40 do grupo HCV e 20do grupo controle). Sexo masculino em 60% casos e feminino em 40%. Faixa etáriapredominante de 40-50 anos (60%), independente do sexo. Observou-se maioresvalores de AST, ALT, fosfatase alcalina e gama glutamil transferase no grupo HCV
comparado ao grupo controle: AST (55 33 vs 32 12, p = 0,0039), ALT (63 33 vs29 15, p = 0,0001), fosfatase alcalina (116 69 vs 60 18, p = 0,0008) e gamaglutamil transferase (81 83 vs 34 15, p = 0,0152). A bilirrubinemia não foi dife-rente (p > 0,05) entre os grupos. Maior glicemia no grupo HCV comparado aocontrole (90 12 vs 78 10, p = 0,0003), sem diferença quanto na insulinemia(11 13 vs 6 2, p > 0,05), entretanto, com maior índice HOMA no grupo HCV secomparado ao grupo controle (2,7 3,7 vs 1,0 0,5, p = 0,0462) demonstrandopadrão de resistência à insulina no grupo HCV. Quanto aos lípides, observou-semaior concentração de colesterol total no grupo HCV (149 36 vs 120 14, p =0,0010), sem diferença (p > 0,05) quanto ao HDL (47 11 vs 50 9), LDL (76 27vs 69 18) e triglicerídeos (106 63 vs 101 25). Maiores valores de ácido úrico nogrupo HCV (6,4 8,1 vs 2,3 1,0, p = 0,0286), resultado também observado quan-to fibrinogênio (273 79 vs 230 54, p = 0,0327). Conclusões: Pacientes dogrupo HCV apresentaram provas de lesão hepática, além de alterações metabólicasquanto à glicemia, colesterol total, uricemia e resistência à insulina, caracterizando oachado de distúrbios metabólicos no grupo HCV.
PO-150 (225)
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C: ANÁLISEDE 843 CASOSNOGUEIRA MCC, FERREIRA DB, MARRA CEB, NARCISO-SCHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, EMORI
CT, MELO IC, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Os aspectos epidemiológicos da infecção pelo HCV no Brasil aindasão pouco conhecidos. Além disso, ainda existe controvérsia sobre a influência dasvias de contaminação na distribuição genotípica e na gravidade da hepatopatia peloHCV. Métodos: Estudo transversal de pacientes com anti-HCV (+) atendidos entre1992 e 2006. Os pacientes foram divididos em G1 – modo de contágio desconheci-do e G2 – transfusão de hemoderivados (THD) antes de 1992 e/ou uso de drogainjetável (UDI). Os grupos foram comparados quanto a variáveis clínico-epidemioló-gicas, virológicas e histológicas. Resultados: Foram incluídos 843 pacientes, 58%homens. A média da idade foi 43 ± 14 anos. Relato de THD foi observado em 291casos (35%), 71 (8%) referiam história de UDI e 14 (2%) referiam THD e UDI. Os467 pacientes restantes (54%) foram considerados casos esporádicos. Conforme avia de contaminação, as prevalências de genótipo 1 foram: esporádicos = 77%; THD= 73%; e UDI = 42% (P = 0,002). Comparando-se G1 vs. G2, os pacientes de G1mostraram maior proporção de homens (64% vs. 51%, P < 0,001) e maiores preva-lências de antecedentes de cirurgias de pequeno porte (54% vs. 26%, P < 0,001) ede cesáreas (20% vs. 12%, P = 0,021). Além disso, G1 mostrou menor média deidade (40 ± 13 vs. 46 ± 13 anos, P < 0,001). O G2 apresentou maiores freqüênciasde anti-HBc (+) (26% vs. 13%, P < 0,001), de uso de cocaína inalatória (12% vs. 7%,P = 0,020), de promiscuidade sexual (21% vs. 13%, P = 0,022) e de história decirurgia de grande porte (62% vs. 26%, P < 0,001). Não foram observadas diferen-ças entre G1 e G2 em relação à proporção de pacientes com estadiamento ≥ 2 (47%vs. 52%, P = 0,213) ou com APP ≥ 2 (75% vs. 78%, P = 0,339). Conclusões: Adistribuição dos genótipos do HCV foi influenciada pela via de contaminação; osnão-1 foram os mais comuns entre aqueles que adquiriram a infecção por UDI. Namaioria dos casos de hepatite C não foi possível definir a provável via de contamina-ção. Entretanto, a exposição prévia a procedimentos cruentos de menor porte podeestar envolvida em proporção significativa dos casos tidos como esporádicos.
PO-151 (227)
HEPATITE C EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRA-TAMENTO CONSERVADOR: AVALIAÇÃO DE 1041 PACIENTESLEMOS LB, PEREZ RM, LEMOS MM, DRAIBE SA, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A prevalência e os fatores associados à infecção crônica pelo vírus dahepatite C (HCV) em portadores de doença renal crônica (DRC) na fase pré-dialíticaprecisam ser melhor estabelecidos. Os objetivos desse estudo foram determinar aprevalência, fatores de risco, características clínicas, bioquímicas e virológicas dainfecção pelo HCV nos portadores DRC em tratamento conservador. Métodos: Anti-HCV foi determinado em grande coorte de portadores de DRC em tratamento con-servador. As características epidemiológicas e laboratoriais da infecção crônica peloHCV foram avaliadas. Os pacientes com infecção crônica pelo HCV foram pareadospor sexo, idade e estágio de DRC com um grupo controle formado de portadoresde DRC sem infecção viral (relação 1:3) e esses grupos foram comparados quantoaos fatores de risco e níveis séricos de ALT. Regressão Logística foi aplicada paraidentificar as variáveis que se associaram independentemente com a infecção crôni-ca pelo HCV. Resultados: Foram incluídos 1041 pacientes (61% do sexo masculi-no), com média de idade de 61 ± 15 anos e média do clearance de creatinina de 36± 18mL/min. Anti-HCV positivo foi detectado em 41 (3,9%) pacientes e, destes, 39/41 (95%) apresentavam HCV-RNA positivo. Na análise de regressão logística, histó-ria de hemotransfusão antes de 1992 (p < 0,001; OR = 19; IC = 5-66), uso de drogasintravenosas (p = 0,002; OR = 69, OR; IC = 5-1065) e níveis séricos elevados de ALT(p < 0,001; OR = 50; IC = 10-255) foram as variáveis que se associaram independen-temente à infecção crônica pelo HCV. A acurácia da ALT em detectar infecção pelo
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 51
HCV foi de 92%, o genótipo do HCV mais prevalente foi 1b (48,7%) e 56.5% dospacientes apresentavam altas cargas virais (> 800.000UI/mL). Conclusão: A infec-ção crônica pelo HCV entre portadores de DRC em tratamento conservador estárelacionada à exposição parenteral. Níveis séricos elevados de ALT podem pré-sele-cionar candidatos a rastreamento do HCV neste grupo, uma vez que a ALT se mos-trou um bom marcador da infecção pelo HCV.
PO-152 (230)
PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA COMO EFEITO ADVERSO AO USO DEINTERFERON PEGUILADO ALFA 2B NO TRATAMENTO DE HEPATOPA-TIA CRÔNICA POR VÍRUS C GENÓTIPO 1PORTO CD, MORAES GF, ESCOBAR FA, TEIXEIRA EFL, CAMPOS ESO, FRÓES RSB, COSTA CLA, BARROS FBSeção de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro
Introdução: A paralisia facial periférica ou paralisia facial de Bell consiste na disfun-ção neuronal que acomete o VII par craniano. Existem raros relatos de sua ocorrên-cia relacionada ao uso de interferon convencional (INFc) e peguilado alfa 2b (PEG2b),durante tratamento para hepatopatia crônica por vírus da hepatite C (VHC). Noentanto, não está estabelecida sua real ligação com estas drogas. Objetivo: Relatarum caso de paralisia facial periférica como efeito adverso ao uso do PEG2b durantetratamento de hepatopatia crônica pelo VHC, genótipo 1. Paciente e método:DFC, 50 anos, feminina, branca, iniciou tratamento em janeiro de 2006 com PEG2b1,5mg/kg/semana e ribavirina (RBV) 1000mg/dia,evoluindo com HCV-RNA inde-tectável pelo método de PCR na 12a semana. Na 45a semana, apresentou desvio dacomissura labial à direita, lagoftalmo, hiperacusia e hipoestesia em território II doramo do nervo trigêmio à esquerda, configurando quadro compatível com paralisiafacial periférica esquerda. Sorologias para CMV, Toxoplasmose, Herpes simples eEBV negativas e Tomografia de crânio normal. Iniciou-se prednisona e fisioterapiamotora, sendo interrompidos o PEG2b e a RBV, com melhora parcial da paralisia em20 dias. HCV RNA pelo PCR mantém-se indetectável desde a interrupção do trata-mento. Discussão: A paralisia facial periférica é de origem idiopática, provavelmenteligada a mecanismos auto-imunes, podendo ocorrer após infecção viral, principal-mente por Herpes simples. A incidência no mundo ocidental é de aproximadamente23-25 casos/100.000 hab./ano, sendo mais comum entre a 2a e 4a décadas de vidae menos freqüente a partir dos 60 anos. Existem 4 casos relatados de paralisia duran-te o uso de INFc alfa 2b e apenas 2 com PEG2b, para tratamento contra o VHC emportadores de hepatopatia crônica. O tempo de início do quadro neurológico va-riou entre a 2a semana e 8 meses após o início do tratamento. Nos pacientes queusavam INFc, 2 interromperam seu uso e utilizaram corticóide, 1 não interrompeu adroga e outro apenas a suspendeu. Todos obtiveram melhoras em tempos diferen-tes. Os pacientes que utilizavam o PEG2b não interromperam o uso, sendo que 1deles utilizou corticóide. Ambos melhoraram completamente. Conclusão: A parali-sia facial periférica nos pacientes portadores do VHC sugere um evento adverso aouso do INFc ou PEG2b. A melhor abordagem, se suspensão da droga ou sua manu-tenção, associando-se ou não a corticóide, ainda não está estabelecida.
PO-153 (231)
VALOR DA PESQUISA DO HCV-RNA NA OITAVA SEMANA COMO FA-TOR PREDITIVO DE RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA EM POR-TADORES DE HEPATITE C GENÓTIPO 1 TRATADOS COM INTERFERONPEGUILADO ααααα-2B E RIBAVIRINACOELHO HSM, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, STERN C, BRANDÃO-MELLO CE, NABUCO LC, SEGADAS-SOARES JÁServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: No tratamento da hepatite crônica C genótipo 1 com IFN peguilado eribavirina, a resposta virológica na quarta semana de tratamento (RVR) tem sido rela-cionada à resposta virológica sustentada (RVS), porém o valor do HCV-RNA indetectá-vel na 8a semana como fator preditivo de RVS não é conhecido. O objetivo desteestudo foi avaliar, em pacientes com hepatite crônica C, genótipo 1, tratados com IFNpeguilado α-2b (PEG-IFN α-2b) e ribavirina (RBV), o valor do HCV-RNA indetectávelna 8a semana como fator preditivo de RVS. Metodologia: Foram avaliados pacientescom hepatite C crônica genótipo 1, virgens de tratamento, tratados com PEG-IFN α-2b (1,5µg/kg/semana) e RBV, que realizaram determinação do HCV-RNA por PCRquantitativo na 4a semana e PCR qualitativo na 8a semana de tratamento. O tempo detratamento foi de 48 semanas, sendo suspenso antes nos casos que não apresentas-sem resposta virológica na 12a. semana (não-respondedores). Em todos foi avaliada aRVS e a relação entre a presença de RVR, resposta na 8ª semana e RVS. Resultados:Foram incluídos 94 pacientes, 50 (53%) do sexo feminino, idade média de 50 ± 12anos. Em 28 (30%) havia evidência clínica ou histológica de cirrose. A taxa de RVS foide 46%. A taxa de RVR foi de 29% e o HCV-RNA na 8a semana foi indetectável em 45pacientes (48%). A relação entre RVS e os resultados de HCV-RNA das semanas 4, 8 e12 foram: HCV-RNA 4a semana negativo RVS = 78% vs HCV-RNA 4a semana positivoRVS = 33% (p = 0,001); HCV-RNA 8a semana negativo RVS = 76% vs HCV-RNA 8a
semana positivo RVS = 18% (p = 0,001); HCV-RNA 12a semana negativo RVS = 75% vsHCV-RNA 12a semana positivo RVS = 3% (p = 0,001). Dentre 67 pacientes com HCV-RNA detectável na 4a semana, 20 (30%) apresentaram HCV-RNA indetectável na 8a
semana e, destes, 70% apresentaram RVS, enquanto entre os pacientes com HCV-RNAdetectável na 8a semana, apenas 17% obtiveram RVS (p < 0,001). Conclusão: O HCV-RNA na 8a semana apresenta valor preditivo de RVS semelhante ao da 4a semana,porém com maior valor preditivo negativo.
PO-154 (232)
FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTA VIROLÓGICA RÁPIDA NO TRATA-MENTO DA HEPATITE C CRÔNICA COM INTERFERON PEGUILADOALFA-2B ASSOCIADO À RIBAVIRINASEGADAS-SOARES JA, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, STERN C, BRANDÃO-MELLO CE, NABUCO LC, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A resposta virológica rápida (RVR), caracterizada pela negativaçãodo HCV-RNA na 4a semana de tratamento, tem sido descrita como um excelentefator preditivo de resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite C. Até omomento, porém, os fatores preditivos de RVR não estão plenamente estabelecidos.O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores preditivos de RVR em portadores dehepatite C tratados com PEG-IFN α-2b e ribavirina. Metodologia: Foram avaliadosportadores de hepatite C crônica submetidos a tratamento com PEG-IFN α-2b (1,5µg/kg/semana) e ribavirina (RBV) que realizaram HCV-RNA na 4a semana de tratamen-to. Para análise comparativa entre o grupo com e sem RVR as variáveis selecionadasforam status pré-tratamento (virgens, respondedores com recaída - RR e não res-pondedores - NR), idade, sexo, peso, IMC, gama-GT pré-tratamento, carga viralpré-tratamento, genótipo e diagnóstico histológico. Resultados: Entre os 302 pa-cientes incluídos, 165 (55%) eram do sexo feminino, com idade de 50 ± 11 anos;211 eram virgens (70%), 38 RR (13%) e 53 NR (17%). Cirrose foi diagnosticada em86 pacientes (29%) e genótipo 1 foi observado em 255 (84%). RVR foi observadaem 116 (38%). Não houve diferença entre os grupos com e sem RVR quanto àidade (p = 0,16), sexo (p = 0,12), peso (p = 0,13), IMC (p = 0,14), ou presença decirrose (p = 0,21). Observou-se maior taxa de RVR entre pacientes com genótiponão-1 em comparação àqueles com genótipo 1 (75% vs 32%; p < 0,001), e empacientes com GGT normal pré-tratamento em relação àqueles com GGT elevada(53% vs 22%; p < 0,001). No grupo com RVR, a carga viral pré-tratamento foisignificativamente mais baixa em comparação ao grupo sem RVR (491836UI/ml vs> 850000UI/ml; p < 0,001). O grupo de NR (13%) obteve menor taxa de RVR emcomparação aos RR (61%) e aos virgens de tratamento (41%) (p < 0,001). Conclu-são: Em portadores de hepatite crônica C, fatores pré-tratamento como carga viralbaixa, gama-GT normal e genótipo não-1 apontam para uma maior possibilidadede obtenção de RVR. Não respondedores a tratamento prévio têm menor chancede obter RVR.
PO-155 (233)
AVALIAÇÃO DO TABAGISMO COMO FATOR PREDITIVO DE RESPOSTAAO TRATAMENTO COM INTERFERON PEGUILADO ASSOCIADO À RI-BAVIRINA EM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICACOELHO HSM, STERN C, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, SEGADAS-SOARES JAServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Estudos recentes têm demonstrado que o tabagismo pode influenciara resposta ao tratamento com interferon peguilado e ribavirina na hepatite C crônica.Porém, a importância desta variável reduzindo a taxa de resposta virológica sustenta-da (RVS) ainda é controversa. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do taba-gismo como fator preditivo de resposta ao tratamento da hepatite crônica C cominterferon peguilado alfa-2b associado à ribavirina. Metodologia: Foram incluídos 79pacientes, virgens de tratamento, com hepatite C crônica e genótipo 1, que foramsubmetidos a tratamento com PEG-IFN α-2b (1,5µg/kg/semana) e ribavirina (RBV).Foi realizada análise comparativa entre os pacientes com e sem RVS quanto à presençaou ausência de tabagismo durante o tratamento (pacientes fumantes na vigência dotratamento vs. pacientes sem história de tabagismo ou que pararam o fumo antes doinicio do tratamento, respectivamente). Resultados: Os pacientes apresentavam mé-dia de idade de 50 ± 13 (19-73) anos, 40 (50,6%) eram do sexo feminino e 16(20,3%) possuíam história de tabagismo. A taxa global de RVS foi 49,4%. Entre ospacientes que apresentavam história de tabagismo durante o tratamento, a RVS foi50% e entre os pacientes não tabagistas foi de 49% (p = 0,96). Não houve associaçãoentre a RVS e presença de tabagismo. Conclusões: Em portadores de hepatite crônicaC tratados com interferon peguilado alfa-2b e ribavirina, o tabagismo durante o trata-mento parece não exercer influência na taxa de resposta virológica sustentada.
PO-156 (234)
PESO E IMC COMO FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTA AO TRATA-MENTO DA HEPATITE C COM INTERFERON PEGUILADO ALFA-2B ERIBAVIRINA: VERDADE OU MITO?STERN C, CHINDAMO MC, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, NABUCO LC, BRANDÃO-MELLO CE, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Diversos estudos demonstram que o peso e índice de massa corpó-rea (IMC) exercem impacto negativo sobre a taxa de resposta virológica sustentada
S 52 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
(RVS) em pacientes tratados com interferon convencional, porém a importânciadestas variáveis no tratamento com interferon peguilado ainda é controversa. Oobjetivo deste estudo foi avaliar a influência do peso e IMC como fatores preditivosde resposta ao tratamento da hepatite crônica C com interferon peguilado alfa-2bassociado à ribavina. Metodologia: Foram incluídos 219 pacientes, virgens de tra-tamento, com hepatite C crônica e genótipo 1, que foram submetidos a tratamentocom PEG-IFN α-2b (1,5µg/kg/semana) e ribavirina (RBV). Foram avaliadas as se-guintes variáveis: sexo, idade, peso e altura, e presença ou ausência de RVS. A variá-vel peso foi categorizada em 2 grupos: pacientes com peso < 75kg e pacientes compeso ≥ 75kg. Quanto à variável IMC, 3 grupos foram constituídos: IMC < 25, IMCentre 25-29 (sobrepeso) e IMC ≥ 30 (obesidade). Foi realizada análise comparativaentre os pacientes com e sem RVS quanto ao peso e IMC. Resultados: Os pacientesapresentavam média de idade de 50 ± 11 (19-75) anos e 124 (57%) eram do sexofeminino. A média de peso era 69 ± 12kg e a média de IMC era de 25 ± 3. Setentapacientes (32%) apresentavam peso ≥ 75kg, 48% tinham IMC entre 25-29 e 8%possuíam IMC ≥ 30. A taxa global de RVS foi 46%. Na análise comparativa entrepacientes com e sem RVS, não houve diferença quanto ao peso (p = 0,17) e IMC (p= 0,53). A taxa de RVS foi semelhante entre pacientes com peso < 75kg e ≥ 75kg(48% vs. 41%; p = 0,34). Da mesma forma, não se observou diferença na taxa deRVS entre os pacientes com IMC < 25, IMC de 25-29 e IMC ≥ 30 (49% vs. 45% vs.33%; p = 0,44). Conclusões: Peso e IMC não exercem influência na taxa de respos-ta virológica sustentada em portadores de hepatite crônica C tratados com interfe-ron peguilado alfa-2b e ribavirina.
PO-157 (235)
TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA C GENÓTIPOS 2 E 3: ESTUDOCOMPARATIVO ENTRE INTERFERON CONVENCIONAL E PEGUILADOSEGADAS-SOARES JA, TORRES ALM, COUTO BG, YOSHIMOTO AN, BRANDÃO-MELLO CE, VILLELA-NOGUEIRA
CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Atualmente o esquema recomendado pelo Ministério da Saúde paratratamento da hepatite crônica C genótipos 2 e 3 é o interferon convencional (IFNc)associado à Ribavirina (RBV). Ainda não está estabelecido se o uso do interferonpeguilado (PEG-IFN) associado à RBV promoveria uma maior taxa de resposta viro-lógica sustentada (RVS) nesse grupo de pacientes. O objetivo deste estudo foi com-parar a taxa de RVS entre portadores de infecção pelos genótipos 2 e 3 tratados comIFNc/RBV e PEG-IFN/RBV. Metodologia: Foram incluídos portadores de hepatite Cgenótipos 2 e 3, virgens de tratamento, tratados com IFNc (3 MU, 3X/semana) ouPEG-IFN (1,5µg/Kg/semana) associados à RBV (750 a 1250mg/dia). Foram excluí-dos os co-infectados por HBV e/ou HIV. Foi realizada análise comparativa da taxa deRVS entre os pacientes tratados com PEG-INF/RBV (G1), IFNc/RBV em clínica priva-da (G2) e IFNc/RBV na rede pública (G3). Resultados: Foram estudados 105 pa-cientes, 56% do sexo masculino, e média de idade de 47 ± 10 anos (12-74). Adistribuição de genótipos observada foi: genótipo 3 em 101 pacientes (96%) egenótipo 2 em 4 (4%). Em 34% havia evidência clínica ou histológica de cirrose.Trinta e seis pacientes (34%) foram tratados com PEG-IFN/RBV (G1) e 69 (66%)com IFNc/RBV, sendo destes, 46 em clínica privada (G2) e 23 na rede pública (G3).A taxa de RVS foi de 83% no G1, 65% no G2 e de 26% no G3 (p = 0,002). Excluin-do-se os casos de cirrose em cada grupo, observou-se, entre os pacientes com hepa-tite crônica, taxa de RVS de 88% no G1, 76% em G2 e 33% em G3 (p = 0,002; G1= G2, G1 > G3 e G2 > G3). Conclusão: A taxa de RVS é semelhante entre portadoresde hepatite crônica C genótipos 2 e 3 tratados com PEG-IFN/RBV e IFNc/RBV emclínica privada; entretanto, se mostrou superior à observada nos pacientes tratadoscom IFNc/RBV na rede pública.
PO-158 (238)
REATIVAÇÃO DE TUBERCULOSE PULMONAR EM PORTADORES DEHEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C TRATADOS COM IN-TERFERON PEGUILADOFERREIRA ASP, DOMINICI AJ, SILVA EA, LUCENA EA, CARVALHO CSF, DINIZ NETO J A, RAMOS VP, SOUZA MT,CAMPOS DC, BISIO APMNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA São Luis (MA)
Fundamentos: Há poucos relatos de reativação de tuberculose pulmonar (TB) empacientes portadores de Hepatite C (HCV) tratados com interferon (IFN). O objetivodesse estudo foi relatar dois casos de reativação de tuberculose pulmonar durantetratamento com IFN peguilado (PEG-IFN) para HCV. Resultados: Dois pacientes dosexo masculino, ambos cirróticos, HCV genótipo 1b, Child-Pugh A, submetidos atratamento com PEG-IFN associado à ribavirina, desenvolveram reativação de TB.(1) Primeiro caso: JMO, 63 anos, estava na 16a semana de tratamento quando apre-sentou tosse e hemoptise. Foi avaliado por pneumologista que evidenciou sinais dereativação de TB na radiografia (RX) e tomografia computadorizada (CT) de tórax,confirmada pela baciloscopia positiva. O tratamento da hepatite C foi interrompidoe iniciado tratamento para TB com boa resposta. (2) Segundo caso: JRV, 65 anos,estava na 44a semana de tratamento, com boa tolerância, quando apresentou tosseprodutiva, sem febre. Como o paciente anterior, havia evidência de reativação de TBno RX e no CT de tórax. Houve necessidade de internação devido à dificuldade
respiratória, resolvida com o tratamento específico para TB. O tratamento para he-patite C foi interrompido. O HCV-RNA estava negativo quando da interrupção dotratamento, aguarda informações sobre resposta virológica sustentada. Ambos ospacientes quando questionados informaram antecedentes de TB. Conclusão: Devi-do a grande freqüência de antecedentes de TB em nosso meio, seria recomendávelum interrogatório específico para estes pacientes antes de iniciar o tratamento comPEG-IFN, especialmente em cirróticos para determinar o real estado desta infecção efazer vigilância de possíveis reativações.
PO-159 (239)
DISFUNÇÃO TIROIDEANA EM PORTADORES DE INFECÇÃO CRÔNICAPELO VÍRUS DA HEPATITE C DURANTE O TRATAMENTO COM INTER-FERONTAVARES MG, DOMINICI AJ, CARVALHO CSF, DINIZ NETO JA, BISIO APMNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis-MA
Fundamentos: A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) tem sido asso-ciada à indução de fenômenos auto-imunes. O interferon utilizado no tratamentoda infecção pelo HCV pode, também, desencadear reações auto-imunes, inclusivedistúrbios tireoidianos. O objetivo desse estudo foi determinar a freqüência dosdistúrbios tireoidianos em pacientes com infecção crônica pelo HCV, antes e du-rante a terapia com interferon e identificar fatores associados ao seu surgimento.Métodos: Estudo de coorte retrospectivo com portadores crônicos do HCV, acom-panhados no Núcleo de Estudos do Fígado do HU-UFMA, submetidos a tratamen-to com ribavirina e interferon, entre janeiro de 2003 e janeiro de 2006. Resgata-ram-se os dados da pesquisa de auto-anticorpos tiroideaos, TSH e T4 livre realiza-dos antes e a cada três meses durante o tratamento. Resultados: De uma amostrade 74 pacientes estudados, nenhum apresentava anticorpo antimicrosssomal po-sitivo e oito (11%) apresentavam o anticorpo antiperoxidase (ATPO) positivo an-tes do tratamento. Destes últimos, dois apresentavam hipotireoidismo subclínico(TSH elevado com T4 livre normal). Nenhum fazia tratamento para doença daTireóide. Durante o tratamento, 11 (16%) dos 72 pacientes susceptíveis (TSH nor-mal pré-tratamento) apresentaram alterações nos níveis do TSH, quatro desenvol-veram hipertiroidismo e sete hipotiroidismo. A maioria das disfunções ocorreu emmulheres (10) e já no terceiro mês de tratamento (7). Entre os que apresentaramdisfunção durante o tratamento, apenas um paciente possuía ATPO positivo nopré-tratamento. Não ocorreu associação com idade, grau de doença hepática,genotipagem do HCV, carga viral, tipo de interferon (convencional ou peguilado)ou se estava em re-tratamento. Conclusão: Nesta população, a ocorrência dedisfunção tireoidiana durante o tratamento foi freqüente e a presença de anticor-pos antireoidianos no pré-tratamento não foi fator de risco para esta complicação,sugerindo que talvez não haja necessidade da solicitação destes auto-anticorposantes de iniciar o tratamento com interferon.
PO-160 (240)
CARACTERÍSTICAS DOS PORTADORES CRÔNICOS DO VÍRUS DA HE-PATITE B ATENDIDOS EM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIAARRAES SEGUNDA ZF, FERREIRA ASP, SILVEIRA MM, CARVALHO CSF, DINIZ NETO JA, PINTO JM, ANDRADE HP,RAMOS VP, DOMINICI AJNúcleo de Estudos do Fígado do HU-UFMA – São Luis (MA)
Fundamentos: A Infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) constitui um problema desaúde pública global, com uma taxa de portadores de aproximadamente 350 milhõesem todo o mundo. Portadores crônicos do HBV possuem risco aumentado de desen-volver cirrose, descompensação hepática e carcinoma hepatocelular. O objetivo desteestudo foi determinar o perfil epidemiológico dos portadores crônicos do HBV. Meto-dologia: Foi realizado estudo transversal através da revisão de prontuários dos pacien-tes com hepatite B crônica acompanhados no Núcleo de Estudos do Fígado (NEF) doHU-UFMA no período 2001 a 2007. Os parâmetros analisados foram: idade, sexo,procedência, modo provável de contágio, grupo de risco, história sexual, uso de ál-cool, tempo de atendimento ambulatorial, HBeAg, anti-HBe, carga viral, níveis séricosde alanina-aminotransferase (ALT), biópsia hepática, complicações (cirrose e hepato-carcinoma) e tipo de tratamento medicamentoso quando realizado. Resultados: Ava-liou-se 290 pacientes, sendo 186 (64,1%) do sexo masculino. A média de idade foi de41,85 anos. Na maioria dos casos, 206 (71%), não foi possível identificar o modoprovável de contágio. Dentre aqueles onde isto foi possível, a via parenteral foi obser-vada em 39 (13%), intra-familiar em 30 (10%), sexual em 10 (3,4%), ocupacional em4 (1,4%) e vertical em apenas um paciente (0,3%). O tempo médio de acompanha-mento ambulatorial foi de 3,16 anos. O HBeAg foi positivo em 61 (21%) pacientes.Entre os HBeAg negativos, 53 pacientes realizaram carga viral do HBV e 30 (57%)tinham carga viral maior que 10.000 cópias/ml. A maioria dos pacientes (73%) tinhaALT normal. Biópsia hepática foi realizada em 37 (13%) pacientes. Vinte e três pacien-tes (8%), incluindo aqueles confirmados com biópsia hepática já tinham cirrose ecinco (1,7%) hepatocarcinoma. Vinte e oito pacientes receberam tratamento medica-mentoso, 19 com lamivudina, 7 interferon, 2 adefovir. Conclusão: O perfil epidemio-lógico dos pacientes atendidos no NEF é um indivíduo do sexo masculino, adulto,procedente de São Luís, com contágio provável desconhecido, anti-HBe positivo, comníveis ALT e AST normais.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 53
PO-161 (245)
AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DA INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DAHEPATITE CSANTOS W, FERREIRA GER, TADDEO EF, MOUTINHO RS, ALTIERI LServiço de Gastroenterologia – Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo – São Paulo, SP
Fundamentos: A Hepatite C (HCV) é uma infecção prevalente em todo o mundo e,atualmente, é a principal causa de indicação de transplante hepático. A biópsiahepática é uma ferramenta importante na avaliação desta infecção, uma vez que amaioria dos pacientes é assintomática e as enzimas hepáticas nem sempre se corre-lacionam com lesão histológica. A presença de fibrose hepática tem sido relacionadaa maior morbimortalidade. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações hepáti-cas observadas à biópsia hepática em pacientes assintomáticos portadores de infec-ção crônica pelo HCV. Métodos: Foram avaliados pacientes assintomáticos encami-nhados ao ambulatório da gastroclínica no período de janeiro de 2003 à junho2007. O diagnóstico de HCV foi realizado com a pesquisa do anti-HCV (ELISA 3) eHCV-RNA por PCR qualitativo (limite de detecção: 50UI/ml). Foram excluídos: pa-cientes com co-infecção pelo HIV, co-infecção pelo HBV e com antecedente de etilis-mo. Os pacientes foram submetidos à biópsia hepática, independentemente donível de ALT. Foram analisados: sexo, idade, tempo de doença, ALT, AST, genótipo eavaliação histológica. Resultados: Foram estudados 45 pacientes, sendo 44% dosexo masculino. A média de idade foi de 55 ± 11 anos e o tempo médio de doençafoi de 24 anos. O nível de ALT esteve elevado em 98% dos casos e AST em 27%. Adistribuição do genótipo foi: 1 = 40%; 2 = 7% e 3 = 24%. A análise histológicademonstrou ausência de fibrose ou fibrose restrita ao espaço periportal em 40%;fibrose com emissão de septos em 36% e esboço de nódulos e cirrose em 24%. Apresença de necrose em saca-bocado foi observada em 56%. Conclusão: Em pa-cientes com HCV, a ausência de sintomas não exclui dano hepático. Portanto, aavaliação histológica fornece dados importantes para o melhor entendimento dahistória natural da hepatite C.
PO-162 (247)
PREVALÊNCIA DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE VHA E VHB EMAMOSTRA DE PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA CMAZO DFC, PESSÔA MG, OLIVEIRA CPMS, TANI CM, CAVALCANTE DBL, RABELO F, SANTOS ACS, VILLELA EL,MENDES LCA, CARRILHO FJDisciplina de Gastroenterologia Clínica da FMUSP, São Paulo
Fundamentos: A hepatite aguda A e B em pacientes com hepatite crônica C acarre-ta maior morbimortalidade. A avaliação do perfil sorológico nesses indivíduos émandatória, para que adequada profilaxia seja realizada. O objetivo deste estudo foiavaliar a presença de marcadores sorológicos de VHA e VHB em pacientes comhepatite crônica C. Métodos: Uma amostra de 166 pacientes com hepatite crônicaC do ambulatório de Gastroenterologia Clínica da FMUSP foi avaliada quanto àpresença de marcadores sorológicos de VHA (anti-VHA total) e VHB (AgHBs, anti-HBc total e anti-HBs). Pacientes com marcadores negativos acima de 24 meses quenão receberam vacinação tiveram novas sorologias solicitadas. Resultados: Dentreos 166 pacientes analisados, 29 (17,4%) tinham perfil compatível com imunidadenatural ao VHB (anti-HBc total e anti-HBs positivos), 15 (9%) apresentaram anti-HBctotal isolado positivo e 26 (15,6%) tinham imunidade adquirida (anti-HBs positivoisolado). Na nossa amostra observamos 2 (1,2%) pacientes com AgHBs e anti-HBctotal positivos. Em 55 (33,1%) dos 166 pacientes a sorologia para VHA não foiobtida e, dos 111 pacientes com esta informação, 101 (90,9%) tinham anti-VHAtotal positivo. Conclusões: A positividade de anti-HBc total nesta amostra, encon-trada em 46 pacientes (27,7%), está acima do observado na população geral nonosso país, retratando possivelmente algumas vias comuns de contágio dos vírus Be C. Com relação aos marcadores sorológicos do VHA, observou-se com freqüênciaelevada a sua positividade, fato também constatado na população geral do Brasil.Em pacientes com hepatite crônica C deve ser rotineira a avaliação do perfil soroló-gico de VHA e VHB, para que medidas de profilaxia sejam implementadas, evitando-se assim quadros graves de hepatite aguda A ou B.
PO-163 (254)
RESPOSTA AO INTERFERON PEGUILADO ASSOCIADO A RIBAVIRINAEM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICAPIERRE AM, PEREIRA KB, NÓBREGA ACM, UCHOA LV, FERNANDES SG, HYPPOLITO EB, PINHEIRO SR, ROCHA
MLX, LIMA JWO, LIMA JMCServiço de Gastro-hepatologia do HUWC da Universidade Federal do Ceará, e Hospital São José (SESA) Fortaleza –Ceará
Introdução: Hepatite C é uma patologia importante pela sua elevada incidência,cronificação e se não tratada complicar com cirrose e hepatocarcinoma. Estima-seem mais de 170 milhões o número de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C.Após introdução da terapia com interferon peguilado (IFN-Peg) e ribavirina, houvemelhora na resposta virológica sustentada (RVS). O genótipo 1 o tratamento temduração de 48 semanas e RVS de 50%, enquanto o genótipos 2 e 3 a duração é de24 semanas e RVS de 60 a 80%. Os fatores associados à resposta terapêutica in-cluem baixa carga viral, genótipo não-1, ausência de cirrose e idade menor que 40
anos. Objetivo: Avaliar a resposta ao tratamento da hepatite C crônica com o uso deIFN-Peg e ribavirina e determinar fatores independentes da RVS. Casuística e méto-dos: um total de 91 casos de hepatite C crônica, todos HIV negativos, tratados noperíodo de 2002 a 2006 com IFN-Peg e ribavirina foram incluídos. Os dados epide-miológicos, laboratoriais, genotipagem, carga viral, grau de fibrose na biópsia (ME-TAVIR) e resposta ao tratamento foram analisados. Na análise estatística das variáveisdicotômicas utilizou-se o teste do ÷ 2, e o teste t de Student para as variáveis contí-nuas, considerou p < 0,05 significante. Todos preencheram o consentimento porescrito. Resultados: Foram analisados 91 pacientes, 55 (60,4%) eram do sexo mas-culino. A RVS global foi 37,4% (34/91), em relação ao genótipo 1 foi de 34,5% (23/66) e genótipo não-1 de 44% (11/25). A média de idade dos respondedores foi44,4 ± 8,3 anos e dos não respondedores 50,2 ± 7,6 anos. A RVS dos pacientes comcarga viral > 800.000UI/ml foi 23,5% e naqueles com carga viral < 800.000UI/ml foi36,3%. Óbito por sepse e descompensação da cirrose ocorreu em um caso. Pacien-tes com F0-F2 apresentaram RVS de 61,1% (22/36), enquanto aqueles com F3-F4 aRVS foi de 21,8% (12/55) (p = 0,00015). Não houve diferença significativa de RVSentre genótipo, idade, sexo e carga viral. Conclusão: O grau de fibrose foi o fatorpreditor independente da RVS a terapia com IFN-Peg e ribavirina, estando a nossaresposta global abaixo da descrita na literatura.
PO-164 (260)
ESTUDO MULTICÊNTRICO E RANDOMIZADO AVALIANDO A EFICÁCIAE TOLERABILIDADE DA COMBINAÇÃO PEG-IFN ALFA-2A E RIBAVIRI-NA POR 48 OU 72 SEMANAS DE TRATAMENTO EM PACIENTES COMHEPATITE C CO-INFECTADOS COM HIV: UMA ANÁLISE INTERINA DESEGURANÇACHEINQUER H, MENDONÇA J, CHAVES M, VALIM R, RANGEL F, TURCATO G, GONZALES M, CASEIRO M, COELHO
H, TATSCH F, BARONE AFFFCMPA (Porto Alegre, RS)1, H. Servidores do Estado São Paulo (São Paulo, SP)2, H. Nereu Ramos (Florianópolis,SC)3, UNIVALE (I
Fundamentos: sabe-se que o interferon peguilado (PEG-IFN) e a ribavirina (RBV)utilizados para tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) apre-sentam eventos adversos (EA) decorrentes de efeitos tóxicos das drogas utilizadas.Os EAs podem causar interrupção do tratamento ou diminuição das respectivasdoses, dificultando a obtenção de resposta virológica sustentada (RVS). O objetivodeste estudo foi avaliar o perfil de EAs em uma população de pacientes co-infectadosincluídos em estudo multicêntrico nacional para tratamento com PEG-IFN alfa -2a eRBV. Metodologia: 180 pacientes portadores de hepatite crônica C foram randomi-zados 1:1 para 48 ou 72 semanas de tratamento com PEG-IFN α-2a e RBV. Sinais,sintomas e testes laboratoriais constituíram as avaliações de segurança. Resultados:na análise interina de 157 pacientes, febre foi o EA mais comum (10,8%), seguidopor mialgia (8,9%), cefaléia (7,6%), anorexia (5,1%) e mal-estar (4,5%). Dez pa-cientes apresentaram EAs sérios, assim distribuídos: pneumonia (n = 2), ansiedade(n = 1), infecção respiratória (n = 1), depressão (n = 1), neutropenia (n = 1), diarréia(n = 2), anemia (n = 1) e derrame pericárdico (n = 1). A evolução foi favorável apósajuste de dose dos medicamentos ou suspensão dos mesmos. Até o momento nãohouve qualquer caso de acidose láctica por toxicidade mitocondrial ou morte pordescompensação hepática. Conclusões: esta análise interina de segurança é impor-tante pois o estudo conta com braço de 72 semanas no qual os pacientes serãoexpostos a maior quantidade total de medicamento em comparação com os indiví-duos tratados por 48 semanas. Assim, o fato de não haver eventos adversos novosou mais freqüentes que o habitual contribui para a condução do estudo em sua fasefinal.
PO-165 (261)
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE 318 PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICAMENDES AF, OLIVEIRA RA, ASSAD-BRAZ T, SILVA-JÚNIOR EF, GONÇALVES PR, CARVALHO AC, MELO CB, GALVÃO
MC, GALVÃO-ALVES JSanta Casa da Misericódia do Rio de Janeiro, 18ª Enfermaria, Serviço do Prof. José Galvão Alves
Fundamentos: A Hepatite C é um dos principais problemas de saúde mundial,acometendo cerca de 3% da população, correspondendo a 60% das hepatopatiascrônicas. Apresenta alto potencial evolutivo para fibrose hepática, cirrose e hepa-tocarcinoma, culminando na principal indicação de transplante hepático. Objeti-vamos reconhecer o perfil epidemiológico, as características clínicas e as possíveisalterações em exames complementares dos portadores de hepatite por vírus C,atendidos no ambulatório de hepatologia da 18ª Enfermaria da Santa Casa daMisericórdia do Rio de Janeiro. Métodos: Foram analisados prontuários de 539hepatopatas atendidos entre março de 2000 e julho de 2007, sendo 372 positivospara vírus C; 318 preencheram critérios para inclusão no trabalho por protocolopadronizado. Resultados: Predominou sexo masculino (53,14%) e faixa etáriaentre 51 e 60 anos (36,18%). Em 129 pacientes (40,25%) o diagnóstico foi esta-belecido após doação de sangue, sendo a principal fonte de infecção determinadaa hemotransfusão (45,23%), seguida de drogas endovenosas (5,53%) e sexual(1,84%). Ao diagnóstico, 35,50% era assintomático e astenia foi a principal quei-xa referida (17,84%), sendo hipertensão porta (10,79%), dor abdominal (6,38%),insuficiência hepática (3,74%) outras manifestações prevalentes. Elevação persis-
S 54 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
tente das aminotransferases ocorreu em 176 pacientes (55,35%). Detecção doRNA do vírus C (PCR), realizada em 151 pacientes, foi positiva em 95,41%. Em 43pacientes a carga viral esteve maior que 850.000 cópias (50,58%). Dos 74 pacien-tes submetidos à biópsia para fins de decisão terapêutica, 45,20% apresentaramalterações inflamatórias moderadas (A2) e 32,06% com fibrose avançada (F3), deacordo com a classificação Metavir. Genotipagem foi realizada em 117 pacientes,com predomínio do tipo 1 (68,38%). Foram submetidos ao tratamento farmaco-lógico 60 pacientes, dos quais 53,34% usaram Interferon Peguilado e Ribavirina.Os efeitos adversos mais encontrados foram astenia (16,84%), febre (14,73%),mialgia (12,63%) e distúrbios hematológicos (anemia – 9% ; leucopenia – 10,52%; trombocitopenia 6,31%). Cirrose e hepatocarcinoma ocorreram em 21,40% e0,31%, respectivamente. Conclusão: Os dados obtidos foram compatíveis com aliteratura mundial, sendo de extrema importância para instituir diagnóstico preco-ce e a realização da terapêutica adequada.
PO-166 (269)
TRATAMENTO DA HEPATITE C COM INTERFERON PEGUILADO ALFA-2B ASSOCIADO À RIBAVIRINA - RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTA-DA (RVS) EM PACIENTES TRATADOS FORA DE PROTOCOLOS DE PES-QUISACOELHO HSM, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, STERN C, NABUCO LC, BRANDÃO-MELLO CE, SEGADAS-SOARES JÁServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Os resultados dos tratamentos de hepatite C crônica com interferonpeguilado (PEG-IFN) associado à ribavirina (RBV) têm se baseado quase exclusiva-mente em dados de estudos multicêntricos, em que existe uma triagem rigorosa dospacientes incluídos. É importante conhecer, na prática clínica, a taxa de RVS obtidaem nossa população com o PEG-IFN e RBV em portadores de hepatite C não-incluí-dos em protocolos de pesquisa. Os objetivos deste estudo foram avaliar a taxa deRVS em uma coorte de pacientes brasileiros com hepatite C tratados com PEG-IFNα-2b associado à RBV, e relacionar a taxa de RVS com genótipo e status pré-trata-mento. Metodologia: Foram incluídos portadores de hepatite C crônica tratadoscom PEG-IFN α-2b (1,5µg/Kg/semana) e ribavirina (RBV). Foram excluídos os co-infectados por HBV e/ou HIV. O tempo de tratamento foi de 48 semanas para genó-tipo 1 e 24 semanas para genótipo não -1. Foi realizada análise comparativa da RVSsegundo genótipo HCV, status pré-tratamento (virgens, respondendores com reca-ída-RR, não-respondedores-NR) e a presença ou não de cirrose. Resultados: Foramavaliados 370 pacientes (46% homens, idade 50 ± 11 anos), dos quais 28% eramcirróticos e 85% apresentavam infecção por genótipo 1. Quanto ao status pré-tratamento, 273 (74%) eram virgens, 42 (11%) RR e 55 (15%) NR. A taxa de RVSglobal foi de 48%, sendo observada RVS em 53% dos virgens, 60% em RR e 15%em NR (p < 0,001). Na análise estratificada, observou-se RVS em 43% dos pacientescom genótipo 1 e em 67% daqueles com genótipo não-1 (p = 0,001). Entre ospacientes com hepatite crônica, a taxa de RVS foi de 56% e entre pacientes comcirrose foi de 20% (p < 0,001). Em 29 pacientes previamente NR com cirrose, a taxade RVS foi de apenas 7%, sem diferença entre os genótipos 1 e não-1 (p = 0,68).Conclusão: Nesta coorte de pacientes brasileiros tratados fora de protocolos depesquisa observou-se resposta semelhante à descrita pela literatura para os genóti-pos 1 e não-1. A indicação de retratamento com PEG-IFN e RBV para não-responde-dores deve ser analisada criteriosamente, uma vez que a chance de se obter RVS ébaixa neste grupo, sobretudo em pacientes com cirrose.
PO-167 (270)
EXISTE DIFERENÇA ENTRE A INFECÇÃO PELOS GENÓTIPOS 1A E 1BDO VÍRUS DA HEPATITE C?MORAES EC, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, STERN C, BRANDÃO-MELLO CE, NABUCO LC, SEGADAS-SOA-RES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: O genótipo 1 do vírus da hepatite C (HCV) é o mais freqüente emnosso meio e, na prática clínica, os subtipos 1a e 1b têm abordagem terapêuticasemelhante. Recentemente, foi descrita diferença entre os subtipos quanto à respos-ta virológica rápida (Hepatology 2006; 43:954), porém o impacto desta diferençasobre a resposta virológica sustentada (RVS) ainda não está estabelecido. O objetivodeste estudo foi comparar a taxa de RVS entre portadores de infecção pelos subtipos1a e 1b do HCV. Metodologia: Foram incluídos portadores de hepatite C crônicagenótipo 1 tratados com PEG-IFN α-2b (1,5µg/Kg/semana) e ribavirina (RBV). Fo-ram excluídos os co-infectados por HBV e/ou HIV. O tempo de tratamento foi de 48semanas, sendo suspenso antes nos casos que não apresentassem resposta virológi-ca na 12a. sem (não-respondedores). Foi realizada análise comparativa entre ossubtipos quanto às características clínicas e a taxa de RVS. Resultados: Foram estu-dados 298 pacientes, 54% do sexo feminino, e média de idade de 50 ± 11 anos (16-75). Quanto ao status pré-tratamento, 219 (74%) eram virgens, 30 (10%) respon-dedores com recaída-RR e 49 (16%) não-respondedores-NR. Em 27% havia evidên-cia clínica ou histológica de cirrose. A distribuição de subtipos observada foi: subtipo1a em 64 (22%) pacientes e subtipo 1b em 234 (78%). Na análise comparativaentre os subtipos, não houve diferença quanto ao sexo (p = 0,47), idade (p = 0,64),
IMC (p = 0,41), níveis de ALT (p = 0,96), GGT (p = 0,93) e carga viral (p = 0,97).Portadores de infecção pelo subtipo 1b apresentaram maior prevalência de cirrose(30% vs. 15%; p = 0,018). Não se observou diferença entre os subtipos quanto àtaxa de resposta virológica na 4ª. semana (p = 0,36), na 12ª. semana (p = 0,37) e nataxa de RVS (1a: 45% vs. 1b: 43%; p = 0,76). Também não houve diferença na taxade RVS entre os subtipos na análise específica dos casos de hepatite crônica (p =0,67) e de cirrose (p = 0,99). Conclusão: Nesta amostra, não houve diferença nataxa de resposta ao tratamento com interferon peguilado e ribavirina entre os subti-pos 1a e 1b do HCV.
PO-168 (271)
RESPOSTA VIROLÓGICA AO FINAL DO TRATAMENTO COM INTERFE-RON PEGUILADO (PEG-IFN) E RIBAVIRINA (RBV) - ESTUDO COMPA-RATIVO ENTRE PACIENTES COM RESPOSTA SUSTENTADA E RECAÍDAMORAES EC, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, STERN C, BRANDÃO-MELLO CE, NABUCO LC, SEGADAS-SOA-RES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Em pacientes com hepatite C, é comum a recaída após o término dotratamento, porém os fatores relacionados à ocorrência de recaída ou RVS após otérmino do tratamento ainda não foram plenamente estabelecidos. Este estudo tevecomo objetivo identificar, entre pacientes que obtiveram resposta virológica ao finaldo tratamento, os fatores associados à recaída da infecção. Metodologia: Foramincluídos portadores de hepatite C crônica tratados com PEG-IFN α-2b (1,5µg/Kg/semana) e RBV que apresentaram HCV-RNA indetectável ao final do tratamento(resposta virológica final - RVF). Os pacientes com RVS foram comparados com osque apresentaram resposta com recaída (RR) quanto às características demográfi-cas, clínicas e laboratoriais. Foi aplicada análise de regressão logística para identifica-ção dos fatores independentemente associados à recaída. Resultados: A partir deuma amostra inicial de 370 pacientes, foram selecionados para inclusão neste estu-do 251 (68%) que apresentaram RVF. Destes, 177 (70%) evoluíram com RVS e 74(30%) com recaída. Na análise comparativa entre os grupos, não houve diferençaquanto ao sexo (p = 0,08), idade (p = 0,23), IMC (p = 0,78), níveis de ALT pré-tratamento (p = 0,54) e ao final do tratamento (p = 0,30) e genótipo (p = 0,16). Ospacientes com RR apresentaram, quando comparados ao grupo com RVS, uma ten-dência a maior carga viral (761.656 vs. 548.858; p = 0,056), níveis mais elevados deGGT pré-tratamento (62 vs. 36; p = 0,001) e ao término do tratamento (32 vs. 26;p = 0,005), menor freqüência de HCV-RNA indetectável na 4ª. semana (38% vs.64%; p = 0,001) e na 12ª. semana (72% vs. 96%; p < 0,001), e maior prevalência decirrose (36% vs. 13%; p < 0,001). Na análise de regressão logística, HCV-RNA detec-tável na 12ª. semana (OR = 8,1; IC = 3,1-21,2; p < 0,001) e cirrose (OR = 4,4; IC =2,1-9,0; p < 0,001) permaneceram como variáveis independentemente associadas àrecaída. Conclusão: A recaída após o término do tratamento é uma ocorrênciafreqüente. Pacientes com cirrose hepática e aqueles que não obtém negativação doHCV-RNA na 12ª. semana têm maior risco de apresentar recaída após o término dotratamento.
PO-169 (273)
SOROPREVALÊNCIA DA HEPATITE VIRAL C EM UMA COMUNIDADEURBANA DE MACEIÓ-ALCOSTA FGB, LEITE FN, PINHEIRO LM, FILHO MAB, ANDRADE TF, LIRA JD, COSTA AB, SAMPAIO MBT, LACET
CMC, WISZORMISKA RMFAUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Maceió-AL
Fundamentos: A hepatite viral C constitui importante problema de saúde públicae corresponde a principal causa de indicação para transplante de fígado, afetandomais de 170 milhões de indivíduos e com perspectiva, em 2010, de mortalidadede 40.000 pacientes por doença hepática crônica relacionada ao VHC. Cerca de20% dos portadores crônicos podem evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelu-lar. Os estudos epidemiológicos no Brasil são escassos e, em geral, ocuparam-sede grupos populacionais específicos. A soroprevalência na população brasileira évariável de 0,7% a 2,1% (inquérito nacional em bancos de sangue). Em estudo debase populacional realizado em São Paulo, obtiveram-se índices entre 1% a 4%.Nosso objetivo foi identificar a prevalência do VHC em comunidade urbana, visan-do diagnóstico precoce e encaminhamento ao centro de referência para as hepa-tites virais. Método: Estudo prospectivo, transversal, em uma comunidade urbanade Maceió, com amostra de 388 sujeitos definidos através de sorteio entre indiví-duos cadastrados em PSF. Critérios de inclusão: maiores de 18 anos, residentes hámais de 2 anos na comunidade. Exclusão: gestantes, nutrizes, índios e deficientesmentais. Os fatores de risco (cirurgias prévias, promiscuidade, transfusão sanguí-nea, profissionais de saúde, doença hepática crônica, DST, tatuagens, piercings,tratamento dentário) foram avaliados através de protocolo preestabelecido. A de-terminação sorológica do Anti-HCV foi realizada no HEMOAL (Hemocentro deAlagoas) e foram utilizados kits ABOTT, Elisa 3a geração. Resultados: Nos 388indivíduos incluídos, houve predomínio do gênero feminino 290/388 (74,74%),com 98 masculinos (25,26%). A idade variou de 18 a 76 anos, com média de 40anos (± 13,8 DP). Fatores de risco estiveram presentes em todos os indivíduosinfectados 6/6 (100%), enquanto nos suscetíveis o percentual foi de 86,91% (332/
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 55
382). Foram detectados 6 casos positivos para anti-HCV (1,54%). Conclusão: Asoroprevalência do VHC na população estudada foi de 1,54%, semelhante aosdados na literatura. Os fatores de risco foram observados em 87,11% dos indiví-duos, índice que justifica a monitorização da comunidade, através de campanhasde esclarecimento.
PO-170 (288)
FATORES ASSOCIADOS À ANEMIA DURANTE O TRATAMENTO DA HE-PATITE C CRÔNICA COM INTERFERON PEGUILADO (PEG-IFN) E RIBA-VIRINA (RBV)SCHIAVON LL, CARVALHO FILHO RJ, NARCISO-SCHIAVON JL, SAMPAIO JP, EL BATAH PN, BARBOSA DV, FERRAZ
MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Anemia é complicação freqüente durante a terapia da hepatite Ccrônica e está associada a prejuízo significativo da qualidade de vida. Além disso,comumente requer redução da dose ou descontinuação da RBV, o que pode com-prometer a resposta à terapia antiviral. O objetivo deste estudo foi identificar osfatores pré-tratamento preditores de anemia durante a terapia combinada. Méto-dos: Estudo transversal que incluiu pacientes com genótipo 1, tratados com Peg-IFN α-2a (180mcg/sem) ou 2b (1,5mcg/kg/sem) e RBV 1 a 1,25g/dia. Análises unie multivariada identificaram as variáveis associadas à ocorrência de anemia signifi-cativa (Hb < 10g/dL). Resultados: Foram incluídos 181 pacientes, 54% homens.A média da idade foi 46,3 ± 11,0 anos. Fibrose significativa (E ≥ 3) foi identificadaem 56 casos (32%). Quanto ao tipo de Peg-IFN, 35% receberam α-2a e 65%receberam α-2b. A dose média de RBV foi de 14,4 ± 2,9mg/kg/dia. A média daqueda da Hb foi de 4,0 ± 1,4g/dL e 53 (29%) pacientes desenvolveram anemiasignificativa. À análise univariada, foram associados à anemia: > idade (P < 0,001),gênero feminino (P < 0,001), < peso (P = 0,001), E ≥ 3 (P = 0,005), > dose de RBV(P = 0,001), < ALT (P = 0,003), < albumina (P = 0,007), < Hb basal (P < 0,001), <leucócitos (P = 0,014), < plaquetas (P = 0,007) e < Clearance de Creatinina (ClCr)(P < 0,001). A análise multivariada identificou Hb basal (OR 0,429, P = 0,001,IC95% 0,266-0,693) e o ClCr (OR 0,964, P = 0,047, IC95% 0,930-0,999) comofatores independentemente associados à anemia. Níveis basais de Hb > 13,5g/dLpara mulheres e > 14,3g/dL para homens e de ClCr ≥ 86mL/min foram capazes deafastar a ocorrência de anemia com sensibilidade de 59%, especificidade de 90%,VPP de 94% e VPN de 48%. As presenças de Hb ≤ 13,5g/dL em mulheres e ≤14,3g/dL em homens e ClCr < 86mL/min foram preditores de anemia com sensi-bilidade de 36%, especificidade de 94%, VPP de 70% e VPN de 78%. Conclu-sões: Nível basal de Hb e o ClCr estimado são preditores simples e acurados doaparecimento de anemia significativa durante o tratamento de pacientes com he-patite C crônica com Peg-IFN e RBV.
PO-171 (289)
IMPACTO HISTOLÓGICO DO ESQUEMA IMUNOSSUPRESSOR EMTRANSPLANTADOS RENAIS COM INFECÇÃO CRÔNICA PELO HCVSCHIAVON LL, CARVALHO FILHO RJ, NARCISO-SCHIAVON JL, BARBOSA DV, LANZONI VP, SILVA AEB, FERRAZ
MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: Transplantados renais (TxR) possuem prevalência elevada de infec-ção pelo HCV. A evolução e o manejo terapêutico desta população são controversos.Estudos in vitro e in vivo sugerem que a ciclosporina possua efeito inibitório sobre areplicação do HCV. Objetivos: Avaliar o impacto do esquema imunossupressor nosachados histológicos de TxR com infecção crônica pelo HCV. Métodos: Estudo trans-versal que incluiu TxR com HCV-RNA (+) e biópsia hepática avaliada conforme crité-rios da SBP/SBH. Análises uni e multivariada foram usadas para identificar os fatoresassociados à presença de fibrose significativa (E > = 2) e atividade periportal signifi-cativa (APP > = 2). Resultados: Foram incluídos 102 pacientes, 60% homens. Amédia de idade foi 44,1 ± 9,4 anos. A duração da infecção pelo HCV foi de 12 ± 5anos e o tempo médio de transplante foi de 7 ± 5 anos. Os imunossupressoresutilizados foram: prednisona 93%, azatioprina 61%, ciclosporina 66%, MMF 19%,tacrolimus 8% e sirolimus 2%. Fibrose significativa foi identificada em 20 pacientes(20%) e APP significativa em 41 (40%). Análise de regressão logística identificou otempo de transplante (OR 1,197, IC95% 1,071-1,339, P = 0,002) e a presença dediabetes mellitus (OR 4,770, IC95% 1,260-18,054, P = 0,021) como variáveis inde-pendentemente associadas à fibrose significativa. Não foi observada associação en-tre o esquema imunossupressor e o grau de fibrose. Quanto à APP, após controlepara outras variáveis de interesse, como idade, idade à infecção, tipo de doador(vivo ou cadáver) e transplante prévio, o tempo de transplante (OR 1,146, IC 95%1,032-1,272, P = 0,011) e o uso de ciclosporina (OR 0,298, IC95% 0,112-0,797, P= 0,016) permaneceram como fatores independentemente associados à APP signifi-cativa. Conclusões: Em TxR com infecção crônica pelo HCV, os imunossupressoresusados não pareceram ter influência sobre o grau de fibrose hepática. Por outrolado, a utilização da ciclosporina no esquema imunossupressor pareceu exercer efei-to benéfico sobre a atividade necroinflamatória periportal. Ação antiinflamatóriadireta ou inibição da replicação viral seriam os possíveis mecanismos para explicartal efeito.
PO-172 (291)
PREVALÊNCIA DE HEPATITE C ENTRE JOGADORES DE FUTEBOL AMA-DOR DE PERNAMBUCOAZEVEDO TC, NUNES FILHO AC, CABRAL MA, FILGUEIRA NAServiço de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da UFPE
Objetivo: Avaliar a prevalência de Hepatite C entre jogadores de futebol amador,do período entre 1960 e 1979, no Estado de Pernambuco e relacionar a presençade infecção com o uso de complexos vitamínicos injetáveis (CVI). Fundamentos:Estudos anteriores mostraram que o uso de CVI em atividades esportivas, princi-palmente no futebol, é um fator de risco para transmissão do vírus da Hepatite C(HCV). Um estudo realizado em 2003 no Mato Grosso do Sul, apresentou preva-lência de 7,5% de Anti-HCV positivo entre jogadores profissionais. Entre amado-res, existe um relato de três casos de infecção pelo HCV, relacionados ao usodesses compostos em Salvador-BA. Métodos: Estudo transversal, com 45 atletasdo sexo masculino, de um clube de futebol amador de Pernambuco, nascidosentre 1935 e 1955, que jogaram no período de 1960 a 1979. Os indivíduos, apósassinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam a umquestionário e foram submetidos a um teste rápido para Hepatite C (HCV RapidTest Bioeasy®). Os casos positivos foram confirmados através de ensaio imunoenzi-mático Anti-HCV de terceira geração. Resultados: Dos 45 participantes, 2 (4,3%)eram Anti-HCV positivo e ambos relatavam o uso de CVI. Vinte, dos 45 entrevista-dos (44%), relatavam uso de CVI, enquanto oito não sabiam informar. A prevalên-cia de hepatite C encontrada foi maior que normalmente encontrada entre doa-dores de sangue no país (0,9-1,5%). Conclusão: Os dados sugerem que o uso decomplexos vitamínicos injetáveis, hábito comum nas décadas de 60 a 80, geral-mente com seringas reutilizáveis, torna os jogadores amadores da época, bemcomo os profissionais, um grupo de risco potencial para infecção pelo HCV. Osvalores encontrados podem subestimar a prevalência de HCV entre jogadoresamadores, já que entrevistamos apenas os que continuam praticando o esportecom regularidade.
PO-173 (298)
HEPATITE AUTO-IMUNE DESENCADEADA POR INFECÇÃO POR CITO-MEGALOVÍRUS COM MIGRAÇÃO PARA CIRROSE BILIAR PRIMÁRIAROCHA JMA, LAURITO MP, RODRIGUES IW, NETO GR, FLORES GG, LEMOS LVB, BRITO JDR, SILVA ISS, LANZONI
V, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites – Universidade Federal de São Paulo, SP
A hepatite auto-imune (HAI) ocorre predominantemente em mulheres jovens. Aetiologia é desconhecida, no entanto, alguns vírus são descritos como fatores desen-cadeantes, entre eles vírus da hepatite A, Epstein Barr e Citomegalovírus (CMV). Naevolução da doença, alguns pacientes com HAI podem apresentar evolução atípica,com migração para Cirrose Biliar Primária (CBP). Relato do caso: Mulher de 47anos, admitida para investigação de icterícia há cerca de 6 meses. Negava febre,transfusões sanguíneas, uso de drogas ilícitas ou contato com ictéricos. Ao examefísico apresentava-se em bom estado geral, ictérica (2+/4+), corada, sem estigmasde hepatopatia crônica ou sinais de encefalopatia. Exame abdominal sem viscero-megalias. Exames laboratoriais revelavam AST 950UI/L, ALT 735UI/L, BT 3,2mg/dL,BD 2,7mg/dL, GGT 200U/L. Nesta ocasião a sorologia para CMV foi positiva comtítulos de IgM = 2707 e IgG > 250. Sorologias para hepatite B e C negativas. Apósseis meses de evolução as aminotransferases continuaram elevadas, o FAN foi positi-vo (1/2560), antiML (1/640), antiLKM e AMA negativos. Houve perda de funçãohepática (albumina = 2,9mg/dL e AP = 38%). Com essa evolução suspeitou-se dodiagnóstico de HAI, introduzindo-se prednisona e azatioprina. Cerca de 1 ano apóso início do tratamento, foi submetida à biópsia hepática percutânea que mostrou E3/4, APP3, IIP3, AP1, com rosetas peri-septais. Nova biópsia hepática realizada 3anos após a primeira, revelou colangite granulomatosa, destrutiva, não supurativa.Conclusão: Esse caso cursou com dois eventos raros na evolução de HAI: a infecçãoaguda por CMV como “gatilho” da HAI e sua migração para CBP AMA negativo,após alguns anos de evolução.
PO-174 (299)
HEPATOCARCINOMA PRIMÁRIO EM JOVEM COM SOROLOGIAS NE-GATIVAS PARA HEPATITES VIRAIS E FÍGADO NÃO-CIRRÓTICO: RELA-TO DE CASOFLORES GG, FREIRE DRQ, BRITO JDR, ROCHA JMA, REIS JS, NETO GR, LAURITO MP, SILVA ISS, SILVA AEB,FERRAZ MLSetor de Hepatites – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: O hepatocarcinoma é a quinta neoplasia mais comum em todomundo. O seu surgimento depende de vários fatores sendo o mais comum a lesãocrônica do fígado, dentre estas, as causadas pelos vírus da hepatite B e C. É rara aincidência em indivíduos abaixo de 50 anos e sem nenhuma doença hepática pré-via. Relato de caso: AE, 34 anos, sexo masculino, previamente hígido, com quadrode dor em hipocôndrio direito, aumento de volume abdominal e perda ponderal háseis meses. Apresentava sorologias para hepatites virais negativas, alfafetoproteína,provas de função hepática e transaminases dentro dos valores da normalidade. To-
S 56 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
mografia de abdome mostrou lesão expansiva infiltrativa medindo 12,5 x 6,5cm emlobo hepático esquerdo. Biópsia hepática percutânea inicial foi sugestiva de doençade Gaucher, diagnóstico reforçado pela dosagem elevada de beta-glicosidase. Novabiópsia hepática definiu diagnóstico de hepatocarcinoma, confirmado posterior-mente após realização de hepatectomia esquerda. Conclusão: Embora sejam poucofreqüentes, têm sido relatados casos de hepatocarcinoma em indivíduos jovens semoutros fatores associados, demonstrando que este diagnóstico deve ser consideradonestas circunstâncias.
PO-175 (300)
INFLUÊNCIA DOS FATORES VIRAIS E DO HOSPEDEIRO, COM ÊNFASENOS ANTÍGENOS LEUCOCITÁRIOS HUMANOS (HLA), NA HISTÓRIANATURAL DA HEPATITE C CRÔNICACANGUSSU LO¹, TEIXEIRA R¹, GERBASE DE-LIMA M², CAMPOS EF², RAMPIM GF², FABIANO RC¹, SILVA LE¹,MINGOTI SA¹, SOUZA FC¹, MARTINS FO OA³Ambulatório de Hepatites Virais/Instituto Alfa de Gastroenterologia/Hospital das clínicas/UFMG¹, Instituto deImunogenética da
Introdução: Fatores do hospedeiro e do vírus C (HCV) influenciam na história natu-ral da doença. Este estudo investigou a influência desses fatores na evolução dafibrose hepática na hepatite C crônica, com ênfase nos alelos HLA. Pacientes eMétodos: 99 portadores de hepatite C crônica foram incluídos: 49 (48.5%) mascu-linos, média de idade 51,5 (± 12) anos, tempo de infecção 22,2 (± 9,3) anos. Asbiópsias hepáticas foram categorizadas em F0-2 e F3-4 (Metavir). 49/99 (49,5%)eram cirróticos. 103 indivíduos sadios foram controles. Tipagem HLA foi determina-da por PCR-SSP. Resultados: As freqüências fenotípicas (Ff) do DRB1*11 foram 11/99 (11,1%) em pacientes e 22/103 (21,4%) em controles (p = 0,037, OR = 0,46). AsFf foram semelhantes em pacientes com (n = 6/49, 12,2%) e sem (n = 5/50, 10,0%)cirrose. Menor Ff do DRB1*04 foi notada em cirróticos e tempo de infecção ≤ 22anos (F3-4 = 11,1%; F0-2 = 45,0%; p = 0,0326; OR = 6,22). Maior Ff do alelo HLA-DQB1*0501 foi observada em pacientes do que em controles (34,4% x 20,4%, p =0,04, OR = 2,04). Ff dos alelos HLA-DQB1*0501 e HLA-DQB1*0602 foram inversa-mente proporcionais ao estádio de fibrose, independente do tempo de infecção (p= 0,0001 e p = 0,008, respectivamente). Os fatores preditivos de evolução da fibroseforam: idade (p = 0,001, OR = 0,92), interação idade e tempo de infecção (p =0,045, OR = 1,47), grau de inflamação (p = 0,000, OR = 0,11), genótipo 1 (p =0,004 OR = 0,19) e ALT 2x o LSN (p = 0,047, OR = 0,30). Conclusões: Idade,duração da infecção, ALT alta, atividade inflamatória e genótipo 1 são fatores deevolução acelerada da fibrose hepática na hepatite C crônica. A maior Ff doDQB1*0501 pode indicar maior suscetibilidade à infecção, enquanto a menor Ff doDRB1*11 sugere a sua participação no clareamento viral, confirmando estudos pré-vios. Maior Ff de DRB1*04, DQB1*0501 e DQB1*0602 em pacientes com menosfibrose pode significar proteção contra a sua evolução. Estes resultados reforçam ainfluência de fatores do hospedeiro, incluindo alelos HLA, na história natural dahepatite C.
PO-176 (302)
PAPEL DA CONCENTRAÇÃO DE FERRO HEPÁTICO NA RESPOSTA AOTRATAMENTO DE PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICAPEREIRA PSF, SILVA ISS, EMORI CT, MELO IC, WAHLE RC, UEHARA SNO, PEREZ RM, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Considera-se que a sobrecarga de ferro hepático elevada seja umfator desfavorável ao tratamento antiviral da hepatite C crônica. Este estudo tevecomo objetivo avaliar a influência da concentração de ferro hepático (CFH) naresposta ao tratamento com interferon (convencional ou peguilado) e ribavirina(RBV) em pacientes com hepatite C crônica. Métodos: Foram estudados pacien-tes anti-HCV e HCV-RNA positivos, tratados com IFN convencional ou peguilado +RBV no período de 2000 a 2006, que apresentavam quantificação de ferro hepá-tico disponível no pré-tratamento. A análise da CFH hepático foi feita por espec-trofotometria de absorção atômica em fragmentos de tecido hepático e foi ex-pressa em µMol/g de tecido seco. Concentrações acima de 30µMol/g de tecidoseco indicam sobrecarga de ferro hepático. Os pacientes foram comparados emrelação à mediana da CFH, de acordo com a resposta virológica sustentada (RVS)definida como HCV-RNA negativo 6 meses após o término do tratamento. O tem-po de tratamento foi de 6 meses a 1 ano, dependendo do genótipo. Para análisecomparativa foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Resultados: Foram estudados42 pacientes (57% homens) com média de idade de 46 ± 10 anos. A CFH (média)foi 12,7 ± 17µMol/g de tecido seco. Apenas 2 (4,7%) pacientes apresentaramCFH superior a 30µMol/g. O tratamento foi realizado com IFN convencional +RBV ou Peg-IFN + RBV em 35 e 7 pacientes, respectivamente. Resposta virológicasustentada foi obtida em 38% dos pacientes (16/42). Não houve diferença entre amediana da CFH com relação à RVS (NR = CFH 10,16µMol/g X RVS CFH 17,01µMol/g; P = 0,7). Conclusões. A sobrecarga de ferro hepático, avaliada por meio dadeterminação da concentração tecidual de ferro é um evento pouco freqüente emportadores de infecção crônica. Os níveis teciduais de CFH não se associam a piorresposta ao tratamento.
PO-177 (303)
A CO-INFECÇÃO PELO VÍRUS B TEM IMPACTO NA RESPOSTA AO TRA-TAMENTO DA HEPATITE C EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HE-MODIÁLISE?WAHLE RC, EMORI CT, UEHARA S, MELO IC, PEREIRA PSF, ROCHA CM, PEREZ RM, SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Não se dispõe, até o momento, de informação sobre o impacto daco-infecção pelo vírus B na resposta ao tratamento da hepatite C em pacientes he-modialisados. O objetivo deste estudo foi comparar a taxa de resposta virológicasustentada (RVS) ao tratamento entre pacientes com co-infecção HBV/HCV e porta-dores de infecção isolada pelo HCV. Métodos: Foram estudados portadores de he-patite C em hemodiálise, tratados com IFN no período de 1999 a 2005. O tratamen-to foi indicado para pacientes com HCV-RNA positivo e biópsia com atividade peri-portal e/ou estadiamento ≥ 2, independente do nível de ALT. O esquema adotadofoi IFN-α 3 MU, 3x/semana em monoterapia, por 12 meses. Pacientes co-infectadosHBV/HCV foram comparados aos monoinfectados pelo HCV, quanto a característi-cas clínicas e taxa de RVS. Resultados: Foram tratados 109 pacientes, 61% homens,com idade de 45 ± 10 anos. O tempo de diálise foi de 7 ± 4 anos. A ALT pré-tratamento foi elevada em 57% dos pacientes. Fibrose septal foi observada em 49%dos pacientes. A co-infecção HBV/HCV foi observada em 14 (13%) pacientes. Aanálise comparativa entre co-infectados HBV/HCV e monoinfectados HCV mostrouque não houve diferença entre os grupos quanto ao sexo (P = 0,39), presença defibrose septal (P = 0,49) e atividade necroinflamatória moderada a intensa (P = 0,53).Por outro lado, co-infectados eram mais jovens (39 ± 9 vs 46 ± 10 anos; P = 0,009),tinham maior tempo de diálise (12 vs 6 anos; P = 0,016) e tendência a maior fre-qüência de ALT elevada (79% vs 53%; P = 0,075). A análise por intenção de trata-mento mostrou RVS de 50% entre co-infectados e 18% em monoinfectados (P =0,013). Conclusão: Pacientes renais crônicos co-infectados pelo vírus B apresentammaior taxa de resposta ao tratamento da hepatite C. É possível que fatores relaciona-dos à interferência viral ou à resposta imunológica do hospedeiro sejam determi-nantes da melhor resposta observada entre os pacientes co-infectados.
PO-178 (304)
TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA EM RENAIS CRÔNICOS EMHEMODIÁLISE: FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTAUEHARA S, MELO IC, EMORI CT, WAHLE RC, PEREIRA PSF, ROCHA CM, PEREZ RM, SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: O tratamento de hemodialisados com hepatite C continua a repre-sentar um desafio, sobretudo pela baixa tolerância ao interferon (IFN). Assim, aidentificação de fatores preditivos de resposta é de grande utilidade, permitindoselecionar adequadamente a população a ser tratada. O objetivo deste estudo foiavaliar fatores preditivos de resposta ao tratamento em pacientes hemodialisadoscom hepatite crônica C. Métodos: Foram avaliados portadores de hepatite C emhemodiálise, tratados com IFN no período de 1999 a 2005. O tratamento foi indica-do para pacientes com HCV-RNA positivo e biópsia com atividade periportal e/ouestadiamento ≥ 2, independente do nível de ALT. O esquema adotado foi IFN-α 3MU, 3x/semana, por 12 meses. Pacientes com resposta virológica sustentada (RVS)foram comparados àqueles sem RVS, quanto a variáveis epidemiológicas, laborato-riais e histológicas. Resultados: Foram tratados 96 pacientes, 63% homens, comidade de 46 ± 10 anos (24-64). O tempo estimado de infecção foi de 10 ± 7anos.Fibrose septal foi observada em 48% dos pacientes. A análise por intenção de trata-mento mostrou RVS de 20%. Entre os que completaram o tratamento, a RVS foi de33%. Quando pacientes com RVS foram comparados aos que não responderam,não houve diferença quanto à idade (P = 0,22), sexo (P = 0,67), ALT pré-tratamento(P = 0,22), tempo de infecção (P = 0,80). Pacientes com fibrose septal tiveram ten-dência a apresentar menor taxa de RVS, quando comparados a pacientes sem fibro-se septal (12% vs 26%; P = 0,09). Entre os pacientes que realizaram HCV-RNA no 6º.mês de tratamento (64/96), RVS foi observada em 41% daqueles com HCV-RNAnegativo e em 3% daqueles com HCV-RNA positivo (P < 0,001). E entre os querealizaram HCV-RNA no 3º. mês (24/96), a RVS foi observada em 67% daquelescom HCV-RNA negativo e em 17% daqueles com HCV-RNA positivo (P = 0,04).Conclusão: Não foram identificados fatores preditivos relacionados ao hospedeiroque pudessem predizer resposta virológica sustentada ao tratamento da hepatite Cem hemodialisados. Os fatores preditivos favoráveis durante a terapia foram a nega-tivação do HCV-RNA no 3º e 6º mês de tratamento.
PO-179 (305)
TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA COM INTERFERON EM TRANS-PLANTADOS RENAISPEREIRA PSF, EMORI CT, FELDNER ACA, MELO IC, WAHLE RC, UEHARA SNO, PEREZ RM, SILVA ISS, SILVA AEB,FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos. A terapia com interferon (IFN) para hepatite C em pacientes pós-transplante renal é relacionada a efeitos adversos, sobretudo à rejeição do enxerto.Portanto, esse tratamento não é habitualmente recomendado para esta população.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 57
Avaliou-se o uso de IFN convencional ou peguilado (PEG-IFN) associado à ribavirina(RBV) em pacientes transplantados renais. Métodos. Foram incluídos pacientes trans-plantados renais com hepatite C crônica que foram tratados com IFN ou PEG-IFNassociado à RBV, entre 2005 e 2006. Critérios de indicação de tratamento: grausavançados de fibrose e/ou de atividade necroinflamatória. Foram empregadas doseshabituais de IFN ou PEG-IFN e a dose de RBV foi ajustada ao clearance de creatinina.Resultados. Foram tratados 8 pacientes (75% homens) com média de idade de 43± 7 anos. O tempo médio de transplante foi de 8 ± 5 anos (2 a 19 anos). Genótipo1 foi observado em 5/5 pacientes. IFN convencional foi utilizado em 6 pacientes ePEG-IFN em 2. O tempo de uso foi de 8 meses (mediana). As médias dos testeslaboratoriais pré e pós tratamento foram: ALT: 1,9 ± 1,7 vs 1,1 ± 0,6 x LSN (P =0,09); AST: 2,1 ± 2,1 vs 1,1 ± 0,6 x LSN (P = 0,04); Hemoglobina: 12,5 ± 1,3 vs 10,1± 3,4g/dL (P = 0,23). A média da creatinina (Cr) pré-tratamento foi de 1,8mg/dL.Cinco pacientes já apresentavam alteração da Cr pré-tratamento (1,6 a 3,3mg/dL).Ao final do tratamento observou-se piora da Cr em 4/8 pacientes, porém nenhumpaciente apresentou rejeição do enxerto. Terapia com eritropoetina foi feita em 5pacientes e em 2 foi necessária transfusão sanguínea. Apesar destas medidas, o tra-tamento foi interrompido em 5 pacientes por anemia. Entre os 3 pacientes queconcluíram 12 meses de tratamento, RVS foi observada em 2, representando taxa deRVS global de 25%. Conclusões. O tratamento de transplantados renais com hepa-tite crônica C teve baixa tolerância e a anemia foi a principal causa de suspensão dotratamento. Por outro lado, não se observou perda do enxerto renal em nenhumdos pacientes tratados. A resposta virológica sustentada, observada nos pacientesque concluíram o tratamento, sugere que o IFN pode representar uma opção parapacientes transplantados renais com doença hepática avançada.
PO-180 (311)
TRANSPLANTE RENAL ANTERIOR EXERCE INFLUÊNCIA SOBRE A EVO-LUÇÃO DA DOENÇA HEPÁTICA EM PORTADORES DE INSUFICIÊNCIARENAL CRÔNICA COM HEPATITE C?BECKER VR, BADIANI R, PEREZ RM, LEMOS LB, OLIVEIRA EMG, LANZONI VP, SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Apesar dos progressos observados no manejo clínico de transplan-tados renais, a perda do enxerto é uma ocorrência freqüente. Como o transplanterenal tem se tornado um procedimento cada vez mais difundido, tem sido comumo achado de portadores de IRC em hemodiálise com transplante renal anterior. Ainfluência deste evento sobre a evolução da hepatite C não é bem conhecida. Oobjetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e o impacto do transplante renal ante-rior sobre a progressão da hepatite C nesse grupo. Métodos: Foram incluídos por-tadores de IRC com infecção crônica pelo HCV (HCV-RNA positivo), submetidos àbiópsia hepática no período de 1999 a 2006. Foram excluídos etilistas (> 40g/diaem homens e > 20g/dia em mulheres) e portadores de co-infecção pelo HIV. Pacien-tes com e sem história de transplante anterior (TxR) foram comparados quanto àscaracterísticas demográficas, laboratoriais e histológicas. Resultados: Foram estuda-dos 216 pacientes, 63% homens, com média de idade de 44 ± 11 anos e tempoestimado de infecção de 9 ± 6 anos. Destes, 55 (26%) tinham história de TxR prévio,sendo 71% de doador cadáver, com tempo médio de transplante de 63 ± 54 meses.Na análise comparativa, não se observou diferença entre os pacientes com e semTxR prévio quanto ao sexo (P = 0,84), idade > 40 anos (P = 0,12), presença de co-infecção pelo HBV (P = 0,38), níveis de ALT (P = 0,90), AST (P = 0,23) e GGT (P =0,16). Da mesma forma, não houve diferença entre os grupos com relação à presen-ça de fibrose septal (P = 0,57), hepatite de interface (P = 0,84) e atividade parenqui-matosa mais intensa (P = 0,58). A única diferença observada foi no tempo de infec-ção pelo HCV, que foi maior entre os pacientes com TxR anterior (13 vs. 6 anos; P <0,001). Conclusão: Apesar de ser ocorrência comum, o transplante renal anteriorparece não exercer influência sobre a evolução da doença hepática em portadoresde IRC com infecção crônica pelo HCV.
PO-181 (312)
IMPACTO DA ESTEATOSE EM PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENALCRÔNICA COM INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS CBECKER VR, BADIANI R, PEREZ RM, LEMOS LB, OLIVEIRA EMG, LANZONI VP, SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Esteatose hepática é freqüentemente observada na infecção peloHCV (50 a 70% dos casos), e sua relação com gravidade da doença hepática écontroversa. Em portadores de IRC, existem poucos dados sobre este achado. Oobjetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e impacto da esteatose hepática emportadores de IRC com infecção pelo HCV. Métodos: Foram incluídos portadoresde IRC com hepatite C, submetidos à biópsia hepática no período de 2001 a 2005.Foram excluídos etilistas e portadores de co-infecção pelo HBV ou HIV. Esteatose foidefinida pela presença de micro ou macrogotículas de gordura em > 5% das célulashepáticas. Pacientes com e sem esteatose foram comparados quanto às característi-cas demográficas, laboratoriais e histológicas. Resultados: Foram incluídos 85 pa-cientes, 64% homens, com idade de 44 ± 11 anos e tempo de infecção de 8 ± 5anos. Esteatose foi observada em 13 (15%) pacientes: grau 1 em 10 (12%), grau 3em 2 (2%) e grau 4 em 1 (1%). Os pacientes com esteatose apresentavam maior
proporção de sexo feminino (61% vs. 32%; p = 0,04) e idade mais avançada (50 ±9 vs. 43 ± 11 anos; p = 0,04), não havendo diferença quanto ao tempo de infecção(p = 0,22) e história de transplante anterior (p = 0,45). Níveis mais elevados de ALT(1,3 vs.1,0 xLSN; p = 0,06), AST (1,2 vs.0,7 x LSN; p = 0,013) e GGT (3,7 vs.1,8 xLSN; p = 0,006) foram observados no grupo com esteatose, assim como maiorfreqüência de fibrose septal (46% vs. 13%; p = 0,009), hepatite de interface (85%vs. 42%; p = 0,004) e atividade parenquimatosa mais intensa (92% vs. 44%; p =0,001). Ao se relacionar a presença de esteatose à lesão histológica indicativa detratamento, observou-se sensibilidade de 26%, porém com especificidade de 95% evalor preditivo positivo (VPP) de 85%. Conclusões: A esteatose é pouco freqüenteentre portadores de IRC com hepatite C e, quando presente, se associa a níveis maiselevados de enzimas hepáticas e maior gravidade histológica. A elevada especificida-de e o alto VPP deste achado para detecção de casos com indicação de tratamentosugere que a presença de esteatose pode ser um elemento útil na decisão de trata-mento quando não for possível a realização de biópsia hepática.
PO-182 (321)
LESÃO DE DUCTO BILIAR NA INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DAHEPATITE C: PREVALÊNCIA E SIGNIFICADO CLÍNICOBADIANI R, BECKER VR, PEREZ RM, LEMOS LB, OLIVEIRA EMG, PEREIRA PSF, LANZONI VP, SILVA ISS, SILVA AEB,FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A lesão de ductos biliares (LDB) é observada com freqüência variávelna hepatite crônica C e é considerada marcador etiológico da doença. Entretanto,seu significado clínico é pouco conhecido. Os objetivos deste estudo foram: avaliara prevalência do achado de lesão de ductos da hepatite crônica C e relacionar esteachado a variáveis epidemiológicas, laboratoriais e histológicas. Métodos: Foramestudados 169 pacientes com anti-HCV e HCV-RNA+ submetidos à biópsia hepática,nos quais foi realizada revisão histológica para caracterização da LDB, definida poralterações degenerativas do epitélio dos ductos biliares e/ou permeação dos mes-mos por linfócitos. Pacientes com (G1) e sem (G2) LDB foram comparados quantoa características epidemiológicas, laboratoriais e histológicas. Resultados: A LDB foiobservada em 38 pacientes (23%) e se associou com as seguintes variáveis: idade(G1 = 51 ± 12 vs. 46 ± 11 anos; P = 0,028); ALT (G1 = 3,9 x LSN vs. G2 = 2,5 x LSN;P = 0,011); atividade necroinflamatória peri-portal intensa (G1 = 68% vs. G2 = 49%;P = 0,033) e agregados linfóides (G1 = 76% vs. G2 = 47%; P = 00,001). Não houveassociação do achado de LDB com gênero, tempo ou modo de infecção, consumode álcool, presença de anticorpos anti-mitocôndria, genótipo e carga viral do HCV,colestase bioquímica e histológica, esteatose e estadiamento. Conclusões: A lesãode ducto biliar foi um achado relativamente freqüente em pacientes com infecçãocrônica pelo HCV. Este achado não representa, do ponto de vista clínico, a grausmais avançados de fibrose ou associação com forma colestática de apresentação.Por outro lado, a associação com a presença de níveis mais elevados de ALT, ativida-de necroinflamatória intensa e presença de agregados linfóides sugere que a lesãode ducto seja um fenômeno imunomediado.
PO-183 (322)
MARCADORES INDIRETOS DE ESTEATOSE HEPÁTICA EM PORTADO-RES DE INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE CSALATI T, MORET TM, CARVALHO-FILHO RJ, PEREIRA PSF, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A esteatose hepática (EH) está presente em aproximadamente 50%dos pacientes infectados pelo vírus C (HCV). Na ausência de infecção crônica viral, aavaliação de alguns parâmetros clínicos e laboratoriais mostrou-se útil para a identi-ficação de indivíduos com EH, permitindo a composição de um índice (fatty liverindex – FLI) de avaliação indireta da presença de EH à biópsia hepática (Bedogni etal, BMC Gastroenterol. 2006; 6:33) Nesse estudo procurou-se identificar fatorespreditivos de EH em portadores de infecção pelo HCV e avaliar o desempenho do FLInestes pacientes. Métodos: Foram incluídos prospectivamente 38 portadores deinfecção pelo HCV (anti-HCV e HCV-RNA positivos), submetidos à biópsia hepática.As seguintes variáveis foram analisadas: gênero, idade, consumo de álcool, índice demassa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA) e níveis séricos de ALT, AST,GGT, triglicérides (TG), glicose e colesterol total e frações. Os valores de GGT, IMC,CA e TG foram utilizados para o cálculo do FLI, conforme descrito na literatura. Paraanálise estatística, foram formados 2 grupos: G1 – pacientes com EH à biópsia hepá-tica e G2 – pacientes sem EH, empregando-se os testes t de Student, Mann-Whitney,Qui-quadrado ou Exato de Fisher. Resultados: Foram incluídos 38 pacientes, (50%homens), com média de idade de 46+14 anos. Cinco indivíduos (13%) eram porta-dores de diabetes mellitus, 9 pacientes (24%) eram obesos (IMC > 30kg/m2) e 10(26%) possuíam história de uso abusivo de etanol. A EH foi identificada à biópsiahepática em 50% dos pacientes. Os grupos G1 e G2 não diferiram com relação aogênero, idade, IMC, CA ou ingestão abusiva de etanol. Da mesma forma, não houvediferença segundo os níveis de ALT, AST, GGT, TG, colesterol total, HDL, LDL e VLDL.As médias do FLI foram semelhantes em G1 e G2 (53,8 + 27,0 vs. 51,6 + 24,9; P =0,802). Entretanto, o G1 mostrou maior mediana de glicemia de jejum: 100,5 vs.85,7mg/dL (P = 0,002). Entre pacientes com glicemia > 90mg/dL, 74% apresenta-
S 58 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
ram EH à biópsia, enquanto que a prevalência de EH nos indivíduos com glicemia <90mg/dL foi de apenas 24% (P = 0,003). Assim, glicemia de jejum > 90mg/dL foicapaz de predizer o achado de EH com acurácia de 75%, sensibilidade de 78%,especificidade de 72%, valor preditivo positivo de 74% e valor preditivo negativo de77%. Conclusões: O FLI não foi capaz de predizer a presença de EH em portadoresde HCV. Entretanto, nestes pacientes, níveis de glicemia de jejum superiores a 90mg/dL podem predizer, de forma acurada, o achado de EH à biópsia hepática.
PO-184 (324)
ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES CO-INFECTADOS HIV/HCVLANZARA G, BAGGIO G, BARBOSA A, ALVES V, PEREIRA PSF, FERRAZ ML, GRANATO CFHLaboratório de Virologia – Disciplina de Infectologia e Setor de Hepatites – Disciplina de Gastroenterologia, Univer-sidade Feder
Fundamentos: A infecção pelo HCV parece estar relacionada com maior ocorrênciade lipodistrofia e resistência à insulina em portadores do HIV. Porém, a associação daco-infecção com outras alterações metabólicas ainda não está clara. O objetivo dopresente estudo foi estimar o impacto da infecção pelo HCV, entre pacientes infecta-dos pelo HIV, quanto ao perfil metabólico. Métodos: Estudo transversal e prospec-tivo, com inclusão aleatória de pacientes HIV positivos e co-infectados HIV/HCV, noperíodo de abril a dezembro de 2006. Foram avaliados os seguintes parâmetros:LDL-colesterol, triglicérides, glicemia de jejum e índice de massa corpórea (IMC).Resultados: No período de estudo foram incluídos 100 pacientes, 56 infectadospelo HIV e 44 co-infectados HIV/HCV, que não diferiam significativamente quanto àidade (p = 0,84) e uso de anti-retrovirais (p = 0,57). Houve predomínio de homensentre os co-infectados HIV/HCV (p = 0,008). A presença de infecção pelo HCV ten-deu a se associar com níveis menores de LDL-colesterol (P = 0,056), mas não exer-ceu impacto sobre os níveis de triglicérides (p = 0,38), glicemia de jejum (p = 0,67)e IMC (p = 0,07). Conclusões: A hepatite C crônica em pacientes infectados peloHIV parece se relacionar com taxas menores de LDL-colesterol, sugerindo haver umaparente efeito protetor da infecção pelo HCV sobre o desenvolvimento de dislipi-demia.
PO-185 (326)
FATORES RELACIONADOS À RESISTÊNCIA INSULÍNICA NA HEPATITECRÔNICA PELO VÍRUS CEL BACHA I, OLIVEIRA AC, MACHADO JR, MARTINS AHB, LEITE-MÓR MMB, LANZONI VP, CARVALHO L, PARISE ERDisciplina de Gastroenterologia da UNIFESP. Setor Doenças Hepáticas
Fundamentos: A resistência insulínica (RI) tem sido reconhecida como importantecomplicação da hepatite C crônica (HCC), estando associada ao desenvolvimentode diabetes mellitus, progressão da doença e redução da resposta ao tratamentoantiviral. Entretanto, os fatores de risco associados ao aparecimento dessa RI nãoestão bem estabelecidos. Objetivo: avaliar a presença de RI medida pelo métodoHOMA-IR correlacionando-a com aspectos clínicos, histológicos e virológicos daHCC. Métodos: Pacientes consecutivos, HCV-RNA positivos, foram submetidos àbiópsia hepática, excluídos pacientes HBsAg e anti-HIV positivos e com ingestãoetanol > 20g/dia. Foram determinados os valores séricos de AST, ALT e GGT, glicose(método cinético automatizado) e contagem automatizada de plaquetas. A ferritinasérica foi dosada por quimioluminescência, a insulina por imunofluorimetria. A RI foideterminada pelo modelo homeostático HOMA-IR. A genotipagem do vírus foi feitapor seqüenciamento e a carga viral por PCR quantitativo Amplicor Roche . As alte-rações semiquantitativas do grau de desarranjo estrutural, atividade necroinflamató-ria, esteatose e siderose na biópsia hepática, foram classificadas segundo os critériosda SBH/SBP. Na análise estatística foram utilizados os testes do χ2 e de regressãobinária logística. Resultados: 130 pacientes foram incluídos, com média de idadede 47,8+14,2 anos, sendo 60% do gênero masculino, 65% portadores do genótipo1 e 26% com cirrose à histologia. Em análise univariada estiveram relacionada aHOMA-IR > 2,5 os parâmetros idade, gênero, IMC, ALT, GGT, genótipo e carga viral,estadiamento, APP, siderose e esteatose hepáticas. Desses parâmetros, foram identi-ficados como independentemente associados a HOMA-IR > 2,5 [OR (IC 95%)], aidade 1,076 (1,016-1,240), o IMC 1,115 (1,054-1,179), genótipo 1 0,275 (0,092-0,0820) e a esteatose à biópsia 3,542 (1,240-10,120) e APP 3,057 (1,014-9,212)Conclusão: Além de fatores gerais habitualmente associados a RI, (como IMC eidade) na hepatite C crônica, a RI está também associada a características própriasda doença como atividade inflamatória, estetose e genótipo viral. Trabalho parcial-mente desenvolvido com auxílio financeiro da FAPESP (02/05260-6)
PO-186 (327)
FERRITINEMIA EM PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICAEL BACHA I, OLIVEIRA AC, LEITE-MÓR MMB, LANZONI VP, SOUSA E, PARISE ERDisciplina de Gastroenterologia da UNIFESP
Fundamentos: Níveis elevados de ferritina são freqüentemente encontrados emportadores de hepatite C crônica. Apesar de inicialmente ter sido atribuída à sidero-se hepática, recentemente, o diabetes mellitus e a síndrome metabólica têm sidoconsiderados a principal causa de elevação dos níveis séricos de ferritina. Objetivo:em pacientes com hepatite C crônica (HCC), avaliar a correlação dos níveis séricosde ferritina com parâmetros demográficos, histológicos, enzimas hepáticas e dosa-
gens bioquímicas relacionadas à síndrome de resistência insulínica. Casuística e Mé-todos Pacientes consecutivos, HCV-RNA positivos, submetidos à biópsia hepática,HBsAg e anti-HIV negativos e com ingestão etanol < 20g/dia. Foram dosadas AST,ALT e GGT, glicose, por método cinético automatizado e contagem automatizadade plaquetas. As dosagens de insulina foram feitas por imunofluorimetria e a ferritinasérica por quimioluminescência. A resistência insulínica (RI) foi determinada pelomodelo homeostático HOMA-IR. A genotipagem do vírus foi feita por seqüencia-mento e a medida da carga viral por PCR quantitativo Amplicor Roche . A biópsiahepática foi analisada quanto às alterações semiquantitativas do grau de desarranjoestrutural, atividade necroinflamatória, esteatose e siderose hepática, segundo oscritérios propostos pelas SBH/SBP. Na análise estatística foram utilizados os testes doχ2 e regressão binária logística. Resultados: 201 pacientes foram avaliados retros-pectivamente, com média de idade de 49,9+12,7 anos, sendo 61,7% do gêneromasculino. Desses, 68,7% eram portadores do genótipo 1 e 24,4% apresentavamcirrose à histologia. Os parâmetros avaliados foram idade, gênero, peso corporal,AST, ALT, GGT, HOMA-IR, genótipo e carga viral, diabetes e intolerância à glicose,estadiamento APP, siderose e esteatose hepáticas. Os fatores identificados como in-dependentemente associados aos níveis séricos de ferritina foram: [OR (IC95%)]peso corporal 1,035 (1,007-1,064), GGT 1,262 (1,015-1,570), presença de estea-tose à biópsia 1,747 (1,109-2,752), siderose hepática 3,055 (1,397-6,179) e intole-rância à glicose 2,383 (1,055-5,381). Conclusão: Esses dados indicam que tanto oacúmulo de ferro no tecido quanto alterações no metabolismo glicídico estão asso-ciados à hiperferritinemia na HCC. Trabalho parcialmente desenvolvido com auxíliofinanceiro da FAPESP (02/05260-6).
PO-187 (330)
NÍVEL DE AST E ALT COMO FATOR PREDITIVO DE RESPOSTA AO TRA-TAMENTO EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE COLIVEIRA AC, CODES L, MELLO V, MACEDO R, OLIVEIRA C, FREITAS D, NUNES V, SCHINONI MI, PARANA RUniversidade Federal da Bahia Faculdade de Medicina
A infecção pelo vírus da hepatite C tem distribuição mundial sendo que aproxima-damente 80% dos pacientes infectados desenvolvem infecção crônica. A progressãoda doença é caledoscópica, existindo diversos fatores que interferem tanto na evolu-ção para fibrose como na resposta ao tratamento antiviral. São conhecidas algumasvariáveis que interferem em uma melhor resposta ao tratamento. Objetivo: Avaliarse existe associação entre os níveis de transaminases, medidos antes e durante otratamento e resposta terapêutica em pacientes com Hepatite C. Metodologia: Es-tudo retrospectivo de série de casos de 70 pacientes com Hepatite C crônica trata-dos com Interferon e Ribavirina. Critério de inclusão: detecção de HCV-RNA no soropelo PCR. Critério de exclusão: HCV-RNA indetectável, co-infecção com HBV e HIV.Foram medidos níveis de transaminases em 5 tempos: pré tratamento, aos 3 mesesdo tratamento, aos 6 meses do tratamento, ao final do tratamento e aos 6 mesesapós o tratamento. Os grupos foram categorizados de acordo com resposta susten-tada (RS) (HCV-RNA indetectável 6 meses após o tratamento): respondedores (RS) enão respondedores (NRS). Teste estatístico: Teste T e Qui quadrado. Resultado: Dototal de pacientes 32,15% foram RS e 67,85% NRS, durante todo o período detratamento os níveis de transaminases foram maiores no grupo NRS. Avaliados picosde transaminases: 9 pacientes (12,85%) apresentaram um ou mais picos após iniciaro tratamento e 61 pacientes (87,15%) apresentaram um declínio nos níveis de tran-saminases no decorrer do tratamento. Os pacientes que tiveram pico de transamina-ses foram não respondedores. Houve uma diferença estatística (p = 0,046) comrelação à resposta ao tratamento entre os grupos com e sem pico, as demais variá-veis não apresentaram diferença estatística. Conclusão: Neste estudo os níveis ALT/AST parecem estar relacionados à resposta ao tratamento. Os pacientes NRS tive-ram, durante todo o tratamento, níveis de transaminases estatisticamente maioresdo que os RS. Nos pacientes que apresentaram aumento ou pico de ALT/AST háevidencias de ausência de resposta virológica sustentada. Nossos dados sugeremque nível elevado de transaminases foi um fator preditivo de pior resposta ao trata-mento, apesar da pequena amostra. Poucos estudos utilizam a variação das transa-minases durante o tratamento para avaliação de resposta sustentada, tornando-senecessário maiores investigações com outras populações para confirmar esses resul-tados.
PO-188 (334)
GRAU DE DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COMHEPATITE C CRÔNICA SUBMETIDOS OU NÃO A TRATAMENTO ANTI-VIRAL. RESULTADOS PRELIMINARESPARISE CLG, OLIVEIRA AC, PARISE ERDisciplina de Gastroenterologia, Setor Doenças Hepáticas. Unifesp – São Paulo
Fundamentos: Portadores de hepatite C crônica (HCC) apresentam maior índice defadiga; diminuição da qualidade de vida e significativa prevalência de quadros de-pressivos, que tendem a se agravar no tratamento com interferon, podendo afetar aaderência ao tratamento. Objetivos: Avaliar o grau de depressão e qualidade devida em pacientes com HCC e correlacionar esses achados com características de-mográficas, histológicas e virológicas dos pacientes e com a resposta ao tratamento.Métodos: 71 pacientes HCV-RNA+, naives, foram submetidos à biópsia hepática,
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 59
determinação da genotipagem e carga viral. 61 iniciaram tratamento com interfe-ron e ribavirina. Em 23 deles foi avaliada a resposta precoce (RVP). O grau de de-pressão foi avaliado pelo inventário de Beck e a qualidade de vida pelo questionárioSF-36. Os testes foram aplicados no início (T0) e aos 3 meses de tratamento. Naanálise estatística empregou-se: teste de correlação de Spearman e Mann-Whitney.Resultados: A média de idade da população estudada foi de 49,1+12,3 anos, sendo52% deles do gênero masculino. 42% apresentavam genótipo 1 e 13,1% eramcirróticos. Antes do tratamento, o BDI encontrou 12,2% dos casos com depressãosignificativa. Não houve correlação do BDI com idade, gênero, carga viral, genoti-pagem, alteração estrutural ou atividade da doença; mas houve correlação signifi-cante com a pontuação dos domínios do SF-36 (capacidade funcional, saúde geral,aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos emocionais e saúde mental). Com a insti-tuição da terapêutica, no 3º mês 60% dos casos mostraram piora do BDI em pelomenos 2 pontos, e em 40% houve mudança no nível de depressão. Essa piora foiacompanhada pela queda na qualidade de vida. Não encontramos relação entre ostestes empregados no T0 com a RVP. 5 pacientes foram detectados pelo teste comodepressão grave. Tratada a depressão os pacientes conseguiram prosseguir no trata-mento, e 3 deles conseguiram alcançar RVP. Conclusão: A presença de depressãonão se associou a nenhuma característica demográfica, virológicas ou histológicaestudada ou RVP. Entretanto, a aplicação do teste possibilitou identificar precoce-mente e instituir tratamento para 5% dos pacientes estudados.
PO-189 (354)
RELAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DAS ENZIMAS HEPÁTICAS E PROGRES-SÃO DA FIBROSE EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS PORTADORES DEINFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS CBECKER VR, BADIANI R, PEREZ RM, LEMOS LB, OLIVEIRA EMG, MATOS CA, LANZONI VP, SILVA ISS, SILVA AEB,FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A maioria dos pacientes hemodialisados com infecção crônica peloHCV apresenta níveis normais de aminotransferases e por isso não têm sido conside-radas bons marcadores de doença hepática nesta população. Entretanto, existe umsubgrupo de pacientes que apresenta enzimas hepáticas alteradas, cujo significadoclínico e o papel como marcador de progressão da doença hepática tem sido poucoestudado. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre níveis elevados de ALT,AST e GGT e progressão da fibrose em portadores de IRC com infecção pelo HCV.Métodos: Foram incluídos portadores de IRC com infecção crônica pelo HCV (HCV-RNA positivo), submetidos à biópsia hepática no período de 1999 a 2005. Foramexcluídos etilistas (> 20g/dia) e portadores de co-infecção pelo HIV. A taxa de pro-gressão da fibrose (TPF) foi calculada dividindo-se o grau de estadiamento pelotempo de infecção em anos. A TPF foi comparada entre grupos com níveis normaisou elevados de: ALT, AST e GGT. Para análise estatística empregou-se o teste deMann-Whitney. Resultados: Foram incluídos 216 pacientes, 63% homens, com médiade idade de 44±11anos. A mediana da TPF foi 0,09 unidades de fibrose/ano. Ospacientes com ALT elevada apresentaram mediana da TFP de 0,13 e aqueles comALT normal apresentaram TPF de 0,06 (P = 0,004). Achados semelhantes foramobservados na comparação entre pacientes com AST normal e elevada (0,07 vs0,13; P = 0,003). Quanto à GGT, não houve diferença na TFP entre os grupos comGGT normal ou elevada (0,07 vs 0,10; P = 0,40). Estimando-se uma progressãolinear da TFP, pacientes com ALT elevada levariam 31 anos para progredir para acirrose, enquanto que entre pacientes com ALT normal este tempo seria de 67 anos.Conclusões: Embora as aminotransferases tenham um comportamento peculiar entrepacientes urêmicos, neste estudo estas enzimas foram bons marcadores da progres-são da fibrose, o que não foi observado em relação à GGT. Assim, pacientes comníveis mais elevados de ALT e AST devem ser mais cuidadosamente avaliados, poispodem apresentar doença hepática mais avançada.
PO-190 (356)
INFLUENCIA DA RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA SOBRE A CON-TAGEM DE PLAQUETAS EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMEN-TO ANTIVIRAL PARA HEPATITE CPEREIRA GHS, COELHO M, CARIÚS LP, FOSSARI RN, ROMA J, CMB DA SILVA, VEIGA ZST, FLAUSINO KCG,AHMED EO, PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia - Hospital Geral de Bonsuceso - Rio de Janeiro (RJ)
Fundamentos: Múltiplos mecanismos estão implicados na patogênese da plaque-topenia em portadores de hepatite C crônica. Além da associação com estágio defibrose hepática, o efeito patogênico do vírus sobre as plaquetas e megacariócitostem sido freqüentemente descrito como agente causador. Métodos: Foram compa-rados os valores de plaquetas prévios ao início, imediatamente ao final, 3,6 e 12meses após término do tratamento em pacientes que obtiveram resposta virológicasustentada (RVS). Os valores foram expressos como média + desvio-padrão. Resul-tados: O grupo era formado por 54 pacientes (27 do sexo masculino) com médiade idade de 48,5 + 7,8 anos. O tempo médio de contágio foi de 23,8 + 8,0 anos.Consumo de bebida alcoólica foi referida por 21% dos pacientes. Fibrose leve (está-gio 0-3 de Ishak) foi encontrada em 33 pacientes e avançada (estágio 4-6) em 15.Plaquetopenia (menor que 150.000/mm3) estava presente em 27,8% dos pacien-
tes. Este grupo apresentou grau médio de fibrose (3,82 + 1,8 vs 2,84 + 1,3, p =0,055) e prevalência de fibrose avançada (54,5 vs 27%, p = 0,24) superiores aogrupo com plaquetas normais. Não houve diferença entre os valores médios deplaquetas encontrados:
início término 3m 6m 12m203,5 + 67,2 174,1 + 75,0 179,6 + 64,8 188,6 + 66,3 199,3 + 63,7
O grupo com fibrose avançada apresentava média de plaquetas pré-tratamentoinferior ao grupo com fibrose leve (166,9 + 44,9 vs 220 + 69,5/mm3, p = 0,003).Esta diferença desapareceu no pós-tratamento imediato e permaneceu ao longo dos12 meses seguintes. O grupo com plaquetopenia manteve, ao longo do período depós-tratamento, a diferença de valores em relação ao grupo com plaquetas normais(p < 0,05 para termino, 3, 6 e 12 meses). Em nenhum dos subgrupos houve diferen-ça de média de plaquetas após o tratamento, quando comparado com os valoresanteriores ao seu início. Conclusões: Em pacientes tratados para hepatite C, a RVSnão determina aumento na contagem de plaquetas em relação ao valor pré-trata-mento, sugerindo que o efeito viral direto seja de pouca importância na plaquetope-nia em portadores de hepatite C crônica.
PO-191 (357)
NÍVEIS DE AMINOTRANSFERASES PÓS-TRATAMENTO EM PACIENTESPORTADORES DE HEPATITE C COM RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTEN-TADAPEREIRA GHS, FOSSARI RM, COELHO M, CARIÚS LP, ROMA J, ZYNGIER I, FLAUSINO KCG, VEIGA ZST, AHMED
EO, PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro (RJ)
Fundamentos: Os valores normais de transaminases atualmente em uso foram de-finidos há 30 anos. Estudos recentes propõem valores menores que 30UI/mL comolimite superior da normalidade. Métodos: Foram incluídos elegíveis pacientes sub-metidos a tratamento com interferon e ribavirina, que obtiveram resposta virológicasustentada. A análise considerou a média do valor de transaminases nos 6 mesesprévios ao início e os valores ao final do tratamento, e os obtidos 6 e 12 meses apóso término. Os resultados foram expressos em média + desvio padrão. Resultados:Grupo composto por 54 pacientes (27 mulheres), com média de idade de 49,5 +9,2 anos. O tempo médio de infecção foi de 23,8 + 8,0 anos. Fibrose leve (estágio 0-3 de Ishak) estava presente em 61,2% dos pacientes. O valor médio (UI/mL) foi 79,5+ 44 para AST e 127 + para ALT. Os valores de percentil 50, 75 e 95 foram, respec-tivamente, 67, 102 e 176 para AST e 103,168 e 305 para ALT. As transaminasesencontravam-se acima de 50% do limite superior do normal (LSN) em 53% (AST) e83% (ALT) dos pacientes. Ao final do tratamento, os valores médio, a mediana, e ospercentis 75 e 95 foram 31,5(+ 20,1), 26, 33 e 59 para AST e 33,1(+ 33,4) 26, 34 e74UI/mL para ALT. Quando analisados 6 e 12 meses após o término do tratamento,os valores para AST foram 25(+8,9), 22, 30, e 46 (6m), 25,2(+7,1), 23, 28 e 42(12m), e para ALT 27,4(+12), 24, 33 e 56 (6m), e 27,4(+11,7), 24, 33 e 48 (12m) (p> 0,05 para comparação de médias). Quando estratificados conforme sexo, valorinicial de transaminases (< 1,5LSN vs > 1,5LSN), grau de fibrose (F0-3 vs F4-6) e IMC(< 25, 25-30 e > 30kg/m2), observam-se valores pós-tratamento maiores para osexo masculino, pacientes com fibrose avançada e com IMC > 25kg/m2, porémsem significativa estatística. Conclusão: Considerando-se que os pacientes com RVSapresentam níveis de transaminases representativos do normal, a adoção de valoresde AST e ALT inferiores aos atualmente utilizados podem não ser representativas doslimites da normalidade em indivíduos sãos, mesmo considerando-se as diferençasentre sexo e IMC.
PO-192 (358)
ANÁLISE DE TOLERÂNCIA E EFICÁCIA DO TRATAMENTO ANTIVIRALPARA HEPATITE C EM INDIVÍDUOS ACIMA DE 55 ANOSPEREIRA GHS, VEIGA ZST, FLAUSINO KCG, MARTINS DS, FERNANDES FF, GONZALEZ AC, COELHO M, FOSSARI
RN, CARIÚS LP, PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia- Hospital Geral de Bonsucesso (RJ)
Fundamentos: Número crescente de indivíduos idosos portadores de hepatite Ctêm sido avaliados para tratamento. Há poucas descrições quanto a segurança, tole-rabilidade e eficácia do tratamento neste grupo. Métodos: Análise dos pacientessubmetidos a tratamento antiviral para hepatite C com seguimento mínimo de 6meses pós-término, no período de março de 2001 a março de 2007. Os pacientesforam tratados com interferon peguilado (genótipo 1) ou convencional (genótipo3) associado a ribavirina. A amostra foi dividido em dois grupos - idade igual ousuperior a 55 anos (grupo 1: 50 pacientes) e inferior a 55 anos (grupo 2: 127 pacien-tes). Resultados: 177 pacientes (96 do sexo feminino), com média de idade de 50,2(DP 8,3) anos. A forma mais comum de contágio foi hemotransfusão (47,7%) e otempo médio de infecção foi de 26,0 + 11,1 anos. Quanto a avaliação de fibrose,56,5% dos pacientes apresentavam grau leve (estágio 0-3 de Ishak), e 18,7% eramportadores de cirrose. Os grupos foram semelhantes quanto a proporção de fibroseavançada (50,2 vs 35%, p = 0,17) e cirrose (22% vs 17,3%, p = 0,7). Redução dedose do interferon ou ribavirina foram igualmente comuns em ambas as faixas de
S 60 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
idade (27,8 vs 25% para IFN, 22,2 vs 23,7% para RBV). A porcentagem de RVS foiinferior em indivíduos acima de 55 anos (22,0% vs 33,9%), porém sem significânciaestatística (p = 0,12). Quando estratificados pelo genótipo, as taxas de redução deIFN ou RBV permaneceram iguais conforme a idade. Em pacientes infectados pelogenótipo 1, taxa de RVS foi semelhante em ambos os grupos para portadores defibrose leve (16,7 vs 18%), e inferior nos pacientes acima de 55 anos com fibroseavançada (9,5 vs 24%, p = 0,10). Não se observou diferença nestes parâmetros empacientes infectados pelo genótipo 3. Conclusão: Os dados corroboram a possibili-dade de tratamento para hepatite C em indivíduos mais idosos com taxas de redu-ção de dose de medicação e de RVS semelhantes às encontradas em indivíduos maisjovens. Apenas a presença concomitante de fibrose avançada e infecção pelo genó-tipo 1 parece se associar com menor eficácia do tratamento neste grupo.
PO-193 (367)
MELHORA DA CINÉTICA VIRAL EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔ-NICA POR VHC SEM TRATAMENTO PRÉVIO E SUBMETIDOS À TERA-PÊUTICA TRIPLA COM INTERFERON DE CONSENSO (CIFN), PEG-IFN ERIBAVIRINA (RBV) QUANDO COMPARADOS AOS PACIENTES TRATA-DOS COM PEG-IFN + RBVDA SILVA LC*, SILVA GF**, ONO-NITA SK*, PARANAGUÁ-VEZOZZO DC*, FUKUSHIMA J*, PINHO JRR*, MADRU-GA CL*, DA NOVA ML*, CARRILHO FJ**Disciplina de Gastroenterologia Clínica - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. **Depto. de Gas-troenterologia da
Fundamentos: Em publicação prévia, mostramos que a associação PEG-IFN + RBVnão preveniu o rebote viral na semana 2 em pacientes submetidos à terapêutica deindução com altas doses de CIFN durante dois dias, logo antes da administração dePEG-IFN + RBV (Da Silva et al, Hepatology 2005). Em tais pacientes, a fase 2 dacinética viral (CV) foi semelhante à encontrada em pacientes recebendo apenas PEG-IFN + RBV. Objetivo: Comparar a CV de pacientes tratados com PEG-IFN + RBV(grupo 1) com a CV em pacientes que receberam CIFN antes e durante as 2 primei-ras semanas de tratamento (grupo 2). Métodos: Sete pacientes genótipo 1 (grupo2) foram submetidos ao PEG-IFN + RBV precedido pela administração de CIFN, 15microgramas a cada 12 horas, durante 2 dias. Após 12 horas iniciava-se o PEG-IFNalfa2b (1,5 microg/Kg) e RBV (1000-1250mg/dia). Nas primeiras 2 semanas, umainjeção de CIFN era administrada no quarto dia após cada injeção de PEG-IFN. Ossoros eram coletados antes e nas semanas 2, 4 e 12, e submetidos a PCR quantitativoe qualitativo (Amplicor-Monitor - Roche), com limites de detecção de 600UI/ml e de50UI/ml respectivamente. Os dados de cinética neste grupo (grupo 2) foram com-parados com os observados em 7 pacientes (grupo 1) tratados somente com PEG-IFN + RBV. Resultados: 1) com relação aos valores basais, a queda da viremia foisignificativamente maior na semana 2 (2,64 x 1,33, p = 0,0407) e na semana 12(4,56 x 3,43, p = 0,0150) em pacientes com terapêutica tripla (grupo 2) quandocomparado ao observado no grupo 1. 2) virema inferior a 50UI/ml na semana 12 foiobservada em 2/7 pacientes do grupo 1 (28,6%) e em todos os 7 do grupo 2. 3) aresposta viral mantida foi de 4/7 (57,1%) no grupo 1 e de 5/7 (71,4%) no grupo 2.Conclusão: Esses resultados sugerem que a terapêutica com CIFN + PEG-IFN alfa2b+ RBV pode melhorar a cinética viral em pacientes com genótipo 1, apontando paraa necessidade de um estudo controlado.
PO-194 (368)
TERAPÊUTICA TRIPLA COM INTERFERON DE CONSENSO (CIFN), IFNPEGUILADO (IFN-PEG) E RIBAVIRINA (RBV) EM PACIENTES COM HE-PATITE CRÔNICA C QUE NÃO APRESENTARAM RESPOSTA VIRAL SUS-TENTADA (RVS) A TRATAMENTO PRÉVIO COM PEG-IFN + RBVDA SILVA LC*, SILVA GF**, ONO-NITA SK*, PARANAGUÁ-VEZOZZO DC*, FUKUSHIMA J*, PINHO JRR*, MADRU-GA CL*, DA NOVA ML*, CARRILHO FJ**Disciplina de Gastroenterologia Clínica - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. **Depto. de Gas-troenterologia da
Fundamentos: Pacientes com hepatite crônica C que não apresentam resposta viralsustentada (RVS) ao PEG-IFN + RBV constituem um grupo em expansão e sem op-ções terapêuticas atuais definidas. Mostramos previamente que a administração diá-ria de CIFN produz maior queda da viremia nas 2ª e 4ª semanas iniciais do que oPEG-IFN alfa2b, caracterizando um IFN de “ação rápida” e outro de “ação lenta”,respectivamente (Da Silva et al, J Hepatol 2002). Nosso objetivo foi verificar a impor-tância da associação do CIFN ao IFN-PEG (alfa2a ou alfa2b) nas fases pré (indução)e nas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento de pacientes previamente resistentes(PR) a PEG-IFN + RBV. Métodos: A casuística foi de 32 pacientes previamente resis-tentes: com genótipo 1: 18 (56,2%), genótipo 3a: 11 (34,4%) e genótipo 2: 3(9,4%). Tratamento: indução com CIFN (15µg 12/12 h, 2 dias) e PEG-IFN (alfa2aou alfa2b) + RBV a partir do 3º dia. Uma injeção de CIFN foi também administradano 4º dia ou 4º e 6º dias após cada injeção de PEG, nas 2 a 4 primeiras semanas. Ossoros foram coletados nas semanas 4, 12, 24, 48 e 72. A viremia foi avaliada pelométodo Amplicor-Monitor (Roche) com limite de detecção de 50UI/ml. Resulta-dos: 1) PCR (-) na 4ª semana em 9/31 (29%); 2) PCR (-) na 12ª semana em 16/30(53%); 3) RVS em 9/30 pacientes com tratamento completo (30%): genótipo 1 = 4/
16 (25%); genótipo 3a = 3/11 (27,3%) e genótipo 2 = 2/3 (66,7%). Conclusões: 1)Esses resultados sugerem que o acréscimo de um IFN de ação rápida (CIFN) ao PEG-IFN + RBV nas primeiras 2 a 4 semanas pode resultar em RVS em alguns pacientespreviamente resistentes ao PEG-IFN + RBV. 2) Chama a atenção a alta freqüência depacientes genótipo 3a não respondedores ao PEG-IFN + RBV. 3) Estudos com maiorcasuística e comparação com outros esquemas são necessários.
PO-195 (369)
RESISTÊNCIA A INSULINA COMO FATOR PREDITIVO DE EVOLUÇÃOPARA FIBROSE E RESPOSTA AO TRATAMENTO EM PACIENTES COMHEPATITE C CRÔNICASCHINONI MI, OLIVEIRA A, PIMENTEL L, MELLO V, CUNHA S, ANDRADE Z, FREITAS L, PARANÁ RUniversidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina e Fundação Oswaldo Cruz, Bahia
A hepatite C é uma doença de endemicidade mundial, evoluindo para fibrose em 80%dos casos. Ultimamente as alterações da homeostase da glicose como a resistência àinsulina (RI) nos pacientes com Hepatite C crônica têm recebido muita atenção comofator de progressão para fibrose e de refratariedade ao tratamento. Objetivos: 1-Avaliar a associação entre níveis de insulinemia, glicemia em jejum e índice de resistên-cia a insulina (HOMA-RI) com estágio de fibrose hepática em pacientes com hepatitecrônica C compensada. 2-Analisar se insulinemia em jejum e HOMA-RI avaliados em 4tempos durante o tratamento antiviral em estes pacientes se relacionam com respostaterapêutica ao Interferon-alfa e Ribavirina. 3-Procurar associação de outras variáveis dohospedeiro com (RI) e com fibrose hepática. Metodologia: Estudo de série de casoscategorizados em duas amostras: 1º) 25 pacientes não obesos [amostra 1] com avalia-ção da associação de HOMA-RI pós-tratamento com grau de fibrose hepática peloMETAVIR e outros índices metabólicos 2º) 33 pacientes com IMC ≥ 30kg/m2 (15 dia-béticos e 18 não diabéticos) [amostra 2] com avaliação de HOMA_RI em 4 tempos por72 semanas antes, durante e depois do tratamento com Interferon-a e Ribavirina Tam-bém foi analisada a associação de RI com: genótipo, fibrose hepática, variáveis biológi-cas do hospedeiro e resposta ao tratamento nestes 33 pacientes. Análise Estatística:Qui quadrado, Teste t e Mann-Whitney com p < 0,005. Resultados: Na amostra 1apesar de não ser obesos, o IMC, a circunferência abdominal e insulinemia em jejumestiveram maiores no grupo com RI (p < 0,000). Na amostra 2 sendo variável depen-dente fibrose F1 F2 x F3 F4, os níveis de AST estiveram significativamente mais altos nogrupo F3 F4. Só no grupo com genótipo 1 os estágios de fibrose F3 e F4 se associarama HOMA-RI > 2,90. Quando foi analisada resposta sustentada ao tratamento (RS) enão resposta (NR), como variável dependente, a presença de esteatose na biópsia,genótipo 1, HOMA > 3,10, insulinemia em jejum > 9,76µUI, IMC > 31kg/m2, circun-ferência abdominal > 104cm associaram-se a não resposta ao tratamento. No grupoNR um HOMA-RI foi > 2,5 antes do inicio do tratamento antiviral. Conclusão: Emnosso trabalho o estudo da resistência a insulina e de fatores metabólicos associadosfoi útil na predição da evolução para fibrose e na resposta ao tratamento dos pacientescom hepatite C crônica .
PO-196 (375)
REDUÇÃO DO VALOR DA ALT MELHORA DETECÇÃO DE INFECÇÃOPELO VHC EM PACIENTES DE HEMODIÁLISEBURIOL A, GALPERIM B, MATTOS AA, STEIN AT, SCHNEIDER NC, FONSECA A, IKUTA N, LUNGE VCurso de Pós-Graduação em Hepatologia da FFFCMPA; Pós-Graduação de Saúde Coletiva e Simbios Laboratório-ULBRA; Serviços de Gastr
Introdução: As hepatites virais são infecções freqüentes em pacientes de hemodiá-lise (HD), sendo a grande maioria causada pelo vírus da hepatite C (VHC). A preven-ção em unidades de hemodiálise (HD) consiste na determinação mensal da ALT esemestral do anti-VHC . O presente estudo teve como objetivo avaliar o valor míni-mo (cut off) da ALT para identificação da infecção pelo HCV em comparação com apesquisa viral por RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction) empacientes de hemodiálise. Métodos: Durante o período de Ago/2005 a Ago/2006,325 portadores de doença renal crônica em hemodiálise, de quatro unidades distin-tas, representativos do total de pacientes em tratamento nesta cidade, foram pros-pectivamente estudados. Foi medida a ALT e realizadas as pesquisas de anti-HCV eRT-PCR em todos os pacientes. O estudo foi aprovado pelos comitês de ética dasinstituições participantes. Resultados: Da amostra, 107 (33,0%) pacientes foramanti-HCV positivos, sendo que 66 (20,4%) apresentaram HCV-RNA. Não foi encon-trado nenhum paciente com anti-HCV negativo e HCV RNA positivo. Os valoresmédios de ALT foram significativamente mais elevados nos pacientes com PCR posi-tiva (42.9U/L – homens, 36.0U/L - mulheres) do que com PCR negativa (24.6U/L –homens, 29.0U/L - mulheres). Somente 5 pacientes (3 homens, 2 mulheres) comPCR positiva apresentaram valores mais elevados do que a faixa de normalidadeestabelecida pelo kit do teste de ALT utilizado (72U/L – homens, 52U/L - mulheres),demonstrando sensibilidade clínica baixa (7,3% - homens; 8,0% - mulheres). A re-dução do valor limite superior da normalidade expressou ganhos na sensibilidadepara detecção do VHC. Os pontos de corte que permitiram maximizar a sensibilida-de e especificidade foram 28.8U/L para os homens (75,6% de sensibilidade e 78,9%de especificidade) e 26.0U/L para as mulheres (92,0% de sensibilidade e 69,4% deespecificidade). Conclusão: A utilização da ALT com valores mais baixos de cut-offmelhora a detecção da infecção pelo VHC em pacientes de hemodiálise.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 61
PO-197 (385)
EFICÁCIA DO TRATAMENTO COMBINADO DE PEG-INTERFERON ALFA2B E RIBAVIRINA EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA PELO VÍ-RUS C (HCV) - GENÓTIPO 1. COMPARAÇÃO DE DUAS POPULAÇÕES:PÚBLICO E PRIVADOBRANDÃO-MELLO CE, FIGUEIREDO-MENDES CG, MACIEL AM, RANGEL F, ORLANDO E, COSTA AC, ALENCASTRO
F, BERGAMASCHI H, ROSA-LEITE V, POYARES ACAmbulatório de Doenças do Fígado HUGG (Unirio) e Serviço de Hepatologia – SCMRJ
Fundamentos: O tratamento atual da hepatite C crônica (HCC) genótipo 1 (Gen.1)com Peg-IFN e ribavirina (RBV) alcança resposta virológica sustentada (RVS) melhordo que a obtida com IFN standard e RBV. Entretanto, os pacientes com Gen.1 res-pondem pior a terapia com IFN do que aqueles com Gen. 2 e 3. Além disso, cargaviral elevada e fibrose avançada se associam com taxas menores de RVS. Estudoscom pacientes de serviços públicos e privados são escassos, porém necessários pararespaldar políticas de saúde. Objetivo: Comparar as RVS ao tratamento de portado-res de HCC, Gen. 1 com Peg-IFN e RBV de 2 centros públicos e 1 privado. Casuísticae Métodos: No período de 08/2001 a 08/2007, 132 pac. atendidos em hospitaispúblicos (G1), virgens, foram tratados com Peg-IFN-α 2b (1,5m/kg/sem) e RBV(1.0-1.2g/dia) por 48 sem. e comparados com 77 atendidos em clínica privada(G2). Todos foram submetidos à avaliação bioquímica (alt, ggt), virológica (HCV-RNA) por técnica de RT-PCR basal, na 12a, 24a, 48a e 72a semana e histológica.Resultados: Dos 132 pacientes do G1 e 77 do G2, 73 (55,3%) e 39 (50,6%) eramdo sexo masc. A média de idade foi respectivamente de 53,8 e 48,6 a, sendo 13,6%> 65 a no G1 e 9% no G2. As médias de ALT e γGT no pré-tratamento foram,respectivamente, 2,1 e 2,2 x o LSN (G1) e 1,9 e 1,5 x o LSN (G2). As médias dacarga viral basal foram respectivamente de 7.93x105UI/mL (G1) e 7.69x105UI/mL(G2). Quanto à histologia, 38% (G1) exibiam fibrose leve e 52% fibrose em pontes/cirrose vs 58% e 42% no G2, respectivamente. Não havia diferenças bioquímicas ehistológicas significativas entre os dois grupos. A taxa de RVS global por ITT foi de31% (G1) vs 53% (G2) (p = 0,0028). Com relação ao estadiamento, aqueles comfibrose leve do G1 obtiveram 43% de RVS vs 14% naqueles com fibrose avançada (p< 0,01) e no G2, 62% vs 40% (p = 0,055). Conclusões: Os resultados desta sérierevelaram que os pacientes públicos (G1) obtiveram taxas de RVS inferiores aosprivados (G2), muito provavelmente pelas características da doença, dos pacientes edo próprio sistema público.
PO-198 (387)
INIBIDOR ADQUIRIDO PARA FATOR VIII E IX EM PACIENTE COM HE-PATITE CRÔNICA PELO HCV (HCC) EM TRATAMENTO COM PEG-IN-TERFERON E RIBAVIRINA: RELATO DE CASOCAMPOS DE MAGALHÃES M, DE ALMEIDA AJ, BRANDÃO-MELLO CE, BRASIL-NERI C, SALGADO MCF, MARÇAL OPAmbulatório de Doenças do Fígado e Serviço de Hematologia – Hospital Universitário Gaffrée e Güinle, (Unirio) –Rio de Janeiro,
Fundamentos: A hepatopatia crônica pelo vírus C da hepatite (HCV) pode ocasi-onar distúrbios de hemostasia relacionados à insuficiência hepática e/ou altera-ções auto-imunes presentes no curso da infecção. A terapia da hepatite crônica Ccom interferon (IFN), medicamento com ação imunomoduladora, pode estar as-sociada ao desenvolvimento de vários efeitos colaterais. A trombocitopenia, asso-ciada ou não a deficiências de fatores da coagulação, é a alteração mais comu-mente relacionada à infecção pelo HCV. A deficiência adquirida isolada de fator decoagulação é fenômeno raro, e está associada à presença de inibidor patológico.Objetivo: Apresentar um caso clínico de paciente com HCC que adquiriu inibido-res para os Fatores VIII e IX da coagulação durante o tratamento com Peg-interfe-ron e ribavirina. Relato do Caso: Paciente do sexo masculino, 51 anos de idade,em acompanhamento no ambulatório de Doenças do Fígado e Hematologia doHUGG, com o diagnóstico de HCC e uso de drogas ilícitas. Exames basais mostra-ram: TAP: 100%; INR: 1 e PTT: 25 segundos, relação: 1. A biópsia hepática revela-va hepatite crônica com fibrose e atividade leve; genótipo 1. A pesquisa de auto-anticorpos e crioglobulina basal foi negativa. Após a 24a semana de Peg-IFN a2b(100mg/1x/sem.) e RBV apresentou resposta bioquímica e virológica, porém ma-nifestações hemorrágicas de equimoses, hemartroses e hematomas ocorreram si-multaneamente ao desenvolvimento de outras alterações clínicas como vitiligo,mialgia, lúpus discóide e hipotireoidismo. Novos exames revelaram TAP: 100%,INR: 1 e PTT: 60 seg.; Relação: 2,4. Evoluiu com agravamento da síndrome hemor-rágica até o final do tratamento com TAP: 100%, INR: 1; PTT: 113,6 seg.; relaçãode 4,5. A investigação da coagulopatia revelou a presença de anticoagulante lúpi-co e de inibidor para os fatores VIII e IX (40.996 UB), cujas dosagens se mostraram< 1%. Foi iniciado tratamento imunossupressor com corticóides e azatioprina commelhora do quadro. Conclusão: Graves anormalidades da hemostasia podem es-tar associadas ao tratamento com IFN. Sugere-se que os testes de coagulaçãodevam ser efetuados rotineiramente nestes pacientes.
PO-199 (389)
RESULTADOS DE EFICÁCIA DA TERAPIA COMBINADA DE PEG-INTER-FERON ALFA 2B E RIBAVIRINA EM PACIENTES RECIDIVANTES E NÃO-RESPONDEDORES COM HEPATITE CRÔNICA PELO HCV: ANÁLISE DEPACIENTES PÚBLICOS (MUNDO REAL)MACIEL AM, BRANDÃO-MELLO CE, FIGUEIREDO-MENDES CG, SIRELLI P, BURINI B, APPEL F, TORELLI A, AMENDOLA-PIRES MMAmbulatório de Doenças do Fígado – Hospital Gaffrée e Güinle (Unirio) e Serviço de Hepatologia SCMRJ, Rio deJaneiro, RJ
Fundamentos: O tratamento combinado com Peg-interferon-a (Peg-IFN) + Ribavi-rina (RBV) é considerado a terapia padrão para os pacientes naive com hepatitecrônica C (HCC). O retratamento com Peg-IFN + RBV de pacientes não-respondedo-res (NR) e recidivantes (RR) ao esquema prévio de IFN-α standart e RBV oferece taxasde RVS entre 12-18% e 39-65%, respectivamente. Casuísticas com pacientes atendi-dos no setor público são escassas e se fazem necessárias, com o objetivo de respal-dar políticas de saúde. Objetivo: Avaliar a RVS ao retratamento com Peg-IFN e RBVde portadores de HCC RR ou NR em centros de referência universitários. Casuística eMétodos: No período de 2004 a 2007 foram incluídos e tratados 58 pacientes comHCC, sendo 31 NR e 15 RR, com as doses convencionais de Peg-IFN a 2b (1,5 m/kg/sem) e RBV (1.0-1.2g/dia) por 48 semanas. Todos foram submetidos a avaliaçãoclínica, bioquímica (alt, ggt), virológica (HCV-RNA) por técnica de PCR pré, 12a,24a, 48a e 72a semana e histológica. Resultados: Dos 58 pacientes incluídos, 32(55,2%) eram do sexo masculino e 76% tinham Gen.1. A média de idade foi 49,9 ±10,9 anos. As médias da alt e ggt no pré-tratamento foram, respectivamente, de 85± 52UI e 68 ± 71UI. A média da carga viral pré foi de 1013215UI e o IMC médio de26. Quanto à histologia, 38% dos pacientes exibiam fibrose leve e 61.4% fibrose empontes ou cirrose. A taxa de RVS global foi de 31%, sendo de 22% nos NR e 50%nos RR (p < 0,001). Com relação à fibrose hepática aqueles com fibrose leve obtive-ram 45% de RVS vs 22,8% naqueles com fibrose avançada (p = 0,07). Conclusões:Os resultados desta série revelaram que os pacientes com HCC RR e NR, ao esquemaprévio de tratamento com IFN + RBV, foram predominantemente infectados peloGen.1 e com fibrose avançada em 61% dos casos, portanto difíceis de tratar. Entre-tanto, taxas de RVS (31%) foram superiores as dos estudos internacionais, justifican-do a necessidade de estudos clínicos e a importância de melhor seleção dos pacien-tes ao retratamento.
PO-200 (390)
RESULTADOS DE EFICÁCIA DO TRATAMENTO COMBINADO DE PEG-INTERFERON ALFA- 2B E RIBAVIRINA EM PACIENTES COM HEPATITECRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C (HCV) GENÓTIPO 1. ANÁLISEDO MUNDO REALMACIEL AM, BRANDÃO-MELLO CE, FIGUEIREDO-MENDES CG, ANTENUZI D, MESQUITA P, ROLIM K, BERGAMASCHI
I, BERGAMASCHI H, MARTINEZ C, POYARES ACAmbulatório de Doenças do Fígado HUGG (Unirio) e Serviço de Hepatologia – SCMRJ
Fundamentos: O tratamento atual da hepatite C crônica (HCC) genótipo 1 (Gen.1)com Peg-interferon (Peg-IFN) e ribavirina (RBV) oferece resposta virológica sustenta-da (RVS) significativamente melhor do que a obtida com IFN convencional e RBV.Entretanto, os pacientes com Gen.1 respondem pior a terapia baseada em IFN doque àqueles com Gen. 2 e 3. Além disso, aqueles com carga viral elevada e fibroseavançada alcançam taxas de RVS muito inferiores. Casuísticas com pacientes atendi-dos no setor público são escassas e se fazem necessárias, com o objetivo de respal-dar políticas de saúde. Objetivo: Avaliar a RVS ao tratamento de portadores deHCC, genótipo 1, com Peg-IFN e RBV em centros de referência universitários. Ca-suística e métodos: No período de 08/2001 a 08/2007 foram tratados no ambula-tório de Doenças do Fígado do HUGG e da SCMRJ 132 pacientes virgens com asdoses convencionais de Peg-IFN a 2b (1,5m/kg/sem) e RBV (1.0-1.2g/dia) por 48semanas. Todos foram submetidos a avaliação clínica, bioquímica (alt, ggt), viroló-gica (HCV-RNA) por técnica de PCR no pré-tratamento e nas 12a, 24a, 48a e 72asemana e histológica. Resultados: Dos 132 pacientes incluídos 73 (55%) eram dosexo masculino. A média de idade foi 53,8 anos, sendo 13,6% com > 65 anos. Asmédias de alteração da alt e ggt no pré-tratamento foram, respectivamente, de 2,1e 2,2 x LSN. A média da carga viral pré foi de 793.766UI/mL. Quanto a histologia38% dos pacientes exibiam fibrose leve e 52% fibrose em pontes ou cirrose. A taxade RVS global por ITT foi de 31%. Com relação à fibrose hepática, aqueles comfibrose leve obtiveram 43% de RVS vs 14% naqueles com fibrose avançada (p <0,01). Conclusões: Os resultados desta série revelaram que os pacientes do sistemapúblico (mundo real) infectados com gen.1 eram mais velhos e com fibrose avança-da em 52% dos casos, portanto difíceis de tratar. As taxas de RVS foram inferioresàquelas dos estudos de registro (45%), justificando, desta forma, a importância damelhor seleção dos candidatos ao tratamento e da necessidade do uso de drogasmais eficazes.
S 62 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-201 (397)
DETECÇÃO DO VÍRUS DA HEPATITE C (HCV) NAS PLAQUETAS: SUAINFLUÊNCIA NA EVOLUÇÃO DA TERAPIA ANTIVIRALALMEIDA AJ1A, MAGALHÃES MC1A, BRANDÃO-MELLO CE1B, OLIVEIRA RV2, DO ESPÍRITO SANTO MP, YOSHIDA
CFT2, LAMPE E2
1A. Setor de Hematologia – e 1B. Doenças do Fígado –, H. U. Gaffrée e Guinle, Escola de Medicina e Cirurgia daUniversidade Federal
Introdução: A terapia padrão para a hepatite crônica pelo vírus C (HCV) é baseadana combinação de Peg-interferon alfa (Peg-IFN) e ribavirina (RBV) para os infectadospelo genótipo 1 ou interferon convencional e ribavirina para os infectados pelogenótipo 2 ou 3. Vários fatores preditivos estão associados com menor probabilida-de de resposta virológica sustentada (RVS), tais como genótipo 1, alta carga viral,fibrose avançada, sexo masculino e idade > 40 anos. A detecção do HCV tem sidodocumentada em sítios extra-hepáticos, como as plaquetas. Entretanto, a influênciadesta detecção na evolução da terapia antiviral ainda é desconhecida. Objetivo:Analisar a relação entre a detecção de seqüências do HCV nas plaquetas de 47pacientes cronicamente infectados pelo HCV e resposta a terapia antiviral. Méto-dos: HCV-RNA foi detectado no soro e nas plaquetas por RT-nested PCR. A genotipa-gem foi efetuada por seqüenciamento direto de produtos do PCR da região core e acarga viral do HCV-RNA foi determinada utilizando-se o HCV-Amplicor Monitor 2.0.Pacientes infectados com genótipo 1 foram tratados com Peg-IFN + RBV por 48semanas e aqueles com genótipo 3 com IFN+RBV por 24 semanas. Resposta viroló-gica sustentada foi definida como HCV-RNA indetectável 6 meses após o término dotratamento. Resultados: No período de Agosto/03 a dezembro/05, 47 pacientesforam tratados, sendo 19 (40%) do sexo masculino, com média de idade de 54anos. Dentre os 37 pacientes infectados com o genótipo 1, HCV-RNA foi detectadonas plaquetas em 11 (30%) e 14 (38%) dos que alcançaram RV ao final do trata-mento e RVS, respectivamente. Dentre os 9 infectados pelo genótipo 3, HCV-RNAfoi detectado em 3 (33%) e 3 (33%) daqueles que alcançaram RV ao final e RVS,respectivamente. Nenhuma diferença estatística significativa foi observada em ter-mos de RVS entre os grupos em relação a detecção do HCVRNA nas plaquetas,independente do genótipo. Conclusão: Estes dados sugerem que a identificação dogenoma do HCV nas plaquetas não influencia a resposta virológica sustentada aotratamento antiviral da hepatite C.
PO-202 (398)
TROMBOCITOPENIA AUTO-IMUNE ASSOCIADA À INFECÇÃO CRÔNI-CA PELO HCV (VÍRUS DA HEPATITE C)DE ALMEIDA AJ, CAMPOS DE MAGALHÃES M, BRANDÃO-MELLO CE, ANTONIETTI CL, OLIVEIRA RV, DA SILVA
MLP, YOSHIDA CFT, LAMPE EAmbulatório de Doenças do Fígado e de Hematologia Hospital Universitário Gaffrée e Güinle, (Unirio) – Lab. Hepa-tites Virais, I
Fundamentos: Diferentes mecanismos são implicados na patogênese da tromboci-topenia associada ao HCV (TAHCV). A detecção de anticorpos específicos anti-glico-proteínas (anti-GP) plaquetários foram relatadas em uma série recente de casos,entretanto nenhuma investigação adicional do mecanismo da TAHCV foi realizada.Objetivo: Investigar o papel dos anti-GP na patogênese da TAHCV. Casuística: Pa-cientes com trombocitopenia crônica (80,8 x 109 ± 45,5x109/l) associada a infec-ção pelo HCV foram referidos para avaliação no Serviço de Hematologia do HUGG,no período de 2002 e 2005. Na ocasião somente dois pacientes apresentavam ma-nifestações hemorrágicas. Métodos: O diagnóstico de TAHCV foi feito pela identifi-cação de plaquetas (< 150 x 109/l) por mais de 6 meses de duração, na presença deanti-HCV e HCV-RNA detectado por RT-PCR no soro. Para a detecção dos anti-GPespecíficos foi utilizado kit comercial de ELISA. As seguintes investigações foramrealizadas antes do início de qualquer terapia: detecção do HCV-RNA nas plaquetas,determinação sérica dos níveis de trombopoietina (Tpo), aspirado de medula óssea,US e EDA. Resultados: Dos 88 pacientes avaliados, seis (3 masc.), com média de57,5 anos, apresentavam anticorpos anti-GP. Durante a investigação hematológicaos testes foram negativos para HBV, HIV, HTLV e HCV-RNA nas plaquetas. As biópsiashepáticas revelaram hepatite crônica com fibrose moderada em 3 pacientes e oaspirado de MO com número normal ou aumentado de megacariócitos maduros,sem características de mielodisplasia. Níveis séricos de anti-Tpo foram discretamen-te abaixo dos limites normais (45,82-182,79pgmL). Todos os 6 pacientes apresenta-vam altos títulos séricos de anti-GP plaquetários específicos para GPIIb/IIIa, GPIb/IXe Ib/IX. Nenhuma outra causa de trombocitopenia foi encontrada. Cinco dos 6pacientes necessitaram de tratamento (prednisona, gama-globulina EV, globulinaanti-D, Peg-IFN + RBV), sendo que 2 dos 6 normalizaram as contagens de plaquetas.Conclusão: Estes resultados sugerem que mecanismo auto-imune possa desempe-nhar um papel na patogênese da TAHCV.
PO-203 (399)
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO TIREOIDIANA EM PACIENTES VIRGENSCOM HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS C (HCV): AVALIANDO A RELA-ÇÃO COM GENÓTIPO VIRALDE ALMEIDA AJ1,2, CARDOSO CCL1, PIRES MLE1, BRANDÃO-MELLO CE1, DE OLIVEIRA RV2, DO ESPÍRITO-SANTO
MP2, YOSHIDA CFT2, LAMPE E2
1. Hospital Universitario Gaffrée e Guinle (HUGG), Escola de Medicina e Cirurgia, Universidade Federal do Estado doRio de Janeiro
Fundamentos: Disfunção tireoidiana é considerada como uma das manifestaçõesextra-hepáticas associada com a infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV). Empacientes naive alguns estudos demonstraram taxas de prevalência de disfunçãotireoidiana variando de 13% a 19,4%. Entretanto, a relação entre os genótipos doHCV e o desenvolvimento de disfunção tireoidiana é pouco compreendida. Objeti-vo: O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de disfunção tireoidiana empacientes com hepatite crônica C antes da terapia antiviral e avaliar se a sua ocorrên-cia é genótipo-dependente. Casuística: Estudo do tipo corte transversal, compreen-dendo 44 (39%) homens e 69 (61%) mulheres, com a media de idade de 52,8 ±11,7 anos, seguidos, prospectivamente, no HUGG entre agosto 2003 e Junho 2006.Métodos: T4-livre (T4L) e TSH séricos foram medidos pela técnica de enzima-imu-noensaio, por quimioluminescência. HCV-RNA foi detectado no soro por RT-PCRcom primers contra a região 5’NCR e a genotipagem foi realizada por seqüencia-mento direto, a partir de produtos do PCR obtidos da região core. Resultados: 97dos 113 pacientes (86%) apresentavam níveis normais (0,8 – 1,9ng/dL) de T4L.Dezesseis pacientes (14%) apresentavam testes alterados: 15 deles (13%) tinhambaixas concentrações de T4L e somente 1 paciente (1%) tinha altas concentraçõesde T4L. Níveis normais (0,4 – 4 mIU/mL) de TSH foram observados em 102 pacien-tes (90%). Nove pacientes (8%) apresentavam altos níveis de TSH e somente 2pacientes (2%) apresentavam baixos níveis de TSH. Considerando a prevalência dosgenótipos do HCV, o genótipo 1b (47%, n = 53) foi o mais prevalente, seguido pelosgenótipos 1a (36%, n = 41), 3a (16%, n = 18), e 4a (1%, n = 1). Nenhuma diferençaestatisticamente significante (p > 0,05) foi encontrada entre a presença de disfunçãotireoidiana e os genótipos do HCV. Conclusão: Nossos resultados demonstram umaprevalência de 14% de disfunção tireoidiana em pacientes naive com hepatite crôni-ca pelo HCV e esta ocorrência parece não estar relacionada a nenhum genótipo doHCV em particular.
PO-204 (401)
AVALIAÇÃO DO PAPEL DO POLIMORFISMO DO GENE DA LECTINALIGANTE DE MANOSE (MBL2) NA HEPATITE PELO VHCPEDROSO ML, BOLDT AW, FERRARI LP, STEFFENSEN R, STRAUSS E, JENSENIUS J, IOSHII SO, REASON IMUniversidade Federal do Paraná – Curitiba
O vírus da hepatite C (VHC) é a principal causa mundial de doença hepática crônicae transplante hepático na atualidade. A maior parte dos pacientes infectados peloVHC desenvolve infecção crônica com viremia persistente. Existem evidências quetanto a imunidade inata quanto à adaptativa tem um papel decisivo na persistênciado vírus e na evolução para lesão hepática. Este estudo avaliou o polimorfismo dogene MBL2 em 102 pacientes com hepatite C moderada e severa, procedentes daregião sul do Brasil e relacionou os genótipos da MBL2 com a resposta ao tratamen-to antiviral. Os pacientes foram pareados por gênero, idade e grupo étnico com 102indivíduos controles seronegativos. Seis pontos de mutação do gene MBL2 nas re-giões promotora (X/Y, H/L e P/Q) e exon1 (A/B, A/C, A/D e B, C ou D tambémchamadas de O) foram avaliadas através de reação em cadeia da polimerase (PCR)em tempo real com sondas de hibridização fluorescentes. A concentração da MBLfoi avaliada por teste ELISA. A freqüência do genótipo YA/YO foi significativamentemaior nos pacientes com VHC do que nos controles. Ainda, os genótipos associadoscom baixos níveis de MBL (XA/XA, XA/YO e YO/YO) estiveram significativamentediminuídos nos pacientes com fibrose severa (METAVIR -grau IV), quando compara-dos com pacientes com fibrose moderada (grau II –METAVIR) e o grupo controle.Observou-se também que os genótipos da MBL com mutações X ou O estavamassociados com não resposta ao tratamento com interferon peguilado e ribavirina.Conclui-se que o polimorfismo da MBL2 pode estar associado tanto à suscetibilida-de para infecção com o VHC quanto ter um importante papel na evolução futura dadoença.
PO-205 (405)
RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA NA HEPATITE C: COMPARAÇÃODE RESULTADOS DE CLÍNICA PRIVADA E HOSPITAL PÚBLICO NO RIODE JANEIROFERNANDES FF, PEREIRA GHS, MARTINS DS, VEIGA ZST, FLAUSINO KCG, AHMED EO, SANTOS CMB, MIRANDA
N, PEREIRA JLHospital Geral de Bonsucesso – Ministério da Saúde – Rio de Janeiro
Fundamentos: O principal objetivo do tratamento da hepatite C é a Resposta Viro-lógica Sustentatada (RVS), ou seja, manter o HCV indetectável 6 meses após o térmi-no do tratamento. Segundo a literatura é possível obter RVS em cerca de 70% dospacientes com HCV genótipos 2 e 3 e em 40% dos com genótipo 1. O objetivo
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 63
deste estudo é avaliar a RVS e seus fatores preditivos em dois centros de tratamentono Rio de Janeiro, um privado e outro ligado ao SUS. Métodos: Estudo retrospectivode revisão de prontuários de pacientes tratados segundo o protocolo da SES-RJ, noperíodo de 2002 a fevereiro de 2006, em um consultório privado (centro 1) e umhospital geral na mesma cidade (centro 2). Foram comparadas as característicasdemográficas dos pacientes dos dois centros, bem como os fatores prognósticos e aRVS em cada um deles. Resultados:
Genótipo Centro RVS Sexo Idade Cirróticos RVS (%)(%) (M/F) (anos) (%) cirróticos
1 1 36.36 23/31 52.71 ± 8.86 26.92 282 22.45 49/45 52.76 ± 8.76 23.47 4
2 e 3 1 43.75 21/11 48.65 ± 10.4 32.14 332 29.27 31/10 48.46 ± 6.27 40 21
Os dois grupos foram semelhantes quanto às variáveis demográficas. Para o centro1 estavam disponíveis quantificações da carga viral antes do início, na 4ª e 12ªsemanas do tratamento. Neste centro, no genótipo 1, carga viral pré-tratamento,PCR negativo na 12ª semana e estágio de fibrose foram fatores preditivos de RVS (p< 0.05). Já no genótipo 3 apenas o PCR negativo na 4ª semana teve p < 0.05. Nocentro 2, o único fator prognóstico de RVS foi o estágio de fibrose no genótipo 1.Conclusão: Embora os dados demográficos sejam semelhantes em ambos os cen-tros, houve uma diferença importante na taxa de RVS entre eles. Levando-se emconta o fato dos medicamentos fornecidos pela SES serem entregues aos pacientes,responsáveis pela sua administração, a aderência e o armazenamento tornam-sevariáveis relevantes para explicar a diferença de RVS. Estudos prospectivos envolven-do pólos de aplicação de medicação são necessários.
PO-206 (406)
TRATAMENTO DA HEPATITE C EM PACIENTES CIRRÓTICOS COM PRO-TOCOLO DE DOSES ESCALONADASFERNANDES FF, PEREIRA GHS, MARTINS DS, CARIÚS LP, VEIGA ZST, FLAUSINO KCG, AHMED EO, COELHO M,FOSSARI RN, PEREIRA JLHospital Geral de Bonsucesso – Ministério da Saúde – Rio de Janeiro
Fundamentos: O principal objetivo do tratamento da hepatite C em pacientes cir-róticos é a resposta virológica sustentada (RVS) e a conseqüente prevenção de com-plicações e do desenvolvimento de hepatocarcinoma. Além disso, a ausência deviremia detectável no momento do transplante hepático melhora seus resultados alongo prazo. O tratamento com doses plenas de interferon peguilado (PEGIFN) eribavirina (RBV) é pouco tolerado por este grupo de pacientes. O objetivo destetrabalho foi avaliar a tolerância e a eficácia do uso de doses escalonadas de interfe-ron convencional (IFN) e RBV nos pacientes Child B ou Child A, com descompensa-ção prévia ou citopenias que os excluam do protocolo da SES. Métodos: Foramavaliados pacientes tratados com doses escalonadas de IFN e RBV de 2004 a 2006.O tratamento foi iniciado com 250mg/dia de RBV para pacientes com menos de64Kg e 500mg/dia para os com mais de 64Kg. A dose inicial de IFN foi de 1500UI,3 vezes por semana. As doses foram aumentadas em 50% a cada duas semanas,conforme tolerância clínica e laboratorial. Resultados: Foram tratados 23 pacientes,11 homens (47%), com média de idade de 54.9 (± 7.12) anos, sendo 86.36%portadores de vírus genótipo 1, 78,26% cirróticos Child A e os demais Child B. Amédia do MELD foi de 10.9 (± 2.38). Havia 69.57% de pacientes com plaquetope-nia (50.000-70.000), 34.78% com neutropenia (abaixo de 1500) e 26.09% comdescompensações prévias decorrentes da cirrose. Cinco pacientes interromperam otratamento: dois por descompensação da cirrose (ascite e hemorragia digestiva porvarizes esofagianas), dois por infecções de pele e um por hipoacusia. A duraçãomédia foi de 28.42 (± 16.25) semanas com a dose máxima de IFN sendo atingida,em média, após 7.73 (± 8.08) semanas e de RBV após 6.47 (± 6.46) do seu início.Houve associação entre o Child e o MELD e a tolerância ao tratamento, sem signifi-cância estatística. Não houve preditores de obtenção da dose máxima, tampoucoda interrupção do tratamento. Nenhum dos pacientes obteve RVS. Conclusão: otratamento de pacientes cirróticos com bicitopenias e descompensações prévias comIFN e RBV apresentou efeitos colaterais indesejáveis e não obteve RVS.
PO-207 (407)
EFICÁCIA DO TRATAMENTO ANTIVIRAL DE PACIENTES COM HEPATI-TE C CRÔNICA PELO GENÓTIPO 3FERNANDES FF, PEREIRA GHS, MARTINS DS, VEIGA ZST, FLAUSINO KCG, AHMED EO, SANTOS CMB, MIRANDA
N, PEREIRA JLHospital Geral de Bonsucesso – Ministério da Saúde – Rio de Janeiro
Fundamentos: O tratamento do genótipo 3 do vírus da hepatite C (VHC) disponibi-lizado no nosso meio é a associação de Interferon convencional (INF) e ribavirina(RBV). A maioria dos trabalhos encontrados na literatura avaliam a RVS do genótipo3 associada à do genótipo 2. O objetivo deste estudo é avaliar a RVS alcançada nonosso serviço e os seus possíveis fatores preditores. Métodos: Estudo retrospectivode revisão de prontuários de pacientes tratados entre 2002 e 2006, de acordo com
o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Os pacientes foramtratados por 24 semanas com 3MUI de IFN, 3 vezes por semana. A dose de RBV foide 500mg/dia nos com menos de 64Kg, 750mg/dia nos com peso entre 64 e 85Kg,e 1g/dia nos com mais de 85Kg. A RVS foi definida como não detecção do VHC porPCR qualitativo seis meses após o término do tratamento. Resultados: Foram avalia-dos 71 pacientes, sendo 51 homens (70.4%), com média de idade 49,28 (± 7.88)anos. Destes 36.51% eram cirróticos. A forma de contágio provável foi uso de dro-gas endovenosas em 25.53%, transfusão de hemoderivados em 25,53%, procedi-mentos invasivos em 19.15% e desconhecida em 20.55% dos casos. A RVS obtidaneste grupo de pacientes foi de apenas 35.62%, fiando em 26% nos pacientes comestágio 5 e 6 de fibrose. Foi encontrada associação estatisticamente significativatanto para estágio de fibrose quanto para ausência de VHC na quarta semana detratamento (para aqueles que realizaram PCR quantitativo antes e durante o trata-mento) e RVS. Conclusão: A RVS em nosso meio está muito aquém da relatada naliteratura mundial. Parte deste achado poderia ser explicada pela análise da respostado genótipo 3 isoladamente e pela alta prevalência de cirróticos. Porém, fatorescomo eficácia da medicação disponibilizada para o tratamento do genótipo 3 preci-sam ser avaliados em estudos prospectivos.
PO-208 (414) – PRÊMIO TOMAZ FIGUEIREDO MENDES
PO-209 (417) – PRÊMIO TOMAZ FIGUEIREDO MENDES
PO-210 (421)
INFLUÊNCIA DA ANCESTRALIDADE, DETERMINADA POR ALELOS ES-PECÍFICOS DE POPULAÇÕES, NA RESPOSTA TERAPÊUTICA DE PACIEN-TES COM HEPATITE CRÔNICA CCAVALCANTE LN, LYRA AC, ABE-SANDES K, ÂNGELO AL, BRANDÃO PS, LIMA L, CARVALHO JM, LEMAIRE D,SANTANA N, LYRA LServiço de Gastro-Hepatologia - Universidade Federal da Bahia - Salvador
Estudos norte-americanos demonstram que a resistência ao tratamento antiviral ésignificativamente maior entre indivíduos de ancestralidade africana. Não existemdados no Brasil que correlacionem etnia e evolução da hepatite C. Objetivos: Des-crever a etnia por classificação fenotípica e a freqüência de marcadores genéticos deancestralidade nos pacientes com hepatite crônica C; Comparar os grupos de pa-cientes, classificados com os marcadores moleculares da ancestralidade, segundo:genótipos do vírus da hepatite C (HCV); estágio de fibrose hepática e reposta àterapia antiviral. Métodos: Incluídos pacientes com hepatite crônica C, idade > 18anos, submetidos à biópsia hepática e à terapia com interferon e rivabirina. As amos-tras de DNA genômico foram obtidas a partir de células mononucleares do sangueperiférico. Foram analisadas as freqüências de quatro Alelos Específicos de Popula-ções (PSA) autossômicos: AT3 mais freqüente em populações africanas, SB19.3 maisfreqüente em europeus, APO presente em populações indígenas da Amazônia Brasi-leira e em europeus e PV92 freqüente em indígenas da Amazônia Brasileira. Resulta-dos: Foram analisados 89 pacientes com média de idade de 48,9 anos, sendo 65,1%do gênero masculino. Na classificação étnica fenotípica, observamos 26,7% bran-cos, 67,4% mulatos e 5,8% negros. Os alelos PV92 foram encontrados em heterozi-gose em 54,6% dos pacientes, em homozigose em 6,02% e estavam ausentes em57,8% dos casos. Os alelos SB19.3 eram heterozigotos em 55,3% dos pacientes ehomozigotos em 2,32% e ausentes em 41,8% da população. Os alelos AT3 eramhomozigotos em 25,6% e heterozigotos em 73,0% dos casos. Os alelos APO foramheterozigotos em 88,2% e ausentes em 10,6% dos indivíduos. Foi observado que76,2% dos brancos foram infectados por HCV genótipo 1, 9,5% genótipo 2 e 14,3%genótipo 3. Entre mulatos e negros, 81% tinham genótipo 1 e 19% genótipo 3. Pelaclassificação METAVIR, 63,2% dos brancos apresentavam estágio F2 e 36,8% F3/F4;entre mulatos e negros 51,7% apresentavam estágio F2 e 48,3% F3/F4 (p = 0,44).Entre os brancos, 73,9% tiveram resposta virológica sustentada (RVS) e 26,1% fo-ram não respondedores ou recidivantes; entre mulatos e negros, 45% tiveram RVS e55% foram não respondedores ou recidivantes (p = 0,02). Conclusão: Em pacientescom hepatite crônica C de ancestralidade predominantemente africana foram ob-servadas menores taxas de RVS ao tratamento com interferon e ribavirina.
PO-211 (435)
RESULTADOS DE TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA COM IN-TERFERON PEGUILADO (PEG-IFN) E RIBAVIRINA EM PACIENTES NÃOSELECIONADOS NO HC/UNICAMPSEVÁ-PEREIRA T, NASSIF CES, LORENA SLS, ALMEIDA JRS, ESCANHOELA CAF, SOARES ECDisciplina de Gastroenterologia/DCM/Faculdade de Ciências Médicas/Gastrocentro/UNICAMP - Campinas/SP
Fundamento: A disponibilização do PEG-IFN, associado à Ribavirina, para trata-mento da Hepatite C crônica no serviço público, gerou uma expectativa de melhorada resposta virológica sustentada (RVS). No entanto, sabemos que os resultadosobtidos em estudos controlados e em população selecionada muitas vezes não sereproduzem quando transferidos para o ambiente assistencial de uma populaçãonão selecionada. Neste levantamento retrospectivo, visamos os resultados obtidoscom esse tratamento na prática clínica. Métodos: Levantados os dados de 58 pa-cientes com Hepatite C Crônica tratados com PEG-IFN e Ribavirina no serviço de
S 64 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
Gastroclínica do HC/UNICAMP, com acompanhamento de pelo menos 6 m após otérmino do tratamento. Os pacientes foram tratados conforme protocolo da Secre-taria de Saúde de SP. Resultados: 58 pacientes, 46 homens, com idade média de45,5 ± 9,5 anos; 54 deles apresentando genótipo 1 e o restante genótipo 3; cirroseestava presente em 13 (22,4%). Vinte pacientes já haviam realizado tratamentoprévio com Interferon convencional associado ou não a Ribavirina. O PEG-IFN utili-zado foi PEG-IFN α2a em 27 pacientes e PEG-IFN α2b em 31. Oito pacientes recebe-ram Eritropoetina por anemia e 14 receberam Filgrastima por neutropenia. Oitopacientes tiveram o tratamento suspenso por efeitos colaterais ou não aderência.Entre os 50 que se mantiveram em tratamento, 24 (48%) foram considerados nãorespondedores (considerando-se neste grupo os 12 pacientes que tiveram o trata-mento interrompido devido a PCR+ na 12ª semana e os pacientes com PCR+ no finaldo tratamento). Cinco pacientes (10%) tiveram resposta ao final do tratamento,porém apresentaram recaída aos 6 meses e 21 (42%) apresentaram RVS. Em relaçãoà resposta precoce, 42 pacientes tiveram o PCR qualitativo realizado na 12ª semana,dos quais 18 foram positivos e 24 negativos. Entre os 18 positivos, 12 tiveram otratamento interrompido e 6 foram mantidos com tratamento (por resposta bioquí-mica, desejo do paciente), porém todos mantiveram PCR positivo ao final do trata-mento. Dos 24 pacientes com resposta precoce, 17 alcançaram RVS, 5 tiveram reca-ída, 1 não teve resposta ao final do tratamento (break-throught) e 1 paciente teve otratamento suspenso após a 12º semana por efeito colateral. Conclusão: A taxa deRVS após tratamento com PEG-IFN e ribavirina foi abaixo da descrita na literatura,possivelmente pela utilização de população não selecionada, que reflete a práticaclínica habitual.
PO-212 (436)
RESULTADOS PRELIMINARES DE RETRATAMENTO COM INTERFERONPEGUILADO E RIBAVIRINA EM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICANO HC/UNICAMPLORENA SLS, SEVÁ-PEREIRA T, NASSIF CES, GOMES VP, ALMEIDA JRS, ESCANHOELA CAF, SOARES ECDisciplina de Gastroenterologia/DCM/Faculdade de Ciências Médicas/Gastrocentro/UNICAMP - Campinas/SP
Fundamento: Com a expansão do tratamento da Hepatite C Crônica surgiu umaquestão: pacientes não respondedores ou recidivantes ao tratamento com interfe-ron ou interferon e ribavirina teriam ganho real ao serem retratados com interferonpeguilado e ribavirina independente de seu genótipo? Os resultados já publicadossão conflitantes Métodos: Foram levantados os dados de 24 pacientes com Hepati-te C Crônica, independente do grau de fibrose e genótipo, que não tiveram respostasustentada ao primeiro tratamento, e que foram retratados com interferon peguila-do e ribavirina no serviço de Hepatologia do HC/UNICAMP. Não foram incluídosaqueles que tiveram suspensão do primeiro tratamento por efeitos colaterais, ouque ainda não haviam completado 6 meses após o término do tratamento, e queportanto não poderiam ter a RVS avaliada. Casuística: 21 homens e 3 mulheres,idade média de 42 ± 7 anos; 21 deles apresentando genótipo 1 e o restante genóti-po 3; 9 (37,5%) tinham cirrose e 15 (62,5%) algum grau de fibrose. Tratamento: 13usaram interferon peguilado α2b e o restante α2a, seguindo as normas vigentes naépoca para liberação da medicação pela SSSP, que liberava o interferon de acordocom o peso (α2a para pacientes com mais de 75Kg e α2b para o restante). Resulta-dos: Destes 24 pacientes, 9 (38%) tiveram RVS, sendo 5 tratados com interferonpeguilado α2b; 6 foram não respondedores (4 deles tratados com interferon pegui-lado α2b); 3 tiveram resposta durante o tratamento com negativação da carga viralcom 12 semanas, mas com PCR positivo 6 m após (todos tratados com interferonpeguilado α2b); 6 foram considerados não respondedores por suspensão do trata-mento por efeitos colaterais (5 eram pacientes tratados com interferon peguiladoα2a). A RVS foi de 33,3% no grupo com cirrose e 40% no grupo com Hepatite CCrônica. Dos pacientes com genótipo 3 todos tiveram RVS e 28,5% daqueles comgenótipo 1. Os efeitos colaterais que levaram a suspensão do tratamento foramneutropenia em 4 pacientes, anemia em 1, e em um, depressão importante, nãocontrolada com antidepressivos. Deve ser levado em consideração, que por ser umserviço público, nossos pacientes só têm acesso às medicações fornecidas pela SSSP,que durante o tratamento de grande parte destes pacientes não estava liberando ouso de fatores de crescimento hematológicos. Conclusão: Apesar de taxas de RVSno retratamento não serem ainda ideais, esta conduta na situação atual, deve serpensada frente a pacientes não respondedores.
PO-213 (438)
SEIS MESES DE IFN CONVENCIONAL NO TRATAMENTO DA HEPATITEC AGUDA GENÓTIPO 1 EM PORTADORES DE IRC EM HEMODIÁLISECOM RESPOSTA VIROLÓGICA PRECOCEMEIRELLES SOUZA AF, PACE F, BARBOSA KVBD, OLIVEIRA JM, FREITAS DS, SANTOS VM, MORAES JP, PIAZZI MH,AMARAL JR FJ, SANGLARD LAMServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: Após infecção aguda pelo vírus da hepatite C 50% a 80% dos pa-cientes desenvolvem hepatite crônica. Em não urêmicos, o tratamento na fase agu-da da infecção tem elevada taxa de resposta. Em portadores de IRC, a eficácia dotratamento da hepatite aguda C é incerta. O objetivo é verificar a eficácia e a segu-
rança do tratamento da hepatite C aguda em portadores de IRC em hemodiálise.Métodos: Em Março de 2005, foram encaminhados pela Unidade de hemodiáliseao CR-HUUFJF cinco portadores de IRC com hepatite C aguda, caracterizada pelaelevação das aminotransferases seguida pelo surgimento do anti-HCV e HCV-RNAséricos em indivíduos sabidamente anti-HCV negativo. A pesquisa qualitativa doHCV-RNA foi realizada no terceiro (resposta virológica precoce - RVP) e sexto mês detratamento e seis meses após o fim do mesmo. INF convencional 3 MU foi adminis-trado 3 vezes por semana por 6 meses. O tratamento teve início pelo menos 12semanas após o diagnóstico da hepatite C aguda. Eventos adversos foram observa-dos. Resultados: A média de idade dos pacientes foi 53 ± 10,1 anos e três indivíduos(60%) eram do sexo masculino. O tempo médio em hemodiálise até o diagnósticoda hepatite C aguda foi de 33 ± 26,5 meses. A infecção pelo HCV foi anictérica emtodos os pacientes. A média das aminotransferases no início do tratamento foi 311 ±173,2U/L. Todos os pacientes foram infectados pelo genótipo 1 do HCV. O tempomédio entre o diagnóstico da infecção e o início do tratamento foi de 4 ± 2,4 meses.RVP foi obtida em quatro pacientes (80%). Todos com RVP alcançaram respostavirológica sustentada. Dois pacientes apresentaram eventos adversos, mas não hou-ve necessidade de modificação da dose ou interrupção do tratamento. Conclusão:Em portadores de IRC em hemodiálise, o tratamento da hepatite C aguda com oesquema utilizado neste estudo foi bem tolerado e mostrou-se eficaz na prevençãoda cronificação da infecção pelo HCV. A resposta virológica precoce teve um eleva-do valor preditivo positivo para a resposta virológica sustentada.
PO-214 (439)
RELATO DE CASO – MONOTERAPIA COM RIBAVIRINA NO TRATAMEN-TO DE MANIFESTAÇÃO EXTRA-HEPÁTICA DO VÍRUS DA HEPATITE CMEIRELLES SOUZA AF, PACE F, BARBOSA KVBD, OLIVEIRA JM, GUERRA RR, FELGA G, MORAES JPServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é eventualmente associa-da ao desenvolvimento de manifestações extra-hepáticas. A terapia antiviral visandoà erradicação do vírus da hepatite C é o tratamento de escolha. O papel da monote-rapia com ribavirina é incerto. O objetivo é relatar o caso de uma paciente commanifestação extra-hepática ao HCV impossibilitando o uso do IFN, mas com umaboa resposta ao uso da ribavirina isolada permitindo a terapia antiviral combinada.Caso: Paciente de 62 anos com queixa de fadiga, distúrbio de sensibilidade nosmembros inferiores e lesões cutâneas. Transfusão de sangue em 1976. Exame físico:bom estado geral, púrpura palpável e redução da sensibilidade do tipo meia emmembros inferiores. Ausência de estigmas de doença hepática crônica e de sinais dehipertensão portal. Laboratório: Anti-HCV e HCV-RNA qualitativo positivos. Cargaviral do HCV: 568.968UI/ml e genótipo 1b do HCV Hemoglobina: 15.9g/dl; Conta-gem de plaquetas: 18000/mm3; AST: 60UI/ml; ALT: 48UI/ml; Creatinina 1.0mg/dl;Crioglobulinas positivas; FAN: negativo. EAS: ausência de proteinúria. A endoscopiadigestiva alta sem varizes de esôfago e USG sem esplenomegalia. Foi estabelecido odiagnóstico de crioglobulinemia mista essencial e trombocitopenia associada aoHCV. A trombocitopenia impossibilitou a realização da biópsia hepática e o uso deIFN. Optou-se pelo uso de ribavirina (1g/dia). Após sessenta dias de terapia, houvemelhora das queixas e o exame físico revelou melhora significativa das lesões cutâ-neas e da sensibilidade dos membros inferiores. Laboratório: Hemoglobina 11.6g/dl; Plaquetas: 144000/mm3; AST: 27UI/ml; ALT: 22UI/ml; HCV-RNA quantitativo:117.095UI/ml. Com o aumento do número de plaquetas foi realizada biópsia hepá-tica (A3F4 de METAVIR). IFN-peguilado alfa 2a foi introduzido e mantido por 12meses. Resposta virológica sustentada foi obtida. Conclusão: Este caso reflete asdificuldades envolvidas no tratamento da hepatite crônica C e abre perspectivaspara novas indicações da monoterapia com ribavirina no tratamento de suas mani-festações extra-hepáticas.
PO-215 (440)
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO BACTERIANA EM PORTADORES DE HEPA-TITE C CRÔNICA DURANTE O TRATAMENTO COM INTERFERON PE-GUILADO E RIBAVIRINAMORAES JP, MEIRELLES DE SOUZA AF, PACE F, OLIVEIRA JM, BARBOSA KVBD, AMARAL JR FJ, GUERRA RR, SOUZA MHServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: De um modo geral, 10% a 15% dos portadores de hepatite C crôni-ca apresentam eventos adversos durante terapia antiviral. A freqüência de infecçõese os fatores associados ao seu surgimento não estão definidos. O objetivo foi verifi-car a incidência de infecções bacterianas em portadores de hepatite C crônica trata-dos com Interferon peguilado e ribavirina. Métodos: Foram incluídos no estudoportadores de hepatite C crônica em tratamento com Interferon peguilado e ribavi-rina por pelo menos 6 meses no CRH-UFJF entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007.Foram excluídos portadores de insuficiência renal crônica e indivíduos infectadospelo HIV e/ou HBV. O tratamento utilizado, doses e duração foram as preconizadaspela portaria 863/2002 do Ministério da Saúde do Brasil. Episódios de infecçãoforam definidos como aqueles suspeitados (sinais e/ou sintomas) ou confirmados(cultura bacteriológica ou radiografia positiva) e tratados com antibióticos por via
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 65
oral ou parenteral. Para identificação dos fatores associados à infecção variáveis de-mográficas (sexo, idade), laboratoriais (leucometria global, neutrófilos, hemoglobi-na, carga viral e genótipo do HCV), clínicas (presença de co-morbidades) e histoló-gicas (grau de fibrose por METAVIR). Resultados: Entre os 72 pacientes tratados noCR-HUUFJF neste período, 54 foram incluídos no estudo. A média de idade dospacientes foi de 52,4 ± 8,9 anos e 30 (44%) pacientes eram do sexo masculino. Ogenótipo 1 do HCV foi observado em 42 (78%) e a carga viral baseline foi superiora 850.000UI em 17 (31%) pacientes. A presença de fibrose graus 3 e 4 de METAVIRfoi encontrada em 25 (50%) pacientes. Interferon peguilado α-2a foi utilizado em27 (50%) dos pacientes. A presença de infecção foi observada em 12 (22%) pacien-tes. Nenhuma das variáveis analisada foi capaz de predizer o risco de infecção. Con-clusão: Neste estudo, a freqüência de infecções em portadores de hepatite crônicaC tratados com Interferon peguilado e ribavirina foi elevada, entretanto não foi pos-sível identificar fatores envolvidos no seu surgimento.
PO-216 (441)
PERFIL DE INDIVÍDUOS COM CLAREAMENTO ESPONTÂNEO DO VÍ-RUS DA HEPATITE C (HCV)MEIRELLES SOUZA AF, PACE F, BARBOSA KVBD, OLIVEIRA JM, LIMA TS, NORONHA MFA, SANGLARD LMA,MORAES JP, AMARAL JR FJServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: Após infecção pelo HCV cerca de 30% dos indivíduos eliminamespontaneamente o vírus. Os fatores associados a este evento não estão plenamentedefinidos. O objetivo deste estudo é descrever as características de indivíduos comclareamento espontâneo do HCV e identificar as variáveis envolvidas. Métodos:Foram identificados no banco de dados do CRH-UFJF indivíduos anti-HCV positivo eHCV-RNA qualitativo negativo atendidos entre 2005 e 2007. A pesquisa do anti-HCV foi realizada por duas vezes em amostras diferentes por ELISA de 3a geração eo HCV-RNA qualitativo foi feito por técnica de RT-PCR (sensibilidade de 50UI). Variá-veis demográficas (idade na data provável de aquisição de infecção, sexo, epidemio-logia) e antecedentes de icterícia e/ou diagnóstico de hepatite aguda foram pesqui-sadas. Foi considerado ano de aquisição de infecção o ano de realização de transfu-são de sangue ou o primeiro ano de uso de drogas intravenosas. Para análise com-parativa foram criados 2 grupos: GI-hepatite crônica C (atendidos no CRH no mes-mo período) e GII-clareamento espontâneo do HCV e as variáveis foram correlacio-nadas. Resultados: Foram incluídos 47 pacientes sendo 22 (47%) do sexo femini-no. A média de idade no ano de aquisição da infecção foi 17,3 ± 17,6 anos. Osprincipais fatores de risco observados foram transfusão de sangue (19 pacientes –40%) e uso de drogas intravenosas (9 pacientes – 19%). Antecedentes de icterícia e/ou hepatite aguda ocorreram em 5 (11%) pacientes. Foram identificados 313 porta-dores de hepatite crônica C sendo 182 (58%) do sexo masculino. A média de idadeno momento da infecção foi 22,6 ± 16,5 anos. O uso de DIV e transfusão de sanguefoi relatado por 51 (16%) e 126 (40%) pacientes, respectivamente. Na análise com-parativa houve predomínio do sexo feminino no grupo II (53% VS. 42%), entretan-to sem significância estatística (p = 0,15). O GII apresentou média de idade nomomento da contaminação inferior ao GI (22,6 anos VS. 17,3 anos; p = 0,05; IC95%: 0,3 – 10,9). Conclusão: De acordo com o estudo, pacientes que se contami-naram mais jovens apresentaram maior chance de clareamento espontâneo do HCV.
PO-217 (442)
TRIAGEM DE BASE POPULACIONAL PARA HEPATITE C EMPREGANDOO TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DEANTICORPOS ANTI-HCVMEIRELLES DE SOUZA AF, PACE F, OLIVEIRA JM, BARBOSA KVBD, SANGLARD LAM, GOMIDE CPP, PENHA C,SOARES MP, COSTA DMP, NEVES SNServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: A hepatite crônica C (HCV) é um problema de saúde pública. Comobjetivo de determinar a prevalência de portadores de HCV crônica promoveu-seuma triagem populacional em Juiz de Fora-MG em 2006 e 2007. Métodos: Estudotransversal, envolvendo a realização de uma triagem de base populacional. Foramconvidados indivíduos da população geral para realizarem a pesquisa do anticorpocontra o VHC. Em seguida foram entrevistados abordando dados demográficos eepidemiológicos. Logo após, realizaram teste rápido para detecção do anti-HCV(HCV Test BIOEASY ), com coleta de sangue total por lanceta. O resultado é obtidoem 15 minutos. A sensibilidade é de 99,0%, especificidade de 99,4% e concordân-cia de 99,3% em comparação com o teste ELISA anti-HCV. Os positivos realizaram apesquisa do anti-HCV por ELISA de 3ª geração. A pesquisa do RNA-HCV qualitativopor RT-PCR foi feita nos casos confirmados. Resultados: Foram testados 1.494 indi-víduos, 898 (60%) do sexo feminino com média de idade global de 45,3 ± 47 anos.Transfusão de sangue foi relatada por 165 (11%) indivíduos, uso de drogas intrave-nosas (DIV) por 10 (0,7%) e inalatórias por 50 (3,3%). Tatuagem, piercing e acu-puntura estiveram presentes em 115 (7,7%), 92 (6,2%) e 165 (11%) dos indivíduostestados, respectivamente. Dentre a amostra testada, 356 (24%) indivíduos eramprofissionais da área de saúde (PAS). A pesquisa do anti-HCV foi positiva em 24
(1,6%) dos indivíduos testados. Todos foram confirmados por ELISA. O anti-HCV foipositivo em 8 (4,8%) indivíduos que receberam transfusão de sangue, 6 (60%)usuários de DIV e 1 (0,3%) PAS. Dos 24 positivos, 23 (96%) tinham mais que 30anos de idade, representando uma prevalência de 2,1% nesta faixa etária. Quinzepacientes já realizaram a pesquisa do HCV-RNA qualitativo, sendo 13 (86,7%) posi-tivos. Todos estão em seguimento clínico. Conclusão: O teste rápido mostrou-seeficaz e com alta especificidade na identificação de casos. A prevalência encontradafoi semelhante à descrita no Brasil. Usuários de DIV foi o grupo mais susceptível àinfecção pelo HCV.
PO-218 (445)
HEPATITE C - APRESENTAÇÃO CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA EM AM-BULATÓRIO ESPECIALIZADO NO AMAZONASCAMARGO KM, ROCHA CM, CAMPOS JG, SILVA MJS, BESSA A, FERREIRA LFServiço de Hepatologia - Ambulatório Araújo Lima - Hospital Universitário Getúlio Vargas - Universidade Federal doAmazonas – MA
Fundamentos: O estado do Amazonas é considerado de baixa prevalência para ovírus da hepatite C (HCV). Existem poucos relatos a cerca da apresentação clínicadesses pacientes. Objetivo: Avaliar a epidemiologia e a forma de apresentação clíni-ca da infecção pelo HCV. Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes anti-HCVpositivo acompanhados ambulatorialmente no período de 2000 a 2007. Foramanalisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, naturalidade, profissão, vida sexual,ingesta alcoólica, hemotransfusão, tatuagem, cirurgia, hemodiálise, história familiarde hepatite, modo potencial de contagio, HCV-RNA qualitativo, genótipo HCV, so-rologias HBsAg e anti-Delta e apresentação clínica. Resultados: Foram estudados151 pacientes, com média de idade de 48 ± 13 anos, sendo 65% (97/151) homens.O modo potencial de contágio foi indeterminado em 79% e parenteral em 21%.Identificaram-se como fatores de risco: uso de drogas injetáveis (83%), hemodiálise(76%), hemotransfusão (43%) e cirurgia (39%). Ingesta alcoólica maior que 20g/dia esteve presente em 32% (23/72) dos casos. As formas de apresentação clínicaforam: hepatite crônica com hipertensão portal (HP) (varizes esofagianas ou esple-nomegalia) em 39% (59/151), hepatite crônica sem HP 38% (58/151), hepatite Ccurada em 11% (17/151), hepatocarcinoma em 2% (3/151) e hepatite aguda em1% (1/151); 8% (13/151) aguardam definição diagnóstica. Ocorreu co-infecçãocom o vírus da hepatite B em 8% (12/151) dos casos e co-infecção com os vírus dashepatites B e Delta em 1% (1/151). Com relação ao genótipo, 77 pacientes dispu-nham desta informação: 66% (51/77) eram genótipo 1, 25% (19/77) eram genóti-po 3 e 9% (7/77) eram genótipo 2. Conclusão: Encontramos alta taxa de co-infec-ção com o HBV, isso pode ser explicado pela elevada endemicidade HBV na regiãoe pelo compartilhamento de rotas de transmissão por esses vírus. Apesar da hemo-transfusão apresentar-se como fator de risco, vale ressaltar que outras condiçõespredisponentes à infecção estiveram associadas nessa população: hemodiálise, pro-cedimentos hospitalares e uso de drogas injetáveis.
PO-219 (450)
PEGINTERFERON ALFA 2A ASSOCIADO À RIBAVIRINA PARA CO-INFEC-TADOS HCV/HIV VIRGENS DE TRATAMENTOREZENDE REF, PIMENTA ATM, SECAF M, RAMALHO LNZ, ZUCOLOTO S, FERREIRA RM, PASQUALIM M, GRIMM
LCA, SILVA AAC, SANTA MLSSAmbulatório de Hepatites - NGA 59, Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP) - Ribeirão Preto - SP
Fundamentos: Após o início da era HAART, a hepatopatia pelo vírus da hepatite Ctem sido uma importante causa de morbimortalidade em portadores de HIV. Co-infectados HCV/HIV apresentam menores resposta virológica sustentada (RVS) emrelação aos mono-infectados. Objetivo: Avaliar taxa de resposta virológica de finalde tratamento (RVF) e sustentada (RVS) nos pacientes virgens de tratamento, coin-fectados HCV/HIV, tratados com PEG-IFN alfa 2a associado à ribavirina por 48 sema-nas. Casuística e métodos: Foram avaliados 24 pacientes, virgens de tratamento,que receberam PEG-IFN alfa 2a (180µg/semana, subcutâneo) + ribavirina (1.000 a1.250mg/dia, via oral). Foram excluídos pacientes co-infectados com HBV e infec-ções oportunistas ativas. Estudou-se dados clínicos, genotipagem do vírus da hepa-tite C (Inno-Lipa II), PCR-RNA-HCV quantitativo pré-tratamento e 12 semana detratamento (b-DNA-Bayer), contagem de CD4 (citometria de fluxo), quantificaçãoda carga viral do HIV (b-DNA; Bayer) e histologia hepática (Knodell et al., 1981modificada por desmet et al., 1994). Analisou dados de RVF (PCR- RNA-HCV quali-tativo negativo no final de tratamento) e RVS (PCR-RNA-HCV qualitativo negativo,sexto mês após suspensão de tratamento). Resultados: Vinte (83,3%) pacienteseram do sexo masculino, idade média 48,3 (variação 32 a 48 anos). A média dacontagem de CD4 foi de 541 cél/mm3 (variação 189-985 cél/mm3). Dezessete(70,8%) pacientes apresentavam a carga viral do HIV indetectável. Vinte e um pa-cientes encontravam-se em uso de HAART. Observou-se genótipo 1 em 19/24(79,2%). A mediana da carga viral do HCV pré-tratamento foi 850.000UI/ml. Ob-servou-se fibrose e inflamação moderada/grave em 41,6% e 54,2% respectivamen-te. Cirrose ocorreu em 8,3%. Dezessete pacientes concluíram 48 semanas de trata-mento, quatro pacientes continuam recebendo medicações e três pacientes suspen-deram tratamento por efeitos colaterais. RVF foi obtida em 10/17 (58,8%) pacien-tes. Sete pacientes (41,2%) foram não respondedores. A RVS foi avaliada apenas em
S 66 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
5 pacientes. Dois paciente alcançaram a RVS (40%) e três (60%) apresentaram reci-diva. Conclusão: Apesar da amostragem pequena, resultados de RVS foram seme-lhantes aos estudos multicêntricos internacionais, demonstrando menor respostavirológica do PEG-INF alfa 2a + Ribavirina nos co-infectados quando comparadosaos mono-infectados. Novos esquemas de tratamento devem ser propostos paraaumento da eficácia terapêutica.
PO-220 (451)
AVALIAÇÃO DA RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA COM INTERFE-RON RECOMBINANTE ASSOCIADO À RIBAVIRINA EM PORTADORESDE HEPATITE C CRÔNICA, GENÓTIPO 2 E 3REZENDE REF, PIMENTA ATM, SECAF M, ZUCOLOTO S, RAMALHO LNZ, FERREIRA RM, PASQUALIM M, GRIMM
LCA, SILVA AAC, SANTA MLSSAmbulatório de Hepatites - NGA 59, Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP) - Ribeirão Preto - SP
Fundamentos: Dados da literatura demonstram que pacientes com hepatite C crô-nica genótipo não 1 possuem maiores taxas de resposta virológica sustentada (RVS)em relação aos infectados com genótipo 1. Interferon recombinante associado àribavirina é uma opção terapêutica oferecida pelo SUS. Objetivo: Avaliar taxa deresposta virológica sustentada dos pacientes com hepatite C crônica, mono-infecta-do, virgens de tratamento, tratados com interferon recombinante associado à riba-virina. Casuística e métodos: No período de agosto de 2002 a junho de 2007,foram avaliados 22 pacientes que receberam tratamento com interferon recombi-nante (3 MU, 3x/sem, subcutâneo) + ribavirina (1000 a 1250mg/dia, via oral) por24 ou 48 semanas. Foram excluídos co-infectados com hepatite B, HIV e portadoresde insuficiência renal. Avaliou-se dados demográficos, genotipagem do vírus da he-patite C (Inno-Lipa II) e histologia hepática (Knodell et al., 1981 modificada porDesmet et al. 1994). Analisou dados de resposta virológica final (RVF) (PCR- RNA-HCV qualitativo negativo no final de tratamento) e RVS (PCR-RNA-HCV qualitativonegativo, sexto mês após suspensão de tratamento). Resultados: Quatorze (63,6%)pacientes eram homens, idade média 43,6 (variação 20 a 64 anos). A distribuiçãodos genótipos foi a seguinte: genótipo 3 [19/22 (86,3%)]; genótipo 2 a/2c [2/22(9,1%)] e associação do genótipo 2b/3a [1/22 (4,6%)]. Fibrose e inflamação mode-rada/grave ocorreram em 50% e 59% respectivamente. Observou-se 4 casos decirrose, Child A (18,2%). Apenas 1 paciente interrompeu o tratamento, no quartomês, por dificuldade pessoal para aquisição da medicação. Dezenove pacientes re-ceberam tratamento por 24 semanas e 3 pacientes cirróticos trataram-se por 48semanas. A RVF foi obtida em 17/22 (77,3%) pacientes. Apenas quatro pacientes(18,2%) foram não respondedores. A RVS ocorreu em 12/17 (70,6%) pacientes.Três pacientes (17,6%) foram recidivantes. Conclusão: O interferon recombinanteassociado à ribavirina ainda é uma opção terapêutica para tratamento da hepatite Ccrônica, genótipo 2 e 3, sendo importante a extensão do tratamento para 48 sema-nas na presença de fibrose avançada.
PO-221 (452)
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA DO INTERFERON PEGUILA-DO ALFA 2A ASSOCIADO À RIBAVIRINA EM MONOINFECTADOS COMHEPATITE C CRÔNICA VIRGENS DE TRATAMENTOREZENDE REF, PIMENTA ATM, SECAF M, RAMALHO LNZ, ZUCOLOTO S, FERREIRA RM, PASQUALIM M, GRIMM
LCA, SILVA AAC, SANTA MLSSAmbulatório de Hepatites - NGA 59, Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP) - Ribeirão Preto - SP
Fundamentos: O conhecimento de dados brasileiros sobre resposta virológicasustentada obtida através do tratamento da hepatite C crônica com interferonpeguilado (PEG-IFN) alfa 2a associado à ribavirina é de extrema importância. Ob-jetivo: Avaliar taxa de resposta virológica de final de tratamento (RVF) e sustenta-da (RVS) dos pacientes com hepatite C crônica, mono-infectados, virgens de trata-mento, com PEG-IFN alfa 2a associado à ribavirina. Casuística e métodos: Ava-liou-se 48 pacientes, virgens de tratamento, que completaram tratamento por 24ou 48 semanas, com PEG-IFN alfa 2a (180µg/semana, subcutâneo) + ribavirina(1.000 a 1.250mg/dia, via oral). Foram excluídos renais crônicos, co-infectadoscom HBV e/ou HIV. Avaliou-se dados demográficos, genotipagem do vírus da he-patite C (Inno-Lipa II), PCR-RNA-HCV quantitativo pré-tratamento e 12 semanade tratamento (b-DNA-Bayer) e histologia hepática (Knodell et al., 1981 modifica-da por Desmet et al. 1994). Analisou dados de RVF (PCR- RNA-HCV qualitativonegativo no final de tratamento) e RVS (PCR-RNA-HCV qualitativo negativo, sextomês após suspensão de tratamento). Resultados: Trinta e um (64,6%) pacienteseram do sexo masculino, idade média 43,5 (variação 22 a 64 anos). Genótipo 1mostrou-se presente em 85,4%. A mediana da carga viral pré-tratamento foi703.044UI/ml (variação 615 a 7.700.000UI/ml). Observou-se fibrose e inflama-ção moderada/grave em 47,9% e 58,4% respectivamente. Cirrose ocorreu em10,4%. Queda 2 log da carga viral na 12 semana de tratamento foi observadaem 29/33 (87,9%) pacientes. Dois pacientes suspenderam tratamento, no tercei-ro mês, devido efeitos colaterais. Quarenta e quatro pacientes receberam trata-mento por 48 semanas, apenas 2 pacientes, genótipo 3a, trataram por 24 sema-nas. RVF foi obtida em 38/46 (82,6%) pacientes. Oito pacientes (17,4%) foramnão respondedores. A RVS ocorreu em 21/26 (80,8%) pacientes. Recidiva viralocorreu em 5/26 (19,2%) pacientes. Conclusão: A RVS obtida neste trabalho foi
superior ao estudo multicêntrico de registro do PEG-INF alfa 2a (Fried et al., 2002).Suporte de apoio do serviço aos pacientes, uso precoce de terapia adjuvante (fil-grastima e/ou eritropoetina), boa adesão ao tratamento, são hipóteses para a ob-tenção desta melhor resposta terapêutica.
PO-222 (456)
CORRELAÇÃO DO ESCORE APRI E FIB-4 NO DIAGNÓSTICO DE FIBRO-SE HEPÁTICA EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS CLIMA JMC, FERNANDES SG, HYPPOLITO EB, VALENÇA JR JT, PEREIRA KB, PIERRE AM, NÓBREGA ACM, PINHEIRO
SR, BESSA LLC, LIMA JWOServiço de Gastro-hepatologia do HUWC-Universidade Federal do Ceará e HSJ (SESA). Fortaleza - Ceará
Introdução: A biópsia hepática (BH) ainda é o padrão ouro na avaliação de fibrosehepática em pacientes com hepatite C crônica (HCC), entretanto, nos últimos anosdiversos métodos não invasivos têm sido descrito na literatura com acurácia variávelem detectar fibrose avançada (F3-F4) x (F0-F1-F2). Objetivos: Correlacionar os es-cores APRI e FIB-4 na detecção de fibrose hepática e avaliar se a associação com nívelde albumina melhora a acurácia. Casuística e método: 150 pacientes com HCCque se submeteram à BH entre 2000 a 2006 foram incluídos. Todos apresentavamHCV-RNA positivos, realizaram hemograma, AST, ALT, TP, INR, GGT, Albumina (ALB),Globulina. Utilizou-se a classificação METAVIR (F0-F4). O escore FIB-4 foi calculadoutilizando a fórmula: idade (anos) x AST (U/L)/contagem de plaquetas (109/L) x raizquadrada da ALT (U/L) e o escore APRI foi calculado utilizando a fórmula: [(AST/LSN)/plaquetas(109/L)]x100. A sensibilidade, especificidade, valores preditivo posi-tivo e negativo para os dois escores foram calculadas. A curva ROC foi calculadautilizando programa STATA 9.2 e a seguir nova curva ROC foi calculada com APRI eFIB-4 em relação ao nível de ALB normal (> 3,5 g%) e ALB baixa (< 3,5 g%). Calcu-lou-se a correlação entre os dois escores através correlação de Pearson. Resultados:150 pacientes HCC, 67% eram do sexo masculino, a média de idade 47,1 ± 10,2anos. Quanto ao grau de fibrose F0 em 47 casos (31,3%), F1 em 29 casos (19,3%),F2 em 33 casos (22%), F3 em 14 casos (9,3%) e F4 em 27 casos (18%). Houve umacorrelação muito boa entre o escore APRI e FIB-4 (r = 0,87). A curva ROC para escoreAPRI encontrou área de 0,7618 ± 0,0429 e intervalo de confiança [0,6777 a 0,8458;95%], enquanto a área para FIB-4 foi de 0,7919 ± 0,0411 e intervalo de confiança[0,7113 a 0,8724; 95%]. Ao se calcular a área sob a curva ROC para APRI quandoALB normal encontrou-se 0,8500 ± 0,0839 representando no ponto de corte APRI >1,98 a acurácia de 81,8%. Conclusões: Os índices que avaliam fibrose APRI e FIB-4apresentam boa correlação. A acurácia do APRI melhora quando estabelecemosdiferentes níveis de albumina.
PO-223 (457)
FREQÜÊNCIA DE GLICEMIA DE JEJUM INADEQUADA EM PORTADO-RES DE CO-INFECÇÃO HCV-HIVPACE F, MEIRELLES SOUZA AF, BARBOSA KVBD, OLIVEIRA JM, SOUZA MH, LIMA TS, AMARAL JR FJ, MORAES JPServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora
Fundamentos: Há dados consistentes demonstrando associação entre hepatite crô-nica C e anormalidades glicêmicas. O objetivo foi verificar a prevalência de glicemiade jejum inadequada (GJI) em portadores de co-infecção HCV-HIV. Métodos: Fo-ram incluídos no estudo pacientes atendidos no CRH-HUUFJF entre junho de 2005 ejunho de 2007 que preencheram os seguintes critérios inclusão: HCV-RNA séricoqualitativo positivo e anti-HIV positivo por dois métodos com pelo menos duasdeterminações de glicemia de jejum. Foram excluídos os infectados pelo vírus dahepatite B e os tratados previamente com Interferon e/ou ribavirina. Considerou-seGJI níveis de glicose superior a 100mg/dl. Para identificação dos fatores associados àintolerância a glicose correlacionou-se variáveis demográficas (sexo, idade, índicede massa corpórea), laboratoriais (Genótipo do HCV), histológicas (grau de fibrosee atividade inflamatória por METAVIR) e uso de terapia anti-retroviral. A pesquisaqualitativa do HCV-RNA foi realizada por RT- PCR. Resultados: Neste período foramatendidos 55 pacientes e 37 preencheram os critérios de inclusão e exclusão. Amédia de idade dos pacientes foi 40 ± 6,1 anos e 30 indivíduos (81%) eram do sexomasculino. O uso de drogas intravenosas foi o fator de risco relatado por 16 (43%)pacientes. A média do IMC foi 23,6 ± 24 e a do peso foi 69,4 ± 70,5Kg. A atividadeda ALT esteve aumentada em 30 (81%) pacientes. A carga viral do HCV foi obtidaem 12 (33%) e genótipo em 28 (76%) pacientes da amostra. Entre os pacientestestados houve predomínio do genótipo 1 (68%) e a carga viral do HCV foi inferiora 400.000UI em três pacientes (25%). Análise histológica foi realizada em 28 pa-cientes. Somente 4 (14%) pacientes apresentaram graus de fibrose e atividade infla-matória superior a dois. Glicemia de jejum inadequada foi observada em 12 (32%)pacientes. Não foi possível identificar nenhuma variável preditora de hiperglicemia.Conclusão: Entre portadores de co-infecção HCV-HIV é freqüente o achado GJI.Estudos posteriores são necessários para identificação dos fatores associados a esteachado e esclarecimento do seu significado.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 67
PO-224 (459)
RETRATAMENTO DE PORTADORES DE HEPATITE CRÔNICA C COMINTERFERON PEGUILADO E RIBAVIRINA – ANÁLISE DE RESULTADOSMEIRELLES DE SOUZA AF, PACE F, OLIVEIRA JM, BARBOSA KVBD, SANGLARD LAM, NORONHA MFA, LIMA TS,AMARAL JR FJ, SOUZA MH, MORAES JPServiço de Gastroenterologia – Centro de Referência em Hepatologia do HU/CAS da Universidade Federal de Juiz deFora (CRH-UFJF)
Fundamentos: A hepatite crônica C é das principais causas de falência hepática.Apenas a erradicação viral pode assegurar o retardo da progressão da doença. Noentanto, as alternativas terapêuticas ainda são pouco eficazes, com grande freqüên-cia de efeitos colaterais e muito caras. Recentemente, os Peginterferons obtiverammelhores resultados. Contudo, a resposta ao retratamento em pacientes tratadoscom IFN α convencional permanece indefinida. Métodos: Selecionamos 32 pacien-tes portadores de hepatite crônica C submetidos a 2 tratamentos por não alcança-rem o objetivo com a primeira tentativa. Todos foram tratados com IFNα e Ribaviri-na em doses padrões sem obtenção de resposta virológica ou com resposta nãosustentada após término do tratamento. No segundo tratamento, todos utilizaramPeginterferon α-2a ou α-2b associados à Ribavirina. Resultados: A média de idadedos pacientes foi de 44,3 ± 9,5 anos e 25 (78%) eram masculinos. O genótipo 1 doVHC foi observado em 26 (81%) e a carga viral pré-retratamento foi superior a400.000UI em 20 (62%) pacientes. A média da ALT, AST e carga viral do HCV foi105 ± 71, 85 ± 63 e 843.956 ± 813.223UI, respectivamente. Somente 5 pacientesnão foram submetidos à análise histológica. A presença de fibrose graus 3 ou 4 deMETAVIR foi encontrada em 21 (65%) pacientes. Foi utilizado Peginterferons α-2ano retratamento de 21 (66%) pacientes. Após o primeiro tratamento 29 (91%)foram considerados não respondedores e 3 (9%) respondedores com recidiva pós-tratamento. Após retratamento, 4 (12%) pacientes apresentaram resposta virológi-ca sustentada, 5 (16%) resposta com recidiva e 23 (72%) foram não respondedores.Não foi possível identificar nenhuma variável preditora de resposta. Conclusões: Emnosso estudo, a taxa de resposta foi similar àquela descrita na literatura. Apesar damelhor resposta final no tratamento do VHC naïve com os Peginterferons, sua indi-cação no retratamento do VHC deve ser criteriosa, pesando, individualmente, riscos,custos e benefícios da terapêutica.
PO-225 (464)
ESTUDO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DOS PACIENTES COMHEPATITE C EM TRATAMENTO COM INTERFERON PEGUILADO E RI-BAVIRINADIAS KS, GARCEZ SRC, SANTOS EHS, SANTOS IM, VEIGA CT, PACHECO MS, NASCIMENTO TVBNúcleo de Hepatites da Universidade Federal de Sergipe
Introdução: O tratamento atual da hepatite C é feito pela combinação de peg-interferon com ribavirina. Entretanto, a combinação da terapia antiviral é tambémassociada a efeitos colaterais que podem resultar em dosagem subótima ou descon-tinuação da terapia. Anormalidades hematológicas como anemia, neutropenia etrombocitopenia são encontradas, sendo a anemia a mais problemática. Objetivo:Identificar as alterações hematológicas ocorridas nos pacientes com hepatite C emtratamento com peg-interferon e ribavirina, além de quantificar o número de pa-cientes que tiveram o tratamento interrompido devido às alterações hematológicas.Pacientes e métodos: Será realizado um estudo transversal com base no levanta-mento dos prontuários dos pacientes portadores de hepatite C tratados com peg-interferon e ribavirina com início e término do tratamento entre setembro de 2002a julho de 2007, no ambulatório de fígado do HU-UFS/SE. Os dados priorizadosserão aqueles que versam sobre os efeitos hematológicos e as condutas tomadasdiante do quadro. Anemia foi definida como Hb < 10g/l, neutropenia com neutró-filos menores que 500 cel/mm3 e plaquetopenia com plaquetas < 50000/mm3.Resultados: Deste estudo participaram 83 pacientes com diagnóstico definitivo dehepatite C. 53 pacientes (63.8%) pertenciam ao sexo masculino e 30 pacientes(36.1%) ao sexo feminino. Houve necessidade de suspensão do tratamento porconseqüência da anemia (Hb < 10g/l) em 6 pacientes (8% do total de pacientes).Foi suspenso também em 3 pacientes, 4% do total de pacientes, devido à neutro-penia (neutrófilos < 650/mm3) A plaquetopenia foi responsável pela interrupção dotratamento em 2 pacientes (2.6%) que alcançaram níveis de 27000/mm3 e 550000/mm3 com epistaxe. Conclusão: Pacientes com hepatite C em tratamento com peg-interferon e ribavirina tem reduções significativas na hemoglobina, plaquetas e neu-trófilos.
PO-226 (469)
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS GLICÊMICOS DE PACIENTES PORTADORESDE HEPATITE C EM LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLANTE HEPÁTICONO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZBARROS CR, FERREIRA MN, PEREIRA LMMB, SILVA CCCC, CAMPOS AGSHospital Universitário Oswaldo Cruz - Recife-PE
Fundamentos: A hepatite C é um grande desafio para a saúde pública, estimando-se que cerca de 3% da população mundial esteja infectada pelo vírus da hepatite C(HCV). Uma ampla variedade de manifestações extra-hepáticas tem sido relatada
em associação com a infecção pelo HCV, entre elas, o diabetes mellitus. Objetivo:Verificar a prevalência da elevação da glicemia de jejum em pacientes portadores dehepatite C em lista de espera para transplante hepático no Hospital UniversitárioOswaldo Cruz (HUOC). Métodos: Foram incluídos 92 pacientes com diagnosticode infecção pelo HCV no período entre janeiro de 2005 a outubro de 2006 atendi-dos no ambulatório de transplante hepático do HUOC. Resultados: Dos 92 pacien-tes, 23 (25%) apresentaram o diagnostico de DM; 69 (75%) foram definidos comonão diabéticos, sendo que 19 (21%) apresentaram glicemia entre 100 e 126. Con-clusão: Foi encontrada prevalência elevada (25%) de diabetes mellitus em pacientescom hepatite C crônica em lista de espera para transplante hepático, comparadoaos 11% esperados na população brasileira, segundo o Ministério da Saúde.
PO-227 (481)
IMPORTÂNCIA DA FERRITINA EM PACIENTES PORTADORES DE HEPA-TITE C CRÔNICACARVALHO FILHO AP, SANTOS PAL, SANTOS GLA, PEREIRA LA, PINHEIRO PG, SILVA KCP, SILVA TAE, WYSZOMIRSKA
RMAFHospital Universitário Professor Alberto Antunes/Universidade Federal de Alagoas
Fundamentos: Nos últimos tempos, tem sido dada relativa atenção ao papel dosníveis de ferritina sérica na Hepatite crônica C, uma vez que um aumento dos índicesde sobrecarga de ferro já foi observado nesses pacientes. No entanto, o significadoe as conseqüências dessas alterações ainda não foram totalmente esclarecidos. Ob-jetivo: Avaliar a importância dos níveis séricos de ferritina e depósitos hepáticos deferro em pacientes portadores de hepatite C crônica. Métodos: Entre agosto de2006 a julho de 2007 foram analisados prospectivamente pacientes com anti-HCV eHCV-RNA positivos, que foram submetidos à determinações dos níveis séricos deferritina, AST e ALT. A seguir, os pacientes foram submetidos à biópsia hepática, comidentificação de depósito de ferro, através do método de coloração com Azul daPrússia. Foi realizado análise de risco relativo (RR), teste de Kruskal-Wallis e teste deMann-Whitney, para comparação de amostras independentes. Para avaliar possíveiscorrelações, utilizou-se o Teste exato de Fisher, considerando o nível de significânciade 0,05 (α = 5%). Resultados: Trinta e seis pacientes foram analisados, média deidade de 52+10 anos com predomínio do sexo masculino (66,7%). A média dosvalores de ferritina foi de 383,9+316ng/mL (máximo de 1257ng/mL e mínimo de10ng/mL). Valores elevados de AST e ALT foram encontrados em 67,6% e 76,5%dos pacientes, respectivamente. À histologia, observamos depósitos hepáticos deferro em apenas 32% dos pacientes. Ao comparar os níveis séricos de ferritina coma presença de depósito de ferro na biópsia, observou-se um RR de 1.3750. Noentanto, com o intervalo de confiança de 95%, o RR variou muito, de 0,6381 a2,9581, o que torna o resultado e a comparação pouco confiáveis. A correlaçãoentre as duas variáveis foi negativa (p = 0,3245). A comparação entre valores deferritina com AST e ALT também não mostrou RR confiáveis e a correlação entreferritina e AST/ALT também não foi significante (p = 0,5467 e p = 0,538, respectiva-mente). Conclusões: A maioria dos pacientes apresentou níveis aumentados de fer-ritina sérica, AST e ALT e somente uma minoria deles apresentou depósitos teciduaisde ferro. Não encontramos correlação entre graus aumentados de ferritina sérica epresença de depósitos teciduais, bem como não houve correlação entre os níveisséricos de ferritina e as transaminases. A comparação entre variáveis mostrou-se comrisco relativo muito variável e pouco confiável.
PO-228 (483)
ASPECTOS FENOTÍPICOS CELULARES EM PORTADORES DE HEPATITEC CRÔNICA: O PAPEL DAS CÉLULAS NK E NKTBASSETTI-SOARES E, BARBOSA KVBD, TEIXEIRA R, MARTINS FILHO OAInstituto Alga de Gastroenterologia da UFMG; Centro de Pesquisa Rene Rachou. Belo Horizonte (MG)
A função da resposta imune na hepatite C não é, ainda, completamente conhecida.Tem-se reconhecido que as células NK são as células imunológicas predominantesno fígado na ausência de infecção e constituem a primeira linha de defesa contravírus, incluindo a iniciação e regulação da resposta imune adaptativa. Nosso objeti-vo foi de investigar as características fenotípicas de células NK (CD3- CD16+) e NKT(CD3+ CD16+) em uma coorte prospectiva de pacientes com hepatite C crônica.Subpopulações de linfócitos periféricos foram identificados por citometria de fluxoutilizando-se anticorpos monoclonais contra diferentes epitopos de células NK eNKT em pacientes com hepatite C crônica (n = 32) e seus resultados comparadoscom controles saudáveis (n = 14). As variáveis quantitativas foram comparadas atra-vés do teste Kruskal-Wallis seguidas da comparação dos grupos com o pós-teste deDunn. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar a possibilidade de correla-ção entre as populações de linfócitos. Diferenças foram consideradas significantes sep = 0,05. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética. Após o estímulo mitogênico,a média percentual de células NK era de 7,954 ± 4,670 nos pacientes e 8,762 ±6,341 nos controles (p = NS). Apesar do percentual de células NKT não diferir esta-tisticamente entre os grupos, a média percentual foi duas vezes maior nos pacientes(0,594 ± 0,781) do que nos controles (0,278 ± 0,247). Correlação positiva entreCD8+HLA-DR+ e células NK foi observada no grupo de pacientes (r = 0,4945, p =0,0055) mas não entre CD8+HLA-DR+ e células NKT. Podemos supor que a nãoobservação, nos pacientes infectados pelo HCV, de uma maior população de células
S 68 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
NK seja um dos possíveis fatores para explicar a evolução dos pacientes para a doen-ça crônica. Nesta pesquisa, tampouco se observou diferença significante entre aspopulações de células NKT, que usualmente funcionam como ‘ponte’ entre a imuni-dade inata e a adquirida, a despeito de os portadores de hepatite C terem apresen-tado uma população média de células NKT duas vezes maior do que a observada nogrupo controle, provavelmente devido à amostra pequena de pacientes avaliados. Acorrelação positiva entre CD8+HLA-DR+ e células NK em pacientes com hepatite Ccrônica pode estar implicada na lesão hepática associada à persistência da infecçãopelo HCV. Maiores estudos estão sendo feitos para clarificar estes resultados prelimi-nares.
PO-229 (484)
CORRELAÇÃO ENTRE A FREQÜÊNCIA DE LINFÓCITOS T ATIVADOSCOM ASPECTOS FENOTÍPICOS DOS LEUCÓCITOS CIRCULANTES EMPACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA COM E SEM INSUFICIÊNCIARENAL CRÔNICABASSETTI-SOARES E, BARBOSA KVBD, MARTINS FILHO OA, TEIXEIRA RInstituto alfa de Gastroenterologia da UFMG; Centro de Pesquisa Rene Rachou. Belo Horizonte (MG)
A história natural da hepatite C crônica varia de lesões mínimas à cirrose. A infecçãopelo HCV permanece freqüente em pacientes com insuficiência renal crônica emhemodiálise, com progressão lenta. Fatores virais e do hospedeiro envolvidos napatogênese da doença crônica estão sob investigação. Este estudo teve por objetivoavaliar a resposta imune através da análise da correlação entre a população de linfó-citos T de indivíduos com hepatite C crônica. Para a análise, subpopulações leucoci-tárias foram avaliadas por citometria de fluxo. Três grupos foram incluídos: portado-res crônicos do vírus da hepatite C (grupo HCV, n = 32), portadores crônicos dovírus da hepatite C com insuficiência renal crônica em hemodiálise (grupo IRC, n =9) e controles não infectados (grupo NI, n = 14). No estudo da correlação de Pear-son entre as populações de linfócitos T. CD4+HLA-DR+ e as subpopulações de linfó-citos circulantes, notou-se correlação negativa em relação aos linfócitos TCD4+CD62L+ no grupo HCV, (r = -0,3795; p = 0,039), fato não observado nosdemais grupos. Esse fato sugere que, a despeito da ativação, havia diminuição daadesão dos leucócitos ao endotélio vascular e do recrutamento dos linfócitos T CD4+para o foco inflamatório, fatores que podem auxiliar na persistência da infecçãoviral. Na análise de correlação da população de linfócitos T CD8+HLA-DR+, encon-tramos associação positiva com CD4+HLA-DR+ observada nos grupo IRC (r = 0,6603;p = 0,05) e HCV (r = 0,7221; p < 0,0001). Isso pode significar a ativação dessaspopulações celulares no curso da infecção crônica pelo HCV. Exclusivamente nogrupo HCV observamos as associações positivas entre CD8+HLA-DR+ e CD8+NK (r= 0,4945; p = 0,0055), que pode ser compatível com maior dano tissular nessesindivíduos, e entre CD8+HLA-DR+ e CD8+CD28- (r = 0,6587; p < 0,0001) e negati-va entre CD8+HLA-DR+ e CD8+CD62L+ (r = -0,6430; p < 0,0001), sugerindo que,a despeito de estarem ativadas, as células T CD8+ apresentavam anergia e menoradesão celular. Esses achados podem ter implicações na menor resposta terapêuticaao interferon. Um maior número de correlações entre a freqüência de linfócitos Tativados com aspectos fenotípicos dos leucócitos circulantes, observado em indiví-duos portadores de hepatite C sem comprometimento renal, poderá contribuir paraexplicar o maior comprometimento hepático observado nesses pacientes, quandocomparados àqueles portadores de hepatite C e insuficiência renal crônica em he-modiálise.
PO-230 (489)
HEPATITE C NO IDOSO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS EHISTOLÓGICOSPINHEIRO-ZAROS IM, NARCISO-SHIAVON JL, LEMOS LVB, BARBOSA DV, LANZONI VP, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP)
Fundamentos: O comportamento da hepatite C em idosos é pouco conhecido.Baseado nas peculiaridades da faixa etária, alguns aspectos devem ser considerados:presença de co-morbidades, tempo de infecção e necessidade de tratamento antivi-ral. Além disso, a maioria dos ensaios clínicos terapêuticos exclui idosos. Objetivo:Analisar as características epidemiológicas, clínicas e histológicas da infecção peloHCV em idosos. Métodos: Foram incluídos portadores de infecção crônica peloHCV atendidos no Ambulatório de Hepatites com idade acima de 60 anos, caracte-rizados pela presença no soro de HCV-RNA por PCR qualitativo. Excluíram-se aque-les HBsAg e/ou anti-HIV positivo, e portadores de outras hepatopatias. As variáveisanalisadas foram: gênero, idade, tempo estimado de infecção, presença de comor-bidades (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipotireoidismo), históriade descompensação hepática prévia (ascite e/ou encefalopatia e/ou hemorragia di-gestiva alta por ruptura de varizes esofagogástricas), antecedentes parenterais paraaquisição da infecção (transfusão de hemoderivados ou uso ilícito de drogas IV) eresultados da biópsia hepática ((estadiamento (E) e atividades periportal (APP) eparenquimatosa (AP)). Resultados: Foram avaliados 228 pacientes, 64,9% mulhe-res. A média de idade foi 65,72 +/- 4,99 anos. Dentre as comorbidades, 55,9% eramhipertensos; 20,7% tinham diabetes mellitus; e 10,6% hipotireoidismo. 14,5% dospacientes já haviam apresentado algum tipo de descompensação hepática. Antece-
dente transfusional foi encontrado em 63% dos pacientes, enquanto fibrose avança-da (E = 3) em 36,9%. Conclusões: Diferentemente do encontrado na maioria dosestudos, observou-se predomínio do gênero feminino entre os idosos com hepatiteC. Transfusão de hemoderivados pré-1992 foi o fator de risco mais importante paraaquisição da doença. A presença de comorbidades e de hepatopatia avançada foifreqüente nessa população. Esses dois últimos achados sugerem que o manejo des-tes pacientes seja bastante difícil, principalmente quando houver indicação de trata-mento.
PO-231 (490)
EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DE ADESÃO (CD18 E CD62L) EM CÉLU-LAS DA IMUNIDADE INATA E ADAPTATIVA EM PACIENTES CRONICA-MENTE INFECTADOS PELO HCVBASSETTI-SOARES E, BARBOSA KVBD, MARTINS FILHO OA, TEIXEIRA RInstituto alfa de Gastroenterologia da UFMG; Centro de Pesquisa Rene Rachou. Belo Horizonte (MG)
O processo inflamatório na hepatite C crônica envolve mecanismos imunológicos,como a adesão de linfócitos ao endotélio vascular hepático, o extravasamento celu-lar ou diapedese e a adesão celular aos hepatócitos. Estudos têm demonstrado queo processo de migração celular para o foco inflamatório envolve uma série de inte-rações celulares mediada, em parte, por moléculas de adesão, como as L-selectinas,importantes no recrutamento celular para o foco inflamatório. Os estudos do papelda expressão diferencial de moléculas de adesão em populações celulares com po-tencial de migração para o foco inflamatório no compartimento hepático ainda sãoescassos. Para a análise, subpopulações leucocitárias foram avaliadas por citometriade fluxo. Três grupos foram incluídos: portadores crônicos do vírus da hepatite C(grupo HCV, n = 32), portadores crônicos do vírus da hepatite C com insuficiênciarenal crônica em hemodiálise (grupo IRC, n = 9) e controles não infectados (grupoNI, n = 14). Na investigação da expressão de moléculas de adesão (CD18 e CD62L)em células da imunidade inata, notamos que a expressão de CD18 em eosinófilos,monócitos e em neutrófilos nos grupos HCV e IRC foi menor do que a observada nogrupo controle, assim como a de neutrófilos CD62L. Não houve diferenças na ex-pressão do CD62L em populações de eosinófilos. No grupo IRC, a fração de monó-citos CD62L foi inferior à do grupo controle, mas não diferiu do grupo HCV, que,por sua vez, não apresentou diferença em relação ao grupo controle. O grupo IRCteve menor expressão do marcador de ativação de monócitos (CD38+) e da L-selectina. Esse fato sugere que a migração dessas células para o foco inflamatóriopode não ser contínua, o que ocorre, possivelmente, pelo clareamento viral duranteo processo de hemodiálise. Essas moléculas também foram estudadas em popula-ções de linfócitos T CD4+ e CD8+, com diferenças significantes entre as intensidadesde fluorescência de CD18, sendo menores nos pacientes infectados comparados aoscontroles negativos, mas não nas populações de linfócitos com marcador CD62L.Pacientes com hepatite C crônica, independentemente do comprometimento renal,apresentam menor expressão de CD62L em neutrófilos quando comparados aoscontroles não infectados. A menor expressão de CD18 por células da imunidadeinata e adaptativa sugere a possível migração de células CD18+ para focos inflama-tórios teciduais.
PO-232 (492)
TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA – RELATO DA EXPERIÊNCIADO HOSPITAL DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOPARÁMIRANDA ECBM, RIBEIRO AR, SOUZA NO, MOIA LJMP, AMARAL ISA, DEMACHKI S, BARBOSA MSB, SOARES
MCP, ARAÚJO MT, NUNES HMFundação Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, Universidade Federal do Pará, Universidade do Estado doPará e Instituto E
Fundamentos: A hepatite C é atualmente considerada como um dos principaisproblemas de saúde pública do mundo, com grandes possibilidades de se tornarpandemia do milênio. No Pará, o Hospital Santa Casa de Misericórdia (HSCMPA) éum centro de referência para o tratamento do vírus. Sendo assim, o objetivo destetrabalho é descrever o perfil clínico epidemiológico dos pacientes infectados com ovírus C, além de descrever os percentuais de resposta terapêutica e avaliar possíveisfatores preditivos de resposta. Método: Foram avaliados 293 pacientes portadoresde hepatite C crônica, referenciados para tratamento no HSCMPA a partir de janeirode 2002 a julho de 2006. Os esquemas terapêuticos analisados foram interferon alfa2a 3MU e interferon peguilado 180mg, ambos associado à ribavirina. Resultados econclusões: Observou-se predominância do sexo masculino (69,63%), média deidade de 50,3 anos, e a maioria dos pacientes era procedente de Belém (84%), comdiagnóstico clínico de hepatite crônica (77,48%). O genótipo 1 (73,5%) foi o maisprevalente. Fatores de risco mais importantes foram: cirurgias (30%) e transfusões(23%). Transmissão esporádica foi relatada em (24,5%) dos casos. As taxas de RVSno grupo interferon peguilado foi de 51,9% e para o interferon convencional de41,3%. Os fatores preditivos de resposta terapêutica com significância estatísticaforam carga viral antes do tratamento, níveis de GGT e etilismo. Conclui-se que osdados encontrados são semelhantes com a maioria dos estudos. Contudo, são ne-cessários estudos controlados e mais abrangentes.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 69
PO-233 (496)
RELAÇÃO ENTRE SOBRECARGA DE FERRO HEPÁTICO EM PORTADO-RES DE HEPATITE C CRÔNICA E RESPOSTA AO TRATAMENTO COMINTERFERON + RIBAVIRINAOLIVEIRA CC, MACEDO RS, OLIVEIRA A, MELLO V, CODES L, SANTANA A, SCHINONI MI, PARANÁ RUniversidade Federal da Bahia - Faculdade de Medicina da Bahia
Introdução: A infecção crônica pelo vírus da hepatite C é freqüentemente associadaao aumento dos níveis séricos de ferro e de marcadores do seu armazenamento nofígado. Ainda não está claro se o acúmulo de ferro hepático interfere na respostaterapêutica com Interferon e Ribavirina, mas alguns autores já o consideram comofator de piora na resposta ao tratamento. Objetivo: Avaliar a associação entre pre-sença de acúmulo de ferro hepático e resposta sustentada ao tratamento com Inter-feron e Ribavirina. Materiais e métodos: Estudo comparativo, retrospectivo combase em uma série de casos de pacientes portadores de hepatite C crônica a partirda detecção de HCV-RNA e da sorologia positiva anti-HCV, que foram divididos porpresença ou ausência de sobrecarga de ferro hepático na biópsia. Critérios de exclu-são: não possuir co-infecção, ou ter feito tratamento por outro protocolo há menosde 12 meses. Dividiu-se então os indivíduos em 2 grupos, os respondedores à tera-pia com Interferon e Ribavirina e aqueles não respondedores. Só foram analisadospacientes portadores de vírus do genótipo 1. Realizou-se teste do X-quadrado, ado-tando um nível de significância de 5%. Resultados: Dentre os pacientes com pre-sença de acúmulo de ferro hepático, 19,3% não responderam ao tratamento en-quanto que 3,5% responderam. Ao analisarmos se havia relação entre essas variá-veis, observou-se que não havia diferença estatística entre elas (p = 0,816). Foramanalisadas outras variáveis, não sendo encontrada associação entre acúmulo de ferroe sexo (p = 0,382), porém sendo encontrada entre resposta ao tratamento e sexo (p= 0,04). Conclusão: Não foi encontrada associação entre ferro hepático e respostaao tratamento, porém novos estudos nesse caminho devem ser realizados para quetal relação seja melhor discutida. Trabalhos já consideram os depósitos de ferro he-pático como fator preditivo de pior resposta ao tratamento com monoterapia cominterferon, ressaltado a importância da utilização de flebotomia e redução de ferrona dieta como adjuvantes na terapia daqueles que não conseguem manter umaresposta sustentada. Entretanto pouco se sabe se o acúmulo de ferro também temimpacto no desenvolvimento de uma resposta a terapia combinada de interferon eribavirina.
PO-234 (497)
ASSOCIAÇÃO ENTRE FERRO HEPÁTICO E GRAU DE FIBROSE EM POR-TADORES DE HEPATITE C CRÔNICAMACEDO RS, OLIVEIRA CC, OLIVEIRA A, MELLO V, CODES L, FREITAS D, PARANÁ R, SCHINONI MIUniversidade de Medicina da Bahia - Faculdade de Medicina da Bahia e Instituto de Ciências de Saúde
Introdução: O aumento da concentração de ferro hepático tem sido sugerido comoimportante fator de progressão de fibrose, porém os estudos sobre o tema ainda sãoinconclusivos. Objetivo: Analisar a associação entre sobrecarga de ferro hepáticocom o grau de fibrose. Materiais e métodos: Estudo com base numa série de casoscoletados retrospectivamente, diagnosticados como portadores de hepatite C crô-nica a partir da presença de HCV-RNA e da sorologia positiva anti-HCV, totalizando50 pacientes com biópsia hepática mostrando presença ou ausência de sobrecargade ferro. Critérios de exclusão: co-infecções e causas secundárias de sobrecarga deferro como ingestão alcoólica maior ou igual a 40g/dia ou passado de tratamentocom ribavirina nos últimos 12 meses. Dividiu-se os pacientes em 2 grupos, os quepossuíam fibrose leve (Metavir 1/2) e aqueles com fibrose intensa (Metavir 3/4). Foiutilizado o X-quadrado e adotado um nível de significância de 5%. Resultados: Apartir da análise dos índices de sobrecarga de ferro hepático com o grau de fibrosefoi constatado que, dentre os pacientes que apresentavam graus elevados de fibro-se, 18% não apresentavam acúmulo de ferro hepático enquanto que 34% o apre-sentavam. Demonstrou-se relevância estatística (p = 0,049) quando pesquisada as-sociação entre sobrecarga de ferro hepático e níveis de fibrose. Ao avaliarmos arelação entre acúmulo de ferro hepático e o sexo não foi encontrada relevância (p =0,614), bem como quando analisada sua relação com o genótipo viral (1 ou 3),encontrando um p = 0,067. O mesmo ocorreu quando analisado grau de fibrose egenótipo (p = 0,067) e grau de fibrose e sexo (p = 0,138). Conclusão: Ao contráriodo que já havia sido encontrado em outros estudos, foi encontrada associação entresobrecarga de ferro hepático e grau de fibrose. Não foi encontrada associação entresexo e genótipo viral com acúmulo de ferro, como foi relatado em alguns trabalhosanteriores. Também não foi encontrada associação entre grau de fibrose e genótiponem com o sexo, demonstrando que não houve interferência dessas variáveis nasanálises anteriores. Esses resultados podem ajudar a entender a evolução da fibrino-gênese hepática causada pelo vírus da hepatite C, porém há necessidade de novosestudos com séries maiores.
PO-235 (498)
ASSOCIAÇÃO VHC E LINFOMA NÃO HODGKIN: RELATO DE TRÊS CA-SOSVILLELA EL*, SOUZA FG*, TAKEUTI C*, MAZO DFC*, FARIAS AQ*, DEGUTI MM*, PEREIRA J**, BEITLER B**,CANÇADO ELR*, CARRILHO FJ*Departamento de Gastroenterologia* e Hematologia** da FMUSP - São Paulo
Introdução: A hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (HC-VHC) pode associar-sea doenças linfoproliferativas, como o linfoma não-Hodgkin (LNH). Os mecanismosfisiopatológicos envolveriam a expansão clonal de células B e a expressão de onco-genes. Apresentamos três casos diagnosticados com HC-VHC e LNH, matriculadosno Serviço de Gastroenterologia desta instituição, no período entre janeiro de 2001e julho de 2007. Relato dos casos: Caso 1: Mulher, 53 anos, ex-etilista e portadorade HC-VHC, foi tratada em 1996 com interferon alfa (monoterapia) por 6 meses,sem resposta. Em 2000, apresentou linfadenomegalia periférica e mediastinal, cujabiópsia revelou tratar-se de LNH linfoplasmocítico. Submetida a novo esquema an-tiviral, com interferon e ribavirina por 48 semanas, com resposta bioquímica e viro-lógica sustentadas, sem quimioterapia. Houve remissão tumoral segundo critériosclínicos, laboratoriais e pela tomografia computadorizada de tórax e abdômen. Noquinto ano de seguimento, contudo, constatou-se recidiva tumoral, embora a res-posta viral se mantivesse sustentada. Caso 2: Mulher, 73 anos, com prurido genera-lizado teve o diagnóstico de HC-VHC em abril de 2006. Evoluiu com anemia hemo-lítica auto-imune. Durante investigação clínica, constatou-se LNH de células do manto.A opção terapêutica inicial foi pela quimioterapia, sem antivirais. Atualmente pacien-te encontra-se no oitavo ciclo de clorambucil sem evidência de linfoma na biópsiade medula óssea. Caso 3: Homem, 38 anos, com quadro de dor abdominal e ema-grecimento. Diagnosticado HC-VHC e nódulos hepáticos, cuja biópsia, com análiseimuno-histoquímica, revelou LHN difuso de grandes células B. Atualmente, o pa-ciente encontra-se em quimioterapia. O tratamento antiviral não foi viável diantedas condições clínicas desfavoráveis. Discussão: Os três tipos histológicos distintosde LNH aqui descritos são, de fato, associados ao VHC, segundo inúmeros estudosclínicos de coorte e caso-controle. O LNH linfoplasmocítico (caso 1) é consideradoindolente, e a tentativa de tratamento antiviral sem quimioterapia teve resultados decurto prazo favoráveis; já os outros dois tipos histológicos são considerados agressi-vos, e foram tratados com esquema quimioterápico específico. Conclusão: Apesarde incomum, clínicos hepatologistas devem considerar a possibilidade de linfomadiante de portadores de HC-VHC que se apresentam com alterações hematológicas,adenomegalia, dor abdominal e síndrome consumptiva.
PO-236 (502)
CO-INFECÇÃO HIV E VÍRUS DA HABITE C: FATORES DE RISCORODRIGUES JC, BANDEIRA AP, VIEIRA LN, KARINE R, GOMES KN, GUIMARÃES APRUniversidade Federal do Pará (Belém-Pará)
Fundamentos: No Brasil, 600.000 mil indivíduos estão infectados pelo HIV e a soro-prevalência de hepatite C, é estimada em 2,6% (4,6 milhões de indivíduos). O Ob-jetivo do estudo é avaliar os fatores de risco para a infecção pelo HCV em pacientesinfectados pelo vírus HIV. Métodos: O estudo é epidemiológico do tipo caso con-trole, realizado com 11 pacientes (casos) co-infectados pelo vírus HIV e vírus dahepatite C e 182 (controle) infectados somente pelo vírus HIV em acompanhamen-to na Unidade de Referência para Doenças Infecciosas e Parasitárias (URE-DIP), nacidade de Belém, Pa. Foi aplicado questionário específico, contendo a identificaçãodo paciente e fatores de risco para aquisição do vírus da hepatite C e, em seguida,coletou-se amostra de sangue destinada à pesquisa de marcadores da infecção peloVHC (anti-HCV e HVC RNA viral). O anti-HCV foi realizado através de teste imunoen-zimático e a pesquisa do VHC RNA, pela reação de polimerase em cadeia. Utilizou-seteste do qui-quadrado ou exato de Fisher quando necessário. A análise estatística foifeita no programa BioEstat para Windows, versão 4.0. Resultados: A co-infecçãoestá associada com história pregressa de DSTs (OR = 5,29; IC 95%: 0,66-42,30) ecom o contato prévio com pacientes portadores de algum tipo de hepatite viral (OR= 2,13; IC 95%: 0,26-17,26). Conclusão: Em pacientes infectados pelo vírus HIV, ahistória pregressa de DSTs constituiu-se em fator de risco independente para a infec-ção pelo HCV, demonstrando a importância da transmissão sexual do vírus da hepa-tite C. Além disso, o contato com outros pacientes com algum tipo de hepatite viralrevelou-se com preditor importante de risco para a infecção pelo HCV em pacientescom HIV.
PO-237 (503)
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM MARCADORES SO-ROLÓGICOS POSITIVOS PARA HEPATITE C DIAGNOSTICADOS NACAMPANHA “PROCURA C”/SESPA – BELÉM - PARÁSANTOS LCL, TODA KS, SANTOS KAS, POLARO EN, JUNIOR JRA, SILVA LD, GUIMARÃES APR, LOPES RAMUniversidade Federal do Pará (Belém-Pará)
Fundamentos: A hepatite C constitui, na atualidade, um dos mais graves problemasde saúde pública. A aquisição da infecção se dá, predominantemente, por transmis-são parenteral, incluindo transfusão de sangue, cirurgia(s), acupuntura e outros.Métodos: Foram analisados pacientes com positividade para o anti-HCV através do
S 70 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
teste rápido Bioeasy, na campanha “Procura C” desenvolvida na secretaria do Esta-do do Pará (Sespa), para identificar portadores do vírus da hepatite C, via Coordena-ção Estadual de Hepatites Virais e Dst/Aids, nos dia 11 e 12 de junho de 2007, noshopping da cidade. Os pacientes foram analisados quanto à presença/ausência defatores de risco para a contaminação com o VHC, de acordo com o sexo. Conside-raram-se como fatores de risco, história prévia e/ou atual de: hemofilia, transfusãoantes de 1992, cirurgia(s), hemodiálise, piercing/tatuagem e acupuntura. Para aanálise estatística, utilizou-se o teste do qui-quidrado ( 2). Resultados: Foram estu-dados 476 pacientes com idade média de 37 ± 15 anos, sendo 37,2% do sexomasculino e 62,8% do sexo feminino. Houve maior freqüência dos fatores de risco:cirurgia(s) (36,4%), piercing/tatuagem (23,0%), acupuntura (14,0%), transfusão(4,5%) e hemodiálise (2,3%), não havendo registro de pacientes com hemofilia. Osexo feminino apresentou: cirurgia(s) (61,5%), piercing/tatuagem (13,0%), acu-puntura (7,7%), transfusão (6,7%) e hemofilia (0,7%), não havendo registro depacientes submetidos à hemodiálise. Houve associação estatística entre sexo femini-no e realização de cirurgia(s) (p = 0,001) e hemodiálise (p = 0,025), não existindo talassociação entre os sexos e demais fatores de risco. Conclusões: Houve associaçãoestatística entre sexo feminino e os fatores de risco cirurgia(s) e hemodiálise. O sexomasculino está quantitativamente mais exposto aos fatores de risco e dentre estes arealização de cirurgia(s), piercing/tatuagem e acupuntura foram os mais prevalentesneste estudo.
PO-238 (506)
ESTIMATIVA DA PREVALÊNCIA DE HEPATITE C NA POPULAÇÃO ADS-CRITA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LAPA - RIO DE JA-NEIROMELO LOR1,2,4, NAZAR AN1,2, SANTOS RC3, PITTELLA AM1,3, MATOS HJ2,4
Universidade do Grande Rio (1), Universidade Estácio de Sá (2), Hospital Quinta D’Or (3), Universidade do Estadodo Rio de Janeiro
As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil.Segundo estimativas, bilhões de pessoas já tiveram contato com vírus das hepatitese milhões são portadores crônicos. O vírus da hepatite C (VHC) é a maior causa dedoença hepática crônica mundial, com altas taxas de mortalidade e morbidade.Pelas estimativas da OMS, calcula-se que cerca de 3% da população mundial estejainfectada pelo VHC, perfazendo um total superior a 170 milhões de pessoas. Oobjetivo principal do estudo foi estimar a prevalência da infecção pelo VHC e, alémdisso, foi estudada a distribuição das infecções pelo vírus da hepatite A e vírus dahepatite B, na população adscrita no PSF-Lapa. O estudo foi um inquérito epidemio-lógico transversal. Foi feita uma amostra sistemática de todos os pacientes que fo-ram até o PSF-Lapa para realizarem coleta de sangue habitual, sendo aplicados 142questionários e coletados 142 exames, no período de agosto de 2006 a dezembrode 2006. As variáveis estudadas foram: idade, sexo, raça, grau de escolaridade,vacinação contra hepatite A e B, saneamento básico e marcadores sorológicos parahepatite A, B e C. Deste total de pacientes, tivemos 60 amostras perdidas e obtive-mos resultados de 82. Com relação à hepatite A, houve 0% de anti-HAVIgM reagen-tes e 70 pacientes (92,8%) com anti-HAVIgG reagentes. Nos exames realizados parahepatite B, houve positividade para o anti-HBS em 25 pacientes (32,5%), 13 casosde anti-HBc total reagentes (15,8%) e nenhum caso do marcador HBsAg, anti-HB-cIgM e HBeAg reagentes. O anti-HBe foi reagente em 33,3% dos casos. Observamosque 2 pacientes (2,9%) apresentaram anti-HCV reagente. O tema hepatites virais nocontexto do PSF é bastante relevante, pois, o PSF com práticas voltadas para açõesde promoção à saúde e prevenção, além da responsabilidade sanitária, permite umamaior aproximação com as atividades de vigilância epidemiológica. A vigilânciaepidemiológica das hepatites virais tem como objetivos conhecer a amplitude, atendência e a distribuição por faixa etária e áreas geográficas destas infecções, alémda notificação, investigação e encaminhamento dos casos para tratamento adequa-do.
PO-239 (509)
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C EM PARCEIROS HETEROSSE-XUAISD'ALBUQUERQUE E CASTRO FR, GINUINO C, SILVA LDA, DO Ó KMRHospital Alcides Carneiro, Petrópolis, RJ, Departamento de Virologia, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio deJaneiro, Brasil
A importância da transmissão sexual na epidemiologia do vírus da Hepatite C écontroversa. Para avaliar o risco de transmissão heterossexual do vírus da hepatite C(HCV) nós examinamos 128 pacientes com Hepatite C, associada a doença hepáticae suas espôsas em uma amostra clínica e sorológica em um estudo coorte. Amostrasdo sôro dos pacientes e de suas espôsas foram testadas para o anticorpo AntiHCV eHCVRNA. Nos casais positivos para ambos os exames foi realizado a genotipagem.Um questionário foi realizado com os casais levando em conta os fatores de riscopara a infecção pelo HCV, comportamento sexual e duração dos relacionamentos.Os anticorpos AntiHCV foram detectados em 4 casais, dos quais três foram positivospara o HCVRNA. A genotipagem do HCV revelou concordância em um casal (genó-tipo 1), indicando o risco de transmissão entre casais. Nós acreditamos que o riscode transmissão do HCV entre casais monogâmicos não depende da duração da
exposição sexual. O uso de tecnologias genéticas avançadas foi possível a caracteri-zação do vírus da hepatite C por Choo e colaboradores em 1989. Estudos epidemio-lógicos mostraram que o modo de transmissão mais importante é o parenteral, portransmissão de produtos derivados do sangue por abuso de drogas endovenosas,acidentes biológicos, hemodiálise e transplante de órgão. Métodos: de março de2004 a julho de 2007, espôsas de 128 pacientes com HCV crônica associada adoença hepática foram testadas para a infecção pelo HCV no ambulatório de doen-ças do fígado do Hospital Alcides Carneiro, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. A doen-ça hepática associada com o vírus C foi definida como elevação das enzimas hepáti-cas há mais de seis meses e uma reação positiva para o vírus da hepatite C por testesde segunda geração. Em um caso, a etiologia era desconhecida. Em todos os outrosa exposição parenteral foi considerada a fonte de infecção. Os casais completaramum questionário relatando a ocorrência de hepatite não-A, não-B ou outras doençashepáticas, uso de drogas ilícitas, tatuagens, piercing, duração do casamento, ativi-dade sexual, tais como uso de camisinha, relações extraconjugais, partilhamento deobjetos de uso pessoal tais como, escova de dente ou lâmina de barbear. As amos-tras do soro foram coletadas e testadas para o AntiHCV (laboratório Abbott). HCVR-NA foi detectado pela técnica de PCR (Amplicor, Roche Diagnostics Systems). Umcasal testado e positivo para o antiHCV foi negativo para o HCVRNA em diversastestagens. Eles apresentavam níveis de transaminases normais e não apresentavamsinais clínicos nem laboratoriais de doença hepática. Conclusão: A transmissão doHCV é possível mas infreqüente em casais monogâmicos com viremia HCV e doençahepática crônica.
PO-240 (515)
IMPACTO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE LINFÓCITOS T CD4 SOBRE O GRAUDE INFLAMAÇÃO E FIBROSE HEPÁTICA EM CO-INFECTADOS HCV-HIVREZENDE REF, PIMENTA ATM, SECAF M, RAMALHO LNZ, ZUCOLOTO S, FERREIRA RM, PASQUALIM M, GRIMM
LCA, SILVA AAC, SANTA MLSSAmbulatório de Hepatites- NGA 59, Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP) - Ribeirão Preto - SP
Fundamentos: Vários estudos demonstram a influência negativa da infecção peloHIV sobre o curso clínico da hepatite C. Entretanto, dados sobre o impacto da imu-nidade na determinação da lesão hepática, em co-infectados HCV/HIV, ainda é pou-co conhecido. Objetivo: Investigar a relação entre níveis séricos de linfócitos T CD4e graus de inflamação e fibrose hepática em co-infectados HIV-HCV. Casuística emétodos: Avaliou-se 40 pacientes co-infectados HCV/HIV. Foram excluídos co-in-fectados com hepatite B. Realizou-se coleta de dados demográficos, genotipagemdo vírus da hepatite C (Inno-Lipa II), PCR-RNA-HCV quantitativo (b-DNA-Bayer),contagem de CD4 (citometria de fluxo), quantificação da carga viral do HIV (b-DNA- Bayer) e histologia hepática (Knodell et al., 1981 modificada por desmet et al.,1994). Para análise comparativa, os pacientes foram agrupados de acordo com acontagem de CD4: grupo 1 (CD4 > 500 cél/mm3) e grupo 2 (CD4 < 500 cél/mm3).Utilizou-se teste de fisher na análise estatística. Resultados: Trinta e três (82,5%)eram do sexo masculino, média de idade 38,9 (variação 20 a 54 anos). Identificou-se 28/34 (82,2%) casos de genótipo 1, 4/34 (11,8%) de genótipo 3a, 1/34 (3%) degenótipo 2 a/2c e 1/34 (3%) indeterminado. A carga viral do HCV (média) foi de1.065.833UI/ml. A média da contagem de CD4 foi de 536 (variação 189 a 985) e amediana da carga viral do HIV de 50 cópias/ml. Não observou-se diferenças estatís-ticas entre graus de inflamação e de fibrose do grupo 1 [inflamação moderada/grave em 6/17 (35,3%) e fibrose moderada/grave 8/17 (47%)] em relação ao gru-po 2 [inflamação moderada/grave em 13/23(56,5%) e fibrose moderada/grave 14/23 (60,8%)] (p = ns). Houve dois casos de cirrose, child A, distribuído de formauniforme no grupo 1 e 2. Conclusão: A contagem sérica de linfócitos T - CD4 nãoparece ser um fator determinante para a gravidade da lesão hepática em co-infecta-dos HIV/HCV.
PO-241 (516)
ESTUDO DESCRITIVO DO RETRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICAEM HOSPITAL UNIVERSITÁRIOGUERRA JR AH, VOLPATTO AL, BEDIN EP, SILVA EC, NASSER F, PEREIRA PSF, CORDEIRO JA, MEDEIROS GHA, BRAZ
MM, SILVA RCMAServiço de Gastro-Hepatologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - SP
Fundamentos: Grande parte dos pacientes tratados para hepatite C crônica cominterferon convencional (IFN) isolado ou associado à ribavirina (RBV) não respon-dem à terapia. O retratamento com terapia combinada (IFN ou IFNPeguilado+Ribavirina) é a melhor opção até o momento para estes pacientes. Oobjetivo deste trabalho foi descrever as características clínico-epidemiológicas eresposta ao retratamento de pacientes não respondedores ou recidivantes à tera-pia anterior para hepatite C crônica em nosso serviço. Métodos: Foram estudadosretrospectivamente pacientes que foram submetidos a retratamento para o VHCaté junho/2007. Resultados: Foram avaliados 43 pacientes (74,5% do sexo mas-culino) com idade média de 48 ± 10 anos. A genotipagem estava disponível em98% (42/43), sendo o tipo 1 o mais prevalente (76%). A biópsia hepática estavadisponível em 93% (40/43) dos pacientes. Fibrose ausente ou leve (0 a 2) foiencontrada em 60% (24/40) e avançada (3 a 4) em 40% (SBP/SBH). Não-respon-dedores e recidivantes ao tratamento anterior (dados disponíveis em 27 casos),
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 71
eram 81,5% (22) e 18,5% (5), respectivamente. O retratamento foi realizado comIFN+RBV em 12 (28%) e com PegIFN+RBV em 31 pacientes (72%). A análise deresposta virológica sustentada (RVS) estava disponível em 39/43 pacientes. RVSglobal foi 31% (12/39). Destes, 10 haviam sido retratados com PegIFN+RBV. Con-clusão: Aproximadamente um terço dos pacientes retratados obtiveram RVS. Ain-da que estes resultados possam ser considerados bons para este grupo de pacien-tes, eles reforçam a necessidade de novas drogas na abordagem de hepatite Ccrônica.
PO-242 (518)
FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA EMPACIENTES NAIVE COM HEPATITE C CRÔNICA, TRATADOS EM HOSPI-TAL UNIVERSITÁRIO DO NOROESTE DE SÃO PAULOGUERRA JR AH, VOLPATTO AL, BEDIN EP, SILVA EC, NASSER F, PEREIRA PSF, CORDEIRO JA, MEDEIROS GHA, BRAZ
MM, SILVA RCMAServiço de Gastro-Hepatologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - SP
Fundamentos: Grandes avanços ocorreram desde a aprovação da monoterapia cominterferon convencional para o tratamento do vírus da hepatite C (VHC) em 1997,mas é ainda maior a expectativa para a chegada de novas drogas, que possamaumentar a chance de resposta virológica sustentada (RVS) e com menos efeitosadversos. O objetivo deste trabalho foi analisar variáveis associadas com RVS aotratamento hepatite C crônica em ambulatório de referência da região noroeste doestado de São Paulo. Métodos: Foram estudados retrospectivamente pacientes queconcluíram o tratamento para o VHC até junho/2007. Resultados: Foram avaliados149 pacientes (56% sexo masculino), com idade média de 45,6 ± 10,5 anos. Agenotipagem estava disponível em 93% (138/149), sendo o tipo 1, o mais preva-lente (68%). A biópsia hepática estava disponível em 83% dos pacientes (124/149).Fibrose ausente ou leve (0 a 2) foi encontrada em 67% (83/124) e avançada (3 a 4)em um terço (SBP/SBH). Cinco pacientes não foram biopsiados por sinais indiretosde cirrose hepática. O sexo masculino correspondeu a 71,7% dos indivíduos comfibrose avançada (p = 0,026). O tratamento foi feito com interferon convencional(IFN) como monoterapia em 17,5%, associado à ribavirina (RBV) em 45%, ou comIFN peguilado (PegIFN), associado à RBV em 37,5%. A resposta ao tratamento pôdeser avaliada em 89% (133/149), dos quais 41,5% (55/133) tiveram RVS. O sexomasculino (p = 0,011), o grau avançado de fibrose (p = 0,011), o tipo de tratamento(p = 0,031) e o genótipo 1 (p = 0,023) foram preditores negativos de RVS. Naanálise multivariada, o genótipo e o tipo de tratamento persistiram como preditoresnegativos. Conclusão: A RVS global foi de 41% e sofreu influência de variáveis mo-dificáveis ou não como sexo, grau de fibrose, genótipo e medicação utilizada. Genó-tipo não-1 e terapia com PegIFN associado à RBV foram preditores positivos deresposta sustentada.
PO-243 (527)
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, LABORATORIAL E CLÍNICO DE PACIENTESCOM BAIXA REATIVIDADE DE ANTICORPOS ANTI-HCVSILVA-SOUZA AL, LEWIS L, OLIVEIRA JM, PEREZ A, YOSHIDA CFTFiocruz
A detecção de anticorpos contra o vírus da hepatite C (anti-HCV) por ensaio imu-noenzimático - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) constitui o métodomais utilizado para o diagnóstico da infecção pelo HCV. Embora o teste de ELISAforneça o valor de absorbância em uma escala contínua e, proporcional à quanti-dade de anticorpos [expressos em função da razão da densidade óptica (DO)sobre o limite do cut-off (DO/CO)] o resultado, em geral, é reportado simples-mente como reagente (acima do valor de cut-off) ou não reagente (abaixo dovalor de cut-off). Muitos indivíduos com baixa reatividade de anticorpos cursamcom níveis indetectáveis de HCV-RNA no soro; este perfil é, notadamente, encon-trado em populações de baixo risco (doadores de sangue) ou infecção passadacom queda nos títulos de anticorpos. Para avaliar os perfis epidemiológicos, labo-ratoriais e clínicos de indivíduos com resultado de anti-HCV fracamente reagentee, com presença de fatores de risco potenciais que justifiquem exposição prévia aoHCV, um estudo foi realizado. O Laboratório de Referência Nacional em HepatitesVirais/FIOCRUZ no período de janeiro de 2001 a outubro de 2004 realizou 4036testes para pesquisa de anti-HCV pela técnica de ELISA; 197 amostras (5%) apre-sentaram baixos valores de DO/CO entre 1,0 e 2,9. Sessenta e um pacientes foramconvocados para realização de entrevista, coleta de sangue e exame físico. Trinta esete pacientes (60%) eram do sexo feminino, a média de idade foi de 47 anos. Ospacientes foram triados quanto à presença de anti-HCV por meio de dois testesimunoenzimáticos comerciais (Bioelisaä HCV, terceira geração & Hepanostikaä HCVUltra) dos quais 46 (75%) foram reagentes pelos dois testes, 12 (20%) não rea-gentes e 3 (5%) discrepantes. Todas as amostras foram submetidas à teste com-plementar do tipo imunoblot (Inno-LIA HCV Ab III™) - 19 foram reagentes, 21indeterminadas e 18 não reagentes. Todos os pacientes com resultados discrepan-tes apresentaram Inno-LIA indeterminado. Cinqüenta por cento dos casos referi-ram episódio de hemotransfusão em período anterior a testagem obrigatória embancos de sangue (1993), estando a positividade para o anti-HCV associada àtransfusão de sangue (p < 0,005). O HCV-RNA pela técnica de PCR foi detectado
em somente duas amostras. Níveis de ALT dentro do limite da normalidade preva-leceram em 98% dos pacientes. Não foram identificadas ao exame físico altera-ções compatíveis com doença hepática avançada. Concluímos que, resultadosfracamente reagentes estariam menos associados à infecção ativa pelo HCV, mes-mo naqueles em situação de risco, nesta população, estes achados poderiam serinterpretados como exposição prévia ao HCV com queda gradual de anticorpos eresolução da infecção.
PO-244 (528)
INFECÇÃO AGUDA PELO VÍRUS DA HEPATITE C: PERFIL HISTOLÓGICO– DADOS PRELIMINARESSILVA-SOUZA AL, LEWIS L, PEREIRA JL, COELHO HS, YOSHIDA CFTFiocruz
No Brasil, o Ministério da Saúde estima que cerca de quatro milhões de brasileirosapresentem infecção pelo VHC. Um dos fatores marcantes da infecção pelo VHCconsiste no curso progressivo da doença para forma crônica (50%-80%), com me-nos de 20% dos pacientes apresentando os sintomas clássicos de hepatite aguda,daí a grande dificuldade do diagnóstico nesta fase. Objetivos: Descrever os achadoshistológicos nos indivíduos admitidos com quadro de infecção aguda pelo HCV esubmetidos a biópsia hepática. Material e métodos: O Grupo de Atendimento paradiagnóstico das Hepatites Virais, do Laboratório Nacional de Referência em Hepati-tes Virais (LRNHV), IOC - FIOCRUZ, Rio de Janeiro; durante o período de 2001 até2007 avaliou 54 indivíduos com potencial quadro para infecção aguda pelo HCV. Oclareamento espontâneo foi observado em 30, evolução para cronicidade em 18 eseis apresentam status indefinido por estarem em seguimento por periodo inferior aquatro meses. Neste periodo, quinze indivíduos foram submetidos a biópsia hepáti-ca per cutânea, em dois centros de referência para o tratamento da hepatite C, comfim de indicação de tratamento. Dentre estes a idade variou de 28 a 62 anos (médiade 45 anos), o gênero feminino (60%) predominou, assim como o genótipo tipo 1(73%). O intervalo entre o surgimento de icterícia e a realização de bx hepáticaapresentou média de 13 meses (mínimo 2/máximo 29); quatro indivíduos forambiopsiados em vigência do quadro agudo. Complicações relacionadas ao procedi-mento não foram identificadas. Representatividade da amostra caracterizada pelonumero de espaços-porta e tamanho do fragmento foi considerada adequada em70% dos casos. Atividade inflamatória leve a moderada com baixo grau de fibroseforam os principais achados. No entanto, em três indivíduos havia evidência deestádio mais avançado de fibrose. Conclusão: Em vigência de infecção aguda ou“crônica precoce” não há evidência de graus avançados de fibrose hepática. Dife-renças na escolha do sistema de estadiamento e na variação interobservador preju-dicam comparações.
PO-245 (529) – PRÊMIO TOMAZ FIGUEIREDO MENDES
PO-246 (550)
DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES COM SO-ROLOGIA POSITIVA PARA O VÍRUS DA HEPATITE CFRANCISCHELLI CT, OLIVEIRA NETO LA, SILVA FAP, BARBOSA WF, RUIVO GFAmbulatório de Hepatite da Prefeitura Municipal de Taubaté e Disciplina de Clínica Médica da Universidade deTaubaté-SP
Fundamentos: A hepatite C é doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C(HCV), que acarreta um processo inflamatório no fígado. Recentemente se correla-cionou a hepatite C com alterações metabólicas como resistência à insulina, esteato-se hepática e hiperuricemia, sendo que o objetivo deste estudo foi detectar altera-ções metabólicas em pacientes com HCV. Métodos: Estudo transversal, com coletade dados clínicos e laboratoriais. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: sorolo-gia positiva (grupo HCV) ou negativa para o HCV (grupo controle). Excluiu-se pa-cientes com distúrbios metabólicos prévios, co-infectados por hepatite B ou SIDA eusuários de fármacos associados a distúrbios metabólicos. Determinações laborato-riais: glicose, insulina, ácido úrico, fibrinogênio, lípides, etc, sendo a sensibilidade àinsulina determinada pelo índice HOMA. Análise estatística realizada com o progra-ma Graph Pad Prism 5.0, sendo considerado significante p < 0,05. Resultados:Analisou-se os dados clínicos e laboratoriais de 60 pacientes (40 do grupo HCV e 20do grupo controle). Sexo masculino em 60% casos e feminino em 40%. Faixa etáriapredominante de 40-50 anos (60%), independente do sexo. Observou-se maioresvalores de AST, ALT, fosfatase alcalina e gama glutamil transferase no grupo HCVcomparado ao grupo controle: AST (55 33 vs 32 12, p = 0,0039), ALT (63 33 vs29 15, p = 0,0001), fosfatase alcalina (116 69 vs 60 18, p = 0,0008) e gamaglutamil transferase (81 83 vs 34 15, p = 0,0152). A bilirrubinemia não foi dife-rente (p > 0,05) entre os grupos. Maior glicemia no grupo HCV comparado aocontrole (90 12 vs 78 10, p = 0,0003), sem diferença quanto na insulinemia(11 13 vs 6 2, p > 0,05), entretanto, com maior índice HOMA no grupo HCV secomparado ao grupo controle (2,7 3,7 vs 1,0 0,5, p = 0,0462) demonstrandopadrão de resistência à insulina no grupo HCV. Quanto aos lípides, observou-semaior concentração de colesterol total no grupo HCV (149 36 vs 120 14, p =0,0010), sem diferença (p > 0,05) quanto ao HDL (47 11 vs 50 9), LDL (76 27vs 69 18) e triglicerídeos (106 63 vs 101 25). Maiores valores de ácido úrico no
S 72 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
grupo HCV (6,4 8,1 vs 2,3 1,0, p = 0,0286), resultado também observado quan-to fibrinogênio (273 79 vs 230 54, p = 0,0327). Conclusões: Pacientes dogrupo HCV apresentaram provas de lesão hepática, além de alterações metabólicasquanto à glicemia, colesterol total, uricemia e resistência à insulina, caracterizando oachado de distúrbios metabólicos no grupo HCV.
PO-247 (567)
ALTERAÇÕES GLICÊMICAS NA HEPATITE C – PREVALÊNCIA E ASSO-CIAÇÃO COM RESPOSTA AO TRATAMENTO ANTIVIRALFLORES PP, SILVA JEF, MESQUITA CE, MASCALUBO MFM, FONSECA LS, LUBERIAGA AP, SILVEIRA MBHospital Naval Marcílio Dias
Fundamentos: É conhecida a associação entre Diabetes mellitus tipo II e a infec-ção pelo vírus da Hepatite C e trabalhos recentes associam também a síndrome deresistência insulínica bem como a falha ao tratamento antiviral como fatores inde-pendentes e inter-relacionados. Há também estabelecida associação do genótipotipo 3 e a presença de esteatose na biópsia hepática, a qual regride com o trata-mento antiviral. Desta forma, é de suma importância o estudo das alterações gli-cêmicas em termos de prevalência, associação com genótipo e falha ao tratamen-to antiviral na população dos pacientes com infecção pelo vírus C. Métodos: De-senho de estudo retrospectivo com base em prontuários de 150 pacientes, acom-panhados pelo ambulatório de Hepatologia do Hospital Naval Marcílio Dias, comregistro de glicemias de jejum, genótipos, carga viral pelo método PCR quantitati-vo (amplicor) e terapia antiviral. Resultados: Encontramos 52% de pacientes comglicemias até 99mg;dl, 33% entre 99 e 125mg;dl e 15% com Diabetes mellitustipo II (glicemias acima de 126). Os genótipos foram avaliados e a carga viraltambém e colocados em gráfico para análise. A falha ao tratamento antiviral foitambém avaliada como objetivo secundário. Conclusões: Conforme literatura eestudos recentes, também encontramos maior prevalência de glicemias alteradasna população de pacientes com Hepatite C e a falha ao tratamento com Interferone Ribavirina foi mais freqüente quando havia alteração do tipo Diabetes mellitusou hiperglicemias de jejum. Assim como a Hepatite C vem se tornando uma preo-cupação crescente nos dias atuais pela alta morbimortalidade, a síndrome meta-bólica com glicemias alteradas e, mais especificamente, com a resistência insulíni-ca vem se tornando um grande problema de saúde pública pois além de ser pre-valente, implica em uma série de conseqüentes doenças e dificuldades de manejoterapêutico. Desta forma, estudos relacionando as duas doenças e suas implica-ções são necessários para maior elucidação.
PO-248 (568)
SILIMARINA NA HEPATITE C: ENSAIO CLÍNICO, RANDOMIZADO, PLA-CEBO-CONTROLADO COM SILIMARINA E METIONINA, EM PACIEN-TES COM HEPATITE C CRÔNICA, GENÓTIPO 1, EM TRATAMENTO COMINTERFERON-ALFA E RIBAVIRINALEMOS JR V, PELLEGRINI PR, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, SEGADAS-SOARES JA, FLEURY RG, COELHO
HSM, REZENDE GFMServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
A silimarina tem sido descrita como uma droga capaz de reduzir a fibrose emportadores de doença hepática crônica. Um eventual efeito antiviral ou sobre ahistologia não foi ainda esclarecido em portadores de hepatite C crônica. O obje-tivo desse estudo foi avaliar o efeito da associação da silimarina-metionina cominterferon-α e ribavirina nos pacientes com hepatite C crônica e genótipo 1. Me-todologia: Foi realizado um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, avaliando o efeito da associação de silimarina-metionina (840mg/dde silimarina e 1200mg/d de metionina) via oral com interferon-α (3 milhões deUI/L, 3 X/semana) e ribavirina (12mg/kg/dia) por 48 semanas, em pacientes comhepatite C crônica e genótipo 1, com escala de fibrose entre F1 e F 6, pela classi-ficação de Ishak. Foram excluídos pacientes com sinais de hipertensão porta oudisfunção hepatocelular. Foi realizada a análise comparativa da taxa de respostavirológica sustentada (RVS). Naqueles pacientes PCR RNA HCV (+) no 6º mês (nãorespondedores), o tratamento com interferon-α/ribavirina foi interrompido, man-tendo-se silimarina-metionina ou placebo até completarem 72 semanas de acom-panhamento, quando uma segunda biópsia hepática foi realizada para se avaliar oefeito sobre o grau de inflamação e o estágio de fibrose, segundo a classificaçãode Ishak. Resultados: Foram incluídos 94 pacientes, 45 (48%) do sexo masculinocom média de idade de 50 ± 10 anos. Quarenta e quatro pacientes foram rando-mizados no grupo A e 50 no grupo B, sem diferenças entre os grupos com relaçãoao sexo, idade, IMC e níveis pré-tratamento de ALT e GGT. A RVS foi de 18,6% nototal de pacientes, sem diferença significativa entre os grupos (grupo A: 15% vsgrupo B: 21,7%; p = NS). A melhora no índice de inflamação no total de pacientesocorreu em 54,3% (grupo A: 59,1% vs grupo B: 50%; p = NS) e de fibrose em24,4% (grupo A: 23,8% vs grupo B: 25%; p = NS), não havendo diferença entreos grupos. Conclusão: Apesar do estudo ainda permanecer cego, a análise com-parativa entre os grupos mostra que a associação de silimarina-metionina ao trata-mento com interferon-α/ribavirina em pacientes com hepatite C crônica genótipo1 não parece influenciar a RVS, assim como não interfere na evolução histológicade pacientes não-respondedores.
PO-249 (569)
PERFIL HEMATOLÓGICO DE PACIENTES IDOSOS COM HEPATITE CCRÔNICA SUBMETIDOS A TRATAMENTO COM INTERFERON PEGUI-LADO ASSOCIADO À RIBAVIRINASTERN C, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A tolerância dos pacientes idosos (idade > 60 anos) ao tratamentoda hepatite C crônica com interferon peguilado e ribavirina parece ser menorquando comparada a pacientes jovens, sendo freqüente motivo de suspensão. Asalterações hematológicas com o tratamento em idosos ainda não estão bem des-critas. O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações hematológicas empacientes idosos com hepatite crônica C tratados com interferon peguilado alfa-2b associado à ribavirina. Metodologia: Foram incluídos 224 pacientes, virgensde tratamento, com hepatite C crônica e genótipo 1, que foram submetidos atratamento com PEG-IFN alfa-2b (1,5mg/kg/semana) e ribavirina (RBV). Em todosfoi realizada pesquisa de HCV-RNA por PCR qualitativo no 18° mês de seguimentopara avaliação de RVS. As seguintes variáveis foram analisadas comparativamenteentre pacientes submetidos ao tratamento com idade < 60 anos e > 60 anos: nívelsérico de hemoglobina, neutrófilos e plaquetas ao final do tratamento, necessida-de do uso de filgrastima e eritropoetina durante o tratamento, e redução ou sus-pensão do PEG-IFN e RBV devido a alterações hematológicas. Resultados: Os pa-cientes apresentavam média de idade de 50 ± 11 (19-75) anos, com 21% comidade > 60 anos, e 124 (55,4%) eram do sexo feminino. A taxa global de RVS foi46%. Na análise entre pacientes com idade < 60 anos e > 60 anos, não observa-mos ao final do tratamento diferença entre nível sérico de hemoglobina (12,0 ±1,5g/gL vs 11,7 ± 1,3g/gL, p = 0,48), neutrófilos (1.624/mm3 vs 1.524/mm3, p =0,29) e plaquetas (173.716 ± 81.049/mm3 vs 149.480 ± 50.860/mm3, p = 0,16).Durante o tratamento, o uso de filgrastima entre os grupos < 60 anos e > 60 anosfoi similar (13,2% vs 11,6%, p = 0,78), bem como o uso de eritropoetina (6,4% vs11,5%, p = 0,25). Quando comparado a pacientes < 60 anos, o grupo de pacien-tes idosos não apresentou maior taxa de redução da dose de PEG-IFN (27,6% vs40,9%, p = 0,09) e da dose de RBV (17,7% vs 27,9%, p = 0,14), e nenhumpaciente teve suspensão do tratamento devido a alterações hematológicas. Con-clusões: Pacientes idosos portadores de hepatite crônica C tratados com interfe-ron peguilado alfa-2b e ribavirina parecem não apresentar maior alteração hema-tológica que pacientes jovens nesta população estudada.
PO-250 (573)
VALOR PROGNÓSTICO DO ÁCIDO HIALURÔNICO SÉRICO NA RESPOS-TA TERAPÊUTICA COM INTERFERON-ααααα, RIBAVIRINA NOS PACIENTESCOM HEPATITE C CRÔNICA, GENÓTIPO 1, VIRGENS DE TRATAMEN-TOPELLEGRINI PR, LEMOS JR V, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, SEGADAS-SOARES JA, PANAIM V, COELHO HSM,REZENDE GFMServiço de Hepatologia - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ
A hepatite “C” crônica evolui com fibrose hepática em graus variados, podendoresultar em cirrose hepática e hepatocarcinoma. O ácido hialurônico (AH) é umglicoaminoglicano formado na matriz extracelular do parênquima hepático e temsido relacionado à fibrose hepática como marcador não invasivo, embora o seu usono monitoramento da fibrose não tenha sido ainda estabelecido.
PO-251 (577)
DOADORES DE SANGUE COM ANTI-HCV POSITIVO: ANÁLISE COM-PARATIVA DE PACIENTES COM E SEM VIREMIACARDOSO JR, NARCISO-SHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, SCHIAVON LL, FREIRE FCF, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Dentre pré-doadores de sangue, é freqüente o achado de anti-HCVpositivo sem evidência de replicação viral e o exame de imunnoblot (RIBA) não édisponível na maioria dos bancos de sangue. Este estudo visa determinar a prevalên-cia de clareamento espontâneo em pacientes com anticorpos contra o HCV e iden-tificar fatores clínicos, epidemiológicos e laboratoriais associados a este clareamen-to. Métodos: Estudo transversal de pré-doadores encaminhados por anti-HCV (+)com HBsAg (-), atendidos na Liga de Hepatites entre set/1997 e ago/2006. Os da-dos foram obtidos por revisão de prontuários padronizados. Resultados: Foramincluídos 646 pacientes com média de idade de 35+/-77 anos, sendo 66% homens.Entre os 414 pacientes que realizaram pesquisa de HCV-RNA sérico, 129 (31%)apresentaram resultado negativo. Dentre os não-virêmicos, 52 pacientes (75%) apre-sentaram RIBA positivo (provável cura espontânea), enquanto que 17 (25%) foramconsiderados como portadores de anti-HCV falso-positivo (RIBA negativo). Foi ob-servada uma maior prevalência de mulheres entre aqueles que clarearam esponta-neamente o HCV, quando comparados aos pacientes virêmicos (49% vs. 29%, P =0,004). Houve uma tendência de maior prevalência de anti-HBc positivo entre osindivíduos virêmicos (17% vs. 7%, P = 0,076). Virêmicos e não-virêmicos não diferi-ram quanto à idade (36,7+/-11,4 vs. 35,1+/-10,7 anos, P = 0,363), quanto à pro-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 73
porção de profissionais da área de saúde (P = 0,211), aos antecedentes transfusio-nais (P = 0,099), uso de drogas injetáveis (P = 0,566), tatuagem (P = 0,165) ehistória de cirurgia de grande porte (P = 1,000). Também não houve diferençaquanto à presença de diabetes mellitus (P = 0,288), dislipidemia (P = 0,210), obesi-dade (P = 0,325) ou ingestão alcoólica > 30 g por dia (P = 0,105). Laboratorialmen-te, os pacientes não-virêmicos apresentaram menores níveis de ALT (mediana de0,61x LSN vs. 1,43x LSN, P < 0,001) e de GGT (mediana de 0,89x LSN vs. 2,29xLSN, P < 0,001). Conclusões: Entre os pré-doadores de sangue encaminhados poranti-HCV positivo, a confirmação de contato prévio com o HCV ocorre em 75% doscasos. Dentre estes, aproximadamente metade apresenta HCV-RNA negativo. Esteestudo confirma a maior probabilidade de clareamento espontâneo do HCV entre asmulheres.
PO-252 (580)
FATORES PREDITIVOS DE SUSPENSÃO DE TRATAMENTO COM INTER-FERON CONVENCIONAL PARA HEPATITE C CRÔNICA EM PACIENTESCOM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICAUEHARA SNO, EMORI CT, PEREIRA PSF, FELDNER ACA, MELO IC, KHOURI ST, PEREZ RM, SILVA ISS, SILVA AEB,FERRAZ MLEscola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A monoterapia com interferon para hepatite C crônica em pacien-tes com insuficiência renal crônica em hemodiálise (IRC) apresenta maior taxa desuspensão se comparada a indivíduos imunocompetentes, devido aos altos índi-ces de efeitos colaterais. Este estudo avaliou possíveis fatores relacionados à sus-pensão deste tratamento nesta população especial de pacientes. Métodos: Foramavaliados retrospectivamente todos os pacientes com IRC tratados com interferonpara hepatite C crônica, durante o período de 1994 a 2006. As variáveis clínicas,epidemiológicas e laboratoriais pré-tratamento foram analisadas com relação àscausas de suspensão da medicação. Resultados: Foram incluídos 107 pacientes.Destes, 41 (38,3%) tiveram seu tratamento suspenso e destes, 35 (85%) por efei-tos colaterais e 6 (15%) por ausência de resposta em 6º mês de uso da medicação.Os principais efeitos colaterais que levaram à suspensão foram: acometimentocardiovascular 8 (23%), efeitos hematológicos 7 (20%), infecção 4 (11,5%), ma-nifestações de trato gastrointestinal 4 (11,5%), abandono 6 (17%) e outras causas6 (17%). Como fatores preditivos de suspensão de tratamento foram significanteso sexo feminino (p 0,018), a não realização de transplante renal prévio (p 0,029)e peso menor de 60,5Kg no início do tratamento (p 0,043). Não houve diferençacom relação à idade, etiologia da IRC, genótipo VHC, estadiamento, atividadeinflamatória periportal, ferritina pré-tratamento, tempo de infecção do HCV, tem-po de hemodiálise, valores iniciais de hemoglobina, neutrófilos e plaquetas. Con-clusão: Houve alto índice de suspensão entre os pacientes com IRC em uso deinterferon, sobretudo por efeitos cardiovasculares e hematológicos. Não foi possí-vel predizer pela hemoglobina, neutrófilos ou plaquetas iniciais a posterior sus-pensão tratamento, mas foram relacionados de maneira significativa o sexo femi-nino e peso inicial dos pacientes.
PO-253 (581)
PACIENTES HEMOFÍLICOS NASCIDOS APÓS 1992: AINDA HÁ RISCODE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C?VAEZ R*, EMORI CT, ANTUNES SV*, LUPINACCI FL*, MELO IC, UEHARA SNO, WAHLE RC, PEREIRA PSF, PEREZ
RM, SILVA ISS, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites e *Serviço de Hemofilia - Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, SãoPaulo, SP
Fundamentos: Os pacientes hemofílicos são freqüentemente submetidos a trans-fusões, o que representou, no passado, importante fator de risco para a aquisi-ção de hepatite C. Este estudo comparou a prevalência de infecção pelo HCV empacientes nascidos antes e após a introdução do teste de anti-HCV na rotinalaboratorial do Serviço de Hemofilia da UNIFESP/HSP. Métodos: Estudo retros-pectivo com avaliação dos prontuários dos pacientes que estão em acompanha-mento no serviço, sendo incluídos todos os hemofílicos A e B. A pesquisa deanti-HCV foi realizada por teste imunoenzimático (ELISA de 3ª geração) e a po-sitividade para o anti-HCV foi comparada entre pacientes nascidos antes de 1992e a partir desta data, empregando-se o teste de Qui-quadrado. Resultados: Fo-ram avaliados 209 pacientes com hemofilia, todos do sexo masculino. Quantoao tipo, 85% (178) apresentavam hemofilia A e 15% (31) hemofilia B. Comrelação à gravidade, 15% (29) tinham hemofilia leve, 25% (49) moderada e60% (116) grave. Quanto ao nascimento, 124 (59%) e 85 (41%) eram nascidosantes e depois de 1992 respectivamente. Entre aqueles nascidos antes de 1992,o anti-HCV esteve presente em 53% dos casos (66/124), enquanto nenhum dospacientes nascidos após 1992 apresentou positividade para este vírus (p < 0,001).Conclusões: Estes achados permitiram demonstrar que após a introdução doteste anti-HCV na triagem de doadores, bem como a melhora dos procedimen-tos de inativação viral dos hemoderivados, houve redução drástica da prevalên-cia da infecção entre hemofílicos, não sendo detectado nenhuma soroconversãoa partir de janeiro de 1992.
Hepatologia Pediátrica
PO-254 (108)
PERSISTÊNCIA DE ANTI-HBS EM CRIANÇAS HIV+ ANOS APÓS VACI-NAÇÃOFERNANDES SJ1, SOUTO FJD2
1. Sec. de Saúde do Estado de Mato Grosso; 2. UFMT, Cuiabá, MT
Fundamentos: Crianças HIV+ infectadas verticalmente apresentam precocementeprejuízo da imunidade e da resposta a antígenos vacinais. Recentemente, foi muda-do o esquema vacinal contra hepatite B (HBV) em crianças HIV+ no Brasil, mas temsido pouco investigada a persistência de anti-HBs nestas crianças. Métodos: Paraanalisar a persistência de anti-HBs em crianças HIV+ vacinadas nos últimos anos peloesquema clássico, foi realizado estudo transversal comparando crianças HIV+ aten-didas na rede pública da capital do MT com crianças HIV-, imunocompetentes,pareadas por sexo e idade (1:2). Certificou-se, através de exames HBsAg e anti-HBcque nenhum dos participantes fora exposto ao HBV e que todos os controles, abor-dados em uma unidade de saúde pública, eram HIV-. Anti-HBs foi testado em todosos participantes e analisados o CD4 dos HIV+. Resultados: 58 crianças HIV+ atendi-das em 2 serviços públicos em Cuiabá preencheram os critérios de elegibilidade.Eram 30 (52%) masculinos com idade de 1 a 12 anos (mediana = 7 anos). Foramdefinidos 116 controles. O tempo (mediana em meses) decorrido desde o términoda vacinação foi de 68 para o grupo HIV e 64 no controle (p = 0,5). O anti-HBs foipositivo em 14 (24%) dos HIV+ e em 101 (87%) dos controles (p < 0,000). Entreaqueles anti-HBs+, a média do título do anti-HBs dos controles (298UI/L) foi supe-rior à observada (118UI/L) nos HIV+ (p < 0,000). A positividade do anti-HBs foiprogressivamente menor com o aumento da idade e com o tempo decorrido desdea última dose da vacina (p > 0,2). Regressão logística condicionada ao pareamentoe ajustada por tempo decorrido após a última dose do esquema vacinal e por idadeao iniciar a vacinação mostrou associação independente e significativa da negativi-dade do anti-HBs apenas com ser HIV+ (p = 0,000). Resultado do CD4 não influen-ciou os resultados no grupo HIV+, mas sim a idade mais elevada. Conclusão: Opresente estudo evidenciou persistência muito baixa de anti-HBs no grupo HIV, emmédia vacinado 5 anos antes, quando comparado a controles HIV-. Estes dadossugerem que tais pacientes devam ser avaliados periodicamente parareforço vaci-nal. É necessário avaliar se o novo esquema vacinal, com dose dobrada, apresentaráproteção superior à aqui relatada. Os indivíduos negativos foram encaminhadospara doses de reforço.
PO-255 (111)
DOENÇA HEPÁTICA NA DOENÇA RENAL POLICÍSTICA INFANTIL: RE-LATO DE CASOPASCOAL LB, PAULINO JR E, CASTRO LPF, GRESTA LT, TOPPA NHFaculdade de Medicina da UFMG e Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, Belo Horizonte – Minas Gerais
Introdução: A doença renal policística infantil (DRPI) é condição autossômica reces-siva rara, com prevalência estimada de 1:10.000 e 1:60.000, que afeta os rins e otrato biliar. Pode ser dividida em perinatal, neonatal, infantil e juvenil, dependendoda época de apresentação. É caracterizada pela presença de múltiplos cistos quesubstituem o parênquima renal e, no fígado, por fibrose periportal e malformaçãoda placa ductal, com proliferação de ductos biliares dilatados e tortuosos. Relato docaso: Lactente do sexo feminino, 3 meses de idade, atendida em serviço urgência deBelo Horizonte com insuficiência respiratória grave. Apresentava-se desidratada, acia-nótica e hipocorada (+/4+), subfebril (37,2°C), com roncos e crepitações difusos ebilaterais à ausculta respiratória e abdome distendido, tendo evoluído rapidamentepara óbito, apesar das tentativas de reanimação. À necropsia chamaram a atençãoas alterações cardíacas, renais e hepáticas. O coração apresentou quadro de cardio-patia hipertensiva. Os rins estavam aumentados de volume, com múltiplos cistos emforma de fenda, dispostos radialmente em toda a superfície de corte. À microscopia,havia dilatações císticas dos túbulos renais, substituindo grande parte do parênqui-ma. O fígado mostrou arquitetura parcialmente modificada pela presença de múlti-plos cistos irregulares em correspondência aos tratos portais. À microscopia obser-vou-se fibrose dos tratos portais e malformação da placa ductal, caracterizada pelapresença de ductos biliares portais proliferados, formando rica rede de canais irregu-lares anastomosados, de calibres variados, melhor observados com marcação paracitoqueratina 7 (clone OV-TL 12/30) ao exame imunoistoquímico. Havia freqüentes“plugs” biliares. O quadro morfológico, portanto, foi compatível com o diagnósticode DRPI. Discussão: a DRPI representa condição grave que pode ser detectada antesdo nascimento, mas que é mais comumente identificada após o nascimento, commalformações do fígado e rins. As manifestações renais são graves e precoces, carac-terizadas por insuficiência renal e hipertensão arterial sistêmica, necessitando trans-plante. Complicações hepáticas ocorrem em uma parcela significativa de crianças,secundária à fibrose hepática periportal, com hipertensão portal e/ou doença biliar.O presente caso, diagnosticado à necropsia, enquadra-se na categoria infantil daDRPI, evoluindo para o óbito provavelmente devido a insuficiência renal crônica ehipertensão arterial.
S 74 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-256 (142)
CIRROSE HEPÁTICA ASSOCIADA A DOENÇA CELÍACA EM CRIANÇA:RELATO DE CASOBICA RBS, PELLEGRINI P, CHINDAMO MC, PEREZ RM, LEITE NC, MARTINS S, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Acometimento hepático representa um dos espectros das manifes-tações extra-intestinais de portadores de Doença Celíaca (DC). As alterações com-preendem desde discretas elevações de transaminases até doença crônica avançada,numa relação direta entre o tempo de exposição a dieta rica em glúten e a gravidadeda lesão hepática. Até 9% dos diagnósticos presuntivos de cirrose criptogênica emadultos estão associados a DC. A prevalência em crianças não está bem estabelecida.Descrevemos um caso de criança de 13 anos, do sexo masculino, encaminhada paranossa Instituição para investigação de hepatopatia crônica. A história clínica revelavaepisódios recorrentes de dor abdominal, vômitos e diarréia desde os 5 anos deidade, associados a anemia e baixo desenvolvimento pôndero-estatural. Aos 11 anosrealizou USG abdominal que evidenciou hepatoesplenomegalia. Foram excluídasetiologias viral, metabólica, tóxica e auto-imune. Exames laboratoriais evidencia-vam: TGP- 55U/L (até 45), TGO-42U/L (até 40), FA = 645U/L (até 126); GGT-78U/L (até 64). Biópsia hepática realizada em 13/01/06 revelou presença de septos fibro-sos irregulares com formação incompleta de nódulos, hepatócitos com micro e ma-crovacúolos, compatível com esteatose. Endoscopia digestiva alta não evidenciavasinais de hipertensão portal. Avaliação do metabolismo glicídico demonstrou testede tolerância oral a glicose normal; índice de Homa β-2,4 e Homa IR = 4,35; IMC =22. Realizada pesquisa de anticorpos anti-endomísio IgA (título = 1/40) e anti-gliadi-na que foram positivos. Foi realizada biópsia duodenal para confirmação diagnósti-ca, que evidenciou enteropatia crônica atrófica compatível com doença celíaca. Apósinício de dieta com restrição de glúten houve negativação da anti-gliadina e quedado título de anti-endomísio IgA (1/5). O diagnóstico de DC foi realizado posterior-mente ao diagnóstico de cirrose. Conclusão: DC pode estar associada a lesão hepá-tica avançada em crianças. Investigação de DC deve ser incluída no diagnósticodiferencial de doença hepática crônica de etiologia desconhecida, pela possibilida-de de melhora clínica, laboratorial e histológica com a adoção de dieta sem glútennos pacientes portadores de DC.
PO-257 (162)
CIRROSE HEPÁTICA ASSOCIADA A DOENÇA CELÍACA EM CRIANÇA:RELATO DE CASOBICA RBS, PELLEGRINI P, CHINDAMO MC, PEREZ RM, LEITE NC, MARTINS S, SEGADAS-SOARES JA, COELHO HSMServiço de Hepatologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Acometimento hepático representa um dos espectros das manifes-tações extra-intestinais de portadores de Doença Celíaca (DC). As alterações com-preendem desde discretas elevações de transaminases até doença crônica avançada,numa relação direta entre o tempo de exposição a dieta rica em glúten e a gravidadeda lesão hepática. Até 9% dos diagnósticos presuntivos de cirrose criptogênica emadultos estão associados a DC. A prevalência em crianças não está bem estabelecida.Descrevemos um caso de criança de 13 anos, do sexo masculino, encaminhada paranossa Instituição para investigação de hepatopatia crônica. A história clínica revelavaepisódios recorrentes de dor abdominal, vômitos e diarréia desde os 5 anos deidade, associados a anemia e baixo desenvolvimento pôndero-estatural. Aos 11 anosrealizou USG abdominal que evidenciou hepatoesplenomegalia. Foram excluídasetiologias viral, metabólica, tóxica e auto-imune. Exames laboratoriais evidencia-vam: TGP- 55U/L (até 45), TGO-42U/L (até 40), FA = 645U/L (até 126); GGT-78U/L (até 64). Biópsia hepática realizada em 13/01/06 revelou presença de septos fibro-sos irregulares com formação incompleta de nódulos, hepatócitos com micro e ma-crovacúolos, compatível com esteatose. Endoscopia digestiva alta não evidenciavasinais de hipertensão portal. Avaliação do metabolismo glicídico demonstrou testede tolerância oral a glicose normal; índice de Homa β-2,4 e Homa IR = 4,35; IMC =22. Realizada pesquisa de anticorpos anti-endomísio IgA (título = 1/40) e anti-gliadi-na que foram positivos. Foi realizada biópsia duodenal para confirmação diagnósti-ca, que evidenciou enteropatia crônica atrófica compatível com doença celíaca. Apósinício de dieta com restrição de glúten houve negativação da anti-gliadina e quedado título de anti-endomísio IgA (1/5). O diagnóstico de DC foi realizado posterior-mente ao diagnóstico de cirrose. Conclusão: DC pode estar associada a lesão hepá-tica avançada em crianças. Investigação de DC deve ser incluída no diagnósticodiferencial de doença hepática crônica de etiologia desconhecida, pela possibilida-de de melhora clínica, laboratorial e histológica com a adoção de dieta sem glútennos pacientes portadores de DC.
PO-258 (186)
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO EM CRIANÇAS E ADOLESCEN-TES COM DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA E RELAÇÃO COM TEOR SAN-GUÍNEO DE MANGANÊSPINTO RB, CORNELY AFH, FROEHLICH PE, PITREZ EH, ANES M, SCHNEIDER ACR, WEBER TM, GONÇALVES LG,SILVEIRA TRLaboratório Experimental de Hepatologia e Gastroenterologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. UniversidadeFederal do Rio
Fundamentos: Alteração na ressonância magnética (RM) de crânio com hipersi-nal em T1 nos gânglios da base é freqüente em adultos hepatopatas crônicos eparece estar associada com níveis elevados de manganês (Mn) sanguíneo e terpapel importante na patogênese da encefalopatia hepática. O objetivo é avaliara presença desta alteração na RM de crânio em crianças e adolescentes comhepatopatia crônica e relacioná-la com os níveis de Mn sanguíneo. Métodos:Realizado um estudo transversal controlado com 39 indivíduos no período deabril de 2006 a março de 2007 divididos em três grupos: 16 cirróticos (14a2m ±3a2m) e 8 com hipertensão porta não cirrogênica (12a ± 3a8m) atendidos noambulatório de Gastroenterologia Pediátrica e/ou durante internação no Hospi-tal de Clínicas de Porto Alegre, e 15 controles sem hepatopatia (14a5m ± 3a11m).O diagnóstico de cirrose foi definido por exame físico, exames complementarese/ou biópsia hepática. O fator etiológico da cirrose foi: hepatite auto-imune (8),atresia bilar (5), deficiência de alfa1-antitripsina (1), colestase crônica familiarprogressiva (1) e criptogênica (1). A gravidade da cirrose foi determinada pelocritério de Child-Pugh: A (14), B (1) e C (1). A causa da hipertensão porta foi:trombose de veia porta (4), fibrose hepática congênita (3) e idiopática (1). Ence-falopatia hepática foi identificada em 2 pacientes cirróticos e em 2 pacientescom hipertensão porta não cirrogênica. O Mn no sangue foi quantificado porespectrofotometria de absorção atômica com chama e forno de grafite. Presen-ça de hipersinal em T1 foi avaliada através da RM de crânio. Foi obtido termo deconsentimento informado e aprovação pelo Comitê de Ética. Resultados: O ní-vel de Mn sanguíneo nos controles foi de 15,64 ± 6,61µg\L, nos cirróticos de26,23 ± 14,56µg\L (p = 0,045 vs controles) e no grupo com hipertensão portade 30,66 ± 13,09µg\L (p = 0,025 vs controles). Presença de hipersinal em T1nos gânglios da base na RM foi visualizada em 8/16 cirróticos, 8/8 com HP e emnenhum controle. O nível de Mn no sangue dos hepatopatas com RM normal foide 18,45 ± 8,38µg\L e naqueles com RM alterada de 32,24 ± 13,10µg\L (p =0,021). Conclusões: Observou-se uma elevada freqüência (66%) do hipersinalem T1 nos gânglios da base nos pacientes com hepatopatia crônica que se cor-relacionou com o nível de Mn sanguíneo. Esta alteração foi visualizada em 100%dos pacientes com hipertensão porta e em 50% dos cirróticos, mesmo naquelescom doença de leve intensidade.
PO-259 (187)
QUANTIFICAÇÃO DO SINAL EM T1 NOS GÂNGLIOS DA BASE E ANÁLI-SE ESPECTROSCÓPICA DE CRÂNIO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTESCOM CIRROSEPINTO RB, CORNELY AFH, FROEHLICH PE, PITREZ EH, ANES M, SCHNEIDER ACR, WEBER TM, GONÇALVES LG,SILVEIRA TRLaboratório Experimental de Hepatologia e Gastroenterologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. UniversidadeFederal do Rio
Fundamentos: Hipersinal em T1 nos gânglios da base na ressonância magnética(RM) de crânio é um achado freqüente em adultos hepatopatas crônicos. Poucosestudos quantificaram esta alteração ou realizaram a analise espectroscópica empacientes pediátricos. O objetivo deste estudo é quantificar o sinal em T1 nosgânglios da base através de RM de crânio com espectroscopia em crianças e ado-lescentes cirróticas e correlacionar com exames laboratoriais. Métodos: Foi reali-zado um estudo transversal controlado no período de abril de 2006 a março de2007 com 16 cirróticos (14a2m ± 3a2m) atendidos no ambulatório de Gastroen-terologia Pediátrica e/ou durante a internação no Hospital de Clínicas de PortoAlegre e em 15 controles saudáveis (14a5m ± 3a11m). O diagnóstico de cirrosefoi estabelecido por exame físico, exames complementares e/ou biópsia hepática.O fator etiológico da cirrose foi: hepatite auto-imune (8), atresia biliar (5), defi-ciência de alfa1-antitripsina (1), colestase crônica familiar progressiva (1) e cripto-gênica (1). A gravidade da cirrose foi determinada pelo critério de Child-Pugh: A(14), B(1) e C (1). Os exames laboratoriais avaliados foram: INR, KTTP, TGO, TGP,FA, GGT, BT, BD, fator V, albumina, colesterol, amônia e manganês sanguíneo. NaRM de crânio foi quantificado o sinal em T1 e realizada espectroscopia com n-acetilcisteína, colina e creatina na cabeça do núcleo caudado, nos núcleos lenticu-lares e no tálamo e calculado o índice pálido-talâmico (IPT) definido pela razão dosinal no núcleo lenticulado pelo sinal no tálamo. Foi obtido termo de consenti-mento informado e aprovação pelo Comitê de Ética. Resultados: O hipersinal emT1 nos gânglios da base na RM foi visualizado em 8/16 cirróticos e em nenhumcontrole (p = 0,021). Não houve diferença significativa entre a quantificação dosinal em T1 e na espectroscopia entre cirróticos e controles. O IPT direito noscontroles foi de 1,0134 ± 0,0239 e nos cirróticos de 1,1501 ± 0,1494 (p = 0,024).Houve correlação entre IPT direito e TGO (r = 0,54; p = 0,021), fator V (r = –0,69;
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 75
p = 0,02), albumina (r = –0,54; p = 0,02), amônia (r = 0,46; p = 0,053) e manga-nês no sangue (r = 0,39; p = 0,000). Conclusões: O índice pálido-talâmico direitofoi o parâmetro que melhor identificou a presença de hipersinal em T1 nos cirró-ticos e apresentou significativa correlação negativa com o fator V que na cirrosepode estar diminuído tanto pela menor síntese hepática como pelo maior consu-mo devido à presença de colaterais portossistêmicas.
PO-260 (372)
A IDADE NO DIAGNÓSTICO DE ATRESIA BILIAR EM 25 ANOS DE ATEN-DIMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGREKIELING CO, SANTOS JL, LINHARES AR, LORENTZ AL, VIEIRA SMG, FERREIRA CT, PETERSON CAH, ALMEIDA HC,FRAGA JCS, SILVEIRA TRServiço de Pediatria e de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Universidade Federal do RioGrande do Sul
Fundamentos: A atresia biliar (AB) é doença que acomete lactentes cuja terapêuticainicial é a portoenterostomia (POE). O resultado favorável do procedimento depen-de de sua realização nos 2 primeiros meses de vida, com mínimo sucesso após os 90dias. Portanto, o encaminhamento precoce dos casos suspeitos é essencial. Objeti-vos: Caracterizar a idade dos pacientes com AB por ocasião da laporotomia explora-dora no HCPA. Materiais e métodos: 112 pacientes com AB encaminhados aoHCPA foram submetidos à laparotomia entre 1982 e 2007. As variáveis clínicas fo-ram obtidas por meio de revisão dos prontuários sendo parte do Banco de Dados deColestase Neonatal da Unidade de Gastroenterologia Pediátrica do Serviço de Pedia-tria. Descritos os dados como freqüência, mediana e intervalo entre-quartis (IQ25-75) foram comparados pelos testes de qui-quadrado e Mann-Whitney, com nível designificância de 0,05. Resultados: Nos 25 anos a média anual de casos de AB foi de4,5 (1 a 13 casos/ano). Em 10,7% não se realizou POE. A idade no diagnósticovariou de 25 a 297 (80,5 IQ 61,25 – 109) dias. Somente 20,5% dos casos foram àlaparotomia antes de 60 dias de vida e 39,3% após 90 dias. Não houve diferença naidade do diagnóstico comparando as 3 décadas (P = 0,498). 52,7% procederam dointerior do Estado e a idade em seu diagnóstico (87; IQ: 69-115 dias) diferiu signifi-cantemente (P = 0,007) dos oriundos da capital e região metropolitana (68; IQ:55,5-98 dias). Apenas 10,2% dos pacientes do interior foram diagnosticados antesdos 60 dias enquanto dos outros 32,1% o foram (P = 0,014). Conclusão: Permane-ce o atraso no encaminhamento para o diagnóstico da AB, particularmente naque-les do interior do Estado. Estratégias de esclarecimento a pais e profissionais dasaúde são necessárias.
PO-261 (448)
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA EM CRIANÇAS: ANÁLISE DOS FA-TORES ASSOCIADOS COM A MORTALIDADEPORTA A, VASCONCELOS JR, COSTA GA, MIURA IK, PUGLIESE RPS, GUIMARÃES T, DANESI VLB, DELGADO A,CHAPCHAP P, PORTA GUnidade de Hepatologia e UTI do Instituto da Criança – HC FMUSP, Hospital AC Camargo. São Paulo
Introdução: Insuficiência hepática aguda (IHA) é uma entidade rara na infânciacom alta taxa de mortalidade. A evolução depende da etiologia, embora a maioriadas causas permanece indeterminada. O objetivo deste estudo foi determinar ascaracterísticas clinico-epidemiológicas da insuficiência hepática aguda na infânciae avaliar os fatores de risco associados com a mortalidade. Material e métodos:Estudo retrospectivo analisando 41 prontuários (período de janeiro 2001 - maiode 2007) de crianças admitidas no Instituto da Criança e Hospital AC Camargocom IHA, sendo 18 F:23 M, com média de idade de 5,7 anos (5m-14,4a). IHA foidefinida: INR > 2 com ou sem encefalopatia. Na análise estatística foi utilizado omodelo de regressão logística sendo a variável binária a morte e as variáveis inde-pendentes: sexo, idade, BT, AST, ALT, Alb, INR, transplante hepático (TX), presen-ça de encefalopatia, tempo do início da icterícia até o diagnóstico da IHA. Resul-tados: Etiologia: hepatite A, 13 casos (31,7%), auto-imune (HAI), 2 (4,8%), doen-ça de Wilson, 3 (7,3%), droga 1(2,4%) e indeterminada, 22 (53,6%). Tempo deinternação variou de 1-127 dias [mediana 18 dias], tempo do início da icterícia atéo aparecimento da encefalopatia variou de 0-40 dias [mediana 12 dias]. Na épocado diagnóstico 37/41 (90,2%) pts tinham encefalopatia. Graus de encefalopatia:grau I: 6, grau II: 2, grau III: 3, grau IV: 26. Achados laboratoriais na admissão:mediana AST: 1484UI/L [77-5940]; ALT: 1234UI/L [55 -4530]; BT: 26mg/dl [5,27-56,9], INR: < 4: 5 casos; > 4: 37, Alb: 2,7mg/dl [1,9-4,6]. Graus de encefalopatiavs sobrevida: grau I – 6/6 (100%), 5 com TX; grau II – 0/2; grau III- 3/3 (100%)dois com Tx; grau IV-10/26 (38,5%) 7 com TX. 8/41 (19,5%) pts se recuperaramsem TX sendo 2 com hepatite A, 4 causa indeterminada, 1 HAI, 1 por droga. Omodelo de regressão logística mostrou que as variáveis encefalopatia (OR = 2,27[IC95% = 1,15-4,43 p = 0,017]) e o TX (OR = 0,10 [IC95% = 0,02-0,78 p =0,025]) foram as únicas com significância estatística. A sobrevida total foi de 23/41 (56%) pts. 22/41 (53,6%) pts foram transplantados, sendo que 7 faleceramapós o procedimento (sobrevida com TX 15/22 - 68,8%). Conclusão: A etiologiaindeterminada foi a principal causa de IHA. A encefalopatia é um fator preditivo demortalidade na IHA, e o transplante hepático, mostrou ser um método efetivo notratamento de insuficiência hepática aguda.
Hipertensão PortaPO-262 (250)
HIPERTENSÃO PORTAL NO IDOSOSANTOS MF, SUPINO C, RIBEIRO MA, FAGOTTI L, PAES-BARBOSA FC, KOSZKA AJM, AUADA EPM, FERREIRA FG,SZUTAN LAFaculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Introdução: A hipertensão portal no idoso é incomum e possui particularidadesdevido às doenças associadas, ao maior comprometimento do parênquima hepáti-co em relação à metabolização de medicações e à menor tolerância aos sangramen-tos por hemorragia digestiva alta. Objetivo: Descrever a etiologia e a evolução clíni-ca dos pacientes portadores de hipertensão portal acima de 60 anos tratados noGrupo de Fígado e Hipertensão Portal da FCM da Santa Casa de São Paulo. Casuís-tica e metodologia: Estudo retrospectivo de 20 doentes em acompanhamento noGrupo de Fígado e Hipertensão Portal da FCM da Santa Casa de SP. Foram tratados14 homens e 6 mulheres, com idade variando de 61 a 81 anos com média de 64.9anos. Resultados: Oito pacientes eram portadores de cirrose de etiologia alcoólica,2 com cirrose criptogênica, 9 por esquistossomose e 1 de etiologia mista (álcoolmais esquistossomose). Dos pacientes esquistossomóticos 7 foram submetidos àDesconexão Ázigo-Portal e 1 à esplenectomia. Dos pacientes cirróticos um foi sub-metido à cirurgia de Warren, um à derivação mesentérico-cava e um à porto-cava.Os demais responderam bem ao tratamento clínico (farmacológico + endoscópico).Todos se encontram em acompanhamento com doença estável. Conclusões: Nascondições do presente estudo podemos afirmar que as etiologias mais comuns fo-ram à cirrose por álcool e a esquistossomose mansônica. A evolução clínica destespacientes não apresentou particularidades.
PO-263 (252)
ANÁLISE DA RECIDIVA HEMORRÁGICA EM PACIENTES PORTADORESDE HIPERTENSÃO PORTAL DEVIDO À CIRROSE DE ETIOLOGIA ALCOÓ-LICASANTOS MF, RIBEIRO MA, SUPINO C, MIRANDA AP, FIRMINO LG, OCAMPOS G, PAES-BARBOSA FC, AQUINO
CGG, FERREIRA FG, SZUTAN LAFaculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Introdução: A cirrose hepática por álcool é uma das principais causas de hemorra-gia digestiva alta por varizes esofagogástricas em nosso meio. O principal objetivodo tratamento é prevenir a recidiva hemorrágica que leva à insuficiência hepática ea morte desses doentes. Objetivo: Analisar a evolução clínica, mortalidade, causasde recidiva hemorrágica e reposta ao tratamento cirúrgico e clínico-endoscópico.Casuística e método: Foram avaliados 80 pacientes com cirrose de etiologia hepá-tica com hemorragia digestiva alta prévia por varizes esofagogástricas atendidos naliga de Hepatologia do Grupo de Fígado e Hipertensão Portal da Santa casa de SP,no período de 1999 a 2006, submetido à tratamento clínico endoscópico. Os pa-cientes foram subdivididos em 2 grupos: com e sem recidiva hemorrágica e compa-rados quanto ao número de hemorragias, evolução clínica e resposta ao tratamento.Resultados: No grupo dos pacientes com recidiva hemorrágica, a principal causafoi a falta de adesão ao tratamento e recidiva de ingestão alcoólica. A mortalidadeneste grupo foi de 30%. Já no grupo sem recidiva hemorrágica não houve mortali-dade. A abstinência alcoólica foi completa neste grupo. O seguimento ambulatorialvariou de 1 mês a 7 anos. Conclusões: Nas condições de execução do presenteestudo podemos concluir que a mortalidade destes doentes está diretamente rela-cionada à recidiva hemorrágica e os principais fatores de recidiva foram a continui-dade da ingestão alcoólica e por conseguinte a falta de adesão ao tratamento clínicoendoscópico.
PO-264 (255)
INFARTO INTESTINAL EM PACIENTE COM HEMORRAGIA DIGESTIVAALTA MACIÇAFONSECA NETO OCL, ARCOVERDE LCA, ROCHA JÚNIOR ET, LUSTOSA ES, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife – PE
Fundamentos: A hemorragia digestiva alta de origem varicosa é um evento dramá-tico e que ameaça a vida dos pacientes, principalmente naqueles que apresentamdoença hepática grave. Modificações hemodinâmicas podem ocorrer e dependen-do da severidade do quadro, induzir a formação de oclusão venosa esplâncnica. Oaparecimento de trombose venosa mesentérica em hepatopatas após HDA, demonstraa intensidade do sangramento e o manejo, algumas vezes, inadequado. Os autoresdemonstram um caso de abdome agudo vascular em paciente cirrótico com he-morragia digestiva alta maciça. Métodos: Relato de caso. Resultados: C.A.F., 60anos, sexo masculino, cirrose hepática secundária a álcool, MELD 22. Admitido naemergência do Hospital da Restauração com HDA. Apresenta-se em choque hipovo-lêmico (FC = 130, PA = inaudível). Estabelecida reanimação volêmica e IOT. Realiza-da EDA e identificado sangramento em varizes esofagogástricas. Realizada esclerosee balonamento com Sengstaken-Blakemore. Administrado 6 CH, 6 PF e 2 C plaque-tas. Cessado o sangramento o paciente evolui no 2º dia de internação hospitalar em
S 76 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
UTI com estado geral regular (sem drogas vasopressoras, sem sedação). Continuoucom melhora clínica, no entanto, começou a apresentar acidose metabólica acen-tuada apesar de bioquímica hepática pouco alterada (INR = 2, BT = 1,9mg/dl, Alb =2,3mg/dl) e creatinina de 1,6mg/dl. Monitorização cardiológica foi reiniciada porhipercalemia (6,3). Quadro clínico de abdome agudo foi aventado por intensivista eo cirurgião assistente optou por realizar laparotomia cujo achado foi de extensanecrose de jejuno íleo. Optado por ressecção de toda necrose e confeccionado jeju-nostomia e fístula mucosa. Sepse abdominal instalou-se e evolução para falência demúltiplos órgãos com óbito ocorreu após 3 dias da cirurgia. Conclusões: A trombo-se venosa mesentérica é condição grave e todos os esforços devem ser dirigidos parasua confirmação rápida e instituição de tratamento adequado.
PO-265 (256)
SANGRAMENTO GASTROINTESTINAL NO DEPARTAMENTO DE EMER-GÊNCIA: ESTUDO DEMOGRÁFICO E ETIOLÓGICO ATRAVÉS DA ENDOS-COPIA DIGESTIVA ALTAFONSECA NETO OCL, ROCHA JÚNIOR ET, ARCOVERDE LCA, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife – PE
Fundamentos: A hemorragia digestiva alta necessita de uma rápida definição diag-nóstico/terapêutica para obter-se bom prognóstico. A endoscopia digestiva é o princi-pal aliado nessa condição, podendo contribuir de forma diagnóstica e/ou terapêutica.A etiologia varia com aspectos epidemiológicos como: idade, sexo, local de origem ehábitos sociais e, em 8-10% dos casos, tem causa desconhecida. São agentes etiológi-cos: doença ulcerosa péptica, varizes esofágicas, tumores, esofagite, dentre outrascausas. Demonstrar o perfil epidemiológico da hemorragia digestiva alta dos pacien-tes admitidos no setor de emergência do Hospital da Restauração, Recife - PE. Méto-dos: Selecionamos laudos de endoscopias digestivas altas realizadas no Serviço deEndoscopia do Hospital da Restauração - PE, período entre setembro e novembro de2005 (986 laudos), analisamos as variáveis: sexo, idade, indicação, diagnóstico, pro-cedimentos realizados e complicações. Realizamos cálculos matemáticos nesses da-dos, elaborando tabelas com auxílio de programas de computador (Excel e SPSS) econfeccionamos gráficos para exposição dos resultados. Resultados: Das 986 endos-copias digestivas altas, 540 eram pacientes do sexo masculino (54,8%) e 446 do sexofeminino (45,2%). A média de idade geral foi 47,7 anos (47,3 anos para o sexo mas-culino e 48,3 anos para o feminino). A indicação mais freqüente foi hemorragia diges-tiva alta (394 casos – 39,9%), 252 pacientes do sexo masculino (63,9%) e 143 dosexo feminino (36,1%). A média geral de idade foi 54,5 anos, tendo-se uma média de52,6 anos para os homens e 57,5 anos para as mulheres. Quanto à origem, 251 casosdecorreram de varizes esofágicas (64%), 41 pacientes de úlcera duodenal (10,5%), 31casos por úlcera gástrica (8%), Síndrome de Mallory-Weiss em 10 pacientes (2,5%),esofagite em 37 indivíduos (9%), em 7 casos, tumores Bormann III (2%), gastrite em13 pacientes (3%), etiologia desconhecida 10 casos (2,5%). Dos pacientes com vari-zes esofágicas, 225 (90%) procediam de zonas endêmicas (esquistossomose) e em26(10%) não se controlou o sangramento com esclerose ou ligadura. Conclusões: Ahemorragia digestiva alta é bastante incidente e prevalente em nosso meio, tendo aparticipação de fatores epidemiológicos na sua etiologia. No nosso meio, varizes doesôfago constituem a principal etiologia.
PO-266 (257)
TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE ESPLE-NECTOMIA COM LIGADURA DE VEIA GÁSTRICA ESQUERDA EM ES-QUISTOSSOMÓTICOFONSECA NETO OCL, ARCOVERDE LCA, FERNANDES JÚNIOR FAM, LUSTOSA RJC, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife – PE
Fundamentos: A isquemia mesentérica de origem venosa é rara (5-15%) e poten-cialmente evolui para o óbito. Pode ser de origem primária ou secundária, encon-trando como principais fatores de risco: procedimento cirúrgico prévio e hiperten-são portal. Os autores têm como objetivo relatar um caso de trombose venosa me-sentérica após esplenectomia com ligadura de veia gástrica esquerda (ELGE) emesquistossomótico na urgência. Métodos: Relato de caso. Resultados: P.C.F., 50anos, sexo masculino, natural e procedente de Macaparana/PE, é admitido na emer-gência do Hospital da Restauração com HDA maciça (1º sangramento). Realizadareanimação volêmica e tratamento endoscópico (esclerose de varizes esofagogástri-cas sangrantes) sem sucesso. Realizado IOT e colocação de balão de Sengstaken-Blakemore. O sangramento persistiu. Optado por cirurgia de emergência: esplenec-tomia com ligadura de veia gástrica esquerda. Apresenta boa evolução no pós-operatório imediato. Recebe alta da semi-intensiva no 2º dia de pós-operatório. No4º dia de pós-operatório apresenta aumento do volume abdominal com dor e aci-dose metabólica intensa (ph = 7,2, Be = -12). Realizada laparotomia exploradoracujo achado foi necrose de 2/3 do delgado por trombose venosa mesentérica. Rea-lizada ressecção intestinal extensa. Evoluiu para óbito no 6º dia de pós-operatório.Conclusões: Nos pacientes com múltiplos fatores de risco para trombose venosamesentérica (cirurgia prévia, hipertensão portal, esplenectomia) a monitorizaçãomais rigorosa poderá identificar precocemente surgimento de complicações trom-bóticas na área esplâncnica.
PO-267 (292)
SHUNT PORTOSSISTÊMICO PARAUMBILICAL COMO CAUSA DE EN-CEFALOPATIA HEPÁTICACOELHO DL, ARAHATA CM, LOPES MSR, CABRAL MA, AZEVEDO TR, NUNES FILHO AC, DUARTE RM, LEITÃO L,FILGUEIRA NAServiços de Clínica Médica e Radiologia Intervencionista do Hospital das Clínicas da UFPE, Recife
Introdução: A Encefalopatia hepática (EH) compreende um conjunto de anormali-dades neuropsiquiátricas que pode ocorrer em até 50% dos cirróticos, quando ava-liados por testes psicométricos. A maioria dos episódios de EH é precipitada porfatores corrigíveis. Em alguns casos, o desenvolvimento de shunts portossistêmicosespontâneos pode ser o evento desencadeante ou agravante da EH. Relato de caso:Homem de 49 anos começou a apresentar episódios de desorientação, alteração deciclo sono-vigília e sonolência dois meses antes do internamento, durante o qualapresentou vários episódios de EH grau III, sem fator precipitante demonstrável. Elereferia passado de etilismo importante (cerca de 180g de álcool/dia), tendo paradode beber há 4 anos, após um episódio de HDA. Ao exame físico não foram eviden-ciados sinais de icterícia ou ascite. A avaliação laboratorial hepática era razoavelmen-te preservada, com aminotransferases normais (BT 1,43mg/dl; INR 1,28; Albumina2,8g/dl), correspondendo a um Child B e MELD 15. A EDA mostrou varizes degrosso calibre com manchas hematocísticas e a USG Doppler sugeriu a presença deshunt portossistêmico intra-hepático. Estudo arteriográfico com portografia indiretaevidenciou veia paraumbilical recanalizada, calibrosa, que drenava para o plexo he-morroidário. Conseguimos o controle da sintomatologia com medidas clínicas e opaciente está em esquema de ligadura elástica das varizes esofágicas, sendo manti-do em acompanhamento para avaliação da necessidade de procedimento para oclu-são do shunt. Conclusão: Shunts Portossistêmicos constituem um fator precipitantede EH e devem ser pesquisados em pacientes com episódios recorrentes de EH semcausa aparente. A veia paraumbilical está presente como colateral em 25% dospacientes com shunt portossistêmico. A oclusão do shunt por radiologia interven-cionista deve ser realizada quando medidas clínicas forem ineficazes para o controleda EH.
PO-268 (343)
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ESQUIS-TOSSOMÓTICOS COM HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTAFONSECA NETO OCL, ARCOVERDE LCA, FERNANDES JÚNIOR FAM, MORAES RP, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife – PE
Fundamentos: No Brasil, estima-se a existência de 8 milhões de indivíduos portado-res da Esquistossomose Mansônica. A hemorragia decorrente de ruptura das varizesesofagogástricas ainda se apresenta como a principal causa de morbidade e morta-lidade nos pacientes com a forma hepatoesplênica da esquistossomose. Apesar dosavanços no tratamento clínico, a necessidade da cirurgia poderá ser o único métodode tratamento eficaz, rápido e seguro nesses pacientes no departamento da emer-gência. Demonstrar a utilização da esplenectomia associada a ligadura da veia gás-trica esquerda em pacientes esquistossomóticos no departamento de emergênciado Hospital da Restauração, Recife/PE. Métodos: O estudo foi realizado prospecti-vamente entre janeiro de 2002 e junho de 2007 no Serviço de Emergência do Hos-pital da Restauração, Recife/PE. Participaram do estudo os pacientes esquistossomó-ticos que eram admitidos com hemorragia digestiva alta e não apresentavam carac-terísticas de doença hepática crônica (parâmetros bioquímicos, endoscópicos e ul-tra-sonográficos). A sorologia foi realizada em todos os casos, no entanto, o seuresultado era observado no acompanhamento ambulatorial, assim como, a biópsiahepática realizada no ato operatório. A cirurgia foi realizada sempre por um dosautores e sistematizada segundo o Prof. Salomão Kelner (1965). Resultados: Qua-renta pacientes, sendo 30 do sexo masculino e com idade média de 35,8 anosparticiparam do estudo. Todos provenientes da Zona da Mata (área endêmica dadoença) e com passado de hemorragia digestiva (média de 2,3 episódios anterio-res). A endoscopia foi realizada nos quarenta pacientes e o sítio de sangramentoobservado em 29 (varizes esofagogástricas). No restante, devido ao grande sangra-mento e instabilidade hemodinâmica, foi introduzido o balão Sengstaken-Blakemo-re. A ultra-sonografia foi realizada em 31 pacientes confirmando a fibrose periportale ausência de características de cirrose. O hiperesplenismo ocorreu em todos e aalbumina estava acima de 3,5 nos quarenta pacientes do estudo (média = 3,9mg/dl). A cirurgia ocorreu no mesmo dia da admissão em 25, no segundo dia em 10 eno terceiro dia em 5 pacientes. Não houve óbito no intra-operatório. Dois pacientesapresentaram trombose de porta e evoluíram com infarto mesentérico e óbito nosétimo dia. Conclusões: A ELGE é um procedimento simples, rápido e seguro po-dendo, nesta série de casos, sugerir como opção de escolha na hemorragia digestivaalta nestes pacientes.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 77
PO-269 (377)
MELD COMO PREDITOR NÃO-ENDOSCÓPICO DA PRESENÇA DE VA-RIZES ESOFÁGICAS COM NECESSIDADE DE PROFILAXIATAFAREL JR, TOLENTINO LHL, RODRIGUES RA, MARTINS FPB, ROHR MRS, NAKAO FS, LIBERA ED, FERRAZ ML,FERRARI APUniversidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, São Paulo
Fundamentos: As varizes esofágicas (VE) ocorrem em até 90% dos cirróticos, tendomortalidade de até 50% em cada episódio de sangramento. Apesar dos guidelinesinternacionais recomendarem a pesquisa endoscópica de VE para todo cirrótico, aidentificação de preditores não-endoscópicos da sua presença mostra-se mais custo-efetiva. Método: Estudo observacional, prospectivo, com cirróticos acompanhadosno Setor de Gastroenterologia Clínica da UNIFESP/EPM. Excluíram-se portadores deesquistossomose, histórico de cirurgia portossistêmica, hemorragia digestiva alta ouinfecção nos últimos 3 meses, uso crônico de beta-bloqueadores ou nitratos e reali-zação de mais de uma sessão de terapia endoscópica para varizes de esôfago. Decada paciente coletaram-se dados sobre endoscopia digestiva alta, histórico de des-compensações prévias pela cirrose e exames laboratoriais para cálculo do MELD,Child, APRI e contagem de plaquetas. Considerou-se VE com necessidade de profila-xia para hemorragia varicosa (PHV) aquelas de médio ou grosso calibre. Resulta-dos: 195 pacientes avaliados (66% homens; média etária 50 anos; 61% cirrose porhepatite C crônica), dos quais 76 preencheram todos critérios de inclusão e nenhumde exclusão. Entre as descompensações pela cirrose, relatar hemorragia digestivaalta relacionou-se tanto com a presença de VE quanto com a necessidade de PHV (p< 0,001). Plaquetas abaixo de 70.000 mostrou-se como indicador da presença VEna subpopulação com hepatite C crônica (p: 0,04). O valor do APRI (p: 0,55), Child(p: 0,32) e do MELD (p: 0,33) não se relacionaram com a presença de VE. Noentanto, MELD elevado (acima de 15) mostrou uma tendência estatística para apresença de VE com necessidade de PHV (p: 0,07). Conclusões: Neste estudo oMELD não se correlacionou com a presença de VE com necessidade de profilaxiapara hemorragia varicosa.
PO-270 (393)
LIGADURA DE VEIA RENAL ESQUERDA PARA TRANSPLANTE HEPÁTI-CO CADAVÉRICO EM PACIENTES COM SHUNT ESPLENORENAL ESPON-TÂNEOMARTINEZ R, ROZENFELD AC, BASTO ST, FERNANDES ESMPrograma de Transplante Hepático – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Introdução: A hipertensão portal secundária à cirrose hepática predispõe ao desvioespontâneo do fluxo portal através de uma grande variedade de vasos colateraispara a circulação sistêmica. O shunt espleno-renal grande (SSR) é uma condiçãocomum em receptores de transplante hepático, e sua persistência após o transplantepode resultar no “fenômeno de roubo portal”, levando à redução na perfusão doenxerto e conseqüente diminuição no aporte de fatores hepatotróficos sendo umfator predisponente para a disfunção do enxerto. Uma terapia alternativa para esseshunt é a ligadura da veia renal, que tem sido feita sem prejuízo importante dafunção renal e com restauração permanente do fluxo portal no transplante hepáticointervivo (TIV). Métodos: Descrevemos três casos de ligadura de veia renal em pa-cientes com SSR relacionados a transplante hepático cadavérico. Em dois dessescasos, o procedimento foi realizado durante o transplante e no terceiro caso a liga-dura foi realizada uma semana após em paciente que apresentava piora progressivada função hepática e com exames de imagem demonstrando grande shunt espleno-renal. Neste caso, após o procedimento, houve recuperação significativa da funçãodo enxerto. A função renal, avaliada pelos níveis de uréia e creatinina plasmáticos foielevou-se por alguns dias após os procedimentos porém normalizou-se em menosde uma semana em todos os pacientes. A diurese não foi afetada e nenhum doscasos necessitou de diálise. O fluxo portal permaneceu com valores dentro da nor-malidade durante todo o período de observação e todos os pacientes estão aindavivos, com funções hepática e renal normais no acompanhamento ambulatorial.Conclusão: Embora com uma casuística inicial, a ligadura de veia renal em pacien-tes com SSR demonstra ser um procedimento seguro e de valor em pacientes detransplante cadavérico, como já sugerido nos casos de transplante intervivo. Esteprocedimento pode ser realizado também após o transplante.
PO-271 (427)
INFARTO INTESTINAL EM PACIENTE COM HEMORRAGIA DIGESTIVAALTA MACIÇAFONSECA NETO OCL, ARCOVERDE LCA, ROCHA JÚNIOR ET, LUSTOSA ES, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife – PE
Fundamentos: A hemorragia digestiva alta de origem varicosa é um evento dramá-tico e que ameaça a vida dos pacientes, principalmente naqueles que apresentamdoença hepática grave. Modificações hemodinâmicas podem ocorrer e dependen-do da severidade do quadro, induzir a formação de oclusão venosa esplâncnica. Oaparecimento de trombose venosa mesentérica em hepatopatas após HDA, demonstraa intensidade do sangramento e o manejo, algumas vezes, inadequado. Os autoresdemonstram um caso de abdome agudo vascular em paciente cirrótico com he-
morragia digestiva alta maciça. Métodos: Relato de caso. Resultados: C.A.F., 60anos, sexo masculino, cirrose hepática secundária a álcool, MELD 22. Admitido naemergência do Hospital da Restauração com HDA. Apresenta-se em choque hipovo-lêmico (FC = 130, PA = inaudível). Estabelecida reanimação volêmica e IOT. Realiza-da EDA e identificado sangramento em varizes esofagogástricas. Realizada esclerosee balonamento com Sengstaken-Blakemore. Administrado 6 CH, 6 PF e 2 C plaque-tas. Cessado o sangramento o paciente evolui no 2º dia de internação hospitalar emUTI com estado geral regular (sem drogas vasopressoras, sem sedação). Continuoucom melhora clínica, no entanto, começou a apresentar acidose metabólica acen-tuada apesar de bioquímica hepática pouco alterada (INR = 2, BT = 1,9mg/dl, Alb =2,3mg/dl) e creatinina de 1,6mg/dl. Monitorização cardiológica foi reiniciada porhipercalemia (6,3). Quadro clínico de abdome agudo foi aventado por intensivista eo cirurgião assistente optou por realizar laparotomia cujo achado foi de extensanecrose de jejuno íleo. Optado por ressecção de toda necrose e confeccionado jeju-nostomia e fístula mucosa. Sepse abdominal instalou-se e evolução para falência demúltiplos órgãos com óbito ocorreu após 3 dias da cirurgia. Conclusões: A trombo-se venosa mesentérica é condição grave e todos os esforços devem ser dirigidos parasua confirmação rápida e instituição de tratamento adequado.
PO-272 (428)
SANGRAMENTO GASTROINTESTINAL NO DEPARTAMENTO DE EMER-GÊNCIA: ESTUDO DEMOGRÁFICO E ETIOLÓGICO ATRAVÉS DA ENDOS-COPIA DIGESTIVA ALTAFONSECA NETO OCL, ROCHA JÚNIOR ET, ARCOVERDE LCA, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife - PE
Fundamentos: A hemorragia digestiva alta necessita de uma rápida definição diag-nóstico/terapêutica para obter-se bom prognóstico. A endoscopia digestiva é o prin-cipal aliado nessa condição, podendo contribuir de forma diagnóstica e/ou terapêu-tica. A etiologia varia com aspectos epidemiológicos como: idade, sexo, local deorigem e hábitos sociais e, em 8-10% dos casos, tem causa desconhecida. São agen-tes etiológicos: doença ulcerosa péptica, varizes esofágicas, tumores, esofagite, den-tre outras causas. Demonstrar o perfil epidemiológico da hemorragia digestiva altados pacientes admitidos no setor de emergência do Hospital da Restauração, Recife- PE. Métodos: Selecionamos laudos de endoscopias digestivas altas realizadas noServiço de Endoscopia do Hospital da Restauração-PE, período entre setembro enovembro de 2005 (986 laudos), analisamos as variáveis: sexo, idade, indicação,diagnóstico, procedimentos realizados e complicações. Realizamos cálculos mate-máticos nesses dados, elaborando tabelas com auxílio de programas de computa-dor (Excel e SPSS) e confeccionamos gráficos para exposição dos resultados. Resul-tados: Das 986 endoscopias digestivas altas, 540 eram pacientes do sexo masculino(54,8%) e 446 do sexo feminino (45,2%). A média de idade geral foi 47,7 anos(47,3 anos para o sexo masculino e 48,3 anos para o feminino). A indicação maisfreqüente foi hemorragia digestiva alta (394 casos – 39,9%), 252 pacientes do sexomasculino (63,9%) e 143 do sexo feminino (36,1%). A média geral de idade foi54,5 anos, tendo-se uma média de 52,6 anos para os homens e 57,5 anos para asmulheres. Quanto à origem, 251 casos decorreram de varizes esofágicas (64%), 41pacientes de úlcera duodenal (10,5%), 31 casos por úlcera gástrica (8%), Síndromede Mallory-Weiss em 10 pacientes (2,5%), esofagite em 37 indivíduos (9%), em 7casos, tumores Bormann III (2%), gastrite em 13 pacientes (3%), etiologia desco-nhecida 10 casos (2,5%). Dos pacientes com varizes esofágicas, 225 (90%) procedi-am de zonas endêmicas (esquistossomose) e em 26(10%) não se controlou o san-gramento com esclerose ou ligadura. Conclusões: A hemorragia digestiva alta ébastante incidente e prevalente em nosso meio, tendo a participação de fatoresepidemiológicos na sua etiologia. No nosso meio, varizes do esôfago constituem aprincipal etiologia.
PO-273 (429)
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ESQUIS-TOSSOMÓTICOS COM HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTAFONSECA NETO OCL, ARCOVERDE LCA, FERNANDES JÚNIOR FAM, MORAES RP, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife - PE
Fundamentos: No Brasil, estima-se a existência de 8 milhões de indivíduos portado-res da Esquistossomose Mansônica. A hemorragia decorrente de ruptura das varizesesofagogástricas ainda se apresenta como a principal causa de morbidade e morta-lidade nos pacientes com a forma hepatoesplênica da esquistossomose. Apesar dosavanços no tratamento clínico, a necessidade da cirurgia poderá ser o único métodode tratamento eficaz, rápido e seguro nesses pacientes no departamento da emer-gência. Demonstrar a utilização da esplenectomia associada a ligadura da veia gás-trica esquerda em pacientes esquistossomóticos no departamento de emergênciado Hospital da Restauração, Recife/PE. Métodos: O estudo foi realizado prospecti-vamente entre janeiro de 2002 e junho de 2007 no Serviço de Emergência do Hos-pital da Restauração, Recife/PE. Participaram do estudo os pacientes esquistossomó-ticos que eram admitidos com hemorragia digestiva alta e não apresentavam carac-terísticas de doença hepática crônica (parâmetros bioquímicos, endoscópicos e ul-tra-sonográficos). A sorologia foi realizada em todos os casos, no entanto, o seuresultado era observado no acompanhamento ambulatorial, assim como, a biópsia
S 78 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
hepática realizada no ato operatório. A cirurgia foi realizada sempre por um dosautores e sistematizada segundo o Prof. Salomão Kelner (1965). Resultados: Qua-renta pacientes, sendo 30 do sexo masculino e com idade média de 35,8 anosparticiparam do estudo. Todos provenientes da Zona da Mata (área endêmica dadoença) e com passado de hemorragia digestiva (média de 2,3 episódios anterio-res). A endoscopia foi realizada nos quarenta pacientes e o sítio de sangramentoobservado em 29 (varizes esofagogástricas). No restante, devido ao grande sangra-mento e instabilidade hemodinâmica, foi introduzido o balão Sengstaken-Blakemo-re. A ultra-sonografia foi realizada em 31 pacientes confirmando a fibrose periportale ausência de características de cirrose. O hiperesplenismo ocorreu em todos e aalbumina estava acima de 3,5 nos quarenta pacientes do estudo (média = 3,9mg/dl). A cirurgia ocorreu no mesmo dia da admissão em 25, no segundo dia em 10 eno terceiro dia em 5 pacientes. Não houve óbito no intra-operatório. Dois pacientesapresentaram trombose de porta e evoluíram com infarto mesentérico e óbito nosétimo dia. Conclusões: A ELGE é um procedimento simples, rápido e seguro po-dendo, nesta série de casos, sugerir como opção de escolha na hemorragia digestivaalta nestes pacientes.
PO-274 (430)
TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE ESPLE-NECTOMIA COM LIGADURA DE VEIA GÁSTRICA ESQUERDA EM ES-QUISTOSSOMÓTICOFONSECA NETO OCL, ARCOVERDE LCA, FERNANDES JÚNIOR FAM, LUSTOSA RJC, MIRANDA ALServiço de Cirurgia de Emergência e Trauma do Hospital da Restauração, Recife - PE
Fundamentos: A isquemia mesentérica de origem venosa é rara (5-15%) e poten-cialmente evolui para o óbito. Pode ser de origem primária ou secundária, encon-trando como principais fatores de risco: procedimento cirúrgico prévio e hiperten-são portal. Os autores têm como objetivo relatar um caso de trombose venosa me-sentérica após esplenectomia com ligadura de veia gástrica esquerda (ELGE) emesquistossomótico na urgência. Métodos: Relato de caso. Resultados: P.C.F., 50anos, sexo masculino, natural e procedente de Macaparana/PE, é admitido na emer-gência do Hospital da Restauração com HDA maciça (1º sangramento). Realizadareanimação volêmica e tratamento endoscópico (esclerose de varizes esofagogástri-cas sangrantes) sem sucesso. Realizado IOT e colocação de balão de Sengstaken-Blakemore. O sangramento persistiu. Optado por cirurgia de emergência: esplenec-tomia com ligadura de veia gástrica esquerda. Apresenta boa evolução no pós-operatório imediato. Recebe alta da semi-intensiva no 2º dia de pós-operatório. No4º dia de pós-operatório apresenta aumento do volume abdominal com dor e aci-dose metabólica intensa (ph = 7,2, Be = -12). Realizada laparotomia exploradoracujo achado foi necrose de 2/3 do delgado por trombose venosa mesentérica. Rea-lizada ressecção intestinal extensa. Evoluiu para óbito no 6º dia de pós-operatório.Conclusões: Nos pacientes com múltiplos fatores de risco para trombose venosamesentérica (cirurgia prévia, hipertensão portal, esplenectomia) a monitorizaçãomais rigorosa poderá identificar precocemente surgimento de complicações trom-bóticas na área esplâncnica.
Insuficiência Hepática Aguda/Toxicidade por Drogas
PO-275 (122)
HEPATITE AUTO-IMUNE ASSOCIADA AO USO DE MEDICAMENTO:RELATO DE CASOMATA LAC, COUTO OFM, ANDRADE RB, TARANTO MPL, PRATA E, GOMES I, SATURNINO S, COUTO JCF,COELHO ANHospital Lifecenter, Belo Horizonte
Introdução: A hepatite auto-imune (HAI) é uma doença inflamatória crônica carac-terizada pela presença de hipergamaglobulinemia, auto-anticorpos circulantes e in-filtrado periportal linfoplasmocitário, com resposta satisfatória à imunossupressão.Sua etiologia é obscura e muito discutida. Fatores genéticos estão envolvidos, prin-cipalmente relacionados ao HLA. Existem relatos de HAI desencadeada pelo vírus dahepatite A, pelo mecanismo de mimetismo molecular. Alguns autores descrevem apossibilidade de medicamentos desencadearem HAI por meio da ação de metabóli-tos ativos que levariam à formação de neo-antígenos responsáveis pelo início deuma resposta imune contra o fígado, mediada por linfócitos T. A amoxicilina-clavu-lanato (AMX/CLV) tem sido citada como um desses medicamentos. Objetivo: Rela-tar um caso de hepatite auto-imune associada ao uso de AMX/CLV. Relato: Pacientefeminina, 32 anos, natural de Belo Horizonte, previamente hígida. História familiarpositiva para lúpus eritematoso sistêmico. História recente de micose mucocutâneacom uso de cetoconazol 100mg duas doses com intervalo de 7 dias. Neste interva-lo, fez uso de AMX/CLV por 7 dias para tratamento de infecção do trato urinário. Nodia seguinte ao término do tratamento, iniciou com quadro de icterícia, colúria,adinamia e prostração, admitida, então para propedêutica. US abdominal sem alte-rações significativas. Exames laboratoriais: elevação em aminotransferares, 30 a 40vezes o limite superior da normalidade (LSN) e enzimas canaliculares, bilirrubinas
totais (BBT): 15 (direta 12), FA: 300 e GGT: 125. Hiperglobulinemia, FAN negativo,AMA negativo, ASMA positivo 1:160. Sorologias virais negativas. Biópsia hepáticarevelou hepatite de interface com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário e presen-ça de rosetas. Iniciado tratamento com prednisona 60mg/dia com melhora clínica elaboratorial. No quinto dia já houve queda significativa da dosagem de aminotrans-ferases (5 vezes o LSN) e BBT (4,0). Conclusão: Com base nos mecanismos conside-rados na literatura, os autores acreditam tratar-se de um caso incomum de HAIdesencadeada pelo uso de AMX/CLV. Estudos focados nas bases imunológicas daetiopatogenia da HAI são necessários para confirmarem essa associação.
PO-276 (128)
HIPERBILIRRUBINEMIA COMO RARO EFEITO ADVERSO DO USO DON-METIL-MEGLUMINA (GLUCANTIME ): RELATO DE CASOALCÂNTARA GAA, REIS AV, DIAS EES, LOUREIRO LVM, COUTO OFM, MIRANDA GM, LAURENTYS-MEDEIROS JServiço de Gastroenterologia, Santa Casa de Belo Horizonte
Introdução: O antimoniato de N-metil-meglumina (Sb) foi usado pela primeira vezno tratamento da leishmaniose visceral em 1937, na Índia. É uma droga bastanteeficaz, cujo mecanismo de ação ainda não está completamente descrito. Ela apre-senta alguns efeitos adversos, principalmente cardio, hepato e nefrotoxicidade. Aelevação transitória das aminotransferases é relativamente comum (60% dos casos),mas em geral não há necessidade de interrupção do tratamento. Alterações emoutras enzimas hepáticas têm sido raramente reportadas na literatura. Objetivo:Relatar o caso de colestase associada ao uso de Sb. Relato: paciente masculino, 42anos, internado com quadro de febre prolongada, emagrecimento e pancitopenia.Sem comorbidades ou uso de medicamentos nos últimos 3 meses. Reação de fixa-ção de complemento + para leishmaniose (1:160). Mielograma com alterações alta-mente sugestivas de infecção por leishmaniose (Celularidade 100%. Plasmócitos4,3%. Aumentado número de células reticulares e de plasmócitos. Sinais indiretosde desiretropoese, não sendo observadas leishmanias na amostra). Foi iniciado tra-tamento com 20mg/kg/dia Sb EV. No segundo dia foi verificada elevação das bilir-rubinas. US abdominal: sem alterações em vias biliares. Devido à piora progressivada colestase, o medicamento foi suspenso após 4 dias de uso. Houve melhora labo-ratorial com redução importante dos níveis de bilirrubinas e optou-se por tratamen-to com anfotericina B. O paciente apresentou melhora clínica e laboratorial, rece-bendo alta 30 dias após início da anfotericina B. A Tabela abaixo mostra a evoluçãodos exames bioquímicos durante a internação:
Pré-tto 2o dia 1o dia 5o dia 15o diapós-tto pós-suspensão pós-suspensão pós-suspensão*
(5o dia pós-tto)
AST 106 187 149 126 31ALT 82 73 63 72 34GGT 507 649 - 558 145FA 388 606 - 635 189BT 0,68 4,55 7,32 2,49 1,00BD 0,29 3,47 6,68 2,25 0,88BI 0,39 1,08 0,64 0,24 0,12
*10 dias após a suspensão da medicação, optou-se pelo reinício do tratamento com Anfotericina B.
Conclusão: Os autores acreditam tratar-se de colestase medicamentosa, efeito adver-so incomum do uso de Sb. Ressalta-se a importância do registro completo das provasde função hepática pré-tratamento e seu acompanhamento durante o uso de Sb.
PO-277 (157)
TROMBOSE PORTAL RESOLVIDA EM PACIENTE COM HEPATOPATIACRÔNICA INDUZIDA POR INDOMETACINA-RELATO DE CASOGABURRI PD, GIORDANO-VALÉRIO HM, MOUTINHO AC, CORTES-FERNANDES G, TOSTES LMCentro de Hepatologia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora-MG
Paciente com 59 anos, sexo feminino, branca, casada, natural e procedente de Juizde Fora veio encaminhada ao Centro de Hepatologia por achado de varizes esofági-cas em endoscopia realizada para investigação de quadro dispéptico e anemia crô-nica. Antecedente de uso diário de Indocid® há 8 anos para tratamento de Hemicra-nia Paroxística. Cirurgias prévias: partos normais, laqueadura tubárea, extração den-tária total e uso de prótese dentária. Negava transfusão sanguínea prévia e icteríciano passado. Ao exame físico: mucosas descoradas e palidez cutânea ++/4+, anicté-rica, hepatimetria 8cm, baço palpável a 3cm do rebordo costal, IMC 29,9kg/m². Aconduta inicial foi suspender a indometacina e solicitação de exames bioquímicos,sorológicos e ultra-sonografia de abdome com Doppler para investigação do qua-dro de Hipertensão Portal. Resultados dos exames: sorologias para vírus B e C nega-tivas, hemoglobina: 9,3mg/dl; hematócrito 31%; VGM 72,9; leucócitos: 3700/mm³,plaquetas 115.000/mm³, reticulócitos 0,7%, AST 107UI, ALT 121UI, Fosfatase alca-lina e GamaGT normais, Proteínas totais 7,4; albumina sérica 4,04; Anticorpos anti-músculo liso e anti-mitocôndria negativos, FAN 1:320 (confirmado). Foi submetidaà biópsia hepática e fragmento apresentava 20 espaços-porta, ausência de fibrose eatividade inflamatória leve. Ultra-sonografia com Doppler: fígado com textura hete-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 79
rogênea, baço aumentado, veia porta com fluxo ausente e no seu interior trombode aspecto recente. Iniciado tratamento com anticoagulante oral (varfarina sódica)mantendo valores do INR em torno de 2. Paciente retorna com melhora acentuadado quadro clínico, melhora da anemia, fazendo monitorização laboratorial da anti-coagulação oral. Após 4 meses de tratamento traz novo US de abdome com Dop-pler: fluxo do sistema portal presente, hepatopetal, ausência de trombos, veias portae esplênica dilatadas, esplenomegalia e sinais de hepatopatia crônica. Exames labo-ratoriais: ALT16UI, AST32UI. Discussão: Há vários relatos na literatura da hepatoto-xicidade induzida pela indometacina, sendo a maioria de doença colestática. Estecaso ilustra a hepatotoxicidade da droga referida, com elevação de FAN e com umacomplicação pouco comum, a TP, resolvida com tratamento clínico.
PO-278 (164)
EFEITO DA AGRESSÃO HEPÁTICA POR BROMOBENZENO NA RESPOS-TA HIPERTENSIVA PORTAL INDUZIDA POR ADMINISTRAÇÃO DE BRA-DICININA OU ANGIOTENSINA IBEGA RR, NAGAOKA MR, BORGES DR, KOUYOUMDJIAN MUNIFESP
Fundamentos: No fígado, bradicinina (BK) e angiotensina (A) I promovem respostahipertensiva portal (RHP), esta após sua obrigatória conversão em AII pela enzimaconversora de angiotensina (ECA). As ações desses peptídeos ocorre predominante-mente em zona 1 (periportal), enquanto a ECA, responsável também pela degrada-ção de BK, predomina em zona 3 (perivenosa) (J Gastroenterol Hepatol. 2005;20:463-73). O objetivo foi verificar o efeito da agressão específica da zona 3 por bromoben-zeno (BB) na RHP induzida por administração de BK ou AI. Método: Ratos Wistar,machos, adultos (252 ± 8g), foram divididos em 2 grupos-controle, ratos normais(N) e ratos injetados i.p. com 0,5ml óleo de gergelim (OG) e 1 grupo experimental(BB), ratos injetados i.p. com 0,2ml BrBz em 0,5ml óleo de gergelim. Após 48h dasinjeções, foi feita perfusão de fígado isolado: as veias porta e cava inferior torácica eo ducto biliar foram canulados. BK (200nmol) ou AI (3,3nmol) foram injetadas naveia porta e a pressão portal foi monitorada e expressa como RHP (área sob a curvado gráfico “ganho de pressão x tempo de perfusão”). Os resultados (média ± epm)foram analisados por ANOVA seguido de teste de Newman-Keuls quando p < 0,05.Resultados: A morfologia hepática foi normal no grupo N, revelou discreto infiltra-do inflamatório e depósito diminuído de glicogênio na zona 3, mas sem necrose nogrupo OG e extensa necrose perivenosa no grupo BB. A secreção biliar (µl/min.g fig)foi menor no grupo BB (0,5 ± 0,05) que no grupo N (0,9 ± 0,1). A meia-vida de BSP(min) foi maior no grupo BB (3,2 ± 0,3) que nos controles (N = 2,3 ± 0,2 e OG = 2,1± 0,1). A ALT (U/l) sérica foi maior no grupo BB (116 ± 41) que no grupo N (19 ± 3)e a AST sérica foi maior no grupo BB (570 ± 157) que nos controles (OG = 97 ± 12e N = 75 ± 4). Não houve diferença na RHP (cmH2O.min) por BK (N = 6 ± 1; OG =7 ± 2; BB = 5 ± 1), mas a RHP por AI foi maior no grupo OG (38 ± 5) que nos demais(N = 20 ± 2 e BB = 18 ± 2). Conclusão: O veículo (óleo de gergelim) induz aumentoda RHP por AII e a lesão da zona perivenosa diminuição da conversão hepática da AI.Apoio Financeiro: FAPESP (02/05260-6; 04/14746-5).
PO-279 (236)
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DAUNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃOFERREIRA ASP, DOMINICI AJ, SILVA EA, BRAGA SJA, SOUZA MT, AZEVEDO PR, MELO IC, CARVALHO CSF, DINIZ
NETO JA, BARBOSA MCGNúcleo de Estudos do Fígado – HU-UFMA – São Luis (MA)
Fundamentos: Insuficiência hepática aguda (IHA) é um evento de alta mortalidadee no Brasil há poucas informações sobre causas e evolução desta afecção. Métodos:Este estudo teve o objetivo de determinar a incidência, causas e evolução da Insufi-ciência Hepática Aguda no Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA). Trata-seuma coorte que inclui todos os indivíduos com diagnóstico de IHA atendidos nasunidades de terapia intensiva (UTI) de adultos e pediátrica do HU-UFMA, no períodocompreendido entre agosto de 2006 e julho de 2007. O diagnóstico de IHA foidefinido pela presença de INR ≥ 1,5, qualquer grau de alteração mental (encefalopa-tia) em pacientes sem diagnóstico prévio de doença hepática crônica e com sinto-mas de duração inferior a 26 semanas. Resultados: Foram identificados nove casosde insuficiência hepática aguda. Dentre estes, oito eram crianças, com média deidade de quatro anos, apenas um era adulto, uma mulher de 28 anos. O sexo femi-nino foi o mais acometido com sete (78%) casos. Cinco (55,5%) apresentavamalguma história familiar prévia de hepatites. A renda familiar média era de dois salá-rios mínimos. Seis (67%) tinham níveis de ALT maior que 10 vezes o limite superiorda normalidade. Dentre as possíveis causas identificadas observaram-se que trêspacientes tinham história de uso de medicamentos hepatotóxicos antes do apareci-mento do quadro, dois apresentaram anti-HAV-IgM positivos, um caso apresentousorologia positiva para Dengue e preencheu critérios para o tipo hemorrágico, outroapresentou histopatológico confirmando neuroblastoma hepático e dois casos per-maneceram indeterminados (dentre estes o único caso em adulto). Todos foramtratados com medidas de suporte. Cinco (55,5%) evoluíram para óbito. A média detempo entre o início dos sintomas e o óbito foi de 23 dias e entre a internação e oóbito foi de 10 dias. Conclusões: Este estudo permitiu verificar que foram freqüen-
tes os casos definidos como insuficiência hepática no HU-UFMA. A mortalidade,como esperado, foi elevada, especialmente pela ausência de transplante hepáticoem nosso meio. A maior incidência em crianças pode significar um viés, já que é aúnica UTI pediátrica do estado.
PO-280 (246)
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA: ETIOLOGIA E EVOLUÇÃO CLÍNICATADDEO EF, FERREIRA GER, SANTOS W, MEDINA AB, VIDAL BPM, MELO VAC, ÁVILA MS, MOUTINHO RS,ALTIERI LServiço de Gastroenterologia – Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo – São Paulo, SP
Fundamentos: A Insuficiência Hepática Aguda é uma condição grave associada àcoagulopatia e alteração mental em pacientes sem doença hepática prévia. Pode sercausada por diversos agentes, tais como, vírus, auto-imunidade e drogas. O objetivodeste estudo foi avaliar a etiologia, apresentação clínica e evolutiva de 3 casos deInsuficiência Hepática Aguda. Métodos: Caso 1: paciente sexo feminino, 40 anosreferia náuseas, vômitos e icterícia há 7 dias da internação. Relatava vários parceirossexuais nos últimos meses e negava uso de drogas. Ao exame clínico apresentava-seagitada, ictérica 4+/4; sem estigmas de hepatopatia crônica. Evoluiu com encefalopa-tia grau III. Exames laboratoriais: TP > 120 segundos; glicemia 40mg/dl; BT 17mg/dl;ALT 4271U/L; HBsAg (+), HBeAg (+), anti-HBe (+), anti-HBc IgM (+). Demais sorolo-gias foram negativas. A paciente foi encaminhada ao transplante hepático, evoluindocom sucesso. Caso 2: paciente sexo feminino, 46 anos havia sido submetida à cirurgiabariátrica há 6 meses. Apresentou quadro de hepatite aguda com rebaixamento donível de consciência. Exames laboratoriais: TP 22 seg; BT 22mg/dl; glicemia 67mg/dl;ALT 544U/L; HBsAg (+), antiHBc IgM (+), HBeAg (+), anti-HBe (-), anti-HBs (-); demaissorologias negativas. A paciente recebeu suporte clínico e evoluiu com negativação doHBsAg. Caso 3: paciente sexo feminino, 46 anos, portadora de paraplegia em mem-bros inferiores. Há 10 dias da internação apresentou quadro de hepatite aguda. Aoexame, apresentava-se ictérica, sem estigmas de doença hepática crônica. Exameslaboratoriais: TP 56 seg; BT 16mg/dl; ALT 827U/L; glicemia 53mg/dl. As sorologiasvirais foram negativas e a pesquisa do anticorpo anti-músculo liso foi positiva. Evoluiucom rebaixamento do nível de consciência, sendo encaminhada ao transplante hepá-tico com resultado satisfatório. Conclusão: A Insuficiência hepática aguda pode sercausada por doença hepática auto-imune e apresentar resposta satisfatória ao trans-plante hepático. A hepatite aguda B pode se apresentar sob a forma de doença gravee a indicação de transplante hepático deve ser considerada.
PO-281 (297)
HEPATITE SUBAGUDA POR ATAZANAVIR – RELATO DE CASOCORREIA LPMP, FREIRE DRQ, REIS JS, BRITO JDR, SILVA ISS, KEMP LV, SILVA AEB, FERRAZ MLSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina/Unifesp, São Paulo
Introdução: Os anti-retrovirais estão comumente associados a lesões hepáticas emgraus variáveis. O atazanavir relaciona-se a elevações benignas dos níveis de bilirru-bina indireta e, em 1 a 5% dos casos, de aminotransferases, com poucos relatos dehepatotoxicidade grave. Relato de caso: M.S.A., feminino, 27 anos, no curso de 15semanas de gestação, admitida para investigação de dor epigástrica de leve intensi-dade, icterícia progressiva, colúria e febre baixa diária há 20 dias. Portadora do vírusHIV diagnosticado há 04 anos, fazia uso de AZT, 3TC e efavirenz, este último substi-tuído por atazanavir há 04 meses. Não havia história prévia de icterícia gestacional.Relatava etilismo social e negava uso de drogas ilícitas ou outras medicações. Aoexame físico, apresentava-se em regular estado geral, hipocorada (1+/4+), ictérica(4+/4+), sem estigmas de hepatopatia crônica ou sinais de encefalopatia. Fígadopalpável, pouco doloroso, e discreta esplenomegalia. Útero gravídico, palpável abaixoda cicatriz umbilical. Exames laboratoriais revelavam BT 23,6mg/dL, BD 19,1mg/dL, AST 1920UI/L, ALT 748UI/L, gamaGT 80UI/L, FA 254UI/L, INR 2,58, Hb 10,2g%,Leuco 4000/mm3. Trazia mesmos exames realizados no pré-natal há um mês daadmissão, sem anormalidades. Sorologias para sífilis, toxoplasmose, rubéola, hepa-tites virais A, B, C e E, herpes simples, Chagas e citomegalovírus foram negativas.Hemoculturas e urocultura, negativas. Fator antinuclear negativo. Carga viral do HIV= 824 cópias, com CD4 de 395/mm3. Ultra-sonografia de abdome revelando discre-ta dilatação de vias biliares intra-hepáticas, colédoco normal, litíase biliar e espleno-megalia discreta. Evoluiu com piora progressiva de função hepática, apresentandoencefalopatia 10 dias após admissão, não responsiva às medidas realizadas, progre-dindo para óbito. Diante dos resultados da investigação, excluídas outras possíveisetiologias, foi feito o diagnóstico de hepatite subaguda por atazanavir. Conclusão: oAtazanavir tem sido associado a baixo perfil de hepatoxicidade. Entretanto, estecaso demonstra que, em raras circunstâncias, toxicidade grave pode ocorrer, comevolução para insuficiência hepática e óbito.
PO-282 (341)
HEPATITE AGUDA MEDICAMENTOSARIOS DA SILVEIRA PCIrmandade Santa Misericórdia de Angra dos Reis -RJ-Brasil
Fundamentos: As doenças hepáticas ocasionadas por drogas (DHOD) são um gran-de problema para a medicina e a indústria farmacêutica, a cada dia amplia-se oarsenal terapêutico sabendo-se que a maior parte dos princípios ativos das drogas
S 80 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
são metabolizadas no fígado, é indispensável ao médico conhecer as reações àsdrogas. A incidência aumenta desde 1960 com risco de 1-10 por 100 mil expostossendo a susceptibilidade individual (genética). Seu metabolismo, resposta bioquími-ca e imunológica são influenciados pela idade, sexo, estado nutricional, uso de ou-tras drogas e ou álcool. Cerca de 80% a 90% das DHOD são Hepatites Agudassendo as alterações dos testes de função hepática que traduzem o tipo e a gravidadeda lesão hepática (fiéis marcadores) mas não a etiologia do agente agressor. Asestatinas, drogas utilizadas em larga escala, podem causar hepatite aguda principal-mente quando adicionadas a outras drogas e ou álcool. Métodos: Estimular o reco-nhecimento das DHOD que incluem um espectro de alterações bioquímicas e estru-turais até a lesão hepatocelular com danos muitas vezes irreversíveis, através dorelato do caso clínico Hepatite Aguda por Atorvastatina e álcool. Caso Clínico: ho-mem, 57 anos, comerciante, natural do RJ, etilista inveterado (uísque), após 07 diasusando Atorvastatina 10mg apresentou dor abdominal em HD, icterícia (++), colú-ria e astenia. Exames complementares: ast = 339; alt = 700; ggt = 1330; fa = 675; bt= 4,7 (d = 2,9); ct = 306; ldl = 183; tg = 114; hemograma completo normal; gli = 93;Anti HVA IgG = positivo, demais marcadores virais negativos; AFP = 3,9; US e TC deabdômen normais. Resultados: Após suspensão da atorvastatina houve completaremissão dos sinais e sintomas com normalização progressiva das provas de funçãohepática em 30 dias, permanecendo pouco elevadas GGT e FA. Paciente não seabsteve da bebida mantendo dieta e atividade física. Conclusões: É difícil prevenirmanifestações de drogas cujos efeitos secundários são desconhecidos e podem ocorrerde forma aguda ou após uso prolongado. Desta forma a melhor prevenção dasDHOD é conhecer bem a hepatotoxicidade de cada droga, manter o paciente sobvigilância ao prescrever uma nova droga e valorizar fatores predisponentes (idade,sexo, hepatopatias prévias, uso de álcool e outras drogas). O paciente deve seralertado sobre efeitos secundários, realizar controle bioquímico freqüente e even-tualmente biópsia hepática.
PO-283 (342)
HEPATOTOXICIDADE POR DROGASRIOS DA SILVEIRA PCIrmandade Santa Misericórdia de Angra dos Reis-RJ-Brasil
Fundamentos: Até 2004 foram catalogados mais de 1200 fármacos hepatotóxicosc/ aproximadamente 15 mil referências bibliográficas, alguns agentes causam lesãohepáticas clinicamente significativas em outros a hepatoxicidade tardia. A hepatiteaguda é a mais comum doença hepática ocasionada por drogas (dhod). As dhodpodem produzir vários tipos de lesão, a maioria causa alterações transitórias dasenzimas hepáticas e as reações do fígado às drogas são variadas. Desta forma conhe-cer as dhod é fundamental no diagnóstico diferencial das hepatopatias e detecçãoprecoce de alterações que previnam o desenvolvimento de hepatopatias mais gra-ves. Métodos: Através de um caso clínico alertar e estimular ao médico conhecer asreações às drogas em virtude do volume crescente de medicamentos, agentes in-dustriais e princípios ativos naturais hepatotóxicos. Caso clínico: mulher, 53 anossem hepatopatia prévia admitida com AVC hemorrágico por HAS (clínica + TC) queapós cinco dias usando metildopa e fenitoína evoluiu com icterícia progressiva (bt =19,5; bd = 15) e elevação de enzimas hepáticas (ast = 516; alt = 304; tap = 25/51%;ggt = 668; fa = 349) desenvolvendo a seguir IRA (u = 216; c = 4,5), encefalopatia esepsi no CTI. Os marcadores de hepatite viral (A, B, C) e FAN foram negativos e o USnormal. A paciente no CTI (17 dias) realizou hemodiálise, hemotransfusão e antibio-ticoterapia, permaneceu internada 15 dias obtendo alta com recuperação plena dasfunções hepáticas, renais e cognitivas (ast = 32; alt = 39; ggt = 52; fa = 198; tap =16/78%; bt = 0,8; u = 18; c = 0,5; k = 4,9 Resultados: Após interrupção das drogashepatotóxicas (fenitoína e metildopa) no 5º dia houve rápida queda das enzimashepáticas e bilirrubinas que normalizaram após 12 dias sendo a insuficiência e sepserenal agravantes. Conclusões: O médico deve observar atentamente o paciente aousar novas drogas principalmente se forem hepatotóxicas e também conhecer osfatores predisponentes: sexo idade, gravidez, doenças hepáticas preexistentes, esta-do nutricional, uso de outras drogas e álcool. É indispensável que o paciente sejaalertado sobre possíveis para efeitos, haja controle bioquímico das enzimas hepáti-cas, fiéis marcadores de DHOD e eventualmente biópsia hepática.
PO-284 (346)
HEPATOTOXICIDADE POR αααααMETILDOPA (ααααα-MD) COM HISTOLOGIASIMULANDO LESÃO POR HCV – RELATO DE DOIS CASOSREIS JS, FREIRE DRQ, BRITO JDR, CORREIA LPMP, NETO GR, FLORES GG, FELDNER ACCA, LANZONI VP, PARISE
ER, KONDO MUniversidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM
Hepatotoxicidade por α-MD é bem conhecida, mais comum em mulheres e pode seapresentar como colestase, hepatite aguda ou crônica, e cirrose. A lesão histológicapode se assemelhar à de hepatite viral. Descrevemos 2 casos com essa evolução.Caso 1: mulher, 69 anos, episódios de icterícia há 2 anos. Antecedentes: DM tipo 2,HAS, sem tabagismo ou etilismo. Em uso de glibenclamida e α-MD há 3 anos. Aoexame: IMC 32, cintura 90cm, ictérica, sem estigmas de hepatopatia crônica, Trau-be ocupado. ALT e AST 4x LSN, BT 10x LSN e GGT 6x LSN; boa função hepática.Sorologias para vírus B e C e auto-anticorpos negativos. Perfil de ferro e lipídico
normais. US: fígado heterogêneo, esplenomegalia discreta. EDA sem varizes de esô-fago. Biópsia hepática: hepatite crônica, com agressão de hepatócitos periportais,reação ductular e agregados linfóides sugerindo infecção por HCV. Ausência deesteatose. HCV RNA indetectável. Após suspensão da α-MD houve normalizaçãodas transaminases, GGT e BT. Caso 2: mulher, 32 anos, desenvolveu pré-eclâmpsiano 8° mês de gestação, sendo submetida à cesariana. Recebeu alta em uso de α-MD.Após 2 meses apresentou aumento de transaminases. Epidemiologia positiva paraesquistossomose, sem tabagismo ou etilismo. Ao exame: ictérica, sem estigmas dehepatopatia crônica, baço a 2cm do RCE e sem ascite. Aminotransferases 3x LSN, FA3x LSN, GGT 4x LSN, BT 1,5mg/dL. Função hepática normal. Sorologias para vírusB e C e auto-anticorpos negativos, perfil de ferro normal. Sem critérios para síndro-me metabólica. US: fígado heterogêneo, atrofia de lobo direito e aumento de loboesquerdo; esplenomegalia. EDA: varizes esofágicas. Biópsia hepática (14 espaços-porta): hepatite crônica, com septos porta-porta, agressão de hepatócitos peripor-tais, agregados linfóides, esteatose e lesão ductal, sugerindo infecção por HCV. HCVR-NA indetectável. Após suspensão da α-MD houve redução de transaminases, enzi-mas colestáticas e BT. Diagnóstico: hipertensão portal esquistossomótica e hepato-toxicidade por α-MD simulando lesão histológica por HCV. Discussão: Os relatoschamam a atenção para a hepatotoxicidade por α-MD, cujo espectro de lesõespode incluir hepatite crônica semelhante à encontrada na infecção pelo HCV.
PO-285 (447)
ALOPECIA INDUZIDA POR AZATIOPRINA - RELATO DE CASOROCHA CM, LIMA LL, IHARA LT, NAHMIAS D, FERREIRA FLServiço de Hepatologia - Hospital Universitário Getúlio Vargas - Universidade Federal do Amazonas - Manaus/AM
Fundamentos: A azatioprina é uma droga imunossupressora utilizada em combina-ção com prednisona no tratamento de hepatite auto-imune, como poupador decorticóide. Os principais efeitos adversos descritos pela literatura são citopenias, es-pecialmente leucopenia, pancreatite e hepatite. Relato de caso: Paciente do sexofeminino, 32 anos, durante investigação de amenorréia foi evidenciado aumentodas transaminases, motivo pelo qual foi encaminhada para ao serviço de Hepatolo-gia. À avaliação clínica inicial apresentava icterícia sem estigmas de hepatopatiacrônica, com os seguintes exames laboratoriais e de imagem: bilirrubina total 5,2mg/dl e bilirrubina direta 4,8mg/dl, AST e ALT elevadas 43 vezes o limite superior donormal (LSN), fosfatase alcalina 200U/L, gama-GT 88U/L, INR 1. 53, albumina 3,2g/dl, gamaglobulina 3,91g/dl, hemograma normal, FAN 1/320, anti-LKM 1/160, anti-músculo liso negativo, ceruloplasmina 25mg/dl, cobre sérico total 91mcg/dL, ferri-tina 2493mcg/L, ferro 304mg/dl, sorologias para hepatites B e C negativas e ultra-sonografia de abdome superior demonstrando heterogeneidade hepática discreta.A paciente alcançou 16 pontos pré-tratamento, no sistema de escore do Internatio-nal Autoimmune Hepatitis Group, obtendo diagnóstico definitivo de hepatite auto-imune. Foi iniciado tratamento com prednisona 40mg/dia e azatioprina 50mg/dia.Após 3 semanas houve resposta bioquímica expressiva, com transaminases 2 x oLSN, porém a paciente desenvolveu alopecia difusa de couro cabeludo. Optou-sepor suspender a azatioprina, manter prednisona 40mg/dia e uso tópico de minoxi-dil 3%, DMSO 20% e piritionato de zinco 2% shampoo base, sendo observadomelhora progressiva da alopecia após um mês de acompanhamento. Discussão: Aocorrência de alopecia associada ao uso de azatioprina é rara, o tratamento consistede suspensão da droga. A ciclosporina, medicamento imunossupressor de escolhaquando há intolerância à azatioprina, é também uma opção no tratamento da alo-pecia.
NASHPO-286 (118)
INFLUÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, DISLIPIDEMIA E DIABETESMELLITUS NO COMPORTAMENTO DA DOENÇA HEPÁTICA GORDU-ROSA NÃO ALCOÓLICA EM OBESOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICASOARES DD, ANDRADE AR, MELO V, ALMEIDA A, ALVES A, SIQUEIRA AC, COTRIM HPFaculdade de Medicina – Universidade Federal da Bahia; Núcleo de Cirurgia de Obesidade – Bahia
Fundamentos: Em obesos graves a cirurgia bariátrica é considerada um tratamentopromissor para controle da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA).Melhora clínica e histológica da DHGNA tem sido observada após a perda de pesoinduzida pela cirurgia. Este estudo teve como objetivo identificar se componentesda síndrome metabólica (SM) como hipertensão arterial, dislipidemia e diabetesinfluenciaram no comportamento clínico e bioquímico da DHGNA pós-cirurgia ba-riátrica (CBA). Métodos: Estudo coorte, onde foram avaliados obesos graves apósCBA (Fobi-Capella). Incluídos pacientes com idade ≥ 18 anos, de ambos os sexoscom diagnóstico de DHGNA. Excluídos etilistas crônicos e portadores de outrasdoenças do fígado. A biópsia hepática foi realizada durante a cirurgia. Todos oscasos tiveram avaliação clínico-laboratorial (ALT, AST, GGT, lípidas, glicemia e insuli-na). SM foi definida pelos critérios: circunferência abdominal ≥ 88cm para mulheres,≥ 103cm para homens; pressão arterial ≥ 130/85mmHg, HDL < 40mg/dL para ho-mens, < 50mg/dL para mulheres; glicemia de jejum ≥ 110mg/dL. Utilizou-se o soft-ware SPSS para tabulação e análise dos dados. Projeto aprovado pelo CEP- CPqGM-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 81
FIOCRUZ- Bahia. Resultados: Avaliados 41 pacientes, 26 (63,4%) do sexo feminino,com média de idade de 40 ± 12,4 anos. O tempo médio de avaliação pós CBA foi de20 meses (12-30). Todos (100%) dos obesos perderam peso, média de 46,3kg,reduzindo-se o IMC de 91,3% dos pacientes para menos de 35kg/m2 e 57,14%para IMC < 29kg/m2. Também houve redução na medida da circunferência abdomi-nal (média de 94cm). Todos os pacientes, normalizaram a PA, inclusive os hiperten-sos (média de 121,4 x 78mmHg). A média da glicemia de jejum caiu de 101,6 para85,6mg/dL, normalizando-se inclusive em 2(5) diabéticos. Após CBA a resistência àinsulina (HOMA) diminuiu de 7,1 para 1,3; a média do colesterol total de 209,6 para165,7mg/dl; LDL médio foi 90,9mg/dL; HDL médio de 57,2mg/d; triglicérides médiode 85,2mg/dL. ALT, AST estavam normais em 100% dos casos e 2 deles mantiveramelevação de GGT. Antes da cirurgia 60,5% (23) dos pacientes apresentavam critériospara SM e após perda ponderal, 6,5% dos pacientes apresentavam a SM. Conclu-são: Os resultados do estudo sugerem que em obesos graves, o tratamento atravésda cirurgia bariátrica contribui no controle da DHGNA e Síndrome Metabólica. En-tretanto, mesmo com resultados satisfatórios, esta forma de tratamento deve serindicada com muito critério.
PO-287 (133)
ESTUDO PROSPECTIVO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E METABÓLI-CO DE PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO-AL-COÓLICAFEROLLA SM, COUTO OFM, LIMA MLP, GODINHO MM, ANDRADE MM, COUTO CA, FERRARI TCAUniversidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas, Belo Horizonte
Fundamentos: A doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA) é caracteriza-da pelo acúmulo de lipídios nos hepatócitos de pacientes sem história de ingestãoalcoólica excessiva. Abrange espectro de alterações que vai de esteatose e esteato-hepatite a cirrose hepática e é considerada o componente hepático da síndromemetabólica. A prevalência em obesos e diabéticos é de 70% e na população geral,20%. A literatura brasileira é escassa na descrição do estado nutricional e metabólicode pacientes com DHGNA. Métodos: Trata-se de estudo prospectivo de 34 pacien-tes que teve como objetivo determinar o perfil antropométrico e metabólico depacientes com DHGNA acompanhados no Ambulatório de Fígado do HC-UFMG. Aavaliação clínica e laboratorial foi feita segundo protocolo específico. Na análiseestatística utilizou-se o software SPSS. Resultados: Houve predomínio do sexo femi-nino (70,6%) e a idade média foi 54,8 ± 9,5 anos. Verificou-se esteatose em 70,6%,esteato-hepatite em 26,5% e cirrose em 2,9% dos pacientes. Os dados antropomé-tricos indicaram sobrepeso em 35,3% e obesidade em 64,7% dos pacientes, sendoque 41,2% tinham obesidade classe I, 20,6% classe II, e 2,9% classe III. A topografiada gordura corporal mostrou obesidade central em 94,1%; destes, 76,5% tinhamcircunferência da cintura muito aumentada (homem > 102, mulher > 88cm). Amaioria dos indivíduos (64,7%) era sedentária. Diabetes mellitus (DM) foi observa-do em 38,2% e resistência insulínica em 50,0% (HOMA 3,4 ± 3,0 e insulinemia de11,4 ± 5,6µU/ml). Identificou-se dislipidemia em 70,6% sendo que 54,2% apresen-tavam triglicérides e colesterol aumentados, 25% hipertrigliceridemia e 20,8% hi-percolesterolemia isolados. Hipertensão arterial (HAS) foi registrada em 67,9%. Amédia dos valores encontrados para AST, ALT e FA situou-se dentro dos valores dereferência, entretanto, a GGT apresentou-se 1,7 ± 1,7 vezes acima do limite danormalidade. Conclusão: A DHGNA foi mais freqüente em indivíduos do sexo femi-nino, obesos e sedentários com dislipidemia, HAS e resistência insulínica.
PO-288 (147)
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA) COM ESEM SÍNDROME METABÓLICA (SM): EXISTE DIFERENÇA NA APRESEN-TAÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA HEPÁTICA?LEITE NC, FERNANDES TP, SEGADAS-SOARES JA, NABUCO LC, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A síndrome metabólica (SM) é freqüente em pacientes portadoresde DHGNA. Ainda não está estabelecido se existe diferença na apresentação clínicaem pacientes com DHGNA com e sem SM. O objetivo desse estudo foi determinar aprevalência da síndrome metabólica em portadores de DHGNA e comparar as ca-racterísticas demográficas, laboratoriais e ultra-sonográficas em pacientes com esem síndrome metabólica. Metodologia: Foram incluídos pacientes com US reve-lando fígado hiperecogênico, com redução da atenuação do feixe sonoro compatí-vel com infiltração gordurosa hepática e/ou biópsia hepática (BH) sugestiva de DHG-NA pelos critérios propostos por Brunt (1999). Os pacientes que apresentavam cir-rose à BH e/ou redução volumétrica do fígado, esplenomegalia, veias hepáticas por-talizadas, aumento do diâmetro (> 1,2cm) e/ou redução do fluxo portal (< 15cm/seg) foram considerados portadores de doença avançada. Foram excluídos pacien-tes com ingestão alcoólica maior ou igual a 20g/dia. Os critérios para o diagnósticode SM foram aqueles definidos pela ATPIII (2002). Foi realizada análise comparativaentre os pacientes com (G1) e sem SM (G2) em relação às variáveis demográficas,laboratoriais e achados ultra-sonográficos. Resultados: Foram avaliados 182 pa-cientes com DHGNA, sendo 110 (60%) do sexo masculino, com média de idade de51+12 (21-81) anos e mediana do índice de massa corporal (IMC) de 28kg/m2.
Nessa amostra, 79 pacientes (43%) apresentavam SM. Os pacientes com SM (G1)tinham idade mais avançada (56+11 vs. 48 + 13; p < 0,001), maior prevalência dediabetes mellitus (38% vs. 5%; p < 0,001), hipertensão arterial (80% vs. 10%; p <0,001), níveis de triglicerídeos elevados (82% vs. 15%; p < 0,001) e níveis reduzidosde HDL (77% vs. 17%; p < 0,001). Não houve diferença entre os grupos quanto aosexo (p = 0,59), cor (p = 0,10), IMC (p = 0,09), ALT (p = 0,30), AST (p = 0,16),relação AST/ALT (p = 0,92), GGT (p = 0,73), ferritina (p = 0,12), TSH (p = 0,88),ácido úrico (p = 0,49) e evidências de doença hepática avançada (p = 0,18). Con-clusões: A prevalência de SM em pacientes de DHGNA é elevada, porém esta condi-ção não determinou diferenças na expressão clínica da doença hepática.
PO-289 (148)
RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE HOMA-IR E INTOLERÂNCIA À GLICOSEEM PORTADORES DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO-ALCOÓ-LICA (DHGNA)FERNANDES TP, SEGADAS-SOARES JA, LEITE NC, NABUCO LC, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM, COELHO HSMServiço de Hepatologia – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: Amplas evidências existem de que a DHGNA está associada à resis-tência insulínica (RI). O clamp hiperinsulinêmico euglicêmico é o padrão-ouro paraavaliação de RI e o HOMA-IR apresenta boa correlação com este método, porémreflete apenas a medida de insulina no seu estado basal. O objetivo deste estudo foideterminar a prevalência de HOMA-IR alterado e sua relação com a presença deintolerância à glicose em portadores de DHGNA. Metodologia: Foram incluídospacientes com US revelando fígado hiperecogênico, com redução da atenuação dofeixe sonoro compatível com infiltração gordurosa hepática e/ou biópsia hepática(BH) sugestiva de DHGNA pelos critérios de Brunt (1999). Foram excluídos pacien-tes com ingestão alcoólica ≥ 20g/dia e aqueles com diagnóstico de diabetes melli-tus. O índice de HOMA-IR foi calculado pela fórmula de Matthews (insulina µU/ml xglicose mmol/L/22,5), sendo considerados elevados valores acima de 2,5. Os crité-rios de intolerância à glicose foram aqueles definidos pela Associação Americana deDiabetes (2006). Resultados: Foram avaliados 172 pacientes com DHGNA, 116(67%) do sexo masculino, com idade de 50+12 (21-80) anos. Obesidade estavapresente em 67 pacientes (39%). Nessa amostra, 91 (53%) pacientes apresentavamHOMA-IR superior a 2,5 e 63 (37%) intolerância à glicose. Não houve diferençaentre idade e sexo nos pacientes com HOMA-IR normal ou elevado, porém a preva-lência de obesidade (54% vs. 22%; p < 0,001) e a mediana do IMC (30 vs. 28; p <0,001) foram maiores nos pacientes com HOMA-IR > 2,5. Observou-se maior preva-lência de intolerância à glicose nos pacientes com HOMA-IR > 2,5, em comparaçãoàqueles com HOMA-IR ≤ 2,5 (45% vs. 27%; p = 0,015). Pacientes intolerantes àglicose apresentaram valores do índice de HOMA-IR superiores àqueles com tolerân-cia normal à glicose (mediana: 3,1 vs. 2,1; p = 0,002). Conclusões: Entre pacientescom DHGNA a prevalência de HOMA-IR alterado é elevada. Existe associação entrea presença de intolerância à glicose e HOMA-IR alterado. No entanto, cerca de 1/4dos pacientes com índice de HOMA-IR normal apresentam intolerância à glicose,sugerindo que o HOMA-IR não deve ser utilizado como critério diagnóstico isoladode resistência insulínica.
PO-290 (215)
FATORES PREDITIVOS DE ESTEATOHEPATITE EM PACIENTES COMDOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICAMOURA F1, BANDEIRA F1, PEREIRA LMMB1,2
1. Faculdade de Ciências Médicas, Universidade de Pernambuco – FCM/UPE, 2. Instituto do Fígado de Pernambuco– IFP/PE, Brasil
A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) vem se tornando uma dashepatopatias crônicas mais prevalentes no mundo. Existem formas leves (esteatosesimples) e formas avançadas (esteatohepatite), com risco de evolução para cirrose einsuficiência hepática. A diferenciação inequívoca entre as formas só pode ser feitaatravés da avaliação histológica do tecido hepático, o quê implicaria em submetertodos os pacientes à biópsia hepática. O objetivo desse estudo foi identificar fatorespreditivos de Esteatohepatite Não Alcoólica (EHNA) entre os pacientes com DHG-NA, atendidos no período de 1998 a 2006, no ambulatório de Hepatologia doHospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Recife, Pernambuco, Brasil. Os pron-tuários de todos os pacientes atendidos no ambulatório de hepatologia do HUOCentre 1998 e 2006 foram avaliados. Os pacientes foram divididos em dois grupos,EHNA e esteatose simples, de acordo com o resultado da biópsia hepática, baseadosna classificação de Brunt. Múltiplas variáveis (biológicas, clínicas e laboratoriais) fo-ram submetidas a análise uni e multivariada, no intuito de detectar qualquer diferen-ça significativa entre os grupos. Cento e treze pacientes foram selecionados para oestudo. Cinqüenta e oito tinham EHNA (51%) e cinqüenta e cinco tinham esteatosesimples (49%). Após análise multivariada, a Glicemia em jejum maior que 100mg/dl(OR = 2,74, IC = 1,1 – 7,4, p = 0,046), o índice de HOMA-IR maior que 3,0 (OR =5,30, IC = 1,16 – 24,1, p = 0,038), os níveis séricos de AST uma e meia vezes acimados normais (OR = 6,0, IC = 1,71 – 20,1, p = 0,005) e os níveis séricos de ferritinaelevados – maiores que 180mg/dl no gênero feminino e 300mg/dl no gênero mas-culino - (OR = 5,03, IC = 1,67 – 15,1, p = 0,0041), foram fatores associados comEHNA. As variáveis glicemia em jejum, índice HOMA-IR, níveis séricos de AST e níveis
S 82 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
séricos ferritina foram fatores preditores de EHNA, forma grave de DHGNA, nospacientes atendidos no ambulatório de Gastro-Hepatologia do HUOC, em Recife,Pernambuco, Brasil, no período de 1998 a 2006.
PO-291 (241)
EFEITO DA ASSOCIAÇÃO METIONINA, COLINA E BETAÍNA SOBRE ADOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA – ESTUDO PILOTOSALGADO AL, OASHI A, LEITE-MOR M, PARISE ERUNIFESP/EPM – São Paulo
Fundamentos: O estresse oxidativo tem sido responsabilizado pela progressão dadoença hepática gordurosa não alcoólica para suas formas mais avançadas (esteato-epatite) e o uso de medicamentos antioxidantes pode ser benéfico para esses pa-cientes. A associação metionina, colina e betaína, pode aumentar as concentraçõeshepáticas de glutationa, principal sistema antioxidante do fígado. Além disso, estu-dos com a betaína demonstram redução da inflamação e fibrose na DHGNA. Obje-tivo: Avaliar os efeitos da administração de uma solução de dl-acetilmetionina 40mg/ml, citrato de colina 53mg/ml e betaína 50mg/ml, 3x/dia, sobre parâmetros séricosde estresse oxidativo, enzimas hepáticas e grau de esteatose na DHGNA. Métodos:45 pacientes com DHGNA diagnosticados através de esteatose em exame de ima-gem + elevação de enzimas hepáticas, foram randomizados para receber placebo (n= 13) ou droga ativa (n = 30). Todos realizaram dosagens de enzimas hepáticas,glicemia, insulina e ácido úrico, malonaldeído (TBARS), glutationa total, (técnica deSies), homocisteína (HLPC) e hidroperóxidos (FOX) em sangue periférico e tomo-grafia computadorizada de abdome para avaliação da densidade hepática antes eapós o uso da medicação. Na análise estatística foram utilizados os testes Mann-Whitney e Friedman. Resultados: Não foram observadas diferenças significantesentre os grupos placebo e droga ativa antes do inicio do tratamento. Não houverelatos de efeitos colaterais ou toxicidade que pudesse ser atribuída ao medicamen-to. Grau de esteatose hepática medido pela tomografia e HOMA-IR não apresenta-ram variações significantes nos dois grupos nos diferentes tempos. O grupo tratadoapresentou valores de glutationa (5,32 2,1 X 4,30 1,2 p < 0,001) e homocisteína(9,1 8,1 X 7,5 3,0, p = 0,047) significativamente menores, ao final do tratamentoem relação ao placebo. Para valores intra-grupo, encontramos redução significantede MDA, homocisteína somente no grupo droga ativa ao longo do tratamento.Conclusão: A associação de betaína, colina e homocisteína é capaz de reduzir parâ-metros séricos de estresse oxidativo em pacientes com DHGNA, mas a importânciaclínica desse achado ainda necessita ser estabelecida. Agradecimentos: LaboratóriosNycomed Pharma Ltda.
PO-292 (242)
IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE CORTE PARA O ÍNDICE DE RESISTÊN-CIA INSULÍNICA (HOMA-IR) NA DIFERENCIAÇÃO ENTRE PACIENTESCOM DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA E INDIVÍ-DUOS SAUDÁVEISSALGADO AL, CARVALHO L, LEITE-MOR M, SANTOS VN, UEZATO NT, PARISE ERUNIFESP/EPM – São Paulo
Fundamentos: O índice de resistência insulínica (RI) pelo modelo homeostático(HOMA-IR) tem sido utilizado em estudos clínicos e epidemiológicos para identificarpacientes com RI e doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Entretanto,valores arbitrários têm sido utilizados na identificação do ponto de corte utilizadonessa diferenciação. Objetivos: Nesse trabalho nos propusemos a identificar o valorde corte do HOMA-IR que melhor diferencie pacientes com DHGNA de indivíduosdo grupo controle (sem doença hepática, não obesos e com curva de sobrecargaoral à glicose dentro dos limites da normalidade). Métodos: Foram selecionados116 pacientes com DHGNA diagnosticados por biópsia hepática ou por esteatose àultra-sonografia e elevação de enzimas hepáticas. O grupo controle foi composto de88 indivíduos sem doença hepática detectável, IMC < 25, TTG normal e com idadee gênero semelhantes ao grupo de pacientes avaliados. Todos realizaram teste detolerância oral à glicose e insulina de 120 min após 75g de dextrosol. Foi calculadoo HOMA-IR. Para análise estatística foram utilizados os testes 2, teste “t” de Stu-dent e curva ROC para avaliação da sensibilidade diagnóstica. Resultados: As popu-lações estudadas não diferiram quanto a distribuição por gênero e idade. A área soba curva para o HOMA-IR foi de 0,927 ± 0,18 (0,892-0,962), p < 0,001. Os valores desensibilidade e especificidade para os diferentes valores de HOMA-IR foram
HOMA-IR > 1,5 HOMA-IR > 2,0 HOMA-IR > 2,5 HOMA-IR > 3,0
ASB (IC95%) 0,833 0,840 0,831 0,785(0,771-0,895) (0,781-0,899) (0,773-0,888) (0,722-0,847)
Sensibilidade 94% 85% 72% 60%Especificidade 72% 83% 94% 99%
Conclusão: O valor de 2,0 para o HOMA-IR foi o que apresentou melhor capacida-de discriminativa entre os grupos. Por outro lado, o valor de 2,5 parece ser o maisapropriado, quando se deseja exclusão dos casos sem DHGNA, com pouca diminui-ção da sensibilidade do teste.
PO-293 (263)
PROSPECÇÃO FUNCIONAL DE GENES NA CIRROSE HEPÁTICA SECUN-DÁRIA A ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICAKUBRUSLY MS, BELLODI-PRIVATO M, STEFANO JT, SÁ SV, CORRÊA-GIANNELLA ML, MACHADO MCC, BACCHELLA TDepartamentos de Gastroenterologia e Endocrinologia – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,Brasil
Fundamentos: A esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) é uma forma progressiva dadoença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), que apresenta risco para fibro-se, cirrose e carcinoma hepatocelular. O conhecimento dos mecanismos molecula-res relacionados à cirrose secundária a EHNA é fundamental para o entendimento dapatogênese desta doença. A tecnologia de microarranjos de cDNA tem demonstra-do enorme potencial para a análise simultânea de um grande número de genes,identificando transcritos em situações funcionais distintas no tecido hepático. Oobjetivo desse estudo foi evidenciar semelhanças e diferenças na quantidade deRNAm entre tecido hepático normal (CTRL) e cirrose secundária a EHNA utilizando-se microarranjos de cDNA. Métodos: Amostras de três pacientes com cirrose secun-dária à EHNA confirmadas histologicamente e três amostras de tecido hepático nor-mal provenientes de doadores-cadáveres durante o transplante hepático foram ava-liadas quanto à expressão do RNAm utilizando-se a plataforma CodeLink™ HumanWhole Genome Bioarrays (GE Healthcare Biosciences). O número de genes diferen-cialmente expressos nos dois grupos foi selecionado utilizando-se dois critérios: adiferença de expressão de pelo menos duas vezes e o teste t com p < 0,05. As viasmetabólicas moduladas nas duas condições foram determinadas utilizando-se o pro-grama GeneSifter (http://www.genesifter.net). Resultados: 138 genes apresenta-ram expressão aumentada na cirrose secundária a EHNA e 106 genes com expressãodiminuída, em relação ao CTRL. A análise pelo GeneSifter mostrou 10 vias metabó-licas significativamente alteradas: biosynthesis of steroids, phosphatidylinositol sig-naling system, pyrimidine metabolism, mTOR signaling pathway, T cell receptorsignaling pathway, epithelial cell signaling in Helicobacter pylori infection, ECM-receptor interaction, cytokine-cytokine receptor interaction, regulation of actincytoskeleton, complement and coagulation cascade. Conclusões: Este estudo reve-la alterações gênicas em vias biológicas relevantes e proporciona melhor entendi-mento dos mecanismos moleculares envolvidos na cirrose secundária a esteato-he-patite não alcoólica.
PO-294 (280)
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA DO FÍGADO: COMPARAÇÃO ENTREPACIENTES COM E SEM ETIOLOGIA ALCOÓLICABATISTA AD, LEITE NC, FERNANDES TP, SEGADAS-SOARES JA, NABUCO LC, VILLELA-NOGUEIRA CA, PEREZ RM,COELHO HSMServiço de Hepatologia - HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundamentos: A doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA) e alcoólicaapresentam características histológicas semelhantes e, por definição, o diagnósticode DHGNA depende da exclusão de ingestão alcoólica significativa. Entretanto,embora os achados histológicos sejam semelhantes, ainda não está estabelecido seexiste diferença entre os grupos quanto à gravidade da doença hepática. O objetivodeste estudo foi comparar as características demográficas, laboratoriais e ultra-sono-gráficas entre pacientes com DHGNA e hepatopatia alcoólica. Metodologia: O cri-tério para definição de etiologia não-alcoólica foi a ingestão < 20g/dia de álcool.Foram incluídos pacientes com esteatose hepática ao exame de ultra-sonografia(US) e/ou biópsia hepática (BH) sugestiva de DHGNA ou hepatopatia alcoólica. Ospacientes que apresentavam cirrose à BH e/ou achados ao US de hepatopatia crôni-ca e/ou hipertensão porta foram considerados portadores de doença avançada. Foirealizada análise comparativa entre os pacientes com e sem etiologia alcoólica. Re-sultados: Foram avaliados 470 pacientes, sendo 103 (22%) com etiologia alcoólicae 367 (78%) com DHGNA. No grupo com hepatopatia alcoólica, houve maior fre-qüência do sexo masculino (89% vs. 60%; p < 0,01), GGT elevada (82% vs. 66%; p= 0,03) e achados ultra-sonográficos e/ou histológicos de doença avançada (26%vs. 17%; p = 0,05). Não houve diferença entre os grupos quanto à idade, níveis deALT, AST, relação AST/ALT, presença de diabetes, hipertensão arterial sistêmica edislipidemia. Dentre os 103 pacientes com hepatopatia alcoólica, 27 (26%) apre-sentavam doença avançada. Nestes pacientes, foi maior a freqüência de obesidade(58% vs. 27%; p = 0,005), diabetes (41% vs. 13%; p = 0,002), relação AST/ALT >1,0 (56% vs. 13%; p < 0,001) e índice de HOMA > 2,5 (67% vs. 35%; p = 0,04),quando comparados aos pacientes sem doença avançada. Conclusões: Pacientescom hepatopatia alcoólica apresentam doença hepática mais grave. Este achadopode representar uma característica da própria doença hepática alcoólica ou sersecundário à associação de fatores, uma vez que se observou associação entre resis-tência insulínica e maior gravidade da doença.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 83
PO-295 (316)
ELEVADA PREVALÊNCIA DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃOALCOÓLICA EM EXECUTIVOS SUBMETIDOS À REVISÃO CONTINUA-DA DE SAÚDECONCEIÇÃO RDO, CARVALHO JAM, CARVALHO L, PARISE ERCentro de Medicina Preventiva do Hospital Israelita A. Einstein e Disciplina de Gastroenterologia da UNIFESP
Fundamentos: A DHGNA é altamente prevalente em todo mundo. Em trabalhoanterior encontramos prevalência de 19,2% de esteatose em ultra-som de abdômenem hospital privado na cidade de São Paulo (Parise, 2003), mas não foi possívelestudar os fatores de risco associados à presença de esteatose. Objetivos: avaliar aprevalência de esteatose ao ultra-som de abdômen em indivíduos atendidos conse-cutivamente para a realização de “checkup” anual e correlacionar esse achado comparâmetros demográficos, metabólicos e de dependência etílica. Métodos: Análiseretrospectiva dos dados obtidos em executivos submetidos a exame anual de saúdeno CMP do Hospital Israelita A. Einstein em SP de 10/2005 a 12/2006. Foram avalia-dos a presença ou ausência de esteatose hepática ao ultra-som, dosagens de AST,ALT, GGT e FA, glicemia, HDL-colesterol, triglicérides e pontuação do questionárioAUDIT para dependência alcoólica. Também foram anotados os valores de IMC,pressão arterial e da circunferência da cintura. Na análise estatística empregamosteste t Student, χ2 e análise de regressão binária. Resultados: Dos 3036 pacientesanalisados, 989 (32,5%) apresentavam esteatose ao ultra-som. Desses, 90% apre-sentavam sobrepeso ou obesidade, 46% 3 ou mais critérios para síndrome metabó-lica e apenas 15% deles apresentavam AUDIT > 8 pontos. Na comparação entreindivíduos com e sem esteatose, os primeiros apresentavam de maneira significante(p < 0,001) idade mais elevada (47 x 43 anos) maior freqüência do gênero mascu-lino (95%x%) e valores mais elevados de IMC (29 x 25kg/m2), triglicérides(166x110mg/dL), glicemia (99 x 90mg/dL), AST (32 x 27UI), ALT (57 x 42UI), GGT(45 x 31UI), FA (68 x 65UI). A análise de regressão mostrou que estiveram indepen-dentemente associadas à presença de esteatose: idade (1,003), gênero (0,530), IMC(1,021), presença de síndrome metabólica (1,245), triglicérides (1,005) e ALT (1,029)Conclusão: Os dados apresentados sugerem que a DHGNA seja a principal causa deesteatose encontrada entre os executivos submetidos a exames de “checkup” e quea prevalência dessa doença nessa população é maior que inicialmente pensado.
PO-296 (317)
AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR EM PORTADORES DE DOEN-ÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA EM ACOMPANHAMEN-TO NUTRICIONALCARVALHO L, ELIAS MC, CONCEIÇÃO RDO, CRISPIN FGS, UEZATO NT, PARISE ERAmbulatório de Doenças Hepáticas da Disciplina de Gastroenterologia da UNIFESP-EPM e Serviço de check-up doHospital Israelita A
Fundamentos: DHGNA caracteriza-se pela presença de esteatose hepática, elevaçãodas enzimas hepáticas e está intimamente associada à presença de resistência insulíni-ca e síndrome metabólica. Estudo europeu recentemente publicado (Ekstedt et al.,2006) demonstrou que a doença cardiovascular foi a principal causa de óbito dessespacientes. Objetivo: avaliar o risco cardiovascular de pacientes portadores de DHGNAem acompanhamento ambulatorial, comparados a uma população de referência. Mé-todos: pacientes com DHGNA diagnosticada pela biópsia hepática ou pela presençade esteatose + elevação das enzimas hepáticas em acompanhamento ambulatorial,foram consecutivamente submetidos à avaliação do risco cardiovascular pelo escorede Framingham (ERF), de acordo com a III Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias eprevenção da Aterosclerose, 2004. Os valores de colesterol total e frações, triglicerí-deos e glicemia foram obtidos por método automatizado. Para avaliação comparativaforam utilizados dados obtidos com o mesmo ERF em indivíduos atendidos consecu-tivamente para a realização de “checkup” anual, com idade e gênero comparáveis àpopulação de pacientes. Resultados: Foram avaliados 408 pacientes com DHGNA e1200 indivíduos do check-up. A média de idade foi de 50,1 ± 12,5 x 49,2 ± 11,5 anos,(p = 0, 750), respectivamente. A média do percentual de risco de eventos cardiovascu-lares em dez anos com DHGNA foi de 9,83 ± 8,058 contra 6,5 ± 6,93 com check-up(p = 0,009). Quando analisado o risco cardiovascular, na DHGNA o risco foi classifica-do como baixo, médio e alto em respectivamente 58,3%, 29,0% e 12,7%, contra78,8%, 17,7% e 3,5% nos indivíduos do checkup (χ2 = 15,388, p = 0,0001). Conclu-são: pacientes com DHGNA apresentam maior percentual de indivíduos com maiorrisco cardiovascular, quando comparados com indivíduos do grupo controle.
PO-297 (318)
TRATAMENTO DA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLI-CA EXCLUSIVAMENTE COM DIETA. EFEITO SOBRE OS VALORES DASENZIMAS HEPÁTICAS, ESTEATOSE E PARÂMETROS DE SÍNDROMEMETABÓLICAELIAS MC, CARVALHO L, SOUSA EF, LEITE-MÓR M, SZEJNFELD D, SENA FC, PROLA J, GONZALES T, UEZATO TN,PARISE ERDisciplina de Gastroenterologia da UNIFESP-EPM
Fundamentos: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) está freqüen-temente associada à resistência insulínica (RI) e características de síndrome metabó-
lica. Vários estudos têm demonstrado melhora das enzimas hepáticas e da esteatose(EH) em pacientes com DHGNA submetidos à intervenção nutricional (Solga et al,2004). Objetivo: Avaliar a eficácia da dietoterapia como terapêutica exclusiva empacientes com DHGNA, com IMC 25 durante 6 meses. Métodos: 31 pacientescom diagnóstico de DHGNA (esteatose ao ultra-som + elevação das enzimas hepá-ticas) e/ou biópsia hepática, tiveram o grau de EH e de obesidade visceral quantifica-dos por tomografia computadorizada (TC). Foram dosados os níveis séricos de ALT,AST, GT e FA, colesterol total (CT)l e frações, triglicerídeos (TG), glicemia (métodoautomatizado), insulina e peptídeo C (método imunofluorimétrico). A RI foi avaliadaatravés do HOMA-IR. As medidas antropométricas incluíram peso, circunferência dacintura (CC), relação cintura/quadril (RCQ) e IMC. Todos pacientes foram submeti-dos à dieta do Consenso de Sobrepeso e Obesidade (NIH Publication 2000). Foramconsiderados aderentes se atingissem perda mínima de peso de 5% do peso inicial.O teste de Wilcoxon foi utilizado na avaliação estatística. Resultados: 17 pacientesconsiderados aderentes (grupo 1) e 14 não aderentes (grupo 2). Todos os parâme-tros antropométricos diferiram significantemente entre o início e o final do trata-mento no grupo 1, que com exceção da RCQ também diminuíram significantemen-te no grupo 2. Reduções significantes nos níveis de TG, GT, TGP, insulina, HOMA(p < 0,05), foram observadas apenas no grupo 1. A TC mostrou redução significanteda gordura visceral, gordura total, e da esteatose hepática no grupo 1. Nesse grupohouve diminuição estatisticamente significante no consumo de lipídeos totais, gor-dura saturada, valor calórico total e aumento da ingestão de gordura. Conclusão:Em pacientes com DHGNA a adesão à dieta que leve a perda de pelo menos 5% dopeso inicial é capaz de modificar a apresentação da doença. Trabalho parcialmentedesenvolvido com auxílio financeiro da FAPESP (02/05260-6).
PO-298 (319)
AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E SUA RELAÇÃO COM SÍN-DROME METABÓLICA E GRAVIDADE DA DOENÇA HEPÁTICA GORDU-ROSA NÃO ALCOÓLICACRISPIN FGS, CARVALHO L, ELIAS C, UEZATO N, PARISE ERDisciplina de Gastroenterologia da UNIFESP-EPM
Fundamentos: Vários estudos têm demonstrado a importância do consumo ali-mentar na DHGNA (Cortez-Pinto et al. 2006). O objetivo desse trabalho foi analisaro consumo alimentar de indivíduos portadores de DHGNA, e correlacionar comaspectos da síndrome metabólica e gravidade da doença. Métodos: Estudo retros-pectivo avaliando dados de 158 pacientes com diagnóstico de DHGNA (esteatoseao ultra-som + elevação das enzimas hepáticas) e/ou confirmado por biópsia hepá-tica (n = 105). Foram coletados valores séricos de ALT, AST, GT, FA, ácido úrico,colesterol total e frações, triglicérides, glicemia, (método automatizado), insulina(método imunofluorimétrico). Foram analisados dados antropométricos (peso, es-tatura, IMC, circunferência da cintura) e de registro alimentar de 3 dias (caloriastotais, proteínas, carboidratos, gordura saturada (AGSAT), monoinsaturada (AGMO-NO), poliinsaturada (AGPOLI), colesterol, vitaminas A, C, E e fibras). Resultados:Dos 158 pacientes estudados, 55% eram do gênero masculino e a média de idadede 49 ± 11 anos. Verificou-se a presença de NASH em 40,9% dos casos biopsiados.Registros de 59 pacientes foram excluídos da análise por apresentarem modifica-ções da dieta por orientação nutricional prévia. Desses, 65,1% apresentavam obesi-dade abdominal, 59,4% hipertrigliceridemia, 45,5% HDL-c baixo, 36,1% hiperten-são e 25,9% hiperglicemia, sendo 52,5% deles classificados como portadores deSM. Dos 99 pacientes restantes, apresentaram ingestão insuficiente de AGMONO(98,9% dos pacientes), AGPOLI (76,7%), fibras (64,6%) e vitamina E (68,6%) econsumo excessivo de AGSAT (87,8%) e colesterol (59,5%). Não se observaramdiferenças significantes entre o consumo alimentar de pacientes com e sem síndro-me metabólica ou com e sem NASH, mesmo quando divididos de acordo com ogênero. Conclusão: Apesar de não se encontrar relações entre o consumo alimentare a presença de SM e a gravidade de doença, portadores de DHGNA apresentaramingestão insuficiente AGMONO, AGPOLI, fibras e vitamina E, e um consumo exces-sivo de calorias, AGSAT e colesterol, o que poderia contribuir para o desenvolvimen-to da doença.
PO-299 (332)
PREVALÊNCIA DE ESTEATOSE HEPÁTICA EM PACIENTES EM USO DETAMOXIFENO. CORRELAÇÃO COM PARÂMETROS DA SÍNDROMEMETABÓLICASANTOS VN, CASSOLA N, SOLHA RS, SZENFELD D, NETO JP, MUNHOZ THF, SOUZA EF, LEITE MOR M, GEBRIM
LH, PARISE ERUniversidade Federal de São Paulo
Fundamentos: A prevalência de esteatose hepática (EH) à ultra-sonografia (USG) deabdome é ao redor de 20-30% na população geral. Tamoxifeno tem sido apontadocomo causa secundária de EH e NASH, porém a prevalência relacionada ao uso dadroga e patogênese do processo são desconhecidas. Objetivo: Estudar a prevalên-cia de EH em pacientes usando tamoxifeno e avaliar sua correlação com parâmetrosda síndrome metabólica (SM) e resistência insulínica (RI). Métodos: Foram avaliadas104 pacientes consecutivas acompanhadas por neoplasia de mama (80 em uso detamoxifeno e 24 antes de iniciar o tratamento). Todas realizaram dosagens séricas
S 84 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
de ALT, AST, GT, FA (método cinético automatizado), colesterol, triglicérides, gli-cemia (método enzimático colorimétrico), insulina e peptídeo C (método imunoflu-orimétrico), além dos marcadores para hepatite B e C. A resistência à insulina foiavaliada através do HOMA-IR (Matthews et al, 1985). Foi realizada USG na data dacoleta de sangue. Os valores foram expressos como média ± erro padrão médio.Para comparar os grupos utilizamos o teste de Kruskal-Wallis. Resultados: Compa-rando-se as pacientes quanto ao uso ou não de tamoxifeno, observamos que nãodiferiram quanto aos parâmetros clínicos e metabólicos. No entanto, as pacientesem uso de tamoxifeno apresentaram maior prevalência de EH à USG (60% X 25%;p < 0,01). Separando-se o grupo em uso de tamoxifeno quanto à presença (n = 48)ou não (n = 32) de EH, observou-se que o grupo com EH apresentou mais SM(66,7% X 15,5%; p < 0,01), assim como valores mais elevados de IMC (28,5 ± 0,7X 24,1 ± 0,7; p < 0,01), circunferência da cintura (97,2 ± 1,9 X 84,9 ± 1,8; p < 0,01),ALT (31,5 ± 2,5 X 18,5 ± 1,0; p < 0,01), AST (32,5 ± 2,9 X 22,5 ± 1,0; p < 0,01),
GT (41,6 ± 5,0 X 28,3 ± 5,5; p = 0,08) e HOMA (4,0 ± 0,4 X 2,5 ± 0,3; p < 0,01).Dessa forma, comparamos a presença de SM e o HOMA nas pacientes com e semuso do tamoxifeno, sendo observado que não diferiram quanto a tais parâmetrosquanto divididas quanto à presença ou não de EH. Conclusões: Pacientes em uso detamoxifeno apresentam maior prevalência de EH. Esta prevalência está associada àpresença de SM e RI, parecendo ser exacerbada pelo uso do tamoxifeno. Trabalhoparcialmente desenvolvido com auxílio financeiro da FAPESP (02/05260-6).
PO-300 (340)
CARCINOMA HEPATOCELULAR EM PACIENTES COM ESTEATO-HEPA-TITE NÃO ALCOÓLICA COM E SEM CIRROSE HEPÁTICA: RELATO DESETE CASOSCHAGAS AL, KIKUCHI LOO, VEZOZZO DCP, MELLO ES, SILVA LS, OLIVEIRA AC, OLIVEIRA CPMS, CALDWELL SH,ALVES VAF, CARRILHO FJDepartamentos de Gastroenterologia e Patologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo,Brasil
Fundamentos: A esteato-hepatite não alcoólica (ENA) é atualmente uma das princi-pais causas de doença hepática crônica, podendo evoluir para cirrose e carcinomahepatocelular (CHC). A maioria dos pacientes com cirrose criptogênica e CHC apre-senta fatores de risco doença hepática gordurosa não (DHGNA). Contudo, a inci-dência, características clínicas e epidemiológicas do CHC na DHGNA ainda nãoestão bem estabelecidos. Objetivo: Caracterizar os achados clínicos e histopatológi-cos de pacientes com DHGNA complicados com CHC. Métodos: No período deabril de 1998 a agosto de 2006, foram avaliados retrospectivamente 408 pacientescom CHC, sendo identificados 7 pacientes (1,7%) com evidências de ENA à biópsiahepática. Os critérios histológicos utilizados foram: presença de esteatose, baloniza-ção e fibrose pericelular. Em todos os pacientes a ingestão alcoólica era menor que100g/semana e foram excluídas outras causas de hepatopatia. Os critérios diagnós-ticos do CHC utilizados foram: (1) Histologia (2) Dois exames de imagem comnódulo > 2cm e achados típicos para CHC. O diagnóstico do CHC foi confirmadoatravés da histologia em 6/7 pacientes. Resultados: Em nossa série de 7 casos deENA e CHC, 4 pacientes eram do sexo masculino, com idade de 63 ± 13,9 anos.Sobrepeso estava presente em 57% (4/7) e obesidade em 3/4 (43%). Com relaçãoa outros fatores de risco para ENA, 57% dos casos tinham diabetes mellitus e 28,5%dislipidemia. Cirrose hepática esteve presente na maioria dos casos (6/7) e um dospacientes apresentou CHC e ENA sem evidências de CH à histologia. Entre os pa-cientes cirróticos, 71.4% eram Child A e 14,2% Child B. Em 4/7 casos o CHC eramultifocal (2-4 nódulos). A maioria dos nódulos era hiperecogênico ao US e o tama-nho variou de 1 a 5cm, sendo 8 dos 14 nódulos (57%) menores que 3cm.. O CHCfoi bem diferenciado em 1/6 casos (16,6%) e moderadamente diferenciado em 5/6(83,3%). Alfa-feto proteína (AFP) foi < 100ng/ml em todos os pacientes. Conclusão:O CHC em pacientes com ENA foi freqüentemente multifocal, precedido por doen-ça hepática crônica avançada e ocorreu com níveis não-diagnósticos de AFP. A asso-ciação de CHC e ENA parece não estar limitada a pacientes com cirrose hepática.
PO-301 (466)
FATORES DE RISCO PARA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO-AL-COÓLICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICASANTOS EHS, ALMEIDA RES, AMPARO STG, GARCEZ SRC, SANTOS IM, FAKHOURI R, ALMEIDA F, FRANÇA AVC,NASCIMENTO TVBNúcleo de Hepatites da Universidade Federal de Sergipe
A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) foi descrita como uma con-dição hepática que se assemelha histologicamente à injúria hepática induzida peloálcool, mas que ocorre em pacientes sem abuso do mesmo. Obesidade, diabetesmelitus e hiperlipidemia são condições freqüentemente associadas à DHGNA e asíndrome metabólica (SM). Objetivos: Avaliar os fatores de risco para DHGNA empacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Metodologia: Foram estudados 130 pa-cientes que procuraram o serviço de cirurgia bariátrica que apresentavam IMC > 35,com presença de co-morbidades ou IMC > 40, independente da existência de co-morbidades. Os possíveis fatores de risco estudados foram: sexo, SM, media doIMC, taxa de glicemia, taxa de HDL e a taxa de triglicérides, sendo cada um avaliadoisoladamente. A SM foi definida de acordo com o consenso do International Diabe-
tes Federation (IDF). Os pacientes foram divididos em 2 grupos com base na presen-ça ou não de DHGNA. Grupo 1(G1); pacientes sem DHGNA e grupo 2(G2): pacien-tes com DHGNA. Os dados foram analisados com uso do SPSS v. 11.0. Resultados:Os pacientes estudados apresentavam media de idade de 36,6 ± 10,6 anos, compredomínio do sexo feminino (60%). 117 pacientes (90%) apresentavam DHGNA eforam para o G1, enquanto 13 (10%) não apresentavam DHGNA (p < 0,001) eforam para o G2. 59,8% dos pacientes do G1 eram do sexo feminino, contra 61,2%no G2 (p > 0,05). 59% dos pacientes do G1 apresentavam SM, contra 63% do G2(p > 0,05). A media do IMC do G1 foi de 47, 3, contra 44,8 de G2 (p > 0,05). Amedia da glicemia foi de 91,5 no G1, contra 103 no G2 (p > 0,05). A media de HDLfoi de 39,3 no G1, contra 43,4 no G2 (p > 0,05). A media de triglicérides (TG) foi de137 no G1, contra 160,3 no G2 (p > 0,05). Conclusão: 1- Os pacientes com crité-rios para cirurgia bariátrica mostraram elevada prevalência de DHGNA 2-Não houvediferença significativa entre SM, glicemia, IMC, taxa de HDL e TG entre os grupos;não sendo, portanto, considerados fator de risco isolado em pacientes que já temindicação de cirurgia bariátrica.
Transplante HepáticoPO-302 (204)
DETECÇÃO DO DNA PARA CITOMEGALOVÍRUS (CMV) E HERPESVÍ-RUS HUMANO 6 (HHV-6) EM BIÓPSIAS DE DOADORES DE FÍGADOGUARDIA AC, SAMPAIO AM, BOIN IFFS, STUCCHI R, ANDRADE PD, LEONARDI MI, LEONARDI LS, COSTA SCUnidade de Transplante Hepático – Unicamp
Fundamentos: O citomegalovírus (CMV) e o herpesvírus Humano 6 (HHV-6), per-tencentes à subfamília betaherpesvírus, são de alta prevalência na população e, apósinfecção primária, permanecem latentes podendo ser reativados num período deimunossupressão, como ocorre em pacientes submetidos à transplantes de órgãos,podendo causar infecções graves, que vão desde rejeição de enxerto ao óbito. Ob-jetivo: Detectar o DNA do CMV e do HHV-6 em biópsias hepáticas de doadorescadáver por N-PCR. Metodologia: Prospectivamente 49 biópsias não fixadas dedoadores de fígado foram colhidas no ato cirúrgico da extração e foram analisadaspela Nested-PCR para amplificação de 159pb para CMV e 258pb para HHV-6. Re-sultados: Das amostras analisadas 7/49 (14,2%) foram positivas para CMV e 29/49(59,2%) foram positivas para o HHV-6. Conclusão: Com a presença dos vírus obser-vada nas amostras de tecido hepático coletado dos doadores, deve-se dar maioratenção a monitorizarão e acompanhamento dos transplantados hepáticos e verifi-car a ocorrência de possíveis infecções ativas. Especial atenção deve ser às manifesta-ções do SNC de origem desconhecida que podem estar relacionadas à infecçãoativa pelo HHV-6 isoladamente.
PO-303 (277)
TRANSPLANTE HEPÁTICO NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA HE-PÁTICA FULMINANTE: LIÇÕES APÓS 30 CASOSPACHECO-MOREIRA LP, ALVES J, GONZALEZ AC, PEREIRA JL, ENNE M, BALBI EHospital Geral de Bonsucesso - Rio de Janeiro
Fundamentos: Insuficiência hepática fulminante (IFH) é uma emergência médicacomplexa que surge após uma agressão ao fígado de um paciente previamentesadio. Apesar dos avanços em terapia intensiva, o prognóstico da IHF sem o trans-plante hepático (TH) é muito ruim. O objetivo deste trabalho é avaliar o resultado doTH no tratamento dos pacientes com diagnóstico de IHF, além de discutir tópicospolêmicos, tais como: medida da pressão intra craniana (PIC), uso de doadoresvivos, uso de terapias substitutivas e indução com anticorpos monoclonais. Méto-dos: No período de out/01 a ago/07, realizamos 237 TH, em 30 pacientes a indica-ção foi IHF (10 crianças e 20 adultos). O prontuário destes pacientes foi analisado deforma retrospectiva, após aprovação do CEP. A idade dos pacientes variou de 3 a 68anos. A etiologia da IHF foi droga em 12 casos, viral em 5 casos, hepatite auto-imune em 3, dça de Wilson em 2, e criptogênica em 9 casos. O tempo de esperapelo TH variou de 6 a 120 horas. PIC não foi monitorizada em nenhum paciente.Durante a cirurgia dos pacientes adultos, a medida de saturação do bulbo de jugularfoi utilizado para estimar a perfusão cerebral. A utilização de doadores vivos só foifeita pra crianças, em 5 casos. Nenhum dos 5 doadores vivos teve complicações.Terapia substitutiva renal (diálise intermitente) foi utilizado em 6 pacientes no perío-do pré-operatório. Não utilizamos nesta série diálise com albumina. 90% das crian-ças e 40% dos adultos estavam sob ventilação mecânica pré-operatória . Induçãocom basiliximab foi feita em todos os pacientes com disfunção renal pré-operatória.Nos pacientes adultos, foi analisado a relação de diálise e ventilação mecânica pré-op e mortalidade pós-TH (p, 0.05). Resultados: IHF representou 12,6% das nossasindicações de TH. A mortalidade operatória foi de 26,6% (8/30). As causas de óbitoforam falência de múltiplos órgãos (n = 4),disfunção do enxerto (n = 3) e edemacerebral (n = 1). Um paciente pediátrico permaneceu com seqüelas neurológicas.Diálise pré-TH não está relacionado com óbito pós-TH, mas a necessidade de venti-lação mecânica está, com RR = 3,87. Conclusões: Nossa sobrevida é semelhante aosmelhores centros mundiais. Ainda existem tópicos controversos no manejo destespacientes que devem ser discutidos.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 85
PO-304 (335)
ANÁLISE DA SOBREVIDA DE ACORDO COM DELTA-MELD/MÊS ESCO-RE EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE FÍGADOBOIN IFSF, LEONARDI MI, PEREIRA IW, STUCCHI R, SEVÁ-PEREIRA T, SOARES EC, LEONARDI LSUnidade de Transplante de Fígado
Fundamentos: O escore MELD foi introduzido recentemente na legislação brasileira(maio de 2006). Na literatura vem sendo referido como um bom preditor da morta-lidade em lista de espera para a realização de transplante de fígado. O delta-MELD(MELD) escore foi descrito subtraindo-se o MELD final (tempo do transplante) doMELD inicial (na inscrição do paciente) Objetivo: Verificar a sobrevida de pacientessubmetidos a transplante de fígado aplicando-se o delta-MELD escore. Casuística emétodo: Foi realizada uma análise retrospectiva de dados coletados prospectiva-mente em 330 transplantes de fígado realizados nos últimos 10 anos. Foram excluí-dos 58 pacientes (insuficiência hepática aguda grave, retransplantes, < 18 anos eenxertos reduzidos ou duplos). MELD escore foi definido como sendo a subtraçãodo MELD calculado na inscrição do paciente em lista subtraído do MELD calculadoimediatamente antes da realização do transplante. MELD/mês foi definido o valorMELD dividido pelo tempo em meses na lista de espera. O grupo A foi definidocomo aqueles pacientes que apresentaram MELD/mês < 0 e o grupo B como MELD/mês > 0 . As variáveis dos doadores e dos receptores foram analisadas usando-se oteste t-Student e a sobrevida foi calculada usando-se o método de Kaplan-Meier e oteste log-rank. Resultados: Constam na tabela 1 e figura 1. Conclusão: Os pacien-tes com MELD/mês negativo (> 0) apresentaram melhor sobrevida, ou seja são aquelespacientes que entraram descompensados em lista e foram adequadamente com-pensados antes da realização do transplante. Os pacientes com valores positivosforam aqueles que descompensaram pela gravidade de sua doença hepática (MELDna hora da cirurgia mais elevados) e apresentaram maior mortalidade.
PO-305 (352)
HCV PÓS-TRANSPLANTE DE FÍGADO: RECIDIVA PRECOCEALVES RCP, MATOS CAL, FONSECA EA, PUGLIESE V, SALZEDAS A, SEDA-NETO J, GODOY A, CARONE-FILHO E,CHAP-CHAP P, KONDO MHospital A. C. Camargo – Hospital Sírio-Libanês – São Paulo
Introdução: A recidiva pós-transplante do vírus da hepatite C (HCV) é universal.Aproximadamente 20% desses pacientes vão apresentar cirrose em cinco anos. Amaior parte deles apresentam recidiva histológica no período de dois anos pós-transplante, entretanto existem poucos dados em relação ao momento inicial dessarecidiva. Objetivo: Determinar o momento da recidiva histológica do HCV pós-transplante de fígado. Material e métodos: Foram incluídos pacientes anti-HCVpositivos, submetidos a transplante de fígado, com tempo mínimo de acompanha-mento de seis meses. Foram analisados, retrospectivamente, idade no transplante,sexo, imunossupressão basal, episódios de rejeição celular aguda, doador (cadáver/intervivos) e idade do doador. As biópsias hepáticas foram realizadas no momentoda elevação das aminotransferases. Todas as biópsias foram analisadas por um únicopatologista. Resultados: Foram analisados 30 pacientes transplantados de fígado,20 (67%) do sexo masculino, com média de idade de 53 + 9 anos. Foram transplan-tados com doador vivo 22 (73%) pacientes. Todos os doadores tinham idade infe-rior a 50 anos. A imunossupressão foi predominantemente dupla, utilizando-se Ta-crolimus e Prednisona em 25 (83%) pacientes. O tempo médio de utilização decorticóide oral após o transplante foi de 5 + 2 meses e 15 (50%) pacientes apresen-taram rejeição celular aguda tendo sido tratados com corticóide endovenoso emdose alta. A recidiva histológica do HCV foi detectada em 20 (67%) pacientes, emmédia, 8 + 5 meses após o transplante, sendo que 10 (50%) pacientes apresentaramrecidiva precoce (até 6 meses pós-transplante). Conclusão: A recidiva do HCV seapresentou precocemente neste estudo, diferentemente dos dados existentes naliteratura. Medidas precisam ser tomadas visando o tratamento eficaz destes pacien-tes, uma vez que a literatura mostra que a evolução da Hepatite C pós-transplante éainda mais grave que a observada em imunocompetentes.
PO-306 (378)
RECORRÊNCIA DE DOENÇA HEPÁTICA PÓS-TRANSPLANTE EM DEFI-CIÊNCIA DE ALFA-1-ANTITRIPSINA ( -1-AT). RELATO DE CASOOLIVEIRA E SILVA A¹, ALVES VAF², MELLO ES², WAHLE RC¹, CARDOZO VDS¹, ROCHA BS¹, NÉSPOLI PR¹, SOUZA
EO¹, DAZZI FL¹, D’ALBUQUERQUE LAC¹¹Centro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo,SP. ²Centro de I
Fundamentos: Alfa-1-antitripsina é uma glicoproteína com atividade antiproteasesintetizada principalmente no fígado, mas também em fagócitos mononucleares eneutrófilos. Têm a função de inativar elastase, tripsina e outras enzimas proteolíticas.Pacientes que cursam com deficiência de síntese de -1-AT, sobretudo portadoresdos fenótipos PIZZ e PIMM, evoluem com bloqueio no transporte da proteína doretículo ao aparelho de Golgi, dos hepatócitos cursando a longo prazo com cirrose,insuficiência hepática e até carcinoma hepatocelular. O tratamento definitivo dessaenfermidade ocorre com o transplante de fígado, com recorrência das lesões noenxerto não tendo sido ainda descrita no Brasil, motivo de nossa preocupação nesse
trabalho valendo-se de doador adulto vivo de fígado (DAVF) relacionado. Métodos:Relato de um caso de recorrência de doença hepática pós-transplante em deficiên-cia de alfa-1-antripsina. Resultados: Desde 20 de março de 1999 a 15 de agosto de2007 realizaram-se no CETEFI 92 transplantes de fígado valendo-se de DAVF moda-lidade de tratamento. O único caso de evolução a longo prazo com ascite refratáriaocorreu no paciente O.S, 35 anos, masculino, portador de deficiência de -1-ATque submeteu-se ao procedimento em 3 de julho de 2006. Recebeu o lobo direitode sua irmã, M.M.S. 39 anos, cuja biópsia hepática no pré-operatório revelava-senormal, recebendo alta hospitalar, sem complicação, no 8° dia pós operatório. Aevolução clínica pós-operatório do receptor ocorreu com formação de ascite volu-mosa, desnutrição e evidenciando-se através de angiotomografia do sistema venosoportal normal, enquanto gradiente hepático venoso portal mensurado por angio-grafia também normal. Biópsia hepática realizada em 18 de junho de 2007 revelouhepatite crônica e fibrose, com presença de glóbulos intracitoplasmáticos PAS posi-tivos. Tal evolução mostrou-se inesperada pois relato de literatura mostra que oreceptor adquire do doador seu genótipo, passando a ter síntese normal de -1-ATcom melhora significativa da qualidade de vida. Conclusões: Nesse caso relatadonão definimos o genótipo tanto do paciente quanto do doador. Com certeza talevolução está relacionada a recepção de fígado da irmã portadora dos referidosfenótipos PIZZ ou PIMM porém sem expressão da doença, causa da recorrênciaprecoce da hepatopatia.
PO-307 (381)
FASCIITE EOSINOFÍLICA E DIABETES MELLITUS APÓS INFUSÃO DE CÉ-LULAS MONONUCLEARES DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGA EM CIR-ROSE HEPÁTICA: MANIFESTAÇÕES IMUNOMEDIADAS NA TERAPIA RE-GENERATIVA?COUTO BG1, SAMPAIO ALSB2, SOUSA MAJ2, MOREIRA MCR1, TORRES ALM1, SILVA HVO1, COELHO HSM1,CARVALHO ACC3, GOLDENBERG RCS3, REZENDE GFM1
1. Departmento de Medicina Interna, UFRJ; 2. Departmento de Dermatologia, UERJ; 3. Instituto de Biofísica CarlosChagas Filho, UFRJ
Objetivos: Foi conduzido um ensaio clínico fase 1 para avaliar exequibilidade, segu-rança e cinética celular na terapia com células mononucleares de medula óssea autó-loga (CMMOA) em pacientes adultos com cirrose hepática. Relatamos um pacientede 56 anos com cirrose alcoólica que desenvolveu fasciite eosinofílica (FE) e diabetesmellitus (DM) após infusão de CMMOA. Relato do Caso: Apresentava, pré-inclu-são, função hepática estável Child-Pugh B8, anti-HCV positivo com PCR-RNA HCVnegativo confirmado e hipertensão arterial. Referiu abstinência alcoólica de pelomenos 1 ano e história familiar de DM tipo 2. Um total de 2 X 108 CMMOA foiisolado do aspirado de medula óssea por gradiente Ficoll-Hypaque e infundido naartéria hepática por cateterismo. Níveis de albumina e bilirrubina confirmaram me-lhora da função hepática a partir do D14. O paciente foi admitido para tratamentode erisipela no 7º mês de seguimento, com melhora clínica e alta. No 10º mês,apresentou nódulos subcutâneos dolorosos em antebraços e edema em dorso demãos. Foi readmitido, em estado hiperosmolar não-cetótico, após 4 semanas. Bióp-sias cutâneas foram compatíveis com FE. Iniciado tratamento com prednisona eazatioprina, com remissão após desmame do corticóide. Discussão: A fasciite eosi-nofílica é um transtorno esclerodermiforme, caracterizado por inflamação e fibroseda fáscia muscular e dos septos subcutâneos. A FE também ocorre na doença enxer-to-versus-hospedeiro após transplante de medula óssea (TMO), inclusive autólogo,mas DM também é descrito como fator desencadeante independente. Por sua vez,o DM, quando secundário ao TMO, está sempre associado ao uso de irradiaçãocorporal total ou quimioterapia, não utilizados no protocolo. Não há relato de FE ouDM após infusão de CMMOA. Conclusão: Relatamos um paciente que desenvolveudois transtornos imunomediados (FE e DM) dez meses após infusão de CMMOA.Apesar da ausência de relato prévio, não pode ser afastada uma eventual relaçãocausa-efeito.
PO-308 (392)
USO DE HBIG EM BAIXAS DOSES NO TRANSPLANTE HEPÁTICO PORHEPATITE BCELLES R, BASTO ST, MARTINEZ R, PEREZ R, RIBEIRO J, COELHO HSMServiço de Hepatologia e Programa de Transplante Hepático – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Introdução: O uso de HBIg (Imunoglobulina hiperimune humana) é fundamentalpara evitar a recorrência de hepatite B pós-transplante hepático, entretanto existegrande controvérsia com relação ao esquema ideal de doses. Objetivo: Descrever aexperiência de um protocolo específico de HBIg em baixas doses. Pacientes e méto-dos: Foram avaliados retrospectivamente todos os pacientes submetidos a trans-plante hepático (TH) no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho-UFRJ, devidoà cirrose por vírus B. Esses pacientes fizeram uso de lamivudina no pré-operatório edo seguinte protocolo de HBIg: 10.000UI na cirurgia, 1.000UI/dia na primeira se-mana, 1.000UI/semana até o fim do primeiro mês, 1000UI quinzenalmente no se-gundo mês e 1.000UI mensalmente a partir do terceiro mês. Resultados: Foraminicialmente avaliados 17 pacientes, sendo excluídos 6 casos que evoluíram paraóbito no pós-operatório imediato. Desta forma, foram incluídos no estudo 11 pa-cientes. Destes, 10 fizeram uso de lamivudina antes do transplante, com média do
S 86 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
tempo de tratamento de 1 ano e 8 meses. No momento do transplante, todosapresentavam HBV-DNA negativo pelo método de PCR. Após um período de segui-mento médio de 37 meses, nenhum paciente demonstrou clínica ou achados histo-lógicos sugestivos de recidiva de vírus B. Um caso apresentou HBV-DNA detectável,com título de 22.000 cópias/mL, sem repercussão clínica no enxerto, tendo porémevoluído para óbito devido a recidiva de hepatocarcinoma. A média de anti-HBstitulado foi de 194. Conclusão: Este protocolo de HBIG em baixas doses, associadoà lamivudina, se mostrou extremamente eficaz para prevenir a recorrência de vírus Bno pós TH, com um tempo de seguimento prolongado. Estes dados preliminaresincentivam o uso deste mesmo esquema em casuísticas maiores.
PO-309 (396)
TRANSPLANTE HEPÁTICO EM PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN-RELATO DE CASOMARTINEZ R, BASTO ST, FERNANDES ESM, COELHO HSM, RIBEIRO JPrograma de Transplante Hepático – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Introdução: A síndrome de Down é uma doença genética de prevalência mundialcausadora de disfunção de múltiplos órgãos-alvo, resultando em especial em doen-ças dos órgãos hematopoiéticos e cardíacas, muitas delas com indicação de trans-plante. Há muita discussão na literatura a respeito dos aspectos éticos e técnicosenvolvendo o transplante de órgãos e tecidos nesses indivíduos, sendo que a maiorparte dos relatos dizem respeito a transplante cardíaco ou de medula óssea. Méto-dos: Relatamos o primeiro caso até o momento de transplante hepático realizadoem paciente com síndrome de Down. O caso consiste-se em uma paciente de 38anos do sexo feminino, portadora de cirrose hepática pelo vírus da hepatite C, ad-quirida em hemotransfusão devido a cirurgia ginecológica. Foi submetida a trans-plante hepático ortotópico de fígado. A paciente apresentava-se em fase avançadade doença (Child C) tendo evoluído com quadro de síndrome hepatorrenal, reverti-da após o transplante. Não havia evidência de doença cardíaca neste caso. O estadopsicológico, a aderência terapêutica e o apoio familiar desta paciente foram conside-rados bastante apropriados. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, com curtoperíodo de internação hospitalar e importante melhora na qualidade de vida. Foiutilizada indução de imunossupressão com anticorpo monoclonal, o que parece serindicado nestes casos de modo a contrabalançar a imunodepressão acarretada pelaprópria síndrome de Down. Atualmente a paciente encontra-se no nono mês póstransplante e passa bem. Conclusão: Nosso resultado deveria reforçar a visão pro-posta por outros autores de que esses pacientes deveriam ser transplantados e teruma prioridade igual à dos demais pacientes nas filas de espera.
PO-310 (431) – PRÊMIO TOMAZ FIGUEIREDO MENDES
PO-311 (470)
EFEITO DIABETOGÊNICO DO IMUNOSSUPRESSOR TACROLIMUS EMPACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE HEPÁTICOOLIVEIRA CE, MIRANDA CC, PEREIRA LMMB, SILVA CCCC, CAMPOS AGSHospital Universitário Oswaldo Cruz - Recife-PE
Fundamentos: O Tacrolimus é um imunossupressor freqüentemente usado em re-ceptores de transplante de fígado, que age na inibição da calciuneurina. Esta drogaapresenta diversos efeitos colaterais de importante relevância, sendo a elevação daglicemia um dos mais freqüentes. Métodos: Foram analisados os níveis de glicemiaem jejum associados aos níveis séricos de tacrolimus pelo método MEIA no sanguede 50 pacientes submetidos a transplante hepático no HUOC, no período de seismeses. Resultados: Dos 50 pacientes, nove apresentaram níveis de glicemia de je-jum média final acima de 195g/dl, correspondendo a 18% dos casos analisados.Nível de glicemia mais elevado é observado com maior incidência (70%, N = 35),no primeiro mês de análise, quando são observados níveis séricos de tacrolimus commédias mais elevadas em comparação aos meses subseqüentes. Conclusão: O imu-nossupressor tacrolimus apresentou efeito diabetogênico de considerável relevâncianos pacientes submetidos a transplante hepático, durante o período de análise.
PO-312 (499)
ANÁLISE DO PROGNÓSTICO NA LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLAN-TE HEPÁTICO EM PACIENTES COM CARCINOMA HEPATOCELULARSECUNDÁRIO A HEPATITE VIRAL NA ERA PRÉ-MELDCARREIRO G, DOTTORI MARIANA, SANTORO-LOPES G, COELHO HS, BASTO S, RAMOS ALPrograma de Transplante Hepático do H. U. Clementino Fraga Filho - UFRJ
Fundamentos: Há poucos dados nacionais sobre o prognóstico de pacientes lista-dos para transplante hepático (TH) com carcinoma hepatocelular (CHC) associado àcirrose por hepatite viral crônica. Objetivo: Nosso objetivo foi estudar o prognósti-co em lista de espera para TH destes pacientes na era pré-MELD (“Model of End-stage Liver Disease” - modelo de doença hepática terminal). Pacientes e métodos:Realizamos um estudo retrospectivo de coorte avaliando 76 pacientes no período dejunho de 1998 a dezembro de 2004. Resultados: Dentre os 76 pacientes incluídoshouve predomínio do sexo masculino com 53 pacientes (70%) e da cor branca com57 pacientes (75%). A mediana da idade foi de 56,5 anos (IIQ 50 a 61,5 anos). Havia
64 (85%) pacientes com diagnóstico de hepatite C e 12 com diagnóstico de hepa-tite B. A mediana da AFP sérica encontrada nesses pacientes foi de 48ng/ml (IIQ 9,7a 272ng/ml). Na revisão dos prontuários destes 76 pacientes foi possível encontrara AFP sérica dosada na época da listagem em somente 43 pacientes. Dentre os 74pacientes em que obtivemos o cálculo da classificação de Child Pugh, a maioria seclassificava como Child Pugh A- 35 pacientes (47%). Tivemos 28 pacientes (38%)classificados como Child Pugh B e 11 (15%) como Child Pugh C. Na análise doprognóstico em lista de espera desses pacientes, observamos probabilidade de ex-clusão da lista de espera por morte ou progressão da neoplasia de 26% após 12meses de seguimento. A mediana de tempo para a exclusão foi de 29 meses. Naanálise multivariada observamos que níveis de alfafetoproteína (AFP) sérico > 48ng/ml na listagem associaram-se independentemente a maior risco de exclusão (p =0,01) e que houve tendência a um pior prognóstico naqueles listados com lesãotumoral única > 5cm ou Child Pugh C. Conclusão: A taxa de exclusão da lista paraTH foi elevada na população estudada. Nossos resultados sugerem que o nível deAFP no momento da listagem possa ser útil na definição de prioridade para THnestes casos.
PO-313 (521)
EVOLUÇÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO NA POLINEUROPATIAAMILÓIDE FAMILIARDOTTORI MF, CARREIRO G, BASTO ST, PEREZ RM, VILLELA-NOGUEIRA CA, WADDINGTON M, MARTINEZ R,RIBEIRO J, COELHO HSMPrograma de Transplante Hepático H. U. Clementino Fraga Filho – UFRJ
Fundamentos: A polineuropatia amilóide familiar (PAF) é uma doença autossômicadominante na qual há depósito sistêmico de uma proteína mutante, transtiretina(TTR), levando a uma polineuropatia progressiva e fatal. Atualmente o transplantehepático (TH) é a única forma eficaz de tratamento. O objetivo deste estudo foiavaliar as características dos pacientes com PAF e sua evolução pós-transplante.Métodos: Estudo retrospectivo de coorte. Foram estudados todos os pacientes sub-metidos ao TH por PAF. A gravidade do acometimento motor foi avaliada pelo graude polineuropatia (polyneuropathy disability score), dividido em 4 estágios. Foramavaliadas as variáveis: idade no TH, grau de polineuropatia, tempo de evolução dedoença, índice de massa corporal (IMC), albumina sérica, IMC modificado (IMC xalbumina) e evolução após o transplante. Resultados: Foram avaliados 23 pacientes(15 homens) submetidos ao TH de abril/1997 a abril/2007. A idade no TH foi de 37± 7 anos (26-52). Dos pacientes estudados, 4 grau I (18%), 12 grau II (52%) e 7grau III (30%). Todos os pacientes apresentavam diarréia ou constipação. Outrossintomas observados foram: retenção urinária, disfunção sexual, hipotensão ortostá-tica e distúrbio de condução cardíaca. O tempo de sintomas antes do transplante foide 6 ± 2 anos (2-11). O IMC foi de 19 ± 2Kg/m2 (15-25), a albumina sérica de 3,6± 0,6g/dl (2,7 a 5,0) e o IMC modificado foi de 684 ± 174 (435-1250). Dos 23pacientes avaliados, houve perda de seguimento em um e 12 evoluíram para óbito(52%), sendo 9 no primeiro ano pós-TH, por sepse (n = 6), disfunção primária doenxerto (n = 2) e arritmia grave peroperatória (n = 1). Os demais óbitos ocorrerampor cirrose biliar secundária (n = 1), sepse abdominal (n = 1) e suicídio (n = 1). Otempo de sobrevida pós-TH variou de 0 a 84 meses (mediana de 7 meses). Conclu-são: Em nossa casuística, os pacientes com PAF apresentaram mortalidade elevadano primeiro ano pós-TH. Este achado pode ser explicado pela desnutrição e pelasco-morbidades sistêmicas que persistem após a cirurgia. Devido à alta mortalidadeobservada no primeiro ano, com conseqüente redução do poder estatístico, não foipossível correlacionar nenhuma das variáveis analisadas com o prognóstico pós-TH.
PO-314 (522)
HEPATITE ISQUÊMICA GRAVE E HIPOFLUXO PORTAL NO PÓS TRANS-PLANTE HEPÁTICO- RELATO DE CASODOTTORI M, FERNANDES ESM, BASTO ST, MARTINEZ R, BENTO G, RAMOS AL, SOUSA C, LEMOS-JR V, COELHO
HSM, RIBEIRO JPrograma de Transplante Hepático H. U. Clementino Fraga Filho – UFRJ
MG, masculino, 53 anos, diagnóstico de cirrose por VHC. Foi submetido a trans-plante hepático em agosto de 2006, com Child C11 e MELD 21. O fígado do doa-dor apresentava uma variação anatômica, com hiperplasia nodular focal no loboesquerdo, sendo ressecada esta parte e transplantado o lobo direito do doador.Evoluiu bem no pós-operatório imediato. A ultra-sonografia com doppler (USGd)de controle no 3º dia após a cirurgia foi normal. No 5º dia de pós-operatório iniciouquadro de colestase e icterícia, elevando bilirrubina total de 2,3 para 30,5mg/dL eALT de 257 para 1260U/L. Apesar do ajuste da imunossupressão, progrediu comdeterioração clínica caracterizada por queda significativa do estado geral e disfun-ção hepática com alargamento de TAP (41%) e albumina de 1,8. USG de abdomenão mostrou dilatações das vias biliares intra ou extra-hepáticas. Ao doppler, nota-va-se veia porta com calibre de 0,6cm, com presença de fluxo hepatofugal nas veiasporta e esplênica, devido ao grande número de colaterais calibrosas no hilo esplêni-co. Artéria hepática com IR = 0,56. Angiotomografia computadorizada mostrou veiaporta livre, shunt espleno-renal calibroso (calibre de 2cm) e artéria hepática semalterações. Retornou ao centro cirúrgico no 12º dia pós-transplante, sendo identifi-cados artéria hepática normofuncionante e veia porta fina. Foi então feita ligadura
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 87
da veia renal esquerda, com melhora visível do fluxo portal, seguida de ligadura daartéria esplênica, a fim de garantir a manutenção do bom fluxo arterial. Foi realizadabiópsia hepática durante o procedimento. Nova USGd sete dias após a segundacirurgia confirmou a normalização do fluxo portal. Evoluiu com queda significativadas enzimas hepáticas após a intervenção cirúrgica. O resultado do exame histopa-tológico de biópsia hepática realizada durante a cirurgia mostrou necrose hepatoce-lular difusa compatível com lesão isquêmica, ausência de alterações histopatológicascompatíveis com rejeição do enxerto e ausência de alterações citopáticas virais. Re-cebeu alta em bom estado geral, com normalização das enzimas hepáticas. Acom-panhado ambulatorialmente, atualmente assintomático, com enxerto hepático nor-mofuncionante. Discussão: A lesão isquêmica do enxerto geralmente resulta decomplicações arteriais, como a estenose e a trombose da artéria hepática. Outraalteração descrita é a síndrome de roubo do fluxo da artéria hepática, na qual apresença de uma circulação colateral proeminente resulta em diminuição do fluxoarterial, com mal perfusão do órgão transplantado. Alterações isquêmicas hepáticassão pouco descritas como sendo originárias de hipofluxo portal. O roubo do fluxonesta última em conseqüência de um shunt espleno-renal também pode ser respon-sável por lesão isquêmica do fígado transplantado, mesmo na ausência de altera-ções arteriais, como descrito no caso apresentado.
PO-315 (523)
MORTALIDADE E CARACTERÍSTICAS DE LISTA DE TRANSPLANTE HE-PÁTICO EM UM CENTRO UNIVERSITÁRIOBASTO ST, PEREZ R, VILLELA-NOGUEIRA C, COSTA D, MENDES N, BARROSO A, VICTOR L, FERNANDES E, COELHO
HSM, RIBEIRO JPrograma de Transplante Hepático H U Clementino Fraga Filho – UFRJ
Introdução: No nosso meio, considerando um sistema de alocação de órgãos porordem de inscrição cronológica, adotado no Brasil até julho de 2006, não se conhe-cem os fatores relacionados a mortalidade e seu impacto na fila. Objetivos: Descre-ver a mortalidade, as características demográficas e clínicas da lista de transplantehepático (TXH) no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho-UFRJ desde a im-plantação do programa em 1998, correlacionando com fatores de risco estabeleci-dos na literatura. Pacientes e métodos: Foram avaliados todos os pacientes inscri-tos para TXH de novembro de 1998 a julho de 2006. As variáveis analisadas foram:sexo, idade, grupo sanguíneo, índice de massa corpórea (IMC), tempo de esperaem lista, etiologia de doença e presença de hepatocarcinoma. Os eventos finaispossíveis foram: transplante, óbito, exclusão ou ativo em lista. Foram utilizados ostestes t de student, qui-quadrado, MannWhitney e curva de sobrevida de KaplanMeier para análise estatística. Resultados: Dos 1477 pacientes listados para trans-plante hepático, 62% eram do sexo masculino, com idade média de 51 [plusminus]13 anos. Quanto a etiologia da doença de base, 48% tinham hepatite C, 14% cirro-se por álcool, 7% cirrose criptogênica, 6% hepatite B, 4% doença auto-imune, 4%doenças colestáticas e 2% esteato-hepatite. A mediana do tempo de espera em listafoi de 407 dias (0-1455). Entre os pacientes listados, 8% foram excluídos, 18%foram submetidos a TXH, 30% evoluíram para óbito e 44% estavam ativos na lista.A taxa de mortalidade observada variou de 14,6% to 28,4%, de acordo com o anoem que o paciente foi inscrito. A mediana do tempo de espera em lista tambémvariou de acordo com o ano de inscrição (704 a 240 dias). Não observou-se diferen-ça estatística entre mortalidade e sexo, grupo sanguíneo ou IMC. As variáveis asso-ciadas com mortalidade maior foram idade (p < 0.001), presença de hepatocarcino-ma (p = 0,025) e etiologia viral vs não viral (33% vs. 27%, p = 0,009). Conclusão: Amortalidade e o tempo de espera em lista foram muito elevados em nosso meio. Aimplantação do sistema MELD poderá modificar esse cenário.
PO-316 (536)
TRANSPLANTE HEPÁTICO NO HEPATOCARCINOMAMENESCAL CV, GARCIA JHP, VASCONCELOS JBM, BORGES GCO, BRASIL IRC, COELHO GR, BARROS MA, CAM-POS FILHO DH, VALENÇA JÚNIOR JT, ROCHA TDS, CAVALCANTE FP, FERNANDES CRHospital Universitário Walter Cantidio - Centro de Transplante de Fígado do Ceará
O carcinoma hepatocelular (HCC) é quinto câncer mais comum do mundo, tendoprognóstico usualmente pobre. O transplante hepático é o tratamento radical maisfreqüentemente curativo para o HCC, além de fornecer a resolução da doença hepá-tica crônica de base. Objetivo: Definir a incidência de HCC e suas características naspeças de explante de pacientes transplantados, assim como revisar a taxa de recidivaneoplásica pós-transplante. Métodos: Entre maio de 2002 e dezembro de 2006,200 transplantes de fígado foram realizados em 190 pacientes pelo nosso Centro.Em 12,6% (24) foi confirmado o diagnóstico histopatológico de HCC no explante.A partir desta amostra, foi realizado um estudo retrospectivo e descritivo. Resulta-dos: Desses 24 pacientes, 20 (83%) eram do sexo masculino e 4 (16,6%) eram dosexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 58 anos. A cirrose por vírus Cesteve presente em 70,6% dos pacientes. Em 4 casos, os tumores foram achadosincidentais. 37,5% dos pacientes apresentaram um nódulo solitário, 45,8% apre-sentaram 2 ou 3 nódulos e 16,6% tinham mais de 3 nódulos. O diâmetro máximodo maior tumor foi menor que 3cm em 33,3% dos pacientes, entre 3 e 5cm em54,2% e maior que 5cm em 12,5%. Os níveis de alfafetoproteína (AFP) foram nor-mais em 62,5% dos pacientes. O tempo médio entre o diagnóstico de HCC e o
transplante foi de 10 meses. A taxa de recidiva do HCC foi de 8,3% (2 casos).Conclusão: A incidência de HCC obtida se assemelha à descrita pela literatura. Cir-rose relacionada ao vírus da hepatite C (VHC) é a maior causa de doença hepáticaterminal no nosso centro. Quatro pacientes não tiveram o diagnóstico do tumorantes do transplante e outros 4 apresentaram mais de 3 nódulos no exame, o quedemonstra a insuficiente sensibilidade das ferramentas diagnósticas convencionaispara pequenos nódulos em fígados cirróticos. No nosso estudo, 21 pacientes (87,5%)apresentavam AFP menor que 100ng/ml, o que pode questionar sua validade comoferramenta diagnostica de HCC. Apesar do longo tempo de espera pelo transplante,a recidiva neoplásica foi baixa (8,3%).
PO-317 (537)
200 TRANSPLANTES DE FÍGADO NO CEARÁ – ANÁLISE DOS RESULTA-DOSMENESCAL CV, GARCIA JHP, VASCONCELOS JBM, BORGES GCO, BRASIL IRC, COELHO GR, COSTA PEG, BARROS
MA, CAMPOS FILHO DH, VALENÇA JÚNIOR JT, ROCHA TDSHospital Universitário Walter Cantidio - Centro de Transplante de Fígado do Ceará
Introdução: O transplante de fígado é considerado atualmente o tratamento deescolha para a maioria dos pacientes portadores de doença hepática terminal, modi-ficando dramaticamente o prognóstico desses pacientes. O objetivo deste trabalhoé descrever os resultados dos primeiros 200 transplantes de fígado realizados peloCentro de Transplante de Fígado do Ceará (CTFC). Métodos: Análise retrospectivados prontuários dos pacientes submetidos a transplante de fígado no CTFC no pe-ríodo de maio de 2002 a janeiro de 2007. Resultados: Foram realizados 199 trans-plantes com doador cadáver e 1 transplante com doador vivo, sendo este transplan-te dominó. A principal indicação de transplante foi cirrose hepática por vírus dahepatite C seguida por cirrose alcoólica. Foram transplantados 145 homens e 55mulheres com idade média de 48,5 anos. Dezenove pacientes eram portadores deCHILD A, 111 CHILD B e 70 pacientes CHILD C. O MELD médio por ocasião dotransplante foi de 16. O tempo médio de isquemia fria e quente foi de 386,1 e 56,4minutos, respectivamente. Foram realizados 12 retransplantes, principalmente portrombose de artéria hepática, com alta taxa de mortalidade. Complicações vascula-res foram detectadas em 23 pacientes, sendo 19 tromboses de artéria hepática (9,5%),2 tromboses de veia porta e 2 estenoses de veia hepática. No entanto, nos últimos95 casos, a técnica da anastomose arterial foi modificada da forma sutura contínuapara sutura com pontos separados, ocasionando uma incidência de trombose arte-rial de somente 2% (P < 0,05%). Complicações biliares foram detectadas em 33pacientes. A sobrevida atuarial em 1 ano foi de 77%. Excluindo-se os retransplantes,a sobrevida atuarial em 1 ano foi de 80%. Discussão: A principais complicaçõesencontradas foram as biliares (16,5%), seguidas das vasculares (11,5%). A principalindicação de retransplante foi trombose de artéria hepática (83,3%). A anastomosearterial com pontos separados parece conferir uma menor taxa de trombose. Ospacientes submetidos a retransplante tiveram uma sobrevida menor que a sobrevidaglobal, com taxa de mortalidade de 58,3%. Conclusão: Os resultados encontradosnessa casuística inicial são compatíveis com os resultados descritos na literatura.Com a redução do número de complicações arteriais na segunda metade desteestudo e, conseqüentemente, diminuição da necessidade de retransplante, espera-se uma maior sobrevida tardia do enxerto e do paciente.
PO-318 (539)
COMPLICAÇÕES BILIARES PÓS-TRANSPLANTE NO CENTRO DE TRANS-PLANTE DE FÍGADO DO CEARÁMENESCAL CV, GARCIA JHP, VASCONCELOS JBM, COELHO GR, COSTA PEG, CAMPOS FILHO DH, ROCHA TDS,FERNANDES CR, SCHREEN D, CAVALCANTE FPHospital Universitário Walter Cantidio - Centro de Transplante de Fígado do Ceará
Introdução: As complicações biliares são comuns após o transplante hepático, ocor-rendo em 6 a 35% dos pacientes. Apesar da mortalidade ser pouco freqüente, é aprincipal causa de morbidade pós-transplante. Objetivo: Definir a incidência decomplicações biliares e avaliar os tipos, os métodos diagnósticos, as manifestaçõesclínicas e o manejo dessas complicações. Métodos: No período de maio de 2002 afevereiro de 2007, 210 transplantes de fígado foram realizados pelo nosso Centro.34 pacientes (16,2%) desenvolveram complicações biliares. A partir desta amostra,foi realizado um estudo retrospectivo e descritivo através da análise dos prontuáriosdesses pacientes. Resultados: A incidência de complicações biliares no nosso Cen-tro foi de 16,2%. 64,7% dos pacientes eram do sexo masculino e 35,3% eram dosexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 49 anos. O escore do Model ofEnd-Stage Liver Disease (MELD) médio foi 13,8 (variando de 8 - 35), enquanto oescore de Child-Pugh dos pacientes variou entre 5 e 11 (média = 8,8). O tempomédio de isquemia fria foi de 441 minutos. As técnicas utilizadas na reconstruçãobiliar destes pacientes foram a coledocostomia término-terminal sem dreno de Kerh(76,5%), a coledocostomia término-terminal com dreno de Kerh (17,6%) e a cole-docojejunostomia em Y de Roux (5,9%). A estenose biliar foi a complicação maiscomum, sendo responsável por 73,5% das complicações. Quantos às manifestaçõesclínicas, a icterícia e a dor abdominal foram as mais presentes, ocorrendo em 53% e35,3% respectivamente. A elevação da gama-GT, da fosfatase alcalina e das bilirrubi-nas ocorreu em 94%, 76,5% e 50%, respectivamente. Os principais métodos diag-
S 88 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
nósticos usados foram a CPRE (38%), a colangioressonância (29,5%) e a ultra-sono-grafia abdominal (26,5%). Os tratamentos instituídos foram a derivação biliodiges-tiva em Y de Roux (58,8%), o tratamento endoscópico com colocação de endopró-tese (17,6%), a dilatação e colocação de stent através de radiologia intervencionista(8,8%), a dilatação com balão via endoscópica com posterior colocação de endo-prótese (5,8%), a drenagem percutânea (5,8%) e a dilatação com balão via endos-cópica (2,9%). Conclusão: As complicações biliares foram as principais complica-ções pós-transplante, tendo incidência semelhante as descritas pela literatura. A es-tenose biliar foi o tipo de complicação mais comum. Em nosso centro, a cirurgia foio tratamento mais eficaz para a resolução destas complicações.
PO-319 (544)
ASSOCIAÇÃO DE BASILIXIMAB E INIBIDORES DECALCINEURINA NOTRANSPLANTE HEPÁTICOLEAL CRG, POUSA F, ROMA J, GONZALEZ AC, ZYNGIER I, PAN MCC, VEIGA ZST, PEREIRA JL, PACHECO LF, BALBI EHospital Geral de Bonsucesso
Fundamentos: Os inibidores da interleucina dois têm sido empregados no transplan-te hepático como forma de retardar ou reduzir o uso dos inibidores de calcineurina, oque é particularmente importante nos pacientes com disfunção renal prévia. O objeti-vo do trabalho foi avaliar, retrospectivamente, a eficácia do Basiliximab em retardar aintrodução dos inibidores de calcineurina no pós-operatório precoce e a incidência derejeição celular aguda nesta população, nos primeiros três meses pós-transplante.Métodos: No período de março de 2002 a julho de 2007, 237 pacientes foram sub-metidos a transplante hepático, sendo 19 previamente selecionados, de acordo com oclearence de creatinina, para receberem Basiliximab como indução da imunossupres-são. Dos 19 pacientes, 10 eram homens e 9 mulheres e a média de idade era de 49,92anos (14-63). 15 eram portadores de cirrose (8 por hepatite C, 1 por hepatite B, 1 porhemocromatose, 3 por álcool, 1 por Budd-Chiari e 1 por deficiência de α1-antitripsi-na) dentre os quais 3 apresentavam hepatocarcinoma. Quatro pacientes foram trans-plantados por insuficiência hepática fulminante (3 por hepatite auto-imune e 1 medi-camentosa), 2 destes necessitando de hemodiálise. A média da creatinina no pré-operatório foi de 1,2 (DP ± 0.82). A insuficiência renal aguda no grupo das fulminan-tes foi determinada pela própria disfunção hepatocelular. O basiliximab (20mg) foiadministrado até 6 horas após a revascularização do enxerto, e no 4° dia pós-operató-rio. Todos os pacientes receberam metilprednisolona desde o pós-operatório imedia-to. Resultados: O inibidor de calcineurina foi introduzido num intervalo de 5 a 11 diasde seguimento, em média sete dias, de acordo com a elevação das transaminases. Em15 pacientes utilizou-se tacrolimus, em 3 ciclosporina e, em um caso, o óbito ocorreuantes do início da 3ª droga. Conclusões: Observamos uma necessidade precoce deintrodução dos inibidores de calcineurina em comparação à proposta inicial da droga.Dentre os 19 pacientes avaliados, apenas 4 apresentaram um episódio de rejeiçãocelular aguda antes do 3° mês (21% de incidência).
PO-320 (547)
TRATAMENTO DA RECIDIVA DA HEPATITE C PÓS-TRANSPLANTE HE-PÁTICOLEAL CRG, POUSA F, ROMA J, GONZALEZ AC, ZYNGIER I, PAN MCC, VEIGA ZST, PEREIRA JL, PACHECO LF, BALBI EHospital Geral de Bonsucesso
Fundamentos: A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC), evoluindo paradoença hepática terminal, é hoje a PRINCIPAL indicação de transplante hepático. Omomento de se iniciar o tratamento do VHC pós-transplante varia desde o trata-mento imediatamente após o transplante até o surgimento de evidência histológicada recidiva no enxerto. O presente trabalho mostra a experiência de um programade transplante no tratamento da infecção pelo VHC após o desenvolvimento derecidiva histológica. Métodos: No período de março de 2002 a julho de 2007, ospacientes com diagnóstico de recidiva de doença (VHC) foram selecionados para otratamento, após a realização de testes de função hepática, carga viral (HCV-RNA),genótipo e biópsia hepática. O HCV-RNA era repetido na 12° semana, 24° semana,ao final do tratamento (ETR), e 6 meses após o final do tratamento (resposta viroló-gica sustentada - RVS) para os pacientes que alcançaram a ETR. O tipo de tratamen-to utilizado variou de acordo com o ano do mesmo, as características do paciente ea medicação disponível. As contra-indicações e a duração do tratamento foram se-melhantes ao tratamento pré-transplante (48 semanas para o genótipo 1 e 24 sema-nas para os demais genótipos). Resultados: Nesse período, foram realizados 237transplantes hepáticos, sendo 97 devido à infecção pelo VHC (41%). 20 pacientesforam selecionados para o tratamento: 8 completaram o esquema de tratamentoproposto, 6 permanecem em tratamento e 14 não toleraram o tratamento (8 rece-beram 2 tipos de tratamento). Esses resultados e os esquemas terapêuticos utilizadosestão na tabela abaixo.
Tratamento N ETR RVS Tratamento Suspensão Emcompleto tratamento
Ribavirina 08 - - - 6 2Interferon + Ribavirina 05 2 2 2 3 -Peginterferon + Ribavirina 15 4 4 6 5 4
Conclusões: O tratamento de pacientes transplantados com Peginterferon + Ribavi-rina é possível, e parece não induzir alterações imunológicas graves. Os resultadosdo tratamento com Peginterferon + Ribavirina nessa pequena série são promissores,com uma taxa de RVS alcançada em 67% dos pacientes que completaram o trata-mento. A ocorrência de feitos colaterais foi uma causa importante de suspensão dotratamento nesse grupo.
PO-321 (548)
RESULTADOS DO TRANSPLANTE HEPÁTICO NA ERA PRÉ E PÓS MELDGONZALEZ ACG, ROMA J, ZYNGIER, I GUEDES C, VEIGA ZST, POUSA F, PAN MCC, ENNE M, PACHECO LM,BALBI EHospital Geral de Bonsucesso
Fundamentos: A implementação do modelo para doença hepática terminal (MELD)reduziu a mortalidade na lista de espera para transplante hepático (TH) nos EstadosUnidos, e foi recentemente introduzido no Brasil. Comparamos o desfecho do THem 16 pacientes antes e após a implementação deste sistema no nosso Hospital.Consideramos que uma lista de espera extensa e a escassez de órgãos poderia signi-ficar valores de MELD mais elevados e desfechos piores durante e após o TH. Pacien-tes e métodos: Conduzimos um estudo retrospectivo com 32 pacientes submeti-dos a TH entre Julho de 2005 e Julho de 2007. 16 pacientes submetidos a TH antesda implementação do MELD (Grupo 1) foram comparados com 16 pacientes apóssua implementação (Grupo 2). Parâmetros clínicos e bioquímicos foram registrados.Os desfechos foram definidos como a média da pontuação MELD (real e prioriza-do), percentual de hemotransfusões e extubações no centro cirúrgico (CC), médiade dias no CTI e mortalidade (Tabela 1). Resultados: Observamos na Tabela 1, ummaior número de hemotransfusões no segundo grupo, menor índice de extubaçãono CC, maior tempo de permanência em CTI assim como maior mortalidade. Pode-mos verificar pequena diferença no MELD real entre os dois grupos. Porém, quandolevamos em consideração situações excepcionais (carcinoma hepatocelular, poli-neuropatia amiloidótica familiar e síndrome hepatopulmonar) com MELD prioriza-do, a diferença aumenta significamente.
Tabela 1 – Parâmetros analisados nos Grupos 1 e 2
MELD Hemotransfusão Extubação Tempo Óbito Real Priorizadono CC no CTI
Group 1 13,26 18,7% 75% 6,05 0Group 2 16,5 38 56,25% 43,7% 10 25%
Conclusão: Nosso estudo sugere que a implementação da pontuação MELD au-mentou a morbidade e a mortalidade em pacientes submetidos a TH. Aqueles compatologias priorizadas pelo MELD (87,5%), foram predominantemente beneficia-dos por esta mudança. Esse achado deve ser analisado no contexto de um centrocom uma grande lista de espera e escassez de órgãos, levando à seleção de pacien-tes com MELD elevados.
PO-322 (561)
TRANSPLANTE HEPÁTICO A PARTIR DE DOADOR CADÁVER COM SO-ROLOGIA POSITIVA PARA DOENÇA DE CHAGASOLIVEIRA E SILVA A DE, WAHLE RC, SOUZA EO, MANCERO JPM, LARREA FIS, PERÓN JR G, RIBEIRO JR MAF,COPSTEIN JLM, GONZALEZ AM, D’ALBUQUERQUE LACCentro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: As elevadas taxas de mortalidade nos pacientes em lista de esperapara transplante hepático tem motivado o uso de “fígados marginais”, entre osquais estão inclusos fígados de doadores cadáveres com sorologia positiva paradoença de chagas. Métodos: Neste trabalho discutiremos a realização de transplan-te ortotópico de fígado em pacientes com doença hepática avançada (Child C) comutilização de fígado de doadores com sorologia positiva para chagas. Os transplan-tes foram realizados de novembro de 2002 a janeiro de 2005, e os pacientes recebe-ram tratamento profilático com benznidazol por sessenta dias como recomendadopelo consenso brasileiro de doença de chagas. Resultados: Os procedimentos cirúr-gicos não apresentaram problemas técnicos e todos os pacientes receberam altahospitalar. Cinco deles não apresentaram efeitos colaterais que exigissem interrup-ção do tratamento. Quatro dos pacientes estão clinicamente bem um ano após otransplante, com sorologia negativa para doença de chagas. Dois pacientes morre-ram um deles seis meses após a cirurgia por sepse de origem biliar e outro porcomplicação de tuberculose pulmonar. Ambos apresentavam sorologia negativa paradoença de chagas. Conclusões: Estes resultados sugerem que o transplante hepáti-co com doadores com sorologia positiva para doença de chagas seguindo o trata-mento profilático preconizado é uma importante alternativa terapêutica para doen-ça hepática avançada.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 89
PO-323 (562)
O USO DA ARTÉRIA ESPLÊNICA PARA RECONSTRUÇÃO ARTERIAL NOTRANSPLANTE HEPÁTICO INTER-VIVOSOLIVEIRA E SILVA A DE, WAHLE RC, SOUZA EO, MANCERO JPM, LARREA FIS, PERÓN JR G, RIBEIRO JR MAF,COPSTEIN JLM, GONZALEZ AM, D’ALBUQUERQUE LACCentro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: A reconstrução arterial no transplante hepático com doador vivo oucadáver é de fundamental importância para o sucesso do procedimento. Por vezes,a artéria hepática do receptor, que representa a primeira escolha, apresenta limita-ção de fluxo ou mesmo dissecção da camada íntima pela manipulação. Este estudovisa analisar a possibilidade de uso da artéria esplênica para arterialização do enxertoem transplante hepático inter-vivos. Métodos: No período entre agosto de 2004 eabril de 2006 foram realizados trinta e um transplantes hepáticos inter-vivos adulto-adulto. Em vinte e sete pacientes (grupo A) a artéria hepática direita ou esquerda foiutilizada para arterialização do enxerto, enquanto que em quatro casos (grupo B) foiutilizada a artéria esquerda. Resultados: O média valor do Meld dos pacientes foidezessete (17,2 para o grupo A e 15,2 para o grupo B) e variou entre sete e vinteoito. Pancreatite, infarto esplênico e outras complicações relacionadas com a ligadu-ra da artéria esplênica não foram observados. Em dois casos (6,4%) foram observa-das complicações arteriais, ambos em pacientes do grupo A: uma trombose obser-vada no segundo dia pós operatório e uma estenose de artéria. A mortalidade geralfoi de 25,8%, e complicações infecciosas representaram a principal causa de óbito(1 no grupo B). Conclusões: A artéria esplênica é uma alternativa prática e segurapara reconstrução arterial em transplante hepático inter-vivos, quando a artéria he-pática não é adequada e na presença de hipertensão portal com esplenomegalia.
PO-324 (563)
ESTUDO DAS COMPLICAÇÕES EM DOADORES DE LOBO HEPÁTICODIREITO PARA TRANSPLANTE INTERVIVOS DE FÍGADOOLIVEIRA E SILVA A DE, PADILLA MJM, RIBEIRO JR MAF, PERON JR, G, COPSTEIN MJL, SERPA LF, GONZALEZ AM,SÁ GPD, DAZZI FL, D’ALBUQUERQUE LACCentro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: O Doador vivo de lobo hepático direito (LHD) é uma opção para ospacientes em lista de espera com piora da função hepática o aparecimento de carci-noma hepato celular. Uma série de debates éticos em relação a esse tipo de procedi-mento foi levantada, principalmente no que diz respeito aos riscos de morbimorta-lidade para o doador. Apresentamos neste trabalho um estudo das complicações de68 hepatectomias direitas para transplante intervivos realizadas de 1999 a 2007.Métodos: A seleção dos doadores segue critérios rígidos preestabelecidos, onde sãosubmetidos à avaliação laboratorial, radiológica, psicológica, clínica e cirúrgica. Osdoadores foram 46 homens e 28 mulheres, com idade média de 31 anos. Através deum estudo longitudinal prospectivo foram coletados dados referentes a complica-ções ocorridas nos períodos perioperatório e pós-operatório (90 dias), os 68 pacien-tes foram submetidos a hepatectomia direita pela mesma equipe cirúrgica e seguin-do técnica estabelecidas pela literatura. Estes resultados foram agrupados utilizan-do-se uma classificação padronizada de Clavien. Resultados: No período periopera-tório, 89,18% (61) dos pacientes não tiveram complicações; ocorreu lesão de viabiliar em 4,05% (3) das cirurgias; lesão de veia hepática em 2,7% (2); lesão de plexobraquial em 1,35% (1), estenose de veia porta em 1,35% (1). No período pós-operatório, 70,27% (52) dos doadores não apresentaram qualquer complicação.13,50% (10) apresentaram fístula biliar; seroma em 6,75% (5); Hérnia Incisional em2,70% (2); Pancreatite em 2,70% (2) e outras complicações em 4,05%. Dois pa-cientes apresentaram sangramento sendo reoperados no primer PO. Um pacientenecessito ser reoperado com 60 dias para correção de fístula biliar. Os pacientespermaneceram internados em UTI por 1,18 dias e receberam alta no 8° PO emmédia. Não houve óbito na casuística. Conclusões: A hepatectomia direita paradoação de fígado para transplante intervivos é um procedimento seguro para odoador. As complicações em sua maioria são de fácil resolução através de procedi-mentos não cirúrgicos na quase totalidade dos casos.
PO-325 (564)
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HEPATECTOMIAS DIREITAS PARATRANSPLANTE DE FÍGADO INTERVIVOS COM OU SEM A INCLUSÃODA VEIA HEPÁTICA MÉDIAOLIVEIRA E SILVA A DE, PADILLA MJM, RIBEIRO JR MAF, PERON JR G, COPSTEIN MJL, SERPA LF, GONZALEZ AM,SÁ GPD, DAZZI FL, D’ALBUQUERQUE LACCentro Terapêutico Especializado em Fígado (CETEFI), Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP
Fundamentos: Com a evolução do transplante hepático intervivos para adultos, no-tou-se que o lobo esquerdo, utilizado em crianças, não atingia um volume satisfatórioem muitos casos. Iniciou-se então a utilização do lobo hepático direito (LHD) quecorresponde a aproximadamente 2/3 do volume hepático total. Alguns centros in-cluem a veia hepática média juntamente com o enxerto, enquanto outros optam pornão retirá-la. Comparamos múltiplos fatores de dois grupos de doadores hepáticos delobo direito, com ou sem inclusão da veia hepática média (VHM) juntamente com oenxerto. Métodos: Foram realizadas 68 hepatectomias direitas para transplante inter-
vivos de 1999 a 2007, sendo 39 sem a inclusão da VHM (grupo A) e 29 com a inclusãoda VHM (grupo B). Através de um estudo longitudinal prospectivo, forma coletadosdados referentes ao tempo de internação, tempo cirúrgico, complicações pós-opera-tórias, peso do enxerto, peso proporcional do enxerto para o receptor, utilização dehemoderivados e evolução laboratorial no 1º dia, 3º dia e no dia da lata hospitalar dosdois grupos e comparados. Resultados: O estudo demonstrou que os gripos A e Bforma semelhantes em relação aos dados gerais (idade, sexo e peso). Não foi encon-trada diferença estatisticamente significativa em nenhum dos parâmetros compara-dos. Conclusões: A inclusão ou não da VHM na ressecção do LHD do doador paratransplante intervivos não demonstrou diferença nos diversos parâmetros estudados,tornando a opção por uma ou outra técnica uma decisão mais relacionada à anatomiavascular e biliar do fígado do doador e a experiência da equipe com cada método.
DiversosPO-326 (51)
HEPATITE GRANULOMATOSA POR MONONUCLEOSE INFECCIOSACRÔNICA – RELATO DE CASOGIORDANO-VALÉRIO HM, GABURRI PD, MOUTINHO AC, COSTA MCR, MELLO ESCentro de Hepatologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Minas Gerais
Homem, 39 anos, natural de Juiz de Fora procurou serviço médico por febre há vintedias, mialgia e inapetência. Antecedentes: diabético há 15 anos. Mononucleose infec-ciosa, há 17 anos, ocasião em que esteve internado por febre persistente, icterícia,inapetência e emagrecimento de 40kg. Exame físico: bom estado geral, ictérico (+/4+), febril (38,5ºC), taquipneico, taquicárdico, hidratado, com “rash” cutâneo emtronco e membros inferiores, orofaringe com hiperemia, sem adenomegalias, esterto-res crepitantes em bases pulmonares, hepatomegalia e esplenomegalia, sem ascite,sem sinais de doença hepática crônica. Durante internação evoluiu com piora da icte-rícia, dispnéia discreta nos primeiros três dias, com dois a três picos de febre baixa pordia sem horário preferencial, com edema de membros inferiores +/4+, sem dor abdo-minal, com boa aceitação da dieta oral. Perdeu 10kg em 30 dias e a febre persistiu por30 dias. Foram administrados insulina regular via subcutânea conforme glicemia capi-lar, paracetamol, vitamina K e ticarcilina/sulbactan via intravenosa por 10 dias. Exa-mes: hemograma com leucopenia (3700) 10% bastões, 38% neutrófilos, 37% linfóci-tos e 5% linfócitos atípicos, plaquetopenia (60.000), AST 331, ALT 232, FA 450, γGT1.718; BT 6,3/BD 5,2; PT 3,3; albumina 2,0; RNI 1,48; TAP 56,8%; Proteína C Reativa61,84, três hemoculturas negativas. Sorologias de hepatite A, B, C e dengue foramnegativas. Toxoplasmose: IgM(-) e IgG(+), citomegalovírus IgM(-) IgG(+). Os marca-dores sorológicos para vírus Epstein-Baar apresentaram ascensão dos títulos tanto dafração IgM (reagente > 20): 27; 32 e 71, como da fração IgG (reagente > 20): 332,377 e 381. Ultra-sonografia: esteatose hepática moderada, esplenomegalia leve. Bióp-sia hepática: presença de leve infiltrado inflamatório misto periportal e esteatose ma-crogoticular, numerosos pequenos granulomas epitelióides ao longo do lóbulo, pes-quisa de BAAR e fungos negativa. Bilirrubinostase citoplasmática e canalicular presen-tes. Após 1 mês do início dos sintomas paciente evoluiu bem, sem febre, com melhorada icterícia, sem dispnéia, melhora do apetite, peso estável, sem mialgia. Realizouexames após 30 dias: AST 60UI; ALT 88UI; γGT 157; Bilirrubina total 1,2 TAP 93%, RNI1,04, Proteína C Reativa negativa.
PO-327 (57)
ESTUDO PROSPECTIVO DAS ALTERAÇÕES HEPÁTICAS EM GESTAN-TES INTERNADAS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE BELÉM-PARÁCONDE SRSS1,2, BARBOSA MSB1,2, MÓIA LJMP1,2, SOARES MCP3, LIMA SB1, SOUSA SP1
1. Universidade Federal do Pará; 2. Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; 3. Instituto Evandro Chagas;Belém, Pará
As doenças hepáticas na gravidez constituem um problema tanto para o obstetraquanto para o clínico, particularmente a grávida ictérica, influenciando negativa-mente no prognóstico materno-infantil. Objetivos: Determinar a freqüência dasalterações dos testes hepáticos em gestantes e avaliar o prognóstico materno-infan-til. Métodos: No período de março de 2005 a fevereiro de 2006, foram avaliadasgrávidas internadas na enfermaria de alto risco da Santa Casa de Misericórdia doPará, sendo em todas realizados exames de AST, ALT, GGT e bilirrubinas. Naquelasque apresentavam qualquer alteração, sua investigação era ampliada com examesbioquímicos, sorológicos, culturas de material biológicos e métodos de imagensnecessários para elucidação diagnóstica e acompanhamento de sua evolução. Apósesta fase, as pacientes foram divididas no grupo I (doenças relacionadas à gestação)ou no grupo II (doenças não relacionadas à gestação). Resultados: Das 480 pacien-tes avaliadas, incluíram-se 308 (64,2%), sendo que, destas, 93 (30,2%) possuíamtestes alterados. Destas, 42 (45,2%) foram distribuídas no grupo I (45,2%) e 51(54,8%) no grupo II. No grupo I, a doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG)foi a patologia mais freqüente, encontrada em 71,4% (30/42) dos casos; enquantoque no grupo II, a maior parte das patologias relacionava-se às doenças infecto-parasitárias, com 58,8% (30/51), sendo a infecção do trato urinário a mais freqüen-te com 33,3% (10/30). A maioria das pacientes encontrava-se no terceiro trimestre,com 85,7% (36/42) e 77,8% (40/51) nos grupos I e II, respectivamente. A evolução
S 90 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
para parto ocorreu em 78,6% (33/42) no grupo I e em 27,5% (14/51) no grupo II,havendo nítida significância estatística (p = 0,0001). As complicações fetais foramobservadas em 57,6% dos casos (19/33) no grupo I e 35,7% no grupo II, emborasem diferença significante entre ambos. Conclusão: As alterações hepáticas ocorre-ram em 30,2% (93/308) das gestantes, sendo a maioria causada por doenças nãorelacionadas à gestação (54,8%) e houve uma tendência de maiores complicaçõesfetais no grupo de pacientes com doenças relacionadas à gravidez.
PO-328 (58)
EPIDEMIOLOGIA DO CENTRO DE HEPATOLOGIA DA SANTA CASA DEJUIZ DE FORA APÓS UM ANO DE CRIAÇÃO - ANÁLISE DE 205 PACIEN-TESGABURRI PD, GIORDANO-VALÉRIO HM, MOUTINHO AC, CORTES-FERNANDES GCentro de Hepatologia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, MG
Há um ano, o Centro de Hepatologia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Foraatende pacientes encaminhados para investigação diagnóstica e tratamento de he-patopatias pelo Sistema Único de Saúde. Neste período, foram avaliados 205 pa-cientes, 66,5% do sexo masculino e 33,5% do feminino. A média de idade encon-trada foi de 46,5 anos, e variou de 6 a 87 anos. Em 24% dos pacientes foi encontra-do algum marcador sorológico para hepatite B e 41% dos pacientes apresentaramsorologia positiva para hepatite C. Na avaliação dos pacientes com marcadores dahepatite B, foram encontradas as seguintes doenças: hepatite B crônica em 41%pacientes, hepatite B aguda em 12%, hepatite B curada em 23%, co-infecção HIV eHBV em 4%, associação hepatite B e NASH em 4%, cirrose hepática por HBV em 8%e cirrose hepática por HBV + álcool em 8% pacientes. Na avaliação dos pacientescom anti-HCV(+), 50% têm hepatite C crônica, 9% têm cirrose por VHC, 7% cirrosepor VHC + álcool, 25% têm co-infecção HIV + HCV, 2% com hepatite C crônica +NASH e 7% apresentaram-se sem sinais de doença hepática e RNA-HCV qualitati-vo(-) já na primeira avaliação. O estudo da genotipagem do vírus C mostrou: 81%genótipo 1 e 19% genótipo 3. O estudo histológico dos pacientes RNA-HCV(+) eelevação de aminotransferases evidenciou ausência de fibrose em 50% dos casos.Quarenta por cento dos pacientes relataram história de etilismo, com média deconsumo de diário de 80g de álcool. Do total de pacientes, 6,5% têm cirrose porálcool e 1,9% têm hepatopatia alcoólica. Em 10,2% dos pacientes foi diagnosticadadoença hepática gordurosa não alcoólica, dos quais 64% têm esteato-hepatite erestante é portador de cirrose hepática por NASH. Em 1% dos pacientes foi diagnos-ticada hepatite aguda pelo vírus Epstein-Baar com boa evolução clínica. Em 2% dospacientes foi diagnosticada hepatite aguda medicamentosa, uma paciente apresen-tou a forma fulminante após uso de amitriptilina e evoluiu bem. Em 2% dos pacien-tes foi diagnosticada hepatite A aguda, 2,8% doença biliar extra-hepática, 1% Sín-drome de Gilbert, 3,7% com nódulo hepático e 3,7% permanecem em investigaçãode hepatopatia crônica e/ou esplenomegalia a esclarecer.
PO-329 (107)
DETECÇÃO DO VÍRUS DA HEPATITE E (HEV) EM SUÍNOS NO BRASILDOS SANTOS DRL1, VITRAL CL1, DE PAULA VS1, GASPAR AMC1, SADDI TM2, MESQUITA JR NC2, GUIMARÃES
FR2, CARAMORI JR JG2, SOUTO FJS2, PINTO MA1
1. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro; 2. UFMT, Cuiabá, Mato Grosso
Fundamentos: Tem sido demonstrada alta prevalência de anti-HEV em suínos pelomundo, inclusive Brasil (Rio de Janeiro e Mato Grosso). Porém, ainda não houveisolamento do HEV em nosso meio. Dois estudos de desenho semelhante foramrealizados em 2005-2006 nesses estados, abordando suínos recém-nascidos e se-guindo-os com coleta de sangue periódica para surpreender infecção natural peloHEV. Métodos: No RJ, 26 leitões de 5 matrizes diferentes anti-HEV IgG+ foram se-guidos do nascimento até 22 semanas de vida com coleta de sangue periódica(cada 15 dias) para detecção de anti-HEV. No MT, 47 leitões de 6 matrizes anti-HEV+foram seguidos após o desmame (4 semanas de vida) com mesma periodicidade.Anti-HEV foi pesquisado por ELISA in-house usando antígenos recombinantes cedi-dos pelo CDC (EUA). Em caso de soroconversão, tentativa de extração de DNA porRT-PCR (amplificação parcial de ORF1 e ORF2) era realizada na amostra imediata-mente anterior àquela que soroconverteu. Também foram colhidos pools de fezesde suínos das mesmas fazendas para extração de RNA. Fragmentos de RNA obtidosforam seqüenciados (3730 DNA Analyzer, Applied Byosystems). As seqüências obti-das foram comparadas entre si e com outras seqüências de HEV disponíveis noGenBank (DNAstar Inc., Madison, WI, USA). Resultados: Foi constatada sorocon-versão em 23/26 leitões no RJ e em 8/47 de MT. Foram extraídos seguimento de242 pb da ORF1 e de 348 pb da ORF2 de RNA-HEV de 1 soro e de 1 pool de fezes doRJ. Das amostras do MT, 3 soros e 2 pools de fezes foram positivos para seqüênciasde 348 bp da ORF2. A análise filogenética das amostras mostrou grande proximida-de filogenética entre elas, estando todas no genótipo III, como usualmente vistopara HEV suíno. Conclusão: Esta é a primeira vez que seqüências genômicas de HEVsão isoladas no Brasil, seja de animais ou humanos. A proximidade filogenética entreas seqüências dos dois estados e a inclusão no genótipo III torna mais robustos osachados aqui relatados e confirma que o HEV circula intensamente em rebanhossuínos no país. O potencial zoonótico do HEV tem sido ressaltado em vários relatos,justificando atenção de parte dos médicos em nosso meio.
PO-330 (135)
SÍNDROME DE ROTOR: RELATO DE CASOMAZO DFC, CARRILHO FJ, CANÇADO ELRDisciplina de Gastroenterologia Clínica da FMUSP, São Paulo
Introdução: A síndrome de Rotor é doença hereditária rara do metabolismo dabilirrubina, caracterizada por hiperbilirrubinemia conjugada crônica, benigna, semoutras evidências de colestase. A síndrome de Dubin-Johnson também compartilhaessas características, no entanto, há diferença no exame histológico hepático, ondese detectam depósitos de pigmento nos hepatócitos, e nos achados da cintilografiabiliar. Descreve-se paciente com provável síndrome de Rotor. Caso clínico: JAR,masculino, 46 anos, com icterícia e colúria há 14 anos, sem outros sintomas relacio-nados à hepatopatia e sem antecedente familiar de icterícia ou doença hepática.Como comorbidades, referia convulsões há 4 anos, em tratamento com fenitoína eclonazepam, e hipertensão arterial há 2 anos, em uso de atenolol e ramipril. Todas asmedicações iniciadas após o início do quadro. Colecistectomizado há 6 anos porcolelitíase. Exames bioquímicos evidenciavam bilirrubina total de 14,5mg/dL, comfração direta de 9,0mg/dL e ALT 45U/L (VR: < 41U/L). O restante da bioquímicahepática, perfil de ferro, hormônios tireoidianos, eletrólitos e provas de hemóliseforam normais. Sorologias virais e auto-anticorpos hepáticos estavam negativos. Oexame ultra-sonográfico de abdome revelou moderada esteatose, sem dilatação devias biliares, com exame ultra-sonográfico endoscópico normal. Revisão da biópsiahepática realizada há 2 anos confirmou esteatose macrogoticular grau 3. A cintilo-grafia de fígado e vias biliares com 99mTc-DISIDA mostrou déficit acentuado deconcentração do radiofármaco pelo parênquima hepático, com ausência de suaeliminação para o sistema biliar e presença de excreção renal do mesmo, com acen-tuada persistência de atividade de “pool” sanguíneo. Não foram identificados as viasbiliares intra e extra-hepáticas e o intestino delgado no estudo de até 4 horas. Diag-nóstico diferencial: Foram excluídos pela avaliação clínica e laboratorial infecções,distúrbios metabólicos, anormalidades das vias biliares e hepatotoxicidade por dro-gas. Conclusão: Com a exclusão dos diagnósticos diferenciais, associada à ausênciade colestase, anormalidades das vias biliares ou interferência de medicações, o qua-dro de hiperbilirrubinemia direta associada à biópsia hepática sem pigmentos e osachados da cintilografia biliar são fortemente sugestivos de síndrome de Rotor.
PO-331 (150)
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM HEPATITES VIRAIS: RESPONSABILI-DADE SOCIALPINTO L1, ALMEIDA EP2, PITTELLA AM3, SILVA FA4, RODRIGUES C1, ABREU K1, LEITE NV1, ANTUNES DP1
1. Médica do Ambulatório de Hepatologia do Hospital Quinta D’Or. 2. Enfermeira Coordenadora do Ambulatóriodo Hospital Quinta D’Or. 3. Clínica Médica/Hepatologia do Hospital Quinta D’Or - UNIGRANRIO. 4. Radiologia doHospital Quinta D’Or – UNIGRANRIO
Hospital Quinta D’Or – Rio de Janeiro
Fundamentos: As hepatites virais constituem um grave problema de saúde pública,sobretudo as causadas pelos vírus B e C. O fornecimento de dados para a VigilânciaEpidemiológica é feito através de um sistema universal de notificação compulsóriade casos suspeitos. Este número não reflete a real incidência das infecções, dado opercentual significativo de portadores assintomáticos ou oligossintomáticos, dificil-mente detectáveis. O objetivo do trabalho é notificar os casos de pacientes comhepatites virais visando determinar o perfil dos agentes etiológicos, identificar osprincipais fatores de risco e ampliar as estratégias de prevenção. A análise destesdados contribuirá para que os profissionais de saúde estejam aptos ao diagnóstico etratamento adequados e ao desenvolvimento de programas de prevenção e contro-le. Métodos: A rotina do Ambulatório de Hepatologia do Hospital Quinta D’Orcaracteriza-se pelo levantamento retrospectivo e prospectivo de todos os prontuá-rios dos pacientes atendidos desde março de 2004, realizando as respectivas notifi-cações, registros e repasses. Estratégia utilizada: 1) Preencher a ficha de investigaçãoepidemiológica para os pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de he-patite viral; 2) Carimbar o prontuário identificando-o como NOTIFICADO; 3) Inseriros dados desta notificação em um banco de dados criados pelos profissionais doAmbulatório 4) Entregar a notificação original ao Serviço de Infecção Hospitalar.Resultados: Temos observado assimilação das práticas da Vigilância Epidemiológi-ca, permitindo avançar no propósito inicial de manter o Protocolo de NotificaçãoCompulsória em Hepatites Virais, como prática e exigência. Conclusão: A notifica-ção compulsória é um dever dos profissionais de saúde, às vezes negligenciado pelodesconhecimento de sua importância. É fundamental o desenvolvimento de traba-lhos educacionais para sensibilizar os profissionais e a sociedade. A notificação com-pulsória é uma responsabilidade social.
PO-332 (159)
EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS HEPÁTICAS-IMPORTÂNCIA DO CEN-TRO ESPECIALIZADOGABURRI PD, GIORDANO-VALÉRIO HM, MOUTINHO AC, CORTES-FERNANDES G, DELGADO AA, TOSTES LMCentro de Hepatologia da Santa Casa de Misericórdia-Juiz de Fora-MG
Estudo prospectivo durante um ano, avaliou 207 pacientes, encaminhados paraanálise de enfermidade hepática a um Centro Especializado. Dos pacientes 101 (49%)
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 91
eram homens, com média de idade de 48 anos. Em 37 (18%) foram identificadosmarcadores sorológicos para hepatite B (HB); 78 (38%) tinham sorologia positivapara hepatite C (HC). As seguintes formas da doença no grupo estudado foram: HBcrônica em 13 (35%), HB aguda em 3 (8,1%), HB curada (cicatriz sorológica) em 10(27%), co-infecção HIV e HBV em 2 (5,4%), associação HB e Doença Hepática Gor-durosa Não Alcoólica (DHGNA) em 1 (2,7%), cirrose hepática por HBV em 2 (5,4%),cirrose hepática por HBV+álcool em 3 (8,1%), anti-HBc (+) isolado em 1 (2,7%) eco-infecção HBV+HCV em 2 (5,4%). Os anti-HCV (+) tiveram sua avaliação pelaPCR; 34 (43,5%) tinham HC crônica, 11 (14,1%) cirrose por VHC, 5 (6,4%) cirrosepor VHC+álcool, 18 (23%) co-infecção HIV+HCV, 1 (1,3%) com HC crônica + DHG-NA, cirrose por VHC+DHGNA em 1, hepatite C aguda em 1 paciente e 5 (6,4%) semqueixas, com RNA-HCV negativo. A genotipagem do vírus C mostrou: 77% do tipo1 e o restante tipo 3. Em quarenta e dois pacientes com suspeita clínica de hepatitecrônica foi solicitada a realização da biópsia hepática. A histologia evidenciou (clas-sificação Metavir): F0 em 60% e F4 em 25%. Sessenta e oito (33%) pacientes erametilistas. Em 20 (9,7%) pacientes, havia DHGNA sem comorbidades; destes: 8 ti-nham esteato-hepatite, 6 esteatose hepática e 6 já com cirrose. Houve 2 casos dehepatite aguda pelo vírus Epstein-Baar. Cinco pacientes (2,5%) apresentaram hepa-tite aguda medicamentosa, um dos quais na forma fulminante, 3 (1,5%) pacientesapresentaram-se com hepatite A aguda. Os demais casos eram: um de Cirrose Hepá-tica criptogenética associada a síndrome de Turner, dois casos (1%) de síndrome de“Overlapping”, um de síndrome de Budd-Chiari com cirrose, Síndrome de Gilbertem 1 (0,5%) paciente e 16 (7,8%) têm hepatopatia crônica e estão em investigaçãodiagnóstica. O restante dos pacientes (13/6,2%) apresentava doença biliar extra-hepática ou doenças cuja etiologia hepática foi excluída. Conclusão: A assistênciade doentes portadores de doenças hepáticas por um centro especializado, permitemaior acurácia no diagnóstico e de conduta terapêutica mais apropriada.
PO-333 (179)
MARCADORES VIRAIS EM HEMOCENTRO - EVOLUÇÃO DE UMA DÉ-CADATOVO CV, ALMEIDA PRL, BALSAN AM, WINCKLER MA, CARVALHO V, GALPERIM BHospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre-RS
Fundamento: Tem sido relatado na literatura que a prevalência de indivíduos soro-positivos para vírus de hepatite C reduziu-se drasticamente entre a população dedoadores de sangue. Objetivo: Avaliar as taxas de prevalência, em Banco de San-gue, dos marcadores de hepatite B, C e HIV. Material e métodos: Foram revisadosretrospectivamente os marcadores de hepatite B (HBsAg e Anti-HBc), C (anti-HCV) eresultado do teste anti-HIV de todos os doadores do Banco de Sangue do HospitalNossa Senhora da Conceição, o maior hospital do Sistema Único de Saúde do Esta-do do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre o ano de 1993 e 2007.Resultados:
Ano 1993/1994n (%) 1997n (%) 1999n (%) 2001n (%) 2003n (%) 2005 n (%) 2006n (%) 2007*n (%)
Doações 37.335 18.284 16.279 17.255 18.102 18.417 17.964 8.443Anti-HCV 649 (1,74) 148 (0,81) 124 (0,76) 117 (0,68) 92 (0,51) 66 (0,36) 57 (0,3!) 35 (0,41)Anti-HIV - 44 (0,24) 32 (0,17) 34 (0,20) 33 (0,18) 24 (0,13) 30 (0,16) 12 (0,14)HBsAg - 60 (0,33) 48 (0,26) 45 (0,26) 47 (0,26) 25 (0,13) 31 (0,17) 13 (0,15)Anti-HBc - 859 (4,70) 548 (2,3) 479 (2,78) 396 (2,19) 406 (2,20) 401 (2,23) 178 (2,11)
* = análise do primeiro semestre
Conclusões: Houve nítida diminuição nas prevalências de anti-HCV, anti-HIV, HBsAge anti-HBc. As causas destas modificações são especulativas, podendo o menor nú-mero de casos ter ocorrido em decorrência das campanhas governamentais de orien-tação à população bem como da exclusão sistemática do pool de indivíduos soro-positivos do cadastro de doadores.
PO-334 (205)
AVALIAÇÃO DO TESTE DE TOLERÂNCIA ORAL À GLICOSE EM PACIEN-TES COM A FORMA HEPATO-ESPLÊNICA DA ESQUISTOSSOMOSEMANSÔNICATENÓRIO PA, ROCHA LG, DOMINGUES ALC, PERNAMBUCO JRHospital das Clínicas da UFPE – Recife-PE
Fundamentos: A associação do Diabetes Mellitus (DM) com Cirrose é documenta-da em numerosos estudos. Contudo, são escassos os trabalhos que associam Esquis-tossomose Hepato-Esplênica (EHE) e DM. A intolerância à glicose ocorre freqüente-mente em pacientes com cirrose hepática. Em 15-30% dos pacientes com cirrose,achados clínicos e laboratoriais indicam diabetes com hiperglicemia de jejum. Odesenvolvimento de DM insulino-dependente em ratos não obesos tem sido de-monstrado na infecção pelo Schistosoma mansoni. O objetivo desse estudo se cons-tituiu na avaliação da intolerância à glicose, através da análise do teste de tolerânciaoral a glicose (TTOG) em pacientes com EHE. Pacientes e métodos: Estudo pros-pectivo tipo coorte incluiu 39 pacientes (21 mulheres e 18 homens) portadores deEHE acompanhados no ambulatório de gastroenterologia do Hospital das Clínicasda UFPE. Dados coletados entre agosto de 2006 e julho de 2007. Critérios de exclu-
são: DM, esteatose hepática, sorologia positiva para vírus B e/ou C, alcoolismo,doença auto-imune e hemocromatose (20 pacientes foram excluídos). O diagnósti-co de intolerância à glicose foi baseado no TTOG de acordo com critérios da Orga-nização Mundial de Saúde. O perfil de tolerância à glicose em portadores de EHE deacordo com critérios da Associação Americana de Diabetes: glicemia de jejum (GJ)alterada (entre 100 e 126mg/dL); GJ normal (70 a 100mg/dL) e alteração diabética,GJ ≥ 126mg/dL. TTOG é considerado diagnóstico de DM se ≥ 200mg/dL; e tolerân-cia diminuída à glicose se ≥ 140 e < 200. Resultados: Dos 19 pacientes com EHE, 5(26,32%) apresentaram ao TTOG diagnóstico de DM [entre eles 1 (20%) apresen-tou GJ alterada e 4 (80%) GJ normal]; 7 (36,84%) tiveram tolerância diminuída àglicose [2 (28,57%) com GJ alterada e 5 (71,43%) com GJ normal]; 7 (36,84%)glicemia normal. Conclusão: Os dados obtidos apontam que de forma semelhanteao que ocorre com os cirróticos os pacientes esquistossomóticos parecem ter ten-dência ao desenvolvimento de DM e intolerância a glicose.
PO-335 (228)
DOENÇA POLICÍSTICA HEPÁTICA HEREDITÁRIA COMPLICADA PORINFECÇÃO CÍSTICAESCOBAR FA, FRÓES RSB, MORAES GF, TEIXEIRA EFL, CAMPOS ESO, PORTO CD, TEIXEIRA RS, GUARISCHI ASeção de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro
Introdução: A doença hepática policística autossômica dominante (DHPAD) é emgeral assintomática e o diagnóstico acidental em sua maioria. Pode apresentar com-plicações como ruptura, infecção, hemorragia, degeneração maligna e efeito demassa. Objetivo: Relatar um caso de DHPAD complicada por infecção em cistoúnico. Relato: AHFN, 61 anos, feminino, branca, com febre intermitente há 1 mês,icterícia e perda ponderal. Dois irmãos com doença policística hepática. Exame físi-co normal. Aumento de ALT, AST e BT. Tomografia computadorizada de abdome(TCA) mostrou múltiplos cistos hepáticos simples, de tamanho e formas variáveis.Evoluiu com resolução espontânea da icterícia e aumento de γ-GT, FA e proteína Creativa. Sorologias virais, hemoculturas e FAN negativos. Alfa-feto proteína e CEAnormais. CA 19-9 = 1903U/mL. PET-Scan revelou cisto hepático hipercaptante emsegmentos V e VIII, sugerindo neoplasia ou infecção. Iniciados ceftriaxone e metro-nidazol, com melhora da febre. Laparoscopia exibiu vesícula biliar escleroatróficacom bloqueio pelo cólon transverso que, à laparotomia, revelou fístula colecistocó-lica. Realizadas rafia do cólon, colecistectomia e hepatectomia de segmento IV, quecontinha o cisto hepático hipercaptante, cuja a congelação não revelou malignida-de. A paciente evoluiu bem, com queda do CA 19-9 e afebril. Discussão: A DHPADpode relacionar-se à doença policística renal. Pode haver dor abdominal, náuseas,saciedade precoce e alterações de enzimas hepáticas. A FA aumenta em 30-47% e aγ-GT em 60-70%. À ultra-sonografia de abdome (USG) os cistos mostram-se anecói-cos, com paredes finas. A TCA revela cistos de paredes bem definidas, sem preenchi-mento por contraste. Espessamento de parede, septação, nível líquido, alteraçãosonográfica, ou rápido crescimento podem ser sinais de complicações. No casorelatado, tanto a TCA quanto a USG não evidenciaram sinais de complicações. En-tretanto, o PET-Scan revelou hipercaptação do marcador em um único cisto, nãopodendo diferir entre neoplasia ou infecção. Embora a fenestração tenha eficáciasimilar, optou-se pela hepatectomia devido à possibilidade de neoplasia. Conclu-são: A USG e a TCA são os métodos de escolha para o diagnóstico da DHPAD. Noentanto, o diagnóstico de suas complicações pode necessitar de outros métodoscomplementares, como o PET-Scan. A hepatectomia é uma abordagem segura edefinitiva para a infecção de cisto único.
PO-336 (229)
DOENÇA POLICÍSTICA RENAL AUTOSSÔMICA DOMINANTE COMCOMPROMETIMENTO HEPÁTICO SINTOMÁTICOFRÓES RSB, MORAES GF, TEIXEIRA EFL, CAMPOS ESO, ESCOBAR FA, PORTO CD, MARCHON CR, COSTA JRBSeção de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro
Introdução: A Doença Policística Renal Autossômica Dominante (DPRAD) é a maiscomum doença renal de caráter hereditário e responsável por cerca de 10% das doen-ças renais terminais. O comprometimento hepático ocorre em 80% dos casos e fre-qüentemente é assintomático com função hepática preservada. Objetivo: Relatar umcaso de DPRAD com comprometimento hepático determinando importante sintoma-tologia. Paciente e método: MJCO, feminina, 66 anos, branca, natural do RJ, porta-dora de insuficiência renal (IR) crônica devido DPRAD, em hemodiálise há 5 anos,apresentando dor e aumento do volume abdominal, saciedade precoce e vômitos.História familiar de 1 irmã falecida por neoplasia de fígado e outras 3 por IR terminal.Gesta I/Para I. Tabagista de longa data. Nega hipertensão arterial. Ao exame: hipoco-rada, anictérica, sem adenomegalias. Epigástrio com abaulamento por massa facil-mente palpável, móvel, pouco dolorosa, de consistência endurecida e superfície lisa.Função hepática preservada e função renal sob controle através de hemodiálise. En-doscopia digestiva alta com pangastrite enantematosa. Ressonância Nuclear Magnéti-ca (RNM) do abdome demonstrou inúmeras lesões císticas, dispersas no parênquimahepático, algumas com conteúdo hemático. Rins de volume aumentado, tambémapresentando múltiplas lesões císticas, sendo algumas de conteúdo hemorrágico. Dis-cussão: A DPRAD associada a cistos hepáticos pode causar sintomatologia conforme otamanho do fígado, que depende do número e da dimensão destes, independente da
S 92 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
hepática. O comprometimento hepático é mais comum em mulheres e o tamanho enúmero dos cistos estão relacionados à gravidez. As complicações mais comuns doscistos hepáticos incluem infecção, carcinoma e hemorragia. O diagnóstico é baseadono número de cistos renais conforme faixa etária, sendo a RNM e a Tomografia com-putadorizada (TC) mais sensíveis que a ultra-sonografia. A mortalidade e a morbidadeestão relacionadas ao grau de comprometimento renal associado. A cirurgia hepáticaou renal é raramente necessária, sendo indicada para os casos de cistos maiores (fenes-tração do cisto, ressecção hepática ou transplante hepático). Conclusão: Pacienteportador de DPRAD pode apresentar comprometimento hepático sintomático. A RNMe a TC são os exames mais sensíveis para confirmação diagnóstica. O tratamentocirúrgico do cisto, inclusive com estudo histopatológico, deve ser indicado quandoocorre sintomatologia importante.
PO-337 (249)
REPERCUSSÃO CLÍNICA DA TROMBOSE DE VEIA PORTA EM PACIEN-TES ESQUISTOSSOMÓTICOS SUBMETIDOS À DESCONEXÃO ÁZIGO-PORTALSANTOS MF, RIBEIRO MA, SUPINO C, RONDELLI I, PAES-BARBOSA FC, KOSZKA AJM, AQUINO CGG, FERREIRA
FG, SZUTAN LAFaculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
A Desconexão Ázigo-Portal é uma das opções de tratamento cirúrgico que previne arecidiva hemorrágica por varizes esofagogástricas de pacientes portadores de es-quistossomose mansônica que já apresentaram sangramento prévio pelas mesmaslesões. Uma das críticas ao resultado desta cirurgia é o alto índice de ocorrência detrombose de veia porta nestes pacientes, chegando a quase 60% de incidência.Objetivo: Avaliar as alterações clínicas apresentadas por estes pacientes, comparan-do-os aos que não apresentaram esta ocorrência no pós-operatório. Casuística emetodologia: Estudo retrospectivo de 200 pacientes esquistossomóticos submeti-dos à Desconexão Ázigo-Portal pelo grupo de fígado da Santa Casa de São Paulo de1991 a 2006, dos quais foi diagnosticada trombose de veia porta em cerca de 50%.Resultados: O tempo de seguimento variou de 1 a 15 anos. A mortalidade ficou emtorno de 7%, A recidiva hemorrágica ficou em torno de 12%. Não houve diferençaestatisticamente significativa entre os dois grupos. (P > 0.05). A imensa maioria dospacientes esquistossomóticos que evoluíram com trombose de veia porta era assin-tomática (64%, aproximadamente), porém quando sintomáticos, a queixa mais fre-qüente foi a diarréia, seguida de dor abdominal pós-prandial, em raros casos levan-do a perda de peso significativa (> 10% do peso corporal). Todos os pacientesapresentaram recanalização do sistema venoso portal, alguns com transformaçãocavernomatosa, outros readquirindo aspecto habitual à ultra-sonografia, com inter-valo médio de 10 meses. Conclusão: Nas condições do presente estudo, podemosafirmar que a ocorrência de trombose de veia porta é freqüente no pós-operatóriode pacientes esquistossomóticos submetidos à desconexão ázigo-portal, a maiorianão apresenta qualquer alteração clínica e os pacientes evoluíram sistematicamentepara recanalização do sistema venoso portal.
PO-338 (251)
HEPATECTOMIA A TAJ MAHAL POR METÁSTASE DE GIST GÁSTRICO:RELATO DE CASOSANTOS MF, PAES-BARBOSA FC, OLIVAL GS, GALLO AS, KOSZKA AJM, AUADA EPM, RIBEIRO MA, FERREIRA FG,SZUTAN LAFaculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
O termo GIST (gastrointestinal stromal tumors) é utilizado para designar um grupode neoplasias heterogêneas, não-epiteliais do trato gastrointestinal. Originários dascélulas intersticiais de Cajal, mais comumente no estômago (65%), ou intestinodelgado (25%). Cerca de 5% a 10% são localizados no cólon e reto e 5% no esôfa-go. Classificar o GIST em baixo, médio e alto risco baseado no seu potencial derecorrência e metástase é mais apropriado que dividi-lo em benigno e maligno.Pacientes com metástase hepática isolada podem se beneficiar de ressecção hepáti-ca. Relatamos caso de GIST gástrico com metástase hepática submetido à ressecção.Mulher, 58 anos, branca, casada, natural e procedente de São Paulo com queixa dedor abdominal há um ano localizada em epigástrio com abdome distendido, fláci-do, indolor à palpação, fígado palpável a 6cm do RCD de consistência endurecida.USG com imagem hepática complexa, predominantemente cística, nos segmentosIV, V e VIII medindo 7cm, compatível com abscesso hepático. Dois meses após,realizou TC que mostrou volumosa formação expansiva/infiltrativa hepática, medin-do 11,5 x 8,0 x 7,9cm nos segmentos anteriores do lobo direito. Após infusão decontraste apresentou realce de parede com grande área central de necrose. Tam-bém se observou uma formação expansiva, lobulada, medindo 6 x 7,8 x 5,6cm comrealce heterogêneo ao contraste, localizada entre fundo gástrico e pâncreas. Alfa-feto proteína e CEA normais, sorologias para hepatite B e C negativas, Child-Pugh5A. Realizada laparotomia exploradora com ressecção de tumoração aderida à pare-de posterior gástrica com biópsia de congelação intra-operatória que foi inconclusi-va. O tumor hepático foi puncionado, guiada por USG intra-operatório, com saídade 400ml de secreção hemática. Realizado hepatectomia à Taj Mahal (ressecção dossegmentos IV, V e VI) com ressecção da massa hepática. O anatomopatológico mos-tra tumor gástrico com caracteres de GIST, c-kit+ e CD34+, 3 mitoses/50 campos
grande aumento. Fígado com caracteres de metástase de GIST, c-kit+ e CD34+, 5mitoses/10 campos grande aumento. A paciente apresentou óbito no 6° dia pós-operatório por insuficiência hepática. A necropsia revelou fígado livre de neoplasiascom extensa área de necrose provavelmente devido a comprometimento vascularpor trombose da veia porta.
PO-339 (262)
PERFIL ETIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIODE HEPATOLOGIA DA 18ª ENF. DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIADO RJMENDES AF, ASSAD-BRAZ T, SILVA-JÚNIOR EF, OLIVEIRA RA, GONÇALVES PR, CARVALHO AC, MELO CB, GALVÃO
MC, GALVÃO-ALVES JSanta Casa da Misericórdia do RJ, 18ª Enfermaria, Serviço do Prof. José Galvão-Alves
Fundamentos: Considerando a grande importância das patologias relacionadas à he-patologia na rotina ambulatorial do gastroenterologista, objetivamos determinar asprincipais etiologias apresentadas pelos pacientes referenciados ao ambulatório de he-patologia. O conhecimento de tal perfil visa favorecer diagnóstico e tratamento preco-ces, além de evitar possíveis complicações. Métodos: Foram revistos 539 prontuáriosde pacientes atendidos entre março de 2000 e julho de 2007 no ambulatório de hepa-tologia da 18ª Enfermaria da SCMRJ. Resultados: De acordo com os dados analisados,a maioria dos pacientes atendidos foi do sexo masculino (56,53%), com faixa etáriaentre 51 e 60 anos (33,60%). Em relação à origem dos pacientes, a maioria veio enca-minhada de ambulatórios externos (53,82%), seguida de banco de sangue (22,07%) eambulatório interno (20,03%). Encontramos sorologia positiva para hepatite C em66,81% dos pacientes. Sorologia indicativa de contato com o vírus da hepatite B ocor-reu em 27,64%; desses, 72,72% evoluíram para cura espontânea e 27,27% para croni-cidade. Cisto hepático simples ocorreu em 2,33%; nódulo e hemangioma em 1,79% e1,43%, respectivamente. Cirrose hepática foi encontrada em 25,41% do total de doen-tes, estando a maior parte relacionada ao vírus C (54,05%) e ao álcool (35,76%).Doença hepática gordurosa não alcoólica foi diagnosticada em 2,96%; destes pacien-tes 87,50% apresentaram esteatose simples e 12,50% esteatohepatite. A esteatose rela-cionada ao álcool ou ao vírus da hepatite C foi responsável por 16,92% dos atendimen-tos. Hepatite alcoólica, lesão hepática induzida por drogas e esquistossomose forametiologias encontradas em 1,11%, cada. Apenas três pacientes apresentaram carcino-ma hepatocelular confirmado. Outras etiologias foram patologias da via biliar (25,94%),com predomínio de colelitíase e síndrome de Gilbert em 0,57%. Conclusão: Os dadosobtidos permitiram estabelecer o perfil etiológico do ambulatório de hepatologia. Veri-ficamos que as hepatopatias virais B e C foram as maiores responsáveis pelos atendi-mentos. Este predomínio provavelmente está relacionado ao fato de tratar-se de umserviço de referência em hepatites virais. Atribuímos a baixa freqüência de casos confir-mados de hepatocarcinoma ao fato de, mediante suspeita clínica, referenciarmos ospacientes ao centro especializado de tratamento.
PO-340 (307)
PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DE PRÉ-DOADORES DE SANGUE COMALT ALTERADA DE ACORDO COM GÊNERONARCISO-SCHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, EMORI CT, MELO IC, MARIYA FA, SCHIAVON LL, SILVA AEB,FERRAZ MLGSetor de Hepatites – Escola Paulista de Medicina
Fundamentos: A partir da resolução RDC nº 153 de junho de 2004, a pesquisa da ALTcomo teste de triagem em pré-doadores deixou de ser obrigatória. Dentre as causasmais comuns de alteração de ALT estão o abuso da ingesta etílica e a doença hepáticagordurosa não alcoólica. Este estudo busca definir as diferenças clínico-laboratoriaisentre mulheres e homens pré-doadores de sangue com ALT alterada. Métodos: Estu-do transversal de pacientes encaminhados de Bancos de Sangue com ALT alterada,atendidos na Liga de Hepatites entre setembro/1997 e agosto/2006. Os dados foramobtidos por revisão de prontuários padronizados. Resultados: Foram incluídos 322pacientes com média de idade de 35 ± 9 anos, sendo 90% homens. As mulheresapresentaram maior índice de IMC (31,4 ± 6,4 vs. 28,8 ± 4,1, P = 0,039) e maioresníveis de colesterol HDL (53,4 ± 16,7 vs. 73,8 ± 10,0, P = 0,027). Por outro lado,exibiram menores níveis de colesterol total (191,0 ± 37,1 vs. 214,2 ± 50,8, P = 0,044)e menor porcentagem de etilistas (3% vs. 40,6%, P < 0,001). Laboratorialmente, nãohouve diferença entre os níveis de glicemia, triglicerídeos, AST, ALT, bilirrubina direta,FA, GGT, atividade de protrombina, albumina e plaquetas. Na repetição da sorologia,um homem apresentou HBsAg (+), sendo diagnosticado como portador crônico doHBV, e uma mulher apresentou HAV IgM (+), tendo sido diagnosticada hepatite agudapelo HAV. Quarenta e seis por cento dos pacientes que realizaram ultra-sonografiaapresentaram esteatose ao US, não havendo diferença entre homens e mulheres (46%vs. 43%, P = 1,000). Dentre aqueles submetidos à biópsia hepática, 76% apresentouesteatose ou esteatohepatite, e não houve diferença entre mulheres e homens emambos os grupos. Conclusões: Apesar de apresentarem maiores índices de IMC, asmulheres têm colesterol total mais baixo e HDL mais alto que os homens, e bebemmenos bebidas alcoólicas. Entretanto, esses fatores não influenciam a presença deesteatose ao ultra-som ou à biópsia hepática. Deve-se salientar a importância da dosa-gem da ALT na triagem laboratorial de doadores de sangue, pois ela pode ser maissensível que os testes sorológicos na detecção de hepatites virais.
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 93
PO-341 (320)
ACADÊMICOS DE MEDICINA: UMA POPULAÇÃO VULNERÁVEL AOSVÍRUS HEPATOTRÓPICOS IMUNOPREVENÍVEISALVIM RC, REIS DER, RODRIGUES FLB, DE PAULA MS, EL-AOUAR NG, ROCHA SN, BASSETTI-SOARES EFaculdade de Medicina do Vale do Aço, Ipatinga (MG)
Hepatite é um processo inflamatório no fígado, de etiologia variada, principalmentecausada pela infecção por vírus hepatotrópicos. A hepatite A é extremamente preva-lente no Brasil e os profissionais da área de saúde são grupo particularmente de riscopara hepatite B, mas não para hepatite C. Apesar de vacinas contra hepatite A e Bestarem disponíveis há mais de uma década, não existe no Brasil uma política bemarticulada de imunização de estudantes e profissionais de saúde. Para avaliarmos oconhecimento de estudantes de medicina sobre estas três enfermidades, submetemosa um questionário 295 discentes, do primeiro ao nono período da Faculdade de Me-dicina do Vale do Aço (Ipatinga, MG), abordando: 1) conhecimento em relação à suavacinação; 2) princípios de biossegurança; 3) histórico de acidente pérfuro-cortante;4) importância da vacinação; 5) intenção de atualização das vacinas; 6) reflexão eintenção de mudança de hábitos, e 7) histórico de doenças infecto-contagiosas. Dosentrevistados, 163 eram do gênero feminino (55,3%) e 132 eram do gênero masculi-no. Observada a variável idade, no grupo feminino a média foi inferior à do grupomasculino (21,5 ± 2,8 anos versus 23,0 ± 3,9 anos, p = 0,001). Quando avaliadossobre seu passado de hepatite viral, 28/271 (10,3%) tinham conhecimento de ter tidoa enfermidade, sendo 28/271 (10,3%) hepatite A e 2/274 (0,7%) hepatite B, nãohavendo relato de nenhum caso de hepatite C. A média de idade dos que já tiveramhepatite A foi superior à dos que não a tiveram (23,6 ± 3,7 versus 21,8 ± 3,1; p =0,005). Na avaliação do status vacinal, 63/158 (39,9%) afirmavam ter recebido vacinaanti-hepatite A, 208/236 (88,1%) anti-hepatite B e 43/139 (30,9%) anti-hepatite C.Não observamos relação entre a vacinação contra hepatite A ou B e o período cursadopelo estudante, entretanto somente no nono período todos os avaliados estavam imu-nizados contra hepatite B. Podemos concluir que a cobertura vacinal contra hepatite Afoi baixa e que um percentual não desprezível está sem cobertura contra o vírus B. Adesinformação sobre vacinas está presente, também, de forma significativa, no meioacadêmico médico. A imunização contra hepatite B está ocorrendo tardiamente nodecorrer do curso de graduação. Estudos semelhantes em outras instituições de ensinosuperior da área de saúde trarão mais informações sobre esta população e possibilita-rão o desenvolvimento de uma necessária política de vacinação contra essa e outrasenfermidades imunopreveníveis.
PO-342 (323)
PREVALÊNCIA E IMPACTO DA INFECÇÃO PELO GBV-C ENTRE PACIEN-TES COM HIV/AIDS E CO-INFECTADOS HIV/HCVLANZARA G, BAGGIO G, BARBOSA A, ALVES V, PEREIRA PSF, FERRAZ ML, GRANATO CFHLaboratório de Virologia – Disciplina de Infectologia e Setor de Hepatites – Disciplina de Gastroenterologia, Univer-sidade Feder
Fundamentos: O GBV-C parece exercer influência benéfica sobre a infecção pelo HIV.Entretanto, ainda é controversa a relação entre HIV, HCV e GBV-C, quando em triplainfecção. O objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência e o impacto dainfecção pelo GBV-C entre pacientes infectados pelo HIV e co-infectados HIV/HCV.Métodos: Foi realizado estudo transversal, com inclusão aleatória e prospectiva depacientes HIV positivos e co-infectados HIV/HCV, no período de abril a dezembro de2006. Foram realizados entrevista, exame físico e determinação da carga viral HIV,contagem CD4, ALT, AST, GGT, HCV-RNA e genotipagem do HCV. A pesquisa do GBV-C foi feita por sorologia (pesquisa de anticorpos anti-E2) e detecção do GBV-C-RNApor técnica de PCR. Resultados: No período de estudo foram Incluídos 60 pacientes,30 infectados pelo HIV e 30 co-infectados HIV/HCV. A prevalência de infecção peloGBV-C entre pacientes HIV-positivo foi de 43%, menor que a descrita na literatura;porém, a prevalência de tripla infecção HIV/HCV/GBV-C (27%) foi semelhante à en-contrada em outros estudos. A presença de marcadores para o GBV-C se associou amaior exposição parenteral (P=0,04) e maiores níveis de AST, ALT e GGT (P=0,03,P=0,02 e P=0,03, respectivamente). Conclusões: Neste estudo, a prevalência de infec-ção pelo GBV-C entre pacientes com HIV foi menor do que a observada na literatura.Porém, a prevalência de tripla infecção HIV/HCV/GBV-C foi semelhante à descrita. Esteachado poderia ser explicado pela predominância da transmissão parenteral do GBV-C em nosso meio. O aumento das enzimas hepáticas observado em pacientes co-infectados com GBV-C parece ser resultado da replicação hepática do vírus.
PO-343 (324)
ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES CO-INFECTADOS HIV/HCVLANZARA G, BAGGIO G, BARBOSA A, ALVES V, PEREIRA PSF, FERRAZ ML, GRANATO CFHLaboratório de Virologia – Disciplina de Infectologia e Setor de Hepatites – Disciplina de Gastroenterologia, Univer-sidade Feder
Fundamentos: A infecção pelo HCV parece estar relacionada com maior ocorrênciade lipodistrofia e resistência à insulina em portadores do HIV. Porém, a associação daco-infecção com outras alterações metabólicas ainda não está clara. O objetivo dopresente estudo foi estimar o impacto da infecção pelo HCV, entre pacientes infecta-dos pelo HIV, quanto ao perfil metabólico. Métodos: Estudo transversal e prospectivo,
com inclusão aleatória de pacientes HIV positivos e co-infectados HIV/HCV, no períodode abril a dezembro de 2006. Foram avaliados os seguintes parâmetros: LDL-coleste-rol, triglicérides, glicemia de jejum e índice de massa corpórea (IMC). Resultados: Noperíodo de estudo foram incluídos 100 pacientes, 56 infectados pelo HIV e 44 co-infectados HIV/HCV, que não diferiam significativamente quanto à idade (p = 0,84) euso de anti-retrovirais (p = 0,57). Houve predomínio de homens entre os co-infecta-dos HIV/HCV (p = 0,008). A presença de infecção pelo HCV tendeu a se associar comníveis menores de LDL-colesterol (P = 0,056), mas não exerceu impacto sobre os níveisde triglicérides (p = 0,38), glicemia de jejum (p = 0,67) e IMC (p = 0,07). Conclusões:A hepatite C crônica em pacientes infectados pelo HIV parece se relacionar com taxasmenores de LDL-colesterol, sugerindo haver um aparente efeito protetor da infecçãopelo HCV sobre o desenvolvimento de dislipidemia.
PO-344 (338)
SÍNDROME HEPATOPULMONAR: MELHORA CLÍNICA APÓS UTILIZA-ÇÃO DE ALLIUM SATIVUM (CÁPSULAS DE ALHO)MOMESSO DP, BARRETO EA, BRANDÃO-MELLO CE, PALAZZO RF, MENDONÇA PC, FAGUNDES ML, CORRÊA RF,PUPPIN BA, HARGREAVES ESRHospital Universitário Gaffree e Guinle (HUGG)
Fundamentos: A Síndrome hepatopulmonar (SHP) manifesta-se por hipoxemia, orto-deoxia, platipnéia e shunt intrapulmonar, na presença de hepatopatia e/ou hiperten-são porta. É entidade subdiagnosticada, necessitando de alta suspeição clínica e deconfirmação através de métodos complementares, tais como, ecocardiograma con-trastado ou cintilografia pulmonar com MAA. Relato de caso: Mulher 58 anos, porta-dora de infecção pelo vírus C da hepatite (HCV), genótipo 1a, Child A6, com dispnéiaprogressiva aos esforços há 1 ano, agravada por decúbito, sem demais sinais de des-compensação clínica. Apresentava baqueteamento digital, cianose perioral e de extre-midades, telangiectasias, com restante exame físico inalterado. Gasometria arterial emdecúbito PaO2: 59mmHg, SatO2: 92% e em ortostase PaO2: 37mmHg, SatO2: 78%(ortodeoxia) e diferença alvéolo arterial de O2 (DAaO2) de 49. Radiografia de Tóraxcom discreto infiltrado intersticial em bases, por aumento da trama vascular. Ecocardi-ograma contrastado demonstrou passagem de contraste para câmaras esquerdas con-firmando a presença de dilatações vasculares intrapulmonares. Após a confirmação dodiagnóstico foi iniciado tratamento com Allium sativum, uma cápsula duas vezes aodia, o que proporcionou melhora clínica e da qualidade de vida da paciente. Conclu-são: Este relato corrobora a importância da investigação de SHP em portadores dehepatopatia crônica com dispnéia e hipoxemia, e a necessidade de se realizar estudoscontrolados para verificar o benefício de medicações alternativas. Ao contrário dasdescrições iniciais, SHP pode ocorrer com qualquer grau de disfunção hepática ouhipertensão porta, não sendo exclusividade da cirrose avançada.
PO-345 (344)
ESTUDO ANÁTOMO-CLÍNICO DO CARCINOMA HEPATOCELULARALMEIDA TC, LOPES EP, JUCÁ NT, ALMEIDA JR, ALMEIDA RC, MOURA IF, DOMINGUES ALCHospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco – Recife, PE
Fundamentos: O objetivo deste estudo foi estabelecer os padrões histopatológicos docarcinoma hepatocelular (CHC) e correlacioná-los com dados demográficos, vírus dehepatite, dosagem de alfa-fetoproteína (AFP), classificação de Child-Pugh e tamanhodo tumor. Metodologia: Entre dezembro de 1997 e dezembro de 2006, foram avalia-dos pacientes com exame histopatológico de CHC, dos quais foi preenchida fichaclínica e colhidos 10mL de sangue. Os níveis de AFP e os marcadores de hepatites(HBsAg, anti-HBc e anti-HCV) foram dosados e pesquisados, respectivamente, porensaio imunoenzimático. Também foram avaliados exames ultra-sonográficos (US) etomografia computadorizada para aferir o tamanho do tumor. O fragmento da lesãofoi retirado por biópsia percutânea guiada por US ou durante hepatectomia e coradopor HE e Masson. Resultados: Foram avaliados 32 pacientes, sendo metade do sexomasculino, com idade média de 56 anos (21 a 76 anos). Destes, 12 (37,5%) apresen-taram sorologia positiva para o HBV, 8 (25%) para o HCV e em 12 (37,5%) a sorologiafoi negativa para ambos. A média de AFP foi 291 ± 444ng/mL (1,1 a 1050ng/mL).Onze pacientes foram classificados como Child A, 8 como B, 7 como C e 6 não-cirróticos. Doze pacientes (37,5%) tinham exames de imagem compatíveis com nó-dulos (< 5cm) e 20 (62,5%) foram considerados portadores de “massa” hepática.Quanto ao tipo histopatológico do CHC, 22 casos (68,7%) foram do tipo trabecular,8 (25%) fibrolamelar e 2 (6,3%) do tipo pseudo-acinar. Observou-se predominânciado sexo feminino no grupo com CHC fibrolamelar (75%) em relação ao grupo trabe-cular (43%) (p = 0,22); e que a idade média foi menor no grupo com CHC fibrolame-lar (43 ± 18 anos) em relação ao grupo trabecular (60 ± 9,8 anos) (p = 0,002). Houvepredomínio do HBV no grupo com CHC fibrolamelar (62,5%) em relação ao grupotrabecular (31,8%), (p = 0,106), não tendo sido encontrado qualquer caso positivopara o HCV no grupo fibrolamelar. A média de AFP foi mais elevada no grupo trabecu-lar (367 ± 474ng/mL) em relação ao fibrolamelar (153 ± 366ng/mL) (p = 0,259). Nãohouve associação entre o tipo histológico com a classificação de Child-Pugh e nemcom o tamanho da lesão neoplásica. Conclusão: Neste estudo, foi observado predo-mínio do CHC do tipo trabecular (68,7%). No grupo com o tipo fibrolamelar, foiencontrado predomínio do sexo feminino, idade média menor e menores níveis deAFP, estando a maioria dos casos relacionada com o HBV.
S 94 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
PO-346 (345)
FIBROSE HEPÁTICA CONGÊNITA (FHC): RELATO DE 2 CASOS EM IR-MÃOSNETO GR, FLORES GG, REIS JS, FELDNER ACCA, ROCHA JMA, RIBEIRO TCR, BRAGAGNOLO JR MA, LANZONI VP,PARISE ER, KONDO MUniversidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM
Introdução: FHC é uma rara doença autossômica recessiva que se manifesta princi-palmente na infância e juventude. É caracterizada por desordem nos ductos biliaresintra-hepáticos, devido à persistência de estruturas embrionárias. Freqüentementeassocia-se a Doença Policística dos Rins e Síndrome de Caroli. Em geral, os pacientescursam com hipertensão portal e a função hepática tende a ser normal; não raro éconfundida com cirrose hepática. Relatamos 2 casos de FHC em 2 irmãos. Caso 1:homem, 28 anos, assintomático, teve esplenomegalia e plaquetopenia evidenciadosem exames de rotina; submetido à esplenectomia e encaminhado ao serviço. Semantecedentes mórbidos, negava etilismo, tabagismo ou uso de drogas. Exame físico:ausência de estigmas de hepatopatia crônica, fígado normal. AST e ALT < 1,5x LSN,BT 1,8mg/dL, BD 0,3mg/dL, FA normal, GGT 4x LSN, AP 100%, ALB 4,9g/dL. Soro-logias virais e auto-anticorpos negativos, ceruloplasmina normal, pesquisa de anelde Keiser-Fleisher negativa, perfil de ferro normal. US: parênquima hepático hetero-gêneo. EDA: varizes esofágicas. Biópsia hepática: alteração arquitetural com fibrosee alterações biliares, sugerindo FHC. Caso 2: mulher, 29 anos, com astenia e mal-estar geral, sem antecedentes mórbidos, negava etilismo, tabagismo ou uso de dro-gas. Exame físico: palidez cutâneo-mucosa, sem sinais de hepatopatia crônica; es-plenomegalia. Exames: HB 9,9g/dL HT 30%, 2500 leucócitos/mm3, 45000 plaque-tas/mm3, AST, ALT, FA e GGT normais, BT 1,5mg/dL, BD 0,8mg/dL; AP 69% INR1,27, ALB 3,9g/dL. Sorologias virais e auto-anticorpos negativos, sem anel de Keiser-Fleisher, perfil de ferro normal. US: heterogeneidade do parênquima hepático comsinais de hipertensão portal. EDA: varizes de esôfago. Biópsia hepática mostrou alte-ração da arquitetura do parênquima por fibrose, com emissão de septos e esboço denódulos e dilatação de ductos biliares, alguns com arranjo circular sugerindo malfor-mação da placa ductal. Discussão: FHC é doença rara, que pode se manifestar deforma familiar, cursando com hipertensão portal, e podendo ser confundida comcirrose hepática. Entretanto, em geral, não cursa com insuficiência hepática. Osachados histológicos podem ser característicos, como descrito.
PO-347 (353)
DADOS PRELIMINARES DA CAMPANHA INSTITUCIONAL CONTRA HE-PATITE B EM ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIVERSI-DADE FEDERAL DA BAHIA, BRASILCARVALHO PMP, SCHINONI MI, PARANÁ R, ANDRADE J, MARQUES P, RÊGO MV, SCHAER R, SIMÕES JM, MEYER
R, FREIRE SMPrograma de Pós-graduação em Imunologia (PPGIm),
Fundamentos: No Brasil estima-se 15% da população teve contato com o vírusda hepatite B (VHB). Destes 1% são portadores crônicos com risco de cirrose ecarcinoma hepatocelular. Além da transmissão sexual há ainda o risco ocupacionalna área da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, todos os profissionais da saúdedevem ser vacinados para hepatite B, com comprovação laboratorial da imuniza-ção. Desde 2004, nosso grupo realiza estudos visando avaliar a situação vacinal,soroprevalência da hepatite B, resposta vacinal e susceptibilidade ao VHB nos pro-fissionais/estudantes da saúde. Dando continuidade a este projeto está sendo rea-lizada a campanha contra VHB em estudantes e profissionais de saúde da UFBA.Metodologia: Estudo longitudinal em quatro etapas com aplicação de vacinapara o VHB e coleta de sangue para sorologia em indivíduos já imunizados com aultima dose há pelo menos um mês. Foram analisados os seguintes marcadores:Ag-HBs e anti-HBs (ELISA) e anti-HBc total (quimiluminescência). Um questionárioclínico-epidemiológico está sendo aplicado nos alunos dos cursos de medicina,enfermagem e farmácia. Este contempla aspectos do Perfil Epidemiológico e deConduta de Risco para VHB. A campanha é promovida pelas Secretarias de SaúdeMunicipal e Estadual, FAPESB, CNPq, CRIE, SMURB, PPGIm e diretorias das facul-dades intervenientes. Resultados parciais da 1º e 2ª etapa: 1245 voluntáriosparticiparam fazendo sorologia e/ou recebendo vacina. Em ambas aplicaram-se1.345 doses de vacina, distribuídas da seguinte forma: na 1ª etapa, das 728 doses,588 foram 1ª dose, e na 2ª fase, das 617 doses, apenas 100 receberam a 1ª dose.As demais foram 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses, o que inclui indivíduos que reiniciaram oesquema (apresentaram Anti-HBs negativo depois de 3 doses aplicadas). Foramcoletados e analisados 394 soros, dos quais: 21 anti-HBs negativo, anti-HBc nega-tivo e AgHBs negativo, 4: anti-HBs positivo, anti-HBc positivo e agHBs negativo, osdemais apresentaram anti-HBs positivo, anti-HBc negativo e AgHBs negativo. Aotodo foram preenchidos 835 questionários que estão em fase de análise de dados.Conclusão: Foi encontrada uma porcentagem de 1% de antiHBc total positivovalor menor que a prevalência na população. A falta de comprovação do esquemavacinal completo com três doses, e a ausência de controle sorológico (dosagemdo Anti-HBs) mostra a não valorização da vacina como medida preventiva eficazcontra o VHB, evidenciando a necessidade de uma política de conscientizaçãodestas pessoas expostas ao risco de infecção pelo VHB.
PO-348 (361)
ARTRITE SÉPTICA POR AEROMONAS HYDROPHYLIA EM PORTADORDE CIRROSE – RELATO DE CASOCOELHO M, FOSSARI RN, CARIÚS LP, MAJEROWICZ F, FLAUSINO KCG, INGUNZA MQ, LEAL AB, PEREIRA GHS,AHMED EO, PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia - Hospital Geral de Bonsucesso (RJ)
Introdução: Infecções bacterianas são comuns em pacientes cirróticos. Aproxima-damente 20% dos pacientes são excluídos por causas infecciosas no momento dotransplante hepático e 40% dos pós-transplantados morrem por intercorrências destaordem. Caso: A.O.S, 57 anos, masculino e natural da Paraíba. Queixa-se de dor emMID há 3 dias associada a 1 pico febril. A dor teve inicio na panturrilha direita comlocalização posterior no joelho direito. Paciente é portador de cirrose por VHC eálcool (Child B8). Ao exame, dor à mobilização da perna direita com leve hiperemiado joelho e empastamento de panturrilha. Restante do exame físico sem alterações.Evolução: colhidos exames laboratoriais, hemoculturas, solicitado Doppler de MIDe iniciado Enoxiparina dose plena. Após 2 dias, evoluiu com hiperemia do joelhoDIR, com sinal da tecla positivo. Realizado de RX da articulação, sem sinais de osteo-mielite. Abordado o líquido sinovial, cujo aspecto foi purulento, com presença de43.400 cel/mm3 (90% de PMN), glicose de 47mg/dL e Albumina de 1,3g/dL. Ini-ciado Ceftriaxone venoso. Doppler de MID afastou TVP. No 4° dia de Ceftriaxoneobtivemos resultado da cultura do líquido sinovial positiva para Aeromonas hydro-phylia resistente a Ceftriaxone e sensível a Cefepime. No terceiro dia de Cefepime,foi realizada artrocentese com cultura negativa. Recebeu alta após 21 dias de Cefepi-me completando o esquema com 7 dias de Ciprofloxacina oral. Discussão: Aero-monas hydrophylia é um bacilo gram- negativo anaeróbio de águas naturais poden-do causar infecções em pacientes que sofrem trauma neste meio, em especial imu-nocomprometidos, existindo poucos relatos na literatura de infecções por este pató-geno. As articulações do joelho e metatarsofalangianas são as mais freqüentementeenvolvidas. Lesões pontuais associadas a imunossupressão são suficientes para insta-lação deste patógeno. Após questionamento sobre fatores de risco, confirmamoscontato com piscina de água limpa, porém sem trauma local. Relatamos um rarocaso de infecção em paciente cirrótico com status imunológico frágil.
PO-349 (362)
GRANULOMA HEPÁTICO POR HANSENÍASE – APRESENTAÇÃO DECASOFOSSARI RN, CARIÚS LP, COELHO M VEIGA ZST, SANTOS CMB, PEREIRA GHS, MARTINS DS, MIRANDA NL,AHMED EO, PEREIRA JLServiço de Gastroenterologia e Hepatologia- Hospital Geral de Bonsucesso (RJ)
Introdução: A hanseníase é uma infecção crônica granulomatosa que tem como agenteetiológico o Mycobacterium leprae. A doença é um importante problema de saúdepública no Brasil e em vários países. O bacilo de Hansen, irá se localizar na célula deSchwann e na pele. A disseminação para outros tecidos, como linfonodos, olhos efígado pode ocorrer nas formas mais graves da doença. Caso: D.S.S., feminina, 57anos, assintomática, apresentando em exames laboratoriais de rotina aumento detransaminases, fosfatase alcalina e δGT. Apresenta como co-morbidades Diabetes Mel-litus tipo II, HAS, e hipotireoidismo, em uso de Insulina NPH, Enalapril e Levotiroxina.Na história patológica pregressa havia relato de infecção por hanseníase na formatuberculóide há 3 anos, tratada por 6 meses com rifampicina, dapsona e clofazimina.Ao exame físico apresentava madarose e espessamento do nervo ulnar direito à palpa-ção, sem estigmas de doença hepática crônica. Exames laboratoriais: sorologias paraHBV e HCV negativas, AST 143UI/L, ALT 249UI/L, bilirrubina total 1,2mg/dL (fraçãodireta 0,2), fosfatase alcalina 899UI/L, δGT 586UI/L, TAP 50%, função renal normal,hormônios tireoidianos normais. Rx de tórax normal. US abdome e colangiorresso-nância magnética não mostraram alterações de vias biliares. Foi realizada biópsia he-pática percutânea que evidenciou discreto infiltrado linfocitário portal, sem fibrose ouseptos, com presença de agregados linfo-histiocitários envolvendo hepatócitos comalterações degenerativas e granuloma epitelióide. Considerando a história prévia dehanseníase e após descartar outras causas de doença granulomatosa hepática, foiestabelecido diagnóstico de hepatite por hanseníase. A paciente foi encaminhada paratratamento. Discussão: Envolvimento hepático na hanseníase é comum, sendo maisfreqüente na forma lepromatosa, apesar de também ser descrito nas formas tubercu-lóide e bordeline. É necessário um alto grau de suspeição para se estabelecer o diag-nóstico, uma vez que achados clínicos expressivos são incomuns, bem como altera-ções laboratoriais características. Biópsia hepática, com achado de infiltrados linfocitá-rios focais e granuloma epitelióide, é necessária para estabelecer-se o diagnóstico.
PO-350 (363)
METÁSTASE PARA ÁTRIO DIREITO DE CARCINOMA HEPATOCELULAREM FÍGADO NÃO CIRRÓTICOCARIÚS LP, COELHO M, FOSSARI RN, INGUNZA MQ, SANTOS CMB, MIRANDA NL, PEREIRA GHS, AHMED EO,PEREIRA JL, FIGUEIREDO CBServiço de Gastroenterologia e Hepatologia - Hospital Geral de Bonsucesso-RJ
Introdução: Metástases extra-hepáticas em pacientes com carcinoma hepatocelular(CHC) podem estar presentes em até 50% dos casos, quando submetidos à necrop-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 95
sia, sendo mais freqüente em pacientes sem cirrose. Os locais mais comuns de me-tástase são pulmões e linfonodos regionais, além de cérebro, ossos e supra-renais.Acometimento cardíaco pode estar presente em até 10% dos casos, geralmente porinvasão de pericárdio e miocárdio por continuidade a partir da veia cava. Metástaseà distância para cavidade cardíaca é extremamente rara. Relato de Caso: Paciente19 anos, brasileiro, negro, sem comorbidades prévias, internou para investigação deastenia, dispnéia e emagrecimento de início há 3 meses. Acompanhante referiu usode esteróides anabolizantes. Ao exame físico: ascite moderada, sem estigmas dehepatopatia crônica. Tomografia de abdômen demonstrou múltiplas imagens no-dulares hipodensas, de contornos irregulares, algumas coalescentes e tomografia detórax com aspecto sugestivo de linfangite carcinomatosa, além de nódulos hipo-densos de diferentes tamanhos disseminados pelo parênquima. Ecocardiograma trans-torácico evidenciou massa volumosa aderida à parede de átrio direito, móvel, comcontornos irregulares, invadindo ventrículo durante contração atrial. Sorologias parahepatite B e C negativas. Alfafetoproteína de 415.689ng/mL. Evolui para o óbito 10dias após admissão hospitalar, com piora da dispnéia e hipotensão refratária. Biópsiahepática post-morten evidenciou a presença de carcinoma hepatocelular em fígadonão-cirrótico. Discussão: A incidência de CHC aumenta com a idade, porém não éincomum esse diagnóstico em pacientes com menos de 30 anos. Neste contexto,geralmente se relaciona com a presença de hepatite B crônica e surge antes dodesenvolvimento de cirrose. O paciente apresentava sorologias virais negativas ebiópsia não revelava alterações do parênquima hepático nas áreas não acometidaspelo tumor. Alguns estudos descrevem a apresentação do CHC em jovens comosendo mais agressiva, demonstrando níveis mais elevados de alfafetoproteína e me-tástases extra-hepáticas ao diagnóstico, mas raramente com metástase para cavida-de cardíaca, como neste caso.
PO-351 (373)
O RISCO DE LOBECTOMIA DIREITA É O MESMO DE UMA LOBECTO-MIA ESQUERDA? ANÁLISE COMPARATIVA DE DOAÇÃO VIVA DE FÍGA-DO USANDO UM SISTEMA DE GRADUAÇÃO DE RISCOPACHECO-MOREIRA L, ALVES J, AMIL R, ENNE M, CERQUEIRA A, BALBI E, FILHO G, ROMA J, GONZALES AC,MARTINHO JMHospital Geral de Bonsucesso
Objetivos: O uso de Doadores Vivos (DV) para o transplante de fígado foi inicial-mente proposto para o transplante infantil e hoje já é pratica corrente, respondendopor aproximadamente 30% dos transplantes pediátricos. Em quase todos os casospediátricos, o DV é submetido a uma lobectomia esquerda (LE). A utilização de DVpara receptores adultos requer uma lobectomia direita (LD). Clavien propôs umaclassificação para graduar os resultados negativos na cirurgia. O objetivo deste estu-do é comparar a morbidade entre DV submetidos à LE ou LD, usando o sistema degraduação. Métodos: De Dez/01 a Nov/06, 32 doadores submetidos a LD (Grupo1) e 29 doadores submetidos à LE (Grupo 2). Os dados foram obtidos através darevisão dos prontuários médicos. Morbidade foi definido como qualquer complica-ção ou intercorrência não esperada que não fosse inerente à cirurgia, que tenhalevado a um desvio do curso normal do pós-operatório. A classificação de ClavienModificada foi usada para graduar a severidade das complicações. Foi investigadopor nós se a LD possui uma maior incidência de complicações do que a LE. O testede Qui-quadrado foi usado para comparar a morbidade entre esses dois grupos,com um índice de significância de 5%. Resultados: Não houve mortalidade dedoadores em nossa série. 24.5% de todas LD apresentaram ao menos uma compli-cação, sendo no total 29% do Grupo 1 e 20.7% do Grupo 2 (p > 0.05). Quandosomente as complicações severas foram analisadas (Graduação 2/3), 8.1% dos doa-dores apresentaram complicações. O Grupo 1 apresentou 12.5% da graduação 2/3e o Grupo 2 apresentou somente 3.5% (p > 0.05). Talvez essa diferença não sejasignificante devido ao pequeno número de doadores incluídos, sobretudo, quandosomente as mais severas complicações são analisadas. Foram observadas mais com-plicações em doadores submetidos à LD. Discussão: A LD é uma cirurgia mais inva-siva do que a LE. A última deveria estar associada a um menor risco de complicações,mas observamos que a incidência de morbidade foi a mesma em ambos os grupos.Quando graduadas por severidade, evidenciamos que o Grupo 1 possui complica-ções mais severas do que o Grupo 2. Um registro obrigatório de complicações emDV, com parâmetros iguais de classificação, torna-se um passo essencial na avaliaçãode riscos do doador.
PO-352 (374)
A EXPERIÊNCIA CIRÚRGICA COM A RESSECÇÃO HEPÁTICA DE TUMO-RES É SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE DOADORVIVO? ANÁLISE COMPARATIVA DO RISCO DA DOAÇÃO DE FÍGADOUSANDO UM SISTEMA DE GRADUAÇÃO DE SEVERIDADEPACHECO-MOREIRA L, ALVES J, AMIL R, ENNE M, CERQUEIRA A, BALBI E, FILHO G, ROMA J, GONZALES AC,MARTINHO JMHospital Geral de Bonsucesso
Objetivos: Em todos centros de transplantes com doador vivo (DV) a mortalidade ea morbidade dos doadores torna-se um ponto crucial. Uma acurada definição demorbidade em DV ainda não está bem estabelecida. Clavien propôs uma classifica-
ção para graduar os resultados negativos na cirurgia do doador. O objetivo desteestudo é comparar quantitativamente a morbidade entre os primeiros 31 DV e osúltimos 31 DV, submetidos a esta cirurgia num centro de referência em hepatecto-mias para tumor. Métodos: De Dez/01 a Nov/06, 62 DV foram submetidos à hepa-tectomia para transplante, 32 submetidos à lobectomia direita (LD) e 29 submeti-dos à lobectomia esquerda (LE). Os dados foram obtidos através da revisão dosprontuários médicos. Esses doadores foram incluídos em 2 grupos; Grupo 1: osprimeiros 31 DV (Dez/01 – Abr/05), e o Grupo 2: os últimos 31 DV (Abr/05 – Jun/07). A classificação de Clavien Modificada foi usada para graduar a severidade dascomplicações. Foi investigado se a experiência cirúrgica com DV obteve diferençasestatisticamente significativas na morbidade entre esses dois grupos. O teste de Qui-quadrado foi usado para comparar a morbidade entre esses dois grupos, com umíndice de significância de 5%. Resultados: Não houve mortalidade de DV em nossasérie. 25.8% de todas as hepatectomias para doação, apresentaram ao menos umacomplicação, sendo no total 32.3% do Grupo 1 e 16.1% do Grupo 2 (p > 0.05).Quando somente as complicações severas foram analisadas (Graduação 2/3), 8.1%dos doadores apresentaram complicações. O Grupo 1 apresentou 12.9% da gra-duação 2/3 e o Grupo 2 apresentou somente 3.2% (p > 0.05). Talvez essa diferençanão seja significante devido ao pequeno número de doadores incluídos, sobretudo,quando somente as mais severas complicações são analisadas. Foram observadasmais complicações em doadores submetidos à LD. Discussão: A cirurgia do DV paratransplante hepático, representa um procedimento peculiar, mesmo num centrocom grande experiência em ressecções hepáticas. Quando somente as mais severascomplicações são analisadas, há uma tendência de acontecerem mais freqüente-mente em doadores submetidos a ressecção hepática quando a equipe de trans-plante hepático, em sua curva de aprendizado, está adquirindo experiência.
PO-353 (379)
AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DE PACIENTES COM DOENÇA HE-PÁTICA CRÔNICA PELA DINAMOMETRIA DO APERTO DE MÃOCASTRO TM, PEREZ RM, FIGUEIREDO FAFHUPE/UERJ
Fundamentos: A desnutrição protéico-calórica (DPC) é comum em pacientes comdoença hepática crônica (DHC). Os parâmetros nutricionais freqüentemente usadostêm valor limitado nos pacientes com DHC. A dinamometria do aperto de mãoparece ser uma alternativa simples e barata para detectar DPC. O objetivo desseestudo foi medir a força muscular de pacientes ambulatoriais com DHC pela dina-mometria do aperto de mão, comparando-a entre os grupos de pacientes comhepatopatia crônica não cirrótica (HCNC), cirrose compensada (CC) e cirrose des-compensada (CD). Métodos: Foi realizada a dinamometria do aperto de mão dospacientes ambulatoriais com DHC no período de 03/06 a 07/07. A força muscularfoi obtida pela medida da força de preensão palmar através do dinamômetro Jamar,onde a força de preensão pode ser estabelecida em quilogramas/força [Kg/f] ou emlibras/polegadas (lb/pol). Foram realizadas três medições, nos membros dominantee não–dominante, com intervalo de pelo menos um minuto entre elas. O valor finalé a média entre as 3 medidas. A análise estatística foi realizada utilizando o teste Qui-quadrado e teste Exato de Fisher, considerando-se um valor de p < 0,05 para rejei-ção da hipótese nula. Resultados: Foram avaliados 215 pacientes, sendo 115 (53,5%)do sexo masculino, com média de idade de 53 ± 12 anos (18 – 80). Quanto aodiagnóstico, 125 pacientes (59%) apresentavam HCNC, 56 (26%) CC (Child A) e32 (15%) CD (Child B e C). Cerca de 73% da amostra tinha etiologia viral (B ou C).Na dinamometria, a força muscular do membro não-dominante foi de 70 ± 24 lb/pol no grupo de HCNC, 63 ± 25 lb/pol no grupo com CC e 53 ± 26 lb/pol no grupocom CD (p = 0,02; HCNC = CC, HCNC CD, CC = CD). A força muscular domembro dominante foi de 72 ± 24 lb/pol no grupo de HCNC, 69 ± 24 lb/pol nogrupo com CC e 61 ± 24 lb/pol no grupo com CD (p = 0,07). Conclusão: Houveuma redução progressiva da força muscular com o agravamento da doença hepáti-ca. A dinamometria do aperto de mão poderá ser um método adicional importantena avaliação nutricional desses pacientes.
PO-354 (383)
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES AMBULATORIAIS COM DOEN-ÇA HEPÁTICA CRÔNICACASTRO TM, PEREZ RM, FIGUEIREDO FAFHUPE/UERJ
Fundamentos: Desnutrição protéico-calórica é comum em pacientes com doençahepática crônica (DHC). Entretanto, a avaliação do estado nutricional (EN) é umatarefa difícil, pois a própria DHC pode alterar as medidas comumente usadas na avalia-ção nutricional (AN) desses pacientes. Os objetivos desse estudo foram verificar o ENde pacientes com DHC, utilizando medidas subjetivas e objetivas da prática diária, ecompará-las entre os pacientes com hepatopatia crônica não cirrótica (HCNC), cirrosecompensada (CC) e cirrose descompensada (CD). Métodos: Foi realizada AN em 215pacientes ambulatoriais com DHC no período de 03/06 a 07/07. A AN compreendeua avaliação global subjetiva (AGS), antropometria (peso, índice massa corpórea-IMC,dobra cutânea triciptal-DCT, circunferência do braço-CB, circunferência muscular dobraço-CMB, área muscular e área de gordura do braço) e parâmetros laboratoriais
S 96 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
(albumina e linfócitos). O percentual de adequação (adq) foi obtido considerando-seo percentil 50 da tabela de distribuição de percentis como ideal. A análise estatística foirealizada utilizando o teste Qui-quadrado e teste Exato de Fisher. Resultados: Na aná-lise comparativa entre os grupos, observou-se diferença quanto à AGS, que mostrouDPC em 10% do grupo HCNC, 16% do CC e 84% do CD (p < 0,001). Houve tam-bém diferença nos níveis de albumina (HCNC: 4,3 ± 0,4 vs. CC: 4,0 ± 0,4 vs. CD:3,2± 0,6; p < 0,001) e na contagem de linfócitos (HCNC: 2183 ± 937 vs. CC: 1909 ± 931vs. CD: 1389 ± 788; p < 0,001). Não se observou diferença entre os grupos quanto aopeso (p = 0,40), IMC (p = 0,24), DCT (p = 0,57), DCT % adq (p = 0,69), CB (p = 0,69),CB % adq (p = 0,91), CMB (p = 0,61), CMB % adq (p = 0,96), área muscular do braço(p = 0,77) e área de gordura do braço (p = 0,56). Conclusão: A AGS, apesar depotencialmente subestimar a DPC em pacientes com HCNC e CC, se mostrou ummétodo melhor para detectar DPC do que as medidas objetivas antropométricas, queforam pouco sensíveis para diagnosticar DPC em todos os espectros da DHC. Poroutro lado, as medidas objetivas laboratoriais comumente usadas na prática clínicapara AN também refletem a gravidade da doença hepática, o que pode limitar suaacurácia no diagnóstico de DPC. Novos métodos objetivos de AN precisam ser incor-porados na prática diária.
PO-355 (386)
ALTA PREVALÊNCIA DE CIRROSE HEPÁTICA ASSOCIADA À CO-INFEC-ÇÃO PELOS VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) E DA IMUNODEFICIÊNCIAHUMANA (HIV)BRANDÃO-MELLO CE1,2, AMENDOLA PIRES MM1, GRIPP K1, PAZ JCC1, ABRANTES J1, DI GRECCO T1, LEMOS FR1,BISCAIA L1, COELHO HSM2
1. Serviço Hepatologia do HUGG (UNIRIO) e 2. HUCFF - UFRJ
Introdução: A co-infecção HBV - HIV é condição freqüente (10%), devido às seme-lhanças epidemiológicas compartilhadas por ambos os vírus. A infecção pelo HIVmodifica o curso natural da infecção pelo HBV, permitindo maior replicação viral doHBV e menor dano celular. Com o advento da terapia HAART houve melhora daqualidade da resposta imune celular, porém, paradoxalmente, a restauração imunepromove injúria hepatocelular e, ocasionalmente, o surgimento de doença hepáticacrônica. Objetivos: Avaliar a prevalência de doença hepática crônica e o estadia-mento clínico, virológico e morfológico dos co-infectados. Pacientes e métodos:No período de junho de 2000 à agosto de 2007 foram avaliados os aspectos demo-gráficos (idade, sexo), clínicos, bioquímicos (alt, ast, albumina, protrombina, bilirru-bina), sorológicos (HBeAg-anti-Hbe), histológicos e virológicos (HBV-DNA e HIV-RNA) de uma coorte de co-infectados HBV-HIV . Resultados: Foram analisados 57pacientes, sendo 96% do sexo masculino, com média de idade de 42,8 ± 8,5 anos,com predomínio de aquisição sexual (80%). A maioria (93%) encontrava-se em usode terapia HAART e sob o ponto de vista clínico, apresentavam-se assintomáticos(92%), sendo que hipertensão porta foi identificada em 7%. Destes 57, 70% eramHBeAg (+), com média de carga viral de HBV-DNA, HIVRNA e de títulos de CD4 de4.1 x 108 cópias, 4.0 x 104 cp/ml e 423 ± 264 cél./mm3, respectivamente. Asmédias de alt, ggt, ast, alb., AP e BT foram, respectivamente, de 77, 93, 67, 3.9,84% e 0.9. 20/57 (35%) submeteram-se à biópsia hepática sendo que fibrose avan-çada (F5-F6) foi observada em 12 (60%) e Fibrose Leve (0-2) em 7 (35%). Trinta edois (59%) pacientes foram tratados com lamivudina, 16 com tenofovir (29,6%) e 6com entecavir (11.1%), estes dois últimos utilizados como resgate de cepas resisten-tes à lamivudina. Conclusões: A co-infecção HBV-HIV na era HAART caracteriza-sepredominantemente por formas de hepatite crônica HBeAg (+), com tendência evo-lutiva para cirrose em grande número, provavelmente devido à restauração da imu-nidade celular e pelo desenvolvimento de cepas mutantes e resistentes à lamivudina,caracterizadas por viremia elevada do HBV-DNA.
PO-356 (395)
FECHAMENTO DE FÍSTULA DE PAREDE ABDOMINAL COM CIANOA-CRILATO-RELATO DE CASOBASTO ST, SOUSA C, FERNANDES E, RIBEIRO J, COELHO HSMServiço de Hepatologia e Programa de Transplante Hepático – HUCFF/Universidade Federal do Rio de Janeiro
M.J.B.G, 65 anos. Paciente com diagnóstico de cirrose por hepatite C, Child PughC13. Apresentava ascite refratária, tensa, com necessidade de paracentese de alívioem duas ocasiões. Portadora de hérnia umbilical volumosa, não redutível e doloro-sa. Internada em março de 2007 devido a peritonite bacteriana espontânea e eleva-ção de escórias nitrogenadas. Durante esta internação evoluiu com fístula espontâ-nea de parede abdominal, na topografia da hérnia umbilical, onde observava-seorifício pontual que drenava cerca de 500 ml de ascite ao dia. A Paciente foi subme-tida a paracentese de alívio com esvaziamento parcial de ascite, e curativo compres-sivo, sem interrupção do fluxo contínuo de líquido ascítico. Em função da drenagemmantida de ascite, a paciente apresentava dificuldade de controle hídrico e ajusteeletrolítico além de dificuldade de mobilização fora do leito. Após 23 dias de abertu-ra do orifício da fístula a paciente foi submetida a aplicação de cianoacrilato (derma-bond® – Johnson & Johnson). Foi utilizada agulha inserida no frasco como aplicadore introduzido parte do conteúdo no orifício fistuloso, além de selamento externo. Apaciente evoluiu com fechamento completo da fístula, que persistiu por 3 meses, atéa realização de transplante hepático. 12 horas após o procedimento, apresentou dor
no local que cedeu com dipirona. Atualmente a paciente passa bem com 2 meses depós operatório. Discussão: A persistência de drenagem de ascite através de fístulaespontânea acarreta dificuldade no manejo clínico destes pacientes além de riscoaumentado de infecção. O fechamento da fístula de parede abdominal cirurgica-mente pode submeter estes pacientes a um risco elevado, dada a gravidade dosmesmos. Há apenas 1 relato na literatura de uso de cianoacrilato como opção parafechamento de fístula de parede abdominal. Existem alguns trabalhos utilizandocianoacrilato para fechamento de fístulas pancreáticas, biliares, oculares e até mes-mo como selamento hepático após biópsia. O cianoacrilato pode ser uma opção nomanejo desta intercorrência, possibilitando uma evolução melhor até o transplante.
PO-357 (408)
AVALIAÇÃO DAS AMINOTRANSFERASES DE PACIENTES HOSPITALIZA-DOS COM HIV/AIDS NÃO CO-INFECTADOS PELOS VÍRUS DAS HEPA-TITES B E CLANZARA G, MELLO AHW, MAIA FKOUniversidade Federal de São Paulo, São Paulo
Fundamentos: Alterações dos níveis de transaminases em indivíduos infectados peloHIV podem estar relacionadas diretamente ao vírus, às afecções oportunistas, à toxici-dade das drogas anti-retrovirais e daquelas usadas para condições associadas à AIDS, àalterações metabólicas, ao uso de álcool ou ainda não ter etiologia definida. Estudar aprevalência e a gênese do acometimento hepático nesta população é importante paraprover melhor assistência. Objetivos: Avaliar as alterações de aminotransferases depacientes hospitalizados com HIV/AIDS não co-infectados pelo vírus da hepatite B e C.Materiais e métodos: Estudo observacional prospectivo, realizado no Hospital SãoPaulo/UNIFESP, de maio a julho de 2007. O limite superior de normalidade para TGO,TGP e GGT foi 32, 42 e 30U/L, respectivamente. Aplicado o questionário CAGE paradiagnóstico de etilismo. Resultados: Incluídos 14 pacientes, com média de idade de43 ± 11 anos, 64% do sexo masculino. O tempo médio de diagnóstico de infecçãopor HIV foi de 44 meses (0-168 meses). Quanto a forma de exposição ao vírus, 50%referiram contágio sexual, 7% parenteral e 43% desconhecido. 23% foram classifica-dos como etilistas. O motivo da internação foi doença definidora de AIDS em 71% doscasos. A média de CD4 foi 120 cels/mm3 e da carga viral 90217 cópias/ml. Quanto aprevalência de alterações das transaminases, observou-se que 57,1% dos pacientesapresentavam valores acima da normalidade de TGO, 21,4% de TGP e 100% de GGT.Apenas 57,1% dos pacientes faziam uso de ARV, sendo somente 14% dos inibidoresda transcriptase reversa (ITR) nucleosídeo, 20% dos ITR não-nucleosídeo e 17% dosinibidor de protease potencialmente hepatotóxicos. Entretanto, 93% dos pacientesfaziam uso de alguma outra medicação potencialmente hepatotóxica. A comparaçãodos pacientes com ou sem alterações hepáticas não revelou nenhuma diferença esta-tisticamente significante. Conclusão: Neste estudo destacou-se a alta freqüência dealteração de transaminases. O uso de ARV hepatotóxicos foi restrito, porém o de ou-tras medicações hepatotóxicas elevado. Este estudo será ampliado para melhor definiretiologias de alterações hepáticas em pacientes HIV/AIDS.
PO-358 (422)
DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CELÍACA (DC) AO LONGO DA INVESTI-GAÇÃO DE ENFERMIDADE HEPÁTICA: DOENÇA HEPÁTICA DE BASE EIMPORTÂNCIA DO ANTICORPO ANTI-RETICULINASANTOS MSC, BRITO T, ABRANTES-LEMOS CP, DEGUTI MM, MELLO ES, CARRILHO FJ, CANCADO ELRDepartamentos de Patologia e Gastroenterologia, LIM-06 Instituto de Medicina Tropical FUMSP, São Paulo
Fundamentos: O envolvimento hepático é uma das manifestações extra-intestinaismais freqüentes na DC. Por essa razão, é comum a pesquisa dos auto-anticorposhepáticos para investigação de alterações de enzimas hepáticas, como também arealização do exame endoscópico digestivo em portadores de hepatopatia crônicaque ignorem ser portadores de DC. Objetivos: Definir como foi diagnosticada DCem pacientes com doença hepática identificada previamente e caracterizar a doençahepática de base. Métodos: 37 pacientes (24 mulheres, 32 raça branca [4 mulatose um negro], idade de 2-68 anos, mediana 35 anos) com diagnóstico de DC (soro-logia e biópsia duodenal compatíveis) foram identificados ao longo de 10 anos,durante a investigação de doença hepática inicialmente detectada. Resultados: Em27 pacientes (73%), o diagnóstico de DC foi decorrente da reatividade do anticorpoanti-reticulina e confirmação posterior do anticorpo antiendomísio; em 6 pacientesem conseqüência de manifestações compatíveis com DC (diarréia crônica, hiper-transaminasemia criptogênica e anemia); em 3 pelo achado de atrofia de pregasduodenais durante procedimento endoscópico; em um durante rastreamento diag-nóstico de DC em pacientes com doença auto-imune hepática ou hipertensão por-tal não cirrótica. Os diagnósticos das doenças hepáticas de base foram: 8 hiperten-são portal não cirrótica (6 hiperplasia nodular regenerativa), 5 hepatite auto-imune,4 hipertransaminasemia criptogênica (sem biópsia hepática), 4 hepatite C, 3 hepa-topatia alcoólica, 3 cirrose biliar primária antimitocôndria negativo e 1 antimitocôn-dria positivo, 3 fígado reacional à biópsia hepática, 2 hepatite B, 2 hepatite crônicacriptogênica, 1 vasculite granulomatosa e 1 hepatite aguda criptogênica. A evolu-ção da doença hepática foi dependente principalmente da doença hepática de base,de acordo com seu tratamento específico. Conclusões: Reatividade do anticorpo
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 97
anti-reticulina foi a pista mais importante para se pesquisar DC. Hipertensão portalnão cirrótica, especialmente a hiperplasia nodular regenerativa foi a doença hepáti-ca de base mais importante na presente série de doentes celíacos.
PO-359 (425)
TRABALHO DE COMPARAÇÃO CLÍNICA SOROLÓGICA E MOLECULARENTRE PACIENTES COM INFECÇÃO ÚNICA PELO VÍRUS HEPATITE B ECOM INFECÇÃO DUPLA PELO VÍRUS HEPATITE DELTA (VHD)KIESSLICH D, FERREIRA F, FELGA GEG, CRISPIM M, KOMNINAKIS S, SANTOS C, DIAZ RUniversidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de São Paulo
Como as hepatites B e Delta representam dois graves problemas de saúde públicana Amazônia brasileira, estabelecemos um protocolo de estudo que teve como ob-jetivos identificar os genótipos dos vírus B e Delta na Amazônia Ocidental, e compa-rar características sorológicas, bioquímicas e moleculares entre indivíduos com in-fecção única e dupla. O estudo teve um delineamento do tipo caso-controle, para oqual foram selecionados 190 portadores crônicos de infecção única por VHB (con-troles), e 50 portadores de infecção dupla VHB/VHD (casos). Após diagnóstico clíni-co, detectou-se os marcadores sorológicos HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe e anti-HDV, além da quantificação do DNA do VHB, e do RNA do VHD, por PCR em TempoReal. Amostras positivas para DNA do VHB foram genotipadas por meio da PCR cominiciadores tipo específicos e as positivas para o RNA do VHD por Análise de Polimor-fismo de Fragmentos de Restrição. A comparação entre ambos mostrou que pacien-tes anti-delta reativos apresentavam média mais elevada de ALT e BT do que contro-les, e doença hepática mais avançada. Pacientes anti-delta reativos apresentavamuma menor taxa de detecção de DNA e viremia mais baixa, quando comparados àmonoinfecção (p = 0.020). Foram identificados os genótipos A (54.6%), D (19.6%)e F (25.8%) do VHB, sendo que o D foi associado a níveis mais elevados de ALT (p =0.018). Todos os pacientes com VHD apresentavam o genótipo III. A mediana dacarga viral do VHB foi igual a 1.551 cópias/mL, entre os pacientes anti-delta reativos,e de 7.768 cópias/mL entre os não reativos (p = 0.027), enquanto que a mediana dacarga viral do VHD foi igual a 1.100 cópias/mL. A mediana da carga viral do VHBdiferiu segundo o diagnóstico dos pacientes avaliados, sendo 2.425 cópias/mL nosassintomáticos, 7.068 cópias/mL nos pacientes com hepatite crônica, 6.526 cópias/mL nos pacientes com cirrose hepática e 57.058 cópias/mL nos pacientes com he-patocarcinoma (p = 0.012). Os resultados encontrados mostram que os diferentesmomentos da história natural da superinfecção pelo VHD, se caracterizam por dis-tintos perfis dos parâmetros bioquímicos, sorológicos e moleculares.
PO-360 (426)
RELATO DE CASO: SARCOIDOSE HEPÁTICA EM PACIENTE ASSINTO-MÁTICOBARBOSA CC, GIRÃO MS, MARTINS CF, PIMENTEL VL, REIS LA, MACHADO RL, SANTANA DM, SOUZA FF,ZAMBELLI LN, MARTINELLI ALHospital das Clínicas de Ribeirão Preto – USP
Paciente WRL, masculino, 53 anos, funcionário de RH, previamente assintomático,notou emagrecimento, procurando clínico para realização de exames de rotina, nomês de julho de 2006. Teve diagnóstico de diabetes mellitus, iniciando tratamentocom hipoglicemiantes orais, e no mesmo mês, realizou USG abdominal, com achadode nódulos hepáticos e esplênicos. Submetido à biópsia hepática via laparoscópica, eencaminhado ao serviço de moléstias infecciosas do HCRP, pelo achado de granulo-mas caseosos no anatomopatológico. Foi internado, para realização de Tomografia detórax e abdômen (em outubro de 2006) com achado de linfadenomegalia perihilar emediastinal, e infiltrado intersticial. Na tomografia de abdome, diversos nódulos hepá-ticos e esplênicos, de natureza a esclarecer. Em novembro de 2006, foi repetida abiópsia hepática, por via percutânea guiada por USG no serviço de radiologia. Foidecidido pelo tratamento empírico com esquema RIP, por 45 dias, e como não houveregressão, foi encaminhado à gastroenterologia. O anatomopatológico da segundabiópsia, teve diagnóstico compatível com sarcoidose hepática. Realizou broncoscopiacom LBA e biópsia às cegas em agosto de 2007, e está em seguimento com a pneu-mologia, com programação de início de terapêutica a ser definida após provas defunção pulmonar. Exames laboratoriais revelam hipocalciúria, sorologias para hepati-tes virais negativas, bem como pesquisa de doenças auto-imunes e de depósito. Des-cartadas doenças hematológicas. Na literatura médica, Dourakius et als (EuropeanJournal of Gastroenterology and Hepatology - Volume 19(2), February 2007, pp 101-104), tem a Sarcoidose hepática como segunda causa mais associada à presença degranulomas hepáticos, e citam algumas casuísticas, nas quais essa doença é uma dasmaiores causas de doença granulomatosa hepática entre os pacientes estudados.
PO-361 (434)
O MELD É EFETIVO PARA PREDIZER MORTE NA LISTA DE TRANSPLAN-TE HEPÁTICO?CASTRO RS, SEVÁ-PEREIRA T, DEI SANTI D, BOIN IFS, ALMEIDA JRS, YAMANAKA A, SOARES ECDisciplina de Gastroenterologia/DCM/Faculdade de Ciências Médicas- Gastrocentro –Unicamp, Campinas, SP
Fundamento: O MELD vem sendo utilizado como índice de severidade de doençahepática na tentativa de otimizar a alocação de órgãos para o transplante (Tx) hepá-
tico. No Brasil, a mudança do critério cronológico pelo critério de gravidade, com aimplantação recente do MELD, merece avaliação. Objetivos: 1. Avaliar a mortalida-de de pacientes em lista de espera de Tx hepático, nos últimos 2 anos. 2. Estudar asvariáveis que podem estar associadas ao óbito nos dois períodos (anterior e poste-rior à introdução do MELD no país). 3. Comparar a eficácia da utilização do escoreMELD com a do Child nos 2 períodos distintos de análise. Métodos: Foram avalia-dos os indivíduos em lista de Tx, atendidos no ambulatório da Gastroclínica, nosperíodos de agosto de 2005 a julho de 2007. As análises corresponderam a doisperíodos de cerca de 1 ano, antes e depois da introdução do MELD no país. Oevento avaliado em ambos os períodos foi o óbito, e as variáveis estudadas foram osescores Child e MELD para ambos os grupos, além dos valores de RNI, albumina,bilirrubina, creatinina e sódio séricos. Ambos os grupos foram comparados, bemcomo pesquisada a associação entre mortalidade na lista de Tx hepático e complica-ções prévias à introdução na lista de Tx. Na análise estatística foram aplicados ostestes do qui-quadrado. Resultados: 1. Foram acompanhados 126 indivíduos (M/F:84/42), com idade entre 17 e 67 anos, todos portadores de cirrose hepática, tendopor etiologia mais freqüentes o VHC e o álcool, totalizando ambos 69%. 2. O núme-ro total de óbitos foi de 21, onze no 1º período e 10 no 2º período. 3. Com relaçãoao primeiro período de estudo, houve associação significante entre óbitos na lista detransplante e as variáveis escore Child (p = 0,0002), níveis de albumina (p = 0,0001)e sódio séricos (p = 0,0047). No segundo período, foram encontradas associaçõessignificantes entre óbitos ocorridos na lista e escores Child (p = 0,0118) e MELD (p= 0,0043), além das seguintes variáveis: RNI (p = 0,03) albumina (p = 0,0003),creatinina (p = 0,0049) e sódio séricos (p = 0,0000). Conclusões: 1- Apesar de oMELD avaliar bem a gravidade na lista de espera para Tx hepático, não houve dife-rença quanto ao número de óbitos em lista nos dois períodos. 2- O Child revelou-secomo um bom marcador de gravidade, em ambos os períodos. 3- A adoção docritério de gravidade na alocação de órgãos no Brasil parece ser mais importante doque o escore adotado.
PO-362 (444)
HEPATITE DELTA – APRESENTAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA EMAMBULATÓRIO ESPECIALIZADO NO AMAZONASSILVA MJS, ROCHA CM, CAMARGO KM, CAMPOS JG, KIESSLICH D, BESSA A, FERREIRA LFServiço de Hepatologia -Hospital Universitário Getúlio Vargas - Universidade Federal do Amazonas – Manaus/AM
Fundamentos: A co-infecção dos vírus da hepatite B (HBV) e hepatite Delta (HDV)não é rara no Amazonas, por compartilharem rotas de transmissão e semelhantedistribuição geográfica. A infecção combinada resulta em doença hepática grave emaior risco de hepatocarcinoma. Objetivo: Avaliar a epidemiologia e a forma deapresentação clínica da co-infecção HBV-HDV. Métodos: Estudo retrospectivo depacientes co-infectados HBV-HDV acompanhados ambulatorialmente no períodode 2000 a 2007. Foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, sexo, naturalidade,profissão, vida sexual, hemotransfusão, tatuagem, cirurgia, hemodiálise, história fa-miliar de hepatite, modo potencial de contágio, sorologias HBeAg e anti-HCV eapresentação clínica. Resultados: Foram analisados 40 pacientes, que representa-vam 58% (40/69) da população HBsAg (+), com média de idade de 35 ± 11 anos,sendo 58% (23/40) homens. O modo potencial de contágio foi indeterminado em77% (31/40), intra-familiar em 15% (6/40) e sexual em 8% (3/40). Quanto aonúmero de parceiros sexuais, 52% (21/40) referiram um parceiro/ano, 20% (8/40)2 a 5 parceiros/ano, 13% (5/40) mais de 5 parceiros/ano; 15% (6/40) não tiveramcontato sexual no último ano ou esta informação não foi registrada. Os fatores derisco foram: sexo (85% feminino vs 47% masculino), naturalidade (88% interior doAmazonas vs 12% outros estados da região Norte) e história familiar de hepatite(79%). As formas de apresentação clínica foram: hepatopatia crônica com hiperten-são portal (varizes esofagianas ou esplenomegalia) em 65% (26/40) dos casos ehepatite crônica sem hipertensão portal em 35% (14/40). O antígeno HBe foi nega-tivo em 83% (25/30). Houve co-infecção com vírus da hepatite C (anti-HCV +) em3% (1/33). Conclusão: Os pacientes co-infectados HBV-HDV apresentaram sinaisde doença hepática avançada à avaliação inicial. Essa co-infecção se acompanhouda ausência de marcador HBeAg (+), indicando uma infecção de longa data e/ou oefeito inibitório do HDV sobre a replicação do HBV. A maioria dos portadores eranatural de municípios das calhas dos rios Purus, Juruá e Médio Solimões, conhecida-mente de elevada prevalência da infecção pelo HDV.
PO-363 (446)
PREVALÊNCIA DAS HEPATITES B E C EM PACIENTES COM LÚPUS ERI-TEMATOSO SISTÊMICOBAIMA, JP, ROCHA CM, TORRES K, MESQUITA CB, LIMA DSNHospital Universitário Getúlio Vargas - Universidade Federal do Amazonas – Manaus/AM
Fundamentos: Numerosas manifestações extra-hepáticas têm sido associadas àshepatites causadas pelos vírus B (HBV) e C (HCV). O lúpus eritematoso sistêmico(LES) é uma doença reumatológica clássica e sua associação com o HBV e o HCVtem sido questionada. Objetivos: Determinar a prevalência dos marcadores soroló-gicos para os vírus HBV e HCV em pacientes com LES, e comparar os resultados compré-doadores de sangue, para o mesmo período. Métodos: Foram investigadosprospectivamente 124 pacientes com diagnóstico de LES, segundo critérios do Co-
S 98 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
légio Americano de Reumatologia, acompanhados ambulatorial no período de ju-nho/2006 a junho/2007. O grupo controle consistiu de 44.088 pré-doadores desangue do Hemocentro local. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, naturalida-de, sorologias HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total e anti-HCV. Resultados: Os pacientescom LES eram 98% (120/124) do sexo feminino, com idade variando de 18 a 69anos, média de 35 anos. Os pacientes do grupo controle eram 76% do sexo mascu-lino, sendo que 74% tinham idade entre 18 a 38 anos. No grupo de estudo, não foiencontrado paciente portador do HBsAg vs 1% de HBsAg (+) no grupo controle. Oanti-HBs (+) foi identificado em 39% (32/83) dos pacientes com LES, destes, 47%(15/32) tinham anti-HBc total (+), sendo que nos demais havia relato de vacinaçãopara hepatite B. O marcador anti-HBc total esteve reativo em 23% (19/82) dospacientes com LES vs 7% (2.998/44.088) no grupo controle, p < 0,001. Houve umpaciente com sorologia anti-HCV indeterminada, entre os 98 exames realizados,não havendo casos de anti-HCV (+). A prevalência de sorologia anti-HCV (+) em pré-doadores foi de 1,6% (695/44.088). Conclusão: Não identificamos portador doHBV nos pacientes com LES. A elevada prevalência de anti-HBc total nos pacientescom LES pode ser explicada pela naturalidade do grupo, em sua maioria de municí-pios do interior do Estado, locais de maior incidência e prevalência de hepatite B. Oúnico caso de anti-HCV indeterminado aguarda confirmação diagnóstica e, caso seconfirme anti-HCV (+), a prevalência não será superior a dos pré-doadores. Sendoassim, não foi encontrada maior prevalência dos vírus HBV e HCV nos pacientes comLES.
PO-364 (478)
DENGUE - MANIFESTAÇÕES HEPÁTICAS EM PACIENTES HOSPITALI-ZADOS EM UM HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIROPIGNATON GA, BORGES A, GAMA P, CAMPOS T, PAES FS, CHINDAMO MCHospital Barra D’Or –Rio de Janeiro
Fundamentos: A dengue caracteriza-se por síndrome viral aguda com acometi-mento sistêmico e espectro de gravidade variável. As manifestações hepáticas com-preendem desde discretas alterações de transaminases até quadros de insuficiênciahepática aguda. Objetivo: Descrever as alterações hepáticas nas diferentes formasde apresentação da dengue. Metodologia: Foram incluídos pacientes internadosno Hospital Barra D’Or no período de fevereiro a maio de 2007, com diagnósticoconfirmado de dengue por ELISA IgM positivo. Foi realizada análise retrospectiva dacontagem de leucócitos, plaquetas, valores de transaminases, gama-GT e revisãodos aspectos clínicos apresentados por este grupo de pacientes. Foram utilizados oscritérios de classificação de Dengue do Ministério da Saúde, 2006. Resultados: Fo-ram estudados 32 pacientes, 56% do sexo feminino. A média de idade observada foide 45,2 anos (14 a 82 anos). A doença foi classificada como dengue clássica (DC)em 35% (11/32) dos casos, febre hemorrágica da dengue (DH) em 34% dos casos(11/32) e dengue com complicações (DCC) em 31% (10/32). Aumento de transa-minases acima do limite superior da normalidade (LSN) foi encontrado em 75% doscasos (22/32): mediana de AST = 151U/l (variação 26 e 7733U/l) e mediana de ALT= 162U/l (variação 35 a 2766U/l). Elevação significativa de transaminases (acima de3x o LSN) foi observada em 50% dos casos (16/32) e hepatite aguda (transaminases> 10x o LSN), em 18% dos pacientes (5/32). Elevação de gama-GT ocorreu em69,5% (16/23) com mediana de 162U/l (variação de 15 e 936U/l). Do total depacientes com alterações significativas de transaminases, 44% (7/16) apresentavamDH. Leucopenia foi encontrada em 78% dos pacientes com contagem média deleucócitos de 3303/mm3 (1000 a 3600/mm3) e plaquetopenia inferior a 100.000/mm3 foi observada em 72% dos pacientes, com média de 75763/mm3 (7000 a95000/mm3). Derrames cavitários ocorreram em 9% dos casos (3/32). Foram ob-servados 2 óbitos (6%) devido a choque refratário. Conclusão: Alterações hepáticassão freqüentes nos pacientes com dengue. Elevação de transaminases acima de 3x oLSN predominaram na forma hemorrágica da dengue. Hepatite aguda foi observa-da em 18% dos casos, com evolução favorável. Não foram observados casos deinsuficiência hepática aguda.
PO-365 (487)
ETIOLOGIA DA ELEVAÇÃO DA ALT ACIMA DE 300U/L EM AMBULATÓ-RIO ESPECIALIZADOGODOY WC, BARBOZA DV, FERRAZ MLG, SILVA AEBSetor de Hepatite - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP)
Fundamentos: Habitualmente, a elevação sérica da atividade da alanino amino-transferase (ALT) indica agressão ao parênquima hepático. Aceita-se que elevaçõesmaiores que 10x o limite superior da normalidade indiquem dano hepatocelularagudo. Por sua vez, nas agressões crônicas, a ALT dificilmente alcança esses níveis.Obstruções hepáticas agudas também não levariam a aumento tão importante.Objetivos: Determinar a causa do aumento da ALT > 300U/l em pacientes atendi-dos em ambulatório especializado. Métodos: Estudo prospectivo (18 meses de du-ração). Foram incluídos todos os pacientes atendidos no Ambulatório de Hepatitescom elevação de ALT > 300U/L na primeira consulta. Todos foram avaliados pelomesmo médico que realizou anamnese, pesquisa de antecedentes pessoais e familia-res, e exame físico. Na primeira avaliação foi solicitada a pesquisa dos marcadoressorológicos das hepatites A, B e C. Além disso, naqueles com suspeita de hepatite
medicamentosa, foi aplicado o escore de Maria e Victorino (1997). Se com os resul-tados obtidos, a etiologia não fosse definida, na segunda consulta eram solicitadosmarcadores para outros vírus (EBV, CMV), ceruloplasmina e FAN. US abdominal erasolicitado na suspeita de quadros obstrutivos biliares. Resultados: No período deestudo, 92 dos 1287 pacientes novos cadastrados (7,1%) apresentavam ALT > 300U/L na primeira consulta. Destes, 12 (13,0%) foram excluídos por não retornarem àconsulta ou não realizarem os exames solicitados. Assim, 80 pacientes com ALT >300U/l foram analisados. A média de idade foi 33,4 +/- 1,7 anos, 57,5% homens. Amédia da ALT foi 1422 +/- 126U/L e das bilirrubinas totais 6,8 +/- 0,5mg/dL. 66pacientes (82,5%) estavam ictéricos na primeira consulta. As causas de elevação daALT estavam assim distribuídas: hepatites A (28,75%), B (30,0%), C (6,3%), auto-imune (5,0%) e medicamentosa (17,5%); obstrução biliar (5,0%) e miscelânea(7,5%). Nesse último grupo foram incluídos: 2 hepatites alcoólicas e 1 por CMV, e 1colestase familiar idiopática. Conclusões: Nessa população, a maioria dos casos deelevação da ALT > 300U/L ocorreu por dano parenquimatoso hepático (93,8%),sendo que as hepatites virais foram as responsáveis por 66,3% destas elevações. Agrande maioria dos casos foi de hepatite aguda ictérica, o que provavelmente per-mitiu seu diagnóstico nessa fase da doença.
PO-366 (501)
HEPATITE DE CÉLULAS GIGANTES: RELATO DE CASOOLIVEIRA DA, BRITO RC, LOPES AMR, GUIMARÃES APR, SILVA ISS, SILVA LDUniversidade Federal do Pará (Belém-Pará)
Hepatite de células gigantes do adulto é um evento raro e apenas 100 casos foramrelatados nos últimos 20 anos. Tem sido observada em associação com infecçõesvirais, reação a drogas ou desordens auto-imunes, mas, em muitos casos, a etiologiapermanece desconhecida. O quadro clínico varia desde assintomático até sintomasdebilitantes e falência hepática fulminante. Relato de Caso: Paciente masculino, 21anos, branco, encaminhado em 2005 à gastrohepatologia para avaliação de icterí-cia, pesando 57Kg. Iniciou quadro de colúria, icterícia cutâneo-mucosa há aproxi-madamente 10 meses, sem outros sintomas. Exame físico: abdome sem alterações.Observou-se TGO: 486 e TGP: 713, bilirrubina total de 16, bilirrubina indireta 2,6 edireta, 13,4, fosfatase alcalina 392 e gama GT 205. Exames sorológicos: anti-HCV,anti-HBc IgM, HBsAg, Perfil de FAN, anti-HAV IgM, toxoplasmose IgM, citomegalo-vírus IgM, anticorpo anti-mitocôndria, anticorpo anti-músculo liso e anti-LKM-1negativos; e toxoplasmose IgG e citomegalovírus IgG positivos. Ultra-sonografiaabdominal sem alterações. Transferrina, alfa 1 antitripsina, ferritina, ceruloplasminaplasmática e cobre urinário dentro dos padrões de normalidade. Ressonância mag-nética do abdome normal. Biópsia hepática evidenciou: hepatite crônica com mo-derada atividade, estadiamento 3, infiltrado inflamatório portal/septal 2, atividadeperiportal/septal 3, atividade parenquimatosa 3, hepatite de células gigantes pós-neonatal (do adulto). O tratamento foi iniciado em 16/06/05 com azatioprina 50mge prednisona 50mg. Paciente evoluiu sem queixas, com ajuste da medicação em 28/06/07, com 100mg de azatioprina e 20mg prednisona. Os últimos exames realiza-dos revelaram TGO 28, TGP 46, BT 2,5, BI 1,8, BD 0,7, FA 39 e GGT 123. Discussão:De acordo com a literatura estudada, a hepatite auto-imune pode apresentar-secom elevação isolada das aminotransferases e quadro clínico sugestivo de hepatiteaguda viral. O padrão-ouro para investigação diagnóstica e para estadiamento destadoença hepática é a biópsia hepática. Não existe um consenso sobre esquema tera-pêutico a ser introduzido nesses casos. Conclusão: Hepatite de células gigantes éuma forma incomum de hepatite crônica em adultos. O tratamento com corticóideisolado ou em associação com azatioprina pode ser instituído precocemente nestespacientes.
PO-367 (520)
SETENTA HEPATECTOMIAS REALIZADAS EM UM ÚNICO CENTRO EM2005MARTINEZ R, FERNANDES ESM, RIBAS JR, BASTO ST, BENTO G, RIBEIRO FILHO JServiço de Cirurgia Geral, Serviço de Hepatologia - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ
Introdução: A cirurgia do fígado é realizada hoje em locais de excelência com mor-talidade próxima de 0%. Contribui para esse resultado o desenvolvimento de cen-tros de referência formados por equipes multidisciplinares de hepatologia clínica ecirúrgica. Métodos: Nesse trabalho foram analisados retrospectivamente os pacien-tes submetidos à ressecções hepáticas no ano de 2005 no Hospital UniversitáricoClementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Resultados: Nos-sa casuística envolveu 70 pacientes, sendo 39 do sexo feminino e 31 do sexo mascu-lino, com idades entre 18 e 82 anos e idade média de 58 anos. As indicações foram:Metástases tumores de origem colorretal (24); Metástases de tumores neuroendó-crinos (2); Carcinoma hepatocelular em cirrótico (13); Litíase intra-hepática (6);Carcinoma de vesícula (4); Colangiocarcinoma (4); Cistoadenoma hepático (3); Cis-to hepático simples (3); Hemangioma (2); Adenoma hepático (2); Fígado policístico(2); Necrose hepática (2); Tumor fibroso (1); Lesão iatrogênica de via biliar (1); APC(1). As ressecções foram subdivididas em hepatectomias maiores (3 ou mais seg-mentos): 34 e hepatectomias menores (até 2 segmentos): 36. A exclusão vasculartotal do fígado foi realizada em 8 ressecções. A mortalidade observada nessa casuís-tica foi de 2,8% (2 casos em 70). As principais complicações foram: Hemorragia;
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 99
insuficiência hepática; coleções; fístulas e complicações pulmonares. Conclusão: Osautores referem que esse tipo de cirurgia pode ser realizada em hospital públicobrasileiro com resultados semelhantes aos grandes centros mundiais.
PO-368 (119)ROCHA R, GUIMARÃES I, BITENCOURT A, BARBOSA D, ALMEIDA A, SANTOS A, CUNHA B, MARQUES S, COTRIM
HPFaculdade de Medicina – Universidade Federal da Bahia
Fundamentos: Obesidade central (OCT) tem sido correlacionada à resistência àinsulina (RI), fator relevante na patogênese da Doença Hepática Gordurosa NãoAlcoólica (DHGNA). Esta é considerada uma doença hepática freqüente crianças eadolescentes. Objetivo: Avaliar importância da DHGNA e da RI em adolescentesassintomáticos com obesidade central. Métodos: Estudo de corte transversal, queestudou adolescentes entre 11-18 anos com OCT de escolas públicas e privadas emSalvador-Bahia, no período de outubro/05 - outubro/06. A avaliação incluiu circun-ferência da cintura, índice de massa corporal (IMC), ALT, AST e GGT, glicemia einsulina e ultra-sonografia abdominal (USA). Critérios diagnósticos DHGNA: presen-ça de esteatose na USA; história de ingestão alcoólica ≤ 140g/semana; investigaçãonegativa de outras doenças hepáticas. A circunferência da cintura (CC) foi medidano final da expiração normal, na metade entre a porção da última costela e crista
ilíaca. CC normal percentil 75 e CC aumentada percentil > 75, de acordo com aidade e sexo. HOMA [homeostasis model assessment] 3 foi considerado resistên-cia à insulina. Projeto aprovado pelo CEP- MCO-Programa de Pós-Graduação emMedicina e Saúde. Resultados: Avaliados 648 adolescentes e selecionados 168 comobesidade central. Destes 54,2% eram do sexo feminino, com média de idade de13,9 ± 2,0 anos. ALT estava elevada em 0,6% (n = 1) dos casos, GGT em 1,2% (n =2), e 19% (n = 32) apresentavam RI. Na USA 1,2% (n = 2) apresentava esteatosegrau I e 0,6% (n = 1) esteatose grau II. Foi estatisticamente significante a relaçãoentre CC com ALT, GGT e RI (r = 0,3; p < 0,05). Entre os adolescentes com OBC,49,4% tinham SP e 50,6% obesidade. Todos os adolescentes com elevação de ALTe/ou esteatose eram obesos. As médias da CC, ALT e GGT foram estatisticamentemaiores naqueles que eram obesos quando comparados com os que tinham SP(93,8 ± 8,2cm–obesos e 83,4 ± 4,9cm–SP; 33,4 ± 11,1UI/L–obesos e 29,7 ± 8,1UI/L–SP; 23,3 ± 8,4UI/L–obesos e 19,7 ± 5,6UI/L-SP, respectivamente). O HOMA apre-sentou correlação estatisticamente significante com ALT (r = 0,2; p < 0,05) e GGT (r= 0,4; p < 0,05). Apenas um adolescente com GGT elevada tinha RI. Conclusões: a)DHGNA foi freqüente entre adolescentes, que apresentavam obesidade central; b)resistência à insulina, níveis de ALT e GGT se correlacionaram com aumento dacircunferência da cintura; os resultados mostram a importância da investigação daDHGNA em adolescentes para melhor orienta-los.
S 100 GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101
Temas Prêmio
Prêmio Tomaz Figueiredo Mendes
TP-001 (124)
VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS SIMPLESCOMO PREDITORES DE FIBROSE HEPÁTICA EM PORTADORES DE HE-PATITE C CRÔNICACOUTO OFM, RIOS VH, FONSECA LP, FERRARI TCA, TEIXEIRA RAmbulatório de Hepatites Virais do Instituto Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFMG, BeloHorizonte
Introdução: A biópsia é o padrão ouro para o diagnóstico do estádio de fibrose nahepC. Testes simples têm sido estudados como marcadores substitutos. O APRItem demonstrado bom desempenho no diagnóstico de fibrose significativa e cir-rose. O GUCI e o modelo proposto por Lok mostraram potencial utilidade nodiagnóstico de cirrose, mas não foram estudados para o diagnóstico de fibrosesignificativa e não foram validados. Objetivo: Validar esses modelos para o diag-nóstico do estádio de fibrose em pacientes com hepC crônica e investigar novospontos de corte, incluindo valores para o diagnóstico de fibrose significativa comos modelos GUCI e de Lok. Métodos: 248 pacientes com hepC submetidos àbiópsia hepática foram incluídos. O desempenho dos testes foi estudado por meioda sensibilidade (Se), especificidade (Es), valor preditivo positivo (VPP) e negativo(VPN), razões de verossimilhança (RV) para teste positivo e negativo, acurácia eíndice J de Youden. A curva ROC foi utilizada para a definição dos novos pontos decorte. Resultados: Utilizando-se os pontos de corte originais, o APRI apresentouSe e Es de 78% e 97%, respectivamente, para o diagnóstico de fibrose significati-va. O VPP foi igual a 99% e a RV, 30. Para o diagnóstico de cirrose, APRI apresen-tou Se e Es de 63% e 90%, respectivamente; GUCI, 79% e 67%, respectivamentee o modelo de Lok, 96% e 46%, respectivamente. Os novos pontos de corteselecionados a partir das curves ROC foram: para fibrose significativa: APRI: <0,45/>1,2; GUCI: <0,45/>1,4 e Lok: <0,2/>0,6; para cirrose: APRI: <0,42/>2,6, GUCI:<0,46/>2,0 e Lok: <0,3/>0,76. Eles resultaram nos seguintes índices: para fibrosesignificativa: APRI: Se, 88% e Es, 89%; GUCI: Se, 88% e Es, 89%; Lok, Se, 89% eEs, 83%. Para cirrose: APRI: Se, 90% e Es, 86%; GUCI: Se, 97% e Es, 78% e Lok: Se,84% e Es, 89%. Para diagnóstico de fibrose significativa, APRI, GUCI e Lok apre-sentaram as seguintes áreas sob a curva ROC: 0,83; 0,83 e 0,81; respectivamentee para diagnóstico de cirrose: 0,82; 0,82 e 0,81; respectivamente. Conclusão: Nafase de validação, o APRI e o modelo de Lok confirmaram o desempenho reporta-do originalmente. Os resultados obtidos com os novos pontos de corte demons-traram a utilidade potencial dos testes para o diagnóstico de fibrose significativa ecirrose e determinaram que os modelos GUCI e de Lok podem ser utilizados parao diagnóstico de fibrose significativa. Os três testes poderão ter utilidade na avalia-ção do tratamento em pacientes com HCV.
TP-002 (414)
PAPEL DOS DEPÓSITOS DE FERRO NO FÍGADO E DAS MUTAÇÕES NOGENE HFE (C282Y E H63D) COMO FATORES PREDITIVOS DE PROGRES-SÃO DA FIBROSE HEPÁTICA EM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNI-CA (HCC)SOUZA FF, TEIXEIRA AC, CARNEIRO MV, RAMALHO LZ, ZUCOLOTO S, RODRIGUES S, SECAF M, VILLANOVA MG,FIGUEREDO JFC, PASSOS ADC, MARTINELLI ALCDivisão de Gastroenterologia – Departamento de Clínica Médica - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Univer-sidade de São Paulo
Fundamentos: Depósitos de ferro no fígado são freqüentes na hepatite C crônica(HCC), entretanto a relação com progressão da doença hepática é controversa.Mutações no gene HFE (C282Y/H63D) estão associadas a acúmulo de ferro, con-tudo seu papel na gravidade da lesão hepática na HCC não está esclarecido.Objetivos: Avaliar o papel dos depósitos de ferro no fígado das e das mutaçõesno gene HFE como fator preditivo na progressão da fibrose hepática em portado-res de HCC. Pacientes e métodos: Foram incluídos pacientes com HCC e dividi-dos em dois grupos: fibrosantes lentos (FL: 190 pacientes) e rápidos (FR: 77 pa-cientes) de acordo com o tempo calculado para o desenvolvimento de cirrose (≥30 ou < 30 anos, respectivamente). Os dois grupos foram comparados avaliandoos seguintes parâmetros: clínicos, enzimas hepáticas, ferro sérico, ferritina e satu-ração de transferrina. Foi realizada pesquisa das mutações no gene HFE (C282Y eH63D) e avaliação histológica hepática no que tange a atividade necroinflamató-ria (HAI), esteatose, fibrose [0 (ausência de fibrose) a 6 (cirrose)] e depósitos deferro foram avaliados nos tratos portais, hepatócitos e sinusóides de acordo comas zonas acinares (1, 2 e 3), de forma semiquantitativa. Resultados: Depósitos deferro no fígado estiveram presentes em 44,8% dos FL e em 46,1% dos FR, sem
diferença significativa. Entretanto, no grupo com depósitos de ferro escores fo-ram maiores nos FR (6,58 3,8) que nos FL(4,8 3,0) (p = 0,02). FR apresenta-ram maiores escores de ferro na zona 1, hepatócitos, sinusóides e tratos portaisque os FL. A freqüência das mutações HFE foi semelhante nos FL (54/177) e FR(21/72). Análise multivariada considerando idade na biópsia hepática, IMC, pla-quetas, GGT, mutações HFE, presença de depósitos de ferro, presença de esteato-se e escores de HAI, mostrou que HAI ≥ 9, presença de esteatose e contagem maisbaixa de plaquetas foram fatores independentes associados aos FR. Conclusão:Mutações no gene HFE ou presença de depósitos de ferro no fígado não foramfatores de risco para progressão de fibrose na HCC. Entretanto, houve associaçãoentre intensidade dos depósitos de ferro hepático e graus de fibrose, especial-mente, quando os depósitos eram na zona 1, hepatócitos, sinusóides e tratosportais. Foram fatores associados à gravidade da fibrose, HAI, plaquetas e estea-tose.
TP-003 (417)
DEPÓSITOS DE FERRO NO FÍGADO: PAPEL DA LOCALIZAÇÃO E DAINTENSIDADE NA ATIVAÇÃO DAS CÉLULAS FIBROGÊNICAS E NA GRA-VIDADE DA LESÃO HEPÁTICA EM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔ-NICA (HCC)TEIXEIRA AC, SOUZA FF, CARNEIRO MV, RAMALHO L, ZUCOLOTO S, FIGUEIREDO JF, PASSOS A, SECAF M,VILLANOVA MG, MARTINELLI ALCFaculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto
Fundamentos: A fibrose hepática é processo dinâmico, mediado por necroinfla-mação e ativação de células fibrogênicas. Leve a moderada, a sobrecarga de ferroé comumente encontrada nos portadores de infecção crônica pelo vírus da hepa-tite C. Assim, avaliou-se a associação entre depósitos de ferro no fígado, gravidadeda doença hepática, população de células fibrogênicas, e presença de mutaçõesno gene HFE (C282Y e H63D) em pacientes com hepatite C crônica. Métodos:Setenta e cinco pacientes foram avaliados com dosagens séricas de ferro, ferritinae saturação de transferrina; freqüência, localização e semiquantificação dos depó-sitos de ferro nos compartimentos hepáticos e zonas acinares; gravidade da doen-ça hepática (atividade histológica e fibrose); células hepáticas positivas para alfa-actina de músculo liso (α-SMA) e; pesquisa das mutações no gene HFE (C282Y eH63D). Resultados: Dosagens séricas de ferro, ferritina e saturação de transferrinaestiveram alteradas em 15,7%; 27,9% e 27,1% dos pacientes, respectivamente. Amutação no gene HFE esteve presente em 25,4% dos indivíduos. Depósitos deferro no fígado foram observados em 51% dos pacientes, distribuídos principal-mente nos hepatócitos e sinusóides (zonas acinares 1 e 2). Células α-SMA positivasforam encontradas principalmente na zona 1. Houve correlação positiva significa-tiva entre células α-SMA positivas e atividade histológica (p < 0,001), bem comofibrose (p < 0,001). Não houve correlação entre depósito de ferro e atividadehistológica (p = 0,17), ou fibrose (p = 0,24), contudo, essa correlação esteve pre-sente quando avaliadas as células α-SMA positivas (p = 0,02), principalmente nazona 3 do ácino hepático (p = 0,001). Não houve relação entre a presença demutação no gene HFE e depósito de ferro hepático (p = 0,84). Conclusão: Depó-sitos de ferro são comumente encontrados em pacientes com hepatite C crônica,tendo correlação positiva com a população de células fibrogênicas, principalmen-te na zona 3 do ácino hepático, o que reforça a associação entre depósitos de ferrono fígado e fibrogênese.
TP-004 (431)
RESULTADOS COM ENXERTOS HEPÁTICOS MARGINAIS: EXPERIÊNCIADE UM CENTRO TRANSPLANTADORFONSECA NETO OCL, MIRANDA LEC, SABAT BD, GUSMÃO AA, ADEODATO LL, VIEIRA DE MELO PS, LOPES HC,LACERDA CM, PEREIRA LMMBServiço de Cirurgia Geral e Transplante Hepático do Hospital Universitário Oswaldo Cruz - UPE
Fundamentos: O sucesso da cirurgia resultou em rápido crescimento de númerode pacientes que aguardam na fila de espera por um órgão. A oferta de órgãospara transplante não foi capaz de atender a crescente demanda por cirurgias. Paraenfrentar esse problema, algumas alternativas foram propostas, entre elas, a utili-zação de doadores não ideais, chamados doadores marginais. Objetivo: Apresen-tar a experiência do Serviço de Transplante Hepático do Hospital UniversitárioOswaldo Cruz, em transplante de fígado com o uso de doadores marginais. Mé-todos: Foi realizado estudo retrospectivo em 137 transplantes ortotópicos de fíga-do, usando enxertos marginais entre 1999 e 2006, com acompanhamento míni-mo de 180 dias. Os receptores foram classificados de acordo com a função inicialdo enxerto no pós-operatório como normal (FN) e disfunção primária (DP). Re-sultados: Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os gru-
GED 2007;26(Supl 1):S 1-S 101 S 101
pos FN e DP com os seguintes parâmetros dos doadores: Idade, sódio sérico,tempo de protrombina, esteatose hepática, transaminases sérica, pressão sanguí-nea, drogas vasoativas, índice de massa corpórea, parada cardíaca antes da doa-ção de órgão, doador em assistolia e tempo de isquemia quente. Análise da curvade sobrevida (Kaplan-Meier) de pacientes e de enxertos de fígado de pacientesque receberam fígado de doadores ideais versus doadores marginais não mostroudiferença com significância estatística. Conclusões: Os resultados desse estudopermitem recomendar o uso mais tolerante de enxertos marginais, inclusive en-xertos de doadores em assistolia.
TP-005 (529)
YKL-40 E ÁCIDO HIALURÔNICO (AH) COMO MARCADORES DE FIBROSEHEPÁTICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC)EM HEMODIÁLISE E HEPATITE CSCHIAVON LL, NARCISO-SCHIAVON JL, CARVALHO FILHO RJ, SAMPAIO JP, LANZONI VP, SILVA AEB, FERRAZ MLGSetor de Hepatites - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, SP
Fundamentos: Mortalidade elevada e pior prognóstico no pós-transplante têmsido observados entre os portadores de IRC e infecção crônica pelo HCV. Umaadequada caracterização da fibrose hepática é fundamental no manejo destes pa-cientes. Nosso objetivo foi avaliar o YKL-40 e AH como marcadores não-invasivosde fibrose em portadores de IRC com HCV. Métodos: Estudo transversal que in-cluiu portadores de IRC em hemodiálise há pelo menos 12 meses, com HCV-RNA(+)e biópsia hepática avaliada segundo critérios da SBP/SBH. Análise univariada foiusada para identificar fatores associados à presença de fibrose significativa (E > =2). O desempenho diagnóstico do YKL-40 e do AH e os seus melhores pontos decorte foram avaliados por curvas ROC. Resultados: Foram incluídos 185 pacientescom média de idade de 45,2+/-10,9 anos, sendo 64% homens. E > = 2 foi identi-ficado em 45 pacientes (24%). A análise univariada mostrou maior proporção depacientes com APP > = 2 dentre os indivíduos com fibrose significativa (93% vs.41%, P < 0,001). Além disso, entre aqueles com E > = 2, foram observados maio-res níveis séricos de YKL-40 (430+/-161ng/dL vs. 373+/-154ng/dL, P = 0,034) ede AH (medianas de 134ng/dL vs. 79ng/dL, P = 0,003). Maiores medianas de APRIforam encontradas nos pacientes com E > = 2 (0,81 vs. 0,38, P < 0,001). As áreassob as curvas ROC foram: YKL-40 = 0,607; AH = 0,650; e APRI = 0,787 (P < 0,05entre APRI vs. YKL-40 e entre APRI vs. AH). Para o ponto de corte inferior, a sensi-bilidade, o valor preditivo negativo e a acurácia foram, respectivamente: YKL-40 <290: 80%, 84% e 45%; AH < = 64: 80%, 86% e 50%; e APRI < 0,40: 87%, 93% e62%. Para o ponto de corte superior, a especificidade, o valor preditivo positivo ea acurácia foram, respectivamente: YKL-40 > = 520: 80%, 35% e 69%; AH > =205: 84%, 42% e 72%; e APRI > = 0,95: 93%, 66% e 81%. Restringido-se abiópsia aos pacientes com valores intermediários de YKL-40, AH e APRI, ela seriacorretamente evitada em 33%, 39% e 51% dos casos, respectivamente. Conclu-sões: Níveis elevados de YKL-40 e AH foram associados à fibrose hepática signifi-cativa em portadores de IRC e infecção crônica pelo HCV. Entretanto, a acuráciadestes testes foi inferior à do APRI, possivelmente refletindo características especí-ficas desta população.
Prêmio Luiz Carlos da Costa GayottoTP-006 (217)
ASPECTOS FENOTÍPICOS CELULARES DE LEUCÓCITOS CIRCULANTESEM PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICA COM E SEM INSUFICIÊN-CIA RENAL CRÔNICABARBOSA KVBD1, TEIXEIRA R1, MARTINS FILHO OA2
1. Ambulatório Hepatites Virais–Instituto Alfa Gastroenterologia-UFMG; 2. FIOCRUZ-Belo Horizonte. Instituiçõescolaboradoras: Fundação Hemominas e Núcleo de Nefrologia
Fundamentos: O sistema imune desempenha papel crítico na história natural dainfecção pelo vírus da hepatite C (HCV). Os conhecimentos sobre aspectos imunoló-gicos na infecção pelo HCV, particularmente em portadores de insuficiência renalcrônica (IRC), são limitados. Métodos: Estudou-se quatro grupos: G1- 15 doadoresde sangue; G2- 19 portadores de IRC não infectados pelo HCV; G3- 20 portadorescrônicos de HCV sem IRC e G4- 16 portadores crônicos de HCV com IRC (hemodiá-lise). A infecção crônica foi confirmada por HCV-RNA (PCR). Realizou-se ensaios deimunofenotipagem “ex-vivo” dos leucócitos periféricos, marcados por anticorposmonoclonais conjugados com fluorocromos, posterior análise da imunofluorescên-cia por citometria de fluxo (FACScan-BD), utilizando-se o programa CELLQuestTMpara aquisição e análise dos dados. Resultados: Maior freqüência de linfócitos Tativados CD4+HLA-DR+ e CD8+HLA-DR+ e células NK e NKT foi característica dosgrupos G3 e G4, independente da presença de IRC. Particular a G3: A-aumento daexpressão de CXCR3 (receptor quimiocina Th1) e uma redução da expressão deCCR3 (quimiocina Th2) em CD4+; B-correlação inversa entre CD8+HLA-DR+ e car-ga viral; C-correlação positiva entre CD8+CXCR3+ e CD8+DR++ e entre o percen-tual de células T reguladoras (Treg) CD4+CD25+High e CD4+DR++. Grupos G2 eG4: evidente participação da imunidade inata, via ativação de monócitos(CD14+CD16+HLA-DR++) e retração no compartimento de linfócitos B (LB) CD19+decorrente da redução de LB1 (CD19+CD5+), paralela à diminuição de LB ativados(CD19+CD23+), independente da presença de infecção crônica HCV. Particular aG4: A- percentual elevado de NK com maior potencial citolítico (NKCD3-CD16-CD56dim) e menor produção de IFN-g (diminuição NKCD3-CD16+CD56bright);B- redução, de forma global, da expressão de receptores de quimiocinas em CD4+e CD8+; C- correlação inversa entre CD4+DR++, como também, CD8+DR++ comníveis ALT; D- correlação inversa entre Treg CD4+CD25+High e CD8+HLA-DR. Con-clusões: Os resultados demonstram perfis distintos de resposta imune entre os por-tadores de hepatite C crônica com e sem IRC associada.
TP-007 (360)
EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO AUTONÔMICA E DO TRÂN-SITO INTESTINAL NA CIRROSE HEPÁTICA DE ETIOLOGIA NÃO ALCOÓ-LICA. ASSOCIAÇÃO DA DISFUNÇÃO AUTONÔMICA COM A OCOR-RÊNCIA DE ENCEFALOPATIA HEPÁTICANAGASAKO CK, FIGUEIREDO MJO*, ALMEIDA JRS, LORENA SLS, YAMANAKA A, PEREIRA TS, SOARES EC, MES-QUITA MADisciplinas de Gastroenterologia e Cardiologia*, DCM, Gastrocentro, FCM, Universidade Estadual de Campinas
Os dados referentes à função autonômica na cirrose hepática (CH) não alcoólica sãocontroversos. Objetivos: Avaliar a presença de disfunção autonômica nesses pacien-tes, e sua possível associação com a gravidade da disfunção hepática, presença dedismotilidade intestinal, e ocorrência de complicações. Métodos: Foram estudados34 pacientes com CH não alcoólica. A atividade autonômica foi avaliada pelos testesde reflexos cardiovasculares e pela análise da variabilidade da freqüência cardíacaem 24 horas. O estudo do tempo de trânsito orocecal (TTOC) foi realizado peloteste do H2 no ar expirado. Resultados: No grupo dos pacientes Child B/C, osvalores dos parâmetros da atividade autonômica foram significativamente menores(p < 0,05) em relação aos controles e ao grupo Child A, enquanto que os valores doTTOC foram maiores que os dos controles (p = 0,02). Não houve correlação entreTTOC e disfunção autonômica. Houve associação significativa entre a disfunção au-tonômica e a ocorrência de encefalopatia hepática e óbitos durante o seguimentodos pacientes. Conclusão: A disfunção autonômica é freqüente na CH não alcoóli-ca, e parece estar relacionada com o grau de disfunção hepática, com a ocorrênciade encefalopatia, e com um pior prognóstico destes pacientes.