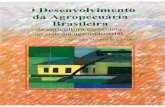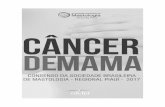RESBCAL - Revista da Sociedade Brasileira de Ciência em ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of RESBCAL - Revista da Sociedade Brasileira de Ciência em ...
RESBCALREVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO
Volume 5 - Número 2 - 2017São Paulo - SP
Publicação Semestral
RESBCAL São Paulo v. 5 n. 2 p. 99-166 Jun. 2017
ISSN 2238-1589
100 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.1, pg. 5, 2016
© 2012 – Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de LaboratórioPublicação semestral/ Published two times to the year Tiragem/Print-run: 100Impresso no Brasil/Printed in BrazilProjeto Gráfico e Normalização: PoloPrinter Produção Gráfica e Impressão: PoloPrinter www.poloprinter.com.br
A RESBCAL – Revista da Sociedade Brasileira de Ciên-cia em Animais de Laboratório é uma publicação cientí-fica tri- mestral voltada à Promover a educação e a atua-lização de profissionais que atuam na área da ciência de animais de laboratório. Divulga artigos de autores nacio-nais e estran- geiros, selecionados com base em critérios de originalidade e qualidade, em um processo de Double blind review.
Direito AutoralAs matérias assinadas são de total e exclusiva responsabi- lidade dos autores. Por meio do documento “Declaração de Originalidade e Cessão de Direitos autorais”, firma-do quando da publicação de artigo, os autores declaram ser responsáveis por seu conteúdo, citações, referências e de- mais elementos que o compõem, bem como não existir impedimento algum, de qualquer natureza, para a sua di- vulgação. Declaram ser ele original, inédito e de sua auto- ria e autorizam sua reprodução, divulgação,
distribuição, impressão, publicação e disponibilização, por parte da RESBCAL, em mídias impressa e eletrô-nica ou em qualquer forma ou meio que exista ou venha a existir, nos termos da legislação vigente. A cessão de direitos autorais é feita a título não exclusivo e gratuito, abrangendo a totalidade do artigo, válida em quaisquer países, em língua portuguesa ou outra ou tradução, a cri-tério da RESBCAL.
Permissão de UtilizaçãoÉ permitida a publicação de trechos e artigos, desde que citada a fonte. Todos os direitos desta edição são reser-vados a Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório – SBCAL. Esta permissão de utilização in-clui o direito de ler, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar e estabelecer referências aos textos integrais da Revista.
FiliaçãoA RESBCAL é uma publicação da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório.
EndereçoSociedade Brasileira de Ciência em Animais de Labora-tório Rua Três de Maio, 100 – Biotério do INFAR – UNI-FESP Vila ClementinoSão Paulo/SP – Brasil 04044-020Telefone: 55 11 5576-4441E-mails: [email protected]; [email protected]
ISSN 2238-1589
CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃOElaborada por Maria Cláudia Pestana CRB-8/6233
Revista da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório / Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório. – v. 5, n. 2 (2017)- . - São Paulo : SBCAL, 2012-
SemestralISSN: 2238-1589
1. Animais de laboratório. 2. Ciência dos animais de laboratório. I. Sociedade brasileira de Ciência em Animais de Laboratório.
CDD 619
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.1, pg. 5, 2016 101
Desde 2012 a Revista da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório, continuamente, busca promover através da suas publicações um
meio de difusão, discussão e intercâmbio de experiência entre os pesquisadores da área de ciência de animais de laboratório.
Ultrapassamos o número de 100 artigos publicados dentre eles, artigos com resultados originais, revisões bibliográficas, experiência em gestão de biotérios e resumos de congressos e eventos relacionados a uso de animais de laboratório.
A idealização e implantação da RESBCAL pelas Dras Valderez Lapchik, Vania Mattaraia e Gui MiKo, até o presente momento, permanece com a mesmo
compromisso e missão: possibilitar o desenvolvimento da ciência de animais de laboratório em caráter multidisciplinar e incentivar a alunos, técnicos,
pesquisadores a descreverem e divulgarem seus resultados e experiências para que possamos juntos elevar o conhecimento sobre o uso dos nossos animais e
consequentemente realizar desse uso uma ciência com caráter de excelência em nosso País.
Gabriel Oliveira
EDITO
RIAL
102 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.1, pg. 5, 2016
Nesse número estão contidos os resumos apresentados no II Seminário de Ciência e Tecnologia em Biomodelos promovido pela Coordenação do Mestrado Profissional
em Ciência de Animais de Laboratório do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/FIOCRUZ) com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Gabriel Oliveira
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 103, 2017 103
107-115
ARTIGO DE REVISÃOANALGESIA E ANESTESIA EM MODELOS EXPERIMENTAISBrenda Diniz Rodrigues, Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro de Macedo Loureiro, Luane Cristine Batista Cunha, Richard Franco da Silva Moraes, Rosa Helena de Figueiredo Chaves Soares
ARTIGOS ORIGINAISESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIALCláudia Andréa de Araújo Lopes, Gabriel de Moraes Leal, Victor Cavalcante Basílio, Janice Biazzi Pires, Carlos Alberto Soares Raimundo, Andréa Moreira Paulino
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE RATOS WISTAR PROVENIENTES DO BIOTÉRIO DA PUC – GOIÁSFlorencia Camila Gonçalves, Claudio Quintino de Lima Junior, Clayson Moura Gomes, Graziela Torres Blanch, Sérgio Henrique Nascente Costa, Karlla Greick Batista Dias Penna
FECAL SCORE AND CECUM PROFILE OF WISTAR RATS FED A NOVEL YACON BASED PRODUCT SOURCE OF FRUCTOOLIGOSSACHARIDES/INULINHudsara Aparecida de Almeida Paula, Hércia Stampini Duarte Martino, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Tânia Toledo de Oliveira, Mário Jefferson Quirino Louzada, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira
RESUMOS
116-126
127-133
134-143
144-162
SUMÁ
RIO
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017 107
ISSN 2238-1589
ANALGESIA E ANESTESIA EM MODELOS EXPERIMENTAIS
Brenda Diniz Rodrigues¹, Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro De Macedo Loureiro¹, Luane Cristine Batista Cunha¹, Richard Franco da Silva Moraes², Rosa Helena de Figueiredo Chaves Soares³
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a responsabilidade de zelar pelo bem--estar dos espécimes utilizados como modelos experimentais. Sabe-se hoje que os animais mais usados para os fins de experimentação são roedores, suínos, caninos e ovinos que são seres sensientes, isto é, mesmo não sendo dotados de autoconsciência, são capazes de sentir dor e prazer. Tendo isso em vista, é necessário a responsa-bilidade de zelar pelo bem-estar dos espécimes utilizados. A técnica de analgesia e anestesia propõe auxiliar o pesquisador a eliminar todo e qualquer sofrimento evitável desses animais com auxílio da técnica anestésica e da analgesia bem conduzidas, contribuindo tanto para a ciência, para o pesquisador quanto para segurança, bem--estar e recuperação do animal.
Palavras-chave: Modelos Animais, Analgesia, Anestesia.
1. Mestranda do programa em Cirurgia e Pesquisa Experimental (CIPE), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém-PA, Brasil;
2. Graduando em medicina, Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ), Belém-PA, Brasil.
3. Doutoranda, Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém-PA, Brasil.
DATA RECEBIMENTO: 09/11/2017ACEITO PARA A PUBLICAÇÃO: 01/12/2017
AUTOR PARA CORRESPONDÊNCIA: Luane Cristine Batista Cunha E-mail: [email protected]
INTRODUÇÃO
A pesquisa envolvendo animais de experimen-tação, atrelada ao propósito de alavancar os avan-ços científicos presentes em seus objetivos, carrega consigo a responsabilidade de zelar pelo bem-estar dos espécimes nela utilizados. Sabe-se hoje que os animais mais usados para este fim (roedores, suínos, caninos e ovinos) são seres sensientes, isto é, mesmo não sendo dotados de autoconsciência, são capazes de sentir dor e prazer. É obrigação do pesquisador eliminar todo e qualquer sofrimento evitável por parte desta população com auxílio da técnica anestésica e da analgesia bem conduzidas, e estes propósitos devem ser considerados tão importantes quanto a obtenção dos resultados do experimento.1
É importante observar o animal em sua integra-lidade, isto é, nos âmbitos físico e psicológico, e em todos os momentos relativos ao procedimento
proposto (antes, durante e depois). A aplicação racional de protocolos de anestesia e analgesia é fundamental para uma condução mais eficiente e padronizada, com a menor interferência possível no experimento realizado e, consequentemente, sem alteração nos dados que estiverem sendo registrados. Seus objetivos são: permitir a con-tenção humanitária do animal, promover um grau razoável de relaxamento muscular para facilitar a cirurgia e produzir analgesia suficiente a fim de que o animal não sofra. 2
A seleção criteriosa do agente anestésico deve levar em consideração tipo de droga, dose e via de administração. São priorizados anestésicos que possuem efeitos consistentes, reprodutíveis e que oferecem margem de segurança tanto para o animal quanto para o operador. No caso de um estudo em que o animal tenha que se recuperar da anestesia, este deve retornar à sua normalidade fi-siológica tão rapidamente quanto possível. Se após o procedimento anestésico o animal sofrer de dor,
ARTIGO DE REVISÃO
RESU
MO
108 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017
ANALGESIA E ANESTESIA EM MODELOS EXPERIMENTAIS
medo, inapetência, desconforto, hipotermia, hipó-xia ou acidose respiratória, estes são indicativos de uma anestesia mal-conduzida.1
Cuidados pré-operatórios:
1) Planejamento:Antes da definição da técnica e do agente
anestésico, é conveniente responder aos seguintes questionamentos, conforme sugerido por Neves:
Qual a duração e a profundidade da anestesia desejada?
Qual é o grau de analgesia produzido?
A qualidade da analgesia é satisfatória?
Há interações específicas com o proto-colo experimental?
Existem requisitos legais e/ou regula-mento para o uso de narcóticos?
É uma técnica de fácil realização?
É confiável e reprodutível?
É reversível?
O operador está familiarizado com a técnica?
Qual é o custo do procedimento?
Todos os agentes químicos relacionados com a técnica estão disponíveis?
Figura 1 - Questionamento para seleção de técnicas anestésicas. Fonte: Neves, et al. (2013)1
Sempre que se for anestesiar ou aplicar agentes analgésicos em um animal, o pesquisador deve considerar os seguintes fatores: a) Relacionados ao animal: idade, sexo, espécie,
temperamento, linhagem, status sanitário. É importante avaliar a resposta individual de cada espécime aos agentes administrados.
b) Relacionados ao procedimento: técnica sele-cionada, duração do procedimento, grau de dor e/ou desconforto que o procedimento possa causar ao animal, treinamento das pessoas envolvidas, manuseio cuidadoso do espécime.3
c) Relacionados ao laboratório: avaliar se o am-biente e os materiais disponíveis são adequa-dos à realização do procedimento proposto.
d) Relacionados ao período pós-procedimento: em caso de procedimento não-terminal, avaliar os efeitos do anestésico no pós-operatório. 1
Os animais deverão ser submetidos a exame clínico meticuloso antes de serem anestesiados. Um animal saudável e livre de infecções (clínicas ou subclínicas), sobretudo do trato respiratório, terá menos problemas durante a anestesia. Pesar o animal antes da intervenção é importante tanto para o cálculo da dose adequada de todos os fár-macos como para o acompanhamento da evolução pós-operatória em caso de procedimentos não terminais – se houver perda ponderal maior que 10 a 15% nos primeiros dias de pós-operatório é indicada a eutanásia.4
Não é necessário jejum prévio em coelhos e roedores antes da anestesia pois esses animais não vomitam; além disso, os roedores se tornam hipoglicêmicos muito rapidamente quando em jejum. A restrição alimentar deve ocorrer somen-te quando for estritamente necessária e estiver especificada no protocolo de pesquisa aprovado na CEUA da Instituição. Caso seja necessário es-tômago completamente vazio para a intervenção (cirurgia gastrointestinal superior, por exemplo), além da restrição à dieta, deve-se lançar mão de estratégias que evitem a coprofagia, muito fre-quente em roedores. A restrição de água, quando necessária, deve ser feita somente 60 minutos antes do procedimento.1
2) Medicações pré-anestésicas:Considera-se medicação pré-anestésica todo
fármaco aplicado antes da anestesia propriamente dita, e que tenha por finalidade aumentar a qualida-de e a segurança do ato anestésico. Sua utilização é mais frequente em espécies de grande porte. Estes
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017 109
Brenda Diniz Rodrigues, Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro De Macedo Loureiro, Luane Cristine Batista Cunha, Richard Franco da Silva Moraes, Rosa Helena de Figueiredo Chaves Soares
efeitos são alcançados por mecanismos distintos: diminuição do medo e da apreensão, obtendo-se indução anestésica livre de estresse;Redução do volume de outros anestésicos necessários à indução anestésica, reduzindo-se efeitos colaterais indese-jáveis;Melhor recuperação anestésica;Redução da salivação e das secreções brônquicas; Bloqueio do reflexo vaso vagal, do qual deriva a bradicardia decorrente da intubação endotraqueal e do manejo das vísceras; Redução da dor pós-operatória. No caso de procedimentos menos invasivos, pode-se lançar mão exclusivamente destas drogas, não sendo necessária a utilização de anestesia geral propriamente dita.5
Os grupos farmacológicos mais utilizados na pré-anestesia são: a) Fármacos anticolinérgicos: reduzem a secreção
traqueal, aumentam a frequência cardíaca. Exemplo: Atropina.
b) Fármacos hipnóticos: induzem ao sono; pe-quena ação analgésica. Exemplos: Hidratos de cloral, etomidato.
c) Fármacos hipnoanalgésicos: ação analgésica forte, depressão do sistema nervoso central, elevação do limiar de dor. Exemplos: morfina, tramadol.
d) Fármacos tranquilizantes: causam a perda ou a redução da consciência, acalmando o animal sem, no entanto, levar a uma sedação real. Possuem ação analgésica leve. Exemplos: Benzodiazepínicos (diazepam), fenotiazinas (acepromazina), butirofenonas (dromperidol).
e) Fármacos alfa-2-agonistas: ação sedativa, promovendo o relaxamento muscular e a anal-gesia visceral. Exemplo: Xilazina (geralmente associada ao anestésico cetamina em animais de experimentação).
Analgesia:
Kitchell (1987) definiu a dor em animais como uma experiência emocional e sensorial aversiva que tem associação com lesões reais ou poten-ciais. Gera, portanto, ações de fuga e alterações do padrão de comportamento espécie-específico”.6
No campo da pesquisa envolvendo animais,
é proveitoso garantir o alívio da dor tanto para a adequação aos parâmetros éticos vigentes como para evitar alterações fisiopatológicas causadas pela dor que influenciem os resultados dos expe-rimentos. A redução ou alívio da dor é considerada por Flecknell (1996) como um aprimoramento no cuidado dos animais. 7
Analgésicos são medicamentos que diminuem ou interrompem as vias de transmissão nervosa, reduzindo a percepção de dor. Já analgesia é o ato de abolir a sensibilidade à dor com integridade de consciência, sem suprimir outras propriedades sensitivas.8
Frente à impossibilidade do relato verbal, a avaliação da dor nos animais é realizada indi-retamente, observando suas atitudes e respostas fisiológicas. Portanto, o manejo da dor em animais requer o conhecimento do comportamento de cada espécie em condições normais e em situações dolorosas.9
As respostas à dor variam não só entre as es-pécies animais, mas também entre indivíduos da mesma espécie. Diante disso, modelos e escores para quantificar a dor têm sido propostos na li-teratura mundial. Na proposta de Wolfenhson e Lloyd (1994)10 são considerados parâmetros para a avaliação da dor: aparência, consumo de água e alimento, sintomas clínicos, comportamento normal e comportamento provocado.1,10
Soma (1987)11, por sua vez, se utiliza da ob-servação de sintomas clínicos e comportamentais para diferenciar dor aguda e crônica. Postura de guarda, gritos, mutilação, inquietação, sudorese e posições anormais estariam associados com aco-metimento agudo.1,11 Em contrapartida, redução da atividade, perda do apetite, alterações da per-sonalidade, esconder-se, recusa à movimentação, alterações na urina, alterações na consistência das fezes seriam indicativos de acometimento crônico. 2
Há uma ampla gama de analgésicos disponí-veis para uso em animais de experimentação. A utilização dessas medicações antes e após o proce-dimento é recomendável sempre que não interfira no resultado das pesquisas. Segundo a literatura, as classes mais utilizadas são os opióides e os
110 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017
ANALGESIA E ANESTESIA EM MODELOS EXPERIMENTAIS
anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), que garantem boa analgesia visceral e somática.12
Em ratos, camundongos e hamsters, os agentes analgésicos mais indicados são: buprenorfina, butorfanol, meperidina, morfina, ácido acetilsa-licílico, caprofeno, ibuprofeno, acetaminofeno, cetoprofeno. Em coelhos, pode-se adicionar o uso de piroxican e meloxican.13
Fármaco Via de administração Intervalo de administraçãoAcetaminofen IP, VO 12 h
Aspirina SC, IP 04 hBuprenorfina SC, IV, IP 12 hButorfanol SC 4hCarprofen SC 24h
Diclofenaco IP 12hFlunixinmeglumine IV, SC 12h
Ibuprofen VO 24hKetoprofen SC 24h
Morfina SC 4hTramadol IP 12h
Figura 2 - Fármacos analgésicos utilizados em Camundongos e Hamsters. Fonte: Adaptado de Hrapkiewicz; Medina, 2007.13
Fármaco Via de administração Intervalo de administração
Acetaminofen IP, VO 12 hAspirina SC, IP 04 h
Buprenorfina SC, IV, IP 12 hButorfanol SC 4hCarprofen SC 24h
Diclofenaco IP 12hFlunixinmeglumine SC 12h
Ibuprofen VO 24hDipirona SC, IP, IV 06hMorfina SC 4h
Ketoprofen SC, IV 24h
Figura 3 - Fármacos analgésicos utilizados em Ratos. Fonte: Adaptado de Hrapkiewicz; Medina, 2007.13
Particularidades anatômicas e fisiológicas importantes na anestesia:
A maioria das particularidades nos pequenos roedores está relacionada ao baixo peso e peque-na área corporal, que faz com que esses animais tenham baixo volume de sangue circulante, alto metabolismo e alto consumo de oxigênio. Conse-
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017 111
Brenda Diniz Rodrigues, Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro De Macedo Loureiro, Luane Cristine Batista Cunha, Richard Franco da Silva Moraes, Rosa Helena de Figueiredo Chaves Soares
quentemente, são pouco tolerantes a hipoxemia, muito susceptíveis a desidratação e hipotermia, e muito sensíveis a perdas sanguíneas, por menores que estas sejam.14 Devido a também possuírem poucas glândulas sudoríparas e não conseguirem arfar, eliminam o excesso de calor através das orelhas, da cauda e da salivação, tendo controle térmico difícil.15
Nos roedores, o acesso às vias áreas é complexo por conta de sua cavidade oral longa e estreita, apresentando na base da língua o tórus lingual. A laringe dos roedores localiza-se na porção caudal da região cervical devido à extensão da língua desses animais, ficando apenas cerca de 20% do comprimento total desta na cavidade oral. Soman-do-se esta particularidade anatômica à abertura restrita da cavidade oral, a introdução das sondas inalatórias é difícil nesta população de animais. 14
Os roedores têm grandes necessidades de O2 devido seu metabolismo rápido. Sua anatomia e fisiologia, portanto, são voltadas para a facilitação das trocas gasosas: vias aéreas mais curtas, mais alvéolos de pequeno diâmetro, taxas respiratórias elevadas. Também possuem grande flexibilidade da parede torácica, elevada capacidade vital e bai-xa capacidade residual dos pulmões, permitindo--lhes uma boa expansão pulmonar. 15
Com relação ao sistema cardiovascular, o volume total de sangue dos roedores varia entre os 60 e os 78 ml/kg. Em hamsters e ratazanas, o
coração está em contato com a parede torácica esquerda, sendo possível usar o espaço entre a 3ª e a 5ª costela para injeções intracardíacas em caso de emergência.14,15,16
Equipamentos anestésicos e suporte dos animais durante a cirurgia:
A segurança do procedimento cirúrgico-anes-tésico depende também da disponibilidade e da boa utilização de instrumentos e equipamentos de monitorização. Dentre estes, se destacam:a) Vaporizador do agente volátil: permite regular
a quantidade ofertada de anestésico, conse-quentemente, a profundidade da anestesia; 14,15
b) Máscara de oxigênio: alternativa à intubação endotraqueal. Permite, em simultâneo, a suplementação de O2 e, em caso de insuficiên-cia respiratória, fazer ventilação assistida;14,15
c) Tubos endotraqueais: permitem o mesmo que a máscara de oxigênio, mas com menor perda volátil.14,15
d) Estetoscópio pediátrico: pode ser usado para auscultar o coração e os pulmões. Alternativa-mente, o Doppler pode ser usado para produzir um som cardíaco mais audível. 14,15
e) Eletrocardiograma: pode ser usado nas espé-cies maiores, visto que a maioria das máquinas não regista os impulsos eléctricos dos roedo-res.14,15
Fármaco Via de administração Intervalo de administração
Buprenorfina SC, IV 12 hButorfanol IV 4hCarprofen SC 24h
Flunixinmeglumine IM 12hMorfina SC 4h
Meloxican SC 24hPiroxican VO 06h
Meperidina SC 04h
Figura 4 - Fármacos analgésicos utilizados em Coelhos. Fonte: Adaptado de Hrapkiewicz ; Medina, 2007.13
112 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017
ANALGESIA E ANESTESIA EM MODELOS EXPERIMENTAIS
f) Oxímetro de pulso: pode ser colocado nas orelhas e língua de porquinhos-da-índia e chin-chilas, ou nas patas da maioria dos roedores; contudo, mais uma vez, pode não registar o pulso dos animais menores.14,15
g) Termômetros digitais.15
h) Equipamentos de aquecimento suplementar: atentar para queimaduras no caso de contato direto com o animal.15
Vias de administração de fluidos e fármacos: 1) Via injetável:As vias de administração utilizadas nos pro-
cedimentos de anestesia injetável em pequenos roedores são: intraperitoneal (IP), intramuscular (IM), intravenosa (IV) e subcutânea (SC).17
A via de administração intraperitoneal é a mais comumente utilizada, devido à fácil execução, à possibilidade de se infundir grandes volumes e ao caráter irritativo de algumas substâncias quando administradas pelas vias intramuscular e subcu-tânea. O local correto para se realizar a punção é no quadrante abdominal inferior esquerdo e o posicionamento do animal em decúbito dorsal, devendo-se atentar para erros frequentes como punção intravisceral, subcutânea ou no tecido adiposo.18 As agulhas recomendadas para os ratos e os camundongos são as de calibre 22-26G, sendo importante avaliar se o comprimento da agulha é suficiente para se atravessar toda espessura da parede abdominal e penetrar efetivamente na cavidade.18
A via intramuscular pode causar lesões nervo-sas e atrofia da já exígua massa muscular dos ro-edores após injeções, devendo ser evitada sempre que possível. Quando indicada, os locais comu-mente utilizados para aplicação são os músculos posteriores da coxa e a musculatura paravertebral. Recomenda-se o uso de agulhas de pequeno cali-bre (26 a 30G). Substâncias irritantes devem ser diluídas em solução fisiológica 0,9% na proporção 1:1 ou 1:10.19
A via subcutânea é normalmente empregada para reposição lenta de fluidos e para adminis-tração de analgésicos e anti-inflamatórios. Em
pequenos roedores é de fácil execução pois, de-vido ao excesso de pele, observa-se naturalmente a formação de pregas na região da nuca e na re-gião lombossacra quando estes são corretamente contidos, facilitando a injeção da droga. O local de eleição nestes casos é o dorso do animal. As agulhas recomendadas variam de 26G a 30G para camundongos e 23G a 26G para ratos.17
2) Anestesia Inalatória: Quando comparada com a via injetável, tem
como vantagens: mínimo metabolismo hepático e renal e um despertar rápido e tranquilo da anestesia.14 Como desvantagens, há a necessidade de equipamento específico, monitoramento do plano anestésico constante, exaustão adequada da sala de anestesia e de pessoal habilitado. Os anestésicos inalatórios mais utilizados são líqui-dos voláteis como halotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano, além de um único gás, o óxido nitroso.15
A oferta inalatória de anestésicos em roedores pode ser feita através de dois métodos – câmara de inalação (coloca-se um algodão embebido em anestésico dentro de uma câmara de inalação transparente) e máscara facial/câmara de indução (câmara conectada a um vaporizador calibrado, onde a quantidade de anestésico administrado é conhecida). O primeiro método tem a desvantagem de não se conhecer e de não ser possível controlar a dose real de anestésico ofertada, devendo a análise do plano anestésico ser baseada na inspeção do animal, enquanto o segundo método oferece ao pesquisador maior controle sobre o procedimento anestésico. Em ambos os métodos, deve-se atentar sempre para a exaustão da sala operatória.17
A intubação orotraqueal não é rotineiramente empregada em procedimentos cirúrgicos envolvendo pequenos roedores, somente em casos específicos como em cirurgias intratorácicas.17
3) Anestesia Local: Os fármacos com ação anestésica local redu-
zem a percepção dolorosa no sítio (bloqueio local) ou na região (bloqueio regional) da intervenção cirúrgica. Em pequenos roedores, sua utilização é
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017 113
Brenda Diniz Rodrigues, Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro De Macedo Loureiro, Luane Cristine Batista Cunha, Richard Franco da Silva Moraes, Rosa Helena de Figueiredo Chaves Soares
associada aos fármacos que promovam anestesia geral ou sedação intensa. O uso de anestésico local reduz a dose do anestésico geral, diminuindo o risco de óbito cirúrgico e melhorando o controle da dor no trans e pós-operatório.16,17
4) Anestesia endovenosa:O uso de agentes injetáveis em anestesia expe-
rimental pode ser aplicado para a anestesia como um todo ou somente para a indução anestésica, sendo o animal mantido em plano com anestesia volátil (anestesia geral balanceada). As vantagens da anestesia injetável são a acessibilidade à cabeça e ao pescoço durante a anestesia, a não contami-nação ambiental com os agentes voláteis e o baixo custo com equipamento, pois não há a necessidade de se utilizar de vaporizadores (embora seja acon-selhável suplementar todos animais anestesiados com O2).20,22 As desvantagens são a dificuldade de administração, dor durante a administração e/ou necrose dos tecidos onde administrados, a resposta variável de cada indivíduo à dosagem e a incapacidade de alterar a profundidade anestésica rapidamente.20
A ketamina é um anestésico dissociativo que quando usado sozinho em pequenos mamíferos produz imobilização de curto prazo com pouco relaxamento muscular. Normalmente são neces-sárias grandes doses para produzir imobilidade prolongada e anestesia cirúrgica. Quando com-binada ou com xilazina ou com medetomidina, produz uma anestesia cirúrgica bastante eficaz.20,22
Tanto a xilazina como a medetomidina têm propriedades analgésicas e sedativas e têm a vantagem adicional de poderem ser revertidas por administração de antagonistas específicos. A combinação ketamina/xilazina ou ketamina/mede-tomidina produz planos médios de anestesia cirúr-gica na maioria dos animais, porém um número expressivo de roedores não perde o reflexo podal e podem responder a estímulos cirúrgicos.7,22
O uso de combinações com a ketamina causa depressão respiratória moderada e é aconselhável administrar oxigenio via máscara para prevenir hi-póxia. Quando administrada em combinação com xilazina, medetomidina ou com outros sedativos ocorre hipotensão, pois estes causam depressão do sistema cardiovascular.7,22
Em roedores a melhor via para a administração da ketamina é a IP, tendo em vista que a injeção IM pode causar lesão muscular. O início da anestesia cerca de 5 minutos, sendo a anestesia cirúrgica completa alcançada 10-15 minutos após a injeção.7
Devido à ação da ketamina que faz com que os olhos se mantenham abertos, é necessária a aplicação de gotas oculares protetoras em gel, por exemplo o Lacryvisc® (Alcon), ou como alterna-tiva soro fisiológico, imediatamente após sedação profunda ou à indução anestésica.7
Outra droga importante em anestesia geral é o propofol, um agente hipnótico, de duração curta e rápida, não acumulativo. Pode ser usado na indução ou na manutenção da anestesia, seja em infusão IV contínua ou em bolus. O propofol pro-duz depressão cardio-pulmonar dose-dependente por conta da combinação de dilatação arterial e venosa, juntamente com a diminuição da contrati-lidade do miocárdio, por fim levando à hipotensão. Também pode causar apneia relacionada à dose, taxa de administração e uso concomitante de ou-tros fármacos.21,22
Etomidato e medetomidato são hipnóticos de ação curta que produzem efeitos mínimos no sistema cardiovascular. Têm pouca ação anal-gésica quando usados isoladamente, tendo sido reportada supressão da função adrenocortical após infusão prolongada de etomidato. A admi-nistração SC combinada de metomidato e fentanil é uma mistura anestésica efetiva em pequenos roedores.21,22
114 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017
ANALGESIA E ANESTESIA EM MODELOS EXPERIMENTAIS
ABSTRACT
ANALGESIA AND ANESTHESIA IN EXPERIMENTAL MODELS - REVIEW ARTICLE
The present article aims to demonstrate the responsibility of ensuring the welfare of the specimens used as experimental models. It is known today that the animals most used for the purposes of experimentation are rodents, swine, canines and sheep that are sentient beings, that is, even if they are not endowed with self-consciousness, they are capable of feeling pain and pleasure. With this in mind, it is necessary to take care of the welfare of the specimens used. The technique of analgesia and anesthesia proposes to help the researcher to eliminate any avoidable suffering of these animals with the aid of well-conducted anesthetic technique and analgesia, contributing both to science, to the researcher and to the animal welfare, safety and recovery.
Keywords: Animal model, Analgesia, Anesthesia
1. Neves SMP, Ong FMP, Rodrigues LD, Santos RA, Fontes RS, Santana RO. Manual de Cuidados e Procedimentos com Animais de Laboratório do Biotério e Experimentação da FCF-IQ/USP. 1 ed. São Paulo; 2013. p.216.
2. Andrade A, Pinto SC, Oliveira RS. Animais de Laboratório: criação e experimentação. 2002. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em agosto de 2016. 388 p. ISBN: 85-7541-015-6
3. Lapchik VBV, Mattaraia VGM, Ko GM. Cuidados e Manejos de Animais de Laboratório. São Paulo: Atheneu, 2010. p. 551-55.
4. Ullman-Culleré MH, Foltz CJ. Body condition scoring: a rapid and accurate method for assessing health status in mice. Lab Animal Sci, Massachusetts. 1999;49 (3): 319-23.
5. Rivera EAB. Anestesia em animais de laboratório. In: Andrade A, Pinto SC, Oliveira RS. Animais de laboratório: criação e experimentação. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. p. 255-62.
6. Kitchell R. Problems in defining pain and peripheral mechanisms of pain. Journal American Veterinary Medical Association. 1987; 191 (1): 1195-99.
7. Flecknell PA. Anaesthesia and analgesia for rodents and rabbits. In: Handbook of Rodent and Rabbit Medicine, Laber-Laird K, Swindle MM and Flecknell PA. Pergammon Press, Butterworth-Heineman, Newton, MA. 1996; p. 219-37.
8. Rhoden EL, Rhoden CR. In: Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS Editora. 2006. p. 46-47
9. Lee-Parritz D. Analgesia for rodent experimental surgery. Israel Journal of Veterinary Medicine, Israel. 2007; 62(1): 3-4.
10. Wolfenhson S, Lloyd M. Handbook of Laboratory Animal Management and Welfare. Oxford: Oxford University Press, 1994.
11. Soma LR. Assessment of animal pain in experimental animals.
Laboratory Animals Science. 1987; 37:71-74.
12. McCleane G. Topical analgesics. Anesthesiol Clin, 2007; 25: 825-39.
13. Hrapkiewicz K, Medina L. Clinical Laboratory Animal Medicine Introduction. Iowa Blackwell Publishing. 2007; p. 79-111.
14. Donnelly T. “Introduction to small mammals” in O’ Malley B. (Ed.), Clinical Anatomy and Physiology of exotic species: Structure and function of mammals, birds, reptiles and amphibians, Saunders, 2005. p. 165-171.
15. Longley L . Rodent anaesthesia - Anesthesia of exotic pets, Saunders, 2008.p.59-80.
16. Bivin WSMP Crawford, Brewer NR. “Rodent anaesthesia” in Longley L (Ed.), Anesthesia of exotic pets, Saunders. 2008.p. 59-80.
17. Flecknell, PA. The relief of pain in laboratory animals. Laboratory Animal. 1984; 18(2): 147-60.
REFERÊNCIAS
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 107-115, 2017 115
Brenda Diniz Rodrigues, Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro De Macedo Loureiro, Luane Cristine Batista Cunha, Richard Franco da Silva Moraes, Rosa Helena de Figueiredo Chaves Soares
18. Flecknell PA, Liles JH. Assessment of analgesic action of opioid agonistantagonists in the rabbit. J. Assoc Veterinary Anaesthesia, 1990; 17: 24.
19. Thurmon, JC, Tranquilli WJ, Benso JG. Veterinary Anesthesia:
Anesthesia of wild, exotic, and laboratory animals, Baltimore, Williams & Wilkins, 1996.686-735 p.
20. Johnson & Simpson “Rodent anaesthesia” in Longley L (Ed.), Anesthesia of exotic pets, Saunders. 2008; 59-80.
21. Antognini J F, Barter L, Carstens E. “Anaesthetic Management” in Flecknell P(Ed.), Laboratory Animal Anaesthesia, 3ª Ed, Saunders. 2009; 79-95.
22. Miller, RD; Prado JMC. Bases da anestesia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
REFE
RÊNC
IAS
116 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017
ISSN 2238-1589
1. Serviço de Criação de Primatas Não humanos (SCPrim), Instituto de Ciências e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro.
DATA RECEBIMENTO: 21/05/2017ACEITO PARA A PUBLICAÇÃO: 14/11/2017
AUTOR PARA CORRESPONDÊNCIA: Cláudia Andréa de Araújo LopesE-mail: [email protected]
ESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIAL
Cláudia Andréa de Araújo Lopes1, Gabriel de Moraes Leal1, Victor Cavalcante Basílio1, Janice Biazzi Pires1, Carlos Alberto Soares Raimundo1, Andréa Moreira Paulino1
Complicações reprodutivas de primatas não humanos (PNH) têm sido detectadas em criações animais, tornando-se comumente necessário separar o filhote da mãe. Este trabalho descreve incidência, origem e perfil de casos de macacos rhesus (Macaca mulatta) lactentes mantidos em berçário em um criatório científico, visando enfatizar a importância dos cuidados neonatais, e de como o manejo reflete sobre o desenvolvimento saudável dos animais e o sucesso da reintrodução destes em grupos familiares. Foi realizado um estudo retrospectivo, no período de 2008 a 2017, de 25 macacos rhesus lactentes que receberam cuidados neonatais. As informações foram obtidas em um banco de registros da criação. No período de nove anos, foram recebidos no berçário 25 filhotes de M. mulatta, sendo 52% de machos (13/25) e 48% de fêmeas (12/25), e desses, 28% (7/25) vieram a óbito, enquanto 72% (18/25) dos animais sobreviveram. Todos os filhotes sobreviventes foram reintroduzidos ao convívio social. As análises do trabalho demonstraram que em um criatório de PNH, diversos fatores podem comprometer a convivência da mãe e filhote, resultando na necessidade de um ambiente preparado com equipamento, material e mão de obra especializada para atendimento dos lactentes afastados de suas mães. Além disso, o planejamento adequado da reaproximação do filhote ao grupo familiar deve ser realizado objetivando minimizar as alterações comportamentais e sucesso no convívio social.
Palavras-chave: Macaca mulata; Neonato; Berçário.
INTRODUÇÃO
Complicações reprodutivas de primatas não humanos (PNH) têm sido detectadas no decorrer do período gestacional, parto e pós-parto, tais como: sangramentos vaginais, abortos, partos pre-maturos, estresse e rejeição materna de lactentes, traumas sofridos pela fêmea durante a gestação,
distocias, obesidade materna, infecção por agen-tes bacterianos (ex: Listeria spp., Yersinia spp., Salmonella spp., etc), ausência de produção de leite, inexperiência de fêmeas primíparas, roubo de filhotes por outras fêmeas, morte materna e/ou fetal, entre outros1,2,3,4,5.
Frequentemente fêmeas primíparas apre-sentam dificuldade em cuidar de seus filhotes recém-nascidos devido a desordens perinatais
ARTIGO ORIGINAL
RESUMO
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017 117
Cláudia Andréa de Araújo Lopes, Gabriel de Moraes Leal, Victor Cavalcante Basílio, Janice Biazzi Pires, Carlos Alberto Soares Raimundo, Andréa Moreira Paulino
multifatoriais. Este problema é mais prevalente do que em outras ordens de mamíferos, tornando--se necessário separar o filhote da mãe, para que o neonato receba os cuidados adequados à sua sobrevivência6.
No que diz respeito às complicações relaciona-das aos filhotes, existem relatos quanto à doença prolongada, acarretando a incapacidade de desen-volvimento do lactente, agressão sofrida por mãe, pai ou outros membros familiares, prematuros ou de baixo e anormalidades no desenvolvimen-to1,2,3,4,5.
Considerando a elevada frequência do proble-ma em questão e com o intuito de evitar perdas ani-mais em decorrência de complicações perinatais, é imperioso envidar esforços durante a temporada de partos em uma criação de PNH. Em colônias de criação de macacos Rhesus (Macaca mulatta) destinados à pesquisa, são observados problemas de abandono, resultando na mudança do manejo reprodutivo no sentido de separar a mãe de uma parcela de recém-natos, demandando cuidados especiais aos mesmos5,7.
Para atender a esta demanda específica, é im-prescindível dispor-se de uma equipe treinada em cuidados neonatais, além de uma área adequada com equipamentos, e materiais disponíveis para a manutenção da vida dos filhotes, além do se-guimento de um fluxo de práticas padronizadas. Com a aplicação de um procedimento operacio-nal padronizado (POP) para cuidados neonatais, é possível garantir o bem-estar dos animais, com medidas de biossegurança apropriadas e resultados satisfatórios quanto à reintrodução dos animais a um grupo social e, consequentemen-te, permitindo atender a contento às pesquisas biomédicas5.
Este trabalho descreve incidência, origem e perfil de casos de macacos rhesus lactentes que necessitam de cuidados em um criatório científi-co, com o objetivo de enfatizar a importância dos cuidados neonatais e de como o manejo reflete sobre o sucesso da reintrodução dos animais nos grupos familiares previamente formados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Animais
A colônia de macacos Rhesus do Serviço de Criação de Primatas não Humanos (SCPrim) do Instituto de Ciências e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), Fiocruz, Rio de Janeiro, mantém cerca de 505 exemplares (184 machos e 321 fêmeas), utilizados em pesquisas acerca de doenças infec-ciosas e desenvolvimento de vacinas e fármacos destinados aos humanos.
Foi realizado um estudo retrospectivo no pe-ríodo de 2008 a 2017 de 25 lactentes da espécie M. mulatta (13 machos/12 fêmeas), no Setor de Neonatologia (SN) do SCPrim-ICTB/Fiocruz. Como critérios de inclusão, foram considerados os filhotes encaminhados ao berçário do SN/SC-Prim para receber os devidos acompanhamentos neonatais.
O desenvolvimento deste trabalho foi devida-mente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/FIOCRUZ) sob a licença número LW-6/16. As instalações de primatas encontram-se em conformidade com as orientações do Guia para cuidados e uso de animais de laboratório8.
Coleta de dados
As informações foram obtidas, utilizando os registros de dados contidos no livro de ocorrência diária e formulário de aleitamento do SN/SCPrim e complementados com as informações lançadas no sistema informatizado de gerenciamento de primatas do SCPrim. Os registros do estudo incluíram: a) quantidade de filhotes atendidos; b) sexo; c) motivos que os levaram a receberem cuidados neonatais; d) número de animais que vieram a óbito; e) número de animais que retor-naram à colônia de criação (reintroduzidos); f) idade de óbito; g) idade das mães na ocasião do parto desses filhotes; h) quantidade de fêmeas primíparas e multíparas.
Visto que a equipe que trabalha com os filhotes na maternidade deve ser devidamente treinada,
118 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017
ESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIAL
para alimentar, higienizar e manejar corretamente os filhotes, sendo sempre supervisionada por um médico veterinário, ressalte-se que os profissionais especializados e envolvidos neste trabalho foram divididos em dois turnos (diurno e noturno), para permitir que os filhotes tivessem assistência 24 horas por dia.
Descrição da área
O berçário dispõe de termo higrômetro, ba-lança pediátrica, termômetro clínico, uma ban-cada em aço inoxidável com saída de água para manipular e higienizar o material e os alimentos dos filhotes, tapetes higiênicos descartáveis destinados a animais domésticos (usado para absorver urina e evitar dermatites de contato), mamadeiras, seringas, rolinhos ou bichos de pe-lúcia para os animais se agarrarem e brinquedos para enriquecimento ambiental, duas incubado-ras e quatro gaiolas do tipo módulo canil, para acolhimento dos filhotes em uma sala separada para essa atividade.
Biossegurança
Os cuidados com a biossegurança são levados em consideração durante o manejo dos filhotes. Para manuseio dos filhotes e/ou equipamentos e utensílios correspondentes, utilizam-se equipa-mentos de proteção individual (EPI) adequados: luvas, máscara com filtro PFF-2, gorro, calçado fechado e jaleco.
Manejo
O manejo dos animais encaminhados ao ber-çário foi dividido em três fases. Na primeira fase, o neonato era encaminhado ao berçário após a identificação de uma situação crítica na colônia (prostrado, sozinho no piso ou com dificuldades de amamentação ou de se segurar à sua mãe, lesões, magreza etc...). Sempre que possível são realizadas tentativas de unir a mãe ao filhote; porém, quando isso era frustrado foi realizada a transferência do filhote.
Na segunda fase, os animais já no berçário, aparentemente sadios ou que apresentassem al-terações clínicas, como hipotermia, desidratação, desnutrição, lesões graves relacionadas a quedas ou agressões, foram submetidos a exame clínico minucioso, incluindo: aferição de temperatura, avaliação de cavidade oral e vias aéreas, auscul-tação cardíaca e pulmonar, pesagem, palpação para avaliação de possíveis fraturas ou luxações e palpação abdominal. Quando necessário, os animais eram submetidos a atendimento de su-porte emergencial. Algumas vezes, foi necessário proceder à estabilização dos animais com uso de oxigenioterapia, fluidoterapia, administração oral de glicose 25% e aquecimento com auxílio de colchão térmico, bolsa térmica ou incubadora, de acordo com a necessidade do indivíduo. Depois da estabilização do filhote foram realizados os registros de entrada do animal com seus dados de origem, além de abertura das fichas de atendimen-to clínico e de aleitamento.
A terceira fase foi baseada na manutenção dos filhotes até o período de reintrodução ao seu grupo social. Nesta fase, os filhotes foram mantidos in-dividualizados ou pareados quando possível, para um melhor desenvolvimento social, em recintos de aço inoxidável, medindo 65 cm largura x 65 cm profundidade x 70 cm altura, com espaçamento de 2 cm entre as vigas.
Na ausência da mãe, foram oferecidos bichos de pelúcia e rolinhos de pano, para que os filhotes pudessem, junto ao objeto, se sentirem seguros, de forma a mimetizar os seus instintos naturais. Esses objetos eram periodicamente higienizados com imersão em solução clorada, enxaguado com água corrente e secagem ao sol.
O ambiente era controlado com umidade variável entre 40 a 70% e luz artificial que se mantinha acesa das 6 às 18h. Diariamente os filhotes foram levados para banhos de sol de 15 a 30 minutos. Os filhotes foram amamentados com leite em pó Nan 1® na proporção de uma medida para 30 ml de água filtrada, com os intervalos descritos a seguir: de uma hora na primeira e segunda semana; de duas horas na terceira e quarta semanas; de três horas na quinta e sexta
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017 119
Cláudia Andréa de Araújo Lopes, Gabriel de Moraes Leal, Victor Cavalcante Basílio, Janice Biazzi Pires, Carlos Alberto Soares Raimundo, Andréa Moreira Paulino
semana; de quatro horas na sétima e oitava se-mana; de cinco horas na nona e décima semana; de seis horas na 11ª e 12ª semana; de sete horas na 13ª e 14ª semana; de oito horas na 15ª e 16ª semana; de 12 horas na 17ª e 18ª semana e, final-mente, de 24 horas a partir da 19ª semana. Esses intervalos serviam somente como parâmetro e, sempre que necessário, eram alterados conforme o desenvolvimento individual de cada filhote, observando-se a necessidade de aumentar ou diminuir os intervalos. Os lactentes de macacos rhesus aceitam de 5 a 15 ml de leite de hora em
hora, oferecidos na seringa. A quantidade de leite vai aumentando gradativamente de acordo com o desenvolvimento do animal, respeitando sempre à vontade do animal, mas sem deixar de avaliar o grau de abaulamento do seu abdômen.
O processo de amamentação artificial come-çou com o uso de seringas de 1, 3 e 5 ml, depois passando para o uso da mamadeira, presa a um suporte fixo nas grades do recinto (Figura 1). Os materiais utilizados na amamentação foram devi-damente higienizados e desinfetados com água, sabão neutro e hipoclorito de sódio (2,0 a 2,5%),
Figura 1: Amamentação artificial em macacos Rhesus (Macaca mulatta) neonatos criados no ICTB-Fiocruz. A) Amamentação do recém-nato com o uso de uma mamadeira; B) Material utilizado para a amamentação artificial: leite NAN1®, seringas de 1, 3 e 10 ml, mamadeira tipo PET para filhotes, recipiente para diluição de leite; C) Aleitamento feito com uma seringa de 1 ml; D) Filhotes mamando direto nas mamadeiras fixadas em frente à gaiola individual onde se encontram alojados, já independentes do auxílio humano; E) Incubadora onde os lactentes permanecem quando chegam no berçário e permanecem até a redução dos seus riscos de morte.
A
B
C
D
E
120 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017
ESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIAL
Figura 2: Processo de reintrodução de filhotes de macacos Rhesus criados no ICTB-Fiocruz. A) Contato direto entre o
filhote e adultos do grupo social; B) Filhote se adaptando ao novo ambiente, ainda
separado dos outros animais do grupo; C) Aproximação visual dos filhotes do grupo onde serão introduzidos; D) Aproximação direta do filhote mantido em berçário com
animais da nova família.
diluindo em água na proporção de 15 ml para um litro de água.
A quantidade oferecida era feita de acordo com a idade, peso e aceitação do filhote. A primeira dose pode ser iniciada utilizando 0,5 ml de leite e 0,5 ml de glicose 25%, depois a glicose foi retirada gradativamente. A água e a ração foram oferecidas em mamadeiras acopladas à grade do recinto e um comedouro de aço inoxidável que fica mobiliado dentro do recinto respectivamente, para estimular a independência do filhote a ir atrás do alimento, a partir da oitava semana de vida. Uma variedade de itens de frutas, legumes, verduras, grãos além de ovos cozidos passou a ser oferecidos diariamente a partir da 12ª semana ou quando o filhote já aceita bem a ração.
Processo de reintrodução dos filhotes ao grupo social
A reintrodução dos filhotes foi iniciada, em média, após 180 dias de manutenção no berçário. Inicialmente, os animais foram encaminhados aos seus respectivos recintos de origem, onde passa-vam em princípio uma hora em contato com visual
com outros primatas. O tempo de permanência no local aumentava gradativamente, conforme a adaptação dos filhotes. Estes ficavam alojados em gaiolas individuais próximos ao recinto onde seriam reintroduzidos, enquanto no resto do pe-ríodo do dia, voltavam ao berçário. Quando essa exposição alcançava todo o período da manhã e da tarde, eles passavam a pernoitar na antessala próxima à grade de acesso à área interna do re-cinto (“área de refúgio”) para manterem o contato visual, auditivo e olfativo com o grupo social. Posteriormente, houve uma aproximação da gaiola ao recinto, onde permitiu o contato físico entre os filhotes na gaiola individual e os animais inte-grantes do recinto. Após esse período, os animais foram soltos no refúgio, e por fim, liberados para circulação em toda a área do recinto. Finalmente, ocorreu a aproximação gradativa com os animais do recinto aos filhotes. Esse processo foi rigo-rosamente observado durante todo o período de exposição, de maneira a evitar qualquer reação de agressividade contra os filhotes e para um acom-panhamento cuidadoso da aceitação dos filhotes no grupo social de primatas do recinto escolhido (Figura 2).
A B
C D
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017 121
Cláudia Andréa de Araújo Lopes, Gabriel de Moraes Leal, Victor Cavalcante Basílio, Janice Biazzi Pires, Carlos Alberto Soares Raimundo, Andréa Moreira Paulino
RESULTADOS
No período de nove anos, entre 2008 a 2017, foi recebido um total de 25 filhotes de M. mulatta, sendo 52% de machos (13/25) e 48% de fêmeas (12/25), e desses, 28% (7/25) dos animais vieram a óbito durante o período de vida no berçário, en-quanto 72% (18/25) dos animais sobreviveram e retornaram à colônia. Dentre os animais recebidos, 52% (13/25) foram encaminhados ao berçário no mesmo dia em que nasceram, enquanto 12% (3/25) estavam com um dia de vida; 8% (2/25) com três dias; 4% (1/25) com cinco dias; 4% (1/25) com sete dias; 4% (1/25) com 10 dias; 4% (1/25) com 18 dias; um 4% (1/25) com 24 dias; 4% (1/25) com 50 dias e 4%(1/25) com 52 dias de vida.
Dentre os sete casos de óbito, 43% (3/7) dos filhotes vieram a óbito no mesmo dia em que
deram entrada no berçário; 29% (2/7) vieram a óbito com um dia de vida no berçário; 14% (1/7) veio a óbito com dois dias de vida e 14% (1/7) veio a óbito com 9 dias de vida. Um animal foi reintroduzido ao grupo social com apenas um dia de vida no berçário, uma vez que a mãe o aceitou após ter sido roubado por outra fêmea.
Dentre as mães dos filhotes assistidos, 32% (8/25) eram primíparas e 68% (17/25) eram multí-paras. Dos oito filhotes de fêmeas primíparas, cin-co deles (62,5% - 5/8) foram rejeitados, enquanto que no caso dos 17 filhotes de mães multíparas, houve dois casos de rejeição (11,7% - 2/17), sendo o outro encaminhamento dos animais ao berçário decorrentes de outras causas. A tabela 1 demons-tra as causas que resultaram na transferência dos filhotes ao berçário e os históricos reprodutivos das mães por quantidade de partos (multíparas ou primíparas).
Tabela 1: Causas de cuidados neonatais assistidos de Macaca mulatta, características dos filhotes e respectivas mães quanto ao seu histórico reprodutivo.
Filhote Sexo Idade da mãe ao parto
MãePrimípara (P) / Multípara (M)
Motivo da separação da mãe
1 F 16 M Rejeição após roubo2 F 4 M Rejeição3 F 3 P Rejeição4 F 13 M Hemorragia pós-parto da mãe5 M 7 M Fornecimento mãe6 M 7 M Fornecimento mãe7 M 10 M Escoriações traumáticas8 F 3 P Debilidade do filhote9 F 8 M Óbito da mãe10 M 4 P Escoriações traumáticas prostração11 M 7 M Debilidade12 F 3 P Rejeição13 M 3 P Rejeição14 M 3 P Rejeição15 F 5 M Debilidade do filhote
122 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017
ESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIAL
16 F 8 M Óbito da mãe17 F 9 M Debilidade do filhote18 M 10 M Óbito da mãe19 F 8 M Roubo de filhote e debilidade20 M 15 M Debilidade21 F 9 P Patologia do filhote22 M 6 P Rejeição após roubo23 M 9 M Obesidade24 M 15 M Debilidade e queda
25 M 14 M Dispneia, arritmia cardíaca, convulsão, apatia
Dados do criatório científico do SCPRim/ICTB, período de 2008-2017.
Todos os filhotes sobreviventes foram rein-troduzidos ao convívio social de sua família de origem ou de um novo grupo social de Macaca mulatta, dependendo da oportunidade de espaço físico e perfil do grupo social de origem. A técnica de reintrodução ao grupo social, nos primeiros 19 casos descritos iniciaram quando os filhotes des-mamaram em torno de 180 dias de vida. A partir de 2015, a reintrodução foi realizada em média, em 94 dias de vida do filhote.
CONCLUSÃO
Em colônias de reprodução de PNH é comum que alguns filhotes sejam mantidos em ambiente de berçário em situações de extrema necessidade devido a dificuldades maternas ou dos filhotes7,9,10. No período de nove anos, o SCPrim-ICTB acolheu 25 neonatos da espécie M. mulatta, reforçando a necessidade de um local adequado e de uma equipe especializada em lidar com esses animais. Em criatórios científicos que alojam animais para uso biomédico, além de acolher neonatos ou lactentes com risco de morte em razão da au-sência dos cuidados maternos, os animais podem ser mantidos em berçários também para atender aos protocolos de pesquisas que envolvam a uti-
lização de lactentes, produzir colônias de livres de patógenos específicos, bem como em caso de seleção fenotípica e genotípica para melhoramento genético do plantel10.
Dentre os atendimentos neonatais, 72% (18/25) dos animais sobreviveram e retornaram ao conví-vio social, concretizando o sucesso dos cuidados oferecidos durante o período no berçário; porém, 27% vieram a óbito devido a complicações de quadros clínicos. Em um levantamento realizado no período de 1971 a 2001 pelo Infant Primate Research Laboratory (IPRL) o índice de sobre-vivência no berçário variou de 12,3 % a 5%, mantendo uma média anual de 9,4% em espécies símias M. mulatta, M. nemestrina, M. fascicularis e Papio sp.10. Os motivos de transferência ao berçário dessa instituição foram, na maioria dos casos, relacionados a cesarianas programadas, diferente do que normalmente ocorre no SCPrim, onde os neonatos encaminhados encontram-se em situação de risco, com alguma alteração clínica significativa. Essa diferença de manejo pode ser um indicativo de que o maior desafio da criação sob estudo em melhorar o índice de sobrevivência está relacionado à uma identificação o mais preco-ce possível das alterações que possam constituir um risco elevado para a vida do filhote.
No tocante aos óbitos ocorridos, 44% (11/25) dos casos ocorreram no primeiro dia de vida dos
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017 123
Cláudia Andréa de Araújo Lopes, Gabriel de Moraes Leal, Victor Cavalcante Basílio, Janice Biazzi Pires, Carlos Alberto Soares Raimundo, Andréa Moreira Paulino
filhotes e 28% (7/25) no segundo dia, demons-trando a importância do pronto atendimento, a fim de salvar a vida do filhote10. Neste trabalho, a transferência dos animais ao berçário incidiu em função de injúrias, debilidade, doença não definida, dispneia, arritmia cardíaca, convulsão e apatia. Em contrapartida, as principais alterações detectadas no IPRL foram baixo peso dos recém--nascidos, animais prematuros, injúrias e doença prévia10.
Não foi encontrada evidência de maior inci-dência de cuidados neonatais ligadas ao sexo dos filhotes. A maioria absoluta dos casos atendidos foi de animais que haviam nascido no mesmo dia, demonstrando a importância de uma boa observa-ção ao comportamento da mãe e filhotes desde o primeiro dia de nascimento7; entretanto ocorreram casos de animais com até 52 dias de vida que apre-sentaram necessidade de transferência ao berçário.
Os problemas considerados mais comuns que promoveram o afastamento entre mãe e lacten-tes, em colônias de macacos, são o abandono ou a rejeição materna. Um estudo retrospectivo de neonatos da espécie Macaca fuscata que recebe-ram cuidados humanos, sugeriu que o fator mais importante envolvendo no abandono de filhotes, era a questão da paridade (multípara ou primípa-ra), seguida do seu respectivo grau de dominância social dentro do grupo. Os autores relataram que os neonatos são 90 vezes mais propensos a serem abandonados por uma mãe primípara do que por uma mãe multípara. Além disso, o abandono foi seis vezes mais provável por uma fêmea submissa do que por uma fêmea de elevado nível hierárquico (dominante)11,12,13.
Já é descrito que primíparas de macacos rhe-sus têm maior prevalência de casos de abandono e agressão de filhotes do que as multíparas9. No presente estudo, foi observado que de oito filhotes de fêmeas primíparas, cinco deles (62,5% - 5/8) foram rejeitados, contrastando com um índice de 11,7% (2/17) dos 17 filhotes de fêmeas multíparas, relato que corrobora com a literatura.
Os roubos de neonatos ocorrem frequente-mente em PNH, onde as fêmeas não parturientes são comumente responsáveis por esses roubos9.
Neste estudo, pelo menos três dos filhotes nasci-dos (12% - 3/25) foram roubados de suas mães. Uma vez que a criação de macacos Rhesus aqui analisada não dispõe de profissionais no turno de 24h (apenas no berçário), outros casos de roubo podem ter ocorrido; contudo, sem a possibilidade de identificá-los, pois por muitas vezes, os filhotes foram encontrados debilitados no piso do recinto sozinhos na parte da manhã, impossibilitando, assim, registrar tal evento.
Outra causa de afastamento entre mãe e filhotes é a distocia, relatada em muitas espécies símias, muitas vezes, associada com a idade juntamente com a percentagem de gestações anteriores que resultaram em cesárea9,14. Os fatores de risco para o parto distócico incluem: debilidade, tamanho e posição anormal do feto, forma atípica da pelve materna, lesões traumáticas, inércia ou atonia uterina, disfunção uterina, estenose cervical ou vaginal, diabete gestacional, doença óssea meta-bólica, ruptura de bexiga, bloqueio urinário por trauma, anemia, infecções, hidrocefalia e hidropsia fetal14. As complicações pós-distócicas também podem ocasionar o encaminhamento de filhotes a berçário.
O presente levantamento, uma fêmea apresen-tou sangramento vaginal intenso pós-parto que re-sultou na separação do seu filhote para tratamento. O sangramento vaginal intenso ou persistente deve ser motivo de preocupação e precisa ser avaliada prontamente, sendo lesão uterina, endometrite e metrite consideradas as causas mais comuns desta hemorragia perinatal9,14.
Outro problema muito comum após o parto é a retenção de placenta. As placentas são normalmen-te ingeridas pela mãe ou encontradas no recinto; porém há muitos casos de retenção de placenta que acarretam em letargia pós-parto, falta de cuidados maternos com a sua prole, possível choque com sepse secundária e óbito da mãe14.
A separação entre mãe e filhote de PNH deve ser evitada ao máximo, devido ao isolamento social precoce imposto aos filhotes nestas cir-cunstâncias. Os cuidados em berçários impõem ao lactente que ele seja criado em um ambiente não natural, sem os estímulos maternos e o convívio
124 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017
ESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIAL
com outros animais de idades diferentes, fato imprescindível para o aprendizado do primata ao longo de sua vida9. Desta forma, o berçário precisa atender não somente às necessidades nu-tricionais e clínicas dos filhotes, como também proporcionar o bom desenvolvimento psicológi-co, motor e oferecer cuidados voltados para o seu bem-estar10. PNH mantidos sem contato físico com seus semelhantes, durante os primeiros 6 meses vida podem desenvolver comportamentos anormais profundos, irreversíveis e fisiológi-cos, conhecidos como síndrome do isolamento. Animais portadores desta síndrome apresentam: 1) falha na capacidade de desenvolver relações sociais positivas; 2) inadequado desenvolvimento de expressões faciais e motor 3) distúrbios emo-cionais, tais como medo ou agressão; e 4) pos-turas bizarras e comportamentos estereotipados. Quando a separação ocorre entre 0 a 3 meses de vida do filhote, as alterações comportamentais e motoras podem ser irreversíveis, causando prejuí-zos na qualidade do modelo animal nas pesquisas e também prejudicando o desenvolvimento repro-dutivo do animal9. Por este motivo, na criação analisada neste trabalho busca-se, ao máximo, não afastar os filhotes de suas mães, com tentativas constantes de reaproximação entre mãe e filhote. Devido às consequências comportamentais e de desenvolvimento sofridos pelos filhotes afastados de suas mães9, procura-se adiantar o processo de reintrodução. Nos últimos dois anos reprodutivos da colônia do SCPrim/ICTB, reduziu-se o prazo de reintrodução de 180 para 94 dias, respeitando
a evolução do filhote e atentando-se para a sua segurança quanto aos contatos mais próximo com os animais maiores.
Vale enfatizar que em virtude de tantos proble-mas reprodutivos perinatais de PNH que podem ocasionar cuidados neonatais assistidos, com aleitamento artificial e perda do convívio social, é indispensável que um biotério de criação seja dotado de profissionais capacitados. A habilidade técnica permite seguir as práticas implementadas de manejo com esses animais com eficiência, de modo a impedir alterações comportamentais e re-alizar controle de enfermidades diversas, obtendo--se resultados satisfatórios na reintrodução do animal em um grupo familiar, sem causar danos às pesquisas realizadas nesses animais.
Desta forma, afirma-se que em um criatório de PNH, diversos fatores podem comprometer a convivência da mãe e filhote, resultando na necessidade de um ambiente preparado com equi-pamento, material e mão de obra especializada para atendimento dos lactentes afastados de suas mães. Para tanto, o planejamento adequado da reaproximação do filhote ao grupo familiar deve ser realizado, objetivando minimizar as alterações comportamentais e sucesso no convívio social.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Dra. Márcia C.R. An-drade, pela revisão deste trabalho.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017 125
Cláudia Andréa de Araújo Lopes, Gabriel de Moraes Leal, Victor Cavalcante Basílio, Janice Biazzi Pires, Carlos Alberto Soares Raimundo, Andréa Moreira Paulino
ABST
RACT
RETROSPECTIVE STUDY OF NEONATAL CARE IN RHESUS MONKEYS (MACACA MULATTA) KEPT IN SCIENTIFIC BREEDING: ACCOMPANIED CASUISTRY, MANAGEMENT, AND REINTRODUCTION TO THE SOCIAL GROUP
Reproductive complications of nonhuman primates (NHP) have been detected in animal breeding, which becomes commonly necessary separating the baby from the mother. This paper describes the incidence, origin, and profile cases of nursling rhesus macaques (Macaca mulatta) kept in nursery unit from a scientific creation, with the aims of emphasizing the importance of neonatal care, how the management reflects on the healthy development of the animals, as well as the success of reintroducing them into family groups. A retrospective study was carried out, from 2008 to 2017, of 25 infant rhesus macaques who received neonatal care. Data were obtained from a database of the breeding records. During nine years 25 nursling M. mulatta were received in the neonatal care section, with 52% (13/25) of males and 48% (12/25) of females, and from these, 28% (7/25) died, while 72% (18/25) of the animals have survived. All the surviving infants were reintroduced into social interaction. Work analyzes demonstrated that in a NHP creation several factors could compromise the living together between the mother and its offspring, resulting in the need of a prepa-red environment with equipment, material, and specialized labor to attend the infants away from their mothers. In addition, adequate planning about rapprochement of the infant to the family group should performed with the purpose of minimizing behavioral alterations and obtaining success on the social life.
Keywords: Macaca mulatta; Newborn; Nursery.
1. Schneider ML. Prenatal stress exposure alters postnatal behavioral expression - under conditions of novelty challenge in rhesus monkey infants. Dev Psychobiol. 1992; 25(7):529-549.
2. Cooke SB, Ainsworth SB, Fenton AC. Postnatal growth retardation: a universal problem in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2004; 89: 428-430
3. Dettmer AM, Houser LA, Ruppenthal GC, Capuano S, Hewitson L. Growth and developmental outcomes of three high-risk infant rhesus macaques
(Macaca mulatta). Am J Primatol. 2007; 69:503-518.
4. Saucedo A, Morales PR. Basics of macaque pediatrics. Vet Clin Exot Anim. 2012; 15:289-298.
5. Lopes CAA, Fasano DM, Bravin JS, Cysne LB, Andrade MCR, Tannouz VGS. Clínica Aplicada. In: Andrade A, Andrade MCR, Marinho A da M, Ferreira Filho J. (Orgs). Biologia, manejo e medicina de primatas não humanos na pesquisa biomédica. Rio de Janeiro: Fiocruz; p. 315- 350, 2010.
6. Chamove AS, Anderson JR. Hand-rearing infant stumptailed macaques. Zoo Biol; 1982, 1:323-331.
7. Andrade A, Andrade MCR, Marinho AM, Ferreira-Filho J. Biologia, manejo e medicina de primatas não humanos na pesquisa biomédica. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2010. 472p.
8. Guide for the care and use of laboratory animals. Washington: National Research Council, National. 8th Ed. The National Academic Press; 2011. 220p.
9. Abee CR, Mansfield K, Tardif S, Morris T. Nonhuman primates in biomedical research: biology and management. San Diego: Academic Press; 2012. 536p.
REFE
RÊNC
IAS
126 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 116-126, 2017
ESTUDO RETROSPECTIVO DE CUIDADOS NEONATAIS DE MACACOS RHESUS (MACACA MULATTA) MANTIDOS EM UM CRIATÓRIO CIENTÍFICO: CASUÍSTICA ACOMPANHADA, MANEJO E REINTRODUÇÃO AO GRUPO SOCIAL
10. Sackett GP, Holm RA, Davis AE, Fahrenbruch CE. Prematurity and low birth weight in pigtail macaques: incidence, prediction, and effects on infant development. In: Proceedings from the Symposia of the Fifth Congress of the International Primatological Society. Tokyo: Japan Science Press; p 189-205, 1974.
11. Hinde RA. Animal behavior, a synthesis of ethology and comparative psychology. Tokyo: International Student; p. 643-654, 1970.
12. Berman CM. Intergenerational transmission of maternal rejection rates among free-ranging rhesus monkeys. Anim Behav. 1990; 39:329-337.
13. Schino G, Troisi A. Neonatal abandonment in Japanese macaques. American Journal of Physical Anthropology. 2005; 126(4):447-452.
14. Courtney A. Gestational concerns: when to intervene and what to do. In: Courtney A (Ed). Pocket handbook of nonhuman primate clinical medicine. Boca Raton: CRC Press; p. 163-168, 2012.
REFERÊNCIAS
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017 127
ISSN 2238-1589
1. Graduando (a) em Biomedicina pela Escola de Ciências Médicas Farmacêuticas e Biomédicas, PUC Goiás;
2. Professor (a) Doutor (a) da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas, PUC Goiás.
DATA RECEBIMENTO: 28/06/2017ACEITO PARA A PUBLICAÇÃO: 14/11/2017
AUTOR PARA CORRESPONDÊNCIA: Florencia Camila Gonçalves. E-mail: [email protected]
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE RATOS WISTAR PROVENIENTES DO BIOTÉRIO DA PUC – GOIÁS
Florencia Camila Gonçalves¹, Claudio Quintino de Lima Junior¹, Clayson Moura Gomes², Graziela Torres Blanch², Sérgio Henrique Nascente Costa², Karlla Greick Batista Dias Penna²
Em Países com longa tradição na manutenção de biotérios tem determinado os valores de referência dos seus animais, a fim de avaliar a homeostase e alterações provocadas por processos patológicos, sendo que, esses valores passaram a ser utilizados por bio-térios de todo mundo, porém parâmetros bioquímicos e hematológicos podem variar de um biotério para outro, assim, faz-se necessário que cada Biotério obtenha seu próprio valor de referência, uma vez que variações intraespécies podem existir. O objetivo do trabalho foi determinar valores de referência para ratos Wistar do Biotério da PUC-Goiás. Foram utilizados 17 ratos Wistar com peso médio de 344 g, obtidos do biotério setorial da PUC-Goiás e foram avaliados parâmetros hematológicos e bioquímicos utilizando respec-tivamente sangue colhido com EDTA e soro. Os parâmetros avaliados foram dispostos em tabelas com média, desvio padrão e erro padrão. Para efeito de comparação foram apresentados também alguns resultados obtidos na literatura. No presente estudo foram encontrados valores que destoam da faixa de valores encontrados em outros estudos quando observado as médias, dentre estes temos o número de plaquetas, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, Aspartato Aminotransferase (ASAT) e fosfatase alcalina. Alguns parâmetros mostraram- se discrepantes em relação a outros estudos, destacando a ne-cessidade de cada biotério determinar seus próprios valores de referência para avaliação da homeostasia e desenvolvimento de doenças durante os experimentos científicos.
Palavras-chave: Ratos Wistar, hematologia, bioquímica, valores de referência.
INTRODUÇÃO
O uso de animais de laboratório tem grande importância na execução de pesquisas científicas contribuindo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia1. É por meio dos estudos experimentais que ocorre o avanço em relação ao conhecimento dos mecanismos vitais como também o aperfei-çoamento dos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento de diversas doenças que vêm se desenvolvendo ao longo dos anos2.
Várias espécies de animais podem ser uti-lizadas para o desenvolvimento de pesquisas científicas, porém, camundongos e ratos são
os mais utilizados, uma vez que, são os mais conhecidos cientificamente e apresentam carac-terísticas fisiológicas e genéticas similares as de seres humanos1,3. Os camundongos começaram a ser introduzidos como animais para uso experi-mental a partir do século XIX e desde então, são os animais mais utilizados na pesquisa. Seguido dos camundongos os ratos representam cerca de 20% do número total de animais envolvidos nesta atividade 3. Como outros mamíferos em estado de higidez, os roedores têm que manter as suas funções fisiológicas e bioquímicas constantes4. Portanto, há a necessidade de se conhecer os parâmetros fisiológicos para avaliar a homeos-tasia desses animais, assim como, verificam as
ARTIGO ORIGINAL
RESU
MO
128 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE RATOS WISTAR PROVENIENTES DO BIOTÉRIO DA PUC – GOIÁS
alterações provocadas por doenças induzidas durante a experimentação animal5.
Países com tradição na manutenção de biotérios determinam os valores de referência dos seus ani-mais de experimentação, que passam a ser usados como sendo iguais para as mesmas linhagens de animais, em diversas regiões do mundo. No entanto, mesmo com a existência de mecanismos próprios de regulação de valores dos parâmetros fisiológicos, sabe-se que ratos e camundongos podem apresentar variações, relacionadas com sexo, linhagem, genótipo, idade, dieta, manuseio, ambiente, entre outras condições. Ainda inclui-se o fato de que os animais experimentais não se comportam do mesmo modo nas diferentes partes do planeta devido às condições a que estão sub-metidos nos diferentes países onde são mantidos em cativeiro, sendo, portanto, influenciados por vários fatores ecológicos5.
Alguns trabalhos têm demonstrado que valores de referência de parâmetros bioquímicos e he-matológicos de animais não tratados apresentam grandes variações intraespécie, resultantes de di-ferenças geográficas e de manuseio6,7. Diante do exposto, é importante que cada biotério estabeleça os seus próprios valores de referência dos animais normais, de acordo com a linhagem, gênero e idade de cada espécie utilizada8.
Dessa forma o objetivo deste trabalho foi determinar os valores de referência de alguns parâmetros hematológicos e bioquímicos para que possam ser utilizados em pesquisas com ratos Wistar, provenientes do Biotério Setorial da Pon-tifícia Universidade Católica de Goiás.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados 17 ratos Wistar, machos, com peso de 309-373 g, obtidos do biotério Setorial da Pontifícia Universidade Católica – Goiás (PUC--Goiás). Os animais foram criados em caixas de polipropileno, forrada com maravalha com até quatro animais, em ambiente controlado com ciclo claro/escuro 12h-12h, água e ração ad libi-
tum. Este experimento foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal da PUC-Goiás com licença número CEUA 017-1.
Para a coleta de sangue os animais foram sub-metidos a 12 horas de jejum e a coleta foi realizada por punção cardíaca após anestesia com adminis-tração intraperitoneal de pentobarbital, 80 mg/dose única. A avaliação dos parâmetros hematológicos foi realizada em sangue colhido com ácido etile-nodiamino tetra-acético (EDTA) a 10% e para os parâmetros bioquímicos em tubos secos com gel separador e tubo com fluoreto. O soro foi separado por centrifugação durante 10 minutos a 3500 rpm (rotações por minuto).
Os parâmetros hematológicos analisados foram leucócito total, neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos, basófilos, hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), con-centração da hemoglobina corpuscular média (CHCM), curva de distribuição das hemácias de acordo com o volume eritrocitário (RDW), pla-quetas e volume plaquetário médio (VPM). Foram analisados utilizando o analisador hematológico ABX Pentra 60.
Os parâmetros bioquímicos glicose, ureia, creatinina, colesterol total, triglicérides, ácido úrico, aspartato aminotransferase (ASAT), alanina aminotransferase (ALAT), fosfatase alcalina, pro-teínas totais, albumina, cálcio e magnésio foram analisados utilizando o aparelho automatizado Selectra XL e o sódio e potássio pelo aparelho automatizado AVL 9180 Electrolyte Analyzer. Os valores séricos de globulinas foram obtidos a partir do cálculo dos valores séricos de proteínas totais subtraídos dos valores séricos de albumina.
Para cada parâmetro avaliado, os valores foram expressos como média, erro padrão (EP) e desvio padrão (DP).
RESULTADOS
Os resultados das análises hematológicas dos ratos Wistar machos provenientes do Biotério
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017 129
Florencia Camila Gonçalves, Claudio Quintino de Lima Junior, Clayson Moura Gomes, Graziela Torres Blanch, Sérgio Henrique Nascente Costa, Karlla Greick Batista Dias Penna
Setorial da PUC – Goiás estão representados nas tabelas 1 e 2. As tabelas apresentam também da-dos de outros biotérios expressos em média e erro padrão (tabela 01) e média e desvio padrão (tabela 2) para efeito de estudo e comparação.
Os resultados dos parâmetros bioquímicos dos ratos Wistar machos provenientes do Biotério Setorial da PUC – Goiás estão representados nas tabelas 3 e 4. As tabelas apresentam também da-dos de outros biotérios expressos em média e erro padrão (tabela 3) e média e desvio padrão (tabela 4) para efeito de estudo e comparação.
DISCUSSÃO
Os roedores são animais que apresentam ca-racterísticas fisiológicas e genéticas semelhantes aos dos humanos e, portanto, têm sido muito
utilizados em projetos de pesquisas de diversas áreas3. A padronização de linhagens de animais de experimentação é uma importante ferramenta para avaliar a homeostasia e as complexas interações que ocorrem nesse sistema, possibilitando a com-paração e compreensão dos eventos relacionados ao desenvolvimento da doença13.
O hemograma avalia quantitativamente e qualitativamente os elementos celulares sanguí-neos, sendo essencial para a avaliação da saúde atuando como coadjuvante para o diagnóstico de doenças infecciosas, doenças crônicas, entre outros distúrbios. Para realização do hemograma é necessário o uso correto de anticoagulante, pois o uso inadequado pode danificar a amostra, tor-nando o resultado obtido questionável14. O EDTA é o anticoagulante preferido para realização do hemograma em espécies domésticas, pois impede a coagulação e preserva as características celula-res, enquanto a heparina pode causar alterações
Tabela 1. Resultados dos parâmetros hematológicos, do Biotério da PUC-Goiás comparando com de outros biotérios, expressos em média e EP.
Parâmetros Biotério daPUC Goiás
Biotério daUFES7
Biotério doLTF – UFPB9
Hemácias (106/µL) 8,82 ± 0,08 5,73 ± 0,07 8,40 ± 0,50Hemoglobina (g/dL) 15,26 ± 0,12 12,83 ± 0,21 14,70 ± 0,20Hematócrito (%) 44,75 ± 0,34 43,59 ± 0,53 41,40 ± 0,61VCM (fL)(µm³) 50,94 ± 0,33 80,74 ± 3,29 54,10 ± 0,64HCM (pg) 17,32 ± 0,13 * 19,30 ± 0,28CHCM (g/dL) 34,14 ± 0,17 29,71 ± 0,52 % 35,60 ± 0,22RDW (%) 13,04 ± 0,25 * *VPM (fL) 6,41 ± 0,07 * *Plaquetas (10³/µL) 767,65 ± 25,67 * 658,50 ± 18,90Neutrófilos (%) 4,81 ± 0,40 37,43 ± 1,62 19,50 ± 2,05Linfócitos (%) 93,85 ± 0,45 43,41 ± 1,32 77,30 ± 1,97Monócitos (%) 1,03 ± 0,09 16,24 ± 1,62 1,20 ± 0,25Eosinófilos (%) 0,04 ± 0,01 1,46 ± 0,24 2,00 ± 0,56Basófilos (%) 0,28 ± 0,03 0,04 ± 0,03 *
*Valores não avaliadosEP: Erro Padrão, VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média, RDW:
Distribuição do Volume Eritrocitário, VPM: Volume Plaquetário Médio.
130 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE RATOS WISTAR PROVENIENTES DO BIOTÉRIO DA PUC – GOIÁS
Tabela 2. Resultados dos parâmetros hematológicos, do Biotério da PUC-Goiás comparando com de outros biotérios, expressos em média e DP.
Parâmetros Biotério daPUC Goiás
Biotério daUFS6
Biotério daUniT10
Biotério daULBRA11
Hemácias (106/µL) 8,82 ± 0,34 8,00 ± 0,55 8,65 ± 1,11 8,40 ± 0,40Hemoglobina (g/dL) 15,26 ± 0,50 14,50 ± 0,78 15,00 ± 1,45 15,10 ± 0,50Hematócrito (%) 44,75 ± 1,39 44,20 ± 2,95 43,30 ± 3,51 44,90 ± 2,80VCM (fL) 50,94 ± 1,34 55,50 ± 2,22 47,75 ± 2,89 53,60 ± 3,30HCM (pg) 17,32 ± 0,56 18,20 ± 0,57 16,51 ± 0,30 18,00 ± 0,70CHCM (g/dL) 34,14 ± 0,72 32,80 ± 1,09 34,89 ± 2,41 33,70 ± 1,60RDW (%) 13,04 ± 1,02 * * 11,50 ± 2,10 VPM (fL) 6,41 ± 0,30 7,52 ± 0,35 * *Plaquetas (10³/µL) 767,65± 105,85 1095,00 ± 152,56 982,34 ± 167,05 1071,00 ± 93,50Neutrófilos (%) 4,81 ± 1,64 24,80 ± 7,85 33,16 ± 14,99 15,60 ± 5,50Linfócitos (%) 93,85 ± 1,84 70,00 ± 7,37 67,36 ± 15,31 83,70 ± 5,40Monócitos (%) 1,03 ± 0,38 3,90 ± 1,31 5,27 ± 3,52 0,80 ± 0,50Eosinófilos (%) 0,04 ± 0,05 1,30 ± 0,82 1,25 ± 1,09 1,00 ± 0,50Basófilos (%) 0,28 ± 0,12 * 0,92 ± 0,74 0
*Valores não avaliados. DP: Desvio Padrão, VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média, RDW: Distribuição do Volume Eritrocitário, VPM: Volume Plaquetário Médio.
Tabela 3. Resultados dos parâmetros bioquímicos, do Biotério da PUC-Goiás comparando com de outros biotérios, expressos em média e EP.
Parâmetros Biotério daPUC Goiás
Biotério doLTF-UFPB9
Biotério doCB FMUSP12
Glicose (mg/dL) 173,50 ± 9,68 82,00 ± 4,47 102,00 ± 5,55Ureia (mg/dL) 37,76 ± 1,00 55,00 ± 1,90 43,76 ± 5,40Creatinina (mg/dL) 0,50 ± 0,01 0,60 ± 0,02 0,36 ± 0,17Colesterol Total (mg/dL) 64,00 ± 2,42 51,00 ± 3,16 74,40 ± 8,89Triglicerídeos (mg/dL) 78,88 ± 7,63 100,00 ± 8,04 62,00 ± 9,63Ácido úrico (mg/dL) 1,06 ± 0,17 1,60 ± 0,10 *ASAT (U/L) 126,29 ± 4,99 78,20 ± 2,62 18,80 ± 7,84ALAT (U/L) 59,47 ± 2,49 59,00 ± 4,47 22,20 ± 7,88Fosfatase alcalina (U/L) 257,65 ± 11,40 166,00 ± 7,06 *Proteínas Totais (g/dL) 6,09 ± 0,09 6,80 ± 0,08 6,15 ± 0,61Albumina (g/dL) 3,59 ± 0,04 3,90 ± 0,04 2,14 ± 0,33Globulinas (g/dL) 2,49 ± 0,08 2,90 ± 0,08 4,00 ± 0,29Sódio (mmol/L) 139,29 ± 0,44 135,00 ± 0,66 *Potássio (mmol/L) 5,42 ± 0,20 4,60 ± 0,44 *Cálcio (mg/dL) 10,44 ± 0,22 10,00 ± 0,18 13,28 ± 0,91Magnésio (mg/dL) 2,49 ± 0,05 1,99 ± 0,15 3,22 ± 0,17
* Valores não avaliados. EP: Erro Padrão, ASAT: Aspartato Aminotransferase, ALAT: Alanina Aminotransferase.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017 131
Florencia Camila Gonçalves, Claudio Quintino de Lima Junior, Clayson Moura Gomes, Graziela Torres Blanch, Sérgio Henrique Nascente Costa, Karlla Greick Batista Dias Penna
morfológicas nos leucócitos e é menos eficiente para impedir a agregação plaquetária15,16, porém, Gonzalez e Silva14 relatam o aumento da suscepti-bilidade da hemólise após 24 horas quando usado EDTA. No presente trabalho o anticoagulante de escolha foi o EDTA, e os exames foram realiza-dos imediatamente após a coleta do espécime, eliminando a possibilidade de hemólise.
Nos resultados do presente estudo os parâme-tros hematológicos se apresentaram semelhantes aos de outros estudos que buscaram determinar valores de referências para ratos da linhagem Wistar em seus biotérios, quando observado a média e o desvio padrão ou erro padrão. Os valores de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, estavam dentro da faixa dos valores obtidos no estudo de Lima10 e de Carvalho7. Plaquetas, apresentaram resultados similares aos obtidos pelo trabalho de Diniz9 e Lima10. Porém, encontramos valores abaixo dos obtidos por Melo6 e Silva11.
Em relação à contagem percentual de neutrófi-los foi observado que os resultados estavam abaixo da faixa de valores do estudo de Melo6 e Lima10, por sua vez os linfócitos estavam elevados em relação aos valores obtidos no estudo de Carvalho7 e Diniz9. Os eosinófilos apresentaram-se menores que os encontrados nas outras literaturas de re-ferência, como no estudo de Melo6 e Carvalho7.
Estes fatos confirmam a necessidade de se deter-minar valores de referência para animais de cada biotério6,8, uma vez que a discrepância entre re-sultados ocorre devido à ausência de padronização quanto à idade, dieta, estresse do animal durante a coleta, bem como a metodologia empregada¹⁷.
Os parâmetros bioquímicos de forma geral corroboraram com os resultados encontrados na literatura quando observado as médias e o desvio padrão ou erro padrão. Diniz9 e Spinelli12 que obtiveram valores de glicose abaixo do encontrado no presente estudo, que por sua vez foi semelhante aos de Lima10.
Tabela 4. Resultados dos parâmetros bioquímicos do Biotério da PUC-Goiás comparando com de outros biotérios, expressos em média e DP.
Parâmetros Biotério daPUC Goiás
Biotério daUFS6
Biotério daUniT10
Biotério daUEM8
Glicose (mg/dL) 173,35 ± 39,91 104,00 ± 17,18 138,72 ± 30,17 108,00 ± 17,40Ureia (mg/dL) 37,76 ± 4,13 35,90 ± 3,58 39,97 ± 6,78 48,00 ± 7,60Creatinina (mg/dL) 0,50 ± 0,06 0,50 ± 0,05 0,58 ± 0,24 0,5, ± 0,07Colesterol Total (mg/dL) 64,00 ± 9,99 67,40 ± 8,72 60,68 ± 6,51 87,00 ± 18,10Triglicerídeos (mg/dL) 78,88 ± 31,46 89,90 ± 29,16 46,87 ± 18,73 82,00 ± 24,70Ácido úrico (mg/dL) 1,06 ± 0,68 1,30 ± 0,34 1,81 ± 0,67 *ASAT (U/L) 126,29 ± 20,58 131,70 ± 23,09 131,33 ± 43,98 81,00 ± 11,70ALAT (U/L) 59,47 ± 10,25 48,40 ± 6,46 57,55 ± 11,95 51,00 ± 12,30Fosfatase alcalina (U/L) 257,65 ± 46,99 127,10 ± 35,55 91,63 ± 28,70 124,00 ± 6,10Proteínas Totais (g/dL) 6,09 ± 0,37 6,20 ± 0,26 5,75 ± 0,87 *Albumina (g/dL) 3,59 ± 0,16 3,00 ± 0,12 2,65 ± 0,30 *Globulinas (g/dL) 2,49 ± 0,32 3,10 ± 0,20 3,50 ± 1,15 *Sódio (mmol/L) 139,29 ± 1,83 138,70 ± 3,06 134,03 ± 4,67 *Potássio (mmol/L) 5,42 ± 0,83 4,70 ± 0,53 5,41 ± 1,15 *Cálcio (mg/dL) 10,44 ± 0,89 * 8,19 ± 1,63 *Magnésio (mg/dL) 2,49 ± 0,22 * * *
*Valores não avaliados. DP: Desvio Padrão, ASAT: Aspartato Aminotransferase, ALAT: Alanina Aminotransferase.
132 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE RATOS WISTAR PROVENIENTES DO BIOTÉRIO DA PUC – GOIÁS
ABSTRACT
Os valores de fosfatase alcalina apresentaram--se acima do encontrado no estudo de Carvalho7 e Lima10. Enquanto que os valores de ASAT foram similares ao de Lima10, porém acima da faixa de valores para Diniz9 e Spinelli12. A elevação dos valores de aminotransferases, principalmente ASAT, pode ter ocorrido devido à coleta ter sido por punção cardíaca, uma vez que, esta enzima é encontrada em grande concentração no coração6. No que se refere à dosagem de enzimas, vale res-saltar ainda que a metodologia empregada pode determinar variações nos resultados. Consequen-temente, a comparação de resultados entre vários estudos mesmo quando se é utilizada a mesma unidade de medida só será possível se forem uti-lizados os mesmos substratos, pH, e temperatura da reação16.
CONCLUSÃO
Alguns parâmetros avaliados neste trabalho mostraram- se discrepantes em relação a outros estudos, demonstrando que fatores como idade, raça dos animais, condições geográficas e a meto-dologia utilizada para o processamento e obtenção de resultados dos espécimes podem levar a va-riações intraespécies, confirmando a necessidade de cada biotério determinar seus próprios valores de referência para avaliação da homeostasia e desenvolvimento de doenças durante projetos de pesquisa.
HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF WISTAR RATS FROM PUC - GOIÁS
Countries with a long tradition in the maintenance of bioterium have determined the reference values of their animals in order to evaluate the homeostasis and alterations caused by pathological processes, and these values are now used by bioterium worldwide, but parameters Biochemical and hematological can vary from one animal to another, so it is necessary for each vivarium to obtain its own reference value, since intraspecies variations may exist. The objective of this study was to determine reference values for wistar rats from the PUC-Goiás Bioterium. We used 17 Wistar rats with a mean weight of 344 g, obtained from the sectoral laboratory of PUC-Goiás, and hematological and biochemical parameters were evaluated using EDTA and serum collected. The parameters evaluated were arranged in tables with mean, standard deviation and standard error. For the purpose of comparison, some results obtained in the literature were also presented. Results: In the present study, values were found that deviate from the range of values found in other studies when the averages were observed, among which we have the number of platelets, lymphocytes, neutrophils, eosinophils, Aspartate Aminotransferase (ASAT) and alkaline phosphatase. Some parameters were discrepant in relation to other studies, highlighting the need for each animal to determine its own reference values for homeostasis evaluation and disease development during scientific experiments.
KeKeywords: Wistar rats, hematology, biochemistry, reference values.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 127-133, 2017 133
Florencia Camila Gonçalves, Claudio Quintino de Lima Junior, Clayson Moura Gomes, Graziela Torres Blanch, Sérgio Henrique Nascente Costa, Karlla Greick Batista Dias Penna
1. Chorilli M, Michelin DC, Salgado HR. Animais de Laboratório: o camundongo. Rev Ciênc Farm Básica Apl,. 2007;28(1):11–23.
2. Almeida AS, Faleiros ACG, Teixeira DNS, Cota UA, Chica JEL. Valores de referência de parâmetros bioquímicos no sangue de duas linhagens de camundongos. J Bras Patol Med Lab. 2008;44(6):429–32.
3. Harkness J, Wagner J. Biologia e clínica de coelhos e roedores. 3 ed. São Paulo: Rocca; 1993.
4. Colégio Brasileiro de Experimentação animal (COBEA). Boletim informativo. 2008;3:10.
5. Pinheiro DCSN, Favali CBF, Filho AAS, Silva ACM, Filgueiras TM, Lima MGS. Parâmetros Hematológicos de Camundongos e Ratos do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará. Bol Inf Cobea. 1997;3(1):6–9.
6. Melo MGD, Dória GAA, Serafini MR, Araújo AAS. Valores de referência Hematológicos e Bioquímicos de Ratos ( Rattus novergicus linhagem Wistar ) provenientes do biotério central da Universidade Federal de Sergipe. Sci PLENA. 2012;8(4):1–6.
7. Carvalho GD, Paula A, Masseno B, Zanini MS. Avaliação clínica de ratos
de laboratório (Rattus novergicus linhagem Wistar ): parâmetros sanitários , biológicos e fisiológicos. Rev Ceres. 2009;56(1):51–7.
8. Dantas JA, Ambiel CR, Cuman RKN, Baroni S, Bersani-Amado CA. Valores de referência de alguns parâmetros fisiológicos de ratos do Biotério Central da Universidade Estadual de Maringá , Estado do Paraná. Acta Sci Heal Sci. 2006;28(2):165–70.
9. Diniz MFFM, Medeiros IA, Santos HB, Oliveira KM, Vasconcelos THC, Aguiar FB, et al. Padronização dos Parâmetros Hematológicos e Bioquímicos de Camundongos Swiss e Ratos Wistar. Rev Bras Ciências da Saúde. 2006;10(2):171–6.
10. Lima CM, Lima AK, Melo MGD, Dória GAA, Leite BLS. Valores de referência hematológicos e bioquímicos de ratos ( Rattus novergicus linhagem Wistar ) provenientes do biotério da Universidade Tiradentes. Sci PLENA. 2014;10(3):1–9.
11. Silva L, Oliveira MC de, Junior. SAQM, Witz MI, Allgayer MC. Perfil Hematológico de ratos (Rattus novergicus linhagem Wistar) do Biotério da Universidade Luterana do Brasil. www.conferencias.ulbra.br.
12. Spinelli MO, Junqueira MDS, Bortolatto J. PERFIL BIOQUÍMICO DOS ANIMAIS DE LABORATÓRIO DO BIOTÉRIO DA FACULDADE DE MEDICINA USP. Rev da Soc Bras Ciência em Animais Laboratório. 2012;1(1):76–81.
13. Passos LAC. Análise do determinismo genético da resistência de camundongos infectados experimentalmente com a cepa y de Tripanosoma cruzi [Tese]. Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 2003.
14. Gonzalez FHD, Silva SC. Introdução à Bioquímica Clínica Veterinária. 2013.
15. Harvey JW. Atlas of Veterinary Hematology Blood and Bone Marrow of Domestic Animals. In Florida: Saunders; 2001.
16. Sink CA, Feldman BF. Urinálise e Hematologia Veterinária. 1 ed. São Paulo: Rocca; 2006.
17. Lillie L, Temple N, Florence L. Reference values for young normal Sprague-Dawley rats: weight gain, hematology and clinical chemistry. Hum Exp Toxicol. 1996;15(8):612–6.
18. Ducan JR, Prasse KW. Patologia Clinica Veterinaria. Apêndice I. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1982.
REFE
RÊNC
IAS
134 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017
ISSN 2238-1589
1. Federal University of Viçosa-UFV/ Federal University of Alfenas-UNIFAL, Minas Gerais, Brazil;
2. Federal University of Viçosa-UFV, Minas Gerais, Brazil;
3. São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” Campus of Araçatuba, São Paulo, Brazil.
DATA RECEBIMENTO: 31/08/2017ACEITO PARA A PUBLICAÇÃO: 14/11/2016
Correspondence should be addressed:Hudsara Aparecida de Almeida PaulaE-mail: [email protected]
FECAL SCORE AND CECUM PROFILE OF WISTAR RATS FED A NOVEL YACON BASED PRODUCT SOURCE OF FRUCTOOLIGOSSACHARIDES/INULIN
Hudsara Aparecida de Almeida Paula1, Hércia Stampini Duarte Martino2, Edimar Aparecida Filomeno Fontes2, Tânia Toledo de Oliveira2, Mário Jefferson Quirino Louzada3, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira2
Yacon (Smallanthussonchifolius) is a functional food and its prebiotic activity has re-cently been emphasized, considering the high concentrations of fructooligosaccharides/FOS and inulin. The objective of this study was to evaluate different concentrations of FOS/inulin of a yacon-based product (PBY) (0% - control group, 5%, 6%, 7.5% and 10%) on the cecal and fecal profiles in rats. Animal performance (weight gain and feed efficiency ratio) was not affected by increasing the concentration of FOS/inulin in the diets (P>0.05). Animals receiving 6% FOS/inulin in the diet presented the highest concentrations for the Short chain fatty acids acetate and butyrate (P<0.05) in the cecal contents. Higher feces moisture content (55.20% and 58.15%), feces weight (3.95g and 4.59g), relative cecum weight (0.0091 and 0.0092) and osmotic diarrhea (scores between 2 and 3) were observed in the groups consuming the diets containing 7.5% and 10% FOS/inulin, respectively. Therefore, the addition of the 6% of 6% FOS/inulin from PBY in the diet did not cause gastrointestinal disorders in the cecum of Wistar rats. It is suggested that this concentration could induce functional changes in the host and might be used in in vivo rat models to evaluate specific functional effects of this new functional food product.
Keywords: Yacon, inulin-type fructans, cecum, feces, short chain fatty acids
INTRODUCTION
Yacon (Smallanthus sonchifolius), is a tuberous root of Andean origin considered a functional food and recently its prebiotic activity has been emphasized due to its high contents of fructooli-gosaccharides (FOS) and inulin1.
The difference between FOS and inulin resides in the number of fructose molecules that make up their molecular chains. In inulin, this number ranges from 2 to 60, while in FOS the chains are smaller and typically range from 2 to 10. Inulin and FOS are also called inulin-type fructans, a
generic term used to describe oligo- or polysaccha-ride prebiotics in which β (2-1) fructosyl-fructose glycosidic bonds dominate 1,2. These bonds give these compounds their unique structural and physiological properties3. Neither man or animals possess enzymes capable of hydrolyzing these bonds and after consumption, inulin and FOS are selectively fermented in the colon by a group of beneficial bacteria, especially those of the genera Bifidobacterium and Lactobacillus. They act to improve gastrointestinal function, generating orga-nic acids such as lactic acid and other short-chain fatty acids (SCFA) found in the form of acetate, propionate and butyrate2,3,4 which act differently.
ARTIGO ORIGINAL
ABSTRACT
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017 135
Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Hércia Stampini Duarte Martino, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Tânia Toledo de Oliveira, Mário Jefferson Quirino Louzada, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira
The commercial products currently used as prebiotics to make functional foods are usually purified and isolated from roots of chicory and Jerusalem artichoke, and both are expensive. The fact that the yacon root is rich in FOS and can be consumed in natura has increased its popularity as a functional food with the objective of redu-cing the risk of various types of chronic diseases such as diabetes5,6, obesity6, dyslipidemia7, and osteoporosis 8,9.
However, the yacon root in natura has a limited shelf life due to its high water content. Processing of this root is an alternative to increase its shelf life. For this reason a yacon-based product (PBY) was developed with intermediate moisture content, increased shelf-life and high flexibility of use for supplementation of different food matrices. As a new ingredient, the PBY concentrations with func-tional properties must be evaluated with respect to safety of their consumption.
Therefore, in order for the consumption of FOS and inulin prebiotics to benefit the host, es-pecially in regulation of the digestive system10,11 and improving systemic health5,6, the dose should be administered so as to promote positive effects without causing gastrointestinal complications such as abdominal distension, flatulence and/or diarrhea. The laxative effect attributed to inulin--type fructans may be small and difficult to detect except in carefully controlled studies.
Concentrations of FOS/inulin which may be ad-ministered in the diet is not a topic well discussed in scientific literature. Some studies12,13 suggest doses that would provide the desired positive effect without gastrointestinal irregularities, but most studies8,14-18 do not mention the presence of diarrhea even with concentrations of 7.5% and 10% FOS/inulin when using a purified product. In the study conducted by Weaver et al. (2010), utilization of 10% inulin and inulin/FOS (purified products) among other types of fibers was propo-sed, and it was reported that after two weeks of the experiment it was necessary to reduce the fiber content to 5% due to negative changes in the fecal profile. This reinforces the importance of obser-ving the occurrence of adverse effects according
to the FOS/inulin concentrations tested, permitting that the best doses be used in subsequent studies.
It is therefore necessary to identify the concen-tration of the prebiotic substance that will promote beneficial effects without causing gastrointestinal disorders such as osmotic diarrhea. Due to the importance of this information for planning in-tervention studies with prebiotics in the in vivo model, the objective of the present study was to evaluate different concentrations of FOS/inulin in a yacon-based product on the ceacum and feces profiles of Wistar rats.
MATERIAL AND METHODS
Animals
A bioassay was conducted with 15 female Wistar rats (Rattus novergicus, albinus variety), with 30 days of age and an average initial weight of 82.6 g. The animals were obtained from the Central Biotery of the Biological Sciences and Health Center, Federal University of Viçosa, (Viçosa, Minas Gerais, Brazil) and maintained in individual cages with deionized water ad libitum, temperature-controlled environment at 22±2ºC and photoperiod of 12 hours during the 28 days experimental period. Experimental procedures were approved by the Ethics Committee for Ani-mal Research of the Federal University of Viçosa, process no. 55/2011.
Experimental Design
The study was conducted in a completely by employing a completely randomized design (CRD) with a control (0%) and four concentra-tions of FOS/inulin in the yacon-based product (5%, 6%, 7.5% and 10%) and three replications, totaling 15 experimental units. Testing doses of FOS/inulin were chosen from scientific studies where gastro intestinal adverse effects were not observed. For analysis of the feces weight, the experiment was performed in a CRD with a split
136 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017
FECAL SCORE AND CECUM PROFILE OF WISTAR RATS FED A NOVEL YACON BASED PRODUCT SOURCE OF FRUCTOOLIGOSSACHARIDES/INULIN
plot design, where the plots consisted of the FOS/inulin concentrations and the subplots were the times for assessment of feces weight.
Food consumption , relative weight of the ce-cum (RW), animal weight gain , cecal pH , feces moisture content, fecal score, and SCFA were evaluated and determined after 28 days of feeding.
Experimental Diets and PBY FOS/inulin determination
Experimental diets were prepared according to the standard diet for rodents AIN-93G19 (Table 1). The amount of the PBY added was calculated considering its FOS/inulin composition in order to achieve 5.0%, 6.0%, 7.5% and 10% FOS/inulin concentration. The control group received the standard diet AIN-93G with no addition of the PBY. The PBY evaluated in this study is a patented process (INPI: 014110002964) and contained 19,69% FOS/inulin determined with high performance liquid chromatography (HPLC)
according to the methodology of Kaneko et al.20. In short, it was employed a BIO-RAD HPX 87P column (lead stationary phase), and purified water as the mobile phase. Samples were diluted (1 g in 100 mL of distilled water), centrifuged at 11,269 xg, and then filtered through a Millipore polyvi-nyl difluoride membrane (PVDF) with 0.22 µm porosity. The samples were then injected into a liquid chromatograph, (Varian, ProStar 410 HPLC Auto Sampler; Varian Inc, USA) with a flow rate of 0.6 mL.min-1 and column temperature of 85ºC (Table 1).
Animal performance
Food consumption was assessed daily and the animals were weighted once a week. Dietary in-take was estimated by the weight of feed supplied and that of the leftover. Weight gain was calculated [weight gain = body weight of the animal at the end of the experiment (g) – body weight of the animal at the beginning of the experiment (g)] and
Table 1. Composition of the feeding diets.
Ingredients*g/100g diet
Experimental DietsControl
0% FOS/inulin
5% FOS/inulin
6% FOS/inulin
7.5% FOS/inulin
10% FOS/inulin
Cornstarch 39.75 32.69 28.63 22.54 12.17Casein 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Dextrinizedcornstarch 13.2 - - - -Sucrose 10.0 4.87 3.85 2.32 -
Soybeanoil 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0Fiber (microfinecellulose) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Mineral mix 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5Vitaminmix 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0L-cystine 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Cholinebitartrate 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25Yacon-based product - PBY - 25.39 30.47 38.09 50.78
*Based on the composition of AIN-93G (Reeves et al., 1993), the diet indicated for experiments using growing rodents. The yacon-based product used presented the following composition: 14.95% FOS, 4.74% inulin, 9.34% sucrose, 3.01% glucose and 7.87% fructose. The amount of PBY added to the diets and the concentrations of free sugars present in the diet were subtracted from sucrose, maltodextrin and corn starch, at the ratio recommended by the AIN-93G.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017 137
Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Hércia Stampini Duarte Martino, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Tânia Toledo de Oliveira, Mário Jefferson Quirino Louzada, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira
the Feed Conversion Ratio [FCR = weight gain (g) ÷ feed intake (g)], corresponding to the change in body weight per gram of feed consumed13.
Fecal weight (FW), fecal score rate , and humididy
The FW and score were monitored daily. For the fecal score th following scale was consid-ered:1. Firm or normal feces consistency; 2. Vis-cous non-diarrheal feces; 3. Watery feces charac-teristic of diarrhea (adapted from Freitas et al.21). The representative images of fecal scores used in this study are shown in Figure 1. The moisture content of the feces was measured by pooling the feces from all animals of each treatment group during an eight day period and drying at 105°C according to AOAC22.
Cecum weight (CW), relative cecum weight (RW), pH, and SCFA concentration in the cecal content
At the end of this study the animals were euth-anized in a carbon dioxide atmosphere. Cecal pH was evaluated in situ by inserting an electrode into the ileocecal junction according to Lobo et al.23.The cecum was weighed and the relative weight (RW) was calculated according to the equation: [RW = CW (g) ÷ final body weight (g)]. The
cecal contents were collected in sterile polyeth-ylene plastic bags (Nasco Whirl-Pak®; Nasco, USA). The method for SCFA (acetic, propionic and butyric acids) determination was reported by Smiricky-Tjardes et al.24. In short, after additions of 500 µL of meta-phosphoric acid 25% to the cecal contents the mix were vortexed and micro-centrifuged (model 5804 R; Eppendorf do Brasil, São Paulo-SP), for 30 seconds. After a 30 minute standing at room temperature (± 25ºC) samples were micro centrifuged at 14.262 x g for 30 min-utes The supernatant was transferred to another microcentrifuge tube and centrifuged again for 20 minutes under the same previous conditions. Next, the supernatant corresponding to each sample was separated into individual vials, where an additional 400 µL of meta-phosphoric acid 25% was added followed by freezing at -20ºC. After this step the samples were analyzed in a High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (model SPD-10AVP; SHIMADZU Brazil, São Paulo-SP), coupled to the Ultra Violet detector (UV) using a wavelength of 210 nm; C18 column (reverse phase) (BIORAD; Bio-Rad Laboratories Brazil, Rio de Janeiro) 30 cm x 4.5 mm diameter column, flow rate of 0.8 mL/min, column pressure of 160 kg/cm2, mobile phase: water in 1% of orthophos-phoric acid and injection volume of 20 µL.
Figure 1. Representation of the fecal score in Wistar rats that received different concentrations of FOS/inulin in the yacon-based product (Smallanthussonchifolius). A. Score 1 = Firm feces or normal consistency; B. Score 2 = Viscous non-diarrheal feces; C. Score 3 = Watery feces characteristic of diarrhea.
A B C
138 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017
FECAL SCORE AND CECUM PROFILE OF WISTAR RATS FED A NOVEL YACON BASED PRODUCT SOURCE OF FRUCTOOLIGOSSACHARIDES/INULIN
Statistical Analysis
Analyses of variance (ANOVA) and linear re-gression were performed using the software SAS® (Statistical Analysis System – SAS Institute Inc., North Carolina, USA, 1989) version 9.1 licensed to the Federal University of Viçosa. A significance level of 5% was considered for all analyses.
RESULTS
Results of body weight gain, feed efficiency ratio, relative cecum weight, feces weight, feces moisture content and feces score of rats are indi-cated in Table 2.
Although the animal performance measured as WG and FER did not change with the con-sumption of different concentrations of FOS (P> 0.05) (Table 2), the increasing of the concentra-tion of FOS/inulin in the diets induced higher values for the variables FM, FW and RCW (P <0,05). The fecal scores averages are depicted in figure 2.
According the fecal scores, the consistency of the feces of the animals with consumption of up to 6% FOS/inulin were normal. Higher concentra-tions induced different degrees of physical changes varying from a FS of 2. (viscous non-diarrheal fe-ces) to 3 (watery feces characteristic of diarrhea).
The cecal pH and concentrations of propio-nate did not vary (p>0.05). However, the diets contatining 6% of FOS/inulin induced the highest production of acetate (p=0,0168) and butyrate (p=0,0445) (Table 3).
DISCUSSION
Incorporation of FOS/inulin in the diet of animals increased the cecal weight (P <0.05), confirming previous results indicated by Weaver et al. 13. This result is positive since it indicates that the food matrix tested (PBY) promotes the same effects as FOS/inulin commercialized when reaching the cecum.
Boyle et al. 25, when feeding rats with different FOS concentrations (0%, 0.55%, 1.65%, 4.96%
Table 2. Body weight gain (WG), feed efficiency ratio (FER), relative cecum weight (RCW), feces weight (FW), feces moisture content (FM) after 28 days, of administration of the diets containing different concentrations of FOS/inulin from a yacon-based products (PBY)
VariableExperimental Group (%) FOS/inulin
P>F*Control - 0% 5% 6% 7.5% 10%
WG(g) 112.67 ±7.23
102.00 ±26.28
112.33 ±13.43
115.00 ±23.52
109.67 ±9.61 0.9083
FER 0.22 ±0.01
0.20 ±0.06
0.21 ±0.03
0.20 ±0.03
0.19 ±0.02 0.9141
RCW 0.0045 ± 0.0005
0.0065 ±0.0013
0.0071±0.0010
0.0091 ±0.0010
0.0092 ±0.0002 0.0017
FW (g) 1.22 ±0.32
2.21 ±1.00
2.77 ±2.27
3.95 ±1.54
4.59 ±3.03 0.0001
FM (%) 14.76 ±2.60
39.41 ±17.78
41.43 ±5.00
55.20 ±11.01
58.15 ±16.62 0.0102
Fecal score for diarrhea (1 = Firm feces or normal consistency; 2 = Viscous non-diarrheal feces; 3 = Watery feces characteristic of diarrhea [Adapted from Freitas et al., 2006]); Significance level: 5% by the Fischer test*.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017 139
Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Hércia Stampini Duarte Martino, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Tânia Toledo de Oliveira, Mário Jefferson Quirino Louzada, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira
and 9.91%), also found a significant increase in cecal weight with increase of the dose supplement-ed. This increase was associated with the trophic effect of SCFA on the colonocytes. In this study, FOS was used in its purified form, whereas in the present study theFOS/inulin is part of the PBY. Nevertheless the increase in cecal weight was dose-dependent as expected.
FOS and inulin, molecules soluble in water, are likely to be fermented when reaching the cecum26 and thus promote an increase in organ weight27, which is due to hypertrophy of the cell wall28,29.
However, the effect of complex carbohydrates in cecum hypertrophy tends to be proportional to its fermentation30, with production of metabolites that stimulate cell proliferation and not only the simple accumulation of substrates in the cecum. The bacterial fermentation also induces increased water content and in the intestinal lumen for dilution of the contents and maintenance of the osmotic pressure31,32.
The cecal weight also reflects the water reten-tion capacity13, since prebiotics such as inulin and FOS present an osmotic effect, which in turn is
Figure 2. Average fecal score of Wistar rats which consumed diets containing different concentrations of FOS/inulin in the yacon (Smallanthussonchifolius)-based products after 28 days of feeding. Fecal score for diarrhea (1 = Firm feces or normal consistency; 2 = Viscous non-diarrheal feces; 3 = Watery feces characteristic of diarrhea.
Table 3. Results of cecal pH and short chain fatty acids in rats (n=3/group) after 28 days of feeding with different concentrations of FOS/inulin in the yacon-based product (0% - control group, 5%, 6%, 7.5% and 10%) of the experimental diets.
VariableExperimental Group (%) FOS/inulin
P>F*Control - 0% 5% 6% 7.5% 10%
Cecal pH 6.43 ±0.08
6.48 ±0.25
6.21 ±0.49
6.70 ±0.21
6.75 ±0.38 0.2882
Acetate (µmol.g-1) 46.14 ±3.07
45.42 ±7.41
46.30 ±9.52
43.76 ±10.71
23.99 ±1.74 0.0168
Butirate (µmol.g-1) 33.43 ±3.76
32.56 ±18.74
68.77 ±14.82
46.77 ± 29.00
17.52 ±9.89 0.0445
Propionate (µmol.g-1) 36.45 ±1.13
40.36 ±16.86
53.06 ±11.13
41.22 ±19.60
18.26 ±4.07 0.0761
Significance level: 5% probability by the Fischer test*.
140 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017
FECAL SCORE AND CECUM PROFILE OF WISTAR RATS FED A NOVEL YACON BASED PRODUCT SOURCE OF FRUCTOOLIGOSSACHARIDES/INULIN
suggested as one of the mechanisms responsible to stimulate paracellular transport of minerals via increased mineral solubilization promoted by the greater amount of liquid in the large intestine.
The water retention capacity refers to the ability to retain water in the food matrix (Robertson and Eastwood, 1981). The format of the molecule and its solubility (dispersion) in water are key-features that control its water retention capacity. These properties are also influenced by particle size. Fi-bers from fruits and vegetables tend to bind more to water than the fibers of cereals. It was originally suggested that dietary components with a large water retention capacity would have an effect on the generation of feces volume33,34.
Because inulin and fructooligosaccharide mol-ecules are soluble in water and rich in hydroxyl they have an osmotic action, which in turn results in the laxative effect observed with ingestion of high doses35. The laxation effect of fructan prebi-otics was demonstrated in a study in which eight subjects received 15g of oligofructose for 45 days. This amount significantly increased the average fecal weight (136g -154g)36.
Healthy subjects who received a daily dose of 4.0 g of lactulose, a disaccharide prebiotic37, also described an increased fecal moisture content when compared to the control38.
In the present study an increased fecal mois-ture content was observed when prebiotic con-centrations (FOS/inulin) was increased in the diet of rats.
The fecal score is used to assess the feces characteristics, such as consistency, shape and moisture content39,40. In the present PBY study the experimental groups that received 7.5% and 10% FOS/inulin in their diet, the occurrence of feces consistency loss and the greater volume of fecal content was observed daily. However, not all animals in the groups receiving 7.5% and 10% presented watery feces (score = 3). This reinforces the fact that there are interindividual differences in tolerance to a single dose of FOS/inulin.
According to41, diarrhea indicates increased liquidity or decreased consistency of the feces, normally associated with an increase in feces
frequency and weight. The World Health Organi-zation42 defines diarrhea as three or more watery stools in two or more consecutive days.
In the present study, the occurrence of per-sistent diarrhea was verified43 in the two groups receiving the highest FOS/inulin concentrations (7.5% and 10%), since the episodes of watery stools, characteristics of diarrhea, lasted more than 14 days.
The fecal volume and scores are directly in-fluenced by the food composition44. Furthermore it has also been observed that an increase in the weight of the excreted fecal content of mice fed FOS is related to the increased number of bacteria resulting from their extensive fermentation (mi-crobial biomass)45.
One of the main functions of the large intestine is to ferment oligo- and polysaccharides (espe-cially those non-digestible) and proteins that are not completely digested in the small intestine. Fermentation products of non-digestible carbohy-drates are short chain fatty acids (SCFA) (acetic, propionic and butyric acids), gases (H2 and CO2) and bacterial biomass. Most of the SCFA are absorbed and provide energy to the host. They can also contribute to the regulation of metabolic pathways26.
The production of SCFA from fermentation of non-digestible carbohydrates is an important nutritional factor. They may reduce the risk of de-veloping gastrointestinal disorders10, cancer46 and bone disease13. In this study the quantification of SCFA (anionic form) in the cecal contents showed numerically lower concentrations of acetate, pro-pionate and butyrate in the group receiving the highest concentration of FOS/inulin (10%). It is speculated that in this group the SCFA content was more diluted due to the higher water retention in the cecum.
The group which received 6% FOS/inulin in the diet showed numerically higher concentrations of acetate, propionate and butyrate, suggesting that this is the best content of FOS/inulin among those tested in this study for incorporation into the diet of Wistar rats without causing the undesired effect of diarrhea. Consistent with this result, this group
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017 141
Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Hércia Stampini Duarte Martino, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Tânia Toledo de Oliveira, Mário Jefferson Quirino Louzada, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira
RESU
MO
also presented the lowest cecal pH due to higher acidification promoted by SCFA present in the cecal compartment.
The group which received 5% FOS/inulin pre-sented an acetate concentration (45.42 µmol.g-1) similar to that found by Weaver et al. (2010) of 55.90 µmol.g-1 and higher values for butyrate (32.56 µmol.g-1) and propionate (40.36 µmol.g-1). In indicated study which the values obtained were 11.70 µmol.g-1 and 20.30 µmol.g-1, respectively. Unlike the present study, Weaver et al. (2010) worked with purified FOS/inulin.
Havenaar11 pointed out that SCFA are vital to the health and well-being of the host and that the presence of carbohydrates from dietary fiber or prebiotics is essential to promote metabolic activity in the colon. The prebiotics FOS/inulin are substrates that stimulate the production of SCFA.
Moreover, FOS and inulin, as well as all food substrates which are fermented in the large intes-tine, when consumed in large quantities can cause intestinal discomfort such as bloating and abdo-minal distension due to the formation of gases as inevitable products of fermentation. They can also promote laxative action and may cause diarrhea because of the osmotic effect, already mentioned. These factors discourage consumption of high
doses of these prebiotics 26,34 and deserve more attention from the scientific community.
CONCLUSIONS
This study indicated that the consumption of PBY with FOS/inulin concentrations greater than 6% caused osmotic diarrhea, associated with in-creased relative cecum weight and fecal moisture content, weight and score. Moreover, in the groups receiving 7.5% and 10% FOS/inulin, the content of SCFA was lower compared to the other groups, possibly because they are diluted due to increased water retention in the cecum. These findings refer to a collateral effect of the fermentation of inulin-type fructans, which make up the various positive effects expected with dietary intervention by means of these prebiotics.
Given the above, the consumed of the PBY in concentrations of 6% FOS/inulin might be incor-porated in the diet, it is well tolerated and does not cause gastrointestinal complications. It is suggest-ed that at this dosage it is possible to evaluate the potential benefits in the digestive tract and system-ic effects arising from the consumption of FOS/inulin present in the food matrix tested (PBY).
ALIMENTADOS COM UM PRODUTO À BASE DE YACON FONTE DE FRUTANOS TIPO INULINA
Yacon (Smallanthus sonchifolius) é um alimento funcional e sua atividade prebiótica tem sido enfatizada recentemente, considerando as altas concentrações de fructooligo-sacarídeos/FOS e inulina. O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes concentrações de FOS/inulina de um produto à base de yacon (PBY) (0% - grupo controle, 5%, 6%, 7,5% e 10%) nos perfis cecais e fecais em ratos. O desempenho animal (ganho de peso e relação de eficiência alimentar) não foi afetado pelo aumento da concentração de FOS/inulina nas dietas (P> 0,05). Os animais que receberam 6% de FOS/inulina na dieta apresentaram as concentrações mais altas para os ácidos graxos de cadeia
142 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017
FECAL SCORE AND CECUM PROFILE OF WISTAR RATS FED A NOVEL YACON BASED PRODUCT SOURCE OF FRUCTOOLIGOSSACHARIDES/INULIN
curta, acetato e o butirato de (P <0,05) no conteúdo cecal. Foi observado maior teor de umidade nas fezes (55,20% e 58,15%), peso de fezes (3,95 g e 4,59 g), peso relativo do ceco (0,0091 e 0,0092) e diarreia osmótica (pontuação entre 2 e 3) nos grupos que consomiram dietas contendo 7,5 % e 10% FOS/inulina, respectivamente. Portanto, a adição de 6% de FOS/inulina a 6% de PBY na dieta não causou distúrbios gastrointestinais no ceco de ratos Wistar. Sugere-se que esta concentração possa induzir mudanças funcionais no hospedeiro e possa ser utilizada em modelos in vivo para avaliar efeitos funcionais específicos desse novo produto alimentar funcional.
Palavras-chave: Yacon, frutanos tipo inulina, ceco, fezes, ácidos graxos de cadeia curta.
1. Paula HAA. Efeito prebiótico à base de yacon (Smallanthus sonchifolius) na modulação de indicadores da saúde óssea em ratos Wistar. [tese]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2013.
2. Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. J Nutr. 1995 v.125: 1401-1412.
3. Flamm G. et al. Inulin and oligofructose as dietary fiber: a review of the evidence. Crit Rev Food Sci. 2001 41: 353-362.
4. Geyer M. et al. Effect of Yacon (Smallanthus sonchifolius) on Colonic Transit Time in Healthy Volunteers. Digestion. 2008 78:30-33.
5. Aybar M, Sánchez Riera AN, Grau A, Sánchez SS. Hypoglycemic effect of the water extract of Smallanthus sonchifolius (yácon) leaves in normal and diabetic rats. J Ethnopharmacol. 2001 74: 125-132.
6. Genta S. et al. Yacon syrup: Beneficial effects on obesity and insulin resistance in humans. ClinNutr. 2009 28:182-187.
7. Genta S. et al. Subchronic 4-month oral toxicity study of dried Smallanthus sonchifolius (yacon) roots as a diet supplement in rats. Food ChemToxicol. 2005 43: 1657-65.
8. Lobo AR. et al. Effects of fructans-containing yacon (Smallanthus sonchifolius Poepp&Endl.) flour
RESUMO
on caecum mucosal morphometry, calcium and magnesium balance, and bone calcium retention in growing rats. Brit J Nutr. 2007 97: 776–785.
9. Lobo A.R. et al. Changes in bone mass, biomechanical properties and microarchitecture of calcium- and iron-deficient rats fed diets supplemented with inulin-type fructans. Nutr Res. 2009 29: 873-881.
10. Wong JM. al. Colonic health: fermentation and short chain fatty acids. J ClinGastroenterol. 2006 40: 235-43.
11. Havenaar R. Intestinal health functions of colonic microbial metabolites: a review. Beneficial Microbes. 2011 2:103-14.
12. Bouhnik Y. et al. Short-chain fructooligosaccharide administration dose-dependently increases fecal bifidobacteria in healthy humans. J Nutr. 1999 129:113-116.
13. Weaver CM. et al. Novel Fibers Increase Bone Calcium Content and Strength beyond Efficiency of Large Intestine Fermentation. JAgr Food Chem. 2010 58: 8952–8957.
14. Ohta A. et al. A Combination of Dietary Fructooligosaccharides and Isoflavone Conjugates Increases Femoral Bone Mineral Density and Equol Production in Ovariectomized Mice. J Nutr. 2002 132: 2048–2054.
15. Scholz-Ahrens KE, Açil Y, Schrezenmeir J. Effect of oligofructose or dietary calcium on repeated calcium and phosphorus balances, bone mineralization and
trabecular structure in ovariectomized rats. Brit J Nutr. 2002 88: 365–377.
16. Kruger MC. et al. The effect of fructooligosaccharides with various degrees of polymerization on calcium bioavailability in the growing rat. ExpBioland Medicine. 2003 228:683–8.
17. Zafar TA. et al. Nondigestible Oligosaccharides Increase Calcium Absorption and Suppress Bone Resorption in Ovariectomized Rats. J Nutr. 2004 134: 399–402.
18. Devareddy L. et al. The effects of fructo-oligosaccharides in combination with soy protein on bone in osteopenicovariectomized rats. Menopause. 2006 13: 692-699.
19. Reeves Philip G, Nielsen F H, Fathey G C. AIN-93 purified diets for laboratory rodents: final report of the American Institute of Nutrition ad hoc writing committee on the reformulation of the AIN-76A rodent diet. J nutr. 1993 Jun;123(11):1939-1951.
20. Kaneko T, Kudo T, Horikoshi K. Comparasion of CD composition produced by chimeric CGTases. Agr BiolChem Tokyo. 1990 54: 197-201.
21. Freitas LS. et al. Avaliação de ácidos orgânicos em dietas para leitões de 21 a 49 dias de idade. Rev Bras Zootecn. 2006 35: 1711-1719.
22. Association of the Agricultural Chemists - Official Methods of Analysis - AOAC. Gaitherburg: Association of Official Analytical Chemists. 1997 16th ed. v.2. USA.
REFERENCES
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 134-143, 2017 143
Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Hércia Stampini Duarte Martino, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Tânia Toledo de Oliveira, Mário Jefferson Quirino Louzada, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira
23. Lobo AR. et al. Iron bioavailability from ferric pyrophosphate in rats fed with fructan-containing yacon (Smallanthus sonchifolius) flour. Food Chem. 2011 126: 885-891.
24. Smiricky-Tjardes MR. et al. Dietary galactooligosaccharides affect ileal and total-tract nutrient digestibility, ileal and fecal bacterial concentrations, and ileal fermentative characteristics of growing pigs. J AnimSci. 2003 81: 2535-2545.
25. Boyle FG. et al. Safety evaluation of oligofructose: 13 Week rat study and in vitro mutagenicity. Food ChemToxicol. 2008 46: 3132-3139.
26. Roberfroid MB. Introducing inulin-type fructans. Brit J Nutr. 2005a 93: S13–S25.
27. Tortuero F, Fernández E, Rupérez P. et al. Raffinose and lactic acid bactéria influence caecal fermentation and sérum cholesterol in rats. Nutr Res. 1997 17: 41-49.
28. Otha A. et al. Dietary fructooligosaccharides increase calcium absorption and levels of mucosal calbindin-D9k in the large intestine of gastrectomized rats. Scand J Gastroentero. 1998a 33:1062-1068.
29. Otha A. et al. Dietary fructooligosacharides change the concentration of calbindin-D9K differently in the mucosa of the small and large intestine of rats. J Nutr. 1998b 128: 934-939.
30. Younes H, Demigné C, Remésy C. Acidic fermentation in the caecum increases absorption and calcium and magnesium in the large intestine of the rat. Brit J Nutr. 1996 75: 301-314.
31. Tooping DL. Short-chain fatty acids produced by intestinal bactéria. Asia Pac J Clin Nutr. 1996 5:15-19.
32. Le Blay G. et al. Prolonged intake of fructooligosaccharides induces a short-term elevation of lactic acid-producing bacteria and a persistent increase in cecal butyrate in rats. J Nutr. 1999 129: 2231-2235.
33. Mcconnell AA, Eastwood MA, Mitchell WD. Physical characteristics of vegetal foodstuffs that could influence bowel function. J Sci Food Agr. 1974 25: 457–1464.
34. Roberfroid MB. Inulin-type fructans - functional food ingredients. 2005b Florida, United States of America: CRC Press.
35. Nilsson U, Björck I. Availability of cereal fructans and inulin in the rat intestinal Tract. J Nutr. 1988 118: 1482–1486.
36. Gibson GR. et al. Selective stimulation of bifidobacteria in the human colon by oligofructose and inulin. Gastroenterology. 1995 108:975-982.
37. Magalhães M.S. et al. Terminology: Funcional foods, probiotcs, prebiotcs, synbiotics, health claims, sensory evaluation foods and molecular gastronomy. 2011 Turku, Finland: Functional Foods Forum.
38. Mizota T. Lactulose as a growth promoting fator for Bifidobacterium and its physiological aspects. Bull Inte Dairy Fed. 1996 313: 43-48.
39. Flickinger EA. et al. Nutrient digestibilities, microbial populations, and protein catabolites as affected by
frutan supplementation of dog diets. J Anim Sci. 2003 81:2008-2018.
40. Veronesi C. Efeito de dois alimentos comerciais secos no consumo energético, peso vivo e peso metabólico, escore corporal, escore e peso fecal de cães adultos em manutenção e atividade. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 2003.
41. Vrese M, Marteau PR. Probiotics and Prebiotics: Effects on Diarrhea. J Nutr. 2007 137: 803S-811S.
42. World Health Organization- WHO. Health topics – Diarrhoea. Available at: http://www.who.int/topics/diarrhoea /en/. Accessed on 25 november 2011.
43. World Gastroenteologiy Organization - WGO. Practice Guidelines: Acute diarrhea; 2008. Available at: http://www.omge.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/01_acute_diarrhea.pdf. Accessed on 25 november 2011.
44. Meyer H, Zentek J, Hobernoll H. Digestibility and compatibility of mixed diets and fecal consistency in diferente breeds of dog. J Vet Med. 1999 46: 155-165.
45. Roberfroid MB. Dietary fiber properties and health benefits of non-digestible oligosaccharides. 1999 In: Sungsoo S, Prosky L, Dreher M. Complex carbohydrates in foods. Cap 4: 25-34.
46. Poulsen M, Mølck AM, Jacobsen BL. Different effects of short- and long-chained fructans on large intestinal physiology and carcinogen-induced aberrant crypt foci in rats. Nutr Cancer. 2001 42: 194–205.
REFE
RENC
ES
144 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
TRABALHOS APRESENTADOS NO I SEMINÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS
PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS – ICTB –
FIOCRUZ/RJ
MÉTODOS DIDÁTICOS PARA ENSINO EM MEDICINA VETERINÁRIA
ANDREIA NOBRE ANCIUTI1, TALITA LOBO OCHÔA2, BETINA MIRITZ KEIDANN2, LUÍSA GRECCO CORRÊA2, ANTONIO SERGIO VARELA JUNIOR3, CARINE DAHL CORCINI4
1Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Veterinária – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – e-mail: [email protected]. 2Graduanda em Medicina Veterinária – UFPel. 3 Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 4Departamento de Patologia Animal – Faculdade de Veterinária - UFPel.
As técnicas realizadas na rotina obstétrica veterinária de cani-nos são complexas e delicadas, exigindo grande atenção e habi-lidade dos profissionais e estudantes da área. No atual cenário do ensino, as questões éticas e de bem-estar apresentam maior relevân-cia, quando comparadas a décadas atrás. Por isso, algumas práticas de aprendizagem com animais in vivo, deixaram de ser realizadas. A utilização de manequins é um método interativo e imersivo de aprendizagem, o qual simula uma situação real, permitindo o erro sem risco de ferir ou prejudicar o paciente. Assim, substitui o aprendizado passivo por um processo de avaliação, decisão e correção de erros. Esse trabalho teve como objetivo desenvolver manequins para aperfeiçoar o ensino da obstetrícia de caninos. Para simular a técnica de palpação abdominal e vaginal, utilizou-se um protótipo canino de plástico. Foi realizada uma abertura abdominal, preenchimento interno com fibra sintética e colocação do útero fictício, composto de preservativos preenchidos com mucilagem e bolas de balão repletas de massa de modelar (fetos). Em seguida, a região foi arrematada com um recorte de tecido TNT. No mesmo manequim, foi confeccionado um orifício na região correspondente à vagina e, para simulação da mucosa vestibular, foi utilizado “um dedo de luva de procedimento”, invertendo e fixando-o com cola quente para o interior do manequim. Isso ofereceu ao aluno um treinamento das técnicas de toque, avaliação de estática e proporção materno-fetal. Para o desenvolvimento deste manequim tivemos a necessidade de buscar materiais que se aproximassem das estruturas reais. Com o protótipo obstétrico foi possível demonstrar aos gradu-andos as manobras de palpação abdominal e vaginal. Essa prática de palpação vaginal foi de grande valia, pois um número grande de alunos pôde fazer o exame e sentir as diferentes fases da gestação da cadela. Essa prática dificilmente seria feita com animais vivos. Os manequins também foram utilizados em oficinas para alunos do ensino fundamental e do médio, proporcionando-lhes reconhecer a importância do cuidado com os animais. Com a aplicabilidade dos modelos nas aulas ou mesmo em feiras e oficinas, foi possível verificar que todos aprovaram a utilização. Há disponibilidade de material, de fácil aquisição, e o tempo despendido para a confecção
de cada modelo foi de curta duração. Os manequins alcançaram boa aceitação pelos discentes, que relataram, a partir da experiência, maior compreensão dos procedimentos e segurança para realizá-los em animais in vivo, futuramente.
Palavras-chaves: Protótipo, Manequim, Obstetrícia, Pediatria. Órgãos de fomento: CAPES, CNPq, UFPEL
CÉLULA ESPERMÁTICA SUÍNA PARA ENSAIOS DE TOXICIDADE
ANDREIA NOBRE ANCIUTI1; SARA LORANDI SOARES2; BRUNO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA3; JORGE SQUEFF FILHO4, NORTON LUIS S. GATTI4, ANTONIO SERGIO V. JUNIOR5, CARINE DAHL CORCINI6.
1Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Veterinária – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e-mail: [email protected]; 2Doutoranda Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - UFPel; 3Mestrando Programa de Pós-Graduação em Fisiologia - Universidade Federal do Rio Grande (FURG); 4Mestrando Programa de Pós-Graduação em Veterinária - UFPel; 5Instituto de Ciências Biológicas – FURG; 6Departamento de Patologia Animal – Faculdade de Veterinária - UFPel.
As células espermáticas de suínos demonstram ser capazes de atuar como um método alternativo ao uso de modelos in vivo na identificação de substâncias potencialmente tóxicas para células de mamíferos. A colheita das células nesta espécie é realizada de maneira rotineira em centrais de inseminação artificial, tornando-se um insumo de baixo custo, quando comparado a métodos in vitro, além de não ser necessária a realização da eutanásia nos animais para tal procedimento. O objetivo deste trabalho foi expor as células espermáticas da espécie suína a diferentes concentrações de ATP e avaliar seu potencial tóxico. Foram utilizadas 30 doses insemi-nantes comercias, que sofreram o processo de criopreservação, com adequada curva de resfriamento e congelamento com crioprotetores recomendados. Posteriormente ao descongelamento (37ºC por 20 segundos), as células espermáticas foram diluídas em meio com ATP em quatro concentrações 0,025mM (G1), 0,25mM (G2), 2,5mM (G3), e 25mM (G4), além do grupo controle (GC) (sem adição de ATP). Após incubação a 37ºC por 10, 60 e 120 min, foram realizadas as análises de motilidade progressiva, por meio de sistema computadorizado de avaliação seminal e integridade de membrana, por citometria de fluxo. Os resultados mostram que as células espermáticas são capazes de responder à exposição a agentes tóxicos. Na avaliação da motilidade progressiva aos 10 min de incubação, o GC apresentou percentual estatisticamente elevado (35%) ao ser comparado com G1, G2, G3 e G4 (32%, 30%, 30% e 30%, respectivamente). Já nos 60 min, o valor de motilidade progressiva para G3 (11%) foi estatisticamente inferior a GC (15%), G1 (16%), G2 (14%) e G4 (14%). E nos 120 min, o valor para G4 (8%) foi estatisticamente inferior aos demais, sendo G1 (11%) o grupo que apresentou melhor motilidade progressiva. Já na avaliação da integridade de membrana plasmática, nos 10 min de incubação GC (48%), G1 (46%), G2 (42%) e G3 (46%) apre-sentaram maior percentual de células íntegras quando comparados com G4 (24%). O mesmo padrão foi observado nas avaliações aos 60 min, GC (41%), G1 (41%), G2 (41%), G3 (40%) e G4 (18%), e aos 120 min GC (48%), G1 (45%), G2 (45%), G3 (44%) e G4
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 145
RESUMOS
(22%). Além disso, foi observada uma correlação negativa entre a concentração de ATP no meio diluente e a integridade de membrana plasmática (r= -0,4684; r= -0,2907; r= -0,3155), nos três tempos de incubação 10, 60 e 120 min, respectivamente. É possível per-ceber, através dos resultados, que a maior concentração de ATP (25mM) causou uma desestruturação na membrana espermática em todos os tempos estudados. Dessa forma, observa-se que o sê-men suíno apresenta grande potencial para utilização em ensaios de toxicidade in vitro.
Palavras-chaves: Toxicologia, Espermatozoides, Ensaio in vitro.
Órgãos de fomento: CAPES, CNPq, UFPEL
CORRELAÇÃO IDADE VERSUS PESO EM COLÔNIA DE CAMUNDONGOS SWISS WEBSTER
LEANDRO CASTILHO VIEIRA 1; ALINE REPOLEZ 2; KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA 3
1- Acadêmico do curso de Biomedicina da Universidade Estácio de Sá. 2- Técnica em Manejo do Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos/ICTB/Fiocruz - Bióloga - Discente do Curso de Mestrado em Ciências de Animais de Laboratório - ICTB/Fiocruz. 3- Pesquisadora em Saúde Pública - ICTB/Fiocruz.
A padronização de animais utilizados em pesquisas biomédicas é importante para garantir a qualidade da produção científica e consequente confiabilidade nos resultados obtidos. Os índices de ganho de peso e a determinação da curva de desenvolvimento em animais de laboratório são formas de padronização e considerados indicativos de bem-estar animal. O trabalho avaliou dados sobre o desenvolvimento de camundongos da linhagem Swiss em difer-entes faixas etárias, em ambos os sexos, mantidos no biotério do Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos (SCRL) do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) da Fiocruz, por ser a linhagem mais demandada em pesquisas na instituição e com solicitações específicas de pesos e idades para utilização em pesquisas com utilização de inócuos e fármacos. Foram utilizados 200 exemplares de camundongos da linhagem Swiss Webster, para acompanhamento do peso a partir dos 21 dias de vida, até os 60 dias. Estes foram mantidos da seguinte forma: em gaiolas tipo mini-isolador, medindo 48,3x33,7x25,3cm (CxLxA), acondicio-nadas em racks ventilados em sala de criação com temperatura ambiente variando entre 20o a 22oC; umidade relativa média de 70% e fotoperíodo de 12 horas luz/12 horas escuro; oferta ad libitum de ração para camundongos autoclavável (Nuvilab CR-1®) e água au-toclavada. O material de cama, alimentação e água foram trocados semanalmente. Os animais pertenciam à colônia de produção desta linhagem no biotério do SRCL/ICTB/Fiocruz. Os animais foram pesados em grupos distintos de machos (n=100) e fêmeas (n=100), para acompanhamento do ganho de peso correlacionado também ao sexo do animal, sendo pesados nos 21o, 30o, 45o e 60o dias de vida. Após anotação dos dados em planilha simples, este foram compilados no programa Excel em planilhas individualizadas, cujos dados foram utilizados para aferição da média e desvio-padrão e correlação de dados entre os grupos machos e fêmeas com apli-cação do Teste T. Os resultados demonstraram que, aos 21dias de vida, machos e fêmeas não possuem diferença significativa quando comparados os pesos médios (machos = 13,28g ±2,79; fêmeas = 14,4g ±12,29; diferença entre médias = 0,76g; p=0,55). Já a partir
dos 28 dias de vida, foram notadas diferenças significativas entre as médias de peso (machos = 24,84g ±3,91; fêmeas = 22,87g ±3,13; diferença entre médias = 1,97; p=0,0002) e que aumentam a cada nova etapa de aferição, sendo ainda mais evidente a diferença de peso médio entre machos e fêmeas aos 60 dias de vida (machos = 43,76 ±4,08; fêmeas = 35,4g ±3,53; diferença entre médias = 8,36g; p<0,0001). Conclui-se que os camundongos da linhagem Swiss Webster criados no ICTB/Fiocruz possuem peso esperado para a linhagem em relação aos dados encontrados para a mesma linhagem em biotérios brasileiros e americanos, o que reflete o manejo adequado dos animais nessa instalação.
Palavras-chave: Animais de laboratório, Manejo, Fisiologia.
CARACTERIZAÇÃO DA CURVA GLICÊMICA DE CAMUNDONGOS DA LINHAGEM NOD FORNECIDOS PARA PESQUISA PELO ICTB/FIOCRUZ
ROBSON LAROCA DOMINGUES FILHO¹,²*, LUIZ RICARDO BERBERT¹, KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA¹, JAVIER ADOLFO SARRIA PEREA¹,³
¹ Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos – Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB/Fiocruz – Brasil; ² Discente do Mestrado em Ciência de Animais de Laboratório – Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB/Fiocruz; ³ Coordenação de Pesquisa e Experimentação Animal – CEPEA – Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB/Fiocruz.
O camundongo Diabético Não Obeso (NOD) é uma linhagem endogâmica que desenvolve um tipo de diabetes autoimune (DA) clínica e geneticamente similar à Diabetes Mellitus tipo 1 em hu-manos. Esta consiste em uma reação imunomediada por células T e B contra as células β do pâncreas, a qual reduz drasticamente a produção de insulina, que consequentemente leva à hiperglicemia com índices acima de 250mg/dL. A manifestação da DA geralmente é mais precoce nas fêmeas do que nos machos, iniciando-se em fêmeas a partir da 12ª semana de idade. Contudo, diferenças no padrão de manifestação da DA entre colônias de camundongo NOD criadas em biotérios diferentes têm sido reportadas. O presente trabalho visa caracterizar o padrão de manifestação da DA da colônia de camundongos NOD criados no Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) da Fiocruz. Para tal fim serão analisados os índices de glicemia e peso, coletados durante a fase de crescimento (da 10ª à 20ª semana de vida). As médias e desvios padrões de fêmeas e machos serão calculados semanalmente para construir as respectivas curvas, que serão comparadas às reportadas na literatura. Adicionalmente, os tecidos provenientes dos animais encaminhados para eutanásia serão examinados histologicamente para confirmar a presença das reações autoimunes. Espera-se, como resultado, refinar as técnicas de criação e manejo da colônia de camundongos NOD do ICTB.
Palavras-chave: Camundongo; NOD, Glicemia, Índice glicêmico
146 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
ESTUDO RETROSPECTIVO DA PREVALÊNCIA DE ECTOPARASITOS EM CAMUNDONGOS (MUS MUSCULUS) SWISS WEBSTER, C57BL/6 E BALB/C AN, CRIADOS E MANTIDOS EM INSTALAÇÕES NO RIO DE JANEIRO
CLEIDE CRISTINA APOLINÁRIO BORGES¹, ²; JAIRO DIAS BARREIRA³; MARIA INÊS DORIA ROSSI⁴
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório / Fiocruz. E-mail: [email protected] – ²Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio / Fiocruz - ³Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / UNIRIO; ⁴Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos / Fiocruz
O Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é responsável pela produção e fornecimento de animais de laboratório para pesquisa. Neste instituto está localizado o Serviço de Controle da Qualidade Animal (SCQA), responsável pelo monitoramento da sanidade destes animais. Com relação à qualidade dos animais utilizados em pesquisa, a ocorrência de ácaros em colônias convencionais de animais de laboratório tem sido estudada visando à obtenção de dados sobre o comprometimento e possíveis interferências nas pesquisas ou ensaios biomédicos de média e longa duração. Neste contexto, há necessidade de estudos de monitoramento sanitário dos animais para rastrear os prováveis ectoparasitos de uma colônia e estabelecer possíveis alternativas de barreiras sanitárias. O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de ácaros em camundongos (Mus musculus) outbred (Swiss Webster) e inbred (C57BL/6 e BALB/C An) criados e mantidos no ICTB/Fiocruz, quando esta instituição ainda era denominada Centro de Criação de Animais de Laboratório (CECAL), no período de 1999 a 2015. Também objetiva estabelecer uma correlação com as condições sanitárias das instalações destes animais de criação. Neste estudo retrospectivo, realizado por meio de coletas de dados obtidos nos arquivos SCQA do ano de 1999 a 2015, foram avaliados 4.707 camundongos de ambos os sexos das colônias de Swiss Webster, C57BL6 e BALB/C AN, com idades entre 3 e 12 meses. Os resultados obtidos no ano de 1999 acusaram ácaros da espécie Myobia musculi (2,78%) e Myocoptes musculinus (5,95%) nas três linhagens estudadas. En-tretanto, em 2000 somente detectou-se M. musculinus nos Swiss Webster (11,90%) e nos C57BL/6 (4,88%). Posteriormente, no ano de 2001, somente os animais Swiss Webster (3,08%) foram para-sitados por M. musculinus. Embora não tenham sido identificados ectoparasitos por três anos consecutivos, no ano de 2004 a linhagem C57BL/6 voltou a apresentar positividade (23,44%) para o ácaro M.musculinus. No período de 2005 a 2015, não foram evidencia-dos ectoparasitos nas linhagens incluídas no estudo. Concluiu-se que: i) os ácaros foram identificados em animais de pele íntegra e aparentemente sadios; ii) o fato de termos a presença de ácaros M. musculinus na colônia C57BL/6, após três anos controlados, indica uma reinfestação da colônia; e iii) a redução progressiva de ectoparasitos nas colônias estudadas provavelmente foi decorrente da implantação de barreiras e manejos sanitários adequados.
Palavras-chave: ectoparasitos, instalações, condições higiênico- sanitárias.
INVESTIGAÇÃO RETROSPECTIVA DAS ENDOPARASITOSES EM CAMUNDONGOS SWISS WEBSTER, C57BL/6 E BALB/C AN CRIADOS E MANTIDOS EM INSTALAÇÕES NO RIO DE JANEIRO
CLEIDE CRISTINA APOLINÁRIO BORGES¹,²; INCERLANDE SOARES DOS SANTOS³; JAIRO DIAS BARREIRA⁴; MARIA INÊS DORIA ROSSI³
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório / Fiocruz; ²Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio / Fiocruz; ³Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos / Fiocruz ⁴Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / UNIRIO. e-mail: [email protected].
O antigo Centro de Criação de Animais de Laboratório (CE-CAL), atual Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é responsável pela produção e fornecimento de animais de laboratório. Neste instituto está o Serviço de Controle da Qualidade Animal (SCQA), que é responsável pelo monitoramento da saúde dos animais, incluindo as parasitoses. Neste contexto, o estudo sobre endoparasitoses deve ser alvo de atenção nos centros de criação de animais destinados à pesquisa, pois além das altas prevalências e dos prejuízos que podem causar à sanidade animal, exercem influência direta sobre os resul-tados experimentais. Constituem-se indicadores de condição das barreiras sanitárias e práticas de manejo adotadas. A saúde e o bem-estar dos animais de laboratório, assim como a classificação de seus padrões, são obtidos por meio de um programa de monitoramento de rotina e práticas sanitárias rigorosas. A melhoria das técnicas de manejo em conjunto com as condições higiênico-sanitárias, além dos fatores ambientais, contribuem para manter animais em con-dições sanitárias controladas.O objetivo deste estudo foi reunir os dados e avaliar a prevalência de helmintos e protozoários em Mus musculus outbred (Swiss Webster) e linhagens “inbred”(C57BL/6 e BALB/C An), criadas e mantidas no Cecal/Fiocruz, bem como cor-relacionar a prevalência com as condições sanitárias das instalações onde os animais são criados e mantidos. Neste estudo retrospectivo, realizado por meio de coletas de dados obtidos nos arquivos SCQA desde o ano de 1999 até 2015, foram avaliados 4.699 camundongos de ambos os sexos, com idades entre 3 e 12 meses, das colônias Swiss Webster, C57BL6 e BALB/C AN. Os registros demonstraram que entre os helmintos a maior prevalência foi de Syphacia obvelata (34,13%), seguida de Aspiculuris tetraptera (4,11%) e Hymenolepis nana (3,51%). Com relação aos protozoários intestinais, a maior frequência foi de Tritrichomonas muris (5,96%), Spironucleus muris (5,47%), Entamoeba muris (2,72%), Hexamita muris (1,70%), Giardia muris (0,55%). Observou-se maior prevalência dos endo-parasitos no período entre 1999 a 2004, sendo possível constatar diferentes graus de infecções por helmintos e protozoários entre os camundongos. Nos anos seguintes notou-se a diminuição dos endoparasitos. Porém, o nematódeo S.obvelata permaneceu nas linhagens C57BL/6 e BALB/C AN até o ano de 2009, e na colônia de Swiss Webster até 2013. Após este período, todas as linhagens se mantiveram livres de infecções por endoparasitos. Concluiu-se que o endoparasito S. obvelata foi o mais prevalente nas linhagens de camundongos analisadas; inferiu-se que o monitoramento sani-tário periódico, as medidas de tratamento intermitente, associadas à melhoria do manejo e estabelecimento de barreiras sanitárias corroboram para o controle de parasitos.
Palavras-chave: endoparasitos, barreira sanitária, condições higiênico- sanitárias.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 147
RESUMOS
EFEITO DA ESPERMATOCISTITE SOBRE A QUALIDADE SEMINAL DE CAMUNDONGOS GENETICAMENTE MODIFICADO
PATRÍCIA REID BEGOSSI CLÍNIO1, ISABELLA DE MOURA FOLHADELLA PIRES2, LUCIENE PASCHOAL BRAGA DIAS2, CRISTIANO MAGALHÃES FERREIRA SOBRINHO2, ALESSANDRA DE ALMEIDA RAMOS2, THAIS MALHEIROS TORRES2, PAULO CÉSAR SILVA SOUZA2, JANAÍNA BARCELOS PORTO FERREIRA2
1 Instituto Nacional do Câncer (INCA); 2 Serviço de Biotecnologia e Desenvolvimento Animal, Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), Fiocruz. CEUA: LW-3314.
A existência de patologias do trato reprodutivo influencia significativamente na perpetuação de animais na colônia de uma instalação animal, apesar de a deficiência reprodutiva ser inerente à inúmeras linhagens transgênicas de camundongos. O presente trabalho teve como objetivo descrever a ocorrência de espermato-cistite em camundongos geneticamente modificados, sua influência na qualidade seminal e a resposta à inseminação artificial. Machos de linhagem transgênica com 24 meses de idade (n=3), foram en-viados ao Serviço de Biotecnologia e Desenvolvimento Animal, do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), com intuito de salvaguardar o material genético desta linhagem, que permaneceu em acasalamento natural por mais de um ano sem obtenção de prole. O sêmen foi coletado após eutanásia e retirada da cauda do epidídimo. Este foi colocado, a 37oC, em meio M2 ® (Sigma-Aldrich) para recuperação dos espermatozoides. O sê-men do macho 1 foi utilizado para inseminação artificial a fresco, enquanto machos 2 e 3 tiveram o sêmen criopreservado e mantido a -196ºC até o uso. Para a inseminação artificial, fêmeas de linha-gem isogênica C57Bl/6, com 6 a 7 semanas foram superovuladas com eCG (Gonadotrofina coriônica equina) e hCG (human growth hormone) (7,5 UI) e inseminadas com sêmen do macho 1 (n=5), e com sêmen dos machos 2 e 3. A motilidade e vigor espermáticos a fresco encontrados foram 45%/3, 50%/3, 40%/4, respectivamente para os machos 1, 2 e 3. O sêmen dos machos 2 e 3 apresentaram, após o descongelamento, motilidade de 30% e vigor espermático 3. Durante a coleta observou-se aumento de volume das glândulas vesiculares nos três animais, com as seguintes particularidades: macho1–glândula vesicular esquerda com 1,5 cm o maior eixo e coloração branco-leitosa; macho 2–glândulas vesiculares direita e esquerda com aumento de 3 vezes, coloração marrom, ao corte, evidenciou-se massa grumosa castanha; macho 3–glândula ve-sicular esquerda de coloração castanha, muito aumentada (2,0 cm o maior eixo), com nódulo arredondado, amarelado de 0,6 cm de diâmetro e aspecto pastoso. Ao corte, glândula vesicular direita com aspecto atrofiado. Os achados microscópicos encontrados foram: degeneração e necrose do epitélio da vesícula seminal, conteúdo acelular castanho aumentado comprimindo este epitélio, e eritróci-tos agregados distribuídos de forma irregular por todo o órgão, associados ao conteúdo vesical. Os achados comprovam o quadro de distúrbio circulatório do aparelho urogenital, caracterizado por hemorragia e congestão dos tecidos e consequente necrose. Não houve gestação positiva. Acredita-se que as desordens apresentadas no aparelho urogenital destes machos influenciaram no padrão bioquímico e ultraestrutural do sêmen e espermatozoides, afetando negativamente sua fertilidade.
Palavras-chave: Criopreservação de sêmen; glândula vesicu-lar; inseminação artificial.
CONDIÇÃO AMBIENTAL COMO ELEMENTO DETERMINANTE DA VARIAÇÃO DE PESO CORPÓREO, ANORMALIDADES CLÍNICAS E ESTEREOTIPIAS DE MACACOS-DE-CHEIRO (SAIMIRI SCIUREUS) DESTINADOS ÀS PESQUISAS
NASCIMENTO, M.O.L.¹ ; ANDRADE, M.C.R.²
¹Faculdade de Ciências Biológicas, Faculdades Integradas Maria Thereza/FAMATH. ²Coordenação de Pesquisa e Experimentação Animal/CPEA, Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos/ICTB, Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz
Procedimentos de manejo influenciam diretamente na saúde de primatas não humanos (PNH) de laboratório e no seu potencial como um biomodelo adequado para pesquisa. No ambiente cativo, procura-se oferecer situações que se aproximam ao seu habitat original, com recintos arborizados e itens diversificados (Ex: Poleiros, plataformas, galhos de árvores), conforme as exigên-cias da espécie símia. O programa de enriquecimento ambiental (PEA) potencializa a promoção do bem-estar, buscando manter os indivíduos em homeostasia. Ao serem fornecidos a pesquisas, os animais são transferidos a instalações diferentes, acarretando estresse, principal problema gerado pela mudança ambiental br-usca. Trata-se de um processo neuro-hormonal, pelo qual passam os seres vivos mediante um trauma, na tentativa de se retornar ao seu estado de adaptação. Peso, estado clínico e comportamento são variáveis que avaliam o estresse. Macacos-de-cheiro (Saimiri sciureus) saudáveis mantidos em criadouros possuem pesos que variam entre 780-1200g para machos e entre 700-800g para fêmeas, quando adultos. Este estudo realizou um mapeamento do histórico acerca dos dados fisiológicos de 17 macacos-de-cheiro, desde a criação e após o seu fornecimento à pesquisa, para identificar as etapas dos agentes estressores, incluindo a fase aguda e a de adaptação, quando os animais se habituam ao estressor. Os ani-mais foram divididos em 3 grupos (GI, GII, GIII), fornecidos em fevereiro, abril e julho/2016, respectivamente, sofreram acentuada perda de peso em diferentes períodos, variando com as condições ambientais. Inicialmente, a média de peso foi de 801g nos machos (n = 10) e 727g nas fêmeas (n = 7). Ao chegarem ao biotério de experimentação, os PNH analisados apresentaram rápida perda de peso (média de 693g para machos, representando perda de 13,4% do peso total e 614g para fêmeas, representando uma perda de 15,5%), sendo esta perda mais acentuada nas fêmeas (1,15 vezes > machos). Nas vistorias diárias, detectaram-se alopecias, diarreia, apatia e comportamentos agonísticos. Um trabalho continuado do PEA aplicado aos animais por 1 ano e 7 meses, com aumento do repertório de itens de enriquecimento, representaram recursos primordiais para a recuperação de todas as alterações decorrentes do estresse de confinamento. No período de 6-8 meses, houve um ganho crescente da massa corporal e redução das estereotipias e das alterações clínicas. As diferentes etapas do estresse perduraram por 4 meses no GI, 2 meses no GII e 1 mês no GIII, desde o seu ingresso à nova instalação, até a fase de adaptação ao novo ambiente. Esta rápida adaptação denota o reflexo da melhoria constante do manejo. Os animais hoje estão clinicamente saudáveis, com média de peso de 1.028g para machos e 758g para fêmeas, além de apresentarem uma maior expressão de comportamentos naturais. Os resultados mostraram que o aprimoramento do PEA foi um catalisador na minimização do estresse causado pela mudança ambiental e que
148 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
a oscilação das variáveis analisadas pode ser mais rapidamente contornada com o refinamento desse programa de imensurável relevância na condição de cativeiro para melhorar a qualidade de vida do animal. Este trabalho está devidamente licenciado pela CEUA LW-6/16.
Palavras-chaves: Macacos-de-cheiro. Manejo. Enriqueci-mento ambiental. Variação de peso. Anormalidades clínicas. Desvios de comportamento.
RELATO DE CASO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE MANDIBULAR EM MACACA MULATTA
ALINE BATISTA DENOLATO RODRIGUES1,2, ANA CRISTINA ARAÚJO PINTO1, DANIEL ROUEDE DE ANDRADE OLIVEIRA1, MILENA BEZERRA DE SOUZA1,2, MÔNICA INGEBORG ZUEGE CALADO1, PAULO ABÍLIO VARELLA LISBOA2, RODRIGO CALDAS MENEZES3, WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO1, CLÁUDIA ANDRÉA DE ARAÚJO LOPES1
1. Estudante de Graduação do Curso de Medicina Veterinária na Universidade Castelo Branco; 2. Serviço de Criação de Primatas Não Humanos do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB; 3. Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas em Saúde - NEXT, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Desenvolvimento da plataforma de vigilância e controle de zoonoses – ICICT; 4. Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Laboratório de Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses em Animais Domésticos - INI.
Um macaco rhesus (Macaca mulatta), macho, de vinte anos de idade pertencente à colônia do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da Fiocruz (ICTB/Fiocruz) apresentou lesões da cavidade oral na área da gengiva, na região dos incisivos inferiores, de consistência firme e formato irregular, com coloração rósea e áreas ulceradas de aspecto enegrecido sugestivo de necrose. Também havia mobilidade de dentes pré-molares e incisivos infe-riores. Em consequência, o animal apresentava dificuldade para se alimentar, desconforto local e perda de peso. Ao exame radiológico, foi observada severa osteólise no terço proximal cranial do arco mandibular bilateral, a partir do 2° pré-molar direito até o 2° pré-molar esquerdo, compatível com processo de destruição óssea. Foi instituído tratamento analgésico e anti-inflamatório, além do uso de antibióticos, com a devida adequação do manejo nutricional, consistindo de dieta pastosa enriquecida com suplementos alimen-tares e aumento da oferta de frutas e ovos cozidos. Procedimentos de criocirurgia para redução da massa tumoral foram realizados concomitantemente à realização de extrações dentárias, obtenção de biópsia para o exame histopatológico e colheita de amostras para citologia. Entretanto, o tumor evoluiu rapidamente com aumento de volume, causando sangramento e dor. Em função do prognóstico desfavorável e considerando-se o prolongamento desnecessário do sofrimento do animal, optou-se pela eutanásia e encaminhamento da carcaça para exame necroscópico. As alterações mais relevantes encontradas foram: proliferações gengivais sugestivas de neopla-sia com ulceração de pele, linfadenomegalia, pequena área de aderência da pleura visceral ao diafragma, presença de conteúdo líquido translúcido no pericárdio e áreas de aderência sugestivas de pericardite. Foram encontradas também alterações compatíveis
com endocardite valvular da mitral, fecalomas aderidos à parede do cólon proximal, alterações sugestivas de gastrite e cistite e hérnia inguinal esquerda com atrofia testicular esquerda. O exame histopatológico da amostra de mucosa oral com lesão tumoral rev-elou neoplasia maligna, composta por células epiteliais anaplásicas do epitélio escamoso, classificada como carcinoma epidermóide.
Palavras chave: Carcinoma epidermóide, Macaca, Primata, Neoplasia.
RELATO DE CASO: PRESENÇA DE SEPTO VAGINAL EM COLÔNIA DE FUNDAÇÃO DE CAMUNDONGO BALB/C
PATRÍCIA REID BEGOSSI CLINIO 1, VIVIANE SANTOS DE BARROS SIQUEIRA1, JANAÍNA BARCELOS PORTO FERREIRA2
1 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA); 2Serviço de Biotecnologia e Desenvolvimento Animal, ICTB, Fiocruz. CEUA INCA Nº 002/14.
Aos 60 dias de vida, os camundongos tornam-se aptos à re-produção. Contudo, os efeitos hormonais evidenciam-se em ambos os sexos aproximadamente aos 30 dias de idade, momento em que ocorre, nas fêmeas, a abertura da vagina, e nos machos, o aumento e descida dos testículos. O útero de roedores e lagomorfos têm dois cornos, cada um ligando-se a um ovário. No desenvolvimento fetal das fêmeas, os dois cornos uterinos se fundem em uma vagina. Entretanto, em alguns animais essa fusão não se completa, e o tecido permanece dividindo a vagina e o útero. O septo vaginal é uma condição que ocorre frequentemente em camundongos e ratos. Consiste em um tecido que subdivide a vagina dorso-vetralmente, ocorrendo em algumas linhagens de camundongos como BALB/c (tornando-as improdutivas). Até a década de 80 essa condição já havia sido identificada em 14 linhagens diferentes de camundongos de produção no Jackson Laboratory. No Brasil, sua ocorrência já foi descrita, em 2012, na colônia de animais de produção do Bio-tério Central do Instituto Butantan, e acredita-se estar relacionada à mutação recessiva do gene TTPAtm1Far na linhagem B6.129S4/J. O presente trabalho tem como objetivo descrever a presença desta anomalia em uma fêmea de Balb/c J da primeira geração, nascida de uma matriz do Jackson Laboratory, em outubro de 2015, na Colônia de Fundação do INCA. O animal foi acasalado com 30 dias de idade com macho da mesma ninhada. Após 45 dias do acasalamento, verificou-se que a fêmea apresentava septo vaginal ao exame físico. O animal foi contido manualmente e a abertura vaginal foi exposta com o auxílio de uma pinça anatômica, tendo-se o cuidado de não pressionar demasiadamente o tecido para evitar trauma mecânico na mucosa da vulva. Por se tratar de uma anomalia que impede a produção do animal e estar relacionada a uma mutação recessiva, o casal foi retirado da colônia para que essa característica não se perpetuasse na linhagem.
Palavras-chave: septo vaginal, linhagem BALB/c J, colônia de fundação de camundongos isogênicos.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 149
RESUMOS
REPRODUTIBILIDADE: NOVO R DOS 3RS, OU APENAS UM MECANISMO DE REFINAMENTO?
1 JOSILENE DE J. SOUZA; 2VALÉRIA CRISTINA LOPES MARQUES; 2LUIZ RICARDO BERBERT; 4GLADYS CORRÊA
1,2. Discentes do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório; 3, 4 Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos – Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB/Fiocruz – Brasil.
O princípio dos 3Rs, preconizado por Russel e Burch (1959), que trata da redução, refinamento e substituição (reducement, refinement e replacement), foi, e ainda é, fundamental no desen-volvimento da ciência em animais de laboratório (CAL). Esse princípio tem influenciado a forma como os animais são produzidos e utilizados, criando-se estratégias para minimizar, além de outras vertentes, o número de animais descartados. Em consonância com esses conceitos, é obrigação da sociedade científica a condução ética na publicação de trabalhos que levem em conta a importância de descrever de forma fiel os protocolos envolvidos no desen-volvimento dos projetos. Sendo esse um dos causadores da crise de reprodutibilidade que tem ameaçado a ciência, somando-se a outros múltiplos fatores, como dados estatisticamente fracos, metodologia, acompanhamento ineficiente, desenho experimental mal desenvolvido, técnicas não muito conhecidas, qualidade do reagente e, no caso da CAL, a escolha do animal. A reprodutibi-lidade é a capacidade de reprodução de um experimento e seus resultados, tanto pelo mesmo pesquisador quanto por outros, e esse princípio tem sido utilizado há séculos, quando os grandes cientistas demonstravam aos seus colegas suas descobertas. No entanto, é um conceito que tem se perdido em uma crise sem precedentes, com um grande número de trabalhos não reproduzíveis, até mesmo em laboratórios nos quais foram realizados. A preocupação com a falta de reprodutibilidade tem levado ao desenvolvimento de estratégias como forma de aumentar as chances de reprodução de um trabalho. O National Centre for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research (NC3Rs) desenvolveu o Guia ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) para melhorar o desenho, a análise e o manuscrito da investigação com animais. Em conjunto a essa ferramenta, tem sido utilizado o Assistente de Design Experimental (EDA), que ajuda pesquisadores a desenharem o experimento em um programa web que analisa os experimentos desenhados, produzindo comentários e análise, por exemplo, sobre o número de animais a serem usados e os meios de randomização. A utilização conjunta dessas ferramentas pode ser a chave para desenvolver trabalhos mais robustos e passíveis de reprodução. A reprodutibilidade está associada a um conjunto de ações, que envolve desde a escolha do modelo animal até a qualidade dos dados publicados. Se a qualidade do animal e as informações referentes à sua criação, origem, alojamento, en-riquecimento (entre outros muitos fatores) não forem devidamente informadas, a reprodutibilidade de um estudo fica comprometida, o que pode acarretar o uso desnecessário de animais e contribuir para o crescente cetisismo a respeito da integridade dos dados publicados. Nesse contexto, a reprodutibilidade, no cenário atual, é mais um princípio a ser levado em consideração nas pesquisas com animais de laboratório, nas quais tanto o ARRIVE quanto o EDA são agentes de melhoria na condução de trabalhos reproduzíveis.
Palavras-chave: Reprodutibilidade. 3Rs. Animais de Labo-ratório.
ASPECTO MORFOTINTORIAL DE TRITRICHOMONAS MURIS EM COLÔNIA HAMSTER GOLDEN (MESOCRICETUS AURATUS)
INCERLANDE SOARES DOS SANTOS¹,2; CAROLINE CUNHA CARREIRO 3 ; VERA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS 3; JAIRO DIAS BARREIRA4; MARIA INÊS DORIA ROSSI2
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório / Fiocruz; 2Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos / Fiocruz; 3Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ; 4Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / UNIRIO. E-mail: [email protected].
O protozoário flagelado Tritrichomonas muris, pertencente à classe Mastigophora, é habitante comum do ceco e do colon de camundongos, ratos e hamsters. Apresenta aspecto piriforme, com um único núcleo, três flagelos na região apical e uma membrana ondulante que percorre a extensão longitudinal do parasito, exte-riorizando-se com flagelo livre. A coloração das lâminas contendo o protozoário é o principal método de diagnóstico morfológico do parasito. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a melhor metodologia de coloração para identificação morfotintorial do T. muris. A coloração das lâminas foi realizada utilizando os corantes baseados no princípio de Romanowsky, como Giemsa e o panótico rápido. Para a avaliação morfotintorial das formas evolutivas de T. muris, foram confeccionadas lâminas a partir de cultura do protozoário em meios sintéticos, obtidos das fezes de Hamster Golden (Mesocricetus auratus). Assim, 3 mL do sobre-nadante das culturas foram espalhados sobre a lâmina de vidro, secos ao ar e, posteriormente, fixados em metanol. Em seguida, foram coradas pelo panótico rápido, como preconizado pelo fabricante, ou foram coradas pelo Giemsa a 5%, por 20 minutos. As lâminas coradas, contendo as formas evolutivas de T. muris, foram observadas ao microscópio óptico, com aumento de 100 x. Ao exame microscópico, foi possível visualizar a variação da forma, piriforme ou arredondada, e enumerar os flagelos, que foram realçados nas preparações de esfregaço úmido. Em alguns parasitos pôde-se visualizar a presença de vacuolizações no citoplasma, bem como o núcleo, costa, blefaroplasto, membrana ondulante, espinho terminal, axóstilo e os três flagelos anteriores. Assim, verificou-se que, embora o tempo de preparação da coloração panótica seja mais rápido, a coloração de Giemsa permite uma melhor visualização das estruturas parasitárias dos trofozoítos. Apesar da superioridade da coloração pelo método de Giemsa, ambas as colorações apresenta-ram resultados satisfatórios quanto à identificação de protozoário, podendo ser utilizadas como métodos de triagem.
Palavras-chave: Tritrichomonas muris; Hamster Golden; Giemsa; panótico rápido.
150 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
CULTIVO DE TRITRICHOMONAS MURIS EM MEIOS SINTÉTICOS PARA ANALISE MORFOTINTORIAL - ESTUDOS PRELIMINARES
INCERLANDE SOARES DOS SANTOS ¹;2; CAROLINE CUNHA CARREIRO,3; VERA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS3; JAIRO DIAS BARREIRA4 ; MARIA INÊS DORIA ROSSI 2
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório / Fiocruz; 2 Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos / Fiocruz; 3Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / UFRRJ; 4Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / UNIRIO; e-mail: [email protected].
O cultivo de protozoários intestinais não é uma metodologia utilizada como rotina em laboratórios de diagnóstico, considerando que nem todos os parasitos são passíveis de crescimento in vitro. Porém, o cultivo de parasitos pode ser muito útil para estudos biológicos e morfológicos. Em relação aos métodos de cultivo utilizados para crescimento e manutenção Tritrichomonas muris, isolados de Hamster Golden (Mesocricetus auratus), há poucos relatos na literatura. Os métodos de cultura apresentam uma alta sensibilidade, entretanto, a sua especificidade é considerada baixa, uma vez que várias espécies de parabasalídeos podem crescer nos meios de cultura, dificultando a identificação destes protistas in-testinais. Apesar das adversidades, o crescimento dos protozoários em meios de cultura permite, por meio da confecção de esfregaços, a identificação morfológica e tintorial dos trofozoítos. O objetivo deste estudo foi estabelecer meios de cultura adequados para o desenvolvimento e identificação do T.muris. As amostras obtidas de Hamster Golden contendo T. muris foram testadas em cinco meios de cultivo diferente, a saber: Caldo Peptonado, Diamond, meio LIT (Liver Infusion Tryptose), Meio TCM 199 e caldo BHI (Brain Heart Infusion), e mantidas a 34oC em estufa bacteriológica. Após 12 horas de incubação, a avaliação do crescimento foi realizada por meio de microscopia óptica, nos aumentos de 100 e 400 vezes. Observou-se que neste período de incubação o T. muris apresentou melhor crescimento nos meios Diamond, seguido do Caldo Pep-tonado, BHI modificado e TCM 199. Notou-se rápida multiplicação e esgotamento dos nutrientes dos meios, bem como acelerada pas-sagem da forma de trofozoita para pseudocisto, culminando em morte dos parasitos. Assim, nesta etapa do trabalho, ainda não foi possível estabelecer uma metodologia de cultivo definitiva para a manutenção destas culturas in vitro, utilizando os meios sintéticos testados. Assim, há necessidade da continuidade dos estudos sobre cultivo em meio sintético de T.muris, de modo que permita estudos relevantes sobre a descrição morfológica do protozoário e futuros estudos sobre a sua patogenicidade na espécie estudada.
Palavras-chave: Cultivo; Crescimento in vitro; Morfologia do protozoário; Parabasalídeos.
VITRIFICAÇÃO DE OVÁRIOS DE CAMUNDONGOS COMO FERRAMENTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE GERMOPLASMA DO ICTB
CRISTIANO MAGALHÃES FERREIRA SOBRINHO1, JANAÍNA BARCELOS PORTO FERREIRA1, LUCIENE PASCHOAL BRAGA DIAS1, ALESSANDRA DE ALMEIDA RAMOS1, PAULO CESAR SOUSA DA SILVA1, THAIS MALHEIROS TORRES1, ISABELLA DE MOURA FOLHADELLA PIRES1
Serviço de Biotecnologia e Desenvolvimento Animal (SBDA), Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), Fiocruz. CEUA: LW-28/17
Os camundongos são modelos adequados ao estudo de difer-entes modalidades da biologia e medicina experimentais, sendo um dos mais valiosos agentes biológicos a serviço da pesquisa biomé-dica. Desde que a técnica para o congelamento de embriões muri-nos se tornou disponível, nos anos 1970, muitos laboratórios têm estabelecido bancos de embriões criopreservados, com o objetivo de “arquivar” com segurança e economia, linhagens estratégicas e/ou pouco utilizadas que podem ser requeridas no futuro. A crio-preservação de outros tipos celulares (sêmen e ovário) também pode contribuir para a eficiência destes bancos, uma vez que a resposta à criopreservação de embriões pode variar entre linhagens, e as alterações na reprodução de machos e fêmeas podem inviabilizar a conservação do material genético diploide. Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade de fragmentos ovarianos de murinos submetidos a protocolo de vitrificação, de forma a utilizar esta téc-nica para complementar o banco de germoplasma do ICTB/Fiocruz. Fêmeas de linhagem híbridas B6D2F1(n=30) foram eutanasiadas para remoção dos ovários. Estes foram fragmentados (metade) (n=120) e submetidos a vitrificação. A viabilidade da técnica foi verificada pelo reaquecimento dos fragmentos ovarianos, coleta e seleção dos oócitos e maturação oocitária in vitro (Grupo I). O controle de qualidade foi realizado em dois grupos: oócitos obtidos a fresco de fragmentos ovarianos e maturados in vitro (Grupo II) (n=60) e oócitos maturados in vivo (Grupo III) (n=60) coletado da ampola após acasalamento de fêmeas superovuladas com machos vasectomizados. Em seguida, procedeu-se a fertilização in vitro dos três grupos: colocando-se o sêmen junto aos oócitos. Os embriões formados foram mantidos em cultivo por 96 horas, dentre os quais este trabalho considerou avaliação da taxa de desenvolvimento em 24 horas. Foram observadas variações entre o percentual de desenvolvimento embrionário do tecido vitrificado (Grupo I) em relação ao Grupo II e ao Grupo III. Observou-se que de embriões oriundos de ovários vitrificados (Grupo I), de ovários frescos maturados in vitro (Grupo II) e ovários frescos maturados in vivo (Grupo III), apresentaram percentuais de clivagem 8%, 32% e 49%, respectivamente. Conclui-se que vitrificação de ovários, com posterior maturação in vitro e fertilização in vitro é um método eficaz para a recuperação de linhagens de murinos.
Palavras-chave: Criopreservação de ovário, camundongo, fertilização em vitro.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 151
RESUMOS
SINAIS CLÍNICOS OBSERVADOS EM HAMSTERS DA COLÔNIA DE PRODUÇÃO DO ICTB – POSSÍVEL CORRELAÇÃO COM HIPERADRENOCORTICISMO / SÍNDROME DE CUSHING?
LUIZ RICARDO BERBERT1; MÔNICA SOUZA FERREIRA PINTO1; ALESSANDRA ARAÚJO1; GLADYS CORRÊA1; KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA1; WASHINGTON LUIZ ASSUNÇÃO PEREIRA2
1 Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos (SCRL) do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB / Fiocruz). 2 Universidade Federal Rural da Amazônia.
O hiperadrenocorticismo, ou Síndrome de Cushing, é uma condição metabólica rara, originada por tumores ou infecções, e que modula negativa e sistemicamente a fisiologia de indivíduos nesta condição, como, por exemplo, alta produção de corticosterona. Biomodelos experimentais para esta síndrome ainda são exíguos, desta forma as características fisiológicas durante a patologia são pouco conhecidas. As principais características clínicas, desta síndrome são: ganho de peso, hipertensão, osteopenia, pele em papiro e pigmentada, alopécia e dermatites. Estudos demonstram também a incidência de Diabetes mellitus, devido à resistência à insulina. Em relação à anatomopatologia, a síndrome está relacionada a alterações morfológicas na glândula pituitária, nas glândulas adrenais, pele, tecido adiposo, pâncreas e fígado, porém, níveis altos de glicocorticoides podem alterar a morfologia de di-versos órgãos. Na colônia de hamsters (Mesocricetus auratus) do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz) foram observados indivíduos com sinais clínicos que sugerem o desenvolvimento da síndrome supracitada. Como metodologia inicial do projeto, foram realizadas análises anatomopatológicas de órgãos que podem ser afetados durante a síndrome (pulmão, intestinos, ovários, estômago, linfonodos, glândulas salivares, rins, pâncreas, pele, coração, fígado) e como perspectivas de análise, serão avaliados os perfis de produção de corticosterona, ACTH, citocinas pró inflamatórias (IL-6, TNF-α e IFN-γ, bem como perfis de glicemia, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, triglicerídeos e colesterol total, além de avaliações histopatológicas de tumores nas glândulas adrenais e pituitária, para determinar a correlação direta dos sinais apresentados por estes biomodelos com a Síndrome de Cushing. Como resultados iniciais, foram observadas alterações anatomopatológicas em órgãos alvo da síndrome originados de dois indivíduos da colônia do ICTB que apresentaram como sinais clínicos, alopécia e dermatite, e, dentre estas alterações, foram observadas hemorragias pulmonar e renal, esteatose hepática e aumento na população linfocitária no baço e linfonodos (relacionada com a infecção por Tritrichomonas sp. na colônia). Alguns destes sinais estão relacionados com a síndrome em humanos, porém, novas análises devem ser realizadas, a fim de determinar com precisão o evento no hamster, tornando-o um possível modelo experimental para estudos sobre a Síndrome de Cushing. Deste modo, será possível ampliar a geração de conheci-mentos acerca da enfermidade e aplicar os protocolos descritos em outros modelos experimentais.
Palavras-chave: Síndrome de Cushing, Corticosterona, Anatomopatologia
SOROPREVALÊNCIA DE ORTHOHANTAVIRUS EM PROFISSIONAIS DE INSTALAÇÃO DE CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL DA FIOCRUZ/RIO DE JANEIRO – RESULTADOS PRELIMINARES
VANESSA BORGES DIAS DOS SANTOS MORGADO1,3, GABRIEL ROSA CAVALCANTI2, JORLAN FERNANDES2, MARIA INÊS DORIA ROSSI4, ELBA REGINA SAMPAIO DE LEMOS2, RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS2
1. Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos. Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/ Fiocruz), Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 2. Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses. Instituto Oswaldo Cruz /IOC. Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 3. Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório. Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/ Fiocruz), Rio de Janeiro/RJ, Brasil.4. Coordenadora do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório. Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/ Fiocruz), Rio de Janeiro/RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
A hantavirose é uma doença emergente causada por difer-entes genótipos do gênero Orthohantavirus e que, nas Américas, é denominada como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH). Os roedores são os principais reservatórios desse agente zoonótico, representando uma especial fonte de infecção ao homem pela ausência de sinais clínicos em animais infectados. Nesse contexto, os profissionais que trabalham com animais, entre eles os que atuam em instalações de criação e experimentação, constituem um grupo com potencial risco de infecção por Orthohantavirus. A transmissão desses patógenos aos seres humanos se dá por meio de contato direto com aerossóis, saliva, secreções nasais, urina e fezes. A prevalência de infecção por hantavírus e outras zoonoses envol-vendo profissionais com exposição ocupacional a roedores, já foi descrita no continente Norte Americano. Considerando a escassez de estudos soroepidemiológicos com esse grupo de profissionais, essa zoonose é considerada negligenciada no Brasil. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a frequência de profissionais, da instalação de criação e experimentação animal da Fiocruz/Rio de Janeiro, com anticorpos (IgG) anti-hantavirus, como parte de um projeto maior sobre saúde do trabalhador. A participação foi voluntária e contou com o autopreenchimento de um questionário epidemiológico e coleta de sangue venoso. Amostras de soro de 164 trabalhadores foram testadas por meio do ensaio imunoen-zimático (ELISA) in house para pesquisa de anticorpos da classe IgG anti-Araraquara, utilizando como antígeno a nucleoproteína recombinante do vírus Araraquara (Orthohantavirus). Os soros foram diluídos no título de 1:400 e as amostras que apresentaram DO >0,3 foram consideradas reativas. Um total de 164 amostras de soro foram testadas e 40 amostras (24%) foram reativas. Das amostras sororreativas, 55% (22/40) dos profissionais relataram trabalhar ou já terem trabalhado com animais de criação e/ou experimentação, e 45% (18/40) foram profissionais que nunca trabalharam com animais. A soroprevalência sugere um contato prévio dos profissionais com Orthohantavirus. Pretendemos ainda aprofundar a análise sobre a evidência de infecção por Ortho-hantavirus, considerando as diferentes atividades ocupacionais e aumentando o conhecimento sobre as condições de saúde dos
152 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
profissionais de instalações animais. Palavras-chaves: Hantavi-rus, Orthohantavirus, Zoonoses, Profissionais de instalações animais, Soroprevalência. Apoio: CNPq
O PAPEL DOS AGENTES DE BIOSSEGURANÇA NO BIOTÉRIO DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES. Carlos Ralph Batista Lins, José Gênison Rodrigues da Cunha, Ângela Magalhães Vieira, Gerlane Tavares de Souza Chioratto. Biotério Central do Instituto Aggeu Magalhães, Fiocruz-PE. E-mail: [email protected]. A Biossegurança é uma das prioridades institucionais no Instituto Aggeu Magalhães (IAM, Fiocruz-PE). Uma das ações voltadas para a promoção da biossegurança foi a criação da figura do Agente Interno de Biossegurança, pela Co-missão Interna de Biossegurança (CIBio). Os agentes são pessoas estrategicamente eleitas para apoiar o cumprimento das normas e condutas nos diversos setores/laboratórios do Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz-PE). A presença dos Agentes Internos de Biossegurança em biotérios é particularmente importante, pois diferentemente de outras atividades, com os riscos mais comuns, a presença do animal agrava os riscos ocupacionais. Foram eleitos agentes de biossegurança para cada um dos dois setores do Biotério Central: setor experimental e setor de criação de animais. Esses agentes receberam capacitação para atuar de forma ativa nos seus respectivos postos, orientando funcionários e usuários do biotério sobre atuação biossegura e monitorando os pontos críticos relacio-nados à biossegurança. Esses agentes participaram ativamente de oficinas trimestrais organizadas pela CIBio, tendo como pauta a discussão das não conformidades evidenciadas durante o período, assim como os planos de ação para cada ponto em específico. As reuniões também serviram para construção de resoluções norma-tivas internas, levando em conta os pontos críticos de controle, as particularidades estruturais da instituição e a legislação vigente. Os funcionários do biotério e os usuários (pesquisadores e estudantes) apresentaram um comportamento mais biosseguro, por conta da atuação e presença física constante dos agentes de biossegurança, de forma ativa no processo de orientação, conscientização e sensibilização, resultando na diminuição de acidentes e riscos à saúde humana, animal e ambiental. A institucionalização do Agente Interno de Biossegurança nos setores é de extrema importância, visto que proporciona uma fonte de informação mais próxima à realidade, levando as necessidades e riscos do setor para serem discutidos em reuniões da CIBio. Ocorre, por conseguinte, con-tribuição significativa para o fortalecimento da biossegurança no setor e na instituição em seu todo. Palavras-chave: Animais de laboratório, Ambiente seguro, CIBio.
O MANEJO DE COLÔNIA DE EXPANSÃO, PAREADA COM COLÔNIA DE FUNDAÇÃO ORIGINAL, PROMOVE MELHORAMENTO NO FLUXO DE FORNECIMENTO DE BIOMODELOS DA LINHAGEM C57BL/6. Luiz Ricardo Ber-bert1, Vilma Jesus1, Daniel Medeiros1, Robson Laroca Domingues Filho1, Gladys Corrêa1, Klena Sarges Marruaz Da Silva1. 1 Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos (SCRL), ICTB - Fiocruz. O correto manejo de colônias de um biotério impacta diretamente na eficiência de fornecimento de biomodelos para os usuários. No Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fi-ocruz), a cepa de camundongo C57BL/6 possui grande demanda de fornecimento, porém, a renovação de matrizes na colônia de produção dessa cepa não tem sido suportada somente pelo envio de matrizes originadas da colônia de fundação atual, acarretando
deficiências na produção em geral. Sendo assim, com objetivo de melhoramento na produção e fornecimento da cepa, foi iniciada em junho de 2017 uma metodologia de manejo com colônia de expansão a partir da fundação, composta até o presente momento por 23 unidades reprodutivas, formadas por casais compostos de um macho com uma ou duas fêmeas, originados de ninhadas consanguíneas da fundação original (formada atualmente por 15 casais), resultando em aumento de 53% no número de unidades para suprimento da colônia de produção, até o presente momento. A partir das ninhadas originadas da colônia de expansão, mantendo a padronização de cruzamento inbred, foram formados casais ou trios consanguíneos, introduzidos na colônia de produção da cepa (27 novas unidades reprodutivas na produção). Esse manejo, em aproximadamente quatro meses de aplicação, resultou em mel-horias na produção, propiciando um incremento no atendimento aos usuários: no primeiro semestre de 2017, 78% das solicitações eram atendidas; de setembro a outubro de 2017, houve 100% de atendimento. O processo de melhoria contínua da produtividade da linhagem é primordial para que se contemple as necessidades dos usuários. Esse processo é gerenciado pelo sistema eletrônico de solicitações (SICOPA). Desta forma, a metodologia citada pode ser aplicada a outras linhagens produzidas na área SPF (Specific Pathogen Free) do Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos do ICTB. Palavras-chave: Manejo de produção, Camundongo inbred.
ESTUDO DA PATOGÊNESE DO ZIKA VÍRUS EM CA-MUNDONGOS. Autores: Marcia Oliveira1, Fábio Jorge da Silva2, Fábio Luís Lima Monteiro2, Loraine Campanati2, Isabella de Moura Folhadella Pires1, Cleber Hooper1, Ricardo Alexandre dos Santos1, Thainara Ramos Pinto1, Cristiano Magalhães Ferreira Sobrinho1, Alessandra de Almeida Ramos1, Thais Malheiros Tor-res1, Paulo César Silva Souza1, Janaína Barcelos Porto Ferreira1, Luciene Paschoal Braga Dias¹. 1 Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos/ Fiocruz. 2 Universidade Federal do Rio de Ja-neiro. CEUA UFRJ Nº 077/17. O vírus (ZIKV) é um problema de saúde pública no Brasil, uma vez que o número de indivíduos por ele infectados teve um aumento vertiginoso. Um dos fatores que contribuíram para isso foram os aglomerados populacionais em condições sanitárias frágeis, somado-se à presença maciça do vetor. A patogênese causada pela infecção das cepas circulantes ainda é pouco caracterizada e relatada. Essa problemática está atrelada à dificuldade de execução de pesquisa com seres humanos, que é regida por legislações que os protegem. A pesquisa em modelos animais é uma alternativa viável para a geração de conhecimentos de grande importância sobre a doença. O desenvolvimento de um modelo animal para estudar a dinâmica de infecção pelo ZIKV é uma alternativa. Os camundongos neonatos heterogênicos são susceptíveis à infecção pelo ZIKV. No entanto, não se sabe como o modelo se adequa para o desenvolvimento de testes pré-clínicos de compostos com atividade anti-viral. Nesse contexto, o presente projeto teve como objetivo caracterizar um modelo para infecção de ZIKV em neonatos murinos. Camundongos (Swiss Webster) foram inoculados intraperitonealmente com diferentes concentrações de partículas virais (103, 104, 105 e 106 PFU), e duas linhagens virais, incluindo cepas isoladas de pacientes Brasileiros PE e AB, da linhagem asiática e a cepa MR766, da linhagem africana. Foram determinadas morbidade, sinais clínicos e mortalidade dos vírus das diferentes cepas. As infecções foram confirmadas pela análise de carga viral nos tecidos dos animais infectados, por RT-qPCR e por ensaio de placa de lise. Os animais inoculados com a cepa MR766 mostraram sinais de morbidade ao 4° dia de infecção,
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 153
RESUMOS
com letargia, desequilíbrio, debilidade, paralisia de membros posteriores e tremores. Foram eutanasiados no 6° dia pós-infecção. Os inoculados com a cepa PE foram acompanhados por 31 dias e apresentaram os primeiros sinais de morbidade no 9°dia, incluindo hiperatividade extrema (10° ao 17°dia pós-infecção), alteração de equilíbrio, irritação e sensibilidade ao toque, como reação à dor. Não apresentaram paralisia de membros. Todos os inoculados com a concentração de partículas virais de 10 6 PFU foram a óbito entre 14 e 25 dpi. Os inoculados com a cepa AB mostraram sinais de morbidade ao 9° dia, apresentando letargia, paralisia de membros posteriores e tremores. Apenas os grupos controle e inoculados com 103 e 104 PFU foram acompanhadas por 31 dias. Os grupos inoculados com 105 e 106 PFU apresentaram perda de mais de 20% do peso inicial e sinais debilitantes de doença, e foram conduzidos à eutanásia imediata no 14° dpi, como determinado na CEUA. De acordo com os resultados obtidos, a concentração ideal de partículas virais do ZIKV inoculados em camundongos neonatos nas diferentes cepas foi 105 PFU. Essa dose foi capaz de causar a patologia, indicando que o biomodelo pode ser usado em testes pré-clínicos de compostos farmacológicos com atividade antiviral.
Palavras-chave: camundongos, zika vírus, modelo animal.
MODELOS SUBSTITUTIVOS COMO MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA O USO DE ANIMAIS NO ENSINO
VALÉRIA CRISTINA LOPES MARQUES 1,2*, CARLOS ALBERTO MULLER³, KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA 4
¹-Técnica da Instalação em Ciência Animal do UNIFESO, Teresópolis, RJ; ² Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório (ICTB), Fundação Oswaldo Cruz; 3- Tecnologista em Saúde Pública do Instituto Oswaldo Cruz; 4- Pesquisadora em Saúde Pública ICTB/Fiocruz. *E-mail: [email protected]
A busca por novas tecnologias que visam a substituir o uso de animais em experimentação vem sendo disseminada mundial-mente desde que Russel e Burch (1959) preconizaram a redução, substituição e refinamento (3Rs) no uso de animais em pesquisas. Desde então, novos modelos, técnicas e métodos substitutivos vêm sendo criados, validados e incorporados à legislação, no Brasil e em outros países. Particularmente, os métodos substitutivos aplicados à realização de testes de controle de qualidade de produtos vêm sendo amplamente estudados e já estão sendo utilizados com segurança. Para validar tais testes, é necessário avaliar a eficácia, segurança, toxidade, especificidade, sensibilidade e valor preditivo para cada um deles. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) já publicou Resoluções Normativas (RN) que abrangem a questão. A RN 17 trata do reconhecimento de métodos alternativos validados no país, com o intuito de seguir os preceitos dos 3Rs e a utilização de animais em atividades de pesquisa, e as RN 18 e 31 reconhecem 24 métodos alternativos validados por centros internacionais, com as devidas aceitações regulatórias. Em relação aos métodos substitutivos aplicados ao ensino, a RN 30 do CONCEA, que baixa a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utili-zação de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica (DBCA), recomenda o uso de animais no ensino somente quando não houver alternativas ou quando as alternativas não fornecerem qualidade na transmissão do conhecimento. Há, ainda, a Orien-
tação Técnica no 9 do CONCEA, que recomenda a substituição parcial e total de animais vivos em técnicas cirúrgicas. Apesar da legislação brasileira apontar para a substituição gradativa do uso de animais em pesquisa e ensino, ainda são poucas as ferramentas disponíveis no Brasil para sua substituição, apesar de já existirem alternativas desenvolvidas e já em uso em medicina veterinária, como vídeos interativos e simulações por computador, culturas de células in vitro, material de matadouro, órgãos plastinados, animais eutanasiados por métodos éticos e prática clínica baseada em casos. Pode-se citar, também, simuladores de técnicas cirúrgicas como o DASIETM (Dog Abdominal Surrogate for Instructional Exercises) e o Critical Care JerryTM, além do manequim de rato que permite praticar administração de substâncias por via oral e caudal e coleta sanguínea (KokenTM rat). Estes são os manequins mais utilizados para essa prática ética, mas ainda não são amplamente aplicados, devido ao alto custo de cada modelo. Portanto, transposto o debate ético e já demandada à aplicação pela sociedade, o desenvolvimento de modelos substitutivos de baixo custo constitui hoje o principal desafio apresentado ao Brasil para utilização de alternativas ao uso de animais no ensino em medicina veterinária.
Palavras-chave: Modelos Substitutivos, Métodos Alterna-tivos, Ensino, Manequins.
ANÁLISE DA ESPECIFICIDADE DE IGYANTI-CAMPYLOBACTER JEJUNI FRENTE ÀS BACTÉRIAS ISOLADAS DE FEZES DE PRIMATAS NÃO HUMANOS DO ICTB, UTILIZANDO WESTERN BLOT
PAULA B. CRUZ1,2; JOSELI M. R. NOGUEIRA2; VALMIR LAURENTINO SILVA2; FERNANDA N. SANTOS2
1- Discente do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório - ICTB/Fiocruz; 2- Escola Nacional de Saúde Pública - Fiocruz
A campilobacteriose é uma das principais doenças entéricas de origem alimentar do mundo. Ocorre não só no ser humano, mas também em primatas não humanos (PNH) em cativeiro. Por conseguinte, é importante o monitoramento sanitário de colônias de PNH. Causada por bactérias do gênero Campylobacter, seu diagnóstico é realizado pela detecção do micro-organismo nas fezes, sendo o padrão ouro o cultivo microbiológico. Outra forma de diagnóstico são os kits de ensaio imunoenzimático. Entretanto, estes kits utilizam anticorpos produzidos em mamíferos e têm sua eficiência questionada por conta da acurácia reduzida. Com base na grande incidência desta bacteriose em PNH em cativeiro, foi realizada a produção de IgYanti-Campylobacter jejuni a partir de gemas de ovos de aves imunizadas, com o objetivo de utilização desse anticorpo para futuros testes de imunodiagnóstico, que sejam mais rápidos, mais eficazes que os utilizados atualmente, e que sigam a política dos 3Rs. Após a obtenção desta IgY das gemas dos ovos, surgiu a necessidade de avaliar se essa imunoglobulina era específica para o gênero em questão. Com base nessa demanda, o objetivo deste trabalho foi verificar se a imunoglobulina Y pro-duzida é específica para o antígeno imunizante e se há ocorrência de reconhecimento a outros gêneros bacterianos pertencentes à mi-crobiota fecal desses primatas, utilizando a técnica de Western blot. Para essa verificação, foram coletadas inicialmente amostras fecais
154 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
de Macaca mulatta e Macaca fasciculares durante o manejo anual do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), de onde foi possível isolar as seguintes espécies bacterianas: C.jejuni, C. coli, Escherichia coli, P.mirabilis, P.vulgaris, Y.enterocolítica e Enterobacter sp. Para obtenção de extrato proteico, essas bactérias, foram cultivadas em meio BHI 37oC/24h, submetidas a sucessivas lavagens com PBS e, posteriormente, foi realizado o rompimento da parede bacteriana por meio de choque térmico. O extrato de proteínas de cada cepa, foi aplicado em gel de poliacrilamida para observação do perfil proteico por SDS-PAGE. Após a corrida, foi realizado o Western blot. O gel foi transferido para uma membrana de nitrocelulose a 100V/2h, que posteriormente foi submetida a um bloqueio para evitar inespecificidades. Após sucessivas lavagens com PBS, foi incubada com a IgY obtida por 37ºC/2h e re-incubada com o anticorpo secundário Anti-ChickenIgY (IgG), conjugado à Peroxidase - Sigma® a 37ºC/1h. A membrana foi submetida a solução de revelação até o aparecimento das bandas. A reação foi paralisada com água destilada. Como resultado foi possível observar que apenas bandas referentes as bactérias do gênero Campylobacter haviam sido reveladas. Esse resultado permitiu concluir que a IgY que produzimos em ovos de galinha, cumpre seu papel em revelar a presença do Campylobacter sp. Além disso, é específica para reconhecer as proteínas deste gênero, sem demonstrar nenhuma reação cruzada com as demais bactérias isoladas destes animais.
Palavras–chave: Primatas não humanos, Campylobacter sp., IgY, imunodiagnóstico
ANÁLISE COMPARATIVA DA CURVA DE CRESCIMENTO ENTRE AS COLÔNIAS DE RATOS WISTAR DO ICTB E DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA TACONICS
NEIMAR DE PAULA MARÇAL1, ROBSON LAROCA DOMINGUES FILHO1, DELSO JOSÉ1, GLADYS CORRÊA1, KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA1, LUIZ RICARDO BERBERT1
1Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos (SCRL) do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz).
A colônia outbred de ratos Wistar do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) é fonte desses roedores para pesquisa em cerca de oito laboratórios. Trata-se de um modelo utilizado em estudos de imunologia, oncologia, farmacologia, entre outros. Muitos pesquisadores demandam que os animais sejam entregues de acordo com o peso, determinando, assim, um critério frequente para o fornecimento. Como objetivo deste estudo, pretende-se avaliar o correto manejo dessa colônia no ICTB, na qual serão incluídos o acompanhamento de índices reprodutivos, ali-mentação e análise de parâmetros do macro e microambientes, que possam levar a uma curva de crescimento de neonatos e lactentes compatível com dados de laboratórios de referência internacional, como, por exemplo, a Taconics. Como metodologia preliminar, foram utilizados 41 neonatos, pesados desde o primeiro dia após o nascimento, seguido por trinta dias (com verificação a cada três dias). Foi observado que a curva de crescimento (valor da média da massa corporal dos indivíduos avaliados), obtida a partir dos neonatos da colônia de ratos Wistar do setor SPF do Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos do ICTB, se mantém dentro
dos parâmetros do laboratório de referência no dia do desmame (40,1g em média, aos 21 dias pós-nascimento), porém, fica abaixo da média aos 28-30 dias pós-nascimento, quando comparado à referência (96,6g em média, contra 71,9g em média na colônia do ICTB), o que demonstra que o manejo realizado dentro desta colônia, incluindo manipulação, alimentação e monitoramento ambiental, tem sido corretamente aplicado, mantendo-se a quali-dade do biomodelo somente até o desmame. Cabe ressaltar que fatores ambientais adversos, que serão avaliados futuramente, como problemas de refrigeração, autoclavação da ração e contaminação na colônia, podem influenciar o desenvolvimento dos animais após desmame, levando à perda de massa e pequeno atraso no desenvolvimento até o fornecimento.
Palavras-chave: Curva de crescimento, rato Wistar, manejo de colônia.
PRÉ-VALIDAÇÃO DE MÉTODO ALTERNATIVO: ENSAIO DE POTÊNCIA IN VITRO PARA VENENO BOTRÓPICO E SORO ANTIBOTRÓPICO
NUNDES, R.N.C.1; ALMEIDA, A.E.C.C.1; MOURA, W.C.1; GONZÁLEZ, M.S.2; ARAÚJO, H. P1
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS/Fiocruz; Universidade Federal Fluminense.
Acidentes com animais peçonhentos são a segunda causa de intoxicação em humanos, no Brasil. Na América Central e do Sul, a incidência desses acidentes é predominantemente por serpentes do gênero Bothrops. No Brasil, em 2015, foram notificados 24.467 acidentes, dentre os quais 73,5% causados pelo gênero Bothrops. No Instituto Nacional de Controle de qualidade em Saúde (IN-CQS) são utilizados aproximadamente 2.000 camundongos/ano, somente para os ensaios de potência de antiveneno botrópico, pela inoculação intraperitoneal em camundongos. Sabendo-se que é consenso que os ensaios de letalidade causem sofrimento, sejam onerosos e que não haja correlação entre os acidentes e a terapia em humanos, é necessário estimular o desenvolvimento de métodos alternativos para redução, refinamento ou, até mesmo, que substituam por completo e com segurança, os testes in vivo. O objetivo deste trabalho é pré-validar um método alternativo in vitro para a determinação da potência do veneno botrópico e do soro antibotrópico. O princípio da técnica proposta se baseia na propriedade do veneno botrópico provocar efeito citotóxico em células Vero e sua inibição pelo antiveneno. A concentração de células aderidas pode ser avaliada pela coloração e posterior eluição do corante Azul de Coomassie, sendo a densidade óptica do eluato do corante diretamente proporcional à concentração de células vivas. Um método alternativo deve passar pelas fases de desenvolvimento, pré-validação, validação e revisão por especial-istas, conferindo credibilidade por meio de análises em Centros de Validações, até que haja a aceitação regulatória. A pré-validação é importante antes da realização de um estudo formal de validação em larga escala, pois possibilita a otimização e a padronização do protocolo desenvolvido. O método proposto é capaz de quantificar o efeito citotóxico de metaloproteases e fosfolipases A2, principais toxinas presentes no veneno de B. jararaca. A potência in vitro do Veneno Botrópico de Referência foi de 4,18 μg/mL e, para o Soro Antibotrópico de Referência, foi de 0,126 μl/mL. O ensaio de potência do Veneno Botrópico teve o coeficiente de variação
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 155
RESUMOS
geométrico (gCV) interensaios de 27,79% e o gCV intraensaios de 14,76%. Para a potência do Soro Antibotrópico de Referência o resultado obtido de gCV intraensaio foi 7,52%, e o gCVinterensaio foi 7,59%. O método apresentou linearidade válida (p>0,05) para todos os ensaios. Os resultados obtidos demonstram que o método proposto apresenta precisões intraensaios e interensaios conformes e é um bom candidato a método alternativo ao ensaio murino, tanto para a determinação da potência do veneno botrópico quanto do soro antibotrópico.
Palavras-chave: Veneno Botrópico. Soro Antibotrópico. En-saio de citotoxicidade. Método alternativo. Pré-validação.
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – SGT (ABNT ISO 9001:2015) EM INSTALAÇÕES PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO
JOSILENE DE J. SOUZA1 , CÉLIA VIRGINIA P. CARDOSO2, INGRID DARÉ VIANA3, VITOR VALÉRIO MAFFILI4
1 Discente do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório - ICTB/Fiocruz; 2 Professora colaboradora do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório - ICTB/Fiocruz; 3 Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos; 4 Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz/Bahia.
Os animais de laboratório são modelos experimentais cada vez mais usados nas pesquisas científicas e a sua utilização ainda vai perdurar, até que sejam implantados métodos alternativos validados. Por isso, o compromisso em ofertar animais de quali-dade converge com a qualidade final da pesquisa na qual estes serão utilizados. Na busca dessa qualidade, os grandes centros de reprodução de animais de laboratório têm utilizado ferramentas para implantar sistemas de padronização no processo de criação e utilização desses animais. A adoção de um sistema de gestão da qualidade (SGQ) nessas instalações é uma decisão acertada, pois além de contribuir para obtenção de modelos experimentais confiáveis, propicia a padronização dos processos, a reproduti-bilidade e a rastreabilidade dos dados e da documentação, o que facilita a organização do trabalho e a comunicação das informações obtidas. Isso evita a duplicidade de estudos, gera economia de tempo, de recursos e, o mais importante, a redução do número de animais utilizados nas pesquisas. O SGQ proposto será esta-belecido de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9001:2015, que especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, sendo reconhecida nacional e internacionalmente. Tratando-se de biotérios, a norma cumpre papel gerencial na iniciativa da gestão de documentos, sendo fundamental para o processo de organização, padronização e controle dos procedimentos e ainda, auxiliando as atividades de forma transparente e contínua. A implantação desta norma é baseada no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), incluindo procedimentos: de planejamento, com estabelecimento de obje-tivos do SGQ, processos e recursos necessários; de execução, implantando o que foi planejado; de checagem, monitorando e medindo processos e produtos; e de ação, realizando melhorias no desempenho das atividades. Esse processo organizacional propicia a melhoria contínua do grau de qualidade dos animais nos procedimentos de criação desenvolvidos nessas instalações. Além da gestão documental, a norma prioriza requisitos relacionados à
gestão de recursos, pessoas e infraestrutura, planejamento e con-trole operacional, dentre outros. A metodologia para implantação do SGQ consiste nas etapas de: revisão bibliográfica referente à criação e experimentação animal, instalações e gestão da qualidade; levantamento de modelos gerenciais presentes e sua evolução; análise comparativa entre as normas aplicáveis; análise da norma ABNT NBR ISO 9001:2015; realização de entrevistas, visitas técnicas e avaliação de documentos institucionais; realização de diagnóstico e recomendação de ações de adequação; e construção de um Manual de implantação a ser adotado por outros biotérios. Desse modo, pretende-se colaborar com o desenvolvimento da Ciência em Animais de Laboratório e promover ações que visam disponibilizar animais com qualidade.
Palavras-chave: Sistema de Gestão da Qualidade. Norma ISO 9001:2015. Instalação Animal.
ESTUDO RETROSPECTIVO DAS ENTEROPARASITOSES DIAGNOSTICADAS EM HAMSTER GOLDEN (MESOCRICETUS AURATUS) EM UMA INSTALAÇÃO DE CRIAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
INCERLANDE SOARES DOS SANTOS 1,2; CLEIDE CRISTINA APOLINÁRIO BORGES1, JAIRO DIAS BARREIRA3; MARIA INÊS DORIA ROSSI2
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório / Fiocruz; ²Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos / Fiocruz; ³Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / UNIRIO. E-mail: [email protected].
Roedores criados e mantidos em instalações de criação de instituições de pesquisa ou de ensino devem ter seu status para-sitário monitorado trimestralmente. Entretanto, dependendo das circunstâncias e necessidades, o monitoramento poderá ser mais frequente para a seleção de alguns agentes patogênicos que ocor-rem repetidamente e impactam na sanidade das colônias e, conse-quentemente, nas pesquisas biomédicas. Assim, é fundamental a adoção de medidas profiláticas eficazes relacionadas às parasitoses que acometem os animais de laboratório, com vistas à manutenção da qualidade dos animais utilizados em protocolos experimentais. Portanto, há necessidade de estudos de monitoramento sanitário dos animais criados e mantidos em instalações de pesquisa ou ensino. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência dos parasitos identificados nos exames coproparasitológicos de Hamster Golden (Mesocricetus auratus), de ambos os sexos, com idades compreendidas entre três e sete meses, em uma instalação de criação no Rio de Janeiro, no período de 2005 a 2016. As informações foram fornecidas pelo laboratório responsável pela qualidade sanitária dos animais criados nessa instalação. Os dados foram compilados por meio de laudos brutos e da avaliação da prevalência dos parasitos identificados durante o monitoramento sanitário. Ao final do estudo, observou-se que durante todo o período, compreendido entre 2005 a 2016, os protozoários mais prevalentes foram T.muris (100%), seguido de Giardia sp (58%). Porém, o helminto Syphacia obvelata e o protozoário Spironucleus muris só foram observados no ano de 2005, não sendo mais obser-vados nos anos seguintes. Assim, concluiu-se que o parasito mais prevalente na criação de Hamster Golden foi o T.muris, durante todo o período avaliado. Portanto, devido à alta prevalência deste
156 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
protozoário em criações de Hamster Golden, há necessidade de es-tudos relacionados à sua patogenicidade e seu potencial zoonótico, bem como as suas possíveis interferências em pesquisas científicas.
Palavras-chave: Tritichomonas muris; Hamster golden; prevalência; endoparasitoses.
DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO POR MEIO DE JOGO DE DISCUSSÃO: SABERES E POSICIONAMENTOS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
ALINE DA CRUZ REPOLÊZ¹; ETINETE NASCIMENTO GONÇALVES²; TATIANA KUGELMEIER³
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório/ Fundação Oswaldo Cruz /Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ, Brasil; ²Coordenadora de ensino do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos - ICTB/Fiocruz; ³Pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos - ICTB/Fiocruz.
O uso de animais nas pesquisas biomédicas é um tema his-toricamente controverso. Há opiniões, manifestadas no ambiente científico ou nos meios de comunicação social, que envolvem questões éticas e morais, abrangendo tanto os que acreditam na abolição total do uso, até os que defendem a liberdade do uso, o que evidencia a complexidade do assunto. No Brasil, pouco se sabe do posicionamento global da sociedade sobre o tema, o que indica a necessidade de um debate público que permita a percepção sobre o assunto e proporcione o engajamento da população de forma mais efetiva. A partir do desejo de promover a aproximação e interação entre sociedade e profissionais da área, e de democra-tizar o debate acerca do tema, este projeto pretende promover o diálogo sobre a Ciência em Animais de Laboratório (CAL) entre alunos do Ensino Médio. Para tanto, visa-se desenvolver e avaliar a eficácia de uma ferramenta de divulgação científica (DC), sus-citar a reflexão dos alunos participantes sobre a complexidade de aspectos concernentes à CAL, bem como acessar e sistematizar seus conhecimentos e posicionamentos sobre o tema. Nesse sentido, foi realizado um teste piloto com um grupo de seis jovens, estudantes do 1º ano da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz). Para promoção da discussão em grupo foi utilizado um jogo contido na plataforma PlayDecide. O conteúdo do jogo foi reestruturado para retratar o contexto da realidade brasileira e para trazer à tona diferentes vivências relacionadas ao uso de animais em pesquisa. O grupo de discussão foi filmado e gravado para realização de análise de conteúdo por categorias, pelo método de Bardin, com o uso do software MAXQDA. Foram definidos os seguintes códigos para análise de conteúdo: escala de aceitação dos diferentes animais na pesquisa; ética e bem-estar; proposições para a CAL; e benefícios e pontos negativos do uso de animais nas pesquisas. Após o teste piloto foram feitas modificações no conteúdo, para que ficasse mais claro, e nas instruções do jogo, para que se tornasse mais dinâmico. A pesquisa teve continuidade com mais dois grupos de seis jovens do Estado do Rio de Janeiro. O presente estudo, pioneiro no país, propõe um instrumento inovador para divulgação da CAL, disponibilizado em plataforma virtual, de forma a possibilitar o acesso e aplicação em outros grupos. Espera-se, dessa maneira, promover o debate democrático sobre a CAL e contribuir para o
engajamento público nesse campo do conhecimento. Por meio da realização desse projeto, aspira-se à obtenção de um panorama dos conhecimentos prévios e dos posicionamentos dos jovens participantes dos grupos de discussão a respeito da CAL, o estabel-ecimento de contato direto dos alunos com profissionais da área e um levantamento das contribuições dos estudantes. A estruturação desse panorama permitirá desenvolver ações de divulgação mais eficazes, de modo que a CAL seja percebida como um campo da ciência mais humano e próximo à sociedade.
Palavras-Chave: Divulgação científica, Ciência em Animais de Laboratório, ensino médio, engajamento público, jogo de discussão.
CINÉTICA DE TEMPERATURA E UMIDADE E CORRELAÇÃO ENTRE MACRO E MICROAMBIENTE NAS INSTALAÇÕES SPF DO ICTB
ROBSON LAROCA DOMINGUES FILHO1, ANDRÉ ABBAGLIATTO1, KLENA SARGES MARRUAZ SILVA1, GLADYS CORRÊA1, LUIZ RICARDO BERBERT1
¹Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos – Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB/Fiocruz – Brasil. *E-mail: [email protected].
Dentro das instalações de criação animal, a verificação e o controle constantes de parâmetros ambientais são de extrema importância na manutenção da produção de biomodelos. Os parâmetros avaliados, em geral, são todos aqueles que podem influenciar na fisiologia e na qualidade dos modelos produzidos, além de servirem como barreiras físicas ou químicas no macro e microambientes da instalação. Dentre os parâmetros estão a luminosidade, pressão, circulação e filtragem de ar, umidade e temperatura. Este projeto tem o objetivo de avaliar a cinética de variação de temperatura e umidade no macro e microambientes sobre uma colônia de produção da instalação SPF do ICTB. Como metodologia inicial, dentro do estudo preliminar, foram avaliadas unidades reprodutivas e de manutenção da colônia de produção da linhagem de camundongo CBA, onde foram aferidas a temperatura e a umidade do microambiente, por meio de termohigrômetro digital, em uma unidade com sete indivíduos recém desmamados (G1 – grupo 1), e unidades reprodutivas com um macho e duas fêmeas e ninhada de cinco recém natos (G2 – grupo 2), com um macho e duas fêmeas e ninhada de oito indivíduos em pré-desmame (G3 – grupo 3), e um macho e duas fêmeas (G4 – grupo 4), du-rante cinco dias, correlacionando com a temperatura e umidade do macroambiente. Como resultados preliminares, foi verificado que há uma tendência de diferença positiva (em média de 2ºC) em todos os grupos quando comparados à temperatura externa (macroambiente). O grupo G3 apresentou pequena diferença com a temperatura do macroambiente em um ponto da cinética, e é interessante observar que este evento pode estar relacionado à fisiologia das fêmeas durante lactação e cuidado com os lactentes. Em relação à cinética de umidade, não houve diferenças entre os microambientes e o macroambiente. Cabe ressaltar que essa análise inicial objetiva a compilação de dados temporais basais de macro e microambientes, porém, com perspectiva de ampliação de análise de variáveis (luminosidade + temperatura + umidade),
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 157
RESUMOS
sobre índices reprodutivos de toda a produção de biomodelos da instalação, principalmente sobre a de maior demanda, como a do camundongo Swiss.
Palavras-chave: Parâmetros ambientais, temperatura, umi-dade.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO E TREINAMENTOS DE EQUIPE: PEÇAS-CHAVES NA CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE EM BIOTÉRIOS DE CRIAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO
GLADYS CORRÊA1*, LUIZ RICARDO BERBERT1, RENATA V. BASTOS1,2, FLÁVIA LEITÃO3; KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA1
1 Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos, Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB, Fiocruz, Brasil. 2 Mestrado Profissional de Formação para Pesquisa Biomédica, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil. 3 Coordenação da Gestão da Qualidade, Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos – ICTB, Fiocruz, Brasil.
No processo de produção de animais de laboratório, a gestão da qualidade é pedra angular para que o produto (animal de ex-perimentação) entregue ao consumidor (pesquisador) atenda às necessidades deste, possibilitando a reprodutibilidade dos resulta-dos experimentais. Sendo a ciência de animais de laboratório uma abordagem multidisciplinar, é preciso reafirmar os princípios de Russell e Burch (1959), de que uma ciência humanitária e uma ciência de boa qualidade, somente são possíveis por meio da aplicação dos 3Rs. O Procedimento Operacional Padrão (POP) é o documento base da qualidade, que expressa o planejamento do trabalho repetitivo, que deve ser executado para o alcance da meta padrão. Desta forma, deve conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especificando o respon-sável pela execução, listagem dos equipamentos, peças e materiais utilizados na tarefa, descrição dos procedimentos por atividades críticas; de operação e pontos proibidos de cada tarefa; e roteiro de inspeções periódicas dos equipamentos de produção. Após elaboração minuciosa, os POPs devem ser verificados, aprovados, datados, receber uma numeração de controle e serem assinados. Esses documentos devem ser revisados anualmente ou conforme necessário. De forma igualmente importante, os colaboradores precisam ser treinados, habilitados e qualificados para a execução de suas tarefas. O objetivo deste trabalho é classificar e expor a importância da gestão da qualidade no processo de criação/experimentação animal, tendo como foco os POPs e a atualização contínua da equipe por meio de aulas/treinamentos dentro do Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos (SCRL) do ICTB. O SCRL-ICTB está imerso no programa Qualidade em Movimento, executado pela Coordenação da Gestão da Qualidade e auxiliado pela Comissão da Qualidade do instituto. Dentro do SCRL, desde 2016, com a participação dos colaboradores, foram elaborados/verificados/aprovados cerca de 20 ITs (Instruções de Trabalho) e/ou POPs, e serão atualizadas 40 ITs para POPs até o final do ano de 2018. Para capacitação dos colaboradores do ICTB ou de co-laboradores de serviços complementares (equipes de manutenção do sistema refrigeração e de limpeza), foram executados mais de 148 treinamentos em cerca de 40 POPs e/ou ITs. A participação dos colaboradores é de extrema importância no estabelecimento
de processos de qualidade em todas as esferas, e na criação/ex-perimentação animal não seria diferente. Com a padronização e a melhoria contínua dos procedimentos e da capacitação constante da equipe responsável pelo manejo animal, juntamente com outros pilares da gestão da qualidade, é possível implementar um padrão de qualidade de processos com crescimento positivo.
Palavras-chave: POP, procedimentos, qualidade, treinamen-tos, capacitação.
TRANSPLANTE OVARIANO AUTÓLOGO: UMA ALTERNATIVA PARA A RECUPERAÇÃO DE OÓCITOS EM CAMUNDONGOS
ALESSANDRA SANTOS FEIJÓ DA SILVA SOUZA, ISABELLA DE MOURA FOLHADELLA PIRES, JANAÍNA BARCELOS PORTO FERREIRA, CRISTIANO MAGALHÃES FERREIRA SOBRINHO, ALESSANDRA DE ALMEIDA RAMOS, PAULO CESAR DA SILVA SOUZA, THAIS MALHEIROS TORRES, LUCIENE PASCHOAL BRAGA DIAS
Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. CEUA: LW-28/17.
Os avanços tecnológicos têm permitido o desenvolvimento de um grande número de novos modelos animais. A preservação dessa diversidade tem sido alvo de grande preocupação e, por isso, diversas pesquisas que permitam a guarda desse patrimônio genético vêm sendo desenvolvidas. O Instituto de Ciência e Tec-nologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz) apresenta, até o ano de 2017, mais de 60 linhagens de animais transgênicos. Essa diversi-dade genética necessita ser preservada, tanto de acidentes físicos/ químicos quanto de biológicos. Dessa forma, a criopreservação de ovários torna-se crucial para complementar o banco de ger-moplasma já existente no ICTB, e ainda para aquelas linhagens cujos protocolos de criopreservação de embriões e sêmen não funcionem. O objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo de transplante autólogo de fragmentos ovarianos criopreservados para recuperação de estruturas oocitárias. Foram utilizadas para o procedimento de ooforectomia unilateral de 14 fêmeas de ca-mundongo híbridas B6D2F1. As fêmeas foram submetidas ao protocolo de superovulação e receberam 5 UI de eCG, 46 horas antes da cirurgia. Os animais foram anestesiados e a cirurgia foi realizada com auxílio de microscópio estereoscópio. Os ovários coletados foram colocados em meio de vitrificação e, em seguida, vitrificados e armazenados em botijão de nitrogênio líquido. Após este período, os ovários foram desvitrificados e transplantados para a cápsula do rim esquerdo da mesma fêmea de origem. Esses ani-mais foram divididos em 3 grupos: D3- Fêmeas eutanasiadas 3 dias pós transplante ovariano (n=4); D10- Fêmeas eutanasiadas 10 dias pós transplante ovariano (n=5); D20- Fêmeas eutanasiadas 20 dias pós transplante ovariano (n=5). Nesses períodos, foram retirados os ovários intactos contralaterais (controle) e os transplantados para a cápsula renal. Todas as estruturas foram seccionadas ao meio, conservando-se uma parte em formaldeído 4% para posterior avaliação histológica, e as demais foram levadas ao microscópio estereoscópio para recuperação dos oócitos. Recuperou-se ovários apenas no grupo D3, dos quais obteve-se 9 oócitos viáveis. Os ovários controle produziram 26 oócitos viáveis. Nos grupos D10 e D20, os ovários transplantados não estavam visíveis no sítio de
158 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
implantação, por isso, não foi possível a recuperação de estruturas oocitárias. A vitrificação e a recuperação de ovários por transplante autólogo foi possível apenas no terceiro dia pós-cirúrgico, o que indicou a necessidade de estudo de outros métodos cirúrgicos para fixação do ovário transplantado.
Palavras-chave: Transplante, fragmento ovariano, vitrificação, camundongo.
ANOMALIAS CONGÊNITAS ESPONTÂNEAS EM PRIMATAS NÃO HUMANOS CATIVOS NO RIO DE JANEIRO - PERÍODO 2007-2017
MEIRELES BCS¹; PINTO ACR²; PISSINATTI TA²; SILVA FA²; RAIMUNDO CAS²; DIAS FV²; LOPES CAA²; GOLDSCHMIDT B²
¹ Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório - ICTB/Fiocruz; ² Serviço de Criação de Primatas Não Humanos - ICTB/ Fiocruz.
Este trabalho resume a incidência de anomalias congênitas espontâneas nas colônias de macacos rhesus (Macaca mulatta), cynomolgus (Macaca fascicularis), Saimiri sciureus e Saimiri ustus no Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos/Fiocruz. Os dados foram coletados durante o manejo médico anual das colônias e em material de necropsia, durante um período de dez anos (2007 a 2017). As taxas calculadas de malformações congênitas foram de 9,6% (45/471) para o Macaca mulatta, 1,7% (1/58) para Macaca fascicularis, 3,3% (4/121) para Saimiri sciureus e 11,1% (1/9) para Saimiri ustus, respectivamente. As malformações observadas incluíam, em sua maioria, alterações esqueléticas, seguidas por defeitos digitais, cegueira, alterações múltiplas, craniofaciais e cutâneas. A endogamia pode ter contribuído para a incidência de malformações espontâneas. As alterações foram mais frequentes no sexo masculino. Estes achados contribuem para o entendimento dos erros no desenvolvimento embrionário de primatas não humanos, estudo de sua etiologia e seu papel como biomodelos para estas condições.
Palavras-chave: Anomalias congênitas; Primatas não hu-manos; Biomodelos.
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE CANCELAMENTOS DE FORNECIMENTOS DE BIOMODELOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE TEXTOS – APLICADAS À SÉRIE HISTÓRICA (2008-2017) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SICOPA DO ICTB
CARLA CORRÊA TAVARES DOS REIS
Docente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) - Fundação Oswaldo Cruz. E-mail: [email protected].
Mineração de textos consiste em extrair regularidades, padrões ou tendências de grandes volumes de textos em linguagem natural, normalmente, para objetivos específicos. Inspirado no método data mining ou mineração de dados, que procura descobrir padrões emergentes de banco de dados estruturados, a mineração de textos pretende extrair conhecimentos úteis de dados não estruturados ou semi-estruturados. O processo de mineração de textos também pode ser descrito como um processo de identificação de infor-mações desconhecidas de uma coleção de textos. Alguns autores descrevem mineração de textos como “uma procura por padrões em textos não-estruturados” e outros afirmam que “mineração de textos aplica as mesmas funções de análise de mineração de dados para o domínio de informações textuais, baseado em sofisticadas técnicas de análise de textos que obtêm informações de documentos não-estruturados”. Com o crescimento contínuo do volume de da-dos eletrônicos disponíveis, técnicas de extração de conhecimento automáticas tornam-se cada vez mais necessárias para manipular essa gigantesca massa de dados. O principal objetivo das técnicas de mineração de textos é a manipulação de documentos em formato texto que se encontram de forma não-estruturada. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia capaz de treinar um classificador de textos sobre um conjunto de documentos-texto, obtidos a partir do Sistema de Informações SICOPA do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), que registra as ocorrências/justificativas de cancelamentos de fornecimentos de biomodelos (roedores e lagomorfos), e utilizar este classificador treinado para definir classes/rótulos para as justificativas. Em seguida, o classificador será projetado sobre outros conjuntos de documentos similares, visando avaliar as rotinas utilizadas para classificá-los e clusterizá-los, além de possibilitar a definição do melhor conjunto de regras para predição e categorização desses documentos. A definição desse modelo de classificação possibilitará uma busca de padrões e a extração de informações relevantes sobre as principais causas de cancelamentos de fornecimentos ocorridos nos últimos dez anos (série histórica), o que permitirá estudos futuros e mudanças de paradigmas na condução e monitoramento da criação e fornecimento de animais no ICTB. A ferramenta de mineração de textos utilizada no presente trabalho é o pacote de aplicativos: TMSK (Text Mining Software Kit) e RIKTEXT (Rule Induction Kit for Text), o qual define miniambientes para criação de dicionários, geração de vetores, predição, textmining, recuper-ação de informação, agrupamento de documentos e extração de informação.
Palavras-chave: Mineração de textos, Categorização de docu-mentos, Clusterização de documentos, Extração de Informações, Predição de texto.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 159
RESUMOS
COMPARAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E EUROPEIA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO USO DE ANIMAIS PARA FINS DE ENSINO E PESQUISA: AVANÇOS E DESAFIOS PARA ALTERAÇÃO DA LEI N.º 11794 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008
ANDRÉ S. ABBAGLIATO1,2, OCTAVIO AUGUSTO FRANÇA PRESGRAVE3, CRISTIANE CALDEIRA DA SILVA3
1. Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório – ICTB/ Fiocruz. 2. Serviço de Criação de Roedores e Lagomorfos – SCRL – Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos - ICTB/Fiocruz. 3. Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS/ Fiocruz.
Os animais de laboratório usados em ensino e pesquisa vêm sendo substituídos por métodos alternativos em diversos campos da ciência. No entanto, há domínios do conhecimento em que o uso de animais ainda não encontra substituição, especialmente na área biomédica. A crescente preocupação com os direitos dos animais e o seu bem-estar fez com que a forma de utilização desses animais fosse repensada, o que gerou desenvolvimento na legislação sobre o tema, acompanhado do crescente questiona-mento da comunidade científica e das entidades protetoras. No contexto contemporâneo, com base em conceitos morais e éticos, o uso de animais de laboratório por instituições de ensino e de pesquisa tem sido regulamentado, com ênfase no bem-estar e no direito dos animais, sem que haja prejuízo para essas atividades. A motivação inicial de direcionamento deste estudo teve como base a possibilidade de atualização da Lei N.º11794 de 08 de outubro de 2008 (Lei Arouca), sobre o uso de animais de laboratório por instituições de ensino e pesquisa, considerando-se que nos últimos anos muito se evoluiu no que tange ao princípio dos 3Rs, no bem-estar e na proteção animal. O estudo visa comparar a legislação brasileira e a europeia em relação ao conceito dos 3Rs, à proteção animal e ao seu bem-estar. Na primeira etapa vem sendo realizado um levantamento bibliográfico dos artigos científicos, livros e legislações relacionadas à Diretiva Europeia 2010/63/EU e à Lei N.º11794 de 08 de outubro de 2008, os quais, posteriormente serão classificados e categorizados de forma a proporcionar uma análise comparativa. O estudo será realizado por meio da construção de uma tabela, na qual a primeira coluna será relacionada aos artigos da Lei N.º11794 de 08 de outubro de 2008, na segunda coluna o seu equivalente na 2010/63/EU, e na terceira, uma análise crítica com as observações pertinentes, as semelhanças ou diferenças, vantagens e desvantagens das duas legislações, por item. A partir da análise comparativa serão identificados os itens que possam ser acrescentados ou melhorados na atual legislação brasileira, com propostas de alterações por meio de um projeto de lei para a apre-ciação dos devidos órgãos competentes. O estudo também estará disponível como material de apoio para pesquisas de colaboração internacional com os Estados membros da União Europeia.
Palavras-chave: Legislação, Lei Arouca, Lei n.º 11794 de 08 de outubro de 2008, Diretiva 2010/63/EU.
ABORDAGEM DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO
LUCYCLEIA BEZERRA DO NASCIMENTO¹, WAGNER NAZÁRIO COELHO1, BRUNA BARBOSA DE PAULA1, ALINE BALDI LEAL1
1. Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP - Fiocruz); Pós-graduados em Gestão e Tecnologias do Saneamento.
As doenças negligenciadas constituem um desafio global, que impelem ao comprometimento para reforçar e revigorar a luta contra as patologias tropicais. Nesse contexto, foi estabelecido um prazo para o desarraigamento dessas doenças, até o ano de 2030, prazo este que é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As doenças negligenciadas são um desafio para os países com baixo Produto Interno Bruto (PIB) e que apresentam deficiências nos serviços de saneamento básico, assistência médica, mão de obra especializada e baixos investimentos na educação e saúde. Estratégias educacionais são mecanismos excepcionais para a Promoção da Saúde, tendo em vista o enfrentamento de doenças infectocontagiosas. O objetivo deste estudo consistiu em conhecer a abordagem sobre doenças negligenciadas no ensino médio formal público. Visando concretizar o estudo, foi efetivada uma análise qualitativa, com revisão bibliográfica sobre as doenças negligenciadas e a educação em saúde, tendo como instrumentos metodológicos a análise documental e a coleta de dados. Foram analisados os livros didáticos de Biologia prescritos no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD – 2017) para investigar a presença do conteúdo sobre sete doenças negligenciadas: tubercu-lose, malária, hanseníase, leishmanioses (tegumentar e visceral), esquistossomose, doença de Chagas e dengue. Os resultados obtidos apontaram que, nos livros didáticos, a abordagem relativa a essas doenças ainda atende a aspectos puramente biomédicos, como enfoque eminentemente centrado no conteúdo, sem levar em consideração os aspectos regionais e os contextos da realidade de educadores e educados. As obras avaliadas contrariam as ori-entações presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio e o proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais no eixo transversal que dialoga com Saúde, Promoção da Saúde e do Programa Saúde da Escola.
Palavra Chave: Doenças negligenciadas; Doenças Parasi-tárias; Educação em Ciência.
160 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DOIS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO DE SYPHACIA OBVELATA NO MONITORAMENTO SANITÁRIO DE CAMUNDONGOS (MUS MUSCULUS) DE UM BIOTÉRIO DE CRIAÇÃO
INCERLANDE SOARES DOS SANTOS1, 2, CARLA SANTANA DA SILVA, CLEBER HOOPER DA SILVA2, THAYNARA OLIVEIRA DA SILVA2, LILIAN GONÇALVES DE CARVALHO2
¹Discente do Mestrado Profissional em Ciências em Animais de Laboratório / Fiocruz – 2Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos ICTB/ Fiocruz. E-mail: [email protected].
A infecção por Oxyuridae nas colônias de roedores é um problema latente, já que são parasitos considerados apatogênicos; entretanto, em camundongos imunocompetentes, os sinais clínicos se manifestam e são associados à elevada carga parasitária e, mui-tas vezes, a infecções bacterianas secundárias. O controle desse parasito é realizado mediante monitoramento sanitário trimestral, conforme as recomendações da FELASA (Federação das Asso-ciações Europeias de Ciência Animal de Laboratório). A infecção por Syphacia obvelata ocorre por meio de ovos colocados sobre a pele na região perianal pelas fêmeas grávidas, que migram para o ânus antes de morrerem. Estes ovos embrionam entre 5 e 20 horas a 37ºC, ou mais lentamente à temperatura ambiente. Os animais foram previamente submetidos ao protocolo da CEUA LW-27/17. Neste trabalho, foi realizada uma avaliação da eficácia do diag-nóstico do referido parasito, fazendo-se uma análise comparativa entre o método de Graham e o exame direto da mucosa intestinal de 60 camundongos fêmeas outbred stock Swiss Webster com três meses de idade (selecionados por amostragem), e procedentes das instalações de roedores de um biotério no Rio de Janeiro/RJ. No método de Graham foi feita uma impressão ao redor da região perianal com fita de celofane e, em seguida, anexada à lâmina para a observação ao microscópio óptico, para identificação e quantificação dos ovos de S. obvelata. Em contrapartida, no exame direto foi realizada a coleta de amostras das mucosas intestinais dos roedores e contagem dos ovos sob visualização ao microscó-pio óptico. Com base no número de animais analisados (n = 60), os resultados mostraram uma incidência de 50% do parasito pela técnica de Graham e 8,33% pela técnica do exame direto. Portanto, com o intuito de ampliar o espectro de identificação de Syphacia obvelata, a técnica de Graham foi adotada como o método padrão no monitoramento sanitário, contribuindo cada vez mais com as condutas de manejo a serem empregadas nesta criação animal em prol do controle e erradicação do parasito em questão.
Palavras-chave: Syphacia obvelata; Camundongos Swiss Webster; Monitoramento Sanitário; Método de Graham; Exame direto.
INFLUÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS SOBRE O CONTROLE DE SURTO DE TUBERCULOSE EM UM CRIADOURO CIENTÍFICO DE PRIMATAS NÃO HUMANOS
NASCIMENTO, L.W.F.1 ALVES, D.A.2 E ANDRADE, M.C.R.3
1Serviço de Criação de Primatas não Humanos (SCPrim), Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 2Centro de Referência Professor Hélio Fraga, Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Fiocruz; 3Coordenação de Pesquisa e Experimentação Animal (CPEA), ICTB-Fiocruz.
Os primatas não humanos (PNH) são altamente sensíveis à tuberculose (TB), sendo esta capaz de extinguir criações medi-ante a ocorrência de um surto. O criadouro científico de PNH da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), RJ, possui um plantel de cerca de 700 exemplares de primatas das espécies Macaca mulatta (n = 500), M. fascicularis (n = 60) e Saimiri sp. (n = 140) destinados a pesquisas biomédicas. Um conjunto de medidas preventivas e de controle vem sendo adotadas no referido criadouro, desde a constatação de um surto de TB em 2011. Defrontando-se com esta problemática e na ausência de uma conduta padrão para lidar com as inúmeras variáveis que surgiram à medida que tal surto tomava grandes proporções, foi instituído um programa fundamentado em normas nacionais e internacionais preestabelecidas. As normas vigentes determinam a eutanásia dos animais positivos. De posse das recomendações regulamentares e com a assessoria constante de um comitê consultivo formado por profissionais especialistas, foram implantadas barreiras sanitárias, atentando-se para as questões de biossegurança, manejo animal, controle de acesso às criações símias, estudos acerca dos fluxos de rastreabilidade do bacilo da TB nas colônias de uma forma geral, coletas de amostras biológicas, métodos de diagnóstico diversificados, destinação de carcaças, bem como gestão de pessoas quanto aos cuidados de prevenção à TB. Resumidamente, foram empregadas ações, tais como: - Intervenção do Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST-Fiocruz) quanto aos exames periódicos e programa de identificação de pacientes com TB latente; - congelamento de carcaças e poste-rior incineração em empresa credenciada; - uso de equipamentos de proteção individuais específicos, incluindo a máscara PFF2; - rodízio de desinfetantes nos recintos; - pedilúvio na entrada dos recintos; - poda drástica das árvores para aumentar a luz solar e diminuir a umidade; - construção de áreas de isolamento entre as colônias para evitar contaminações cruzadas e controle de acesso de pessoas às criações. De 2011 até o presente ano, os casos de TB desta criação reduziu de 35% para 0,4.%, indicando que as medidas adotadas estão sendo eficazes para controlar o surto. Por se tratarem de criações consideradas patrimônios históricos e genéticos de grande relevância para instituição e para o país, perspectivas de imunização, tratamento preventivo, técnicas de reprodução assistida, transferência das criações para região afastada dos centros urbanos estão sendo fortemente idealizadas para serem concretizadas brevemente, na busca efetiva da erradicação desta doença tão devastadora em uma população de primatas.
Palavras-chaves: Primatas não humanos. Surto de tuberculose. Prevenção e controle. Métodos diagnóstico.
RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017 161
RESUMOS
IGLOO® E PAPEL ABSORVENTE: TIPOS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PREFERIDOS POR CAMUNDONGOS SWISS WEBSTER EM BIOTÉRIO
MARTINS, T. V. A.1,2; OLIVEIRA, G. M.3
1Discente do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório - ICTB/Fiocruz - RJ. 2 Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS/Fiocruz - RJ. 3 Instituto Oswaldo Cruz – IOC/Fiocruz - RJ.
O camundongo, entre as diferentes espécies, é o mais ampla-mente estudado na ciência em animais de laboratório e o mais conhecido cientificamente para testes, com os propósitos de ensino e pesquisa biomédica. Dentre as características que o tornam ad-equado ao uso nas pesquisas científicas, pode-se citar o tamanho corporal, a facilidade de manuseio, a prolificidade, o ciclo de vida curto, além da similaridade biológica e genética, que o aproxima do ser humano. O camundongo Swiss Webster (SW) apresenta um complexo e variado repertório de comportamentos individuais e sociais. Em relação ao alojamento desses animais em biotério, é primordial o conhecimento do seu comportamento e o uso de en-riquecimento ambiental (EA) para elevar a condição de bem-estar e minimizar o estresse durante o período de manutenção e uso dos animais. O objetivo principal desse trabalho foi determinar, por meio da aplicação do Sistema de Gaiolas Interligadas (SGI), a relação entre o comportamento individual e social dos animais e a preferência pelo uso de diferentes tipos de equipamentos/materiais para EA. Através do desenho experimental proposto, buscou-se esclarecer a preferência, ou a escolha, dos camundongos Swiss Webster machos, nas idades infanto, jovem e adulto, do tipo de EA, e consequentemente, demonstrar a influência no bem-estar na rotina de manutenção desses animais em biotério. Os resultados obtidos sugerem que, em diferentes idades, os camundongos SW machos, demonstram distintas preferências em relação ao tipo de EA oferecido. Os equipamentos/materiais para EA que possibilitam as atividades de abrigo e nidificação foram as de maior preferência. A primeira escolha do animal foi pelo Igloo®, porém os animais demonstraram também uma alta utilização do papel absorvente. Desta forma, acredita-se que os dados obtidos contribuam para o refinamento e a eficiência da utilização do EA, bem como a elevação do bem-estar animal.
Palavras-chave: Camundongos, Comportamento Animal, Enriquecimento Ambiental, Sistema de Gaiolas Interligadas. Li-cença CEUA/IOC:L-004/16. Órgãos de financiamento: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), Instituto Oswaldo Cruz (IOC). Órgãos de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento à Pesquisa (CNPq) e Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ).
PARASITOS INTESTINAIS EM SUÍNOS DE UM BIOTÉRIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PINHERAL- RJ
CARREIRO1, CAROLINE CUNHA; DA SILVA2, CEZAR AUGUSTO; JORGE3, JORGE DE CARVALHO BARONTO PEREIRA; COSTA4, NELSON OSCARANHA GONSALES & JESUS5, VERA LUCIA TEIXEIRA
1- Discente de Doutorado, Programa de pós-graduação em Medicina Veterinária, UFRRJ, bolsista CAPES; 2- Discente de graduação de Engenharia de alimentos, UFRRJ, 3- Professor do Colégio Técnico Nilo Peçanha, UFRJ; 4- Técnico administrativo do Colégio Técnico Nilo Peçanha, UFRJ; 5- Professora do DRAA/IZ/UFRRJ.
O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial de carne suína. Para incrementar a produção suinícola e adaptar as modificações zootécnicas, as criações extensivas foram substituí-das pelo sistema de confinamento, exigindo a utilização de novas técnicas de manejo que se executadas inadequadamente propiciam a proliferação e a permanência de diversos agentes patogênicos. Os distúrbios gastrointestinais são frequentemente observados em suínos de diferentes faixas etárias, sendo responsáveis por importantes perdas econômicas, não só pela taxa de mortalidade dos leitões, como pela redução do ganho de peso e gastos com medicamentos. Além disso, em matrizes está associado à redução da fertilidade e repetições irregulares de cio. Apesar do grande desenvolvimento da suinocultura intensiva, pouco se sabe acerca da ocorrência de parasitos internos nesta população animal. Neste estudo, o objetivo foi identificar os principais agentes parasitários em fezes de matrizes e leitões confinados em uma criação de sub-sistência no município de Pinheral, RJ. Para tal, foram coletadas amostras fecais direto da ampola retal de 55 suínos (23 matrizes e 32 leitões), pertencentes ao Colégio Técnico Nilo Peçanha, locali-zado no município de Pinheiral, RJ. As amostras foram encamin-hadas ao laboratório de Patologia da Reprodução, localizado no Anexo I do Instituto de Veterinária da UFRRJ. No laboratório, parte das amostras foram dissolvidas em PBS e examinadas a fresco, sob microscopia óptica, no aumento de 100 X, para a observação de parabasalídeos e Balantidium sp. A outra parte foi submetida ao método de centrífugo flutuação em açúcar, para a pesquisa dos demais parasitos (helmintos e coccidios). Do total de 55 amostras fecais examinadas, 40 (72,7%) apresentavam-se positivas por pelo menos um parasito. E apenas 15 animais (27,3%), 3 matrizes e 12 leitões, encontravam-se negativas para todos os agentes pes-quisados. A coinfecção foi bastante significativa, onde a maioria dos animais (54,5%) estavam parasitados por mais de um agente. A alta carga de parasitos gastrintestinais reflete na redução da fecundidade, retornos irregulares do cio, baixo número de leitões nascidos e desmamados, assim como baixo peso da leitegada ao nascer e ao desmame, além dos prejuízos relativos à elevada taxa de condenação de vísceras em abatedouros, redução significativa do ganho de peso diário e da conversão alimentar dos animais em crescimento e engorda. Alem disso, ainda há um aumento no custo de produção quando os suínos são portadores de infecção mista por nematoides. Nas matrizes, os coccídios foram os mais frequentes (60,87%), seguidos dos parabasalídeos (52,17%) Strongiloidea (34,78%) e Balantidium (26,08%). Os coccídios também foram os mais frequentes nos leitões (25%), seguidos de Strongiloidea (18,75%), Balantidium (12,4%) e parabasalídeo (9,37%). A menor
162 RESBCAL, São Paulo, v.5 n.2, pg. 144-162, 2017
RESUMOS
frequência encontrada nos leitões (62,50%), quando comparada com as matrizes (86,95%), possivelmente está relacionada ao fato das mães serem vermifugadas dias antes do parto, o que estaria reduzindo as chances de transmissão para o filhote. Estes parasitos são muito prevalentes na suinocultura no Brasil, e o diagnóstico e controle são um constante desafio, porque vários fatores infec-ciosos e não infecciosos, participam da etiopatogenia, agindo de maneira sinérgica ou somatória contribuindo para instalação do quadro patológico de disenterias e aumentando seu impacto nas perdas econômicas. O confinamento total dos animais, a qualidade e conforto ambiental, a qualidade de matéria prima para rações, e as doenças intercorrentes, são fatores que contribuem para o aumento do estresse animal e atuam diretamente na imunidade, favorecendo a infecção e a co-infecção por determinados agentes. Apesar deste grande desenvolvimento da suinocultura intensiva, as enteroparasitoses ainda representam um grande entrave na produção. Portanto, há necessidade de programas efetivos de controle e prevenção destas parasitoses, no que diz respeito à programa de limpeza e desinfecção das instalações, bem como a inclusão de promotores de crescimentos ou mesmo probióticos no momento certo da produção, além de um programa periódico de monitoria sanitária (exames laboratoriais), com o objetivo de avaliar a eficiência das medidas de controle e prevenção adotados pela granja e diagnosticar o problema, seja clínico ou subclínico.
Palavra-Chave: Parabasalídeos; Suínos; Helmintos; Coc-cídios; Endoparasitoses.
Agradecimentos: CAPES e FAPERJApoio e Patrocínio: ALESCO, STEQ, EDITORA FIOCRUZ,
Editora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/FI-OCRUZ e Vice-Presidência de Educação, Informação e Comuni-cação (VPEIC) da Fiocruz.
Os artigos devem ser redigidos na ortografia oficial, em uma só face, utilizando o programa Word, em es-paço duplo, em folhas formato A4 (21 cm x 29,7 cm), com fonte tamanho 12, com margens de 3 cm em cada um dos lados e numeradas em algarismos arábicos no canto inferior direito da folha.
Indicativos para SubmissãoO conteúdo do material enviado para publicação na
RESBCAL não pode ter sido publicado anteriormente em outros veículos. Os custos de publicação envolvem revisão em português e tradução para o inglês. Os artigos e correspondência deverão ser enviados inicial-mente por meio eletrônico para o seguinte endereço: [email protected]. No item assunto deverá ser colocado: Artigo RESBCAL. Ele deverá ser anexado em um único arquivo.
Carta de apresentaçãoÉ importante que o trabalho venha acompanhado
de uma carta, indicando os pontos relevantes para ajudar no encaminhamento da avaliação preliminar de revisão pelos pares.
Carta de autorizaçãoDeve conter a assinatura de todos os autores,
responsabilizando-se pelo conteúdo do trabalho.
Carta dos autoresIndicar se existem eventuais conflitos de interesse
(profissionais, financeiros e benefícios diretos ou in-diretos) que podem ter influenciado os resultados da pesquisa ou o conteúdo do trabalho.
Considerações éticasTodos os trabalhos submetidos para publicação
deverão estar acompanhados do Certificado de Apro-vação do Projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição à qual estão vinculados os autores.
Os procedimentos experimentais aplicados deverão apresentar conformidade com os princípios previstos na Lei 11.794 e pelo Conselho Nacional de Cuidado na Experimentação Animal (CONCEA) para trabalhos produzidos no Brasil; previstos na Convenção Euro-peia para a Proteção dos Animais Vertebrados Utiliza-
dos para Fins Experimentais e Outros Fins Científicos e seus anexos, para artigos de origem internacional.
Se o desenho experimental ou a metodologia do trabalho apresentado levantar preocupação com a ética ou o bem-estar, o Conselho Editorial fará uma análise para interpretação segundo publicações recentes com as diretrizes nacionais e internacionais adotadas.
Os artigos podem ser: originais, revisão e ponto de vista, breve comunicação, seção memórias:
a) originais: divulgam resultados de pesquisas que possam ser replicados ou generalizados. Devem ter acima de 5.500 palavras, incluindo o resumo. O texto pode ser apresentado em português ou inglês;
b) revisão: Artigos de Revisão dispensam resumo es-truturado. Tamanho máximo: 15 páginas, podendo conter figuras, tabelas ou gráficos. Ponto de vista: esta seção tem por objetivo receber artigos que con-tenham opiniões de autores a respeito de assuntos polêmicos e de interesse para a ciência em animais de laboratório. O texto pode ser apresentado em português ou inglês;
c) breve comunicação: Caso original estudado de relevância com aproximadamente 1.500 palavras, incluindo resumo com não menos que 200 palavras. O texto pode ser apresentado em português ou inglês;
d) seção memórias: relatos sobre a memória da área. Serão convidados os autores para comporem essa seção. O texto pode ser apresentado em português ou inglês.
PaginaçãoOs artigos devem conter no máximo 10 laudas
(cada lauda = 1.250 caracteres sem espaço), incluindo--se as referências – seguir normas de publicação.
Folha de Rosto (Identificação)a) título e subtítulo – em português e inglês;b) nome e sobrenome de cada autor; filiação a qual
instituição pertence;c) nome do departamento onde o trabalho foi realiza-
do;d) nome e endereço eletrônico do autor para corres-
pondência;
INSTRUÇÕES AOS AUTORESNORMAS PARA PUBLICAÇÃO
e) se foi baseado em Tese, indicar o título, ano e ins-tituição onde foi apresentada;
f) se foi apresentado em reunião científica, indicar o evento, local e data de realização;
g) se foi subvencionado, indicar o tipo de auxílio, nome do agente financeiro e o número do processo;
h) agradecimentos:- contribuições (assessoria científica, coleta e
dados, revisão crítica da pesquisa),- instituições (apoio econômico, material e ou-
tros).
Estrutura do TextoIntrodução: deve ser curta, definindo o problema
estudado sintetizando sua importância.Material e Métodos: deve conter os critérios de
amostragem e a descrição, breve e clara, dos métodos usados, que permita a compreensão e repetição do trabalho. Processo e Técnicas já publicados devem ser referidos, por citação, a menos que tenham sido modificados. Relatar informações detalhadas sobre os animais e suas condições de criação e manutenção; a eutanásia dos animais deve ser coerente com recomen-dações contidas nos Guias de Cuidados nacionais e internacionais reconhecidos oficialmente.
Resultados: deve se limitar a descrever os resul-tados encontrados sem incluir interpretações/compa-rações.
Discussão: deve começar apreciando as limitações do estudo, seguida da comparação com a literatura e a interpretação dos autores, extraindo conclusões, indicando novos caminhos para pesquisa.
Conclusão: para os artigos originais. Deve ser fundamentada pela discussão feita sobre os resultados obtidos.
Resumo e Palavras-Chavea) português e inglês (até 250 palavras). Deverá
conter objetivo, métodos, resultados e conclusões. Os trabalhos enviados em língua portuguesa terão resumo em língua inglesa e vice-versa;
b) descritores (usar o vocabulário): Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) - http://decs.bvs.br/.
Ilustrações (figuras, quadros, fotografias, desenhos, gráficos, entre outros)
As ilustrações deverão vir logo após as referências (numeradas em ordem consecutiva ao longo do texto); Legendas à parte.
Deverão ser apresentadas, priorizando a compre-ensão do texto e dos dados. As figuras deverão ser originais em formato jpeg com tamanho 7 cm de largura por 9,5 cm de altura ou 170 pixels de largura por 269 pixels de altura com até 250 Kb. As letras e símbolos devem estar na legenda. As legendas das ilustrações devem permitir sua perfeita compreensão, independentemente do texto.
As ilustrações deverão ser numeradas separadamen-te, usando algarismo arábico, na ordem de aparecimento no texto. Cada ilustração deverá conter o seu respectivo número e estrutura em discussão, indicada com seta.
TabelasAs tabelas também devem ser incluídas no mesmo
arquivo, logo após as referências (numeradas em ordem consecutiva ao longo do texto) devem ter título breve.
As legendas das tabelas devem permitir sua perfeita compreensão, independentemente do texto.
As tabelas deverão ser numeradas separadamente, usando algarismo arábico, na ordem de aparecimento no texto. Cada tabela deverá conter o seu respectivo número e estrutura em discussão, indicada com seta.
Obs: não usar traços horizontais ou verticais internos.
UnidadesSeguir as normas do Instituto Nacional de Metro-
logia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) no endereço eletrônico: www.inmetro.gov.br.
Abreviaturas e Siglasa) forma padrão da língua portuguesa e inglesa;b) não usar no título e no resumo.
Agradecimentos ver Folha de RostoA quem colaborou de modo significativo na reali-
zação do artigo, devem vir antes das referências.
Citações no TextoPara citação no texto, utilizar o sistema numérico
remetendo à lista de referências ao final do trabalho. A indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, situada pouco acima da linha do texto em sobrescrito, após a pontu-ação que encerra a citação.
Exemplo:“Os animais de laboratório são definidos por di-
ferentes espécies que são mantidas, ou criadas, em
viveiros como cobaias, chamados biotério”1. Podem ser coelhos, ratos, hamsters, entre outros.
Quando for necessário citar o autor, indicar apenas o autor e o número da citação.
Exemplo:Para Mendes2 esses animais são de extrema impor-
tância para a ciência.
Referências (Vancouver)a) a elaboração da lista de referências é feita pelo sis-
tema numérico na mesma ordem em que aparecem no texto;
b) o título do periódico deverá ter seu nome abreviado de acordo com a List of Journals Index in Index Medicus: acessar o endereço eletrônico: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals;
c) devem ser citados todos os autores, quando até seis; acima deste número, citam-se os seis primeiros seguidos de et al., separados por vírgula (,).Exemplos:1 Silva EM, Pereira AS, Santos AA, Mendonça
RM, Mendes AL, Arruda LJ.2 Santos AA, Arruda LJ, Couto LP, Mendes AL,
Viana BP, Rocha RS, et al.d) a exatidão das referências é de responsabilidade
dos autores.
Para exemplos de referências que não forem con-templadas nestas instruções, acessar o International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) no endereço http://www.icmje.org.
Exemplos:
Artigo de Periódico
Sans-Coma V, Carmen Fernández M, Fernández B, Durán AC, Anderson RH, Arqué JM. Genetically alike Syrian hamsters display both bifoliate and trifoliate aortic valves. J Anat. 2012 Jan;220(1):92-101. doi: 10.1111/j.1469-7580.2011.01440.x.
Datta S, Adak R, Chakraborty P, Haldar AK, Bhat-tacharjee S, Chakraborty A, et al. Radio-attenuated leishmanial parasites as immunoprophylactic agent against experimental murine visceral leishmaniasis. Exp Parasitol. 2012 Jan;130(1):39-47.
Livro
Mesmo Autor da Obra no TodoHawk CT, Leary SL, Morris TH. Formulary for
laboratory animals. 3rd ed. Oxford: Blackwell; 2005. 203 p.
Autor distinto da obra no todoPhillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.
In: Laragh JH, Brener BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 655-8.
Dissertações/TesesLeite DP. Padrão de prescrição para pacientes
pediátricos hospitalizados: uma abordagem farmacoe-pidemiológica [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas; 1998.
Dissertações/Teses on-lineChaguri LCAG. Estudo de um sistema de análise
de preferências climáticas para animais convencionais de laboratório por tecnologia de ventilação microam-biental e avaliações biológicas. I. Avaliação da efici-ência de um protótipo, para o estudo de parâmetros ambientais, resultados parciais verificados em ratos (Rattus norvegicus). [tese na Internet]. São Paulo (Brasil): Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia; 2009 [citado 22 fev. 2011]. 109 p. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10133/tde-07122009-113246/pt-br.php.
Trabalho Apresentado em EventoCosta MSD. Aspectos éticos relacionados à infra-
estrutura de biotérios em universidades públicas. 28ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica; 3-6 set. 2011; Águas de Lindoia, BR. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pesquisa Odonto-lógica; 2011. Resumo PE024.
Trabalho de evento publicado em periódicoCosta MSD. Aspectos éticos relacionados à in-
fraestrutura de biotérios em universidades públicas. Apresentado à 28ª. Reunião Anual da Sociedade Bra-sileira de Pesquisa Odontológica; 3-6 set. 2011; Águas de Lindoia, BR. Anais. (Braz Oral Res. 2011;25:57. Resumo PE024.