Tcc Poça final
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tcc Poça final
ITES - INSTITUTO TAQUARITINGUENSE DE ENSINO SUPERIOR
“DR. ARISTIDES DE CARVALHO SCHLOBACH”
CURSO DE AGRONOMIA
VIABILIDADE DA PROPAGAÇÃO DE GEMAS DE Citrus sinenses EM
FRIGOCONSERVAÇÃO
EDIVALDO SEBASTIÃO RAMOS
1
TAQUARITINGA – SPDEZEMBRO DE2014
ITES - Instituto Taquaritinguense de Ensino
Superior
“Dr. Aristides de Carvalho Schlobach”
Curso de Agronomia
VIABILIDADE DA PROPAGAÇÃO DE GEMAS DE Citrus sinenses EMFRIGOCONSERVAÇÃO
Aluno: Edivaldo Sebastião RamosOrientador: Prof. Msc. Juan Gabriel Cristhoffer Lopez Ruiz
Trabalho de Conclusão de Cursoapresentado ao Departamento deAgronomia do InstitutoTaquaritinguense de Ensino Superior“Dr. Aristides de Carvalho Schlobach”como parte das exigências paraobtenção do título de EngenheiroAgrônomo.
TAQUARITINGA - SPDEZEMBRO DE 2014
Ramos, Edivaldo SebastiãoI
R175eViabilidade da propagação de gemas de Citrus sinensisem frigoconservação.
21 / Edivaldo Sebastião Ramos. – – Taquaritinga,2014.
iv, 30 f.: il.; 28 cm
Trabalho apresentado ao Departamento deAgronomia do Instituto Taquaritinguense de EnsinoSuperior “Dr. Aristides de Carvalho Schlobach”,2014.
Orientador: Juan Gabriel Cristhoffer Lopes
RuizBanca examinadora: Juan Gabriel Cristhoffer
Lopes Ruiz, Paulo Roberto Pala Martinelli, FelipeBatistella Filho.
Bibliografia
1. Enxertia. 2. conservação. I.Título. II.Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior.
CDU: 631.344.4
ITES - Instituto Taquaritinguense de Ensino
Superior
“Dr. Aristides de Carvalho Schlobach”
Curso de Agronomia
VIABILIDADE DA PROPAGAÇÃO DE GEMAS DE Citrus sinenses EMFRIGOCONSERVAÇÃO
Edivaldo Sebastião Ramos
Aprovado em: 10 de dezembro de 2014
BANCA EXAMINADORA
Prof. Msc. Juan Gabriel Cristhoffer Lopes Ruiz
(orientador)
Prof. Dr. Paulo Roberto Pala Martinelli
Prof. Dr. Felipe Batistella
Filho
Dedico aos meus pais, com todoreconhecimento e orgulho dessefilho. Obrigado por todo amor,carinho e compreensão durante todaminha vida e também pelo exemplo dehonestidade e humildade.
AGRADECIMENTO
Agradeço em primeiro lugar a Deus, pelas luzes que me
iluminaram no decorrer desta caminhada e pela fé que me
inspirou a continuar, mesmo com todos os obstáculos do
caminho.
A todos os professor do curso, pelo profissionalismo na
transmissão de seus conhecimentos.
Ao meu orientador, Professor Juan Gabriel Cristhoffer Lopez
Ruiz, pelas sugestões e válidas orientações.
Aos meus pais, pelos ensinamentos de toda uma vida.
A minha família, pelo apoio quando necessário.
A minha namorada e amigos de faculdade pelos bons momentos.
A Alessandra, Mara e demais amigos do Horto Florestal de
Bebedouro pelas orientações.
“É preciso escolher um caminho quenão tenha fim, mas, ainda assim,caminhar sempre na expectativa deencontrá-lo.”
Geraldo Magela Amaral
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo da
viabilidade de frigoconservação de enxertia em citrus Pêra-Rio
(Citrus sinensis), visando mostrar o desenvolvimento e propagação
da cultura a partir de enxerto realizado em viveiro. Foi um
experimento realizado na cidade de Bebedouro, SP., em estufa
certificada e obedecendo todos os padrões, o qual avaliou o
processo de enxertia de gemas vegetativas de citrus, através da
observação e coleta de dados obtidos em 5 etapas, sendo a
primeira, broto vegetativo (processo convencional); a segunda,
enxertia 11 dias após a coleta da borbulha; a terceira,
enxertia com 22 dias; a quarta, enxertia com 33 dias e a
quinta, enxertia com 44 dias, através da frigoconservação,
avaliando o comportamento das gemas 20 dias após a retirada da
fita plástica, levando em consideração os principais fatores:
perdas, dormência da borbulha e viabilidade econômica. Os
resultados mostraram que é viavel o armazenamento das gemas
até 30 dias, após este periodo as gemas perdem a viabilidade.
Palavras-chave: enxertia, conservação, refrigeração.
vii
ABSTRACT
The objective of this work is to develop a study of graft cold
storage feasibility in Pera-Rio citrus (Citrus sinensis), to
show the development and spread of culture from graft
performed in nursery. It was an experiment conducted in the
city of Bebedouro, SP., In certified greenhouse and obeying
all standards, which evaluated the grafting of vegetative buds
of citrus, through observation and collection of data in 5
steps, the first, vegetative bud (conventional process); the
second, grafting 11 days after collection of the bubble; the
third graft at 22 days; the fourth, grafting with 33 days and
the fifth, grafting with 44 days by cold storage, assessing
the behavior of the buds 20 days after removal of the plastic
tape, taking into account the main factors: loss, numbness of
the bubble and economic viability. The results showed that it
is viable storage of gems within 30 days, after this period
the gems lose viability.
keywords: grafting, conservation, refrigeration
ix
SUMÁRIO
RESUMO vii
ABSTRACT viii
SUMÁRIO ix
1. INTRODUÇÃO 10
2. REVISÃO DA LITERATURA 12
2.1 Os citros..............................................12
2.2 Enxertia...............................................12
2.3 Sanidade do pomar.....................................14
2.4. Influência dos porta-enxertos........................14
2.4.1 Tipos de porta enxerto..............................15
2.5 Uso da frigoconservação para enxertia de citrus......20
2.5.1 Funcionamento do sistema............................20
2.6 Instalação de Viveiro de citrus........................21
3. OBJETIVOS 23
4. MATERIAL E MÉTODOS 24
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 25
6. CONCLUSÕES 28
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 29
xi
1. INTRODUÇÃO
Com a colonização do Brasil, a partir de 1530/40 e a
chegada de novos habitantes, apareceram as primeiras árvores
frutíferas no país, dando início à citricultura. O país
possuía uma excelente adaptação climática para estas plantas e
os primeiros registros de plantios de laranjas e limões no
Brasil foram feitos na Capitania de São Vicente (HASSE, 1987).
Este mesmo autor afirma que os colonizadores trouxeram as
mudas e as técnicas da Espanha, visando criar um abastecimento
de vitamina C, antídoto do escorbuto que dizimava a maioria
das tripulações no período dos descobrimentos e da colonização
da América Latina. Assim, o século XIX tornou-se o marco do
início da citricultura no Brasil, devido a boa adaptação da
laranja ao clima e ao solo brasileiros, produzindo uma
variedade particular, reconhecida internacionalmente: a
laranja Bahia, baiana ou "de umbigo", que teria surgido por
volta de 1800.
Em São Paulo, como subsídio aos agricultores, o governo
estadual distribuía mudas. Mais tarde, com a crise do café, a
citricultura foi ganhando um espaço maior, passando a ser
considerado um grande negócio, porém como uma vaga
possibilidade de exportação. Somente em 1910, depois de muitas
tentativas, pôde-se firmar exportações para a Argentina,
concretizando-se em um negócio que dava muito dinheiro.
Na década de 80, o Brasil tornou-se o maior produtor
mundial de laranja, com mais de 1 milhão de hectares de
13
plantas cítricas em seu território, sendo a maior parte da
produção brasileira concentrada no estado de São Paulo, que
destinava á indústria do suco, responsável por 70% das
laranjas e 98% do suco que o Brasil produzia.
A laranjeira ‘Pêra’ representa perto da metade da
população de plantas da espécie, estimada em 220 milhões de
árvores. A expressiva maioria da produção paulista de laranja
‘Pêra’, é absorvida pelas indústrias processadoras de suco
concentrado congelado. O presente estudo justifica-se devido a
laranja “Pêra’’, Citrussinensis(L.) Osbeck, ser a mais importante
variedade copa cultivada no Brasil. O método de enxertia é uma
maneira de obter-se mudas em pequeno espaço de tempo, com
qualidade e com um custo menor que o plantio de semente, para
os citricultores.
SIQUEIRA, et al .(2001) realizaram um estudo da manutenção
da viabilidade das borbulhas e o crescimento das brotações de
enxertos provenientes das hastes porta-borbulhas dos
cultivares laranjeiras ‘Baianinha’ e ‘Pêra Rio’ de diferentes
idades, submetidas a três períodos de armazenamento
refrigerado, concluindo que há variações nos teores de
açúcares solúveis totais e de amido nas hastes nos diferentes
períodos de armazenamento e idades, mas, de forma geral, elas
não são úteis para explicar as diferenças encontradas na
viabilidade das borbulhas e no crescimento das brotações.
OLIVERA, et al . (2008)afirmam que deve-se controlar a
temperatura para que se situe em uma faixa de 13oC a 34oC, na
qual os citros apresentam crescimento vegetativo (AMARAL,
1982). No entanto, devem ser buscadas temperaturas entre 26ºC
14
e 28ºC, nas quais ocorre o máximo desenvolvimento de plantas
cítricas (JOAQUIM, 1997). Temperaturas abaixo desta faixa
favorecem a podridão de sementes e temperaturas acima causam o
secamento de ponteiros e, muitas vezes, a morte de plantas.
O presente estudo justifica-se devido a cultura de citrus
ser uma das fontes de renda do Estado de São Paulo, portanto,
o método de enxertia é uma maneira de obter-se mudas em
pequeno espaço de tempo, com qualidade e com um custo menor
que o plantio de semente, para os citricultores.
15
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Os citros
Os citros pertencem à família Rutaceae, e são nativos do
sudeste da Ásia, mais especificamente das regiões da Índia e
do sul da China. Apesar de existirem atualmente muitas
espécies e variedades, estudos genéticos apontam apenas três
espécies como a base de origem de todas as outras exploradas
comercialmente: C. medica, o grupo das cidras; C. grandis, o
grupo das toranjas; e Citrus reticulata Blanco, o grupo das
tangerinas (ARAÚJO & ROQUE, 2005; DONADIO et al., 2005).
O tipo de propagação ideal para a maioria das plantas
frutíferas é o vegetativo, isto é, aquele no qual uma parte da
planta, já em produção, seja uma borbulha, um rebento, uma
estaca ou um ramo (garfo), são usados para originar uma nova
planta
A propagação vegetativa ou assexual de plantas frutíferas
é a mais recomendada, pois ela possibilita a manutenção das
boas características da planta, tais como: produção, qualidade
do fruto, precocidade e sanidade.
A multiplicação de plantas frutíferas por via vegetativa
pode ser feita de várias maneiras, sendo que cada espécie se
adapta melhor a cada uma dela, porém, neste estudo a ênfase
será dada á enxertia.
Conforme PAIVA e GOMES (2001), o enxerto em árvores
frutíferas é uma das mais antigas práticas hortícolas,
remontando o seu registro histórico aos tempos de Teofasto,
que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. 16
2.2 Enxertia
De acordo com CÉSAR (1986), a enxertia é a técnica de
soldadura ou união de duas plantas distintas e, só é possível
entre plantas que apresentem afinidade entre si, satisfazendo
as seguintes condições:
1 - Devem pertencer, pelo menos, à mesma família botânica,
sendo que tanto maiores serão as probabilidades do êxito da
enxertia, quanto mais próximo for o grau de parentesco
existente entre ambas.
2 - As duas plantas devem apresentar analogia no porte, no
vigor vegetativo, nas exigências relativas às condições
climatéricas, assim como analogia anatômica, fisiológica, de
consistência (herbácea ou lenhosa) etc.
3 - Ambas as plantas devem ser de folhas cadentes
(hibernantes), ou de folhas persistentes (não hibernantes).
A enxertia é um método de propagação que une partes
de plantas de tal maneira que se crie uma associação benéfica
entre dois indivíduos geneticamente diferentes, que passam a
se comportar como uma planta só (POMPEU JÚNIOR, 2005; STUCHI,
2003).
O objetivo da enxertia é obter plantas de melhor
qualidade, mais produtivas e longevas (POMPEU JÚNIOR, 2005).
Entre as vantagens que apresenta, está a obtenção de plantas
uniformes e praticamente idênticas à planta-mãe, a precocidade
da produção e o aumento da produtividade (POMPEU JÚNIOR,
1991).
17
PAIVA e GOMES (2001) ressaltam que a enxertia
pode ser feita por vários métodos, os quais devem ser
escolhidos de acordo com as plantas envolvidas, sendo os mais
comuns a encostia, a borbulha, a garfagem com suas variações,
pois cada espécie se adapta a um tipo.
A borbulhia na citricultura é feita pelo método do “T”
normal ou do “T” invertido, quando o caule do porta-enxerto
atinge o diâmetro de 6 a 8 mm (CARVALHO et al., 2005),
comparável ao diâmetro de um lápis.
No caso do “T” normal, faz-se uma fenda no cavalo (porta-
enxerto) no sentido transversal e posteriormente no sentido
longitudinal, de modo a formar um “T”. Levantando-se a casca,
a gema é então introduzida, e posteriormente amarrada junto ao
porta-enxerto de cima para baixo, com fitilho plástico ou
biodegradável, a fim de conservar a umidade e manter a gema
unida ao porta-enxerto.
No método do “T” invertido, o processo é semelhante ao do
“T” normal, invertendo-se as fendas de modo a se formar um “T”
invertido. A amarração é feita de baixo para cima. O método do
“T” invertido apresenta vantagens sobre o do “T” normal por
evitar a penetração de água na região da enxertia (TEÓFILO
SOBRINHO, 1991).
O enxerto deve ser feito a uma altura de 10 a 20 cm a
partir do colo da planta. Após 20 dias da realização da
enxertia, retira-se o fitilho (a retirada é desnecessária se o
fitilho for biodegradável) e efetua-se a decapitação ou o
vergamento da haste do porta-enxerto acima do ponto de
18
enxertia, de modo a forçar a brotação da borbulha (CARVALHO et
al., 2005; TEÓFILO SOBRINHO, 1991).
No entanto, segundo CARVALHO & MACHADO (1996), o método de
decapitação do porta-enxerto para o forçamento de borbulhas é
mais eficaz que o método de vergamento da haste do porta-
enxerto.
2.3 Sanidade do pomar
Para a formação de um pomar de citros, a muda é o insumo
mais importante, a qual exige muito cuidado na escolha, devido
ao caráter perene da cultura de citros, que é plantada e
cuidada por 6 a 8 anos antes de revelar seu máximo potencial
na produtividade e qualidade do fruto. Outros aspectos, como a
longevidade do pomar, só serão reconhecidos em um intervalo
ainda maior após o plantio. As características mais
importantes da muda cítrica são a origem do enxerto e do
porta-enxerto (plantas matrizes) e a qualidade do sistema
radicular (LIMA, 1986).
De acordo com CASTLE et al(1992), os porta-enxertos de
plantas cítricas afetam mais de 20 características hortícolas
e patológicas da cultivar copa e seus frutos, sendo seu uso
considerado essencial na citricultura.
Mudas de bom aspecto, obedecendo aos padrões legais
visuais para comercialização, são produzidas aqui no Brasil
por viveiristas registrados, porém, segundo Moraes et al
(1998), muitas vezes estas mudas não são aceitas devido à
origem genética (mistura de variedades copa e porta-enxertos)
19
e à contaminação por viroses (exocorte, sorose e xiloporose),
fatores estes que trazem sérios problemas ao citricultor,
pois os pomares formados com estas mudas têm o rendimento e a
longevidade comprometidos, além de influenciar na
comercialização e na época de colheita.
MORAES et al (1998) também destaca outro problema que
afeta a produção de mudas no estado de São Paulo: é a falta de
diversificação de porta-enxertos. Este autor afirma que mais
de 90% das mudas são enxertadas sobre Poncirus trifoliata, o que
torna a citricultura vulnerável ao surgimento de moléstias que
afetam este porta-enxerto, como ocorreu na década de 40, no
Estado de São Paulo “'Tristeza” dos citros em plantas
enxertadas sobre laranja “Azeda”), e mais recentemente com o
“declínio”).
2.4. Influência dos porta-enxertos
De acordo com CARLOS et al (1997) e Di GIORGE (1993), os
porta-enxertos influenciam várias características
horticulturais e fitopatológicas nas árvores e nos frutos
cítricos, podendo refletir a aptidão do pomar em relação ao
destino da produção, em função da qualidade da mesma.
Condições de clima, fatores relacionados à adubação e ao
solo, espaçamento, manejo e por vários outros fatores também
influenciam tanto a qualidade dos frutos quanto a
produtividade do pomar, porém alguns porta-enxertos se
destacam pela excelência em determinados aspectos. Segundo
estes mesmos autores, um porta-enxerto escolhido adequadamente
20
pode propiciar frutos de melhor qualidade, para atender às
exigências internacionais para exportação de frutas frescas;
frutos de tamanho maior ou em épocas de melhor preço no
mercado interno e frutos com maiores teores de suco e sólidos
solúveis totais.
POMPEU JUNIOR(1991) argumenta que o porta-enxerto induz
alterações à variedade copa no seu crescimento, tamanho,
precocidade de produção, produtividade, época de maturação e
peso dos frutos, coloração da casca e dos frutos, teor de
açúcares e de ácidos, permanência dos frutos na planta,
conservação após a colheita, transpiração das folhas,
fertilidade do pólen, composição química das folhas,
capacidade de absorção, síntese e utilização de nutrientes,
tolerância a salinidade, resistência à seca e ao frio,
resistência e tolerância a moléstias e pragas e resposta a
produtos de abscisão.
POMPEU JUNIOR (2001) afirma que a citricultura brasileira
seja extremamente competitiva, apresenta algumas limitações,
dentre elas, a predominância de um único porta-enxerto, o
limão 'Cravo' (Citruslimonia Osbeck), utilizado em mais de 80% das
plantas cítricas. Isto se deve às suas características
agronômicas superiores, tais como: precocidade na formação das
mudas, compatibilidade com todas as variedades de copa, alta
produção, resistência à seca e tolerância à tristeza.
No entanto, conforme POMPEU JUNIOR (2001), este porta-enxerto
apresenta alta suscetibilidade ao "declínio" dos citros,
doença que tem causado a eliminação de milhões de plantas
cítrica por ano, no Brasil. POMPEU JUNIOR (1991) destaca
21
outras espécies do gênero Citrus e de gêneros afins, testadas
como porta-enxertos: a tangerina 'Cleópatra' (Citru sreshni
Hort.), considerada mais tolerante ao "declínio" e que tem
sido muito utilizada como porta-enxerto em outros países e,
mais recentemente, no Brasil, porém, apresentando algumas
características indesejáveis, como a alta suscetibilidade a
nematoides, a Phytophthora e baixa produção em plantas jovens.
2.4.1 Tipos de porta enxerto
Os tipos de porta enxertos são os seguintes:
LIMÃO CRAVO - O limão Cravo (Citrus limonia Osbeck), também
conhecido como limão Rosa, limão Cavalo, limão Francês, limão
vinagre, é originário da China e é o porta-enxerto mais
utilizado na citricultura paulista, atualmente com mais de 80%
de participação nos pomares.
Segundo FERMINO et al (1997), “as vantagens da enxertia
conquistaram também a citricultura brasileira que, no início
deste século já utilizava a laranjeira doce como principal
porta-enxerto.” Porém a suscetibilidade deste porta-enxerto à
seca e à gomose de Phytophthora sp. proporcionou a utilização
da laranjeira azeda, que passou a ter a preferência dos
citricultores a partir de 1920. com a chegada do vírus da
tristeza em 1937e a intolerância deste porta-enxerto a esta
doença, houve novamente uma tendência de troca de porta-
enxerto. Nesta época, a tristeza foi responsável pela morte de
aproximadamente 10 milhões de árvores, do total de 12 milhões
existentes na década de 40. A partir da década de 60, o22
limoeiro Cravo passou a liderar a preferência dos
citricultores, chegando a participar em 99% do total de mudas
produzidas em 1970.
CLEOPATRA - A fruta do porta-enxerto conhecido como
Cleópatra(Citrus reshni) é uma pequena tangerina originária da
India. Tem muitas sementes altamente poliembriônicas. A
Cleópatra é usada comercialmente como porta-enxerto em São
Paulo há mais de 30 anos e seu comportamento é relativamente
bem conhecido.
As plantas enxertadas sobre Cleópatra se desenvolvem
rapidamente, são grandes e uniformes. A produção, no entanto,
inicia-se lentamente e, geralmente, as plantas demoram 2 ou
mais anos para atingir níveis semelhantes às daquelas sobre
limão Cravo (porta-enxerto usado em mais de 80% das plantas
cítricas de São Paulo).
Em franca produção, em alguns casos, plantas em Cleópatra
podem superar aquelas sobre limão Cravo. Como é mais exigente
em nutrientes e menos tolerante à seca, a Cleópatra geralmente
induz produções menores que limão Cravo nos primeiros 10 anos
do pomar. Mas, como é mais resistente a doenças, sua média de
produção a partir da segunda década do pomar pode superar à do
limão Cravo. Há casos extremos em que pomares em Cleópatra
foram erradicados por volta de 10 a 15 anos de idade por baixa
produtividade, e há outros em que sua produtividade supera
consistentemente à do limão Cravo em plantios semelhantes
adjacentes.
A qualidade interna da fruta produzida sobre Cleópatra é
superior àquela sobre limão Cravo, geralmente contendo mais
23
açúcar e melhor sabor. A maturação das frutas sobre Cleópatra
é consistentemente mais tardia do que sobre limão Cravo.
Externamente, os frutos de plantas enxertadas em Cleópatra
geralmente apresentam tamanhos menores que os em limão Cravo.
Isto parece ser conseqüência da sua maior dependência das
adubações de manutenção. Níveis altos de aplicação de potássio
podem reduzir significativamente o problema de frutos menores.
Com relação a doenças, a Cleópatra é resistente à Morte
Súbita, à Tristeza, ao Exocortis, à Xiloporose, e muito menos
susceptível ao Declínio do que o limão Cravo. É susceptível à
Gomose e aos nematoides. Não há incompatibilidade com as
variedades cítricas comerciais de uso comum em São Paulo.
Quanto à Gomose, a Cleópatra parece ter um comportamento
variável em função do estágio do pomar. No início,
principalmente quando as mudas vêm dos viveiros com altos
índices de infecção, o problema pode ser muito grave. Depois
de estabelecido, em franca produção, pomares em Cleópatra
parecem ter um nível de tolerância à Gomose superior ao do
limão Cravo.
TRIFOLIATA FLYING DRAGON - Esta variação genética do
trifoliata de nome científico: Poncirus trifoliata var. monstrosa)
surgiu aparentemente no Japão, onde é cultivado há mais de 100
anos. Suas características marcantes são os espinhos
significativamente curvados, geralmente para baixo, e os ramos
sinuosos, crescendo em forma de zig-zag e, frequentemente, com
curvaturas acentuadas. As demais características são muito
parecidas com as dos trifoliatas comuns.
24
Plantas enxertadas em Flying Dragom desenvolvem-se muito
lentamente e atingem 1/3 a 1/2 do tamanho de plantas em outros
porta-enxertos aos 20 anos de idade. Assim, este porta-enxerto
é considerado um verdadeiro ananicante. A redução das copas de
laranjas enxertadas em Flying Dragon parece ser demasiada e
seu uso tem sido pouco frequente. O limão Tahiti, entretanto,
apresenta porte médio e boa produtividade sobre este porta-
enxerto, que tem sido preferido na sua propagação em São Paulo
nos últimos anos.
Quanto à resistência a doenças, acredita-se que o Flying
Dragon assemelhe-se aos trifoliatas comuns. Certamente é
bastante resistente à Gomose de Phytophthora. Não há pomares
comerciais em idade suficiente para permitir melhores
informações sobre a susceptibilidade ao Declínio dos citros. A
incompatibilidade com a laranja Pera e com o tangor Murcote
existem, mas sua severidade parece ser bem menor que a dos
trifoliatas comuns tendo em conta plantas com mais de 10 anos
de idade em observação em nossos pomares. Nestas plantas, não
há prejuízos aparentes causados pela incompatibilidade após 14
anos, embora encontra-se fracas linhas de incompatibilidade na
região de enxertia em algumas plantas.
TANGERINA SUNKI- A tangerina Sunki(Citrus sunki) é originária
da China. Faz parte do grupo das pequenas tangerinas
juntamente com a Cleópatra, Amblicarpa, Nasnaran, Pectinífera
e outras. São frutos pequenos, achatados, com diâmetro de 3 a
6 cm, com a casca solta, e geralmente de coloração alaranjada
quando maduros. A Sunki é originária da China e aparentemente
25
muito utilizada como porta-enxerto naquela região, incluindo
Taiwan.
O número de sementes é bastante variável nas
referências internacionais que, geralmente, indicam a presença
de diversas até muitas sementes viáveis. A Sunki presente em
São Paulo, entretanto, tem como característica a baixa
produção de sementes, de uma a duas em média por fruto, e uma
grande quantidade de sementes abortadas. Trata-se, portanto,
de uma diferença significativa em relação à Sunki
internacionalmente conhecida. Não há estudos até o momento que
expliquem esta diferença. Além disso, nossa Sunki apresenta
alto índice de monoembrionia. Isto quer dizer que as plantas
originárias da semeadura de Sunki são híbridas na grande
maioria das vezes. Surpreendentemente, entretanto, são de
uniformidade considerável. Cruzamentos feitos nos últimos 15
anos pela Mudas Cítricas Citrolima demonstram este fato
claramente.
O grande problema da Sunki é sua alta susceptibilidade à
Gomose ou podridão das raízes e do tronco. Trata-se de um
porta-enxerto tão ou mais suscetível à esta doença do que as
laranjeiras. Assim, a utilização de mudas sadias e de solos
virgens pode representar um grande ganho na longevidade de
pomares em Sunki. Com relação a outras doenças, entretanto, a
Sunki apresenta grande interesse comercial. É resistente ao
Exocortis, ao Declínio, à Tristeza e à Morte Súbita dos
Citros. Além disso, ela não apresenta problemas conhecidos de
incompatibilidade com copas, mesmo com a laranja Pera.
26
CITRUMEO SWUINGLE- O citrumelo Swingle (Citrus paradisi x
Poncirus trifoliata) é um híbrido obtido na Florida em 1907 pelo
cientista W. T. Swingle, que polinizou flores de pomelo
'Duncan' (Citrus paradisi) com pólen de flores de trifoliata
(Poncirus trifoliata). O objetivo inicial era transferir a
resistência a geadas dos trifoliatas para os pomelos, muito
suscetíveis ao frio na Florida. Sua denominação inicial era
CPB 4475 e sua fruta não apresentou qualquer qualidade para
consumo humano. Nos anos 40, entretanto, este citrumelo
começou a ser testado como porta-enxerto para variedades
comerciais de citros. Pouco depois, ele foi introduzido no
Brasil juntamente com muitas outras variedades cítricas num
programa de seleção de porta-enxertos resistentes à Tristeza,
doença que havia dizimado nossa citricultura na época. Desde
então, o citrumelo CPB 4475 despontou em diversos experimentos
em praticamente todas as regiões citrícolas mundiais como um
ótimo porta-enxerto alternativo para o uso de trifoliata e
seus híbridos citranges Carrizo e Troyer, muito comuns fora do
Brasil. Recebeu assim o nome de Swingle, em homenagem ao seu
criador.
A principal característica de Swingle é substituir com
vantagens os porta-enxertos de trifoliata, e citranges Carrizo
e Troyer. Sua resistência à Gomose (Phytophthora spp), ao
Nematóide dos Citros (Tylenchulus semipenetrans), e ao frio é
igual ou superior à dos porta-enxertos substituídos. Além
disso, tem mostrado até o momento uma tolerância superior ao
Declínio dos citros. A qualidade das laranjas (Citrus
sinensis) produzidas em Swingle é ótima, com altos índices de
27
açucares, sabor excelente para o consumo como fruta fresca, e
alto rendimento industrial na extração de suco. Em anos de
alta produtividade, laranjeiras em Swingle exigem adubações
mais pesadas de potássio para alcançar frutos com tamanhos
similares aos dos produzidos em limão Cravo.
O crescimento das laranjeiras enxertadas em Swingle é mais
vigoroso do que o daquelas enxertadas em trifoliata e similar
ao das enxertadas nos citranges. É menor, no entanto, do que o
das plantas em porta-enxertos de limão Cravo ou tangerina
Cleópatra, o que propicia custos menores de pulverização e de
outros tratos culturais. Como sobrevivem melhor a diversas
doenças importantes, plantas em Swingle acabam se
desenvolvendo em árvores de grande porte. Mesmo assim, são
plantadas em espaçamentos menores do que aquelas sobre os
porta-enxertos vigorosos, resultando numa densidade maior de
plantas, e numa boa produção por hectare plantado. Com o
tempo, entretanto, tomam todo o espaçamento a elas oferecido,
sendo muito provável a necessidade de podas nas ruas de
plantio para permitir a operação de máquinas. Isto no entanto,
é resultado de sua longevidade, e portanto, compensado pelo
que se economiza com replantas dentro do talhão, ou com o
precoce replantio total da área.
A principal utilização do Swingle como porta-enxerto advém
de sua resistência a doenças, principalmente a Morte Súbita
dos Citros. Locais onde a incidência de Gomose é elevada podem
usualmente ser plantados ou replantados com Swingle. É o caso
de áreas com solos que permanecem mais úmidos por períodos
prolongados. Como todos os citros, Swingle não tolera
28
alagamentos. Sobrevive, no entanto, a curtos períodos de
inundação (alguns dias por ano) e a solos mais úmidos da mesma
forma que os trifoliatas, portanto bem melhor que o limão
Cravo ou a Cleópatra. Também é indicado no caso de replantas
ou substituição de pomares quando a incidência de Gomose,
Nematoides, ou Declínio é alta, ou na prevenção de Morte
Súbita.
2.5 Uso da frigoconservação para enxertia de citrus
Segundo CARVALHO et al(2000), as borbulhas de citrus podem
ser conservadas até 60 dias sob frigoconservação. O controle
da temperatura deve ser feito por sistema automatizado,
trabalhando num intervalo de 6 a 8ºC, com ventilação interna
constante para homogeneizar a temperatura no interior da
câmara. Após um mês de armazenamento, os pacotes devem ser
abertos para verificação do estado geral da varetas com
borbulhas. Se observada alguma alteração do aspecto inicial, o
pacote deve descartado, e, se as condições estiverem normais,
é feita a reembalagem e o armazenamento por até mais um mês.
Após 60 dias, a borbulha conservada deve ser eliminada.
Segundo GALLI & GUIRADO (1993), o armazenamento de
borbulhas sob frigoconservação, apresenta maior viabilidade
devido a baixa temperatura desfavorecer a proliferação de
microorganismos contaminantes.
Como desvantagem, LIMA et al (2002) observa o
escurecimento dos tecidos de algumas gemas sob
29
frigoconservação.Apesar deste escurecimento, a brotação
ocorreu normalmente.
2.5.1 Funcionamento do sistema
Tomando como base uma câmara frigorífica com 36 m3 de
capacidade, para armazenamento de até 1.200.000 borbulhas
embaladas e dispostas sem sobreposição em prateleiras de aço,
tipo biblioteca, onde procedem-se algumas adaptações em suas
divisórias, substituindo as chapas de aço por cordoalhas de
nylon trançadas em forma de rede, o que facilita a circulação
do ar refrigerado entre os pacotes e evita o contato das
varetas com o metal e a conseqüente queima das gemas nesse
ponto, por temperatura mais baixas.
O controle da temperatura é feito por sistema
automatizado, que trabalha num intervalo de 6 a 8ºC, com
ventilação interna constante para homogeneizar a temperatura
no interior da câmara. Após um mês de armazenamento, os
pacotes deverão ser abertos para verificação do estado geral
da varetas com borbulhas. Se observada alguma alteração do
aspecto inicial, o pacote é descartado, e, se as condições
estiverem normais, é feita a reembalagem e o armazenamento por
até mais um mês. Se não comercializado após 60 dias o pacote
deve ser eliminado.
2.6 Instalação de Viveiro de citrus
30
Para a instalação do viveiro deve-se escolher um local,
de preferência, com exposição norte, o mais distante possível
de plantas cítricas. Segundo a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento (1998), a distância mínima de plantas cítricas
deve ser de 100 m para a produção de mudas certificadas,
sempre a mais de 50 m de estradas públicas.
O solo, para a construção do viveiro, deve ser
adequadamente nivelado, não permitindo a entrada de água de
escorrimento superficial. Devem ser instalados quebra-ventos,
na posição dos ventos predominantes, podendo-se utilizar, para
tanto, espécies como grevílea, casuarina ou Pinus spp.
Quanto à estrutura dos viveiros, esta deve proteger as
mudas e os porta-enxertos contra insetos vetores de doenças,
principalmente cigarrinhas. Para isso, a estrutura deve ser
resistente a ventos fortes, para evitar a exposição das mudas
durante o processo de produção, e uma mureta lateral de
concreto, com altura mínima de 30 cm, para evitar a entrada de
água das chuvas por respingos, conforme pode ser observado na
figura 1 a seguir:
O tipo de instalação de viveiro mais prático e econômico,
utilizado por produtores de mudas de citros, são os de
estrutura de aço galvanizado e perfis de alumínio, revestidos
lateralmente com tela branca (abertura de malha < 1 mm²) e
cobertura plástica com filme de polietileno transparente com
150 micra de espessura, tratados contra raios ultravioleta.
Esse tipo de instalação é o mais procurado por possuir uma
vida útil em torno de 25 anos. Geralmente, a tela antiafídica
e a cobertura plástica apresentam uma durabilidade de 5 e 3
31
anos, respectivamente, dependendo do clima e manuseio por
parte do viveirista.
Conforme AMARALl (1982), a altura do pé-direito e o
formato do telado são determinantes no controle da temperatura
interna do ambiente protegido. Em média, as variedades de
citros somente apresentam crescimento vegetativo em
temperaturas entre 13ºC e 34ºC (AMARAL, 1982). No entanto, as
condições que maximizam o crescimento situam-se entre 26ºC e
28ºC.
JOAQUIM (1997) observa que a umidade relativa do ar de
65% é considerada ideal para o desenvolvimento de plantas
cítricas.
Obviamente, deve-se projetar e manejar a estrutura para
que apresente temperaturas favoráveis às plantas pelo maior
período de tempo possível.
Para o manejo adequado das mudas, a altura do pé-direito
de um viveiro telado deve ser de no mínimo 3 m sob as calhas.
Em geral, o custo de implantação e de manutenção do sistema de
climatização é diretamente proporcional à altura do pé-direito
do viveiro.
A cobertura plástica é importante para o manejo da
irrigação, principalmente em regiões que apresentam
concentração de chuva em determinados períodos. Desta forma,
evita-se o encharcamento do substrato, com conseqüente
proliferação de doenças, e a redução da porcentagem de
pegamento das enxertias. Esse tipo de cobertura também
possibilita uma melhor captação de calor nos meses mais frios,
que pode ser mantido com o fechamento das cortinas laterais.
32
Diferentes diâmetros de malha da tela podem ser
utilizados nos viveiros, desde que com tamanho igual ou
inferior a 1 mm². Nos viveiros telados comerciais, têm sido
utilizadas telas com malha de 1 mm², por apresentarem menor
custo em relação às telas antiafídicas. Também permitem maior
ventilação, diminuindo a temperatura, tanto no verão quanto no
inverno, no entanto não conferem proteção contra afídeos. A
integridade da tela de um viveiro deve ser analisada
permanentemente pelos funcionários, efetuando-se o conserto de
furos ou rasgos assim que sejam detectados.
O viveiro telado deve possuir antecâmara com duas portas
dispostas perpendicularmente para dificultar a entrada de
insetos. As portas devem permanecer abertas o menor tempo
possível, devendo-se abrir a porta que dá acesso ao telado
somente quando a externa estiver fechada. Entre as duas portas
deve ser instalado um pedilúvio contendo cobre e/ou amônia
quaternária para desinfecção dos calçados, conforme pode ser
observado na figura 4 a seguir:
De acordo com a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, (1998), as mudas, no interior do viveiro
telado, devem ser dispostas em bancadas com altura mínima de
30 cm, porém para facilitar o trabalho dos funcionários e
evitar que respingos de água do solo atinjam as mudas Graf
(1999) sugere bancadas com 40 a50 cm de altura do solo.
As bancadas podem ser confeccionadas de madeira, ferro ou
cimento e as mudas podem ser dispostas em grupos de 6 ou 8. O
espaçamento mínimo entre bancadas deve ser de 60 cm para
33
facilitar o manuseio das mudas. Com esta distribuição, podem
ser produzidas, em média, 25 mudas/m² de viveiro.
Quanto ao piso do viveiro, este deve ser constituído por
uma camada de pelo menos 5 cm de espessura de brita ou ser
cimentado nas áreas de circulação, o que facilita as operações
de limpeza.
3. OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes períodos
de armazenamento de borbulhas da laranjeira Pêra-Rio (Citrus
sinensis (L.) Osbeck), em frigoconservação.
34
4. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento teve início em outubro 2012 e término em
maio de 2013 na cidade de Bebedouro SP, com altitude de 550
metros, em viveiro certificado pela Secretaria da Agricultura.
Foram utilizadas sacolas plásticas de 1,5 litros com
substrato casca de pinus, onde foram transplantadas as mudas
do porta-enxerto da variedade cravo, e após 45 dias procedeu-
se o início da enxertia das gemas da variedade Pera.
O método de enxerto utilizado foi o “T” invertido, quando
os portas-enxertos atingiram 1,5 cm de diâmetro do caule,
sendo a altura do corte entre 10 a 15 cm do colo da planta.35
Logo após a borbulha foi envolvida com fita plástica e só foi
retirada após 15 dias para avaliação do pegamento das gemas.
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado (DIC) com 5 tratamentos e seis repetições.
Os tratamentos utilizados foram: testemunha, onze dias de
armazenamento em câmara fria a ± 5ºC, vinte e dois dias de
armazenamento, trinta e três dias de armazenamento e quarenta
e quatro dias de armazenamento.
As hastes de borbulhas foram armazenadas em sacos de
polietileno de baixa densidade e mantidos dentro da câmara
fria a ± 5º C durante o período do experimento.
Foi feito o enxerto com gemas no processo convencional
servindo a mesma como testemunha, logo após 11 dias foi
realizado a primeira enxertia de borbulhas da
frigoconservação.
Após 20 dias das enxertias foram avaliados os fatores
viabilidade das gemas, dormência e gemas mortas.
Os dados do experimento foram transformados em percentagem
de germinação das gemas e submetidos a analise de variância.
Quando significativo as médias foram testadas pelo teste Tukey
a 5% de probabilidade, com auxilio do software Assistat 7.5.
36
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando o dados da Tabela 1, observa-se que as
borbulhas frescas, ou seja colhidas e enxertadas no mesmo dia
(testemunha) apresentam a maior viabilidade de pegamento, isso
fica evidente na avaliação de zero dias de armazenamento em
câmara fria, onde todas as gemas foram viáveis em todas as
avaliações. Nota-se, ainda que, o armazenamento pode
influenciar no tempo de germinação da gema. Analisando-se a
Figura 1 nas avaliações de 11 e 33 dias de armazenamento,
quando avaliadas aos 5 dias após a enxertia há uma redução de
gemas germinadas, porém não influenciou no resultado final,
onde todas as gemas avaliadas germinaram.
GALLI & GUIRADA (1993) mostraram que as borbulhas de
laranjeiras ‘Pêra’ e ‘Valência’, conservadas durante 60 dias,
a 5ºC ou sob condições ambientais, tiveram diminuição
significativa e diferenciada no percentual médio de pegamento,
sendo de 67,5% naquelas borbulhas conservadas a 5ºC e 27,5%
nas conservadas sob condições de ambiente.
Na Tabela 1 quando observa-se os dados de armazenamento de 44
dias a temperatura entre 5-8ºC, tem-se uma redução nas gemas
germinadas de mais 82,5%, das demais avaliações as gemas
estavam mortas ou dormentes. SIQUEIRA et al. (2001) observaram
que o armazenamento das borbulhas resultou em diminuição
linear da percentagem de pegamento da enxertia, de 100%,
quando não houve armazenamento, para 75%, quando armazenada
durante 60 dias em sacos de polietileno, em câmara fria, na
temperatura de 10 a 15ºC.
37
TEIXEIRA et al. (1971) observaram que a perda da
viabilidade das borbulhas se intensificou à medida que as
hastes foram perdendo sua cor verde característica e
adquirindo uma tonalidade marrom cada vez mais intensa. Os
autores relacionaram a este fato a penetração de fungos
isolados da haste que se conservaram por 16 a 20 dias.
Tabela 1: Dados do experimento de armazenamento de borbulhas em câmarafria a temperatura de 5 a 8ºC da variedade 'Pêra', enxertadas em portaenxerto 'Limão Cravo'.
Borbulhas enxertadas sem armazenamento (Testemunha)Dias após aenxertia
% Gemas germinadas % Gemas mortas % Gemas dormentes
5 100 0 010 100 0 015 100 0 020 100 0 0
Borbulhas enxertadas após 11 dias de armazenamentoDias após aenxertia
Gemas germinadas Gemas mortas Gemas dormentes
5 33,3 0 010 100 0 015 100 0 020 100 0 0
Borbulhas enxertadas após 22 dias de armazenamentoDias após aenxertia
Gemas germinadas Gemas mortas Gemas dormentes
5 100 0 0
38
10 100 0 015 100 0 020 100 0 0
Borbulhas enxertadas após 33 dias de armazenamentoDias após aenxertia
Gemas germinadas Gemas mortas Gemas dormentes
5 66,6 0 010 100 0 015 100 0 020 100 0 0
Borbulhas enxertadas após 44 dias de armazenamentoDias após aenxertia
Gemas germinadas Gemas mortas Gemas dormentes
5 0 66,6 33,310 0 66,6 33,315 0 83,3 16,620 16,6 83,3 0
Dados de contagens direta no campo após 5, 10, 15 e 20 dias de enxertia. Os dados
não foram comparados estatisticamente.
39
Figura 1: Dados do experimento de frigoconservação de gemas de
citros variedade Pêra em porta enxerto Limão cravo.
40
a aa a
Dias após a enxertia
Número de
gemas
germinadas a a
b
ab
b
a a
b
b
ab
a a a a
b b
a a a a
6. CONCLUSÕES
As gemas conservadas em câmara fria ou frigoconservação se
mostraram satisfatórias até 33 dias após o armazenamento.
Quando armazenadas a 44 dias as gemas perderam viabilidade e
potencial germinativo
41
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMARAL, J.D. Os citrinos. 3a ed. Lisboa: Clássica Editora,
1982. 781p.
BORGES, R.S.; ALMEIDA, F.J.; SCARANARI, C.; MACHADO, M.A.;
CARVALHO, S.A.; COLLETA FILHO, H.D.; VILDOSO, C.I.A. Programa
IAC/Embrapa/CNPq de difusão de mudas de citros isentas de
clorose variegada dos citros e outras doenças. Laranja,
Cordeirópolis, v.21, p.205-224, 2000.
CARLOS, E.F., STUCHI, E.S., DONADIO, L.C. Porta-enxertos para
a citricultura paulista Jaboticabal :Funep, 1997. 47p.
(Boletim citrícola n. 1).
42
CARLOS, W. S.; STUCH, E. S.; DONADIO, L. C. Porta-enxertos
para a citricultura paulista. Jaboticabal: Funep, 1997. 47p
(Boletim Citricola).
CARVALHO, S.A.; MACHADO, M.A.; MÜLLER, G.W. Avaliação de
plantas indicadoras e porta-enxertos na indexação biológica do
viróide da xiloporose em citros. Laranja, Cordeirópolis, v.24,
n.1, p.145-155, 2003.
CARVALHO, S.A. Estratégias para estabelecimento e manutenção
de matrizes, borbulheiras e viveiro de citros em ambiente
protegido. In: DONADIO, L.C.;
CARVALHO, S.A.; SILVA, J.A.A.; STUTHI, E.S.; SEMPIONATO, O.R.
Produção de borbulhas certificadas de citros no Estado de São
Paulo. Jaboticabal: FUNEP, 2000.
CARVALHO, S.A. SILVA, J.A SEMPIONATO, O.R. Produção de
borbulhas certificadas de citros no Estado de São Paulo.
Jaboticabal : Funep, 2000 26 p. ; 21 cm. -- (Boletim
Citrícola)
CASTLE, W.S., TUCKER, D.P.H., KREZDORN, A.H., etal.Rootstocks.
Gainesville; University of Florida.Disponível on line em:
http:\ <www.hammock.ifas.ufl.edu.>1992.
CÉSAR, H. P. Manual prático de enxertador. 14ª ed. São Paulo:
Nobel, 1986.
43
DI GIORGI, F., IDE, B. Y., DIB, K., et al.Qualidade da laranja
para industrialização.Laranja, Corderópolis, v.14, n.1, p.:97-
118, 1993.
FERMINO,C.E. SANCHES,E.S. DONADIO,L.C. Porta-enxerto para a
citricultura paulista .Editora FUNEP.1997. pg.14. 47 p. :
il. ; 21 cm. -- (Boletim Citrícola, 1).
GALLI,M.J.A.GUIRADA,N. Conservação de borbulhas de citrus in
vitro.Ecossistema, Campinas-SP.v.18.1993.
GRAF, C.C. Produção de mudas sadias. In: EPAMIG (Ed.).
Citricultura do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberaba:
EPAMIG, 1999. p.37-40.
HASSE, G. A Laranja no Brasil. Edição de Duprat &Iobe
Propaganda: São Paulo, 1987.
JOAQUIM, D. Produção de mudas de citros em condições
controladas: casa de vegetação, substratos e recipientes.
Valencia, 1997. 105p. Dissertação de Mestrado - Universidad
Politécnica de Valencia.
LIMA, J.E.O. de. Novas técnicas de produção de mudas cítricas.
Laranja, Corderópolis, v.7, n.2, p.463-468, 1986.
LIMA.F.F. et al. Avaliação de viabilidade de hastes de porta
borbulha após armazenamento em baixa temperatura em
tratamento com ANA,GA-3 e 2,4 D.In: Congresso Brasileiro de
Fruticultura. Belém,27.Belém-PA.BRASIL,2002.
44
MELETTI, L. M. M. Propagação de frutíferas tropicais. Guaíba:
Agropecuária, 2000. 239p.
MORAES, L.A.H., SOUZA, E.L. de S., BRAUN, J., et al.Cadeia
produtiva da laranja no Rio Grande do Sul. Porto Alegre :
Secretaria da Ciência e Tecnologia - Fundação Estadual de
Pesquisa Agropecuária, 1998. 49p. (Boletim Técnico, 5).
NEVES, Marcos F; JANK, Marcos S .Desafios de coordenação na
citricultura brasileira. Valor Econômico, 15 de março de 2006.
Disponível em:
<http://www.iconebrasil.org.br/portugues/conteudo.asp?
idCategoria=1&idDocumento=1168&Integra=Sim&Currpage=2>. Acesso
em: 12 de novembro de 2006.
OLIVEIRA, R.P.; SOARES FILHO, W.S.; PASSOS, O.S.; SCIVITTARO,
W.B.; ROCHA, P.S.G. Porta-enxertos para citros. Pelotas:
Embrapa Clima Temperado, 2008. 46 p. (Embrapa Clima Temperado.
Documentos, 226).
PAIVA, H. N.; GOMES,, J. M. Propagação vegetativa de espécies
florestais. Viçosa: UFV, 2001. 46 p.: il. (Série cadernos
didáticos, 83).
PLATT, R.G.; OPITZ, K.W.The propagation of citrus.In: REUTHER,
W. (Ed.) The citrus industry. Berkeley:
UniversityofCalifornia, 1973. v.3. p.1-47.
POMPEU JÚNIOR, J. Porta-enxertos. In: RODRIGUEZ, O., VIEGAS,
F.C.P.,.et al. Citricultura brasileira. 2. ed. Campinas :
Fundação Cargill, 1991. v.1, p.265-280.45
POMPEU JUNIOR, J. Rootstocks and scions in the citriculture of
the São Paulo State. In: CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY
OF CITRUS NURSERYMEN, 6., 2001, Ribeirão Preto. Proceedings…
Bebedouro: Estação Experimental de Citricultura, 2001. p. 75-
82.
RODRIGUEZ, O. SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CITROS - TRATOS
CULTURAIS, 5, Bebedouro, 1998. Anais ... Bebedouro: Fundação
Cargill, 1998.
SÃO PAULO. Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral.
Estabelecenormas para a produção de mudas certificada de
citros, portaria CATI 7, de 10 – 02 – 98. Diário oficial do
Estado de São Paulo, São Paulo, n.31, p.12, 13 fev. 1998.
Seção I.
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Departamento de
Produção Vegetal. Comissão Estadual de Sementes e Mudas do
Estado do Rio Grande do Sul. Normas e padrões de produção de
mudas de fruteiras para o Estado do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 1998.
SEMPIONATO, O. R.; STUCHI, E. S.; DONADIO. L. C. Viveiro de
citros. Jaboticabal: FUNEP, 1997. 37p.
SIQUEIRA, D. L. de. Pegamento e crescimento de enxertos de
cinco variedades de citros em função de cinco períodos de
armazenamento de hastes de borbulhas. Revista Brasileira de
Fruticultura, Jaboticabal – SP, v. 23, n. 1, p.209-211, abril
2001.
46






















































![Nietzsche, escrita, educação: aproximações a um problema de pesquisa [TCC]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63331b861a52294ec2035e48/nietzsche-escrita-educacao-aproximacoes-a-um-problema-de-pesquisa-tcc.jpg)




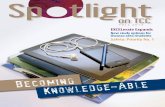
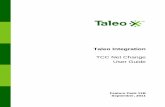

![TCC [final].doc.docx - Universidade Federal de Santa Catarina](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63283a2acedd78c2b50df5e7/tcc-finaldocdocx-universidade-federal-de-santa-catarina.jpg)









