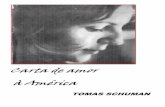tafoflora neógena de depósitos provavelmente correlatos à ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of tafoflora neógena de depósitos provavelmente correlatos à ...
i
CENTRO PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
CURSO DE MESTRADO EM ANÁLISE GEOAMBIENTAL
TAFOFLORA NEÓGENA DE DEPÓSITOS PROVAVELMENTE CORRELATOS À FORMAÇÃO RIO CLARO, OCORRENTE NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, SP
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Orientadora: Profa. Dra. Mary E. C. Bernardes-de-Oliveira
Guarulhos 2007
ii
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TAFOFLORA NEÓGENA DE DEPÓSITOS PROVAVELMENTE CORRELATOS À FORMAÇÃO RIO CLARO, OCORRENTE NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, SP
Documento apresentado à Universidade Guarulhos, como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em Análise Geoambiental.
Orientadora: Profa. Dra. Mary E. C. Bernardes-de-Oliveira
Guarulhos
2007
iii
Ficha Catalográfica
Dos-Santos, Maria Aparecida
Tafoflora neógena de depósitos provavelmente correlatos à Formação Rio Claro, ocorrente no Município de Jaguariúna, SP
Maria Aparecida dos Santos – Guarulhos, SP. 178 p.
Mestrado em Análise Geoambiental, CEPPE – Universidade
Guarulhos, 2007.
Neogene taphoflora of sediments probably correlate to
Rio Claro Formation, occurring in the Jaguariúna
Municipality, SP
1.Tafoflora 2.Paleobotânica neógena 3.Formação Rio
Claro 4.Município de Jaguariúna, SP, Brasil
iii
A Comissão Julgadora dos Trabalhos de Defesa de Dissertação de MESTRADO,
intitulada “Tafoflora Neógena de Depósitos Provavelmente Correlatos à
Formação Rio Claro, Ocorrente no Município de Jaguariúna, SP”, em sessão
realizada em 30 de março de 2007, considerou a candidata
Maria Aparecida dos Santos aprovada com louvor.
A Banca Examinadora foi composta pelos seguintes pesquisadores:
Profa. Dra. Mary Elizabeth Cerruti Bernardes-de-Oliveira Orientadora
Prof. Dr. Fernando Cilento Fittipaldi Instituto Geológico
Profa. Dra. Maria Judite Garcia Universidade Guarulhos
Guarulhos 2007
iv
DEDICATÓRIA:
Primeiramente, dedico as primícias do meu trabalho ao Senhor Nosso Deus e Criador, pela oportunidade que me deu de analisar algumas das obras de Suas Mãos, na Criação desse grande Jardim do Éden, chamado Terra, preparando-o
primorosamente para ser o berço da Humanidade.
À minha querida mãe e aos meus filhos amados, que sempre me apoiaram com todo carinho, nas horas felizes e difíceis da vida.
v
AGRADECIMENTOS
À querida orientadora Professora Dra. Mary E. C. Bernardes-de-Oliveira,
que durante todo o tempo, pacientemente ensinou-me os pré-requisitos para a
realização deste trabalho de paleobotânica, minha sincera gratidão pela orientação
e conhecimento que levarei para sempre.
À Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do Estado de São
Paulo, que através do Programa de Bolsa Mestrado, amparado no Decreto no
48.298, de 03/12/2003 e na Resolução SE 131, de 04/12/2003 e Resolução SE
105, de 01/12/2004, possibilitou financeiramente o desenvolvimento desse trabalho.
Ao Curso de Mestrado em Análise Geoambiental, do Centro de Pós
Graduação, Pesquisa e Extensão (CEPPE) da Universidade Guarulhos que,
através de seus docentes, criou condições para o desenvolvimento do
conhecimento científico da candidata.
Ao Laboratório de Geociências, que através da Profa Dra. Maria Judite
Garcia, demais professores e técnicos, deu condições físicas para preparação
mecânica, química e estudo das amostras analisadas em suas dependências e
com seu instrumental (incluindo foto-estereomicroscópio, câmara clara, micro-
computadores, biblioteca e reagentes).
Ao Instituto Horto Florestal do Estado de São Paulo pela doação do
material recente de seu herbário, para ser clarificado e utilizado na comparação
com o material fossilífero encontrado em Jaguariúna.
Ao Laboratório de Paleobotânica e Palinologia do GSA, Instituto de
Geociências da USP, pela permissão de utilização de equipamentos e biblioteca
durante a realização desse estudo.
Aos docentes, Drs. Antonio Roberto Saad, Maria Judite Garcia e Carlos
Alberto Bistrichi, pela concessão para estudo da primeira coleta de material do
afloramento de Jaguariúna, por eles descoberto.
Ao Prof. Dr. Mário Sérgio Melo, pelo incentivo e doação de material
bibliográfico a fim de que fosse possível o aproveitamento de seus dados
geológicos da área, durante a interpretação dos nossos.
Aos docentes, Drs. Maria Judite Garcia e Kenitiro Suguio, pelas
preciosas sugestões e correções feitas ao texto do Exame de Qualificação, aqui
incorporadas.
vi
Às queridas Profas. Dra. Berta Lange de Morretes e Amélia Vera
Guimarães que desde a minha graduação e pós-graduação não permitiram que
meu sonho morresse, incentivando-me mesmo após tantos anos de afastamento.
Aos meus filhos, Aleksander, Rodrigo, Filipe e minha nora Evanieli, que
além do incentivo estiveram presentes nos momentos críticos do trabalho,
colocando-se a disposição para que o mesmo se concretizasse. Ao primeiro ainda,
pela edição e arte final, de mapas, textos, figuras, estampas e fotografias, durante
todo o desenvolvimento dessa pesquisa.
Às amigas, Bióloga Maria Cristina de Castro-Fernandes, pelas sugestões
nas elaborações de mapas e painéis e Geóloga Paula Sucerquia, pelo auxílio em
trabalho de campo.
Aos funcionários do Laboratório de Geociências da UnG, Andréa Barbieri
Rezende, Carla Fernanda F. Dias e Fábio Casado, que auxiliaram na preparação
do material fossilífero e em outras atividades de laboratório.
Aos Biólogos Fabíola F. Braz e Juarez Ronaldo de Souza, pelo esforço
na obtenção junto aos herbários e pelo auxílio na clarificação dos espécimes
foliares atuais utilizados na comparação.
A todos os colegas do Mestrado em Análise Geoambiental 2005/2006,
pelos bons momentos que compartilhamos.
vii
“Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores.
Há os que lutam muitos anos e são muitos bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis”.
(Bertold Brecht)
viii
RESUMO
A tafoflora de Jaguariúna é proveniente de sedimentos cenozóicos provavelmente
correlatos ou inclusos na Formação Rio Claro, aflorantes na margem esquerda do km
136,5 da rodovia SP-340 (sentido Campinas – Mogi Mirim). Está preservada como
impressões e contra-impressões foliares, recobertas por pátina esbranquiçada, em
matriz de argilito variegado amarelo-alaranjado a róseo, maciço, ocorrente em dois
níveis do afloramento: na base e a 2,44 m acima. A coleção fitofossilífera conta com
mais de 600 espécimes foliares, cuja preservação, raramente permite observar mais
que o contorno foliar, a veia primária, uma difusa venação secundária e raríssima,
terciária. Desses, foram triados 312 espécimes, relativamente melhor preservados,
dentre os quais puderam ser reconhecidas as seguintes formas taxonômicas:
Filicophyta - Dryopteridaceae (Elaphoglossum sp); Magnoliideae – Laurales -
Lauraceae (Ocotea cf. O. puchelliformis); Monocotyledoneae - Poales - Typhaceae
(Typha cf. T. tremembensis e Typha fittipaldii sp. n.); Eudicotiledoneae -
Caryophyllales- Amaranthaceae (Alternanthera sp.); Malpighiales - Clusiaceae
(Garcinia sp), esta última identificada e descrita pela primeira vez no registro
fossilífero do Brasil; Fabales - Fabaceae (Leguminosites sp.) e Gentianales -
Apocynaceae (Aspidosperma duartei sp. n.). Dentre os demais espécimes dessa
população, foi possível reconhecer, por análise morfográfica, 02 morfogêneros foliares
(Monocotylophyllum e Dicotylophyllum) em 13 formas distintas. A grande diversidade
de formas e o predomínio de margem lisa e de ápice convexo de ângulo agudo são
evidências de adaptações a um clima mais quente (cerca de 5ºC mais elevado na
TMA) e úmido que o atual, de média altitude e baixa latitude. O predomínio de áreas
foliares pequenas (nanófilos e micrófilos) é indicativo de provável seleção de tamanho,
na deposição em planície de inundação. Uma idade neógena tem sido tentativamente
sugerida para os depósitos da Formação Rio Claro, com base em sua posição
estratigráfica e formas de relevo. O clima mais quente e úmido que o atual, sugerido
pelas feições morfológicas adaptativas dessa tafoflora, por sua diversidade e por sua
matriz caulínica, leva a interpretar esses sedimentos como de possível idade miocena,
visto que, o clima global tem-se tornado cada vez mais frio e seco a partir do Plioceno,
culminando com a glaciação pleistocena.
Palavras - Chave: Tafoflora, Paleobotânica neógena, Formação Rio Claro, Município
de Jaguariúna (SP), Brasil.
ix
ABSTRACT
The Jaguariúna taphoflora occurs in Cenozoic sediment probably correlated or
included in the Rio Claro Formation, outcropping at the left margin of the km 136,5 of
the highway SP-340 (from Campinas to Mogi Mirim direction). This taphoflora is
preserved as foliar impressions (parts and counterparts) covered by whitish film, on a
massive variegated yellow-orange claystone occurring in two beds of the outcrops; the
first one on the base and the other 2, 44 meters above. The phytofossiliferous
collection consists of more than 600 foliar specimens, whose preservation allows rarely
to observe more than the foliar shape, the primary vein, a diffuse secondary venation
and a very unclear tertiary venation. About 312 better preserved specimens were
selected for taxonomic analysis. Among them it was possible to recognize the following
forms: Filicophyta - Dryopteridaceae (Elaphoglossum sp); Magnoliideae – Laurales -
Lauraceae (Ocotea cf. O. puchelliformis); Monocotyledoneae – Poales - Typhaceae
(Typha cf. T. tremembensis and Typha fittipaldii sp. n.); Eudicotiledoneae -
Caryophyllales- Amaranthaceae (Alternanthera sp.); Malpighiales - Clusiaceae
(Garcinia sp), this last identified for the first time in the fossiliferous register of Brazil;
Fabales - Fabaceae (Leguminosites sp.) and Gentianales - Apocynaceae
(Aspidosperma duartei sp. n.). As results of the morphographic analysis among the
others specimens of this population of 312 specimens, it was possible to recognize 02
foliar morpho-genera (Monocotylophyllum and Dicotylophyllum) in 13 distinct forms.
The great diversity of forms, the predominance (85%) of entire margin leaves and of
acute convex apex are evidences of adaptations to warmer (ca. 5º C higher in the
MAT) and wetter climate than nowadays, of low altitudes and latitudes. The
predominance of small foliar areas (nanophylls and microphylls) is indicative of
probable selection of size during deposition, in area of flooding plain. The Rio Claro
Formation sediments have a Neogene age tentatively inferred based in its
stratigraphical position and landscapes forms. The warmer and wetter than the modern
climate, suggested by the adaptative morphological features of this taphoflora, by its
diversity and kaolinic matrix of its sediments, is putatively indicative of a Miocene age,
because the global climate became colder and drier since the Pliocene, culminating
with the Pleistocene glaciation.
Key-words: taphoflora, Neogene Paleobotany, Rio Claro Formation, Jaguariúna
Municipality (SP), Brazil.
x
SUMÁRIO
DEDICATÓRIA...................................................................................................... iv
AGRADECIMENTOS............................................................................................. v
EPÍGRAFE............................................................................................................. vii
RESUMO E PALAVRAS-CHAVE.......................................................................... viii
ABSTRACT AND KEY-WORDS............................................................................ ix
ÍNDICE ANALÍTICO............................................................................................... xi
ÍNDICE DE TABELAS............................................................................................ xiii
ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................ xiv
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO............................................................................. 01
CAPÍTULO 2 – CONTEXTO MUNDIAL GEO-HISTÓRICO E PALEOFLORÍS-
TICO DO NEÓGENO.................................................................
07
CAPÍTULO 3 – FLORAS NEOTROPICAIS NEÓGENAS DA AMÉRICA DO
SUL...........................................................................................
19
CAPÍTULO 4 – ÁREA DE PROCEDÊNCIA DOS FÓSSEIS: ASPECTOS
GEOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS...
48
CAPÍTULO 5 – MATERIAL E MÉTODOS............................................................. 58
CAPÍTULO 6 – DADOS TAXONÔMICOS DA TAFOFLORA DE JAGUARIÚNA.. 64
CAPÍTULO 7 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS............................... 109
CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................... 122
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................... 125
ESTAMPAS........................................................................................................... 149
xi
ÍNDICE ANALÍTICO
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO............................................................................... 01
1.1 - Apresentação......................................................................................... 01
1.2 - Objetivos e Justificativas........................................................................ 03
CAPÍTULO 2 – CONTEXTO MUNDIAL GEO-HISTÓRICO E PALEOFLORÍSTI-
CO DO NEÓGENO.......................................................................
07
2.1 - Período Neógeno-Conceito..................................................................... 07
2.2 - Aspectos Gerais da Geologia Neógena.................................................. 08
2.3 - Aspectos Gerais da Biologia Neógena................................................... 09
2.3.1 - Aspectos Fitogeográficos do Neógeno........................................... 11
2.3.1.1 – Reino Holoártico.................................................................... 12
2.3.1.1.a – Área Boreal......................................................................... 14
2.3.1.1.b – Área Tetiana....................................................................... 14
2.3.1.2 – Reino Tropical....................................................................... 15
2.3.1.2.a – Área Neotropical................................................................. 15
2.3.1.2.b – Área Paleotropical Africana................................................ 16
2.3.1.2.c – Área Paleotropical Indo-Malaia........................................... 17
2.3.1.3 – Reino Notal............................................................................ 17
2.3.1.4 – Reino Australiano.................................................................. 18
CAPÍTULO 3 – FLORAS NEOTROPICAIS NEÓGENAS DA AMÉRICA DO
SUL...........................................................................................
19
3.1 – Aspectos Gerais.................................................................................... 19
3.2 – Floras Miocenas de Clima Tropical e Subtropical................................. 29
3.3 – Floras Miocenas de Clima Subtropical Temperado Quente (com
regiões áridas no Plioceno)................................................................
34
3.4 – Floras Miocenas de Clima Temperado Frio em Áreas Meridionais a
mais de 50º de Latitude Sul..................................................................
37
3.5 – Floras Pliocenas da América do Sul .................................................... 38
xii
3.5.1 – Floras Pliocenas Tropicais úmidas............................................ 38
3.5.2 – Floras Pliocenas Subtropicais áridas....................................... 46
CAPÍTULO 4 – ÁREA DE PROCEDÊNCIA DOS FÓSSEIS: ASPECTOS GEO-
GRÁFICOS, GEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS.................
48
4.1 – Aspectos Geográficos........................................................................... 49
4.2 – Aspectos Geológicos............................................................................ 50
4.3 – Aspectos Paleontológicos..................................................................... 55
4.3.1 – Registros Paleozoológicos Cenozóicos da Depressão
Periférica...............................................................................
55
4.3.2 – Registros Paleobotânicos dos Depósitos Cenozóicos da
Depressão Periférica...............................................................
55
CAPÍTULO 5 – MATERIAL E MÉTODOS.............................................................. 58
5.1 – Material Estudado................................................................................. 58
5.2 – Métodos de Estudo .............................................................................. 59
5.2.1 – Métodos de Campo.................................................................... 59
5.2.2 – Métodos de Laboratório............................................................. 61
CAPÍTULO 6 – DADOS TAXONÔMICOS DA TAFOFLORA DE JAGUARIÚNA... 64
6.1 – Lista Taxonômica da tafoflora de Jaguariúna........................................ 66
6.2 – Descrição e Identificação dos Fitofósseis........................................... 66
CAPÍTULO 7 – ANÁLISE DE DADOS.................................................................. 109
7.1 – Exame bibliográfico e levantamento da literatura paleobotânica ......... 109
7.2 – Área florística Neotropical .................................................................... 109
7.3 – Tafofloras neógenas das coberturas cenozóicas paulistas................... 109
7.4 – Análise do ponto de vista litológico....................................................... 110
7.5 – Análise morfográfica.............................................................................. 111
7.6 – Identificação Taxonômica...................................................................... 113
xiii
7.6.1. – A grande diversidade de formas................................................ 113
7.6.2. – Aspectos ecológicos, climáticos e de distribuição geográfica e
estratigráfica..............................................................................
114
7.7 – Aspectos Tafonômicos.......................................................................... 119
CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................... 122
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.......................................................................... 125
LEGENDAS E ESTAMPAS................................................................................... 149
ÍNDICE DE TABELAS 1.1 – Ocorrência de tafofloras cenozóicas no Estado de São Paulo........................ 04
2.1 – Escala cronoestratigráfica Internacional para os últimos 23,8 Ma., extraída
de Gradstein et al. 2004, com modificações de Gibbard et al. 2005...............
07
2.2 – Tabela cronoestratigráfica conforme Gibbard et al. 2005, com dados
percentuais de espécies modernas de Seyfert & Sirkin,1973.......................
10
3.1 – Ocorrência cronológica e geográfica de gêneros de megarrestos vegetais
em sedimentos neógenos sul-americanos.....................................................
20
xiv
ÍNDICE DE FIGURAS
2.1 – Reconstituição Paleogeográfica do Neógeno (Mioceno Médio 14 Ma.).
Extraído de http://www.scotese.com/earth.htm.............................................
08
2.2 – Zoneamento Paleoflorístico do Eomioceno. Modificado de Akhmetyev
(1984, apud Akhmetiev, 1987)......................................................................
12
2.3 – Mapa Paleogeográfico do Neomioceno, extraído com modificações de
Willis & McElwain, 2002.................................................................................
13
3.1 – Distribuição das floras da América do Sul durante o Neógeno. Mapa
extraído com modificações de Menendez (1971 : 365).................................
19
3.2 – Distribuição geográfica de floras miocenas da América do Sul....................... 31
3.3 – Distribuição geográfica das floras pliocenas da América do Sul..................... 40
4.1 – Localização do Município de Jaguariúna com as principais vias de acesso.
Modificado da Prefeitura de Jaguariúna (2006)...............................................
48
4.2 – Mapa hidrográfico da região de Jaguariúna (SP). Extraído de
http://www.jaguariuna.cnpm.embrapa.br (2007).........................................
49
4.3 – Mapa de feições tectônicas e estratigráficas do Estado de São Paulo.
Modificado de Carneiro & Ponçano, 1981......................................................
50
4.4 – Mapa geológico do município de Jaguariúna. Modificado de Brollo, 1996...... 51
4.5 – Unidade litoestratigráficas neocenozóicas da Depressão Periférica e áreas
adjacentes dos mapas da CPRM. Mapa extraído com modificações de
Cavalcante et al. 1979....................................................................................
52
4.6 – Áreas de ocorrências da Formação Rio Claro e/ou Depósitos Correlatos na
Depressão Periférica. Extraído com modificações de Melo et al. 1997..........
53
4.7 – Distribuição de litofácies da Formação Rio Claro ao longo da borda leste da
bacia do Paraná, na Área de Jaguariúna (SP). Extraído com modificações
de Melo et al. 1997..........................................................................................
54
5.1 – Seção colunar composta do afloramento fossilífero de Jaguariúna na
margem esquerda da Rodovia SP-340 (sentido Campinas – Mogi-Mirim)
km 136,5........................................................................................................
60
6.1 – Tabela da APG II, 2003 – Inter-relações das ordens e algumas famílias das
angiospermas colocando em evidência o posicionamento taxonômico e
filogenético dos grupos vegetais encontrados na tafoflora de Jaguariúna......
65
xv
6.2 – Distribuição mundial do gênero Elaphoglossum J. Sm. (1841). Extraído com
modificações de http://www.nybg.org/bsci/res/moran/elaphoglossum_
distribution.htm................................................................................................
69
6.3 – Distribuição de Elaphoglossum na América. Extraído com modificações de
(Tryon & Tryon, 1982 - Figura 96.4 : 621).......................................................
69
6.4 – Distribuição mundial de Lauraceae. Extraído de http://www.mobot.org/
mobot/research/APweb/orders/lauralesweb.htm………………………………
72
6.5. – Distribuição geográfica mundial de Typhaceae. Extraído de http://www.
mobot.org/mobot/research/APweb/orders/poalesweb.htm…………………...
76
6.6 – Distribuição geográfica mundial de Clusiaceae. Extraído de http://www.
mobot.org/mobot/research/APweb/orders/malpighialesweb.htm……………. 86
6.7 – Distribuição geográfica mundial de Faboideae. Extraído de http://www.
mobot.org/mobot/research/apweb/orders/fabalesweb.htm…………………... 89
6.8. – Distribuição geográfica mundial de Apocinaceae. Extraído de http://www.
mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/gentianalesweb.htm…………...
94
7.1 – Famílias em comum entre as tafofloras neógenas paulistas mais estudadas. 110
7.2 – Dados ecológicos e geográficos das espécies atuais afins e estratigráficos
das espécies ocorrentes na tafoflora de Jaguariúna ......................................
115
8.1 – Reconstituição Paleoflorísticas......................................................................... 123
8.2 – Distribuição estratigráfica sul-americana dos gêneros encontrados na
tafoflora de Jaguariúna..................................................................................
124
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
1
TAFOFLORA NEÓGENA DE DEPÓSITOS PROVAVELMENTE CORRELATOS À
FORMAÇÃO RIO CLARO, OCORRENTE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, SP.
Maria Aparecida dos Santos
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
1.1 – Apresentação
Apesar da existência de diversos trabalhos sobre a paleobotânica
brasileira, executados ao longo do século XX e início do XXI, pouco se conhece
ainda sobre a paleoflora neógena do país, devido à distribuição esparsa de seu
registro, à má preservação na maioria dos casos e ao pequeno número de
especialistas envolvidos nessa área.
Assim sendo, a contribuição brasileira para a compreensão da
paleofitogeografia cenozóica mundial, no que se refere à flora da região tropical,
tem sido pequena, considerando que são poucos ainda os depósitos conhecidos
dessa natureza que contém fósseis vegetais, conforme Duarte & Martins (1983).
Entretanto, do que se pode inferir das floras fósseis neógenas da zona tropical
sul-americana, não há grandes variações em relação a atual nesta zona,
sugerindo ter havido um ambiente semelhante, às vezes, mais úmidos e com
leves variações climáticas.
No Brasil, há uma tafoflora miocena amplamente estudada no Estado
do Pará (Município de Capanema - Formação Pirabas), por Duarte (in Rossetti &
Góes, 2004). Outro breve registro tafoflorístico mioceno foi feito por Dutra et al.
(2001), também para o Estado do Pará (Ilha de Outeiro – Formação Barreiras).
Quanto ao Plioceno, há somente registros fitofossilíferos pontuais: no Acre
(municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco); no Amazonas
(municípios de Canutama, Lábrea, São Paulo de Olivença); em Sergipe
(Município de Aracaju - Formação Barreiras); na Bahia (municípios de Pedrão,
Alagoinhas e Maraú), conforme Duarte & Japiassú (1971). Entretanto, no
Maranhão (Município de Nova Iorque - camadas Nova Iorque) há uma tafoflora
estudada mais detalhadamente, por Cristalli (1997) e Cristalli & Bernardes-de-
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
2
Oliveira (1998), cuja idade pliocena foi inferida através de palinomorfos por Lima
(1991) e Dino et al. (2006).
No Pleistoceno brasileiro, há estudos tafoflorísticos mais detalhados,
realizados para o Ceará (Município de Russas) por Duarte (1959) e Duarte &
Nogueira (1980); registros para o Rio Grande do Norte (Município de Apodi),
realizados por Duarte & Silva Santos (1960) e Duarte & Japiassú (1971), bem
como, estudos para o Estado da Paraíba (Município de Umbuzeiro), realizados
por Duarte & Vasconcelos (1980), e para a Bahia (Município de Morro do
Chapéu), por Duarte & Nogueira (1985).
No Estado de São Paulo, há vários registros de macrofitofósseis
cenozóicos nos municípios de: Iguape (Formação Ilha Comprida, Grupo Mar
Pequeno, Província Costeira) registrado por Mezzalira (1989) e Iguape
(Formação Pariquera-Açu, Grupo Mar Pequeno, Província Costeira) registrado
por Marcelo (1981); Caçapava (linhito de Caçapava- bacia de Bonfim, Província
do Planalto Atlântico), registrado por Loefgren (in Paes Leme, 1918); Guararema
(Formação Tremembé, bacia do Paraíba, Província do Planalto Atlântico), feito
por Maniero (1951); Taubaté (Formação Pindamonhangaba, bacia do Paraíba,
Província do Planalto Atlântico) realizados por Fittipaldi & Simões (1990) e Leite at
al. (1996); Tremembé (Formação Tremembé, bacia do Paraíba, Província do
Planalto Atlântico), realizados por Duarte & Mandarim-de-Lacerda (1987, 1989 a,
1989 b, 1992) e Mandarim-de-Lacerda et al. (1996) e Bernardes-de-Oliveira et al.
(2001, 2002 a e b); São José dos Campos (Formação Caçapava/
Pindamonhangaba, bacia do Paraíba, Província do Planalto Atlântico), realizado
por Mezzalira, 1964; Bom Jesus dos Perdões (Formação Pindamonhangaba/
Itaquaquecetuba/ depósitos interioranos correlatos, Província do Planalto
Atlântico), registrado por Almeida (1952); Atibaia (Formação Pindamonhangaba/
Itaquaquecetuba/ depósitos interioranos correlatos, Província do Planalto
Atlântico), registrado por Penalva (1971); Piracaia (Formação Pindamonhangaba/
Itaquaquecetuba/ depósitos interioranos correlatos, Província do Planalto
Atlântico), registrado por Mezzalira (1948) e Almeida (1952); Bom Jesus dos
Perdões (Formação Pindamonhangaba/ Itaquaquecetuba/ depósitos interioranos
correlatos, Província do Planalto Atlântico), registrado por Almeida (1952); São
Paulo (Formação Itaquaquecetuba, bacia de São Paulo, Província do Planalto
Atlântico), realizados por Suguio (1971) e por Suguio & Mussa (1978);
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
3
Itaquaquecetuba (Formação Itaquaquecetuba, bacia de São Paulo, Província do
Planalto Atlântico) por Fittipaldi et al. (1989), Fittipaldi & Simões (1989); Santa
Isabel (Formação Itaquaquecetuba, bacia de São Paulo, Província do Planalto
Atlântico), registrado por Almeida et al. (1984); Vargem Grande do Sul (Formação
Pirassununga “Fácies Vargem Grande do Sul” / Formação Rio Claro, Depressão
Periférica) relacionados por Mezzalira (1964, 1966 e 1989) e descritos por Duarte
& Rezende-Martins (1983 e 1985); Rio Claro (Formação Rio Claro, Depressão
Periférica), relatado por Bjornberg et al. (1964) e Zaine et al. (1995); São Pedro
(Formação Rio Claro, Depressão Periférica), relatado por Bjornberg et al. (1964);
Jaguariúna e Paulínia (depósitos correlatos/ Formação Rio Claro, Depressão
Periférica) registrado por Fernandes et al. (1994); Botucatu (Depósitos
Interioranos/ argilas amarelas esbranquiçadas- Província Cuestas Basálticas)
registrado por Mezzalira (1964); São Carlos (argilas escuras- Província Cuestas
Basálticas), registrado por Mezzalira (1964). Dentre essas ocorrências,
correspondem a depósitos considerados neógenos aqueles das formações: Rio
Claro (incluindo Formação Pirassununga), Pindamonhangaba e Pariquera-Açu
(Melo et al. 1997) e parte superior Itaquaquecetuba (Santos et al. 2006).
A paleoflora cenozóica paulista, ainda que abundante e apresentando
várias ocorrências, permanece, como as demais, relativamente desconhecida do
ponto de vista taxonômico. Mais detalhes podem ser vistos na Tabela 1.1.
Uma síntese do conhecimento atual da composição das tafofloras
neógenas brasileiras encontra-se na Tabela 3.1.
1.2 – Objetivos e Justificativas
O presente trabalho constitui uma análise paleobotânica da assembléia
fitofossilífera neógena encontrada no Município de Jaguariúna (SP), do ponto de
vista morfográfico, taxonômico e de interpretações paleoambiental, tafonômica,
paleoclimática e paleofitogeográfica.
Contribui-se, assim, para o conhecimento e a identificação taxonômica
das floras paulistas pretéritas e, através das informações paleoecológicas,
paleoclimáticas e paleogeográficas que foram dela extraídas, espera-se contribuir
para estudos geológicos e geomorfológicos mais abrangentes dessa área e
intervalo de tempo.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
4
Tabela 1.1 – Ocorrências de Tafofloras Cenozóicas no Estado de São Paulo
MACROFITOFÓSSIL LOCALIDADE GEOGRÁFICA
LOCALIDADE ESTRATIGRÁFICA AUTOR IDADE
Restos de vegetais indeterminados Município de Iguape (Bairro Paraíso Mirim)
Fm. Pariquera Açu Grupo Mar Pequeno (Província Costeira)
Marcelo, 1981 Plioceno / Pleistoceno
Restos de vegetais indeterminados Município de Iguape Fm. Ilha Comprida
Grupo Mar Pequeno (Província Costeira)
Mezzalira, 1989 Pleistoceno
Rutales, Ebenales e Podocarpus Caçapava Linhito da Fm. Caçapava bacia de Bonfim
Loefgren, 1918 in Paes Leme
(Oligoceno Superior por palinologia, Lima et al.
(1985)
Restos de monocotiledôneas Km 318, Rodovia Dutra, Município São José dos
Campos Fm. Caçapava, bacia do Paraíba Mezzalira, 1964 (1961-
1962) Oligoceno Superior
Restos de Angiospermas e possíveis sementes Km 106,4, Rodovia Dutra Município Taubaté
Fm. Caçapava, bacia do Paraíba Vilcalvi, 1982 Oligoceno Superior
Folhas e troncos de vegetais (indeterminados) Cidade Universitária (margem do rio Pinheiros)
Fm. Itaquaquecetuba bacia São Paulo
Tolentino, 1965 Eoceno Superior
Melastomaceae -Miconia sp Elaeocarpaceae - Sloanea sp Leguminosae -Myrocarpus sp
Centrolobium sp Piptadenia sp
Cidade Universitária (margem do rio Pinheiros)
Fm. Itaquaquecetuba bacia São Paulo
Suguio, 1971 Pleistoceno ou mais antigo
Sapindaceae - Matayboxylon tietense Suguio & Mussa, 1978 Vochysiaceae- Qualeoxylon itaquaquecetubense Suguio & Mussa, 1978
Fabaceae - Myrocarpoxylon sanpaulense Suguio & Mussa, 1978 Mimosoideae - Piptanioxylon chimeloi Suguio & Mussa 1978
Anacardiaceae - Astronioxylon manieiri Suguio & Mussa 1978
Itaquaquecetuba (margem do rio Tietê)
Fm. Itaquaquecetuba bacia São Paulo Suguio & Mussa, 1978
Pleistoceno Superior (Suguio & Mussa, 1978)
ou Eoceno Superior (Mezzalira, 1989)
Aquifoliaceae - Aquifoliphyllum ilicioides Fittipaldi et al. 1989 Flacourtiaceae - Casearia serrata Fittipaldi et al. 1989
Myrtaceae - Myrcia cf. rostrataformis Hollick e Berry, 1924 Psidium paulense Fittipaldi et al. 1989
Rhamnaceae - Rhamniphyllum caseariformis Fittipaldi et al. 1989 Sapindaceae - Serjania lancifolia Fittipaldi et al. 1989
Serjania itaquaquecetubensis Fittipaldi et al. 1989 Rutaceae -Zanthoxyllum glanduliferum Fittipaldi et al. 1989
Tiliaceae - Luehea divaricatiformis Fittipaldi et al. 1989 Araceae - Monstera marginata Fittipaldi et al. 1989
Caesalpinoideae - Schizolobium inaequilaterum Fittipaldi et al. 1989 Malpighiaceae - Byrsonima bullata Fittipaldi et al. 1982
Sementes e Frutos
Porto de Areia, Itaquareia, Município Itaquaquecetuba
Fm. Itaquaquecetuba bacia de São Paulo
Fittipaldi et al. 1989 Oligoceno
Bryophyta Hepaticopsida Porto de Areia, Itaquareia, Município Itaquaquecetuba
Fm. Itaquaquecetuba bacia de São Paulo
Fittipaldi, 1993 Oligoceno
Madeira silicificada (indeterminada)
planície aluvionar da margem direita do rio
Parateí, Município de Santa Isabel
Fm. Itaquaquecetuba bacia São Paulo
Almeida et al. 1984 Eoceno Superior
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
5
Tabela 1.1 – Ocorrências de Tafofloras Cenozóicas no Estado de São Paulo
MACROFITOFÓSSIL LOCALIDADE GEOGRÁFICA
LOCALIDADE ESTRATIGRÁFICA
AUTOR IDADE
Restos vegetais (folhas, troncos de madeira) Guararema, Município de Guararema
Fm. Tremembé bacia do Paraíba Maniero, 1951 Eoceno Superior /
Oligoceno
Restos de folhas e troncos Fazenda Santa Fé, Município Tremembé.
Fm. Tremembé bacia do Paraíba Campos et al. 1979 Eoceno / Oligoceno
Tiliaceae - Luehea nervaperta Duarte & Martins, 1989 Phytolaccacae - Seguieria alvarengae Duarte & Martins, 1989
Caesalpinoideae - Cassia sp Copaifera flexuosa Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1989b
Faboideae - Machaerium acinaciformium Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1989b
Rosales – Leguminosae - Leguminosites sp
Fazenda Santa Fé, Bairro do Padre Eterno, Município
de Tremembé.
Fm. Tremembé bacia do Paraíba
Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1989b
Oligoceno / Mioceno
Celastraceae- Plenckia prima Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1992 Loganiaceae- Strychnos fossilium Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1992 Typhaceae- Typha tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1992
Fazenda Santa Fé, Bairro do Padre Eterno, Município
de Tremembé.
Fm. Tremembé bacia do Paraíba
Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1992
Oligoceno / Mioceno
Schizaeaceae Salviniaceae
Phytolaccaceae – aff. Seguieria alvarengae Duarte & Martins, 1989. Malvales
Caesalpinaceae – aff. Copaiffera Fabaceae – aff. Machaerium; aff. Aeschynomene
Myrtaceae Celastraceae – aff. Plenckia
Poaceae / Gramineae Typhaceae –Typha tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda,
1992
Rodovia Quiririm – Campos do Jordão Km 11, Município
de Tremembé.
Fm. Tremembé bacia do Paraíba
Bernardes-de-Oliveira et al. 2002a
Eoceno / Oligoceno
Vegetais indeterminados – Melastomatáceas e Gramíneas Km 1,6 da rodovia Quiririm
– Campos de Jordão, Município de Taubaté
Fm. Pindamonhangaba bacia do Paraíba Fittipaldi & Simões, 1990 Plioceno / Pleistoceno
Magnoliophyta Liliopsida Filicophyta Lomariopsis
Km 1,6 da rodovia Quiririm – Campos de Jordão, Município de Taubaté
Fm. Pindamonhangaba bacia do Paraíba
Leite et al. 1996 Plioceno / Pleistoceno
Restos ou impressões de folhas
Km 498, 501, 502,5, 512 da rodovia Fernão Dias,
Município de Atibaia e Bragança Paulista
Fm. Pindamonhangaba ou Itaquaquecetuba Penalva, 1971 Eoceno / Oligoceno
Restos vegetais indeterminados (folhas) A 2 km, de Piracaia, Município de Piracaia
Fm. Pindamonhangaba ou Itaquaquecetuba Mezzalira, 1948 Eoceno Superior /
Oligoceno
Vegetais fósseis e indeterminados Km 27,6, Estr. Velha SP-RJ, Município São Paulo
Fm. Itaquaquecetuba / bacia de São Paulo Mezzalira, 1950 Eoceno Superior /
Oligoceno
Vegetais fósseis (folhas, sementes e restos carbonizados) Município de Bom Jesus dos Perdões
Fm. Pindamonhangaba ou Itaquaquecetuba / bacia de São
Paulo Almeida, 1952 Eoceno Superior /
Oligoceno
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
6
Tabela 1.1 – Ocorrências de Tafofloras Cenozóicas no Estado de São Paulo
MACROFITOFÓSSIL LOCALIDADE GEOGRÁFICA
LOCALIDADE ESTRATIGRÁFICA
AUTOR IDADE
Magnoliopsidas Filicopsidas
Vila Nova, Jardim Bandeirantes, Município de
Rio Claro
Fm. Rio Claro Província Depressão Periférica
bacia do Paraná Zaine et al. 1995 Mioceno / Pleistoceno
Helobiae
Município de Rio Claro (Km 177, de Via Washington
Luis, Km 3,2 de Rio Claro - Ipeúna; Km 1 a NE de
Ajapi) Município de São Pedro (3km de São Pedro
p/ Rio Claro)
Fm. Rio Claro
Província Depressão Periférica
bacia do Paraná
Bjornberg et al. 1964 Plioceno / Pleistoceno
Melastomataceae - Tibouchina izildaisabelae Mezzalira, 1964 Annonaceae
Ebenales Rutales
Sítio Cachoeira, 4 Km ao Sul de Vargem Grande do Sul, Município de Vargem
Grande.
Depósitos Interioranos Correlatos
Fm. Pirassununga (Fácies Vargem Grande do Sul) /
Fm. Rio Claro bacia do Paraná
Mezzalira, 1964 Cenozóico
Caesalpinoideae - Cassia parkerii Duarte & Martins, 1983 Cassia eliptica Duarte & Martins, 1983
Cassia parabicapsularis Duarte & Martins, 1983 Faboideae - Machaerium nervosum Duarte & Martins, 1983
Platypodium potosianum Engelhardt, 1894 Camptosema cordatum Duarte & Martins, 1983
Camptosema primum Duarte & Martins, 1983 Meliaceae - Cedrela arcuata Duarte & Martins, 1983
Sapindaceae - Serjania mezzalirae Duarte & Martins, 1983 Sapindus ferreirae Duarte, 1972
Sítio Cachoeira, 4 Km ao Sul de Vargem Grande do Sul, Município de Vargem
Grande.
Depósitos Interioranos Correlatos
Fm. Pirassununga
(Fácies Vargem Grande do Sul) / Fm. Rio Claro
bacia do Paraná
Duarte & Martins, 1983 Terciário (Mezzalira, 1989)
Celastraceae - Maytenus fragilis, Duarte & Martins, 1985 Myrtaceae - Eugenia vargensis, Duarte & Martins, 1985
Eugenia punctata Duarte & Martins, 1985 Psidium adornatum Duarte & Martins, 1985
Myrciae - Myrcia diafana Duarte & Martins, 1985 Calyptrantes argilosa Duarte & Martins, 1985
Gomidezia costata Duarte & Martins, 1985 Symplocaceae - Symplocos dealbata, Duarte & Martins, 1985 Melastomataceae - Tibouchina izildaisabelae Mezzalira, 1964
Sítio Cachoeira, 4 Km ao Sul de Vargem Grande do Sul, Município de Vargem
Grande.
Depósitos Interioranos Correlatos
Fm. Pirassununga
(Fácies Vargem Grande do Sul) / Fm. Rio Claro
bacia do Paraná
Duarte & Martins, 1985 Holoceno
Pteridófitas Annonaceae
Frutos e Sementes
Cabeceiras do córrego do Melo, Fazenda Varginha, Município de São Carlos
Argilas Escuras - Depósitos Interiores Províncias de Cuestas
Basálticas bacia do Paraná Mezzalira, 1964 Pleistoceno
Restos de monocotiledôneas Km 251,4, Rodovia SP –
Botucatu (SP-280) Município de Botucatu
Depósitos Interiores Províncias de Cuestas Basálticas
bacia do Paraná Mezzalira, 1964 Pleistoceno
Cyperaceae / Typhaceae Jaguariúna e Paulínia
Depósitos Interioranos Correlatos / Fm. Rio Claro
Província Depressão Periférica bacia do Paraná
Fernandes et al. 1994 Cenozóico
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
7
CAPÍTULO 2 – CONTEXTO MUNDIAL GEO-HISTÓRICO E PALEOFLORÍSTICO DO NEÓGENO
2.1 - Período Neógeno-Conceito
A tafoflora de Jaguariúna, cujo estudo é aqui apresentado, deve ter vivido
num contexto global de intenso tectonismo, mudanças climáticas com resfriamento e
aridização graduais e contínuos, separação de continentes, etc. típicos do Período
Neógeno. Para um melhor entendimento desse contexto passa-se aqui a considerar
os principais eventos geo-históricos e paleoflorísticos mundiais coetâneos.
Recentemente, o Período ou Sistema Neógeno teve seu intervalo
estendido para englobar as Épocas ou Séries: Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e
Holoceno, compreendendo um intervalo de tempo que vai desde 23,8 Ma. atrás até
os dias atuais, conforme “A Geological Time Scale”, de Gradstein et al. 2004,
aprovada pela International Commission on Stratigraphy da IUGS. Contudo, Gibbard
et al. (2005) propõem uma nova tabela de correlação cronoestratigráfica global para
os últimos 2,7 Ma. Nessa tabela, restabelece o Período/ Sistema Quaternário para
os últimos 1,81 Ma., restringindo o Período/ Sistema Neógeno apenas às épocas ou
séries Mioceno e Plioceno, como está sendo considerado no desenvolvimento desse
trabalho. (Tabela 2.1).
Tabela 2.1 - Escala Cronoestratigráfica Internacional para os últimos 23,8 Ma., extraída de Gradstein, et al. 2004 e com modificações de Gibbard et al. 2005.
2.2 - Aspectos Gerais da Geologia Neógena
PERÍODO / SISTEMA ÉPOCA / SÉRIE IDADE ABSOLUTA
Holoceno 0,01 Ma. até hoje Quaternário
Pleistoceno 1,81 a 0,01 Ma.
Plioceno 5,32 a 1,81 Ma. Néogeno
Mioceno 23,8 a 5,32 Ma.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
8
O Neógeno (Mioceno e Plioceno) caracterizou-se por muitas extinções
florísticas e faunísticas, por grandes transformações paleogeográficas,
paleoclimáticas e paleoecológicas, com agravamento do resfriamento progressivo
global iniciado no Oligoceno, resultantes de atividades orogenéticas e do movimento
translatitudinal dos continentes nórdicos e antártico, em direção às regiões polares
norte e sul respectivamente.
Conforme Teixeira et al. (2000) e Salgado-Labouriau (2004), esses
eventos podem ser assim resumidos:
• os continentes estavam em migração, e embora tivessem atingido
praticamente suas posições atuais, essa relativa similaridade esconde
mudanças importantes. (Figura 2.1);
Figura 2.1 - Reconstituição Paleogeográfica do Neógeno (Mioceno Médio 14 Ma.),
Extraído de http://www.scotese.com/earth.htm
• os oceanos Atlântico e Índico estavam ainda se expandindo, enquanto
o Oceano Pacífico prosseguia na redução de sua área;
• durante o início do Neógeno, a placa africana, em colisão contínua
com a Eurásia, provocava a elevação dos Cáucasos e a redução do mar
Cáspio.
• durante o Mioceno Médio, houve acúmulo de uma capa de gelo na
América do Norte e Groenlândia, falhamentos de direção norte-sul,
distensões leste-oeste e vulcanismos associados com o soerguimento das
montanhas Rochosas, Sierras Nevadas e Madres;
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
9
• durante o Mioceno, a união da Eurásia com a África e a Índia provocou
também a formação de grandes desertos. Floras e faunas típicas de
climas mais secos migraram em ambos os sentidos (do norte para o sul e
do sul para o norte) sobre o continente africano, havendo grandes
extinções dos organismos adaptados ao clima tropical úmido (outrora
reinante ali) causadas pela instalação de um clima árido;
• houve também formação da cordilheira dos Andes (pela colisão da
placa tectônica de Nazca com a sul-americana e sua subducção
continuada, com dobramentos durante o Neomioceno, seguidos de
erosão no Eoplioceno e novo soerguimento orogenético no Neoplioceno,
que é o responsável pela elevação atual dos Andes) e dos Himalaias
(estes gerados pela colisão das placas da Índia e da Eurásia);
• vários movimentos orogênicos entre as Américas do Norte e do Sul,
seguidos de intenso vulcanismo e formação de ilhas em arco, na América
Central, iniciaram-se no Mioceno Médio e culminaram, no Plioceno, com o
soerguimento do istmo do Panamá, criando uma barreira para os
organismos marinhos entre o mar do Caribe e o Oceano Pacífico e, ao
mesmo tempo, uma possibilidade de migrações na direção Norte-Sul,
para faunas e floras terrestres norte-americanas e sul-americanas;
• durante o Plioceno, a placa australiana, finalmente, entrou em contato
com a asiática, dando origem a várias ilhas como a de Nova Guiné,
Taiwan, as da Indonésia, as Filipinas e crescimento e rotação do Japão;
• ainda, durante o Plioceno, a plataforma continental do Alasca uniu-se à
da Sibéria, vindo a constituir uma ponte de terra em vários momentos,
durante as glaciações quaternárias, possibilitando migrações entre as
duas áreas da Beríngia.
2.3 - Aspectos Gerais da Biologia Neógena
O Neógeno, do ponto de vista paleontológico, revela que os reinos
vegetal e animal constituíam-se das mesmas famílias e gêneros atuais. Aliás, a
subdivisão do antigo Terciário (Paleógeno mais Neógeno), conforme Seyfert & Sirkin
(1973), está baseada em percentagens de espécies atuais, contidas em suas
camadas. Por exemplo, o Neógeno, segundo essa subdivisão, inicia-se com 20% e
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
10
encerra-se com 90% de ocorrências formas atuais (Seyfert & Sirkin, 1973 e Salgado-
Labouriau, 2004). (Tabela 2.2).
Período/ Sistema Época/ Série Porcentagem de spp. modernas
Holoceno 100% Quaternário
Pleistoceno 90 a 100%
Plioceno 50 a 90% Neógeno
Mioceno 20 a 40%
Oligoceno 10 a 15%
Eoceno 1 a 5% Paleógeno
Paleoceno 0%
Tabela 2.2. – Tabela cronoestratigráfica conforme Gibbard et al. 2005, com dados percentuais de espécies modernas de Seyfert & Sirkin, 1973.
Os ecossistemas mundiais que, durante cerca de 200 milhões de anos,
mantiveram-se sob climas estáveis, sofreram a deterioração climática que se iniciou
no final do Mesozóico. Entretanto, comparativamente aos padrões atuais, durante o
Paleógeno, o clima mundial ainda era muito quente e úmido, desprovido de fortes
regionalismos ou provincialismos e sem mudanças sazonais distintas, possibilitando
a existência de florestas densas e extensas.
O período Neógeno caracterizou-se por climas mais secos e mais frios,
que culminaram com as glaciações pleistocenas.
No Mioceno, maior resfriamento da Antártica afetou o clima mundial e,
conseqüentemente, o padrão de vegetação mudou, criando campos abertos, com
muitas espécies de gramíneas que colonizaram planícies abertas, em vários
continentes, dando origem a ecossistemas ricos em mamíferos, inclusive primatas.
As mudanças climáticas e geográficas neógenas permitiram intercâmbios
faunísticos e florísticos entre os continentes, que foram realizados em forma de
pulsos migratórios, durante momentos de rompimento de barreiras, segundo Cowen
(2005). No final do Mioceno, a fauna mundial foi essencialmente modernizada.
O continente Afro-arábico migrou para o Norte, até colidir com a Eurásia,
formando um cinturão irregular de montanhas desde o Irã até a Turquia. A colisão
interrompeu a circulação oceânica tropical e causou mudanças climáticas. A
temperatura tornou-se mais baixa, no Leste Africano, e quase todos os continentes
nórdicos experimentaram uma drástica mudança na fauna e na flora. Florestas
tornaram-se mais abertas com expansão das savanas e ocorreu intensa migração
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
11
de animais entre a Africarabia e a Eurásia, exacerbadas por perturbações
ecológicas. Nesse processo, os hominóides africanos invadem planícies e bosques
da Eurásia.
A partir do Plioceno, dois eventos vão determinar a história da vida: a)
uma série de glaciações, que afligiu o planeta nos últimos milhões de anos e b) o
domínio dos hominídeos, que afetaram grandemente a fauna e flora da Terra,
conforme Cowen (2005).
2.3.1 – Aspectos Fitogeográficos do Neógeno
As grandes transformações geológicas e climáticas da era Cenozóica
mudaram as circulações oceânica e atmosférica e influíram na evolução da
cobertura vegetal da Terra, conforme Akhmetyev (in Meyen,1987). Ainda segundo
esse autor, a característica mais marcante das paleofloras cenozóicas é a
predominância das angiospermas em todos os fitocoria, isto é, associações
florísticas territoriais de diferentes categorias: reino, área, província, distrito e região.
Takhtajan (1978, apud Meyen,1987) reconheceu seis reinos florísticos
modernos: Holoártico, Paleotropical, Neotropical, do Cabo, Australiano e Antártico.
Entretanto, para o Neógeno Inicial (Eomioceno), foram reconhecidos apenas quatro
reinos florísticos por Akhmetyev (1984, apud Akhmetyev, 1987), subdivididos em
algumas áreas e províncias florísticas (Figura 2.2), a saber:
1. Reino Holoártico – com as áreas ou províncias Boreal e Tetiana.
2. Reino Tropical – com as áreas Neotropical, Paleotropical, Africana,
Paleotropical Indo-malaia e província do Cabo.
3. Reino Notal – com a área meridional da América do Sul e a Antártica.
4. Reino Australiano.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
12
Legenda:
Figura 2.2. - Zoneamento paleoflorístico do Eomioceno. Modificado de Akhmetyev (1984, apud Akhmetyev, 1987).
Willis & McElwain (2002) sugeriram, com base em dados de Wolfe (1985)
e Janis (1993), cerca de 10 biomas para o Neomioceno (11,2 – 5,3 Ma.) numa
reconstituição paleogeográfica aqui reproduzida na Figura 2.3.
2.3.1.1 – Reino Holoártico
No hemisfério norte, desde o início do Cenozóico, ocorreram diferenciações
climática e florística, em zonas temperadas e subtropicais, surgindo uma área Boreal
e uma Tetiana. Durante o Neógeno, essas áreas foram ainda mais subdivididas
floristicamente.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
13
Figura 2.3. – Mapa Paleofitogeográfico do Neomioceno, extraído com modificações de Willis & McElwain (2002).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
14
2.3.1.1a – Área Boreal
A área Boreal, durante o Eomioceno (23,8 -16,4 Ma.), estendeu-se
através de todo cinturão ártico até o limite sul com a área Tetiana. Seus limites na
América do Norte estão, aproximadamente, nas atuais fronteiras entre Canadá e
os EUA. Essa área envolveu biomas temperados frios, estepes e árticos (Figura
2.3). As áreas subtropicais foram substituídas por províncias temperadas devido
ao resfriamento global. A flora temperada composta de latifoliadas e decíduas tais
como Osmunda, Ginkgo, Alnus, Betula, Fagus, Castanea, Magnolia, Ulmus,
Platanus, Vitis, Tília, etc migraram para o sul, enquanto, ao norte foram
substituídas pela flora de coníferas (taiga), resistente ao frio e composta de tipos
arborescentes com folhas pequenas e perenes de várias herbáceas como: Picea,
Pinus, Laryx, Abies, Tsuga, Quercus, Populus, Salix, Betula, etc.
No decorrer do Mesomioceno (16,4 – 11,2 Ma.), o clima tornou-se mais
severo, aumentando a extensão e diferenciação da área boreal, com o
aparecimento da tundra na região norte e a conseqüente migração de taiga, em
direção ao sul.
Durante o Neomioceno (11,2 – 5,32 Ma.), apareceram estepes ou
pradarias no centro da Eurásia e da América do Norte, devido à aridez
continental, relacionada ao resfriamento e os movimentos orogenéticos dos
Himalaias e das Rochosas. Conseqüentemente, se desenvolveram as gramíneas
(plantas de fotossíntese tipo C4) e asteráceas (plantas de fotossíntese
intermediária C3–C4 e C4), conforme Willis & McElwain (2002).
2.3.1.1b – Área Tetiana
Durante o Mioceno, um cinturão de flora subtropical (de inverno úmido),
estendia-se por toda costa norte do mar de Tethys, incluindo o sul dos EUA e
Eurásia (sul da Europa, norte da África, Oriente Próximo, Cazaquistão, Ásia
Central, China e Japão) (Figuras 2.2 e 2.3). Constituía a Área Tetiana que hoje se
restringe à região mediterrânea. Durante o Neógeno, com o soerguimento dos
Alpes, esta vegetação sofreu uma forte diferenciação, com marcante adaptação a
habitats secos, tornando- se representada por Lauráceas e Fagáceas.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
15
2.3.1.2 – Reino Tropical
No decorrer do Neógeno, o Reino Tropical, conforme Willis & McElwain
(2002), já apresentava três vastas áreas florísticas, a saber: Neotropical (norte–
centro da América do Sul), Paleotropical Africana (África central), Paleotropical Indo-
Maláia (sul da Ásia e extremidade norte da Austrália) e a subárea do Cabo. (Figuras
2.2 e 2.3).
Trata-se de extensa faixa de biomas de florestas tropicais chuvosas,
pluriestratificadas e biomas subtropicais de verões chuvosos. (Akhmetyev in
Akhmetyev,1987 e Willis & McElwain, 2002).
Embora, esse Reino tenha sofrido redução de área devido à atividade
antropogênica, é, aproximadamente, a mesma faixa desde 10 milhões de anos atrás.
A vegetação dominante foi extremamente diversificada, com abundantes árvores de
angiospermas sempre verdes, palmeiras, lianas, epífitas e algumas coníferas como
Araucariáceas e Podocarpáceas. Houve uma modernização da composição
florística, com o surgimento de, praticamente, todas as famílias tropicais atuais,
durante o Mioceno, segundo Willis & McElwain (2002).
2.3.1.2.a – Área Neotropical
Apesar das mudanças climáticas registradas durante o Cenozóico, a área
Neotropical, formada no início do Paleógeno, não modificou-se muito em sua
composição florística, entretanto ocorreram deslocamentos de seus limites para o
norte e para o sul. No início do Mioceno, a área Neotropical estendia-se através da
América do Sul até quase a Patagônia, mas no Mesomioceno, sofreu regressão até
as latitudes limítrofes atuais (Akhmetyev,1987 e Willis & McElwain, 2002).
A diferenciação vegetacional na América do Sul, durante o Mioceno, foi
conseqüência da formação montanhosa dos Andes com constituição das primeiras
savanas nas áreas de sombras de chuvas das florestas tropicais. Posteriormente,
houve a substituição das savanas por estepes e vegetação de deserto, no Peru e na
Patagônia. No planalto Boliviano, a 4000 m de altura, há registros de uma rica flora
tropical úmida miocena (tafofloras de Potosí e Pislipampa, com elementos como:
Annona, Cassia, Euphorbia, Inga, Jacaranda, Heliconia, etc).
Pode-se inferir daí, que a cordilheira dos Andes teria se elevado de, pelo
menos, 2000 m nos últimos 7 milhões de anos (Willis & McElwain, 2002).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
16
Durante o Plioceno, com a elevação das montanhas e o estabelecimento
do istmo do Panamá, elementos florísticos provenientes da América do Norte
migraram para a Colômbia e Venezuela como, por exemplo, Alnus, Quercus,
Myricáceas e Rosáceas. Só no final do Plioceno, com maior diferenciação florística,
a área Neotropical subiu à categoria de reino (Meyen, 1987). Os registros
fitofossilíferos dessa área estão relacionados no Capítulo 3.
2.3.1.2.b – Área Paleotropical Africana
A evolução florística e os limites da flora tropical cenozóica, na África, são
difíceis de serem delineados, devido à ausência de fitofósseis. Entretanto, sabe-se
que no norte da África, ainda no início do Oligoceno, as florestas tropicais foram
substituídas por bosques abertos tipo savana, com Fabaceae, Annonaceae,
Euphorbiaceae, etc., numa faixa que se estende desde o Senegal e Mauritânia, no
oeste, até o Grande Chifre Africano, no leste (Figuras 2.2 e 2.3).
Durante o Mioceno, na área Tetiana do extremo norte da África, a savana
foi substituída por florestas de Lauraceae, Fabaceae e Palmae, além de outras
plantas arborescentes adaptadas ao clima mediterrâneo, que é sazonal quente.
Diferentemente das florestas da área mediterrânea européia, na área mediterrânea
africana não havia coníferas, nem faias (Willis & McElwain, 2002).
No final do Plioceno, com a aridização crescente, novas formas xerófitas e
halófitas começam a invadir essa área, colonizando, principalmente, paisagens
áridas e semi-áridas. Entre essas formas citam-se: Artemisia, Ephedra e
Tamaricaceae, que, por competição, acabaram extinguindo ou deslocando as
espécies endêmicas.
Durante o Mioceno, na faixa central da África, a floresta tropical foi
substituída por floras esclerófilas provenientes da área do Cabo. No final do
Plioceno, a paisagem desértica instalou-se nessa área originando os desertos da
Namíbia e Kalahari. Por essa época, conforme Willis & McElwain (2002), ocorreu o
isolamento das floras do Cabo e malgaxe, observável nas Figuras. 2.2 e 2.3.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
17
2.3.1.2.c – Área Paleotropical Indo-Malaia
Conforme, Akhmetyev (1987) e Willis & McElwain (2002), durante todo o
Cenozóico, a Península Indiana, a Indochina e a Malásia constituíram a área Indo-
Malaia do grande Reino Paleotropical que permaneceu coberta por floras tropicais
úmidas até o fim do Neógeno (Figuras 2.2 e 2.3).
Foi nessa área que a moderna flora Paleotropical formou-se e depois
migrou para leste até o Japão. Ainda no Paleógeno, surgiram importantes famílias
de angiospermas, tais como, Palmae, com cerca de 30 gêneros (Cocos, Nypa, etc).
No Oligoceno, quase todas as famílias tropicais do Velho Mundo
(Clusiaceae, Tiliaceae, Anarcadiaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Nymphaeaceae,
Rhizophoraceae, Myrtaceae, etc) estavam representadas ali.
A mais importante família tropical do Velho Mundo é a Dipterocarpaceae.
O centro de origem foi provavelmente a Malásia, donde se espalharam para leste
(Filipinas) e oeste (Índia e Birmânia), chegando ali, no começo do Mioceno. A
migração das dipteridáceas e das fabáceas para oeste a partir da Malásia, segundo
Lakhanpal (1970), ocorreu por duas rotas: a primeira seria pela costa do Oceano
Índico até o leste da Índia e a segunda passando pelo norte da Península Indiana,
seguindo através da Arábia até a África.
Na área do Himalaia, durante o final do Eoceno, havia uma floresta
subtropical e temperada que substituiu uma anterior tropical. O soerguimento ativo,
que ocorreu entre o Mioceno médio e início do Pleistoceno, resultou em
diferenciação de vegetação associada com zonalidade de altitude: as coníferas
(Pinaceae) vão desempenhar importante papel nas coberturas de montanhas.
Dada a pobreza de dados paleobotânicos no Sudeste Asiático (Indochina
e Malásia) não é possível delinear a diferenciação do subreino Indo-Malaio moderno.
2.3.1.3 – Reino Notal
No início do Cenozóico, o Reino Notal estendia-se, no Hemisfério Sul,
pelo Continente Antártico, Austrália, Nova Zelândia, e parte meridional da América
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
18
do Sul. O limite setentrional do Reino Notal, conforme Akhmetyev (1987), fazia-se
nas fronteiras das zonas subtropical e temperada do sul (Figura 2.2).
A distribuição de bosques de decíduas latifoliadas mudou bastante no
final do Mioceno, segundo Willis & McElwain (2002). Com o resfriamento, essas
florestas de zonas temperadas, que se encontravam a 45o de latitude sul durante o
Oligoceno, subiram até 35o S nas planícies e até 20o S nas áreas montanhosas, no
Neomioceno. Por outro lado, a extensão dessas florestas em direção ao pólo sul vai
ser restringida de 80o S para menos de 70o S.
A vegetação do Reino Notal, que foi homogênea durante o Paleógeno,
era composta de coníferas como Agathis, Podocarpus, Nothofagus, Myrtaceae e
Winteraceae e semelhante à atual da Nova Zelândia.
No final do Mioceno, a área antártica foi desflorestada e recoberta por
uma vegetação de tundra.
2.3.1.4 – Reino Australiano
A separação entre a Austrália e os continentes gondvânicos e, sua
migração para latitudes mais baixas a partir do final do Paleógeno, vai contribuir para
a formação de uma área vegetacional independente do Reino Notal: o Reino
Australiano, com a perda dos principais componentes da floresta de zona temperada
Notal (Figuras 2.2 e 2.3).
Durante todo o Neógeno, houve um aumento da diferenciação florística
australiana, decorrente de maior diferenciação climática (Akhmetyev, 1987).
A conexão entre a Nova Zelândia e a América do Sul se faziam através da
Antártica Ocidental até o início do Oligoceno, quando se estabeleceu o rompimento
da ligação pelo estreito de Drake. No Neógeno, toda ligação cessa com a instalação
da calota glacial sobre a Antártica.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
19
CAPÍTULO 3 – FLORAS NEOTROPICAIS NEÓGENAS DA AMÉRICA DO SUL
3.1 – Aspectos Gerais
O registro paleobotânico neógeno, conhecido até o momento, na América
do Sul, conforme Menéndez (1971), leva a identificar três áreas florísticas: a) A
primeira, de clima quente tropical a subtropical, que se estendeu desde as porções
mais setentrionais do continente até, aproximadamente, 40º - 45º de latitude sul,
durante o Mioceno, e que, com o resfriamento climático, retraiu-se até,
aproximadamente, 25º de latitude sul, durante o Plioceno; b) A segunda, de clima
temperado quente com regiões áridas a semi-áridas (decorrentes da elevação
andina), surgiu durante o Plioceno, desde aproximadamente 25º de latitude sul até,
mais ou menos, 50º de latitude sul (essas duas áreas eram inclusas na Neotropical);
c) A terceira, incluída dentro do Reino Notal, era de clima temperado frio,
estendendo-se desde 50º de latitude sul até o extremo sul do continente (Figura 3.1).
Figura 3.1. - Distribuição das floras da América do Sul durante o Neógeno. Mapa extraído com modificações, de Menéndez (1971:365).
Na área florística de clima tropical a subtropical da América do Sul,
durante todo o Paleógeno e Neógeno, não houve grande variação em relação à flora
atual, sugerindo apenas ter existido aí um clima mais quente e úmido com leves
variações.
Nessa área florística sul-americana, além das tafofloras brasileiras já
citadas na introdução, outras tafofloras neógenas podem ser ainda citadas, cuja
composição em nível de família e gênero pode ser vista com mais detalhes na
Tabela 3.1 e cuja descrição, encontra-se mais adiante, neste capítulo.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
29
3.2 – Floras Miocenas de Clima Tropical e Subtropical
As floras miocenas de Betijoque, La Salvadora e Mesa Pablo, da região
de Trujillo, na Venezuela (Berry, 1936b), têm em sua composição florística: Entada,
Ficus, Simarouba, Heliconia, Coussapoa, Annona, etc., que atestam seu caráter
tropical (Figura 3.2 : M.1 e Tabela 3.1).
A flora miocena de Forest Clay, Trinidad, tem gêneros que representam
uma zona tropical costeira com: Rhizophora, Mimosites, Bignonia, Palmocarpon,
Conocarpus, Ficus, Clusia, etc., (Berry, 1937b). Outra flora de Trinidad,
possivelmente, mio-pliocena, conforme Berry (1937c), apresenta gêneros que,
atualmente, são comuns nas regiões costeiras como: Pithecolobium, Mimosites,
Cassia, Trichilia, Calophyllum, etc. (Figura 3.2 : M.2 e Tabela 3.1).
A flora miocena de Santa Ana, Colômbia (Engelhardt, 1895 apud
Menéndez, 1971 e Berry, 1936a), possui representantes de uma flora tropical úmida
como a da Amazônia atual, com: Acrodiclidium, Bambusium, Buettneria,
Condaminea, Ficus, Goeppertia, Gouinia, Ilex, Moquilea, Palmacites, Salvinia,
Styrax, Tecoma, etc. (Figura 3.2: M.3 e Tabela 3.1).
Há também gêneros de zona tropical úmida no Vale do rio Magdalena, em
Santander, Colômbia, segundo Berry, (1936a), com: Dioscorea, Palmophyllum,
Ficus, Coussapoa, Annona, Buettneria, Tapiria, Couroupita, etc. Pons (1969)
registrou na Colômbia o gênero Goupioxylon cuja família (Goupiaceae) é endêmica
da América tropical (Figura 3.2: M.4). Conforme Menendez (1971), há ainda registros
na Colômbia de tafofloras terciárias onde aparecem Anacardium, Musa, Sacoglottis,
Theobroma, Gouiania, Simarouba, etc.
Pons (1980) apresentou, para os jazigos de Halo Grande, Penagos,
Lumbi, Honda-Mariquita, da Colômbia, uma lista de espécies muito extensa de
monocotiledôneas, dicotiledôneas e “incertae sedis”, a saber:
Araceae – Stenospermatium columbiense Engelhardt; Poaceae –
Bambusium stubeli Engelhardt; Rhizoma graminie Engelhardt; Heliconiaceae –
Heliconiophyllum falanense Pons; Aquifoliaceae – Ilex arcinervis Engelhardt;
Bignoniaceae – Tecoma grandidentata Engelhardt; Clusiaceae – Colophyllites
mesaensis Pons; Lauraceae – Acrodiclidium chartaceum Engelhardt; Goeppertia
subherbacea Engelhardt; Laurophyllum rigidum Engelhardt; Nectandra areolata
Engelhardt; Nectandra curvatifolia Engelhardt; Nectandra reissi Engelhardt; Persea
cariacea Engelhardt; Persea elliptica Engelhardt; Persea elongata Engelhardt;
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
30
Persea macrophylloides Engelhardt; Meliaceae – Moschoxylon tenuinerve
Engelhardt; Mimosaceae – Inga reissi Engelhardt; Pithecolobium tenuifolium
Engelhardt; Moraceae – Ficus laqueata Engelhardt; Myrtaceae – Jambosa
lanceolata Engelhardt; Rhamnaceae – Gouania membranaceae Engelhardt; Gouania
firma Engelhardt; Rosaceae – Maquillea stuebeli Engelhardt; Rubiaceae –
Bothriospora vitti Engelhardt; Rutaceae – Condaminea grandifolia Engelhardt;
Sapotaceae – Chrysophyllum rufoides Engelhardt; Sterculiaceae – Buettneria
cinnamomifolia Engelhardt; Styracaceae – Styrax lanceolata Engelhardt;
Trigoniaceae – Trigonia varians Engelhardt; Verbenaceae – Citharexylon retiforme
Engelhardt; Vochysiaceae – Vochysia retusifolia Engelhardt; Espécies Incertea
Sedis: Phyllites abutoides Engelhardt; Phyllites strychnoides Engelhardt; Phyllites
vochysioides Engelhardt.
Essas tafofloras, ocorrentes na Formação Mesa indicam florestas de
diferentes altitudes, porém, todas relacionadas a um clima tropical úmido. (Figura 3.2
: M.5 e Tabela 3.1).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
31
MIOCENO
Figura 3.2 – Distribuição geográfica de floras miocenas da América do Sul
M.1 – Trujillo (com floras Betijoque, La Salvadora e Mesa Pablo) – Venezuela – Berry (1936b). M.2 – Trinidad, Trinidad Tobago – Berry (1925c). M.3 – Santa Ana, Colômbia– Engelhardt (1895, in Menéndez,1971); Berry (1936a); M.4 – Santander, Colômbia – Berry (1936a); Pons (1969). M.5 – Mariquita, Halo-Grande, Honda, Penagos, Colômbia Pons, (1980). M.6 – Loja, Equador – Berry (1929, 1945a). M.7 – Zorritos, Peru – Berry (1919). M.8 – Potosi, Bolívia – Berry (1922 a,b). M.9 – Cochabamba, Bolívia – Berry (1922b). M.10 – Barrancas de Carmen Silva, Terra do Fogo, Argentina – Dusén (1907) e Boureau & Salard (1960).
M.14 – El Morterito, Catamarca, Argentina – Anzótegui et al. 2006 (no prelo). M.15 – Palo Pintado, Salta, Argentina – Anzótegui & Cuadrado (1996). M.16 – Capanema, Pará, Brasil – Duarte (1972), Duarte in Rosseti & Góes (2004). M.17 – Outeiro, Pará, Brasil – Dutra et al. (2001). M.18 – Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasil – Santos (2006a,b) e Fittipaldi (1990). M.19 – Jaguariúna, São Paulo, Brasil – Dos-Santos et al. (2006). M.20 – Centinela, Formação Navidad, Chile – Hinojosa (2003). M.21 – Provincia de Entre-Rios - Fm. Paraná, Argentina – Anzótegui (2004).
M.11 – Punta Arenas, Terra do Fogo, Argentina – Dusén (1907) e Salard (1961). M.12 – Aluminé, Neuquén, Argentina – Menéndez (1961). M.13 – San José, Tucumán, Argentina – Anzótegui & Herbst (2004); Anzótegui (2004).
M.22 – Prov. Catamarca e Tucumán, Formação Chiquimil, Argentina – Anzótegui, (2004).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
32
A rica tafoflora miocena ocorrente na bacia de Loja, Equador (Berry, 1929)
encontra-se representada pelas pteridófitas Goniopteris e Elaphoglossum, pelas
monocotiledôneas Poaceae e Cyperaceae e por 26 famílias em 17 ordens de
dicotidelodôneas. Possuem aspectos florísticos de clima tropical úmido das terras
baixas do Alto Amazonas, com gêneros tais como: Artanthe, Banisteria, Bombax,
Caesalpinia, Cassia, Coussapoa, Eugenia, Inga, Manihot, Serjania, Tapiria, etc.
Nenhum dos gêneros da tafoflora encontra-se hoje representado na região de Loja.
Foi considerada, por aquele autor, de idade pliocena por apresentar Goniopteris
cochabambensis tão abundante aí quanto na tafoflora do leste da Bolívia. A idade
pliocena foi, também, inferida por sua grande semelhança com a flora amazônica
atual, embora Menéndez (1971) a inclua entre as tafofloras miocenas. (Figura 2.2 :
M.6).
Em 1945a, Berry estudou várias localidades do sul do Equador, onde
registrou 81 espécies em 66 gêneros, 43 famílias e 28 ordens, sendo destas 64
espécies de dicotiledôneas lenhosas. Em certas localidades, os fetos de Goniopteris
são muito mais abundantes que qualquer outro elemento. O gênero Coussapoa
(Urticaceae) corresponde ao mais abundante entre as eudicotiledôneas. Seguem-se
como elementos mais comuns os que pertencem as Piperaceae, Myristicaceae,
Malpighiaceae, Tiliaceae e Styracaceae. As monocotiledôneas são esparsamente
representadas; ocorrem fragmentos de gramíneas e palmas. Estas floras
apresentam afinidades com a flora amazônica atual além de possuir elementos das
Antilhas e Caribe. Foram consideradas como submetidas a clima tropical úmido de
caráter neotropical e que não poderiam ocorrer sob condições topográficas atuais.
(Figura 3.2 : M.6).
No Brasil, apenas uma tafoflora miocena foi, até o momento, registrada
com certo detalhe e em excelente grau de preservação. Trata-se de tafoflora da
localidade Caieira, no município de Capanema, PA, pertencente à Formação
Pirabas, estudada por Duarte (1972) e Duarte (in Rossetti & Góes, 2004). É uma das
mais ricas tafofloras neógenas sul-americanas com 20 espécies novas pertencentes
a 19 gêneros dentro das seguintes famílias de angiospermas: Nyctaginaceae,
Lauraceae, Dilleniaceae, Theaceae, Caryocaraceae, Chrysobalanaceae,
Euphorbiaceae, Rutaceae, Meliaceae, Sapindaceae, Tiliaceae, Myrtaceae,
Melastomataceae, Rhizophoraceae, Ebenaceae, Rubiaceae, Rapataceae. Ocorre
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
33
em calcário creme dolomicrítico, depositado em ambiente litorâneo de águas rasas e
calmas, talvez plataforma restrita ou laguna. (Figura 3.2: M.16).
Há um outro registro brasileiro de flora miocena, na Ilha de Outeiro, NE do
Estado do Pará (Figura 3.2: M.17), composto por fósseis procedentes da Formação
Barreiras. Macro e microfósseis de Bombacaceae, relacionadas com áreas tropicais
úmidas em ambiente higrófilo, isto é, de inundação periódica e com solos arenosos,
tipo mangue, durante época de mar alto, foram ai identificados por Dutra et al.
(2001).
A Formação Itaquaquecetuba apresenta uma tafoflora (Figura 3.2: M.18)
que foi considerada de provável idade oligocena por Fittipaldi (1990). Foi datada,
através de palinomorfos, como de idade neo-eocena/ oligocena em seus estratos
inferiores e, em sua porção mediana para superior, como miocena (Santos et al.
2006a,b).
A macroflora da Formação Itaquaquecetuba foi, inicialmente, estudada
por Suguio (1971), na forma de lenhos fósseis, na área do rio Pinheiros, São Paulo
(SP), identificando três gêneros de Leguminosae (Myrocarpus sp, Piptadaenia sp e
Centrolobium sp), um de Melastomataceae (Miconia sp) e um de Elaeocarpaceae
(Sloanea sp) e por Suguio & Mussa (1978), nos antigos aluviões do rio Tietê,
Itaquaquecetuba (SP), com identificação de Astronioxylon mainieri Suguio & Mussa,
Piptadaenioxylon chimeloi Suguio & Mussa, Myrocarpoxylon sanpaulensis Suguio &
Mussa, Matayboxylon tietensis Suguio & Mussa, Qualeoxylon itaquaquecetubense
Suguio & Mussa. Esses autores interpretaram esta associação como típica de clima
tropical úmido e atribuiram-lhe idade neopleistocena.
A macroflora da Formação Itaquaquecetuba, do ponto de vista de
impressões foliares foi estudada por Fittipaldi et al. (1989) que propuseram dois
novos gêneros de angiospermas: Rhamniphyllum e Aquifoliphyllum. Os autores
propuseram ainda 11 novas espécies: Rhamniphyllum caseariformis; Aquifoliphyllum
ilicioides; Monstera marginata; Casearia serrata; Schizolobium inaequilaterum;
Byrsonima bullata; Psidium paulense; Zanthoxylum glanduliferum; Serjania lancifolia;
S. itaquaquecetubensis e Luehea divaricatiformis. Além destas, foi verificada a
presença de Myrcia cf. rostrataformis. Foram descritas, também, de maneira sucinta,
prováveis sementes e frutos.
Em 1990, Fittipaldi, dando continuidade ao estudo dessa macroflora,
apresentou outros de seus componentes: Ocotea pulchelliformis, Piptadenia tertiaria,
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
34
Cassia rosleri, Sophora giuliettiiae, Machaerium piranii, Bertolonia coimbrae,
Tocoyena riccominii e Echinodorus rossiae, uma de pteridófita (Lidsaea pradoi) e
uma de briófita (Isotachis simonesi). (Tabela 3.1).
Neste trabalho, Fittipaldi concluiu que essa tafoflora da bacia de São
Paulo é sugestiva de mata tropical úmida com base em suas afinidades botânicas
com formas atuais.
A tafoflora de Jaguariúna é constituída de: Filicophyta - Dryopteridaceae
(Elaphoglossum sp); Magnoliideae – Laurales - Lauraceae (Ocotea cf. O.
puchelliformis); Monocotyledoneae - Poales - Typhaceae (Typha cf. T. tremembensis
e Typha fittipaldii sp. n.); Eudicotiledoneae - Caryophyllales- Amaranthaceae
(Alternanthera sp.); Malpighiales - Clusiaceae (Garcinia sp), Fabales - Fabaceae
(Leguminosites sp.) e Gentianales - Apocynaceae (Aspidosperma duartei sp. n.).
Dentre os demais espécimes dessa população, foi possível reconhecer, por análise
morfográfica, 13 formas distintas de folhas, sendo 02 Monocotylophyllum spp. e 11
Dicotylophyllum spp.
3.3 – Floras Miocenas de Clima Subtropical Temperado Quente (com regiões áridas
no Plioceno).
A segunda área florística da América do Sul é de clima subtropical
temperado quente, com regiões áridas a semi-áridas (de aproximadamente 25º a
50º de latitude Sul) e encontra-se compreendida na “Paleoflora Subtropical
Neógena” de Hinojosa (2005), e faz parte ainda do Reino Neotropical (Anzótegui
et al. 2006, no prelo), ver Figura 3.1.
Durante o Plioceno, com a intensificação dos movimentos orogênicos
neógenos andinos e/ou devido a correntes marinhas aridizantes, as áreas
peruanas e bolivianas elevadas atrás dos Andes e as áreas costeiras peruanas
sofreram uma desertificação, modificando o clima tropical úmido ali reinante,
durante o Mioceno. Conseqüentemente, desapareceram as floras paleógenas a
miocenas de climas mais quentes e úmidos, com sobrevivência daquelas
instaladas do lado ocidental da cordilheira e dos vales transversais, beneficiados
pelos ventos úmidos vindos do Pacífico. Nestas floras pliocenas, citadas mais
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
35
adiante, acabaram por se misturarem gêneros de zona temperada com outros de
clima quente.
Dentre as floras miocenas que atestam, para a região, clima tropical
úmido, anterior a elevação da cordilheira andina, citam-se:
Zorritos, no Peru – composta por Annona, Bambusium, Banisteria,
Ficus, Persea, Trigonia, Styrax, Tapirira, etc. segundo Berry (1919). (Figura 3.2 :
M.7 e Tabela 3.1).
Potosi, na Bolívia – atualmente a 4000 m de altitude, entretanto, exibe
uma tafoflora miocena, segundo Berry (1922 a,b), com plantas de altitudes mais
baixas, tais como: Acacia, Acrostichum, Amicia, Apocynophyllum, Bauhinia,
Platypodium, Podocarpus, Pithecolobium, Perlieria, Ruprechtia, Weinmania, etc.
(Figura 3.2: M.8 e Tabela 3.1).
Pislipampa, Cochabamba, na Bolívia – Atualmente também no altiplano
boliviano, contudo, com elementos tafoflorísticos miocenos ou pliocenos
semelhantes à atual área tropical úmida boliviana (Yunga), tais como: Cassia,
Coussapoa, Gleichenia, Heliconia, Myrcia, Pithecolobium, Sacoglottis, Iriartites,
Sideroxylum, etc., conforme Berry (1922b). (Figura 3.2 : M.9 e Tabela 3.1).
Durante o Neógeno da Argentina, conforme Menéndez (1964 e 1971),
é possível distinguir dois tipos principais de vegetação: uma setentrional de clima
subtropical e outra meridional de clima temperado a muito frio, cujas distribuições
geográficas, em espaço e tempo foram condicionadas por variações climáticas
que decorreram de modificações de relevo, da extensão e distribuição relativa de
mar e terra, resultantes dos movimentos orogênicos em suas distintas fases.
(Figura 3.1).
Na área setentrional argentina, são conhecidos registros tafoflorísticos
em: Formação San José, de idade Mesomioceno, em rio Seco ( Departamento de
Santa Maria, Província de Catamarca) estudado por Anzótegui & Herbst (2004)
(Figura 3.2 : M.13); Formação Chiquimil, de idade Neomioceno, em Tiopunco
(vale de Santa Maria, Província de Tucumán), em Lomas Amarillas, rio Vallecito e
km. 6 da rodovia 17 (localidades do vale de Santa Maria, Província de
Catamarca), em Los Nacimientos de Abajo (vertente oriental da Serra de Hualfin,
Província de Catamarca) e em Puerta de Corral Quemado( sul do vale de Villavil,
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
36
Província de Catamarca) tafofloras estudadas por Anzótegui (2004) (Figura 3.2 :
M.22); Formação Palo Pintado, de idade Neomioceno, em Angastaco (no vale do
rio Calchaquie, Província de Salta) tafofloras estudadas por Anzótegui &
Cuadrado (1996) (Figura 3.2 : M.15); Formação El Morterito, de idade
Neomioceno, no vale del Cajón (Província de Catamarca) descrito por Anzótegui
et al. (2006 no prelo) (Figura 3.2 : M.14). Essas tafofloras dos Vales Calchaquíes
estão compreendidas na “Paleoflora Subtropical Neógena”.
Nessas tafofloras, segundo a síntese de Anzótegui (2006), foi possível
determinar 58 espécies de folhas, frutos e caules, achados como impressões. Os
táxons fósseis são de Eumicota, Sphenophyta, Pteridophyta, Magnoliophyta. Suas
famílias mais diversificadas são Cyperaceae e Anacardiaceae.
Neste conjunto, encontram-se espécies e gêneros que constituem
novidade na paleoflora argentina, auxiliando a caracterização das formações
estudadas em outras regiões de países limítrofes.
As tafofloras das formações San José e El Morterito atestam uma
grande diversidade de espécies de Fabaceae, Mimosaceae, Myrtaceae e
Moraceae (Ficus tressensis) que teriam existido, na região, principalmente no
Neógeno. Sugerem o predomínio de ambientes abertos e secos com vegetação
xerófila e outros, de ambientes mais úmidos estacionalmente secos, com bosques
riparianos, característicos de clima quente.
Na Formação Chiquimil (Mioceno Superior) há uma seqüência em que
se alternam, ambientes de planície de inundação, com canais fluviais e com lagos
temporários. Nos ambientes lacustres, que são de baixa energia, desenvolveram-
se vegetais que integraram associações distintas: no interior dos corpos
aquáticos, Nymphaeaceae (Nymphaea sp); em áreas palustres inundáveis,
Cyperaceae (Cyperocarpus e Scirpitis sp 1 e S. sp 2); integrando bosques
marginais, Thelypteridaceae (Thelypteris aff. achalensis); no extrato herbáceo e
no arbóreo, Anacardiaceae (Schinus aff. S. terebinthifolia).
As inferências ambientais e climáticas foram obtidas considerando a
distribuição e freqüência dos táxons fósseis na Formação Chiquimil, por
comparação com os hábitos e habitats das espécies atuais afins, além de outros
dados de análises sedimentológica, de paleossolos e de fauna de moluscos.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
37
Concluiu-se, então, que a vegetação se desenvolveu em clima subtropical úmido
(Anzótegui, 2004). (Figura 3 : M.22 e Tabela 3.1).
Na Província de Entre-Rios, em afloramentos da Formação Paraná
(Mioceno Médio a Superior), a presença de troncos fósseis foi registrada por
Bravard (1858) e Frenguelli (1920). Estão presentes ali a Família Anacardiaceae,
com a espécie Astronioxylon portmannii e a Família Fabaceae, com a espécie
Anadernantheroxylon villaurquecense. São formas encontradas, atualmente, em
ecossistema subtropical úmido com elevada biodiversidade, como as áreas de
piemonte das Serras Sub-Andinas do Sudoeste Boliviano e Noroeste Argentino e
do Chaco Paraguaio. (Figura 3 : M21 e Tabela 3.1).
3.4 – Floras Miocenas de Clima Temperado Frio em Áreas Meridionais a mais de 50º
de Latitude Sul
Na porção mais meridional da América do Sul e na Nova Zelândia (Figura
2.2), durante o Neógeno, segundo Skottsberg (1960 apud Menéndez 1971), está
registrada a maior parte das famílias e gêneros da flora Subantártica-Austral. Dentre
elas, citam-se 49 famílias e 85 gêneros. Dessas famílias, duas eram endêmicas à
flora Subantártica (temperada fria a subtropical) e as demais, provenientes da área
Antártica (austral fria). (Figura 3.1).
Dentre as tafofloras argentinas meridionais, subantárticas, do Mioceno,
cita-se a da Formação Palaoco, do Arroio Puipucón, a oeste de Aluminé, na
Província de Neuquén, onde ocorrem fósseis de Alsophilocaulis, um representante
da Família Cyatheaceae (Menéndez, 1961), atualmente restrita às zonas tropicais
úmidas. (Figura 3.2 : M.12).
A distribuição atual, mais ou menos equilibrada de floras subantárticas-
austrais (entre América do Sul, Austrália e Nova Zelândia), sugere um centro de
origem comum que poderia ser o Continente Antártico ou uma dispersão através da
Antártica, desde a Nova Zelândia rumo à América do Sul ou vice-versa (Menéndez,
1971). Essa hipótese busca confirmações na Paleobotânica, por exemplo: os
registros paleobotânicos dos Podocarpus indicam a possibilidade de sua origem
estar na Austrália, Nova Zelândia ou Ásia Oriental, onde ocorrem sete das oito
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
38
secções das Podocarpáceas e os fósseis mais antigos, do início do Mesozóico; da
sua rota de migração ser através da Antártica, cujo registro fóssil ocorre desde o
Jurássico Médio e da sua chegada na América do Sul (segundo documentário
fossilífero, desde o Cretáceo), conforme dados de Florin (1963) e Bucholz & Gray
(1948 e 1951).
A tafoflora de Cerro Centinela (Formação Navidad), na costa do Chile
Central, apresenta fitofósseis bem preservados em arenitos, provenientes de
diferentes paleocomunidades depositadas em mistura tafonômica, datada como
eomiocena por Tanai (1986) e Hinojosa (2003), com base em estudos de
foraminíferos. Trata-se de uma flora subtropical entre cujos gêneros foram
identificados: Amomyrtus, Austrocedrus, Nothofagus, Caryocar, Schinus, Schinopsis,
Acacia, Heterophyllum, Nectandra, Miconia, Xylopia, Trichilia, etc. A grande
diversidade de angiospermas herbáceas é mais coerente com uma paisagem
heterogênea. (Figura 3.2 : M.20 e Tabela 3.1).
Restos de flora de clima temperado frio (Antártica / austral fria) sem
qualquer elemento característico de floras mais quentes procedem de várias
localidades da Terra do Fogo (sul do Chile e Argentina), tais como: Rio Condor,
Barrancas de Carmem Silva, Punta Arenas, Rio das Minas, etc. Essa flora é
representada por: Saxegothopsis, Fagus, Nothofagus, Hydrangeiphyllum,
Myrtiphyllum, etc, segundo Dusén (1907), além de apresentar troncos de Fagoxylon
e Nothofagoxylon descritos por Boureau & Salard (1960) e Salard (1961). (Figura 3.2
: M.10,11).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
39
3.5 – Floras Pliocenas da América do Sul
3.5.1 – Floras Pliocenas Tropicais úmidas
O caráter e distribuição latitudinal das floras pliocenas da América do Sul
são, em geral, muito semelhantes àqueles atuais enquanto as diferenças, que
algumas floras apresentam, são devidas, na maioria dos casos, a modificações
ambientais, conseqüentes de movimentos orogênicos (Menéndez, 1971). (Figura
3.1).
Entre as floras pliocenas da América Tropical encontram-se as tafofloras
de Anzoategui, na Venezuela (Berry, 1939a,b); Mud Plant, em Trinidad e Tobago
(Berry, 1937a); Vale do Guasca, na Cordilheira Oriental da Colômbia (Wijninga &
Kuhry, 1993); Loreto, no Peru (Berry, 1925a; Menéndez, 1971) e, no Brasil citam-se
entre outras: em Cruzeiro do Sul / Alto Juruá, AC, na bacia do Acre (Duarte, 1970);
em Nova Iorque, MA, na bacia do Parnaíba (Cristalli, 1997 e Cristalli & Bernardes-
de-Oliveira, 1998); em Ouriçanguinhas / Alagoinhas, BA (Hollick & Berry, 1924 apud
Duarte & Japiassú, 1971); na Formação Pindamonhangaba, na bacia do Paraíba,
SP (Fittipaldi & Simões, 1990 e Leite et al. 1986);
As floras do Estado de Anzoategui, Venezuela, são constituídas por
gêneros que, atualmente, são comuns a floras tropicais do norte da América do Sul,
especialmente no delta do Orinoco, como: Annona, Inga, Cassia, Cedrela, Maytenus,
Theobroma, Rheedia, Hernandia, Nectandra, Eugenia, Styrax, Chrysophyllum, etc.,
não apresentando elementos litorâneos. Registram a presença de 16 famílias e
pertencem à mesma subprovíncia florística de Trinidad (Berry, 1937a,c). (Figura 3.3 :
P.1 e Tabela 3.1).
Entre as tafofloras de Trinidad, a de Mud Plant, de provável idade
pliocena (Berry, 1937a), apresenta gêneros que, atualmente, são comuns na zona
costeira da região tais como: Pithecolobium, Mimosites, Cassia, Trichilia,
Calophyllum, etc. (Figura 3.3 : P.2 e Tabela 3.1).
No Vale de Guasca, na Cordilheira Oriental da Colômbia, há uma tafoflora
datada palinologicamente como pliocena, dominada por folhas micrófilas de margem
inteira. Dentre elas ocorrem: Cecropiaceae (Urticaceae), Podocarpaceae,
Lauraceae, Moraceae, e Rutaceae. É considerada como representante de uma
floresta tropical seca. (Wijninga & Kuhry, 1993). (Figura 3.3 : P.3 e Tabela 3.1).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
40
PLIOCENO
Figura 3.3 - Distribuição geográfica das floras pliocenas da América do Sul
P.1 – Anzoategui, Venezuela – Berry (1939 a,b). P.2 – Mud Plant, Trinidad , Trinidad Tobago – Berry (1937 a,b). P.3 – Vale do Guasca, Colômbia – Wijninga & Kuhry (1993). P.4 – Loreto, Peru – Berry (1925 a,b) e Menéndez (1971). P.5 – Tiopunco, Vale de Sta. Maria, Tucumán, Argentina – Menéndez (1962, 1971). P.6 – Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil – Duarte (1970) e D&J (1971). P.7 – Sena Madureira, Acre, Brasil – Duarte & Japiassú (1971). P.8 – Rio Branco, Acre, Brasil – Duarte & Japiassú (1971). P.9 – Canutama, Amazonas, Brasil – Duarte & Japiassú (1971). P.10 – Lábrea, Amazonas, Brasil – Duarte & Japiassú (1971). P.11 – São Paulo de Olivença, Amazonas, Brasil – D. & J (1971). P.12 – Nova Iorque, Maranhão, Brasil – Cristalli (1997) Crist. & Bernardes-de-Oliveira (1998), Anzotegui & Crist. (2000).
P.13 – Alagoinhas, Bahia, Brasil – Hollick & Berry (1924). P.14 – Maraú, Bahia, Brasil – Berry (1935). P.15 – Aracaju, Sergipe, Brasil – Mussa (1958). P.16 – Pedrão, Bahia, Brasil – Berry (1935). P.17 – Rio Claro, São Paulo, Brasil – Bjornberg et al. (1964 a,b), Bjornberg & Landim (1966), Zaine (1994) e Zaine et al. (1995). P.18 – Vargem Grande do Sul, São Paulo, Brasil – Mezzalira (1964,1966) e Duarte & Martins (1983 , 1985). P.19 – Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil – Fittipaldi & Simões (1990) e Mandarim-de-Lacerda et al. (1994). P.20 – Catalão, Goiás, Brasil- Cardoso & Iannuzzi (2006). P.21 – Jancocata, Bolívia (Berry 1922 b,c). P.22 – Fm. Ituzaingó, Prov. Corrientes, Argentina (Anzotegui, 1978).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
41
A tafoflora pliocena do Rio Aguaytía, Loreto, Peru, indica um clima
similar ao atual, porém mais úmido, com os seguintes elementos: Bignonia,
Cassia, Momisia, Tetracera, Guazuma, Pithecolobium, etc. (Berry, 1925a). São 10
gêneros em 8 famílias. A representatividade de árvores e lianas indicaria a
presença de flora sujeita a clima tropical úmido. (Figura 3.3 : P.4 e Tabela 3.1).
A tafoflora de Jancocata, Bolívia, foi datada como plio-pleistocena por
sua associação com uma fauna de vertebrados. São apenas 9 gêneros, em 7
famílias e 5 ordens. Estaria sujeita a um clima mais úmido que o atual, pela
abundância de elementos herbáceos. Registram-se: Polypodiaceae
(Pteridophyta), Poaceae, Betulaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Caesalpinaceae e
Melastomataceae (Berry, 1922b). (Figura 3.3 : P.21 e Tabela 3.1).
As ocorrências de tafofloras pliocenas brasileiras situam-se todas na
faixa tropical havendo, contudo, indicações de maior sazonalidade entre aquelas
tafofloras situadas na região sudeste do País.
Dentre essas tafofloras, citam-se as de Cruzeiro do Sul, Sena
Madureira e Rio Branco, no Acre, que ocorrem nas coberturas cenozóicas da
bacia paleozóica do Acre. Apenas a tafoflora de Cruzeiro do Sul (Vale do Alto
Juruá) apresenta identificação realizada por Berry (1935) e Maury (1937) e
revista por Duarte (1970) (Figura 3.3 : P.6, P.7), onde são listadas as seguintes
formas:
Coussapoa sp; Persea amoneana Berry, 1937 (=P. euzebioi Maury,
1937); Mespilodaphne acrensis Berry, 1937 (=M. wanderleyi Maury, 1937);
Sparattanthelium pliocenicum Berry, 1937, Cassia aguaytiensis Berry, 1925;
Machaerium premuticum Berry, 1937 (=M. acreanum Maury, 1937); Sapium
pliocenicum Berry, 1937; Vochysia acuminatofolia Hollick & Berry, 1924;
Endlicheria rhamnoides Engelhardt, 1895; Bignotites maurupe Berry, 1937
(=Banisteria demourai Maury, 1937). São folhas de textura coriácea. Todos os
gêneros preservados são encontrados atualmente na região, de modo que se
infere uma típica vegetação amazônica para a associação (Cristalli, 1997). (Figura
3.3 : P.6-P.8 e P.12).
No mesmo município, em Cachoeira do Gastão, ocorrem:
Zollermoxylon santosi Mussa, 1959; Z. sommeri Mussa, 1959, Z. tinocoi Mussa,
1959; Leajthioxylon milanezii Mussa, 1959; Sapindoxylon lamegoi Mussa, 1959.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
42
As demais ocorrências acreanas não apresentam composição identificada.
(Figura 3.3 : P.6).
Nas coberturas cenozóicas da bacia paleozóica do Amazonas, há
tafofloras pliocenas citadas em Canutama, Lábrea, São Paulo de Olivença, entre
outras. Nenhuma dessas tafofloras foi identificada quanto aos seus componentes,
registrando-se apenas madeiras petrificadas e folhas carbonizadas (Duarte &
Japiassú,1971). (Figura 3.3: P.9-P.11).
Nas coberturas cenozóicas da bacia paleozóica do Parnaíba, há
ocorrência de tafoflora de idade pliocena, no município de Nova Iorque,
Maranhão, datada com base em palinologia por Lima (1991) e por Dino et al.
(2006). Seus macrofósseis estudados por Cristalli (1997), Cristalli & Bernardes-
de-Oliveira (1998) e Anzótegui & Cristalli (2000) registram a presença de
Lauraceae, Malvaceae, Ebenaceae, Fabales, Meliaceae, Smilacaceae, além de
16 parataxa de Magnoliídeas e Eudicotiledôneas não identificados. Foi inferido
clima tropical mais úmido que o atual na região, podendo representar domínio da
Floresta Atlântica. (Figura 3.3 : P.12 e Tabela 3.1).
Na bacia do Paraná, há coberturas cenozóicas identificadas como
Formação Rio Claro, Formação Pirassununga (Fácies Vargem Grande do Sul),
Formação Santa Rita do Passa Quatro e depósitos correlatos, ocorrendo na
Depressão Periférica. Segundo Melo et al. (1997), essas unidades descontínuas
de Depressão Periférica poderiam ser identificadas como Formação Rio Claro,
com base nas semelhanças granulométricas, minerológicas, faciológicas e
geomorfológicas. Tafofloras neógenas vêm sendo registradas nessas formações
com possível idade mio-pliocena.
Na Formação Rio Claro e na área de Rio Claro (SP) foram
identificadas: Monocotiledôneas (Mezzalira, 1961, 1962); Nymphaeaceae e
Potamogetonaceae (Bjornberg et al. 1964 a,b, 1966); oogônios de carófitas,
angiospermas e pteridófitas (Zaine, 1994 e Zaine et al. 1995); Magnoliopsida /
Typhaceae (Fittipaldi, in Melo, et al. 1997). (Figura 3.3 : P.17).
Na Formação Pirassununga (Fácies Vargem Grande do Sul) foram
identificadas por Mezzalira (1964, 1966) e Duarte & Martins (1983, 1985) as
seguintes formas:
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
43
Fabales: Cassia parkerii Duarte & Martins, 1983; C. eliptica Duarte &
Martins, 1983; C. parabicapsularis Duarte & Martins, 1983; Machaerium nervosum
Duarte & Martins, 1983; Platypodium potosianum Engelhardt, 1895; Camptosema
cordatum Duarte & Martins, 1983; C. primum Duarte & Martins, 1983; Sapindales:
Cedrela arcuata Duarte & Martins, 1983; Serjania mezzalirae Duarte & Martins,
1983; Sapindus ferreirae Duarte, 1972; Celastrales: Maytenus fragilis Duarte &
Martins, 1985; Myrtales: Eugenia vargensis Duarte & Martins, 1985; E. punctata
Duarte & Martins, 1985; Psidium adornatum Duarte & Martins, 1985; Myrcia
diafana Duarte & Martins, 1985; Calypthrantes argilosa Duarte & Martins, 1985;
Gomidesia costata Duarte & Martins, 1985; Tibouchina izildaisabelae Mezzalira,
1964; Gentianales: Symplocos dealbata Duarte & Martins, 1985; Anonaceae e
Ebenales, conforme Duarte & Martins (1985). (Figura 3.3 : P.18 e Tabela 3.1).
A tafoflora de Vargem Grande do Sul, com base em caracteres como:
árvore de porte ereto até 20 m de altura, escassez de lianas, textura coriácea de
suas folhas, maior percentagem de folhas compostas típicas da região tropical,
maior percentual de micrófilas; predominância de margem inteira e venação
broquidódroma diagnosticam um paleoclima tropical mais seco. (Figura 3.3: P.18).
Dentre as tafofloras consideradas pliocenas por Duarte & Japiassú
(1971), incluídas nas bacias tipo “rift” interioranas estão as da Bahia: Pedrão
(Figura 3.3 : P.16), Alagoinhas (ou Ouriçanguinhas) (Figura 3.3 : P.13) e Maraú
(Figura 3.3 : P.14), bem como a da Formação Pindamonhangaba de São Paulo.
(Figura 3.3: P.19).
No município de Pedrão, Bahia (Figura 3.3: P.16), há registro apenas
de: Coccoloba preuvifera Berry, 1935. Entretanto, nesse Estado, há duas
tafofloras pliocenas que merecem menção especial por serem mais bem
conhecidas: Alagoinhas (Hollick & Berry, 1924) e Maraú (Berry, 1935).
No município de Alagoinhas ou Ouriçanguinhas, BA, Hollick & Berry
(1924), identificaram as seguintes formas: Caenomyces braziliensis Hollick &
Berry, 1924; Hemitelia branneri Hollick & Berry, 1924; Ficus aramaryensis Hollick
& Berry, 1924; F. mamilliferafolia Hollick & Berry, 1924; Pisonia branneri Hollick &
Berry, 1924; Rollinia tertiaria Hollick & Berry, 1924; Chrysobalanus precuspidatus
Hollick & Berry, 1924; Leptolobium eonitens Hollick & Berry, 1924; Leguminosites
bahiensis; L. braziliensis Hollick & Berry, 1924; L. hymenaeoides Hollick & Berry,
1924; L. macharioides Hollick & Berry, 1924; Guaiacum pliocenicum Hollick &
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
44
Berry, 1924; Fagara dentafolia Hollick & Berry, 1924; F. formosa Hollick & Berry,
1924; Erythrochiton bahiense Hollick & Berry, 1924; Philocarpus prepinnatifolius
Hollick & Berry, 1924; Trichilia branneri Hollick & Berry, 1924; Spodias mirifica
Hollick & Berry, 1924; Ilex bahiana Hollick & Berry, 1924; Maytenus dasycladoides
Hollick & Berry, 1924; Gyminda latifolioides Hollick & Berry, 1924; Sapindus
presaponaria Hollick & Berry, 1924; Bombax aramariensis Hollick & Berry, 1924;
Canella winterianafolia Hollick & Berry, 1924; Rheedia pliocenica Hollick & Berry,
1924; Cinnamomum incertum Hollick & Berry, 1924; Couroupita ovata Hollick &
Berry, 1924; Myrcia rostrataformis Hollick & Berry, 1924; Miconia ettingshauseni
Hollick & Berry, 1924; M. pre-albicans Hollick & Berry, 1924; Huberia preovalifolia
Hollick & Berry, 1924; Myrsine ciliatofolia Hollick & Berry, 1924; Bumelia
cuneatoides Hollick & Berry, 1924; Styrax preferrugineum Hollick & Berry, 1924;
Plumeria rubraformis Hollick & Berry, 1924; Autholithes bahiana Hollick & Berry,
1924; Carpolithes bahiensis Hollick & Berry, 1924; C. badieroides Hollick & Berry,
1924. (Figura 3.3: P13).
O trabalho de Hollick & Berry (1924) é considerado o primeiro trabalho
com tratamento sistemático aperfeiçoado sobre o cenozóico brasileiro, segundo
Dolianiti (1948). Além de identificar um fungo e um feto também reconheceram 56
espécies de dicotiledôneas em 43 gêneros, 28 famílias e 13 ordens.
Embora as Lauráceas sejam abundantes nas tafofloras paleógenas dos
trópicos sul-americanos, em Ouriçanguinhas (BA), é pequena sua representação,
com apenas um espécime, embora Bonneti (1905 apud Hollick & Berry, 1924),
tivesse descrito Persea e Ocotea Segundo esses autores, essa tafoflora não
apresenta elementos africanos nem mesmo entre os numerosos tipos costeiros
que possui . (Figura 3.3 : P.13).
De acordo com esses pesquisadores, essa tafoflora indica clima
tropical, mesmo possuindo gêneros que ultrapassam os limites ao norte da
Flórida. Prevalecem os tipos costeiros, e características como porcentagem de
margens inteiras, tamanho foliar e tipo coriáceo indicam clima úmido, mas com
vegetais, evitando transpiração excessiva. Não há elementos de caatinga
(Cristalli, 1997).
No Município de Maraú (BA) (Figura 3.3 : P.14), ocorrem: Heliconia
bahiana Berry, 1935; Coccoloba tertiaria Hollick & Berry, 1924; Kielmeyera
tertiaria Hollick & Berry, 1924; Chrysobalanus preicaco Hollick & Berry, 1924; Inga
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
45
myrianthafolia Hollick & Berry, 1924; Cassia marahiana Hollick & Berry, 1924;
Dalbergia ettingshauseni Hollick & Berry, 1924; Humiria bahiensis Selling, 1945;
Citrophyllum bahiensis Hollick & Berry, 1924; Simarouba whitei Hollick & Berry,
1924; Vochysia acuminatefolia Hollick & Berry, 1924; Anacardites braziliensis
Hollick & Berry, 1924; Dodonaea vera Hollick & Berry, 1924; Psidium
cuneatifolium Hollick & Berry, 1924; Calypthranthes marahiensis Hollick & Berry,
1924; Bumelia marahiana Hollick & Berry, 1924; Antholithes kielmeyerana Hollick
& Berry, 1924; Phyllites bahiana Hollick & Berry, 1924; P. marahiensis Hollick &
Berry, 1924.
A abundante flora pliocena da Bahia, Brasil, indica um clima
possivelmente mais úmido que o atual pela presença dos seguintes componentes:
Anacardites, Bombax, Bumelia, Canella, Cassia, Citrophyllum, Coccoloba,
Dalbergia, Fagara, Ficus, Guaiacum, Heliconia, Hemitelia, Ilex, Inga,
Leguminosites, Maytenus, Myrcia, Pisonia, Plumeria, Rheedia, Sapindus, Styrax,
etc (Hollick & Berry, 1924b).
Em análise morfoclimática, essas tafofloras foram identificadas por
Cristalli (1997) como pertencentes à zona sub-úmida sujeita a clima mais úmido
que o atual. (Figura 3.3 : P.12).
A tafoflora da Formação Pindamonhangaba, localizada na bacia do
Paraíba, está também incluída entre as ocorrências pliocenas das bacias
interioranas brasileiras do tipo “rift”. Sua composição foi identificada por Fittipaldi
& Simões (1990), como folhas de melastomatáceas e gramíneas ou
monocotiledôneas afins depositadas em ambiente brejoso ou alagadiço, sob
condições climáticas úmidas. Mandarim-de-Lacerda et al. (1994) identificaram
para a mesma ocorrência a presença de eudicotiledôneas e monocotiledôneas do
tipo Typhaceae (?) além de filicopsidas do tipo Lomariopsis, corroborando a
interpretação de clima tropical úmido e relacionada à Mata Atlântica. (Figura 3.3 :
P.19 e Tabela 3.1). O clima tropical úmido indicado na Bahia e na Formação
Pindamonhangaba parece sugerir uma idade mais antiga para essas ocorrências
do que o Plioceno.
Quanto às tafofloras pliocenas das coberturas cenozóicas de bacias
marginais há apenas duas a serem citadas:
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
46
A da Formação Barreiras, em Aracajú (SE), onde foi registrada a
ocorrência de Terminalioxylon erichsenii Mussa, 1958 e a da Formação
Pariquera-Açu (SP), conferida apenas por seu conteúdo palinológico composto de
esporos de pteridófitas tipo Polypodiaceae, Cyathea, Dicksonia e de licófitas e
grão de pólen gimnospérmicos tipo Podocarpaceae e angiospérmicos tipo
Gramineae, Euphorbiaceae, Loranthaceae, Sapindaceae, Rubiaceae,
Ranunculaceae e Betulaceae (Mezzalira, 1959, 1962, 1989). (Figura 3.3 : P.15).
Estudos em desenvolvimento por Cardoso & Iannuzzi (2006) têm
possibilitado detectar, em depósitos lacustres de idade plio–pleistocena, em
Catalão (GO), a presença de filicíneas terrestres tipo Pteridium e Blechnum e
aquáticas, indicadoras de umidade local e evidências de paleoqueimadas, bem
como a presença de macrorrestos de Bixaceae, Lauraceae, Myrtaceae,
Cecropiaceae, Clusiaceae, Tiliaceae e Myrsinaceae, relacionadas a possível mata
galeria de “paleocerrado” ao redor do “paleolago”. (Figura 3.3 : P.20).
Na tentativa de estabelecer uma reconstrução paleofitogeográfica
durante o Plioceno, Cristalli (1997) observou que a floresta amazônica se
estenderia até o litoral do Equador e do Peru e notou também, que grande parte
do Brasil apresentaria clima mais úmido que o atual, o que contraria um pouco as
expectativas para essa época.
3.5.2 – Floras Pliocenas Subtropicais Áridas
As floras argentinas pliocenas são pouco conhecidas provavelmente
devido ao clima árido reinante, na época, principalmente na Patagônia extra-
andina decorrente da orogenia andina, impedindo os ventos do Pacífico de
chegarem ao continente. Um tronco de leguminosa (Acacioxylon), encontrado em
Tiopunco, no vale de Santa Maria, ao noroeste de Tucumán (Menéndez, 1962),
do Plioceno, determinou que as condições foram um pouco diferentes das atuais
na área que inclui, atualmente pequenos bosques com leguminosas do tipo
Acacia. Com base nessa forma fóssil, infere-se que havia maiores diferenças
estacionais (Menéndez, 1971) (Figura 3.3 : P.5).
O trabalho realizado por Anzótegui (1978) sobre cutículas do Neógeno
da Província de Corrientes, Argentina, selecionou, dentre os 15 tipos mais
abundantes, aqueles que puderam ser classificados em nível de gênero. As
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
47
cutículas foram encontradas, na parte superior dos sedimentos da Formação
Ituzaingó (Plioceno) com cerca de 50 cm de espessura. A descrição sistemática
possibilitou a identificação de inúmeras famílias e espécies. Dentre elas têm-se:
Sapotaceae (Pouteria sp 1 e Pouteria sp 2); Lauraceae (Nectandra sp 1 e
Nectandra sp 2, Ocotea sp); Meliaceae (Trichilia aff. T. catigua, Tipo 6, Guarea
aff. G. speciflora, Tipo 7); Myrtaceae (Eugenia aff. E. burkartiana, Tipo 8) e as
restantes incluídas como Incertae sedis (Tipos 9-15). (Figura 3.3 : P.22).
A presença de troncos fósseis em diferentes níveis da Formação
Paraná (Mioceno Médio-Tardio) e Ituzaingó (Plio-Pleistoceno) é conhecida pelos
trabalhos de Bravard (1858) e Frenguelli (1920). Estudos sistemáticos realizados
com a flora sul-americana apresentaram exemplares lenhosos silicificados, sendo
possível reconhecer ritidoma, xilema secundário, raras vezes xilema primário e
medula.
Em resumo, nos registros fossilíferos de diversas localidades sul-
americanas, durante todo o intervalo Paleógeno-Neógeno, prevaleceram floras de
caráter tropical, possivelmente mais úmidas.
A tafoflora de Jaguariúna, considerada como neógena, estaria
compreendida na área florística de clima quente tropical a subtropical sul-
americana, cuja extensão foi desde as regiões mais setentrionais do continente
até, aproximadamente, 40°- 45° de latitude sul, durante o Mioceno, e que, mesmo
com o resfriamento climático plioceno restringindo sua extensão a
aproximadamente 25° de latitude sul, permaneceu incluída nessa área florística.
Após sua análise taxonômica, comparações com as demais tafofloras sul-
americanas serão feitas.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
48
CAPÍTULO 4 – ÁREA DE PROCEDÊNCIA DOS FÓSSEIS: ASPECTOS GEOGRÁ-
FICOS, GEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS
A tafoflora encontra-se em depósitos cenozóicos, que ocorrem no
Município de Jaguariúna na área centro-oriental do Estado de São Paulo, Brasil.
É proveniente de um afloramento localizado à margem esquerda (sentido
Campinas - Mogi-Mirim) da rodovia Adhemar de Barros (SP-340), no km 136,5,
próximo ao trevo do Hotel Fazenda Duas Marias. Encontra-se, mais precisamente,
na latitude de 22º42’ S e longitude 46º58’ W, numa altitude de 584m. (Figura 4.1).
Figura 4.1 – Localização do Município de Jaguariúna, com as principais vias de acesso. Fonte: Modificado da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, 2006.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
49
4.1 – Aspectos Geográficos
O Município de Jaguariúna ocupa uma área de 149 km2 e limita-se ao N
com o Município de Sto. Antonio de Posse e Holambra; ao S, com Campinas; a E,
com Pedreira e a W, com Paulínia. Apresenta um clima tropical de altitude,
mesotérmico, com verões quentes, segundo Köppen (1900). A estação seca (com
26% de precipitação média anual = 200 a 300mm) ocorre, aproximadamente,
durante o inverno, de maio a setembro, enquanto a estação chuvosa (com 74% da
precipitação anual = 900 a 1000mm) ocorre de outubro a abril. A temperatura
regional é de 4º C a 32º C, com média anual em torno de 18º C a 20º C. A área foi
recoberta, num passado recente, por uma floresta semidecídua de mata latifoliada
tropical, com mata ciliar ao longo dos rios, que foi grandemente devastada pela
agricultura cafeeira, restando dela apenas raros remanescentes pontuados.
(EMBRAPA, 2007).
Os rios que percorrem o Município (Atibaia, Jaguari, Camanducaia e seus
afluentes) são tributários da bacia hidrográfica do rio Piracicaba que, por sua vez,
deságua no rio Tietê. A diferença de relevo, entre o Planalto Atlântico e a Depressão
Periférica, como será visto mais adiante, leva os rios a formarem cachoeiras e
corredeiras. (Figura 4.2).
Figura 4.2. Mapa hidrográfico da Região de Jaguariúna (SP). Extraído de http://www.jaguariuna.cnpm.embrapa.br (2007).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
50
4.2 – Aspectos Geológicos
Depósitos cenozóicos de maior ou menor extensão, ocorrentes principalmente
na área centro-oriental do Estado de São Paulo, resultam de tectônica de
basculamentos; soerguimentos; abatimentos de blocos de falha e desenvolvimento
de bacias tafrogênicas (Carneiro & Ponçano 1981 e Hasui et. al. 1982). Esses
sedimentos cenozóicos são, em geral, continentais e as idades são quase sempre
inferidas. São coberturas isoladas, areno-argilosas, castanhas a ocre, com poucas
estruturas sedimentares.
Figura 4.3. – Mapa de feições tectônicas e estratigráficas do Estado de São Paulo. Modificado de Carneiro & Ponçano (1981).
Constituem-se desde pequenas manchas isoladas até formações mais
extensas, na forma de depósitos aluviais, terraços, depósitos coluviais, que foram
sedimentados em várzeas e planícies de inundação relacionadas às drenagens
atuais. Estendem-se, principalmente, pela Depressão Periférica. Algumas manchas
mais extensas são denominadas informal e localmente: Formação Rio Claro
(Mioceno-Pleistoceno) Zaine et al. (1995), Formação Pirassununga (Oligoceno-
Mioceno) com a Fácies Vargem Grande do Sul, de Freitas et. al. (1990) e Formação
Santa Rita do Passa Quatro (Eoceno?) Massoli (1981). (Figura 4.3). Melo (1995) e
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
51
Melo et al. (1997) englobaram todas essas formações sob a designação de
Formação Rio Claro.
De acordo com o mapa geológico do Município de Jaguariúna (SP),
elaborado por Brollo (1996), os sedimentos cenozóicos estendem-se pela área
central e recobrem diretamente as rochas permo-carboníferas do Subgrupo Itararé
ou injeções de diabásio juro-cretáceas da bacia do Paraná. Na área leste, aqueles
sedimentos assentam-se diretamente sobre rochas do Proterozóico Superior. (Figura
4.4).
Ainda, segundo Brollo (1996), em Jaguariúna, os morretes alongados,
paralelos, de topos arredondados, perfis convexos, além de colinas e relevo pouco
movimentado estão relacionados a várias rochas pertencentes a suítes graníticas do
Proterozóico Superior, chamadas de granitóides de Jaguariúna com duas litologias
mapeáveis: biotita-granito porfirítico de distribuição mais ampla e anfibólio granitóide,
de distribuição mais restrita.
Figura 4.4. – Mapa Geológico do Município de Jaguariúna, modificado de Brollo (1996).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
52
Figura 4.5. – Unidades litoestratigráficas neocenozóicas da Depressão Periférica e áreas adjacentes dos mapas da CPRM.
Mapa extraído com modificações de Cavalcante et al. (1979).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
53
As unidades sedimentares são de diferentes idades: arenitos de
granulação variada passando a folhelhos, do Permo-Carbonífero (Subgrupo Itararé-
Grupo Tubarão) e arenitos, siltitos e lamitos amarelo-alaranjados ou variegados,
geralmente maciços ou com estratificações cruzadas e friáveis das Coberturas
Cenozóicas, correlatas à/ ou da própria Formação Rio Claro conforme Melo (1995) e
Melo et al. (1997).
Os depósitos da Formação Rio Claro sensu stricto ocorrem na área
aplainada (platô) nas proximidades da cidade de Rio Claro, onde atingem a
espessura máxima de 20 a 40 m.
De forma mais descontínua, nas proximidades da borda leste da
Depressão Periférica, junto ao Planalto Atlântico, as unidades correlatas, com
aproximadamente 10 metros de espessura, designadas formações Pirassununga,
Santa Rita do Passa Quatro e outras coberturas foram identificadas como Formação
Rio Claro por Melo (1995) e Melo et al. (1997). Esses autores basearam-se para
isso, em semelhanças granulométricas, mineralógicas, faciológicas e
geomorfológicas. (Figura 4.5).
Figura 4.6. - Áreas de ocorrência da Formação Rio Claro e/ou depósitos correlatos na Depressão Periférica.
Fonte: Extraído com modificações de Melo et al. (1997).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
54
Melo et al. (1997), conforme Figura 4.5, reconheceram, na área, manchas
da Formação Rio Claro, na forma de depósitos de sistema fluvial meandrante sob
ação de clima úmido, agrupadas em quatro litofácies principais:
Trcl = predominância de lamitos de origem gravitacional, formados em
áreas de relevo acidentado nas cercanias do Planalto Atlântico; Trcc =
predominância de cascalhos e areia de depósitos associados a canais (fundo de
canal, barras de pontal) de sistema fluvial meandrante; Trcm = argila laminada com
impressões de folhas e caules em planícies de inundação; Trca = areias de
rompimento de diques marginais. A área de ocorrência dos fitofósseis estudados em
Jaguariúna (SP), estaria na fácies Trcm, da Formação Rio Claro, de acordo com
Melo et al. (1997). (Figura 4.6).
Figura 4.7 – Distribuição de Litofáceis da Formação Rio Claro ao longo da borda leste da bacia do Paraná, na área de
Jaguariúna (SP). Extraído com modificações de Melo et al. (1997).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
55
4.3 – Aspectos Paleontológicos
Até o momento, os sedimentos neopaleozóicos do Subgrupo Itararé
apresentam-se afossilíferos, na área de Jaguariúna. Por outro lado, o Cenozóico da
Depressão Periférica apresenta um conteúdo fossilífero, registrado por alguns
autores como se segue:
4.3.1 – Registros Paleozoológicos Cenozóicos da Depressão Periférica
No Cenozóico da Depressão Periférica, os animais estão, pobremente,
representados por apenas alguns fósseis do Filo Arthropoda.
Esses foram registrados, inicialmente, na Formação Pirassununga, no
Município de Vargem Grande do Sul, por Duarte & Martins (1985) como Asa de
Inseto. Posteriormente, Martins-Neto (1989) identificou essas formas de homópteros
cercopóides como Parafitopteryx duarteae Martins-Neto, 1989.
Na Formação Rio Claro, Fernandes & Mello (1996) registraram, em
afloramento na rodovia Paulínia – Cosmópolis, margem direita do rio Atibaia, um
icnofóssil de artrópode na forma de uma provável pista de crustáceo anostráceo, que
é típico de água doce.
4.3.2 – Registros Paleobotânicos dos Depósitos Cenozóicos da Depressão Periférica
Como já mencionado no Capítulo 1, a paleoflora cenozóica do Estado de São
Paulo permanece relativamente desconhecida do ponto de vista taxonômico, ainda
que apresente registro abundante com várias ocorrências fitofossilíferas indicadas
por Mezzalira (1966, 1989 e 2000), observáveis na Tabela 1.1.
Na Depressão Periférica, a Formação Pirassununga (ou a Formação Rio
Claro, conforme Melo, 1995 e Melo et al. 1997), destaca-se como a mais
fitofossilífera (Fig. 4.5). Na Fácies Vargem Grande do Sul – foram identificadas
algumas formas por Mezzalira (1961/62, in 1964) que, depois, foram
complementadas com a identificação de outras por Duarte & Martins (1983, 1985)
chegando-se à seguinte composição paleoflorística:
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
56
Eudicotiledôneas
Caesalpinoidea
Cassia parkerii Duarte & Martins, 1983.
Cassia elliptica Duarte & Martins, 1983.
Cassia parabicapsularis Duarte & Martins, 1983.
Fab
ales
Faboidea
Machaerium nervosum Duarte & Martins, 1983.
Platipodium potosianum Engelhardt, 1894.
Camptosema cordatum Duarte & Martins, 1983.
Camptosema primum Duarte & Martins, 1983.
Rutales Cedrela arcuata Duarte & Martins, 1983.
Serjania mezzalirae Duarte & Martins, 1983.
Sapindales Sapindus ferrerae Duarte, 1972.
Celastrales Maytenus fragilis Duarte & Martins, 1985.
Myrtales
Eugenia vargensis Duarte & Martins, 1985.
Eugenia punctata Duarte & Martins, 1985.
Psidium adornatum Duarte & Martins, 1985.
Myrcia diafana Duarte & Martins, 1985.
Caliptrantes argilosa Duarte & Martins, 1985.
Gomidezia costata Duarte & Martins, 1985.
Tibouchina izildaisabelae Mezzalira, 1964
Gentianales Symplocus dealbata Duarte & Martins, 1985.
Magnoliales Annonaceae – Mezzalira, 1964 e 1966.
Ebenales Mezzalira, 1964 e 1966.
Na Formação Rio Claro, Mezzalira (1961/1962) referiu-se a prováveis
restos de Monocotiledôneas. Bjornberg et al. (1964b) identificaram “nos sedimentos
modernos” do platô de Rio Claro, as famílias Nymphaeaceae, Potamogetonaceae ou
Alismataceae (Helobiae), semelhantes a formas aquáticas viventes e prováveis
cápsulas de Bryales.
Zaine (1994) e Zaine et al. (1995) registraram, na área do platô de Rio
Claro, vegetais fósseis indeterminados, alguns semelhantes aos descritos por
Bjornberg et. al. (1964b), ainda oogônios de carófitas e impressões atribuídas a
angiospermas e filicopsidas.
Fittipaldi (in Melo et. al. 1997) identificou na Formação Rio Claro
Magnoliopsidas e prováveis fragmentos de Liliopsidas do tipo Typhaceae.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
57
O conteúdo paleontológico dos depósitos atribuídos à Formação Rio
Claro ainda não permitiu avançar muito em relação a interpretações geocronológicas
e paleoambientais.
A tafoflora de Jaguariúna é composta basicamente por restos de vegetais,
com destaque para inúmeras folhas, com preservação precária devido ao ambiente
em que foi depositado (provavelmente oxidante) ou ao intemperismo químico
posterior com intensa lixiviação. É possível observar também uns raros espécimes
diminutos de moluscos gastrópodes, preservados em associação nesses
sedimentos.
A importância do estudo dos fitofósseis está nas possíveis inferências
paleoclimáticas a partir das feições morfológicas de suas formas foliares, ditadas
pelo clima reinante na época de vida e por características tafonômicas das plantas.
Esse conteúdo fitofossilífero foi noticiado pela primeira vez, por Fernandes
et al. (1994) para a região de Paulínia e Jaguariúna (SP), como de variável grau de
fragmentação e dimensões centimétricas, ocorrente em siltitos amarelo-ocre,
laminados, contidos nas fácies lamitos (siltitos, arenitos muito finos e argilitos), com
espessuras de 10 a 15m.
Esses fitofósseis foram, tentativamente, atribuídos à Família Cyperaceae
ou Typhaceae, ambas viventes, no geral, em ambientes paludosos ou lacustres.
Conforme esses autores, os fragmentos vegetais teriam sido depositados
em meandros abandonados sob águas calmas, por ocasião de transbordamentos
durante inundações.
Dos-Santos et al. (2006), em avaliação preliminar, da tafoflora cenozóica
do Município de Jaguariúna (SP), registraram a ocorrência de 16 morfotipos distintos
de folhas. Cerca de 96% dessa tafoflora seriam representados por eudicotiledôneas
e 4% por monocotiledôneas e/ou coníferas. Utilizaram a grande diversidade de
formas, com predomínio de margem lisa e de ápice convexo de ângulo agudo, como
evidências de adaptação ao clima quente e úmido, de altitude e latitude baixas. Com
base no predomínio de áreas foliares pequenas, propuseram provável deposição
seletiva em área de inundação. Considerando a provável idade neógena atribuída à
Formação Rio Claro e o provável clima mais quente e úmido que o atual, indicado
pela tafoflora; sugeriram como idade mais provável a miocena, pois na época
pliocena, o clima global teria sido mais frio e seco.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
58
CAPÍTULO 5 – MATERIAL E MÉTODOS
5.1.Material Estudado
O material tafoflorístico aqui estudado é proveniente de afloramento de
camadas sedimentares que apresentam alternância de argilitos, arenitos finos e
grossos intercalados por crostas limoníticas, conforme pode ser observado na seção
colunar e fotos ali obtidas. (Figura 5.1, Estampa I - Figuras 1, 2, 3, 4, 5, e 6).
A coleta foi realizada a partir de dois níveis fossilíferos, indicados na
seção colunar, que apresentaram diferente composição e tipo de preservação. O
inferior contém material mais abundante e diversificado, na forma de impressões
foliares e caulinares, recobertas por pátina esbranquiçada de caulinita, quase sem
detalhes morfo-anatômicos, em matriz de argilito variegado amarelo – alaranjado a
róseo, com laminação incipiente, localizado próximo à base do afloramento, com
0,72m de espessura. Muitas vezes, a abundância e a distribuição caótica dos
fósseis, desse nível, dificultaram o estudo dos espécimes, que se apresentavam
superpostos tornando impossível a sua separação. O superior apresenta impressões
e compressões foliares e caulinares (quase sempre folhas de monocotiledôneas e
caules de esfenófitas) desprovidas de pátina, em matriz de argilito amarelo com
plaquetas de argila branca disseminadas, também de laminação incipiente.
Quanto aos aspectos tafonômicos, as observações durante a coleta
mostraram que a assembléia tafoflorística é constituída de folhas inteiras e
fragmentadas. Entretanto, mesmo fragmentadas, algumas impressões foliares
preservam feições morfológicas, como margem, forma da base e/ou ápice, embora
quase sempre a venação é incipiente.
É importante ressaltar que alguns espécimes fragmentaram-se durante o
transporte até o sítio de deposição (causas bioestratinômicas), enquanto outros, por
serem extremamente frágeis na matriz intemperizada, fragmentaram-se durante a
coleta e transporte do campo para o laboratório.
Algumas folhas apresentam cicatrizes e/ou manchas, de possíveis
ataques por insetos (Estampa VIII Figuras 8, 9 e 10).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
59
5.2 - Métodos de Estudo
Os métodos foram subdivididos em métodos de campo e laboratório, por
questão de clareza do texto.
5.2.1 - Métodos de Campo
Os métodos de campo consistiram em localização exata do afloramento;
levantamento da seção colunar e coleta de amostras da tafoflora.
Com equipamento de localização por Sistema de Posicionamento Global
(GPS) de marca Germin Etrex-Vista foram obtidas, no local do jazigo fossilífero, as
coordenadas 22º 39’ 38” de latitude sul e 47º 00’de longitude oeste e altitude de
584 m.
No local, foi levantada uma seção colunar (Figura 5.1) tomando como
base o nível mais inferior do afloramento próximo a uma boca de lobo da estrada.
A partir da base, foi detectada uma camada de argilito variegado amarelo-
ocre-rosado, com plaquetas de argila branca, ligeiramente arenoso, afossilífero com
delgada crosta limonítica no seu interior. A espessura da camada é de 0,32m. Sobre
essa camada, numa espessura de 0,72m, há uma camada de argilito variegado
amarelo-alaranjado claro, com laminação incipiente e fossilífero. Apresenta falha de
direção N 15º W com mergulho de 20º no sentido NE. Esta camada é capeada por
uma crosta limonítica de 0,05m de espessura. Sobrepõe-se a ela uma camada de
arenito grosso, arcosiano, incipientemente, estratificado na horizontal, de 1,35m de
espessura. Este arenito está sotoposto a um argilito amarelo, com plaquetas de
argila branca, mais ou menos laminado fossilífero, com 1m de espessura. Sobre o
argilito, repousa uma camada de arenito grosso mal selecionado, amarelo-
acastanhado, com estratificação cruzada, de 1 m de espessura. Capeia esse arenito
uma nova crosta limonítica, com espessura de 0,04 m. Sobrepõe-se 1,25 m de
argilito variegado vermelho esbranquiçado, afossilífero, capeado por outra crosta
limonítica de 0,06 m de espessura. Sobre essa crosta assenta-se um espesso solo
arenoso de 3,50 m de espessura.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
60
← Solo arenoso (3,50 m de espessura).
← Crosta limonítica (de 0,06 m de espessura).
← Argilto avermelhado, variegado, afossilífero (de 1,25 m de espessura).
← Crosta limonítica (de 0,04 m de espessura).
← Arenito grosso, mal selecionado, amarelo-acastanhado, com estratificação
cruzada. (1,0 m de espessura).
← Argilito amarelo com plaquetas de argila branca, mais ou menos laminado e
fossilífero com Typha e Equisetites (?). (1,00 m de espessura).
← Arenito grosso, arcosiano, incipientemente, estratificado na horizontal (1,35 m
de espessura).
← Crosta limonítica (0,05 m de espessura).
← Argilito, amarelo claro, laminado, com laminação incipiente e fossilífero (0,72 m
de espessura).
← Falha de direção N 15° W, com mergulho de 20° no sentido NE.
← Argilito amarelo-ocre, variegado com plaquetas de argila branca, ligeiramente
arenoso, afossilífero, com nível mais férrico no seu interior (0,32 m de espessura).
Figura 5.1. – Seção colunar composta do afloramento fossilífero de Jaguariúna, na margem esquerda da Rodovia SP-340 (Sentido Campinas–Mogi-Mirim) no km 136,5.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
61
A coleta de material foi feita em diversas viagens, tomando-se o cuidado
de medir a direção preferencial do alongamento dos fósseis na camada, obtendo-se
uma ligeira predominância entre N 28ºW e N 30ºW. O material, devidamente
embalado, foi transportado para preparação e estudo em laboratório.
5.2.2- Métodos de Laboratório
Esses métodos consistiram em: preparação das amostras para estudo;
pesquisa bibliográfica de características diagnósticas de espécies fósseis já
descritas para o cenozóico brasileiro; preparação de espécimes de formas atuais
para comparação, pelo método de clarificação; documentação gráfica, por fotos e
desenhos; análise morfo-anatômica do material fossilífero sob estereomicroscópio
(mensuração e descrição); identificação taxonômica e integração dos dados.
Após secagem das amostras vindas do campo, passou-se à preparação
mecânica, numeração e catalogação.
a) Preparação mecânica do material – Com auxílio de ferramentas como
martelos, talhadeiras, marteletes, serrinhas e instrumentos odontológicos de
corte e pontiagudos, a matriz fossilífera foi desbastada, descobrindo e
livrando os fósseis de coberturas parciais de sedimentos, seguindo a
metodologia descrita por Fairon-Demaret et al. (1999), chamada dégagement.
A seguir, os fósseis foram numerados, provisoriamente, até o término do
estudo, quando receberão numeração definitiva, para publicação e inclusão
na Coleção Científica do Laboratório de Geociências da UnG.
b) Pesquisa bibliográfica - Intensa pesquisa da literatura botânica e
paleobotânica, em biblioteca e Internet, foi realizada durante todo estudo até
a sua conclusão; visando conhecer a geologia da área e a paleobotânica
neógena do Estado de São Paulo, do Brasil, Sul-americana e em seu
contexto mundial, bem como, o habitat e hábito de formas atuais afins. Foram
realizados levantamento e confecção de fichas dos caracteres diagnósticos
das espécies de fitofósseis cenozóicos, já descritos no Brasil, visando
comparações com o material estudado.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
62
c) Clarificação de formas foliares atuais para comparação - O material foliar foi
clarificado pelo método de Foster, conforme descrito por Dutra & Stranz
(2002).
d) Documentação gráfica - a documentação gráfica dos espécimes estudados foi
realizada por fotos e desenhos em câmara clara. Os espécimes foram
fotografados diversas vezes na tentativa de aprimoramento técnico, tendo em
vista a obtenção de melhores fotos. Constatou-se que a melhor técnica é a de
iluminação natural para os espécimes foliares de maior área, enquanto os
espécimes menores requerem iluminação artificial dirigida, sob
fotoestereomicroscópio. Para as fotomacrografias, foi utilizada a câmera
fotográfica digital Sony Cyber-Shot 5.1 Megapixels, enquanto as
fotomicrografias foram obtidas através do fotoesteromicroscópio Zeiss modelo
Stemi CV6 acoplado de câmera fotográfica Canon PowerShot G6 7.1
Megapixels, ambos do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da UnG.
Os fitofósseis foram analisados com iluminação por fibra óptica (oblíqua ou
rasante) no mesmo esteromicroscópio Zeiss, acoplado de câmara clara, sob a
qual, as feições morfológicas foram desenhadas, visando o detalhamento dos
padrões de venação de ordens superiores à secundária e outros pormenores
morfológicos.
e) análise da arquitetura foliar do material sob estereomicroscópio (mensuração
e descrição) - os espécimes tiveram sua arquitetura foliar analisada segundo
o manual de Wing et al.1999; suas dimensões lineares e angulares foram
obtidas com o paquímetro digital Mitutoyo e com transferidor sobre o próprio
fóssil ou sobre seu desenho em escala, obtido na câmara clara. As áreas da
superfície foliar foram calculadas conforme métodos matemáticos de Wing et
al. 1999 e classificadas segundo as categorias estabelecidas por Webb, 1955.
f) identificação taxonômica – as identificações de angiospermas foram feitas
com base na chave de arquitetura foliar de Hickey (1973), Hickey & Wolfe
(1975) e Hickey (1979), chegando-se até ordem ou família; na comparação
com táxons menores atuais seguiu-se Cronquist (1988), Judd et al. (2002),
Lorenzi (1992, 1998 e 2000), Souza & Lorenzi (2005), publicações atuais e
pesquisa de imagens na Internet, além de comparações com material de
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
63
herbário clarificado. Quanto à comparação com material fóssil, foram
utilizadas fichas das espécies fósseis levantadas da literatura paleobotânica
e outras publicações.
g) Levantamento e integração de dados - Após a análise morfológica e
conseqüente identificação dos fitofósseis foram realizados levantamentos de
dados paleoecológicos, paleofitogeográficos, filogenéticos, etc. Mapas de
distribuição geográfica e geológica de floras miocenas e pliocenas sul-
americanas e, além disso, de composição e distribuição estratigráfica dessas
floras foram confeccionados para permitir a integração e interpretação dos
dados obtidos.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
64
CAPÍTULO 6 – DADOS TAXONÔMICOS DA TAFOFLORA DE JAGUARIÚNA
Toda classificação de organismos vivos, conforme Taylor & Taylor (1993),
apesar do árduo e longo estudo e refinamentos continuados, representa ainda um
esquema altamente subjetivo. A maioria das classificações está baseada sobre o
mesmo tipo de evidência: feições compartilhadas, que permitem reconhecer
gêneros, famílias e outras categorias superiores em esquema de classificação. O
esquema classificatório filogenético ou cladística tem o intuito de produzir uma
classificação com base em caracteres derivados compartilhados (sinapomorfias) que
verdadeiramente reflitam a evolução de grupos particulares de organismos. Os
sistemas de classificação fenéticos utilizam todas as similaridades de caracteres
primitivos ou derivados como critérios na classificação dos organismos.
Os paleobotânicos têm, segundo os referidos autores, utilizado um
sistema de designação artificial, visto que, em quase todos os casos, as plantas por
eles estudadas estão representadas no documentário fóssil por órgãos
desarticulados. Disto resulta o estabelecimento de um sistema especial de
nomenclatura para se tratar de partes de vegetais fósseis. Como em outras áreas da
botânica, as plantas fósseis são designadas de acordo com um conjunto especial de
regras incluídas no Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Entretanto, em
Paleobotânica, cada órgão desarticulado recebe uma nomenclatura binomial (nomes
genérico e específico). Nesse caso, surgem os morfogêneros ou gêneros-forma.
Quando se torna conhecida uma conexão entre um órgão vegetativo e um
reprodutivo, permitindo o reconhecimento de famílias naturais, um organogênero ou
gênero-orgão é criado. Como a maioria das plantas é constituída de muitos órgãos,
para referir-se à planta completa (quando a planta total é reconstituída) torna-se
necessário um sistema complexo de nomenclatura, seguindo-se dois padrões
possíveis: por um lado o organismo todo pode receber um novo nome ou o
organismo completo recebe o nome genérico do órgão que foi designado primeiro.
Na classificação taxonômica dos macrofitofósseis, conforme ressaltou
Mussa (in Carvalho, 2004), os paleobotânicos adotam a sistemática vegetal que
melhor se ajuste à incorporação harmoniosa dos grupos fósseis, muitos dos quais
totalmente extintos.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
65
A tafoflora de Jaguariúna foi analisada, taxonomicamente, segundo seu
documentário de macrofósseis foliares, que é o mais abundante e diversificado.
Na listagem e descrição dos elementos componentes dessa tafoflora, de
afinidades bem estabelecidas com formas atuais, foram seguidas as classificações
propostas por Tryon & Tryon (1982) para filicófitas e pelo APG II (2003) para as
angiospermas, neste caso complementadas em gêneros e espécies por Cronquist
(1988). Para os espécimes muito mal preservados, identificáveis taxonomicamente,
apenas por sua afinidade com folhas de monocotiledôneas propôs-se a designação
morfogenérica Monocotylophyllum Reide et Chandler, 1926. Para aqueles
identificáveis somente por sua afinidade com folhas de dicotiledôneas, designou-se
pelo morfo-gênero Dicotylophyllum Saporta (1894), seguindo Guleria et al. (2005).
Figura 6.1 – Tabela do APG II (2003) - Inter-relações das ordens e algumas famílias das angiospermas colocando em evidência o posicionamento taxonômico e filogenético dos grupos vegetais encontrados na tafoflora de Jaguariúna.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
66
6.1 – Lista Taxonômica da tafoflora de Jaguariúna
A seguir, são descritos, pela primeira vez, elementos componentes da
tafoflora, ainda que apenas, preliminarmente, estudada, devido à sua má
preservação, à grande abundância de fósseis coletados e à premência do tempo
para finalização desse estudo. Contudo, esses dados já permitem algumas
inferências paleobotânicas, paleoecológicas e paleoclimáticas, como poderá ser
visto nos próximos capítulos.
Compõem a tafoflora de Jaguariúna os seguintes elementos: Elaphoglossum sp;
Ocotea cf. O. pulchelliformis Fittipaldi, 1990; Typha cf. T. tremembensis Duarte &
Mandarim-de-Lacerda, 1992; Typha fittipaldii sp.n.; Monocotylophyllum sp. 1;
Monocotylophyllum sp. 2; Alternanthera sp; Garcinia sp.; Leguminosites sp.;
Aspidosperma duartei sp. n.; Dicotylophyllum sp. 1; Dicotylophyllum sp. 2;
Dicotylophyllum sp. 3; Dicotylophyllum sp. 4; Dicotylophyllum sp. 5; Dicotylophyllum
sp.6; Dicotylophyllum sp. 7; Dicotylophyllum sp. 8; Dicotylophyllum sp. 9;
Dicotylophyllum sp. 10; Dicotylophyllum sp. 11.
6.2 – Descrição e Identificação dos Fitofósseis
Reino Plantae
Divisão Filicophyta Tryon & Tryon, 1982
Classe Filicopsida
Ordem Filicales Dumortier, 1829
Família Dryopteridaceae Herter, 1949
Tribo Bolbitideae Pichi–Sermolli, 1969
Gênero Elaphoglossum J. Sm., 1841
Elaphoglossum J. Sm., 1841 – segundo Tryon & Tryon (1982), é uma
filicófita terrestre, rupestre ou epífita, de caule muito curto ou longamente rastejante
ou grimpante, muito delgado ou ligeiramente espesso, incluindo as bases de
pecíolos persistentes, portando escamas e raízes mais ou menos fibrosas. Suas
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
67
folhas são comumente dimórficas (as férteis diferindo das estéreis em tamanho,
forma e comprimento); podem ter de 2 cm a 2 m de comprimento, nascidas em tufos
ou amplamente espaçadas, lâminas simples usualmente inteiras. Suas margens são
inteiras ou largamente crenadas ou profundamente serradas-crenadas ou ainda
lobadas, dissecadas flabeliformes, ou pinatissectas. Desarticulam-se próximo à base
do pecíolo, em muitas espécies. Possuem textura glabra ou escamosa, raros
tricomas glandulíferos; veias livres ou pouco conectadas na margem ou, raramente,
anastomosadas. Os esporângios são densos sobre a superfície abaxial e portam
esporos mais ou menos elipsoidais, monoletes, com laesura igual à metade do
comprimento do esporo. Os esporos apresentam dobras semelhantes a aletas, com
superfície equinada a reticulada.
O gênero é pantropical a temperado austral, com cerca de 500 espécies,
das quais 350 ocorrem na América.
Elaphoglossum sp
Estampa II, Figura 1 e 2 e Figura de texto 6.1 e 6.2.
Espécimes estudados: JN 01 a, b; JN 57 a,b; JN 87.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento.
Descrição: Uma impressão isolada mais duas impressões e respectivas contra-
impressões foliares de frondes estéreis, simples, de limbo inteiro. O espécime JN 01
a,b possui pecíolo longo preservado, que mede 11 mm de comprimento por 1,6 mm
de largura. As lâminas foliares medem de 50 mm a 85,5 mm de comprimento por 15
a 24,4 mm de largura, tratando-se de formas micrófilas, elípticas, assimétricas, com
ápice reto de ângulo agudo (55º), e base decorrente de ângulo agudo (40º), de
margem lisa. Textura com raros tricomas. A veia primária é crassa, adelgaçando-se
para o ápice. Veias secundárias emergem da primária em ângulo agudo (28º a 80º),
de curso paralelo, com dicotomias e poucas anastomoses, terminando livres na
margem.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
68
Comparação: A forma de fronde simples de limbo inteiro, seu longo e delicado
pecíolo e mesmo a venação secundária dicotômica, de curso paralelo, são
sugestivas para o Gênero Elaphoglossum J. Sm, 1841, comparando-se à espécie
Elaphoglossum aubertii (Desv.) Moore (in Tryon & Tryon, 1982 : 623, Figura 96.11);
pela presença de raras anastomoses, aproxima-se um pouco de E. crinitum (L.)
Christ (in Tryon & Tryon, 1982: 623. Figura 96.13) e pelo longo pecíolo e pilosidade,
mormente sobre a veia primária, assemelha-se a Elaphoglossum petiolatum (Sw.)
Urban, conforme é observável no site Field Museum Chicago – Neotropical
Herbarium Specimens para comparação um espécime de E. antisana pode ser visto
na Estampa II Figura 3. Dada à falta de boa preservação e ao ângulo de emergência
um pouco mais agudo torna-se prudente manter o espécime identificado apenas
como Elaphoglossum sp.
Ecologia: Elaphoglossum J. Sm. (1841) é, primariamente, um gênero de epífita,
crescendo principalmente sobre troncos de árvores, próximo ao chão até 2m de
altura, em lugares úmidos, conforme Tryon & Tryon (1982). As espécies de
Elaphoglossum caracterizam-se por preferirem ambientes no interior da mata,
podendo ser de habitat terrícola ou corticícola, com representantes hemicriptófitos.
Elaphoglossum petiolatum (Sn.) Urban, E. aubertii (Desv.) Moore e E. crinitum (L.)
Christ são representantes de florestas serranas, nos brejos de altitude acima de 600
metros conforme Moran (1995, in Santiago et. al., 2004). Esses autores registram
espécies de Elaphoglossum J. Sm. (1841), nos brejos de altitude da flora de
Pernambuco, no Brasil. Quando em altitudes superiores a 1500m, fazem parte das
pteridófitas epífitas das florestas nebulosas, principalmente, da Mata Atlântica do
Sudeste do Brasil, conforme Figueiredo & Salino (2006).
Distribuição Geográfica: Elaphoglossum é um gênero de distribuição geográfica
pantropical e temperado do sul, com 600 espécies, sendo 450 encontradas na
América Neotropical (Bell, 1950). Ocorre na área tropical e temperada da África, sul
da Índia, Ceilão e Malásia, nos Himalaias, sul da China, Japão, Nova Guiné, Nova
Caledônia, nordeste da Austrália, nas Ilhas Havaianas e na Ilha de Páscoa. (Figura
6.2). Na América do Norte, ocorre desde o norte do México, descendo pela América
Central e Antilhas até o sul da América do Sul (Chile e Patagônia). (Figura 6.3).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
69
Figura 6.2 – Distribuição mundial do gênero Elaphoglossum J. Sm. (1841). Extraído com modificações de http://www.nybg.org/bsci/res/moran/elaphoglossum_distribution.htm
Figura 6.3 - Distribuição de Elaphoglossum na América. Extraído com modificações de (Tryon & Tryon, 1982 - Figura 96.4 : 621)
Distribuição Estratigráfica: O gênero Elaphoglossum foi detectado no Mioceno de
Loja, no Equador, com três espécies, por Berry (1929), (Tabela 3.1, M-6) e, agora
em Jaguariúna (possivelmente Mioceno). É interessante notar que outra
Dryopteridaceae ou Lomariopsidaceae (Lomariopsis sp) foi encontrada na Formação
Pindamonhangaba (Tabela 3.1, P-19), por Mandarim-de-Lacerda et al. (1994).
Divisão Angiospermophyta
Magnoliidae APG II, 2003
Ordem Laurales Perleb 1826
Família Lauraceae Jussieu 1789
Gênero Ocotea Aublet, 1775
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
70
Gênero de plantas da Familia Lauraceae, que inclui mais de 200 espécies
de árvores e arbustos, distribuídos principalmente pelas regiões tropicais e
subtropicais. São plantas que produzem óleos essenciais. Dentre elas citam-se: O.
cymbarum, O. caudata, etc. Muitas são importantes na produção de madeira como
Ocotea porosa (imbuia), Ocotea odorifera (sassafrás), Ocotea puberula (Rich) Nees
(canela-guaica, canela parda) e Ocotea pulchella (Nees et Mart. ex Nees) Nees
(canela-lageana, canela-preta, canela-do-brejo), segundo Souza & Lorenzi (2005).
Árvores de 10 a 30 m de altura, com copa globosa e densa, quase sempre
perenifólias, com folhagem de coloração verde-clara à verde-escura. O tronco é
tortuoso ou ereto, de diâmetro grande (75 cm a 250 cm), casca externa rugosa com
fendas e lenticelas. As folhas são simples, alternas, glabras, cartáceas a coriáceas,
têm forma elíptico-lanceolada, obovada ou oblonga, base e ápice agudos. Medem
de 6 a 15 cm de comprimento por 0,8 a 6,0 cm de largura, numa proporção largura
por comprimento mais comum de 1:3. Pecíolo, geralmente, longo. Apresentam flores
hermafroditas e frutos carnosos do tipo drupa.
Ocotea cf. O. pulchelliformis Fittipaldi, 1990
Estampa II, Figura 4 e 5 e Figura de texto 6.3
Espécimes estudados: JN 216; JN 231 A; JN 231 B; JN 263 A, JN 270 B.
Procedência: nível fossilífero inferior do afloramento.
Descrição: Impressões de folha simples, com regiões basal, mediana ou apical
preservadas. O pecíolo, quando preservado, é marginal e mede 5 mm de
comprimento e 2 mm de largura. Contorno elíptico a oblongo, de base ligeiramente
assimétrica. Ápice não preservado. A porção laminar preservada mede 55 mm de
comprimento por 20 mm de largura (proporção igual a 1: 2,75), atingindo uma área
superior a 733mm2, sugerindo tratar-se de micrófila. A base é convexa de ângulo
agudo (68º). A margem é inteira. A veia primária é de padrão pinado, reta, de calibre
moderado, afilando para o ápice. As veias secundárias seriam de categoria
eucamptódroma no primeiro par basal e de categoria broquidódroma fraca, nos
pares seguintes. Um par de veias basais apresenta ângulo de 30º-35º e são
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
71
levemente acrodrômicas. Os pares superiores emergem a um ângulo de 40º-45º e
são subopostas. As veias secundárias são moderadas e arqueadas desde sua
emergência, convergindo para o ápice próximo à margem, quando se unem às
imediatamente superiores em uma série de pequenos arcos. São desprovida de veia
intramarginal. Veia intercostal ao acaso. Veias terciárias percorrentes opostas
dispostas em ângulos ortogonais e as quaternárias são percorrentes alternas,
formando aréolas em reticulado ortogonal com quatro ou cinco lados. Algumas
estruturas circulares de tamanho reduzido são, às vezes, visualizadas sobre o limbo
(JN 216).
Comparação: Conforme Hickey & Wolfe (1975), o padrão broquidódromo fraco (com
veias secundárias unindo-se as suprajacentes, numa série de pequenos arcos), com
o primeiro par de secundárias originando-se a um ângulo menor que os superiores,
com venação terciária tipo reticulado, levam à comparação com a Ordem Laurales
da Família Lauraceae. Dentre as formas neógenas encontradas fósseis no Brasil, há
os gêneros: Cinnamomum, Endlicheria, Persea, Ocotea e Mespilodaphne. Dentre
essas formas a que mais se aproxima dos espécimes estudados é a Ocotea Aublet,
principalmente aquela encontrada por Fittipaldi (1990; Estampa 1, Figura 1 e 3):
Ocotea pulchelliformis Fittipaldi, 1990, na Formação Itaquaquecetuba. Apenas não
foi possível observar, devido à má preservação, vênulas de 5ª (quinta) ordem
simples ou ramificadas. As formas analisadas são algo maiores, com uma proporção
comprimento por largura um pouco maior. Devido à falta de informações ou às
pequenas discrepâncias, optou-se por designar os espécimes analisados, como
Ocotea cf. Ocotea pulchelliformis Fittipaldi, 1990. Um exemplar da forma atual pode
ser observado para comparação na Estampa II, Figura 6.
Ecologia: O. pulchella (Nees et Mart Ex Nees) é planta semi-decídua, heliófita,
higrófita, típica da Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária), ocorrendo no
interior de mata sombria e úmida, mas pode também aparecer nos campos de
altitude da Serra da Mantiqueira e é comum na Mata Atlântica de onde se originou,
conforme Rizzini (1997). Pode aparecer ainda na restinga e nos cerrados de São
Paulo, embora seja mais freqüente nas submatas de pinhais, segundo Lorenzi
(2002a : 146).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
72
Distribuição geográfica: Ocotea é gênero típico do Reino Neotropical. Possui
ampla distribuição geográfica desde o sul da Flórida, pela América Central, até o
Uruguai, com mais de 200 espécies. No Brasil, é comum do Estado de Minas Gerais
até o Rio Grande do Sul. Algumas espécies são nativas da África e Madagascar.
Figura 6.4 mostra a distribuição mundial de lauráceas entre as quais está Ocotea.
Figura 6.4 - Distribuição mundial de Lauraceae. Extraído de http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/lauralesweb.htm
Distribuição estratigráfica: A Família Lauraceae teria surgido na América do Sul,
segundo Raven & Axelrod (1974). Isto teria acontecido durante o Cenomaniano,
quando as Magnoliídeas se dispersaram, conforme Anderson & Van Wyk (1999). Na
América do Sul, as Lauraceae se distribuíam, como atesta o documentário fóssil
paleógeno, desde a Venezuela até a Patagônia (Franco-Delgado & Bernardes-de-
Oliveira, 2004). Ocotea é uma laurácea cujos registros paleógenos aparecem
apenas no Brasil, na Formação Tremembé, da bacia do Paraíba. No Neógeno,
deixou registro também na Formação Ituzaingó, Plioceno da Província de Corrientes,
na Argentina (Anzotegui, 1978), conforme Tabela 3.1: P22 e Figura 3.3: P22, e na
Formação Itaquaquecetuba (Oligoceno-Mioceno) da bacia de São Paulo (Fittipaldi,
1990) e agora em Jaguariúna (Tabela 3.1: M18 e M19).
Monocotyledoneae APG II, 2003
Subclasse Commelinideae APG II, 2003
Ordem Poales Small, 1903
Família Typhaceae Jussieu, 1789
Gênero Typha Linnaeus, 1753
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
73
As tifáceas são incluídas nas Commelinidae devido a sua redução floral
associada com polinização anemófila, seus estômatos paracíticos, com presença de
vasos lenhosos em todos os órgãos vegetativos, sem endosperma portador de
amido entre outras características, conforme Cronquist (1988). Pertencem à Ordem
Poales Small 1903, conforme APG II (2003). São ervas paludosas, com uma porção
rizomatosa e outra ereta, portando folhas simples, alternas, dísticas, paralelinérveas,
com inflorescências espiciformes, cilíndricas e densas, aveludadas, de cor ferrugem
e terminais. São plantas monóicas, apresentando flores masculinas, sem gineceu,
no ápice da inflorescência e femininas sem estames, na base e de polinização
anemófila. Frutos tipo folículo, minúsculos e secos. Família monotípica, isto é, com
apenas o gênero Typha e cerca de uma dúzia de espécies. Esse gênero trata-se de
erva vulgarmente conhecida como taboa. Perene com ou sem tufo basal de folhas,
rizomatosa, higrófila e helófita. Folhas emergentes alternadas, dísticas de seção
triangular ou plana, coriáceas, sésseis invaginantes e simples. Lâminas inteiras,
lineares, longas, de venação paralelódroma, sem vênulas transversais, com
meristema basal persistente. Planta com ou sem corpos silicosos em sua epiderme.
Estômatos paracíticos e células - guardiãs não típicas de gramíneas (Joly,1983 e
Watson & Dallwitz, 1992, 2006).
Typha cf. T. tremembensis Duarte & Mandarim de Lacerda, 1992
Estampa III, Figura 1, 2, 3, 4 e 6; Figura de texto: 6.4 e 6.6;
Espécimes estudados: JN 243 A/B; JN 300; JN 309; JN 316; JN 319; JN 341 B/C;
JN 350; JN 371b A; JN 371b E; JN 388; JN 392; JN 393 A/D; JN 412; JN 443; JN
447; JN 448; JN 449; JN 544 A; JN 554 D; JN 600; JN 602 A; JN 604 A/D; JN 605 A;
JN 606 A/B/C; JN 607; JN 608; JN 609.
Procedência: A amostra JN 243 A/B procede do nível fossilífero inferior e as
demais, do nível superior do afloramento.
Descrição: Impressões de fragmentos de folhas lineares longas, sem ápices ou
bases preservados, com margens inteiras e paralelas, de venação paralelódroma,
todas as veias de, aproximadamente, igual calibre e desprovidas de vênulas
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
74
transversais. A porção preservada mede 20-70 mm de comprimento, por 8-15 mm
de largura máxima. A densidade de venação é da ordem de 4 veias / 1 mm no centro
e 6 veias / 1 mm na margem, portanto com densidade ligeiramente maior próximo à
margem e mais eqüidistantes, de calibre semelhante e densidade menor próximo ao
centro. Provável paleotextura membranácea e possível mesófilo mais espesso no
centro da lâmina do que nas margens.
Comparação: Os fósseis em questão diferenciam-se de Cyperaceae, que são
formas mais comuns em clima temperado úmido, segundo Bremer (2002), pela
ausência de vênulas transversais. Isto torna essa forma mais identificável com as
Typhaceae. Dentre as formas atuais encontradas no Brasil (Typha domingensis
Persoon, T. latifolia L. e T. subulata Crespo & Peres-Moreau), é mais semelhante à
Typha domingensis (Estampa III, Figura 5) por suas folhas lineares, estreitas e
paralelinérveas. Assemelha-se a Typha tremembensis Duarte & Mandarim-de-
Lacerda (1992, p. 38-39, Estampa II, Figuras 7 e 9) na forma linear, com margens
inteiras e paralelas, na venação paralelódroma, na paleotextura membranácea e no
mesófilo mais delgado nas regiões submarginais e mais espesso no centro da
lâmina; vide Estampa III Figura 1, 2 e 6. Entretanto, como se tratam de apenas
fragmentos da porção mediana, não foi possível constatar as trabéculas transversais
ao eixo longitudinal da folha, correspondentes a impressões diafragmáticas do
aerênquima, mais nítidas na bainha foliar, conforme observação das autoras Duarte
& Mandarim-de-Lacerda (1992). Considerando tratar-se de um caráter diagnóstico
importante a ser confirmado, prefere-se aqui a identificação Typha cf. T.
tremembensis Duarte & Mandarim de Lacerda.
Typha fittipaldii sp. n.
Estampa III Figura 7,8 e 9 e Figura de texto 6.5
Holótipo: JN 400
Parátipos: JN 309 a A,B; JN 309 b A,B; JN 393 A, C; JN 393 H; JN 602 B, C.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
75
Procedência: espécime JN 554 D é proveniente do nível fossilífero inferior do
afloramento, enquanto os demais são provenientes do nível superior.
Nível estratigráfico: depósitos de cobertura neógenos, correlatos à Formação Rio
Claro.
Espécimes estudados: JN 309 a, A, B ; JN 309 b A, B; JN 316 A, B; JN 393 A, C;
JN 400; JN 436; JN 554 D; JN 602 B, C;
Diagnose específica: “Impressões foliares de forma simples, lineares, estreitas, de
margens inteiras e paralelas, de venação paralelódroma, densa, muito fina, de
calibre igual, sem vênulas transversais, de paleotextura coriácea a papirácea e de
mesófilo aparentemente homogêneo na área central e nas marginais”.
Specific Diagnosis: “Impressions of simple, linear, narrow leaf, entire and parallel
margins, parallelodromous, dense, very fine venation; all veins of equal caliber;
without transversal venelets; coriaceous to papiraceous paleotextura and mesophyll
apparently homogeneous in the central area as in marginal areas”.
Derivatio nominis: epíteto específico fittipaldii trata-se de um tributo ao Dr.
Fernando Cilento Fittipaldi, importante paleobotânico do cenozóico paulista.
Descrição: Impressões de fragmentos de folhas simples, lineares, estreitas, de
margens inteiras e paralelas, sem ápices e sem bases preservados, medindo de 1,5
mm até 6 mm de largura por 7,5 mm até 42 mm de comprimento incompleto. A
venação é paralelódroma, muito fina, de densidade variável de espécime para
espécime, entre 6-12 veias / mm, igual por toda lâmina, com veias de idêntico
calibre, desprovidas de vênulas transversais; de paleotextura quase sempre
membranácea, mas podendo ser mais papirácea ou coriácea e de espessura foliar
semelhante nas margens e na porção mediana.
Comparação: Por sua forma, densidade de venação e largura muito estreita, esses
espécimes assemelham-se à espécie atual Typha angustifolia Linnaeus, contudo a
ausência de epiderme preservada e de outros caracteres impede uma identificação
mais acurada com essa espécie, (Estampa III, Figura 10). Distingue-se de T.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
76
tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda por sua densidade de venação,
menores dimensões e por ausência de mesófilo mais delgado nas regiões
submarginais e mais espesso no centro da lâmina; caracteres diagnósticos dessa
espécie. Como se tratam de apenas fragmentos da porção mediana, não foi possível
constatar as trabéculas transversais ao eixo longitudinal da folha, correspondentes a
impressões diafragmáticas do aerênquima mais comuns próximo à bainha nessa
espécie. Por suas características bem marcantes, impossibilidade de comparações
mais acuradas com formas atuais e por sua relativa abundância na associação
fossilífera, justifica-se a proposição de uma nova espécie: Typha fittipaldii sp. n.
Ecologia: As tifáceas são plantas aquáticas higrófilas e helófitas, com folhas
emergentes da água, que habitam preferencialmente solos pantanosos e à margem
de corpos de águas lênticas. Comumente constituem associações muito densas e
extensas (hábito gregário). São herbáceas, perenes, com folhas agrupadas ou não,
proximalmente, sésseis, coriáceas e rizomatosas.
Distribuição Geográfica: As tifáceas são plantas quase cosmopolitas, que se
distribuem nas regiões temperadas e tropicais de ambos os hemisférios (Joly, 1983;
Souza & Lorenzi, 2005; Watson & Dallwitz, 1992 / 2006), com uma ou duas espécies
nativas para o Brasil, conforme Souza & Lorenzi (2005). Figura 6.5.
Figura 6.5- Distribuição geográfica mundial de Typhaceae. Extraído de http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/poalesweb.htm
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
77
Figura de texto 6.1 Figura de texto 6.2 Figura de texto 6.3 Ocotea cf. Elaphoglossum sp Elaphoglossum sp O. pulchelliformis Fittipaldi, 1990
Figura de texto: 6.4 Figura de texto 6.5 Figura de texto: 6.6 Typha cf. T. tremembensis Typha fittipaldii sp.nov. Typha cf. T. tremembensis
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
78
No Estado de São Paulo, são espécies espontâneas: T. latifolia Linnaeus
e T. domingensis Persoon.
A maioria das famílias de Poales recua seus registros até o final do
Cretáceo (65 Ma.). Análises de vicariância e dispersão indicam que as Poales
originaram-se na América do Sul, sendo que o clado ciperóide originou-se no
Gondwana Ocidental (América do Sul e África) enquanto o clado graminóide no
Gondwana Oriental (Austrália). A conexão transantártica entre a América do Sul e
Austrália e sua quebra há cerca de 35 Ma, provavelmente, influenciou a evolução
das Poales e do clado graminóide em particular, conduzindo à vicariância entre os
continentes. Entretanto, a separação da África das outras áreas do Gondwana é
anterior a esse evento, pois se completou a cerca de 105 Ma., não tendo influído na
distribuição das Poales. As tifáceas, conforme Bremer (2002), separaram-se das
Sparganiaceae ao redor de 90 Ma, conquistando o Hemisfério Norte, América do
Sul, África e Austrália.
Distribuição Estratigráfica: O provável mais antigo registro fóssil da Ordem Poales
parece ser um grão de pólen semelhante ao das Typhaceae ou Sparganiaceae do
Campaniano (83-74 Ma.) da Espanha, conforme Médus (1987). Há também
fitofósseis foliares atribuídos a Typha L. nas formações Magothy e Raritan do
Cenomaniano (99-93 Ma.) dos EUA, conforme Hollick 1906, apud Duarte &
Mandarim-de-Lacerda, 1992. Alguns autores (por ex. Mai,1987; Herendeen & Crane,
1995) consideraram certos frutos do Neocretáceo final (Maastrichtiano= 70Ma.) da
Europa Central atribuíveis a tifáceas. Segundo Duarte & Mandarim-de-Lacerda
(1992), são registrados fósseis de Typha lesquereuxi Cockerell semelhante à Typha
latifolia L. atual, desde o Oligoceno até o Plioceno, em ampla distribuição geográfica,
nos EUA.
As Typhaceae possuem registros seguros, para a América do Sul, na
forma de grãos de pólen e megafósseis a partir do Oligoceno da bacia do Paraíba
(Lima et al. 1985 e Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1992). Na Formação Tremembé
(Fazenda Santa Fé e Quiririm), há uma espécie fóssil: Typha tremembensis Duarte &
Mandarim de Lacerda, de possível idade oligocena (34-23Ma.), conforme Duarte &
Mandarim-de-Lacerda (1992).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
79
Fernandes et al. (1994) registraram a ocorrência de prováveis fósseis de
Typhaceae ou Cyperacea, em afloramentos de lamitos da região de Jaguariúna e
Paulínia (SP). Portanto, esse registro atual se configura como o segundo para a
área.
Monocotyledoneae APG II, 2003
Gênero Monocotylophyllum Reid & Chandler, 1926
Muitas formas devido à má preservação não permitem, por suas
características morfo-diagnósticas, uma identificação mais acurada que, por
exemplo, a simples atribuição a monocotiledôneas. Pole (1993), ao estudar a flora
fóssil eomiocena do Grupo Manuheritia da Nova Zelândia, utilizou para as formas
não identificáveis de folhas e estruturas reprodutivas o termo Parataxon com uma
complexa combinação de sigla e numeração. Esse expediente artificial também foi
utilizado por Cristalli (1997). Todavia, já em 1894, Saporta erigiu a designação
genérica Dycotylophyllum Saporta, para as formas foliares fósseis com identificação
taxonômica possível até o nível das Dycotyledonae. Considerando, tratar-se de uma
classificação que se aproxima mais da natural, alvo visado pela Paleobotânica, com
prioridade nomenclatural em relação àquela de Pole (1993) e com utilização na
atualidade (Guleria et al. 2005), nesse trabalho não só optou-se por utilizar
Dicotylophyllum Saporta como também utilizou-se a designação Monocotylophyllum
Reid & Chandler, 1926 para acomodar as formas foliares fósseis com feições
taxonômicas similares às de monocotiledôneas, como o fez também Pons (1988).
Monocotylophyllum sp. 1
Estampa IV, Figura 1 e Figura de texto 6.7
Espécimes estudados: JN 145 a e b.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
80
Descrição: Impressão e contra-impressão de micrófila (medindo 25,2mm de largura
por 37,2 mm de comprimento, em proporção 1 : 1,5), elíptica- arredondada, com
ápice convexo de ângulo obtuso (100º), base arredondada de ângulo obtuso (100º),
ligeiramente assimétrica, de margem lisa, veia primária bem marcada, afilando-se
para o ápice, com veias secundárias pinado- curvinérveas, convergindo para o
ápice, tipo eucamptódroma/ acródroma, dispostas em cinco pares subopostos a
opostos e emergindo a ângulos agudos de 30º até 80º, suavemente decrescente
para o ápice, encurvando-se em seguida, algumas veias terciárias são ligeiramente
visualizadas como percorrentes opostas, sinuosas, de ângulo variável, em relação à
veia primária, desde agudo amplo até obtuso pequeno, crescendo para a base.
Comparação: Essa forma é, preliminarmente, identificada como monocotiledônea
devido à sua venação eucamptódroma/ acródroma/ paralelódroma, diferente
daquela das Eudicotiledôneas da Ordem Ranunculales (Menispermaceae - Curarea
crassa Barneby, Souza & Lorenzi, 2005, p.205), tipicamente craspedódroma,
terminando em dentes ou palminervada. Da Ordem Myrtales (Melastomastaceae)
diferencia-se devido a venação secundária típica acródroma basal ou suprabasal
com apenas um ou dois pares de veias secundárias, nesse grupo vegetal. Também
por sua forma foliar elíptica larga quase circular, venação paralelódroma e venação
terciária perpendicular à primária, essa forma assemelha-se às Alismatales das
famílias: Araceae, Hydrocharitaceae, Alismataceae e às Liliales da família
Smilacaceae. Das Araceae, distingue-se pela base mais arredondada e pela
venação com tendência mais acródroma que eucamptódroma ou palminérvea.
Dentre as Hydrocharitaceae, assemelha-se mais a Limnobium laevigatum (Willd.)
Heine (Souza & Lorenzi, 2005, p.101), por sua forma e venação curvinérvea, da qual
se distingue entretanto por não ser palminervada. Também é semelhante às
Limnocharitaceae (Hydrocleys parviflora Seub e Limnocaris flava (L.) Buchenau, in
Souza & Lorenzi, 2005, p. 103), embora suas veias acródromas não emirjam da
base, mas sejam pinadas. Com a Ordem Liliales (Smilacaceae, gênero Smilax), há
uma semelhança quanto à forma elíptica de base arredondada e pela venação
acródroma, diferindo, entretanto, por se tratarem de veias curvinérveas partindo da
base (Souza & Lorenzi, 2005, p.140). Diante da dificuldade em colocar essa forma
em uma ordem ou família, mas considerando sua grande semelhança com a
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
81
arquitetura foliar das monocotiledôneas, considera-se aqui como Monocotylophyllum
sp.1
Monocotylophyllum sp. 2
Estampa IV, Figura 2 e Figura de texto 6.8
Espécimes estudados: JN 31E; JN 50; JN 61 C, E, F; JN 64; JN 79 a,b; JN 103 a,b;
JN 105; JN 109; JN 110 aA; JN 144 aB,bB; JN 273E; JN 284 C; JN 538 A; JN 601 A.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões e contra-impressões de micrófila (medindo de 2,7 mm a 9
mm de largura e até 80 mm de comprimento), lineares, de margens inteiras e
paralelas, com ápice reto de ângulo agudo, base cuneada de ângulo agudo, sem
pecíolo, simétrica, venação paralelinérvea crassa, com 03 a 08 veias crassas de
cada lado da veia mediana, convergindo no ápice e na base; veia mediana de
calibre maior, proeminente na superfície abaxial, afilando-se para o ápice. Ausência
ou não preservação de vênulas transversais.
Comparação: Preliminarmente identificada como Monocotiledoneae, apresenta
alguma semelhança entre as Alismatales (Hydracharitaceae, Potamogetonaceae),
Asparagales (Orchidaceae), Poales (Poaceae) que apresentam folhas
paralelinérveas com veia mediana proeminente. Dada a impossibilidade de
identificação até mesmo em nível de ordem, designa-se aqui essas folhas como
Monocotylophyllum sp. 2.
Eudicotyledoneae APG II, 2003
Eudicotyledoneae Centrais APG II, 2003
Ordem Caryophyllales Perleb, 1826
Família Amaranthaceae Jussieu, 1789
Gênero Alternanthera Forsskal, 1762
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
82
A Familia Amaranthaceae Jussieu caracteriza-se por constituintes herbáceos,
lianas, ou arbustos e subarbustos, monóicos ou dióicos com caules, às vezes,
articulados e suculentos, frequentemente, com nós inflados. Inflorescências
terminais e axilares com flores pequenas bissexuais ou raramente unissexuadas,
com um a três carpelos e um a dois óvulos basais. Os frutos são usualmente
aquênios, utrículos ou cápsulas circunsésseis, normalmente associadas com
periantos ou brácteas persistentes carnosos ou secos. As folhas são simples, de
disposição espiralada ou oposta cruzada ou alternada, sem estípulas, suculentas ou
reduzidas em alguns taxa (xerofíticos ou halofíticos). Margem inteira ou ondulada, às
vezes, serreada ou lobada, com venação pinada, veias secundárias irregularmente
broquidódromas, de terceira e quarta ordens mais pobremente desenvolvidas ao
acaso e não transversais, mas suas veias freqüentemente são pouco nítidas devido
ao aspecto suculento das folhas. São plantas cosmopolitas e características
especialmente de áreas perturbadas, áridas ou salinas. (Hickey & Wolfe 1975; Judd
et. al. 2002 e Simpson 2006).
Dentre as amarantáceas, o Gênero Alternanthera Forsskal, 1762, possui
cerca de 80 espécies herbáceas. São, principalmente, plantas estoloníferas,
rastejantes com caules flexíveis. As folhas são simples, decussadas ou verticiladas.
Alternanthera sp
Estampa IV, Figura 03 e Figura de texto 6.9
Espécime estudado: JN 285 A
Procedência: Nível inferior do afloramento fossilífero.
Descrição: Impressão completa de folha simples, elíptica, de pecíolo espesso (2,00
mm de comprimento por 1,5 mm de largura), apresentando comprimento de 19,6
mm por 13 mm de largura (proporção laminar de 1:1,5), perfazendo uma área de 251
mm2, classificando-se como micrófila. Sua base é cuneada à ligeiramente
decorrente, assimétrica, com ângulo de 78º e seu ápice é convexo-arredondado de
ângulo obtuso. A margem é inteira ou lisa, e a folha provavelmente suculenta, mal-
preservada, com venação pouco visível. A veia primária é pinada, crassa e afilada
para o ápice. As veias secundárias são broquidódromas e emergem da primária a
um ângulo de 30º.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
83
Comparação: A folha apresenta-se semelhante à das Caryophyllales da Família
Amaranthaceae tendo em vista as seguintes características: textura provavelmente
carnosa, de margem inteira, padrão pinado, com veias secundárias irregularmente
broquidódromas. O par basal de secundárias desenvolve lobos incipientes,
sugerindo tratar-se de três veias primárias, tipo acródroma imperfeita suprabasal de
Hickey & Wolfe (1975). Considerando seu tamanho reduzido, seu contorno oblongo-
elíptico, obovado ou espatulado, de base atenuada, a venação secundária
broquidódroma disposta em quatro ou cinco pares de veias subopostas, tem-se que
sua maior afinidade é com o gênero Alternanthera (Kissmann & Groth, 1992; Souza
& Lorenzi, 2005 : 221). Por suas dimensões aproxima-se mais de Alternanthera
pungens Kunth. (Estampa IV, Figura 4 e 5), mas por suas características de venação
e forma é muito semelhante Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. [= A.
philoxeroides (Mart.) Griseb], diferindo somente quanto ao caráter serreado x liso da
margem. Por este fato, preferiu-se designá-la Alternathera sp., conforme Figura de
texto 6.10.
Ecologia: As amarantáceas são mais comuns em ambientes abertos, havendo
ainda forma de interior de floresta. Há outras de cerrados e de restinga. Alguns
gêneros como Alternanthera têm hábito ruderal, contudo, a maioria das espécies
desse gênero está relacionada com ambientes úmidos como, por exemplo: A.
brasiliana (L.) O. Kuntze, planta perene, pouco exigente quanto ao tipo de solo, que
se desenvolve mais em solos ricos e úmidos. Tende a ter maior crescimento em
clareiras de matas. A. philoxeroides (Mart.) Griseb. é planta perene, anfíbia, isto é,
pode ocorrer tanto na terra como na água. Em locais menos úmidos, tende à
apresentar um porte mais ereto e a se apoiar em obstáculos próximos. Em áreas
úmidas, torna-se decumbente ou prostrada e, em áreas inundadas, caracteriza-se
como aquática emersa enraizada (helófita). Infesta várzeas úmidas e áreas alagadas
e partindo das margens, pode desprender-se e flutuar, formando um agrupamento
espalhado e denso, alcançando até 15 m de diâmetro, suportando ficar submersa
por diversos dias. É considerada uma erva daninha, sufocando alagados, lagos, rios,
canais e tanques de irrigação. (Jain, 1975; Kissmann & Groth, 1997, 1999;
Gunasekera & Bonila, 2001).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
84
Distribuição Geográfica: A Família Amaranthaceae é de distribuição cosmopolita,
excetuando-se as regiões muito frias do Hemisfério Norte. Dos 170 gêneros
existentes, 20 são nativos do Brasil. Entre essas formas podem ser citadas:
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.,1879, que é planta nativa da América do
Sul, podendo ser encontrada desde o oeste dos Estados Unidos até a Argentina;
ocorre também na África, na Índia, no sudeste da Ásia e na Austrália. A. brasiliana
(L.) O. Kuntze originária do Brasil ocorre em toda a faixa litorânea e certas regiões
da Amazônia.
Distribuição Estratigráfica: Há fósseis duvidosamente identificados como
Amaranthaceae no Santoniano / Campaniano (cerca de 85 Ma.) por Magallón et al.
1999, mas estudos moleculares estimam a idade do clado em somente 28 a 40 Ma.
(Neoeoceno a Oligoceno), conforme Wikström et al. 2001, o que caracteriza uma
discrepância muito grande. Trata-se do primeiro registro para a família em território
sul-americano.
Rosideae APG II, 2003
Superordem Eurosideae I APG II, 2003
Ordem Malpighiales Mart. 1835
Família Clusiaceae Lindley 1836
Gênero Garcinia Linnaeus 1753
As Malpighiales constituem um grupo morfologicamente heterogêneo,
mas podem ter muitos estigmas secos, um exotegmen fibroso e nós trilacunares.
Várias famílias são, predominantemente, tricarpeladas. Contêm cerca de 35 famílias
e 13.100 espécies. A Família Clusiaceae está entre as maiores e junto com as
Podostemaceae têm pigmentos xânticos e células ou tecidos secretores. As
Clusiáceas são árvores, arbustos, lianas ou ervas. Têm folhas usualmente opostas
ou verticiladas, sem estípulas, simples, inteiras, com venação pinada,
frequentemente com pontos ou canais pelúcidos ou escuros, com exudação de
resinas claras, pretas ou coloridas; flores bi ou unissexuadas, estilete usualmente
não dividido e o número de estigmas igual ou menor que o dos carpelos. Frutos em
cápsula, infrutescência ou drupa. As Clusiáceas são consideradas como
monofiléticas na base de sinapomorfias anatômicas e químicas. O nome tradicional
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
85
para a Família, isto é, Guttiferae, significa portador de goma e refere-se às resinas
claras e coloridas características do grupo. Três subfamílias são reconhecidas com
base em análise cladística de morfologia: Kielmeyeroideae; Clusioideae e
Hypericoideae. A subfamília Clusioideae (por exemplo, Garcinia e Clusia) são
plantas lenhosas com canais secretores e têm usualmente estiletes conatos e curtos
e um embrião normalmente com hipocótilo muito grande. Clusia é distinguida por
possuir hábito de variação muito ampla: algumas espécies são epífitas
estrangulantes e outras têm várias raízes adventícias que suportam os caules. As
Clusiáceas possuem flores vistosas que são polinizadas por abelhas e vespas e
espécies com frutos carnosos, como Garcinia, são usualmente dispersos por aves
ou mamíferos. (Judd et al. 2002).
Garcinia sp
Estampa IV; Figura 6, 7 e 8; Figura de texto 6.11
Espécimes estudados: JN 203 A e JN 240 a,b.
Descrição: Impressões de folhas simples, com pecíolo marginal, parcialmente,
preservado medindo: 3 mm de comprimento por 1,6 mm de largura, no espécime JN
203 A. Nesse espécime, a porção mediano-basal preservada mede 73,8 mm de
comprimento por 39,6 mm de largura máxima inferida, o que lhe confere área
laminar superior a 1900 mm2 (tipo micrófila), apresenta base de forma arredondada
ligeiramente assimétrica. Ângulo basal de 76º. O espécime JN 240 a,b apresenta
porção mediano-apical, de ápice arredondado, com ângulo apical da ordem de 83º,
com contorno mais obovado, medindo 35 mm de comprimento preservado por 24
mm de largura máxima. Ambos apresentam margem inteira ou lisa e venação de
padrão pinado, com veia primária bem marcada. Venação secundária
broquidódroma, tendendo a formar uma veia intramarginal. São uniformes o
espaçamento de veias secundárias e ângulo de divergência (ao redor de 55º a 68º).
Intersecundárias ausentes. Venação terciária percorrente oposta, de curso sinuoso,
de ângulo obtuso (167º a 168º).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
86
Comparação: Pelo fato de ser folha simples, de margem inteira, com venação
pinada, veias secundárias fortemente broquidódromas e proximamente espaçadas,
veias terciárias obliquamente percorrentes; assemelha-se a folha de Caraipa
punctatula Ducke da Família Clusiaceae (Hickey & Wolfe, 1975, Figura 14c) do
grupo Ochnaceo, Ordem Malpighiales (APG II, 2003). Apresenta maior semelhança
com a folha de Rheedia sculpta Duarte e Vasconcelos (1980, Estampa 3, Figura 1-
3), encontrada no Quaternário de Umbuzeiro (PB), quanto às mesmas feições acima
citadas e ainda por formar uma veia intramarginal devido ao fortalecimento e
retificação da porção externa do arco. Difere, contudo, no tamanho foliar e no ângulo
de divergência das veias secundárias um pouco menores. Considerando que o
gênero Rheedia Linnaeus foi colocado na sinonímia do Gênero Garcinia Linnaeus a
identificação das formas, ora estudadas, é feita dentro desse último gênero.
Ecologia: O gênero Garcinia L. é típico da Amazônia e Mata Atlântica. Vive
principalmente na Floresta Ombrófila densa. Pode ocorrer ainda na Caatinga e na
mata de terra firme (Berg, 1979 e Kearns, 1998). Agrupa árvores de porte elevado
de 15 a 45 m de altura, com tronco de 60 a 180 cm de diâmetro, perenifólias,
heliófitas e seletivamente higrófitas. São características de vegetação aberta de
transição e indiferentes às condições físicas do solo, porém, exigentes quanto à
umidade do subsolo. Podem viver desde o nível do mar até 1500 m de altitude.
Distribuição Geográfica: A Família Clusiaceae é quase inteiramente neotropical
com poucos representantes na China e na África. No Brasil, apresenta 19 gêneros e
150 espécies, com ampla distribuição em vários Estados. O gênero Garcinia L.
aparece na área neotropical e no Brasil, em todos os Estados à exceção de Piauí,
Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Figura 6.6.
Figura 6.6 - Distribuição geográfica mundial de Clusiaceae.
Extraído de http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/malpighialesweb.htm
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
87
Distribuição Estratigráfica: Essa família foi encontrada na forma dos gêneros
Clusia, Calophyllum e Rheedia, no Mioceno de Trinidad, por Berry (1925a), Tabela
3.1- M2; na forma de Calophyllilites, na Colômbia, por Pons (1980), Tabela 3.1- M5;
do gênero Rheedia L., 1753, no Mioceno, na Colômbia, em Santander, por Berry
(1936a) e Pons (1969), Tabela 3.1- M4; no Mioceno de Centinela, no Chile
(Hinojosa, 2003) Tabela 3.1- M20; no Plioceno de Trinidad, com o gênero
Calophyllum, por Berry (1937a,c), Tabela 3.1-P2; no Plioceno de Anzoategui, na
Venezuela, na forma de Rheedia L., por Berry (1939a,b) Tabela 3.1- P1; ainda no
Plioceno de Maraú e Pedrão (BA), na forma de Kielmeyera por Berry (1935) Tabela
3.1- P14 e P16; na forma de Rheedia L. , em Alagoinhas, Maraú e Pedrão (BA) por
Berry (1935) Tabela 3.1-P13, P14 e P16; como gênero Clusia L.1753 no Quaternário
de Umbuzeiro (PB), de Russas (CE) e de Morro do Chapéu (BA). (Duarte e
Vasconcelos, 1980). Agora é registrada como Garcinia sp., na tafoflora de
Jaguariúna (SP).
Rosideae APG II, 2003
Superordem Eurosideae I APG II, 2003
Ordem Fabales Bromhead 1838
Leguminosae Incertae sedis
Gênero Leguminosites Bowerbank, 1840
O Gênero Leguminosites Bowerbank foi erigido para identificar formas de
folíolos e sementes de prováveis Fabaceae ou Leguminosaceae de classificação
incerta, sendo utilizado por vários autores como Berry (1925). Krassilov (1979 apud
Meyen, 1987) propôs a utilização do termo Legumifolia com a mesma finalidade, na
designação de folíolos, enquanto Birkenmajer & Zastawniak (1986 apud Truswell,
1990) utilizaram somente Leguminosae. Considerando que Leguminosites
Bowerbank, 1840 já é uma designação genérica consagrada e com prioridade sobre
as demais, dá-se aqui preferência a esse termo.
Leguminosites sp.
Estampa IV, Figura 10 e 11; Figura de texto 6.12
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
88
Espécimes estudados: JN 06; JN 59; JN 96; JN 181B/E; JN 202; JN 205 B; JN 210;
JN 212; JN 225 A; JN 226; JN 230 A; JN 241aA; JN 271; JN 276; JN 289 A;
JN 292 A.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas nanófilas ou folíolos (medem 12-23 mm de
comprimento por 6-9 mm de largura máxima), elípticas, com ápice retuso de ângulo
agudo amplo (75º), de base decorrente, assimétrica, de ângulo agudo (53º); pecíolo
curto inflado (1,16 mm); margem lisa e venação primária pinada, ligeiramente curva
e afilada para o ápice, veias secundárias broquidódromas festonadas, com ângulo
de emergência constante de 40º; venação terciária reticulada de ângulo ortogonal.
Pontos superficiais talvez correspondendo a pêlos ou glândulas.
Comparação: Pelo fato de serem possíveis folíolos, de margem inteira, ápice
retuso, venação pinada, veias secundárias broquidódromas e com pontos
superficiais (Hickey & Wolfe,1975), poderiam ser identificadas como Fabales /
Fabaceae = Leguminosae Incertae sedis. Dada a ausência de maiores detalhes
para reconhecimento de sua subfamília e taxa inferiores, utiliza-se em sua
designação apenas o morfogênero Leguminosites sp.
Distribuição geográfica: As leguminosas distribuem-se amplamente por todo o
mundo, desde as florestas tropicais pluviais até os desertos frios e secos. A maior
diversidade em formas de crescimento e composição sistemática são encontradas
no Planalto Central do Brasil, México, África Ocidental, Madagascar e região Sino-
Himalaia. A área do Mediterrâneo, a província do Cabo na África e a Austrália
também apresentam alta diversidade de espécies, embora dentro de poucos
gêneros. (MARCHIORI, 1997), Figura 6.7.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
89
Figura 6.7. - Distribuição geográfica mundial de Faboideae. Extraído de http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/orders/fabalesweb.htm
Ecologia: Aproximadamente cosmopolitas, as leguminosas ocorrem em uma
ampla variedade de habitats. Aquelas de hábito arbóreo e lianas concentram-se
nas florestas tropicais pluviais da Amazônia e Nova Guiné. Geralmente são plantas
adaptadas à polinização entomófila (Judd et al. 2002 e Marchiori 1997).
Distribuição Estratigráfica: As três subfamílias das fabáceas, muito bem
diferenciadas, já estão documentadas desde o Neopaleoceno ao Eo-eoceno,
conforme registraram Truswell (1990) e Stewart & Rothwell (1993), indicando uma
separação anterior, há cerca de 65 Ma. O registro mais antigo de Fabales no Brasil
seria o de Acrocarpus santosi Magalhães (= Celtis santosi (Magalhães) Sommer,
1954), do Paleoceno da bacia de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Registros de
Leguminosites Bowerbank foram feitos por Berry (1938) para o Paleoceno Superior
de Rio Pichileufú, da Argentina; por Duarte & Mandarim-de-Lacerda (1989), para o
Oligoceno da Formação Tremembé, na forma de fruto; por Berry (1925 b) para o
Mioceno da Patagônia; por Berry (1925 a) e Berry (1937 a,c), para o Mioceno e
Plioceno de Trinidad-Tobago; por Berry (1919), para o Mioceno do Peru; por Berry
(1922) para o Plioceno da Bolívia; por Hollick & Berry (1924) para o Plioceno da
Bahia (Maraú e Alagoinhas), na forma de folhas ou sementes. Nenhuma das
espécies erigidas para folhas é semelhante à forma aqui descrita.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
90
Figura de texto: 6.7 Figura de texto: 6.10 Monocotyledophyllum sp. 1 Alternanthera philoxeroides Figura de texto: 6.9 Alternanthera sp
Figura de texto: 6.11 Garcinia sp
Figura de texto: 6.8 Figura de texto: 6.12 Monocotyledophyllum sp. 2 Leguminosites sp.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
91
Asteridae APG II, 2003
Superordem Euasterideae I APG II, 2003
Ordem Gentianales Lindley, 1833
Família Apocynaceae Jussieu, 1789
Gênero Aspidosperma Mart & Zucc, 1824
As Gentianales, sensu APG II (2003), contêm cinco famílias dentre as
quais está a Família Apocynaceae. Esta está entre as dez maiores famílias de
angiospermas, com, aproximadamente, 411 gêneros e 4650 espécies. No Brasil,
ocorrem cerca de 380 espécies, distribuídas por 41 gêneros, habitando diversas
formações vegetais. A Família Apocynaceae é constituída de lianas, árvores,
arbustos e ervas. Caracteriza-se pela presença de látex, rico em glicosídeos e
alcalóides. Alguns de seus representantes portam caules suculentos. As folhas são,
geralmente, opostas, menos frequentemente, alternas (Aspidosperma) ou
verticiladas (Allamanda), simples e de margens inteiras, quase sempre sem
estípulas, exceto nas espécies de Odontadenia. Sua inflorescência pode ser cimosa
ou racemosa, às vezes, reduzidas a flores solitárias que são vistosas, bissexuadas,
pentâmeras, com gineceu bicarpelar ou dialicarpelar, possuindo glândulas
nectaríferas ao seu redor. Possui estiletes unidos no ápice, formando uma cabeça
ampliada e por frutos do tipo folículo, seco ou raramente carnoso, usualmente
bifoliculares, com sementes, geralmente, comosas, aladas ou envoltas por arilo
carnoso (Judd et al. 2002; Souza & Lorenzi, 2005; Simpson 2006).
Aspidosperma duartei sp.nov.
Estampa V, Figura 1 e 2 e Figura de texto 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16
Holótipo: JN 621 a,b.
Parátipos: JN 19 C; JN 62; JN 224 a,b.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
92
Nível estratigráfico: depósitos de cobertura neógenos, correlatos à Formação Rio
Claro.
Espécimes estudados: JN 19 C; JN 62 D; JN 224 a,b; JN 621 a, b.
Diagnose específica: “Impressões de folhas simples, oblongas ou elípticas,
assimétricas, de ápice aproximadamente reto a convexo, base cuneada a convexa.
A margem é inteira e ligeiramente ondulada. Venação primária pinada de calibre
forte, que afila para o ápice. Veias secundárias broquidódromas, com ângulo de
emergência agudo amplo e de curso aproximadamente reto, encurvam-se em loop
de ângulo quase ortogonal, próximo à margem, tendendo a formar veia intra-
marginal. Formam pares de veias opostas a subopostas. Veias terciárias de
tendência paralela às secundárias e ramificações exmediais”.
Specific diagnosis: “Impressions of oblong or elliptic, asymmetrical, simple leaves,
straight to convex apex, cuneate to convex base, entire to slightly undulate margin.
Pinnate primary venation of strong caliber, that tapers upwards. Brochidodromous
secondary venation, with wide acute emergent angle, of straight course, end in a vein
closely paralleling the leaf margin. They form opposing to subopposing veins pairs.
Tertiary veins exmedially ramified”.
Derivatio nominis: epíteto específico duartei trata-se de uma homenagem à Dra.
Lélia Duarte, importante paleobotânica estudiosa do Cenozóico Brasileiro.
Descrição: Impressões de folhas simples, oblongas ou elípticas, assimétricas, de
ápice aproximadamente reto a convexo, com ângulo apical de 60º, base cuneada a
convexa, venação primária pinada de calibre forte, que afila para o ápice. Pecíolo
não preservado. A margem é inteira a ligeiramente ondulada. As veias secundárias
broquidódromas, com ângulo de divergência entre 60º e 65º, de curso
aproximadamente reto, próximo à margem, encurvam-se em loop de ângulo reto,
tendendo a formar veia intramarginal. Veias terciárias de tendência paralela às
secundárias e ramificações exmediais. Apresentam vez ou outra, uma veia
dicotomizante. O ângulo basal é de 58º a 70º. Sua lâmina foliar mede 40 a 60 mm de
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
93
comprimento incompleto e 20 a 25 mm de largura máxima, conferindo área maior
que 800 mm2 (tipo micrófila).
Comparação e Discussão: Conforme Hickey & Wolfe (1975), folhas simples, com
características tais como: margem inteira, venação pinada, veias secundárias de
configuração broquidódroma, constituindo veias intramarginais, com venação
intercostal, que tende a ser orientada paralelamente à secundária e admedialmente,
caracterizam as folhas de asterídeas do tipo dileniídeo. Dentro desse grupo estão
colocadas as ordens: Gentianales, Polemoniales, Rubiales, Campanulales e
Asterales. A venação terciária, caracterizada por uma tendência a ser orientada
paralelamente à secundária, eliminaria duas ordens: Campanulales e Asterales. As
Rubiales e Polemoniales, por outro lado, têm veias terciárias nitidamente orientadas
paralelamente. As impressões foliares estudadas foram identificadas como
Gentianales, visto apresentarem apenas uma fraca tendência das terciárias para o
paralelismo com as secundárias. Dentre as Gentianales, seu padrão de venação
aproxima-se daquele da Figura 19 de Hickey & Wolfe (1975: 582) referente a uma
Apocynaceae da espécie Chilocarpus decipiens ou a Leuconotis eugeniafolia
(Figura 29.10 de Wing et al. 1999). Dentre as Apocynaceae, há gêneros que se
aproximam mais dessas características gerais, pela forma oblonga assimétrica,
ângulo de divergência ao redor de 60º a 65º, veia primária de calibre forte e por suas
veias secundárias retas a suavemente curvas. A venação terciária paralela à
secundária assemelha-se à de Aspidosperma cylindrocarpon Müll – Arg. (chamado
popularmente peroba - poca, peroba – de -minas ou peroba-rosa), conforme pode
ser visto em Lorenzi (2002:37) e na Estampa V, Figura 3. Também, por sua
morfologia foliar assemelha-se a A. cuspa (Kunth) S. F. Blake vista em Lorenzi
(1998:20). Por tratar-se de impressões de folha, relativamente abundantes e
com venação bem característica, distintas de outras espécies de Aspidosperma e
considerando ser temerário atribuir a órgãos foliares destacados qualquer
nome de espécie atual, prefere-se aqui designar uma nova espécie: Aspidosperma
duartei sp n.
Ecologia: Aspidosperma cylindrocarpon Müll – Arg. Trata-se de árvore de grande
porte (8 a 16 m), com tronco de 40 – 70 cm de diâmetro, com folhas simples,
glabras, de 6 – 12 cm de comprimento por 2 – 6 cm de largura. Ocorre em florestas
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
94
latifoliadas semi-deciduais, da bacia do Paraná, nos Estados de Mato Grosso, Goiás,
Minas Gerais e é abundante em São Paulo. (Silva & Soares, 2002). Por outro lado,
A. polyneurum Müll-Arg. trata-se de árvore caducifólia, que atinge entre 20 a 30 m de
altura. É nativa de floresta clímax, embora seja também encontrada nas formações
vegetais abertas. É chamada de peroba-rosa, peroba-açú, peroba-de-são-paulo,
peroba-paulista, peroba-vermelha, peroba-verdadeira. É planta decídua, heliófita,
característica de floresta semi-decídua de bacia do Paraná, situada sobre solos bem
drenados e de média a baixa fertilidade. Ocorre tanto no interior da floresta primária
densa, como em formações abertas e secundárias. A. cuspa (Kunth) S. F. Blake já é
árvore de pequeno porte (4–7 metros) e tronco tortuoso. Folhas membranáceas (4–6
cm de comprimento por 1–2 cm de largura). É semi-decídua, heliófita, de terrenos
bem abertos e de formações abertas, em terrenos de origem basáltica.
Distribuição Geográfica: Aspidosperma é hoje gênero nativo da América Tropical,
com a maior espécie A. cuspa (Kunth) S. F. Blake ocorrendo desde o Haiti até o
Paraguai. No Brasil, ocorre nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, em
matas secas, cerrados e caatingas. A. polyneurum, espécie cujo bioma original é a
Mata Atlântica, ocorre nas florestas latifoliadas semi-decíduas e pluviais atlântica,
desde a Bahia até o Paraná. Figura 6.8.
Figura 6.8. - Distribuição geográfica mundial de Apocinaceae.
Extraído de http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/gentianalesweb.htm
Distribuição Estratigráfica: O gênero Aspidosperma e seus afins ocorrem no
Eoceno Inferior (Superior) – Green River Formation, SW Wyoming (Krusse, 1954).
Há outras ocorrências de Eoceno Inferior na Flora Wilcox (Berry, 1916, 1930), no
Eoceno Médio na Flora Claiborne (Berry, 1910, 1924), no Eoceno do Rio Pichileufú,
Província de Rio Negro, Argentina, Berry (1938).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
95
Eudicotyledoneae APG II, 2003
Gênero Dicotylophyllum Saporta, 1894
Esse gênero teve sua diagnose estabelecida nos seguintes termos: “Folia
dicotylearum primordialium, quoad genus proprium ordinemve affinitate adhuc
incerta” por Saporta (1894).
Alguns fósseis foliares apresentam certos caracteres típicos de
dicotiledôneas, entretanto por sua natureza fragmentar e má preservação, tornam
difícil a comparação com folhas de qualquer táxon dicotiledôneo vivente. Nesse
caso, empregou-se a designação morfo-genérica Dicotylophyllum proposta por
Saporta (1894), erigida com essa finalidade e também utilizada por Guleria &
Mehrotra (1999), Mehrotra & Mandaokar (2000) e Guleria et al. (2005), com várias
designações específicas erigidas.
Dicotylophyllum sp. 1
Estampa V, Figura 4 e 5 e Figura texto 6.17, 6.18 e 6.19
Espécimes estudados: JN 05 b A; JN 17; JN 18 A/C; JN 19 A; JN 21 A/B; JN 26;
JN 34; JN 41 A; JN 47; JN 61; JN 86; JN 110 b; JN 144 b A; JN 183 D; JN 188; JN
189 a/E; JN 195 A; JN 196; JN 197; JN 203 B; JN 204; JN 205; JN 206; JN 211 C/D;
JN 230 B; JN 231 A/B/C; JN 234 A; JN 241 b A; JN 241 a/D/G; JN 244 B; JN 250;
JN 258; JN 259 bA; JN 259 A; JN 263 D/A; JN 264 A/B; JN 264; JN 269; JN 270 a;
JN 270 C/D/E/F; JN 271G; JN 273; JN 273 C/F; JN 274; JN 285 B/C; JN 297A/B/D;
JN 298 A/B/C.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de micrófilas, elípticas a oblongas, com ápice côncavo –
convexo, de ângulo agudo (60º), base decorrente a cuneada, de ângulo agudo (50º),
com pecíolo inflado, medindo 1,6 mm de comprimento. São fortemente assimétricas
(encurvadas), às vezes, simétrica, de margem lisa e veia primária do tipo pinada,
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
96
crassa, afilando-se para o ápice. A venação secundária não está bem definida.
Contudo, emerge a um ângulo agudo variável de 30º a 45º e sugere ter curso mais
ou menos reto até a margem. Veias terciárias e as de ordens superiores não foram
preservadas. Medem de 40 mm a 50 mm de comprimento por 15 mm a 20 mm de
largura máxima.
Comparação: Seu contorno lembra o das Myrtales, contudo nenhuma comparação
mais acurada pode ser feita. Comparando com as espécies do morfogênero
Dicotylophyllum Saporta, estabelecidas por Saporta (1894) e com aquelas de Guleria
et al. (2005), a nenhuma é comparável. Uma nova espécie dentro desse gênero -
forma será criada se, com novas coletas, ainda não for possível identificação mais
precisa do que como folha de dicotiledônea.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
97
Figura de texto: 6.13 Figura de texto: 6.14 Figura de texto: 6.17 Aspidosperma duartei sp. nov. Aspidosperma duartei sp. nov. Dicotylophyllum sp.1
Figura de texto: 6.15 Figura de texto: 6.16 Figura de texto: 6.18 Aspidosperma duartei sp. nov. Aspidosperma duartei sp. nov. Dicotylophyllum sp.1
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
98
Dicotylophyllum sp. 2
Estampa V, Figura 6 e 7 e Figura de texto 6.20 e 6.21
Espécimes estudados: JN 02 a; JN 05 b B; JN 10 I; JN 12; JN 13; JN 69; JN 106;
JN 142; JN 143 B; JN 144 a; JN 152 A; JN 183 A/B/C; JN 184; JN 187; JN 189
a/A/B; JN 190; JN 199; JN 207; JN 217; JN 251; JN 263 C; JN 266 a/b; JN 270A;
JN 275; JN 277.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas nanófilas (medindo 15-26 mm de comprimento por
6,5-12 mm de largura máxima), de contorno obovado a elíptico, assimétricas, com
ápice convexo de ângulo agudo (58º - 88º) e base cuneada a convexa de ângulo
agudo (42º - 65º), com pecíolo pulvinado (medindo 1-3 mm de comprimento), margem
lisa e veia primária pinada, sinuosa e bem marcada, veias secundárias pouco
nítidas, mas de ângulo de emergência de 50º - 57º e de curso aparentemente reto.
Comparação: São formas foliares que por seu tamanho, contorno assimétrico e tipo
de pecíolo poderiam ter afinidades com Leguminosae. Entretanto, a impossibilidade
de verificar sua venação secundária e de ordens mais altas, leva a classificá-las
apenas como Dicotylophyllum sp. 2.
Dicotylophyllum sp. 3
Estampa VI, Figura 1 e 2 e Figura de texto 6.22
Espécimes estudados: JN 48; JN 61 A; JN 63 B; JN 110 aB; JN 138 B; JN 195 B;
JN 208; JN 241b/B; JN 244 E; JN 246 A; JN 259 aB; JN 259 bB; JN 261; JN 263 A;
JN 264 a; JN 279 A; JN 296 B/D; JN 297C/H.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
99
Descrição: Impressões de folhas nanófilas ou folíolos (medindo 27,8 mm de
comprimento por 6,2 mm de largura, numa proporção de 4,5:1), oblongas, com ápice
reto de ângulo agudo (40º), base cuneada a decorrente assimétrica, de ângulo
agudo (43º), apeciolada (?), margem lisa, veia primária pinada e crassa, veias
secundárias pouco nítidas, com ângulo de emergência agudo de, aproximadamente,
30º .
Comparação: Essa forma parece ser um folíolo ou folha de dicotiledônea e é aqui
designada Dicotylophyllum sp 3.
Dicotylophyllum sp 4
Estampa VI, Figura 3, 4 e 5 e Figura de texto 6.23 e 6.24
Espécimes estudados: JN 24 a; JN 26 a; JN 26 b C; JN 114; JN 136; JN 200.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas micrófilas (medem 26 mm de comprimento por 11
mm a 15 mm de largura), obovadas, com ápice retuso de ângulo agudo amplo a
ligeiramente obtuso (85º a 103º), base cuneada a ligeiramente decorrente, de ângulo
agudo (50º a 58º), com pecíolo longo (5,5mm de comprimento por 0,7 mm de
largura); folha ligeiramente assimétrica, de margem lisa e veia primária pinada reta e
afilada para o ápice.
Comparação: A escassez de caracteres morfográficos não permite comparações
maiores, contudo a forma geral das folhas possibilita identificá-las como
dicotiledôneas, daí serem designadas como Dicotylophyllum sp 4.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
100
Figura de texto: 6.19 Figura de texto: 6.20 Figura de texto: 6.21 Dicotylophyllum 1 sp Dicotylophyllum 2 sp Dicotylophyllum 2 sp
Figura de texto: 6.22 Dicotylophyllum 3 sp
Figura de texto: 6.24 Dicotylophyllum 4 sp
Figura de texto: 6.23 Dicotylophyllum 4 sp Figura de texto: 6.25 Dicotylophyllum 5 sp.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
101
Dicotylophyllum sp 5
Estampa: VI, Figura 6 e 7 e Figura de texto 6.25 e 6.26
Espécimes estudados: JN 07; JN 18 b; JN 20; JN 24 A; JN 31 C; JN 38; JN 41B;
JN 42 a; JN 75; JN 143 A; JN, 149 a B; JN 185A/B; JN 213; JN 215; JN 242; JN
251B; JN 273 G; JN 284 a A; JN 296C.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas nanófilas (medindo 17-23 mm de comprimento por
8,5-13 mm de largura máxima), de contorno elíptico, assimétricas, com ápice
convexo ou ligeiramente reto, de ângulo agudo (64º-90º) e base cuneada, de ângulo
agudo (60º - 90º), com pecíolo cilíndrico, inflado na base (medindo 0,8-2 mm de
comprimento e 0,4-1 mm de diâmetro) e margem lisa. A veia primária é pinada,
sinuosa e bem marcada, veias secundárias pouco nítidas, mas de ângulo de
emergência de 40º -55º.
Comparação: Essa forma sugere tratar-se de folíolos ou folhas de dicotiledônea,
mas a falta de nitidez de caracteres diagnósticos não permite comparações maiores.
Entretanto, a forma geral das folhas possibilita identificá-las como dicotiledôneas, daí
serem designadas como Dicotylophyllum sp 5.
Dicotylophyllum sp 6
Estampa VI, Figura 8 e 9; Figura de texto 6.27
Espécimes estudados: JN 31 D; JN 59 A/B; JN 111; JN 149 C; JN 181 F; JN 234 B;
JN 248 A; JN 255; JN 259 aC; JN 271 C/F; JN 273 B; JN 283; JN 292 C; JN 297 G;
JN 303; JN 465.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
102
Descrição: Impressões de folhas notófilas (medem 75 mm de comprimento por 45
mm de largura, perfazendo área foliar de 2250 mm2), ovadas, com ápice reto de
ângulo agudo amplo (ao redor de 80º), base convexa de ângulo obtuso (ao redor de
95º), simétrica, pecíolo não preservado, de margem crenada e veia primária pinada
crassa, levemente sinuosa e afilada para o ápice. Venação secundária
craspedódroma de calibre grande, emergindo da primária a um ângulo de 40º e
bifurcam-se, às vezes, próximo à margem para terminar nas pequenas ondulações
denteadas.
Comparação: Os espécimes estudados apresentam margem crenada, cujas
ondulações se assemelham aos dentes clorantóides ou urticóides. Apresentam
também venação primária de padrão pinado, venação secundária craspedódroma,
isto é, características que segundo Hickey & Wolfe (1975), comparam-se com as das
Chloranthaceae, Ranunculales e Betulales. Considerando que são formas bem
distintas e que não há possibilidade de identificação mais precisa por falta de
maiores detalhes diagnósticos, designam-se esses espécimes como
Dicotylophyllum sp 6.
Dicotylophyllum sp 7
Estampa VII, Figura 1 e 2 e Figura de texto 6.28
Espécimes estudados: JN 35A; JN 53a; JN 99; JN 137; JN 151; JN 256; JN 261 C;
JN 268 a, b; JN 271 B; JN 273; JN 279 C; JN 295 B.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado
Descrição: Impressões de folhas micrófilas (medem ao redor de 640mm² de área,
48 mm de comprimento por 20 mm de largura máxima), de contorno oblongo,
simétrica, com ápice convexo de ângulo agudo (73º) e base convexa de ângulo
agudo (87º), pecíolo não preservado, margem lisa e veia primária actinódroma
suprabasal, bem marcada, veias secundárias pouco nítidas, craspedódromas, com
ângulo de emergência de 30º - 40º.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
103
Comparação: A venação primária actinódroma e secundária craspedódroma
aparecem em malváceas (Malvales- eurosídeas II) como Lueheopsis; em
bignoniáceas (Lamiales- euasterídeas I), como Fridericia ou Distictella; em
verbenáceas (Lamiales- euasterídeas I como Bouchea; em asteráceas (Asterales-
euasterídeas II), como Tilesia ou Wedelia. A falta de caracteres diagnósticos de
ordem mais alta, não permite identificá-las melhor que como Dicotylophyllum sp 7.
Dicotylophyllum sp 8
Estampa VII, Figura 3 e 4 e Figura de texto 6.29
Espécimes: JN 08 b, JN 47; JN 114; JN 133 a; JN 136; JN 205 E; JN 240; JN 241 B;
JN 261 A; JN 267; JN 273 D1; JN 284 bB; JN 284 aA; JN 284 bA; JN 297 E.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas micrófilas (medem ao redor de 528 mm² de área,
36 mm de comprimento por 22 mm de largura máxima), elípticas, com ápice convexo
de ângulo agudo amplo (85º) e base convexa de ângulo obtuso (100º), fortemente
assimétricas, pecíolo não preservado, de margem lisa e veia primária pinada,
suavemente curva, bem marcada; veias secundárias broquidódromas, de curso reto,
emergindo da primária a 70º e terminando em veia, aproximadamente, paralela à
margem foliar.
Comparação: Por se tratarem de folhas simples, de margem inteira, venação
primária pinada, veias secundárias broquidódromas, tendendo a formar uma veia
intramarginal, assemelham-se à Ordem Gentianales (Euasterideas I), contudo a
impossibilidade de observar sua venação de ordem superior, leva à classificação
delas como Dicotylophyllum sp 8.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
104
Dicotylophyllum sp 9
Estampa VII, Figura 5 e Estampa VIII, Figura 1 e 2; Figura de texto 6.30 e 6.31
Espécimes estudados: JN 106; JN 149 a D1; JN 149 a D2; JN 233; JN 284 a B;
JN 523 b.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas micrófilas (medem ao redor de 660-1000 mm² de
área, 45-60 mm de comprimento por 20-25 mm de largura máxima), elíptica -
falcadas, com ápice convexo de ângulo agudo amplo (73º-90º) e base convexa de
ângulo agudo (35º-50º), fortemente assimétricas, sem pecíolo preservado, de
margem serrada, com dentes de primeira ordem, em número de 3 / cm, de
espaçamento irregular, retos a convexos do lado apical e côncavo do lado basal,
sinus angular, de ápice simples, de veia primária pinada, crassa e suavemente
curva, bem marcada; veias secundárias possivelmente semicraspedódromas, de
curso côncavo e sinuoso, emergindo da primária a ângulo de 30º a 60º.
Comparação: Por se tratar de folha simples, margem denteada, venação pinada,
veias secundárias provavelmente semicraspedódromas, com dentes possivelmente
Theoides, a identificação mais provável seja com a Subclasse Dilleniidae das
Alianças Theaceae ou Ochnaceae, conforme Hickey & Wolfe (1975). Entretanto, a
ausência de venação terciária e de ordens superiores impedem uma confirmação
dessa identificação, tornando mais aconselhável sua designação como
Dicotylophyllum sp. 9.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
105
Figura de texto: 6.26 Figura de texto: 6.27 Dicotylophyllum sp. 5 Dicotylophyllum sp. 6
Figura de texto: 6.28 Dicotylophyllum sp. 7
Figura de texto: 6.29 Figura de texto: 6.30 Figura de texto: 6.31 Dicotylophyllum sp. 8 Dicotylophyllum sp. 9 Dicotylophyllum sp. 9
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
106
Dicotylophyllum sp 10
Estampa VIII, Figura 3 e 4 e Figura de texto 6.32 e 6.33
Espécimes estudados: JN 25 a C; JN 25 b C; JN 53 b A; JN 123; JN 138 a, b; JN
146 a; JN 227; JN 241 a C, H.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Descrição: Impressões de folhas micrófilas (medem ao redor de 270 mm² de área,
30 mm de comprimento por 14 mm de largura máxima), elípticas, com ápice convexo
de ângulo reto (90º) e base convexa de ângulo agudo amplo (80º), fortemente
assimétricas, pecíolo não preservado, de margem ligeiramente crenada, com
pequenos dentes esparsos (1/cm). A veia primária é pinada, crassa, afilada e
suavemente curvada na região apical; veias secundárias broquidódromas, de curso
reto, emergindo da primária a 50º e terminando em loop, aproximadamente, paralelo
à margem foliar e textura coriácea.
Comparação: Por se tratarem de folhas simples, de margem inteira, venação
primária pinada, veias secundárias broquidódromas, tendendo a formar loops e
margem crenada, assemelham-se a muitas formas distintas, tais como certas
Magnoliales, Laurales, Hamamelidales, etc. Contudo, a impossibilidade de observar
sua venação de ordem superior leva à classificação delas como Dicotylophyllum sp
10.
Dicotylophyllum sp 11
Estampa VIII, Figura 5, 6 e 7 e Figura de texto 6.34 e 6.35
Espécimes estudados: JN 19 B; JN 62 C; JN 89 a B; JN 115 a A; JN 152 a,b.;
JN 232 a, b; JN 233 A; JN 471 a.
Procedência: Nível fossilífero inferior do afloramento estudado.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
107
Descrição: Impressões de folhas micrófilas (medem ao redor de 382 mm ² - 915
mm² de área, 35 mm-45 mm de comprimento por 16,5 mm-30,5 mm de largura
máxima), elíptica, com ápice acuminado de ângulo agudo amplo (70º-90º) e base
côncavo-convexa, decorrente ou cuneada, fortemente assimétrica, de ângulo agudo
amplo (70º-80º), sem pecíolo preservado, de margem crenada passando a serrada,
com dentes de primeira e segunda ordens, em número de 0,5-1 / cm, de
espaçamento irregular, convexos os lados apical e basal, sinus angular, de ápice
simples, de veia primária pinada, crassa e suavemente curva, bem marcada; veias
secundárias craspedódromas, de curso ligeiramente côncavo, emergindo da primária
a 40º - 50º.
Comparação: Pelo fato de apresentar venação primária pinada, secundária
craspedódroma, dentes clorantóides, aproxima-se das Ranunculales, do grupo das
Ranunculaceae, contudo diferem por não serem tão lobadas. Por outro lado, têm
certa semelhança com Asterideae, do Gênero Sphagneticola trilobata (L.) Pruski,
segundo Souza & Lorenzi (2005: 596). Entretanto, a falta de maiores detalhes leva a
classificar essa forma como Dicotylophyllum sp. 11.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
108
Figura de texto: 6.32 Dicotylophyllum sp. 10 Figura de texto: 6.33 Dicotylophyllum sp. 10 Figura de texto: 6.34 Dicotylophyllum sp. 11 Figura de texto: 6.35 Dicotylophyllum sp. 11
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
109
CAPÍTULO 7 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
7.1 – Após intenso exame bibliográfico e levantamento de dados da
literatura paleobotânica, expostos nos capítulos 1 a 3 dessa dissertação, percebe-se
que a paleoflora cenozóica paulista, como as demais paleofloras brasileiras
coetâneas, permanece relativamente desconhecida, devido às mesmas causas que
afetam às demais, isto é: distribuição esparsa de seu documentário fitofossilífero,
sua má preservação na maioria dos casos e à falta de especialistas envolvidos no
assunto.
Dessa forma, este estudo adquire uma importância especial porque faz
uma análise de dados paleobotânicos da assembléia fitofossilífera neógena (ainda
inédita) encontrada no Município de Jaguariúna (SP), dos pontos de vista
morfográfico, taxonômico, tafonômico, paleoambiental, paleoecológico e
paleoclimático.
7.2 – Ainda considerando os dados bibliográficos, depreende-se que,
durante o Neógeno, a área florística Neotropical, onde essa flora viveu, não sofreu
tanto em sua composição florística; mas sim, nos deslocamentos de seus limites nas
direções norte e sul.
É interessante ressaltar que, durante o Eo-mesomioceno (23,8-11,2 Ma.),
a área florística Neotropical estendia-se pela América do Sul até quase a Patagônia
e as Serras do Mar e da Mantiqueira, provavelmente, não seriam tão elevadas, pois
o seu soerguimento, relacionado às reativações tectônicas, foi mais acentuado a
partir de Neomioceno (10 Ma) até o Plioceno, conforme Hackspacher et al. (2003,
apud Zalán, in Mantesso Neto et al., 2004). Assim, talvez houvesse um maior
adentrar, no continente, da umidade proveniente do Oceano Atlântico. Houve, após
esse tempo, um encolhimento gradativo da área Neotropical em direção as latitudes
limítrofes atuais (Akhmetyev, 1987 e Willis & McElwain, 2002), relacionada ao
resfriamento progressivo do clima global e à orogenia andina pliocena.
7.3 – Dentre as tafofloras neógenas das coberturas cenozóicas paulistas
mais estudadas, podem ser consideradas como mais semelhantes em sua
composição e idade, as tafofloras de: Formação Pirassununga (Fácies Vargem
Grande do Sul), Formação Rio Claro, Formação Itaquaquecetuba e Formação
Pindamonhangaba. Entretanto, essa semelhança ainda se refere a presença de
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
110
poucas famílias compartilhadas, como pode ser visto no quadro da Figura 7.1,
devido ao desconhecimento taxonômico e à má preservação dos fitofósseis
constituintes.
Táxons em comum
Lauraceae Typhaceae Melastomaceae Myrtaceae Fabaceae Sapindaceae Lomariopsidaceae
Fm. Itaqua-
quecetuba
(M.18)
Ocotea Myrcia;
Psidium Cassia Serjania
Depósitos
correlatos de
Jaguariúna/
Fm. Rio Cla-
ro (M.19)
Ocotea Typha Legumino-
sites Elaphoglossum
Fm. Pirassu-
nunga / Fm.
Rio Claro
(Fác. Vargem
Gde. Do Sul)
(P.18)
Tibouchina Myrcia;
Psidium Cassia Serjania
Fm. Rio
Claro (P.17) Typha
Fm. Pinda-
monhagaba.
(P.19)
Typhaceae
(?) Melastomataceae Lomariopsis
Figura 7.1 - Famílias em comum entre as tafofloras neógenas paulistas mais estudadas
7.4 – Analisando do ponto de vista litológico, a tafoflora de Jaguariúna,
ocorrente na área centro-oriental do Estado de São Paulo, na borda leste da
Depressão Periférica, próxima do Planalto Atlântico, está preservada em sedimentos
neocenozóicos do tipo argila laminada, amarelo-alaranjados, variegados,
esbranquiçados, ricos em caulim, estratificados ou maciços intercalados com
arenitos finos de estratificação cruzada.
Esses sedimentos foram correlacionados à fácies de argila laminada com
impressões de folhas e caules, em planície de inundação (Trcm) da Formação Rio
Claro, provavelmente num contexto de sistema fluvial meandrante, por Melo et al.
(1997). Anteriormente, Fernandes et al. (1994) referiram-se a essa argila laminada
da região de Paulínia - Jaguariúna como sedimentos correlatos à Formação Rio
Claro. Aliás, pode-se observar o mesmo ponto de vista já apresentado por
Cavalcante et al. (1979), no mapa da Figura 4.5.
O mineral argiloso que compõe a rocha matriz é, principalmente, caulim,
que se apresenta, aparentemente, como resultante de forte intemperismo químico na
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
111
área fonte. Entretanto, uma resposta definitiva sobre esse assunto será dada pela
Profa. Dra. Lucy Gomes Sant’Anna, que está providenciando a análise em MEV e de
Raio X, desse material. Se confirmada essa origem química na fonte, evidenciaria
um clima tropical muito úmido para a região.
O fato de não haver matéria orgânica preservada leva a supor que toda
matéria vegetal, após soterramento, foi lixiviada, ficando apenas uma pátina
esbranquiçada de caulim sobre a impressão do fóssil, constituindo um contra-molde.
7.5 – Do ponto de vista de análise morfográfica, a assembléia fossilífera
conta com mais de 600 espécimes foliares, cuja preservação, na forma de
impressão recoberta por pátina esbranquiçada (de caulim) não permite observar, na
maioria dos casos, além do contorno foliar, da veia primária e de rara e difusa
venação secundária. A partir de uma triagem preliminar, percebeu-se que dos 600
espécimes examinados, somente 160 (26,7%) apresentavam-se inteiros e passíveis
de análise morfográfica mais acurada (Figura de texto 7.2), cujos resultados são: a
maioria das formas foliares geralmente micrófilos (57% com área entre 240-1500
mm2), com relativa abundância de nanófilos (39% com área entre 67-216 mm2),
raríssimos notófilos (2% com área ao redor de 2.450 mm2) e leptófilos (2% com área
entre 10-15 mm2), Figura de texto 7.3; quanto à morfologia oscila entre obovada
(44%) e elíptica (41%), havendo menor quantidade de oblonga (10%) e ovada (5%),
Figura de texto 7.4. Os ápices são geralmente convexos de ângulo agudo /
acuminado (70%), havendo alguns retos (10%) e retusos (15%) ou arredondados
(5%), Figura de texto 7.5; as bases são cuneadas ou decorrentes (64%), havendo
algumas convexas (32%) ou raras arredondadas (4,2%), Figura de texto 7.6. Quanto
à simetria, a maioria é assimétrica (61,7%), Figura de texto 7.7. A margem foliar
mais freqüente é a lisa (85%), sendo raras as crenadas e serradas (15%), Figura de
texto 7.8. Entre as veias primárias, predomina a do tipo pinado (80%), havendo
acrodrômicas supra-basais (5%), actinodrômicas (5%) e paralelinérveas (10%),
Figura de texto 7.9. Foi possível, considerando esses caracteres, reconhecer,
inicialmente, 16 morfotipos distintos de folhas. Desses, 96% seriam angiospermas
eudicotiledôneas e 4% monocotiledôneas e pteridófitas, Figura de texto 7.10.
A pequena quantidade de formas inteiras está, em parte relacionada a
problemas de coleta, de preparação e de preservação durante armazenamento,
entretanto, há casos associados a distância maior de transporte desde a planta mãe
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
112
até o ambiente de deposição ou resultados de predação por animais ou fungos,
anterior à deposição.
O predomínio de formas foliares micrófilas e nanófilas pode estar
associado, conforme Wolfe & Upchurch (1987), a condições de umidade e ou
temperatura relativamente mais baixa ou altitudes elevadas. Contudo, a presença de
formas notófilas, nem sempre detectados pelo auto índice de fragmentação também
podem indicar disponibilidade de água, mesmo que seja a profundidades maiores,
no caso de plantas xeromórficas, ou seja, com raízes profundas. Além disso, há
possibilidade de interpretar como uma deposição preferencial ou seletiva de formas
foliares menores em alguns locais, ou ainda devido ao predomínio de formas
taxonomicamente associados a folhas compostas, como é o caso das leguminosas,
presentes nessa flora e nem sempre associados a climas mais secos, mas sim a
uma grande umidade.
Green (2006 : Figura 5) demonstrou, graficamente através de programa
de análise multivariada folha / clima haver uma relação direta entre forma elíptica
e/ou obovada com a margem inteira, bem como tamanhos micrófilos (ZMi3) a
notófilos (ZMe1). Por sua vez, a margem inteira ou lisa na percentagem de 85%,
segundo Green (2006 : Figura 1) corresponde a uma temperatura média anual
(MAT) de 25ºC, sugerindo que a flora de Jaguariúna estaria submetida, em sua
época, a uma temperatura média anual 5ºC superior à atual (20ºC).
A alta percentagem de ápices convexos agudos ou acuminados, que
somados aos retos atingem 80% da população foliar, é fortemente sugestiva de
plantas de estratos inferiores de florestas úmidas, conforme Wolfe & Upchurch
(1987) e Fittipaldi (1990). Por outro lado, a pequena percentagem de formas de
ápice arredondado como a Garcinia sp poderiam estar relacionadas a estratos de
cobertura (dossel), onde a umidade é menor. Os 15% de ápices emarginados, em
geral, estariam associados a folíolos de leguminosas, encontráveis em climas
úmidos e subúmidos, conforme aqueles autores.
As predominantes bases cuneadas decorrentes e convexas, segundo
Green (2006: Figura 5), possuem correlação fortemente positiva com margem inteira
o que corroboraria a associação à temperaturas elevadas.
As folhas coriáceas e/ou provavelmente carnosas, de formas tais como:
Alternanthera e Typha, estariam relacionadas a comunidades higrófitas enquanto, as
folhas coriáceas de Garcinia poderiam estar relacionadas à presença no dossel. O
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
113
caráter venação está mais relacionado ao tipo taxonômico não sendo considerado
aqui.
7.6 - No final do trabalho de identificação taxonômica, chegou-se, a 08
espécies e 13 morfogêneros num total de 21 formas.
7.6.1. - A grande diversidade de formas obtidas (21 tipos distintos ou
mais, em 312 exemplares identificados, na proporção 1 tipo para cada 15
exemplares), ao lado do já enfatizado, predomínio de margem lisa e de ápice
convexo de ângulo agudo ou acuminado também constitui evidência de adaptações
a clima quente, úmido, de baixas a médias altitude e latitude.
Figura de texto: 7.2. - Percentagem dos Figura de texto: 7.3. - Distribuição em percentagem fitofósseis de Jaguariúna fragmentados das áreas foliares em relação a inteiros
}}
Figura de texto: 7.4. - Distribuição em Figura de texto: 7.5. - Percentagem de tipos de percentagem das formas foliares ápices foliares encontrados na assembléia fossilífera
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
114
Figura de texto: 7.6. - Percentagem dos tipos Figura de texto:7.7. - Percentagem da de base da tafoflora estudada simetria foliar dos fitofósseis
Figura de texto 7.8. - Percentagem dos tipos de margem foliar dos fitofósseis
Figura de texto 7.9. - Distribuição percentual Figura de texto 7.10 - Percentagem dos tipos de venações primárias nos fitofósseis da composição taxonômica da tafoflora
7.6.2. – Associando a taxonomia das formas atuais afins aos aspectos
ecológicos (hábito e habitat), climáticos e de distribuição geográfica e estratigráfica,
chega-se ao quadro da Figura 7.2.
A taxonomia das espécies afins àquelas da assembléia fitofossilífera de
Jaguariúna, associada às suas exigências edáficas e luminosas, longevidade foliar e
porte de vegetal, sintetizadas nos quadros abaixo, ajudam a compor a paisagem e
as associações vegetais reinantes na época de vida da tafoflora de Jaguariúna.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
115
Espécie Hábito Habitat Distribuição Geográfica Distribuição Estratigráfica
Elaphoglossum spp
Predominantemente, epífita com algumas espécies
rupestres e outras terrestres, Tryon & Tryon,
1982.
As epífitas ocorrem sobre troncos de árvores, próximas ao
chão ou ramos próximos à canópia. Muitas espécies
crescem em lugares úmidos. Às vezes, em fendas de rochas e mais raramente sobre solos encharcados, Tryon & Tryon,
1982.
Gênero de florestas de montanha, úmidas e nebulosas, comum entre 1000-3000m de altitude. Ocorre na
região tropical e temperada da América do Sul e da África, Sudeste Asiático e desde os
Himalaias até o norte do Japão, Tryon & Tryon, 1982.
Mioceno, Loja, Equador, Berry, 1929.
Ocotea pulchella e O. cf. O. pulchelliformis
Árvores de 20 a 30 m de altura. Troncos tortuosos,
de 80 cm de diâmetro. Heliófitas e higrófilas.
Folhas simples cartáceas ou coriáceas.
Florestas ombrófilas do Sul, Mata Atlântica, Mata dos Pinhais e campos de altitude da Serra da
Mantiqueira.
No Brasil, o gênero distribui-se por Goiás e Espírito Santo até o Rio
Grande do Sul.
Oligoceno – Mioceno, Formação Itaquaquecetuba – Bacia SP,
Fittipaldi, 1990.
Typha spp. e T. cf. T. tremembensis e T. fittipaldii sp. n.
Erva aquática, perene, rizomatosa, hidrófita. Folhas
longas, paralelódromas, sésseis invaginantes.
Paludosas. Polinização anemofílica, folhas com ou sem
corpos silicosos nas bordas. Plantas monóicas, Cronquist,
1988.
Cosmopolita de regiões temperadas e tropicais.
Typha tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda. Oligoc. da Fm.
Tremembé. Typha, nas Formações Rio Claro e Pindamonhangaba
(Plioc.?) Fittipaldii & Simões, 1994, Mandarim-de-Lacerda et al. 1994.
Alternathera philoxeroide e Alternanthera sp.
Erva aquática, hidrófita ou higrófita, estolonífera
rastejante, ruderal, nociva sufocante de alagados.
Comuns no Cerrado e Restinga. Nativa da América do Sul,
cosmopolita, exceto Hemisfério Norte – frio.
Registro mais antigo da família, no Santoniano-Campaniano. Mangallón
et al. 1999.
Rheedia gardineriana Plack & Triana e/ou Garcinia spp.
Árvores de 15- 45 m de altura. Perenifólias,
Heliófitas, com troncos entre 60 e 180 cm de
diâmetro.
Desde o nível do mar até 1500m de altitude. Ombrófila densa, na
Mata Atlântica.
Gênero neotropical, ocorre por todo Brasil exceto nos estados de PI,
TO, GO, RS e MS.
Mioc. e Plioc. de Trinidad e Mioc. do Chile, Quatern. de Umbuzeiro, PB; Berry (1925, 1937a,c), Russas, CE;
Morro do Chapéu, BA, Duarte & Nogueira, 1973 e Plioc. de Pedrão e Maraú, BA. Duarte e Japiassú, 1971.
Aspidosperma cylindrocarpon Müller-Arg, A. cuspa (Kunth) S.F. Bleke e Aspidosperma
duartei sp. n.
Árvore de 8- 16m de altura e tronco de 40- 70 cm de diâmetro. Caducifólia a semidecídua, heliófita,
latifoliada.
Aspidosperma ocorre no interior de floresta densa e em florestas riparianas, distante da área de
inundação.
Gênero neotropical, ocorre no Brasil, no NE, SE e Centro-Oeste.
Paleoc. e Eoc. Do Rio Pichileufú, Argentina; Eoc. Inf. Na Flora de
Wilcox; Eoc. Méd. Fm. Claiborne; Eoc. Da Fm. Green River; Berry (1910,
1916, 1924, 1930; 1938).
Fabáceas e Leguminosites sp.
As fabáceas são de hábito arbóreo, arbustivo,
herbáceo ou lianas. Folhas simples ou compostas, em
geral, caducifólias.
As fabáceas são de variados habitats.
Cosmopolitas de áreas tropicais e subtropicais, temperadas quentes e
frias.
Paleoceno de Itaboraí, RJ. Mioc. de Trinidad, Peru e Patagônia.
Plioc. da Bolívia e de Maraú, BA. Duarte & Japiassú, 1971.
Figura 7.2 - Dados ecológicos e geográficos das espécies atuais afins e estratigráficos das espécies ocorrentes na tafoflora de Jaguariúna (SP).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
116
EXIGÊNCIAS EDÁFICAS
Quanto às exigências edáficas das espécies atuais de afinidades mais
próximas, tem-se que são, predominantemente, higrófitas dispondo contudo, de
representantes xerofíticos ou mesofíticos e encontrados em mata aberta ou em terra
firme dos cerrados, caatingas e florestas pluviais.
EXIGÊNCIAS DE LUZ
Quanto à luminosidade, a maioria das formas atuais de afinidades
botânicas mais próximas apresenta predileção por ambiente com elevada taxa de
luz. Entretanto, há outras, como demonstra a tabela, que só exigem luminosidade
suficiente para realizar suas funções fotossintetizantes, como é o caso do
Elaphoglossum sp. e da Aspidosperma cuspa ou A. cylindrocarpon.
Gêneros Higrófita Xerófita Mesófita
Elaphoglossum sp.
Ocotea pulchella
Typha spp.
Alternanthera pungens
Garcinia brasiliana
Aspidosperma cuspa/ A. cylindrocarpon
Leguminosites / Fabaceae
Gêneros Heliófitas Ciófitas
Elaphoglossum sp.
Ocotea pulchella
Typha spp.
Alternanthera pungens
Garcinia brasiliana
Aspidosperma cuspa / A. cylindrocarpon
Leguminosites / Fabaceae
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
117
LONGEVIDADE FOLIAR
Quanto à longevidade foliar, as Poales e Malpighiales (Typha e Garcinia
brasiliana) são perenifólias, as Laurales (Ocotea pulchella) e as Gentianales
(Aspidosperma) são semidecíduas, enquanto as Leguminosites são, em geral,
decíduas.
PORTE DOS VEGETAIS
Pelo porte das espécies atuais afins, as espécies fósseis estudadas
sugerem terem constituído pelo menos quatro associações vegetacionais distintas:
1) aquáticas – A Alternanthera pode ter comportamento hidrofítico
enquanto a Typha é higrófita. Ambas constituiriam as zonas ribeirinhas e habitariam
corpos aquosos.
Gêneros Decídua ou
Caducifólia Perenifólia Semidecídua
Elaphoglossum sp.
Ocotea pulchella
Typha spp.
Alternanthera pungens
Garcinia brasiliana
Aspidosperma cuspa/ A. cylindrocarpon
Leguminosites / Fabaceae
Nanofanerógama Microfanerógrama Mesofanerógama Gêneros
0,25 a 5m 6 a 12 m 13 a 20 m 21 a 45 m
Elaphoglossum sp.
Ocotea pulchella
Typha spp.
Alternanthera pungens
Garcinia brasiliana
Aspidosperma cuspa /
A. cylindrocarpon
Leguminosites / Fabaceae
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
118
2) árvores microfanerógamas – Alguns representantes como as
Leguminosites teriam de 6-12 m e constituiriam o primeiro estrato vegetal,
entretanto, por serem heliófitas, habitam campos abertos. As Aspidosperma seriam
representantes de 8-10 m do primeiro estrato. A idéia de comporem um primeiro
estrato é corroborada por seu comportamento ciofítico, vivendo à sombra de outras
plantas mais altas.
3) árvores mesofanerógamas – A Ocotea apresentaria de 20–30 m de
altura e a Garcinia de 15–45 m. Ambas constituiriam o segundo estrato vegetacional
de heliófitas. A associação de Aspidosperma, Ocotea e Garcinia é sugestiva de uma
Floresta Ombrófila Densa.
4) Epífitas – Elaphoglossum – Apareceria sobre troncos, próximo ao chão
ou na canópia em lugares úmidos. São ciófitas e habitam o interior da Floresta
Ombrófila Densa.
Algumas formas tais como Ocotea pulchella exigem ao redor de 600 m de
altitude, em Floresta Ombrófila Mista ou Ombrófila Densa, típica do Reino
Neotropical, ocorrendo no interior da mata sombria e úmida.
Typha subulata, Typha domingensis e Elaphoglossum exigem solos
encharcados e as Alternanthera, provavelmente, vivessem à margem e dentro de
corpos aquosos, tornando-os anóxicos.
As leguminosas poderiam ter vivido em áreas um pouco mais secas e
mais distantes do ambiente deposicional, embora constituindo ainda parte das matas
ciliares.
Garcinia, apesar de poder ocorrer na Caatinga e na Mata de terra firme, é
típica da Floresta Amazônica e Mata Atlântica, sendo árvore de porte elevado (15-
25 m de altura), perenifólia e heliófita. Talvez constituíssem o dossel junto às Ocotea
com 20-30 m de altura.
A concentração maior e quase exclusiva de Typha sp no nível
fitofossilífero superior sugere que essas plantas típicas de borda, em solos
encharcados de corpos aquosos, habitavam, abundantemente, a área ribeirinha
próxima à de deposição, excluindo possivelmente outras formas vegetais riparianas.
Esses sedimentos parecem estar relacionados a depósitos de ambiente
de planície de inundação, dentro de um contexto de depósito fluvial meandrante, de
baixos gradientes e áreas alagadas sob clima muito quente e úmido, com forte
intemperismo químico (Dos-Santos et al. 2006).
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
119
7.7 - Aspectos Tafonômicos
A Tafonomia (taphos=sepultamento; nomos=leis), conforme a concepção de
Mendes (1988), “é o ramo da paleontologia que se devota, primariamente ao estudo
das condições e processos que propiciam a preservação de restos de organismos
pré-históricos ou de vestígios deixados por esses organismos”.
Essa designação foi proposta por Efremov (1940 apud Mendes, 1988) que a
definiu como: “the laws that drive death”.
Diferentemente de Martins-Neto & Gallego (2006) que envolvem tafonomia
com biocenose, tanatocenose e orictocenose, termos esses relativos a associações
de vida e morte dos organismos, Mendes (1988) a relacionou apenas com a fase de
post mortem até o sepultamento. Considerou a tafonomia como ciência que estuda a
preservação de cada resto orgânico dividindo em duas fases: a primeira fase
(designada bioestratinomia), que vai desde a morte do indivíduo até seu
sepultamento em sedimentos, envolvendo transporte e soterramento e a segunda
fase (denominada fossildiagênese), que se inicia após o soterramento, abrangendo
todos os eventos pós-deposicionais ligados à preservação de restos orgânicos ou de
seus vestígios. Os processos relacionados à bioestratinomia (sensu Mendes, 1988),
como bem caracterizaram Martins-Neto & Gallego (2006), envolvem fatores físicos e
químicos que podem ser assim listados: distância de transporte; tempo de flutuação,
taxa de decomposição, taxa de mineralização e taxa de sedimentação.
No caso dos fitofósseis da tafoflora ou orictocenose fitofossilífera de
Jaguariúna, a distância de transporte foi variável mas, em geral, não muito longa, em
se tratando em sua grande maioria de folhas. Spicer (1981) tem afirmado que as
floras, em geral, não suportam transporte até o sítio de deposição muito maior que
100 m a partir de sua planta-mãe, por problema de decomposição orgânica rápida.
As folhas, após se destacarem da planta-mãe, flutuam no agente
transportador por uns dois ou três dias, envolvidas numa gelatina de decomposição,
indo logo a seguir ao fundo.
Sabe-se que, de acordo com sua taxonomia, as plantas da flora de
Jaguariúna envolviam associações mais aquáticas ou que viviam próximas à água
em áreas paludosas ou de inundação, como Alternathera sp e tifáceas; algumas
teriam vivido na planície de inundação anual como Aspidosperma e Leguminosas,
enquanto outras viveriam em florestas úmidas densas e de terra firme como as
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
120
atuais Ocotea pulchella, Garcinia spp, incluindo ainda Aspidosperma spp e
Fabáceas. Ai, proliferariam também aquelas epífitas como Elaphoglossum que
ocorrem sobre troncos de árvore vivos ou em decomposição ou próximos ao chão,
dentro da mata densa, sombreada e úmida. Assim, as primeiras formas
(Alternanthera e Tifáceas) quase não sofreram transporte para o interior do corpo
aquoso no qual foram sedimentadas, enquanto formas tais, como Ocotea, Garcinia,
Aspidosperma, Fabáceas (Leguminosites) e Elaphoglossum teriam sofrido um
transporte um pouco mais longo, contudo não muito superior a uns 100 m do
ambiente de deposição. O tempo de flutuação das formas não deve ter sido grande,
já que as folhas quase sempre se depositam na borda de corpos d´água, conforme
Duparque (1933, in Emberger, 1968). As formas que percorreram maior distância até
a deposição são as que aparecem mais fragmentadas (Garcinia e Ocotea) e/ou
foram encontradas desarticuladas, principalmente, em se tratando de folíolos de
leguminosas.
Quanto à taxa de sedimentação, deveria ser muito lenta a julgar pela litologia,
(extremamente) fina e resultante de intemperismo químico intenso (caulim). A taxa
de decomposição deveria ser rápida, devido ao ambiente raso e oxidante, todavia, a
argila muito plástica, que envolvia as folhas, deveria moldá-las com rapidez. O
micro-ambiente um tanto ácido em torno da folha em decomposição (com
desprendimento de CH4 e H2S) talvez impedisse a precipitação do hidróxido de ferro,
dissolvido na água, ao redor do próprio fóssil mantendo a argila na forma de pátina
branca envolvendo-o. Outra hipótese para explicar a pátina esbranquiçada sobre as
impressões foliares seria que os órgãos foliares, principalmente os espessos, uma
vez soterrados, seriam moldados, isto é, teriam sua superfície impressa nos
sedimentos argilosos plásticos. Depois, sua matéria orgânica seria lixiviada por água
vadosa. O espaço vazio, correspondente ao ocupado anteriormente pela folha, seria
então preenchido por uma solução argilosa esbranquiçada que constituiria uma
espécie de contra-molde do órgão foliar.
A moldagem não teria sido mais detalhada devido, às vezes, à granulação um
pouco mais grossa dos sedimentos micáceos ou ao tempo curto de decomposição
da folha e em alguns casos à textura mais coriácea de alguns órgãos foliares, que
ocultaria sua venação. Uma lixiviação intensa, em áreas de planície de inundação,
ter-se-ia seguido. Por outro lado, o intenso intemperismo químico atual tem
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
121
acelerado e sido responsável pela destruição ou colaborado para a má preservação
dos fósseis.
A disposição caótica dos fósseis superpostos no nível inferior é evidência
de ambiente de deposição calmo, sem correnteza e com menor aporte de
sedimentos para o seu interior.
A direção de alongamento dos fósseis é tendenciosa, embora não
completamente definida, para N 28ºW e N 30ºW o que sugeriria uma possível fonte
a SE.
A preservação pobre, desprovida de detalhes de venação, poderia estar
relacionada também a uma lixiviação intensa inclusive na época de deposição.
O material do nível fossilífero inferior, rico em forma foliares menores
(micrófilas e nanófilas representando mais de 80%) poderia ser indicador de seleção
deposicional em área de planície de inundação, ou sugerir uma certa concentração
de Leguminosas (semidecídua), riparianas.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
122
CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tafoflora de Jaguariúna encontra-se em afloramento de sedimentos
cenozóicos, ocorrentes na área centro-oriental do Estado de São Paulo, sobre a
Depressão Periférica, nas proximidades de seu limite com o Planalto Atlântico, a
cerca de 100 m da margem esquerda da Rodovia SP 340, Km 136,5. A rocha matriz
corresponde a argilito amarelo claro, variegado, de laminação incipiente e fossilífero
que ocorre em dois níveis do afloramento, com aproximadamente 1 m de espessura
cada um. Esses sedimentos têm sido provavelmente considerados, estratigráfica-
mente, como correlatos à Formação Rio Claro ou mesmo pertencentes a ela.
Essa tafoflora apresenta em sua composição os seguintes elementos:
Elaphoglossum sp, Ocotea cf. O. puchelliformis Fittipaldi, Typha cf. T. tremembensis
Duarte e Mandarim-de-Lacerda, T. fittipaldii sp. n., Alternanthera sp, Garcinia sp.,
Aspidosperma duartei sp. n., Leguminosites sp, Monocotylophyllum sp1, M. sp2,
Dicotylophyllum sp.1, a D. sp.11. Foi possível registrar, no documentário fossilífero,
pela primeira vez em solo brasileiro, os gêneros: Elaphoglossum, Alternanthera e
Aspidosperma. Duas espécies novas foram identificadas.
Trata-se de flora relativamente bem diversificada, sendo possível detectar
cerca de 21 formas diferentes em 312 espécimes, selecionados por seu melhor
estado de preservação. Essa diversificação relativamente alta é típica de vegetação
de clima tropical úmido.
São plantas que, por sua taxonomia, indicam afinidades botânicas com
formas predominantemente higrofíticas, heliófitas (poucas esciófitas), perenifólias em
sua maioria, constituindo pelo menos três associações vegetacionais distintas: uma
que habitava corpos aquosos e solos úmidos encharcados, outra ripariana, de
terrenos inundáveis anualmente e ainda outra de bosque de terra firme. Esse
bosque, por sua vez, apresenta pelo menos 3 estratos: os de nanofanerógamas
(herbáceas e arbustos de até 5 m de altura), como Leguminosites e Elaphoglossum
(este a fixar-se em solos úmidos ou troncos caídos ou ainda como epífitas sobre
troncos de árvores), um estrato de microfanerógamas (árvores de 6 a 20 m) tipo
Leguminosites e Aspidosperma e um de mesofanerógamas (de 21 a 45 m) como
Ocotea e Garcinia a constituir a canópia. Figura 8.1.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
123
Figura 8.1. – Reconstituição Paleoflorística
A análise morfográfica também sugere uma predominância de formas
típicas de clima tropical úmido. Entre estas, há folhas de margem lisa e de ápice
convexo de ângulo agudo, que são evidências de adaptações a esse tipo de clima,
de baixa altitude (mais ou menos 600 metros) e de baixa latitude, corroborando
assim os dados fornecidos pela geologia. Também o flagrante predomínio da
margem lisa (85%), indica temperatura superior a 25ºC pelo programa de análise
multivariável folha / clima de Green (2006). O predomínio de áreas foliares pequenas
(nanófilos e micrófilos) indica provável deposição seletiva de tamanho, em planície
de inundação com um possível domínio de leguminosas.
Logo, por todas essas evidências e outras ainda relacionadas à ecologia de
formas botânicas atuais afins, a área deveria estar coberta por uma Floresta
Ombrófila Densa de altitude entre 600 e 1000 m, portanto, uma vegetação de clima
mais úmido e mais quente do que o atual.
A comparação com outras tafofloras neógenas conhecidas sugere pequenas
semelhanças (Figura 7.1) porque, à exceção da tafoflora de Vargem Grande do Sul,
todas são pouco conhecidas e mal preservadas.
Embora os macrofósseis vegetais não sejam bons indicadores cronológicos,
de uma maneira geral, ao observar-se à distribuição estratigráfica sul-americana dos
gêneros estudados, verifica-se que, possivelmente estariam sugerindo uma idade
neógena. Figura 8.2
LEGENDA
El.=Elaphoglossum Oc.=Ocotea Ty.=Typha Ga.=Garcinia Al.=Alternanthera As.=Aspidosperma Le.=Leguminosites
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
124
El. Oc. Ty. Ga. Al. As. Le.
Holoceno Pleistoceno
Plioceno Mioceno
Oligoceno Eoceno
Paleoceno Cretáceo
Figura 8.2 – Distribuição estratigráfica sul-americana dos gêneros encontrados na tafoflora de Jaguariúna
Tendo em vista a idade neógena sugerida aqui pela distribuição
estratigráfica dos gêneros componentes da tafoflora e o clima mais quente e úmido
evidenciado por ela e pela própria litologia, haveria uma maior indicação para a
idade miocena, visto que o Plioceno é caracterizado por um clima global mais frio e
seco rumo à glaciação pleistocena.
LEGENDA
El. = Elaphoglossum
Oc. = Ocotea
Ty. = Typha
Ga. = Garcinia
Al. = Alternanthera
As. = Aspidosperma
Le. = Leguminosites
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
125
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AKHMETYEV, M. A. – Caenozoic Floras. In: MEYEN, S. V. 1987. Fundamentals of
Palaeobotany. Chapman & Hall, London, p. 432. 1987.
ALMEIDA F.F.M. – Novas ocorrências de camadas supostas pliocênicas nos
Estados de São Paulo e Paraná. Bol. SBG, 1(1):53-58. 1952.
ALMEIDA, F.F.M.; RICCOMINI, C. DEHIRA, L.K.; CAMPANHA, G.A.C. – Tectônica
da Formação Itaquaquecetuba na Grande São Paulo. In: CONGR. BRÁS. GEOL.,
33, Rio de Janeiro, 1984. Anais... Rio de Janeiro, SBG. v.4, p.1794-1808. 1984.
ANDERSON, J. M. & VAN WYK D. – The higher plants. In: Anderson, J.M. (ed.) –
Towards Gondwana, alive. Goundwana a live society, p. 52-57. 1999.
ANZÓTEGUI, L. M. – Cutículas Del Terciário Superior de La Província de Corrientes,
Argentina. II Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y I Congreso
Latinoamericano de Paleontología, 3: 141-167. 1978.
ANZÓTEGUI, L. M. – Megaflora de la Formación Chiquimil, (Mioceno Superior), en
los valles de Santa María y Villavil, Províncias de Catamarca y Tucumán, Argentina,
Buenos Aires, Ameghiniana, 41:303-314. 2004.
ANZÓTEGUI, L. M.; – Síntese de la Tafoflora de los Valles Calchaquíes, XIII
Simpósio Argentino de Paleobotânica y Palinologia. In: Bahia Blanca (Argentina).
p.75, 2006.
ANZÓTEGUI, L. M. & CRISTALLI, P.; – Primer registro de hojas de Malvaceae em el
Neogeno de Argentina y Brasil. Ameghiniana (Rev. Assoc. Paleontol. Argent.) – 37
(2): 169-180. Buenos Aires, Argentina, 2000.
ANZÓTEGUI, L. M. & CUADRADO, G. – Palinología de la Formación Palo Pintado,
Mioceno Superior, província de Salta, República Argentina. Parte 1. Taxones
nuevos. Revista Española de Micropaleontología 28: 77-92. 1996.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
126
ANZÓTEGUI, LM., GARALLA, S.S., HERBST R., – Fabaceae de la Formación El
Morterito (Mioceno Superior) del valle del Cajón, província de Catamarca, Argentina.
Ameghiniana. (2006, no prelo).
ANZÓTEGUI, M.L. & HERBST, R. – Megaflora (hojas y frutos) de la formacõn San
José (Mioceno Médio) en Rio Seco, departamento Santa Maria, Província de
Catamarca, Argentina, AMEGHINIANA (Ver. Asoc. Paleontol. Argent.) – 41 (3):423-
436. Buenos Aires, Argentina, 2004.
APG II – An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders
of families of flowering plants: APG II. Bot. J. Linn. Soc. 141: 399-436. 2003.
BELL, P. R. – Studies in the genus Elaphoglossum Schott I. Stelar structure in rela-
tion to habit. Ann. Bot., N. S. 14: 545-555. 1950.
BERG, M.E.V.D. – Revisão das espécies brasileiras do gênero Rheedia L.
(Guttiferae). Acta Amazonica 9(1): 43-74. 1979.
BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M.E.C.; MANDARIM-LACERDA, A. F.; GARCIA M. J.;
CAMPOS, C.C. – Jazigo Rodovia Quiririm – Campos do Jordão, Km 11,
(Tremembé), SP – (Macrofósseis vegetais do Terciário) – SIGEP n.º 87, Bacia de
Taubaté. 2001.
BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M.E.C.; MANDARIM-LACERDA, A. F. ; GARCIA, M.
J.; CAMPOS, C. C. – Fazenda Santa Fé (Tremembé), SP. In: SCHOBBENHAUS, C.;
CAMPOS, D.A.; QUEIROZ, E.T.; WINGE, M.; BERBERT-BORN, M.. (Org.). Sítios
Geológicos e Paleontológicos do Brasil. Brasília: SIGEP, 2002a, v. 1, p. 63-71.
BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M.E.C.; MANDARIM-LACERDA, A. F.; GARCIA, M. J.;
CAMPOS, C. C.; – Jazigo Rodovia Quiririm Campos de Jordão, km 11 (Tremembé),
SP.. In: SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D.A.; QUEIROZ, E.T.; WINGE, M.;
BERBERT-BORN, M. – (Org.). Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil.
Brasília: SIGEP, v. 1, p. 63-71. 2002b.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
127
BERRY, E.W. – And Eocen Flora in Georgia and the Indicated Physical Conditions
Botanical Gazette, 1916.
BERRY, E.W. – The Lower Eocene floras of south-eastern North America. U.S.
Geological Survey Professional Paper, 91, S. 1-481. 1916.
BERRY, E. W., – Miocene fossil plants from Northerm Perú. – Proc. U. S. Nat. Mus.,
55: 279-294. 1919.
BERRY, E. W., – Pliocene fossil plants from the eastern Bolívia. – Johns Hopkins
University Studies in Geology, 4: 145-185, 8 tad. 1922a.
BERRY, E. W., – Contributions to the paleobotany of Perú, Bolivia y Chile. Baltimore,
Johns Hopkins University Studies in Geology Press, 44 p. (Studies In Geology 4).
1922b.
BERRY, E. W., – New tertiary species of Anacardium and Vantanoa from Colombia.
– Pan – American Geologist, 42: 259-262. 1924.
BERRY, E. W., – Tertiary plants from eastern Perú – Johns Hopkins University
Studies in Geology, 6: 163-182. 1925a.
BERRY E. W., – A Miocene flora from Patagonia-In: Berry, W. E. & F. M. Swartz,
Contributions to the Geology and Paleontology of South America. – Johns Hopkins
University Studies in Geology, 6: 183-233, 9 tab. 1925b.
BERRY, E. W., – The Tertiary flora of the island of Trinidad. Pages 71159 in EB
Mathews, ed. Contributions to the geology and palaeontology of South America.
1925c.
BERRY, E. W., – The fossil flora of Loja Basin in Southern Ecuador. – Johns Hopkins
University Studies in Geology, 10: 79-136. 1929.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
128
BERRY, E. W., – A flora of Green River age in the Wind River Basin of Wyoming, U.
S. Geological Survey Professional Paper, 165-B, pp. 55-82. 1930.
BERRY, E. W., – Tertiary plants from Brazil. – Proc. Amer. Philosoph. Soc., 75: 565-
590, 5 tab. 1935.
BERRY, E. W., – Miocene plants from Colombia South America. – Bull. Torrey Bot.
Blub, 63 (2): 53-66. 1936a.
BERRY, E. W., – Tertiary fossil plats from Venezuela. II – Proc. U. S. Nat. Mus., 83:
335-360. 1936b.
BERRY, E.W., – A late Tertiary flora from Trinidad. B. W. I. – Johns Hopkins
University Studies in Geology, 12: 69-80, 1 tab. 1937a.
BERRY, E.W., – Contributions to Paleobotany from South America, Eogene plants
from Trinidad. B. W. I. – Johns Hopkins University Studies in Geology, 12: 69-80, 1
tab. 1937b.
BERRY, E.W., – A flora from the Florest Clay of Trinidad. B.W. I. - Johns Hopkins
University Studies in Geology, 12: 69-80, 1 tab. 1937c.
BERRY, E. W. – Tertiary flora from the Rio Pichileufú, Argentina, Special Pap. Geol. Soc. Amer., 12 :1-149, 1938.
BERRY, E.W., – Fossil plants from the State of Anzoategui, Venezuela. – Johns
Hopkins University Studies in Geology, 13: 137-155, 2 tab. 1939a.
BERRY, E.W., – Fossil plants from the State of Anzoategui, Venezuela. – Johns
Hopkins University Studies in Geology, 13: 9-67, 8 tab. 1939b.
BERRY, E.W., – Fossil floras from southern Ecuador. Johns Hopkins University
Studies in Geology, 14:93-150. 1945a.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
129
BERRY, E.W., – Late Tertiary fossil plants from eastern Colombia. Johns Hopkins
Univ. Stud. in Geology, 14:171-86. 1945b.
BJORNBERG, A.J.S.; MACIEL, A. C.; & GANDOLF, N. – Nota sobre depósito
moderno na Região de Rio Claro - São Paulo: Pub. Esc. Eng. São Carlos, (106), 21-
36p. Geologia (11). 1964a.
BJORNBERG, A.J.S.; LANDIM, P.M.B. & MEIRELLES FILHO, G.M. – Restos de
plantas modernas em níveis elevados na região de Rio Claro – São Paulo,
16(2):114- 115, Pub. Esc. Eng. São Carlos, (106), Geologia 11: 37-57. 1964b.
BJORNBERG, A.J.S.; LANDIM, P.M.B. – Contribuição ao estudo da Formação Rio
Claro (Neocenozóico), São Paulo: Bol. Soc. Bras. Geologia, 15, (4), p. 43-68. 1966.
BOUREAU, E. & M. SALARD, – Contribution á l’etue paleoxylologique de la
Patagonie (I). – Senckenbergiana Leth., 41 (1- 6): 297-315, 6 lám. 1960.
BIRKENMAJER K. & ZASTAWNIAK E. – Plant Remains of the Dufayel Island Group
(Early Tertiary?), King George Island, South Shetland Islands (West Antarctic). Acta
Paleobotânica, 26(1-2):33-54. 1986.
BRAVARD A. – Monografía de los terrenos Terciarios del Paraná. Anales del Museo
Nacional de Historia Natural de Buenos Aires 3: 45-94. 1858.
BREMER. K – Godwana Evolution of the Grass Alliance of Familias (Poales), Rev.
Evolucion 56(7): 1374-1387. 2002.
BROLLO, M.J. – Diagnóstico do meio físico da media Bacia do Rio Piracicaba para
fins de gestão ambiental; 62-63p, mapa 17p, 4 Geologia 1996.
BUCHOLZ, T.J. & N.E. GRAY. – A taxonomic revision of Podocarpus.- J. Arnold.
Arbor., 29: 49-76,117-51; 32: 82-97. 1948 – 1951.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
130
CARDOSO, N. & IANNUZZI R. – Associações fitofossilíferas do Complexo
Carbonatítico Catalão I, Goiás, Brasil. XIII Simpósio Argentino de Paleobotânica y
Palinologia Bahia Blanca (Argentina). Pág.104. Maio 2006.
CARNEIRO, C.D.R. & PONÇANO, W.L. – Unidades Geológicas do Estado de São
Paulo. In: Almeida, F.F.M; Bistrichi, C.A; Pires-Neto, A.G; Almeida, M.A.; Mapa
Geológico do Estado de São Paulo – Monografia 6, I: 4-11. 1981.
CAVALCANTE J.C., CUNHA H.C.S., CHIEREGATI L.A., KAEFER L.Q., ROCHA
J.M., DAITX E.C. COUTINHO M.G.N., YAMAMOTO K., DRUMOND J.B.V., ROSA
D.B., RAMALHO R. – Projeto Sapucaí - Estados de Minas Gerais e São Paulo.
Relatório Final de Geologia. Brasília, DNPM/CPRM, 299 p. (Série Geologia 5, Seção
Geologia Básica 2). 1979.
COWEN, R. – History of Life Fourth Edition. Blackwell Publishing, p. 560, 2005.
CRONQUIST, A. - The evolution and classification of flowering plants. 2nd. ed. The
New York Botanical Garden, Bronx, New York. Columbia University Press, p. 1262.
1988.
CRISTALLI, P.S. –Tafoflora das Camadas Nova Iorque, Depósitos Neógenos do Rio
Parnaíba, Município de Nova Iorque (MA), Brasil. Dissertação de Mestrado,
Programa de Pós-Graduação em Geologia em Geologia Sedimentar. 1997.
CRISTALLI, P. S. & BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M.E.C . – Tafoflora Neógena das
Camadas Nova Iorque (MA-Brasil) e seu significado Paleofitogeográfico. Acta
Geológica Leopoldensia, São Leopoldo/RS, n. 46/47, p. 55-67, 1998.
DILCHER, D.L., – Early angiosperm reproduction: an introductory report. Rev.
Palaeobot. Palynol., 27: 291-328. 1984.
DINO R., GARCIA M.J., ANTONIOLI, A., LIMA, M.R. – PALINOFLORA DAS
“CAMADAS NOVA IORQUE”, REGISTRO SEDIMENTAR DO PLIOCENO NA BACIA
DO PARNAÍBA (MARANHÃO). Boletim do 7.º Simpósio do Cretáceo do Brasil e 1.º
Simpósio do Terciário do Brasil. Serra Negra, SP, 02 a 06 de abril de 2006 pág. 42.
2006.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
131
DOLIANITI, E. – A Paleobotânica no Brasil, Boletim da Divisão de Geologia e
Mineralogia n.° 123:87, 1948.
DOS-SANTOS, M. A.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M. E., GARCIA, M. J., –
Avaliação Preliminar da Tafoflora Cenozóica do Município de Jaguariúna, SP.
Boletim 7° Simpósio do Cretáceo do Brasil, 1° Simpósio do Terciário do Brasil. Serra
Negra (SP) – 02 a 06 abril, 2006.
DUARTE, L. – Styracaceae Fóssil do Pleistoceno de Russas, Ceará. B. Div. Geol.
Mineral. D.N.P.M., Rio de Janeiro, 109: 1-18, est. 2. 1959.
DUARTE, L. – Contribuição à Paleontologia do Estado do Pará. Flórula fóssil da
Formação Pirabas. In: CNPq, Simp. Biota Amazônica, 1, Belém, Atas, 1: 145-149.
1967.
DUARTE, L. – Comentários sobre o “Status” Taxinômico de uma Coleção de
Vegetais Fósseis do Acre. Na. Acad. Brasil. Ciênc., 42 (3): 471-476. 1970.
DUARTE, L. – Flórula da Formação Pirabas Estado do Pará, Brasil. Tese de
doutoramento. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. 1972.
DUARTE, L. – Paleoflórula cap. 6 p. 169-196 in ROSSETTI & GÓES, 2004, O
Neógeno da Amazônia Oriental, Museu Paraense Emílio Goeldi, Coleção Friedrich
Katzer. 225p. 2004.
DUARTE, L. & JAPIASSÚ, A.M.S. – Vegetais Meso e Cenozóicos do Brasil.Anais da
Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 43 (supl.): 443-443. 1971.
DUARTE, L. & MANDARIM-DE-LACERDA, A. F. – Flora Cenozóica do Brasil,
Formação Tremembé, Bacia de Taubaté; São Paulo. In: Congresso Brasileiro de
Paleontologia, X, 1989, Curitiba, PR, Anais, SBP, 879-884p. 1989.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
132
DUARTE, L. & MANDARIM-DE-LACERDA, A. F. – Flora Cenozóica do Brasil,
Formação Tremembé, Bacia de Taubaté; São Paulo. II: Luechea nervaperta sp. n.
(Tiliaceae). In: Congresso Brasileiro de Paleontologia, 11, 1989, Curitiba, PR,
Resumos das Comunicações, SBP, p.99. 1989a.
DUARTE, L. & MANDARIM-DE-LACERDA, A. F. – Flora Cenozóica do Brasil,
Formação Tremembé, Bacia de Taubaté; São Paulo. III: Frutos (Phitolacaceae e
Leguminosae). In: Congresso Brasileiro de Paleontologia, 11, 1989, Curitiba, PR,
Resumos das Comunicações, SBP, 1: 395-410. 1989b.
DUARTE, L. & MANDARIM-DE-LACERDA, A. F. – Flora Cenozóica do Brasil:
Formação Tremembé, Bacia de Taubaté, São Paulo.I. Celastraceae, Loganiaceae e
Typhaceae. An. Acad. bras. Ciências, Rio de Janeiro, 64(1): 29-41. 1992.
DUARTE, L. & MARTINS, A.F.F.R. – Contribuição ao conhecimento da flora
cenozóica do Brasil. Jazigo Vargem Grande do Sul, SP. Anais da Acad. Brasil. de
Ciênc. Rio de Janeiro, 55 (1): 109-121. Série Taubaté I. An. Acad. Brasil. Ciênc.,
55(1): 109-121,1983.
DUARTE, L. & MARTINS, A.F.F.R. – Contribuição ao conhecimento da flora
cenozóica do Brasil. Jazigo Vargem Grande do Sul, SP. Série Taubaté II. In: Brasil,
Depto. Nac. da Prod. Mineral. Coletânea de Trabalhos Paleontológicos. Brasília, p.
565-571. Série Geologia 27, Sessão Paleontologia e Estratigrafia 2. 1985.
DUARTE, L. & NOGUEIRA, M.I.M. – Vegetais do Quaternário do Brasil I – Flórula de
Russas, CE. Anais da Academia brasileira de Ciências, 52 (1): 37-48. 1980.
DUARTE, L. & NOGUEIRA, M.I.M. – Vegetais do Quaternário do Brasil III – Flórula
do Morro do Chapéu. Coletânea de Trabalhos Paleontológicos, Série Geologia, 27.
Seção de Paleontologia e Estratigrafia, 2: 573-578. 1985.
DUARTE, L. & SILVA SANTOS, R. – Novas Ocorrências Fossilíferas nos Estados do
Rio Grande do Norte e Ceará. Col. Mossoroense, Mossoró, 56: 1-11. 1960.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
133
DUARTE, L. in ROSSETTI & GÓES – O Neógeno da Amazônia Oriental, Museu
Paraense Emílio Goeldi, 2004, p. 225. Coleção Friedrich Katzer. 2004.
DUARTE, L & VASCONCELOS, M.E.C. – Vegetais do Quaternário do Brasil II –
Flórula de Umbuzeiro, PB. Anais da Acad. Bras. de Ciênc. Rio de Janeiro 52 (1): 93-
108. 1980.
DUSÉN, P. – Über die Tertiare Flore der Magellansländer I, en: Nordenskjöld, O. –
Wiss. Ergeb. Sebwed, Exp. Magellans, I: 87-108, 5 tab. 1907.
DUTRA, T.L. & STRANZ, A. – Clarificação e diafanização de folhas. In: T.L. Dutra
(ed.), Técnicas e procedimentos de trabalho com fósseis e formas modernas
comparativas, p.27-29. 2002.
DUTRA, T. L.; ROSSETTI, D. F.; STRANZ., A.; – Bombacaceae Kuhnt., 1821 from
the Middle Miocene Barreiras Formation (Depositional Sequence) in Pará State,
Brazil. In: 17 Congresso Brasileiro de Paleontologia, 2001. Anais do 17º Congresso
Brasileiro de Paleontologia, v. 1.77. 2001.
EMBERGER, L. – Les plantes fossiles dans leurs rapports avec les végétaux vivants.
Masson & Cie, Éditeurs. Paris., 1968.
ENGELHARDT, H. 1895 apud MENÉNDEZ – Mesa Redonda. Floras Terciárias de la
Argentina, Ameghiniana, VIII, (3-4). 1971.
ENGELHARDT, H. – Ueber Tertiaroplazen Sud. Amerikas. Ahandl senekenberg.
Naturf. Ges (Frankfurt a/m), 19 (1): 1-44. 1995.
FAIRON-DEMARET, M.; HILTON, J.; BERRY, C. M.; – Surface preparation of
macrofissils (dégagement). In: Jones, T.P., Rowe, N.P. (eds.), Fossil Plants and
Spores: Modern Techniques. Geological Society, London, p. 33-35. 1999.
FERNANDES, A.C.S. & MELO, S. – Ocorrência de pistas de artrópodes na
Formação Rio Claro, Neocenozóico do Estado de São Paulo. Anais Acad. Bras.
Ciênc., RJ, 68 (2) : 277. Resumos das Comunicações IG – SMA/SP. 1996.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
134
FERNANDES, A. J; FITIPALDI, F.C. & FERREIRA, C.J. – Faciologia dos depósitos
cenozóica entre Jaguariúna de Americana – SP – In Congresso Brasileiro de
Geologia, 38, 1994, Camboriú SC. Bol. de Resumos Expandido, Sessão Temáticas,
SBG, v. 3, p. 269-270. IG-SMA/SP, 1994.
FITTIPALDI, F.C. – Vegetais Fósseis da Formação Itaquaquecetuba (Cenozóico,
Bacia de São Paulo). São Paulo: 146p., inédita (Tese de Doutorado, Instituto de
Geociências da Universidade de São Paulo). 1990.
FITTIPALDI in MELO, M.S; COIMBRA, A.M.; CUCHIERATO, G. – Fácies
sedimentares da Formação Rio Claro, neocenozóico da Depressão Periférica
Paulista. São Paulo: Revista do Instituto Geológico, 18(1/2): 49-63. 1997.
FITTIPALDI, F.C.; SIMÕES, M.G.; GIULIETTI, A.M. & PIRANI, J.R. – Fossil plants
from the Itaquaquecetuba Formation (Cenozoic of the São Paulo Basin) and their
possible paleoclimatic significance. Boletim IG-USP, São Paulo, 7:183-204. 1989.
FITTIPALDI, F.C. & SIMÕES M. G. – Estado atual do conhecimento sobre a
paleontologia da Bacia de São Paulo. Workshop "Geologia da Bacia de São Paulo",
1989, São Paulo. In: WORKSHOP "GEOLOGIA DA BACIA DE SÃO PAULO", I, São
Paulo, 1989. IG-USP e SBG, p. 27-34. 1989.
FITTIPALDI, F.C. & SIMÕES, M.G. – Restos vegetais da Formação
Pindamonhangaba (Cenozóico, Bacia de Taubaté). In: REUNIÃO DE
PALEOBOTÂNICOS E PALINÓLOGOS, 7, 1990, São Paulo. Paleobotânica
Latinoamericana (Circular Informativa da ALPP) São Paulo, Resumos, 9 (1): 8-19.
SM/SP. 1990.
FLORIN, R., – The distribution of Conifer and Taxad Genera in Time and Space. –
Act. Hort. Bergiani, 20 (4): 121-312. 1963.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
135
FREITAS, R.O.; VIERA, P.C.; MEZZALIRA, S. – A Formação Piraçununga na região
de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Aplicação da técnica de perfis sedimentares.
Revista do Instituto Geológico, SP, 11 (2): 35-48. 1990.
FRENGUELLI, J. – Geología de la Província de Entre Ríos con notas sobre la
Provincia de Corrientes. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.
1920.
GRADSTEIN, F. M.; OGG, J.G.; SMITH, A.G. – A Geologic Time Scale 2004 –
International Stratigraphic Chart, ICS, IUGS, Cambridge University Press. 2004.
GIBBARD, P.L., SMITH, A.G., ZALASIEWICZ, J.A., BARRY, T.L., CANTRILL, D.,
COE, A.L., COPE, J.C.W., GALE, A.S., GREGORY, F.J., POWELL, J.H., RAWSON,
P.F., STONE, P., and WATERS, C.N. – What status for the Quaternary. Boreas, v.
34, pp. 1-6. 2005.
GREEN, W. A. – Loosening the CLAMP: An Exploratory Graphical Approach to the
Climate Leaf Analysis Multivariate Program. Palaeontologia Electronica Vol. 9, Issue
2; 9A:17p., 2006.
GULERIA, J. S.; HEMANTA SINGH, R. K.; MEHROTRA, R. C.; SOIBAM, I.;
KISHOR R. K. – Palaeogene plant fossils of Manipur and their palaeoecological
significance. Palaeobotanist 54 : 61-77, 2005.
GUNASEKERA, L.; BONILA, J. – Alligator weed: tasty vegetable in Australian
backyards. J. Aquatic Plant Manag., v. 39, p. 17-20, 2001.
HASUI, Y.; ALMEIDA, F.F.M.; MIOTO, J.A.; MELO, M.S. – Geologia, Tectônica,
Geomorfologia e Sismologia regionais de interesse às Usinas Nucleares da Praia de
Itaorna – Monografias IPT 149p. e 4 mapas. 1982.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
136
HACKSPACHER P.C., FETTER A.H., EBERT H.D., JANASI V.A., OLIVEIRA M.A.F.,
BRAGA I.F., NEGRI F.A. – Magmatismo há ca. 660-640 Ma no Domínio Socorro:
Registros de Convergência Pré-Colisional na Aglutinação do Gondwana Ocidental.
Revista do Instituto de Geociências - USP. Série científica, 3:85-96. 2003.
HERBST, R.; FERRANDO, L.; JAFIN, G. – Descripción de una Flora de Glossopteris
de la Formación Melo (Pérmico), Departamento de Cerro largo, República Oriental
del Uruguay. FACENA 7: 67-86. Corrientes. 1987.
HERENDEE, P.S. & CRANE, P.R.. – The fossil history of Monocotyledons. In.
Rudall, P.J. et al. Monocotyledons : systematics and evolution. Royal Botanical
Gardens. 1-21.1995.
HICKEY. L. J. – Classification of the architecture features of dicotydedonous leaves.
Amer. Jour. Bot. 60: 17-33. 1973.
HICKEY, L. S. & WOLFE, J. A. – The bases of angiosperm phylogeny: vegetative
morphology. Ann. Missouri Bot. Gard., 62: 538-589. 1975.
HICKEY, L. J. – A revised classification of the architecture of dicotyledonous leaves.
In Anatomy of the Dicotyledons Vol.1, C. R. Met calfe & L.W. Chalk, eds, Clarendon
Press, Oxford, 25 -39. 1979.
HINOJOSA, F. – Fisionomia foliat y clima de las paleofloras mixtas del Terciario de
Sudamérica. Tesis doctoral, Facultad de Ciências, Universidad de Chile, Santiago de
Chile, 174p. Inédita. 2003.
HINOJOSA, F. – Cambios climáticos y vegetacionales inferidos a partir de
paleofloras cenozoicas del sur de Sudamérica. Revista Geológica de Chile 32 (1) :
95-115. 2005.
HOLLICK, A. – The Cretaceous Flora of Southern New York and New England. U. S.
Geological Survey Monograph 50: 1 – 219. 1906.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
137
HOLLICK, A. & BERRY, E. W. – A late Tertiary flora from Bahia, Brasil. Studies in
Geology. Johns Hopkins University, 5: 11-136. 1924.
JAIN, S. C. – Aquatic weeds and their management in India. Hyacinth Control J., v.
13, p. 6-8, 1975.
FIGUEIREDO J. B. & SALINO A. – Pteridófitas de quatro Reservas Particulares do
Patrimônio Natural ao Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil Lundiana, 6 (2):83-94, 2005.
JANIS C. M. – Tertiary mammal evolution in the context of changing climates,
vegetation, and tectonic events. Annual Reviews of Ecology and Systematic 24: 467-
500. 1993.
JOLY, A.B. – Botânica: Introdução à Taxonomia Vegetal São Paulo:Nacional, v. 4 6.ª
edição, 777p. 1983.
JUDD, W.S., CAMPBELL, C.S., KELLOGG, E.A. & STEVENS, P.F.; DONOGHNE
M.J. – Plant Systematics: - Second Edition a phylogenetic approach. Sinauer
Associates, Inc., Sunderland, 576p, 2002.
KEARNS, D.M. – Garcinia. In: P.E. BERRY, B.K. HOLT, YATSKIEVYCH, K. (eds),
Flora of the Venezuelan Guayana, vol. 4. St. Louis. Missouri Botanical Garden Press,
p. 295-299. 1998.
KISSMANN, K.G.; GROTH, D. – Plantas infestantes e nocivas. São Paulo: BASF
Brasileira, S.A., 798 p.1992.
KISSMANN, K. G.; GROTH, D. – Plantas infestantes e nocivas. 2.ed. São Paulo:
BASF, 825 p. Tomo I. 1997.
KISSMANN, K. G.; GROTH, D. – Plantas infestantes e nocivas. 2.ed. São Paulo.
BASF, 978 p. Tomo II. 1999.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
138
KÖPPEN, W. - Versuch einer Klassification der Klimate vorsugsweise nach ihren
Bezichungen zur Pflanzenwelt. Geograph. Zeirsehr, 6, 593–611, 657–679. 1900.
LAKHANPAL, R. N. – Tertiary Floras of India and their bearing on the historical
geology of the region. Taxon, 19: 675-694. 1970.
LEITE, F. P. R.; MANDARIM-DE-LACERDA, A. F.; CRISTALLI, P. S.; TORELLO, F.;
RODRIGUEZ, J. Y. N.; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M.E.C; ROSLER, O.;
FITTIPALDI, F. C.; – Fitofósseis da Formação Pindamonhangaba, Neógeno da Bacia
Terciária de Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil.. In: XLVII Congresso Nacional de
Botânica, 1996, Nova Friburgo. Boletim de Resumos, p. 496-497. 1996.
LEITE, J.A.D.; SAES, G.S.; WESKA, R.K. – A Suíte Intrusiva Rio Branco e o Grupo
Aguapeí na Serra de Rio Branco, Mato Grosso. In: SIMP.GEOL CENTRO-OESTE, 2.
Goiânia, 1985. Atas Goiânia, SBG. p. 247-255. 1986.
LIMA, M.R. – Estudo palinológico das "Camadas Nova Iorque", Terciário do Estado
do Maranhão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PALEONTOLOGIA.12. Boletim
dos Resumos... São Paulo, p. 45. 1991.
LIMA, M. R.; MELO, M. S. de; COIMBRA, A M. – Palinologia de Sedimentos da
Bacia de São Paulo, Terciário da Bacia de São Paulo, Terciário do Estado de São
Paulo – Brasil, in Revista do Instituto Geológico, v.12, n.1/2, p. 7-20. 1991.
LIMA. M.R. & SALARD, M. – Palynologie dês Bassins de Gandarela et Fonseca
(Eocene de l’Etat de Minas Gerais, Brésil). Bol. I.G., 12: 379-391. 1981.
LIMA, M. R. ; SALARD-CHEBOLDAEFF, M. & SUGUIO, K. – Étude palynologique de
la Formation Tremebé, Tertiare du Bassin de Taubaté (Etat de São Paulo, Brésil),
d’aprés les échantillons du sondage n.º 42 du CNP. In: Brasil. Departamento
Nacional da Produção Mineral. Coletânea de trabalhos paleontológicos. Brasília,
p.379-393, 5 pl. (série Geologia, 27. Seção Paleontologia e Estratigrafia n.º 02)
IG/SP., 1985.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
139
LORENZI, H. Árvores brasileiras - Manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa, SP, Editora Plantarum, v.2, 1998.
LORENZI, H. – Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, v.1, 4.ª edição 375p.
2002
LORENZI, H. – Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 368p. v.2., 2ª edição,
2002.
LORENZI, H. – Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas parasitas e tóxicas.
3.ed. Nova Odessa-SP: Plantarum, 608p. 2000.
MAGALLÓN, S, HERENDEEM, P.S. CRANE, P.R. – Phylogenetic pattern, diversity
and diversification of Eudicots. Ann. Missouri. Bot.Gard. 86: 297-372. 1999.
MAI, D.H. - Neue Arten nach Früchten und Samen aus dem Tertiär von
Nordwestsachsen und der Lausitz. Fed-des Repert. 98: 105-126. 1987.
MANIERO, J. – O microscópio eletrônico como novo recurso da geologia. Anais da
Academia Brasileira de Ciências Rio de Janeiro, 23 (1): 135-138. 1951.
MANDARIM-DE-LACERDA, A.F.; RABELO-LEITE, F.P.; ROSLER, O.;
BERNARDES-DE-OLIVEIRA, M.E.C. & FITTIPLADI, F.C. – Tafoflora da Formação
Pindamonhangaba, Plio-Pleistoceno, Bacia de Taubaté, SP – Brasil. 8ª. R.P.P.: 42-
43 (Res), 1994.
MANDARIM-DE-LACERDA, A. F. ; BERNARDES DE OLIVEIRA, M. E. C. ;PONS,D.
– Microscopia eletrônica de varredura de macrofitofósseis da Formação Tremembé,
Eoterciário da Bacia de Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil. In: CONGRESSO
NACIONAL DE BOTÂNICA, 47, 1996, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Resumos p.
497-498, 1996.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
140
MARCELO, E.P. – Ocorrência dos fósseis vegetais na Formação Pariquera-Açu, na
região de Iguape-SP. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 2(2):47, 1981.
MARCHIORI, J. N. C. – Dendrologia das Angiospermas: Leguminosas. Santa Maria: Ed. UFSM, B 200 pg. 1997. MARTINS-NETO, R.G. – Novos insetos terciários do Estado de São Paulo. Rev
Bras. Geoc, 19, (3) 375-379p. 1989.
MARTINS NETO, R. G. & GALLEGO, O. F. – Death Behaviour (Thanatoethology
new term and concept): a taphonomic analysis providing possible paleoethologic
inferences - special cases from arthropods of the Santana Formation (Lowe
Cretaceous, Northeast Brazil). Geociências, Rio Claro, SP, v. 25, n. 2, p. 241-254,
2006.
MAURY, C. J. – Argilas Fossilíferas do Território do Acre. Boletim do Serviço
Geológico e Mineralógico. 77: 1-29, Rio de Janeiro. 1937.
MASSOLI, M. – Folha Geológica de Santa Rita do Passa Quatro. Revista do Instituto
Geológico,São Paulo ,1(1):7-14 (1980), 1981.
MELO, M.S., – Fragmentos de Carvão em coberturas areno-argilosas
neocenozóicas: Indicadores Paleoclimáticos Holocênicos, IV Simpósio de Geologia
do Sudeste-Água de S.Pedro. SP,06-93p, 1995.
MEDUS, J. – Analyse quantitative des palynoflores du Campanien de Sedano,
Espagne. Review of Palaeobotany and Palynology 51, 309-326.1987.
MELO, M.S; COIMBRA A. M e CUCHIERATO GLÁUICA – Rev. I.G. SP; 18 – Fácies
Sedimentares da Formação Rio Claro Neocenozóico da Depressão Periférica
Paulista. 1997.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
141
MANTESSO-NETO, V., BARTORELLI, A., CARNEIRO, C.D.R., & BRITO NEVES,
B.B., – Geologia do continente sul-americano: evolução da obra de Fernando Flávio
Marques de Almeida. Beca, 1ª edição, São Paulo, 2004.
MENDES, J.C. – Paleontologia Básica. São Paulo, T.A.QUEIRÓZ e EDUSP. 1988.
MENÉNDEZ, C. A. – Estípite petrificado de una nueva Cyatheaceae Del Terciário de
Neuquén. – Bol. Soc. Argentina Bot., 9: 331-358, 5 tab, 1961.
MENÉNDEZ, C. A. – Leño petrificado de uma Leguminosa Del Terciário de Tipunco,
Província de Tucumán. - Ameghiniana, Ver. Asoc. Paleont. Arg., 2 (7): 121-126, 3
lám. 1962.
MENÉNDEZ, C. A. – Paleobotanical evidences in regard to the origin of the Flora of
Argentina – Interim. Res. Rep. Geochr. Lab. Univ. Arizona, 5: 1-23. 1964.
MENÉNDEZ, C.A. – Mesa Redonda. Floras Terciárias de la Argentina, Ameghiniana,
VIII, (3-4). 1971.
MEYEN, S. V. – Fundamentals of palaeobotany. Chapman and Hall, London. 432p.
1987.
MEZZALIRA, S. – Phyloblatta pauloi sp.nov. Instituto Geográfico e Geológico, São
Paulo, 4(2)1-3. 1948.
MEZZALIRA, S. – Nota preliminar sobre as recentes descobertas paleontológicas no
Estado de São Paulo no período de 1958-1959. Notas Prévias, Inst. Geogr. Geol.,
São Paulo, 2 : 1-7. 1959.
MEZZALIRA, S. – Novas ocorrências de vegetais fosseis cenozóicos no Estado de
São Paulo. São Paulo: Instituto Geográfico e Geológico, 15, 73-94p. 1961.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
142
MEZZALIRA, S. – Considerações sobre novas ocorrências fossilíferas no Estado de
São Paulo. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 38 (1): 65-72.
1962.
MEZZALIRA, S. - Novas ocorrências de vegetais fósseis cenozóicos no Estado de
São Paulo, Instituto Geográfico e Geológico, São Paulo, 15: 73-94, est. I (1961-
1962). 1964.
MEZZALIRA, S. – Os fósseis do Estado de São Paulo. São Paulo, Instituto
Geográfico e Geológico, 132p. (Boletim, 45). 1966.
MEZZALIRA, S. – Os fósseis do Estado de São Paulo, Série Pesquisa Instituto
Geológico, 2 ed., revisão atualizada, SMA, 142p. + estampas de I-XIII. 1989.
MEZZALIRA, S. – Os fósseis do Estado de São Paulo. Parte II, Período 1987
(parcial) – 1996. Boletim Instituto Geológico, 15, 77p. 2000.
MORAN, F. - Advances in artificial life: Third European Conference on Artificial Life,
Granada, Spain, June 4-6, proceedings, 1995.
MUSSA, D. – Dicotiledôneo fóssil da formação Barreiras, Estado de Sergipe.
Departamento Nacional da Produção Mineral, Divisão de Geologia e Mineralogia,
Boletim, 181: 1-23, 4 estampas. 1958.
MUSSA, D. – Contribuição à paleoanatomia vegetal. I. Madeira fóssil do Cretáceo de
Sergipe. Departamento Nacional da Produção Mineral, Divisão de Geologia e
Mineralogia, Notas Preliminares e Estudos, 111: 1-23. 1959a.
MUSSA, D. – Paleobotânica. In: CARVALHO, I. Paleontologia. Rio de Janeiro:Interciência, 228-326. 2000.
PAES LEME, A. B. – Sobre a Formação do Linhito de Caçapava. Papelaria Macedo.
Rio de Janeiro, 37p. 1918.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
143
PENALVA, F. – Sedimentos neocenozóicos nos vales dos Rios Jundiaí, Atibaia e
Jaguari, Estado de São Paulo. Boletim Paulista de Geografia, v.46, p.107-138, 1971.
POLE, M. – Early Miocene flora of the Manuheritia Group, New Zealand. 9
Niscellaneous leaves and reproduvtive structures. Journal of the Royal Society of
New Zealand, 23(4): 345-391.1993
PONS, D. – A Propôs d’une Goupiaceae du Tertiaire de Colombie: Goupioxylon
stutzeri Schonfeld. – Paleontographica Ab. B, 128 (3-6): 65-80; 3 tab. 1969.
PONS, D. – Lês Types Bilogiques Foliaires de Gisements de la Formation, Mesa:
Falan, Halo Grande, Penagos et Lumbi (Tertiaire Superieur de Colombie).
Laboratoire de Paléobotanique, Université Paris VI, p.169-179. 1980.
RAUNKIAER, C. – The use of leaf size in biological plant geography. In:The life
forms of plants and etatistical plant geography Clarendon Press ed., Oxford, pp. 368-
378. 1934.
RAVEN, P.H. & AXELROD, D.I. – Angiosperm biogeography and past continental
movements. Ann. Missouri Bot. Gard., St. Louis, v.61, p.539-673. 1974.
RIZZINI, C.T. – Tratado de fitogeografia do Brasil. Âmbito Cultural Ed., Rio de
Janeiro. 1997.
ROSSETTI, D. F. & GÓES, A. M. – O NEÓGENO DA AMAZÔNIA ORIENTAL. 1.ª
ed. Belém: Editora Museu Goeldi, v. 1. 222 p. 2004.
SALARD, M. – Contribuion a l’etude Paléoxylologique de la Patagonie (II). – Ver.
Gen. Bot. Paris, 68: 234-269, 8 tab. 1961.
SALGADO-LABOURIAU, M. L. – História Ecológica da Terra. Editora Edgard Blücher
Ltda.São Paulo. 307pp. 2004.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
144
SANTOS, D. B.; - GARCIA M.J., FERNANDES R.S.; SAAD A.R.; BISTRICHI C.A. –
Composição Paleopaliflorística dos Depósitos Terciário da Formação
Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Brasil. Boletim do 7.° Simpósio do Cretáceo
do Brasil, 1° Simpósio do Terciário do Brasil. Serra Negra São Paulo 02-04-2006a.
SANTOS, D. B.; GARCIA M.J. FERNANDES R.S.; SAAD A.R.; BISTRICHI C.A. –
XIII Simpósio Argentino de Paleobotânica y Palinologia Bahia Branca (Argentina), - A
Paleopalinologia na Reconstituição da Paisagem Terciária da Formação
Itataquecetuba (Mineradora Itaquareia 1), município de itaquequecetuba, Estado de
São Paulo, Brasil - Pág.72 - mayo de 2006b.
SAPORTA, G. D. – Flore fossile du Portugal. Nouvelles contributions à la flore
Mésozoique. Accompagnées d'une notice stratigraphique par Paul Choffat,
Imprimerie de l'Academie Royale des Sciences, Lisbon.(1894)
SEYFERT, C. K. & SIRKIN, L.A. – Earth History and plate tectonics. An introduction
to Historical Geology. Harper& Row Publishers, New York,.504pp. 1973.
SILVA, J. A.; SALOMÃO A. N.; GRIPP A. & LEITE E. J. – Phytoboriological survey in
Brazilian Forest genetic of Caçador- Rev. Plant Ecology 133 : 1-11, Kluwer Academic
Publishers, Printed in Belgium, 1977.
SILVA, L.A. & SOARES, J.J. – Levantamento Fitossociológico em um fragmento de
floresta estacional semi-decídua, no Município de São Carlos, SP. Acta Botânica
Brasileira, 16 (2). 2002.
SIMPSON, M.G.– Plant Systematics. Elsevier, Academic Press, New York 2006. SKOTTBERG, C., – Remarks on the plant geography of the southern cold temperate
zone. – Proc. Roy. Soc. Ser. B. Biol. Sc., 152: 447-457. 1960.
SOUZA, V.C. & LORENZI, H. – Botânica Sistemática: guia ilustrado para
identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APGII.
Nova Odessa,SP , Instituto Plantarum, p; 221, 2005.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
145
SOMMER, F. W. – Contribuição a Paleofitogeografia do Paraná.In: LANGE, F. W
(ed.) Volume Comemorativo do 1º Centenário do Estado do Paraná. Curitiba,
Comissão Comemorativa do Centenário do Paraná, p.175-194. 1954.
SPICER, R.A. - The sorting and deposition of allochthonous plant material in a
modern environment at Silwood Lake, Silwood Park, Berkshine, England. Geological
Survey Professional Paper. United States Government Printing Office. Washington.
77p., 1981.
SUGUIO, K. – Estudo dos troncos de árvores linhitificados dos aluviões antigos do
Rio Pinheiros (SP): Significados geocronológico e possivelmente paleoclimático. In:
XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, São Paulo, SP. ANAIS, 1971. v.
1. p. 63-69.1971.
SUGUIO, K & MUSSA, D. – Madeiras Fósseis dos aluviões antigos do Rio Tietê, São
Paulo, Boletim IG-USP, V.9: 25-45. 1978.
SUGUIO, K. ; RODRIGUES, S. A. ; TESSLER, M. G. ; LAMBOOY, E. E. – Tubos de
ophiomorphas e outras feições de bioturbação na Formação Cananéia, Pleistoceno
da planície costeira Cananéia-Iguape, SP. In: III SIMPÓSIO REGIONAL DE
GEOLOGIA, Niterói, RJ. RESTINGAS: ORIGEM, ESTRUTURA, PROCESSOS (L. D.
Lacerda et al., orgs.), 1984. p. 111-122. 1984.
STEWART, W.N. & ROTHWELL, G.W. – Paleobotany and the Evolution of Plants,
2.ª ed. Cambridge, Cambridge Unversity Press, 521p., 1993.
TAYLOR T. N. & TAYLOR E. L. - The Biology and Evolution of Fossil Plants. Prentice
Hall, NJ, USA. 982pp. 1993.
SW WYOMING KRUSSE. – Some Eocene Dicotyledonous Woods from Eden Valley,
Wyoming Krusse, H. O. Jul-1954 the Ohio Journal of Science. v54 n4 (July, 1954),
243-268
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
146
TANAI, T. – Estratigrafia y paleontogia history of the genus Nothofagus Bl.
(Fagaceae) in the southern hemisphere Journal Faculty of Science Hokkaido
University, ser 4, 21: 505-582. 1986.
TAKHTAJAN, A.L. – The Floristic Regions of the World (1978, p.50; 1986, p.39),
1978.
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. – Decifrando a
Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 558 p. 2000.
TRYON, R. M. & TRYON A. F. – Harvard University. Ferms and Allled Plants with
Specil Reference to Tropical America, by Springer. Verlay new York. Inc. 857 p. 20-
28 figuras, 1982.
TRUSWELL, E. M. – Cretaceous and Tertiary Vegetation of Antarctica: A
palynological perspective. In: T.N. Taylor. and E.L.Taylor (eds.) Antartic
Paleobiology, its role in the reconstruction of Gondwana, Springer-Verlag, pp. 71-88.
1990.
VIEIRA, P.C.; MEZZALIRA, S.; SOUZA, P.A. – Bibliografia Analítica da Paleontologia
do Estado de São Paulo. Parte II, Período 1987 (parcial) - 1996. São Paulo,
Secretaria do Meio Ambiente / Instituto Geológico, 207 p. (Boletim No. 14). 1997.
WATSON, L. & DALLWITZ, J.M. – The grass genera of the world. CAB
Internacional,Wallingford. 1992.
WATSON, L.; DALLWITZ, M.J. – The families of Flowering Plants: descriptions,
illustrations, identification, and information retrieval.2006.
WIJNINGA, V.M. & KUHRY, P. – Late Pliocene paleoecology of the Guasca Valley
(Cordilhera oriental, Colombia). Review of Palaeobontany and Palynology, 78: 69-
127. 1993.
WILLIS, K. J. & MCELWAIN, J. C.: – The evolution of plants. Oxford University
Press, Oxford, 378 pp, 2002.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
147
WING. S. L., ASH, A. W., ELLIS, B. HICKEY, L. J., JOHNSON, K. R., WILF, P. & –
Manual of leaf architecture: morphological description and categorization of
dicotyledonous and net-veined monocotyledonous angiosperms. Smithsonian
Institution, Washington, DC. 1999.
WOLFE, J. A. – Distribution of major vegetational types during the Tertiary, in The
Carbon Cycle and Atmospheric CO2: Natural Variations Archean to Present, E. T.
Sundquist and W. S. Broecker, eds., American Geophysical Union Monograph 32,
pp. 357-375. 1985.
WOLFE, J. A. & UPCHURCH, G.R. – Mid-Cretaceous to Early Tertiary vegetation e
climate: Evidence from fossil leaves and woods. In: FRIIS, E.M., CHALONER, W.G.
AND GRANE, P.H. (eds.). The origins of angiosperms and their biological
consequences. Cambridge Univ. Press., 75-105, 1987.
ZAINE, J.E., – Geologia da Formação Rio Claro na Folha Rio Claro(SP). Dissertação
de mestrado, Universidade Estadual Paulista-Instituto de Geociências e Ciências
Exatas, Rio Claro, SP, 90 pág. 1994.
ZAINE, J.E.; FITTIPALDI, F.C.; ZAINE, M. F. – Novas ocorrências fossilíferas na
Formação Rio Claro (Cenozóico). In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO SUDESTE, 4,
Águas de São Pedro. Boletim de Resumos, Águas de São Pedro: SBG, SP/RJ/ES,
p.92. 1995.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
148
http://www.jaguariuna.sp.gov.br/ Acessado em: 20/02/07 09:00 http://florabrasiliensis.cria.org.br/ Acessado em: 22/02/07 11:00 http://www.scotese.com/earth.htm Acessado em: 21/02/2007 14:00
EMBRAPA - http://www.jaguariuna.cnpm.embrapa.br/ Acessado em: 21/02/2007
14:30
http://www.nybg.org/bsci/res/moran/elaphoglossum_distribution.htm Acessado em:
21/02/2007 15:00
http://132.236.163.181/users/robbin/4_22_04/upload24/Elaphoglossum_antisanae.
jpg Acessado em: 21/02/2007 15:15
http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/lauralesweb.htm Acessado em:
21/02/2007 15:30
http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/malpighialesweb.htm Acessado
em: 21/02/2007 15:45
http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/orders/fabalesweb.htm Acessado em:
21/02/2007 16:00
http://www.duke.edu/web/ctc/staff/index.htm Acessado em: 21/02/2007 16:15
http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/gentianalesweb.htm Acessado
em: 21/02/2007 16:30
http://www.mobot.org/mobot/research/APweb/orders/poalesweb.htm Acessado em:
21/02/2007 16:45
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
149
ESTAMPA I
Figura 1 – Alça de acesso ao Hotel Fazenda Duas Marias (amarelo), no km 136,5 da
Rodovia (SP-340) Adhemar de Barros, com indicação do sentido
Campinas (vermelho) e do sentido Mogi-Mirim (azul), vista a partir do
afloramento fitofossilífero de Jaguariúna.
Figura 2 – Vista do afloramento à direita e da alça de retorno, sentido Campinas, à
esquerda. Nível inferior (azul) e Nível Superior (verde).
Figura 3 – Afloramento exibindo dois níveis fossilíferos: inferior (azul) e superior
(vermelho). Indicação de duas crostas limoníticas (verde).
Figura 4 – Foto mostrando detalhe do nível fossilífero superior e um nível de crosta
limonítica (verde).
Figura 5 – Foto apresentando detalhe do nível fitofossilífero inferior (vermelho),
próximo à boca lobo (verde).
Figura 6 – Foto de alguns fósseis “in situ” pouco antes da coleta no nível inferior do
afloramento.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
151
ESTAMPA II
Figura 1 – Elaphoglossum sp. Fronde estéril, simples, de limbo inteiro, pecíolo longo,
base e ápice agudos. Espécime JN 01 a.
Figura 2 – Elaphoglossum antisanae, utilizado para comparação com
Elaphoglossum sp. Fonte: http://132.236.163.181/users/robbin/4_22_04
/upload24/Elaphoglossum_antisanae.jpg
Figura 3 – Elaphoglossum sp. Folha completa, assimétrica, com pecíolo
parcialmente preservado. Espécime JN 57 a.
Figura 4 – Ocotea cf. O. pulchelliformis Fittipaldi. Fitofóssil de Ocotea sem ápice
preservado. Espécime JN 216.
Figura 5 – Ocotea cf. O. pulchelliformis Fittipaldi. Folha de Ocotea sem ápice
preservado. Espécime JN 263 A.
Figura 6 – Ocotea cf. O. pulchella Nees et Mart. ex Nees, utilizada para comparação
com os espécimes fossilíferos estudados.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
153
ESTAMPA III
Figura 1 – Typha cf. T. tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda. Fragmento
mediano de folha, com venação paralelódroma. Espécime JN 243 A. Figura 2 – Typha cf. T. tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda. Detalhe da
venação, exibindo venação mais esparsa e maior espessura laminar na
área mediana do que próximo à margem. Espécime JN 243 A.
Figura 3 – Typha cf. T. tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda. Fragmento
próximo à base, com venação paralelódroma. Espécime JN 243 B.
Figura 4 – Typha cf. T. tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda. Fragmento
mediano de folha, com venação paralela e desprovida de vênulas
transversais. Espécime JN 602 A.
Figura 5 – Typha domingensis (Pers.) Kunth Foto e desenho exibindo folha e
inflorescência feminina e masculina e lâminas foliares paralelódromas.
Figura 6 – Typha cf. T. tremembensis Duarte & Mandarim-de-Lacerda. Fragmento
laminar mediano. Espécime JN 544 A.
Figura 7 – Typha fittipaldii sp. n. Fragmento mediano exibindo lâmina linear estreita,
com margens paralelas, de venação fina e densa, sem vênulas
transversais. Espécime JN 400.
Figura 8 – Typha fittipaldii sp. n. Fragmento mediano exibindo lâmina linear tendendo
a papirácea. Espécime JN 309 B.
Figura 9 – Typha fittipaldii sp. n. Fragmento laminar, mediano esgarçado. Espécime
JN 273 A.
Figura 10 – Typha angustifolia L. Forma vivente com folhas lineares estreitas e
frutificações estreitas e alongadas.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
155
ESTAMPA IV
Figura 1 – Monocotylophyllum sp. 1 gen. n. Folha elíptica, arredondada, com veias
pinada – curvinérveas. Espécime JN 145 a.
Figura 2 – Monocotylophyllum sp. 2 gen. n. Folha linear, paralelinérveas, crassa,
base cuneada. Espécime JN 79 a.
Figura 3 – Alternanthera sp. aff. Alternanthera pungens Kunth, com venação pinada,
veias secundárias pouco nítidas irregularmente broquidódromas.
Espécime JN 285 A.
Figura 4 – Alternanthera pungens Kunth. Espécime foliar utilizado para comparação.
Figura 5 – Alternanthera pungens Kunth. Espécime utilizado para comparação.
Figura 6 – Garcinia sp. Fragmento foliar com porção apical, parcialmente
preservado. Espécime JN 240 a.
Figura 7 – Garcinia sp. Contra-impressão de fragmento foliar com porção apical,
parcialmente preservado. Espécime JN 240 b.
Figura 8 – Garcinia sp. Fragmento foliar com base preservada. Espécime JN 203.
Figura 9 – Rheedia Gardneriana sp. Planch & Triana. Espécime atual utilizado para
comparação.
Figura 10 – Leguminosites sp. aff. Leguminosites Bowerbank. Espécime JN 06 a.
Figura 11 – Leguminosites sp. Detalhe da porção mediana, com venação. Espécime
JN 06 a.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
157
ESTAMPA V
Figura 1 – Aspidosperma duartei sp. n. Fragmento da porção mediana foliar.
Espécime JN 621 a.
Figura 2 – Aspidosperma duartei sp. n. Fragmento da porção mediana foliar.
Espécime JN 621 b.
Figura 3 – Aspidosperma cyllindrocarpon Müll-Arg. Espécime de herbário utilizado
para comparação. Fonte: http://www.duke.edu/web/ctc/staff/index.htm
Figura 4 – Dicotylophyllum sp 1. Folha elíptica, com base e ápice preservados e
lâmina foliar incompleta. Espécime JN 274.
Figura 5 – Dicotylophyllum sp 1. Folha assimétrica, com pecíolo, base e ápice
preservados. Espécime JN 144 b A.
Figura 6 – Dicotylophyllum sp 2. Folha com ápice parcialmente preservado.
Espécime JN 199.
Figura 7 – Dicotylophyllum sp 2. Folha completa, com pátina esbranquiçada e
venações pouco nítidas. Espécime JN 05 b B.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
159
ESTAMPA VI
Figura 1 – Dicotylophyllum sp 3. Impressão de folha nanófila ou folíolo, com venação
primária crassa. Espécime JN 241 b.
Figura 2 – Dicotylophyllum sp 3. Folha / folíolo parcialmente preservado, sem ápice,
com veia primária pinada e crassa. Espécime JN 264 a.
Figura 3 – Dicotylophyllum sp 4. Folha micrófila de ápice retuso e pecíolo longo.
Espécime JN 24 a.
Figura 4 – Dicotylophyllum sp 4. Folha micrófila assimétrica, de ápice retuso e
pecíolo longo. Espécime JN 26 b C.
Figura 5 – Dicotylophyllum sp 4. Folha obovada de base cuneada, ligeiramente
decorrente, de pecíolo longo. Espécime JN 26 a.
Figura 6 – Dicotylophyllum sp 5. Folha nanófila, assimétrica. Espécime JN 143 B.
Figura 7 – Dicotylophyllum sp 5. Folha nanófila, assimétrica, com pátina esbranqui-
çada. Espécime JN 31 C.
Figura 8 – Dicotylophyllum sp 6. Folha notófila, ovada, de venação craspedódroma.
Espécime JN 273 B.
Figura 9 – Dicotylophyllum sp 6. Folha notófila, ovada, de venação craspedódroma,
com margem crenada. Espécime JN 31 D.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
161
ESTAMPA VII
Figura 1 – Dicotylophyllum sp 7. Folha micrófila, oblonga, simétrica, veia primária
actinódroma suprabasal e secundárias caspedódromas. Espécime
JN 151 A.
Figura 2 – Dicotylophyllum sp 7. Folha oblonga com ápice não preservado, veia
primária actinódroma suprabasal e secundárias caspedódromas, pouco
nítidas. Espécime JN 216.
Figura 3 – Dicotylophyllum sp 8. Folha simples de venação pinada, veias
secundárias pouco visíveis, base e pecíolo não preservados. Espécime
JN 149 b A.
Figura 4 – Dicotylophyllum sp 8. Folha micrófila, elíptica, veia primária pinada
levemente curva, secundárias broquidódromas de curso reto paralela à
margem. Espécime JN 08 b.
Figura 5 – Dicotylophyllum sp 9. Folha micrófila, elíptica, base e pecíolo não
preservados, veia primária crassa e secundárias semi-caspedódromas.
JN 523.
Dissertação de Mestrado – CEPPE / UnG ____________ Dos-Santos (2007)
163
ESTAMPA VIII
Figura 1 – Dicotylophyllum sp 9. Folha micrófila, assimétrica, sem pecíolo
preservado, veia primária pinada crassa, margem serreada. Espécime
JN 149 D1.
Figura 2 – Dicotylophyllum sp 9. Folha micrófila, assimétrica, sem pecíolo
preservado, veia primária pinada crassa, margem serreada. Espécime
JN 149 D2.
Figura 3 – Dicotylophyllum sp 10. Folha simples, micrófila, elíptica, veia primária
pinada crassa, de margem ligeiramente crenada. Espécime JN 25 a C.
Figura 4 – Dicotylophyllum sp 10. Folha simples, micrófila, elíptica, veia primária
pinada crassa, de margem ligeiramente crenada. Espécime JN 25 b C.
Figura 5 – Dicotylophyllum sp 11. Folha micrófila, de margem crenada, serrada com
dentes de primeira e segunda ordem e veia primária pinada. JN 152 a.
Figura 6 – Dicotylophyllum sp 11. Folha micrófila, de margem crenada, serrada com
dentes de primeira e segunda ordem e veia primária pinada, sem base e
pecíolo preservados. Espécime JN 152 b.
Figura 7 – Dicotylophyllum sp 11. Folha micrófila, elíptica, base com pecíolo
preservado, veia primária crassa e secundárias caspedódromas.
Espécime JN 19 b.
Figura 8 – Fragmento foliar com detalhe de ataque por inseto. Espécime JN 278 a.
Figura 9 – Contra-impressão de fragmento foliar com detalhe de ataque por inseto.
Espécime JN 278 b.
Figura 10 – Dicotylophyllum sp 1. Folha micrófila, elíptica, base com pecíolo
preservado, veia primária crassa e secundárias caspedódromas,
apresentando provavelmente, manchas de ataque por insetos. JN 19 A.