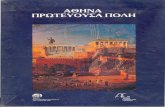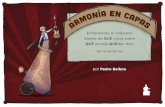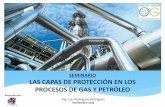Hacia una organización conceptual del definiens. Capas nocionales del adverbio arriba
Sob capas e mantos: roupa e cultura material na vila de Itu, 1765-1808
Transcript of Sob capas e mantos: roupa e cultura material na vila de Itu, 1765-1808
LIGIA SOUZA GUIDO
SOB CAPAS E MANTOS: ROUPA E CULTURA MATERIAL NA
VILA DE ITU, 1765-1808.
Campinas
2015
iii
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
LIGIA SOUZA GUIDO
SOB CAPAS E MANTOS: ROUPA E CULTURA MATERIAL NA
VILA DE ITU, 1765-1808.
Orientadora: Profa. Dra. Leila Mezan Algranti
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Estadual de Campinas, para
obtenção do título de Mestra em História, na área de concentração Política, Memória e
Cidade.
ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELA ALUNA LIGIA SOUZA GUIDO, ORIENTADA PELA PROFA. DRA. LEILA MEZAN ALGRANTI E APROVADA PELA COMISSÃO JULGADORA EM 11/02/2015.
CAMPINAS
2015
vii
RESUMO
O presente trabalho dedica-se ao estudo das roupas nas dimensões material e simbólica no
período que corresponde ao crescimento da produção açucareira e da consolidação do
núcleo urbano da vila de Itu, capitania de São Paulo, entre 1765 e 1808. A aparência dos
indivíduos em uma sociedade com características de Antigo Regime aliada a presença da
escravidão consistia em um elemento importante de identificação e ordenamento social. A
materialidade é compreendida através da descrição e da valoração atribuídas aos artefatos
têxteis descritos principalmente nos arrolamentos de bens dos inventários post-mortem.
Procedemos ao levantamento de informações complementares sobre os indivíduos junto aos
Maços de População (censos) e em trabalhos de genealogia. Também coletamos dados
sobre as importações de produtos realizadas pela de vila de Itu nos Mapas de Importação,
relação pertencente aos Maços de População. Através dos bens descritos na documentação
de quarenta e quatro inventariados que residiam na vila de Itu, foi possível montar um
quadro da composição material dos bens dos indivíduos e seus domicílios, vislumbrando
suas fontes de rendas, seus espaços de trabalho, de moradia, bem como os objetos que
compunham os seus pertences. No momento em que os bens eram divididos entre os
herdeiros, os objetos ou a quantia referente aos dotes ou adiantamentos de heranças eram
mencionados, evidenciando assim, a circulação de bens promovida em vida e após o
falecimento de um dos genitores. Além dos inventários da vila de Itu, foram consultados
vinte e quatro inventários póstumos da cidade de Lisboa, referentes aos mesmos anos da
amostra ituana, para efeito de comparação entre os padrões metropolitanos e coloniais
de tipos de roupas, tecidos e adereços em circulação antes da abertura dos portos brasileiros
em 1808.
Palavras-chave: Vestuário, Cultura Material, Vila de Itu (São Paulo).
ix
ABSTRACT
This work is dedicated to the study of clothing considering both material and symbolic
dimensions in the period that corresponds to the growth of sugar production and to the
consolidation of the urban nucleus of the small town Itu, captaincy of São Paulo, between
1765 and 1808. The appearance of the individuals in a society during the so-called Old
Regime, combined with the presence of slavery was an important element of identification
and social ranking. Materiality is understood from the description and the rating assigned to
the textile articles described mainly in listing of goods of post-mortem inventories. The
survey was conducted for further information on individuals from the Maços de População
(census) and genealogy work. We also collected data on imports of products made by the
Itu village next to the Mapas de Importação, this relationship belonging to the Maços de
População. Through the goods described in the documentation of forty-four inventoried
residing in small town Itu, it was possible to assemble a picture of the material composition
of the assets of individuals and their homes, seeing their sources of income, their
workspaces, housing and the objects that made up their belongings. By the time the goods
were divided among the heirs, the objects or the amount related to gifts or inheritances of
advances were mentioned, thus underlining the movement of goods promoted in life and
after the death of a parent. Besides the inventories from Itu, nineteen posthumous
inventories of Lisbon were consulted, relating to the same years of Ituana sample for
comparison between metropolitan and colonial patterns of kinds of garments, fabrics and
accessories in circulation before the opening of Brazilian ports in 1808.
Key words: Clothing, Material Culture, Small town Itu (São Paulo)
xi
SUMÁRIO
Introdução..............................................................................................................................1
Capítulo 1 A vila do açúcar: configuração espacial e a posse de bens em Itu...............23
1.1 Aspectos históricos e populacionais de Itu.....................................................................24
1.2 Os cabedais dos ituanos nos inventários póstumos.........................................................50
1.3 O ambiente doméstico e os bens têxteis..........................................................................73
Capítulo 2 O vestuário da vila de Itu despido em detalhes.............................................85
2.1 O bens têxteis: materialidade e valor monetário.............................................................87
2.2 Os itens de vestuário nas listas de importação e no estoque da loja de Itu...................112
2.3 Uso público e doméstico dos trajes...............................................................................119
Capítulo 3 “Cerzindo” objetos e sujeitos: consumo, circulação e representação das
vestimentas na vila de Itu.................................................................................................135
3.1 Padrões cotidianos de vestuário....................................................................................135
3.2 A circulação de roupas: dotes, doações, dívidas, partilhas e arrematações..................153
3.3 O material e o imaterial nas aparências: religiosidade, representações e honra...........172
Considerações finais..........................................................................................................193
Referências bibliográficas................................................................................................197
Glossário.............................................................................................................................213
xv
AGRADECIMENTOS
Agradeço à CAPES pela bolsa concedida no período inicial do mestrado e à
FAPESP pelas bolsas de mestrado e de estágio de pesquisa no exterior (BEPE),
financiamentos imprescindíveis para a realização deste trabalho.
À minha orientadora Leila Mezan Algranti, pela confiança que depositou em mim.
Presente, atenciosa e humana, soube motivar e me guiar nesses últimos três anos.
Agradeço aos membros da minha banca de defesa de mestrado, Profa. Dra. Maria
Aparecida de Meneses Borrego e Profa. Dra. Adriana Angelita da Conceição, por toda a
contribuição e atenção que dispensaram ao trabalho, desde o exame de qualificação até a
defesa. À Profa. Dra. Milena Maranho e à Profa. Dra. Márcia Almada, sou muito grata por
comporem a suplência, dispondo de seu tempo para a leitura deste trabalho.
Aproveito para agradecer a todos os professores que contribuíram com a discussão
do projeto, ideias e debates promovidos durante as disciplinas da pós-graduação,
especialmente à Profa. Dra. Izabel Andrade Marson e à Profa. Dra. Iara Lis Schiavinatto.
Aos funcionários do Museu Republicano “Convenção de Itu” Maria Cristina, José
Renato e Alzira, da biblioteca, por toda a atenção e ajuda, à Anicleide e Giovanna do
Arquivo Histórico. Aos funcionários da biblioteca do Museu Paulista e à Profa. Dra. Teresa
Cristina Toledo de Paula, conservadora do setor de têxteis, pela indicação de valiosa
bibliografia.
Ao Prof. Dr. Carlos de Almeida Prado Bacellar e Daisy Ferraz de Bonna, por
cederem os arquivos da documentação digitalizada. Agradeço imensamente Silvana Alves
de Godoy, por disponibilizar para consulta as planilhas que confeccionou a partir dos
Maços de População da Vila de Itu.
xvi
Agradeço à Anicleide Zequini, Aline Zanatta e Michelle Tasca por toda a ajuda
quando ainda iniciava a escrita do projeto de pesquisa. As sugestões, apontamentos e
leituras foram muito importantes.
Para a confecção do banco de dados contei com a ajuda de Rosilene e Matheus do
CESOP, Profa. Dra. Milena Maranho, Daisy Ferraz e de Márcio Faria. Muito obrigada!
Durante a realização do estágio de pesquisa em Portugal contei com o apoio de
muitas pessoas. Agradeço à Universidade do Minho e à Profa. Dra. Isabel dos Guimarães
Sá pela supervisão do estágio de pesquisa. O intercâmbio foi extremamente produtivo. Fui
muito bem acolhida pela Profa. Dra. Isabel, e também pelo seu grupo de orientandos,
especialmente por Andreia Durães, que me auxiliou na seleção das fontes no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo. Sou grata também aos pesquisadores Leonor, Bruno, Hélder,
Alice e Luciane, pelas conversas e sugestões de pesquisa.
Agradeço o empenho e ajuda que Ângela Valério, do Museu Nacional do Traje
dispensou a mim, durante a pesquisa que realizei na biblioteca desta instituição. À Profa.
Dra. Marta Lourenço do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, pelo convite
para apresentar minha pesquisa no Seminário de Estudo de Caso de Cultura Material, cujo
debate foi muito instigante.
Henrique e Michelle estiveram presentes em todas as etapas do trabalho em
Portugal, amigos para todas as horas. Agradeço à Dona Isabel, Elisabete e David a
acolhida, e à Dona Ana, Walmira, Luciane e Régia, a companhia.
Tive a ajuda de Juliana e Smirna na revisão do texto. Obrigada Mariana Bernardes
pelas correções dos textos em inglês e Danielle Siltori, pelas sugestões.
As disciplinas da pós-graduação significaram mais do que o cumprimento dos
créditos, foram realmente momentos de trocas e de aprendizado. Agradeço o
companheirismo dos meus colegas Carol, Bea, Fayga, Gabriela Assis, Gabriela Berthou,
Ana Luísa, Raíssa, Paula, Michelle, Henrique, Samuel, Felipe, Arthur, Walter, Caroline,
Eliane, Juliana, Luciana e Tiago.
xvii
Agradeço à Raíssa, Natália e Stella, pela hospitalidade durante um ano inteiro.
Tiago, Fayga, Bea, Gabe e Raíssa mostraram que é possível encarar tudo de uma maneira
divertida.
Obrigada Luciana pelas diversas leituras, sugestões e palavras de incentivo. Tenho
uma dívida imensa contigo.
Agradeço a todos os meus queridos e valiosos amigos, envolvidos direta ou
indiretamente, que me ajudaram, confortaram, dividiram as angústias e entenderam as
ausências.
Márcio Faria teve imensa paciência e interesse pelo trabalho, acompanhando de
forma próxima e atenciosa todas as etapas. Sem seu amor e companheirismo, tudo seria
mais difícil.
E finalmente, à minha família, que me apoiou incondicionalmente desde o momento
que decidi me dedicar exclusivamente ao mestrado. Palavras não expressam a minha
gratidão.
xix
Nos meses anteriores à fuga, como recordou
Madame Campan, Maria Antonieta deu uma
atenção excessiva à forma como iria vestir-se
longe de Paris, como se os seus trajes de cores
monárquicas fossem uma promessa dos
privilégios que ela acreditava estar prestes a
recuperar. Ao renegar as cores da militância
revolucionária e voltar a abraçar as cores ligadas
ao Antigo Regime, e ao reunir o seu antigo
“ministério da moda” para a vestir para o seu
triunfo iminente, Maria Antonieta indicava que,
dali para a frente, a única agenda política revelada
pelo seu vestuário era a sua. Tinha apenas mais
um vestido enganador para usar antes de ela e a
família ficarem finalmente livres.
Caroline Weber
xxi
ABREVIATURAS
AESP: Arquivo Público do Estado de São Paulo
ANTT: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa
ARQ/MRCI: Arquivo Histórico do Museu Republicano “Convenção de Itu”
xxiii
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Relação entre número de fogos e habitantes da vila de Itu, 1773-1813...............38
Tabela 2 – Distribuição dos inventariados por faixas de bens, Itu, 1765-1808....................58
Tabela 3 – Roupas da casa, vila de Itu, 1765-1808...............................................................74
Tabela 4 – Matérias-primas têxteis arroladas nos domicílios ituanos, 1765-1808..........80-81
Tabela 5 – Informações sobre as peças de roupas masculinas, vila de Itu......................87-88
Tabela 6 - Objetos de uso pessoal relacionados à aparência, Itu, 1765-1808.......................96
Tabela 7 – Tipos de peças de roupas femininas, quantidades e valores, vila de Itu, 1765-
1808.......................................................................................................................................98
Tabela 8 - Composição dos bens dotados aos filhos de Inácia e José do Amaral
Gurgel..........................................................................................................................156-157
xxv
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Distribuição das casas dos inventariados por ruas da vila de Itu, 1765-1808.....71
Quadro 2 - Bairros identificados na área rural................................................................72-73
Quadro 3 – Relação de cores e tecidos por peças de roupas masculinas, Itu........................89
Quadro 4 – Vestuário e joias pertencentes a Inácio Leite da Fonseca, 1806, Itu..................90
Quadro 5 – Vestuário e joias pertencentes a Antonio Francisco da Luz, 1805, Itu..............92
Quadro 6 – Bens de Inácio Pacheco da Costa, 1806, Itu......................................................94
Quadro 7 – Relação de cores e tecidos por peças de roupas femininas, Itu..........................99
Quadro 8 – Vestuário, objetos de uso pessoal e joias pertencentes a Ana Maria da Silveira,
1805, Itu..............................................................................................................................100
Quadro 9 – Relação das roupas femininas presentes no arrolamento de bens de José Manoel
da Fonseca Leite, 1798, Itu.................................................................................................101
Quadro 10 – Vestuário e objetos de uso pessoal pertencentes a Mariana Leite Pacheco,
1779, Itu..............................................................................................................................102
Quadro 11 - Roupas masculinas por peças, tecidos e porcentagem ao total da amostra
lisboeta.........................................................................................................................105-106
Quadro 12 - Roupas femininas por peças, tecidos e porcentagem ao total da amostra
lisboeta, 1765-1808......................................................................................................108-109
Quadro 13 - Vestuário e objetos de uso pessoal pertencentes à Angélica Perpétua Rosa
Portella, 1802, Lisboa.........................................................................................................110
Quadro 14 – Tecidos do estoque da loja de João Fernandes da Costa, 1801, Itu........115-116
Quadro 15 - Bens relacionados na dívida de Vicente Gonçalves Braga com Antônio José
Ferraz Ferreira, 1808...........................................................................................................138
Quadro 16 – Esquema genealógico da Família de José Manoel da Fonseca Leite.............145
Quadro 17 - Relação das peças de roupas inventariadas no rol de bens de José Manoel da
Fonseca Leite e sua partilha, 1798......................................................................................146
Quadro 18 - Primeiro casamento de José do Amaral Gurgel..............................................154
Quadro 19 - Segundo casamento de José do Amaral Gurgel..............................................156
xxvi
Quadro 20 - Roupas recebidas em forma de dote pelas filhas de Inácia e José do Amaral
Gurgel..................................................................................................................................157
Quadro 21 - Terceiro casamento de José do Amaral Gurgel..............................................162
Quadro 22 – Relação das roupas e herdeiros na partilha dos bens de José do Amaral Gurgel,
Itu, 1806..............................................................................................................................163
Quadro 23 – Esquema genealógico da Família Costa Aranha............................................172
xxvii
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Valor em réis dos bens totais inventariados divididos por categorias...............61
Gráfico 2 - Posse de engenho................................................................................................63
Gráfico 3 - Relação do número cativos nos espólios de Itu, 1765-1808..............................64
Gráfico 4 - Ocorrência de bens agrupados por produção açucareira....................................64
Gráfico 5 - Valor dos bens de raiz em relação ao total dos bens, Itu, 1765-1808.................66
Gráfico 6 - Materiais e técnicas construtivas dos bens de raiz da vila de Itu, 1765-1808...67
Gráfico 7 - Perfis e ocorrências de bens de raiz em Itu, 1765-1808.....................................70
Gráfico 8 – Tecidos provenientes de Lisboa importados pela vila de Itu (em peças).........113
Gráfico 9 – Tecidos provenientes do Porto importados pela vila de Itu (em peças)...........114
Gráfico 10 – Relação das meias de seda importadas por Itu provenientes de Lisboa.........117
Gráfico 11 – Número de chapéus importados por ano e o porto de origem.......................118
xxix
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Figura por estimação da Vila de Itu, por José Custódio Sá e Faria, 1774............30
Figura 2 - Mapa Estilizado da Vila de Itu em 1830, por André Santos Luigi......................31
Figura 3 – Bairros rurais e área central da Vila de Itu, século XIX......................................34
Figura 4 - Largo de São Francisco, Miguel Dutra, 1845......................................................36
Figura 5 - Vestido Império confeccionado em cassa, 1810................................................111
Figura 6 - Uniforme de Gala, século XIX...........................................................................123
Figura 7 – Casula do século XVIII.....................................................................................125
Figura 8 – Exemplo de manto e mantilha, final do século XVIII, Portugal.......................128
Figura 9 – Penteador, século XIX.......................................................................................131
Figura 10 – Vicente Taques por Miguel Dutra...................................................................187
Figura 11 - Vicente da Costa Taques Góes e Aranha por Benedito Calixto.......................188
1
INTRODUÇÃO
Inácio Leite da Silveira foi morador da vila de Itu. Faleceu no ano de 1806, com 68
anos de idade1, deixando quatro filhos já adultos do seu primeiro matrimônio, e dois
menores, do segundo casamento com Escolástica Ferraz de Camargo. Na ocasião, um
contava dois anos e o segundo era, recém-nascido.2
Escolástica e Inácio viviam em um sítio no bairro Cajuru, próximo à estrada para a
vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. No sítio havia três lanços de casas de parede
de taipa de mão, cobertas de telhas, um paiol e as casas de engenho do mesmo material,
tendo recebido a avaliação de 600$000 (seiscentos mil réis)3. A propriedade continha
objetos de cobre e estanho, a saber: as ferramentas para diversos usos, como serras,
martelos, ferro de marcar animais, enxadas, bem como acessórios do engenho: os tachos de
cobre, cano de alambique e escumadeiras. Na casa do sítio, dispunham de móveis como
duas mesas, três catres4, três caixas, um armário e um oratório com três imagens pequenas,
no total de 9$680 (nove mil, seiscentos e oitenta réis)5. Alguns pratos de louça fina
importada contrastavam com peças de montaria feitas de couro de onça, de preguiça e
peças de couro de veado, itens confeccionados com elementos rústicos. Também
compunham o sítio seis cativos, os animais de criação, porcos, bois e os aparatos de duas
juntas de bois6.
Possuía ainda outro imóvel, uma casa na rua do Conselho, de taipa de pilão, coberta
de telhas com quintal, no valor de 100$000 (cem mil réis). Na casa da vila, havia utensílios
domésticos como duas bacias de pé de cama, um candeeiro, um ferro de engomar, um tacho
e alguns móveis, oito caixas, uma mesa com gaveta, dois bancos, dois catres e um estrado.
1 ARQ/MRCI - GODOY, Silvana Alves de. Tabela dos Maços de População da vila de Itu. 2 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17 A, folha 3. 3 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17 A, folha 10. 4 Leito de pés baixos, de lona e dobrável. Vide SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portuguesa.
Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Vol. 1, p. 362. 5 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17 A, folha 8 verso. 6 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17 A, folhas 9 – 10.
2
Também havia dois colchões de pano de algodão no valor de $640 (seiscentos e quarenta
réis) e duas redes, sendo uma velha de varandas, outra nova, sem varandas, avaliadas cada
uma em 1$600 (mil e seiscentos réis)7. De roupas da casa, o casal possuía lençóis de
algodão e de cassa, toalha de algodão com franja, toalhinha de mãos de algodão, colcha
também de algodão pintada e um cobertor de Castela somando 9$420 (nove mil,
quatrocentos e vinte réis), objetos que expressam o padrão observado nos bens avaliados.
Porém, são nas roupas de uso pessoal e demais objetos relacionados à aparência que recai
nosso interesse: um chapéu, um par de botas, dois pares de esporas, dois pares de fivelas
para sapatos e um par de fivelas para calção avaliados em 23$200 (vinte e três mil e
duzentos réis)8. De calçados, possuía um par de botas de veado já usadas, no valor de $960
(novecentos e sessenta réis).
No total, as roupas somaram 24$400 (vinte e quatro mil e quatrocentos réis). As
peças de pano azul foram avaliadas em 9$480 (nove mil, quatrocentos e oitenta réis)
consistiam em um casacão, um fraque e um capote, de baeta azul havia um timão novo em
3$200 (três mil e duzentos réis). Ademais, encontramos duas camisas de bretanha no preço
de 2$560 (dois mil quinhentos e sessenta réis), dois pares de meias de algodão em $480
(quatrocentos e oitenta réis), um jaleco e um par de meias de fustão em $800 (oitocentos
réis) cada, um calção preto de duraque em $880 (oitocentos e oitenta réis), um lenço de
pescoço sem informar tecido no preço de $200 (duzentos réis) e um hábito de terceiro do
Carmo descrito pelo avaliador como já muito usado e com todos os seus pertences, no valor
de 6$000 (seis mil réis)9.
Todas as roupas foram confeccionadas com tecidos estrangeiros, possivelmente
algumas delas fossem importadas já prontas, apresentam semelhança com o vestuário
europeu (casaca, calção), particularmente com o português (capote) e expressa a influência
da moda inglesa (fraque) além dos tecidos (bretanha). Em menor quantidade, encontramos
7 Varandas ou barandas consistiam em “Guarnições laterais da rede, ornadas de franjas ou borlas esfiadas que
são as bonecas da varanda.” Vide CASCUDO, Luís da Câmara. Rede de dormir: uma pesquisa etnográfica.
São Paulo: Global, 2003. p. 15. 8 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17 A, folhas 11 verso e 12.
9 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17 A, folhas 11 verso e 12.
3
peça de uso doméstico (timão) e a indumentária dos leigos religiosos pertencentes às ordens
terceiras (hábito). As peças de roupas de Inácio revelam o padrão do vestuário ituano entre
os anos de 1765 e 1808. Este recorte compreende o período de crescimento da produção
canavieira e de concentração demográfica na vila de Itu, capitania de São Paulo. A
produção do açúcar voltada para exportação foi incentivada pelo governador da capitania,
Morgado de Mateus.10
A localidade ituana destacou-se até a década de 1830 como a maior
produtora de açúcar da capitania, constituindo a base da riqueza de muitas famílias que em
meados do século XIX se estabeleceram no oeste paulista, em Campinas, Rio Claro,
Ribeirão Preto, dedicando-se à cafeicultura.
No final do século XVIII, muitas famílias ituanas tinham nas propriedades
localizadas nos bairros rurais as benfeitorias para a produção do açúcar, plantação de
mantimentos e as casas de vivenda. Também contavam com uma casa na área central da
vila, onde guardavam os bens mais valiosos relacionados à aparência, como joias,
acessórios como chapéus, fivelas de sapatos, de calção e roupas, especialmente as de maior
valor e os hábitos de ordens terceiras. Através do arrolamento dos bens nos inventários
póstumos realizamos a análise da posse de bens e da materialidade dos artefatos. Buscamos
discutir também a questão do consumo, da circulação e dos usos das roupas, considerando a
dimensão simbólica, importante, pois tratamos de uma sociedade altamente hierarquizada,
permeada por práticas e mentalidades do Antigo Regime, onde “a ostentação pública do
lugar ocupado por cada um e de suas prerrogativas tinha importante significado político.”11
Neste sentido, as roupas constituem-se em um importante elemento da aparência.
Apresentamos de forma breve as principais obras e vertentes das ciências humanas
e, especialmente da história que versaram sobre a roupa e a moda.
De acordo com Maria Lúcia Bueno, entre o final do século XIX e início do XX,
surgiram alguns estudos que buscavam oferecer uma “chave para pensar a moda no mundo
10 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus
em São Paulo (1765-1775). 2. Ed. São Paulo:Alameda, 2007. p. 83. 11
LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 86.
4
capitalista e industrializado, elaborado com base na teoria da distinção social”12
, uma vez
que a moda já era concebida como um elemento de “reconstrução das fronteiras sociais na
sociedade burguesa.”13
Os principais estudos dessa linha de interpretação são As leis da
imitação, de Gabriel Tarde, A teoria da classe ociosa, de Thorstein Veblen e Filosofia da
moda, de Georg Simmel.14
Segundo o filósofo Lars Svendsen, os três estudos partem da teoria do
“gotejamento”, difundida por Immanuel Kant e Herbert Spencer. Este termo gotejamento
foi empregado para explicar que a inovação da moda ocorreria primeiro em um estrato
social mais alto, passando depois para as camadas mais baixas, que se esforçariam para
igualar-se às camadas superiores através da imitação.15
A explicação clássica de difusão da
moda está amparada nesta formulação do gotejamento.16
Já na década de 1960, a proposta teórica de se tratar a moda através da Semiologia
de Fernand Saussure foi empreendida por Roland Barthes no livro Sistema da moda, cujo
objeto é “a análise estrutural do vestuário feminino tal qual ele é hoje descrito pelos jornais
de Moda.”17
Segundo o autor, o trabalho não se enquadra totalmente à Semiologia e à
Linguística, pois seu foco de investigação “não trata nem do vestuário nem da linguagem,
mas, sim, da „tradução‟ duma e da outra, contanto que a primeira já seja um sistema de
signos.”18
Lars Svendsen problematizou a abordagem estruturalista para análise da moda.
Explicou ele que
as roupas podem ser consideradas semanticamente codificadas, mas trata-se de
um código com uma semântica extremamente tênue e instável, sem quaisquer
regras realmente invioláveis. As palavras também mudam de significado de
acordo com o tempo e o lugar, mas a linguagem verbal é muito estável, ao passo
12 BUENO, Maria Lúcia. “Moda e Ciências Humanas”. In: CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe,
gênero e identidade das roupas. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. p. 10. 13 BUENO, Maria Lúcia. “Moda... p. 10. 14 TARDE, Gabriel. Les lois de l’imitation. Paris: Felix Alcan, 1890; SIMMEL, George. Philosophie de la
modernité. Paris:Payot, 2004; VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe ociosa. Sâo Paulo: Livraria Pioneira
Editora, 1965. 15 SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 42 16 SVENDSEN, Lars. Moda... p. 46 17 BARTHES, Roland. Sistema da moda. São Paulo: Ed. Nacional: Ed. da Universidade de São Paulo, 1979. p. XIX. 18 BARTHES, Roland. Sistema... p. XIX.
5
que a semântica do vestuário está em constante mudança. Esta é uma importante
razão por que a abordagem estruturalista às modas no vestuário não funciona
muito bem: esse método pressupõe significados bastante estáveis. Não por
coincidência, foi seu trabalho em O sistema da moda que levou Roland Barthes a
abandonar o estruturalismo clássico.19
Na década de 1980, o historiador Roger Chartier, elencou o conceito de
representação como um elemento chave para a história cultural, pois “a representação é
instrumento de um conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente através da sua
substituição por uma “imagem” capaz de o reconstituir em memória e de o figurar tal como
ele é”, definiu o autor20
. Acerca do vestuário, ao pensarmos nas relações entre a roupa e
quem a vestia, considerando as pessoas, os espaços e eventos que frequentavam, bem como
a recepção/percepção da aparência por seus contemporâneos, Chartier nos indicou
que a distinção fundamental entre representação e representado, entre signo e
significado, é pervertida pelas formas de teatralização da vida social de Antigo
Regime. Todas elas tem em vista fazer com que a identidade do ser não seja outra
coisa senão a aparência da representação, isto é, que a coisa não exista a não ser
no signo que a exibe.21
Ao estudar os aspectos simbólicos da cultura, as contribuições de Pierre Bourdieu
também são importantes referências teóricas para a análise da vestimenta enquanto
elemento simbólico. 22
Para o autor, os símbolos são os instrumentos por excelência da
„integração social‟ pois “enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação (...),
eles tornam possível o consenso acerca do sentido do mundo social que contribui
fundamentalmente para a reprodução da ordem social”23
. Na busca pela distinção e
dominação simbólica, Bourdieu apontou que as disputas “que têm o poder simbólico como
19 SVENDSEN, Lars. Moda... p. 79 20 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa/ Rio de Janeiro,
Difel/Bertrand, 1990. p. 20 21 CHARTIER, Roger. A História... p. 21 22 “Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas. (...) Mas o essencial é que, ao serem
percebidas por meio dessas categorias sociais de percepção, desses princípios de visão e de divisão, as
diferenças nas práticas, nos bens possuídos, nas opiniões expressas tornam-se diferenças simbólicas e
constituem uma verdadeira linguagem. As diferenças associadas a posições diferentes, isto é, os bens, as
práticas e sobretudo as maneiras, funcionam, em cada sociedade, como as diferenças constitutivas de sistemas
simbólicos, como o conjunto de fonemas de uma língua ou o conjunto de traços distintivos e separações diferenciais.” BOURDIEU, Pierre. Razões praticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996. p. 22 23 BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 10
6
coisa em jogo, quer dizer, o que nelas está em jogo é o poder sobre um uso particular de
uma categoria particular de sinais.” 24
Ao criticar as análises baseadas na semiótica, o antropólogo Daniel Miller chamou
atenção para o peso dos artefatos sob as pessoas, pois sob a perspectiva semiológica, a
roupa “é reduzida à habilidade de significar algo que parece mais material (sociedade ou
relações sociais), como se estas coisas existissem acima ou anteriormente à sua própria
materialidade.”25
Concordamos com a crítica de Miller à semiótica, pois a roupa sozinha
emanaria um código, uma informação, e o sujeito que a veste teria nessa equação uma
participação pequena ou mesmo nula.
Miller e Ulpiano Meneses sugerem caminhos de investigação parecidos, que
contemplam a interação, ou seja, a relação entre sujeito e objeto de forma equilibrada,
considerando elementos materiais, simbólicos, sociais, psicológicos em escala de igualdade
e importância.26
O autor inglês propôs que é necessário
confrontar os trecos: reconhecê-los, respeitá-los; nos expor à nossa própria materialidade, e não negá-la. Meu ponto de partida é que nós também somos
trecos, e nosso uso e nossa identificação com a cultura material oferecem uma
capacidade de ampliar, tanto quanto de cercear, nossa humanidade.27
Assim, acreditamos ser necessário analisar de forma ponderada o peso e papel dos
sujeitos e objetos, visto que no caso da aparência, é a interação destes dois elementos, ou
seja, em todas as ações que integram o ato de vestir-se, que são cruciais para nossa
investigação.
Em relação a trabalhos descritivos e ilustrativos sobre história da moda, cabe
destacar três estudos produzidos na segunda metade do século XIX, entre eles a obra
História do Vestuário, de Carl Köhler que se distingue das demais pela grande abrangência
24 BOURDIEU, Pierre. O Poder… p. 72 25 MILLER, Daniel. Introduction. In: KÜCHLER, Susanne; MILLER, Daniel. (ed.) Clothing as material
culture. Oxford:Berg, 2005. p. 2 Tradução nossa. 26 MENEZES, Ulpiano. Prefácio In: CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e Artefato: o sistema
doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870 – 1920. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo/FAPESP, 2008. p. 12. 27
MILLER, Daniel. Prefácio. Trecos, troços e coisas. Estudos antropológicos sobre a cultura material. Rio de
Janeiro: Zahar, 2013. p. 12
7
temporal e pelo caráter técnico: inúmeros desenhos de trajes com informações detalhadas,
inclusive com moldes e fotografias28
. O segundo, a obra ilustrada de história do vestuário
mais conhecida é Le costume historique de Auguste Racinet. Publicada entre 1876 e 1886,
em vinte fascículos para assinantes, foi reeditada em 1888, em seis volumes. A edição
retratava o vestuário em uma longa duração: do Egito antigo ao início do século XIX. De
acordo com Melissa Leventon, esse trabalho “ganhou notoriedade não só pela
impressionante abrangência, mas também por ser o primeiro livro de moda para um público
amplo a utilizar a cromolitografia, técnica que se popularizou a partir da década de 1860 e
tornou a publicação de imagens coloridas mais acessível.”29
Um trabalho semelhante ao de Racinet e também da segunda metade do século XIX,
é Trachten, Haus- Feld- und Kriegsgerätschaften der Völker alter und neuer Zeit [Trajes e
utensílios da cidade, do campo e de guerra dos povos dos tempos antigos e modernos], de
autoria de Friedrich Hottenroth. Composta de duzentas ilustrações, a obra de Hottenroth
retratou o vestuário europeu até 1840, sendo publicada entre 1884 e 1891. Leventon fez
uma ressalva: apesar do grande valor histórico das imagens, devemos tomar uma série de
cuidados na avaliação dos desenhos, pois desconhecemos as fontes utilizadas, o rigor e a
precisão adotados, especialmente em relação às cores empregadas, inseridas
posteriormente, em edições diferentes.30
Já no século XX, encontramos outra importante referência: o historiador inglês
James Laver. Entre 1938 e 1959, Laver foi curador e responsável pelos departamentos de
Gravura, Desenho e Pintura do Victoria and Albert Museum de Londres. O autor tornou-se
referência para cursos de arte na Inglaterra e é considerado um dos maiores especialistas em
história das roupas. Sua obra A roupa e a moda: uma história concisa31
, publicada em 1968,
28 KÖHLER, Carl. História do Vestuário. São Paulo: Martins Fontes, 1993. (Edição original: Die Entwicklung
der Tracht in Deutschland während des Mittelalters und der Neuzeit, Nuremberg, 1877.) 29 LEVENTON. Melissa (org.). História Ilustrada do vestuário: um estudo da indumentária do Egito Antigo
ao final do século XIX, com ilustrações dos mestres Auguste Racinet e Friedrich Hottenroth. São Paulo:
Publifolha, 2009. p. 6. 30 LEVENTON. Melissa (org.). História ...p. 8 – 9. 31 A primeira edição, de 1968, A Concise History of Costume (World of Art). No Brasil, foi publicada em 1990 pela Companhia das Letras. Cf. LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo:
Companhia das letras, 1989.
8
compreende o vestuário desde o Egito e Mesopotâmia da antiguidade até 1960 no mundo
ocidental.
Durante o século XX, estudos sobre vestimentas e moda surgiram em âmbito de
instituições museológicas, como o de Laver. Na história, os estudos concentravam-se em
política e economia. Na historiografia francesa, especialmente na Escola dos Annales temas
diferenciados foram abordados.
Foi a partir de Fernand Braudel, sucessor de Lucien Febvre na direção da revista dos
Annales e também da VI Seção da École des Hautes Études en Sciences Sociales que os
estudos acerca da cultura material ganharam visibilidade.32
Febvre propôs a Braudel a
escrita da história da Europa entre 1400 e 1800, em dois capítulos. O primeiro seria
dedicado ao pensamento e crença, o qual ficaria a cargo de Febvre, e o segundo, versaria
sobre a história da vida material, sob responsabilidade de Braudel.33
Lucien Febvre faleceu
antes de iniciar o projeto. No entanto, Braudel deu continuidade ao mesmo, escrevendo três
volumes sobre seu tema (volume 1: As estruturas do cotidiano: o possível e o impossível;
vol. 2: Os jogos das trocas; vol. 3: O tempo do mundo), com o título Civilização Material,
Economia e Capitalismo34
. Segundo Peter Burke, Braudel partiu das “categorias
econômicas do consumo, distribuição e produção”, mas não se prendeu às fronteiras
tradicionais da história econômica (agricultura/comércio/indústria)35
. Além de suas
contribuições valiosas sobre as diferentes durações na história e sua concepção espacial
diferenciada, Braudel reintroduziu o conceito de civilização material e o cotidiano como
abordagem importante para o estudo das sociedades.36
Para nossa pesquisa, o primeiro volume da obra Civilização Material é
extremamente relevante, pois nele Braudel tratou, entre outros temas, do vestuário e da
15 BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografia: a Escola dos Annales (1929-1989). São Paulo:
Editora Universidade Estadual Paulista, 1991. p. 39. 33 BURKE, Peter. A Revolução... p. 40. 34 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII. São Paulo:
Martins Fontes, 1998. 3 v. 35 BRAUDEL, Fernand. Civilização... p. 40 - 41 36
Burke aponta as referências de Braudel para o estudo do cotidiano (T.F. Troels-Lund) e para civilização
material (Oswald Spengler). BURKE, Peter. A Revolução... p. 42
9
moda. Em relação ao vestuário, ao combater possíveis críticas ao tema abordado, justificou
o seu estudo apontando caminhos de análise. Para ele o exame da vestimenta possibilita a
problematização e o entendimento: “das matérias-primas, dos processos de fabrico, dos
custos de produção, da fixidez cultural, das modas, das hierarquias sociais.”37
Desta forma,
Braudel apontou para os aspectos tradicionais nos costumes de vestir, pertencentes à longa
duração, como alguns trajes de festas, a interessante relação entre o uso de roupa interior e
a disseminação de doenças de pele, e características dos trajes camponeses. 38
Do
tradicional e do permanente, Braudel passou para as mudanças do século XIV, as quais
considerou serem as primeiras manifestações da moda39
. E ressaltou ainda mais um tema
suscitado pelas vestimentas: a produção e circulação têxtil40
. Burke teceu apenas uma
ressalva ao estudo de cultura material de Braudel: a ausência do domínio simbólico41
.
Ainda ligado à historiografia francesa, e da terceira geração dos Annales, destaca-se
o autor Daniel Roche.42
Dentre seu trabalho com história cultural e social francesa, dois
livros em especial são referências importantes para o estudo do vestuário: História das
coisas banais: nascimento do consumo (século XVII – XIX), de 1997, e A Cultura das
aparências: uma história da indumentária (séculos XVII – XVIII), de 1989.43
História das coisas banais tratou do consumo entre os séculos XVII e XIX, com o
foco na materialidade.44
Na primeira parte do livro, Roche apresentou o panorama das
transformações ocorridas no âmbito da cidade. Na segunda, destacou o ambiente
doméstico, ressaltando o impacto da iluminação, da distribuição de água, móveis e objetos,
hábitos de alimentação, entre eles, o vestuário e a aparência. No capítulo VIII, Vestuário e
aparência, o autor abordou os principais aspectos das roupas durante o Antigo Regime,
37 BRAUDEL, Fernand. Civilização... 1998a, p. 271. 38 BRAUDEL, Fernand. Civilização... 1998a, p. 273. 39 BRAUDEL, Fernand. Civilização... 1998a, p. 276. 40 BRAUDEL, Fernand. Civilização... 1998a, p. 284 41 BURKE, Peter. A Revolução...p. 42 42 Professor da Universidade de Paris I, diretor de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Durante a década de 1970, pesquisou sobre a vida cotidiana do povo de Paris (Le Peuple de Paris. Essai sur la
culture populaire au XVIIIe siècle, Paris, Aubier, 1981). 43 As publicações das edições brasileiras são respectivamente de 2000 e 2007. 44 ROCHE, Daniel. História das coisas banais: nascimento do consumo nas sociedades do século XVII ao
XIX. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
10
como a hierarquia social, as leis suntuárias e a questão da moda modas e do vestuário entre
diferentes regiões francesas. Daniel Roche aprofundou essas questões em sua obra seguinte,
O Povo de Paris.45
No livro A Cultura das aparências, Roche desenvolveu uma análise valiosa sobre
as vestimentas e os costumes46
. Seu estudo abarcou a França, mais especificamente Paris
entre os séculos XVII e XVIII, correspondente período de governo dos reis Bourbons Luís
XIV, Luís XV e Luís XVI. Nesta obra, Roche dedicou-se exclusivamente ao universo das
roupas, evidenciando os sistemas indumentários franceses de três séculos. O autor ressaltou
os elementos da hierarquia das aparências – questão crucial para uma sociedade do Antigo
Regime, o surgimento da roupa branca, a importância dos uniformes, e toda a cadeia
produtiva, de consumo e circulação das roupas: os oficiais, os comerciantes e consumidores
parisienses. A importância do trabalho de Daniel Roche reside no fato de nos apresentar
uma sociedade através dos valores simbólicos e estéticos que estruturavam a „cultura das
aparências‟ então vigentes.
Também encontramos estudos relacionados à moda e às vestimentas na perspectiva
de uma personalidade. Isto é, através de uma pessoa é possível discutir e proporcionar todo
o debate do contexto em que ela se insere. Sob esta perspectiva, dois livros são bons
exemplos dessa opção de análise: A fabricação do rei: a construção da imagem pública de
Luís XIV, de Peter Burke, e Rainha da Moda, de Caroline Weber.47
Peter Burke realizou um estudo sobre a imagem pública de Luís XIV e seu lugar no
imaginário coletivo. O autor apontou a extensa bibliografia existente sobre este monarca,
45 No prefácio de O Povo de Paris, Roche explicou que esta obra foi produzida durante a década de 1970 e foi
publicada pela primeira vez na França em 1981. Neste livro, o autor já havia reservado um capítulo ao
vestuário popular. Portanto, os trabalhos seguintes apontam a continuação e aprofundamento do autor no
tema. Cf. ROCHE, Daniel. O Povo de Paris: ensaio sobre a cultura popular no século XVIII. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2004. p. 11 – 29. 46 ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: Uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII). São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2007. 47 BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 1994; WEBER, Caroline. Rainha da Moda. A roupa que Maria Antonieta usou para a Revolução.
Oceanos: Lisboa, 2008.
11
mas a relevância deste trabalho está no enfoque à figura do rei: projeto de construção da
imagem real levado a cabo por seus homens de confiança, depois também executado pelo
próprio rei, no período do governo pessoal, e de que forma essa imagem foi recebida
contemporaneamente e na posteridade.
O livro nos chama atenção especialmente pela investigação sobre as representações
reais, buscando referências mobilizadas por Luís XIV e/ou as consolidadas a partir dele.
Burke enriqueceu sua análise ao apresentar sempre a imagem da peça a qual se referia em
seu texto. Imagens variadas: fotografias, rascunhos, esboços de estátuas, quadros,
medalhas, plantas arquitetônicas. Rainha da Moda, por sua vez, é uma obra que evidenciou
a influência estética de Luís XIV sob Maria Antonieta. Segundo Caroline Weber, há muitos
trabalhos sobre Maria Antonieta, especialmente biografias. No entanto, nenhum investigou
a fundo a relação do público com a roupa da rainha, a relação estabelecida entre a moda e a
política para esta figura pública importantíssima.
De maneira inovadora, Weber investigou como Maria Antonieta utilizou a moda
para marcar uma posição política em Versalhes, bem como sua imagem era compreendida,
tanto por membros da corte, quanto por seus súditos. Entre outras fontes, a autora utilizou
as referidas biografias de Maria Antonieta, relatos, memórias de pessoas que frequentavam
a corte e também os panfletos publicados principalmente contra a rainha.
Weber demonstrou como Maria Antonieta se serviu da moda para demarcar sua
posição política e desencadear o gosto pela moda na França: roupas, chapéus, penteados e
adereços ganhavam outra visibilidade e significados. Contemporânea e posteriormente a
rainha geralmente foi retratada de forma negativa, apontando o excesso de luxo, ou a falta
dele. O livro coloca ao leitor a dimensão e o papel da roupa para Maria Antonieta assim
como a construção da sua imagem pública.
Voltada à análise da composição e utilização dos bens que integravam os enxovais
dos membros da corte portuguesa, a pesquisa da historiadora Isabel dos Guimarães Sá
12
evidenciou a interessante utilização de objetos como estratégias de reforço de autoridade e
poder político entre os séculos XV e XVII.48
Dedicados à roupa e à moda dos séculos XIX e XX, destacamos o livro de Diana
Crane, A Moda e Seu Papel Social - Classe, Gênero e Identidade das Roupas. A autora
apresentou um panorama da moda e de padrões de vestuário da França, Inglaterra e Estados
Unidos no período pós-industrial.49
Também cabe destacar a contribuição de Gilles
Lipovetsky ao analisar a moda nas sociedades modernas e pós-modernas.50
Para a área de
curadoria de acervos têxteis em instituições, as obras The study of dress history e
Establishing Dress History de Lou Taylor são importantes referências, pois problematizam
as roupas em acervos e dialogam com a historiografia sobre moda.51
No Brasil, por sua vez, grande parte da produção acadêmica sobre vestimentas e
moda está ligada às atividades de museus. De forma geral, existem poucos trabalhos
acadêmicos sobre o tema, pois a moda e as roupas, geralmente relacionadas ao universo
feminino, foram consideradas por muito tempo assuntos menos importantes.
Em seu trabalho pioneiro, Vida e morte do bandeirante, Alcântara Machado
trabalhou com a coleção dos Inventários e Testamentos da vila de São Paulo, publicada
pelo Arquivo do Estado de São Paulo, no início da década de 1920. Através dos
inventários, Machado discorreu sobre aspectos materiais da vida dos primeiros paulistas,
antecipando temáticas e abordagens somente tratados pela historiografia muitas décadas
depois, como o estudo do cotidiano. O capítulo „Fato de vestir, joias e limpeza da casa‟ é
48 SÁ, Isabel dos Guimarães. “Coisas de princesas: casamentos, dotes e enxovais na família real portuguesa
(1480-1580)”, Revista de História da Sociedade e da Cultura 10, tomo I: 97 – 120, 2010. SÁ, Isabel dos
Guimarães. “Dressed to impress: clothing, jewels and weapons in court rituals in Portugal (1450-1650).”
Paper presented at the Conference Clothing and the Culture of Appearances in Early Modern Europe.
Research Perspectives, Madrid, Fundación Carlos Amberes/Museo del Traje. 3-4 February 2012. SÁ, Isabel
dos Guimarães. “The uses of luxury: some examples from the Portuguese Courts from 1480 to 1580”, Análise
Social 14, 192: 589 – 604, 2009. 49 CRANE, Diana. A Moda e Seu Papel Social - Classe, Gênero e Identidade das Roupas. São Paulo: Editora
SENAC São Paulo, 2006. 50 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989; RIOUX, Elyette e LIPOVETSKY, Gilles. O luxo eterno: da idade do sagrado ao
tempo das marcas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 51
TAYLOR, Lou. The study of dress history. Manchester: Manchester University Press, 2002; e TAYLOR,
Lou. Establishing Dress History. Manchester: Manchester University Press, 2004.
13
dedicado à análise do vestuário, tipos de tecido, peças de roupas, preço do feitio de roupas,
joias, adereços e peças de uso doméstico.52
Inicialmente publicada no volume V da Revista do Museu Paulista em 1952, a tese
de doutoramento de Gilda de Mello e Souza, A moda no século XIX, foi orientada por
Roger Bastide ganhando projeção e reconhecimento apenas trinta e sete anos depois, o que
aponta a falta de interesse da historiografia pela temática.
Reeditada em 1987 sob o título O espírito das roupas: a moda no século
dezenove53
, a obra encontrou um ambiente acadêmico transformado especialmente pela
antropologia e pela história das mentalidades, o que permitiu a definição de novos temas e
objetos de estudo. Segundo Heloisa Pontes, a consolidação do campo da moda no Brasil –
tanto pela profissionalização, quanto como uma área de interesse acadêmico - possibilitou a
legitimação do tema e da obra de Gilda de Mello e Souza54
.
De viés sociológico, a pesquisa de Souza utilizou-se de fontes impressas e visuais:
fotografias, pranchas coloridas de moda, estudos sobre moda, romances e crônicas de jornal
foram seu escopo documental prioritário, que permitiu a autora analisar com maior riqueza
de detalhes a moda no século XIX. Outro trabalho de cunho sociológico é o livro Modos de
homem & modas de mulher de Gilberto Freyre.55
Publicado em 1987, um ano antes da obra
de Gilda de Mello e Souza, este trabalho de Freyre abordou do final do século XIX até a
década de 1980, várias questões relacionadas aos costumes e à moda no Brasil, como a
influência da moda francesa, a adaptação e criação de peças e tecidos genuinamente
brasileiros e a mudança dos padrões femininos de beleza.
52 MACHADO, Alcântara. “Fatos de vestir, joias e limpeza da casa.” In: Vida e morte do bandeirante. São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 53 SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. São Paulo: Companhia das
Letras, 1987. 54
PONTES, Heloisa. A paixão pelas formas. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, p. 87-105, 2006. p. 91 55 FREYRE, Gilberto. Modos de homem e modas de mulher. Rio de Janeiro: Record, 1987.
14
Passaremos agora a alguns trabalhos realizados no âmbito de museus ou a partir de
coleções museológicas.56
Três trabalhos estão relacionados ao acervo do Museu Paulista da
Universidade de São Paulo57
.
A tese de Teresa Toledo de Paula, Tecidos no Brasil: um hiato, conservadora do
Setor de Têxteis do Museu Paulista-USP, visa compreender a conservação dos têxteis
pertencentes ao acervo do Museu Paulista e do MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia),
ambos da Universidade de São Paulo58
, bem como a falta de informação generalizada sobre
tecidos no Brasil.
Em relação ao período colonial, a autora abordou algumas imagens de
indumentárias, fruto do romantismo do século XIX, cristalizadas até hoje no imaginário
nacional. Exemplo, a “roupa branca de Peri”, personagem de José de Alencar, na obra O
Guarani, retratado em túnica branca, elemento relacionado à civilidade, em oposição às
vestimentas de peles de animais, penas e ossos dos aimorés, denotando atraso e um estado
animalesco.59
A tese de doutorado de Rita Morais de Andrade investigou a trajetória de um
vestido da maison francesa Bouè Soeurs, durante a década de 1920 até sua incorporação à
coleção de objetos no Museu Paulista, em 1993, através da doação realizada pela filha da
proprietária do vestido. 60
A autora utilizou o vestido como principal fonte através da opção
56 Cabe ressaltar a importância do acervo bibliográfico específico de têxteis do qual o Museu Paulista da
Universidade de São Paulo é detentor. Devido à criação do Setor de Têxteis em 1994, esta instituição passou a
atuar especificamente neste ramo montando o acervo bibliográfico, com formação e treinamento da equipe,
bem como ampliando o acervo têxtil. 57 Discussão desenvolvida por nós no artigo O que a traça não comeu: reflexões sobre o trabalho histórico
com o vestuário como fonte de cultura material, disponível em:
<http://snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371316848_ARQUIVO_ArtigoLigiaSouzaGuidoAnpuh2013o
k.pdf> 58 PAULA, Teresa Cristina Toledo. Tecidos no Brasil: um hiato. Tese (Doutorado em Ciências de
Informação). 2004. Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo . São Paulo, 2004. p. 10. 59 PAULA, Teresa Cristina Toledo. Tecidos... p.49-50. 60
ANDRADE, Rita Morais. Bouè Soeurs RG 7091. A biografia cultural de um vestido. Tese (Doutorado em
História). 2008. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008. p. 29-30.
15
teórica proposta na década de 1980 por Igor Kopytoff, a biografia do objeto61
, mais
especificamente, a biografia cultural de um objeto, abordagem ainda não difundida e pouco
adotada no Brasil.
Especialista de apoio à pesquisa e supervisor do Serviço de Objetos do Museu
Paulista, Adílson José de Almeida desenvolveu sua dissertação de mestrado, sobre uma
categoria específica de indumentária, os uniformes da Guarda Nacional. O recorte temporal
explorado por Almeida circunscreve o período de criação da Guarda Nacional, (1831) e o
estabelecimento do segundo plano de uniformes, época em que ocorreram várias alterações
relevantes (1852). Sua estratégia foi abordar não a totalidade da existência da associação,
mas o período mais relevante para compreender a regulamentação oficial dos uniformes.
De 80 peças entre uniformes e insígnias, o autor contou com cinco que permitiam melhor
identificação ao período de análise.
Almeida sistematizou três conceitos para empreender a análise dos uniformes: as
funções pragmáticas, diacríticas e simbólicas. A análise das funções pragmáticas foi
dividida nos seguintes itens: proteção contra choques e intempérie, regulação da
temperatura, favorecimento à mobilidade e higiene.62
Nas funções diacríticas, observou-se
a necessidade da Guarda Nacional em diferenciar-se dos uniformes civis.63
Já nas funções
simbólicas, Almeida explorou os elementos de cidadania, honra e ética, associados ao
uniforme da Guarda Nacional.64
Outro trabalho relacionado ao acervo têxtil museológico é o de Soraya Aparecida
Álvares Coppola, dedicado aos paramentos litúrgicos do Museu Arquidiocesano de Arte
61 Cf: KOPYTOFF, Igor. “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo.” In:
APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. Niterói: Editora
da Universidade Federal Fluminense. 2008. 62 ALMEIDA, Adílson José de. Uniformes da Guarda Nacional: 1831 – 1852. A indumentária na
organização e funcionamento de uma organização armada. Dissertação (Mestrado em História). 1998.
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998. p. 83 63
ALMEIDA, Adílson José de. Uniformes... p. 99. 64 ALMEIDA, Adílson José de. Uniformes... p. 118.
16
Sacra de Mariana-MG65
. Como objetivo principal, a autora estabeleceu o “estudo,
conhecimento e catalogação do acervo têxtil” do referido museu, comparando o acervo
mineiro com coleções têxteis italianas. 66
Na análise dos paramentos litúrgicos, ressaltou
um tríplice ponto de vista: “a prática atual quanto a sua forma, qualidade e uso; o
desenvolvimento histórico quanto à forma, qualidade e uso; significado simbólico.”67
Coppola encontrou a maioria das vestes externas, já que as internas, de uso pessoal, eram
lavadas muitas vezes, deteriorando mais facilmente. Como existe um grande número de
paramentos remanescentes e em bom estado de conservação, a hipótese é que talvez os
religiosos possuíssem roupas próprias.
Além de um glossário, a autora disponibilizou informações importantes nos Anexos.
Relevantes não apenas para compreendermos melhor suas fontes e análises, mas também
como dados sobre tecidos para comparações em futuros trabalhos, como modelos de fichas
para catalogação, transcrição do inventário dos bens da igreja e uma compilação das
principais características dos paramentos de cada segmento pertencente à igreja católica.
Duas dissertações versaram sobre vestimentas no século XVIII e utilizaram como
principal fonte os inventários post-mortem, na região das minas.
Em sua dissertação de mestrado, Cláudia Mól abordou o cotidiano e a vida material
das mulheres forras de Vila Rica, entre 1750 e 1800.68
A autora avaliou os bens de
mulheres forras em 74 testamentos e inventários. Através dos dados obtidos, foi possível
constatar a ocupação destas mulheres, a forma de habitação, a posse e o relacionamento
com seus cativos, as relações de sociabilidades estabelecidas na participação de irmandades
religiosas, bem como o vestuário e as joias pertencentes às forras.
65 COPPOLA, Soraya Aparecida Álvares. Costurando a Memória: o acervo têxtil do Museu Arquidiocesano
de Arte Sacra de Mariana. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). 2006. Escola de Belas Artes.
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2006. p. 21 66 O trabalho de Soraya junto ao acervo têxtil se iniciou com o levantamento e a catalogação do acervo têxtil
do MAAS, pois apesar de tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), não
havia sido devidamente inventariado até então. 67 COPPOLA, Soraya Aparecida Álvares. Costurando... p. 21. 68 MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres forras: cotidiano e cultura material em Vila Rica-1750-1800. 2002. Dissertação (Mestrado em História) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Federal de
Minas Gerais. Belo Horizonte. 2002.
17
A autora resgatou registros semelhantes de viajantes, como Mary Graham e Luís
dos Santos Vilhena, nos quais relatavam a grande diferença entre os trajes domésticos
(muito “à vontade”, largos, transparentes e que deixavam partes íntimas à mostra) e as
roupas utilizadas fora de casa, pois “ao se apresentar em público, essa mesma mulher
adornava-se da melhor forma possível e ostentava, tanto através dos trajes quanto das joias,
uma posição social, se não possuída, imensamente desejada.”69
Mól também apontou outro
elemento importante relacionado a vestimenta, a legislação portuguesa que regulamentava
o vestuário e a transgressão destas normas por parte das mulheres forras.
As mulheres brancas deveriam zelar por uma boa conduta, mantendo o máximo de
discrição, portando capas negras e vestindo tecidos nobres.70
Mol apontou que apesar das
proibições, “a moda, representou, assim, a oportunidade para que as mulheres negras
expressassem suas preferências estéticas, desafiando as normas vigentes na América
Portuguesa.”71
Já a dissertação de Marco Aurélio Drumond analisou o comércio, a produção e os
usos de roupas na Comarca do Rio das Velhas na primeira metade do século XVIII, período
em que houve um grande êxito da atividade mineradora.72
Como atestado pela
historiografia, a mineração atraiu um grande número de pessoas, tanto da Colônia, quanto
de Portugal. Neste sentido, o autor demonstrou a importância do vestuário para aquela
sociedade, uma vez que existia naquele espaço a convivência de diferentes camadas sociais:
funcionários reais, escravos, forros, faiscadores, clérigos e comerciantes.
Ao se dedicar ao universo da produção, Drumond teceu uma interessante análise
sobre os “oficiais da aparência”: sapateiros, alfaiates e costureiras.73
A atividade destes
oficiais era rigidamente fiscalizada e regulamentada pelas câmaras municipais. Segundo o
autor, os inventários destes oficiais analisados demonstraram através das dívidas “a
69 MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres... p. 90. 70 MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres... p. 91-92. 71 MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres... p. 92 72 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material: Produção, comércio e usos na Comarca do
Rio das Velhas (1711-1750). 2008. 217f. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2008. 73 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária... p. 70.
18
inserção social desses oficiais que, de maneira direta ou indireta à sua atividade, mantinham
relações comerciais (de crédito ou de serviço) com indivíduos de diferentes espaços da
Comarca, mesmo que distantes do seu local de morada.”74
O trabalho intitulado O símbolo indumentário: distinção e prestígio no Rio de
Janeiro (1808 – 1821), de Camila Borges da Silva, explorou o papel da cultura
indumentária no Antigo Regime português em um contexto muito peculiar, na Corte
joanina então situada na colônia.
Diferentemente de uma área dedicada à história da moda, que trata das mudanças e
transformações dos trajes, a pesquisa de Silva se insere em uma vertente mais ampla que
reconhece o potencial das roupas (em diversos suportes, tais como material, visual, escrito)
como objeto principal. Considerando a vestimenta como uma “linguagem passível de ser
lida socialmente”75
, a autora buscou a relação das peças com os significados e práticas
sociais que permeavam a sociabilidade e a cultura política lusa.
Silva investigou durante a estadia da corte portuguesa no Rio de Janeiro a presença
e oferta de produtos importados, de mão de obra especializada relacionada à aparência,
como alfaiates, costureiras e cabeleireiros, além da interessante relação travada entre a
monarquia e a elite comercial fluminense abastada que almejava títulos e comendas
nobilitantes, concedidos em troca de serviços e doações financeiras. A autora também
dedicou especial atenção aos cerimoniais de corte, atentando para a importância das vestes,
adereços e insígnias portados e exibidos publicamente.76
Também dedicado ao estudo da moda na corte, o trabalho de Joana Monteleone
intitulado O circuito das roupas: a corte, o consumo e a moda, versou sobre o período de
74 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária... p. 81. 75 SILVA, Camila Borges da. O símbolo indumentário: distinção e prestígio no Rio de Janeiro (1808 – 1821).
Rio de Janeiro: Secretaria Municipal da Cultura: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2010. p. 21. 76
Cf. Capítulo 3. O Luxo e as Insígnias – estratégias de prestígio e distinção nos cerimoniais da Corte. In:
SILVA, Camila Borges da. O símbolo...
19
governo de D. Pedro II, o segundo reinado, período complexo, marcado pela combinação
de elementos aristocráticos, com traços de Antigo Regime, com a ascensão da burguesia77
.
Nos trabalhos mencionados, foi possível dimensionar a grande importância dos
ofícios ligados à aparência nas sociedades coloniais, o papel dos trajes nos momentos
festivos coloniais, bem como a necessidade de produtos importados, oriundos
principalmente da Europa. Os contextos de Minas Gerais e Rio de Janeiro são interessantes
para nosso estudo sobre Itu, pois fornecem dois padrões (ainda que muito distintos) de
contextos coloniais no início do século XVIII, para a região mineradora, e do século XIX
em dois momentos da corte carioca, como parâmetro para compararmos com o contexto
paulista, considerando com todas as particularidades e contextos.78
Para São Paulo, além do trabalho de Alcântara Machado, contamos com a pesquisa
de Luciana da Silva, Artefatos, sociabilidades e sensibilidades.79
Pautada na cultura
material, Silva analisou as redes de sociabilidade e o trânsito de objetos na vila de São
Paulo entre os séculos XVI e XVII, dedicando um tópico especificamente às vestimentas.
Como principais trabalhos no campo da cultura material que utilizam os inventários
póstumos, elencamos as dissertações de Luciana da Silva, de Nuno Luís Madureira,
Inventários - Aspectos do consumo e da vida material em Lisboa nos finais do Antigo
Regime, a investigação sobre Alimentação e Cultura Material na América portuguesa
desenvolvida por Leila Mezan Algranti80
e a terceira parte da obra Portas adentro, dirigida
77 MONTELEONE, Joana de Moraes. O circuito das roupas: a corte, o consumo e a moda (Rio de Janeiro,
1840-1889). 2013. Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 78 Cabe destacar também para o contexto carioca o trabalho “Estilos de vida e consumo doméstico da elite mercantil fluminense, em 1808: uma representação da natureza simbólica dos objetos asiáticos”, de Luís
Frederico Dias Antunes. In: MARTINS, Ismênia e MOTTA, Márcia (org.) 1808: A corte no Brasil. Niterói,
RJ: Editora da UFF, 2010. Pp. 331-365. 79 SILVA, Luciana da. Artefatos, sociabilidades e sensibilidades: cultura material em São Paulo (1580-1640).
2013. Dissertação (Mestrado em História). Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 80 ALGRANTI, Leila Mezan. “Alimentação e Cultura material: das fontes seriadas ao estudo de caso (Rio de
Janeiro segunda metade do século XVIII).” Apresentação parte da Mesa redonda: Caminhos de pesquisa
sobre cultura material. In: V Encontro Internacional de História Colonial. UFAL, Maceió-AL, 2014. Texto
fornecido pela autora.
20
por Isabel Sá e Máximo Férnandez, dedicada aos bens de luxo, em herança e patrimônios
familiares.81
Entre os artigos, cabe destacar “Inventarios post-mortem, cultura material y
consumo em Léon durante la Edad Moderna”, de Juan Manoel Bartolomé Bartolomé, e
“Penhoristas do Porto no início do século XVII: homens, atividade e objetos”, de Andreia
Durães. Também de autoria de Durães, o artigo “The Empire Within” abordou aspectos
metodológicos e apresentou dados referentes ao consumo de bens coloniais em Lisboa.82
A principal fonte de nossa pesquisa são inventários póstumos, que consistem no
processo de levantamento, avaliação e partilha dos bens de um indivíduo entre seus
herdeiros. No arrolamento dos bens, cada objeto era descrito, algumas vezes mencionavam
seu estado de conservação e por último, recebia um valor monetário atribuído por
avaliadores. Os inventários são (até as três primeiras décadas do século XIX) a única
documentação remanescente que fornece dados sobre roupas e tecidos dos moradores da
vila ituana.
Consultamos 148 inventários post-mortem da vila de Itu, correspondente à
totalidade de documentos do recorte temporal, balizados pelas datas de 1765, que
corresponde à autonomia administrativa da Capitania de São Paulo e ao início do governo
de Morgado de Mateus, que promoveu e incentivou a produção açucareira paulista voltada
à exportação, e no ano de 1808, quando a corte portuguesa chega ao Rio de Janeiro e
ocorreu a abertura dos portos brasileiros, o que diversificou a oferta de tecidos, roupas,
acessórios e profissionais da aparência na América Portuguesa.
Os critérios para escolha dos inventariados foi a seleção de indivíduos residentes na
vila de Itu (ruas e bairros rurais, não em seus termos) e que possuíssem roupas ou itens
têxteis em seus espólios.83
Junto ao Primeiro Ofício de Justiça de Itu foram localizados
81 SÁ, Isabel dos Guimarães e FÉRNANDEZ, Máximo García (dir.). Portas adentro: comer, vestir e habitar
na Penínlsula Ibérica (ss. XVI-XIX). Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. 82 DURÃES, Andreia. “The Empire Within: Consumption in Lisbon in Eighteenth Century and First Half of the Nineteenth Century” In: Histoire & Mesure, EHESS, Vol. XXVII, 2012, pp. 165-196. 83 A grafia foi atualizada para os padrões atuais.
21
quarenta inventários.84
No Arquivo Público do Estado de São Paulo foram localizados
quatro Autos de Contas de Testamentos (de doze documentos referentes ao recorte para Itu)
de indivíduos que preenchiam os requisitos da amostra, resultando em quarenta e quatro
casos para nosso estudo. Posteriormente foram localizados oito testamentos de ituanos da
amostra, completando assim as informações colhidas nos inventários.85
As informações
individuais foram complementadas e cruzadas com dados colhidos obra Genealogia
Paulistana, de Luís Gonzaga da Silva Leme, em conjunto com os censos da vila de Itu
(Mapas de população). Nesta última fonte, os censos, também obtivemos dados sobre as
importações realizadas em Itu, entre os anos de 1798 e 1808, nos denominados Mapas de
importação. Entre os produtos relacionados estão vinho, tecidos, chapéus e meias.
Através de um estágio de pesquisa realizado em Portugal, sob supervisão da
Professora Doutora Isabel dos Guimarães Sá, realizado na Universidade do Minho, com
duração de dois meses, coletamos dados de 24 inventários lisboetas, sendo 19
correspondentes aos mesmos anos de documentos ituanos e adicionamos cinco referentes a
comerciantes (algibebes).86
Durante o estágio, realizamos também pesquisa bibliográfica e
visitas técnicas em instituições detentoras de acervos têxteis, a fim de visualizarmos a
materialidade de artefatos do período de análise, especialmente os remanescentes do século
XVIII, indisponíveis no Brasil. A dissertação versa sobre as roupas na vila de Itu, porém
conta com os dados de natureza arquivística, bibliográfica e museológica lisboetas e de
outras localidades da América Portuguesa para análise comparativa.
O primeiro capítulo apresenta a vila de Itu através de sua materialidade, seus
espaços, suas construções e seus habitantes no momento em que a economia açucareira
apresentava crescimento econômico relevante e a riqueza se fez perceptível. Realizamos
uma breve discussão acerca dos elementos teóricos importantes para análise da cultura
84 Arquivo Histórico do Museu Republicano “Convenção de Itu”/Museu Paulista/ Universidade de São Paulo. 85 “Os processos referem-se a ações de contas de testamento que eram obrigatórias e prestadas pelo
testamenteiro para dar cumprimento às determinações de um testador após o seu falecimento.” Fundo Juízo de
Resíduos. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/guia_ficha.php?fundo=182&palavra=testamento> . Acesso em 24
jan.2014. 86
ANTT – Fundo Geral dos Feitos Findos. Correição Cível da Cidade de Lisboa, Inventários post-mortem e
Inventários Orfanológicos.
22
material, analisamos os padrões das posses dos bens dos ituanos, bem como os bens têxteis
que compunham os domicílios, as roupas da casa e os tecidos.
O capítulo 2 é dedicado à apresentação e análise do vestuário na vila de Itu.
Analisamos a materialidade e o valor monetário atribuído aos artefatos relacionados à
aparência, de homens e mulheres da vila de Itu e da amostra lisboeta. Abordamos o
vestuário e os tecidos mencionados nas listas de importação, bem como no estoque de loja
da vila de Itu. Dedicamos o último tópico à investigação dos usos das roupas na localidade
e apresentamos algumas hipóteses de uso doméstico e público de alguns trajes.
Finalmente, o último capítulo aborda a dimensão simbólica das roupas de forma
mais profunda, buscando identificar padrões cotidianos, traços comuns observados na
documentação, mas também elementos importantes em casos individuais e familiares, no
sentido de compreender os valores e significados envolvidos na circulação dos bens têxteis.
O último tópico dedica-se à imbricação do material e do imaterial nas aparências, a partir
de um ramo da família Costa Aranha, cujos membros pertenciam à nossa amostra e possuía
grande influência e atuação na vila do açúcar.
Nossa investigação busca compreender a composição material e a dimensão
simbólica das roupas entre o final do século XVIII e início do século XIX antes da abertura
dos portos. Comparando com o padrão europeu, quais tecidos, quais peças de roupas eram
utilizadas na vila de Itu, que prosperava economicamente com a produção açucareira
voltada à exportação. A posse das roupas indicada nos inventários póstumos poderiam
sugerir um padrão de trajes masculinos e femininos? De uso? De circulação desses artefatos
entre gerações de uma família e pessoas próximas? Além da materialidade, é possível
perceber o peso da dimensão simbólica atribuídos aos objetos, principalmente às
vestimentas do período em questão? O que evidenciavam e o que ocultavam as capas e os
mantos? Essas são algumas questões que pretendemos esclarecer ao longo do trabalho nas
próximas páginas.
23
Capítulo 1 A vila do açúcar: configuração espacial e a posse de bens em
Itu
Uma passagem resgatada por Teresa Petrone nos informa que:
Viajando pelos arredores de Itu é impossível não notar que toda gente da classe
baixa tinha os dentes incisivos perdidos pelo uso constante da cana de açúcar, que
sem cessar chupam e conservam na boca em pedaços de algumas polegadas. Quer
em casa quer fora dela, não a largam e é possível que esta também seja a causa de
haver aqui mais gente gorda do que em outros lugares. A classe superior gosta
igualmente de doce, pelo que recebeu a alcunha de „mel do tanque‟ isto é, o
melhor melado produzido na fabricação do açúcar. Os próprios bois e os burros
também participam da mesma inclinação.1
A importância do açúcar para Itu e também para a capitania de São Paulo residia na
capacidade produtiva e econômica que obteve como principal mercadoria por cerca de cem
anos (entre 1765 e 1840). O açúcar produzido na vila de Itu no século XVIII não possuía
boa qualidade em relação aos produzidos na região litorânea, devido ao solo, ao clima e
também às condições de transporte até seu embarque, razão pela qual obtinha preços mais
baixos, como notou Marcelino Pereira Cleto, em 1782.2
A implantação da lavoura canavieira na região de Itu foi resultado de um processo
mais amplo de expansão demográfica no interior paulista e do incentivo agrícola realizado
por Morgado de Matheus - governador da Capitania de São Paulo, empossado em 1765 e
afinado à política fisiocrática do Marques de Pombal. De acordo com Octavio Ianni, outro
aspecto que corroborou para o sucesso da produção açucareira, foram as “bases econômico-
sociais, geográficas e demográficas que se haviam desenvolvido em Itu a partir do
bandeirismo de apresar índios e minerar metais e pedras e do comércio que as monções
propiciavam com os núcleos de mineração.”3
1 BEYER, Gustavo. Ligeiras notas de viagem do Rio de Janeiro à Capitania de São Paulo, no Brasil, no Verão
de 1813. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. XII, Typ. Do Diário Official, São
Paulo, 1908. Apud PETRONE, Maria Teresa S. A lavoura canavieira em São Paulo: expansão e declínio
(1765 – 1851). São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968. p. 42-43. 2 BEYER, Gustavo. Ligeiras notas ... p. 42 3 IANNI, Octavio. Uma cidade antiga. Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp, 1996. (Coleção Tempo &
Memória; 1) p. 25
24
A prosperidade econômica operou transformações sociais e materiais nítidas na
sociedade ituana setecentista. Segundo Ianni,
sobressaíam os senhores de escravos, brancos, donos de canaviais e engenhos, por um lado, e a escravaria, a mão-de-obra braçal, composta de negros e mulatos,
por outro. Mas também havia caboclos ou caipiras pobres, roceiros, sitiantes,
cultivando alguma planta, criando alguma galinha, algum porco ou outro animal,
para o gasto da família.4
Os estratos dominantes imbuídos de uma “cultura aristocrática” - assim
denominada por Ianni - buscaram “marcar posições e distâncias sociais” através dos
poderes religioso, político e econômico.5 Esta procura por distinção é o cerne da nossa
investigação sendo nosso objetivo principal procurar os elementos materiais empregados
para a distinção na aparência pessoal dos indivíduos que habitavam a vila de Itu.
Neste capítulo analisamos os aspectos materiais de maneira mais ampla, avaliando
os bens de forma geral e a composição material da vila de Itu para então no capítulo
seguinte, analisarmos os objetos relacionados à aparência.
1.1 Aspectos históricos e populacionais de Itu
A fundação de Itu deu-se no ano de 1610 dentro do processo de ocupação do
território paulista, do litoral em direção ao interior. Este processo iniciou-se na área
litorânea, em meados do século XVI, posteriormente, efetivou-se a ocupação do planalto de
Piratininga (1554) e no final do século, regiões circunvizinhas, como Santana de Parnaíba
(1580) e Itu (1610)6. Tal processo está inserido no contexto de exploração e busca de
pedras e metais preciosos, necessidade de mão de obra indígena e de novas áreas para o
cultivo agrícola. Uma vez estabelecidas, algumas famílias formaram e consolidaram o
povoamento da vila de Itu, utilizando-se “amplamente de índios para seus
4 IANNI, Octavio. Uma cidade antiga... p. 43 5 IANNI, Octavio. Uma cidade antiga... p. 22 6 Outu-Guaçu, Utu-Guaçu, Ytu e finalmente Itu, foram as denominações da localidade. De origem tupi, Ugu-
Guaçu significa cachoeira grande, em referência à queda d‟água do rio Tietê, localizado em Salto-SP.
25
empreendimentos agrícolas e parte de sua produção serviu de base para as expedições que
se dirigiam ao Guairá. Talvez isto tenha dado impulso à criação de uma relativa estrutura
agrária em Itu.”7
Durante o século XVII, Itu apresentou um crescimento populacional considerável,
obtendo os títulos de capela curada (1644), freguesia (1653) e vila (1657).8 Em
contrapartida, apresentou um desenvolvimento econômico “incipiente, tendo na atividade
de subsistência a única forma de vida.”9 Esta passagem do livro de Eni de Mesquita Samara
nos remete à discussão da penúria paulista.
A questão da pobreza, decadência e esvaziamento demográfico da Capitania de São
Paulo entre os séculos XVII e XVIII, período de grande produção aurífera em Minas Gerais
não é o foco da investigação, embora seja extremamente interessante considerá-la. Como
apontam as pesquisas de Silvana Godoy e de Milena Maranho, faz-se necessário
problematizar as imagens de pobreza e decadência de São Paulo cristalizadas ao longo do
tempo.10
Através de um estudo pormenorizado nos inventários dos moradores do Planalto de
Piratininga, Maranho apresentou um universo complexo: a percepção de uma riqueza
aparente enquanto se observa os bens arrolados era desfeita no momento em que se
listavam as dívidas, e os bens muitas vezes eram insuficientes para quitá-las. Também
significativo era o papel do crédito naquela sociedade, pois para o indivíduo sem cabedais,
as boas relações com pessoas ou famílias já estabelecidas era o meio pelo qual obtinha
crédito.
7 GODOY, Silvana Alves de. Itu e Araritaguaba na rota das monções (1718 a 1838). 2002. 239 f. Dissertação
(Mestrado em História Econômica). Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Campinas.
2002 p. 50 8 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu: histórico da sua fundação e dos seus principais monumentos.
Itu: Ottoni Editora, 2000b. Volume 3, p. 10 9 SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura Canavieira, trabalho livre e cotidiano. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2005. p. 68 10 GODOY, Silvana Alves de. Itu e Araritaguaba... p. 6 – 34; MARANHO, Milena Fernandes. A opulência relativizada: níveis de vida em São Paulo do século XVII (1648 – 1682). Bauru, SP: EDUSP, 2010. p. 37 –
62.
26
Godoy apontou para as relações comerciais de abastecimento das regiões
mineradoras (Minas Gerais e Cuiabá), interligando diversas localidades, contrapondo a
ideia de que a prosperidade econômica de um local necessariamente diminui ou afeta outra
região. Maria Aparecida de Menezes Borrego também questionou essa estagnação, pois
São Paulo segundo afirmam vários estudos, passava por “um momento de dinamização do
processo de mercantilização, que já vinha se desenvolvendo desde as últimas décadas do
século anterior.”11
A região com maior produção açucareira entre a segunda metade do século XVIII e
início do século XIX, era compreendida entre Mogi-Guaçu, Jundiaí, Porto Feliz e
Piracicaba, denominada por Caio Prado Júnior como Quadrilátero do Açúcar12
. Teresa
Petrone reformulou o quadrilátero, substituindo Porto Feliz por Sorocaba, “pois em
Sorocaba o cultivo da cana-de-açúcar ainda teve relativa importância e, porque, dessa
maneira, Itu, importantíssimo centro canavieiro e outras áreas produtoras de açúcar foram
decididamente enquadrados.” 13
Com base na documentação censitária, Petrone contabilizou a produção açucareira e
o número de engenhos ituanos para alguns anos. Em 1798 havia 107 engenhos, um ano
depois, 113 e em 1803, 130 engenhos. A produção de açúcar em arrobas cresceu nos
últimos anos do século XVIII, estabilizou na casa de sessenta mil arrobas entre 1800 e
1801. Aumentou consideravelmente entre 1803 e 1808, alcançando neste último ano oitenta
e uma mil e duzentas arrobas, e finalmente a produção caiu consideravelmente entre 1809 e
1810, de setenta mil para vinte mil arrobas.14
Os anos referentes às décadas de 1750, 1760,
1770 e 1780 carecem de documentação de forma geral, devido à irregularidade da
realização dos censos.
11 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo Colonial
(1711 – 1765). São Paulo: Alameda, 2010. p. 24. 12 PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Brasiliense: Publifolha, 2000.
p. 75 13
PETRONE, Maria Teresa S. A lavoura canavieira... p. 24. 14 PETRONE, Maria Teresa S. A lavoura canavieira... p. 44.
27
Pablo Oller Mont Serrath com base em documentação do Arquivo Histórico
Ultramarino complementou os dados de Petrone alusivos à produção canavieira da região
serra acima entre os anos de 1793 e 1799, também com o número de escravos.15
Apesar de
contarmos com poucos dados disponíveis, podemos ter uma ideia geral da produção
agrícola da região. Entre os anos finais do século XVIII e a primeira década do século XIX,
observamos um ligeiro crescimento tanto no número de engenhos quanto da produção
canavieira.16
Em uma análise comparativa dos dados da vila de Itu com os de outras vilas
serra acima, como Porto Feliz, Piracicaba, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Atibaia, Cunha,
Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Taubaté, até 1802 a vila ituana liderava a
produção açucareira em número de engenhos, de escravos e em arrobas.17
De acordo com Eni de Mesquita Samara, “o açúcar constituía, na realidade, a base
econômica da região de Itu e grande parte da população tinha suas atividades vinculadas à
produção e comércio desse produto.” 18
Em relação à Capitania de São Paulo, Carlos
Bacellar destacou uma mudança socioeconômica significativa durante o século XVIII. Para
o autor,
o predomínio absoluto da economia de subsistência, itinerante e de trabalho
familiar, cedera espaço a uma economia de lavoura para exportação,
monocultora, estável e de trabalho escravo. Novas formas de poder pessoal são
firmadas, não mais na disponibilidade de índios em flechas, mas sim na posse de
escravos a trabalhar na lavoura.19
A produção açucareira desenvolvida na vila ituana vinculou-se a uma linha de ação
empreendida pela administração imperial lusitana, que em posse de um vasto império
ultramarino, estava comprometida com a defesa dos territórios mais ao sul da América,
garantindo sua propriedade frente às investidas espanholas, e de viabilidade econômica da
15 MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas & Conflitos na São Paulo restaurada. Formação e Consolidação
da Agricultura Exportadora (1765-1802). 2007. 316f. Dissertação (Mestrado em História Econômica).
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007. p. 249. 16 PETRONE, Maria Teresa S. A lavoura canavieira... p. 44; MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas &
Conflitos... p. 249. 17 MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas & Conflitos... p. 249. 18 SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura Canavieira... p. 72 19 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra: família e sistema sucessório entre os senhores de engenho do Oeste paulista, 1765 – 1855. Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp, 1997.
p. 28.
28
capitania de São Paulo, restaurada no ano de 1765. O declínio da atividade aurífera também
ajudou a impulsionar a agricultura como alternativa à mineração.
Considerando a vila de Itu entre os anos de 1765 e 1808, ressaltamos sua
importância na consolidação da atividade econômica mais rentável, o açúcar voltado à
exportação, mas também a vila destacou-se como um entreposto comercial entre o litoral e
localidades mais ao interior, além de atuar como uma importante unidade administrativa
imperial, pois sua jurisdição compreendia boa parte do estado paulista, chegando até a
região sul, em Curitiba.20
Os casos de indivíduos contemplados em nosso universo de análise elucidam essa
transição das atividades econômicas e também a diversificação: muitas famílias atuavam na
produção, no transporte e na venda de produtos. O açúcar era o principal elemento da
economia paulista e ituana, mas não era o único. Outras atividades desenvolviam-se
complementando a produção açucareira, como o comércio, por exemplo.
Considerando a riqueza que o açúcar proporcionou, nosso objetivo geral é averiguar
a composição material dessa localidade no momento em que prosperava, e de forma mais
específica, na aparência: quais as diferenças e distinções sociais e econômicas teriam
ocorrido no visual, se o enriquecimento fazia-se perceber através das vestes, ou era
aplicado nas unidades produtivas ou nas residências. A compreensão do espaço nos
possibilita entender melhor o local no qual as pessoas pesquisadas viveram,
desempenharam suas atividades e faleceram.
De acordo com Amílcar Torrão Filho, a cidade é “um local privilegiado para
observarem-se as relações de força que se estabelecem numa dada sociedade.”21
A análise
das vestimentas em Itu, portanto, seria incompleta sem a devida contextualização e
problematização da vila e dos indivíduos que a habitavam.
20 Em 1811 a vila de Itu foi elevada à categoria de cabeça de comarca, a terceira da Capitania de São Paulo.
Cf. NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu: histórico da sua fundação e dos seus principais monumentos. Itu:
Ottoni Editora, 2000a. Volume 1, p. 57. 21 TORRÃO FILHO, Amílcar. Paradigma do caos ou cidade da conversão?: a cidade colonial na América
portuguesa e o caso da São Paulo na administração do Morgado de Mateus (1765-1775) 2004. 338 f. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas.
Campinas. 2004. p. 17
29
Sobre o perímetro de Itu em 1765, Francisco Nardy Filho apontou que
o Convento carmelita e o Franciscano marcavam seus extremos. Além das terras
do quintal do Carmo, estendiam-se os campos do Pirapitingui; após o cercado dos
Franciscanos era já o carrascal; do pátio do Convento Franciscano e, como em
continuação à sua direita, seguia o caminho de Araritaguaba.22
Ainda nesta data, “contava a vila 658 fogos, sua população era de 3988 habitantes
assim dividida: livres, 2758, sendo 1361 homens e 1397 mulheres; escravos, 1230, sendo
640 homens e 590 mulheres.”23
Segundo João Walter Toscano, foram os primeiros
recenseamentos datados da década de 1760 que forneceram dados mais concretos sobre a
estrutura urbana de Itu, “considerada como duas áreas, vila e bairros rurais”24
.
Em cinco de outubro de 1774, o engenheiro militar José Custódio de Sá e Faria
visitou a vila de Itu, partindo anteriormente de Araçariguama e com destino à Praça de
Nossa Senhora dos Prazeres, com o objetivo de mapear os rios Tietê, Paraná e Yguatemi.25
De passagem, Sá e Faria registrou um esboço da vila de Itu, como apontou Beatriz Bueno.
Na imagem abaixo, extraída da página do diário de viagem do engenheiro, observamos com
indicação das principais construções, a região central da vila.26
22 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000e. vol. 5. p. 29. 23 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... p. 31 24 TOSCANO, João Walter. Itu/Centro Histórico. Estudos para preservação. 1981. 175 f. Dissertação
(Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo. São Paulo.1981 p. 17 25 No artigo Do borrão às aguadas: os engenheiros militares e a representação da Capitania de São Paulo,
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno disponibilizou algumas páginas completas do diário de viagem de Sá e
Faria, com as anotações de horários de partidas e chegadas, pessoas que recepcionaram a comitiva e
distâncias percorridas. O diário de Sá e Faria pertence à Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro, Cf: BUENO,
Beatriz Piccolotto Siqueira. “Do borrão às aguadas: os engenheiros militares e a representação da Capitania
de São Paulo.” In: Anais do Museu Paulista. 2009, vol.17, n.2, pp. 111-153. p. 131 - 135. 26
Esta imagem é um registro muito importante, pois carecemos de fontes iconográficas sobre a vila de Itu
nesse período.
30
Figura 1 - Figura por estimação da Vila de Itu, 1774, por José Custódio Sá e Faria.
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo, Edusp, 2001. CD-
ROM.
A figura apresenta o eixo central ligando o convento de São Francisco, à igreja do
Bom Jesus (indicada como Matriz B. Jesus), a igreja nova e a igreja do Carmo. O único
edifício não religioso indicado é a Cadeia, à esquerda. Com base no esboço de Sá e Faria e
de Toscano, Anicleide Zequini e André Santos Luigi montaram um mapa estilizado de Itu,
compreendendo a expansão da área central até a década de 1830. De acordo com Zequini e
Luigi, entre as décadas de 1780 e 1800 “o Pátio da Matriz, a rua Direita e rua da Palma,
consideradas “área nobre” passaram a concentrar edificações formadas por belas casas e
grandiosos sobrados que refletiram a afirmação de Itu como grande produtora açucareira.”27
27
ZEQUINI, Anicleide., LUIGI, André Santos. A Vila de Itu-SP no período açucareiro (1774-1840). Texto
disponível em: <http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=6941>. Acesso em 06.jan.2014.
31
Figura 2 - Mapa Estilizado da Vila de Itu em 1830, por André Santos Luigi.
Fonte: ZEQUINI, LUIGI. A Vila de Itu-SP no período açucareiro (1774-1840). Texto disponível em:
<http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=6941>.
Este mapa parte da representação feita por Toscano de Itu em 1830, onde apresenta
o crescimento do núcleo urbano, com as designações „vila velha‟ e „vila nova‟, a partir dos
registros das ruas novas nos censos.28
Observamos o núcleo mais antigo, semelhante ao de
Sá e Faria, indicado com a cor cinza. Entre as décadas de 1770 e 1830, ocorreu a expansão
a partir de ruas no entorno do traçado antigo, em cor escura. Outro aspecto importante são
as alterações indicadas em linha pontilhada que permitiram melhor circulação próximo ao
largo da Matriz. O local pontilhado indicado como alteração, próximo à cadeia foi
denominado Rua ou Beco das Casinhas, onde instalaram as casas de comércio.
28 TOSCANO, João Walter. Itu/Centro Histórico... p. 24.
32
Em visita a Itu, Auguste de Saint Hilaire descreveu a área urbana em 1819:
a cidade é estreita e muito alongada, compondo-se de algumas ruas paralelas, de
pouca largura, mas bem alinhadas, que cortam outras ruas estreitas, em geral, e
marginadas por muros de jardins. Nas ruas principais, a frente das casas é calçada
com largas pedras lisas e compactas; as demais não são calçadas, pelo que os
transeuntes afundam os pés na areia do respectivo leito. (...) Vêem-se em Itu
várias pequenas praças; mas a em que está edificada a igreja paroquial é a única
um pouco mais notável.29
Mesmo datando do final da segunda década do século XIX, a descrição do
naturalista francês nos oferece uma ideia do padrão das construções e confirma muitos dos
dados encontrados nos inventários. A praça em que se situa a igreja matriz configurava um
espaço significativo de convívio e interação social. Sobre este aspecto, o autor ressaltou
mais adiante que “nos domingos e dias de festa, Itu tem muito movimento. Nesses dias,
como já assinalei, os proprietários da vizinhança vão à cidade a fim de assistir o serviço
divino; mas, no correr da semana, as casas principais permanecem fechadas e as ruas
mantêm-se desertas.”30
Tal característica era devido à atividade canavieira, que exigia a
presença nas unidades produtivas durante a semana toda.
Segundo Toscano, na segunda metade do século XVIII, “o „poder do açúcar‟ se faz
sentir através das residências na vila (sobrados), marcados pela presença de fazendeiros e
negociantes.”31
O calçamento das ruas ocorreu na década de 1790.32
Nesta década, as
principais ruas elencadas por Toscano eram: Rua do Conselho, da Palma, Direita (Ocidental
e Oriental), das Baratas, de Santa Rita, de Santa Cruz, da Pedra, do Engenho e o beco das
Casinhas.33
A última rua, das Casinhas era o local onde ocorria o comércio. De acordo com
Saint Hilaire, “os gêneros alimentícios são vendidos em Itu, como em São Paulo, em
29 SAINT-HILAIRE, Auguste. de. Viagem à Província de São Paulo e resumo das viagens ao Brasil,
Província Cisplatina e Missões do Paraguai. São Paulo: Empresa Gráfica da “Revista dos Tribunais”:
Livraria Martins, 1940. p. 232-233. Disponível em:
<https://ia600302.us.archive.org/2/items/viagemprovinci00sainuoft/viagemprovinci00sainuoft.pdf> . Acesso
em 11.fev.2014. 30 SAINT-HILAIRE, Auguste. de. Viagem... p. 235 31 TOSCANO, João Walter. Itu/Centro Histórico... p. 21 32
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu (vol. 1) ... p. 61 33 TOSCANO, João Walter. Itu/Centro Histórico... p. 21-22
33
espécies de casinhas obscuras, que dão para uma das ruas transversais.”34
Em relação às
lojas, o viajante observou que
os habitantes abonados de Itu e dos seus arredores, tendo, por causa da colocação ou do transporte do açúcar que produzem frequentes relações com São Paulo,
nesta última cidade adquirem os objetos de que necessitam; por esse motivo, há,
em sua cidade, menos lojas do que em muitas outras de menor importância, e as
lojas que vi não são muito bem guarnecidas.35
Apesar da simplicidade das casas comerciais citadas acima, Nardy Filho apontou Itu
como centro comercial e bancário das vilas vizinhas. Em ordem de importância, São Paulo
significava comercialmente para Itu, o que esta última representava para seus termos e vilas
menores da região. Também cabe salientar que esta estrutura comercial existia desde o
século XVII, relacionada ao provimento das monções que partiam de Araritaguaba.
Para o estudo de Itu optou-se por manter a divisão encontrada nos primeiros
recenseamentos, como vila (ou área central) e bairros rurais. A região referida como „vila‟
na documentação corresponde ao núcleo antigo de ocupação demarcado pelas igrejas e seus
largos. Já os „bairros rurais‟ distanciavam-se deste núcleo central, mas ainda assim
pertenciam à vila. Ao estudar a região das minas durante o século XVIII, José Newton
Coelho Meneses definiu como “urbano, o habitante domiciliado na sede das vilas ou dos
arraiais, por menor que esses fossem. Rural é o habitante da chácara suburbana, sítio ou
fazenda.”36
Esta definição também se aplica para o período de investigação sobre a vila
ituana. Os termos da vila de Itu foram desconsiderados, pois nosso enfoque recai apenas
sobre os moradores da vila.
As regiões ou bairros rurais recorrentes na documentação são: Anhambu, Atuaú,
Apotribú, Buru, Cajuru, Caiacatinga37
, Itahim Guassú, Itahim Mirim, Pirapitingui, Pirahi,
Pouso do Bispo. Adiante, um mapa com a indicação de alguns bairros rurais.
34 SAINT-HILAIRE, Auguste. de. Viagem... p. 236. 35 SAINT-HILAIRE, Auguste. de. Viagem... p. 235. 36 MENESES, José Newton Coelho. O continente rústico: abastecimento alimentar nas Minas Gerais
setecentistas. Diamantina, MG: Maria Fumaça, 2000. p.147. 37
Saint-Hilaire designou como ribeirão de Caracatinga no corpo do texto e adiante, esclareceu: “a palavra
caracatinga designa uma espécie de cará (o inhame dos colonos franceses, dioscoréa dos botânicos). –
34
Figura 3 – Bairros rurais e área central da Vila de Itu
Fonte: Baseado em SADER, Maria Regina C. de Toledo. Evolução... s/n.
Adaptado de Maria Regina C. de Toledo Sader, o mapa aponta alguns dos bairros
rurais existentes nos séculos XVIII e XIX na vila, com a indicação em vermelho da área
central, e em azul, o Rio Tietê.38
O mapa apresenta a distribuição dos bairros rurais até o
século XIX delimitado pela atual configuração da cidade, em cor branca, sem os termos e
de toda a sua jurisdição da vila. Neste esquema, é possível observar a distância dos bairros
em relação à área urbana, o quanto a região central significava em termos espaciais da vila,
bem como o papel do Rio Tietê na delimitação de Itu. Como Sader localizou os locais na
área atual do município de Itu que compreende aproximadamente 640 quilômetros
Müller escreveu Caiacatinga.” , SAINT-HILAIRE, Auguste. de. Viagem... nota de rodapé número 423, p.
226. 38 SADER, Maria Regina C. de Toledo. Evolução da paisagem rural de Itu, num espaço de 100 anos. 1970. Mestrado (Geografia Humana). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São
Paulo, São Paulo. 1970.
35
quadrados, que está delimitado em cor branca, é possível visualizar a distribuição dos
bairros até o século XIX, sendo que alguns ainda mantêm o mesmo nome na atualidade.39
Considerando os espaços públicos que possibilitavam a convivência, destacamos as
igrejas e as praças ou largos. Para Maurício Maiolo Lopes, “desde os primórdios do período
colonial as praças sempre se configuraram como um prolongamento da igreja (...), uma
continuação de seu adro”40
. Portanto, os largos eram espaços de encontro e sociabilidade
antes e depois da realização das celebrações religiosas nas igrejas.
Em Itu quatro largos destacavam-se: o do Bom Jesus, do Carmo, da igreja Matriz e
o de São Francisco. O primeiro, o Largo do Bom Jesus (atual Praça Padre Anchieta) é o
mais antigo, pois remonta à fundação da capela construída por Domingos Fernandes em
1610.41
Com a construção da nova igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária em seu local
atual, a igreja do Bom Jesus foi reparada na década de 1760 e recebeu ampliações e
melhoramentos até 1800, especialmente no período em que a família Costa Aranha esteve
na tesouraria desta igreja.42
Segundo Lopes, a Igreja do Carmo, datada da década de 172043
não recebeu
reformas significativas durante o século XIX, diferentemente do seu largo, que foi cuidado
com o plantio das palmeiras imperiais Roystonea oleracea, no segundo quartel do século
XIX.44
Ainda de acordo com Lopes, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e sua
praça, foram as mais modificadas durante o século XIX.45
Originalmente a Igreja Matriz
situava-se onde hoje se encontra a Igreja do Bom Jesus. A Matriz atual foi inaugurada em
1780, defronte a Praça Padre Miguel.
39 Informação disponível em: < http://www.itu.sp.gov.br/?area=1>. Acesso em: 17.nov.2014. 40 LOPES, Maurício Maiolo. As faces da modernidade: arquitetura religiosa na reforma urbana de Itu (1873-
1916). 2009. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 69. 41 LOPES, Maurício Maiolo. As faces da modernidade... p. 72 42 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu... (vol. 1) p. 78. 43 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu... (vol. 1) p. 111 – 114. 44 Maurício Maiolo. As faces da modernidade... p. 76-78; D'Elboux, Roseli Maria. Uma promenade nos
trópicos: os barões do café sob as palmeiras-imperiais, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Anais do Museu
Paulista. 2006, 14 (julho-dezembro). Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27314207> . Acesso em: 25.mar. 2014. 45 Maurício Maiolo. As faces da modernidade... p. 79 – 81.
36
O Largo de São Francisco era composto por uma igreja, um convento e um cruzeiro
em sua entrada. Segundo Nardy Filho, a igreja foi construída entre 1793 e 1802.46
Em
1907, um incêndio destruiu a igreja e demais edificações dos franciscanos. A aquarela de
1845, de autoria de Miguel Dutra, pertencente ao acervo do Museu Republicano Convenção
de Itu/USP. Na aquarela, Dutra retratou o conjunto de edificações franciscanas, cujo único
remanescente é o cruzeiro.
Figura 4 - Largo de São Francisco, Miguel Dutra, 1845
Fonte: BARDI, Pietro Maria. Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista. (Itu, 1810- Piracicaba,
1875). São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1981. p. 49.47
Essas quatro igrejas (com seus respectivos largos) delimitaram a região central da
vila de Itu até aproximadamente a década de 1830. São importantes referências, pois dentro
dos limites destes templos que a vila se formou, sendo possível observar nos mapas de Sá e
46
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu... (vol. 1) p. 92. 47 Largo de São Francisco, 1845. Aquarela sobre papel, 19x 27,5cm.
37
Faria e no seguinte, apresentando as modificações operadas entre 1770 e 1830, com a
abertura da rua das casinhas.48
Entre os séculos XVIII e XIX, os espaços de sociabilidade nas vilas da América
Portuguesa eram as igrejas, durante as celebrações, as ruas, especialmente em ocasiões
festivas e, por fim, as praças e os largos. Conforme apontou a historiadora Leila Mezan
Algranti, nos momentos de celebrações, “participavam das festividades não apenas os
moradores do núcleo urbano, mas também aqueles dos sítios e fazendas dos arredores e até
mesmo de lugares mais distantes, que possuíam casas nas cidades.”49
As questões
relacionadas à configuração urbana de Itu, como o processo de crescimento, os
melhoramentos ocorridos no núcleo central, são importantes para a compreensão dos
espaços de sociabilidade na vila, pois fornecem indícios sobre os locais onde as pessoas
exibiam suas roupas de trabalho, de festa, ou do cotidiano.
São nestes espaços de interação social que o indivíduo deveria “adquirir, defender
ou ampliar o papel social que a comunidade podia tolerar.”50
Para a pesquisadora Vera
Ferlini as festas na América Portuguesa “permitiam o encontro, a visibilidade, a coesão
dentro de comemorações que recriavam os padrões metropolitanos, dando a identidade
desejada, trazendo o descanso, os prazeres e a alegria e introjetando valores e normas da
vida em grupo”.51
As festas eram celebrações relacionadas ao calendário religioso e à
efemérides ligadas ao poder do Estado, como afirmou José Ramos Tinhorão.52
Em um importante trabalho já realizado sobre a população da vila de Itu a partir dos
maços de população, Eni de Mesquita Samara compilou os dados das principais listas
48 Cf. linha pontilhada ao lado da Cadeia, figuras 1 e 2. 49 ALGRANTI, Leila Mezan. “Famílias e vida doméstica”. In: SOUZA, Laura de Mello e. História da Vida
Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. Fernando A. Novais (coord). São Paulo:
Companhia das Letras, 1997. volume 1. p. 113. 50 ARIÈS, Philippe. “Por uma história da vida privada”. In: História da vida privada 3: da Renascença ao
Século das Luzes. Organização Philippe Ariès e Roger Chartier. São Paulo. Companhia das Letras, 1991, p. 9. 51 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. “Folguedos, feiras e feriados: aspectos socioeconômicos das festas no
mundo dos engenhos.” In: IANCSÓ, Istvan. e KANTOR, Íris. (orgs.) Festa: Cultura e Sociabilidade na
América Portuguesa. São Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial,
2001. vol. I e II. (Coleção Estante USP – Brasil 500 Anos; v. 3). vol. II. p. 450. 52 TINHORÃO, José Ramos. As festas no Brasil colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000. p. 7.
38
nominativas, indicando os dados por companhias. A seguir, reunimos a partir das tabelas de
Samara os totais por fogos e habitantes gerais entre o final do século XVIII e início do XIX.
Tabela 1. Relação entre número de fogos e habitantes da vila de Itu, 1773-1813
Ano Número de fogos Número de habitantes
1773 255 2211
1792 1317 9410
1798 894 7162
1803 1008 9411
1809 1095 9566
1813 857 5674
Fonte: SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura Canavieira... p. 79 – 90.
Os dados nos apontam um crescimento do número de habitantes considerável entre
as décadas de 1770 e 1790. Até a última década do século XVIII a vila de Itu era local de
atração populacional e, a partir da virada do século, mantêm um número médio de
habitantes, que passa a decair a partir dos anos 1810. Tal declínio populacional deve-se,
talvez, ao esgotamento das terras para a produção açucareira, região de cultivo muito
antiga, e à ereção de novas vilas que se desmembraram de Itu, como Porto Feliz, que
ganhou autonomia em 1797.53
Estes dois fatores estão relacionados à busca por novas terras
para expansão do cultivo canavieiro, rumo ao interior de São Paulo. Samara ressaltou ainda
a epidemia de varíola, que aliada à falta de médicos e recursos, atingiu uma parcela da
população entre os anos de 1798 - 1800.54
A autora também apontou outras características da população neste período. Com
base nas tabelas apresentadas por Samara, é possível acompanhar a relação entre livres,
escravos, forros e agregados. Entre 1773 e 1829, por cinco vezes nos censos, o número de
53
SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura canavieira... p. 104. 54 SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura canavieira... p. 105.
39
escravos ultrapassou o de livres: 1803, 1809, 1818, 1822 e 1829.55
Samara notou a presença
de agregados em maior número em domicílios na região central da vila de Itu, ao invés de
estarem nas fazendas ou unidades produtivas. A autora apontou também o grande número
de escravos empregados na lavoura o motivo da baixa incidência de mão de obra livre nos
trabalhos agrícolas.56
Cruzando as informações levantadas sobre os indivíduos contemplados em nossa
amostra tanto na documentação censitária, genealógica quanto na cartorária, foi possível
observar em alguns casos a ocupação e a posse de títulos de organizações militares.
De acordo com Ana Paula Pereira Costa, “a estrutura militar lusitana, que se
transferiu para o Brasil, se dividia em três tipos específicos de força: os Corpos Regulares
(conhecidos também por Tropa Paga ou de Linha), as Milícias ou Corpo de Auxiliares e as
Ordenanças ou Corpos Irregulares.”57
Os Corpos Regulares “constituíam-se no exército
„profissional‟ português, sendo a única força paga pela Fazenda Real.”58
As Milícias ou
Corpo de Auxiliares “eram de serviço não remunerado e obrigatório para os civis
constituindo-se em forças deslocáveis que prestavam serviço de apoio às Tropas Pagas.”59
E por final, os Corpos de Ordenanças, que recrutava os habitantes entre 18 e 60 anos, não
recebiam soldo nem instrução militar sistemática. Eram organizados em terços que se
dividiam em companhias.60
As Ordenanças ou Corpos Irregulares atuavam em âmbito local, cuja hierarquia (em
ordem decrescente) era: capitão, alferes, sargento, cabo e soldado. As Tropas Auxiliares
também atuavam primeiramente na localidade. Ao avaliar as ocorrências dos títulos
militares no universo da vila dentre os registros dos censos, acreditamos que a grande
55 SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura canavieira... p. 108. 56 SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura canavieira... p. 97. 57 COSTA, Ana Paula Pereira. „Organização militar, poder de mando e mobilização de escravos armados
nas conquistas: a atuação dos Corpos de Ordenanças em Minas colonial.‟ In: Revista de História Regional
11(2): 109-162, Inverno, 2006. p. 111. Disponível em:
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/2233/1715> . Acesso em 26.mar. 2014.
Para informações mais detalhadas sobre as hiearquias militares, consulte PEREIRA FILHO, Jorge da Cunha.
Tropas militares luso-brasileiras nos séculos XVIII e XIX. Disponível em:
<http://buratto.org/gens/gn_tropas.html> . Acesso em 26.mar.2014. 58 COSTA, Ana Paula Pereira. „Organização militar, poder de mando... p. 111. 59
COSTA, Ana Paula Pereira. „Organização militar, poder de mando... p. 111. 60 COSTA, Ana Paula Pereira. „Organização militar, poder de mando... p. 112 – 113.
40
maioria dos cargos ou títulos encontrados para os ituanos eram dos dois últimos tipos de
organização militar, as Tropas Auxiliares e as Ordenanças.61
Os inventariados que
possuíam títulos militares, viviam de seu trabalho na lavoura, no comércio e da criação de
animais, o que demonstra sua importância simbólica, mais do que um recurso financeiro.
Dentre os títulos encontrados, estão os de alferes, capitão, sargento, soldado e tenente.
Através dos censos e dos inventários, foi possível notar a ascensão de dois soldados
para alferes: no caso de Antônio Antunes Pereira e Manoel Álvares Lima62
. Ambos subiram
três postos acima na estrutura militar. Enquanto Manoel declarou possuir lavoura (sem
especificar de qual gênero), Antônio, possuía como primeira ocupação viver de negócio de
fazenda seca.
Salvador Jorge Velho foi identificado na documentação censitária como capitão-
mor. Em 1766, só mencionou este cargo nas ocupações e, como atividade, declarou “viver
em favor”. Anos mais tarde, em 1775, consta a função de capitão-mor e que vivia de terras
e plantações.
Dos capitães localizados na amostra, todos possuíam outras ocupações e atividades:
lavoura, negócio de fazenda seca e senhor de engenho. Como soldados, encontramos as
seguintes descrições: soldado, soldado pé, soldado auxiliar pé e soldado cavalo. Em todos
os registros deste cargo, os homens elencaram lavoura ou planta/colhe/cria como ocupação
e atividade.
Considerando que o ganho monetário (soldo) não era o motivo do desempenho
dessas funções militares, e que apesar do alistamento compulsório muitos conseguiam fugir
à obrigação militar (a principal razão de o primeiro recenseamento existir), a atuação destes
homens deve ser observada dentro de uma perspectiva que explore o significado simbólico
e social do pertencimento a essa organização, pois
61 De acordo com Pereira Filho, “no Brasil, as Ordenanças eram organizadas em cada Vila ou Cidade, aí se
incluindo seus Arraiais e Povoados, sendo seus comandantes responsáveis diretos pela defesa local,
inicialmente escolhidos pelas Câmaras, tinham o título de Capitão-Mor, posto que corresponde hoje
aproximadamente ao de "Coronel". Seu substituto imediato era o Sargento-Mor, ou Sargento-Mayor, de que
se originou o atual posto de "Major". Mais tarde, a partir de 1709, ambos os postos passaram a ser por
nomeação privativa do Governador e Capitão General.”Cf. PEREIRA FILHO, Jorge da Cunha. Tropas
militares luso-brasileiras nos séculos XVIII e XIX. Disponível em: <http://buratto.org/gens/gn_tropas.html> . Acesso em 26.mar.2014. 62 Maços de População de São Paulo, 1765 – 1850. Vila de Itu. Arquivo Público do Estado de São Paulo.
41
pode-se dizer que os privilégios da ocupação de um posto nas Ordenanças não
representavam diretamente ganhos monetários – o que representava para a Coroa
uma economia em ganhos diretos com a administração – mas, sim, produção ou
reprodução de prestígio e posição de comando, bens não negligenciáveis no
Antigo Regime, bem como isenções de impostos e outros privilégios.63
O pertencimento a uma organização militar implicava na responsabilidade de servir
em nome da Coroa, já que era um “importante componente da administração lusa na
colônia, pois levavam a ordem legal e administrativa da Coroa para os lugares mais
longínquos de seu vasto Império”.64
Demandava a confecção das fardas e posse dos animais
a custo do próprio militar, mas como apontado por Costa na citação acima transcrita,
funcionava como elemento de distinção muito eficiente.65
De acordo com Christiane
Figueiredo Pagano de Mello, a partir da segunda metade do século XVIII, os Corpos de
Ordenanças e os de Auxiliares, tornaram-se “centros de poder local privilegiados.”66
A análise das ocupações nos maços de população aponta que treze indivíduos
declararam desenvolver duas atividades coincidentemente: lavoura e sacerdócio, negócios e
lavoura, negócios e militar, e o perfil lavoura e militar em sete casos. Entre os que
mencionaram apenas uma ocupação, sete pessoas desenvolviam apenas lavoura, temos seis
senhores de engenho, um capitão-mor, um ferreiro e uma costureira, entre os quarenta e
quatro indivíduos da amostra ituana.
Na sociedade colonial a posse de um engenho era um diferenciador social
importante. Segundo Carlos Bacellar, apenas
um restrito grupo de domicílios caracterizou-se por conseguir ascender à posse de
um engenho e de um plantel de escravos, diferenciando-se do grosso dos
domicílios que permaneciam em seu dia-a-dia de subsistência. Nos
recenseamentos, estes domicílios passaram a ter seus chefes denominados
Senhores de Engenho, e suas esposas também caracteristicamente tratadas por
“Donas”.67
63 COSTA, Ana Paula Pereira. „Organização militar, poder de mando... p. 118. 64 COSTA, Ana Paula Pereira. “Organização militar, poder local e autoridade nas conquistas: considerações
acerca da atuação dos corpos de ordenanças no contexto do império português”. Disponível
em:<http://www.revistatemalivre.com/militar12.html>. Acesso em 26.03.2014. 65 Trataremos das fardas de forma mais aprofundada no segundo capítulo. 66 MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. Forças militares no Brasil Colônia: corpos de auxiliares e de ordenanças na segunda metade do século XVIII. Rio de Janeiro: E-papers, 2009. p. 59. 67 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra... p. 28.
42
Entre os indivíduos de nossa amostra constam nos censos sete senhores de engenho
referenciados na primeira ocupação, sendo uma mulher, Ana Leite Gularte, viúva; um
padre e um tenente agregado no regimento da cavalaria ligeira.68
Destes sete senhores de
engenho, todos possuíam escravos (em quantidades bem distintas, de 9 a 36 cativos), três
tinham agregados e cinco afirmaram plantar mantimentos. Todos declararam a produção de
açúcar, quantificando cada tipo: fino, redondo e mascavo e, por fim, quatro pessoas
mencionaram a produção de aguardente69
. Esses dados nos fornecem uma ideia da
produção agrícola de cada domicílio recenseado de nossos inventariados.70
Sobre a produção açucareira, a média do açúcar total produzido e declarado nos
censos foi de 332 arrobas entre os sete senhores de engenho. A menor produção, de 100
arrobas, pertencia a José Manoel Caldeira Machado, que possuía nove escravos. Caldeira
Machado declarou também ser criador de gado, além de possuir o título de tenente acima
mencionado. Já a maior produção, de 800 arrobas, era de José do Amaral Gurgel em 1803,
sendo 700 de açúcar fino, 80 do redondo e 20 de mascavo. Deixou 20 arrobas de açúcar
fino para consumo próprio e possuía um plantel de trinta e seis escravos, além de três
agregados.
Conforme Bacellar, as esposas dos senhores de engenho eram denominadas donas.
Sobre o papel da dona na sociedade colonial, Eliana Rea Goldschmidt ressaltou que
“significava o ápice em termos de prestígio feminino na sociedade colonial, era
representante dos ideais da nobreza entre os quais estavam a ociosidade e a reclusão.”71
Em
relação à origem dessas donas, Aline Antunes Zanatta constatou que a “nobreza” poderia
ter sido herdada de seus pais, ou mesmo a mulher vinha de “um grupo não nobre que
68 AESP. Maços de População de São Paulo, 1765 – 1850. Vila de Itu. 69 Açúcar fino era o de melhor qualidade, retirado da parte superior da forma denominada pão de açúcar. O
açúcar redondo era branco, de menor qualidade em relação ao fino, era retirado da parte intermediária da
forma. E por fim, o mascavo era de qualidade inferior, mais escuro e com resíduos de mel por situar-se no
fundo da forma. 70 Utilizamos essas informações com cautela, pois sabemos que toda documentação com indicadores de
qualquer elemento relacionado à declaração de produção ou bens era comumente modificada a fim de burlar
os impostos. 71
GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. “Famílias Paulistanas e os casamentos consangüíneos de „donas‟, no
período colonial”. Anais da 17º Reunião da S.B.P.H. São Paulo, 1997. p.151.
43
conseguiu ascender economicamente e que, consequentemente, adquiriu prestígio.” 72
Portanto,
a riqueza era apenas um dos critérios possíveis para a obtenção de nobreza, mas não uma categoria estática de definição das “Donas” paulistas, pois muitas destas
mulheres poderiam ter empobrecido e continuarem sendo identificadas como
“donas” pela sociedade em que viviam.73
Em nossa pesquisa, nos deparamos com cinco donas, todas esposas de chefes de
domicílios. Duas eram esposas de senhor de engenho, três de homens com títulos militares,
sendo que um deles era tenente agregado no regimento da cavalaria ligeira e senhor de
engenho, José Manoel Caldeira Machado. Dentre a primeira ocupação dos maridos estão as
de capitão-mor, dois senhores de engenho, lavoura, planta cana e planta/colhe/cria.74
De
todos os inventários (quarenta e quatro), apenas um casal não possuía escravos. O espólio
mais humilde destes casais era o de José Fiusa e de Dona Francisca Xavier da Fonseca,
avaliado em 446$780 (quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta réis), sem
nenhum escravo, nem canavial, e apenas um sítio arrolado.75
Dois casais apresentaram uma faixa econômica semelhante: o Capitão-mor Salvador
Jorge Velho e Dona Maria da Silva Franco, em 2:345$441 (dois contos, trezentos e
quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um réis) e o Tenente José Manoel Caldeira
Machado e Dona Maria D‟Assunção Camargo, em 2:517$240 (cinco contos, quinhentos e
dezessete mil, duzentos e quarenta réis). Ambos não possuíam canaviais.
O casal José do Amaral Gurgel, senhor de engenho e Dona Gertrudes de Campos é
o mais abastado da amostragem. Em 1806, o espólio final foi avaliado em 19:005$450
(dezenove contos, cinco mil, quatrocentos e cinquenta réis), o maior valor encontrado
dentre as pessoas investigadas.76
72 ZANATTA, Aline Antunes. Justiça e representações femininas: o divórcio entre a elite paulista (1765 –
1822). 2005. 213f. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
Universidade Estadual de Campinas. Campinas. p. 38. 73 ZANATTA, Aline Antunes. Justiça e representações... p. 38 74 AESP. Maços de População de São Paulo, 1765 – 1850. Vila de Itu. 75 AESP. Maços de População de São Paulo, 1765 – 1850. Vila de Itu. 76 O casal possuía 6:823$490 (seis contos, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa réis) em dívidas passivas, o que resultava na quantia de 12:181$960 (doze contos, cento e oitenta e um mil, novecentos
e sessenta réis) líquido para a partilha.
44
A análise das fortunas e fazendas mais humildes (tendo como critério possuir roupas
arroladas nos bens do inventário póstumo) confirma o local de destaque que os senhores de
engenho e as donas ocupavam entre os demais, através da riqueza acumulada, da rede
familiar e econômica à qual pertenciam, bem como pela ocupação de cargos importantes,
como apontados acima.
Durante a colonização, como observou Françoise Souza, a Igreja foi a única
instituição a se estabelecer “com bastante eficácia desde os âmbitos mais humildes,
cotidianos e imediatos, como as famílias e as comunidades, até ao âmbito internacional, em
que convivia com os poderes dos reis e imperadores.”77
A Igreja desempenhava um papel importantíssimo na América Portuguesa, atuando
conjuntamente à Coroa. Sílvia Lara destacou que “a associação entre a estrutura eclesiástica
e o poder, além de ser constitutiva da sociedade portuguesa no Antigo Regime, marcava e
mesmo ordenava a vida nos núcleos urbanos coloniais.”78
O papel e a atuação dos
religiosos nos domínios coloniais excedia às tarefas e atribuições usuais, tendo influência
nos setores administrativos, políticos e na educação da população. Desta forma, pertencer
ao quadro eclesiástico denotava distinção.
Temos dois religiosos entre nossos inventariados: Manoel da Costa Aranha e
Antônio Francisco da Luz. Ambos possuíam terras dedicadas à agricultura, além do
sacerdócio. Antônio declarou-se senhor de engenho em 1800. Além disso, era proprietário
de trinta e quatro escravos, com um total de trezentos e quarenta e cinco arrobas de açúcar
produzido. Já Manoel declarou possuir lavoura nos anos de 1773 e 1775, mas não informou
qual gênero de produto cultivava.79
Os espólios finais desses dois sacerdotes são parecidos: o de Manoel somando
7:388$279 (sete contos, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e nove réis) e o de
Antônio contando com 8:614$430 (oito contos, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e
77 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Do altar à tribuna: os padres políticos na formação do Estado
Nacional brasileiro (1823 – 1841). 2010. 438 f. Tese (Doutorado) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2010. p. 42 78 LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 58. 79
AESP. Maços de População de São Paulo, 1765 – 1850. Vila de Itu.
45
trinta réis). A comparação entre a composição dos bens de maneira geral (as posses por
categorias) também são muito semelhantes.
De acordo com Françoise Souza, em relação aos vencimentos que os sacerdotes
recebiam, as côngruas variavam muito, entre oitenta e duzentos mil réis.80
Segundo a
mesma autora, “os religiosos completavam suas rendas cobrando taxas no exercício do
ministério, como as conhecenças e pé-de-altar.”81
Ao levar em conta o valor dos espólios dos sacerdotes, os bens relacionados como
as declarações de posse de lavoura e do título de senhor de engenho, supomos que a maior
parte da riqueza acumulada pelos sacerdotes não fosse originária dos serviços religiosos.
Ao se referir aos estabelecimentos comerciais da vila de Itu no século XVIII, Nardy
Filho relatou que
importantes casas ali se estabeleceram, entre as quais era a mais importante a do
bracarense Francisco Novaes de Magalhães, que atendia aos lavradores de Itu e
vilas vizinhas fornecendo-lhes os gêneros de que necessitavam e até dinheiro para
o custeio de suas lavouras, cujos pagamentos lhe eram feitos após as colheitas em
moedas.82
Já Maria Aparecida de Menezes Borrego, em tese dedicada à atuação dos
comerciantes em São Paulo, na primeira metade do século XVIII, destacou um aspecto
importante em relação ao perfil dos homens de negócios: a atividade comercial era
considerada inferior e relacionada aos ofícios mecânicos, situação que afetava a nobilitação
do indivíduo. No entanto, muitos portugueses recém-chegados adotaram tais ocupações,
sem quaisquer reservas. 83
Quanto às estratégias de concentração e transmissão da riqueza em famílias do oeste
paulista através dos arranjos matrimoniais, Carlos Bacellar ressaltou que apesar da
preferência por uniões sanguíneas, matrimônios entre pessoas externas ao grupo familiar ou
próximo, ocorriam visando alianças economicamente vantajosas.84
Dentro desta
perspectiva, é possível compreender a presença de agentes mercantis nos laços
80 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Do altar à tribuna... p. 52. 81 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Do altar à tribuna... p. 52-53. 82 NARDY FILHO, Francisco „Evolução da cidade de Itu‟. In: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr.,
1957. p. 6. 83
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil... p. 43. 84 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra... p. 89 – 98.
46
matrimoniais de famílias tradicionais de elite no oeste paulista como uma estratégia do pai -
e senhor de engenho em incrementar seus negócios ao incluir em seu círculo familiar um
negociador ou intermediário português, facilitando assim a venda/exportação de sua
produção.
Entre nossos inventariados, encontramos um comerciante de naturalidade
portuguesa muito atuante na vila de Itu, Francisco Novaes de Magalhães, como comentado
a pouco, Nardy Filho menciona-o como o proprietário da casa comercial mais importante
da vila.85
De Francisco Novaes de Magalhães não temos seu inventário. Contamos apenas
com as contas de testamento e seu testamento. No rol de bens de 1779, são declarados dois
sítios, um com criação de gado em Itahu e outro em Anhambú. Nos censos, entre os anos de
1765 e 1808, Francisco apareceu em quatro deles: 1766, 1773, 1775 e 1776 e sempre
constou como suas ocupações negócio/loja ou negócio de fazenda seca e lavoura.86
Sobre o
comércio, Nardy Filho afirmou que “existia também por esse tempo em Itu, um outro bazar
de propriedade de José Gonçalves de Barros, (...) porém não era tão importante e de grande
movimento como o de Novaes de Magalhães.”87
Entre os bens arrolados no inventário de José Gonçalves de Barros, datado de 1779,
consta um item denominado „Fazenda da Loja‟ sucintamente descrita como “uma receita da
loja” avaliada em 297$010 (duzentos e noventa e sete mil e dez réis), além de trinta e duas
arrobas de açúcar alvo a 25$600 (vinte e cinco mil e seiscentos réis).88
Nos censos da vila
de Itu, referentes ao período estudado, Barros declarou desempenhar como ocupação
negócio de fazenda seca em dois anos (1766 e 1773), lavoura (1775), planta/colhe/cria
(1776) sendo sua produção agrícola de milho e feijão. No último ano em que ele aparece
nos censos, declarou possuir “cinco cavalos com que trabalha no caminho de Santos.”
Barros nunca foi mencionado como proprietário de cativos nos censos, mas em seu
inventário datado de 1779, isto é, três anos após aparecer no recenseamento, foram
85 NARDY FILHO, Francisco. Evolução... p. 6. 86 AESP. Maços de População de São Paulo, 1765 – 1850. Vila de Itu. Observação: no terceiro capítulo
realizaremos uma análise mais apurada de Francisco Novaes de Magalhães. 87
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.3) p. 224 88 ARQ/MRCI. Inventário de José Gonçalves Barros, vila de Itu – 1779, caixa 10. p. 7 verso.
47
avaliados doze escravos no valor total de 860$600 (oitocentos e sessenta mil e seiscentos
réis).
Ao analisar as ocupações e atividades desenvolvidas pelos habitantes da vila de Itu
notamos uma importante questão: a relação que praticamente todos os indivíduos de nossa
amostragem tinham com a agricultura, pois quando não estavam ligados à lavoura
canavieira, dedicavam-se aos mantimentos necessários à subsistência.89
Realizamos uma
análise mais detalhada das trajetórias e fortunas dos indivíduos no terceiro capítulo.
Nos inventários póstumos e nos testamentos nos chamou atenção o pertencimento
dos indivíduos às ordens terceiras. Nos casos estudados, não encontramos nenhuma menção
às confrarias ou irmandades, apenas às ordens terceiras.90
Apenas duas ordens terceiras são mencionadas na documentação: a de São
Francisco e a do Carmo.91
Dos quarenta e quatro indivíduos investigados, trinta e três
(75%) não faziam menção a nenhuma ordem ou confraria; sete pertenciam à Ordem
Terceira do Carmo (15,9%) e quatro (9%) à de São Francisco. Nardy Filho atestou que a
Ordem Terceira do Carmo já existia anteriormente à construção da igreja e do convento, em
1706.92
Sobre a composição social desta última, o autor afirmou que “a essa Ordem
pertenciam as mais nobres e distintas famílias ituanas; grande era a devoção dos antigos
ituanos para com a Virgem do Monte Carmelo, o que prova o grande número de dádivas e
doações feitas aos Carmelitas.”93
89 No terceiro capítulo realizamos uma análise mais detalhada das trajetórias e fortunas dos indivíduos e suas
famílias. 90 Segundo Caio Boschi, a principal diferença entre ordens terceiras e confrarias é que “ao contrário das
confrarias, onde o objetivo é o de incrementar o culto público, as ordens terceiras são associações pias que se
preocupam, fundamentalmente, com a perfeição da vida cristã de seus membros.” BOSCHI, Caio César. Os
Leigos e o poder. Irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Editora Ática, 1986.
p. 19. 91 De acordo com Nardy Filho, existiam além das ordens terceiras de São Francisco e do Carmo, a irmandade
Nossa Senhora do Rosário, de São Miguel das Almas, de Nossa Senhora do Pilar, do Bom Jesus, de São
Benedito, da Boa Morte, da Nossa Senhora das Dores, do Santíssimo Sacramento e a de Nosso Senhor dos
Passos. NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol. 5). p. 51. 92
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.3) p. 52. 93 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 118-119.
48
Durante a primeira metade do século XVIII, a Ordem Terceira do Carmo foi
responsável pela manutenção de uma capela e de um convento que possuía “avultado
patrimônio em terras e escravatura, sendo também rica em alfaias e objetos de culto.”94
Já a Igreja atual do Carmo foi construída durante a segunda metade do século
XVIII. Sete imagens foram compradas no Rio de Janeiro, com as despesas a cargo da
Ordem Terceira95
. Realizavam junto ao Convento dos padres carmelitas, aulas de primeiras
letras e humanidades.96
Nardy Filho apontou que a tradição do Convento na instrução
continuou durante o século XIX e também a utilização de uma sala deste Convento para a
“segunda sessão do Júri da Câmara de Ytu”97
. A utilização do espaço interno do Convento
para atividades da comunidade ituana como o funcionamento da sessão da Câmara, denota
o envolvimento da elite nascente com a religião. Conforme apontou Octávio Ianni,
o poder religioso, o poder econômico e o poder político emergentes começaram a
assinalar posições e lugares. Começaram a construir-se igrejas e conventos que
expressavam a sobriedade dos recursos econômicos e culturais, por um lado, e a
emergência de uma cultura aristocrática, por outro. Aliás, naqueles tempos era
bastante acentuada a presença da religião na vida das famílias da aristocracia.98
Segundo Caio Boschi, “ser membro de uma ou mais ordem terceira significava ter
acesso ao interior da nata da sociedade e trânsito facilitado nela. Significava status.
Significava imediata obtenção de privilégios, graças e indulgências. Significava estar mais
próximo do poder e ter a sua proteção.”99
Considerando os significados religiosos e simbólicos importantes para a
compreensão do período, passaremos agora à análise das doações realizadas por alguns
membros às suas igrejas, ordens, santos de devoção, vislumbrando a materialidade
envolvida na religiosidade.
Nos testamentos encontramos doações às igrejas, já realizadas ou indicadas como a
vontade do testador, para assim proceder o testamenteiro no momento da partilha.
94 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 114. 95 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 119 96 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 115 97 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 116 98
IANNI, Octavio. Uma cidade antiga... p. 22 99 BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o poder... p. 20.
49
No testamento do fundador de Itu, Domingos Fernandes, encontramos alguns dados
fundamentais. Além de erigir a capela em honra a Nossa Senhora da Candelária, deixou a
referida capela como herdeira de sua terça, e mais
alguma roupa de alfaia como sobrecéu, cortinas, toalhas, um frontal usado de
tafetá verde e amarelo, uma vestimenta, casula, alva e o mais pedra de altar,
cálice com sua patena, sanguinhos, corporais, missal usado, quatro castiçais, dois
de estanho e outros dois de latão, campainha e galhetas de cobre.100
A nomeação da capela como herdeira, bem como a designação de objetos elencados
acima, indicou a preocupação do testador em prover elementos materiais necessários para a
manutenção e funcionamento da mesma. Fernandes obteve a provisão de capela curada em
1644 e, após sua morte, em 1653, foi elevada à freguesia. Além de símbolo devocional, a
capela era o elemento tangível da autoridade administrativa obtida.
Mais adiante e repetidamente em seu testamento, Fernandes instruiu sobre a
nomeação do padroeiro da capela, a fim de dar continuidade e realizar a ampliação da
mesma.101
Finalmente, o fundador registrou que sua última vontade era ser enterrado na
dita capela e que em nenhuma situação seus restos mortais deveriam ser removidos de lá.102
Entre os inventariados do nosso estudo, encontramos em alguns dos testamentos as
doações a igrejas ituanas e da região. Essas informações são interessantes e nos auxiliam a
compreender a relação da população com a constituição das igrejas, das ordens terceiras e
também vislumbrar a formação do patrimônio religioso barroco de Itu – significativo até o
presente.
João de Mello Rego, por exemplo, terceiro do Carmo, registrou sua vontade de
deixar como doação à Capela de Santa Gertrudes, o
oratório com sete palmos de alto e quatro e meio de largo, dourado e pintado,
com as imagens seguintes: um senhor crucificado de pau, uma senhora de Boa
100 Testamento de Domingos Fernandes, datado de 12 de Dezembro de 1652. Cf. NARDY FILHO, Francisco.
A Cidade de Itu... (vol.1) p. 45. 101
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 48. 102 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 49.
50
Viagem com dois palmos, outra senhora do Carmo, Santa Bárbara, nossa senhora
da Rosa e uma imagem do menino Jesus.103
Segundo a menção do doador, seu ato visava à perpétua veneração das imagens.104
Esses dados coletados nos testamentos informam o tipo de ajuda financeira que a igreja,
irmandades e outras pessoas receberam. Auxiliam-nos a perceber quais templos estavam
em construção, reformas e melhoramentos na época de sua confecção. Sem falar nos laços
afetivos, devocionais e familiares que permeavam o testador neste momento próximo à
morte.
1.2 Os cabedais dos ituanos nos inventários póstumos
Neste tópico apresentamos primeiramente os elementos teóricos do campo da
cultura material caros à nossa pesquisa, através das proposições dos principais autores. No
segundo momento, analisamos a composição material da vila de Itu, através das categorias
de bens que utilizamos para organizar os bens arrolados nos inventários post-mortem,
apresentando os principais elementos que compunham a materialidade da vila ituana.
O campo de pesquisa da cultura material configura-se por estar em constante debate.
Ao analisarmos as publicações, grupos de pesquisa e eventos, notamos ainda o pequeno
interesse que essa área desperta. Apesar disso, trabalhos importantes surgem nos campos de
estudo da história e da antropologia. A proposta aqui não é apresentar um balanço
exaustivo das discussões sobre este campo, mas a de ilustrar as principais vertentes e
103 AESP. Autos de Contas de Testamento de João de Mello Rego, vila de Itu – 1779, caixa C00554. Juízo
dos Resíduos. p. 5. 104 AESP. Autos de Contas de Testamento de João de Mello Rego, vila de Itu – 1779, caixa C00554. Juízo
dos Resíduos. p. 9 verso.
51
indicar como tais trabalhos nos auxiliam a melhor refletir acerca do nosso objeto de
estudo105
.
O termo cultura material gera dúvidas e debates em sua tentativa de definição.
Marcelo Rede apontou que a cultura material é “a um só tempo, parte do fenômeno
histórico e fonte documental para sua compreensão.”106
Não se configura como uma
disciplina, mas mobiliza um esforço interdisciplinar para o seu estudo.
No verbete sobre Cultura Material da Enciclopédia Einaudi, de Richard Bucaille e
Jean-Marie Pesez escrito em 1989, os autores optaram por buscar o conceito através de
diversos trabalhos, aproximando e distanciando a cultura material da arqueologia, do
marxismo, dos Annales e da história da técnica. Concluem a exposição sem definir a
cultura material com segurança.107
Fernand Braudel na obra Civilização Material, Economia e Capitalismo trouxe uma
grande contribuição à história, tanto pela abordagem de novas temáticas (alimentação,
vestuário, cotidiano), como pela concepção das temporalidades. Ademais, introduziu a
dimensão material através do conceito de civilização material, que recebeu críticas nos
seguintes aspectos: o termo civilização que implicaria em hierarquias e sistema de valores
(civilizado versus incivilizado)108
; e que em sua análise faltava o domínio do simbólico.109
Em relação à interação da cultura material com a história, Marcelo Rede apontou
que “a operação historiográfica não se alterou substancialmente com a renovação do
temário; dito de outro modo, o reconhecimento da cultura material como parte essencial do
105 O balanço realizado em âmbito nacional mais recente sobre o campo da cultura material é o de Vânia
Carneiro de Carvalho. Cf . CARVALHO, Vânia Carneiro de. Cultura Material, espaço doméstico e
musealização. Vária História. (UFMG) Belo Horizonte, v. 27, p. 443 – 469, 2011. 106 REDE, Marcelo. “História a partir das coisas: tendências recentes no estudo de cultura material.” In: Anais
do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v.4 p.265-82 jan./dez. 1996. p. 266 107 BUCAILLE, Richard, PESEZ, Jean-Marie. “Cultura Material.” Enciclopédia Einaudi, Lisboa, IN-CM,
1989, vol.16 - Homo — Domesticação — Cultura Material, p.11-47. p. 43. 108 BUCAILLE, Richard, PESEZ, Jean-Marie. Cultura Material. Enciclopédia... p. 43. 109
BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografia: a Escola dos Annales ( 1929 – 1989). São Paulo:
Editora Universidade Estadual Paulista, 1991. p. 42.
52
fenômeno histórico não implicou sua inserção decisiva como documento no processo de
produção do discurso historiográfico.”110
Foi no diálogo com a antropologia que a cultura material se desenvolveu
consideravelmente. A influência da antropologia social e cultural, segundo Bucaille e Pesez
foi a de promover um conceito de cultura em âmbito coletivo.111
Elencamos o antropólogo
inglês Daniel Miller, e um grupo francês como os mais representativos do campo de cultura
material atualmente. Este último compõe-se de um grupo de trabalho reunido na
Universidade Paris V – René Descartes. Dentre vários membros, destaca-se Jean-Pierre
Warnier112
. A perspectiva de Warnier enfoca a relação entre os objetos, o corpo e as
representações mentais.113
Já o antropólogo inglês Daniel Miller possui uma postura incisiva em defesa da
cultura material, contestando cada elemento negativo que pese contra ela.
Amparado na crença religiosa da superioridade do mundo imaterial e existente há
séculos, o dualismo entre humanidade e materialidade foi apontado e questionado por
Miller em vários de seus textos. Esta seria a base para uma série de implicações contrárias à
materialidade, que culmina no repúdio completo dos objetos, ou em quem os aceita na
cultura ocidental. O aspecto interessante das religiões que menosprezam o mundo material
é o paradoxo de necessitarem da materialidade, através de monumentos de grande escala
para expressar a imaterialidade. O exemplo mais icônico são as pirâmides dos antigos
egípcios.114
Ao questionar a oposição entre coisa e pessoa, sujeito versus objeto, Miller apontou
que
quaisquer que sejam nossos medos ou preocupações ambientais com o
materialismo, não seremos ajudados por uma teoria dos trecos nem por uma
atitude que simplesmente nos oponha a eles; como se quanto mais pensássemos nas coisas como se elas fossem alienígenas ou estranhas mais nos mantivéssemos
sacrossantos e puros. A ideia de que os trecos de algum modo drenam a nossa
humanidade, enquanto nos dissolvemos numa mistura pegajosa de plástico e
110 REDE, Marcelo. “Estudos de Cultura Material: uma vertente francesa.” In: Anais do Museu Paulista. São
Paulo. N. Sér. v. 8/9. p.281-291 (2000-2001). Editado em 2003. p. 282. 111 BUCAILLE, Richard, PESEZ, Jean-Marie. Cultura Material. Enciclopédia... p.23 112 WARNIER, Jean-Pierre. Construire la culture materielle: l´homme qui pensait avec ses doigts. Paris:
Presses Universitaires de France, 1999. 113
REDE, Marcelo. Estudos de Cultura Material... p. 284 114 MILLER, Daniel (ed.).Materiality. London: Duke University Press, 2005. p.16.
53
outras mercadorias, corresponde à tentativa de preservar uma visão simplista e
falsa de uma humanidade pura e previamente imaculada.115
Em relação à aparência, o autor teceu comparações entre sua sociedade (europeia) e
a população de Trinidad. A relação desta última com as roupas e adereços demonstrou a
Miller o quanto a aparência é importante para se conhecer uma pessoa daquela comunidade.
Em nossa sociedade, entretanto, encaramos a exterioridade separada de nosso interior. O
autor denominou tal fenômeno como ontologia de profundidade. “A hipótese é que ser – o
que realmente somos – está profundamente situado dentro de nós e em oposição direta à
superfície. Um comprador de roupas é superficial porque um filósofo ou um santo é
profundo.”116
Também cabe mencionar uma publicação realizada após um seminário promovido
pelo Smithsonian Institution, congregando pesquisadores de diversos países, editado por
Steven Lubar e David Kingery, History from things: essays on material culture.117
A
preocupação central do grupo era entender como cada autor trabalhava diretamente com os
dados primários. A discussão levantada na introdução pelos autores é muito pertinente. A
principal questão é a de que os historiadores utilizam mais documentos do que artefatos
como fontes.118
Ainda pensando no peso dos documentos escritos, ao comparar as possibilidades de
análise de cultura material entre as proposições de Warnier e a postura dos historiadores,
Marcelo Rede constatou que “o próprio método histórico leva a uma documentalização dos
componentes do fenômeno estudado (textos; imagens; registro oral; cultura material…),
como a via prioritária de acesso cognitivo ao próprio fenômeno.” A grande crítica de Rede
é a de a história não propiciar um conjunto teórico-metodológico específico para tratar a
cultura material.119
115 MILLER, Daniel.Trecos, troços e coisas. Estudos antropológicos sobre a cultura material. Rio de Janeiro:
Zahar, 2013. p. 11. 116 MILLER, Daniel.Trecos... p. 28. 117 Cf. REDE, Marcelo. Estudos de Cultura Material... 118 LUBAR, Steven e KINGERY, David. History of things: essays of material culture. Washington: The
Smithsonian Institution, 1993. p. IX. 119 REDE, Marcelo. Estudos de Cultura Material... p. 282.
54
Reconhecemos o peso desta questão, especialmente porque em nossa pesquisa apenas
conseguimos acessar os objetos a partir de sua descrição na documentação escrita. Lubar e
Kingery afirmaram (e nós concordamos) que os artefatos utilizados em conjunto com
outros tipos de fontes proporcionam uma análise mais enriquecedora.120
Infelizmente para
Itu não possuímos fontes de outra natureza para complementar ou confrontar as descrições
dos bens nos inventários póstumos, tais como imagens, relatos de viagem ou mesmo os
próprios objetos. Desta forma, ao trabalharmos sem os artefatos, consideramos essencial a
formulação de Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses sobre a materialidade:
ao contrário do entendimento ainda muito comum entre nossos historiadores, os
estudos de cultura material não se caracterizam nem pelo uso determinante de
fontes materiais, nem como preocupação exclusiva com artefatos e,
eventualmente, seu contexto, como se fossem um segmento à parte da vida social
– mas pela análise da dimensão material de qualquer instância ou tempo da vida
social. É por isso que tais estudos, longe de constituírem um domínio próprio,
autônomo, podem estar presentes nos diversos campos da História. Daí a
insuficiência de se trabalhar apenas ou preponderantemente com documentação
material.121
Tal proposição é de extrema importância e peso para nossa análise, pois amplia a
percepção da cultura material, entendida na maior parte das vezes apenas pelos significados
e elementos referentes à materialidade em si. Meneses pontuou também que os artefatos
atuam como produto e vetor das relações sociais. Produtos enquanto vestígios,
remanescentes das atividades humanas, e vetor, porquê propiciam, são canais das relações
sociais.122
Outro aspecto muito debatido é o emprego da semiótica na análise da cultura
material. A grande crítica baseia-se no enfoque aos elementos simbólicos e ideológicos dos
objetos, encarando-os como veículos materiais de uma linguagem a ser decodificada. Tal
120 LUBAR, Steven e KINGERY, David. History of things ... p. IX. 121 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. “Apresentação” In: MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras
Marques. Riqueza e escravidão: vida material e população no século XIX: Bonfim do Paraopeba/MG. São
Paulo: Annablume: Fapesp, 2007. p.14 - grifo do autor. 122 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A cultura material no estudo das sociedades antigas, Revista de
História, NS n.1I5, p.103-117, 1983. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/61796/64659> . Acesso em 23.fev.2015.
55
ponto de vista também desenvolve uma ênfase, um poder maior do objeto em relação ao
sujeito, resultando na reificação ou autonomização dos objetos.123
Concordamos com Menezes quando este afirmou que
as vertentes mais férteis e inovadoras nos estudos recentes de cultura material têm
procurado ir além das meras preocupações funcionais e semióticas, para, ao
contrário, buscar definir a capacidade, presente nos artefatos, de agir, de produzir
efeitos: os artefatos também nos moldam; não apenas nos expressam, mas,
igualmente, de formas e em graus variados, nos constituem.124
Talvez a grande dificuldade de superar a análise simbólica e efetivamente adentrar
nessa relação sujeito-objeto mais detidamente seja a ausência ou o conhecimento de um
procedimento teórico-metodológico específico, no campo histórico, como mencionado por
Rede.125
Por não ser uma disciplina efetivamente constituída, a cultura material se beneficia
da pluralidade de conceitos interdisciplinares, mas por outro lado, carece de balizas
metodológicas mais nítidas.
Em nosso caso, estudando as vestimentas especificamente, entendemos não ser
possível desconsiderar ou minimizar a importância que a análise da semiótica possa
propiciar. Se levarmos em conta a importância da imagem para a sociedade barroca do
século XVIII, é impossível desconsiderar a linguagem visual não apenas nas roupas, mas
em outros aspectos como a arquitetura e as artes.
Passamos para a análise da cultura material da vila de Itu, analisando a composição
dos bens, especialmente as residências e as unidades produtivas relacionadas à produção
açucareira.
Os inventários post-mortem nos possibilitam analisar apenas um momento das
posses de um domicílio. Por ser este contexto o da morte de um dos cônjuges, talvez cause
a impressão de que o rol de bens contenha todos os objetos que aquela pessoa adquiriu
durante a vida. Mas não existe apenas o ato de acumular. A doação, troca, empréstimo,
divisão e perda também faz parte da história de nossos pertences. O espólio final descrito e
123 MENEZES, Ulpiano. Prefácio In: CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e Artefato: o sistema
doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870 – 1920. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo/FAPESP, 2008. p. 12. 124
MENEZES, Ulpiano. Prefácio In: CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero... p. 12. 125 REDE, Marcelo. Estudos de Cultura Material.... p. 282.
56
avaliado no arrolamento não corresponde, muitas vezes, à totalidade dos bens, pois alguns
objetos poderiam ser omitidos na declaração, ou mesmo, partilhados anteriormente. Mas
para a análise da composição material daquela sociedade, esta fonte propicia um aspecto
relevante: apresenta os objetos em conjunto. Podemos assim, avaliar a constituição dos
patrimônios como um todo, pensando no uso dos objetos, individual e coletivamente,
dentro daquele domicílio.
Partimos das categorias desenvolvidas por Ernani Silva Bruno para o fichário do
Museu da Casa Brasileira126
, para organizar o banco de dados no programa Microsoft
Excel:
1 - Bens de raiz (imóveis como casas, lojas, terrenos, sítios e chácaras).
2 – Ferramentas, equipamentos e apetrechos de trabalho (objetos relacionados aos
processos produtivos agrícolas, aos ofícios diversos e ao uso cotidiano nos domicílios)
3 – Animais e criações (bovinos, equinos, caprinos, suínos) .
4 – Cavalgaduras, equipamentos e acessórios de transporte (montarias, ferragens,
cangas e carros de bois).
5 – Matérias primas (todo material empregado na confecção de objetos, como botões,
tecidos, couros, linhas).
6 – Alimentos, colheitas e produção caseira (alimentos para consumo doméstico, como
sementes, legumes, etc.).
7 – Construções e materiais (materiais empregados na construção de imóveis).
8 – Escravos (cativos).
9 – Instrumentos ligados à escravidão (correntes, grilhões, cadeados).
10 – Utensílios e ornatos da casa (objetos que compunham o domicílio, utilitários ou
decorativos, como talheres, pratos, copos, bules, bacias, candeeiros, lampiões, ferro para
engomar, crucifixos, imagens de santos, oratórios).
126 O fichário foi desenvolvido pelos funcionários da seção histórica do Museu da Casa Brasileira nos anos
1970. Encontra-se digitalizado e disponível no site do museu com a denominação Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e costumes. Disponível em: <http://antigo.mcb.org.br/ernMain.asp> . Acesso em
20.dez.2014.
57
11 – Móveis e acessórios (móveis de descanso e de organização, como catres, camas,
colchões, cadeiras, mesas, bofetes, nichos, caixas, baús, armários).
12 – Roupas da casa (roupas de cama lençóis, fronhas, cobertas, colchas, cortinados,
roupas de mesa, a saber, toalha de mesa, guardanapos, toalhas de mãos).
13 – Vestuário (roupas de uso pessoal femininas e masculinas).
14 – Objetos de uso pessoal relacionados à aparência (sapatos, chapéus, fivelas, bastões,
esporas, relógios).
15 – Joias (brincos, colares, anéis, pulseiras, cordões).
16 – Leitura e entretenimento (livros).
17 – Instrumentos musicais
18 – Armas, aparatos defensivos e acessórios
19 – Dinheiro
20 - Ouro
21 - Prata
22 - Total bens
23 - Dívida Ativa
24 - Dívida Passiva
25 - Dote
26 - Sufrágios e custos
27 - Líquido (partível)
28 - Dois terços
29 - Meação
30 - Cada herdeiro/legítima
31 - Observação
Incluímos os últimos doze itens, para diferenciar os metais preciosos e abarcar o
fechamento das contas do inventário de forma mais completa, pois interessa-nos entender
tanto a quantia do montante final, quanto o valor em dívidas a receber (ativas) e que deviam
(passiva) cada inventariado, bem como a partilha dos bens. Optamos por esta
58
sistematização, pois nos inventários póstumos os escrivães agrupavam os objetos
desordenadamente.
Para cada indivíduo inventariado foi realizada a leitura, transcrição e fichamento dos
bens, enquadrando-os nas categorias de número 1 a 21. Posteriormente, calculamos os
valores dos bens por categorias e refizemos as contas da partilha, tomando as devidas
cautelas com os valores encontrados na documentação, pois grande parte das adições estava
equivocada, demandando várias revisões.127
Em consequência, obtivemos dois valores
monetários: um que fornece a soma total dos bens e outro que aponta a quantia a ser
partilhada, ou seja, após subtrair ou adicionar as dívidas ao espólio. Para melhor
compreensão das diferentes composições dos bens dos ituanos, estabelecemos faixas de
valores em réis para distribuir as ocorrências dos indivíduos nas duas situações, antes e
após o cálculo das dívidas ativas e passivas.
Tabela 2 – Distribuição dos inventariados por faixas de bens, Itu, 1765-1808
Faixas de bens (em réis) Número de inventariados na
soma total dos bens
Número de inventariados na soma
dos bens (líquido) após subtrair as
dívidas
Valor Negativo - 1
De 0 a $500 7 6
De $501 a 1:000$000 6 6
De 1:001$000 a 5:000$000 16 13
De 5:001$000 a
10:000$000
5 2
Acima de 10:001$000 5 3
Não informa 5 13
Total 44 44
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Inventários póstumos, vila de Itu
A tabela 2 aponta a tendência observada na maioria dos espólios, de diminuição no
valor das heranças, o que aponta a existência de dívidas a serem quitadas. O único caso em
que o valor das dívidas ultrapassou o da soma de todos os bens foi o do capitão Antônio
Pompeu Bueno, que no momento da contabilidade dos bens e dívidas, obteve o valor
negativo de 348$502 (trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos e dois réis). Dentre os
mais abastados, cujos bens alcançavam mais de dez contos de réis, apenas três
127 Procedemos da mesma forma a coleta e análise dos dados junto aos inventários póstumos lisboetas.
59
inventariados dos cinco conseguiam permanecer na referida faixa, após descontar as
dívidas.
Seis indivíduos tiveram seus montes maiores no segundo momento, pois os valores
referentes a dívidas ou créditos que lhes eram devidos foram consideráveis e superaram o
valor que, porventura, deviam a terceiros. O exemplo mais significativo foi de Maria
Francisca Vieira, cabeça de casal, após o falecimento de seu marido, Francisco Novais de
Magalhães. De 4:579$733 (quatro contos, quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e
trinta e três réis), o espólio foi para 21:637$732 (vinte e um contos, seiscentos e trinta e sete
mil, setecentos e trinta e dois réis). Esta diferença se deve ao fato de que Francisco atuava
como comerciante e também fornecia empréstimos aos moradores da vila de Itu e das
localidades próximas.128
O contrário também foi observado, quando a dívida passiva apresentou valor
semelhante ao montante dos bens. No caso de Bernardo de Quadros Aranha, havia 20$000
(vinte mil réis) a receber, porém, sua dívida passiva era de 3:430$101 (três contos,
quatrocentos e trinta mil, cento e um réis), quantia semelhante ao seu montante de bens, de
3:951$390 (três contos, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa réis). Já o
padre Antônio Francisco da Luz que apresentava o espólio total de 8:614$430 (oito contos,
seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta réis), tinha a receber 4:820$859 (quatro
contos, oitocentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e nove réis), no entanto devia a alta
quantia de 7:913$185 (sete contos, novecentos e treze mil, cento e oitenta e cinco réis).
Os inventariados da faixa entre $501 (quinhentos e um réis) e 1:000$000 (um conto
de réis) apresentaram o mesmo número em ambas as situações. O número de indivíduos
sem indicação dos valores aumenta significativamente no segundo momento, devido à
lacuna na documentação. A faixa de bens intermediária, que contempla os patrimônios
entre os valores de 1:001$000 (um conto e mil réis) e 5:000$000 (cinco contos de réis), foi
a que concentrou o maior número de pessoas em ambas as situações, 16 e 13,
demonstrando o padrão médio monetário dos ituanos da amostra.
128 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.5) p. 223.
60
Da somatória dos bens, os cinco mais abastados são o casal Inácia Leite de Almeida
e seu marido José do Amaral Gurgel, Ana Gertrudes de Campos, José Manoel da Fonseca
Leite e Elena Maria de Souza. Esses indivíduos (ou suas esposas) estão relacionados à
produção canavieira e às ordens militares. Após a subtração das dívidas, permanecem
Inácia e Ana Gertrudes, e Maria Francisca Vieira passa a figurar no seleto grupo.129
Os
inventários com montantes gerais mais baixos, por sua vez, não são menos importantes:
estes apontam diferentes composições materiais e possibilitam-nos compreender um pouco
mais sobre o cotidiano da vila de Itu.
Dentro do universo investigado, a distribuição dos valores atribuídos aos bens por
categorias apresentou o seguinte resultado:
129 Veremos adiante no terceiro capítulo as particularidades envolvendo as famílias e seus bens.
61
Gráfico 1 – Valor em réis dos bens totais inventariados divididos por categorias
000:000$000
010:000$000
020:000$000
030:000$000
040:000$000
050:000$000
060:000$000
070:000$000
080:000$000
Bens de ra
iz
Ferramenta
s
Animais
e criaçõ
es
Cavalgaduras,
equipamentos
de transp
orte
Maté
rias p
rimas
Alimento
s, co
lheitas e
produção ca
seira
Construções e
mate
riais
Escra
vos
Instrumento
s ligados à
escravidão
Utensíl
ios e orn
atos d
a casa
Móveis
e acessó
rios
Alfaias d
a casa
Vestuário
Objetos d
e uso pess
oalJó
ias
Leitu
ra e entre
tenim
ento
Instrumento
s music
ais
Armas,
aparato
s defensiv
os e acessó
rios
DinheiroOuro
Prata
Série1
FONTE: AESP, ARQ/MRCI - Inventários
62
A somatória dos valores dos bens arrolados de nossa amostra aponta os montantes
em réis, que cada categoria alcançou. Destacam-se em ordem decrescente: os bens de raiz
em 74:874$455 (setenta e quatro contos, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco réis), escravos no valor de 60:086$650 (sessenta contos, oitenta e seis
mil, seiscentos e cinquenta réis), animais e criações, avaliado em 6:873$060 (seis contos,
oitocentos e setenta e três mil e sessenta réis), ferramentas, equipamentos e apetrechos de
trabalho, em 4:517$145 (quatro contos, quinhentos e dezessete mil, cento e quarenta e
cinco réis), utensílios e ornatos da casa, somados 2:963$027 (dois contos, novecentos e
sessenta e três mil, vinte e sete réis), dinheiro, com a quantia de 2:764$561 (dois contos,
setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um réis), alimentos, colheita e
produção caseira, avaliado em 1:838$720 (um conto, oitocentos e trinta e oito mil,
setecentos e vinte réis), ouro, no montante de 1:737$583 (um conto, setecentos e trinta e
sete mil, quinhentos e oitenta e três réis), móveis e acessórios, ao todo 1:083$100 (um
conto, oitenta e três mil e cem réis).
Abaixo de um conto de réis, estão: joias, no valor de 924$024 (novecentos e vinte e
quatro mil, vinte e quatro réis), cavalgaduras, equipamentos e acessórios de transporte, em
866$480 (oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta réis), vestuário, na quantia
de 732$780 (setecentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta réis), objetos de uso pessoal
relacionados à aparência, em 658$134 (seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e
quatro réis), roupas da casa, na quantia de 628$540 (seiscentos e vinte e oito mil,
quinhentos e quarenta réis), matérias primas, no montante de 575$195 (quinhentos e setenta
e cinco mil, cento e noventa e cinco réis), leitura e entretenimento no valor de 420$810,
(quatrocentos e vinte mil, oitocentos e dez réis), armas, aparatos defensivos e acessórios,
avaliados em 349$720 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte réis),
instrumentos musicais, em 66$900 (sessenta e seis mil e novecentos réis), prata, no total de
59$750 (cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta réis), instrumentos ligados à
escravidão, em 34$320 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte réis) e finalmente, construções
e materiais no valor de 30$760 (trinta mil, setecentos e sessenta réis).
63
Esses dados confirmam a valorização das terras e construções, bem como da mão de
obra escrava, nos séculos XVIII e XIX. Os maiores valores estão relacionados às categorias
produtivas, seguidos por dinheiro e ouro, e duas categorias que se enquadram como
“recheio da casa”: utensílios e ornatos e móveis e acessórios. Com valores inferiores, mas
não menos relevantes, figuram as demais categorias, lideradas pelas joias.
Para avaliar a composição material da vila do açúcar, empreendemos um enfoque
sobre as unidades produtivas e a principal mão-de-obra empregada na produção açucareira.
Entre os inventariados, a posse de engenhos de açúcar alcançou quase a metade dos
indivíduos, abrangendo dezenove proprietários (43,1%), um número significativo em nossa
amostra. Apenas cinco indivíduos (11,5%) não informam a posse de engenho.
Gráfico 2 - Posse de engenho
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
Referente à posse de escravos nos espólios analisados, os dados estão organizados
no gráfico a seguir. Para melhor visualização, organizamos tanto o número de proprietários
quanto o de cativos por faixas, com intervalo de números pares e o número de cativos por
faixas, a seguir:
64
Gráfico 3 - Relação do número cativos nos espólios de Itu, 1765-1808
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
A faixa de maior ocorrência, entre 11 e 20 escravos, obteve treze proprietários
(29,5%) dos inventários. Carlos Bacellar utilizou como critério para a seleção dos
indivíduos a posse do número de escravos, acima de quarenta cativos, para filtrar apenas o
estrato mais elevado da sociedade.216
Para compreender a composição do conjunto da unidade produtiva açucareira,
avaliamos a ocorrência de escravos, engenho e canavial nos bens arrolados.
Gráfico 4 - Ocorrência de bens agrupados por produção açucareira
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
216
Esse critério foi aplicado pois sua investigação versava sobre a manutenção da riqueza nas famílias do
Oeste paulista. Cf. BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra...
65
Este gráfico agrupa até três elementos essenciais do processo produtivo açucareiro:
escravos, canavial e engenho. Mesmo considerando que os escravos exerciam diversas
outras ocupações não relacionadas ao engenho, esta avaliação nos permite observar um
padrão dos pertences dos proprietários de nossa amostra, com a quantificação de cada
elemento, em separado ou unidos.
Apesar das lacunas nos dados recolhidos na documentação, encontramos alguns
aspectos da população e de sua materialidade. Os indivíduos analisados não eram
necessariamente os mais ricos. Embora alguns inventariados sejam consideravelmente
abastados, nosso enfoque recaiu sobre as pessoas que possuíam roupas arroladas entre seus
bens, para analisarmos os diferentes padrões de posses de vestuário.
Dezenove indivíduos (43,1%) possuíam apenas escravos, um (2,2%) possuía apenas
engenho, e também um (2,2%), dispunha de escravos e canavial, dois (4,5%) eram
proprietários de escravos e engenho. Cinco inventariados (11,3%) não apresentaram
nenhum destes três elementos. Dezesseis eram donos dos três itens: cativos, engenho e
canavial, 36,3%. A comparação dos vinte inventariados mais ricos de nossa amostra com os
dezesseis do gráfico acima, revela que apenas um, João Leite Penteado, não consta entre os
vinte maiores espólios. O exame dessas três categorias confirma que a produção canavieira
é a atividade responsável por grande parte da riqueza dos ituanos analisados em nossa
amostra.
Os bens de raiz, ou imóveis somados, apresentam o maior valor dentre todas as
categorias, 74:874$455 (setenta e quatro contos, oitocentos e setenta e quatro mil e
quatrocentos e cinquenta e cinco réis). Ao confrontar com o montante dos bens, indicado no
gráfico 5, representa 46% das posses.
66
Gráfico 5 - Valor dos bens de raiz em relação ao total dos bens, Itu, 1765-1808
074:874$455
160:821$330
000:000$000
020:000$000
040:000$000
060:000$000
080:000$000
100:000$000
120:000$000
140:000$000
160:000$000
180:000$000
Bens de raiz TOTAL BENS
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
Através das descrições contidas principalmente nos inventários póstumos, é possível
reunir dados interessantes sobre os bens de raiz, ou imóveis da vila de Itu no período
pesquisado. Atualmente, na região central da cidade localizam-se algumas construções de
taipa, datadas de meados do século XVIII. Já em relação ao início do século XIX existe um
maior número de imóveis. Ainda que exista uma série de problemas relacionados à
conservação e à valorização do conjunto arquitetônico ituano, este se configura como um
dos poucos núcleos urbanos paulista com edificações representativas dos três últimos
séculos (XVIII, XIX e XX).217
Em relação à composição material dos bens de raiz arrolados na documentação,
organizamos o gráfico 6 com os materiais e técnicas construtivas.
217 O conjunto arquitetônico da região central de Itu foi tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) em 06 de novembro de
2003, processo número 26907/89. Informação disponível em:
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=69a58ed99a1ac010VgnVCM2000000301a8c0____
> Acesso em 10.maio.2014.
67
Gráfico 6 - Materiais e técnicas construtivas dos bens de raiz da vila de Itu, 1765-1808
0
2
4
6
8
10
12
14
coberta de
telhas
não consta não
menciona
taipa de
mão
taipa de
mão e
coberta de
capim
taipa de
mão e
coberta de
telhas
taipa de
mão e palha
taipa de
mão, taipa
de pilão e
cobertas de
telhas
taipa de
pilão e
coberta de
telhas
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
O item „não consta‟ consiste nos casos em que os inventariados não possuem
nenhum bem de raiz. Já o campo „não menciona‟ são os indivíduos que possuem bens de
raiz, mas sem indicação do material. Respeitamos as descrições encontradas na
documentação, agrupando apenas os dados idênticos, para melhor visualização. Sete
indivíduos eram proprietários, mas não havia identificação dos materiais de seus imóveis, e
cinco (11,3%) não possuíam nenhum bem de raiz.
A forma de cobertura de casas mais utilizada era a de telhas. Provavelmente a
produção de telhas era local e, em algumas situações, caseira. Dentre as ferramentas
arroladas de João Leite Penteado, consta “uma grade de fazer telha”218
, também “uma grade
de ferro de fazer telha” no espólio de Antônio Antunes Pereira219
. Inácia Leite de Almeida e
José do Amaral Gurgel possuíam um sítio no Buru “com olaria de fazer telhas”220
.
Segundo Carlos Lemos, “a arquitetura paulista é caracterizada pela taipa de pilão,
técnica baseada na terra pisada entre taipas que, pela sua natureza, determina muros
contínuos extremamente sensíveis à umidade, de insignificante resistência à tração e de
218 ARQ/MRCI - Inventário de João Leite Penteado, 1795, caixa 5. folha 3 verso. 219
ARQ/MRCI - Inventário de Antonio Antunes Pereira, 1802, caixa 16. folha 6 verso. 220 ARQ/MRCI - Inventário de Inácia Leite de Almeida, 1801, caixa 15. folha 19 verso.
68
difícil revestimento à vista da superfície frágil ao risco.”221
Em nossos dados, a ocorrência
de construções em taipa de pilão foi menor (oito menções), mas também algumas são
híbridas, de taipa de pilão e de mão.
Sobre a distinção destes dois tipos construtivos, Alberto Nasiasene comentou que
em
São Paulo colonial, as casas dos mais abastados na cidade, por exemplo, em sua
maioria, também era construída em taipa de mão, ou pau-a-pique e só as
construções mais importantes é que eram de taipa de pilão; ou, como também era comum, havia um hibridismo entre as duas técnicas porque era comum que as
casas grandes das fazendas, depois que o café começou a trazer prosperidade, na
primeira metade do século XIX, tivessem as paredes externas construídas em
taipa de pilão e as internas em taipa de mão.222
A taipa de mão foi a técnica mais recorrente no período colonial. Conhecido
também como pau-a-pique “recebe o nome porque é feito com estrutura de madeira roliça,
disposta vertical e horizontalmente, amarrada com cipó ou cravo e depois preenchida com
barro socado.”223
Segundo Nilson Cardoso de Carvalho,
os bandeirantes do ciclo da caça ao índio e do ciclo do ouro levaram a taipa de
pilão para Mato Grosso e Goiás. Em Minas Gerais, o processo não deu resultado
devido à inclinação dos terrenos montanhosos, nos quais as enxurradas
provocavam a erosão das paredes de taipa. Os mineiros inventaram, então, a
técnica da taipa de mão, ou, pau-a-pique, introduzida por eles em São Paulo,
quando para cá migraram, ao final do ciclo do ouro. A técnica da taipa de pilão
era muito simples e resistente quando bem construída, encontrando-se, ainda,
exemplares deste tipo de edificação com mais de duzentos anos.224
Não sabemos precisar se a técnica da taipa de mão realmente veio para São Paulo de
Minas Gerais, como afirma Carvalho. O que pudemos depreender é que nessa
amostragem, tal técnica obteve um número superior de uso em relação à taipa de pilão.
Também ocorreram seis casos em que foram empregadas as duas técnicas juntas em uma
mesma edificação.
221 LEMOS, Carlos. A casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1989. p. 41 222 NASIASENE, Alberto. Taipa de pilão e o estilo colonial paulista. Disponível em: <
http://www.rotamogiana.com/2012/01/taipa-de-pilao.html>. Acesso em 28.jan.2014. 223 Informação disponível em: < http://www.museudacidade.sp.gov.br/taipadepilao.php> . Acesso em
28.jan.2014. 224 CARVALHO, Nilson Cardoso de. Arquitetura em taipa. Disponível em: <http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/arquivos/galerias/arquitetura_em_taipa.pdf>. p. 2 Acesso em
27.jan.2014.
69
Os sobrados eram diferentes da definição que hoje utilizamos às edificações: “o
termo primitivamente designava o espaço sobrado ou ganho devido a um soalho suspenso.
Portanto, o sobrado tanto podia estar acima desse piso como embaixo dele, dependendo das
circunstâncias.”225
Carlos Lemos advertiu que “nem sempre os sobrados mencionados nas
descrições são aqueles que hoje identificamos por aquela palavra.”226
Na documentação são mencionadas casas designadas como sobrados ou
assoalhadas. Como sobrados, temos alguns exemplos: “Uma morada de casas de sobrados
citos nesta vila, na rua do Carmo, de três lanços, paredes de taipa de pilão com duas [-] e
seu corredor, coberta de telhas bem danificadas com seu quintal até a rua das Baratas (...)
avaliado em 300$000 (trezentos mil réis)”227
. Ou então “Uma morada de casas com um
sobrado que se achavam por acabar de forrar e por gelosias (...) com os fundos pertencentes
citas no pátio da Matriz desta vila em 600$000 (seiscentos mil réis)”228
. Dois sobrados de
um mesmo proprietário: “Uma morada de casas de sobrado de dois lanços na Rua da Palma
(...) com uma Capelinha no interior dela, seu quintal competente na forma em que se acha
fazendo o fundo com umas moradas na rua do Conselho.” Ainda encontramos “Uma
morada de casas de sobrado de três lanços com seus corredores na Rua do Conselho
entrando a metade que foi do falecido Coronel José Florêncio de Oliveira, entrando uma
moradinha pequena térrea, (...) cobertas de telha com seu quintal em 100$000 (cem mil
réis).”229
Através desses exemplos de sobrados, nota-se a variação dos preços estabelecidos
pelos avaliadores, entre 100$000 (cem mil réis) e 600$000 (seiscentos mil réis), de acordo
com sua composição e estado.
225 LEMOS, Carlos. A casa brasileira... p. 32-33 226 LEMOS, Carlos. A casa brasileira... p. 33 227 ARQ/MRCI - Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, 1798, caixa 8. folhas 18 – 18 verso. 228
ARQ/MRCI - Inventário de Inácia Leite de Almeida, 1801, caixa 15 . folha 21 verso. 229 ARQ/MRCI - Inventário de Vicente Gonçalves Braga, 1808, caixa 17B. folha 18 verso.
70
A casa de sobrado mais valiosa é a de Ana Gertrudes de Campos, que se localizava
no Pátio da Matriz, sendo constituída de “paredes de taipa de pilão, parte feita, e parte por
acabar” e avaliada em 1:400$000 (um conto e quatrocentos mil réis).230
Em relação aos tipos de bens de raiz encontrados, apenas cinco inventários não
mencionavam o perfil dos imóveis.
Gráfico 7 - Perfis e ocorrências de bens de raiz em Itu, 1765-1808
FONTE:ARQ/MRCI - Inventários.
Observamos no gráfico 7 o perfil dos bens imóveis dos inventariados de nossa
amostra. A maioria possuía ao mesmo tempo uma casa na vila e um sítio em um bairro
rural, com 17 ocorrências (38,6%). Em seguida, quatro pessoas que possuíam apenas casa
ou sítio cada uma (9%). Pelos dados em geral, observando-se as ocorrências de menores
valores parece-nos que a descrição de Saint-Hilaire em 1819 é válida também para um
230 ARQ/MRCI - Inventário de Ana Gertrudes de Campos,1808, caixa 17B . folha 7.
71
período anterior. Em sua descrição já citada anteriormente, afirma que os senhores de
engenho passavam a maior parte do tempo em suas fazendas, indo à cidade aos domingos e
dias de festas. Para essa camada, pode ser possível essa mobilidade. No entanto, existia
uma gama social muito mais complexa, composta por “grandes e pequenos proprietários,
lavradores, moradores da vila com ofícios diversos, tropeiros, camaradas, escravos,
agregados”, como ressaltou Eni Samara231
.
Em alguma medida, o padrão observado na posse dos bens de raiz demonstra a
necessidade de possuir um pedaço de terra, mesmo que fosse um quintal para o cultivo de
mantimentos, independentemente da ocupação ou atividade desempenhada pelo
proprietário. Como no caso do Alferes Antonio Antunes Pereira, que possuía uma morada
de casas na rua das Baratas, com uma loja anexa, além de um quintal na rua de Santa Rita,
com plantas de café e um sítio no bairro de Caiacatinga.232
Até a década de 1830, as ruas da região central da vila ituana eram as das Baratas,
do Carmo, o Beco das Casinhas, do Conselho, Direita, da Palma, Santa Cruz, Santa Rita e o
Pátio da Matriz.
Quadro 1 - Distribuição das casas dos inventariados por ruas da vila de Itu, 1765-1808
Ruas Ocorrências
Bom Jesus 1
Baratas 5
Carmo 3
Casinhas 4
Conselho 4
Direita 5
Palma 6
Pátio da Matriz 4
Santa Cruz 2
Santa Rita 2
Não Menciona 14
Total 50
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
231
SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura canavieira... p. 161. 232 ARQ/MRCI - Inventário de Antonio Antunes Pereira, 1802, caixa 16. folha 11 verso.
72
Apesar da lacuna na identificação de quatorze bens imóveis (28%), sem menção da
rua na qual se localizavam, podemos inferir as ruas com maior número de casas em nossa
amostragem. Em primeiro lugar, a rua da Palma com seis casas, (12%). Em segundo lugar,
a rua Direita e das Baratas com cinco casas (10%). Em terceiro, temos com quatro
ocorrências (8% cada) a rua das Casinhas, do Conselho e do Pátio da Matriz. Optamos por
manter separadamente as ocorrências de mais de um endereço quando o mesmo indivíduo
possuía mais de uma casa na área urbana, pois é possível visualizar as preferências e não
apenas quantificar por ruas.
A mesma avaliação foi empregada para a verificação dos bairros recorrentes nos
inventários de nossa amostra.
Quadro 2 - Bairros identificados na área rural.
Bairros Ocorrências
Anhambu 4
Apotribu 2
Atuau 2
Buru 6
Caiacatinga 3
Cajuru 2
Engordador 1
Itahim-Mirim 1
Itahu 1
Itaim-Guassu 3
Itupuru 1
Jacaraupava 1
Jacuhu 1
Pirahi 1
Pirahi de Cima 1
Pirapitingui 1
73
Não Menciona 17
Total 48
FONTE: ARQ/MRCI - Inventários.
Novamente o número de imóveis sem indicação da localização é alto: 17 bens
(35,4%). Se contabilizarmos juntas as ocorrências de bairro Anhambu, somam quatro
propriedades, (8,3%), lideradas pelo bairro do Buru (ou Boiri), com seis casos (12,5%). A
inventariada Inácia Leite de Almeida, por exemplo, falecida em 1801, possuía oito
propriedades, sendo seis no bairro do Buru: três sítios e três terrenos, todos adquiridos por
meio de compra.233
Desta forma, temos a distribuição das propriedades rurais por bairros da
vila.
Os imóveis e os escravos foram as categorias de bens que alcançaram os maiores
valores nos inventários ituanos. As propriedades mais valiosas eram as que possuíam
benfeitorias ou estavam relacionadas à produção açucareira, dado que confirma o
enriquecimento e a valorização desta atividade na localidade e no período investigado.
1.3 O ambiente doméstico e os bens têxteis
As roupas de casa, ou roupas brancas são os itens têxteis que compunham os
ambientes domésticos, ou eram empregados em atividades cotidianas. Como apontou
Luciana da Silva, as alfaias, “tinham por finalidade proporcionar conforto, ora por aquecer
e secar, como cobertores e toalhas de mãos, ora por ornar e esconder a rusticidade de
móveis velhos e desgastados pelo tempo, como as toalhas de mesa.”234
Entre as peças presentes nos inventários de Itu estão as cobertas, colchas, lençóis,
fronhas, cortinados, guarda camas, tapetes, toalhas, toalhas de mesa, guardanapos, toalhas
233 ARQ/MRCI - Inventário de Inácia Leite de Almeida, 1801, caixa 15 . folhas 19 – 20. 234 SILVA, Luciana da. Artefatos... p. 102.
74
de mãos e itens, que identificamos como de uso religioso. Elencamos as peças de roupas
detalhando suas informações na tabela 3.
Tabela 3 – Roupas da casa, vila de Itu, 1765-1808
Peça Tecido Quantidade Valor
Alfaias litúrgicas Não informa(4) Tafetá (1) 5 5$080
Coberta Baetão, castela, chita, papa,
serafina
27 64$040
Colcha Algodão, baetão, chita, damasco 41 167$940
Cortinado Algodão, chita, fustão, riscado,
seda
8 46$000
Fronha Algodão, Bretanha, linho 61 14$020
Guarda cama Algodão (1), não informa (2) 3 2$120
Guardanapo Algodão, Guimarães, linho 48 6$120
Lençol Algodão, Bretanha, cassa,
estopa/estopinha, linho, riscado
158 180$380
Não informa Algodão, chita, damasco 13 42$100
Tapete Não informa (4), Pano azul (1) 5 9$440
Toalha Algodão, Bretanha, linho 19 10$560
Toalha de mãos Algodão, Bretanha, cassa, linho 69 36$380
Toalha de mesa Algodão, fustão, Guimarães,
linho, riscado
53 59$320
Total 510 643$500
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Contas de testamento e inventários
Os lençóis são os itens mais numerosos, no total de cento e cinquenta e oito peças,
presentes em vinte e sete inventários. Lideram também com o valor de 180$380 (cento e
oitenta mil e trezentos e oitenta réis). Eram mais comuns os de algodão, com sessenta e seis
ocorrências e de linho, com sessenta e duas, seguidos de quatorze de bretanha, oito de
cassa, três de estopa e cinco não informavam o tecido. Olanda Vilaça também mencionou
que o lençol foi a roupa de casa mais inventariada em sua amostragem.235
235 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material e património móvel no mundo rural do Baixo Minho em finais do Antigo Regime. 2012. Tese (Doutorado em História). Instituto de Ciências Sociais. Universidade do
Minho. Braga, 2012. p.297.
75
Quanto às cobertas, podiam ser de tecidos variados. Em um total de vinte e sete,
nove eram de Castela, oito de papa, cinco de chita, uma de baetão, uma serafina e três não
identificadas.236
Duas destas cobertas de chita despertam atenção pelo detalhamento, pois uma era
“coberta de rede de chita forrada de baeta branca, no valor de novecentos e sessenta réis.”
Havia também outra mais cara, grande, “de chita da Índia de algodão fina nova, em oito mil
réis.”237
Pela forma como foi descrita, a primeira seria utilizada para se cobrir quando se
repousava em rede. Já a segunda nos indica a diversidade de tecidos que circulavam já na
década de 1770 em terras paulistas. As colchas mais comuns eram feitas de algodão e chita,
com o valor médio de 2$000 (dois mil réis) para peças em bom estado. As exceções são as
de tecido adamascado.
Um exemplo é o inventário de Antônio Francisco da Luz, que possuía seis colchas
de damasco, no valor de 30$800 (trinta mil e oitocentos réis). Outro caso representativo é o
de Ana Gertrudes de Campos, que dispunha de sete colchas, três no sítio e quatro na casa
da vila. Das quatro colchas, duas eram de baetão, uma muito usada, avaliada em $640
(seiscentos e quarenta réis), outra em 2$560 (dois mil, quinhentos e sessenta réis), uma de
algodão pintada, 1$600 (mil e seiscentos réis), e uma colcha de damasco com o valor de
20$000 (vinte mil réis), equiparada ao preço de um cativo. Ana Gertrudes possuía
cinquenta escravos avaliados entre 204$800 (duzentos e quatro mil, oitocentos réis) e
20$000 (vinte mil réis).
Em relação às roupas de cama mencionadas nos inventários de nossa amostra da
cidade de Lisboa, predominavam os lençóis de linho, em menores ocorrências, os de estopa
e bretanha. Os cobertores mais comuns eram de chita, papa e damasco. Em menores vezes,
236 Cobertor de papa era uma coberta confeccionada de lã. Vide SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da
língua portuguesa. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Vol. 2, p. 392. A chita consiste em um tecido de
algodão, caracterizado por estampas coloridas. Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário de termos têxteis e
afins. Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património. Porto, I Série, vol. III. Pp. 137-
161, 2004. p. 143. A baeta poderia ser de lã ou de algodão, característica ser grosseira e felpuda. Vide
COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 139. Serafina era um tecido de lã geralmente aplicado em forros e cortinas. Vide SILVA, Antonio Moraes. Diccionario... vol. 2, p. 691. 237 ARQ/MRCI – Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A. folha 6.
76
apareceram de seda, cetim e serafina. Nas fronhas assim como nos lençóis predominavam o
linho, e nas cortinas, duas das quatro eram de chita, uma de serafina e uma de damasco.
Para o norte de Portugal, Vilaça encontrou poucas ocorrências de peças de damasco,
sendo inacessível a maior parte da população, “a não ser que estas peças de roupa tivessem
sido herdadas ou legadas por outrem e permanecessem de forma simbólica no património
das famílias.”238
Já as peças mais modestas observadas em Itu, as fronhas, eram
predominantemente de linho e bretanha. A média de valores era de $100 (cem réis) para
fronhas de linho e $300 (trezentos réis) para as de bretanha.
Ainda em relação às camas, encontramos três referências de guarda cama e oito de
cortinados. Dos oito cortinados encontrados, não foi possível precisar se todos eram
utilizados em camas. Os três cortinados pertencentes ao padre Manoel da Costa Aranha
eram de cama, pois foram avaliados junto com as mesmas, fazendo referência inclusive à
cabeceira, forrada de tecidos semelhantes.239
O cortinado de chita com renda, avaliado em
12$000 (doze mil réis), e o de seda encarnada com babados de tafetá, de 8$000 (oito mil
réis), eram da casa na vila, enquanto que no sítio, havia apenas o cortinado velho de pano
riscado de Hamburgo, no preço de 1$600 (mil e seiscentos réis).240
Neste exemplo, é
possível observar a preferência em privilegiar a residência na região central da vila em
detrimento do sítio. A qualidade da cama que o sacerdote repousava fazia jus ao seu
cortinado, pois dentre as três camas que possuía, uma era de “jacarandá, pés de cabra e
cabeceira de damasco”, avaliada em 32$000 (trinta e dois mil réis).241
As toalhas que encontramos na documentação foram mencionadas como: toalha de
mesa, toalha de água às mãos e apenas toalha. Estas últimas, sem menção ao seu uso
específico, contabilizaram dezenove peças no valor total de 10$560 (dez mil, quinhentos e
sessenta réis).
238 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material... p. 294. 239 ARQ/MRCI – Inventário de Manoel da Costa Aranha, 1801, caixa 15. folha 3 verso. 240
ARQ/MRCI – Inventário de Manoel da Costa Aranha, 1801, caixa 15. folha 3 verso, folha 8. 241 ARQ/MRCI – Inventário de Manoel da Costa Aranha, 1801, caixa 15. folha 3 verso.
77
As toalhas de mesa, presentes em vinte e três inventários eram em sua maioria de
algodão. As peças confeccionadas com os panos de Guimarães são encontradas em
guardanapos e toalhas de mesa. Cinco inventariados possuíam toalhas de Guimarães. De
acordo com Olanda Vilaça, a produção do linho em Guimarães existe pelo menos desde o
século XI.242
Já os bordados famosos desta localidade foram documentados no final do
século XIX.243
Ainda segundo Vilaça, “a indústria do linho e do fio em Guimarães chegou
a constituir uma importante riqueza concelhia; a forte exportação para Espanha e Brasil
levou à prosperidade de muitos mercadores vimaranenses.”244
Em alguns inventários havia o conjunto de toalha de Guimarães com seis
guardanapos, avaliadas em 5$000 (cinco mil réis), 3$000 (três mil réis) e 2$000 (dois mil
réis).245
Outras duas toalhas apareceram de forma unitária com menores valores, avaliadas
em 1$600 (mil e seiscentos réis) e 1$000 (mil réis).246
Bernardo de Quadros Aranha possuía
além de uma toalha de Guimarães, avaliada em 3$000 (três mil réis), outra “toalha de mesa
com seis guardanapos de pano de algodão fino, bordada e rendada com quase nenhum uso,
no valor de 2$4000 (dois mil e quatrocentos réis). Algranti observou que essas toalhas
adornadas “oferecem indícios de serem peças estimadas naquela sociedade, quer pela
decoração (franjas, rendas, brocados), ou seja, pelo trabalho investido no objeto, quer pelo
seu caráter simbólico de ornamento de luxo.”247
Empregar uma toalha de qualidade
superior ou adornada em uma recepção doméstica, em uma localidade em que nem todos
tinham a possibilidade de adquiri-la, denotava além de higiene, acesso aos códigos de
civilidade e poder econômico.
242 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material... p. 213 243 FERNANDES, Maria Isabel. (coord.) Bordado de Guimarães. Renovar a tradição. p. 8 Disponível em:
<http://www.bordadodeguimaraes.pt/site/uk/publicacoes/livrobdg.pdf> . Acesso em: 10.mar.2014. 244 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material... p. 214. 245ARQ/MRCI – Inventário de Manoel da Costa Aranha, 1801, caixa 15. folha 3 verso, Inventário de João
Fernandes da Costa, 1801, caixa 15. folha. 5, Inventário de Bernardo de Quadros Aranha, 1808, caixa 17B.
folha 6. 246 ARQ/MRCI – Inventário de Antonio Antunes Pereira, 1802, caixa 16. folha. 8 verso, Inventário de
Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A. folha 9 verso. 247 ALGRANTI, Leila Mezan. "Artes de mesa: espaços, rituais e objetos em São Paulo Colonial" trabalho
apresentado no I Seminário Internacional Elementos Materiais da Cultura e Patrimônio realizado pelo Programa de Pós Graduação em História ,FAFICH/ UFMG - Belo Horizonte, novembro de 2011. Texto
fornecido pela autora. p. 8.
78
Os guardanapos foram registrados em conjunto com toalhas de mesa, como
mencionado acima, como as de Guimarães, ou separadamente. Desta última forma, foram
registradas quarenta e oito peças, distribuídas em oito inventários, sendo que o maior
número foi o de dezoito guardanapos de algodão de José Manoel da Fonseca Leite.248
Confeccionados a grande maioria em algodão, também registrou-se guardanapos de linho.
As toalhas de água as mãos eram utilizadas para higiene no momento das refeições.
De acordo com Olanda Vilaça, no período moderno os manuais de civilidade pregavam
maior asseio, inclusive em relação às mãos.249
Leila Algranti e Luciana da Silva
encontraram toalhas de água às mãos nos inventários paulistanos dos séculos XVII e
XVIII.250
As toalhas de mãos estão presentes em vinte e três inventários ituanos de nossa
amostra (52%). A maioria era de algodão e, algumas indicavam, se era de algodão mais
grosso ou fino, com valores entre $160 (cento e sessenta réis) e $350 (trezentos e cinquenta
réis) por peça. Toalhas de tecidos mais finos como a cassa, obtiveram o valor de $960
(novecentos e sessenta réis), assim como uma toalha de algodão bordado, de Antonio
Francisco da Luz, também com $960 (novecentos e sessenta réis).251
Para a vila de Itu
predominaram as toalhas de mãos de algodão, enquanto que Vilaça observou para o norte
de Portugal que a maioria das toalhas deste tipo eram de linho.252
Em nosso universo de análise, encontramos cinco tapetes, sendo que apenas um
informa o tecido, de pano azul. Dois deles registrados como “tapetes de senhora”. Outras
treze peças não foram possíveis de identificar e somam 42$100 (quarenta e dois mil e cem
réis).
Para a vila de São Paulo entre os séculos XVI e XVII, as roupas da casa mais
comuns eram de pano de algodão. Comum para a vila de Itu no século XVIII, as peças de
248ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, 1798, caixa 8, folha. 9. 249 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material... p. 309-310. 250 ALGRANTI, Leila Mezan. "Artes de mesa... p. 18; SILVA, Luciana da. Artefatos... p. 103, 153. 251
ARQ/MRCI – Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A. folha 9 verso. 252 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material... p. 310.
79
linho em São Paulo nos séculos anteriores eram valiosas e atestavam refinamento, como
observou Luciana da Silva.253
Alcântara Machado descreveu muitas peças com bordados de
rendas, com franjas, atestando a ornamentação das peças. Segundo ele, “é na baixela e nas
alfaias de cama e mesa que a gente apotentada faz timbre em ostentar a sua opulência.”254
Olanda Vilaça observou para os três conselhos portugueses (Barcelos, Guimarães e
Póvoa de Lanhoso) que a partir da década de 1780 houve uma “tendência para investir no
leito e na mesa, tornando-os mais asseados”.255
Na amostra lisboeta consultada, constam
em igual número toalhas de mesa de linho e adamascada, com menor incidência, de olho de
perdiz, de algodão, de Guimarães e de estopa.256
Já as toalhas de mão mais comuns eram de
linho, mas havia também as de bretanha, cavalim e estopinha. Os guardanapos apareceram
em dois inventários póstumos, um de algodão, e um adamascado, tecido muito recorrente
para as toalhas de mesa.
Nos inventários ituanos, observamos grande aumento no número de roupas brancas
a partir da virada do século, bem como aumento nos valores das peças, de forma geral.
Sobre a diferença entre os padrões europeus e os paulistas, Leila Algranti ressaltou que
certamente entre o luxo e o fausto dos festins das cortes da Renascença e do
Barroco europeu, e as refeições dos paulistas, mesmo os mais abastados, havia
uma diferença imensa; mas isso não equivale a dizer que essas não possuíam sua
dose de ritualidade e de signos de identidade social, os quais foram se
constituindo ao longo do tempo.257
As alfaias litúrgicas eram as peças têxteis utilizadas nas cerimônias religiosas.
Juntamente com os paramentos litúrgicos, como casula e sobrepeliz, o padre Antônio
Francisco da Luz possuía objetos que compunham, provavelmente, a capelinha que existia
no interior de sua casa, na rua da Palma.258
São imagens, oratórios, objetos como cálices,
castiçais, jarrinhas, galhetas, e até um ferro de fazer hóstias.259
Os itens têxteis foram
agrupados como Alfaias litúrgicas no momento da classificação das roupas de casa,
253 SILVA, Luciana da. Artefatos... p. 103. 254 MACHADO, Alcântara. Vida... p. 104. 255VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material ...p. 297. 256 Cf. olho de perdiz no Glossário ao final. 257 ALGRANTI, Leila Mezan. "Artes de mesa... p. 5. 258
ARQ/MRCI – Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A. folha 18verso. 259 ARQ/MRCI – Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A. folha 8 verso.
80
respeitando sua função. Essas peças são duas bolsas de corporais $480 (quatrocentos e
oitenta réis), dois corporais novos arrendados 1$600 (mil e seiscentos réis) e um frontal de
branco e encarnado feito de tafetá, galão e fita de retrós amarelo 1$000 (mil réis).260
Observando a relação da posse dos móveis e das roupas da casa, constatamos que
doze indivíduos da amostra ituana possuíam mesa e toalha de mesa, três dispunham de
mesa com a sua respectiva toalha e guardanapos, seis tinham toalhas de mão e de mesa sem
possuir mesa, dois apenas as toalhas de mão e quatro possuíam apenas os móveis, sem
nenhuma peça de roupa da casa. Já em relação à roupa de cama, havia seis conjuntos de
roupa de cama completos (lençol, fronha e coberta) e colchão e catres, quatro completos
com cama e colchão. Sete pessoas possuíam catre e lençol e três pessoas, cama com
colchão e lençol e uma, um estrado e lençol. Uma pessoa possuía peças de roupa de cama e
de mesa mas nenhum móvel, e cinco não possuíam nem móveis nem roupas da casa.
Nos inventários encontramos tecidos e materiais empregados para confecção de
vestimentas e de roupas da casa arrolados nos domicílios ituanos.
Tabela 4 – Matérias-primas têxteis arroladas nos domicílios ituanos, 1765-1808
Material Quantidade
Algodão em rama 4
Pano de Algodão 1
Pano de Algodão e seda 1
Pano de Algodão grosso 1
Fio de Algodão grosso 2
Fio de Algodão entrefino 1
Fio de Algodão fino 1
Baeta 3
Bretanha de Hamburgo 1
Brilhante de lã 1
Chamalote 1
Chita 3
Linho 3
Linho fino 1
Ruão 1
Tafetá 1
260 Corporal é um “tecido em forma quadrangular sobre o qual se coloca o cálice com o vinho”. <http://www.ahoradamissa.com/doc_glossario.html> . O Frontal é um “paramento que cobre a frente do altar.
< http://www.priberam.pt/dlpo/frontal> . Acesso em 07.ago.2014.
81
Total 26
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Contas de testamento e inventários, vila de Itu
Os pedaços de tecidos de linho, chita e baeta constam em três inventários. Embora
em pequena quantidade, os itens de algodão, em rama, fios de algodão e panos figuram
entre os materiais pertencentes aos lares ituanos. O pano de algodão e seda relacionado
acima está descrito como “um corte de saia de algodão e seda, avaliado em oito mil réis”,
descrição interessante pois indica a peça de vestuário que seria confeccionada com aquele
corte de tecido de posse do sacerdote Antônio Francisco da Luz.261
Apenas dois teares foram registrados na vila de Itu, sendo um “de fazer rede”, e o
outro, “um tear ordinário de tecer algodão, avaliado em $640 (seiscentos e quarenta
réis).”262
O conjunto mais completo relacionado à atividade de fiação e tecelagem
algodoeira, figurou dentre os bens de Antônio Antunes Pereira, que consistia em “um
escaroçador de descaroçar algodão, $160 (cento e sessenta réis); uma roda de fiar algodão
desconcertada, $640 (seiscentos e quarenta réis); uma roda de fiar melhor com seus
desconcertos, 1$000 (mil réis); um pente com seu [-] de tecer pano de algodão em $400
(quatrocentos réis).”263
Igor Renato Machado de Lima apontou a importância da atuação feminina de
senhoras e cativas, denominadas “cunhãs tecedeiras” no cultivo, fiação e tecelagem de
panos de algodão nos domicílios do Planalto de Piratininga, entre os séculos XVI e
XVII.264
De acordo com Lima, dentre os produtos confeccionados com o algodão da terra,
estavam “os gibões, as toalhas de mesa, de banho e de lavar as mãos, assim como as redes
de dormir”265
. A produção não estaria voltada apenas ao uso doméstico, mas também era
vendida com a finalidade de gerar renda.266
O autor observou que a década de 1630 foi
261 ARQ/MRCI - Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A . folha 24 verso. 262 ARQ/MRCI - Inventário de Teresa Jesus Barbosa, 1791, caixa 1. folha 3; Inventário de Ana Leite Gularte,
1808, caixa 17B . folha 7verso. 263 ARQ/MRCI - Inventário de Antonio Antunes Pereira, 1802, caixa 16. folha 9. 264 LIMA, Igor Renato Machado de. O fio e a trama: trabalhos e negócios femininos na vila de São Paulo
(1554-1640). Dissertação (Mestrado em História Econômica). 2006. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas. Universidade de São Paulo, 2006. p. 157 265
LIMA, Igor Renato Machado de. O fio e a trama... p. 136 266 LIMA, Igor Renato Machado de. O fio e a trama... p. 139
82
marcada pelo crescimento da produção de algodão e tecidos domésticos.267
Já na segunda
metade do século XVII, Lima apontou que “quando a produção algodoeira expandia-se
juntamente com a pecuária, havia uma retração na lavoura de trigo. Nesse processo, os
homens senhoriais assumiam a produção e a organização algodoeira.”268
Na amostra ituana, são poucos os registros de teares e de pano de algodão, o que
não significa que não havia produção local de algodão. Talvez os teares e demais acessórios
estejam relacionados em bens de pessoas com menor cabedal, ou nem tenham sido
inventariados, dados os baixos valores com que eram estimados, como o citado acima, que
foi avaliado em $640 (seiscentos e quarenta réis). Nos inventários de nossa amostra,
constam majoritariamente os tecidos importados de variadas qualidades e preços.
Para a vila de São Paulo entre os séculos XVI e XVII, Luciana da Silva apontou que
armazenar estes tecidos para futuramente mandar confeccionar roupas novas,
significava ter à sua disposição materiais requintados e, geralmente de difícil
acesso, que poderiam representar altos valores acrescidos no patrimônio. Como
no caso de Belchior Carneiro, falecido em 1609 no sertão, cuja fazenda somava
200$850 (duzentos mil, oitocentos e cinqüenta réis) entre os quais 8$110 (oito
mil, cento e dez réis) eram referentes mais ou menos 12 côvados de gorgorão
vermelho e mais ou menos nove côvados e meio de tafetá da Índia.269
Para a documentação ituana pesquisada, o valor e a porcentagem que os tecidos
possuídos representavam em relação ao total de bens era muito pequena: 0,05%, 0,4%,
chegando até a 2%. Mesmo avaliando o corte de tecido mais caro, o de Antonio Francisco
da Luz, mencionado acima, no valor de 8$000 (oito mil réis), representa apenas 0,09%,
pois seu espólio total é de 8:614$430 (oito contos, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e
trinta réis).
Entre o final do século XVIII e início do século XIX, a composição material dos
domicílios ituanos aponta a grande diferença em relação à feição rústica das casas e objetos
mencionados nos inventários do Planalto de Piratininga nos séculos XVII e início do
267 LIMA, Igor Renato Machado de. O fio e a trama... p. 135 268 LIMA, Igor Renato Machado de. "Habitus" no Sertão: gênero, economia e cultura indumentária na Vila de
São Paulo (1554-C.1650). Tese (Doutorado em História Econômica). 2011. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2011, p. 299. 269 SILVA, Luciana da. Artefatos... p. 71
83
XVIII, já sinalizando a tendência que mais adiante se afirmará com a chegada da corte
portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, da adoção de elementos europeus na forma de
viver e de se relacionar de maneira mais sistemática. A mudança ocorrida a partir de
meados do século XVIII transformou a composição dos domicílios, bem como as formas de
sociabilidade e os costumes domésticos, como apontou Leila Algranti.270
Desta forma, foi possível observar a valorização dos tecidos importados em
detrimento dos panos de algodão de produção local, o aumento significativo de consumo de
produtos estrangeiros. A proibição das manufaturas em terras coloniais estreitou ainda mais
os vínculos comerciais entre colônia e metrópole, introduzindo de forma acentuada os
produtos ingleses na América Portuguesa mesmo antes da abertura dos portos, em 1808.271
Este capítulo buscou apresentar a vila de Itu em seus aspectos materiais e sua
composição social de forma mais ampla para o entendimento das vestimentas e da
aparência, objeto principal de nosso estudo, dando por isso algum destaque aos bens têxteis.
A vila de Itu se expandiu durante a segunda metade do século XVIII devido
principalmente à lavoura canavieira. Os indícios materiais de Itu como as construções de
casas, igrejas, fazendas e engenhos atestam a riqueza do período.
Nosso estudo centrou-se em uma amostra dos habitantes da vila. Dentre os
indivíduos estudados, estão pessoas de diferentes níveis econômicos, como por exemplo,
senhores de engenho, lavradores, comerciantes, oficial de ferreiro e costureira. A amostra
da população ituana indicou a complexidade e a diversidade social. Também foi possível
analisar aspectos da religiosidade dos ituanos através dos testamentos. Essa documentação
fornece elementos de devoção e fé, bem como a materialidade envolvida no processo, com
o registro das doações dos fiéis às igrejas e capelas.
270 ALGRANTI, Leila Mezan. “Famílias... p. 153. 271 MONTELEONE, Joana de Moraes. O circuito das roupas: a corte, o consumo e a moda (Rio de Janeiro,
1840-1889). 2013. Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 13.
84
Apresentamos alguns aspectos teóricos importantes do campo da cultura material,
ressaltando os autores e as possibilidades viáveis de análise da materialidade. Em seguida,
passou-se à análise dos bens arrolados na documentação, avaliados por categorias.
A análise da população e das categorias de bens de forma mais ampla, evidenciou a
riqueza do açúcar através dos altos valores investidos em escravos e nas unidades
produtivas, pertencentes à categoria bens de raiz. Os recheios das casas não alcançaram
valores avultados como as categorias acima mencionadas, mas de maneira geral, apontam
padrões diversificados de consumo e conforto domésticos, inclusive de produtos
importados. Tanto os bens quanto as informações pessoais disponíveis na documentação
consultada nos indicam a heterogeneidade dos indivíduos e as das atividades que
desenvolviam.
85
Capítulo 2 O vestuário da vila de Itu despido em detalhes
Entre os séculos XVIII e XIX, em cidades como Paris e Londres, o grande número
de pessoas que migrou do espaço rural para o meio urbano não permitiu mais que todos os
habitantes se conhecessem, ocasionando, muitas vezes, o não cumprimento das distinções
visuais necessárias pregadas pelo Antigo Regime, como apontou Richard Sennett.1 Em
Portugal, assim como na França, os tecidos, as cores, as insígnias foram regulamentadas
por leis suntuárias, que objetivavam a clara diferenciação social, resguardando à
aristocracia elementos exclusivos2. O luxo, se por um lado era “condenável porque
estabelece a confusão das classes na república, por outro, já é aceitável quando distingue as
pessoas nobres”3.
Segundo Andrea Miranda, “honra, reputação e reverência são quase sinônimas nas
práticas barrocas. É a opinião que confere honra ou não a uma representação social.
Portanto, a mesma é mantida através do reflexo das aparências, como moral da aparência e
aparência moral”4. A valorização recaía no que era visível: por essa razão a aparência era
elemento tão importante, pois era crucial para a organização e ordenamento social.
A sociedade sobre a qual nos debruçamos, embora distante das cortes europeias, era
permeada pelos valores aristocráticos. Um dos aspectos dessa sociedade é o consumo de
prestígio, como ressaltou Norbert Elias5. “Alguém que não pode mostrar-se de acordo com
o seu nível perde o respeito da sociedade.”6 O consumo de prestígio demandava a aquisição
de itens correspondentes ao status daquela camada social para a exibição e manutenção da
1 SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das
Letras, 1988. p. 92 2 ROCHE, Daniel. A cultura das aparências... p.62 – 64. 3 DIAS, Luís Fernando de Carvalho. Luxo e Pragmáticas no pensamento econômico do século XVIII.
Separata do Boletim de Ciências Econômicas da Faculdade de Direito de Coimbra. v. IV, número 2-3, 1955,
número 1-2-3, 1956. p. 27. 4 MIRANDA, Andréa Cristina Lisboa de. O traje dominante. Do papel social da indumentária no Barroco
Joanino enquanto forma expressiva de comunicação. 1998. 259 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais).
Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998. p. 86. 5 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ., 2001. p. 86. 6 ELIAS, Norbert. A sociedade corte... p. 86.
86
mesma, enquanto o ethos burguês, de poupança ou gasto restrito aos rendimentos era
desprezado pelos aristocratas.
Na América Portuguesa a sociedade de ordens foi adaptada devido ao contexto
diverso, como destacou Vera Ferlini, “a plantação escravista transformou e ampliou as
tradicionais categorias, transformando em pessoas de mor-qualidade muitos que não
poderiam assim ser chamados em Portugal”7. Dada a diversidade social,
não bastava ser livre e possuir escravos, pois o princípio estamental dessa
sociedade exigia os signos formais e as manifestações externas que
comprovassem ser “homem bom”, “um dos principais da terra”, “limpo de
sangue”, viver “à lei da nobreza” e “não padecer de acidentes mecanismos”.8
Os inventários post-mortem nos proporcionam a possibilidade de avaliar o conjunto
de posses de um indivíduo ou de sua família como um todo em uma dada situação. A
descrição e a avaliação dos bens realizadas por avaliadores e registrada pelo escrivão
carregam elementos subjetivos, pois passaram pelo julgamento desses sujeitos por
comporem o rol de bens a ser partilhado entre os herdeiros. Nosso contato com a
vestimenta do período se dá através apenas da descrição realizada pelo escrivão.
Dentro de nossa análise, o valor monetário atribuído a uma peça de roupa é um
indicativo da importância desta, devido à sua raridade, novidade ou representatividade.
Mas, além da importância monetária, cabe-nos a questão de compreender a importância da
dimensão material e simbólica da vestimenta para os ituanos.
No presente capítulo iremos analisar a posse de peças de roupas e demais acessórios
empregados nos trajes dos moradores da vila de Itu, conforme apontam seus arrolamentos
de bens póstumos, comparando com outras localidades da América Portuguesa e da cidade
de Lisboa, através de uma amostra colhida na mesma fonte documental, os inventários
orfanológicos. A comparação com os dados de outros locais nos fornece um panorama
interessante para compreender o padrão de vestuário encontrado para os ituanos.
7 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Açúcar e colonização. São Paulo: Alameda, 2010. p. 19.
8 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Açúcar e colonização... p. 20.
87
A vila de Itu representava para a Capitania de São Paulo no período analisado uma
localidade próspera devido à produção canavieira destinada à exportação. Mas os
produtores ou comerciantes ituanos não alcançaram o padrão das fortunas do nordeste
açucareiro9. Através dos inventários post-mortem foi possível observar as qualidades e
origens de produtos de diversas localidades que circulavam no Império português.10
2.1 O bens têxteis: materialidade e valor monetário
Os homens da vila de Itu trajavam-se dentro do padrão europeu, com o traje
composto por calções, véstia, colete e casaca, conjunto denominado vestido11
. Na tabela 5 é
possível observar a relação das peças de roupas.
Tabela 5 – Informações sobre as peças de roupas masculinas, vila de Itu, 1765-
1808
Peça Quantidade Média
valor unitário Valor total
Calção 9 1$048 9$440
Calção e colete 4 2$850 11$400
Camisa 15 1$333 17$340
Capa 1 1$920 1$920
Capote 7 5$114 35$800
Casaca 1 1$280 1$280
Casacão 4 5$500 22$000
Ceroula 6 $800 1$600
Chambre 1 1$000 1$000
Colete 12 $736 8$840
Farda 9 10$208 91$880
Fraque 2 1$120 2$240
Gabinardo 1 4$000 4$000
9 FERLINI, Vera Lucia Amaral. “Uma capitania dos novos tempos: economia, sociedade e política na São
Paulo restaurada (1765-1822).” In: Anais do museu paulista. v.17, n.2, p. 237-250, 2009. p. 242. 10 Russelwood apresentou uma relação detalhada dos produtos com origem e destino. In: RUSSELWOOD, A.
J. R. Um Mundo em Movimento, 2006, p. 430. Apud PEREIRA, Ana Luiza Castro. “Uma saia de seda, um
cordão de ouro e um sinete de marfim”: apontamentos sobre a circulação de pessoas e objetos no Mundo
Atlântico Português. XXVIII Encontro da APHES. 2008. p. 4. 11
Durante o século XVIII, o termo vestido era sinônimo de roupa, traje masculino. Quando se referia a
vestidos femininos, geralmente eram registrados como vestido de mulher, roupa de mulher.
88
Hábito 9 6$084 54$760
Jaleco 1 $800 $800
Manto 2 3$200 3$200
Meia 6 $693 4$160
Opa 5 2$080 10$400
Ponche 1 2$000 2$000
Rodaque 4 1$390 5$560
Timão 4 3$600 14$400
Véstia 8 1$415 11$320
Véstia e Calção 2 1$560 3$120
Vestido 5 7$564 37$820
Total 118 444$160
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Contas de testamento e inventários póstumos
A fim de não perder o sentido do conjunto, optamos por não desmembrar as peças
de roupas, mesmo que com tecidos diversos, para a análise dos trajes. Talvez essas
vestimentas fossem utilizadas separadas ou combinadas com outras, mas consideramos que
para o avaliador inventariá-las juntas poderia ter um sentido de unidade no traje.
De forma geral, os itens masculinos mais comuns nos arrolamentos foram as
camisas e os coletes, seguidos dos calções e véstias. Já os maiores valores alcançados nas
avaliações foram para os conjuntos, como as fardas, os vestidos, e para peças de roupas
como os hábitos, os capotes e os casacões.
Os casacões utilizados para proteção contra chuva também poderiam ser
denominados sobrecasaca, pois eram maiores e de tecido mais pesado, utilizados sobre a
casaca que, por sua vez, era utilizada por cima da véstia12
.
O quadro 3 apresenta as cores e os tecidos empregados para cada peça de roupa do
universo masculino.
12 Casaca era uma “vestidura que hoje se traz por cima da veste; com botões nas mangas, portinholas, etc.”, e
casacão: “casaca grande, que se veste sobre a casaca, por causa de evitar a chuva, etc.” Vide SILVA, Antonio
Moraes. Diccionario da língua portuguesa. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Vol. 2, p. 392. Já em
Bluteau, casaca recebeu a definição: “vestidura com mangas e abas grandes”, e casacão, uma “vestidura com
mangas, mais larga que casaca.” Vide BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 -1728. 8 v. vol. 2, p.
175.
89
Quadro 3 – Relação de cores e tecidos por peças de roupas masculinas, Itu
Peça Cores Tecidos
Calção Preto, amarelo, não
informa
Berbete, bretanha, casemira, cetim, droguete, fustão,
ganga, pano azul, rapão, riscado, veludo
Calção e colete n.i., escarlate Droguete, ganga
Camisa n.i. Bretanha, linho, riscado
Capa n.i. Camelão
Capote Azul, n.i. Baetão, pano azul
Casaca Azul Cetim, pano azul entrefino
Casacão Azul, n.i. Baeta, pano azul, pano azul entrefino
Ceroula n.i. Linho
Chambre n.i. Riscado
Colete Azul, encarnado,
pintadinho, pardo, roxo,
verde
Bretanha, camelão, cetim, chita, droguete, fustão, ganga,
linho, pano azul entrefino, riscado
Farda Azul, branca, n.i. Cetim, fustão, pano azul, pano azul fino
Fraque Azul, n.i. Pano azul, n.i.
Gabinardo n.i. Lemiste
Hábito Parda Camelão, durante
Jaleco n.i. Fustão
Manto n.i. Casemira, seda
Meia Pérola, branca, n.i. Algodão, fustão, seda
Opa Carmesim, n.i. Cambraia, tafetá
Ponche Azul Pano azul
Rodaque Listra, n.i. Ganga, pano azul
Timão Cor de rosa, pintado, n.i.,
azul
Baeta, baetão, chita, pano azul
Véstia Branca, azul, roxa, n.i. Cetim, chita, ganga, pano azul entrefino, veludo
Véstia e calção n.i. n.i.
Vestido Preta, escarlate, azul e
branca, azul, azul e preta
Belbutina, chita, lemiste, pano azul, pano azul entrefino,
seda, veludo
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Autos de Contas de Testamento, Inventários póstumos
Analisando a amostra masculina, o tecido com maior ocorrência dentre todas as
peças foi o pano azul, seguido pelo cetim e pano azul entrefino13
. Já as peças que
apresentaram a maior variedade de tecidos foram os coletes e os calções.
As roupas utilizadas por cima das demais, para proteção contra o frio, a chuva,
como as capas e os capotes eram confeccionadas com tecidos resistentes, como o camelão e
o baetão, enquanto que as peças de uso próximo à pele, como os coletes, as véstias eram
comuns de cetim, chita e ganga.
13 Entrefino designa um pano nem grosso, nem fino, intermediário. Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário de termos têxteis e afins. Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património.
Porto, I Série, vol. III. p. 137-161, 2004. p. 139.
90
As roupas usadas em contato direto com a pele eram de bretanha, linho e pano
riscado para as camisas, e apenas uma de linho foi identificada para ceroula14
. A
inexistência de peças de algodão de uso íntimo nessa amostra nos suscita algumas hipóteses
e dúvidas. Havia mais peças, porém pelo baixo valor não entraram na avaliação? Os
inventariados ituanos seguiram a tendência portuguesa do século XVIII em utilizar
majoritariamente peças de pano de linho? Pois o emprego sistemático do algodão em
substituição ao linho iniciou-se no final do século XVIII e se estabeleceu definitivamente
no século XIX. Nuno Madureira apontou uma recomendação feita em 1784, onde as
vantagens do pano de algodão seriam que este “ensopa o suor sem esfriar o corpo”, menos
se suja e é melhor de lavar15
. Mesmo sem a ocorrência de teares, de produção caseira nos
domicílios inventariados, o pano de algodão de qualidade inferior poderia ser adquirido e
com ele confeccionado as vestimentas dos cativos.
Inácio Leite da Fonseca era senhor de engenho, faleceu no ano de 1806. Entre
diversos bens, destacamos três categorias, de acordo com o Quadro 4:
Quadro 4 – Vestuário e joias pertencentes a Inácio Leite da Silveira, 1806, Itu
Categoria de
bem Descrição
Avaliação
(em réis)
Valor percentual no
espólio dos
inventariados
Roupas Hábito de terceiro do carmo com todos
seus pertences, lenço, par de meia de
algodão, camisas de bretanha, casacão,
fraque, timão e capote de pano azul, par
de meia de fustão, calção de duraque
24$400 1,0
Objetos de uso pessoal
relacionados à
aparência
Chapéu de sol, espora de prata, fivelas de calção de prata, fivelas de sapato de
prata, botas de veado
24$160 1,0
Joias Par de brincos e anéis 8$960 0,4
Total 57$520 2,4
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Fonseca
14 Para os tecidos denominados pano azul e pano riscado não foi possível identificar suas matérias-primas.
Supomos que o pano azul pudesse ser de algodão. 15 MADUREIRA, Nuno Luís Monteiro. Inventários: aspectos do consumo e da vida material em Lisboa nos finais do Antigo Regime. 1989. Dissertação (Mestrado) em Economia e Sociologia Históricas. Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 1989, p. 93.
91
Inácio possuía além do hábito carmelita, dois dos seis pares de meia da amostra,
camisas de bretanha e um calção de duraque. De pano azul, um casacão, um capote e um
timão. O fraque de pano azul usado, avaliado em 1$280 (mil duzentos e oitenta réis) não foi
o único encontrado, pois em data anterior (1798), constou um fraque usado no rol de bens
de Felisberto Ferraz Leite, no valor de $960 (novecentos e sessenta réis).16
Esta roupa
aponta que a influência inglesa se fez sentir também nas peças, além dos tecidos.17
Inácio dispunha também de um chapéu de sol, esporas e fivelas de prata para calção
e sapatos. O par de botas já usado, de veado, no preço de $960 (novecentos e sessenta réis),
juntamente com o par de botas já usados, avaliadas em 1$000 (mil réis) de Francisco Paes
de Siqueira, formam os dois únicos pares de calçados masculinos da amostra18
.
Os poucos sapatos registrados nos inventários ituanos contrastam com as 41
ocorrências de fivelas de sapatos e 29 de esporas. Se existem fivelas de sapatos, podemos
supor que se não existiam pares de sapatos no momento do inventário, mas em algum
momento havia. Outras possibilidades eram a doação ainda em vida, depois da morte, ou
mesmo a divisão entre familiares próximos antes da confecção do inventário e partilha.
Marco Aurélio Drumond localizou, na comarca de Rio das Velhas, pares de sapatos
em 24 de 160 inventários, perfazendo um total de 15%. De 24 inventariados, 16 tinham
monte mor (soma total dos bens) acima de 1:900$000 (um conto e novecentos mil réis)19
.
Cláudia Mól observou sobre o sapato que
em terras coloniais, tornou-se restrito a um pequeno número de “gentes de
qualidade”, só aparecendo em maiores quantidades no fim do século XVIII.
Sérgio Buarque identificou, nas zonas rurais, o hábito de só se calçar os sapatos
para entrar nas Vilas. Talvez pela sua importância, o sapato tenha-se tornado,
16 ARQ/MRCI – Inventário de Antônio Francisco da Luz, Inventário de Felisberto Feraz Leite. 17 “Vestir à inglesa, sobretudo para os homens, passa a ser o toque e o paradigma dos europeus. Usado ainda
sobre um calção, surge, criado por Lord Brummel, o célebre ´frac´ preto que se mantém até hoje, com
algumas variantes de pormenor.” GAMA, Luís Filipe Marques da. , TEIXEIRA, Madalena Braz. (org.) Traje
palaciano: Século XVIII – Império. Mafra: Câmara Municipal, 1986. p. 9 18 ARQ/MRCI – Inventário de Francisco Paes de Siqueira, 1799, caixa 9, folha 5 verso. 19 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material: Produção, comércio e usos na Comarca do Rio das Velhas (1711-1750). 2008. 217f. Dissertação (Mestrado) em História. Faculdade de Filosofia e
Ciências humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008, p. 114.
92
para o forro, símbolo de sua liberdade, uma vez que a alforria dava, ao negro, um
direito negado quando escravo: o de andar de pés calçados.20
Os calçados são, indiscutivelmente, elementos simbólicos importantes durante os
séculos XVIII e XIX, como já mencionado, mas também eram artefatos de grande utilidade
que conferiam proteção. Dessa forma, ao considerar os valores obtidos pelas avaliações das
botas e o valor total dos bens de Inácio, 2:228$070 (dois contos, duzentos e vinte e oito mil
e setenta réis) e o de Francisco, 416$670 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta
réis), os calçados, ou pelo menos as botas não eram itens inacessíveis neste período, visto
que Francisco tinha um espólio bem mais humilde que Inácio, mas ambos tinham um par
de botas, no mesmo estado e com preços muito semelhantes.
Para melhor compreender o padrão dos bens de Inácio, arrolamos no Quadro 5 os
objetos de outro senhor de engenho, o padre Antonio Francisco da Luz, cujo total de bens
era de 8:614$430 (oito contos, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta réis).
Quadro 5 – Vestuário e joias pertencentes a Antônio Francisco da Luz, 1805,
Itu
Categoria de
bem Descrição
Avaliação
(em réis)
Valor
percentual no
espólio dos
inventariados
Roupas Camisas de bretanha, colete e roupa de cetim
pintadinho, colete e timão de chita, camisa, ceroula e
colete de linho, gabinardo de lemiste, rodaque e
calção de ganga, vestido curto, véstia e calção de
veludo, timão comprido e capote de baetão, vestido,
rodaque, casacão e capote de pano azul, vestido de
belbutina, colete roxo de camelão, calção de rapão
72$280 0,8
Objetos de uso
pessoal
relacionados à
aparência
Bastão de prata, bengala de cana da índia com
ponteira de prata, chapéu de rua coberto de tafetá
verde, espora, fivela de calção, fivela de sapato,
relógio de algibeira, óculos de armação de molas de prata
32$830 0,3
Joias Dois pares de brinco de prata 12$000 0,1
Total 117$110 1,2
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de Antônio Francisco da Luz, 1805, folhas 5 verso – 20 verso
20 MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres forras: cotidiano e cultura material em Vila Rica-1750-1800. 2002. Dissertação (Mestrado) em História Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002, p. 116.
93
Em relação a Inácio, Antônio tinha maior diversidade de peças e em quantidade,
sem contabilizar aqui a indumentária religiosa. Em comum, camisas de bretanha, timão,
capote. A principal diferença entre as duas relações de roupas, é a presença de três vestidos
no espólio do padre: um vestido curto de veludo em 6$000 (seis mil réis), um de belbutina
no valor de 2$200 (dois mil e duzentos réis) e um vestido curto de pano azul velho na
quantia de 1$000 (mil réis)21
.
José Gonçalves de Barros possuía três conjuntos. São eles: um vestido de casaca de
lemiste, véstia e calção de veludo preto, tudo velho, avaliado em 1$920 (mil, novecentos e
vinte réis), um vestido de casaca de pano escarlate com seu calção e véstia sem mangas de
seda da fábrica, tudo novo, em 14$500 (quatorze mil e quinhentos réis), e uma casaca de
pano azul com véstia de cetim branco, sem informar o estado, em 2$600 (dois mil e
seiscentos réis)22
. Já o tenente José Manoel Caldeira Machado dispunha de um “vestido de
pano azul com calção e colete de cetim também azul, com bastante uso, por 6$000” (seis
mil réis)23
.
No inventário da primeira esposa do alferes Luciano Francisco Pacheco, Ana
Gertrudes de Campos, consta uma casaca nova de pano azul fino com véstia e calção de
cetim preto, avaliada em 12$800 (doze mil e oitocentos réis)24
.
Nos cinco trajes mencionados acima, observamos a diferença na composição do
traje, sendo a casaca feita de um tecido mais encorpado em comparação ao tecido
empregado na véstia, calção ou colete. As combinações são lemiste e veludo, pano escarlate
e seda, e pano azul e cetim25
. Exceto o primeiro traje de Barros, os outros calções, coletes e
véstias eram de cetim ou seda. Os panos escarlate e azul são razoavelmente recorrentes na
21 ARQ/MRCI - Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A . folha 10 22 ARQ/MRCI - Inventário de José Gonçalves de Barros, 1779, caixa 10 . folha 5 verso. 23 Inventário de José Manoel Caldeira Machado, 1809, caixa 17B . folha 7 verso 24 Inventário de Ana Gertrudes de Campos, 1808, caixa 17B . folha. 5 25 Lemiste era um pano de lã, muito fino, que vem de Inglaterra. Vide BLUTEAU, Raphael. Vocabulario... v.
5, p. 77. O veludo poderia ser de lã, seda ou algodão. Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 160. Já
a seda é feita a partir da “substância filamentosa, produzida pela larva de um insecto chamado bicho-da-seda
(esp.bombyx mori)”. Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 157. Feito a partir do mesmo material, o cetim é um pano de seda lustroso e fino. Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 142.
94
documentação, mas não indicam sua matéria-prima. Supomos que poderiam ser de algodão,
pela oferta e por serem tecidos bastante citados.
Os valores dos vestidos variavam de acordo com o estado e principalmente pelo
tecido empregado, como exemplo, dois vestidos pertencentes à Inácio Pacheco da Costa,
em que um vestido de ganga recebeu o valor de $800 (oitocentos réis) e um de droguete,
2$000 (dois mil réis).
Quadro 6 – Bens de Inácio Pacheco da Costa
Categoria de
bem Descrição
Avaliação
(em réis)
Valor percentual
no espólio dos
inventariados
Roupas
Hábito de terceiro do carmo velho, vestido de
ganga, vestido de droguete escarlate com calção e
colete, vestido de pano azul, calção e colete de
ganga, calças e coletes de riscado
10$600 0,9
Joias Dois pares de brincos de ouro 4$640 0,4
Total 15$240 1,3
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Pacheco da Costa
Inácio possuía um sítio no bairro do Atuaú, com uma morada de casas, avaliado em
25$600 (vinte e cinco mil e seiscentos réis). Se compararmos com os valores dos bens
discriminados no Quadro 6, a diferença não é tão grande. Já a casa na vila, localizada na rua
das Casinhas, valia 200$000 (duzentos mil réis), o que evidencia a valorização do espaço
da vila em relação ao bairro rural, especialmente neste caso em que Inácio não possuía
nenhuma benfeitoria relacionada à atividade açucareira.
Entre seus bens, constam ainda dois pares de brincos de ouro (que provavelmente
eram de sua esposa Maria Ribeiro), que perfazem 0,4% do total de seus bens, mas que são
importantes simbolicamente, pois são adornos de ouro, material muito valorizado. Já
Antônio Dias de Matos, não apresentou nenhuma joia ou adereço de uso pessoal, apenas
duas peças de roupas, a saber: um capote de baetão azul avaliado em 3$000 (três mil réis), e
95
uma véstia de pano azul no valor de 2$400 (dois mil e quatrocentos réis), que somados,
5$400 (cinco mil e quatrocentos réis), equivalem a 2,4% dos bens.26
O caso de Antônio é um interessante exemplo de presença de roupas em um
inventário póstumo com poucos bens. Quando faleceu em 1800, Antônio deixou um filho
solteiro e uma filha viúva que tivera em seu primeiro matrimônio, e sua segunda esposa,
Maria Leme, grávida de quatro meses e um filho de dez anos. Possuíam uma casa na rua
Direita, defronte o portão de São Francisco, e um sítio em que viviam, com terras, uma
rodinha e prensa de ralar mandioca e um oratório. Dispunham de poucos móveis, dois
catres, dois bancos e duas caixas, uma rede e duas toalhas de algodão. Cinco ferramentas,
enxadas, foices e machados, duas juntas de bois, dois cavalos e a escrava Escolástica que
contava com 50 anos, avaliada em 30$000 (trinta mil réis)27
. Sem grandes somas em bens
de raiz ou escravaria, as roupas representavam 2,4% de seus bens, valor maior dos casos
acima mencionados. Os bens de Antônio comprovam o padrão observado quando
calculamos os bens sem os valores de imóveis e escravos, situação que aponta um
percentual maior das roupas em relação ao total.
Além das peças de roupas, faz-se necessário avaliar os objetos de uso pessoal
relacionados à aparência. São objetos associados à higiene pessoal, como as navalhas de
barba, utilizados para adorno, ou com alguma função específica, como as bengalas, bastões,
esporas, óculos, mas que juntamente com as roupas contribuem na composição da
aparência. Mesmo possuindo uma função utilitária, como a proteção de raios solares,
chuva, os chapéus também poderiam ter a função de adorno, principalmente quando
composto por tecidos finos, galões e fitas douradas. Neste sentido, também as fivelas de
sapatos, de calção, de gravata, de pescocinho, que primeiramente servem para unir, fechar,
mas por ficarem aparentes, adornavam também. Na tabela 6, reunimos os dados sobre esses
objetos.
26
ARQ/MRCI – Inventário de Antônio Dias de Matos, 1800, caixa 14B. 27 ARQ/MRCI – Inventário de Antônio Dias de Matos, 1800, caixa 14B, folhas 3 – 4 verso.
96
Tabela 6 - Objetos de uso pessoal relacionados à aparência, Itu, 1765-1808
Objetos Quantidade Valor (em réis)
Bastão 6 15$600
Bengala 3 6$400
Cabeleira 1 $080
Chapéu 32 59$260
Dragonas Não informa 4$000
Escova 1 $160
Espora 29 135$450
Fivela 19 51$530
Fivela de calção 22 20$040
Fivela de gravata 3 1$680
Fivela de pescocinho 2 $950
Fivela de sapato 41 140$325
Navalha 3 $400
Óculos 2 2$000
Relógio 9 132$960
Sapato 6 2$960
Total 179 573$795
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Contas de testamento, inventários
Os objetos associados à higiene encontrados são uma escova e três navalhas de
barba. A escova não foi descrita em detalhes, nem sua função específica.
No espólio de Maria Francisca Vieira consta a única cabeleira da amostra. A
descrição informa que era pequena, e foi avaliada pelo baixo valor de $080 (oitenta réis)28
.
João Fernandes da Costa não possuía a cabeleira, mas sim duas cabeças para cabeleiras,
$480 (quatrocentos e oitenta réis) e uma boceta de cabeleiras, $200 (duzentos réis). Olanda
Vilaça encontrou duas cabeleiras no norte de Portugal, uma em Barcelos, entre 1750-1760,
e uma em Póvoa de Lanhoso entre 1801-181029
. Drumond localizou em Rio das Velhas na
primeira metade do século XVIII duas cabeleiras: uma escura e outra com sua cabeça30
.
Dentre os inventariados da amostra, encontramos 32 chapéus, totalizando 59$260
(cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta réis). Doze desses, 37,5%, foram caracterizados
como “de sol”, uma denominação relacionava ao seu uso, de proteção ao calor do sol31
.
Drumond encontrou os seguintes tipos, chapéu fino, entre fino, de sol e de Braga para
28 ARQ/MRCI – Inventário de Maria Francisca Vieira, 1796, caixa5. 29 VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material ... p. 457. 30 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material... p. 154. 31
“artificioso defensivo do calor do sol”. Vocábulo chapéu. Vide BLUTEAU, Raphael. Vocabulario... v.. 2,
p. 275. Disponível em: < http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/chapeu>. Acesso em: 10.nov.2014.
97
Minas Gerais. Nas lojas, o chapéu grosso da terra era comercializado a $600 (seiscentos
réis) enquanto os finos, custavam até 2$000 (dois mil réis)32
.
Na vila de Itu, em média, tanto um chapéu confeccionado com ganga quanto com
holanda apresentaram valor de 2$000 (dois mil réis). Os tecidos empregados mais comuns
eram olanda, ganga, senão feitos inteiramente, pelo menos cobertos com um desses dois
tecidos.
As fivelas poderiam ser registradas com seus usos, como de calção, de gravata, de
pescocinho ou de sapatos. Os itens redigidos sem especificação foram contabilizados
separadamente, contabilizando 19 pares de fivelas, avaliados no total em 51$530 (cinquenta
e um mil, quinhentos e trinta réis). As mais recorrentes foram as fivelas de sapato (47,1%),
seguidas das de calção (25,2%), as fivelas sem indicação de uso (21,8%), as de gravata
(3,4%) e, por fim, as de pescocinho (2,2%). As fivelas, em sua grande maioria, eram de
prata, que na época, era avaliada em $100 (cem réis) a oitava33
.
A charneira, “peça com que se segura a fivela prendendo-a com as orelhas do
sapato”34
, apesar de mencionada em sapato era mais comum em fivela de calção. O padrão
observado foi o de fivela de prata, com a charneira em ferro, na média de 1$000.
De modo geral também as esporas seguiam o mesmo padrão das fivelas,
confeccionadas em prata. Uma apenas foi descrita como de metal amarelo, no valor de
$620 (setecentos e vinte réis)35
.
O bastão estava relacionado ao uso militar, “só por insígnia, e distintivo militar” ou
também como as bengalas, para apoio, conforme registrou Moraes Silva36
. Embora com
características funcionais, poderia contribuir com a boa aparência de quem o portava,
32 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material... p. 111. 33 Oitava era uma unidade de medida, que correspondia à 1/8 de onça, 0,112 gramas. Informação disponível
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigas_unidades_de_medida_portuguesas>. Acesso em: 30.ago.2014. 34 Vocábulo charneira. Vide PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira. Typographia de
Silva, 1832. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/3/charneira> . Acesso em: 24.ago.2014. 35 ARQ/MRCI - Inventário de José Leme de Oliveira, 1800, caixa 14A, folha 4 verso. 36
Vocábulo bastão. Vide SILVA, Antônio Moraes. Diccionario... vol. 1, p. 268. Disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/2/bast%C3%A3o> . Acesso em 01.set.2014.
98
especialmente quando empregados metais preciosos como a prata, ou adornadas. Os
proprietários de bastões do nosso universo de análise tinham títulos militares e um era
sacerdote.
Os bastões não indicavam o material com o qual foram confeccionados, mas
mencionavam apenas que possuíam a ponteira de prata, em cinco de seis ocorrências. Já as
três bengalas eram uma de cana da Índia, no valor de 4$000 (quatro mil réis), e duas de
madeira da terra, ambas avaliadas em 1$200 (mil e duzentos réis)37
. Passamos agora a tratar
as roupas femininas.
Dos 44 inventariados de nossa amostra, 15 são mulheres e um casal foi inventariado
junto. Em alguns casos em inventários de chefes de família foi possível identificar objetos
de uso feminino, como joias ou peças de roupas descritas como capote de mulher.
Reunimos os dados referentes ao vestuário feminino na Tabela 7 e no Quadro 7.
Tabela 7 – Tipos de peças de roupas femininas, quantidades e valores, vila de
Itu, 1765-1808
Peça Quantidade Média valor
unitário Valor total (em réis)
Avental 1 8$000 8$000
Camisa 1 1$600 1$600
Capote 1 12$800 12$800
Cinto 1 2$000 2$000
Espartilho 1 5$000 5$000
Manteleta 1 4$000 4$000
Manto 1 3$200 3$200
Marcelina 1 2$000 2$000
Meias 1 $640 $640
Penteador 2 1$000 2$000
Rasgão 2 4$640 9$280
Roupa 1 18$000 18$000
Roupa com avental 1 14$400 14$400
Roupa com manto 2 14$400 28$800
Roupinha de cabeça 1 1$280 1$280
Saia 15 3$710 70$500
Vestido 1 20$000 20$000
Sem identificação 1 2$000 2$000
Total 35 189$420
37
ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Francisco da Luz, Ana Gertrudes de Campos e José Manoel Caldeira
Machado.
99
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Contas de testamento e inventários
Na média, o valor da peça de roupa feminina é aproximadamente 44% maior que as
masculinas, devido ao emprego de tecidos finos, consequentemente mais caros do que os
que compõem as peças masculinas no geral. O item mais comum do vestuário feminino, a
saia, contou 15 ocorrências. Penteador, rasgão e roupa com manto apareceram duas vezes, e
as demais 13 peças foram encontradas apenas uma vez.
De forma geral, as roupas que caracterizam trajes completos como vestido, roupa e
suas variações com manto, com avental, e apenas uma peça, o capote, obtiveram os maiores
valores monetários, entre 12$000 (doze mil réis) e 20$000 (vinte mil réis).
Quadro 7 – Relação de cores e tecidos por peças de roupas femininas, Itu
Peça Cores Tecidos
Avental Branca Cabaia
Camisa Não informa Bretanha
Capote Encarnada n.i.
Cinto Branca Cabaia
Espartilho Carmesim Veludo
Manteleta Listrada com renda de ouro Cetim
Manto Não informa Seda
Marcelina Branca Cassa
Meias Não informa Seda
Penteador Não informa n.i.
Rasgão Não informa Brilhante, veludo
Roupa Rosa seca Cabaia
Roupa com avental
Preta Cabaia
Roupa com
manto
Preta Cassa, veludo
Roupinha de
cabeça
Não informa n.i.
Saia Pérola, preta, azul, amarela Algodão, baeta, brilhante, cassa, chita, droguete,
durante, guingão, linho, pano azul, seda, veludo
Vestido Branca com raminhos de ouro Cabaia
Sem identificação Não informa Baeta
Fonte: AESP, ARQ/MRCI – Contas de testamento e inventários
Os tecidos mais empregados em peças de nossa amostra foram o veludo, em
espartilho, rasgões, saias e roupas com mantos, e a cabaia, em cintos, roupas, roupas com
avental e vestidos. Curiosamente, de linho e de algodão só constam saias, as camisas eram
100
de bretanha. Para as meias femininas encontramos apenas de seda, diferente das masculinas
que, além de seda, poderiam ser de algodão e de fustão.
A inventariada que apresentou o maior número de saias foi Ana Maria da Silveira,
que possuía sete saias, no valor total de 13$280 (treze mil, duzentos e oitenta réis). A saia
mais valiosa, de droguete preto com pouco uso foi avaliada em 4$800 (quatro mil e
oitocentos réis), valor médio para as saias da amostra, que do mesmo tecido poderia valer
9$600 (nove mil e seiscentos réis).
Quadro 8 – Vestuário, objetos de uso pessoal e joias pertencentes a Ana Maria
da Silveira, 1805, Itu
Categoria de
bem Descrição
Avaliação
(em réis)
Valor percentual
no espólio do
inventariado
Roupas Uma [-] de baeta, camisa de bretanha, saia de
droguete preto, saia aberta de pano azul, saia de
brilhante, saia de chita, saia de baeta azul, saia
de guingão, saia de pano de linho, par de meias
de seda
17$520 2,7
Objetos de uso
pessoal relacionados à
aparência
Par de fivelas de sapatos 1$500
0,2
Joias Par de brincos, um laço, um crucifixo 2$700 0,4
Total 21$720 3,3
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de Ana Maria da Silveira, folha 4 – 4 verso
Ana Maria possuía ainda a única camisa relacionada às vestes femininas, de
bretanha com pouco uso de gola arrendada, e uma peça de baeta sem identificação.
Completam seus bens dois pedaços de tecidos (linho e chita), três toalhas de algodão, sendo
uma de mesa, um par de lençóis de algodão já usados, uma caixa, três vacas e um boi, que
somam 19$420 (dezenove mil, quatrocentos e vinte réis). Os maiores valores do seu
inventario concentram-se no sítio, 340$000 (trezentos e quarenta mil réis) e nos dois
cativos, 265$000 (duzentos e sessenta e cinco mil réis)38
. Teresa Jesus Barbosa, por sua
38 ARQ/MRCI – Inventário de Ana Maria da Silveira, 1805, caixa 16B, folha 3 verso.
101
vez, possuía apenas uma saia de algodão, usada avaliada em $500 (quinhentos réis),
arrolada em seu inventário39
.
As roupas confeccionadas com cabaia eram as mais valiosas, a saber: uma roupa cor
de rosa, 16$000 (dezesseis mil réis), uma roupa inteira de cabaia rosa seca com flores,
18$000 (dezoito mil réis), um vestido de mulher branco com raminhos de ouro, 20$000
(vinte mil réis), e uma roupa inteira de mulher cor de rosa, com avental de seda branca,
tudo guarnecido com galões de ouro, 28$000 (vinte e oito mil réis), que pertencia à Josefa
Maria Góes40
. Josefa possuía além da referida roupa com avental, as demais peças,
conforme Quadro 9.
Quadro 9 – Relação das roupas femininas presentes no arrolamento de bens de
José Manoel da Fonseca Leite, 1798, Itu
Categoria de
bem Descrição
Avaliação
(em réis)
Valor percentual
no espólio do
inventariado
Roupas Uma roupa inteira de mulher de cabaia cor de rosa,
com avental de seda branca, tudo guarnecido de
galões de ouro, uma roupa inteira de mulher de
cetim preto com seu manto, uma roupa inteira de
mulher de veludo com seu manto usado, uma saia
de seda amarela usada, uma marcelina de pano fino
encarnado, bordado de cetim azul, uma marcelina
inferior, uma saia de cetim azul usada
98$400 0,6
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 16 verso
A roupa de cabaia cor de rosa tinha o avental em seda de cor branca, toda
ornamentada de galões de ouro, adorno que incrementou a roupa feminina mais valiosa da
amostra ituana. Diferentes da primeira, as outras duas roupas inteiras de Josefa eram de um
tecido apenas, e possuíam manto, uma de cetim preto e outra de veludo, avaliadas em
16$000 (dezesseis mil réis) e 12$800 (doze mil e oitocentos réis), respectivamente. Josefa
contava ainda com duas saias, uma de seda amarela usada, 5$000 (cinco mil réis) e uma de
cetim azul também usada, 6$000 (seis mil réis), além de duas marcelinas, uma de cetim
bordada, 25$600 (vinte e cinco mil e seiscentos réis), e outra inferior, no valor de 6$000
39 ARQ/MRCI – Inventário de Teresa Jesus Barbosa, 1791, caixa 1, folha 3 verso. 40
A cabaia era um tecido de seda muito leve, já a cambraia, era fina e transparente, feita de linho ou algodão.
Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 141 – 142.
102
(seis mil réis)41
. Os valores das peças de roupas se equiparavam ao de armas de fogo, como
consta no mesmo inventário, uma arma estrangeira em bom uso, avaliada em 5$000 (cinco
mil réis), valor considerável.42
Outra peça de roupa que não foi possível determinar, o rasgão, consta na relação dos
bens de Maria Leite Pacheco.
Quadro 10 – Vestuário e objetos de uso pessoal pertencentes a Mariana Leite
Pacheco, 1779, Itu
Categoria de bem Descrição Avaliação
(em réis)
Valor percentual
no espólio do
inventariado
Roupas Um rasgão de brilhante, um rasgão de
veludo, uma saia de veludo, um manto
de seda, uma saia de seda de matizes, um
espartilho carmesim
45$280 4,1
Objetos de uso
pessoal relacionados
à aparência
Um par de sapatos de seda 1$000 0,09
Total 46$280 4,2
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de Mariana Leite Pacheco, folha 4
Além da saia mais cara: uma saia de seda de matizes avaliada em 15$000 (quinze
mil réis), Mariana possuía o único espartilho e o único par de sapatos mencionado na
amostra feminina. Mesmo de seda, os sapatos não alcançaram um valor alto na avaliação,
1$000 (mil réis), se compararmos com o valor de 3$200 (três mil e duzentos réis) atribuído
ao seu manto de seda. Já o espartilho de veludo carmesim, valia 5$000 (cinco mil réis),
quantia considerável. Exceto o rasgão de brilhante, as peças de Mariana eram de veludo ou
de seda. O valor das roupas de Mariana foi maior do que os móveis, 9$440 (nove mil,
quatrocentos e quarenta réis), ferramentas e apetrechos de trabalho, 35$360 (trinta e cinco
mil, trezentos e trinta e seis réis) e matérias-primas, $680 (seiscentos e oitenta réis). Só foi
abaixo das categorias já esperadas: escravos, 783$400 (setecentos e oitenta e três mil e
quatrocentos réis), animais e criações, 74$560 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta
réis) e bens de raiz, 130$000 (cento e trinta mil réis).
41 Não foi possível determinar como era uma marcelina, pois não encontramos menção em obras de referência
nem em outras pesquisas do mesmo período. 42
ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 7 verso.
103
Observando o outro extremo, dos inventários mais humildes, Teresa Jesus Barbosa
possuía apenas uma saia de algodão usada avaliada em $500 (quinhentos réis) arrolada em
seu inventário43
. Já a costureira Quitéria de Oliveira, tinha três saias de baeta: azul, $480
(quatrocentos e oitenta réis), preta velha, $640 (seiscentos e quarenta réis) e outra preta por
1$600 (mil e seiscentos réis). As roupas representavam 0,86% dos bens de Quitéria, seus
brincos de ouro 2,5%, sua escrava, 46,2% e as três barras de ouro, 37,4% do total.
Desta forma, a saia foi a peça de roupa mais presente nas relações dos bens
femininos, sendo então mais acessível e presente nos espólios pesquisados, tanto nos
abastados quanto nos mais humildes. Já os vestidos ou roupas inteiras, figuraram em
poucos e valiosos inventários. Elemento distintivo em Paris, a popularização dos vestidos
entre a camada assalariada ocorreu no final do século XVIII, de acordo com Daniel
Roche44
. Mas apenas na capital, pois, comparando os inventários de outra localidade, mais
ao interior, o vestido continua um item inacessível à maior parte da população45
. No caso
da América Portuguesa, Cláudia Mól observou que “usar saia e camisa é mais adequado ao
clima quente”46
. Além da questão do clima, o vestido feminino demandaria mais recursos
para sua confecção se considerarmos a quantidade maior de pano empregada. Marco
Aurélio Drumond também encontrou o padrão de saia e camisa adotado pelas mulheres na
comarca de Rio das Velhas, na primeira metade do século XVIII.47
No Arquivo Nacional da Torre do Tombo pesquisamos uma amostragem de
inventários lisboetas, correspondente a cada ano que havia informações para Itu.
Selecionamos 19 inventários nos anos correspondentes e mais cinco de comerciantes, para
avaliar os estoques de algumas lojas de Lisboa.
A amostragem de inventários portugueses fornece um pequeno parâmetro do
vestuário e tecidos utilizados em Lisboa, importante entreposto comercial, na recepção e
envio de mercadorias entre a Europa e a América Portuguesa. Desta forma, é possível
43 ARQ/MRCI – Inventário de Teresa Jesus Barbosa, 1791, caixa 1, folha 3 verso. 44 ROCHE, Daniel. A cultura das aparências... p. 152. 45 ROCHE, Daniel. A cultura das aparências... p. 152. 46
MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres forras... p. 113. 47 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material... p.125.
104
comparar a presença de tecidos no contexto metropolitano e colonial no período anterior à
abertura dos Portos brasileiros, 1808, bem como a circulação de peças de vestuário antes da
chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro.
Organizados a partir dos mesmos critérios que utilizamos para a vila de Itu, os bens
lisboetas contabilizados apresentaram, em geral, o seguinte perfil: os bens de raiz compõem
50,86% dos bens, seguidos dos estoques das lojas, 20,22% e de dinheiro em espécie,
13,69%. O vestuário alcançou apenas 1,34%. As categorias relacionadas à aparência,
vestuário, joias e objetos de uso pessoal somam 3,61% dos bens. Eminentemente urbano, o
perfil da amostragem lisboeta não apresenta nenhuma ocorrência de animais ou criações,
construções e materiais, instrumentos ligados à escravidão e ouro (em barras). Os escravos
configuram apenas 0,13%48
.
Com relação às roupas, durante a primeira metade do século XVIII, D. João V
(1707-1750) afrancesou a corte portuguesa ao seguir a moda de Luís XIV, inclusive
importando itens franceses como camisas e cabeleiras49
. A partir de 1750, “com a
preocupação pombalina da nacionalização do vestuário, entraram na Moda os tecidos
grosseiros, o briche, a saragoça, o crespo de Lamego, o sorobeque de Vizeu e outros
„panos da terra‟ que até aí só eram usados pelo povo”50
. Já no final do século XVIII, as
mudanças nos trajes ocorridas a partir da Revolução Francesa após 1789 não repercutiu em
Portugal51
. “O conservantismo natural das classes pobres, a distância e a falta de
comunicações que então havia defenderam o povo do caos suntuário proveniente da
48 Um aspecto observado na documentação portuguesa é o emprego de oficiais na avaliação dos bens arrolados em inventários. No início ou ao final do inventário estão os recibos e assinaturas de mestres
carpinteiros para avalição dos móveis, alfaiates para as roupas, ourives para joias, etc. Na vila de Itu para os
anos entre 1765 e 1808 não observamos esta característica. 49 Cf. Capítulo V, HISTÓRIA DO TRAJO EM PORTUGAL. Encyclopedia pela imagem. Porto: Livraria
Chardron, (1920). p. 46 – 52; SUCENA, Berta de Moura. Corpo, moda e luxo em Portugal. 2007.
Dissertação (Mestrado em História) Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. Lisboa, 2007. p. 3; SILVA,
Alberto Júlio. Modelos e modas – traje de corte em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Revista da Faculdade
de Letras – Línguas e Literaturas. Anexo V – Espiritualidade e Corte em Portugal, sécs. XVI – XVIII. Porto,
1993. p. 182. Disponível em: < http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo8151.pdf> . Acesso em 11. out.
2013. 50 HISTÓRIA DO TRAJO EM PORTUGAL. Encyclopedia pela imagem. Porto: Livraria Chardron, (1920). p.
47 51
HISTÓRIA DO TRAJO EM PORTUGAL. Encyclopedia pela imagem. Porto: Livraria Chardron, (1920).
p. 52.
105
revolução.”52
Também se fez sentir a influência inglesa nos cortes e cores mais sóbrios a
partir das duas últimas décadas do século XVIII.
Os trajes lisboetas e ituanos apresentam muitas semelhanças no geral. Apresentamos
os dados referentes ao vestuário masculino e feminino da cidade de Lisboa correspondente
aos mesmos anos observados na amostra ituana. As 631 peças foram elencadas por tipo,
tecidos e porcentagem.
Quadro 11 - Roupas masculinas por peças, tecidos e porcentagem ao total da
amostra lisboeta, 1765-1808
Peças de roupas Tecidos Porcentagem em relação
ao total de roupas
Balandrau Sarja 0,1
Barretes Linho 1,1
Calção Belbute, cetim, ganga, lã, sarja, seda, setineta
veludo
2,3
Calção e camisa Lã 0,1
Calção e casaca Ganga, pano fino e veludo 0,4
Calção e colete Cetim 0,1
Camisa Cambraia, cavalim, esguião, linho, olanda, não
informa
27,2
Camisote Cavalim 1,1
Capa Seda, não informa 0,6
Capote Baetão, brixe, barregana, ruão, não informa 1,4
Casaca Algodão, barregana, chita, casemira, lemiste,
seda, pano fino, pano verde, pano azul, saragoça, não informa
2,8
Casaca com véstia Lemiste, nobreza, saragoça, veludo, pano fino,
não informa
2,5
Ceroula Linho, não informa 6,3
Colete Baeta, cetim, fustão, linho, olanda, não informa 4,1
Gola Pele 0,1
Gravata Algodão, cassa, chamalote 3,6
Hábito Camelão, não informa 0,3
Josezinho Baetão 0,3
Lenço Bretanha, algodão, não informa Quantidade indeterminada
Luva Linho, pelica 1,4
Manto (ordem de
cristo)
Cavalim 0,1
Meias Algodão, linho, seda, lã, não informa 25,1
Penteador Algodão, bretanha, cavalim, linho, não informa 2,2
Pescocinhos Bretanha, cambraia, não informa 11,8
Sobrecasaca Baetão 0,6
52
HISTÓRIA DO TRAJO EM PORTUGAL. Encyclopedia pela imagem. Porto: Livraria Chardron, (1920). p.
52
106
Soleiros Cambraieta, linho 1,4
Véstia e calção Chita, entrefino, fustão e pano azul 0,9
Vestido Brilhante, nobreza, seda, veludo 0,9
Fonte: ANTT – Inventários Orfanológicos e Correição Cível da Cidade de Lisboa, Inventários post mortem,
Lisboa, 24 inventários, 1765-1808.
Em relação às peças de roupas, o traje masculino não apresenta diferença em relação
ao padrão calção, véstia, colete e casaca. As peças de roupas masculinas que não foram
registradas na vila de Itu foram barrete, balandrau, camisote, gola, gravata, luva,
pescocinho e soleiro.53
O barrete consistia em uma “cobertura de cabeça, antiga, usada ainda pelos tempos
d‟el-Rei D. João III e pouco depois.”54
O balandrau era “vestidura com mangas e capuz de
que usam hoje os homens da tumba da Misericórdia”.55
Não foi possível encontrar
definições precisas para soleiro. O pescocinho, uma espécie de capuz, foi descrito como
uma peça de uso de sacerdotes, juntamente com a batina, porém Marco Aurélio Drumond
localizou uma imagem de José Wasth Rodrigues com a legenda “pescocinho ou gravata”
para um laço no pescoço do uniforme de um oficial, o que mostra que não era de uso
restrito de religiosos56
. A maioria dos pescocinhos era de cambraia e os soleiros, de
cambraieta ou linho.
Os dois únicos hábitos da amostra lisboeta pertenciam a Antônio João da Luz,
falecido em 1804. Um dos hábitos da Ordem Terceira do Carmo foi avaliado em 1$600
(mil e seiscentos réis), sem informação do tecido, e o outro, de camelão pardo era
acompanhado de seu cordão e pertencia à Ordem Terceira de São Francisco, em preço de
53 Na documentação ituana, não houve registro da peça de roupa denominada pescocinho, mas apareceram duas fivelas de pescocinho, como apontamos na tabela 2, o que indica que não era um item desconhecido, ou
restrito, já que Marco Aurélio Drumond também observou a presença desta peça em Minas Gerais. 54 Verbete Barrete. Vide SILVA, Antônio Moraes. Diccionario... v. 1, p. 267. Disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/2/barrete>. Acesso em 13.ago.2014. 55 Verbete balandrau. Vide PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario... Disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/3/balandrau>. Acesso em: 12.ago.2014. 56 Pescocinho foi descrito como “Debrum branco, móvel existente nas lobas e batinas dos sacerdotes.
Cabeção, coleira dos padres.” Vide Dicionário Caldas Aulete. Disponível em:
<http://www.aulete.com.br/pescocinho> . Acesso em: 03. nov. 2013. DRUMOND, Marco Aurélio.
Indumentária e Cultura Material... p. 165.
107
2$000 (dois mil réis). É provável que ambos pertencessem ao inventariado e que este fosse
membro das duas ordens terceiras.
Em maior número, as camisas contaram 172 peças e em sua maioria, feitas de linho,
e também as ceroulas (34 de linho e 6 sem informar tecido).
Capotes, nove ocorrências, três de baetão, sendo um destes descrito com mangas.
Quanto às casacas, estas foram registradas sozinhas, com calções ou com véstias, quando
feitos do mesmo tecido. Em número de 18, as casacas presentes nos inventários de Lisboa
consultados atingiram valores variados de acordo com o tecido com o qual eram
confeccionados, desde $600 (seiscentos réis) em uma de barregana, até 2$000 (dois mil
réis) para uma casaca de pano azul.
Na vila de Itu notamos que existiu ocorrência de casacão, mas nenhuma
sobrecasaca. Na amostragem de Lisboa, por sua vez, não consta casacão, apenas
sobrecasaca. Acreditamos tratar-se de um tipo semelhante de casaco, com denominação
diversa nas duas localidades.57
Os lenços foram as peças do vestuário masculino mais difíceis de determinar a
quantidade, pois na maioria dos registros são mencionados apenas no plural “lenços” ou
mesmo como “lenços de várias qualidades”, dificultando a identificação do material. Foi
possível verificar que eram de algodão e bretanha e, ao todo, constam em 15 dos 23
inventários consultados para Lisboa.
O penteador e as meias são, em sua maioria, de linho, tanto masculinos quanto
femininos. Entre os bens analisados, a quantidade de pares de meias elencadas no
inventário de Antonio Ferreira Themudo: 75 pares, entre meias de linho, de linha fina e
57 Casacão era uma “casaca grande para se vestir por cima da casaca que por isso lhe chamam também
sobrecasaca.” Vide PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. Disponível em: <
http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/3/casaca> . Acesso em: 17.nov.2014.
108
crua, de seda, totalizando 34$520 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte réis), ou seja,
27,1% de toda sua vestimenta58
.
A principal diferença notada nos trajes masculinos entre Lisboa e Itu foi em relação
aos tecidos empregados para a confecção das roupas: na amostra pequena de Lisboa,
encontramos 50 tipos de tecidos, enquanto para todos os inventários com têxteis do recorte
na vila de Itu surgiram 31 tecidos diferentes. Com relação às peças utilizadas em conjunto,
em Itu era comum calção e colete do mesmo tecido, ao passo que em Lisboa usava-se a
casaca e a véstia semelhantes.
Reunimos as vestimentas femininas que constavam da amostra lisboeta de 161
peças na Quadro 12, conforme o tipo, os tecidos e a porcentagem que representavam em
relação ao total.
Quadro 12 - Roupas femininas por peças, tecidos e porcentagem ao total da
amostra lisboeta, 1765-1808
Peça Tecidos Porcentagem em relação ao
total de roupas
Anágua Bretanha, cambraieta 1,4
Avental Cassa, não informa 12,4
Baque Baetão 0,6
Camisa Cavalim, linho 2,4
Capa Cetim, baetão, veludo, nobreza e seda 3,1
Capuchinho Cetim, não informa 2,4
Espartilho Não informa 0,6
Josezinho Baetão 1,2
Lenço Cassa, cambraia 6,2
Manto Cetim, seda, não informa 3,1
Mantilha Lemiste, veludo, tafetá, não informa 3,7
Meia Linho, seda, não informa 1,8
Penteador Linho 0,7
Roupão Baetão 0,7
Roupinha Baeta, baetão, baetilha, cetim, chita, droguete,
ganga, seda
15,6
Saia Algodão, baeta, baetão, brilhante, cassa, cetim, chita, droguete, durante, ganga, gobelim,
nobreza
19,8
Vestido Baetilha, cassa, cetim, chita, droguete, fustão,
gobelim, gorgorão, lemiste, nobreza, secezias,
seda, veludo
23,7
Xale Chita 0,6
58 ANTT - Inventário de Antonio Ferreira Themudo, 1789, folhas 41v – 43v.
109
Total 100
Fonte: ANTT – Inventários Orfanológicos e Correição Cível da Cidade de Lisboa, Inventários post mortem,
Lisboa, 24 inventários, 1765-1808.
Apesar de pequena, a amostra lisboeta nos forneceu uma ideia sobre as peças bem
como os tecidos empregados no vestuário feminino em Lisboa de forma geral. As roupas
femininas semelhantes em ambas às localidades são: avental, camisa, espartilho, manto,
meia, penteador, saia e vestido.
A partir de 1750 foi costume utilizar de forma caseira “e não em trajo de cerimônia,
o avental de holandilha ou de cambraia enfeitado de rendas”59
. Para a amostra lisboeta, o
número de 20 aventais encontrados é considerável. Foi possível perceber esse costume de
utilização do avental também na vila de Itu.
O número e tipos de peças de uso caseiro ou roupas „de baixo‟ também são restritos
em Lisboa: apenas duas anáguas, um espartilho, um penteador e um roupão. A proporção
de vestidos em relação às saias, 38 para 32, aponta uma distribuição equilibrada desses
trajes entre as mulheres lisboetas, diferente das ituanas que possuíam mais saias.
Um padrão observado para as roupas lisboetas, tanto masculinas quanto femininas
foi o emprego de tafetá para forro em sua maioria. Existem peças forradas de seda, de
baeta, de cetim, de durante, capas forradas de peles, mas a maior parte das peças são
forradas de tafetá.
O inventário de Angélica Perpétua Rosa Portella enquadra-se em um padrão médio
tanto de roupas quanto de valor, a seguir.
59 HISTÓRIA DO TRAJO EM PORTUGAL. Encyclopedia pela imagem. Porto: Livraria Chardron, (19-). p.
47.
110
Quadro 13 - Vestuário e objetos de uso pessoal pertencentes à Angélica
Perpétua Rosa Portella, 1802, Lisboa
Categoria
de bem Descrição
Avaliação
(em réis)
Valor
percentual no
espólio do
inventariado
Roupas Um vestido [-] gobelem lavrado com 2 panos de fora,
Um vestido de nobreza preto com seu manto de seda à
portuguesa com sua renda, uma mantilha de tafetá preto
guarnecido de renda, uma saia de gobelem de nobreza com folho do mesmo mais claro, uma saia e roupinha de
droguete pano roxo, uma saia de nobreza com seu folho,
com sua capa de nobreza preta com capuz guarnecida de
renda, uma capa de nobreza preta com seu [-] de seda e 2
mantos franceses com [-] de renda, uma saia de algodão
riscado de 4 panos, um vestido de fustão branco de
riscas, um vestido de cassa de riscas, uma saia de cassa,
umas roupinhas azuis sem mangas, três aventais de cassa,
um de ramos e 2 de folhas, uma manta de cassa com
listras roxas e franja, avental em peça de cassa bordada e
outro liso de cassa ordinária, dois lenços novos de
homem bordados para o pescoço, quatro lenços de cassa que servem para a cabeça, lisos, dois lenços e uma tira
para o pescoço, quatro lenços, sete camisas de mulher de
várias qualidades, cinco anáguas, uma de folhos e 5 de
vários panos e feitios, umas ceroulas, quatro roupinhas
brancas e de chita, uma saia de chita verde e ramos, uma
saia de chita desmaiada, saia de cassa de riscas miúdas
com retalho, um Josézinho de baetão roxo lavrado, três
pares de meias
30$000 14,3
Objetos de
uso pessoal
relacionados
à aparência
Um par de brincos de cabeça e pingente com 40 topázios
amarelos e 8 cristais brancos
$960 0,4
Total 30$960 14,7
Fonte: ANTT – Inventário de Angélica Perpétua Rosa Portella, 1802, Lisboa
Para algumas peças há a indicação de uso, como os lenços para o pescoço, lenços
para cabeça. As peças mais valiosas de Angélica eram a capa, saia e vestido de nobreza, um
tecido de seda. As peças de cassa não tinham altos valores como em Itu, pois um vestido de
cassa valia 1$200 (mil e duzentos réis) em Lisboa, enquanto em Itu duas saias de cassa
valiam 3$600 (três mil e seiscentos réis)60
. Deste tecido, encontramos um vestido em
exposição no Museu Nacional do Traje em Lisboa, datado de 1810.
60
ARQ/MRCI – Inventário de Antônio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A, folha 24 verso.
111
Figura 5 - Vestido Império confeccionado em cassa, 1810
Fonte: Acervo da autora/Museu Nacional do Traje e da Moda, Lisboa
Esta é uma peça original, confeccionada de cassa de algodão branco bordado com
lâminas de prata, datada de 1810. Em sentido horário, o vestido inteiro, e detalhes da parte
superior e do bordado na barra, configura-se como um exemplar da moda Império,
caracterizada pelo emprego de tecidos leves e até transparentes e um corte reto, que lembra
as túnicas gregas e romanas.
112
O vestuário masculino e feminino nas amostras ituanas e lisboetas são semelhantes,
tanto em relação aos tipos de peças de roupa, quanto aos tecidos. Como esperado, em
Lisboa a oferta de tecidos era maior, e o valor médio das roupas também era superior.
2.2 Os itens de vestuário nas listas de importação e no estoque da loja de Itu
Nos maços de população, documentação censitária confeccionada entre 1760 e
1830, existe para alguns anos a relação dos produtos importados pela vila de Itu, bem como
os produtos produzidos ali, especificando a quantidade consumida e exportada.61
Para a vila
ituana, estão disponíveis os dados referentes aos anos 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804,
1805 e 1808. Os itens importados são vinho, pano de linho, pano de lã, pano de algodão,
chapéu, meia de seda, tecido de seda e sal, provenientes de Lisboa e da cidade do Porto.
Organizamos as ocorrências dos tecidos importados em dois gráficos, um de Lisboa e outro
do Porto para melhor visualização dos dados.
61 Tabelas denominadas “Mappas da importação dos produtos e manufacturas do Reino, dos outros Portos do Brazil, e dos Paízes Estrangeiros na Paróchia da Vila de Itu no ano ...”. De acordo com ano, poderiam vir no
início, ou no final da listagem do censo.
113
Gráfico 8 – Tecidos provenientes de Lisboa importados pela vila de Itu (em
peças)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1798 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1808
Tecidos Lisboa Linho Lã Algodão Seda
2206
Fonte: AESP - Maços de população, Vila de Itu
Neste gráfico referente aos tecidos provenientes do porto de Lisboa, observamos a
variação dos números de peças de tecidos importados pela vila de Itu. O traço comum
observado para os quatro tecidos foi a diminuição dos itens a partir de 1805.
O tecido que apresentou os maiores números foi o algodão. Em 1798 foram
importadas 2206 peças de pano de algodão, cifra expressiva que precisou ser indicada
numericamente no gráfico, pois não dimensionava os outros valores menores. O pano de lã
apresentou tendência semelhante ao do algodão, mas em menor escala, decresceu entre
1798 e 1801, aumentou em 1802 e 1803 e decresceu em 1804 e 1805.
Os panos de linho não constaram nos dois primeiros anos, mas apresentaram entre
30 e 60 peças entre 1801 e 1803, aumentaram para 130 e 120 peças em 1804 e 1805,
respectivamente, e decaíram para apenas 10 peças em 1808. A seda apresentou números
baixos porém constantes, de 12 a 22 peças entre 1798 e 1804. Em 1805, foi impostado o
maior número de peças, 60, para em 1808 voltar à média de 16 unidades.
Já os panos provenientes do Porto vieram em menor quantidade em relação aos de
Lisboa.
114
Gráfico 9 – Tecidos provenientes do Porto importados pela vila de Itu (em
peças)
Fonte: AESP - Maços de população, Vila de Itu
A concentração da produção de linho no norte de Portugal refletiu-se nos dados de
importação ituana: o maior número de peças de pano de linho, 576 em 1798, enquanto
chegaram 130 peças de Lisboa. O número de peças apresentou um grande declínio até
1801, depois estacionou entre 40 e 60 unidades. A importação das peças de lã também
decaiu entre 1800 e 1801, crescendo e mantendo uma média de 110 peças entre 1802 e
1805, e caindo em 1808. Já os tecidos de algodão e seda não constam nos primeiros anos de
análise, prevalecendo 210 de peças de algodão e apenas 80 de seda, ambos com queda em
1808.
Os dados dos gráficos 8 e 9 confirmam o papel de Lisboa como o “vértice
estratégico do triângulo Portugal-Brasil-Europa”, conforme frisou Nuno Madureira62
. E a
característica produção de linho e lã do norte português, escoada pela cidade do Porto.
Na documentação censitária, na mesma página em que encontramos os mapas de
importação, ao final estão contabilizados os valores das importações e exportações da vila.
62 MADUREIRA, Nuno Luís Monteiro. Inventários... p. 85
115
Curioso notar que um dos itens consiste na “importação dos outros portos do Brasil”, cada
ano com seu valor referente, mas não houve descrição ou menção dos produtos oriundos de
outras localidades.
Em seu trabalho Estrutura industrial e mercado colonial, onde investigou as
relações entre Portugal e Brasil, Jorge Pedreira observou que
Em 1776-1777, os tecidos de algodão remetidos para o Brasil provinham quase
todos (mais de 90%) da Ásia e a parte restante vinha de países europeus: a
indústria nacional, neste sector, era quase inexistente. Os tecidos de linho – as
cambraias, as bretanhas, as holandas, os ruões – procediam da Alemanha (através
do porto de Hamburgo), da França e da Holanda. Os lanifícios eram ainda
principalmente de origem inglesa e as sedas eram francesas ou italianas. No seu
conjunto, os tecidos portugueses formavam menos de um terço das exportações
de têxteis e a variedade dos produtos era diminuta. Entre os artigos nacionais, só
algumas espécies de sedas, os panos de linho e os chapéus (cuja importação estava proibida) eram exportados em quantidades assinaláveis.63
A proveniência dos tecidos em alguns casos era perceptível pelo nome, como os
quatro tipos de linho: a holanda, a holandilha, a bretanha e a bretanha de Hamburgo64
.
Esses entre outros tecidos foram arrolados no estoque da loja de João Fernandes da Costa,
conforme Quadro 14.
Quadro 14 – Tecidos do estoque da loja de João Fernandes da Costa, 1801, Itu
Quantidade Descrição Preço (em réis)
3 côvados Tafetá amarelo mofado $900
2 côvados Tafetá carmezim $800
5 e 1/3 côvados Durante amarelo 1$493
14 côvados Droguete azul meia cor 4$480
8 côvados Baeta azul meia cor 5$120
8 côvados Holanda amarela 2$240
1 côvado Holanda cor de rosa seca $280
1 vara Bretanha $480
8 côvados Ganga azul 2$560
½ côvado Baeta azul $300
3 menos ¾ côvados Droguete alvadio 1$200
7 côvados Chita encarnada 4$480
63 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana. Estrutura industrial e mercado colonial. Portugal e Brasil (1780-1830).
Linda-a-Velha: Difel, 1994. p. 55. 64 A Holanda era um “tecido de linho muito fino e fechado ou tapado, que se fabrica na Holanda.” Ainda
segundo Manoela Pinto, “havia holandas finas, ordinárias, grossas, frisadas, riscadas, largas e por vezes,
produzidas com seda.” Já a holandilha, era “tecido grosso de linho, usado principalmente em entretelas. //
Imitação do tecido da Holanda, fabricado na Silésia.” Vide COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 149. A Bretanha era a “lençaria de linho fina, que se trazia de Bretanha; a imitação dizem da lençaria desta sorte
Bretanhas de França, de Suécia.” Vide SILVA, Antonio Moraes. Diccionario... v. 1. p. 300.
116
[-] Baeta azul $150
2 menos ¾ côvados Camelão azul com a vara $330
3 peças Bretanha de Hamburgo $680
1 peça Brim riscado $120
1 e ¾ côvados Holandilha $350
6 côvados Holanda parda 1$680
2 e 1/3 côvados Durante azul $653
5 e ½ côvados Camelão azul $880
1 menos 1/3 côvados Brilhante dourado de lã $213
11 côvados Brilhante de lã de flores 2$640
5 paus Lã escarlate $300
Total 32$329
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de João Fernandes da Costa, folhas 6 verso – 7
Os panos com os maiores preços no estoque de João Fernandes foram a baeta azul e
a chita encarnada, a $640 (seiscentos e quarenta réis) o côvado65
. Curioso os dois tecidos de
algodão e lã serem mais valorizados, pois geralmente os panos de seda como o droguete e o
tafetá eram mais valiosos. Os dois tecidos de droguete receberam o preço de $320
(trezentos e vinte réis) o côvado, o tafetá, $400 (quatrocentos réis) o côvado do carmesim, e
$300 (trezentos réis) o amarelo que se encontrava mofado. As baetas, bretanhas, holandas,
camelão e durante foram avaliados entre $300 (trezentos réis) e $200 (duzentos réis),
valores intermediários. Já o tecido de lã escarlate apresentou o menor valor, $160 (cento e
sessenta réis).66
Além dos tecidos, o estoque contava com um par de meias de seda cor de pérola,
4$480 (quatro mil, quatrocentos e oitenta réis), 5 pares de meia de sarja preta, 4$[-]
(deteriorado), 3 lenços encarnados, 1$200 (mil e duzentos réis), 2 chapéus do Porto, $640
(seiscentos e quarenta réis) e botões de estanho, de casquinha, alguns indicando para
casaca, para véstia e ligas de retrós67
.
Já em relação aos produtos importados, possuímos informações sobre pares de
meias de seda e chapéus.
65 O côvado, antiga medida de comprimento, equivale a 66 centímetros. Vide SÁ, Isabel dos Guimarães.
Glossário Portas Adentro. Disponível em: <http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/c.asp> . Acesso em
04.ago.2014. Já a vara, corresponde a 110 centímetros. 66 A lã escarlate e o brim apresentaram valores baixos, mas como estão com as medidas de peça e de pau, não foi possível dimensionar os tecidos e avaliar seu preço. 67 ARQ/MRCI – Inventário de João Fernandes da Costa, 1801, caixa 15, folha 7.
117
Gráfico 10 – Relação das meias de seda importadas por Itu provenientes de
Lisboa
Fonte: AESP - Maços de população, Vila de Itu
A importação de meias de seda no geral segue o padrão observado para as peças de
tecidos de Lisboa e do Porto, com a queda das importações entre o final do século XVIII
até 1802, apresentou certa estabilidade nos dois anos seguintes, um aumento no quinto ano
e sem informações dos anos 1806 e 1807, até o declínio no ano de 1808, final de nosso
recorte temporal. Os dados do gráfico referem-se às meias provenientes do porto lisboeta.
Da cidade do Porto, apenas dois pares do ano de 1805 foram registrados.
Os chapéus foram divididos pela sua origem (Cidade do Porto ou Lisboa)
118
Gráfico 11 – Número de chapéus importados por ano e o porto de origem
Fonte: AESP - Maços de população, Vila de Itu
O número de chapéus provenientes da cidade do Porto é significativo, tendo
alcançado mais de mil chapéus em quatro anos, enquanto Lisboa exportou um número bem
inferior, nos dois únicos anos que aparece. Nesses dados não existem informações sobre os
tecidos e materiais que compunham os chapéus.
Na amostra de inventários orfanológicos que consultamos em Lisboa, um destes, do
ano de 1808, relaciona os produtos de uma loja de chapéus, pertencente à Ana Maria da
Conceição e Domingos José de Pinho. Na loja, havia chapéus designados grossos e finos. O
preço dos grossos variava de $340 (trezentos e quarenta réis) a 1$400 (mil e quatrocentos
réis), enquanto os finos, em média, custavam 3$000 (três mil réis)68
. Além dos artigos
prontos, havia na loja peças de tecido, copas, arcos para chapéus, escovas, papel, botões e
presilhas.69
Os Mapas de importação nos permitem observar a procedência e a quantidade de
mercadorias importadas pela localidade, através dos dados oficiais. Os dados confirmam a
68
ANTT - Inventário de Ana Maria da Conceição, 1808, folhas 20v – 30v 69 ANTT - Inventário de Ana Maria da Conceição, 1808, folhas 27v – 29v.
119
importância de Lisboa como entreposto comercial, e dos produtos produzidos pela região
norte de Portugal, confirmando a tradição na produção do linho e dos chapéus.
2.3 Uso público e doméstico dos trajes
Os homens que compunham os cargos de comando nos corpos de ordenanças eram
escolhidos entre os principais da terra que, por sua vez, recrutavam as tropas a partir de sua
clientela, fortalecendo ainda mais a camada dos grandes proprietários70
. A farda,
juntamente com as insígnias, paramentava o indivíduo possuidor do título e indicava o seu
pertencimento a um grupo seleto que o vinculava ao poder régio. Subordinados às
determinações da Coroa, a este grupo “cabia a reprodução e perpetuação da ordem social e
econômica”71
.
O tenente José Manoel Caldeira Machado era natural da região das Minas Gerais,
foi casado com Dona Maria da Assumpção Camargo, descendente de um importante ramo
da família Camargo da vila de Sorocaba, era uma das poucas mulheres dentre as
pesquisadas que sabia assinar seu nome72
. Proprietário de um engenho de açúcar no bairro
Atuaú e de terras em Capivary (localidade próxima à vila de Itu), José Manoel pertenceu à
Cavalaria de Coritiba, como aponta sua “farda de pano azul fino agaloada de uniforme da
Cavalaria de Coritiba, em bom uso, com calção e colete de fustão branco, avaliada em
12$000 (doze mil réis)”73
. O valor atribuído à farda é tão significativo, que equivale ao
dobro de um traje completo composto de casaca do mesmo pano azul e de colete e calção
de cetim, e também à metade do valor de uma arma de fogo, pertencentes ao espólio de
José Manoel74
.
70 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Açúcar e colonização... p. 22. 71 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Açúcar e colonização... p. 23. 72 ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel Caldeira Machado, 1808, caixa 17B, folha 1. 73
ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel Caldeira Machado, 1808, caixa 17B, folha 7 verso 74 ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel Caldeira Machado, 1808, caixa 17B, folhas 6 verso – 7 verso
120
Caldeira Machado possuía o único ponche (ou poncho) da documentação consultada
da vila de Itu, confeccionado de pano azul, o mesmo tecido da farda, descrito como muito
usado e avaliado em 2$000 (dois mil réis)75
. Segundo Paulo César Garcez Marins,
peça hoje associada exclusivamente aos gaúchos, o poncho era, na primeira
metade do século XIX, sinal característico também dos paulistas. Muito mais
longos que os usados atualmente, os ponchos cobriam quase todo o corpo,
aproximando-se de uma capa. Quando não havia necessidade de proteção contra a chuva e o frio, tinham suas laterais dobradas sobre os ombros, o que tornava
imponente o porte do tropeiro.76
Como o tenente possuía uma farda da Cavalaria de Coritiba, a posse do poncho não
causa estranheza, uma vez que a região de Itu e Sorocaba mantinha intenso contato com a
região sul através das tropas77
.
Assim como José Manoel, José Fiusa possuía o título de tenente, e sua esposa, Dona
Francisca Xavier da Fonseca também sabia assinar seu nome. Seu inventário está
incompleto, mas indica possuir mais de um imóvel, pois próximo da lacuna o escrivão
indicou os bens, que estavam em um sítio78
. Fiusa possuía duas fardas, uma comprida de
pano azul forrada de amarelo, em 32$000 (trinta e dois mil réis) e outra farda curta do
mesmo tecido, avaliada em 3$000 (três mil réis)79
. A presença de duas fardas diferentes
talvez correspondesse a uma diferenciação para ocasiões, a mais simples, para uso
cotidiano e a mais refinada para ocasiões solenes, tal como indicou Camila Silva para os
uniformes utilizados na corte joanina nas primeiras décadas do século XIX80
.
75 ARQ/MRCI - Inventário de José Manoel Caldeira Machado, 1808, caixa 17B, folha 6 verso. 76 MARINS, Paulo César Garcez. Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos.
Disponível em:
<http://www.terrapaulista.org.br/costumes/vestuario/saibamais.asp#link3> . Acesso em 18.jul.2014. 77 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial. Sorocaba, séculos XVIII
e XIX. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001. p. 21-41. 78 Nos inventários post-mortem em que o inventariado possuía mais de um imóvel, a avaliação respeitava a
distribuição dos bens por imóvel, indicando o local, como Bens no sítio, Bens na vila antes de arrolar os
objetos. No inventário de Fiusa, primeiro estão arrolados os bens localizados na vila, porém quando inicia o
rol do sítio o inventário termina. 79
ARQ/MRCI – Inventário de José Fiusa, 1804, caixa 16B, folhas 9 – 9 verso. 80 SILVA, Camila Borges da. O símbolo indumentário... p. 91.
121
Analisando o valor monetário que as fardas representavam dentre todas as roupas
que ambos possuíam, compunham os significativos valores de 34% do valor (35$000 de
102$760) para Fiusa, e para Machado, 41% (12$000 de 29$000).
O ferreiro Vicente Gonçalves Braga era também soldado de sertanejas, morador na
rua de Santa Rita, possuía uma farda de uniforme, no valor de 1$600 (mil e seiscentos réis)
e um capacete que foi arrematado em 2$300 (dois mil e trezentos réis)81
. Em relação ao
valor total das roupas, de 5$280 (cinco mil, duzentos e oitenta réis) a farda equivale a 30%
do valor, percentual semelhante ao de Fiusa, o que aponta para uma representação
significativa da farda dentro do espólio têxtil do indivíduo, mesmo em padrões diferentes.
Para a vila de Itu, não encontramos nenhuma menção de farda à venda nos estoques
de lojas. Neste caso, poderiam ser confeccionadas sob encomenda ou mesmo compradas
em São Paulo. Na primeira metade do século XVIII para a comarca de Rio das Velhas,
Drumond encontrou registros de que “os uniformes eram confeccionados em Portugal e
repassados ao soldado periodicamente, que tinha de arcar com o seu custo, uma vez que o
valor era descontado do soldo”82
. A farda de Vicente tinha um custo correspondente ao seu
cargo de soldado, enquanto as de tenente de Fiusa e de Machado deveriam ser mais
refinadas, ainda mais deste último, por pertencer à cavalaria, posto que demandava a posse
de um animal.
O tecido mais comumente empregado para as fardas de nossa amostra foi o
designado pano azul. Dois tenentes e outros dois inventariados que não indicaram seu cargo
possuíam farda deste tecido. Drumond encontrou uma farda de pano azul em Minas Gerais,
e na relação de uma loja também havia fardas de pano denominado apenas entre-fino e
saragoça83
. A farda do alferes Luciano Francisco Pacheco era branca. A do soldado de
sertanejas não foi descrita com o tecido ou a cor. José Fiusa possuía uma farda curta e outra
81 ARQ/MRCI – Inventário de Vicente Gonçalves Braga, 1818, caixa 17B, folhas 15, 17. 82 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material: Produção, comércio e usos na Comarca do
Rio das Velhas (1711-1750). 2008. 217f. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e
Ciências humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2008. p. 158. 83
DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material ...p. 160 e p. 78.
122
comprida, diferença que não foi possível observar em outros trabalhos do período. Em
relação aos valores estabelecidos para estes uniformes, podemos observar uma gama grande
de preços, que variavam de acordo com o estado de conservação, tecidos e demais
ornamentos, como as dragonas e galões, como descrito nas fardas de José Manoel da
Fonseca Leite e José Manoel Caldeira Machado.
As fardas eram incumbência dos próprios indivíduos, pois não lhes eram fornecidas
pelo Estado. No caso de membros de baixa patente como Vicente Gonçalves Braga que
apresentou um espólio humilde, providenciar e manter uma farda e demais acessórios
poderia constituir em tarefa custosa e um grande encargo, onerando o soldado. Nestes
casos, o pertencimento a uma organização militar talvez representasse mais um fardo do
que um privilégio.
No Museu Nacional dos Coches em Lisboa, estão expostos alguns exemplos de
librés – uniformes utilizados por criados em casas de nobres, datadas do século XIX.
123
Figura 6 - Uniforme de Gala, século XIX
Fonte: acervo da autora/Museu Nacional dos Coches, Lisboa.
Este uniforme de gala à inglesa era de Cocheiro mor da Casa Real, composto de
casaco, calção de lã vermelha, colete azul agaloado, chapéu tricórnio com pluma e sapato
de polimento com fivela. A cor vermelha predominante no uniforme está relacionada à
Casa Real portuguesa. No capítulo X da Lei Pragmática de 1749, está a menção à cor: “Hei
por bem reservar a cor encarnada para as casacas, capotes, e reguingotes das librés da Casa
Real; e nenhum particular poderá mais usá-la nas librés dos seus criados, exceto em
124
canhões, forros, meias, e vestias”84
. A legislação abrangia todos os territórios de domínio
português, entretanto Silvia Lara apontou diferentes registros de autoridades relatando a
desobediência nos trajes em terras brasileiras85
.
Considerando a importância da participação dos moradores nas solenidades e
celebrações religiosas, analisamos a indumentária religiosa arrolada no inventário do padre
Antônio Francisco da Luz, e os hábitos de ordens terceiras que os ituanos leigos
dispunham.
Morador da vila de Itu, o padre Antônio no momento de sua morte, possuía vestes
religiosas, como sobrepeliz e casula. A primeira consistia em uma veste branca, utilizada
sobre as roupas. Antônio possuía quatro peças, uma com o colarinho bordado, outra com
detalhes em rendas, avaliadas em 1$200 (mil e duzentos réis) a mais simples e usada, e em
4$800 (quatro mil e oitocentos réis) a mais adornada e nova. O sacerdote possuía também
um vestido comprido de gala com cabeção e barrete, avaliado em 8$640 (oito mil,
seiscentos e quarenta réis) e uma casula de damasco branco e encarnado, no valor de 6$400
(seis mil e quatrocentos réis). Do período, existem remanescentes de casulas como o
exemplar de fio de ouro e seda pertencente ao Museu de Évora, Portugal:
84 Appendix to "Ordenacoẽs e leys do reyno de Portugal, confirmadas, e estabelecidas pelo senhor rey D. Joao
IV. Novamente impressas, e accrescentadas com tres colleccoẽs: a primeira, de leys extravagantes; a segunda,
de decretos, e cartas; e a terceira, de assentos da Casa da Supplicacao e Relacao do Porto." Lisboa: No
Mosteiro de S. Vicente de Fora, Camara Real de Sua Magestade, 1747. Capítulo X. Disponível em: <http://archive.org/stream/appendixdasleyse00port#page/n38/mode/1up> . Acesso em 03.ago.2014. 85 LARA, Sílvia Hunold. Fragmentos setecentistas... p. 91-113.
125
Figura 7 – Casula do século XVIII
Fonte: < http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=13613> .
Acesso em: 10.set.2014
Confeccionada em seda vermelha, possui bordado em fios de ouro e aplicação de
galão dourado. Já a casula do padre Antônio era branca e encarnada. Teresa Pacheco
Pereira referindo-se ao simbolismo das cores ressaltou que “o branco e vermelho aparecem
muitas vezes associados e denotam a dupla missão espiritual e temporal”86
. O vermelho, de
acordo com a autora,
é universalmente considerado como símbolo de vida, cor do fogo e do sangue.
Fabricado a partir de corantes sempre muito dispendiosos, foi, talvez como
reminiscência da púrpura romana, a cor dos trajes de festa, dos mantos reais.
Tornar-se-á a cor das vestes dos cardeais e permanecerá como símbolo da
majestade e glória.87
John Gage assinalou que “quase sempre, foi apenas no contexto das cerimônias
públicas que a cor alcançou a população como um todo: a hierarquia das cores como um
sistema de valores, no qual o vermelho é o topo.”88
O emprego de tecidos luxuosos, mais
86 PEREIRA, Teresa Pacheco. Sobre o trilho da cor. Para uma rota dos pigmentos. Lisboa: Ministério da
Cultura/Instituto dos Museus e da Conservação, 2010. p. 15. 87 PEREIRA, Teresa Pacheco. Sobre o trilho da cor... p. 15 88THE SIGNIFICANCE OF RED. In: GAGE, John. Colour as meaning: art, science and symbolism. London:
Thames&Hudson, 2001 Apud PAULA, Teresa Cristina Toledo de. Reflexões sobre a cor na conservação/restauração. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 6/7, p. 149-159 (1998-1999). Editado em
2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v6-7n1/07.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2014.
126
nobres nos paramentos litúrgicos não são empregados ao acaso, pois como Soraya Coppola
frisou,
no universo religioso, os tecidos formam o principal meio através do qual se apresenta o Teatrum Sacrum, onde se materializa a devoção e o culto, fruto da
identificação cultural, religiosa e social da coletividade. É preciso que os gestos e
palavras adquiram um sentido cerimonial, formando códigos precisos que fazem
parte de um ritual, resultando na celebração do rito religioso.89
Somados os valores dos trajes religiosos do padre Antônio, a quantia de 28$240
(vinte e oito mil, duzentos e quarenta réis), era mais que o dobro que possuía em joias,
12$000 (doze mil réis), mas mesmo sendo alto, este valor correspondia à apenas 0,32% do
total de bens, que se encontrava na faixa de oito contos de réis, devido aos altos valores dos
bens de raiz e escravos90
.
Em celebrações religiosas os leigos membros de irmandades ou ordens terceiras
também aparentavam o pertencimento ao grupo através dos hábitos. Dos sete hábitos
arrolados nos inventários pesquisados em nossa amostra, cinco eram da Ordem Terceira do
Carmo. Nardy Filho observou que a ordem carmelita era composta por membros das
famílias tradicionais ituanas91
. Ao observar as avaliações dos hábitos, os valores apontam
para a distinção, pois um hábito com túnica e escapulário novo valia 8$000 (oito mil réis), o
dobro do valor de um capote de baetão usado, 4$000 (quatro mil réis) e representava 32,2%
de suas roupas.92
Eram poucas as pessoas que poderiam dispor de uma quantia próxima a
dez contos de réis para um hábito, quanto mais para adentrar no seleto círculo de uma
ordem com essa característica elitista.
89 COPPOLA, Soraya Aparecida Álvares. Costurando a Memória: o acervo têxtil do Museu Arquidiocesano
de Arte Sacra de Mariana. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). 2006. Escola de Belas Artes.
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2006. p. 9. 90 ARQ/MRCI – Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A. 91
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu... (vol.1) p. 118-119 92 ARQ/MRCI – Inventário de José Leme de Oliveira, 1800, caixa 14A.
127
Um hábito do Carmo muito usado valia 6$000 (seis mil réis), como nos bens de
Inácio Leite da Silveira e um velho chegava ao preço de 3$200 (três mil e duzentos réis),
como o que pertenceu a Inácio Pacheco da Costa93
.
No rol dos bens do capitão José Manoel da Fonseca Leite, existiam dois hábitos, um
de terceiro do Carmo no valor de 12$000 (doze mil réis) e um da Ordem de São Francisco,
avaliado em 2$560 (dois mil, quinhentos e sessenta réis). Este foi o único hábito
franciscano arrolado em inventários, pois em quatro testamentos os testadores declararam
pertencer à ordem franciscana, mas em seus bens não havia menção da posse de tal
artefato94
.
Além dos hábitos, outra peça de vestuário empregada por confrarias religiosas eram
as opas, vestes sem mangas usadas sob o traje civil95
. Em nosso universo, encontramos
quatro opas, todas da cor carmesim e sem menção à ordem ou irmandade a qual
pertenciam96
.
Do universo feminino, os mantos e mantilhas foram registrados por viajantes que
visitaram Portugal no final do século XVIII, como o autor da Figura 8, James Murphy.
93 ARQ/MRCI – Inventário de Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17A, folha 11 verso; inventário de Inácio
Pacheco da Costa, 1806, caixa 16A, folha 8. 94 Neste capítulo abordamos os valores monetários e a questão utilitária dos hábitos de ordens terceiras. No
terceiro capítulo analisamos de forma mais aprofundada a questão simbólica dos hábitos. 95 Vocábulo Opa. Vide SÁ, Isabel dos Guimarães. Glossário Portas Adentro, disponível em:
<http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/o.asp> . Acesso em 03.set.2014. 96
ARQ/MRCI - Inventários de João Leite Penteado, Mariana Leite Pacheco, Antonio Antunes Pereira e José
Manoel Caldeira Machado. Caixas 5, 10, 16, 17B.
128
Figura 8 – Exemplo de manto e mantilha, final do século XVIII, Portugal.
Fonte: “A Portuguese Merchant with his wife and maid servant”. MURPHY, James. Travels in
Portugal. Londres, A. Strahan, T. Cadell Jr e W. Davis, 1795, p. 204. Retirado de: <http://myneighborwellington.blogspot.com.br/2013/09/portuguese-costume-and-society-in.html> . Acesso
em 01.dez.2014.
Como apontou Sílvia Lara, a esposa do mercador distingue-se da sua criada por
vestir uma mantilha, véu fino cobrindo o rosto, enquanto a criada trajava-se com o manto,
com a cabeça descoberta97
. O hábito de trajar um longo manto inclusive cobrindo a cabeça
é uma tradição herdada do cerimonial aristocrático português, como frisou Paulo César
Garcez Marins98
.
Na vila de Itu todos os mantos eram de seda, ao passo que em Lisboa, eram de seda,
de nobreza, de cetim e algumas vezes levavam rendas. Já em Lisboa as mantilhas podiam
97 LARA, Sílvia Hunold. Fragmentos setecentistas... p. s/n, fólio colorido. 98 MARINS, Paulo César Garcez. “Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos”.
In: SETUBAL, Maria Alice (coord.). Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos. Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura Ação Comunitária, São Paulo: CENPEC,
Imprensa Oficial do estado de São Paulo, 2004. v. 2. p. 125
129
ser de veludo, lemiste, cetim e tafetá. Em Itu havia uma manteleta, “espécie de lenço
grande, com que as mulheres de Castro Laboreiro cobrem a cabeça”99
Os mantos são peças importantes do vestuário feminino para uso público, além de
indicarem distinção, pois nos exemplos observados são confeccionados com tecidos nobres,
estão relacionados à tradição, ao hábito de se cobrir a cabeça e grande parte do corpo
quando circulavam em espaços públicos100
.
Richard Sennett apontou para uma mudança importante em relação ao vestuário
entre o final do século XVII e meados do século XVIII na Europa, quando passa a vigorar
uma diferença entre a roupa a ser vestida na rua e a do espaço doméstico. Segundo o autor,
no ambiente doméstico do século XVIII “roupas folgadas e simples ganhavam a preferência
de todas as classes”101
.
O timão foi relacionado ao uso feminino por Márcia Pinna Raspanti: “para ficar em
casa e até receber as visitas, as mulheres adotavam um traje bem simples e bem mais
liberal: um tipo de camisolão ou camisa de mangas curtas, de tecido leve e transparente,
decotado. Eram chamados de „timão‟ ou „lavapeixe‟”102
. Já Marco Aurélio Drumond
localizou esta peça para ambos os sexos103
. Cláudia Mol identificou 14 peças de timão
dentre as vestimentas das mulheres forras104
. De acordo com Mary Del Priory, o timão era
“espécie de confortável camisolão branco em tecido leve, ocupavam-se nas atividades
domésticas”105
.
99 Verbete manteleta, Vide Dicionário Aulete. Disponível em:
<http://www.aulete.com.br/manteleta#ixzz3LvQboJLT> . Acesso em 04.dez.2014. 100 No terceiro capítulo abordaremos de forma mais aprofundada a questão simbólica que envolve a utilização
dos mantos. 101 SENNETT, Richard. O declínio do homem público... p. 91 102 RASPANTI, Márcia Pinna. O Brasil sob a perspectiva da Moda. Disponível em:
<http://historiahoje.com/?p=1891> . Acesso em 28.jul.2014. 103 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material ...p. 112, 124. 104 MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres forras...p. 165. 105 DEL PRIORY, Mary. “Mulheres de açúcar: Vida cotidiana de senhoras de engenho e trabalhadoras da
cana no Rio de Janeiro, entre a Colônia e o Império.” In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 169, p. 57-90, 2008. p. 78.
130
Em nossas fontes, encontramos quatro timões: dois pertencentes ao padre Antonio
Francisco da Luz, um no inventário de Inácio Leite da Silveira e um no espólio de José
Gonçalves de Barros. Apesar de relacionado apenas ao uso feminino por Márcia Raspanti e
Mary Del Priory, pelos registros na documentação ituana, nos parece que era uma
vestimenta para ambos os sexos.
O timão de baeta era cor-de-rosa, estava em bom uso e foi avaliado em 3$200 (três
mil e duzentos réis), de José Gonçalves de Barros. O que consta no inventário de Inácio
Leite da Silveira era de pano azul, avaliado também em 3$200 (três mil e duzentos réis).
Nos bens do padre Antonio Francisco da Luz, está arrolado um timão comprido de baetão
pintado e um timão de chita106
. Outras peças de uso doméstico encontradas foram o
chambre e o penteador.
Francisco Paes de Siqueira possuía um chambre de pano riscado de fora, avaliado
em 1$000 (mil réis).107
O penteador consistia em uma peça “que se põe ao redor do
pescoço, e com que se cobrem os ombros, por não sujar o vestido com cabelos, ou carepa
quando alguém se penteia.”108
106 ARQ/MRCI - Inventário de Antonio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A . folha 2. 107 ARQ/MRCI – Inventário de Francisco Paes de Siqueira, 1799, caixa 9, folha 4 verso 108
Carepa, segundo o mesmo dicionário, é uma caspa miúda. Vide BLUTEAU, Raphael. Vocabulario... v. 6,
p. 402. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/penteador>. Acesso em: 2 ago. 2014.
131
Figura 9 – Penteador, século XIX
Fonte: Acervo da autora, Museu Nacional do Traje/Lisboa
O penteador da Figura 9 pertence ao acervo do Museu Nacional do Traje de Lisboa,
é datado do final do século XIX, de tafetá de linho e algodão branco com entremeios de
renda de bilros. Na amostra de Lisboa havia 15 penteadores, de algodão, bretanha, cavalim,
linho. Em Itu, apenas dois sem informação de seu tecido.
O inventário póstumo fornece como uma fotografia, a relação dos bens do indivíduo
no momento de sua morte. Relação não fidedigna, pois alguns pertences poderiam ter sido
distribuídos, doados entre a convalescência e o óbito. As poucas vestimentas refletem um
longo período de enfermidade, onde o inventariado estivesse possivelmente acamado,
situação em que as peças gastas não foram repostas nem adquiridas mais novas. Os casos
em que não existem registros de roupas dos cônjuges nos inventários, bem como nenhuma
peça de roupa de criança fortalece a hipótese de ser uma prática disseminada ocultar as
vestes de viúvos e menores, para não entrarem na partilha ou irem a leilão nos casos
extremos.
132
De forma geral, os dados coletados nos inventários post-mortem da vila de Itu e de
Lisboa nos permitem observar um padrão semelhante nos trajes, tanto masculino quanto
feminino. A diferenciação percebida foi em relação aos tecidos empregados, mais refinados
e variados os lisboetas, por exemplo, a nobreza, um tecido de seda não constou nenhuma
vez na amostra ituana.
O diferencial dos dois espólios mais ricos em relação aos demais foram as peças de
roupas confeccionadas com cetim e cabaia. A seda, apesar de valiosa, era razoavelmente
comum em Itu e os valores atribuídos não foram tão significativos quanto à cabaia e o
cetim.
A roupa masculina na vila de Itu seguia o padrão europeu, das três peças: casaca,
véstia e calção. Observaram-se algumas variações para peças de roupas e nomenclaturas,
como, por exemplo, para tipos de casaco, havia o rodaque, casaca e casacão; capote e
gabinardo para as peças com capuz. Além do poncho, que indicou a influência da
vestimenta da região sul do território. As duas peças que mais apresentaram diversidades de
tecidos empregados foram o colete e o calção.
A amostra de roupa feminina, embora numericamente inferior que a masculina,
apresentou um valor considerável em relação aos preços do vestuário dos homens. O
vestido e as roupas (com manto ou avental) foram avaliados com valores consideráveis, o
que causou impacto na média dos valores monetários obtido pelas roupas femininas em
geral. Tanto o número quanto a diferença entre os valores de saias e vestido ou roupas
completas apontam o padrão dos trajes no período, onde as saias eram mais acessíveis e,
consequentemente, mais comuns que as roupas inteiras. Como esperado, poucas roupas “de
baixo” foram registradas, para ambos os sexos.
As cores mencionadas nas descrições das roupas acompanharam a tendência
francesa de cores variadas e diversos matizes, de tons escuros, claros e “meia-cor”,
utilizados na Europa em meados do século XVIII, diminuindo gradativamente até 1780,
com o emprego de tons mais sóbrios e escuros. Na vila de Itu, durante a primeira década do
século XIX as roupas masculinas eram as mais coloridas.
133
Os objetos de uso pessoal, relacionados à aparência e à higiene dos inventariados
apareceram regularmente na documentação. Os seis pares de sapatos contrastam com as 41
fivelas de sapatos, indicativos da presença de calçados em algum momento. Além das
fivelas específicas de sapatos, constam também as de calção e de gravata em número
razoável. O chapéu foi o item mais comum na amostra, tanto para homens quanto para
mulheres, enquanto apenas uma cabeleira foi registrada.
Em relação à porcentagem que as vestimentas representavam nos inventários
póstumos, tanto para a amostra da vila de Itu quanto para a de Lisboa, os números no geral
são semelhantes, pois 47% dos inventariados tinham as roupas representando abaixo de 2%
do valor total de bens.
No capítulo seguinte procedemos à análise individual, buscando compreender
melhor a relação entre os sujeitos e seus pertences.
135
Capítulo 3 “Cerzindo” objetos e sujeitos: consumo, circulação e
representação das vestimentas na vila de Itu
O presente capítulo busca analisar a importância da materialidade dos artefatos no
cotidiano da sociedade de Itu entre os anos de 1765 e 1808, considerando as práticas de
sociabilidade específicas da América Portuguesa enriquecida pela atividade canavieira.
Como pontuou Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, a dimensão material é considerada
como uma plataforma de observação da sociedade do passado, ou seja, permite avaliar a
relação entre sujeitos e objetos de forma mais aprofundada.1 Observamos a família por
meio do domicílio, tomado como ponto de partida para a compreensão do conjunto de bens,
pois o inventário póstumo reúne o conjunto de objetos de que dispunham no momento da
morte de um familiar.
Investigaremos os padrões de consumo, buscando compreender o uso de peças de
roupas a partir dos dados presentes nos inventários póstumos e dos testamentos. Partindo
por exemplo, da propriedade de imóveis, traçamos as possíveis localidades de sociabilidade
e frequência dos personagens de nossa amostra. Evidenciamos através dos indivíduos
ituanos, padrões de consumo, de uso, de transferência das vestimentas, bem como alguns
dos significados simbólicos que perpassavam as vestimentas nos séculos XVIII e XIX.
3.1 Padrões cotidianos de vestuário
O inventário póstumo dos bens que um indivíduo dispunha em seu domicílio a
princípio nos induz a considerá-lo como uma relação de todos os bens acumulados durante
sua vida. Entretanto, da mesma forma que adquirimos, também nos desfazemos, trocamos,
vendemos, doamos e perdemos objetos em muitas ocasiões. Os inventários post-mortem
1 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. “Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares.” In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, nº 45, pp. 11-
36, 2003.p. 26.
136
que dispomos para análise da cultura material dos séculos dezoito e dezenove nos fornecem
uma gama de dados sobre um momento específico não apenas de um indivíduo, mas de sua
família e de sua casa, pois todos os bens móveis e imóveis eram arrolados e avaliados a fim
de garantir a sobrevivência dos filhos menores quando da morte de um genitor.
Neste sentido, a definição de consumo dos antropólogos Mary Douglas e Baron
Isherwood refere-se a “um uso de posses materiais que está além do comércio” e é central
para analisarmos a posse, a utilização e a circulação dos objetos enquanto materialidade da
cultura.2 Os objetos arrolados nos inventários post-mortem foram adquiridos em algum
momento da vida daquele indivíduo, apresentam, às vezes, vestígios de uso (quando
descritos como velhos, gastos) e até ali faziam parte do conjunto de bens de um domicílio.
Depois da partilha, muitas vezes a unidade desse conjunto de objetos era desfeita, sendo
estes repartidos entre o cônjuge e herdeiros. Também parte era direcionada à arrematação
pública, para ser convertida em dinheiro com o intuito de quitar as dívidas.3
Como salientou Daniel Miller, na qualidade de objetos mais pessoais, a vestimenta
“desempenha papel considerável e atuante na constituição da experiência particular do eu,
na determinação do que é o eu.”4 As roupas são necessárias para proteção do corpo, atuam
como indicadores de status, e são compreendidas como artefatos que nos compõem.
Observamos através dos inventários póstumos o consumo de roupas com o intuito de
compreender como essas peças eram utilizadas pelo seu proprietário em vida, e após sua
morte, de acordo com os registros de partilha e arrematação. Elegemos alguns personagens
do universo ituano para evidenciar algumas questões envolvendo os sujeitos e suas roupas.
2 DOUGLAS, Mary, ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2004. p. 102-114 3 Nos inventários post-mortem após a descrição e avaliação dos bens, os valores atribuídos a estes eram
somados, denominado Monte-mor. Somadas as dívidas a receber (ativas) e subtraídas as dívidas a pagar
(passivas), resta o Monte-menor, dividido em duas partes, denominadas meação. Se o inventariado possuísse
um cônjuge, este receberia a Meação (metade) e a outra meação seria dividida em duas partes menores, um
terço do valor (chamada Terça) era destinada a livre deliberação do inventariado, geralmente registrada como
últimas vontades nos testamentos. E finalmente, dois terços do valor eram destinados aos herdeiros. 4 MILLER, Daniel. Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre a cultura material. Rio de Janeiro:
Zahar, 2013. p. 63.
137
Em 1803 o oficial ferreiro e soldado de sertanejas, Vicente Gonçalves Braga
declarava ao Capitão Eufrázio de Arruda Botelho, seu recenseador, viver de ferragens e não
possuir nenhum bem.5 Ele e sua esposa Ana Maria da Silva eram pardos e viviam em uma
casa na Rua de Santa Rita, região central ituana.
Quando Vicente faleceu em 1808, a soma de seus bens era de aproximadamente
200$000 (duzentos mil réis) e sua dívida, contava em torno de 70$000 (setenta mil réis).
No exercício da função de soldado, Vicente dispunha de uma farda, um capacete e uma
espada. Normalmente o ferreiro trajava uma véstia de chita e um par de calças de ganga ou,
poderia optar pelo conjunto de colete e calças de bretanha verde. Este último conjunto,
avaliado em seu inventário na quantia de 1$760 (mil e setecentos e sessenta réis), apresenta
valor semelhante à farda, no valor de 1$600 (mil e seiscentos réis), e à soma de outras duas
peças mencionadas, 1$920 (mil novecentos e vinte réis).
Somadas as peças de roupas, o valor de 5$280 (cinco mil, duzentos e oitenta réis),
ainda é menor do que o de suas armas que foram a leilão: uma espada arrematada em 2$000
(dois mil réis) e uma espingarda por 4$000 (quatro mil réis).6 As roupas também valem
menos do que as cinco fivelas de prata do inventariado, avaliadas em 10$980 (dez mil,
novecentos e oitenta réis). A sua casa, porém, foi avaliada em 100$000 (cem mil réis).
Contabilizando o valor da roupa, este corresponde a 2,63% de seus bens. De forma geral, o
valor das peças de roupas não alcançou na média 3% do valor total dos bens de Vicente. Os
valores das categorias bens de raiz e escravos impactam na representação das roupas no
espólio. Desta forma, quando somamos as demais categorias e excluímos imóveis e
escravaria, as roupas passam a ocupar de 3,4% até 23% dos espólios em geral.
Ao final do inventário de Vicente, encontramos uma relação de itens que ele devia a
Antônio Jose Ferraz Ferreira, possivelmente um mercador, mencionado como morador da
vila de Itu.7 Vejamos os itens arrolados:
5AESP, Maços de População de Itu, 1803, lata 74. Apud. SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura Canavieira,
trabalho livre e cotidiano. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. p. 83. 6 ARQ/MRCI - Inventário de Vicente Gonçalves Braga, 1808.
7 Não foi possível precisar se Antônio José Ferraz Ferreira era comerciante.
138
Quadro 15 - Bens relacionados na dívida de Vicente Gonçalves Braga com
Antônio José Ferraz Ferreira, 1808
Categoria de bem Descrição Avaliação
(em réis)
Ferramentas 1 lima número 14, 1 lima número 11,
1 lima grande.
$800
Objetos de uso
pessoal relacionados
à aparência
Um chapéu de Braga
2$400
Matérias-primas
Meia vara de cassa, uma meada de linho, uma vara de
fita, um côvado de baeta, meia vara de cadaço,
resto de 3 côvados de baeta, retrós azul
2$770
Total 5$970
Fonte: ARQ/MRCI, Inventário de Vicente Gonçalves Braga, folha 20.
A relação de bens apresenta três ferramentas (limas), um chapéu importado de
Braga, tecidos em quantidades variadas a saber: cassa, linho, baeta, e outros componentes
empregados nas costuras, como fita, retrôs e cadaço, que consiste em uma fita de linho
branco ou de cor, segundo Moraes Silva8. Também consta um item R
el em conserto, apenas
com o valor de $220 (duzentos e vinte réis) referentes às peças de roupas que o
inventariado teria enviado para reparos.9 A relação da dívida indica os materiais
consumidos por Vicente e sua família para a confecção de roupas, exceto as três limas.
Vicente dispunha de tecidos comuns, como linho, baeta e cassa, além de retrós e fitas para
encomendar peças ao alfaiate ou costureira da vila, pois nas dívidas existe menção a
conserto de roupas.
Outra moradora da Rua de Santa Rita era Quitéria de Oliveira, recenseada em 1803
e inventariada no ano seguinte. No censo, contava com 74 anos, solteira, costureira, sendo
que residia com uma escrava em sua casa.10
Seu espólio era modesto, no valor de 313$560
(trezentos e treze mil, quinhentos e sessenta réis). Relacionado ao ofício, Quitéria possuía
em sua casa uma vara e meia de ruão, no valor de $720 (setecentos e vinte réis) e retalhos
8 SILVA, Antonio Moraes. Dicionario da língua portuguesa, vol. 1. p. 317. Disponível em: <
http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/2/cadar%C3%A7o> . Acesso em 17/10/2014. 9 ARQ/MRCI - Inventário de Vicente Gonçalves Braga, 1808. 10
ARQ/MRCI - Inventário de Quitéria de Oliveira; AESP - Maços de População da vila de Itu, microfilme,
rolos 85, 87, 88, 89, 90, 91.
139
de pano de linho avaliados em $600 (seiscentos réis). De roupas, possuía três saias de baeta,
duas pretas e uma azul. Uma destas saias preta era velha e foi avaliada em $640 (seiscentos
e quarenta réis), a azul, em $480 (quatrocentos e oitenta réis) e a segunda preta mais nova,
em 1$600 (mil e seiscentos réis). Em relação a objetos de uso pessoal, além das referidas
saias, Quitéria contava com dois pares de brincos de ouro.11
Quitéria teve como herdeiros cinco sobrinhos. Alguns de seus bens foram
arrematados: sua escrava, sua casa, seus brincos de ouro, um tacho, um prato, uma caixa, e
enxadas. Até itens de baixos valores foram levados a pregão, porém, suas saias e as roupas
de casa compostas de sete toalhas de algodão e linho, e uma fronha de algodão não foram
conduzidas a leilão. Quitéria possuía um mínimo de objetos de variadas categorias,
necessários à sua sobrevivência. Os itens que chamam a atenção são três barras de ouro,
numeradas, avaliadas em 59$242 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois réis),
33$686 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e seis réis) e 24$482 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e dois réis), respectivamente, as quais correspondiam a 37,4% de
seus bens.
A princípio podemos considerar as joias, os adereços e peças de ouro e prata apenas
como itens importantes para a aparência, complementando o traje. No entanto Nuno
Madureira ressaltou que os objetos de ouro e prata possuem um “estatuto duplo: são, por
um lado, bens com valor de uso pessoal – adornos e adereços -, e, por outro, formas de
entesouramento.”12
Além do valor material, a posse de ouro e prata estava associada a um
valor simbólico relacionado à boa conduta e sucesso na administração dos bens familiares,
materializada na transmissão destes entre as gerações. O autor apontou também que a
acumulação de peças de ouro e prata correspondia a uma espécie de seguro contra
inesperados, situação na qual se conseguia converter rapidamente os metais preciosos em
papel moeda.
11 ARQ/MRCI - Inventário de Quitéria de Oliveira, folha 3 verso. 12 MADUREIRA, Nuno Luís. Inventários: Aspectos do consumo e da vida material em Lisboa nos finais do Antigo Regime. Dissertação de Mestrado em Economia e Sociologia Históricas, século XV – XX. Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 1989. p. 65
140
Em relação à classificação dos inventários póstumos analisados em nossa
amostragem, não empregamos o conceito de pobreza, riqueza e decadência. Conforme
sugeriu Milena Maranho, estes conceitos não são palavras neutras, portanto, não possuem
significados estáveis.13
Pela perspectiva antropológica, Mary Douglas tratou a pobreza a
partir da sua relação com o contexto social e não como a ausência ou falta de posses.14
Nuno Madureira ao trabalhar com inventários póstumos lisboetas assinalou que “a
ideia de pobre veiculada pelos depoimentos é a da canalização de todos os recursos para as
despesas do dia-a-dia sem hipótese de acumulação de reservas de valor. Não ter o suficiente
equivale a não ter dinheiro para poupar.”15
O autor considerou dois valores em seu trabalho
como critérios: os espólios inferiores a $400 (quatrocentos réis) foram denominados como
pobres e aqueles menores de $200 (duzentos réis) considerados como miseráveis.16
Optamos por não empregar uma classificação baseada em valores, pois é importante
observar a composição dos bens além das somas monetárias. Quitéria seria considerada
pobre pela classificação que utiliza a soma do espólio, empregada por Madureira, mas as
barras de ouro e a escrava que a costureira possuía são indicativas da variedade de padrões
de bens que existiam. Consideramos inviável adotar uma classificação, indicando um
indivíduo como pobre, se este possuía dois dos bens mais significativos no período:
escravaria e metais preciosos. Por menores que fossem os valores atribuídos aos bens,
como no caso da escrava de Quitéria, a carga simbólica que representavam é muito
importante para ser desconsiderada, ao se privilegiar os valores monetários na avaliação.
Para efeito de análise, adotamos então a comparação entre os próprios inventariados da
amostra ituana.
A principal documentação utilizada contempla os domicílios mais abastados ou pelo
menos os que possuíam um mínimo de bens a ser avaliado e cuidado para que os herdeiros
13 Sobre a discussão sobre a decadência econômica da vila de São Paulo no período da mineração aurífera, Cf.
MARANHO, Milena Fernandes. A opulência relativizada: níveis de vida em São Paulo do século XVII (1648 – 1682).
Bauru, SP: EDUSP, 2010, capítulos I e II e BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil:
negócios e poderes em São Paulo Colonial (1711 – 1765). São Paulo: Alameda, 2010. p. 35-54. 14 DOUGLAS, Mary, ISHERWOOD, Baron. O mundo...p. 35. 15
MADUREIRA, Nuno Luís. Inventários...p. 17-18. 16MADUREIRA, Nuno Luís. Inventários...p. 18
141
menores não fossem prejudicados na partilha ou com espoliação antes desta. Apesar de
representar uma amostra da população, os inventários nos permitem avaliar os diferentes
padrões de consumo entre indivíduos de diferentes faixas econômicas. Vejamos um outro
domicílio ituano.
Manoel Antônio Leite perdeu no ano de 1806 seu pai Inácio Leite da Silveira, e sua
esposa Ana Maria da Silveira, com quem tinha um filho de dois meses, Antônio. Inácio
possuía um sítio de vivenda com engenho no bairro do Cajuru e uma casa na rua do
Conselho. O casal provavelmente vivia no sítio já que no censo de 1803 o senhor de
engenho Inácio declarou viver com três filhos e na partilha de bens de Ana Maria, cabia a
Antônio parte do referido sítio de seu avô Inácio.
Além dos itens têxteis, Ana Maria dispunha de poucos bens: dois escravos, três
vacas e um boi, uma caixa. O que notamos é que apesar de escassos, os bens de Ana Maria
eram relevantes, ou seja, de considerável valor econômico. Quanto às roupas da casa,
dispunha de três toalhas de algodão, sendo uma de mesa, um par de lençóis de algodão já
usado, contabilizando 2$980 (dois mil, novecentos e oitenta réis). Ainda encontramos dois
pedaços de pano de linho e de chita, no valor de 1$520 (mil, quinhentos e vinte réis) e sete
saias de tecidos variados: droguete, pano azul, brilhante, chita, baeta, guingão e linho,
avaliadas em 15$080 (quinze mil e oitenta réis), uma camisa de Bretanha com gola
rendada, 1$600 (mil e seiscentos réis) e, por fim, uma peça de baeta sem identificação, em
2$000 (dois mil réis). Também possuía um par de brincos, um laço e um crucifixo no valor
de 2$700 (dois mil e setecentos réis) e um par de fivelas de sapato com o preço de 1$500
(mil e quinhentos réis).
Ao analisar pelos valores, a proporção das roupas em relação ao total de bens de
Ana Maria é de 2,7%. Excluindo os escravos e bens de raiz, as vestimentas perfaziam
44,7% dos pertences de Ana Maria. A inventariada possuía 646$140 (seiscentos e quarenta
e seis mil, cento e quarenta réis) em bens, mais 73$000 (setenta e três mil réis) em dívidas a
receber, totalizando 719$140 (setecentos e dezenove mil, cento e quarenta réis). Esta
comparação monetária evidencia a importância das vestimentas frente aos demais bens.
142
Ana Maria mostrou-se mais abastada em relação a Vicente e Quitéria. Porém, se
observarmos os três personagens em relação à composição dos bens que possuíam, notamos
mais semelhanças do que diferenças. A diferença no caso de Ana Maria foi contabilizar
parte do sítio que seu sogro (senhor de engenho) possuía, no valor de 340$200 (trezentos e
quarenta mil e duzentos réis). Os bens se assemelham ao número reduzido de escravos,
joias e roupas da casa. Quitéria e Ana Maria possuíam peças de roupas de um padrão muito
semelhante, composto de saias e camisas. Porém, na variedade, Ana Maria e Quitéria
dispunham de quantidade e peças distintas, considerando também o estado e os tecidos de
suas roupas.
Um dos conjuntos de vestuário feminino mais representativo da amostra ituana foi o
de Mariana Leite Pacheco, composto por manto e saia de seda, avaliados em 3$200 (três
mil e duzentos réis) e 15$000 (quinze mil réis) respectivamente, saia e espartilho de veludo
nos valores de 12$800 (doze mil e oitocentos réis) e 5$000 (cinco mil réis) nessa ordem,
duas peças identificadas como rasgão17
, um de brilhante outro de veludo em 4$800 (quatro
mil e oitocentos réis) e 4$480 (quatro mil, quatrocentos e oitenta réis) e um par de sapatos
de seda, avaliado em 1$000 (mil réis).18
O vestuário de Mariana, avaliado no total por
45$280 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta réis) era composto por tecidos nobres, e
um item incomum para a amostra, o espartilho.
O domicílio do capitão José Manoel da Fonseca Leite, mais abastado do que os
inventários acima mencionados, indica-nos dados também interessantes.
Em 1772, José Manoel casou-se com Josefa Maria de Góes, filha do capitão-mor
Antônio Pacheco da Silva. Natural de Itu registrou seu testamento em 1785, tendo falecido
quatro anos depois, em 1789. Seu espólio consta entre os cinco maiores da amostra, e
estava dividido entre a propriedade no bairro do Pirapitingui e em um sobrado localizado na
rua do Carmo.19
No Pirapitingui, a propriedade era formada por duas casas, plantação de
cana, casa de engenho e de moinho, sendo avaliada em 6:000$000 (seis contos de réis). No
17 Não foi possível identificar o que seria rasgão. 18
ARQ/MRCI – Inventário de Mariana Leite Pacheco, 1779. Folha 4. 19 ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, 1798.
143
sítio havia dez pares de lençóis de linho, quatro de algodão e um par de bretanha. Quatro
pares de fronhas de linho, todas com rendas, seis pares de bretanha, um cortinado de cama
de algodão, quatro toalhas de mão, quatro toalhas de mesa, seis toalhas sem especificar o
uso, sendo três de linho, e três de algodão, duas colchas de chita forradas com durante e três
cobertores de papa. De uso pessoal, um casacão de baeta azul e dois chapéus de sol, um
coberto de holanda, outro de ganga.
No sobrado da Rua do Carmo, havia vinte e seis itens de ouro, quarenta e dois de
prata, três relógios de algibeira, louças finas, móveis e roupas. As roupas arroladas
pertenciam ao casal, uma exceção observada em nossa amostra. Notamos também que
constam poucas roupas de casa: um par de lençóis de linho com babados, um cobertor de
papa velho, quatro toalhas de mão de linho ou bretanha. De uso pessoal, encontramos
dezenove itens: dois penteadores, dois conjuntos de veste e calção, dois hábitos, duas
fardas, uma opa e três vestidos masculinos. Do universo feminino, destacamos: três roupas
inteiras, duas saias e duas marcelinas. Josefa possuía “uma roupa inteira de mulher de
cabaia cor de rosa, com avental de seda branca, tudo guarnecido de galões de ouro, avaliada
em 28$000 (vinte e oito mil réis); uma dita de cetim preto com seu manto, 16$000
(dezesseis mil réis); uma dita de veludo com seu manto usado, 12$800 (doze mil e
oitocentos réis).”20
Se na propriedade do Pirapitingui estavam os bens relacionados à produção, no
sobrado da vila foram arrolados os objetos importantes para a aparência do casal. Além das
roupas acima mencionadas, foram inventariados dois hábitos: um de terceiro do Carmo
com todos os seus pertences, no valor de 12$000 (doze mil réis) e outro, de S. Francisco,
calculado em 2$560 (dois mil, quinhentos e sessenta réis).21
Provavelmente o hábito de
terceiro do Carmo serviu de mortalha a José Manoel, pois conforme consta em seu
testamento, as disposições mencionavam seu pertencimento à ordem carmelita e o desejo
de ser sepultado na capela da referida ordem.
20
ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 16 verso. 21ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 16 verso.
144
Como capitão, José Manoel envergava possivelmente duas fardas: uma farda de
pano azul fino com suas dragonas de fios de prata, com véstia e calção, em bom uso,
avaliada em 8$000 (oito mil réis), e outra do mesmo tecido, porém sem dragonas, com
véstia e calção, no valor de 4$000 (quatro mil réis).22
Em testamento de 1785, José Manoel declarou que possuía um engenho de açúcar e
algumas benfeitorias em terras aforadas no bairro Pirapitingui, que pertenciam aos
religiosos do Carmo da vila de Itu. Segundo o testador, este usufruía da propriedade
com a condição de eu não poder vender: mas sim, que poderia eu doá-las com
todas as benfeitorias aos meus parentes; por isso – Declaro, que de toda esta
propriedade, assim como possuo, faço inteira e total doação; quanto possa, e me
for em Direito permitido à dita minha mulher Josefa Maria de Góes, e todos os
meus filhos e filhas, para que vivam na dita Propriedade, e possuam igualmente,
para o que eu os declaro, e instituo meus legítimos herdeiros assim dela como do
remanescente da minha terça. Declaro, porém que se a dita minha mulher, depois
que eu morrer, se casar segunda vez, neste caso desde já a dou por deserdada
assim da dita propriedade, como do remanescente da minha terça23
De acordo com as Ordenações Filipinas, José Manoel estava seguindo corretamente
a lei, nomeando em testamento os parentes que herdariam o direito ao usufruto da
propriedade aforada, inclusive de forma igualitária entre seus filhos e esposa. José Manoel
era dono de um patrimônio avaliado em 14:554$662 (quatorze contos, quinhentos e
cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois réis), o quarto maior espólio da amostra.
Em 1785 quando escreveu seu testamento, o homem já demonstrava certa
preocupação em relação à propriedade na qual possuía o engenho de açúcar e as
benfeitorias. A disposição de deserdar sua mulher da referida propriedade caso contraísse
matrimônio novamente, baseava-se apenas na vontade do testador, (ou no costume, pela
tradição), pois não encontramos menção a uma situação semelhante na legislação.24
A
preocupação em relação à administração dos bens legados às viúvas era comum, pois o
título 107 do quarto livro das Ordenações Filipinas é dedicado às “viúvas que alheam como
22ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 16 verso. 23AESP - Autos de contas de Testamento de José Manoel da Fonseca Leite. Folha 3. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05487_D011> . Acesso em 1.out.2014. 24 Cf. Livro IV , Ordenações Filipinas.
145
não devem e desbaratam seus bens”.25
Pela lei, o testador poderia dispor livremente apenas
em relação à terça. Sua esposa Josefa não se casou novamente, e não é possível saber se
caso contraísse matrimônio pela segunda vez, se a disposição de José Manoel teria efeito
pelo costume, já que pela legislação não havia amparo.
Quando da morte do marido, Josefa recebeu 1:400$000 (um conto e quatrocentos
réis) dos 2:000$000 (dois contos) das benfeitorias do Pirapitingui.26
No Tombamento dos
bens rústicos, censo realizado especialmente em propriedades rurais em 1817, Josefa de
Góes consta no registro número 317, como:
Dona, foreira de uma fazenda denominada Pirapitingui, pertencente ao Hospício
Nossa Senhora do Carmo (havida por doação), medindo 300x1500 braças (90 alqueires), possui 30 escravos, reside na fazenda, atividade/produção: tem
engenho e fábrica de açúcar, planta cana e mantimentos.27
Até quando faleceu em 1824, Josefa Góes possuía a propriedade no Pirapitingui e
produzia açúcar em seu engenho, contando com canavial e as demais benfeitorias. Na vila,
manteve a mesma residência, na rua do Carmo, com poucos móveis arrolados, como
bofetes, catres, caixas, dez cadeiras e uma meia cômoda.28
Permaneceu viúva até seu
falecimento. Na capa de seu inventário, consta como “inventariante de si mesma”. Não
encontramos nenhuma peça de roupa arrolada entre seus bens em 1824, nem menção à
existência de testamento.
Quadro 16 – Esquema genealógico da Família de José Manoel da Fonseca Leite
25 Ordenações Filipinas, título 107, Livro IV, p. 1015. Disponível em:
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p1015.htm> . Acesso em 2.out.2014. 26 ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 46. 27 ALMEIDA, Leandro Antonio de. Senhores de Terra da Vila de Itu em 1817. Revista da ASBRAP, São Paulo, v. 7, p. 7-77, 2001. p. 35 28 ARQ/MRCI – Inventário de Josefa Maria de Góis Pacheco, 1824, caixa 29b.
146
Fonte: ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 2 verso.
Com relação às roupas que foram inventariadas no momento da morte de José
Manoel, as peças masculinas foram divididas entre a inventariante e os dois filhos mais
velhos, José e Antonio. À época, o filho Joaquim contava com apenas sete anos e talvez,
por esta razão, não tenha entrado na partilha de roupas. A filha Ana, de dezesseis anos
dividiu com sua mãe as peças de roupas femininas, divisão incomum para a documentação
pesquisada. Esta partilha das roupas femininas ocorreu de maneira diferenciada em relação
aos outros inventários da amostra, pois mesmo quando a roupa do viúvo ou viúva entra no
rol de bens, na distribuição, as peças entram em sua meação, ou seja, continuam em sua
posse.
Quadro 17 - Relação das peças de roupas inventariadas no rol de bens de José
Manoel da Fonseca Leite e sua partilha, 1798
Herdeiro Peças de roupas Valor (em réis)
Tenente José Manoel da
Fonseca, 21 anos, casado.
Uma farda de pano azul fino com suas dragonas de fios de
prata, com véstia e calção em bom uso, 8$000,
Um vestido de pano azul novo, 8$000
16$000
Antonio Pacheco da
Fonseca, 18 anos
Uma opa de tafetá nova, 2$560,
Um vestido de sedinha azul usado, 6$000,
Um vestido de pano azul forrado de cabaia branca, 6$400
14$960
Ana, 16 anos Uma roupa inteira de mulher de cabaia, cor de rosa, com
avental de seda branca, tudo guarnecido de galões de ouro,
28$000,
Uma roupa inteira de mulher de cetim preto com seu
manto, 16$000.
44$000
Inventariante, a viúva
Josefa
Uma farda [-] sem dragonas com véstia e calção, 4$000,
Uma véstia e calção de cetim usados, 1$200,
Uma roupa inteira de mulher de veludo com seu manto
usado, 12$800,
Uma saia de seda amarela usada, 5$000,
Uma marcelina de pano fino encarnado, bordado de cetim
azul com suas [-], 25$600
Uma marcelina dita inferior, 5$000,
Uma saia de cetim azul usada, 6$000.
59$600
Fonte: ARQ/MRCI –Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folhas 16 verso - 17
A partilha das roupas do casal sinalizou uma distribuição razoavelmente utilitária,
cedendo ao filho tenente uma das fardas do pai capitão, vestidos para o filho Antonio,
147
nenhuma peça para o irmão caçula de sete anos, já que não lhe serviriam as peças do pai e
duas das roupas para a filha Ana.
Na obra Genealogia Paulistana, consta que os irmãos José, Maria Josefa e
Francisca haviam se casado em 1797, um ano antes do falecimento do pai.29
José casou-se
com vinte anos de idade, Maria Josefa com dezoito anos e Francisca, com apenas doze
anos. As duas irmãs não entraram na partilha acima tratada, provavelmente por terem
recebido peças de roupas em seus dotes.
Dona Francisca Xavier da Fonseca recebeu em roupas, “um vestido de mulher de
cetim preto, 4$000 (quatro mil réis); um dito de seda de flores cor de rosa, 12$800 (doze
mil e oitocentos réis); uma saia de cetim cor de rosa, barra de [-] de ouro com sua [-] do
mesmo cetim, 6$400 (seis mil e quatrocentos réis).”30
Sua irmã Maria Josefa, foi dotada
com “um vestido de mulher de cetim preto, 4$000 (quatro mil réis), uma saia de cetim cor
de rosa seca, 6$400 (seis mil e quatrocentos réis), um vestido de mulher de seda de flor cor
de rosa seca, 12$800 (doze mil e oitocentos réis).”31
Ambas receberam roupas muito
semelhantes, um vestido de cetim preto, um vestido de seda com motivos florais ou cor de
rosa e uma saia de cetim cor de rosa. José, o irmão mais velho entrou na partilha das
roupas provavelmente por ter recebido um dote de 310$400 (trezentos e dez mil,
quatrocentos réis) muito abaixo do valor recebido por suas irmãs Maria Josefa e Francisca,
que receberam cada uma, como meio dote o significativo valor de 1:027$565 (um conto,
vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco réis).32
Segundo Muriel Nazzari, a tendência observada no século XVII era de que a
opinião do patriarca deveria ser respeitada por toda a família, inclusive nos casos em que as
filhas recebessem dotes generosos, que afetassem os demais irmãos no momento da
partilha. Isto ocorria, provavelmente, uma vez que não seriam forçadas a retornar o valor à
29 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... p. 96 -99. Vol. III. Disponível em: <
http://www.arvore.net.br/Paulistana/Prados_1.htm> . Acesso em 10. ago.2014. 30 ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 37. 31
ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 38 verso. 32ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 45
148
colação.33
Já no século XVIII, porém, ocorreu uma diminuição da influência do patriarca,
conforme notado por Nazzari em São Paulo, quando observou que os irmãos “com ajuda de
advogados e juízes, procuravam fazer cumprir as disposições da lei relativas à igualdade
entre herdeiros.”34
Observamos que os três irmãos foram à colação para a divisão dos bens.35
No que se
refere ao balanço dos bens, o monte-mor considerável de 16:597$760 (dezesseis contos,
quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta réis) reduziu-se à quantia de
11:143$468 (onze contos, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito réis),
ao se retirar o valor das dívidas.
Na relação das dívidas consta o nome do credor e o valor, sem discriminar o motivo,
ou o objeto de tal valor. Na maior parte, as dívidas eram compostas de valores baixos. Entre
as de valores intermediários e consideráveis, encontramos uma de 20$000 (vinte mil réis) à
Ordem Terceira de S. Francisco, outra dirigida ao Coronel José Florêncio de Oliveira, com
valor de 426$305 (quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e cinco réis) e duas com somas
expressivas: 1:072$290 (um conto, setenta e dois mil, duzentos e noventa réis) ao coronel
José Manoel de Sá, e 2:893$074 (dois contos, oitocentos e noventa e três mil e setenta e
quatro réis) “por escritura” ao capitão Antônio de Barros Penteado.36
Diferentemente de
outros inventários, neste, os bens foram separados e os herdeiros pagos. A viúva recebeu
todos os demais bens, incluindo as dívidas, mas não as quitou. Quanto aos recibos, há
apenas o referente ao pagamento de cada legítima de seus filhos. Não encontramos
nenhuma indicação de como seria saldada a grande dívida, nem indicação de arrematação
de bens para este fim.
33 Colação era o retorno dos bens ou do valor dos bens recebidos pelos herdeiros através de dotes ou
adiantamentos no momento da partilha dos bens dos pais. O herdeiro poderia trazer ou não os bens à colação.
Se viesse à colação, seus bens eram somados à herança e redivididos entre todos os herdeiros. Caso contrário,
abria mão da herança. Cf. NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote. Mulheres, família e mudança
social em São Paulo, Brasil, 1600 – 1900. São Paulo. Companhia das Letras, 2001.p. 126-127. 34 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote... p. 128. 35
ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folha 45. 36ARQ/MRCI – Inventário de José Manoel da Fonseca Leite, folhas 19 – 20.
149
A família de José Manoel indica um traço observado em outros inventários
analisados. Alguns dos inventariados que possuíam imóveis em bairros rurais e casa na vila
tiveram seus bens arrolados conforme estavam distribuídos entre seus bens de raiz. Nestes
casos, foi possível notar um padrão dos objetos localizados na vila e em sítios um pouco
mais distantes da região central da vila de Itu.37
Oito de treze inventários, apresentaram a
maior parte dos objetos relacionados à aparência nas propriedades da vila de Itu e não nos
bairros rurais. Não consideramos que esses bens fossem estáticos, que não circulassem e
não fossem utilizados nos sítios e chácaras no entorno da vila, mas que a concentração de
joias, objetos de uso pessoal, principalmente de roupas na área central ituana indica um
padrão de uso conforme a necessidade. Assim, podemos considerar a importância dos
artefatos relacionados à aparência para o uso na região central da vila de Itu, onde as
sociabilidades eram mais acentuadas devidas às atividades religiosas, principalmente.
Outro exemplo deste padrão é o de Ana Gertrudes de Campos, falecida no ano de
1808. Deixou seu marido o alferes Luciano Francisco Pacheco e onze herdeiros, três já
casados, contando o caçula Joaquim com apenas quatro meses.38
A fortuna do casal foi
estabelecida acima de quinze contos de réis, proveniente da produção açucareira
desenvolvida em dois sítios próximos ao rio Tietê.39
No sítio, a única peça de vestuário mencionada foi uma saia de seda cor de pérola,
avaliada em 5$120 (cinco mil, cento e vinte réis). Havia ainda algumas peças de roupa de
casa, como lençóis de pano de linho, toalhas de mesa de algodão, três colchas de algodão e
chita 6$400 (seis mil e quatrocentos réis) e um cobertor de papa, de Castela, 2$560 (dois
mil e quinhentos e sessenta réis), na quantia total de 16$960 (dezesseis mil, novecentos e
sessenta réis)40
. De joias, encontraram-se cordões com contas de ouro, somados 37$880
(trinta e sete mil, oitocentos e oitenta réis). Na categoria de objetos de uso pessoal,
37 De vinte e um inventários que traziam propriedades em bairros rurais e na vila, treze não apresentaram
divisão dos bens pelos avaliadores, e finalmente oito registraram os objetos conforme os encontraram nos
imóveis. 38ARQ/MRCI – Inventário de Ana Gertrudes de Campos, folha 3. 39ARQ/MRCI – Inventário de Ana Gertrudes de Campos, folhas 13-13 verso. 40
Cobertor de papa era uma coberta confeccionada de lã. Vide SILVA, Antonio Moraes. Diccionario... Vol.
2, p. 392. Neste caso, era uma coberta proveniente de Castela.
150
elencaram dois pares de fivelas de esporas, avaliadas em 5$300 (cinco mil e trezentos
réis).41
Assim como os demais inventários, este tem como característica concentrar a
maioria de bens relacionados à produção agrícola e açucareira nas propriedades da região
rural. Essa característica aponta para a questão utilitária dos artefatos, pois se encontravam
no local onde teriam função e seriam utilizados. Logicamente que as roupas de uso pessoal
eram usadas nas propriedades dos bairros rurais, mas as peças de roupas mais
significativas, tanto monetária quanto simbolicamente estavam guardadas na casa da vila.
Como exemplo desse tipo de procedimento, podemos pensar nos hábitos de ordens
terceiras, utilizados em missas e procissões realizadas no núcleo central da vila, no qual se
encontravam os principais edifícios religiosos da localidade.
Na casa de Ana Gertrudes localizada no pátio da Matriz, isto é, na região central
ituana, as joias somaram 150$720 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte réis),
entre anéis de ouro com topázio, ou com pedras falsas, cordões de ouro e cinco pares de
brincos de ouro, que representavam 1,0% do montante total de bens. Tais adereços superam
os encontrados no sítio, tanto na variedade, como no valor, pois em joias, havia 37$880
(trinta e sete mil, oitocentos e oitenta réis) no sítio. Os objetos de uso pessoal no sítio
somaram 5$300 (cinco mil e trezentos réis) referentes a dois pares de esporas, já na vila,
somaram 24$000 (vinte e quatro mil réis), entre os quais havia fivelas de esporas e de
sapatos, uma bengala feita de madeira da terra e prata e três chapéus, avaliados em 6$000
(seis mil réis), 4$000 (quatro mil réis) e 3$200 (três mil e duzentos réis), respectivamente.
As roupas de casa apresentam um valor menor, de 26$800 (vinte e seis mil e
oitocentos réis) em relação às do sítio, porém a qualidade dos itens parece ser muito
superior, como por exemplo, a colcha de damasco carmesim em bom uso, avaliado em
20$000 (vinte mil réis).42
As vestimentas arroladas e avaliadas em 70$880 (setenta mil,
oitocentos e oitenta réis) pertenciam ao casal. Do seu marido Luciano, consta a farda com
véstia de cetim branco bordada de ouro e calção de casimira branca no valor de 20$000
(vinte mil réis) e uma casaca nova de pano azul fino, com véstia e calção de cetim preto,
41
ARQ/MRCI – Inventário de Ana Gertrudes de Campos, folhas 13 – 13 verso. 42ARQ/MRCI – Inventário de Ana Gertrudes de Campos, folha 14.
151
12$800 (doze mil e oitocentos réis). Da inventariada, umas roupinhas de cabeça azul, no
valor de 1$280 (mil duzentos e oitenta réis), uma manteleta de cetim listrada com renda de
ouro, 4$000 (quatro mil réis), um capote de mulher de pano encarnado fino, 12$800 (doze
mil e oitocentos réis), até um vestido de mulher confeccionado em cabaia branca com
raminhos de ouro em bom uso, avaliado em 20$000 (vinte mil réis).43
O valor total das
roupas 76$000 (setenta e seis mil réis) é muito semelhante ao dos móveis, de 77$620
(setenta e sete mil, seiscentos e vinte réis), e correspondem a 0,5% do total de bens.
Ana Gertrudes apesar de contar com muito mais cabedal do que Quitéria ou
Mariana, também possuía saia entre seus bens, porém de tecido nobre, de seda, no valor de
5$120 (cinco mil, cento e vinte réis). A farda, elemento crucial na identificação dos
indivíduos que gozavam de títulos militares, estava presente nos espólios abastados, como
o uniforme de cetim branco bordado de ouro, de Luciano, marido de Ana Gertrudes, ou a
farda de 1$600 (mil e seiscentos réis), dentre os poucos bens de Vicente Gonçalves Braga.
As fardas constituíam-se na representação do poder real. Assim, quem a envergava,
distinguia-se em relação aos demais súditos, pois pertencia a um restrito e seleto grupo na
América Portuguesa.44
Pablo Mont Serrath frisou ser “frequente que oficiais das
ordenanças, tendo baixa ou por velhice ou por outro motivo, seguissem usando as insígnias
e galões de seus postos, ainda que essa prática fosse proibida.”45
Conforme observado no capítulo 2 do nosso estudo, o acesso a tecidos de origem
estrangeira era comum na vila ituana. A diversidade de panos na época analisada é
relativamente ampla quando comparada com os tecidos observados em nossa amostra para
Portugal, bem como em séculos anteriores na vila de São Paulo. Luciana da Silva
confirmou o dado de Alcântara Machado de que o material mais empregado nas
vestimentas encontradas na vila de Piratininga, no século XVII era o algodão ali
43ARQ/MRCI – Inventário de Ana Gertrudes de Campos, folhas 5 – 5 verso. 44 SILVA, Camila Borges da. O símbolo indumentário: distinção e prestígio no Rio de Janeiro (1808-1821).
Rio de Janeiro: Secretaria Municipal da Cultura: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2010. p. 91 –
107. 45 MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas & Conflitos na São Paulo restaurada. Formação e consolidação da agricultura exportadora (1765-1802). 2007. 316 f. Dissertação (Mestrado em História Econômica).
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo. p. 159.
152
confeccionado.46
Beatriz Ricardina de Magalhães também apontou a diversificação dos
tecidos disponíveis na comarca de Ouro Preto entre as décadas de 1740 e 1770:
É difícil dizer que a escolha dos tecidos era condicionada pelo clima, pois encontramos sedas, baetas, veludos, tafetás, gorgorões, panicos, lãs, rendas, etc. É
tão grande sua variedade, que chegamos a computar, em um só inventário de
Manoel de Miranda Fraga, mais de setenta tipos diferentes. A maior parte dos
tecidos era importada e tinha alto custo.47
Nas regiões mineradoras observou-se uma grande variedade de tecidos, roupas, joias
e objetos pessoais. De acordo com Magalhães, havia maior investimento de joias em
relação às vestimentas.
As peças de roupas mencionadas na documentação ituana correspondem ao padrão
de vestimentas europeu, mais especificamente ao padrão lisboeta, conforme abordado no
capítulo anterior, seja em relação às peças masculinas e femininas, seja em relação aos
tecidos empregados, todos de proveniência estrangeira. As mulheres mais abastadas
dispunham de vestidos, além de adornos vistosos de ouro, prata e pedras. Com base nos
registros de posse de bens, pode-se dizer que o modelo mais comum de vestimenta
feminina em Itu era caracterizado por saia e camisa. Quanto aos homens vestiam-se, ao que
tudo indica, com veste, colete, calção e casaca de tecidos muito semelhantes aos homens
lisboetas, porém com cores bem variadas.
Os moradores da vila de Itu que dispunham de sítios para a vivenda ou como
unidade produtiva açucareira em bairro rural e de uma casa na região central, deixavam as
roupas, as joias e demais objetos como chapéus, bastões, fivelas mais caros, em maior
quantidade e de melhor qualidade nas casas da vila. Já os moradores com os menores
cabedais, que residiam na área central ou mesmo nos bairros, envergavam trajes menos
abastados mas não tão distintos dos demais.
46SILVA, Luciana da. Artefatos...p. 76; 47
MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. “A demanda do trivial: vestuário, alimentação e habitação.” In:
Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, n.º 65, pg. 151 – 197, julho/ 1987. p. 172-173.
153
3.2 A circulação de roupas: dotes, doações, dívidas, partilhas e arrematações
A partir dos testamentos e dos inventários póstumos foi possível verificar a
composição das vestimentas disponíveis na vila de Itu, e em alguma medida, compreender
como as peças de roupas seriam destinadas após a morte do inventariado. Este tópico busca
compreender a circulação das roupas entre pessoas próximas e parentes dos inventariados
em momentos diversos do ciclo de vida e após a sua morte. Entre os exemplos, inclui-se o
dote, entregue ainda em vida pelos pais aos seus filhos, as disposições testamentárias
indicando as doações a serem realizadas após a morte, bem como a relação das roupas que
constavam nas dívidas, além as peças encaminhadas aos pregões públicos para rápida
conversão em dinheiro, a fim de quitar as dívidas.
Neste amplo cenário, encontramos o inventário de José do Amaral Gurgel, homem
que constituiu uma extensa família, casando-se três vezes. Era neto de Bento do Amaral
Gurgel, “sargento-mor no Rio de Janeiro, ouvidor e corregedor da capitania de S. Paulo”.
Residiu na região das Minas, depois adquiriu um sítio próximo aos rios Pinheiros e Tietê.48
Em 1730, José casou-se com Escolástica de Arruda Leite Ferraz, filha de um juiz ordinário
da vila de Itu. José recebeu o mesmo nome do pai, tendo apresentado uma variação, José de
Arruda Gurgel, na genealogia de Silva Leme.49
48 NARDY FILHO, A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c. vol. 5. p. 168. 49
LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... p. 123, volume VI. Disponível em:
<http://www.arvore.net.br/Paulistana/Godoys_3.htm> . Acesso em: 14/10/2014.
154
Quadro 18 - Primeiro casamento de José do Amaral Gurgel
Fonte: Genealogia Paulistana50
Seu primeiro casamento ocorreu em 1758, com Gertrudes de Araújo. A mãe da
noiva, Ana de Campos, a qual também pertence à nossa amostra, faleceu em 1780. De
acordo com Silva Leme, o genro José do Amaral Gurgel se casou pela segunda vez em
1768.51
Este fato, no entanto, não o inviabilizou de ser o inventariante de Ana, o que
demonstra que ele acompanhou sua sogra até a morte, mesmo tendo contraído novo
matrimônio.
Ana faleceu em sua casa e os bens foram repartidos entre os dois filhos que José
teve com Gertrudes, sua primeira esposa: Vicente do Amaral Campos e Ana de Campos
(mesmo nome da avó). A sogra devia ao genro 146$140 (cento e quarenta e seis mil, cento
e quarenta réis) referente à parte de um sítio que estava quitando. Esse valor correspondia a
16,8% de todos os seus bens e foi abatido da herança dos netos, que se constituía de onze
escravos, móveis, imagens e um oratório, quatro colchões, redes, quatro toalhas de mãos de
linho e algodão, uma toalha de mesa de algodão, duas colheres de prata velhas e vinte e
nove animais, entre vacas, bois e novilhas.52
50 Esquema genealógico baseado em dados de LEME, Genealogia Paulistana. p. 123, volume VI. Disponível
em: <http://www.arvore.net.br/Paulistana/Godoys_3.htm> . Acesso em: 14.out.2014. Os indivíduos inscritos
dentro de retângulos e destacados em negrito são inventariados que compõem a amostragem de nossa
pesquisa. 51 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... p. 123, volume VI. Disponível em: <http://www.arvore.net.br/Paulistana/Godoys_3.htm> . Acesso em: 14/10/2014. 52 ARQ/MRCI – Inventário de Ana de Campos, folhas 2 verso – 4.
155
Os sufrágios para a alma da falecida Ana foram custeados com parte do valor de um
escravo que a mesma possuía e que foi arrematado por Bento Dias Pacheco.53
Os recibos
referentes ao sufrágio são muito detalhados e interessantes, pois envolvem outros
indivíduos de nossa amostra. No documento constam dois recibos do padre Manoel da
Costa Aranha, nos quais atestou receber do inventariante dois valores para celebração de
missas em intenção da alma de Ana de Campos.54
Francisco Novais de Magalhães assinou
um documento denominado “Conta do que despendi com o enterro da defunta Ana de
Campos por ordem do Senhor José do Amaral Gurgel.” Adiante elencou: o valor de 4$480
(quatro mil, quatrocentos e oitenta réis) em missas de corpo presente no Convento de S.
Francisco, 6$000 (seis mil réis) de hábito para mortalha, 6$880 (seis mil, oitocentos e
oitenta réis) a saber: “a fábrica de sepultura ao pé das grades” em 2$560 (dois mil,
quinhentos e sessenta réis), 4$000 (quatro mil réis) de tumba, e $320 (trezentos e vinte réis)
de cruz, 4$640 (quatro mil, seiscentos e quarenta réis) em velas e $180 (cento e oitenta réis)
em uma vara e meia de fita roxa.55
Francisco pertencia à ordem terceira de São Francisco,
razão pela qual pode ter sido incumbido de tratar da sepultura de Ana de Campos. Os
gastos com o ofício religioso não eram acessíveis a toda a população, como no caso de Ana,
que a quantia gasta foi de 45$000 (quarenta e cinco mil réis), valor que correspondia à
metade do valor do escravo, um dos bens mais valiosos no período.56
Os objetos que restaram foram partilhados entre seus netos Vicente e Ana. Cada um
herdou 458$280 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta réis) em bens.
Vicente recebeu de itens têxteis duas redes e duas toalhas de algodão de mãos. Ana também
recebeu duas redes, duas toalhas de mão, mas uma era de linho e o diferencial foi uma
toalha de mesa de algodão.57
53O escravo Marcos foi arrematado pelo valor de 102$500 (cento e dois mil e quinhentos réis), sendo 45$000
(quarenta e cinco mil réis) destinados aos sufrágios de sua alma, e 51$060 (cinquenta e um mil e sessenta réis)
ao pagamento do funeral. O restante, 6$440 (seis mil, quatrocentos e quarenta réis) foi dividido entre os seus
herdeiros, 3$270 (três mil, duzentos e setenta réis) pagos a Vicente, e 3$170 (três mil cento e setenta réis) à
Ana. ARQ/MRCI – Inventário de Ana de Campos, folhas 7 verso - 12. 54ARQ/MRCI – Inventário de Ana de Campos, folhas 13 e 22. 55ARQ/MRCI – Inventário de Ana de Campos, folha 23. 56
ARQ/MRCI – Inventário de Ana de Campos, folha 7 verso. 57 ARQ/MRCI – Inventário de Ana de Campos, folhas 8 verso – 9 verso.
156
Quadro 19 - Segundo casamento de José do Amaral Gurgel
Fonte: Genealogia Paulistana58
Inácia Leite de Almeida, segunda esposa de José faleceu em 1801, e neste mesmo
ano José se casou pela terceira vez.59
Da união entre José e Inácia que durou trinta e três
anos, nasceram sete filhos. No inventário de Inácia foram arrolados muitos bens, compostos
em sua maioria das ferramentas e apetrechos de trabalho ligados à atividade açucareira,
benfeitorias, canaviais e engenho. Dos nove bens de raiz seis localizavam-se no bairro do
Buru, região atualmente pertencente à cidade de Salto, vizinha a Itu. No que se refere aos
itens têxteis, encontramos apenas um par de lençóis de pano de linho e uma colcha de chita
forrada de baeta vermelha, cada item avaliado em 6$400 (seis mil e quatrocentos réis),
valor semelhante ao dos móveis, 13$200 (treze mil e duzentos réis), que corresponde
apenas a 0,07% do total de bens.60
Tabela 8 - Composição dos bens dotados aos filhos de Inácia e José do Amaral
Gurgel
Maria Escolástica Francisca Inácia José
Ano em que
casou
1791 1796 1797 1801 1798
Escravos 336$000 171$200 226$400 465$800 128$000
Vestimenta 41$760 34$200 29$400 49$600 Não consta
Roupa da casa 13$920 5$440 Não consta 11$200 Não consta
Móveis 1$280 3$200 3$200 2$000 Não consta
Utensílios
domésticos
3$620 $800 5$300 20$600 Não consta
58 Esquema genealógico baseado em dados de LEME, Genealogia Paulistana. p. 123, volume VI. Disponível
em: <http://www.arvore.net.br/Paulistana/Godoys_3.htm> . Acesso em: 14.out.2014. 59 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... vol. 1, p. 270. Disponível em:
<http://www.arvore.net.br/Paulistana/Camrg_2.htm> . Acesso em 18.set.2014. 60 ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida, folha 15.
157
Ferramentas Não consta Não consta Não consta $560 Não consta
Animais 6$400 6$400 Não consta 16$000 8$000
Selas 9$000 4$000 6$000 Não consta Não consta
Objetos de uso
pessoal
Não consta Não consta Não consta 7$050 3$200
Joias 2$000 4$000 4$000 20$000 Não consta
Terras 150$000 150$000 150$000 Não consta Não consta
Matéria prima
ou produção
caseira
41$120 1$300 7$500 $960 Não consta
Dinheiro Não consta 400$000 600$000 Não consta Não consta
Total 605$100 780$540 1:031$800 593$770 139$200
Fonte: Inventário de Inácia Leite de Almeida, folhas 29-40, Genealogia Paulistana, v. 4 , p. 123-125
A tabela acima evidencia a composição dos dotes recebidos pelos irmãos, com os
anos dos respectivos casamentos e valores. Embora os valores apresentem disparidade, os
dotes eram compostos dos mesmos objetos. As três primeiras filhas que se casaram
receberam parte de uma propriedade no mesmo valor, 150$000 (cento e cinquenta mil réis).
Como roupas da casa constam alguns lençóis, coberta e toalhas, já em joias, todas
receberam brincos de ouro. Os outros dois irmãos João Batista e Bento eram solteiros. O
único irmão homem casado, José, recebeu um valor inferior aos das irmãs. José é o único
caso em que observamos um filho receber dote.61
E também figura como um dos poucos
casos onde um filho recebe dote em nossa amostra. É notável que houve uma preocupação
do pai em dotar as filhas de modo semelhante em relação às vestimentas:
Quadro 20 - Roupas recebidas em forma de dote pelas filhas de Inácia e José
do Amaral Gurgel
Peça Maria Escolástica Francisca Inácia
Capa Não consta De cassa grossa,
4$000
De cassa grossa
branca, 3$000
De cassa grossa
branca, 4$000
Manto De seda preto,
6$400
De seda preto,
10$000
De seda preto, 6$400 De seda preto,
6$400
Roupa
inteira
De cetim preta,
15$360
De cetim preta,
13$800
Não consta De cetim riscado,
20$000
Saia De cetim riscado de flores, 20$000
De cetim branca e a barra azul, 6$400
De cetim riscado de flores, 20$000
De cabaia cor de rosa, 19$200
Total 41$760 34$200 29$400 49$600
Fonte: Inventário de Inácia Leite de Almeida, folhas 29-37.
61 Na relação dos herdeiros, consta a anotação ao lado do nome (dotada) para as filhas e também para o filho
José. ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida, folha 4.
158
Os pais seguiram um padrão para determinar as vestimentas para as filhas na
ocasião do casamento. A escolha pelas peças acima mencionadas talvez se pautasse por se
constituírem em um padrão de vestimenta para uso externo ao domicílio, em eventos ou
espaços públicos. Mantos pretos de seda e saias constam em todos os dotes, com variação
do tecido para Inácia, que recebeu uma saia de cabaia enquanto suas irmãs receberam de
cetim, com variação nas cores e estampas. A principal variação foi que Francisca não
recebeu uma roupa inteira de cetim e Maria não ganhou uma capa de cassa, como suas
irmãs. Apesar da diferença monetária observada nos dotes de uma para outra filha, o padrão
de peças é muito semelhante. Em outros inventários, encontramos registros de roupas nos
bens doados em dotes. Vejamos alguns casos:
Quando suas filhas Luzia e Isabel se casaram, respectivamente em 1749 e 175062
,
João de Mello Rego as dotou de forma muito semelhante: escravos, terras, animais, alguns
móveis como camas, bofetes, catres, e utensílios domésticos, entre os quais bacias e
colheres. Ambas receberam colchão, lençóis de linho e algodão, algumas toalhas, e um
cobertor cada uma. A diferença entre os dotes das irmãs pode ser observada na presença de
alguns itens mais valiosos: Luzia recebeu um par de brincos pequenos de ouro e “um manto
de seda que se comprou para o seu dote”.63
Para Isabel, o diferencial foi “um cortinado de
algodão fino, todo quarteado de rendas”.64
A família gozava de uma boa situação
econômica e quando as filhas se casaram, os pais quiseram proporcionar às mesmas
comodidade e alguns mimos, cedendo bens diversificados de uso doméstico, semelhante ao
padrão de dotes que Nazzari observou para o século XVIII em São Paulo, composto por
peças de enxoval, de uso pessoal e de joias.
Luzia, e as quatro filhas de José do Amaral Gurgel, receberam um manto em seus
dotes. Paulo Garcez Marins ressaltou o registro desta peça pelos viajantes no início do
século XIX em terras paulistas. “Landseer, Debret e Hildebrandt retrataram mulheres de
elite e do povo com mantilhas e rebuços de baeta, que serviam para o recato herdado do
62LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana...Disponível em:
<http://www.arvore.net.br/Paulistana/ABotelhos_4.htm> .p. 155. 63
AESP - Auto de contas de testamento de João de Mello Rego, folha 4 verso 64AESP - Auto de contas de testamento de João de Mello Rego, folha 5
159
cerimonial aristocrático português.”65
Segundo Bluteau, o manto era “uma espécie de véu,
com que cobre a mulher a cabeça, e ás vezes o rosto, ao sair fora de casa.”66
Além dos
mantos, encontramos também mantilha, que de acordo com o mesmo autor “uma espécie de
véu ou capa sem cabeção nem talho, à medida do pescoço, que se põem sobre a cabeça ou
ombros(...) é mais comprida que a capinha e menos autorizada do que o manto (...) era
também uma espécie de banda traçada, que traziam as mulheres em lugar dos capotes, e
hoje só as usam as mulheres do povo, e em lugar de mantos na Beira.”67
No capítulo O mito da dona ausente, Maria Odila Leite da Silva Dias atestou que
durante o século XVIII e até meados do século XIX, “as grandes e raras damas não se
deixavam ver quase nunca e, quando o faziam, era com grande ostentação de roupas.”68
O
uso do manto escondia o rosto e boa parte do corpo da senhora, mas por outro lado,
atestava a distinção e evidenciava sua condição, de honra por cobrir-se e de riqueza quando
o manto era de um tecido valioso e ornamentado. Mas para os governantes portugueses,
esse hábito das senhoras causava estranhamento, pois em 1775 Martim Lopes reclamou
sobre a discrição das paulistas e em 1810, Franca e Horta instituiu um alvará proibindo o
uso de rebuços e baetas negros, com o intuito de “forçar a adoção de costumes mais
burgueses.”69
Em Itu, até o ano de 1808 a posse de mantos e capas foi recorrente na
documentação, indicando semelhança com os costumes da vila de São Paulo.
A utilização do manto, mantilha e capas por mulheres na América Portuguesa
estava, portanto, relacionada à tradição portuguesa, na qual a mulher deveria cobrir seu
rosto e boa parte do corpo ao sair de casa, ou ao participar de algum evento que
demandasse respeito, recato. Dotar a filha com um manto mais do que providenciar uma
65MARINS, Paulo César Garcez. “Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos”.
In: SETUBAL, Maria Alice (coord.). Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços
domésticos. Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura Ação Comunitária, São Paulo: CENPEC,
Imprensa Oficial do estado de São Paulo, 2004. volume 2.p. 125 66 BLUTEAU, Raphael. VocabularioPortuguez... p. 302-303. Disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/manto> . Acesso em 25.set.2014. 67 Vocábulo mantilha, Vide BLUTEAU, Raphael. VocabularioPortuguez... p. 301-302. Disponível em: <
http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/mantilha> . Acesso em 03.nov.2014. 68 “O mito da dona ausente” In: DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no
século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 98. 69 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano... p. 100.
160
peça de roupa, poderia também significar um desejo de demarcação social, de comunicar
perante a sociedade seu novo estado de mulher casada e exigir respeito.
Muriel Nazzari apontou uma significativa mudança na composição dos dotes entre
os séculos XVII e XVIII em São Paulo. No primeiro, os dotes eram compostos de meios de
produção e índios, e no segundo, passaram a ter objetos ligados ao enxoval e joias.70
Para
Itu, os poucos registros de dotes que encontramos confirmam essa mudança no perfil dos
objetos dotados. Embora eventualmente aparecessem algumas ferramentas, a impressão é
de que os pais tentavam garantir um mínimo de conforto às filhas, cedendo além de roupas
de casa, um ou dois escravos. A posse de escravos permitia ao proprietário não
desempenhar atividades manuais, menos nobilitantes.
Dona Maria Paula, filha de Salvador Jorge Velho, por ocasião de seu casamento,
recebeu alguns pratos, colheres, uma bacia de arame, um candeeiro, três escravas, um
cavalo cego de um olho, um xairel e capelada de pano encarnado, e um pano de cortina de
algodão e forro. Xairel consistia em uma “Cobertura que se põe sobre a anca de
cavalgadura, feita de tecido ou de couro, sobre a qual se põe a sela, evitando-se, assim, que
haja ferimento por atrito. O mesmo que gualdrapa, sobreanca.”71
Nazzari observou que cavalos entravam com frequência nos dotes, mas que não
poderiam ser considerados “meios de produção, pois frequentemente eram cavalos de
montaria destinados ao uso da noiva.”72
Por incluir o xairel e outros adereços de montaria
como a capelada, provavelmente o cavalo que Salvador doou à filha era para seu uso
pessoal.
Outra categoria de bens presente em todos os dotes das filhas de José do Amaral
Gurgel foram as joias. Maria, Francisca e Escolástica receberam um par de brincos de ouro
com pedras encarnadas, que valiam entre 2$000 (dois mil réis) e 4$000 (quatro mil réis).
Inácia do Amaral por sua vez, recebeu “um par de brincos com seu laço de ouro com
70 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento... p. 122. 71
Informação disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/xairel/> . Acesso em 04. mar.2014. 72 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento... p. 123.
161
pedra”, avaliado em 12$000 (doze mil réis).73
Luzia também recebeu um par de brincos
pequenos de ouro. Nestes dois casos, os itens dos dotes são muito semelhantes. As joias
legadas em dote serviam de adorno para as filhas mas também como ressaltado por
Madureira, como reserva de valor, para remediar alguma situação adversa.
Nas dívidas devidas ao monte de Inácia e José do Amaral Gurgel, observamos que
todas eram créditos, nos quais várias pessoas deviam dinheiro ao casal, contabilizando a
expressiva quantia de 4:213$743 (quatro contos, duzentos e treze mil, setecentos e quarenta
e três réis).74
Só o capitão Bernardo de Quadros Aranha, presente em nossa amostra,
possuía um crédito já vencido no valor de 1:600$000 (um conto e seiscentos mil réis)75
.
Nuno Madureira ressaltou que “para suportar a demora na realização de lucros sobre as
verbas avançadas é indispensável uma certa disponibilidade financeira. Assim, apenas as
pessoas com níveis de riqueza muito elevados se deixam tentar por este tipo de
investimentos.”76
Este era o caso de José do Amaral Gurgel, pois a maioria dos créditos
arrolados já estavam vencidos.
Milena Maranho ressaltou o papel crucial dos créditos em São Paulo durante o
século XVII, cuja característica também pode ser observada no século XVIII na vila ituana.
Segundo a pesquisadora,
o crédito era como uma promessa monetária, o empréstimo que o efetivara servia como mediador nas relações entre credores e devedores, ou seja, crédito e dívida
eram elementos inseparáveis que regulamentavam as „boas relações‟, tendo em
vista a ostentação de bens e um nome conhecido por parte do devedor, aquele que
obtinha o crédito frente ao credor. Esse era o papel do crédito enquanto forma de
viver em sociedades onde o costume era considerar o lucro dos empréstimos, as
boas relações e a posição social, mantida também pela situação de credor77.
Na partilha dos bens do casal José e Inácia, somando-se os meios-dotes citados, o
monte-mor foi expressivo: 21:671$220 (vinte e um contos, seiscentos e setenta e um mil,
duzentos e vinte réis). José recebeu quase onze contos de meação, e cada um dos herdeiros,
1:818$814 (um conto, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e quatorze réis).
73 ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida. 74 ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida, folhas 22 verso – 23 verso. 75 ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida, folha 23. 76
MADUREIRA, Nuno Luís. Inventários...p. 60. 77 MARANHO, Milena Fernandes. A opulência... p. 155.
162
Nas dívidas do casal, constam 16$000 (dezesseis mil réis) ao Reverendo presidente
do Carmo, José França, referente ao “hábito e capa com que foi amortalhada sua
inventariada mulher”78
. Assim como fez para a sogra de seu primeiro casamento, José
providenciou a mortalha para sua segunda esposa no momento do sepultamento.
Como mencionado acima, José do Amaral Gurgel contraiu terceiro matrimônio no
mesmo ano em que Inácia faleceu. Com Gertrudes de Camargo Penteado foi casado entre
1801 e 1806, teve uma filha, Ana Antonia.
Quadro 21 - Terceiro casamento de José do Amaral Gurgel
Fonte: Genealogia Paulistana79
José do Amaral Gurgel faleceu em 1806, com testamento e inventário, aos 74 anos,
segundo dados dos maços de população.80
Irmão professo da Ordem Terceira Carmelita,
Gurgel pediu para ser amortalhado com o hábito da ordem e que sua missa de corpo
presente fosse celebrada “por todos os sacerdotes que houverem”.81
No testamento deixou
alguns escravos forros, e instruiu para que sua terça fosse dividida entre sua esposa
Gertrudes e sua última filha, Ana Antonia.
O inventário póstumo de José Gurgel apresenta uma grande lacuna, de
aproximadamente setenta páginas. O arrolamento dos bens iniciou-se pelos objetos
pertencentes ao sítio do Buru, cuja maioria relacionava-se ao engenho, ferramentas,
animais, escravos, armas. No que se referem aos objetos têxteis, possuía roupas de casa
como toalhas, fronhas, lenços, cobertor, seis redes de algodão e 54 sacos de pano de
78 ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida, folha 24 verso. 79 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... vol. VI, p. 127. Disponível em: < http://www.arvore.net.br/Paulistana/Godoys_3.htm> . Acesso em 10. dez. 2014. 80
Em 1773 foi declarado com 41 anos. Cf. AESP - Maços de população, vila de Itu. 81 ARQ/MRCI – Inventário de José do Amaral Gurgel, folha 2.
163
algodão.82
Da avaliação do sítio até a partilha está a lacuna no documento. Pelo padrão da
documentação em geral, adiante os avaliadores estariam mencionando os bens localizados
na vila. No pagamento das legítimas aos herdeiros, foi possível determinar alguns dos bens
que José e Gertrudes tinham na vila, como as peças de roupas e outra propriedade, situada
na vila de São Carlos. A seguir, as roupas encontradas na partilha.
Quadro 22 – Relação das roupas e herdeiros na partilha dos bens de José do
Amaral Gurgel, Itu, 1806.
Peça/Herdeiro Gertrudes Neta de
Gertrudes,
casada com João
Evangelista do
Amaral
Neto Estanislau Neto
Rafael
Filha Maria
do Amaral
casada com
Manoel Vaz
Botelho
Calção Não consta De veludo preto,
1$600
Não consta Não consta Não consta
Calção e colete Não consta De fustão, 2$600 Não consta Não consta Não consta
Casaca Não consta Encarnada, 2$000 De chita, 5$000 De cetim azul,
4$800
De droguete preto, 4$000
Chambre Não consta Não consta Não consta Não consta De chita,
2$500
Meia Dois pares de
algodão,
1$140
Não consta Não consta Não consta Não consta
Total 1$140 6$200 5$000 4$800 6$500
Fonte: ARQ/MRCI - Inv. José do Amaral Gurgel, folhas 112-123 verso.
A viúva Gertrudes herdou as roupas da casa e os dois pares de meias algodão.83
As
roupas de uso pessoal de José foram divididas entre a viúva, a filha e os netos. Observa-se
uma preferência pelos netos em detrimento dos filhos e genros, embora figure a filha Maria
e o marido Manoel recebendo uma casaca e um chambre. Qual critério seria utilizado para
partilha de roupas quando não havia indicações nos testamentos? Apenas o valor? A
possibilidade de a peça servir a determinado herdeiro poderia pesar na escolha? Talvez
fosse um critério conceder alguma peça de roupa do inventariado a um herdeiro que já não
tivesse recebido dote, como é o caso da maioria dos herdeiros relacionados, excetuando a
filha Maria dotada. Os demais herdeiros receberam uma parcela da produção de açúcar.84
82 ARQ/MRCI – Inventário de José do Amaral Gurgel, folha 14. 83
ARQ/MRCI – Inventário de José do Amaral Gurgel, folhas 113 – 117. 84ARQ/MRCI – Inventário de José do Amaral Gurgel, folhas 124 – 130 verso
164
Se considerarmos o padrão observado na forma de arrolar os bens nos inventários, as
roupas de José ficavam na casa na vila.
Além do sítio Boa Vista, localizado no bairro do Buru, José possuía um sítio e
engenho na vila de São Carlos (atual Campinas).85
No censo de 1803, ele apresentou como
produção 800 arrobas de açúcar produzido em seu engenho, sendo 700 de açúcar fino, 80
de redondo e 20 de mascavo, maior quantidade registrada pelos senhores de engenho da
amostra.
O caso de José do Amaral Gurgel sinaliza a tendência observada por Bacellar no
início do século XIX, no que concerne às aquisições de propriedades nas regiões próximas
à cidade de origem realizada por famílias ituanas tradicionais, localidade denominada
Frente Pioneira, que mais tarde abrigariam as principais fazendas cafeeiras: Campinas,
Limeira, Rio Claro, adentrando mais ao interior. Mas o investimento de Gurgel foi diferente
do padrão geral apontado por Bacellar, de jovens que venderam sua parte da propriedade
paterna, ou receberam dote ou adiantamento da herança e investiram em terras no sertão,
mais acessíveis do que na vila de origem e iniciaram seus negócios com recursos
reduzidos.86
José era um senhor na casa dos setenta anos na década de 1800, na altura, já
era um reconhecido senhor de engenho na vila ituana, sendo também investidor em um
engenho na vila vizinha, contando na ocasião, com grande capital.
Seu monte-mor foi calculado em 26:187$980 (vinte e seis contos, cento e oitenta e
sete mil, novecentos e oitenta réis). Retirando-se 6:823$490 (seis contos, oitocentos e vinte
e três mil, quatrocentos e noventa réis) de dívidas, restaram 19:364$490 (dezenove contos,
trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa réis) líquido para a partilha.
Gertrudes herdou 9:682$245 (nove contos, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta e cinco réis). A outra metade de igual valor, acrescidos os meios dotes e repartida,
gerou a herança no valor de 882$616 (oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezesseis
85ARQ/MRCI - Inventário de José do Amaral Gurgel, folhas 121 – 129 verso. 86 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra: família e sistema sucessório entre os senhores de engenho do Oeste paulista, 1765 – 1855. Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp, 1997.
p. 160.
165
réis) para cada herdeiro. A legítima foi de um valor baixo pois o número de herdeiros era
grande.
Em relação à partilha dos bens de raiz, observamos que o sítio de São Carlos foi
dividido entre os filhos e genros, com uma grande diferença de valores atribuídos a cada
herdeiro: de 33$139 (trinta e três mil, cento e trinta e nove réis) a 185$158 (cento e oitenta
e cinco mil, cento e cinquenta e oito réis).87
Porém, o único filho que herdou parte do sítio
do Buru foi o tenente José do Amaral Gurgel, que também recebeu a maior parte do
engenho de São Carlos. Não sabemos se a escolha de José ocorreu devido aos valores dos
bens em partilha, ou se havia uma estratégia de concentrar neste herdeiro a posse e a
incumbência de continuar os negócios do seu pai. José não era o primogênito, mas sim o
sétimo filho, da união de Gurgel com Inácia. Talvez este filho tenha demonstrado mais
habilidade ou competência para dar continuidade aos negócios iniciados pelo pai, ou pelos
valores já herdados pelas filhas nos dotes (mesmo trazendo à colação), coube ao irmão a
maior parcela da propriedade.88
Carlos Bacellar ressaltou duas alianças entre membros desse ramo Amaral Gurgel
com a influente família sorocabana Aires de Aguirra: o casamento de Américo Antonio
Aires com Francisca do Amaral Gurgel, e do tenente José do Amaral Gurgel com Gertrudes
Eufrosina Aires. Ambas as uniões constituíram riqueza, com engenhos e grande
escravaria.89
Podemos observar a atuação de ramos da família em vilas próximas a Itu,
através da aquisição de terras em São Carlos (Campinas) ou realizando alianças com
famílias de destaque de Sorocaba, visando à manutenção e à prosperidade dos negócios.90
De acordo com Bacellar, na América Portuguesa, os casamentos eram importantes
estratégias de manutenção de riquezas entre os senhores de engenho e grandes proprietários
87ARQ/MRCI - Inventário de José do Amaral Gurgel, folhas 112 – 130 verso. 88 Em alguns casos os filhos não recebiam todo o valor da legítima quando o primeiro genitor falecia,
recebendo apenas na herança posteriormente, no falecimento do segundo genitor, motivo de haver tamanha
diferença de valores herdados entre irmãos. Este não era o caso de José, pois no inventário de sua mãe em
1801, recebeu a mesma legítima materna, de seus irmãos, no valor de 1:818$814 (um conto, oitocentos e
dezoito mil, oitocentos e quatorze réis). ARQ/MRCI – Inventário de Inácia Leite de Almeida, 1801, vila de
Itu, folhas 94 verso – 96 verso. 89
BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver...p. 107-108. 90BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver...p. 107-108
166
do Oeste Paulista. No trabalho sobre a vila de Sorocaba durante a década de 1790, o autor
notou uma tendência interessante entre as famílias sorocabanas em estabelecer alianças
através do casamento com “famílias do oeste paulista, que, naquele exato momento
enriqueceram rapidamente.”91
Para Bacellar, “essa união com as famílias do açúcar
permitiu aos sorocabanos penetrar nos restritos círculos dos grandes senhores de engenho.
Foi através desses casamentos que ascenderam, em sua maior parte, às titulações da
nobreza imperial.”92
No testamento de Simão de Godoy Moreira, três filhos deviam para o seu espólio.
Manoel de Godoy Ribeiro devia 496$000 (quatrocentos e noventa e seis mil réis) mais
juros, Gaspar de Godoy Moreira, 6$000 (seis mil réis). Já Feliz de Godoy devia um escravo
no valor de 150$000 (cento e cinquenta mil réis), um cavalo, um par de pistolas, um item
ilegível no valor de 4$000 (quatro mil réis), um capote de pano avaliado em 2$000 (dois
mil réis) e um cobertor de papa em 3$200 (três mil e duzentos réis).93
O pai registrou que o
valor desses bens deveria ser abatido de sua legítima.
Quanto à doação de roupas, em nossa amostragem apenas dois testadores fizeram
alguma referência às roupas para doação. Francisco Novaes de Magalhães, importante
comerciante da vila de Itu, delegou à sua testamenteira (sua esposa) a distribuição de
“roupas e necessários para os pobres desta vila”, no valor de 400$000 (quatrocentos mil
réis).94
E o seu cunhado, o padre Manoel da Costa Aranha igualmente registrou: “declaro
que as roupas, isto é, a de vestir se reparta pelos pobres desta Vila.”95
Aliás foi o próprio
Manoel Aranha quem redigiu o testamento de Francisco. Pelas disposições de ambas as
doações serem idênticas, o padre pode ter influenciado Francisco Magalhães em tal decisão.
Curiosamente, eles não tinham roupas arroladas em seus inventários. Talvez suas
vestimentas tenham sido doadas logo após a morte. No entanto, no testamento de Francisco
havia menção para que fosse sepultado com o hábito de São Francisco.
91 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, séculos XVIII
e XIX. São Paulo: Annablume, Fapesp, 2001. p. 109. 92 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver...p. 109. 93 AESP - Auto de contas de testamento de Simão de Godoi Moreira, folha 4 94
AESP - Testamento de Francisco Novaes de Magalhães, folha 6 95ARQ/MRCI - Testamento de Manoel da Costa Aranha, folha 6.
167
A princípio, a doação de roupas parece uma decisão simples. No ato de testar, o
indivíduo enfermo ou considerando a iminência da morte poderia (desde que em perfeito
juízo) deliberar sobre o destino de seus bens.96
Nos dois exemplos em que encontramos o
desejo de que as roupas fossem doadas aos pobres da vila, precisamos atentar a um aspecto
importante. Considerando que no caso o indivíduo tivesse roupas, provavelmente algumas
peças não seriam doadas pelo alto valor, ou pelo elemento que determinada roupa pudesse
significar. Por exemplo, não seria viável doar uma farda, um hábito de ordem terceira,
qualquer elemento que demarcasse uma posição ou pertencimento a um grupo social
restrito.
No caso de Francisco, que indicou a doação de roupas ou necessários em um valor
específico, consta ao final do Auto de Contas de Testamento, vários recibos de pagamento
de esmolas, em dinheiro.97
Manoel Aranha indicou o desejo de ser sepultado com vestes
sacerdotais, e que era “sacerdote do habito de São Pedro”.98
Para os pobres de outras
freguesias, deixou doação em dinheiro99
. Ao final do seu inventário, constam papéis de
arrematação de açúcar e de escravos, porém sem condição de leitura.
Avaliando o processo de arrematação dos bens, necessários em alguns casos de
partilhas e quitação de dívidas, Luciana da Silva pontuou para São Paulo, na primeira
metade do século XVII, que
Os leilões de bens de órfãos colocavam em circulação uma quantidade
significativa de objetos e bens, que passavam da condição de itens do patrimônio
familiar ao estado de mercadorias. Esses artefatos eram avaliados no momento da feitura do rol de bens de cada inventário, sendo essa avaliação o preço mínimo
pelo qual deveriam ser vendidas tais coisas em praça pública. Os leilões atendiam
às necessidades diversas do cotidiano dos compradores, como roupas, alfaias,
móveis, e permitiam adquirir meio para incrementar a fazenda, por meio da
aquisição de animais, equipamentos de trabalho, materiais de construção e
ferramentas.100
96 Cf. Título 81, Livro 4 das Ordenações Filipinas. Disponível em:
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p908.htm> . Acesso em 3.nov.2014. 97AESP - Auto de Contas de Testamento de Francisco Novaes de Magalhães, folhas 8 – 23 verso. 98ARQ/MRCI - Testamento de Manoel da Costa Aranha, folha 4. 99
Cf. páginas 177 e 178. 100 SILVA, Luciana da.Artefatos... p. 158
168
O leilão de objetos era uma oportunidade de reunir verba para o espólio,
principalmente quando algum item obtinha um valor maior do que o mínimo estabelecido
pelo avaliador, como no caso da escrava de Quitéria de Oliveira, que primeiramente havia
sido avaliada em 128$000 (cento e vinte e oito mil réis), mas foi arrematada por 145$000
(cento e quarenta e cinco mil réis.)101
Ao analisar o perfil dos bens, notamos que a maioria dos itens que iam à
arrematação eram escravos. Talvez pela demanda e pelos valores mais altos em relação a
outras categorias de bens, destinavam-se a leilão antes de outros objetos, como móveis,
roupas, ferramentas.
Antônio de Aguiar da Silva deixou dezesseis herdeiros, onze do primeiro casamento
com Maria Bicudo Chassim e cinco da união com Gertrudes Ferraz de Campos, sua
segunda esposa e inventariante. Alguns bens foram à arrematação antes de proceder à
partilha. As duas peças de roupas, um vestido de lemiste preto e um requelo102
de pano azul
usado estavam com os nomes de dois filhos ao lado do preço na avaliação, mas foram
levadas ao pregão.103
Existe apenas o registro da arrematação dos escravos, com os valores
e nomes, dos outros objetos, inclusive das roupas nada consta.
Neste caso, não foi possível repartir os bens entre os herdeiros. Devido ao grande
número de filhos, foi necessário levar uma parte dos bens a pregão. Como a legítima foi
pequena, 12$745 (doze mil, setecentos e quarenta e cinco réis), muito dificilmente
encontra-se bens em valores baixos nessa faixa para todos os herdeiros.
Em inventários de indivíduos casados, muitas vezes, localizamos apenas as roupas
do falecido, não do casal e de seus filhos. Pela legislação, deveriam constar todos os bens
do casal. Nuno Madureira apontou que na documentação portuguesa o vestuário dos
menores era considerado propriedade pessoal não partível, sendo ignorados pelos
101 ARQ/MRCI - Inventário de Quitéria de Oliveira, folhas 3 verso e 16. 102 Não foi possível identificar o que seria um requelo. 103 É comum observar nos inventários póstumos ituanos a escrita de nomes dos herdeiros ao lado da descrição dos objetos ainda no arrolamento, realizada pelo escrivão. Nos parece um esboço da divisão que será
registrada mais adiante.
169
avaliadores.104
Em relação aos inventários da vila de São Paulo entre os séculos XVI e
XVII, Luciana da Silva observou que quando apenas são arrolados os bens do cônjuge
falecido e nenhum do viúvo, em uma situação econômica não muito favorável, os bens
muito provavelmente seriam levados a pregão para arrecadar dinheiro para partilha e para
saldar as dívidas. Desta forma, se fossem arroladas as roupas da viúva ou viúvo, as mesmas
teriam que ser leiloadas, deixando a referida pessoa sem roupa alguma. Nesses casos,
parece-nos que os avaliadores respeitavam essa condição e não relacionavam as roupas de
viúvos e menores no espólio.105
O inventário do capitão Antônio Pompeu Bueno, é um caso único de nossa amostra.
Ao encerrar as contas, seu espólio apresentou um valor negativo. Em bens, o casal possuía
aproximadamente 697$000 (seiscentos e noventa e sete mil réis), mas em dívidas, possuíam
1:045$602 (um conto, quarenta e cinco mil, seiscentos e dois réis). Provavelmente Antônio
foi enterrado com o seu hábito de terceiro do Carmo, como era costume. Outra roupa que
ele possuía era a farda, de pano de fustão. No documento não foi arrolada nenhuma peça de
roupa de Dona Antônia de Arruda Góis, nem de seus filhos.106
Todos os bens do casal
foram levados a leilão.107
A situação de Dona Antônia era delicada, pois possuía quatro
filhos com idade entre dois e doze anos, além de estar grávida no momento em que seu
esposo veio a falecer. Em 1795, um ano após o falecimento de Antônio, Dona Antônia
casou sua primeira filha Anna então com treze anos com Antônio de S. Paio Góis.108
Tal
enlace seria uma opção viável para a filha. A morte do chefe de família geralmente alterava
a composição material do domicílio, bem como a composição familiar, especialmente em
relação aos órfãos.109
104MADUREIRA, Nuno Luís. Inventários... p. 14. 105 Luciana da Silva observou em alguns inventários de moradores da vila de São Paulo esse costume do
avaliador não arrolar as roupas do cônjuge no momento do inventário póstumo. SILVA, Luciana
da.Artefatos...p. 213. 106 ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Pompeu Bueno. 107 Os recibos das arrematações constam às folhas 5 – 7. ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Pompeu Bueno. 108 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia paulistana, p. 393. Disponível em: <http://www.arvore.net.br/Paulistana/Camrg_5.htm> . Acesso em: 30. set.2014. 109 SILVA, Luciana da.Artefatos...p. 158
170
O português Antônio Antunes Pereira contraiu o primeiro matrimônio com Rita
Victoria de Santana, com quem teve três filhos. Na segunda união, com Francisca Xavier
de Almeida, teve cinco filhos. Antônio e Francisca pertencem à nossa amostragem. Antônio
possuía o título de alferes e seu inventário dá indícios de que possuía uma loja, mas não
encontramos dados que confirmem essa ocupação na obra de Nardy Filho, nem em Silva
Leme.110
Antônio faleceu em 1802 e Francisca, em 1805.
Comparando os dois inventários, foi possível observar que os principais bens
continuaram com Francisca, apesar da partilha de Antônio contemplar os filhos de seu
primeiro casamento. Pela meação, Francisca ficou com os oito escravos que possuíam, dois
dos três bens de raiz, e mais alguns bens de valores menores, como livros e imagens
religiosas. As roupas do inventariado foram divididas de forma equânime entre seus filhos
homens.
Antônio, o filho mais velho de 23 anos, herdou uns calções de ganga branca
açucarada, forrado às dianteiras de pano de linho novo, 2$000 (dois mil réis) e uma véstia
também de ganga forrada de linho, mas já usada, no valor de 1$280 (mil duzentos e oitenta
réis).111
Francisco Cipriano, de 18 anos, recebeu uma véstia de pano azul entrefino, 2$000
(dois mil réis) e um capote jozesinho de pano azul usado, 1$600 (mil e seiscentos réis). Do
segundo casamento, o filho José, então com 12 anos de idade, ficou com o “casacão de
pano azul entrefino novo com espeguilha na gola e canhões [-] abotoadura amarela, 10$000
(dez mil réis)”. Ao seu irmão João, de apenas 8 anos, coube um colete de pano azul
entrefino e um vestido do mesmo tecido novo, avaliados respectivamente em 1$000 (mil
réis) e 4$000 (quatro mil réis).112
José recebeu apenas uma peça de roupa, diferente de seus irmãos que herdaram duas
peças. Porém, o casaco que lhe coube era novo, tinha vários detalhes, era composto de um
tecido de boa qualidade, tendo recebido um valor alto, 10$000 (dez mil réis) em
110 Na descrição de seus bens de raiz, junto às moradas de casas na Rua da Baratas, havia “armação da loja”
de três lanços, que vão até o Beco das Casinhas. Inventário de Antonio Pompeu Bueno, folha 11 verso. 111
ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Antunes Pereira, folha 8. 112ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Antunes Pereira, folha 8.
171
comparação com outros itens. Em relação às demais categorias de bens, o vestuário de
Antônio valia 38$280 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta réis), valor significativo, pois as
roupas da casa somaram 10$560 (dez mil, quinhentos e sessenta réis), os móveis
alcançaram 17$200 (dezessete mil e duzentos réis), mas representava 9,7% do valor da
escravaria que era de 393$200 (trezentos e noventa e três mil e duzentos réis).
Para a meação da viúva, além do tapete e das toalhas, guardanapos e colcha,
encontramos alguns calções de pano azul forrados de Holanda já usados, $800 (oitocentos
réis) e o hábito e capa de camelão pardo, novos, avaliados em 10$000 (dez mil réis).113
Destas roupas, apenas o tapete parece constar em ambos arrolamentos. Apesar da
semelhança, não podemos afirmar com certeza que o “tapete encarnado com ramos novo,
de 2$560 (dois mil, quinhentos e sessenta réis)”114
poderia ser o mesmo “tapete de senhora,
em bom uso, avaliado em 2$000 (dois mil réis)115
, três anos depois, pois esta última
descrição não menciona a cor encarnada.
Embora os valores avaliados possam ser tomados em conta para determinar a
identificação da mesma peça, os critérios eram subjetivos, e variavam de pessoa para
pessoa. Mesmo se tratando de um profissional, como ocorria em Lisboa, onde se contratava
um oficial marceneiro para avaliar os móveis, alfaiates para avaliar as roupas, ourives para
as joias e assim por diante. Na vila de Itu, não observamos essa prática, apesar de encontrar
alguns oficiais, como o ferreiro Vicente Gonçalves Braga.
Em nosso universo de análise, a circulação das roupas depois da morte do indivíduo
ocorreu na partilha dos bens inventariados, realizada pelas autoridades competentes, como
o juiz de órfãos e tutores no caso em que envolvia menor, e acompanhada de perto pelos
herdeiros e pessoas próximas ao falecido. Em geral, notamos nas partilhas a atribuição de
peças de roupas a herdeiros de acordo com a sua utilidade, condizentes a sua idade, para
melhor aproveitamento dos bens. Em vida, a preocupação em prover bens e principalmente
algumas peças de roupas importantes às filhas no momento em que casavam e formavam
113ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Antunes Pereira,folhas 8 – 8 verso. 114
ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Antunes Pereira, folha 8 verso. 115ARQ/MRCI - Inventário de Francisca Xavier de Almeida, folha 10.
172
um novo domicílio ficou evidente nas relações de alguns bens concedidos em dotes. Outra
característica importante foi a ausência de peças de roupas de crianças e da grande maioria
dos viúvos relacionadas no rol de bens, uma garantia caso todos os bens fosse à leilão
público.
3.3 O material e o imaterial nas aparências: religiosidade, representações e honra
Neste tópico partimos do ramo da família Aranha para discutir alguns aspectos
relacionados à materialidade dos bens e à aparência, especialmente importantes no século
XVIII e início do XIX.
De proeminência na vila de Itu, a família Aranha atuou em diversas atividades e
ramos, como no comércio local, ocupando cargos na administração, produção açucareira e
sacerdócio. Os elementos observados através da documentação de quatro membros desta
família são reveladores de aspectos importantes da sociedade de características de Antigo
Regime, tais como as crenças e práticas relativas à religiosidade.
No esquema abaixo, estão indicados em negrito os membros da família de João da
Costa que pertencem a nossa amostragem.
Quadro 23 - Família Costa Aranha
Fonte: Genealogia Paulistana
João da Costa Aranha foi casado duas vezes. De 1714 a 1740 sua esposa foi Maria
Francisca Vieira, com quem teve sete filhos, sendo dois inventariados de nossa amostra:
173
uma filha, batizada com o mesmo nome de sua esposa, e o padre Manoel da Costa
Aranha.116
Já com Gertrudes de Araújo Cabral, teve cinco filhos, dentre estes, o Capitão-
mor Vicente da Costa Taques Góes e Aranha.
Segundo Francisco Nardy Filho, João “era natural de S. João da Foz, cidade e
bispado do Porto, Portugal. Foi morador em Itu, onde serviu os honrosos cargos de
vereador, almotacé, alferes das ordenanças e capitão das mesmas.117
O autor registrou que
João da Costa Aranha era “possuidor de avultada fortuna”, mas não encontramos seu
inventário póstumo, apenas os Autos de Contas de Testamento. Neste documento, consta
como posse de João ouro em barra e dinheiro. Grande parte do documento trata dos bens
pertencentes ao sequestro do Sargento-mor João de Souza Rodrigues.118
Sua filha Maria Francisca Vieira casou-se com Francisco Novaes de Magalhães no
ano de 1743.119
Natural de Braga, Portugal, Francisco mudou-se para Itu e trabalhou com
comércio.120
Deste casal, localizamos o inventário e o testamento de Maria, de seu marido
Francisco, os autos de contas de testamento. Neste último, não foi mencionado estoque de
loja, mas a seguinte menção: “declaro que tenho tido vários negócios, dos quais se me estão
devendo quantias, que hão de contar dos créditos”.121
De acordo com Nardy Filho, na loja de Francisco “se abasteciam os fazendeiros de
então, aos quais também Novaes de Magalhães servia de banqueiro, e os quais com ele
saldavam suas dívidas no fim da safra de açúcar, gênero com qual Novaes de Magalhães
negociava, costumando receber em arrobas de açúcar ou algodão.”122
Outros inventariados
da amostra também realizavam negócios com Francisco, a saber, João de Mello Rego
116 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... Disponível em:<
http://www.arvore.net.br/Paulistana/PBarros_2.htm> . Acesso em 19.set.2014. 117 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu: histórico da sua fundação e dos seus principais monumentos. Itu:
Ottoni Editora, 2000a.vol. 1. p. 77. 118 AESP - Autos de Contas de Testamento de João da Costa Aranha. 119 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana...p. 493. Disponível em:
<http://www.arvore.net.br/Paulistana/PBarros_2.htm> . Acesso em: 19.09.2014. 120 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3. p. 223 121
AESP - Autos de Contas de Testamento de Francisco Novais de Magalhães, folha. 4 122 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3. P. 22
174
registrou em seu testamento que devia 40$000 (quarenta mil réis), e Ana de Campos,
22$180 (vinte e dois mil, cento e oitenta réis).
No inventário de Maria Francisca Vieira de 1796, constam as dívidas que muitas
pessoas contraíram com Francisco Novais de Magalhães, falecido em 1779. Pelo montante,
confirma a informação de Nardy Filho de que Novais exercia a atividade de banqueiro, pois
lhe deviam a soma de 20:154$653 (vinte contos, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos
e cinquenta e três réis).123
O capitão João Fernandes da Costa, (cunhado de Maria Francisca Vieira) outro
proprietário de loja, era também português, natural de Viana.124
Carlos Bacellar assinalou
que fazia parte da estratégia de construção e manutenção de fortunas do grande agricultor
paulista realizar alianças matrimoniais de seus filhos com pessoas envolvidas no comércio:
tropeiros, comerciantes de açúcar, negociante de escravos, pois “neste jogo, o parentesco –
de sangue ou de compadrio – era usado como uma garantia a mais para a boa conclusão do
negócio.”125
O comércio era associado aos ofícios mecânicos, tarefa depreciada entre a sociedade
local, mas desempenhada por portugueses recém-chegados cada vez mais numerosos na
capitania paulista.126
Como observou Maria Aparecida de Menezes Borrego, uma vez
inseridos na sociedade colonial, os comerciantes da vila de São Paulo buscavam
primeiramente através de casamentos com filhas de famílias tradicionais e posteriormente,
participando de irmandades, confrarias e cargos na administração local o poder e a
distinção social.127
Irmão de Maria Francisca Vieira, Manoel da Costa Aranha realizou “os seus
primeiros estudos em sua terra natal com os franciscanos, do Convento de São Luís;
seguindo depois para São Paulo, onde iniciou os seus estudos eclesiásticos, tendo recebido
123 ARQ/MRCI - Inventário de Maria Francisca Vieira, folhas 6 verso – 10. 124 LEME, Luís Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana... p. 499. Disponível em:
<http://www.arvore.net.br/Paulistana/PBarros_2.htm> . 125 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra... p. 97. 126
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil... p. 43 127 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil... Cf. capítulo 3
175
as sagradas ordens a 29 de setembro de 1754”.128
Em Araçariguama foi vigário entre 1758 e
1764.129
Em 1764 foi nomeado vigário da vara da câmara eclesiástica de Itu, e em 1777,
vigário encomendado da paróquia de Itu. De acordo com Nardy Filho, Manoel exerceu o
paroquiato até 1790.130
Se analisarmos o inventário de Manoel da Costa Aranha pelo valor dos bens que
possuía, 8:314$722 (oito contos, trezentos e quatorze mil, setecentos e vinte e dois réis)
líquido, era um número considerável, mas não entra nas cinco maiores fortunas da amostra.
Nem em relação ao número de objetos, era o arrolamento com mais itens. Porém em
qualidade, os bens que o padre possuía em sua casa ao lado da Igreja do Bom Jesus são
muito significativos. O escrivão criou o tópico Damascos para arrolar as peças
confeccionadas com este tecido. Em nenhum outro inventário da amostra utilizou-se esse
critério para arrolar os bens. Neste tópico, que os bens somam 57$200 (cinquenta e sete mil
e duzentos réis), correspondente a 0,6% do total131
, constam de
Uma colcha de damasco grande forrada de tafetá amarelo, 14$000; uma dita de
damasco pequena para cama, 10$000; uma bolsa de damasco com borlas e
cordões de retrós carmesim, 3$200; três portadas de damasco com galão falso,
18$000, três ditas do dito mais pequeno (sic) com a mesma guarnição, 12$000.132
De acordo com Silva Pinto, portada era uma “porta grande com ornato. Portada de
cortinas são duas cortinas e uma sanefa para ornar uma porta.”133
Como as de Manoel eram
de damasco, pensamos se tratar de cortinas, conforme segunda definição acima. Sobre a
bolsa, não foi possível determinar o seu emprego. A colcha de damasco combinava com a
cama de jacarandá que tinha pés de cabra e cabeceira do mesmo tecido, avaliada em
128 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3. p. 28 129 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3. 130 NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3. 131 Retirando os valores referentes aos imóveis e escravos, as peças de damasco representavam 3,5% dos bens
do padre Manoel. 132 ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 3 verso. 133 PINTO, José Maria Silva. Vocábulo Portada, disponível em: < http://www.brasiliana.usp.br/pt-
br/dicionario/3/portada>. Acesso em: 01.out.2014.
De acordo com Bluteau, sanefa era “um pedaço ou tira de pano, que se estende sobre a parte superior de uma cortina, etc.”, p. 469, disponível em :< http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1/sanefa> . Acesso em
01.out.2014.
176
32$000 (trinta e dois mil réis).134
Manoel tinha ainda outras duas camas, mais modestas: de
madeira da terra, nos preços de 3$200 (três mil e duzentos réis) e $960 (novecentos e
sessenta réis). Duas das camas contavam com cortinados: um confeccionado com chita e
rendinha, em bom uso no valor de 12$000 (doze mil réis), e um cortinado de seda
encarnada com babados de tafetá, 8$000 (oito mil réis).135
Conforme apontado no espólio
do padre Manoel, as camas eram itens valiosos em nossa amostra, pois os catres eram mais
comuns e seus valores dificilmente ultrapassavam o valor mil réis, enquanto que as camas
valiam até doze vezes mais, de acordo com os acessórios e os materiais empregados.
Oito das trinta e uma cadeiras, e uma poltrona de Manoel possuíam assentos de
damasco. Manoela Pinto da Costa registrou que além de um “tecido de seda com desenhos
acetinados em fundo não brilhante”, damasco também poderia ser um “estofo de lã, linho
ou algodão imitando o damasco de seda.”136
Pelo preço alcançado nas avaliações, as sete
cadeiras de campanha feitas de jacarandá com assentos de damascos em 14$000, a dois mil
réis cada, ou a “cadeira de braços de pau preto e assento de damasco amarelo em 3$200”
(três mil e duzentos réis), nos faz acreditar que tratavam-se de estofamentos confeccionados
com o tecido de damasco, não imitação. Mas como era um tecido de apelo visual muito
grande e não acessível, compreendemos os esforços para criar imitações com matérias-
primas mais comuns que o fio de seda.
O padre Manoel da Costa Aranha, de acordo com o que foi possível observar de seu
inventário póstumo, usufruía de um padrão considerável de conforto dentre os
inventariados da amostra ituana. Além de seus vencimentos como pároco, seu sítio com
engenho produzia açúcar e aguardente, contando com a mão de obra de dezenove escravos.
Continuando os esforços de seu pai como tesoureiro da Igreja do Bom Jesus, não apenas
desempenhando a função de sacerdote, Manoel investiu em construções na área em torno
da Igreja do Bom Jesus e do Convento franciscano, que compunham três casas: duas
134 ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 3 verso. 135
ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 3 verso. 136 COSTA, Manoela Pinto da. Glossário... p. 144.
177
“pegadas” à Igreja e uma de frente a ela, com quintais, avaliadas no total em 1:700$600
(um conto, setecentos mil e seiscentos réis).137
Na rua Direita, tem mais uma morada de casas, que está descrita como vizinha à
casa de seu irmão por parte de pai, o Capitão-mor Vicente da Costa Taques Góes e Aranha,
avaliada em 153$600 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos réis).138
Porém no
testamento escrito no mesmo ano de falecimento, Manoel comentou que seu irmão Vicente
morava em uma de suas casas, térrea. Com não possuímos o inventário do Capitão-mor,
não foi possível avaliar qual informação procede. Nardy Filho comentou que Vicente teria
falecido em uma situação próxima da miséria. Se assim foi, esta situação talvez explique
viver em casa de seu irmão e a inexistência de um inventário póstumo. Mas como um
homem influente e atuante por tantos anos no cargo de capitão-mor, Vicente muito
provavelmente teria ao menos um documento mesmo sem bens, mas com créditos ou
dívidas. Segundo Bacellar, Vicente foi um exemplo de acumulação de capital através da
arrecadação de impostos, pois um ofício menciona que atuou juntamente com dois sócios
como arrematante do contrato de dízimos entre os anos de 1780-1783.139
Manoel dispunha da única liteira mencionada em toda a amostra, arrolada entre os
bens das casas da vila, descrita como “uma liteira preparada em 40$000 (quarenta mil
réis).”140
Além a importância simbólica de possuir e circular pelos espaços públicos em
uma liteira, o valor é superior à uma casa nova de dois lanços que Manoel possuía em seu
sítio, avaliada em 25$600 (vinte e cinco mil e seiscentos réis)141
.
A posse de cadeiras por si só já apontam um nível de distinção, mas o estofamento
de damasco presente em parte das peças retrata uma situação de luxo e de conforto, pois
uma cadeira estofada proporciona sensação de bem estar muito maior que uma sem. E seu
estofamento não era de qualquer material, era feito com um dos tecidos mais caros
disponíveis na vila. O damasco era um padrão frequente nos móveis e alfaias do sacerdote,
137ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 6. 138ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 6. 139BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra...p. 171. Cf. nota 240. 140
ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 4. 141 ARQ/MRCI - Inventário de Manoel da Costa Aranha, folha 7 verso.
178
presente em colchas e na guarda cama principal também. Manoel investiu em itens
luxuosos para conforto doméstico, mas nas ruas da vila poderia desfrutar de uma distinção
que poucos poderiam, carregado em sua liteira.
Outro padre presente na nossa amostragem foi Antônio Francisco da Luz. Não
encontramos nenhuma menção a seu nome ou algum cargo que tenha ocupado na vila de
Itu. Antônio possuía uma capelinha em sua casa na Rua da Palma, mencionada na avaliação
deste imóvel. No item Imagens, vasos, ornamentos e mais pertences estão arrolados bens
que provavelmente pertenciam à capela que ele mantinha em sua casa. A capela era
formada por dois oratórios, duas imagens de Cristo crucificado, nove imagens de santos,
dois anjos, toalhas, alfaias litúrgicas (frontal, corporais), um missal, um ferro de fazer
hóstias. Antônio possuía uma casula de damasco branca e encarnada para realizar os ofícios
religiosos, avaliada em 6$400 (seis mil e quatrocentos réis). O objeto mais caro, porém, era
um cálice de prata, colher dourada e a capa do mesmo avaliados em 20$850 (vinte mil,
oitocentos e cinquenta réis), mas também havia duas jarrinhas de louça fina para flores em
2$000 (dois mil réis) e duas galhetas de estanho em $600 (seiscentos réis).142
A capela nos
fundos de sua casa contava então com os principais adereços decorativos e funcionais,
como o ferro de fazer hóstias. O padre Antônio dispunha do espaço e dos objetos
necessários para realizar cerimônias religiosas – ainda que para um número reduzido de
pessoas.
3.3.1 A Família Costa Aranha e a Igreja do Bom Jesus
O envolvimento de João da Costa Aranha com a igreja do Bom Jesus refletiu
diretamente na composição material da mesma. O pai e seus dois filhos foram os
responsáveis pela manutenção e ampliação do templo durante meados do século XVIII e as
duas primeiras décadas do século XIX, como apontou Nardy Filho. Nos inventários e
testamentos dos membros da nossa amostra também observamos um estreito vínculo entre a
família Costa Aranha e a Igreja do Bom Jesus, edificada no local da primeira capela erigida
pelo fundador Domingos Fernandes.
142ARQ/MRCI - Inventário de Antônio Francisco da Luz, folhas 8 – 9.
179
Entre os anos de 1763 e 1765, João da Costa Aranha foi tesoureiro e protetor da
igreja. Segundo Nardy Filho, reedificou-a as suas próprias custas, pois a igreja encontrava-
se em ruínas.143
O padre Manoel da Costa Aranha substituiu seu pai no cargo de
“tesoureiro-protetor da igreja do Senhor Bom Jesus, à qual muito beneficiou, devendo-se a
ele a construção do sobrado anexo a essa igreja para servir de residência ao seu capelão.”144
Durante o seu paroquiato foram inauguradas a igreja Matriz (1780) e a igreja do Carmo
(1782).145
Após a morte de Manoel, seu irmão por parte de pai, o Capitão-mor Vicente da
Costa Taques Góes e Aranha assumiu o cargo de zelador e tesoureiro da igreja do Bom
Jesus.146
Nos testamentos dos membros da família é possível observar as doações feitas a
diversas igrejas. Maria Francisca Vieira, em seu testamento datado de 1788 deixou 4$000
(quatro mil réis) para a igreja Matriz, a saber, 3$000 (três mil réis) para o douramento e
pintura, “quatrocentos réis que dei já para os ornamentos que mandei vir para a mesma
Matriz assim como também deixo para o frontispício da mesma Matriz o dinheiro que me
deve e assistiu o defunto meu marido para a fábrica dela.”147
Adiante, deixou 100$000
(cem mil réis) para a capela do senhor Bom Jesus.148
Francisco Novaes de Magalhães, marido de Maria registrou em seu testamento que
deixava 3$000 (três mil réis) para o douramento e pinturas do altar-mor da Matriz,
descontando $300 (trezentos réis) que já havia doado para obras. Depois das doações para
familiares, registrou a doação de 200$000 (duzentos mil réis) para a Ordem Terceira de S.
Francisco, já para a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e para a capela de
Santa Rita, deixou 50$000 (cinquenta mil réis). Destinou 400$000 (quatrocentos mil réis) à
capela do Bom Jesus, além dos 3$000 (três mil réis) acima citado, deixou mais 200$000
143NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu: histórico... p. 77-78. 144NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3. p. 28 145NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3.p. 28 146NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu: histórico...p. 78-79. 147AESP - Autos de contas de testamento de Maria Francisca Vieira, p. 2. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05484_D009
> . Acesso em: 14. Mar.2014. 148 AESP - Autos de contas de testamento de Maria Francisca Vieira, p. . Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05484_D009
> . Acesso em: 14.mar.2014.
180
(duzentos mil réis) para ornamentos da Matriz.149
A soma das doações às igrejas e ordens
terceiras (quantia de 903$000, novecentos e três mil réis) corresponde ao valor que
possuíam em escravos quando Maria Francisca faleceu, que era de 946$000 (novecentos e
quarenta e seis mil réis), quantia considerável.150
Em relação às disposições do padre Manoel, para as igrejas ituanas doou 250$000
(duzentos e cinquenta mil réis) para a Matriz, 500$000 (quinhentos mil réis) para ornato da
capela de Santa Rita e 50$000 (cinquenta mil réis) para a de Santa Gertrudes. Além dos
templos ituanos, Manoel doou 150$000 (cento e cinquenta mil réis) para ser dividido da
seguinte forma, 100$000 (cem mil réis) para a igreja de Nossa Senhora da Penha de
Araçariguama e 50$000 (cinquenta mil réis) para os pobres, e 50$000 (cinquenta mil réis)
para ser repartido igualmente entre a igreja e os pobres da freguesia de São Roque.151
Em
seu testamento feito em 1801, o padre lembrou-se das igrejas e da população que assistiu
nas décadas de 1750 e 1760, a freguesia de Araçariguama, e a vizinha, São Roque.
Manoel ordenou que com o dinheiro de seus bens se continuassem as obras na
capela do Senhor Bom Jesus, “fazendo nela o forro da capela mor em primeiro lugar, para o
qual já está pronto o taboado (...) com tribunas na capela mor e no corpo da igreja, mandar
fazer a porta principal, preparar a sacristia (ilegível) que ao testamenteiro parecer
conveniente”.152
João da Costa Aranha e seus dois filhos Manoel e Vicente desempenharam o cargo
de tesoureiro e protetor da igreja do Bom Jesus de forma sucessiva, além dos
melhoramentos que realizaram nas construções. O envolvimento da família com a igreja
deu-se no desempenho dos cargos de tesoureiros do pai e dos dois filhos sucessivamente,
149AESP - Testamento de Francisco Novais de Magalhães, Folha 3 verso. No testamento de Francisco existe
referência à posse de bens de raiz do casal, mas sem menção aos valores. Não dispomos de seu inventário
póstumo, mas o de sua esposa, Maria Francisca Vieira, que faleceu sete anos depois, em 1796. 150 ARQ/MRCI – Inventário de Maria Francisca Vieira, folha 6. 151AESP - Testamento de Manoel da Costa Aranha, folhas 4 verso e 5. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05484_D004
> . Acesso em: 21.mar.2014. 152AESP - Testamento de Manoel da Costa Aranha, folha 6. Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05484_D004
> . Acesso em: 21.mar.2014.
181
mas também no financiamento de melhorias e ampliação do templo e adjacências com
recursos próprios. A filha e o genro também doaram dinheiro para a igreja do Bom Jesus,
mas ajudaram com maiores valores a igreja Matriz. Como atestou Octavio Ianni, “o poder
religioso, o poder econômico e o poder político emergentes começaram a assinalar posições
e lugares.”153
Acerca da imaterialidade, Daniel Miller apontou para uma regra geral observada: a
de que quanto mais a humanidade desenvolve a conceituação do imaterial, mais importante
se tornam suas formas de materialização.154
Este seria o paradoxo da imaterialidade,
segundo Miller, pois esta só pode expressar-se através da materialidade.155
É sobre esse
viés que pensamos a religiosidade ituana, pois existiam cinco igrejas somente na área
central da vila, construídas e mantidas não apenas pelos religiosos, mas principalmente
pelos seus fiéis.
No momento da morte, a igreja que os fiéis tanto estimavam e frequentavam durante
a vida e os hábitos das irmandades religiosas, identificação vestida durante os ritos,
serviam-nos de sepultura e mortalha respectivamente.
Em testamento, Manoel indicou que seu corpo deveria ser sepultado na capela mor
da igreja do Bom Jesus, com suas vestes sacerdotais.156
Maria era irmã terceira da Ordem
de São Francisco e pediu em seu testamento para ser enterrada na capela e amortalhada
com o hábito da mesma Ordem.157
Segundo o historiador João José Reis, as mortalhas
carregavam uma carga simbólica importante,
embora não tenhamos informações precisas sobre os múltiplos sentidos atribuídos
às mortalhas por nossos antepassados, o certo é que não era um elemento neutro.
Seu uso exprimia a importância ritual do cadáver na integração do morto ao outro
mundo e sua ressureição no fim deste mundo. Era uma representação do desejo
153IANNI, Octavio. Uma cidade antiga… p. 22. 154 MILLER, Daniel (ed.). Materiality. London. Duke University Press, 2005. p. 28 155MILLER, Daniel (ed.). Materiality... 156AESP - Testamento de Manoel da Costa Aranha, folhas 4 verso e 5. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05484_D004
> . Acesso em 14.mar.2014. 157AESP - Testamento de Maria Francisca Vieira. Folhas 1 e 2. Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revolucao_frameset1.php?imagem=BR_SP_APESP_JR_C05484_D009
> . Acesso em 20.mar.2014.
182
de graça junto a Deus, especialmente a mortalha de santo, que de alguma forma
antecipava a fantasia de reunião à corte celeste. Ao mesmo tempo que protegia,
com a força do santo que invocava, ela servia de salvo-conduto na viagem rumo
ao Paraíso. Pode-se até pensá-la como um disfarce de pecador. Seja qual for o
ângulo, ela representa a glorificação do corpo em benefício da glorificação do
espírito, uma das evidências mais fortes da analogia que se fazia entre o destino
do cadáver e o destino da alma. Vestir o cadáver com a roupa certa podia
significar, se não um gesto suficiente, pelo menos necessário à salvação.158
Desta forma, concordamos com o autor, pois observamos em Itu a preocupação dos
testadores em registrar com qual hábito gostariam de ser sepultados, o esforço da família
em providenciar um hábito para amortalhar seu ente falecido quando não o possuía, além
do grande número de hábitos relacionados nos inventários.
O marido de Maria, Francisco também era irmão da referida ordem e indicou o
mesmo desejo de enterro, com detalhe para o local: “em sepultura que do Presbítero para
baixo estiver desocupada”.159
Já Simão de Godoi Moreira pediu para ser enterrado em local
de destaque na Matriz: “na porta travessa defronte ao altar de Nossa Senhora do
Rosário”160
. Por fim, o padre Antônio Francisco da Luz pediu que fosse levado para a igreja
do Carmo sem solenidade alguma, e sepultado “ao pé do altar da Gloriosa Santa Ana.”161
Toda a preparação do funeral tinha muita importância, desde as vestes, a missa de
corpo presente, a quantidade de pessoas acompanhando, bem como o local de
sepultamento. De acordo com a tradição religiosa, todos poderiam ser enterrados dentro da
igreja. João Reis apontou, entretanto, que a diferença estava na localização: no corpo, área
interna, era local de distinção, enquanto que no adro, área externa, o sepultamento era de
graça, geralmente escravos eram ali enterrados.162
A indicação de Francisco para ser
enterrado na primeira sepultura vaga abaixo do presbítero, denota sua influência e poder
aquisitivo não só perante à irmandade, mas à sociedade no geral, pois quanto mais próximo
ao altar, maior a importância do indivíduo.163
158 REIS, João José Reis. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São
Paulo. Companhia das Letras, 1991. p. 123-124. 159 AESP - Auto de contas de testamento de Francisco Novais de Magalhães, folha 3 160 AESP - Auto de contas de testamento de Simão de Godoi Moreira, folha 3 verso. 161ARQ/MRCI - Inventário e testamento de Antônio Francisco da Luz, folha 2. 162
REIS, João José Reis. A morte é uma festa...p. 175. 163REIS, João José Reis. A morte é uma festa... p. 176.
183
O capitão João de Mello Rego pediu para ser amortalhado com o hábito e capa da
Ordem terceira do Carmo, bem como sepultado na capela da mesma ordem. Descreveu com
muitos detalhes seu desejo, sendo
corpo depositado na Igreja Matriz, com ofício de corpo presente, de três lições
com a música de cantochão pelos sacerdotes que assistirem ao dito ofício, e missa
cantada [ilegível] e na mesma matriz se me cantará um memento com música do
Mestre de capela, e daí, será meu corpo levado para a dita capela da Nossa Senhora do Carmo na tumba e acompanhado dos irmãos, vigário e sacerdotes.164
A nosso ver, o hábito era um elemento chave tanto durante a vida, quanto na morte
do indivíduo. Em vida, indicava à sociedade e seus pares, o pertencimento à determinada
irmandade, que dependendo de qual fosse, era referência de alto poder aquisitivo e/ou
relações próximas à estratos sociais importantes. Na morte, conforme frisou Reis,
sinalizava a fé e o desejo de salvação da alma. Se o indivíduo não possuía o hábito, no
momento do enterro era providenciado junto às irmandades, como atestaram os exemplos
da sogra e da segunda esposa de José do Amaral Gurgel.
Maria Lucília Viveiros Araújo apontou uma mudança importante na estrutura dos
testamentos entre os séculos XV e XIX: de preparação do funeral e salvação da alma,
perdeu a finalidade espiritual e passou a tratar dos bens materiais.165
Nos testamentos
consultados na amostra, observamos que tratam de ambos, indicando tanto a preocupação
com as missas (recomendando quantidades para a própria alma, de familiares e de
escravos), quanto mencionando, ainda que de forma breve, os bens que possuíam e
deixando alguma instrução para destinar certos objetos.
Dois exemplos de disposições sobre oratórios são muito interessantes. João do
Mello Rego indicou que o “oratório com a imagem do Senhor crucificado o deixo de
esmola a capela de Santa Gertrudes para que lhe coloque na sacristia ou lugar que melhor
parecer ao Rev. Vigário na mesma Igreja, para que fique com perpétua veneração.”166
Já
164AESP - Autos de contas de testamento de João de Mello Rego, folha 3 verso. 165ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. “Contribuição metodológica para a pesquisa historiográfica com os
testamentos” In: Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo do Estado. Edição número 6 de outubro de 2005.
Disponivel em:
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao06/materia01/texto01.pdf> . Acesso em: 19.set.2014. 166AESP - Auto de contas de testamento de João do Mello Rego, folha 9 verso
184
Francisca Xavier de Almeida, registrou em testamento: “quero que o meu oratório e
imagens não sejam vendidos, e se incorporem as casas para todos os meus filhos o
gozarem.”167
Estes dois oratórios tiveram destinos diferentes: um doado para uma capela,
com o intuito de que mais pessoas o venerassem, e o segundo, a testadora proibia a venda,
visando a veneração das imagens sagradas apenas para os seus pares. Ambos sugerem uma
relação muito íntima dos proprietários com seus oratórios, sendo que utilizaram de sua
autoridade no momento da confecção do testamento para determinar o destino dos objetos
sagrados, cada um de forma diferente. Isto é, de forma pública para João, e de maneira
familiar para Francisca, buscando manter talvez a fé ou adoração em determinados santos
de sua preferência entre seus familiares e herdeiros. Nesses momentos de rituais de
passagem, Luciana da Silva ressaltou a importância dos objetos, quando
a cultura material sob propriedade e posse de um indivíduo serviria como um
meio através do qual este poderia garantir sua salvação. (...) ou, pelo menos, uma
estadia mais curta no Purgatório. Os objetos e bens dispostos nos testamentos
seriam, portanto, de grande importância para a alma do testador. Seu sossego
estaria associado com o cumprimento do destino dado a estes objetos em suas
cláusulas testamentárias. 168
O cumprimento dos testamentos pelos testamenteiros estava sujeito à fiscalização
das justiças civil e religiosa, porém, nem sempre a vontade do testador poderia ser colocada
em prática devido a regulamentações específicas presentes nas Ordenações Filipinas.169
Para o caso de Itu, por meio dos recibos que geralmente constam na documentação,
é possível observar que a maioria das disposições era realizada. Os recibos que dispomos
são geralmente dos herdeiros atestando que receberam os bens ou o valor correspondente
em dinheiro, e também são comuns recibos de padres ou irmãos terceiros recebendo valores
referentes às missas encomendadas para a alma do falecido e pela mortalha fornecida para o
enterro.
Luciana da Silva observou que na vila de Piratininga as roupas eram uma das
categorias de bens que mais circulava entre parentes e amigos do falecido. As peças mais
167ARQ/MRCI - Testamento de Francisca Xavier de Almeida. Folha 11 168
SILVA, Luciana da. Artefatos... p. 185. 169 SILVA, Luciana da. Artefatos... p. 185.
185
caras, de melhor qualidade eram deixadas para parentes ou pessoas próximas através das
disposições da terça170
, e as peças de tecidos ordinários, como o algodão da terra eram
doados aos escravos.171
Para a vila de Itu entre meados do século XVIII e início do XIX, ao
menos para os testadores da amostra, as roupas não foram objeto de grande preocupação,
pois não encontramos disposições específicas sobre a quem os testadores destinariam suas
vestimentas. No caso das filhas, esta ausência talvez estivesse relacionada ao fato de os pais
já terem providenciado peças de roupas de uso pessoal e de casa nos respectivos dotes.
Vimos a importância e a estreita relação entre a religiosidade e a materialidade nas
doações aos templos e na utilização dos hábitos das ordens terceiras, através de um ramo a
família Costa Aranha. Trataremos agora de um episódio envolvendo o membro mais
conhecido da referida família, o Capitão-mor Vicente da Costa Taques Góes e Aranha.
3.3.2 A farda do Capitão-mor de Itu
O capitão-mor Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, faleceu em 1825. Segundo
Nardy Filho, Vicente exerceu o cargo de Capitão-mor por quase cinquenta anos, entre 1775
e 1825.172
“Até o censo de 1825, com exceção do ano de 1809, o responsável pela primeira
companhia da vila era Vicente da Costa Taques Goes e Aranha, que se distinguiu no
exercício do seu comando pela precisão no desempenho de seus deveres.”173
Além do
destacado cargo ter sido desempenhado por tanto tempo, Vicente foi retratado diversas
vezes devido a um episódio marcado por uma desavença com D. Pedro I, devido
especialmente por sua indumentária.
170 O espólio de um indivíduo casado e com herdeiros era dividido em duas partes, chamada meação. Uma
parte cabia ao cônjuge, e a parte do inventariado, era dividida em três partes, sendo que 2/3 era repartido entre
os herdeiros, chamada legítima e 1/3, chamada terça, poderia ser dividida, ou doada de forma livre pelo
indivíduo, caso registrasse suas últimas vontades em testamento. 171SILVA, Luciana da.Artefatos...p. 205. 172
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu: crônicas históricas. Itu: Ottoni Editora, 2000c, vol. 3.p. 58. 173 SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura ...p. 78
186
Quando o príncipe regente D. Pedro esteve em São Paulo, em agosto de 1822,
Vicente Taques correu ao encontro de Sua Alteza. Apresentou-se no Palácio do
Governo trajado de grande gala, envergando um vistoso fardão vermelho, casaca
de rabo e calção, meias brancas, sapatos de fivela, penteado com grande cabeleira
de rabicho e empunhando o bastão simbólico de seu "capitanato". A sua
aparência exótica causou a maior surpresa e curiosidade. O príncipe regente,
mocinho ainda, soltou enorme gargalhada.174
Esse episódio foi retratado no filme Independência ou Morte, de 1972, dirigido por
Carlos Coimbra.175
Na cena, logo em seguida ao insulto, o imperador já condecora o
Capitão com as Ordens de Cristo e do Cruzeiro. A cena retratou o deboche do imperador, o
qual percebendo o mal-estar causado, prontamente o solucionou, concedendo ao velho
capitão duas comendas honoríficas no mesmo momento.
Na iconografia sobre a independência, Vicente possui dois registros: uma aquarela
de Miguel Dutra e um quadro de Benedito Calixto. De acordo com Paulo César Garcez
Marins, o retrato de Vicente de autoria de Benedito Calixto chegou ao Museu Paulista em
1902: “o retrato do líder ituano, célebre pela refrega com o príncipe-regente, que tentou
ridicularizá-lo em 1822, apresenta-o em traje formal de acordo com a aquarela de Miguel
Arcanjo Assunção, o Miguelzinho Dutra, realizada por volta da década de 1840.” 176
Entre os anos de 1835 e 1855, Dutra retratou diversas localidades, edificações e
tipos humanos.177
Segundo Jonas Soares de Souza, “pode-se dizer que a sua obra é fruto de
uma tradição regional bem caracterizada, na qual um realismo espontâneo e original
174 SOUZA, Jonas Soares de. Miguelzinho Dutra e a iconografia oitocentista de São Paulo. p. 5-6. Disponível
em:
<http://www.academia.edu/3537966/Miguelzinho_Dutra_e_a_iconografia_paulista> . Acesso em
01.ago.2013. 175Independência ou morte! Produção de Oswaldo Massaini, Direção de Carlos Coimbra. São Paulo:
Cinedistri, 1972. Disponível no endereço:
<http://www.youtube.com/watch?v=cRuCgVOi3wo> . Acesso em 01.ago.2013. 176MARINS, Paulo César Garcez. Nas matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a tradição da
retratística monárquica européia . Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 44, p. 77-104, fev.
2007. ISSN 2316-901X. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/34563>. Acesso em:
20.out.2014. 177 Miguel Arcanjo Benício da Assunção Dutra (1810-1875), de acordo com Ruth Tarasantchi foi “autodidata
na pintura, descobriu o uso da aquarela por si mesmo. Vivia no interior e não tinha acesso aos produtos de
pintura, por isso, sua paleta era reduzida. Usava sempre o azul para as árvores, matas e águas; tons ocres e
castanhos para as construções e outros detalhes. Raramente aparecia o vermelho e, mais dificilmente, o verde.
Como ele mesmo preparava suas tintas, é de admirar seu bom estado e o fato de não terem perdido a intensidade da cor.” In: TARASANTCHI, Ruth Sprung. “Obras desconhecidas de Miguelzinho Dutra.” In:
Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v. 10/11. p. 149-166 (2002-2003). p. 150.
187
aparece entrelaçado com soluções formais tradicionalmente barrocas.”178
A seguir, o retrato
póstumo que Miguel Dutra retratou o Capitão-mor.
Figura 10 – Vicente Taques por Miguel Dutra
Fonte: BARDI, Pietro Maria. Miguel Dutra... p. 95.179
Localizamos algumas obras que reúnem as aquarelas de Dutra, mas apenas
comentam sobre a trajetória do artista, a título de ilustração, carecendo de uma análise
profunda e pormenorizada da obra. A imagem de Dutra aponta o desgaste e a questão
colocada por Ruth Tarasantchi, pois a cor da casaca é de um vermelho fraco. Apesar da
dificuldade, é possível observar que na imagem o capitão mor enverga uma casaca e um
178 SOUZA, Jonas Soares de. Miguelzinho Dutra: traços e troças da Itu oitocentista. Artigo disponível em:
<http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=6890> . Acesso em 14.out.2014. 179 Acervo Museu Republicano Convenção de Itu, de Miguel Dutra. Capitão –mor de Itu Vicente da Costa
Taques Góes e Aranha. Aquarela sobre papel, 16x10,5cm, s/d.
188
colete vermelhos com alguns detalhes dourados, calção amarelo ou bege, meias brancas,
sapatos pretos com fivelas. Pelo volume nas mangas, aparenta ser uma renda
provavelmente de uma camisa branca usada por baixo do colete, e na cintura, havia um
cinto. Nas mãos, apoia-se com um bastão e segura um chapéu preto, bicórnio ou tricórnio.
A figura 11 refere-se ao retrato de Vicente por Benedito Calixto.
Figura 11 - Vicente da Costa Taques Góes e Aranha por Benedito Calixto
Fonte: Acervo Museu Paulista. Retrato do Capitão-mor de Itu Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, Óleo
sobre tela, de Benedito Calixto, s/d.
De acordo com Paulo César Garcez Marins, o retrato de Vicente de autoria de
Benedito Calixto chegou ao Museu Paulista em 1902. Segundo Marins,
189
esta aquarela, hoje pertencente ao acervo do Museu Republicano Convenção de
Itu, foi muito provavelmente a mesma examinada por Calixto, conforme o
mesmo declara em carta de 1919, em que descreve sua tela como “cópia fiel” da
aquarela “obtida pelo Dr. Antônio Piza”.180
Produzida no final do século XIX, a tela que retrata Vicente está relacionada ao
movimento de exaltação ao passado vicentino e bandeirante, como apontou Marins.181
As
publicações e reedições das obras genealógicas Nobiliarquia paulistana e Genealogia
paulistana atestam esse interesse pelas figuras ilustres do período colonial. No quadro de
Calixto, o capitão-mor aparece de forma muito semelhante à aquarela, com a diferença na
postura, com o chapéu bicórnio na outra mão junto com o bastão. As principais diferenças
em relação à aquarela, é que na tela de Calixto, Vicente está portando uma espada e foi
ambientado em um cômodo, com uma estante, mesa e cadeira de madeira torneada. A data
mencionada no quadro, 1779 faz referência ao ano que Vicente assumiu o posto de capitão-
mor da vila ituana.
Em outra referência, o Capitão Vicente também foi retratado como uma pessoa de
boa vontade e de hábitos antiquados, pelo menos ao ver de Auguste de Saint-Hilaire
quando visitou a vila de Itu em 1819. Segundo o viajante francês,
Quando as plantas recolhidas durante o dia foram por mim analisadas, saí com o
capitão a fazer um passeio pela cidade e ver o que a mesma possuía de mais
notável; fiz também uma visita ao capitão-mor, que me cunhou de gentilezas já
fora de uso desde muito tempo, ao norte da Europa, mas a que os portugueses
ainda não haviam renunciado.182
Os registros feitos de Vicente e sobre o episódio com o imperador cristalizaram uma
memória sobre sua carreira, sua atuação e até mesmo sobre sua postura severa e leal à
monarquia. Para Vicente a sua farda antiga representava o orgulho de ter desempenhado
por quarenta e seis anos o cargo de capitão mor. O escárnio do imperador atestou a
defasagem da vestimenta do velho capitão-mor que havia servido D. José I, D. Maria I, D.
João VI e também a D. Pedro I, até sua morte em 1825.183
180MARINS, Paulo César Garcez. Nas matas...p. 90. 181MARINS, Paulo César Garcez. Nas matas... p. 90-91. 182 SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem....p. 225. 183
BARBAS, Manoel Valente. “A família Costa Aranha na vila de Itu do século XVIII e início do XIX.” In:
Revista da ASBRAP, São Paulo, n.6, p. 139-168, 1999. p. 151.
190
Roger Chartier destacou que em uma “sociedade antiga, a posição “objetiva” de
cada indivíduo como estando dependente do crédito atribuído à representação que ele faz
de si próprio por aqueles de quem espera reconhecimento; quando compreende as formas
de dominação simbólica, por meio do „aparelho‟ ou do „aparato‟.184
Desta forma, os
significados que o velho capitão-mor compreendia estar mobilizando quando trajava sua
antiga farda vermelha de galões e botões dourados não foram codificados, ou reconhecidos
da mesma forma pelo jovem imperador, que o julgou antiquado. Como ressaltou Sandra
Pesavento, “a força da representação se dá pela sua capacidade de mobilização e de
produzir reconhecimento e legitimidade social. As representações se inserem em regimes
de verossimilhança e de credibilidade, e não de veracidade.”185
Entre os séculos XVIII e XIX a aparência era um elemento crucial para as
sociedades de Antigo Regime. Sua atuação se dava no âmbito individual, constituindo o
indivíduo, e de forma mais ampla, inserindo-o em uma comunidade. O grande desafio que
o tema suscita é o de compreender quais os códigos que regiam a percepção sobre os trajes
nestes séculos, para além de saber se esta ou aquela tendência era adotada. Com base nos
bens arrolados nos inventários póstumos, foi possível avaliar para a sociedade da vila de
Itu, que as vestimentas eram elementos importantes para a exteriorização da ordenação ou
distinção social. Para aqueles que possuíam uma casa na região central da vila além da
propriedade em um bairro rural, reservavam algumas das principais peças de roupas e joias
para uso nos espaços de sociabilidade da vila.
Se no momento da partilha dos bens aparentemente a divisão das peças de roupas e
demais objetos relacionados à aparência segue uma divisão equânime entre os herdeiros,
nas relações dos objetos transferidos na forma de dotes para as filhas no momento do
casamento, notamos uma preocupação dos pais em proporcionar um padrão mínimo de
comodidade ou mesmo de prover com alguns objetos o início do domicílio dos filhos. As
roupas da pessoa falecida continuavam a vestir e proteger outros corpos, sendo doadas,
arrematadas em leilão ou herdadas por filhos, netos ou pessoas próximas.
184 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa/ Rio de Janeiro, Difel/Bertrand, 1990. p. 22 185PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 41
191
Por outro lado, algumas peças de roupas eram importantes tanto na vida quanto na
morte, como atestam os hábitos de ordens terceiras. Estes indicavam e materializavam a fé,
o pertencimento a um grupo social restrito e atuavam como ingresso à salvação no céu.
193
Considerações finais
O século XVIII foi o período que transformou as feições da vila ituana, com casas,
sobrados e templos erguidos e ornados com recursos provenientes da riqueza gerada pela
produção canavieira. Em meados do século XIX, considerada polo de atração demográfica,
a vila de Itu foi palco da construção inicial de fortunas que se estabeleceram e prosperaram
no ramo cafeeiro no oeste paulista.
As famílias e indivíduos que investigamos através de seus inventários possuíam
padrões de bens diversos. Desde apenas uma saia até vestidos de tecidos finos bordados
com fios de ouro, a documentação nos permitiu observar as diferentes composições dos
pertences têxteis, bem como os demais. Nos inventários de proprietários de engenho de
açúcar, nomeadamente os indivíduos que possuíam escravaria, o valor das roupas
representava entre 0,02 e 2,0% do total de bens. Ao excluir os valores dos bens de raiz e
dos escravos, a porcentagem das roupas em relação ao total de bens aumentava e o seu
valor se equiparava aos utensílios domésticos e aos móveis.
Dentro das casas ituanas, grande parte dos lençóis, toalhas, fronhas e guardanapos
eram de algodão. O linho e em menor número, a bretanha, também compunham as peças de
uso doméstico. Os tecidos mais valiosos, como droguete, damasco e a cassa marcavam a
distinção nos domicílios mais abastados. O item com maior valor monetário observado foi
a colcha, especialmente as confeccionadas em chita e damasco.
Os espólios mais abastados estavam relacionados às atividades de produção
canavieira (toda a produção ou parte), a saber: a plantação do canavial, a produção do
açúcar nos engenhos e, consequentemente, a sua comercialização. Os sacerdotes Antônio
Francisco da Luz e Manoel da Costa Aranha eram senhores de engenho com os bens
avaliados na faixa de 8:000$000 (oito contos de réis), um valor bem considerável para a
época, sendo que seus maiores rendimentos eram provenientes da atividade canavieira e
não das côngruas (remuneração eclesiástica). Da mesma forma, que os títulos militares não
remunerados que propiciavam prestígio e distinção aos enriquecidos senhores de engenho.
194
Em inventários de proprietários com mais de um imóvel, o padrão observado foi o
da distribuição dos bens em imóveis localizados na vila e no bairro rural. Em doze
inventários de indivíduos que possuíam propriedades em bairros rurais e na vila de Itu,
notamos que nesta última, se concentravam as roupas de casa com bordados, as de tecidos
mais finos, a maior parte das roupas de uso pessoal, principalmente os hábitos de terceiros
do Carmo, bem como as joias e demais adereços como relógios de algibeira. A distribuição
de bens mais caros e relacionados à aparência nas casas da vila em detrimento das
propriedades dos bairros rurais nos indica a necessidade ou a utilidade destes artefatos no
espaço da vila, local de sociabilidade privilegiada neste período, pois ali era o espaço onde
se celebravam os ritos festivos relacionados ao Estado, à religião, as trocas comerciais na
rua das Casinhas, os leilões e arrematações próximo à Casa de Câmara e Cadeia, as igrejas
e seus largos, ou seja, os espaços que promoviam os encontros.
As roupas femininas arroladas nos inventários da vila de Itu em geral são
semelhantes ao padrão observado para outra localidade da América Portuguesa, a comarca
de Rio das Velhas, em Minas, e também na amostra lisboeta. O traje mais comum eram as
saias, utilizadas juntamente com camisas, cujo valor era mais baixo do que os vestidos,
também presentes na documentação, porém em menor número.
O traje masculino padrão, também semelhante à Europa, era composto por calções,
véstia, colete e casaca. Enquanto o casaco mais largo, utilizado por cima da casaca recebia
o nome casacão em Itu, em Lisboa era denominado de sobrecasaca. O fraque de influência
inglesa foi mencionado em dois inventários: um dado interessante, já que era uma peça de
uso contemporâneo na Europa. Em relação aos tecidos empregados nas vestimentas em Itu,
era comum o uso de calção e colete do mesmo tecido, enquanto em Lisboa a casaca e a
véstia eram semelhantes. Sob uma análise comparativa entre a cidade de Lisboa e Itu,
notamos que a roupa feminina valia mais do que a masculina, e o valor médio atribuído às
roupas na Metrópole era superior ao ituano.
Não podemos tomar a não ocorrência de algum objeto no momento do arrolamento
como um indicador do desconhecimento daquele artefato na localidade. Como exemplo, a
195
peça de roupa denominada pescocinho, comum no universo lisboeta, em Itu, não foi
relacionada. Porém, dois pares de fivelas de pescocinho foram arrolados nos inventários de
José Manoel da Fonseca Leite e de Elena Maria de Souza, o que aponta para uma
ocorrência mais restrita, porém existente. Assim também observamos em relação aos
calçados, com seis ocorrências, cinco de homens e um par feminino. Entretanto, entre os
quarenta e quatro inventariados registramos quarenta e um pares de fivelas de sapatos,
número considerável que indica a posse de calçado em algum momento.
Em relação aos tecidos das roupas e os disponíveis nos estoques das lojas ituanas,
exceto o algodão mais grosseiro utilizado em vestimentas de cativos, todos eram
importados. A presença dos tecidos de algodão em substituição aos panos de linho confirma
a tendência geral do final do século XVIII, em ocorrência equânime tanto em relação às
peças de uso pessoal, quanto às roupas da casa. Também para os Mapas de Importação da
vila de Itu, notamos a mesma disposição que aponta o grande volume de tecido de algodão
importado até 1804, proveniente de Lisboa, enquanto da região norte, vinha maior
quantidade de panos de linho. Em Portugal a estamparia de tecidos de algodão provenientes
da Ásia ganhou impulso no período, fornecendo tecidos como a chita estampados e muito
coloridos, além dos próprios tecidos indianos.
Consideramos o valor monetário atribuído ao artefato no momento do inventário
póstumo um indicador importante, pois reflete a importância da matéria-prima, da técnica,
do estado de conservação e mesmo da relevância daquele objeto em questão, passando,
obviamente, pela subjetividade do avaliador. Quando comparadas com as demais categorias
em conjunto, não alcançaram altas somas, pois algumas peças - como os vestidos femininos
- receberam valores semelhantes ao preço de um escravo, mão-de-obra indispensável nas
atividades agrícolas, domésticas e também por isentar o seu proprietário das atribuições
manuais, motivo de desonra perante a sociedade do Antigo Regime.
As roupas não figuraram como os bens mais valiosos e também não foram
mencionadas de forma recorrente nas disposições testamentárias. Isto nos indica uma
preocupação menor, ou mesmo nula, desses sujeitos em garantir que determinado ente
196
recebesse uma roupa, denotando o grau de valorização daquele artefato, diferentemente
como ocorria no século anterior. Entretanto, nos casos de José do Amaral Gurgel e de João
de Mello Rego, notamos a atenção dos pais em dotar as filhas de forma equânime no
momento de seus matrimônios, com peças de roupas condizentes ao novo estado civil de
casadas. Simbolicamente, porém, tais objetos representavam elementos importantes para
exibição/aparência perante os demais indivíduos da localidade. Nestes casos, o manto era
uma peça essencial para o uso feminino: atuava na ocultação do rosto, respeitando a
tradição portuguesa, de que as mulheres honradas não deveriam sair desacompanhadas e
desprovidas de uma peça que lhe ocultasse sua face, além é claro do traje em geral.
As fardas e os hábitos de membros de ordens terceiras também apontaram para a
grande importância simbólica que carregavam, ao indicarem visual e materialmente o
pertencimento do indivíduo que os vestia aos grupos restritos e de prestígio social. Neste
universo de reverencias e mercês, salientava-se o hábito mais do que a farda. O hábito tinha
uma força simbólica entre o Céu e a Terra, a vida e a morte: nos códigos e crenças da
sociedade do Antigo Regime sua posse e uso garantiam ao fiel o acesso ao paraíso. À vida
eterna.
A posse de bens está relacionada à necessidade utilitária dos objetos, mas também à
demanda simbólica. Em relação ao vestuário, este proporciona a proteção contra o calor, o
frio, e também atua na constituição da imagem e da identidade do indivíduo, mobilizando
significados e elementos simbólicos através dos tecidos, dos modelos de roupas, dos
adornos utilizados. No contexto investigado, a aparência constituía socialmente o sujeito,
revelando através do seu traje o pertencimento ou não a grupos de prestígio e distinção
social como as ordens militares, as irmandades religiosas.
Nesse sentido, a posse de capas e mantos é um importante indicador social: ao
ocultar os rostos e corpos com tecidos valiosos, distinguiam as senhoras de respeito
publicamente, mas também serviam para encobrir a pobreza dos trajes das menos
favorecidas.
197
Referências bibliográficas
Fontes
Fontes Manuscritas
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa
Fundo Geral dos Feitos Findos.
Correição Cível da Cidade de Lisboa, Inventários post mortem
Antônio de Abreu Martins, 1793, maço 135, n.1, caixa 227
Antônio José de Freitas, 1796, maço 133, n.8, caixa 223
Francisco Soares Cardoso da Veiga, 1797, maço 207, n.6
Francisco José Guerra, 1799, maço 207, n.5
Feliciana Teresa, 1801, maço 207, n.8
Antônio João da Luz, 1804, maço 32, n. 5, caixa 56
Anselmo José da Silveira, 1805, maço 125, n.4, caixa 209
Antônio Gonçalves de Barros, 1806, maço 132, n. 14, caixa 222
Inventários Orfanológicos, Lisboa.
Antônia Maria Rita, 1769, maço 64, n. 4.
Manoel Francisco de Campos, 1774, maço 181, n.4
Ana Joaquina de São José, 1775, maço 44, n.3, caixa 80.
Agostinha Maria, 1779, maço 160, n. 14, caixa 248.
Antônio Alvares de Abreu, 1779, maço 62, n.4
Antônio Coelho Amado, 1780, maço 134, n.5, caixa 226
Ana Maria de São José, Luísa Maria, 1791, maço 67, n.9
Ana Victoria Joaquina de Andrade, 1791, maço 34, n.4, caixa 60
Antônio José dos Santos, 1794, maço 141, n.17
198
Antônio José Ribeiro, 1795, maço 34, n.9, caixa 61
Antônio Ferreira Themudo, 1798, maço 188, n.5, caixa 286
Amaro Monteiro da Cunha, 1798, maço 43, n.2, caixa 78
Antônio Vietas Lurio, 1798, maço 6, n. 6, caixa 10
Antônio Rodrigues, 1800, maço 110, n.2
Angélica Perpétua Rosa Portella, 1802, maço 45, n.3
Ana Maria da Conceição, 1808, maço 85, n.7
Arquivo Público do Estado de São Paulo
Juízo dos Resíduos. Autos de Contas de Testamentos.
João da Costa Aranha, 1769, caixa C00733
Simão de Godoy Moreira, 1779, caixa C00554
João de Mello Rego, 1779, caixa C00554
Francisco Novaes de Magalhães, 1789, caixa C00557
Maria Francisca Vieira, 17881
José Manoel da Fonseca Leite, 1785
Manoel da Costa Aranha, 1801
Antônio Antunes Pereira, 1802
Inácio Pacheco da Costa, 1805
Francisca Xavier de Almeida, 1805
Maços de População da Vila de Itu, micro-filme.
Rolo 85, 1766-1775
1 Os últimos seis documentos foram consultados on-line. Disponíveis em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/a_juizoresiduos_digitalizados.php> . Acesso em 20. Jul. 2013.
199
Rolo 87, 1793-1798
Rolo 88, 1800-1803
Rolo 89, 1804-1806
Rolo 90, 1807-1808
Arquivo Histórico do Museu Republicano “Convenção de Itu”
Fundo Arquivo Central da Comarca de Itu. Primeiro Ofício de Justiça.
Inventários e testamentos
Ana de Campos, 1780, caixa 1
Luzia Pedroza, 1791, caixa 1
Teresa Jesus Barbosa, 1791, caixa 1
Salvador Jorge Velho, 1793, caixa 2
Manoel Alvares Lima, 1793, caixa 3
Antônio Pompeu Bueno, 1794, caixa 4
João Leite Penteado, 1795, caixa 5
Maria Francisca Vieira, 1796, caixa 6
Maria Forquim Pacheco, 1797, caixa 7
Antônio de Aguiar da Silva, 1798, caixa 8
José Manoel da Fonseca Leite, 1798, caixa 8
Felisberto Ferraz Leite, 1798, caixa 8
Francisco Paes de Siqueira, 1799, caixa 9
Mariana Leite Pacheco, 1779, 10
José Gonçalves de Barros, 1779, caixa 10
Mariana Cardoso de Campos, 1779, caixa 13
200
José Leme de Oliveira, 1800, caixa 14A
Antônio Dias de Matos, 1800, caixa 14B
Elena Maria de Souza, 1800, caixa 14B
Manoel da Costa Aranha, 1801, caixa 15
Ana da Costa, 1801, caixa 15
Inácia Leite de Almeida, 1801, caixa 15
João Fernandes da Costa, 1801, caixa 15
Antônio Antunes Pereira, 1802, caixa 16
Inácio Pacheco da Costa, 1806, caixa 16A
Antônio Francisco da Luz, 1805, caixa 16A
João Ferraz de Campos e Rosa Maria da Siqueira, 1804, caixa 16B
José Fiusa, 1804, caixa 16B
Quitéria de Oliveira, 1804, caixa 16B
Ana Maria da Silveira, 1805, caixa 16B
José Leme de Alvarenga, 1805, caixa 16B
Francisca Xavier de Almeida, 1805, caixa 16B
Inácio Leite da Silveira, 1806, caixa 17A
José do Amaral Gurgel, 1806, caixa 17A
Ana Leite Gularte, 1808, caixa 17B
Vicente Gonçalves Braga, 1808, caixa 17B
José Alves Lima, 1808, caixa 17B
Bernardo de Quadros Aranha, 1808, caixa 17B
Ana Gertrudes de Campos, 1808, caixa 17B
José Manoel Caldeira Machado, 1808, caixa 17B
201
Josefa Maria de Góis Pacheco, 1824, caixa 29b
GODOY, Silvana Alves de. Tabela dos Maços de População da vila de Itu, planilha em
Excel.
Fontes Impressas
ALMEIDA, Cândido Mendes de (org.). Código filipino ou ordenações do reino de
Portugal, recompilados por mandado de el rei d. Filipe I (1603). Rio de janeiro. Do Instituto
Filomático, 1870. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p1015.htm> .
Acesso em: 02. out. 2014.
Appendix to "Ordenacoẽs e leys do reyno de Portugal, confirmadas, e estabelecidas pelo
senhor rey D. Joao IV. Novamente impressas, e accrescentadas com tres colleccoẽs: a
primeira, de leys extravagantes; a segunda, de decretos, e cartas; e a terceira, de assentos da
Casa da Supplicacao e Relacao do Porto." Lisboa: No Mosteiro de S. Vicente de Fora,
Camara Real de Sua Magestade, 1747. Capítulo X. Disponível em:
<http://archive.org/stream/appendixdasleyse00port#page/n38/mode/1up> . Acesso em 11.
fev. 2014
LEME, Luiz Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana. São Paulo, SP: Duprat, 1903-05.
11 Volumes. Disponível em: < http://www.arvore.net.br/Paulistana/> . Acesso em: 20. nov.
2014
Obras de referência
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico.
Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 -1728. 8 v. Disponível em: <
http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/1> . Acesso em: 27. dez. 2014.
COSTA, Manoela Pinto da. Glossário de termos têxteis e afins. Revista da Faculdade de
Letras. Ciências e Técnicas do Património. Porto, I Série, vol. III. Pp. 137-161, 2004.
PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva
Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. Disponível em: <
http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/3> . Acesso em 27. dez. 2014.
SÁ, Isabel dos Guimarães (coord). Glossário Portas Adentro. Disponível em:
<http://www.portasadentro.ics.uminho.pt/c.asp> . Acesso em: 20. dez. 2014.
202
SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portuguesa. Lisboa: Typographia
Lacerdina, 1813. Disponível em: < http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/edicao/2>
. Acesso em 22. dez. 2014.
Artigos, livros e teses
ACAYABA, Marlene Milan (Coord.); GUERRA, José Wilton; SIMÕES, Renata da Silva;
ZERON, Carlos Alberto (Org.). Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira. São
Paulo: Museu da Casa Brasileira, Imesp, Edusp, 2001, 4 vols.
ALGRANTI, Leila Mezan. “Alimentação e Cultura material: das fontes seriadas ao estudo
de caso (Rio de Janeiro segunda metade do século XVIII).” Apresentação parte da Mesa
redonda: Caminhos de pesquisa sobre cultura material. In: V Encontro Internacional de
História Colonial. UFAL, Maceió-AL, 2014. Texto fornecido pela autora.
______. "Artes de mesa: espaços, rituais e objetos em São Paulo Colonial" trabalho
apresentado no I Seminário Internacional Elementos Materiais da Cultura e Patrimônio
realizado pelo Programa de Pós Graduação em História ,FAFICH/ UFMG - Belo
Horizonte, novembro de 2011. Texto fornecido pela autora.
______. “Famílias e vida doméstica”. In: SOUZA, Laura de Mello e. História da Vida
Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. Fernando A. Novais
(coord). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. volume 1.
ALMEIDA, Adílson José de. Uniformes da Guarda Nacional: 1831 – 1852. A
indumentária na organização e funcionamento de uma organização armada. Dissertação
(Mestrado em História). 1998. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998.
ALMEIDA, Leandro Antonio de. Senhores de Terra da Vila de Itu em 1817. Revista da
ASBRAP, São Paulo, v. 7, p. 7-77, 2001.
ANDRADE, Rita Morais. Bouè Soeurs RG 7091. A biografia cultural de um vestido. Tese
(Doutorado em História). 2008. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo,
2008.
APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva
cultural. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense. 2008.
ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. “Contribuição metodológica para a pesquisa
historiográfica com os testamentos” In: Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo do
Estado. Edição número 6 de outubro de 2005. Disponivel em:
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao06/materia01/text
o01.pdf> . Acesso em: 14. fev. 2013.
203
ARIÈS, Philippe. “Por uma história da vida privada”. In: História da vida privada 3: da
Renascença ao Século das Luzes. Organização Philippe Ariès e Roger Chartier. São Paulo.
Companhia das Letras, 1991.
BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da terra: família e sistema sucessório
entre os senhores de engenho do Oeste paulista, 1765 – 1855. Campinas: Área de
Publicações CMU/Unicamp, 1997.
______. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São
Paulo: Annablume, Fapesp, 2001.
BARBAS, Manoel Valente. “A família Costa Aranha na vila de Itu do século XVIII e
início do XIX.” In: Revista da ASBRAP, São Paulo, n.6, p. 139-168, 1999.
BARDI, Pietro Maria. Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista. (Itu, 1810- Piracicaba,
1875). São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1981.
BARTHES, Roland. Sistema da moda. São Paulo: Ed. Nacional: Ed. da Universidade de
São Paulo, 1979.
BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do
Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775). 2. Ed. São Paulo: Alameda, 2007.
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São
Paulo Colonial (1711 – 1765). São Paulo: Alameda, 2010.
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o poder. Irmandades leigas e política colonizadora em
Minas Gerais. São Paulo: Editora Ática, 1986.
BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
______ . Razões praticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996.
BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII.
São Paulo: Martins Fontes, 1998. 3 v.
BUCAILLE, Richard, PESEZ, Jean-Marie. Cultura Material. Enciclopédia Einaudi,
Lisboa, IN-CM, 1989, vol.16 - Homo — Domesticação — Cultura Material, p.11-47.
BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Do borrão às aguadas: os engenheiros militares e a
representação da Capitania de São Paulo. Anais do museu paulista. 2009, vol.17, n.2, pp.
111-153.
BUENO, Maria Lúcia. “Moda e Ciências Humanas”. In: CRANE, Diana. A moda e seu
papel social: classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo: Editora Senac São Paulo,
2006.
204
BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994.
______. A Revolução Francesa da historiografia: a Escola dos Annales (1929-1989). São
Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991.
CARVALHO, Vânia Carneiro de. “Cultura Material, espaço doméstico e musealização.”
In: Vária História. (UFMG) Belo Horizonte, v. 27, p. 443 – 469, 2011.
______. Gênero e Artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São
Paulo, 1870 – 1920. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/FAPESP, 2008.
CARVALHO, Nilson Cardoso de. Arquitetura em taipa. Disponível em:
<http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/arquivos/galerias/arquitetura_em_taipa.pdf>
. Acesso em: 27. jan.2014.
CASCUDO, Luís da Câmara. Rede de dormir: uma pesquisa etnográfica. São Paulo:
Global, 2003.
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa/ Rio de
Janeiro, Difel/Bertrand, 1990.
COPPOLA, Soraya Aparecida Álvares. Costurando a Memória: o acervo têxtil do Museu
Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). 2006.
Escola de Belas Artes. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2006.
COSTA, Ana Paula Pereira. “Organização militar, poder de mando e mobilização de
escravos armados nas conquistas: a atuação dos Corpos de Ordenanças em Minas colonial.”
In: Revista de História Regional 11(2): 109-162, Inverno, 2006.
CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. São
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006.
D'ELBOUX, Roseli Maria. Uma promenade nos trópicos: os barões do café sob as
palmeiras-imperiais, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Anais do Museu Paulista. 2006,
vol.14, número 2 (julho-dezembro). pp. 193-250.
DEL PRIORY, Mary. Mulheres de açúcar: Vida cotidiana de senhoras de engenho e
trabalhadoras da cana no Rio de Janeiro, entre a Colônia e o Império. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 2008, v. 169, p. 57-90.
DIAS, Luís Fernando de Carvalho. Luxo e Pragmáticas no pensamento econômico do
século XVIII. Separata do Boletim de Ciências Econômicas da Faculdade de Direito de
Coimbra. v. IV, número 2-3, 1955, número 1-2-3, 1956.
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São
Paulo: Brasiliense, 1995.
205
DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material: Produção, comércio e usos
na Comarca do Rio das Velhas (1711-1750). 2008. 217f. Dissertação (Mestrado em
História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas da Universidade Federal de Minas
Gerais. Belo Horizonte. 2008.
DOUGLAS, Mary, ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do
consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004.
DURÃES, Andreia. “The Empire Within: Consumption in Lisbon in Eighteenth Century
and First Half of the Nineteenth Century” In: Histoire & Mesure, EHESS, Vol. XXVII,
2012, pp. 165-196.
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar , 2001.
FERLINI, Vera Lúcia Amaral. Açúcar e colonização. São Paulo: Alameda, 2010.
______. “Folguedos, feiras e feriados: aspectos socioeconômicos das festas no mundo dos
engenhos.” In: IANCSÓ, Istvan. e KANTOR, Íris. (orgs.) Festa: Cultura e Sociabilidade
na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo:
Fapesp: Imprensa Oficial, 2001. vol. I e II. (Coleção Estante USP – Brasil 500 Anos; v. 3).
______. Uma capitania dos novos tempos: economia, sociedade e política na São Paulo
restaurada (1765-1822). Anais do museu paulista. 2009. v.17, n.2, pp. 237-250.
FERNANDES, Maria Isabel. (coord.) Bordado de Guimarães. Renovar a tradição.
Disponível em: <http://www.bordadodeguimaraes.pt/site/uk/publicacoes/livrobdg.pdf>
FREYRE, Gilberto. Modos de homem e modas de mulher. Rio de Janeiro: Record, 1987.
GAMA, Luís Filipe Marques da. , TEIXEIRA, Madalena Braz. (org.) Traje palaciano:
Século XVIII – Império. Mafra: Câmara Municipal, 1986.
GODOY, Silvana Alves de. Itu e Araritaguaba na rota das monções (1718 a 1838). 2002.
239 f. Dissertação (Mestrado em História Econômica). Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2002.
GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. “Famílias Paulistanas e os casamentos consanguíneos de
„donas‟, no período colonial”. Anais da 17º Reunião da S.B.P.H. São Paulo, 1997.
GUIDO, Ligia Souza. “O que a traça não comeu: reflexões sobre o trabalho histórico com o
vestuário como fonte de cultura material.” In: XXVII Simpósio Nacional de História
“Conhecimento histórico e diálogo social” da ANPUH, 2013, Natal-RN, Anais do XXVII
Simpósio Nacional de História. Disponível em: <
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371316848_ARQUIVO_ArtigoLigiaSo
uzaGuidoAnpuh2013ok.pdf> . Acesso em: 10 set. 2014.
206
HISTÓRIA DO TRAJO EM PORTUGAL. Encyclopedia pela imagem. Porto: Livraria
Chardron, (1920).
IANNI, Octavio. Uma cidade antiga. Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp,
1996. (Coleção Tempo & Memória; 1).
KÖHLER, Carl. História do Vestuário. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
KOPYTOFF, Igor. “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo.” In:
APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva
cultural. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense. 2008.
KÜCHLER, Susanne; MILLER, Daniel. (ed.) Clothing as material culture. Oxford: Berg,
2005.
LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América
portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das letras,
1989.
LEMOS, Carlos. A casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1989.
LEVENTON. Melissa (org.). História Ilustrada do vestuário: um estudo da indumentária
do Egito Antigo ao final do século XIX, com ilustrações dos mestres Auguste Racinet e
Friedrich Hottenroth. São Paulo: Publifolha, 2009.
LIMA, Igor Renato Machado de. "Habitus" no Sertão: gênero, economia e cultura
indumentária na Vila de São Paulo (1554-C.1650). Tese (Doutorado em História
Econômica). 2011. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de
São Paulo, 2011
______. O fio e a trama: trabalhos e negócios femininos na vila de São Paulo (1554-1640).
Dissertação (Mestrado em História Econômica). 2006. Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2006.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas.
São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
LOPES, Maurício Maiolo. As faces da modernidade: arquitetura religiosa na reforma
urbana de Itu (1873-1916). 2009. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da
Arquitetura e do Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2009.
LUBAR, Steven e KINGERY, David. History of things: essays of material culture.
Washington: The Smithsonian Institution, 1993.
207
MACHADO, Alcântara. Vida e morte do bandeirante. São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2006.
MADUREIRA, Nuno Luís. Inventários: Aspectos do consumo e da vida material em
Lisboa nos finais do Antigo Regime. Dissertação de Mestrado em Economia e Sociologia
Históricas, século XV – XX. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa. 1989.
MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. “A demanda do trivial: vestuário, alimentação e
habitação.” In: Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, n.º 65, pg. 151 –
197, julho/ 1987.
MARANHO, Milena Fernandes. A opulência relativizada: níveis de vida em São Paulo do
século XVII (1648 – 1682). Bauru, SP: EDUSP, 2010.
MARINS, Paulo César Garcez. Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e
espaços domésticos. Disponível em:
<http://www.terrapaulista.org.br/costumes/vestuario/saibamais.asp#link3> . Acesso em: 18.
jul. 2014.
______. Nas matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a tradição da
retratística monárquica europeia. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n.
44, fev. 2007. pp. 77-104. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/34563>. Acesso em: 20. out. 2014.
MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Riqueza e escravidão: vida material e
população no século XIX: Bonfim do Paraopeba/MG. São Paulo: Annablume: Fapesp,
2007.
MARTINS, Ismênia e MOTTA, Márcia (org.) 1808: A corte no Brasil. Niterói, RJ: Editora
da UFF, 2010.
MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. Forças militares no Brasil Colônia: corpos de
auxiliares e de ordenanças na segunda metade do século XVIII. Rio de Janeiro: E-papers,
2009.
MENESES. José Newton Coelho. O continente rústico: abastecimento alimentar nas Minas
Gerais setecentistas. Diamantina, MG: Maria Fumaça, 2000.
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A cultura material no estudo das sociedades
antigas. In: Revista de História, NS n.1I5, p.103-117, 1983. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/61796/64659> . Acesso em
23.fev.2015.
______. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas
cautelares. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, nº 45, pp. 11-36,2003.
208
______. Prefácio In: CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e Artefato: o sistema
doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870 – 1920. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo/FAPESP, 2008.
MILLER, Daniel (ed.). Materiality. London: Duke University Press, 2005.
______. Trecos, troços e coisas. Estudos antropológicos sobre a cultura material. Rio de
Janeiro: Zahar, 2013.
MIRANDA, Andréa Cristina Lisboa de. O traje dominante. Do papel social da
indumentária no Barroco Joanino enquanto forma expressiva de comunicação. 1998. 259 f.
Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.
MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres forras: cotidiano e cultura material em Vila Rica-1750-
1800. 2002. Dissertação (Mestrado em História) Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2002.
MONTELEONE, Joana de Moraes. O circuito das roupas: a corte, o consumo e a moda
(Rio de Janeiro, 1840-1889). 2013. Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas & Conflitos na São Paulo restaurada. Formação
e Consolidação da Agricultura Exportadora (1765-1802). 2007. 316f. Dissertação
(Mestrado em História Econômica). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007.
NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Ytu. Itu: Ottoni Editora, 2000. 5v.
______. „Evolução da cidade de Itu‟. In: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr., 1957.
NASIASENE, Alberto. Taipa de pilão e o estilo colonial paulista. Disponível em: <
http://www.rotamogiana.com/2012/01/taipa-de-pilao.html>. Acesso em: 28. jan. 2014.
NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote. Mulheres, família e mudança social em
São Paulo, Brasil, 1600 – 1900. São Paulo. Companhia das Letras, 2001.
PASTOUREAU, Michel. O pano do diabo: uma história das listras e dos tecidos listrados.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
PAULA, Teresa Cristina Toledo. Tecidos no Brasil: um hiato. Tese (Doutorado em
Ciências de Informação). 2004. Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São
Paulo . São Paulo, 2004.
PEDREIRA, Jorge Miguel Viana. Estrutura industrial e mercado colonial. Portugal e
Brasil (1780-1830). Linda-a-Velha: Difel, 1994.
209
PEREIRA, Ana Luiza Castro. “Uma saia de seda, um cordão de ouro e um sinete de
marfim”: apontamentos sobre a circulação de pessoas e objetos no Mundo Atlântico
Português. XXVIII Encontro da APHES. 2008.
PEREIRA, Teresa Pacheco. Sobre o trilho da cor. Para uma rota dos pigmentos. Lisboa:
Ministério da Cultura/Instituto dos Museus e da Conservação, 2010.
PEREIRA FILHO, Jorge da Cunha. Tropas militares luso-brasileiras nos séculos XVIII e
XIX. Disponível em: <http://buratto.org/gens/gn_tropas.html>. Acesso em: 26.mar.2014.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica,
2008.
PETRONE, Maria Teresa S. A lavoura canavieira em São Paulo: expansão e declínio
(1765 – 1851). São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968.
PONTES, Heloisa. “A paixão pelas formas.” Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, p. 87-
105, 2006.
PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Brasiliense:
Publifolha, 2000.
RASPANTI, Márcia Pinna. O Brasil sob a perspectiva da Moda. Disponível em:
<http://historiahoje.com/?p=1891> . Acesso em: 28.jul.2014.
REDE, Marcelo. Estudos de Cultura Material: uma vertente francesa. Anais do Museu
Paulista. São Paulo. 2003. v. 8/9. pp.281-291.
______. História a partir das coisas: tendências recentes no estudo de cultura material.
Anais do Museu Paulista. São Paulo. 1996. v.4 , jan./dez. pp.265-82.
RIOUX, Elyette e LIPOVETSKY, Gilles. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das
marcas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
REIS, João José Reis. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do
século XIX. São Paulo. Companhia das Letras, 1991.
REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo, Edusp,
2001. CD-ROM.
ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: Uma história da indumentária(séculos XVII-
XVIII). São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.
______. História das coisas banais: nascimento do consumo nas sociedades do século
XVII ao XIX. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
______. O Povo de Paris: ensaio sobre a cultura popular no século XVIII. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
210
SÁ, Isabel dos Guimarães e FÉRNANDEZ, Máximo García (dir.). Portas adentro: comer,
vestir e habitar na Península Ibérica (ss. XVI-XIX). Valladolid: Universidad de Valladolid,
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial: Imprensa da Universidade de
Coimbra, 2010.
SÁ, Isabel dos Guimarães. “Coisas de princesas: casamentos, dotes e enxovais na família
real portuguesa (1480-1580)”, Revista de História da Sociedade e da Cultura 10, tomo I:
97 – 120, 2010.
______. “Dressed to impress: clothing, jewels and weapons in court rituals in Portugal
(1450-1650).” Paper presented at the Conference Clothing and the Culture of Appearances
in Early Modern Europe. Research Perspectives, Madrid, Fundación Carlos Amberes
/Museo del Traje. 3-4 February 2012.
______. “The uses of luxury: some examples from the Portuguese Courts from 1480 to
1580”, Análise Social 14, 192: 589 – 604, 2009.
SADER, Maria Regina C. de Toledo. Evolução da paisagem rural de Itu, num espaço de
100 anos. 1970. Mestrado (Geografia Humana). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. 1970.
SAINT-HILAIRE, Auguste. de. Viagem à Província de São Paulo e resumo das viagens ao
Brasil, Província Cisplatina e Missões do Paraguai. São Paulo: Empresa Gráfica da
“Revista dos Tribunais”: Livraria Martins, 1940. p. 232-233. Disponível em:
<https://ia600302.us.archive.org/2/items/viagemprovinci00sainuoft/viagemprovinci00sainu
oft.pdf> . Acesso em 11.fev.2014.
SAMARA, Eni de Mesquita. Lavoura Canavieira, trabalho livre e cotidiano. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988.
SETUBAL, Maria Alice (coord.). Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e
espaços domésticos. Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura Ação
Comunitária, São Paulo: CENPEC, Imprensa Oficial do estado de São Paulo, 2004.
SILVA, Camila Borges da. O símbolo indumentário: distinção e prestígio no Rio de Janeiro
(1808 – 1821). Rio de Janeiro: Secretaria Municipal da Cultura: Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro, 2010.
SILVA, Luciana da. Artefatos, sociabilidades e sensibilidades: cultura material em São
Paulo (1580-1640). 2013. Dissertação (Mestrado em História). Departamento de História
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Campinas, 2013.
211
SILVA, Alberto Júlio. Modelos e modas – traje de corte em Portugal nos séculos XVII e
XVIII. Revista da Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas. Anexo V – Espiritualidade
e Corte em Portugal, sécs. XVI – XVIII. Porto, 1993.
SIMMEL, George. Philosophie de la modernité. Paris:Payot, 2004.
SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Do altar à tribuna: os padres políticos na formação do
Estado Nacional brasileiro (1823 – 1841). 2010. 438 f. Tese (Doutorado) Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
2010.
SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. São Paulo:
Companhia das Letras, 1987.
SOUZA, Jonas Soares de. Miguelzinho Dutra: traços e troças da Itu oitocentista.
Disponível em: <http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=6890> .
Acesso em: 14. out. 2014.
______. Miguelzinho Dutra e a iconografia oitocentista de São Paulo. Disponível em:
<http://www.academia.edu/3537966/Miguelzinho_Dutra_e_a_iconografia_paulista> .
Acesso em 01.ago.2013.
SUCENA, Berta de Moura. Corpo, moda e luxo em Portugal. 2007. Dissertação (Mestrado
em História) Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. Lisboa, 2007.
SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
TAYLOR, Lou. Establishing Dress History. Manchester: Manchester University Press,
2004.
______. The study of dress history. Manchester: Manchester University Press, 2002.
TARASANTCHI, Ruth Sprung. Obras desconhecidas de Miguelzinho Dutra. In: Anais do
Museu Paulista. São Paulo. 2002/2003. v. 10/11. pp. 149-166.
TARDE, Gabriel. Les lois de l’imitation. Paris: Felix Alcan, 1890.
TINHORÃO, José Ramos. As festas no Brasil colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000.
TORRÃO FILHO, Amílcar. Paradigma do caos ou cidade da conversão?: a cidade
colonial na América portuguesa e o caso da São Paulo na administração do Morgado de
Mateus (1765-1775) 2004. 338 f. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade de Campinas. Campinas. 2004.
TOSCANO, João Walter. Itu/Centro Histórico. Estudos para preservação. 1981. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas). Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo.1981.
212
VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe ociosa. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1965.
VILAÇA, Olanda Barbosa. Cultura material e património móvel no mundo rural do Baixo
Minho em finais do Antigo Regime. 2012. Tese (Doutorado em História). Instituto de
Ciências Sociais. Universidade do Minho. Braga, 2012.
WARNIER, Jean-Pierre. Construire la culture materielle: l´homme qui pensait avec ses
doigts. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
WEBER, Caroline. Rainha da Moda. A roupa que Maria Antonieta usou para a Revolução.
Oceanos: Lisboa, 2008.
ZANATTA, Aline Antunes. Justiça e representações femininas: o divórcio entre a elite
paulista (1765 – 1822). 2005. 213f. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2005.
ZEQUINI, Anicleide e LUIGI, André Santos. A Vila de Itu-SP no período açucareiro
(1774-1840). Disponível em:
<http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=6941>. Acesso em:
06.jan.2014.
Sites consultados
< http://www.itu.sp.gov.br/?area=1>. Acesso em: 17.nov.2014
<http://www.ahoradamissa.com/doc_glossario.html> . Acesso em 07.ago.2014
< http://www.priberam.pt/dlpo/frontal> . Acesso em 07.ago.2014.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigas_unidades_de_medida_portuguesas>. Acesso em:
30.ago.2014.
<http://www.terrapaulista.org.br/costumes/vestuario/saibamais.asp#link3> . Acesso em
18.jul.2014.
<http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=13613
> . Acesso em: 10.set.2014.
<http://myneighborwellington.blogspot.com.br/2013/09/portuguese-costume-and-society-
in.html> . Acesso em 01.dez.2014.
<http://acervotextil.blogspot.com.br/2012/03/olho-de-perdiz.html> . Acesso em 03.
mar.2015.
213
GLOSSÁRIO
Compilamos as definições dos tecidos e das peças de roupas recorrentes na
documentação. Quando a referência for de livros ou artigos, estará indicada de forma
completa em nota de rodapé, já entre parênteses, ao final da definição, está a indicação da
referência consultada em dicionários e/ou obras de referências com suas respectivas siglas,
a saber:
AMS – Antônio Moraes Silva
DA – Dicionário Caldas Aulete
LMSP – Luiz Maria da Silva Pinto
MPC - Manoela Pinto da Costa
GPA – Glossário Portas Adentro
RB – Raphael Bluteau
A
Anágua: saia de lenço que se coloca pela camisa. Vestidura de pano de linho que as
mulheres usam sobre a camisa. Saiote fino. (GPA)
Avental: pano de estopa que põe as mulheres, pasteleiros, cozinheiros e outros oficiais
mecânicos: serve de cobrir e conservar os vestidos por diante, da cintura por baixo. (RB).
Pano de lençaria para resguardar a saia. (LMSP)
Azul Ferrete: azul muito carregado, quase preto. (DA)
B
Baeta: tecido que poderia ser de lã ou de algodão, caracterizava-se por ser grosseira e
felpuda. (MPC)
214
Balandrau: vestidura com mangas e capuz de que usam hoje os homens da tumba da
Misericórdia. (LMSP)
Barandas ou Varandas: eram “Guarnições laterais da rede, ornadas de franjas ou borlas
esfiadas que são as bonecas da varanda.” 2
Barrete: cobertura de cabeça, antiga, usada ainda pelos tempos d‟el-Rei D. João III e pouco
depois. (AMS)
Bretanha: pano de linho fino, que se trazia de Bretanha; a imitação dizem da lençaria desta
sorte Bretanhas de França, de Suécia. (AMS)
Brilhante: tecido de seda.3
Brim: tecido de muitas espécies ou variedades. (MPC). Tecidos de linho ou algodão forte.4
C
Calções: parte do vestido do homem, que cobre desde a cintura até os joelhos. (AMS)
Camelão: tecido de origem animal, estofo grosseiro, impermeável, feito primitivamente
com pêlos de camelo, depois substituído por pelo de cabra, lã e seda. Tecido de lã em
trama. Pano de pelo de cabra. (MPC)
Camisa: peça de roupa que se trazia debaixo de outros vestidos, logo a seguir ao corpo, de
comprimento até aos joelhos e com mangas. Roupa de tecido leve. (GPA)
Camisote: camisa curta de cambraia, que se vestia sobre a outra. (RB)
Capa: vestidura, que se traz por cima das outras, e fora de casa; no Verão serve de adorno,
e no inverno de amparo. (RB)
2 CASCUDO, Luís da Câmara. Rede de dormir: uma pesquisa etnográfica. São Paulo: Global, 2003. p. 15. 3 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária e Cultura Material: Produção, comércio e usos na Comarca do
Rio das Velhas (1711-1750). 2008. 217f. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2008. P. 200. 4 DRUMOND, Marco Aurélio. Indumentária... p. 200.
215
Capote: espécie de manto de que usam os homens, comprido até os pés, com cabeção.
(LMSP). Capa comprida e larga com capuz. (GPA).
Casaca: vestidura com mangas e abas grandes. (RB). vestido com mangas, grandes abas,
etc, que se usa por cima da veste. (LMSP). vestidura que hoje se traz por cima da veste;
com botões nas mangas, portinholas, etc. (AMS)
Casacão: vestidura com mangas, mais larga que casaca. (RB) casaca grande para se vestir
por cima da casaca que por isso lhe chamam também sobrecasaca. (LMSP) casaca grande,
que se veste sobre a casaca, por causa de evitar a chuva, etc. (AMS)
Ceroulas: vestuário interior de pano de linho em forma de calças ou calções com o intento
de cobrir o corpo dos homens desde a cinta aos joelhos e por vezes até mais abaixo. (GPA)
Chambre: vestido caseiro, fraldado até abaixo do joelho (do francês robe de chambre,
roupa de câmara, de estar no seu quarto). (AMS)
Chita: pano de algodão, característica por suas coloridas estampas. (MPC)
Cobertor de Castela: coberta proveniente de Castela. (AMS)
Cobertor de papa: coberta confeccionada de lã. (AMS)
Colete: veste curta sem mangas. (AMS)
D
Droguete: tecido de seda do séc. XVIII, com pequena repetição de desenho, fabricado com
técnicas diversas (MPC)
Durante: tecido de lã, o durante, caracterizava-se por ser lustroso como o cetim. (GPA)
E
Espartilho: Espartilho de mulher: faziam-se com barbas de baleia, para apertar o corpo.
(RB).
216
Colete de mulher feito de barbas de baleia entre o forro e a peça. (LMSP)
F
Fustão: tecido feito de algodão e linho, geralmente o urdume (fios dispostos na vertical) era
de fio de linho e a trama (sentido horizontal) de algodão.5 De acordo com Manoela Pinto, o
fustão também poderia ser de lã ou seda, “tecido em cordão mais ou menos grosso.” (MPC)
G
Gabinardo: capote com mangas compridas, uma variação de gabão, “capote com capelo e
mangas, de que usam os rústicos.” (RB)
Ganga: tecido de algodão loiro, azul, ou preto, que se traz da Ásia, estreito, basto, e de boa
dura (AMS)
H
Hábito, Hábito de religioso: o vestido que se usa em qualquer religião. Por um hábito se
entende capa e roupeta. (RB)
J
Jaleco: vestidura, como colete, que se aperta pelas ilhargas com colchetes. Comumente se
usa só no inverno. (RB)
Jozesinho, Josezinho: capote de pouca roda sem mangas e sem cabeção. (...) Este capote foi
usado em fins do século XVIII pelas mulheres. Morais diz que o Josezinho não tem mangas
5 PAULA, Teresa Cristina Toledo. Tecidos no Brasil: um hiato. Tese (Doutorado em Ciências de
Informação). 2004. Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004. p.51.
217
(João Ribeiro, Curiosidades Verbais, 90 também define “Josézinho” „como capote sem
mangas‟.); contudo há uma figura feminina (Em História do Trajo em Portugal, 38, figura
27), do livro “Costumes of Portugal” por H. L´Evêque, que apresenta um “Josézinho” pelas
costas com mangas e largos punhos. Embora esse desenho pertença ao séc. XIX não deve
deixar de ser útil para o estudo dessa peça de vestuário. Pela abonação de Nicolau
Tolentino e pelo desenho de que falo podemos concluir que o “Josézinho” era
indistintamente vestuário masculino e feminino.6
L
Lã: material têxtil proveniente do velo dos ovídeos e outros animais. (GPA)
Lanio: cobertor, vestido ou capa de lã. (GPA)
Linho: planta têxtil, com cujas fibras se produzem tecidos de diversas qualidades, designa
também o tecido confeccionado com seu fio. (MPC). Os linhos portugueses são de
proveniência indígena, sendo os mais recorrentes o galego (Braga, Vila Real e Viana do
Castelo), o mourisco (a sul do Tejo) e o riga nacional (Guarda e Minho). (GPA).
Quatro tipos de linho levam em seus nomes o país de sua procedência, como a Holanda,
“tecido de linho muito fino e fechado ou tapado, que se fabrica na Holanda.” Ainda
segundo Manoela Pinto, “havia holandas finas, ordinárias, grossas, frisadas, riscadas, largas
e por vezes, produzidas com seda.” Já a holandilha, era “tecido grosso de linho, usado
principalmente em entretelas. // Imitação do tecido (?) da Holanda, fabricado na Silésia.”
(MPC)
6 CRUZ, Maria Emília Nogueira Soares e. Designações de vestuário, séculos XVII-XVIII. Dissertação para
licenciatura em Filosofia Românica. Universidade de Lisboa, 1955. p. 200-201.
218
M
Manteleta: espécie de lenço grande, com que as mulheres de Castro Laboreiro cobrem a
cabeça. (DA)
Manto: espécie de véu, com que cobre a mulher a cabeça, e as vezes o rosto, ao sair fora de
casa. (RB). Vestidura larga e sem mangas com que as mulheres abrigam a cabeça e o corpo
até à cintura por cima do vestido. Grande véu preto que chegava a arrastar pelo chão usado
antigamente pelas senhoras nobres em ocasião de luto. Espécie de capa com cauda e roda e
presa nos ombros usada pelas pessoas reais e pelos cavaleiros. (GPA)
O
Olho de perdiz: Antigo tecido misto de lã e seda, com leve efeito geométrico em seu
padrão, que imita os olhos de perdiz.7
Opa: manto amplo e comprido que chegava a arrastar pelo chão, provido de aberturas
laterais das quais pendiam os braços. Nos trajes femininos, eram as opas golpeadas, o que
permitia ver o vestuário que elas cobriam. Aida Dias especifica que era um manto de
fazenda, de seda ou de brocado, adornado algumas vezes por peles no forro. Vestes justas
ao corpo, sem mangas usada pelos membros das confrarias religiosas sobre o vestuário
civil; é de cor preta e com um galão a orlar as mangas. A opa real é uma veste rica usada
pelos reis no dia e momento da sua sagração ou durante cerimónias públicas. (GPA)
7 Informação disponível em: <http://acervotextil.blogspot.com.br/2012/03/olho-de-perdiz.html> . Acesso em
03. mar.2015.
219
P
Penteador: pano de linho, que se põe ao redor do pescoço, e com que se cobrem os ombros,
por não sujar o vestido com cabelos, ou carepa quando alguém se penteia. (RB). Pano, com
que se cobre o que se penteia, do pescoço até o joelho. (AMS).
Pescocinho: Debrum branco, móvel existente nas lobas e batinas dos sacerdotes. Cabeção,
coleira dos padres. (DA)
Ponche: peça hoje associada exclusivamente aos gaúchos, o poncho era, na primeira
metade do século XIX, sinal característico também dos paulistas. Muito mais longos que os
usados atualmente, os ponchos cobriam quase todo o corpo, aproximando-se de uma capa.
Quando não havia necessidade de proteção contra a chuva e o frio, tinham suas laterais
dobradas sobre os ombros, o que tornava imponente o porte do tropeiro.8
R
Rodaque: tipo de casaco de homem, espécie de sobrecasaca já em desuso: "...Olhou para as
calças de brim surrado e o rodaque cerzido..." (Machado de Assis, Quincas Borba) (DA)
S
Saia: túnica ou hábito de religioso. (GPA). Vestidura de mulher da cintura para baixo. (RB)
Sarja: tecido de seda, lã ou algodão, entrançado cuja técnica era caracterizada pelos efeitos
oblíquos obtidos pela deslocação de um fio para a direita ou para a esquerda, em todos os
cruzamentos de passagem de trama. (MPC)
Sobrecéu, Sobrecéu da cama: O pano estendido por cima, que prende nas quatro colunas do
leito. (...) Sobrecéus também se chamam uns panos, que se tem lugar de dóceis, para ornato
dos altares frontais. (RB)
8 MARINS, Paulo César Garcez. Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos. Disponível em:
<http://www.terrapaulista.org.br/costumes/vestuario/saibamais.asp#link3> . Acesso em 18.jul.2014.
220
T
Tafetá: tecido lustroso feito de fios de seda retilíneos e bem tapado. (MPC)
V
Véstia: vestidura de homem com mangas, chega até o joelhos. (RB) Parte dos vestidos, que
cobre o tronco do corpo, com mangas, ou sem elas, traz-se por baixo da casaca. (AMS)
Vestido: vestidura. Um vestido, isto é, uma casaca, véstia e calções. Um vestido de mulher,
consta das peças ordinárias, roupa, saia, etc. (AMS)
X
Xale: peça de vestuário que as mulheres usam sobre os ombros. (GPA)
Observação: os termos fraque, soleiro, baque, rasgão, requelo e marcelina não foram
localizados para o período em questão.