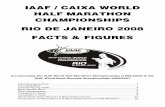REVISTA QUERUBIM NITERÓI – RIO DE JANEIRO 2017
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of REVISTA QUERUBIM NITERÓI – RIO DE JANEIRO 2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 1 de 138
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
2017 2017
2017
2017
REVISTA QUERUBIM
Letras – Ciências Humanas – Ciências Sociais
Ano 13 Número 32 Volume 2
ISSN – 1809-3264
REVISTA QUERUBIM
NITERÓI – RIO DE JANEIRO
2017
N I T E R Ó I R J
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 2 de 138
Revista Querubim 2017 – Ano 13 nº32 – vol. 2 - – 138 p. (junho – 2017) Rio de Janeiro: Querubim, 2017 – 1. Linguagem 2. Ciências Humanas 3. Ciências Sociais Periódicos. I - Titulo: Revista Querubim Digital Conselho Científico Alessio Surian (Universidade de Padova - Italia) Darcilia Simoes (UERJ – Brasil) Evarina Deulofeu (Universidade de Havana – Cuba) Madalena Mendes (Universidade de Lisboa - Portugal) Vicente Manzano (Universidade de Sevilla – Espanha) Virginia Fontes (UFF – Brasil) Conselho Editorial Presidente e Editor Aroldo Magno de Oliveira Consultores Alice Akemi Yamasaki Andre Silva Martins Elanir França Carvalho Enéas Farias Tavares Guilherme Wyllie Hugo Carvalho Sobrinho Janete Silva dos Santos João Carlos de Carvalho José Carlos de Freitas Jussara Bittencourt de Sá Luiza Helena Oliveira da Silva Marcos Pinheiro Barreto Mayara Ferreira de Farias Paolo Vittoria Pedro Alberice da Rocha Ruth Luz dos Santos Silva Shirley Gomes de Souza Carreira Vanderlei Mendes de Oliveira Venício da Cunha Fernandes
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 3 de 138
Sumário 01 Crislaine Roberta Pereira e Marlene Almeida de Ataíde – Serviço social na atenção às
urgências e emergências: contradições e desafios da atuação profissional em um hospital de São Paulo
04
02 Danilo Mendes Gomes e Marlene Almeida de Ataíde – Privatização do Sistema Único de Saúde (SUS) e a precarização do trabalho: atuação do assistente social no contexto hospitalar
12
03 Dara de Jesus Peixoto, Elza Rodrigues Soares, Natália da Silva, Thainá Viana da Costa e José Júnior de Oliveira Silva – Lei 11.645/2008: a cultura afro-brasileira e possíveis práticas pedagógicas no contexto escolar
21
04 Diulian Aparecida de Rezende e Carlos Henrique da Silva Vale – Influência da prática de atividade física na dor musculoesquelética em Idosos usuários do SUS
28
05 Edivania Gomes da Silva, Cloves Santos de Moraes e José Watla dos Santos Faustino – Reflexões sobre ensino e aprendizagem e o perfil do professor no século xxi: entre possibilidades e desafios
31
06 Elessandra dos Santos Silva, Larissa Silva Gaspar, Marcos Paulo Leal da Silva e Tamires Aparecida da Silva Lopes – Informação e comunicação na consolidação das estratégias de imunização
38
07 Elizangela Kempfer e Anselmo Lima – Implementação de uma clínica da atividade docente em um colégio público estadual da cidade de Pato Branco – PR
44
08 Erika Moreira Araujo e Marlene Almeida de Ataíde – Serviço Social: intervenção em um hospital de urgência e emergência diante da rede de atenção ao paciente jovem vítima de violência urbana
52
09 Francisca Paula do Nascimento, Cloves Santos de Moraes e Rosana de Oliveira Rodrigues Dantas – Educação, práticas docentes e pedagogia freireana: temas que se entrecruzam
64
10 Geórgia Tomazelli Menezes – Influência da publicidade da Vodka Ciroc no vídeo clipe da música Diced Pinapples – Rick Ross em relação à intenção de compra do consumidor
72
11 Grasiani Souza Oliveira Sá e Marlene Almeida de Ataíde – Serviço Social e saúde: avaliação ás famílias de recém-nascidos em situação de vulnerabilidade
82
12 Hugo Norberto Krug, Cassiano Telles e Rodrigo de Rosso Krug – Os significados do futebol de campo de veteranos na percepção de seus praticantes
89
13 Hugo Norberto Krug, Marilia de Rosso Krug, Rodrigo de Rosso Krug e Cassiano Telles – As percepções de acadêmicos de Licenciatura em Educação Física sobre a importância dos professores formadores
95
14 Hugo Norberto Krug, Marilia de Rosso Krug, Cassiano Telles e Rodrigo Rosso Krug – A importância do Estágio Curricular Supervisionado no processo de formação profissional docente em Educação Física
101
15 Jeane dos Santos Caldeira – O abrigo de menores de Pelotas/RS (1944-1987): amparo, educação e profissionalização de meninos desvalidos
107
16 Jocelline Borges Santos e Rozângela Soares Grangeiro Borges – Práticas e conteúdo: abordagens metodológicas para o ensino de ciências
114
17 José Amilsom Rodrigues Vieira e Kelma de Sousa Silva Dias – Preencha as lacunas: análise de atividade de Língua Inglesa em uma turma de EJA
120
18 José Cabral Mendes e Luciana Marino do Nascimento – O gênero picaresco: do clássico à modernidade
127
19 Jose Júnior de Oliveira Silva, Madson Ferreira Machado e Miriele Oliveira da Silva – Faixa etária das gestantes adolescentes no Hospital Maternidade São José, na cidade de Colatina/ES, no 1º semestre de 2016
133
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 4 de 138
SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: CONTRADIÇÕES E DESAFIOS DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM UM HOSPITAL DE SÃO PAULO
Crislaine Roberta Pereira1 Marlene Almeida de Ataíde2
Resumo O artigo que agora apresentamos é uma síntese do trabalho final apresentado pela autora em conclusão ao seu curso de pós-graduação e teve como finalidade identificar as contradições para enfrentar os desafios presentes na atuação do assistente social junto à equipe multiprofissional no contexto de urgência e emergência num hospital público. A proposta deste estudo se encontra ancorada em uma pesquisa que se baseia na teoria e no método materialista histórico-dialético e consiste em identificar a percepção que a equipe médica, enfermeiros (as), pessoal administrativo possuem sobre o papel do assistente social dentro do contexto de Urgência e Emergência. Os resultados obtidos demonstram a importância do aprofundamento teórico e metodológico da profissão, bem como, o investimento e ampliação em educação continuada para os profissionais na área da saúde, em especial, os/as assistentes sociais, pois tais ações contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores e é parte fundamental para o aperfeiçoamento de suas habilidades profissional. Palavras-chave: Urgência e Emergência; Equipe Multiprofissional; Serviço Social na Saúde. Abstract The article we are presenting is a synthesis of the conclusion work presented by the author in to her postgraduate course and had the purpose of identify the contradictions to face the challenges present in the social worker's performance with the multidisciplinary team in the context of urgency and emergency In a public hospital. The proposal of this study is anchored in a research that is based on theory historical-dialectical materialistic theory and method and consists of identify the perception that the medical staff, nurses, and administrative staff have on the role of the social worker within the context Emergency and Emergency. The obteined results demonstrate the importance of the theoretical methodological deepening of the profession, as well as, the investment and expansion in continuing education for health professionals, especially the social workers, since this fact contributes to personal and professional development of workers and is fundamental part of improving skills. Key words: Urgency and Emergency; Multiprofessional Residency; Social Health Care. Introdução
Este artigo é parte da monografia apresentada para o curso de Especialização em Urgências e Emergências cuja pesquisa teve como objetivo geral, identificar as contradições para enfrentar os desafios presentes na atuação do assistente social junto à equipe multiprofissional no contexto de urgência e emergência num hospital público.
Nesta perspectiva, questionou-se: Não obstante os avanços, ao longo da sua história, o Serviço
Social é uma profissão que mesmo na contemporaneidade enfrenta os limites e as impossibilidades para exercer a sua prática, devido às contradições ainda presentes. Desta forma quais são os desafios a serem enfrentados diante das contradições vividas pelos profissionais do Serviço Social especificamente aqueles que atuam numa instituição hospitalar nos serviços de emergência e urgência, ao compor uma equipe multiprofissional? Teve-se ainda como pergunta norteadora (hipótese) de que no contexto de atuação do
1 Assistente Social, especialista na Atenção as Urgência e Emergência pela Universidade Santo Amaro – UNISA / São Paulo. 2 Orientadora do Trabalho de Conclusão do Curso. Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Docente dos Cursos de Graduação de Serviço Social e da Residência Multiprofissional da Universidade Santo Amaro – Unisa/São Paulo. Líder de grupo de pesquisa credenciada pelo CNPQ. Linha de Pesquisa centrada na área das Ciências Sociais Aplicadas do curso de Serviço Social. Orientadora do Trabalho de Conclusão do Curso. E-mail: [email protected]
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 5 de 138
Serviço Social em Urgência e Emergência ainda é permeado por relações de poder verticalizadas, ações reacionária, imediatistas e que não fazem parte das atribuições privativas do assistente social.
A pesquisa social foi realizada na perspectiva qualitativa que segundo Minayo (2010, p. 47), a pesquisa social pode ser entendida como os vários tipos de investigação que “tratam do ser humano em sociedade, de suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica”. Ainda de acordo com Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo pode ser definido como,
[...] o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. [...] as abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e de documentos.
A proposta deste estudo se encontra ancorado em uma pesquisa que se baseia na teoria e no
método materialista histórico-dialético, ciência que estuda as leis sociológicas que caracteriza a vida social.
O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana (TRIVIÑOS, 1987, p. 28).
O percurso metodológico dos quais foram utilizados para esta pesquisa teve ainda, como
referencial os métodos de caráter exploratório e de campo, sendo de natureza primária e secundária3. Desta forma, realizou leituras de artigos, livros, cartilhas impressos e/ou eletrônico e legislação pertinente ao assunto, pois segundo Bervian, Cervo e Silva (2007, p. 27); “Em seu sentido mais geral, método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir certo fim ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da verdade”.
Para se alcançar os resultados proposto por esta pesquisa desenvolvemos entrevista semi-estrutura tendo como técnica a entrevista com suporte da história oral, pois,
[...] a história oral [...] é o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo. Os acontecimentos vivenciados são relatados, experiências e valores transmitidos, a par dos fatos da vida pessoal. Através da narrativa de uma história de vida, se delineiam as relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, da sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar (LANG, 1996, p. 34).
Para a História Oral, a narrativa constitui sua matéria prima. “O relato oral, especificamente a técnica da historia de vida, permite trazer fatos, sentimentos, registros da lembrança pessoal, privada, silenciosa para converter-se em experiência social” (ROJAS 1994, p. 62). Ancorado nesta teoria e frente às alterações nas estruturas sociais e no cerne de todo esse contexto que surgiu o questionamento da realidade vivenciada no cotidiano profissional dos/ as assistentes sociais: Quais são as contradições e desafios do Serviço Social no contexto de Urgência e Emergência num hospital público.
A importância deste estudo para o Serviço Social vai de encontro com os princípios fundamentais do Código de Ética de 1993, no que se refere ao aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional não só do estudo deste tema, mas a prática de pesquisa em Serviço Social. Pode-se inferir desta forma que a pesquisa em questão possui relevância social, na medida em que buscar trazer
3 Segundo BERVIAN; CERVO e SILVA (2007, p. 80). Quanto à natureza primaria: São documentos coletados em primeira mão, como pesquisa de campo, testemunho oral, depoimentos, entrevistas, questionários, laboratórios. Secundarias: Quando colhidos em relatórios, livros, revistas, jornais, e outras fontes impressas, magnéticas ou eletrônicas.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 6 de 138
à baila questões que permeiam o cotidiano dos profissionais que atuam na área da saúde. Neste sentido, refletir sobre a totalidade da ação profissional junto aos sujeitos usuários dos serviços torna-se uma condição inerente para que os assistentes sociais possam conduzir a prática profissional de forma ampla, articulada e efetiva, de maneira a contribuam para a transformação não só da realidade dos indivíduos, mas também da ação profissional. História do surgimento do Serviço Social Fruto da divisão entre capital e trabalho o Serviço Social surgiu como uma resposta da classe burguesa junto às expressões da questão social durante o período de expansão industrial, isto é, no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, avanço do capital e acumulação de bens materiais, ou seja, o Serviço Social é uma profissão que se situa e atua no processo de reprodução das relações sociais.
Para maior compreensão do que é o Serviço Social e qual o objeto de intervenção do/a assistente social é necessário primeiro compreender a trajetória histórica da profissão. Portanto, se faz premente contextualizar a historicidade do Serviço Social sobre a égide da concepção materialista histórico dialética, da qual se torna uma tarefa árdua, entretanto de suma importância, pois de acordo com Martinelli (2011, p. 53),
A tarefa de periodizar a historia mostrou-se sempre muito complexa, sendo permanentemente atravessada por uma diversidade de critérios e por uma ampla heterogeneidade de posicionamento. As periodizações, plena de controvérsias, no geral acabam por revelar a ausência de consenso entre historiadores sobre os diferentes estágios e momentos de transição da historia da humanidade.
A autora reconhece que a ausência de consenso entre os historiadores com relação às diferentes fases e momentos de transição da história da humanidade, acaba por si só, suscitando algumas distorções do foco primordial do desenvolvimento da historicidade, ou seja, ao nos delimitarmos exclusivamente aos períodos da transição histórica, teremos como fator determinante o tempo, e esse fato consequentemente, nos desviam da concepção materialista da história. Posto isso, teremos como resultado uma compreensão errônea do modo de produção materialista do qual é o ponto principal e determinante da organização política e do quadro institucional da sociedade.
Martinelli (2011, p. 53), nos mostra que “[...] a concepção materialista vai procurar desvendar em cada modo de produção a história que lhe é inerente e as suas contradições internas.” A referida autora afirma que, só é possível entender a historicidade da transição da humanidade se apreendermos como se dá o modo de produção e reprodução do produto interno do capital. Pois, é só a partir desse fato que ocorre às contradições e as desigualdades sociais da história da humanidade. Conforme nos aponta a referida autora, “[...] A compreensão de tais contradições é de fundamental importância, pois é o seu amadurecimento que produz os diferentes fluxos históricos, a passagem de um modo de produção para outro e as transformações significativas na estrutura da sociedade.” (MARTINELLI, 2011, p. 53).
As transformações societárias passam a ser observadas com a mais profunda atenção através do movimento operário durante a Revolução Industrial, pois foi ao longo desse período que ocorreu a expansão do desenvolvimento e o avanço do sistema capitalista4 e parte-se a ideia de divisão de classe. Especificamente no Brasil o Serviço Social surgiu na década de 30, momento esse pelo qual desencadeou no país o processo de industrialização e urbanização. Martinelli argumenta que; [...] A acumulação capitalista deixava de se fazer através das atividades agrárias e de exportação, centrando-se no amadurecimento do mercado de trabalho, na consolidação do pólo industrial e na vinculação da economia ao mercado mundial (MARTINELLI, 2011, p. 122).
Taís mudanças no setor industrial gerou por si só enormes divergências nos setores econômicos, político e social, isso porque os trabalhadores lutavam em prol de melhores condições trabalhistas, como por exemplo, novas iniciativas para o bem estar do trabalhador na indústria. Desse modo, os protestos
4 O sistema capitalista é caracterizado pelos modos operantes na sociedade (Consumismo, alienação, entre outros), Karl Marx define tal fato como capitalismo e classe.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 7 de 138
consistiam em greves, reivindicações, entre outros, tendo como consequência uma enorme pressão da classe trabalhadora sobre o Estado.
Durante esse mesmo período o Serviço Social brasileiro se manteve “fortemente respaldados pela
Igreja Católica, e tendo como referencia o Serviço Social europeu” (MARTINELLI, 2011, p. 122). Sua principal característica naquela época era as obras assistenciais daqueles que possuíam bens para aqueles que eram pobres, isto é, as obras filantrópicas e/ou obras de “caridade” regidas pela Igreja Católica e pela classe burguesa era ao mesmo tempo uma forma de “controlar” a classe desfavorecida e assim “manter” a ordem social, tais ações “Reproduziam a nebulosidade que caracterizava a política social concedida pelo Estado liberal burguês, da qual eram parte e expressão” (MARTINELLI, 2011, p. 124).
Em meio a tantas mudanças estruturais e transformações sociais a profissão sentiu a necessidade e também se deparou com desafios de continuidade, pois a mesma visava (e atualmente tem como principal objetivo) o progresso social brasileiro, porém era necessário inovar, repensar o que até então era tida como pratica assistencialista e alienada frente à questão social. Era necessário romper e deixar de ser um instrumento nas mãos da burguesia, ou seja, era preciso pensar outra vez a teorização da pratica profissional.
Em busca de novos conhecimentos críticos e atualizações teóricas os profissionais da época promoveram diversos encontros dos quais acabaram por induzir a grandes eventos e reuniões em todo o país. Tais, debates e discussões tinham como propósito (re) instrumentalizar a pratica profissional com base na realidade societária vivenciada pelos indivíduos.
Todavia, foi em meados da década de 60 que ocorre o Seminário do qual ficaria conhecido mais tarde como o Seminário de Araxá. Tal acontecimento marcou a historia do Serviço Social, visto que, esse fato representa um momento bastante significativo do qual foi o Movimento de Reconceituação da profissão, ou seja, a desvinculação do conservadorismo. Sendo assim, ocorre a ruptura com os interesses particulares da Igreja Católica e da classe burguesa. Isto é, a profissão assume o seu caráter crítico, interventivo e sociopolítico.
Entretanto, foi somente em 1993 que o Serviço Social foi reconhecido como uma profissão através da Lei 8662, da qual dispõe das atribuições e competências da profissão.
O objeto de trabalho do/a assistente social encontra-se nas diferentes expressões da questão social, conforme nos aponta o Conselho Federal de Serviço Social,
A questão social é indissociável de forma de organização da sociedade capitalista, que promove o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e, na contrapartida, expande e aprofunda as relações de desigualdade, a miséria e a pobreza. Esta é uma lei estrutural do processo de acumulação capitalista. (CFESS, 2012, p. 47, 48).
Desta forma, o/a assistente social atua de maneira interventiva e/ou transformadora da realidade social dos indivíduos e da própria profissão, uma vez que encontramos na dinâmica social a razão da própria existência da profissão e a matéria de intervenção profissional. Iamamoto (2012, p. 28) enfatiza que, “Os assistentes Sociais trabalham com a questão social nas suas mais variáveis expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública etc.”
Assim, o assistente social não executa apenas tarefas, mas também trabalha na gestão de unidades de serviço, conforme explicita no Art. 5º da Lei 8662/93. Ressalta ainda que, embora a profissão do Serviço Social tenha a sua gênese embasada nas dimensões econômicas, política e societária, é necessário que o profissional tenha um cunho humanista, portanto, comprometido/a com o individuo nas suas mais variáveis dimensões.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 8 de 138
Resultados da pesquisa
Os sujeitos foram escolhidos, considerando as suas dimensões, ou seja, profissionais que atuam essencialmente, em caráter de Urgência e Emergência além de assistente administrativo que executa tarefa específica e rotinas administrativas há mais de um ano naquela função.
Para isso foram entrevistados/as: 2 (duas) assistentes sociais, 1 (um) médico), 1 (um) enfermeiro (a) e 1 (um) (a) auxiliar administrativo, que fazem parte do corpo de um hospital público do Município de São Paulo, perfazendo assim, 5 (cinco) participantes da pesquisa, cujos nomes serão omitidos e substituídos por codinomes, visando preservar as suas identidade.
Vale acrescentar que a pesquisa encontra-se devidamente autorizada pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade de Santo Amaro – UNISA-SP, tendo recebido o CAAE nº 54104616.1.0000.0081, como também pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Sob o parecer do CAAE nº 54104616.1.3001.0086. Abaixo, seguimos a descrição de nossa pesquisa, bem como aos resultados que – ainda que parciais – ajudam a entender nosso objeto de pesquisa. Objetivando analisar os depoimentos dos sujeitos da pesquisa, iniciaremos trazendo para o texto os fragmentos que serão analisados a partir das narrativas oferecidas pelos profissionais do Serviço Social que abordados sobre a visão que detém da profissão. Assim, as duas assistentes sociais enfatizaram que:
[...] você tem uma área muito dinâmica com a parte social, ela não fica focada só na saúde. Então dá que você pode trabalhar em outras áreas que são também importantes né! Que ali também necessita de uma visita domiciliar, de um acompanhamento e você tem... O Serviço Social é muito amplo né, muito dinâmico, então eu gosto muito dessa área social (Assistente Social 1).5 Eu acho que é uma profissão nobre, NE? É uma profissão nobre, tem que ser desenvolvida com amor... Com um caráter, porque nós lidamos muito com o ser humano né, e o ser humano é complicado né. Eu particularmente acho que é isso. [...]Desde quando eu me formei acho que em termos de Brasil ela é uma profissão nova, eu acho que é uma profissão que sempre foi necessária, mas eu acho que hoje ela está mais... Não sei se seria conhecido o termo, com entendimento da sociedade (Assistente Social 2).
Diante das narrativas das duas assistentes sociais observa-se que elas não apresentaram uma visão que permita decifrar sobre os fundamentos da profissão escolhida, tendo em vista que ora colocam o Serviço Social de forma ampla, ora uma profissão nobre por que lida com o ser humano, porém não acrescentam os conhecimentos adquiridos na formação para interpretar a profissão que, de acordo com Yazbek (2009, p. 3), “[...] a compreensão da profissão na sociedade capitalista é o conceito de reprodução social que, na tradição marxista, se refere ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais nesta sociedade”.
No quesito concernente ao papel do assistente social no contexto hospitalar de Urgência e
Emergência as entrevistadas colocaram as seguintes posições, a saber:
Eu sempre trabalhei em Pronto Socorro e como eu fiz meu estágio e continuei trabalhando, já estou com quase 10 anos dessa experiência de urgência e emergência. No momento que o familiar chega com esse paciente quase a óbito ou necessitando de um choque no setor do choque ou sutura o acolhimento é importante porque você ta vendo que os familiares até esquecem o que tem que fazer se é uma ficha, se ele entra junto, o que é que ele fala, ele ta muito da parte emocional afetada, então você com calma, você conversa, você orienta, faz algumas perguntas especifica do paciente, onde ele estava, se ele mora com quem. Então você precisa ter o familiar, se ele vem sozinho você precisa ta deixando a parte pra depois você ta fazendo todas as perguntas necessárias, que é levantamento de dados, dados pessoais que é onde mora e com quem mora. Então, esta parte da urgência e emergência é muito importante à atuação do serviço social, porque os demais profissionais eles estão em outro foco que é salvar a vida dele e você entra com a parte que é também importante que é da onde ele vem, o que ele estava tomando, principalmente em casos de intoxicação exógena. O paciente que esta confuso que ta com a família isso facilita muito, então nessa
5 Os itálicos e negritos serão usados para diferenciar a fala dos entrevistados das citações.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 9 de 138
hora junto com a equipe multi que está ali presente, pode ser um enfermeiro, pode ser um auxiliar, pode ser um médico nós estamos todos ali juntos acompanhando todo esse desenvolvimento (Assistente Social 1). É necessário né. Eu acho que os profissionais na verdade eles não conseguem entender muito bem qual é a necessidade do profissional do serviço social né. Então quando se fala de uma alimentação, pede pro assistente social, quando se fala de uma ligação fala com o assistente social. Então as pessoas não têm muito claro qual é o nosso papel dentro do contexto do hospital na urgência e emergência, as pessoas confundem ainda bastante, tanto os profissionais quanto a população também, eles não tem muito claro qual é o nosso papel dentro do contexto da urgência e emergência (Assistente Social 2).
Diante dos depoimentos das profissionais é possível notar que há divergência das informações. Apenas a assistente social 1 relata sobre a atuação de forma prática, ou seja, num contexto onde tudo é prioritário o acolhimento a família do paciente e o conhecimento da dinâmica familiar é uma importante ferramenta de humanização e acessibilidade estratégica das ações em saúde, como também, a inclusão da família intensa e extensa no processo saúde e doença do individuo atendido, buscando sempre realizar escuta qualificada e oferecer respostas resolutivas para a maioria dos casos. Entretanto, cabe ressaltar que o profissional do Serviço Social não pode limitar-se em apenas acolher, seja ele/a paciente ou familiar. Pois, conforme é pontuado nos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde (2008, p. 39), que, “[...] Os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional”.
Como membro da equipe de saúde “[...] os assistentes sociais podem trazer informações e
conhecimentos sobre a população usuária dos serviços de saúde públicos e estratégias e ações para além do tratamento da doença” (OLIVAR e VIDAL, 2007, p. 150).
Quanto ao relato da assistente social 2 cabe frisar que devido ao contexto em que surgiu o Serviço Social (advindo da perspectiva caritativa) e a visão errônea tanto dos usuários quanto dos demais profissionais sobre o trabalho do assistente social nos mais variados espaços sócio-ocupacional, a responsabilidade de desmistificação de tal conceito passou a ser atribuída ao profissional em exercício da prática. Conforme apontado por Olivar e Vidal (2007, p. 152). “É oportuno frisar que os assistentes sociais deverão deixar claras as suas intenções e ações nos espaços dos hospitais de emergência, pois caso contrário caberá à instituição decidir o que eles deverão fazer nesses espaços.
Sobre a questão de identificar as contradições postas no cotidiano profissional e a forma de
pensar enquanto um desafio a serem superados cotidianamente as respostas assim se configurou: “[...] É essas as contradições, quando você enfrenta alguma dificuldade de algum setor, [...] Seriam informações gerais desencontradas. Um exemplo bem simples é os horários de entrada e saída [...]” (Assistente Social 1). “Contradição tem bastante... [...] Eu acho que é no dia a dia, a gente vai identificando e ai a gente vai pautando para que um dia a gente chegue num consenso e tire essas contradições [...] Mas eu acho que contradição a gente vai ter no dia a dia porque o ser humano é contraditório. Então, no nosso dia a dia nós sempre vamos ter contradições e vamos sempre ter que estar lhe dando com isso. E é isso que eu gosto no serviço social [...] a liberdade que eu tenho de mudar essas contradições [...]” (Assistente Social 2).
Vejamos que ambas profissionais mencionam que existem diversas contradições no cotidiano
profissional. No entanto, não verbalizam de forma clara quais são as contradições da profissão enquanto um desafio a ser enfrentado por ambas enquanto categoria profissional.
Observa-se que no decorrer das narrativas, como também, nas entre linhas o quanto as mesmas estão focadas em uma visão rotineira do espaço sociocupacional o que faz com que ambas não tenham clareza das peculiaridades do Serviço Social o que consequentemente acaba dificultando a implementação de novas propostas e ações para o enfrentamento das contradições de cunho profissional. Certamente,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 10 de 138
enquanto uma profissão de formação critica e interventiva o Serviço Social não desempenha sua atuação pautada na transformação do ser humano, mas visa sempre a preservação, defesa e ampliação dos direitos sociais, humanos, a justiça social entre outros.
Cabe ressaltar que o Serviço Social desempenha sua atuação na divisão do trabalho e o processo do trabalho nas relações sociais.
Iamamoto (2012, p. 22), enfatiza que, Olhar para fora do Serviço Social é condição para se romper tanto com uma visão rotineira, reiterativa e burocrática do Serviço Social, que impede vislumbrar possibilidades inovadoras para a ação, quanto com uma visão ilusória e desfocada da realidade, que conduz a ações inócuas. Ambas têm um ponto em comum: estão de costas para a história, para os processos sociais contemporâneos
Na abordagem que diz respeito aos demais profissionais foi entrevistado 1 profissional
Enfermeiro, 1 Auxiliar Administrativo e 1 Médico. Quando solicitados a discorrer sobre o entendimento que possuem sobre o Serviço Social trouxeram em suas narrativas que:
O que eu entendo por serviço social? Bem eu não entendo muito cientificamente porque eu nunca pesquisei, mas que eu entendo que seja um serviço que... Ajudaria a pessoa... Aos direitos sociais dela mais ou menos isso. Que apoia a pessoa no que ela tem direito e também nos deveres (Enfermeiro). [...] pelo que eu tenho visto o pessoal atuando, o Serviço Social ele vai interagir com o paciente e os demais setores né, tratando de esclarecer, de ajudar, de orientar... E, acaba fazendo papel também de... Executando alguns serviços, alguns protocolos. E assim eu vejo que é o lado humano do paciente né, trata o lado humano no sentido de acolher, orientar, enfim... Esse tipo de coisa (Aux. Administrativo). Bom, no meu entendimento a participação do assistente social principalmente no serviço público é muito louvável tá! Ajuda muito a equipe médica, a equipe de enfermagem a... Orientar aqueles pacientes de menos recursos... Recurso de entendimento. Já que as pessoas do serviço social são... Tem aquela prática pra orientar essa parte, isso é muito importante para nós médicos, tá! (Médico).
Fica evidente no decorrer dos relatos o quanto a equipe associa a ideia de “ajuda” à atuação do
Serviço Social. Observe que a palavra “ajuda” aparece nas três narrativas como forma de característica profissional, assim como a palavra “orientar”.
Vejamos que para além da visão caritativa a equipe também detém uma visão limitadora com relação a “orientações” das quais se compreende ser um determinante representativo focada apenas nas questões institucionais e no ser individual. Muito embora, ao mesmo tempo percebe-se durante a fala da auxiliar administrativa sobre o lado humanístico e acolhedor da profissão.
Observemos que o Serviço Social é a única profissão da área da saúde que tem a possibilidade de intervenção crítica e interventiva cuja essência e especificidade estão na dimensão da totalidade do sujeito perante as expressões da questão social, além de caráter sociocultural, político e econômico.
Martinelli (2006, p. 10) enfatiza que, “[...] Profissionalmente, como assistentes sociais, somos, colocados muito próximos daquilo que é essencial na nossa vida, que é a possibilidade da construção coletiva e da intervenção no próprio tecido social”.
Importante mencionar que ficou notória nos relatos do enfermeiro e do médico a visão que apreendem sobre “ajuda”, ou seja, esta categoria está de forma direta correlacionada à orientação tanto quanto aos direitos sociais e deveres do cidadão. Também foi possível observar que a percepção dos mesmos sobre o profissional do Serviço Social, ou seja, o/a Assistente Social é vista como um apoio de suas próprias atuações e não como mais um membro somatório da equipe.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 11 de 138
Considerações finais Diante do assunto abordado e da temática da qual foi compartilhada, procurou-se atentar para
os aspectos que contornam a percepção que a equipe médica, enfermeiros (as), pessoal administrativo possuem sobre o papel do assistente social dentro do contexto de Urgência e Emergência. Concomitantemente, procuramos identificar junto aos assistentes sociais as contradições e os desafios a serem enfrentados pelo Serviço Social no contexto de urgência e emergência em um hospital público de São Paulo, para que pudéssemos compreender como o/a assistente social intervém diante das contradições do cotidiano profissional.
A pesquisa realizada contribuiu para o (re) conhecimento do universo profissional no qual os/as assistentes sociais estão inseridos na área da saúde, bem como, a realidade vivenciada pelos/as mesmos, pois, é só com base no (re) conhecimento do cotidiano profissional que se consegue realizar uma (re) leitura e refletir sobre de que forma esta categoria está exercendo a sua prática e responsabilidade profissional com a sociedade, assim como, quais as características de transformação que a atuação contribui na sociedade e na vida dos indivíduos saturado com o descaso do Poder Público. Referências bibliográficas BERVIAN, Pedro Alcino; CERVO, Amado Luiz; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6º ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. BRASIL. Conselho Federal de Serviço Social. Atribuições Privativas do/a Assistente Social em Questão. 2012. IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 23º ed. São Paulo: Cortez. 2012. LANG, Alice Beatriz da Silva Gordo Lang. A palavra do outro: uso e ética. In: Comunicação apresentada no XX Encontro Anual da ANPOCS - G.T. "História Oral e Memória" Caxambu, outubro de 1996. MARTINELLI, Maria Lúcia. Reflexões sobre o Serviço Social e o Projeto Ético - Político Profissional. Emancipação, vol. 6, 2006. Disponível em: < http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/69/67> acesso em: 23/02/2016. ______. Serviço Social: identidade e alienação – 16. Ed. – São Paulo: Cortez, 2011. MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª edição São Paulo: Hucitec-Abrasco, 2010. OLIVAR, Mônica Simone Pereira e VIDAL, Dolores Lima da Costa. O trabalho dos assistentes sociais nos hospitais de emergência. Revista Trimestral de Serviço Social Ano XXVIII – n. 92 – Novembro 27. ROJAS, J. A. A pesquisa do indizível: A escuta do outro. In: Martinelli, Maria Lúcia (Org.). O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em Serviço Social: Um instigante desafio: Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre identidade - NEPI, 1994. p. 68-81. TRIVIÑOS, AUGUSTO NIBALDO SILVA. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. YAZBEK, Maria Carmelita. O significado sócio-histórico da profissão. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. (Org.) Conselho Federal de Serviço Social – CFESSS e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS. Brasília: 2009. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 12 de 138
PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CONTEXTO HOSPITALAR6
Danilo Mendes Gomes7 Marlene Almeida de Ataíde8
Resumo O presente estudo se pautou por meio de uma pesquisa qualitativa e teve como propósito, possibilitar uma reflexão frente aos efeitos dos ajustes neoliberais nas políticas públicas, pontuando a sua aplicabilidade nos territórios periféricos. O Sistema Único de Saúde (SUS) vem sofrendo inúmeros sucateamentos desde seu nascimento, sendo que muitos territórios, com prevalência maior nas periferias, não possuem equipamentos suficientes (saúde, assistência, educação, etc.) para atender a população. Todo esse contexto tem impactado de maneira efetiva na atuação do Assistente Social para além dos muros hospitalares. A pesquisa está ancorada pelo materialismo histórico dialético, cujo método de abordagem adotado deu-se pelo viés da história oral na perspectiva sociológica, e teve como instrumento de abordagem um roteiro de entrevista semi-estruturada. Palavras chave: Precarização, Privatização, Sistema Único de Saúde, Trabalho em rede, Território, Assistente Social. Abstract The present study was based on a qualitative research and had as its purpose, to allow a reflection on the effects of neoliberal adjustments in public policies, punctuating their applicability in the peripheral territories. The Unified Health System (SUS) has been suffering from a number of scrapings since its birth, and many territories, with greater prevalence in the peripheries, do not have enough equipment (health, assistance, education, etc.) to assist the population. All this context has impacted, in an effective way in the work of the Social Worker beyond the hospital walls. The research is anchored by dialectical historical materialism, whose method of approach is adopted by the bias of oral history in the sociological perspective, and had as an instrument of approach a semi-structured interview script. Keywords: Precariousness, Privatization, Single Health System, Networking, Territory, Social Worker Introdução
A pesquisa ora apresentada é parte do trabalho de Conclusão do Curso em Residência Multiprofissional em Saúde no contexto hospitalar (Pronto Socorro de Urgência e Emergência) na perspectiva de realizar algumas reflexões sobre o Serviço Social enquanto profissão, cujos assistentes sociais atuam na referida instituição, local em que vivenciei a experiência enquanto residente. Desta forma, surgiu a seguinte indagação: quais são os impactos que o sucateamento do Sistema Único de Saúde e da rede de serviços que dialogam com o hospital, tem ocasionado na atuação/práxis do assistente social.
A pesquisa empírica teve como objetivo propor uma reflexão acerca da prática profissional do
assistente social em um Pronto Socorro, inserido em um território de alta vulnerabilidade social. No que diz respeito à questão norteadora, levantou-se a seguinte questão: Os efeitos do ajuste neoliberal foram, e ainda são, sentidos sob muitas formas. A desregulamentação da economia nacional e dos direitos sociais, com especial destaque para a flexibilização dos direitos trabalhistas e para as novas formas de contratos: precarizados e terceirizados, bem como do sucateamento dos serviços públicos tem impactado de maneira efetiva no trabalho em rede e na aplicabilidade das políticas públicas nos territórios periféricos.
6Monografia apresentada como requisito para a conclusão do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Residência Multiprofissional – Especialização em Emergências Clínicas e Trauma realizada na Universidade de Santo Amaro – Unisa-SP. 7Graduada em Serviço Social pela Universidade Bandeirantes-Anhanguera/SP. Especialista em Serviço Social em Ortopedia e Traumatologia – Instituto de Ortopedia e Traumatologia – IOT-HCFMUSP. 8Doutora em Serviço Social pela PUC-SP, orientadora da Monografia.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 13 de 138
Tendo em vista a problemática em estudo, estabelecemos como hipótese que a precarização do trabalho e a privatização no Sistema Único de Saúde têm impactado de maneira efetiva na atuação do Assistente social em um Pronto-Socorro de Urgência e Emergência e, consequentemente interferido na efetivação das políticas públicas e no trabalho em rede.
Trata-se de pesquisa qualitativa que utilizou o método da história oral na perspectiva sociológica1.
As entrevistas foram áudio gravadas e como instrumento para a coleta de dados foi previamente elaborado um roteiro para nortear as questões que foram levantadas no decorrer do diálogo com os sujeitos da pesquisa. Os profissionais foram convidados a participar da pesquisa após a aprovação do comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro (UNISA), mediante o CAAE nº 54107816.8.0000.0081. O capitalismo e seus efeitos na área da saúde: breve contextualização
Realizar uma análise para explicitar a categoria capitalismo, se faz necessário, pois o momento atual nos convoca em fornecer uma resposta ao contínuo e sempre presente, descaso do Estado na efetivação das políticas públicas nos territórios mais vulneráveis, especialmente aqueles que se situam nas periferias, locais onde as políticas públicas se mostram inoperantes, ou na melhor das hipóteses, ausentes para atender as demandas daqueles que necessitam dos serviços que deveriam ser ofertados.
Na obra O Capital, Karl Marx realizou uma análise mais ampla e complexa do capitalismo/capital. Em resumo, Marx procurou fazer uma análise da dinâmica da produção e da reprodução do capital. Observando a questão da mercadoria, ele realizou um minucioso estudo que alertou para o fato de que a mercadoria não tem valor em si, mas é o trabalho nela despendido que o quantifica, agregando o valor do lucro. Desta forma a premissa básica do capitalista é comprar para vender e, assim, gerar mais dinheiro (capital).
A forma imediata da circulação de mercadoria é M-D-M, conversão de mercadoria em dinheiro e reconversão de dinheiro em mercadoria, vender para comprar. Mas ao lado dessa forma encontramos uma segunda, especificadamente diferente: a forma D-M-D, conversão de dinheiro em mercadoria e reconversão de mercadoria em dinheiro, comprar para vender. O dinheiro que circula deste último modo transforma-se, torna-se capital e, segundo sua determinação, já é capital. (MARX, 2013, p. 223-224)
Através dessa sucinta análise sobre o capitalismo, sabemos que a sua inserção na área da saúde
trouxe consigo um duplo sentido, ou seja, ao mesmo tempo em que possibilita infinitos avanços tecnológicos no processo saúde-doença melhorando a assistência prestada ao paciente e consequentemente salvando milhares de vidas, em contra partida, há uma dura e complexa ideologia geradora do lucro, a qual transformou a saúde (algo inalienável, que não pode ser cedido ou vendido) em mercadoria, questão essa que na contemporaneidade se reveste em velhas e novas ações das políticas neoliberais. Diante desse cenário, destaca-se que saúde não é apenas a ausência de doença, sendo necessário compreender o sentido da palavra de modo mais amplo, e considerar as dimensões físicas, psíquicas, sociais e econômicas, bem como, é necessário entender como a população vive, se alimenta, se relaciona, entre outros fatores. Desse modo o agravamento da questão social, que no desemprego e no subemprego vem se estruturando, mostra-se muito mais presente nos territórios com maior índice de vulnerabilidade, conforme podemos observar em Koga (2013, p. 129):
Por um lado, a “vulnerabilidade social” e definida pela contiguidade entre indicadores de precariedade urbana e indicadores socioeconômicos das famílias. Em outras palavras, parte-se do pressuposto de que uma família vulnerável vive em lugar vulnerável, e um lugar vulnerável só é constituído por famílias vulneráveis.
Na contemporaneidade vivenciamos uma explícita vinculação da saúde, da assistência, educação,
previdência, entre outros, ao mercado pautado dentro de uma perspectiva de privatização, terceirização e desestruturação, fato que transformou direitos em mercadorias pautados dentro da ideologia capitalista, pois se observa que “a política de saúde apresenta-se, hoje, como uma arena de disputa constante entre dois projetos: o da Reforma Sanitária e o privatista sendo este último o projeto atualmente hegemônico” Paula, (2013, p. 86).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 14 de 138
Precarização, privatização e o Sistema Único de Saúde Ao traçar uma linha tênue, na qual dataríamos o nascimento do SUS em 1988, e a forte ofensiva neoliberal ocorrida no Brasil no início da década de noventa, verifica-se que este já nasceu sobre fortes ameaças, da dita “Contra Reforma do Estado”, que tem impactado de maneira efetiva e de forma negativa no desenvolvimento da referida política. Sem mencioná-las, as leis criadas e implementadas nesse período foram na contra mão da efetivação do SUS, pois que, os neoliberais encontraram nelas mecanismos para sucatearem essa política pública.
No decorrer de aproximadamente um século de estruturação – e desestruturação – a política de saúde no Brasil permanece, ainda hoje, atrelada aos interesses e aos ditames do grande capital. Vivemos, na conjuntura política atual, o desafio de fortalecer os princípios do projeto da reforma sanitária na busca pela concretização de um Sistema Único de Saúde que seja mais real e menos constitucional (BRAVO, 2009, Apud PAULA, p. 88, 2013).
Porém, a busca de um SUS mais real e menos constitucional, nos parece distante a cada dia, pois
o Congresso Nacional aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241/55-2016, que congela nos próximos 20 anos os gastos em saúde, educação, entre outros. Desse modo, podemos afirmar que a referida PEC, representará paulatinamente o encolhimento dessa política, que foi duramente conquistada pelas camadas mais pobres do país ao longo de anos de luta. Trocando em miúdos, estamos presenciando um grande “crime” contra Constituição Federal de 1988. Território lugar de saúde ou de doença?
Os dados epidemiológicos de saneamento básico e saúde de determinados territórios, apresentam a realidade na qual a população está inserida, bem como, servem de parâmetros para as aplicações das políticas públicas.
É importante recordar que as taxas do agravo saúde-doença, estão diretamente relacionadas às
condições básicas de saúde e infraestrutura urbana. Ou seja, para diminuí-las é fundamental proporcionar não apenas serviços adequados de saúde, mas também condições básicas de habitação, salubridade urbana, entre outras conforme asseveram Mokem; Barcelos, (2007, p. 181),
Podemos afirmar que a doença é uma manifestação do indivíduo e a situação de saúde é uma manifestação do lugar, pois os lugares e seus diversos contextos sociais, dentro de uma cidade ou região, são resultado de uma acumulação de situações históricas, ambientais, sociais, que promovem condições particulares para a produção de doenças.
Observa-se nos dados contidos no Centro de Geoprocessamento e Estatística (CGEO) da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social9, os discrepantes indicadores socioeconômicos presentes no cotidiano da população do extremo da zona sul da cidade de São Paulo, que somadas à violência urbana e níveis precários de condições habitacionais tem impactado de maneira efetiva na saúde da população. Somado a isso ainda, temos a regulação neoliberal que ataca de forma desenfreada a sistematização das políticas públicas nesses espaços.
Sabe-se que a Zona Sul é uma das regiões que mais sofrem com a precariedade no acesso a serviços básicos, como saneamento, transporte, saúde, educação e assistência social, e também que ela abriga varia áreas de proteção ambiental. Certamente, o aumento populacional deve ter impactado de forma contundente nessa situação de precariedade e fragilidade socioambiental [...] (KOGA, 2013, p. 61).
9Centro de Geoprocessamento e Estatística – CGEO da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo (SMADS).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 15 de 138
Deste modo, sabemos que os territórios com maiores índices de vulnerabilidade são territórios de doença e não de saúde. Mesmo alguns dados do ano 2000, 2004 e 2010, estudos mais recentes10 apontam que evoluímos pouco no quesito de infraestrutura urbana, saneamento básico e condições habitacionais. Assim, os bairros que estão dentro da cidade no seu espaço geográfico, mas fora dela na partilha das riquezas socialmente produzida sofrem com a escassez de serviços e condições dignas de vida. É evidente que o território onde se encontra localizado o equipamento de saúde deste estudo, é de extrema vulnerabilidade e exclusão social com uma rede de saúde extremamente deficitária. Ambiência da pesquisa
A pesquisa foi realizada em uma instituição hospitalar pública estadual, administrada por uma Organização Social, localizada na região do extremo da zona sul da cidade de São Paulo, bairro Grajaú.
Neste contexto os entrevistados foram seis Assistentes Sociais que atuam no referido serviço.
Cabe ressaltar que a pesquisa tinha como estimativa abordar dez profissionais, porém, apenas seis demonstraram interesse em participar do estudo, adequando-se aos critérios de inclusão e exclusão, conforme preconizado abaixo.
Os critérios de inclusão que foram predeterminados para a pesquisa são: Profissionais que
estivessem atuando no Hospital há mais de um ano e que já atuaram em algum momento (plantões ou no início da sua contratação) no Pronto-Socorro do referido Hospital. Já para os critérios de exclusão delimitou-se os profissionais com menos de um ano de atuação no Hospital, ou que após a assinatura do termo de Consentimento Livre Esclarecido, demonstrassem incompreensão ou não aceitassem participar da entrevista.
A orientação filosófica/metodológica adotada foi a História Oral, a qual Delgado (2010, p. 15)
define da seguinte forma:
A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção de fontes e de documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, especiais, conflituosas, consensuais. Não é, portanto, um compartimento de história vivida, mas, sim o registro de depoimentos sobre essa história vivida (grifos do autor).
A referida metodologia propicia a relação dinâmica entre sujeitos e objeto no processo de
construção do conhecimento. As categorias de análise
Neste estudo, foram eleitas as seguintes categorias para análise dos resultados colhidos juntos aos
sujeitos da pesquisa, quais sejam11: Categoria A - Contra-reforma do Estado e o trabalho em rede; Categoria B - Representação do território de alta vulnerabilidade social no contexto do pronto socorro; Categoria C - A privatização, terceirização dos serviços públicos e seus impactos no trabalho do assistente social; Categoria D - As relações de trabalho no contexto de uma OSS; Categoria E - Diferenças de um hospital administrado pelo Estado e por uma OSS.
A partir das categorias eleitas no que diz respeito à categoria A -contra-reforma do Estado e o
trabalho em rede, os sujeitos da pesquisa apresentaram nas suas narrativas que, O trabalho em rede é sempre um desafio, principalmente em nosso território que abrange em torno de 1 milhão de habitantes de alta vulnerabilidade, que possui a necessidade de diversos equipamentos de saúde, assistência entre outros, embora ainda apresentem falhas de comunicação e descontinuidade das ações tanto pelo serviço de atenção básica como serviço de especialidade. (Entrevistada B)
10Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 11Cabe sinalizar que para este artigo, foram selecionadas as respostas de maiores relevância.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 16 de 138
Atualmente, sinto um fortalecimento do trabalho em rede. Enquanto as instituições estão sucateadas, mal administradas, observo interesse por parte das equipes em transformar o que está sendo feito, com novas atitudes e olhares. Muitas vezes a rede tem se estabelecido/ fortalecido através de ações pessoais dos agentes envolvidos. Estas medidas adotadas são efetivas, porque atinge a expectativa do usuário e supre nossa demanda pontual e temporariamente, ao mesmo tempo faz com que o Estado retire ainda mais as mãos, se eximindo das responsabilidades. Em longo prazo transforma este agente que em outros momentos se realizava por ter construído um novo fluxo para está rede, costurando pelas bordas, em um profissional cansado. Os serviços que são dever do Estado, logo direito da população muitas vezes aparecem como um favor realizado. (Entrevistada C) Diante da forte influência neoliberal vivenciada no nosso cotidiano, podemos ressaltar não somente a perda das relações trabalhistas aos trabalhadores do SUS, como também, a dificuldade de acesso dos usuários as políticas setoriais e equipamentos de saúde. A precarização do trabalho em saúde está adequando-se e se aproximando cada vez mais dos pressupostos das políticas empresariais, quais as mudanças organizacionais e de gestão do trabalho se modificam, visando lucro e benefícios ao que detêm os meios de produção e na redução de um estado que deveria fomentar e garantir os direitos constitucionais a todos. Nós trabalhadores da saúde presenciamos uma forte resistência e dificuldade à inclusão das garantias de direitos aos usuários atendidos, sendo um desafio diário atuar contra a precarização que nos acompanha tão de perto. (Entrevistada D)
Ao analisar as narrativas, identifica-se que a ineficiência do Estado agregando as seguidas privatizações dos equipamentos públicos, coloca para o trabalho em rede muitas dificuldades, em territórios com altos índices de vulnerabilidade e violência urbana, em locais em que deveríamos ter uma rede estruturada, com melhores condições de trabalho e com um maior número de equipamentos tem-se um sucateamento estrutural e proposital.
Outro ponto pertinente é a lógica mercadológica que tem feito parte intrínseca das políticas
neoliberais e tem implementado para os trabalhadores da saúde, dentre outros aspectos. Esta categoria confirma o que Paula (2013, p. 87), alude na relação da saúde com o capital, ou seja, “[...] vivenciamos uma vinculação da saúde ao mercado, no processo de privatização que transforma direito em mercadoria, permitindo que o Estado se desobrigue da responsabilidade com as políticas sociais dentro de uma perspectiva universalizante”.
Na categoria B - Representação do território de alta vulnerabilidade social no contexto do pronto
socorro, os sujeitos narraram quanto à representação do território de alta vulnerabilidade social no contexto do pronto socorro, ao trazer as seguintes questões, Vejo como um desafio imenso, compreender a dinâmica de atenção à saúde no Pronto Socorro no âmbito do SUS a partir da política nacional de atenção as urgências, que acarreta um reflexo de vulnerabilidade em que vivenciamos durante atuação. Atuar no Pronto Socorro nos faz pensar num conjunto de condições para sua ação, ou seja, vejo como umas ações desafiadoras que os usuários atendidos apresentam, muitas vezes têm um atendimento emergencial, imediato, porém, fico com a sensação que o trabalho é limitado frente as questões gritantes que a equipe traz, seus apontamentos dificultando a continuidade do acompanhamento, por isso, avalio dispor de ferramentas que qualifiquem a pensar na pratica baseado na realidade no qual estamos inseridos. Entendo que o trabalho do Pronto Socorro do Hospital Geral do Grajaú torna notável a vulnerabilidade que acomete todos, sendo necessário exercitar a importância da articulação e luta pela humanização e seus direitos intervindo para fortalecer sua autonomia, ainda assim, estamos buscando mecanismos para suprir as demandas apresentadas neste setor que é emergencial e desafiador dentro da atuação do Serviço Social. (Entrevistada A) Trabalhar neste contexto que estamos inseridos observando que estamos no extremo sul de São Paulo, percebo que há poucos equipamentos para suprir as demandas e índices de vulnerabilidade social da nossa população. Enquanto agente de transformação não é uma posição cômoda, nossa rede de apoio é falha, e nossa profissão exige esta mobilização. Acredito que se a rede funcionasse otimizaria e potencializaria nossas ações.Pensando no sucateamento dos órgãos de saúde, a demanda extensa, a carga profissional advinda da profissão.... É complicado! Ser profissional do pronto socorro é cansativo e estressante, por ser o setor de entrada do hospital ficando responsável também por filtrar as demandas. (Entrevistada C)
Perante o discurso dos entrevistados, observa-se que a atuação no setor do Pronto Socorro atrelado ao alto índice de vulnerabilidade social, tem colocado para os assistentes sociais grandes desafios,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 17 de 138
possibilitando um determinado perfil profissional, a saber, dinâmico e imediatista. Características a qual Iamamoto (2012, p. 20) aponta que:
Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo.
Nota-se também, que o atendimento de urgência e emergência gera cansaço e estresse. “Nossa rede
de apoio é falha, e nossa profissão exige esta mobilização. Acredito que se a rede funcionasse otimizaria e potencializaria das nossas ações”. Por essa razão, Koga e Sposati (2013), nos dizem que é no cenário desse cotidiano, que concretiza e relaciona a vulnerabilidade atrelando-a ao seu território, ou seja,
A dinâmica dos territórios contemporâneos tem sofrido significativas alterações que afetam, o ritmo, a trajetória e o modo de vida das populações, além de impactar as forma de produção e de reprodução das relações sociais. [...] Percebemos que suas consequências afetam especialmente as populações mais vulneráveis e excluídas (KOGA e SPOSATI 2013, p.193).
Referente a essa conjuntura, a escassa rede de serviço, tem imprimido nesse território uma
dinâmica excludente e celetista, pois aos profissionais que atuam no hospital, bem como os que compõem a rede, é demandado um alto número de atendimento, que tem ocasionado impactos diretos na qualidade da assistência prestada.
Quanto à categoria C, a privatização, terceirização dos serviços públicos e seus impactos no
trabalho do assistente social observam-se as seguintes narrativas: As privatizações no SUS limitam as conquistas que já integraram o mundo do trabalho. Dentre os inúmeros determinantes, podemos destacar as terceirizações, a elaboração dos contratos com tempo determinado e a diminuição dos custos e garantias trabalhistas aos profissionais que integram este sistema. O impacto que visualizo dentro da minha rotina, faz menção à remuneração e aos benefícios preconizados pela nossa Lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. (Entrevistada D) Acho que a privatização é sempre ruim, pois cada OSS que entra faz a gestão que acha que é certo e sempre causa danos para gente, como aqui! Sempre quando muda a gestão, cada uma tem a maneira de administrar e a gente fica à mercê disso, faz aquilo que eles acham que é certo, e muitas vezes não tem uma discussão, não é pensado em conjunto como a gente pode fazer da melhor maneira para atender esse usuário, então eu acho que a privatização sempre traz um impacto enorme na atuação do assistente social e até reflete na população. (Entrevistada E) Não vejo impacto negativo em minha atuação, pois independentemente de estar atuando num Serviço de Administração direta ou O.S.S., nos respaldamos em nosso projeto ético político. O Estado dividir este trabalho com a Sociedade Civil através das O.S.S., para mim não constitui menos responsabilidade do Estado desde que este processo seja transparente através de sua fiscalização direta, prestação de contas. Como O.S.S. temos metas a cumprir, os processos de compras, manutenção equipamentos, recursos humanos e outros são menos burocráticos e mais ágeis, também buscando melhores ofertas. Acredito ser importante a questão da transparência e horizontalidade no processo de trabalho entre O.S.S. e Estado. Conseguimos atuar dentro da autonomia que é proporcionada através de nossa profissão, nossa atuação não está condicionada apenas as demandas institucionais, pautamos nossa intervenção na subjetividade e totalidade do sujeito, objeto de nossa ação, atuando na garantia e efetivação de direitos sociais e de saúde, procurando garantir o atendimento em suas necessidades frente a demanda apresentada, buscando respaldo nos diversos níveis de saúde, assistência, e rede que se fizer necessário, buscando a integralidade desde indivíduo.(Entrevistada F)
Identifica-se nas narrativas, que apenas a entrevistada F, reconheceu que as inúmeras privatizações
não vêm impactando na sua atuação. Entretanto, as demais entrevistadas reconhecem que as privatizações não são benéficas para as condições de trabalho, pois imprime à sistematização do trabalho concepções totalmente mercadológicas, como o cumprimento de metas, entre outros. O Estado repassa a responsabilidade para um terceiro (OSS), ficando aquém da ineficiência existente nos equipamentos, pois as relações de trabalho são instáveis, com salários reduzidos, poucos benefícios, entre outros fatores. Nessa perspectiva Iamamoto (2012, p.32) enfatiza que, “[...] As terceiras tendem, cada vez mais, a
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 18 de 138
precarizar as relações de trabalho, reduzir ou eliminar direitos sociais, rebaixar salários, estabelecer contratos temporários, o que afeta profundamente as bases de defesa do trabalho conquistadas no pós-guerra”.
Desse modo, os funcionários ficam sujeitos às alterações institucionais de forma abrupta. A cada
mudança de gestão das OSS, segundo relatos, tornam o trabalho verticalizado e ao modificar a administração não dão continuidade ao trabalho e nem atendem as necessidades da população, ou seja, não desconsiderando ações destinadas aos usuários.
Já na categoria D, as relações de trabalho no contexto de uma OSS, foram externadas que,
Trabalho em hospital público em regime de CLT, salário em média 30 a 40% inferior a salários de profissionais concursados. No que diz respeito as relações de trabalho, também são prejudicadas como já falado em outros momentos, organizações não governamentais não possuem interesse nas áreas sociais, impactando assim nossa maneira de trabalhar, pois as questões de bem social não se tornam prioridades. (Entrevistada C) As relações de trabalho neste atual contexto de administração, limita a participação dos trabalhadores frente às políticas institucionais. Não visualizo um olhar para classe trabalhadora, enquanto sujeitos capazes de transformação social e política, apenas como manobra de manipulação. (Entrevistada D) É, eu acho bem difícil! a gente tem uma dificuldade de relacionamento com a gestão, então a gente não ver um trabalho conjunto.Um trabalho de ouvir o funcionário de como está sendo o trabalho... Então é bem difícil essa relação do público/estatal e privado, porque o funcionário não é ouvido, é uma coisa que vem de cima para baixo e tem que fazer do jeito que eles querem!então acho que fica um pouquinho difícil. As coisas é sempre através de muita luta e não tem essa conversa, essa troca.(Entrevistada E)
Neste quesito, confirma-se que as relações de trabalho são difíceis, limita a participação do
trabalhador frente às políticas institucionais, coloca algumas dificuldades de relacionamento e os salários são menores ao compará-los ao de profissionais concursados. Todavia, verifica-se que em maior parte dos serviços administrado pelas OSS, a dita excelência do atendimento, não é alcançada conforme se observa em Bravo e Menezes, (2013, p.36-38):
Tal afirmativa é preocupante na medida em que se tem visto a ampliação dos modelos de gestão que privatizam a saúde como as organizações sociais (OSs), Organizações da Social Civil de Interesse Púbico (OSCIPs), Fundações Estatais de Direito Privado e os problemas que elas ocasionam para os trabalhadores da saúde e usuários.
Em outro ponto as autoras fazem a seguinte reflexão: “Essa medida pode ser a formalização final
para a instituição de um seguro saúde e para a criação para um Sistema Nacional de Saúde integrado com o setor privado, tendo como consequência acabar com o SUS ou torná-lo um sistema focalizado”.
Na categoria E, sobre diferenças de um hospital administrado pelo Estado e por uma OSS, as
entrevistadas apresentaram as seguintes narrativas, Acredito que se o serviço de saúde fosse administrado pelo Estado demandas existentes seriam mais notáveis por ser do Estado, porém, não acredito que os serviços tenham mais equipamentos ou que as relações de trabalho ou estruturais fossem suficientes para suprir as necessidades dos serviços quanto a demanda dos usuários que atendemos, no entanto, assim devemos analisar a importância na gestão, vejo como organização complexa, sendo necessário reconhecer suas necessidades a ser aperfeiçoadas no processo de comunicação, é na atual complexidade das organizações fazendo com que a importância da gestão seja ainda mais explicita, sendo necessário que as ações e decisões sejam fundamentais sobre a base da realidade vivenciada pelo SUS. (Entrevistada A) Visão empírica nos faz ter certeza da precariedade nas relações de trabalho entre outras questões, pontuo os constantes adiamentos de férias por ‘’ falta de verba’’, corte de gastos que em geral são impactados na diminuição/negação de refeições ao acompanhante, questão anteriormente liberada e não aberta a discussão, falta de insumos básicos e equipamentos cirúrgicos. Diante deste cenário se faz necessário aborda com mais ênfase a reforma sanitária para avançar o Sistema Único de Saúde, visando melhoria das condições de vida da população por nós atendida. (Entrevistada C)
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 19 de 138
Não tenho experiência de trabalho com o Serviço Público, minha atuação sempre se deu no espaço privado, porém pela experiência vivenciada através de reuniões e discussões com colegas de trabalho do Serviço Público, não acredito que no momento encontrem-se em melhor situação, podendo inclusive ser observado através das estruturas físicas e parque tecnológicos deficitários, assim como estruturas de recursos humanos esvaziados, nas unidades de Administração direta. Acredito sim na elaboração e efetivação de políticas Públicas de saúde que venham de encontro com a necessidade de saúde da população e da região, e que os processos sejam de formas estruturais independente de administração direta ou O.S.S., garantindo acesso a saúde e fortalecimento da proteção social. (Entrevistada F)
Diante da questão, evidencia-se que algumas profissionais reconheceram que se o equipamento
fosse administrado pelo Estado, às relações seriam melhores, ou ao menos as reivindicações por melhores condições de trabalho poderiam ser mais justas.
Considerações finais
No decorrer da pesquisa os assistentes sociais do Hospital Geral, tiveram a oportunidade de
refletir e expor suas considerações referentes à precarização/terceirização do trabalho cotidiano, e como ocorre este trabalho mediando a rede num território de alta vulnerabilidade, onde as relações de trabalho ocorrem no contexto de uma OSS, entre outras questões, a exemplo, do respeito que deve haver sobre o conhecimento de cada profissional no âmbito das suas atribuições privativas e os impactos que esse contexto tem ocasionado na sua atuação junto ao usuário, foram pontos significativos neste estudo.
A iniciativa para esta pesquisa constitui-se em um grande desafio, permitindo conhecer e
compreender a realidade dos profissionais que atuam num Hospital de Urgência e Emergência de caráter público, ao mesmo tempo em que, possibilitou aprofundar o olhar para as dificuldades que são encontradas no cotidiano para o trabalho em rede num território que possui como forte característica alta vulnerabilidade social e equipamentos insuficientes para atender o número de habitantes, (sendo esse aproximadamente de 1 milhão).
É evidente que os territórios onde o número de serviços são escassos, os poucos existentes, ficam
responsáveis em acolher as insuficiências, sobrecarregando alguns serviços da rede. E diante dessas constatações, evidencia-se que a continuidade da assistência prestada ao paciente no pós-alta do Hospital/Pronto Socorro, na maioria das vezes não se concretiza.
É comum o Serviço Social encaminhar relatórios aos equipamentos primários e secundários da
saúde, bem como aos outros órgãos (assistência social, previdência, judiciário, entre outros) e não obter resposta ou retorno. Acredita-se que a maioria dos profissionais que recebem esses relatórios, não são coniventes com a falta de assistência, mas devido as questões serem em excesso (muita demanda x pouca oferta) exige a seletividades dos problemas, ou seja, dentro de uma questão complexa prioriza-se a mais complexa, em resumo é a mesma coisa que selecionar a pobreza dentro da pobreza.
As implicações da privatização e precarização do trabalho rebatem efetivamente na atuação do
assistente social e os entraves vivenciados frente ao desmantelamento do sistema público de saúde, interferem de maneira significativa na concretude das políticas públicas, bem como na estruturação da rede de serviços.
Por fim, essa pesquisa não teve o intuito de esvaziar as reflexões sobre o tema, tendo em vista a
sua ampla complexidade, mas visa contribuir com o entendimento (cotidiano) teórico-prático do assistente social, pois é de extrema importância citar que esse contexto tem em seu caráter Hospital Escola, exigindo assim, mecanismos de atuar eticamente como profissional, supervisões e compromisso com o SUS. Nessa conjuntura refiro-me aqui, a necessidade de contemplar para além das demandas apresentadas, refletindo em um cenário abstrato onde o sistema interfere diretamente na população menos favorecida, entretanto, desafiam todos os dias os profissionais a buscar o olhar crítico de sua prática para que não sejam meros tarefeiros.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 20 de 138
Referencias bibliográficas BEHRING, E. R. Brasil em contra-reforma: desestruturação do estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez; 2008. BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília, DF: Senado Federal: 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acessado em 01/08/2016. ___________. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-paulo_sp.Acessado em 10/09/ 2015. BRAVO, M. I S, MENEZES J. S. B. A política de saúde na atual conjuntura: algumas reflexões sobre os Governos Lula e Dilma. In: Serviço Social, Saúde e questões contemporâneas: reflexões críticas sobre a prática profissional. SILVA L. B, RAMOS A. (organizadores). Campinas – SP: Papel Social, 2013, p.36-38-88. CENTRO DE GEOPROCESSAMENTO E ESTATÍSTICA – CGEO da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo (SMADS). Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mapas/index.php?p=2012. Acessado em 30/09/2016. COMUANA, A. A, GRAJCER, B. Redes: importância e significado no suporte social das necessidades humana. In: Textos de apoio área e pesquisa Projeto Quixote. AURO D. L, GRAZIELA B. (organizadores) São Paulo: Projeto Quixote Área Ensino e Pesquisa; 2010, p. 117. DELGADO, L. A. N. História oral: memória, tempo, identidades. – 2 ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 15. IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2012, p. 20-32. KOGA, D. São Paulo: entre tipologias territoriais e trajetórias sociais. In: São Paulo: sentidos territoriais e políticas sociais. Sposati A, Koga D. (organizadores). SENAC, SP: 2013, p.120 a 166. _____________São Paulo: Novas e velhas dinâmicas territoriais. In: São Paulo: sentidos territoriais e políticas sociais. SPOSATI, A, KOGA, D. (organizadores). SENAC, SP: 2013, p. 43 a 67. LANG, A. B. S. G. Trabalhando com história oral: reflexões sobre procedimentos de pesquisa. In: Cadernos CERU, Série 2. n. 11, 2000. MARX K. O capital: critica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 223-224. MONKEN, M; BARCELLOS C. O território na programação e vigilância em saúde. In: O território e o processo saúde-doença. FONSECA, A. F; CORBO A. D.A. (organizadores). Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007, p. 181. SPOSATI; A; KOGA D. São Paulo: entre sentidos territoriais e políticas sociais. In: SPOSATI A, KOGA D. (organizadores). São Paulo: sentidos territoriais e políticas sociais. SP: SENAC, 2013, p.167 a 209. PAULA, L. G. P. A dimensão investigativa do exercício profissional do assistente social na saúde. In: SILVA. L. B, RAMOS, A. (Orgs) Serviço Social, saúde e questões contemporâneas: reflexões críticas sobre a prática profissional. Campinas – SP: Papel Social, 2013, p. 85-97. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 21 de 138
LEI 11.645/2008: A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E POSSÍVEIS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO ESCOLAR
Dara de Jesus Peixoto12 Elza Rodrigues Soares13
Natália da Silva14
Thainá Viana da Costa15
José Júnior de Oliveira Silva16 Resumo O presente artigo foi desenvolvido com base na pesquisa realizada no trabalho de conclusão de curso e tem como objetivo central discutir como aplicar a Lei de nº 11.645/2008 na escola e fazer com que os conceitos étnico-raciais sejam abordados no cotidiano do educando. O trabalho abordará o diálogo sobre a cultura afro-brasileira e as práticas pedagógicas inseridas no contexto educacional com base na lei supracitada. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica. Conclui-se que práticas pedagógicas inovadoras devem ser aplicadas para benefício dos alunos para viabilizar uma maior igualdade racial e a valorização da história da cultura afro-brasileira. Palavras-chaves: Lei 11.645/2008. Prática pedagógica. Cultura afro-brasileira. Abstract The present article was developed based on the research carried out in the course conclusion work and its main objective is to discuss how to apply Law nº. 11.645/2008 in school and to make ethnic-racial concepts be addressed in the daily life of the student. The work will address the dialogue on Afro-Brazilian culture and pedagogical practices inserted in the educational context based on the aforementioned law. The research is characterized as bibliographical. It is concluded that innovative pedagogical practices should be applied for the benefit of the students to enable greater racial equality and the valorization of the history of Afro-Brazilian culture. Keywords: Law nº 11.645/2008. Pedagogical practice. Afro-Brazilian culture. Introdução
O presente artigo tende a orientar um conhecimento das afinidades entre as pessoas de cor de pele distintas, em especial, negros, dentro do ambiente educacional. Os negros contribuíram diretamente na formação do povo brasileiro, com suor do trabalho, vítimas do escravismo, sendo “libertos”, a mercê da marginalização social, vistos como minoria sem representatividade, precisam ser valorizados, lembrados e respeitados em todo e qualquer ambiente, podendo essa semente de igualdade ser plantada nas escolas. Neste contexto, a presente pesquisa se embasará na seguinte problemática: Como a Lei 11.645/2008 contribuiu para inserir no âmbito educacional, conteúdos voltados para a cultura afro-brasileira?
Para que essa ideia seja discutida, o objetivo central da pesquisa é demonstrar possíveis maneiras de propagar o conteúdo da Lei nº 11.645/2008 e fazer com que os conceitos étnico-raciais sejam abordados no cotidiano da sala de aula, de maneira lúdica, para que haja reflexões, inclusão e valorização da diversidade da criança quanto a sua cultura, valores e princípios (individuais e coletivos).
12 Graduada em Licenciatura em Pedagogia (2016/2), pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multivix. 13 Graduada em Licenciatura em Pedagogia (2016/2), pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multivix. 14 Graduada em Licenciatura em Pedagogia (2016/2), pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multivix. 15 Graduada em Licenciatura em Pedagogia (2016/2), pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multivix. 16 Orientador. Mestre em “Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional”, pela Faculdade Vale do Cricaré. Especialista na área da Educação. Licenciado em Pedagogia e em Letras (Português, Inglês e Espanhol). Professor da Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multivix.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 22 de 138
O presente trabalho é classificado como bibliográfico para assim harmonizar melhor intimidade com o problema, visando torná-lo mais claro, aprofundando-se nas questões históricas registradas, em relação à problemática étnico-racial que circunda a didática pedagógica das escolas. Referencial teórico Breve histórico da cultura africana no brasil
O Brasil colonizado recebeu a forte cultura africana, os “desbravadores” europeus fizeram desta área tropical fonte de exploração das riquezas minerais e introdução da agricultura, esta exigia grande mão de obra, os negros foram traficados (nas péssimas condições dos navios negreiros, que carregavam um terço a mais de africanos que sua capacidade permitia, expostos a vários tipos de doenças, com fome e sede) especialmente para essa função, inicia-se a escravidão. Segundo Trevisan (1988, p.12)
trabalhar com as mãos é para quem é mais pobre; é para quem vale menos, mesmo. Em uma sociedade como a brasileira, em que todos são mais ou menos pobres (os ricos são uma ínfima minoria), como se teria formado um preconceito desse tipo? [...] em nossa sociedade colonial tudo era muito cômodo para os homens livres:
Foi nesse período que se inicia a desvalorização do ser humano, o negro era apenas mão de obra,
apenas para servir os bem-nascidos, tratados como “algo sem identidade”, dos quais a única serventia era a mão de obra trabalhadora. Que a todo o momento eram violentados. Trevisan, (1988, p. 17), relata que “a primeira dessas formas de violência tem um símbolo bem identificado: O chicote que acompanhava o negro do raiar ao pôr do sol.” A distância entre negro e branco era explicita na diferença da senzala para a casa grande, o negro começava ainda ao nascer do sol sua árdua rotina de trabalho, almoçava cedo, quando almoçava, um cardápio limitado a feijão e farinha.
Com os restos dos porcos vindos da casa grande, ainda que pouco frequente, deu-se origem a típica feijoada. No fim da jornada de trabalho, quando a noite caia, todos os negros eram “levados” a senzala, mulheres e suas crianças separadas dos homens, para assim esperar o próximo dia. Demorou muito tempo para que os governantes tomassem uma iniciativa de sensibilização à realidade dos negros, com foco na necessidade mínima de direitos humanos que precisava haver, para que a colônia pudesse enfim, se tornar República. Segundo Trevisan, (1988, p.19):
[...] por volta do final da década de 1860 começa a pensar em República. O sistema político republicano propõe exatamente o contrário do que existia o Brasil do século XIX: Todos os homens são iguais, tem direitos iguais, obedecem a uma lei comum e maior – a Constituição.
A visão defendida de igualdade não se propagou com a instituição do sistema republicano.
Mesmo com uma nova visão “legal” de direitos, a base de igualdade que rege a Constituição ainda não foi alcançada. Chega um momento em que com a monarquia de “pernas bambas”, as fugas de escravo em massa para os quilombos (onde se refugiavam escondidos), a rebeldia escrava torna-se incontrolável, inicia-se os movimentos abolicionistas (LOPES, 2008).
Neste sentido, o dia 13 de maio de 1888, com base em Lopes (2008), ficou marcado na luta dos negros brasileiros por liberdade, até hoje essa data é memorada como Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, historicamente tal fato não permitiu liberdade plena (direitos ∕´possibilidades) aos negros, essa também é uma luta contemporânea. Após a abolição da escravatura, tenta se construir a ideia de que o Brasil é um país totalmente homogêneo, isso criou a visão de que o país se caracteriza pela democracia racial, segundo Bittencourt (2010, p. 199)
a teoria da democracia racial, é preciso salientar, foi criada para fundamentar uma homogeneização cultural e omitir as diferenças e desigualdades sociais. [...] Em sua face mais perversa, essa mesma teoria serviu para dissimular as desigualdades sociais e econômicas, e para justificar a situação de miséria de grande parte da população: Um povo mestiço, que carrega os males de uma fusão de grupos selvagens indolentes
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 23 de 138
(índios que não queriam ser escravos e se rebelavam contra esse trabalho tão digno para a grandeza da pátria) e de negros africanos submissos e sem vontade própria, sem desejo de vencer na vida!
A teoria relatada pelo autor é irreal quanto à situação brasileira, um povo diferente em raças, mas,
com igualdade de direitos humanos (que não acontece), é inviável esconder em uma tese “pacifista” todos os conflitos enfrentados pelos negros, desfavorecidos na história, que carregam até hoje desvalorização na sociedade, pois um dia sua ascendência foi escravizada.
Existe a necessidade de fazer valer toda resistência do negro ao açoite, daqueles que por vezes enfrentaram o tronco, o frio da senzala, o medo das fugas na calada da noite a procura do quilombo, a dor do chicote que além da pele, feria a alma, as humilhações dos povos ascendentes, que não eram considerados humanos.
Neste contexto, em que o negro é tratado como inferior, nota-se a importância de mudanças no sistema educacional para romper com as desigualdades raciais, pois, a escola tem o papel formar cidadãos conscientes, críticos e capazes de respeitar as diferenças e diversidades existentes na sociedade. Não se pode silenciar o clamor das crianças negras nas escolas, que muitas vezes não aceitam suas origens, hoje tem-se no professor um Zumbi dos Palmares, a intenção é de libertar as mentes. Lei 11.645/08 - ensino de história e cultura afro-brasileira
Desde a época da escravidão, as questões raciais sempre foram motivo de discussões em todos os âmbitos sociais. O Brasil, em sua história, seguia um sistema social que ocultava atitudes racistas e discriminatórias, algo que persiste até os dias atuais e afeta a população afrodescendente e indígena.
No ano de 2003, o aumento no meio nacional dos debates sobre a discriminação étnico-racial, fez com que o ministério da educação reconhecesse tal fato e instituísse ações com finalidade de retificar desigualdades assim como a promoção da inclusão social e a garantia dos direitos e deveres para todos no sistema educacional brasileiro. O que resultou, na alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de nº 9394/96, com a sanção da Lei 10.639/03, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira, nos seguintes artigos:
Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1ª – O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil. § 2ª – Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”. (BRASIL, 2003)
Assim, busca-se reconhecer e valorizar a comunidade Afro-Brasileira e Africana, além de resgatar historicamente as contribuições dos negros na construção e no processo formativo da sociedade brasileira. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN):
A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão politica, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com essa medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura do seu povo, buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de temas
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 24 de 138
decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe á população negra, ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. (BRASIL, 2013, p.503).
Percebe-se então que a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no
currículo não deve ser visto apenas como uma obrigatoriedade, pois estes são importantes no contexto escolar, onde a valorização, o reconhecimento e o respeito à matriz africana são essenciais para a formação consciente de cidadãos.
Segundo Silva (2003) é através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas
da raça e da etnia ganham seu lugar na teoria curricular. É importante ressaltar que a inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos, não tem a pretensão de fazer uma aculturação, mas de expandir os currículos à diversidade cultural, social, racial e econômica brasileira.
O currículo escolar deve se adequar a imensa diversidade cultural que existe no país, assim como a cultura africana possui grande influência, a cultura indígena também se faz muito importante na identidade do povo brasileiro. Com isso, tratar sobre a cultura e história indígena tornou-se algo de suma importância no âmbito educacional.
A necessidade da valorização da população indígena, fez com que, o governo federal, no ano de 2008, sancionasse a Lei 11.645/08 que alterou novamente a LBD, e complementando a Lei 10.639/03, para incluir no currículo a obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos indígenas, nos seguintes artigos (BRASIL, 2008):
Art. 1º - O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. § 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira.
A relevância da Lei 11.645/08 se da em expor a importância dos indígenas para a construção da identidade brasileira. No Brasil colonial, se pretendia impor valores europeus, negando identidades e culturas diferenciadas. Apesar disso, os traços da influência indígena estão presentes fortemente na cultura brasileira, seja na culinária, nos hábitos, na música e até mesmo com a medicina natural.
Pelas diversas contribuições dos povos africanos e indígenas á população brasileira, se fez necessário e importante abordar de forma profunda (e não superficial, como faz algumas escolas) sobre estas populações no ambiente escolar. Neste esse sentido, o ensino da disciplina de história deve efetivar um movimento de resgate as culturas indígenas e afro brasileiras no Brasil.
A escola, assim como todo corpo docente que a compõe, precisa desenvolver esta temática de forma ampla, pois durante muito tempo a história africana e indígena foram abordadas superficialmente e se limitando a datas comemorativas, como por exemplo, ao dia 19 de Abril (Dia do Índio) e o dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra). Essa superficialidade do ensino dessas culturas nas escolas, talvez
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 25 de 138
seja um dos fatores incumbidos pelas visões ainda estereotipadas que a maioria da população brasileira possui. Assim, de acordo com as DCN (2013, p.503) afirmam que:
“[...] cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia”.
O Brasil por possuir uma pluralidade sociocultural, necessita de instituições em que todos sejam incluídos, que tenham qualidade de educação e possuam os mesmos direitos. A unidade de ensino deve estar comprometida com a formação de cidadãos críticos, atuantes e democráticos, capazes de compreender e aceitar as relações sociais e étnico-raciais.
Algumas ideias discriminatórias sobre a população negra e indígena foram enraizadas ao longo do tempo, e para supera-las é preciso não só apresentar as questões dessas populações na formação histórica do Brasil no âmbito educacional, mas promover o debate, a conscientização dos discentes para problemas que ainda perpetuam na contemporaneidade.
No processo de ensino-aprendizagem é preciso estar atento a todas as questões que estão inseridas no contexto educacional, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou de qualquer outra natureza. Partindo dos conceitos étnico-raciais aqui abordados, é visto que a implantação da Lei 11.645/08 que estabelece o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena fez-se necessário para garantir valorização cultural das matrizes africanas e indígenas que formam a diversidade cultural brasileira. Portanto, as instituições de ensino exercem importante papel no processo da luta contra o preconceito e a discriminação étnico-racial no Brasil. Possíveis propostas pedagógicas para inserir no cotidiano da escola a cultura afro-brasileira
Desde a promulgação da Lei 10.639/03 objetiva-se a introdução de conteúdos que disseminem a valorização da cultura afro-brasileira e identidade negra. Quando em 2004 são aprovadas as “Diretrizes curriculares nacionais para o ensino das relações étnico-raciais e de história e cultura afro-brasileira” pretende-se levar para as escolas estas discursões, sendo essa uma importante estratégia educacional para romper o silêncio do pré-conceito.
Mesmo após abolição da escravatura, e de grande miscigenação entre povos europeus, indígenas e africanos e de determinadas mudanças no meio social, ainda há, mesmo que disfarçadamente, o padrão eurocêntrico enraizado nas pessoas, que constrói um conceito de superioridade aos povos afrodescendentes, o que faz com que estes povos sejam alvos de preconceitos e discriminação. A lei 11.645/08 regulamenta a obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena em todos os níveis de ensino, esta salientou a importância da escola em desenvolver e disseminar ações voltadas para a valorização das matrizes culturais presentes na formação do nosso país.
O ensino das relações étnico racial dentro do ambiente escolar deve estar pautado em uma educação que contemplem a todos, uma vez que a temática não se direciona somente a população negra. É pensando na diversidade que existe no meio social, que se deve preparar e educar cidadãos para atuar no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, tornando-os capazes de construir uma nação democrática. Fernandes salienta a respeito da Educação Étnico Racial:
Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá contribuir para se desfazer os preconceitos e estereótipos ligados ao segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o resgate da autoestima de milhares de crianças e jovens que se vêem marginalizados por uma escola de padrões eurocêntricos, que nega a pluralidade étnico-cultural de nossa formação. (FERNANDES, 2005)
Assim, nota-se a importância de uma educação que valorize a cultura negra, e que provoque a
reflexão dos indivíduos em relação a sua formação, conscientizando-os de seus deveres para o bom convívio social e respeito das diversidades. Para isso, é necessário pensar em caminhos para efetivação de
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 26 de 138
uma educação que valorize a diversidade cultural, de acordo as Orientações e Ações para o estudo das Relações étnico-raciais é
pensar propostas de implementação da Lei nº. 10.639/2003 é focalizar e reagir a estruturas escolares que nos enquadram em modelos por demais rígidos. Atentarmos para a interdisciplinaridade nesta proposta é estarmos abertos ao diálogo, à escuta, à integração de saberes, à ruptura de barreiras, às segmentações disciplinares estanques. (BRASIL, 2006)
É neste contexto que foram desenvolvidas com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, algumas propostas para serem desenvolvidas no contexto escolar com os alunos:
Promover momentos de interação do tema com toda comunidade escolar, a fim de expandir os conteúdos trabalhados na sala de aula para todo contexto social, inclusive familiar, facilitando a assimilação dos alunos para a temática;
Disponibilidade de material didático específico da cultura afro-brasileira e identidade negra. Que estes acompanhem o currículo pedagógico e que o trabalho dos conteúdos não seja fragmentado;
Abordar biografias de pessoas que se destacam na luta a favor dos direitos dos negros, por meio de exemplos concretos dos que viveram experiências com a presença do racismo brasileiro. Podendo a secretaria de educação disponibilizar recurso de incentivo a visitas técnicas, visando aproximar os alunos das realidades culturais afro-brasileira e identidade negra mais próxima (comunidades quilombolas, museus, tribos indígenas);
Fazer uso das datas comemorativas não apenas para o culto ao sofrimento do negro, mas, como forma de mostrar que este sofrimento merece memorização para disseminar a importância da interatividade e o respeito entre todas as raças, esse trabalho pode ser intensificado os nas datas: 13 de Maio, Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo e 21 de Março, Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o que foge das limitações em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra;
Ao entregar uma atividade que envolva a temática das relações étnicas e raciais para uma turma, dividi-los e agrupa-los, como estratégia de ensino, alunos de diferentes etnias para que haja um vínculo mesmo que indiretamente;
Levantar a questão da pluralidade cultural, partindo de uma problematização crítica direcionada aos alunos pelos professores dentro do ambiente educacional;
Ensino da história da África, de modo a fazer conexão com as experiências dos africanos em terras nacionais, sempre que pertinente;
Propor atividades de produção e reprodução de objetos artesanais de origens da cultura africana, danças e corporeidade de raízes africanas, incluindo sua origem e sua história para que haja compreensão da influência e importância na cultura afro-brasileira.
As propostas apresentadas acima visam a valorização da cultura negra dentro do contexto escolar, tal
objetivo pode ser alcançado, quando envolve a família e comunidade nessa luta, quando apresenta de perto a cultura afro-brasileira na teoria que se torna prática, quando as atividades são lúdicas, quando a criticidade dos alunos é aguçada. Tais propostas juntas são de fundamental importância para inclusão da temática étnico racial no ambiente escolar. Estas visam o desenvolvimento como um todo do aluno, facilitando o reconhecimento das diversidades através de atividades variadas, contribuindo para o processo-aprendizagem.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 27 de 138
Conclusão
Tendo em vista o contexto histórico da situação vivida pelos negros no Brasil, no qual estes não foram bem tratados ao longo de sua trajetória da África para o Brasil e no trabalho exploratório em terras nacionais. Apesar disso, os negros tiveram grandes influências no decorrer da história do país, nota-se a expressão desse povo no cotidiano brasileiro, em danças, comidas, músicas, religiões, na cultura como um todo, com todas essas riquezas e belezas somadas aos brasileiros, ainda é presente o racismo e discriminação que precisam ser superados, a Lei Áurea não foi suficiente para garantir aos negros igualdade, até hoje o percentual de pobreza e marginalização carrega a “mancha escura” do escravismo.
Devido a este passado histórico, no ano de 2008 foi promulgada a Lei 11.645, criada no intuito de romper as desigualdades raciais brasileiras, partindo da conscientização e valorização do negro de dentro da escola para a sociedade. A conquista da instituição dessa Lei deu-se pela influência das lutas de movimentos negros por uma necessidade igualitária entre as raças. É notória que a defesa da Lei quanto à interdisciplinaridade é uma meta a se alcançar, ainda não difundida nas escolas nacionais.
Assim, conclui-se que essa Lei busca incluir as questões étnico-raciais no ambiente escolar, para a efetivação desta, nota-se a necessidade de inovar conteúdos, sendo preciso cuidado na forma de desenvolver determinados assuntos, principalmente quando se trata da cultura afro-brasileira, por isso defende-se que o professor capacite-se para a exposição da temática, que além da sua formação obrigatória busque sempre atualizar-se e inovar ao transmitir os conhecimentos dentro da sala de aula, a aprendizagem acontece melhor quando se usa da ludicidade ao ensinar.
Portanto, consideram-se que as mudanças de comportamento na sociedade viabilizam uma maior igualdade racial, a inclusão do negro em todos os contextos sem distinções pré-determinadas, a destruição do racismo e a desconstrução do negro como minoria irrelevante vão se dar através da reflexão e valorização da história da cultura afro e do negro. A comunidade escolar é uma ferramenta essencial para a promoção dessas mudanças, por isso a Lei 11.645/2008 precisa fazer-se valer, sendo transmitida suas intenções no cotidiano escolar. Referências BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Da Educação Básica. Brasília, DF: Secretaria de Educação Básica, 2013. BRASIL. Lei nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 10 out. 2016. ______. Ministério da Educação. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. (2006). Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf> Acesso em 10 de agosto de 2016. BITTENCOURT, Circe. Identidade nacional e ensino de História do Brasil. In: KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2010 FERNANDES, José Ricardo Oriá. (2005). Ensino de história e diversidade cultural: desafios e possibilidades. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622005000300009&script=sci_arttext&tlng=pt> Acesso em: 27 Ago 2016. LOPES, Nei. História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. São Paulo, SP: Barsa Planeta, 2008. SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade. 2º Ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2003. TREVISAN, Leonardo. Abolição – Um suave jogo politico?. 5.ed. São Paulo, SP: Moderna, 1988. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 28 de 138
INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM IDOSOS USUÁRIOS DO SUS
Diulian Aparecida de Rezende17 Carlos Henrique da Silva Vale18
Resumo Este estudo propôs-se a avaliar os efeitos do exercício físico sobre a dor corporal em idosos participantes de um Programa de Atividade Física desenvolvidos pelo NASF, atendidos nas Unidades Básicas de Saúde da Família, no município de Santo Antônio do Amparo (MG). A população foi constituída por 30 indivíduos acima de 65 anos. A intervenção foi realizada durante 6 meses, com aulas 2 vezes semanais que duravam 60 minutos cada sessão. Os resultados demonstraram diferença estatisticamente significativa entre o período pré e pós intervenção, concluindo que o programa de exercício físico foi eficaz na redução de dores musculoesqueléticas. Palavras-chave: Promoção da saúde. Atividade física. Saúde da família. Abstract This study aimed to evaluate the effects of physical exercise on body pain in elderly participants of a Physical Activity Program developed by the NASF, attended at the Basic Units of Family Health, in the city of Santo Antônio do Amparo (MG). The population consisted of 30 individuals older than 65 years. The intervention was performed during 6 months, with classes twice weekly that lasted 60 minutes each session. The results showed a statistically significant difference between the pre and post intervention period, concluding that the physical exercise program was effective in reducing musculoskeletal pain. Key words: Health Promotion. Physical Activity. Family Health. Introdução
Em 2006 foi publicada a Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS, representando um avanço no SUS, no qual visa promover a qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Sendo assim, as práticas corporais e atividade física, se tornam reconhecidas como fator protetor de saúde, auxiliando na redução dos riscos à saúde e melhorando a qualidade de vida dos sujeitos, fundamentando a inserção do profissional da educação física no Serviço de Atenção Básica ao compor as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) criado em 2008 (BRASIL, 2013).
Os NASFs são estruturas de apoio às Equipes de Saúde da Família (ESF), compostas por diferentes profissionais, entre eles o profissional de educação física, que devem, entre outras questões, buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS. (SAPORETTI, 2016).
O grande desafio que a longevidade coloca sobre os profissionais da área da saúde é o de conseguir uma sobrevida cada vez maior, com uma qualidade de vida cada vez melhor. No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa tem sido sistemático e consistente, fazendo com que hoje o grupo de idosos ocupe espaço significativo na sociedade brasileira (FIDELIS, 2013).
A prática da atividade física representa uma melhoria nos problemas de saúde, reduzindo as dores corporais, a depressão, além de proporcionar bem-estar físico e mental (FERREIRA, 2015). Segundo Rocha (2012), além da atividade física ser um fator importante na qualidade de vida das pessoas, há evidências de que a população que mais se beneficia com esta prática é a população de idosos.
17 Mestre em Ciências da Saúde – Universidade Federal de São Paulo 18 Graduando em Engenharia de Controle e Automação – Universidade Federal de Lavras
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 29 de 138
A atividade física é um comportamento complexo e multidimensional que pode ser entendido como todo movimento corporal, produzido pela musculatura esquelética, que resulta em gasto energético maior do que os níveis basais (CASPERSEN ET AL., 1985), contribuindo positivamente sobre diferentes aspectos relacionados com a boa saúde, trazendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais, (ASZTALOS ET AL., 2012).
Para Bernacchio; Contin e Mori (2005), a dor é uma experiência multifatorial, que envolve aspectos físicos, emocionais e cognitivos, sendo que pode deixar de ser somente um sintoma de um problema físico, para se tornar a própria doença como fatores que aumentam a percepção à dor, com tantos aspectos individuais envolvidos. Ela é uma experiência que apresenta muita variabilidade, e coloca não somente o nosso corpo à prova, mas também o equilíbrio psicológico de cada um. Objetivo
O propósito deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa estruturado, com sessões de exercícios físicos em grupo de idoso desenvolvido pelo NASF, sobre a percepção de dor musculoesquelética nos participantes. Metodologia
Fizeram parte desse estudo 30 idosas com idade acima de 65 anos. Primeiramente foi solicitada e obtida a autorização da empresa para o desenvolvimento da
pesquisa. O estudo esta de acordo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), no qual fica garantido o sigilo de dados pessoais e confidenciais dos participantes do estudo. Foi realizada uma reunião com os participantes com a finalidade de fornecer informações sobre os procedimentos da intervenção, no qual estando de acordo e aceitando participar do estudo assinaram o (TCLE).
Foi utilizado o questionário Com o intuito de verificar as regiões corporais acometidas pela dor o
Prontuário de Exame Clínico Visando LER/DORT a o “Trigger Points” (COUTO ET AL., 1999, APUD MARTINS, 2000).
Segundo Martins (2000), o questionário adaptado “Trigger Points” reflete as regiões mais doloridas dos sujeitos que são possivelmente as mais afetadas devido à má postura durante o trabalho realizado pelo indivíduo.
A intervenção ocorreu em um período de 6 meses, com aulas 2 vezes semanais que duravam 60 minutos cada sessão. As aulas consistiam em exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e exercícios de relaxamento. Resultados e discussão
Através do instrumento utilizado foi possível observar que todos os participantes relatam no mínimo uma parte do corpo dolorosa. A maioria dos participantes relatou dores na região dorsal, lombar e cervical como demonstra a tabela 1.
Tabela 1: Frequência dos pontos de dor
Partes do corpo Pré intervenção Pós intervenção
Pescoço 13 3
Ombros 9 2
Região dorsal 16 6
Cotovelos 3 0
Região lombar 27 7
Punhos, mãos e dedos 12 5
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 30 de 138
Com resultados similares o estudo realizado por Ferreira (2015), demonstrou um efeito positivo do exercício físico na redução das dores em onze pacientes idosas que foram submetidas a um programa de exercícios.
Task et al. (2005), buscaram avaliar o efeito de um programa de treinamento de força em oito sessões realizado uma vez por semana, para a melhoria da dor e da qualidade de vida de adultos mais velhos com idades superiores a 55 anos. Fizeram parte da amostra 109 sujeitos (55 no grupo experimental e 54 no grupo controle) de ambos os sexos. O programa mostrou efeitos positivos em relação à dor. Ferracini (2010) realizou um estudo com 15 participantes, onde estes relataram ter prevalência de dor nas regiões ombro/braço, coluna lombar e na região punho/mão. Após 24 sessões de exercícios físicos houve uma redução considerável das dores relatas pelos participantes. Os participantes também relataram benefícios em relação ao bem-estar diário e melhora do relacionamento interpessoal.
Em um estudo realizado por Araújo (2014) os participantes da pesquisa relataram melhoras significativas nas dores no corpo após a intervenção. O estudo foi realizado com vinte sujeitos com idade acima de 60 anos que participaram do Programa de Exercícios Físicos, realizado no ano de 2014. Neste sentido, a atividade física na velhice mostra-se promissora em despertar no idoso a manutenção a saúde. Conclusão
De acordo com os resultados obtidos, o programa de exercícios físicos parece ter efeitos benéficos sobre a saúde dos idosos, mostrando-se eficaz na redução de dores musculares dos participantes do programa, quando comparados antes e após a intervenção. Referencias ARAÚJO, V. S. Benefícios do Exercício Físico na Terceira Idade. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso Licenciatura em Educação Física) - Universidade de Brasília, 2014. ASZTALOS, M. et al. Specificassociations between types of physical activity and components of mental health. Journal of Science and Medicine in Sport, 12(4), 468-474, 2012. BERNACCHIO, R. M. G; CONTIN, I; MORI, M. Fatores modificadores da percepção da dor. Rev. Dor, São Paulo, 6(3),621-33, 2005. BRASIL. Ministério da Saúde. Avaliação de efetividade de Programas de Atividade Física no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução CNS n. 196, de 10 de outubro de 1996. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, 1996. CASPERSEN, C. J. MATHHEW, M. Z. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinction for health- relates research. Public health Reports. Rockville, v. 100. n.2, p.172-9, 1985. FERRACINI, G. N., VALENTE, F. M. Presença de sintomas musculoesqueléticos e efeitos da ginástica laboral em funcionários do setor administrativo de um hospital público. Rev Dor, 11(3), 233-236, 2010. FERREIRA, T. K. A; PIRES, V. A. T. N. Atividade física na velhice: avaliação de um grupo de idosas sobre seus benefícios. Revista Enfermagem Integrada–Ipatinga: Unileste, 2015. FIDELIS, L. T; PATRIZZI, L. J; WALSH, I. A. P. Influência da prática de exercícios físicos sobre a flexibilidade, força muscular manual e mobilidade funcional em idosos. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro , v (1), 2013. MARTINS, C.O; DUARTE, M. F. S. Efeitos da ginástica laboral em servidores da Reitoria UFSC. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 8(4): 7-13, 2000. ROCHA, E. C. A. Prática de Atividades Físicas X Saúde do Idoso. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 12 dez. 2012. SAPORETTI, G. M. et al. The physical education professional and the promotion of health at family health support centers. Trabalho, educação e saúde. 2016. TASK E, et al. The effects of an exercise program for older adults with osteoarthritis of the hip. J Rheumatol. 32(6), 2005.
Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Quadris e coxa 15 6
Joelhos 15 7
Tornozelo e pés 2 1
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 31 de 138
REFLEXÕES SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM E O PERFIL DO PROFESSOR NO SÉCULO XXI: ENTRE POSSIBILIDADES E DESAFIOS19
Edivania Gomes da Silva20 Cloves Santos de Moraes21
José Watla dos Santos Faustino22 Resumo Este trabalho apresenta uma discussão sobre os processos de ensino e de aprendizagem, o professor e sua formação no século XXI. Nesse sentido, perseguiu como objetivo: lançar um olhar crítico-reflexivo sobre os processos de ensino e de aprendizagem no século XXI, assim como sobre a profissão docente e sua formação na sociedade vigente. Considerando o objetivo da discussão, optamos pelas ideias de Araújo, Ribeiro e Pinheiro (2016), Charlot (2008, 2013), Libâneo (2002), Freire (1996-2005), Luckesi (2008), Marconi e Lakatos (2009), Nóvoa (2009), Sibilia (2012), os quais lançaram luzes sobre as questões enfocadas e possibilitaram a compreensão do fenômeno estudado. Sendo assim, conclui-se que se faz necessário às escolas suplantarem a perspectiva tradicional, linear e reducionista sobre os processos de ensino e aprendizagem, pois as mesmas provocam nos discentes o desenvolvimento de uma visão empobrecida e distorcida sobre a educação, e isso, consequentemente, desemboca em uma formação desprovida de qualidade. Assim como se atribui aqui à formação dos professores a função de entrincheirá-los de conhecimentos que os permitam compreender os elementos que compõem os processos de ensino e aprendizagem. Por fim, defendemos que se faz necessário um novo olhar sobre os processos de ensino e aprendizagem, a profissão docente e sua formação no século em curso, pois, só assim, os professores apresentarão conotações de uma educação que ajude o discente a trilhar o caminho do conhecimento autêntico por meio de ações independentes, em detrimento de reprovações e dependência direta a ação do professor. Palavras-Chave: Processos de ensino e de aprendizagem. Profissão docente. Formação docente. Abstract This paper presents a discussion about the processes of teaching and learning, the teacher and his formation in the 21st century. In this sense, it pursued its objective: to launch a critical-reflexive look at the teaching and learning processes in the 21st century, as well as on the teaching profession and its formation in the current society.Considering the purpose of the discussion, we chose the ideas of Araújo, Ribeiro and Pinheiro (2016), Charlot (2008, 2013), Libaneo (2002), Freire (1996-2005), Luckesi (2008), Marconi and Lakatos Nóvoa (2009), Sibilia (2012), which shed light on the issues addressed and made possible the understanding of the phenomenon studied.Thus, it is concluded that it is necessary for schools to overcome the traditional, linear and reductionist perspective on the teaching and learning processes, as they provoke in students the development of an impoverished and distorted view on education, and consequently , Leads to a lack of quality training. Just as it is attributed here to the training of teachers, the function of entrenching them with knowledge that allows them to understand the elements that make up the teaching and learning processes. Finally, we argue that a new look at the teaching and learning processes, the teaching profession and its formation in the present century is
19 Este artigo faz parte do trabalho de conclusão de curso desenvolvido pelos autores sob a orientação do Prof. Me. Osmar Hélio Alves Araújo, Universidade Regional do Cariri (URCA), 2017. 20 Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: [email protected] 21 Graduando em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA) – VI semestre. Tem experiência como professor na educação básica. Atualmente, é bolsista PIBIC/URCA/FUNCAP, desde 2016, vinculado ao projeto de Iniciação Científica: Fios e desafios na formação pedagógica dos licenciandos do curso de letras da Universidade Regional do Cariri (URCA), Campus Missão Velha (CE) e do projeto de extensão: ESTÍMULO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA: construindo percursos de apropriação da linguagem científica escrita. Área de interesse: Didática e Pedagogia, trabalho docente e práticas pedagógicas, formação de professores. E-mail: [email protected] 22 Graduando em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA) – IV semestre. Atualmente, é bolsista do projeto de extensão ESTÍMULO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA: construindo percursos de apropriação da linguagem científica escrita. E-mail: [email protected]
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 32 de 138
necessary, because only then will the teachers present connotations of an education that helps the student to walk the path Of authentic knowledge through independent actions, to the detriment of reprobations and direct dependence on the action of the teacher. Keywords: Teaching and learning processes. Teaching profession. Teacher training. Introdução
Este estudo apresenta uma discussão sobre a necessidade de uma aprendizagem significativa no contexto escolar e interligada ao contexto tecnológico, assim como disserta sobre a profissão docente e sua formação na sociedade vigente. Nesta perspectiva, ressaltamos, a priori, a necessidade de uma formação docente que proporcione aos professores os saberes necessários para a construção de uma prática docente crítica e reflexiva e, por consequência, a efetivação de um processo de ensino e aprendizagem significativo e, sobretudo, mediado pelo uso das tecnologias.
Inúmeras transformações perpassam a sociedade atual e trazem, cada vez mais, novas demandas e exigências em relação à qualificação dos professores, assim como no tocante aos processos de ensino e aprendizagem. Nessa direção, a formação docente deve possibilitar aos professores a apreensão de novos conhecimentos e a construção dos saberes pedagógicos, pois os referidos saberes são necessários para a edificação de um trabalho docente crítico e reflexivo, assim como interligado às tecnologias, de maneira que um processo de ensino e aprendizagem significativo ocorra nas escolas brasileiras.
O método escolhido para a realização deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica a partir do levantamento, seleção e da análise de pesquisas que tratam do tema em discussão. Essa pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2009), denominada de pesquisa secundária, possibilita ao pesquisador a oportunidade de refletir criticamente sobre o tema investigado com arrimo na literatura especializada. Assim, apoiamo-nos nas contribuições de Araújo, Ribeiro e Pinheiro (2016), Charlot (2013), Libâneo (2002), Luckesi (2008), Freire (1996, 2005), Marconi e Lakatos (2009), Nóvoa (2009), Sibilia (2012). Por fim, sublinhamos que este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro, discorre sobre os processos de ensino e de aprendizagem no século XXI e, no segundo capítulo, disserta sobre a profissão docente e a sua formação na sociedade vigente.
Por fim, esperamos contribuir para a construção de uma educação responsável, pautada em um processo de formação docente que provoca a substituição de concepções tradicionais a respeito dos processos de ensino e de aprendizagem, pois a corporificação desses processos é resultado também do processo de formação vivenciado pelo professor. Os processos de ensino e de aprendizagem no século XXI Aprendizagem Significativa em Detrimento de um Ensino Tradicional
Compreendemos que ainda existe nas escolas brasileiras um ensino linear, tido como ensino instrucionista ou tradicional, pois como afirma Gil-Peréz (2006) o processo de ensino continua constituindo-se como um simples processo de transmissão do conhecimento. Entendemos que tal prática se aproxima da educação bancária, denunciada por Freire (2005), pois segundo o mesmo: “Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2005, p. 66). Em uma mesma linha de raciocínio, Charlot (2013) assinala que:
As professoras brasileiras, como a maioria dos docentes, no mundo inteiro, são basicamente tradicionais. Entretanto, essas professoras tradicionais sentem-se obrigadas a dizer que são construtivistas! Têm práticas tradicionais porque a escola é organizada para tais práticas e, ainda que seja indiretamente, impõe-nas. [...] (CHARLOT, 2013, p. 24).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 33 de 138
Considerando as contribuições dos autores, assinalamos que se faz necessário práticas pedagógicas capazes de suplantarem as práticas mecânicas e desprovidas de uma perspectiva crítica e reflexiva. Deste modo tornar-se-á possível um processo de ensino e uma aprendizagem significativa e, por consequência, um aluno atuante e transformador do contexto social. Nessa direção, faz-se necessário um professor que seja autor de uma prática pedagógica que, como desdobramento, faça emergir uma aprendizagem significativa, participativa e integrada ao contexto tecnológico e às necessidades dos discentes, em detrimento de um ensino linear e desprovido de diálogo e de reflexões críticas acerca do contexto social em suas diferentes dimensões. Por isso, como explica Charlot (2013):
[...] o mais importante é entender que a aprendizagem nasce do questionamento e leva a sistemas constituídos. É essa viagem intelectual que importa. Ela implica em que o docente não seja apenas professor de conteúdos, isto é, de respostas, mas também, e em primeiro lugar, professor de questionamento (CHARLOT, 2013, p.25).
É possível aqui agregar as contribuições de Freire (1996), pois segundo ele:
Ninguém pode conhecer por mim assim como não posso conhecer pelo aluno. O que posso e o que devo fazer é, na perspectiva progressista em que me acho, ao ensinar-lhe certo conteúdo, desafiá-lo a que se vá percebendo na e pela própria prática, sujeito capaz de saber. Meu papel de professor progressista não é apenas o de ensinar matemática ou biologia mas sim, tratando a temática que é, de um lado objeto de meu ensino, de outro, da aprendizagem do aluno, ajudá-lo a reconhecer-se como arquiteto de sua própria prática cognoscitiva (FREIRE, 1996, p. 124).
Com apoio nas contribuições dos autores, compreendemos que se faz necessário um processo de
ensino que parta dos conhecimentos prévios dos alunos, assim como que se interligue ao contexto social e que leve os discentes a pensar criticamente e a participar na construção e reconstrução da sociedade. No entanto, faz-se necessário iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores e para a formação de um aluno cidadão e protagonista de sua história. Os Processos de Ensino e de Aprendizagem na Atualidade
Atualmente, embora se percebam novos modelos de ensino, são escassas as instituições escolares que se buscam oferecer um ensino que fuja do instrucionismo e da visão de ensino linear. Entretanto, a sociedade atual vem passando por mudanças, principalmente impulsionadas pelo contexto tecnológico que penetra nas diferentes camadas da sociedade e, por consequência, com implicações no contexto escolar, pois:
Dada à proliferação da aparelhagem tecnológica, mais precisamente das tecnologias móveis no contexto social vigente, século XXI, é preciso considerar, portanto, que o contexto escolar não pode ficar alheio à cultura tecnológica. Toda a aparelhagem tecnológica tem penetrado nos diferentes estrados da sociedade, com implicações cada vez mais diretas sobre os sujeitos e suas respectivas relações (ARAÚJO, RIBEIRO e PINHEIRO, 2016, p. 95-96).
Sibilia (2012, p. 13) entra no debate assinalando que: “[...] A escola seria, então, uma máquina
antiquada. Tanto seus componentes quanto seus modos de funcionamento já não entram facilmente em sintonia com os jovens do século XXI”. Considerando as contribuições dos autores, assinalamos que os professores precisam rever os modos como vem desenvolvendo os processos de ensino e aprendizagem. A inserção de instrumentos tecnológicos no contexto escolar, pode viabilizar este processo já que as gerações contemporâneas estão a exigir, sobretudo, uma formação que os permitam se adaptar às transformações ocorridas no século XXI.
Nesta direção, Araújo, Ribeiro e Pinheiro, (2016, p. 95-96) explicam que: “[...] cabe tanto ao professor quanto a escola fazer uso dos instrumentos tecnológicos a serviço dos processos de ensino e de aprendizagem, mostrando que esses recursos podem ter outros significados além da função de lazer, diversão ou distração”. Entretanto, devemos atentar-nos à advertência de Nóvoa (2009) em relação a um dos perigos dos tempos atuais e a escola, pois, segundo o autor, um dos perigos que a contemporaneidade
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 34 de 138
impõe é a construção de uma “escola a duas velocidades”: por um lado, uma escola concebida essencialmente como um centro de acolhimento social, para os pobres, com uma forte retórica da cidadania e da participação; por outro lado, uma escola claramente centrada na aprendizagem, e nas tecnologias, destinada a formar os filhos dos ricos” (NÓVOA, 2009, p. 64, grifo nosso). Em detrimento do quadro apontado por Nóvoa (2009), compreendemos que se faz necessário um processo de ensino e, por consequência, uma aprendizagem que assegure o sucesso dos discentes de modo sistemático e que os permita lidar com desafios impostos pela sociedade vigente. É em face disso que ressaltamos a importância da inserção dos recursos tecnológicos no contexto escolar, como frisado por Araújo, Ribeiro e Pinheiro (2016), de forma que a partir da inclusão digital a escola também proporcione a inclusão social.
Considerando o caminho percorrido até aqui, compreendemos que a educação é um dos instrumentos sociais que deve promover a inclusão social e digital dos discentes na sociedade aclamada como a era da informação e do conhecimento, o que exige, a priori, investimentos em infraestrutura de informática e a disponibilização de redes de computadores com conexão à Internet nas escolas. Assim como se faz necessário incentivar os professores a percorrem um desenvolvimento profissional interligando as tecnologias da informação e comunicação. Nessa direção, Araújo, Ribeiro e Pinheiro (2016) trazem à tona que é fundamental que cada escola oportunize um processo de formação contínua para seus professores, que contribua com os mesmos no sentido de promover mudanças no campo das concepções, convicções teóricas em relação às tecnologias e a sua inserção na prática pedagógica. A profissão docente e a sua formação na sociedade vigente
O Professor no Século XXI: uma breve discussão Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares (PIMENTA; SEVERINO, 2009, p. 15).
As contribuições dos autores nos permitem apresentar as seguintes indagações: que professor é
necessário no século XXI? O que ensinar? Como o professor deve lidar com os desafios emergidos nos últimos anos do século em curso? Compreendemos, a princípio, que a sociedade está a exigir um professor que seja capaz de formar alunos cidadãos, responsáveis e transformadores do contexto social. Nesta perspectiva, a sociedade precisa de professores que instiguem os alunos a refletirem sobre temas da atualidade, tais como: questões ambientais, o uso indiscriminado dos recursos naturais, a qualidade da educação pública, dentre outros. Freire (1996) postula ainda que:
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos como professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar (FREIRE, 1996, p. 41).
Consideramos que deve ser mediante o pensamento de Freire (1996) que os professores precisam
atuar, pois é um ensino transformador e interligado aos problemas sociais, assim como as necessidades dos discentes que faz surgir possíveis soluções para esses mesmos problemas e necessidades. Neste sentido, os professores devem despertar nos discentes a consciência que o contexto social é abrangente e, portanto, levá-los a tomar atitudes, como: preservação da vida de cada ser humano. Entretanto, Libâneo (2002) ressalta que:
Faz-se necessário, hoje, uma mudança de mentalidade sobre o processo do ensinar e aprender por dentro das práticas de formação de professores. Há um razoável consenso hoje em torno de proposições construtivas: o papel ativo do sujeito na aprendizagem escolar, a aprendizagem interdisciplinar, o desenvolvimento de competências do pensar, a interligação das várias culturas que perpassam a escola etc. A pedagogia estaria empenhada na formação de sujeitos pensantes e críticos, implicando estratégias interdisciplinares de ensino para desenvolver competências do pensar e do pensar sobre o pensar (LIBÂNEO, 2002, p. 40).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 35 de 138
Com base no que foi exposto pelo autor, ressaltamos aqui que os professores precisam
proporcionar aos discentes situações de aprendizagem significativa que despertem nos mesmos um pensar autêntico, crítico e transformador, assim como o interesse e o entusiasmo pela construção do conhecimento de modo que o ato de aprender seja carregado de sentido para os discentes, pois segundo Charlot (2013):
Só aprende quem tem uma atividade intelectual, mas, para ter uma atividade intelectual, o aprendiz tem que encontrar um sentido para isso. Um sentido relacionado com o aprendizado. Não se pode aprender sem esforço; não se pode educar crianças sem lhes fazer exigências (...) (CHARLOT, 2013, p.158-159).
Com apoio nas contribuições de Charlot (2013), ressaltamos, por fim, que a sociedade vigente está
a necessitar de professores que promovam um processo de ensino e aprendizagem contextualizado e que os alunos sejam, por sua vez, construtores do conhecimento, integrando-se à sociedade, em suas diferentes dimensões, e o professor também seja nesse processo um eterno aprendiz da profissão. A Formação Docente nos Dias Hodiernos
Uma educação dialógica, interativa e socialmente significativa exige, antes de tudo, que se pense a
formação dos professores, independente da área, pois Libâneo (2002, p. 13) explica que: “A qualidade das aprendizagens dos alunos depende da qualidade do desempenho profissional dos professores e essa qualidade, no geral, tem sido extremamente precária. (...) a precariedade da formação profissional dos professores está implicada nos baixos resultados da aprendizagem escolar”. É nessa perspectiva de ressignificação do conhecimento e da existência da escola na vida dos alunos que os mesmos se sentirão engajados e mobilizados a construírem novos caminhos e novas possibilidades de construção do saber, pois sem motivação e prazer em estar na escola não há aprendizagem. Por essa razão a escola não pode se desvincular das necessidades e problemas sociais que perpassam a vida do aluno. Em consequência, faz-se necessário repensar a formação docente, pois os professores precisam trabalhar em uma perspectiva mais integradora, interdisciplinar, ou seja, a partir de uma visão plural e holística e propiciarem aos alunos um ambiente de tolerância. Logo, como adverte Libâneo (2002):
É preciso ligar os conteúdos de formação com as experiências vividas na prática das escolas, considerar os pedidos de socorro que os professores fazem. Os problemas da prática dos educadores deverão ser considerados como ponto de partida e ponto de chegada do processo, garantindo-se uma reflexão com o auxílio de fundamentação teórica que amplie a consciência do educador em relação aos problemas e que aponte caminhos para uma atuação coerente, articulada e eficaz, frente aos problemas diários da sala de aula (LIBÂNEO, 2002, p. 38).
Considerando o pensamento do autor, salientamos que os professores irão romper com a visão
linear do processo de ensino, assim como entenderão o seu papel como agentes de transformação à proposição que forem inseridos em uma formação que interligue às várias áreas do conhecimento, se paute nos campos didático-pedagógico, bem como que parta das reais necessidades dos mesmos, as quais devem emergir do chão das escolas brasileiras. Deste modo, compreendemos que os professores são sujeitos, frutos de uma formação filosófica e política, que desempenham um importante papel de intervenção na sociedade. Luckesi (2008, p. 26) corrobora assinalando que:
[...] o educador é todo ser humano envolvido em sua prática histórica transformadora. Em nossas múltiplas relações, estamos dialeticamente situados num contexto educacional. Todos somos educadores e educandos, ao mesmo tempo. Ensinamos e somos ensinados, numa interação contínua, em todos os instantes de nossas vidas.
Deste modo, não basta estruturar cuidadosamente as escolas para que os processos de ensino e
aprendizagem aconteçam, faz-se necessário inserir os professores em um processo formativo que lhes oportunize atualização e preparação didático-pedagógica, pois no século XXI está cada vez mais em evidência a necessidade de professores capazes de realizar trabalhos baseados em perspectiva
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 36 de 138
construtivista, em um trabalho coletivo e perpassado de reflexão a partir da sua própria ação pedagógica. Luckesi (2008) instiga o debate explicando que:
O educador nunca estará definitivamente "pronto", formado, pois que a sua preparação, a sua maturação se faz no dia-a-dia, na meditação teórica sobre sua prática. A sua constante atualização se fará pela reflexão diuturna sobre os dados de sua prática. Os âmbitos de conhecimento que lhe servem de base não deverão ser facetas estanques e isoladas de tratamento do seu objeto de ação: a educação. Mas serão, sim, formas de ver e compreender, globalmente, na totalidade, o seu objeto de ação (LUCKESI, 2008, p.29).
Assim, trata-se, portanto, de repensar a formação dos professores, pois, como frisado, a sociedade
está exigindo professores com pensamento autônomo, crítico-reflexivo, assim como dotados de saberes pedagógicos que os permitam compreender as intencionalidades da sua prática, bem como pôr dinamismo nessa mesma prática.
Considerações finais
Considerando a discussão empreendida, convém retomar que quando as escolas se pautam em uma perspectiva tradicional, linear e reducionista sobre os processos de ensino e aprendizagem, os discentes desenvolvem óticas empobrecidas e distorcidas sobre a educação, o conhecimento, e isso, consequentemente, ocasiona uma formação desprovida de qualidade. Logo, realça-se aqui, mais uma vez, a necessidade de um processo de ensino e de aprendizagem que sejam abalizados pelo envolvimento do sujeito aprendente com o seu próprio processo de formação. Deste modo, o professor deve compreender que os discentes devem estar no centro dos processos de ensino e aprendizagem, para os quais meras mudanças em relação a métodos e estratégias não bastam. Fazem-se necessárias reconstruções teóricas, mudanças de paradigmas, eliminação de concepções em relação ao ensino e a aprendizagem.
Considerando o exposto acima, atribui-se à formação dos professores a função de entrincheirá-los de conhecimentos, confiança, motivação, autonomia e compreensão acerca dos elementos que compõem os processos de ensino e aprendizagem. Por isso, defendemos que se faz necessário um olhar sobre os processos de ensino e aprendizagem, a profissão docente e sua formação no século em curso, pois, só assim, os professores apresentarão conotações de uma educação que ajuda o discente a trilhar o caminho do conhecimento autêntico por meio de ações peculiares, independentes, em detrimento de reprovações e dependência direta a ação do professor. Enfim, a aprendizagem despontará de um exercício fincado na autonomia discente e, portanto, da construção crítica do conhecimento. Referências ARAÚJO, Osmar Hélio Alves; RIBEIRO, Luis Távora Furtado; PINHEIRO, Maria Nerice dos Santos. TECNOLOGIAS MÓVEIS NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: MOBILIDADE DOCENTE? Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, São Paulo, v. 11, n. 1, janeiro/março de 2016. Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/8087>. Acesso em: 02 de fev. de 2017. CHARLOT, Bernard. O PROFESSOR NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: UM TRABALHADOR DA CONTRADIÇÃO. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 30, p. 17-31, jul./dez. 2008. Disponível em: <http://www.uneb.br/revistadafaeeba/files/2011/05/numero30.pdf>. Acesso em: 02 de fev. de 2017. CHARLOT, B. Da relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: Cortez, 2013. LIBÂNEO, José Carlos. Produção de saberes na escola: suspeitas e apostas. In: CANDAU, Vera Maria (org.) Didática, currículo e saberes escolares. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 11-45. LUCKES, Cipriano Carlos. O Papel da Didática na Formação do Educador. In: CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 28. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. pp. 25-34. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. NÓVOA, A. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: EDUCA, 2009.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 37 de 138
SEVERINO, Antônio Joaquim; PIMENTA, Selma Garrido. Apresentação da coleção. In: PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002. pp. 11-19. SIBILIA, P. Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura) ______.Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 38 de 138
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO
Elessandra dos Santos Silva23 Larissa Silva Gaspar24
Marcos Paulo Leal da Silva25 Tamires Aparecida da Silva Lopes26
Resumo Os vírus e as bactérias causadoras de doenças já fizeram incontáveis vítimas por todo o planeta. Descobrir e aprimorar a imunização configura-se apenas como primeiro desafio, sendo o segundo a elaboração de planos estratégicos capazes de fazer com que esse método preventivo possa ser acessível à população nacional. Utilizando o município de Paraíba do Sul do estado do Rio de Janeiro que foi parte estratégica do cordão de bloqueio contra a expansão dos casos de febre amarela nos munícipios cariocas, apresentaremos algumas informações pertinentes ao tratamento dessa questão a nível local. Palavras-chave: vacina, comunicação, estratégia local. Abstract
Viruses and disease-causing bacteria have made countless victims all over the planet. Discovering and improving immunization is only the first challenge, and the second is the elaboration of strategic plans capable of making this preventive method accessible to the national population. Using the municipality of Paraíba do Sul, in the state of Rio de Janeiro, which was a strategic part of the blockade against the expansion of yellow fever cases in the municipalities of Rio de Janeiro, we will present some information pertinent to the treatment of this question. Keywords: Vaccine, communication, local strategy. Introdução
A sociedade enfrenta um dilema que só recentemente foi lhe dada à devida atenção graças aos agravamentos ocorridos, que são as manifestações de epidemias e endemias no âmbito da convivência humana. Com experimentos relativamente recentes, foi possível o aperfeiçoamento de forma eficaz da tecnologia da imunização, que consiste no tratamento preventivo com o próprio agente causador da doença.
É necessário um maior estudo sobre a gestão estratégica utilizada em campanhas de vacinação, para que possa imunizar um maior número de pessoas como as práticas e gestão dos imunobiológicos em nível local - que gradativamente vem assumindo uma maior participação na saúde em geral.
O tratamento dessas questões é de suma importância e de relativa complexidade, pois não é suficiente a simples produção das vacinas, também é necessário sustentar um ambiente de comunicação entre governo e sociedade, além de gerir toda uma infraestrutura, e condições que faltaram no Brasil em episódios passados ficando marcados na literatura como a Revolta da Vacina em 1904 e o surto de varíola em 1960.
24 Estudante de Bacharelado em Administração Pública. Estudante de Bacharelado em Administração Pública. UFF de Volta Redonda Polo Três Rios 25 Estudante de Bacharelado em Administração Pública. Estudante de Bacharelado em Administração Pública. UFF de Volta Redonda Polo Três Rios 26 Estudante de Bacharelado em Administração Pública. Estudante de Bacharelado em Administração Pública. UFF de Volta Redonda Polo Três Rios
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 39 de 138
Este trabalho tem o objetivo de tratar da história, estratégia, comunicação e práticas de gestão. O
outro objetivo consiste na coleta de informações por meio de entrevista cedida por profissional local da área de saúde que trabalha na gestão de imunização, meio de comunicação local e alguns cidadãos. Essas informações sintetizadas na pesquisa contribuirão para destacar a importância de uma estratégia de gestão e comunicação mais descentralizada e autônoma. Referencial teórico Histórico e evoluções
O Brasil foi palco de um grande surto na década de 1960 sendo o único país endêmico no continente americano, nas palavras de Risi Júnior (2003) entrevistado por Carlos Fidelis Pontes ao citar o caso de propagação da varíola no país. Além deste acontecimento, o Brasil já enfrentou outros surtos que demandaram uma atenção especial para o problema. Uma particularidade que existe ao tratarmos os planos de imunização é devida a sua abrangência que deve ser a maior possível, e a continuidade do programa de vigilância é fundamental.
O PNI, Programa Nacional de Imunização criado em 1973 passou a concentrar as iniciativas
contra doenças de prevenção imunológica. Existia aqui naquela época, uma fragmentação de práticas de combate às doenças, e uma concentração se fazia necessária para uma melhor organização e eficiência a nível federal. Essa fragmentação gerava uma inconsistência nas campanhas nacionais, pois não havia uma central de armazenamento, inicialmente a CEME cumpriu esse papel, as amostras que hoje são enviadas para o INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde).
Outra ferramenta indispensável para uma boa gestão é uma central de dados, que forneçam informações para o auxílio do controle, retroalimentação e tomada de decisão. No caso brasileiro “[...] Os dados disponíveis em nível nacional, provinham do Boletim Epidemiológico, criado pela FSESP em 1969 e editado quinzenalmente, que registrava o número de casos de algumas doenças, notificado semestralmente pelas secretarias estaduais de saúde. Nas secretarias estaduais, a consolidação e o envio desses dados cabia às unidades de vigilância epidemiológica (UVE), [...] " (RISI JÚNIOR, 2003, p. 775).
Risi Júnior (2003), ao falar sobre os dias nacionais afirma que essa ideia surgiu em função dos dias estaduais, desempenhados anteriormente pelos estados e apontou falhas no planejamento, como a falta de estrutura operacional, de divulgação e a não existência de metas.
Mesmo o país estando institucionalmente despreparado para lograr pleno êxito nesse sistema, sua idealização foi fundamental contribuindo decisivamente para o atual reconhecimento do PNI. Hoje o Brasil conta com o reconhecimento de ter uma boa estrutura, onde os calendários básicos de vacinação pautam o plano de inoculação contra diversas doenças já nos primeiros anos de vida dos nascidos.
As campanhas de saúde pública desenvolvidas pelos sanitaristas do início do século XX eram
encaradas com muita desconfiança pela população. A forte carga de rejeição que inspiravam fez surgir movimentos como a Revolta da Vacina em 1904. A vacinação era obrigatória, foi um período em que imperou o medo. Medo este das reações provocadas pela vacina antivariólica, medo do isolamento imposto aos doentes e seus contatos. A população se escondia e escondia seus doentes (TEIXEIRA, 1999 apud ROCHA, p. 796).
A experiência de 1904 configura-se uma marcante lição para o governo, no entanto, não foi suficiente para mostrar à cúpula da saúde preventiva o caminho correto, pois já em 1950, num trecho em que Rocha ( 20 03 ) cita Bordenave (1981), não se falava muito de comunicação, mais de informação. A função dos especialistas era difundir, de maneira persuasiva, novas tecnologias e produtos para receptores supostamente passivos.
E falta nesta proposta o feedback da ação, o ato de informar, ou tentar convencer não apresenta uma clara visão de eficácia. Além disso, a vacina era encarada como sinônimo de doença e não de saúde,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 40 de 138
como deveria ser vista. Essa visão constituída e sustentada pela sociedade surgiu por dois principais fatores: o primeiro era a omissão de comunicação do governo. O segundo consistia nas falácias produzidas nas ruas por cidadãos que não tinham informação nem conhecimento da importância da vacinação e preenchiam a mente dos concidadãos pelas lacunas de informação deixada por quem verdadeiramente deveria se pronunciar (ROCHA, 2003).
Nas palavras de Andrade (1997) citado por Rocha (2003), a informação, quando é mental ou afetivamente classificada como desconfortável pelo indivíduo, tende a ser ignorada, ao contrário de quando é considerada agradável, ela tende a ser incorporada.
As campanhas e os dias nacionais de vacinação contribuíram muito para o desenvolvimento da
comunicação, provavelmente pela sua característica de impactar, e a necessidade de atingir um maior número de pessoas em um intervalo de tempo determinado. Os métodos de vacinação vertical foram o berço de fomento da nova comunicação na saúde, assim como no Plano Nacional de Controle da Poliomielite (PNCP). No campo da divulgação e comunicação, também aconteceram mudanças significativas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986 apud ROCHA, 2003).
O sistema horizontal é mais facilmente implementado em países de pequena extensão territorial,
e de população mais homogênea - ou concentrada, que reduz o esforço para a execução, de facilidade logística e planejamento menos complexos.
Outra percepção importante foi à adesão à ideia de que o público-alvo das vacinas, em geral, são crianças com menos de cinco anos e por consequência, os pais ou responsáveis por essas crianças. Logo, a política de comunicação deveria ser voltada para esse público. Assim surgiu o Zé Gotinha, no qual sua aparência e nome remetem a um eufemismo do que se pensava por vacinação. “[...] O perfil do personagem é traçado tanto como parâmetro o mito do herói [...]” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1958 apud ROCHA, 2003, p. 803).
Além da comunicação e divulgação passar a se voltar para o público infantil, outra estratégia foi a maior divergência referente a cada realidade. O Brasil é um país imenso em território e de culturas múltiplas. Foi estratégia do programa, apresentar uma comunicação regionalizada. Essa estratégia é entendida como mais eficiente, pois cada região possui peculiaridades que podem ser usadas estrategicamente a favor da comunicação. As lacunas que devem ser preenchidas pela esfera local
Existem ideologias que apontam uma perda de eficiência no trâmite ao nível local de saúde, seja
por escassez das informações e de dados coletados, que servem para retroalimentar o sistema, ou ainda pelo grande número de perdas técnicas de produtos imunizantes mal administrados. Essa percepção leva alguns autores a questionar a veracidade das informações apresentadas no site do PNI, e sugerem ainda outros recursos de pesquisa como os inquéritos domiciliares, por exemplo.
Apesar do caráter universal do programa diversos inquéritos realizados no país apontaram diferenças na cobertura para grupos sociais estratificados segundo indicadores socioeconômicos (MORAES JC, 2000; WALDMAN, 2008 apud BARATA, 2013, p. 268).
A desigualdade na cobertura é um fator que prejudica a boa gestão e mina a estratégia do PNI.
Segundo Moraes e Ribeiro (2008), os dados disponíveis para 2006 nos indicam, com algumas exceções, uma cobertura vacinal excelente em todas as unidades federativas, e com frequência ultrapassa 100%. Contudo, a construção desse indicador apresenta vários problemas. Alguns são derivados da concepção do sistema de informação e outros do processo de coleta.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 41 de 138
Dados da pesquisa
Foi feita entrevista com uma das rádios locais que transmite não somente para a cidade de Paraíba do Sul, mas também Levy Gasparian, Areal, Sapucaia, Penha Longa (Chiador-MG), Sossego(MG), Santana do Deserto(MG), Pequeri (MG) e Três Rios (onde fica sua sede).
Perguntamos como foi sua participação na divulgação e esclarecimento sobre a campanha de
prevenção contra a febre amarela. Se pronunciaram da seguinte forma: “[...] tivemos algumas entrevistas bem antes do surto chegar ao estado do Rio de Janeiro. Conversamos com o Infectologista, que nos explicou a diferença das formas Silvestre e Urbana do vírus, os hospedeiros, prevenção. Conversamos também com a Sub-Secretária de Saúde do município [...] logo que o Ministério da Saúde adotou [...] como cinturão de bloqueio e também em outras ocasiões como o aumento das doses recebidas da Secretaria de Estado de Saúde, locais de vacinação, grupo de risco entre outros assuntos pertinentes ao caso.
Em relação à coordenação de vacinas do munícipio, a responsável também afirmou a divulgação
por meio de cartazes fixados nas Unidades, jornais, rádios locais e redes sociais. Assegurou que existe treinamento diário com os funcionários e que não há grande perda de vacinas. E acredita que a população tem boa aceitação cultural ao Programa de Imunização.
Um dos problemas enfrentados é a falta de entendimento da população em relação às estratégias,
por exemplo, muitos apareceram sem o cartão de vacinação dificultando muito o trabalho de controle e grande número de pessoas compareceram para serem vacinas não se encaixando no quadro de prioridade do momento.
O município de Paraíba do Sul fez parte do cordão de bloqueio entre Rio de Janeiro e Minas
Gerais contra a expansão dos casos de febre amarela nos munícipios do Rio de Janeiro, fizemos entrevistas com 36 moradores do Bairro Limoeiro, ao lado da zona rural próximo a divisa com o estado de Minas. Gráfico 1. Fonte: Elaborador pelos autores.
No gráfico 1, vemos que as pessoas ainda hoje por falta de informação não acreditam na
vacinação como forma de prevenção de doenças, apesar dos esforços de longos anos de trabalho. Será que esse pensamento se limita somente a essa localidade? Gráfico 2. Fonte: Elaborador pelos autores.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 42 de 138
Já no gráfico 2 identificamos que a maioria dos entrevistados não considera a manutenção das
vacinas em dia como uma prioridade. E 33% acham-na pouco relevante. Nesse caso, Faz-se necessário uma política educativa e de esclarecimento principalmente através dos meios de comunicação, pela importância que o tema tem. Gráfico 3. Fonte: Elaborador pelos autores.
Observa-se que parte da população acredita na eficácia dos medicamentos distribuídos nos postos
de saúde mais do que nas vacinas, mesmo com os anúncios de campanhas de vacinação e propagandas promovidas pelo ministério da saúde que informam com total transparência sua importância.
Alguns moradores nas entrevistas disseram os motivos que os levavam a não tomar as vacinas: porque nunca adoeceram (sabemos que vacina tem caráter preventivo), distância até o local da vacinação, demora nas filas, vai somente ao posto de saúde uma vez por ano. Gráfico 4. Fonte: Elaborador pelos autores.
Este gráfico mostra que a maioria das pessoas que foram aos postos de saúde receber as vacinas foram vacinadas. Mas um pequena parte delas voltaram para casa sem receber a vacina. O que nos leva a algumas possibilidades: não havia o quantitativo de dosagens corretas disponíveis, perdas ocasionaram a falta, ou pessoas que não eram prioridade tomaram as vacinas. Considerações finais
Notamos que a própria população tem dificuldade em cumprir seu papel no auxílio ao combate das doenças. Deve ser uma ação conjunta entre sociedade e governo para tornar o atual sistema cada vez mais eficiente. Esse elo deve ser criado através da conscientização da importância da vacinação.
Apesar da maior participação dos estados e municípios de maneira geral, as práticas de rotina são
incumbências exclusivas dos municípios e unidades locais, são estes que terão na maioria dos casos, o contato direto com o paciente. Nas salas de vacinas é que são administradas as doses de vacinas e onde
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 43 de 138
ocorrem as perdas técnicas, além do registro de dados a serem coletados. Diante disto, faz-se necessário uma atenção especial para as práticas e gestão de saúde no nível local.
Logo a gestão de base deve ser vista como necessária nos níveis mais operacionais. Alexandre e
David (2015) esquematizam os dez passos certos para uma operação segura de aplicação da vacina. Vacina certa; pessoa certa; idade certa; intervalo certo; aprazamento certo; técnica certa; via de administração certa; dose certa; validade certa; conservação certa. Fazer o acompanhamento das unidades básicas locais é fundamental, e são nelas que se devem desenvolver as estratégias para cada grupo de pessoas específico. As unidades vacinação municipais são diretamente responsáveis pelo acompanhamento e pela comunicação com os cidadãos. Referências bibliográficas: BARATA, Rita Barradas; PEREIRA, Susan M.. Desigualdades sociais e cobertura vacinal na cidade de Salvador, Bahia. Rev. bras. epidemiol., São Paulo, v. 16, n. 2, p. 266-277, junho 2013. Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/rbepid/v16n2/1415-790X-rbepid-16-02-00266.pdf>. Acesso em: 11 Out. 2016. DAVID, Rosana; ALEXANDRE, L.B.S.P. Vacinas: orientações práticas. 4. ed. São Paulo: Martinari, 2015. MORAES, José Cassio de; RIBEIRO, Manoel Carlos Sampaio de Almeida. Desigualdades sociais e cobertura vacinal: uso de inquéritos domiciliares. Rev. bras. epidemiol., São Paulo, v. 11, supl. 1, p. 113-124, maio 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2008000500011&lng=pt&nrm=iso> Acesso em 14 ago 2016. RISI JUNIOR, João Baptista. A produção de vacinas é estratégica para o Brasil. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 10, supl. 2, p. 771-783, 2003. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10s2/a15v10s2.pdf>. Acesso em: 10 Out. 2016. ROCHA, Cristina Maria Vieira da. Comunicação social e vacinação. Hist. cienc. saude- Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 795-806, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10s2/a17v10s2.pdf>. Acesso em: 16 Out. 2016. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 44 de 138
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CLÍNICA DA ATIVIDADE DOCENTE EM UM COLÉGIO PÚBLICO ESTADUAL DA CIDADE DE PATO BRANCO - PR27
Elizangela Kempfer 28 Anselmo Lima29
Resumo Este artigo apresenta uma análise dos resultados de uma pesquisa e intervenção em um colégio público estadual relacionados ao desenvolvimento de duas docentes em uma ação de formação docente continuada, através da implementação de uma Clínica da Atividade Docente. A fundamentação teórica abrange a teoria Bakhtiniana da análise dialógica do discurso; a teoria de psicologia do trabalho de Clot; e a teoria Vigotskiana de desenvolvimento humano. A metodologia foi a desenvolvimental e o método utilizado foi o de autoconfrontação simples e cruzada. Os resultados mostram que o docente, ao se observar, elabora outras possibilidades para seu trabalho, recriando-o. Palavras-chave: Formação Docente Continuada, Autoconfrontação, Clínica da Atividade. Abstract This article presents an analysis of the results of a research and intervention in a State School related to the development of two teachers in an action of Continuing Teacher Education, through the implementation of a Clinic of Teaching Activity. The theoretical basis embraces the Bakhtinian theory of Dialogic Discourse Analysis; Clot's theory of Work Psychology; And the Vygotskian theory of human development. The methodology was the developmental and the method used was the Simple and Crossed Selfconfrontation. The results show that teachers, when observing their activities, elaborate other possibilities for their work, recreating it. Keywords: Continuing Teacher Education, Self-Confrontation, Activity Clinic. Introdução
Este estudo é um recorte de alguns resultados obtidos por meio da implementação de uma Clínica da Atividade Docente com vistas à formação docente continuada em um colégio público estadual da cidade de Pato Branco- PR, objetivando estimular a reflexão sobre as práticas docentes. A formação continuada é uma necessidade para os docentes enquanto um momento de análise e reflexão de sua prática, mas como ela vem sendo constituída não atende ao anseio dos docentes, estando distante da prática pedagógica cotidiana.
A Clínica da Atividade Docente consiste em uma proposta teórico-metodológico que se efetiva a
partir da realidade da atividade do trabalhador, neste caso do professor, o qual passa a ser reconhecido como o verdadeiro especialista em sua atividade, buscando superar com seus pares dificuldades e obstáculos presentes na sua atividade. A proposição teórica da Clínica da Atividade presente no trabalho de pesquisa e intervenção segue as ideias de Yves Clot.
Procedimentos metodológicos de autoconfrontação simples e cruzada
Um dos métodos empregados na Clínica da Atividade Docente é o da Autoconfrontação Simples
e Cruzada, que inicialmente foi desenvolvido na França pelo linguista Daniel Faïta e, posteriormente, utilizado por Yves Clot com sua equipe no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios (CNAM) de Paris.
27 Artigo referente a dissertação de mestrado de Elizangela Kempfer, defendida em 2017 no Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTRPR), campus Pato Branco. 28 Mestre do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Pato Branco, Paraná. 29 Doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC-SP/CNPq/CAPES). Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Pato Branco, Paraná.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 45 de 138
Através do método de Autoconfrontação, o professor/trabalhador tem a possibilidade de analisar, dialogar e refletir sobre o seu trabalho, vislumbrando os seus sucessos e fracassos, angústias e alegrias.
Lima (2016b) esclarece que o método se apoia “no uso específico da imagem de sujeitos em
atividade de trabalho, com o objetivo de lhes proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional”. As gravações da atividade docente acontecem após dois professores, pertencentes ao coletivo da escola, se voluntariarem para participar da Clínica da Atividade Docente. Em seguida, cada professor seleciona o trecho de aula que inicialmente será evidenciado no momento de Autoconfrontação Simples e posteriormente na Autoconfrontação Cruzada. Primeiramente são realizadas as sessões de Autoconfrontação Simples, nas quais cada um dos professores voluntários se observa no trecho de vídeo e o comenta detalhando a sua atividade e cabe ao coordenador pedagógico/pesquisador incentivar o diálogo a partir da fala do professor. Em um segundo momento se realizam as sessões de Autoconfrontação Cruzada, em que há o encontro dos dois professores e o coordenador pedagógico/pesquisador. Cada um dos professores assiste ao vídeo do outro e comenta as suas ações e “os dois professores dialogam, argumentam e refletem como resultado de uma diferença de pontos de vista que pode se evidenciar” (LIMA, 2016b).
As professoras participantes indicaram, cada uma, uma de suas turmas para a visitação em três
momentos diferentes: 1) apresentação de um resumo do Projeto aos alunos e obtenção das autorizações para filmagens; 2) observação de uma aula e início dos diálogos e reflexões; 3) filmagem de uma aula previamente marcada. Em seguida foi entregue aos professores a gravação de suas aulas através de um pendrive com a solicitação para que fizessem um recorte de aproximadamente três minutos da referida filmagem, destacando um momento de sua aula. Aqui as professoras serão identificadas pelos nomes fictícios de “Professora Maria” e “Professora Tati” (PM e PT). Fundamentação teórica
Na atividade docente, que é objeto desta discussão, há a produção de enunciados através do diálogo do professor com seus alunos e, posteriormente, consigo mesmo. Isso acontece porque o método de Autoconfrontação Simples e Cruzada propicia esse diálogo. Dessa forma, a relação dialógica é uma constante na atividade do professor e por ela se elaboram seus tipos relativamente estáveis de enunciados, que são os gêneros do discurso, através de elementos que constituem esses gêneros, os quais, para Bakthin (2011, p. 262), são indissoluvelmente ligados: o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional e a relação interlocutiva.
Há uma construção permanente de novos enunciados através dos gêneros do discurso buscando atender às necessidades que são construídas diariamente pelos seres humanos. Para Lima (2010a, p.73), a partir de Bakhtin, “como os campos da atividade humana são diversos, também são diversos os gêneros do discurso, os quais aumentam em número e em variedade conforme os campos da atividade humana se desenvolvem e se complexificam”.
Com base nos gêneros do discurso, para a atividade humana, Clot teoriza a partir da complexa relação entre linguagem e trabalho através do estudo do gênero da atividade. Clot (2007, p. 43), em referência a Bakhtin, afirma que a atividade de linguagem é uma atividade humana e por assim o ser serve para que se possa analisar outras modalidades das atividades humanas, como o trabalho. Dessa forma é possível perceber que o desenvolvimento humano se encontra vinculado com a relação da linguagem, do trabalho e as inúmeras possibilidades que essa relação estabelece em uma discussão sobre a vida real e sua complexidade.
Portanto, é nas relações entre as pessoas que o desenvolvimento acontece articulando os conhecimentos já internalizados com os que se busca produzir por meio destas relações. Na Clínica da Atividade Docente se realiza a mudança do nível de conhecimento real para o nível de desenvolvimento potencial através do processo de aprendizagem que acontece na zona de desenvolvimento proximal.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 46 de 138
Análises de dados Como parte do processo metodológico os dados das filmagens foram transcritos de acordo com
as normas estabelecidas no projeto NURC/SP e apresentadas em Preti (2001).
Autoconfrontação simples com a Professora “M”
A Professora “M”, que trabalha com a disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, escolheu um trecho de dois minutos do início de sua aula. Começou o trabalho explanando as ações que seriam realizadas durante a mesma: interpretação de texto, produção de um email e visualização de um vídeo informativo. Lembrou os alunos de que eles já haviam analisado alguns textos do ENEM, mas que neste momento a situação era diferente, pois eram apenas duas questões do ENEM sobre o mercado de trabalho, entendendo que isso era importante para os alunos, pois muitos já estavam, trabalhando e outros buscavam trabalho. Em seguida a professora registrou no quadro cinco pontos importantes e necessários para uma boa interpretação de textos. Ao escrever, ela leu cada item e, ao final do registro de cada um, fez comentários. Ela entregou a cada aluno a atividade a ser realizada e falou sobre o que fazer e o que viria a seguir: a produção de um email de pedido de emprego.
Na Sessão da Autoconfrontação Simples, a professora esclareceu que estava buscando, através das orientações que estavam no quadro, dar subsídios para que os alunos pudessem interpretar textos, mas fez uma pausa considerável em sua fala e afirmou: “só que deu para perceber ali que a sala está bastante apática”.
Nesse momento, a professora admitiu a existência de um obstáculo, a apatia dos alunos, na realização de sua atividade. Ela justificou o comportamento deles em função do fato de que era quase final de ano, de que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) já tinha ocorrido e de que a greve dos professores havia trazido a necessidade de reposições. A professora admitiu que “não está bacana a aula nesse sentido” e ainda que os alunos tinham nas mãos “um texto e ninguém está interessado”. De forma conclusiva, admitiu que deveria ter mudado a sua aula: “então acho que eu deveria ter mudado:: a: invertido a aula”. A PM se esforça para enfrentar essa falta de motivação dos alunos e vê em sua atividade meios que poderiam tê-la auxiliado para o enfrentamento deste problema. Essa tomada de consciência é decorrente do olhar do professor/trabalhador para a sua atividade proporcionando a percepção de que poderia ser diferente.
A PM, ao enfrentar a tomada de consciência sobre a sua atividade, apresentou possibilidades que poderiam ter sido realizadas na aula: “então eu acho que essa minha aula deveria ter começado ao contrário... deveria ter ido para o laboratório”. A atitude de tomada de consciência da PM pode indicar um movimento de desenvolvimento em relação ao conhecimento que tinha sobre si e sobre o seu trabalho.
A PM enfrenta a dificuldade apresentada na realização de sua atividade, porém, ao poder se ver, permitiu-se pensar em uma outra alternativa a partir dessa tomada de consciência. Pode-se perceber isso quando ela diz: “só que inverteria... assim... se fosse hoje minha aula começaria num laboratório”. Autoconfrontação simples com a Professora “T”
A aula da qual a Professora “T” selecionou um trecho teve como foco principal a formulação de um conceito sobre arte contemporânea. A professora organizou as carteiras de forma que todos os alunos pudessem vê-la, no formato da letra C. Para chegar ao objetivo desejado a mesma foi gradualmente construindo um mapa conceitual por meio de palavras faladas pelos alunos. A aula se mostrou descontraída. Os alunos apresentaram possibilidades de obras a serem realizadas, com as quais o público poderia interagir, e riam, conversando entre si e com a professora. Daí em diante a professora dialoga com os alunos buscando que eles falassem a palavra “provocar”.
Na Sessão da Autoconfrontação Simples a PT diz: “aqui vou fazer um parênteses”, e iniciou um relato sobre o que observou nas aulas, mas não concluiu sua ideia, passou de uma ideia para outra e fez referência a aula do vídeo. Enfim, suas colocações neste início se apresentaram confusas e não indicaram uma conclusão clara do que a professora afinal queria dizer. Esse movimento de iniciar várias ideias parece
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 47 de 138
ser indicador de ansiedade, que pode ser decorrente do fato de ter que falar sobre si e sobre a sua atividade. A professora neste início não conseguiu centrar o seu discurso.
Gradualmente a PT foi abordando o contexto do trecho de sua aula, mas novamente desviou o foco e optou por dar explicações sobre o fato de ela mesma não ter tanto conhecimento do assunto a ser tratado: “é uma arte que eu não tenho tanto conhecimento mas que mesmo assim eu me identifico muito”. Nesse contexto a PT pareceu preocupada em falar sobre si como que para justificar suas ações, sendo possível identificar nisso o olhar para si que a professora desenvolve.
Na sequência da Sessão da Autoconfrontação Simples, a PT explicou que buscava a participação dos alunos para o desenvolvimento da aula e que a palavra que gostaria que eles falassem era “provocar”. A PT chegou a dar uma pista, a letra inicial da palavra e, mesmo assim, os alunos não mencionaram a palavra. Foi quando a professora deixou cair os ombros, como quem cansa e desiste. A PT explicou que ela buscava construir um mapa conceitual sobre a arte contemporânea utilizando a participação dos alunos através da sua mediação.
A PT fez um movimento de ida e volta no seu discurso durante a Sessão de Autoconfrontação Simples sobre o seu agir e sobre como ela vinha se constituindo enquanto docente. Nesse momento foi possível identificar que, na interpretação dela, seu desenvolvimento atual como professora foi decorrente de seu desenvolvimento ao longo de sua história. Autoconfrontação cruzada com a Professora “M”
O primeiro momento da Sessão da Autoconfrontação Cruzada da aula da PM se configurou pela PT visualizando todo o trecho de aula da PM para em seguida iniciar o diálogo. PT a questionou sobre a possibilidade de a PM ter partido do diálogo com os alunos para chegar ao que ela objetivava e que estava no quadro. A PM apresentou a possibilidade de inverter a aula para garantir essa maior participação dos alunos.
Foi possível identificar que a PM aceitou a proposição da colega e apresentou o que ela mesma já havia dito na sua Sessão de Autoconfrontação Simples. Logo, a PM, a partir dessa tomada de consciência, se possibilitou recriar suas futuras aulas.
PM concordou com a fala da colega acrescentando: “ou a gente quer dar as coisas já mastigado pra eles” e, ainda se possibilitou pensar em uma nova ação em sala de aula usando uma frase ambígua para alavancar os conceitos de interpretação e compreensão. Foi possível identificar uma ação de cooperação entre as professoras no buscar de possibilidades para superar os empecilhos que se apresentam na atividade realizada. Para Clot (2010, p. 244) “o diálogo realizado, ao enfrentar o real que lhe escapa, também projeta-se para além de si mesmo”. Autoconfrontação cruzada com a Professora “T”
PM assistiu aos dois minutos selecionados pelo PT sem fazer interrupções e, ao final, iniciou o diálogo afirmando sua compreensão do que estava se passando na aula: “pelo que eu entendi você estava tentando construir um conceito sobre arte contemporânea”. Após a confirmação da professora, ela apresentou os alunos como participantes da atividade afirmando: “e aqui nesse momento a gente estava tentando chegar na palavra “provocar””. O uso da locução pronominal “a gente” indica que a PT associou a atividade realizada como sendo uma atividade em conjunto com os alunos. E, de fato, como afirma Clot (2007, p.34), “a ação não pode ser compreendida a partir de si mesma”, ela acontece vinculada a outras atividades e ao contexto em que se realiza. Dessa forma, a ação da PT foi compreendida a partir da vinculação da atividade dos alunos, no contexto de sala de aula.
Na Sessão de Autoconfrontação Cruzada as duas professoras dialogaram a respeito do uso de imagens. Nesse contexto do diálogo a respeito do uso da imagem, a PT tomou consciência do pouco uso que ela vinha fazendo das imagens: “do conceito do significado das palavras a questão da leitura de imagem é verdade que eu não fiz o uso muito”; e mais importante ainda é a professora destacou que foi a partir do momento da Autoconfrontação que aconteceu esse desenvolvimento: “eu estou fazendo por meios distintos (então na tua
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 48 de 138
observação) eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso...”. E um novo desenvolvimento aconteceu com a PT: “então agora fazer uso das palavras e da imagem também e levá-los a falar sobre”. A resposta da PT foi desenvolvimental, pois nesse momento a professora ampliou as possibilidades de agir na sua atividade docente. Considerações finais
Através dos momentos de formação continuada, há possibilidades de reflexão sobre a prática
docente e os seus desafios; saberes nos quais a formação inicial deixou lacunas e que necessitam de aprofundamento. Para Freire (2015, p.40), “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”.
O ponto de destaque nas observações das aulas é que ambas buscaram a participação dos alunos, por meios diferentes. A Professora “M”, andando pela sala, dialogando com os alunos, entregando o material um a um para os alunos, ouvindo-os. A Professora “T”, chamando os alunos pelo nome, pedindo respostas, solicitando que olhassem no livro e dissessem o que pensavam. Essas ações docentes caracterizam o estilo de ser professor, identificam-nas com a atividade que realizam. As professoras se destacaram por dois aspectos: no caso da Professora “M”, mesmo com a insistência para que os alunos participassem da aula e trazendo um tema muito relevante do cotidiano deles para o desenvolvimento da aula, a turma se apresentou apática o que perturbou a professora e a deixou inquieta. No caso da Professora “T” ao construir um mapa conceitual sobre Arte Contemporânea solicitou a participação dos alunos pedindo que falassem palavras que pudessem construir um conceito sobre o tema. Indagando-os insistentemente e por meio de exemplos esperava que os alunos falassem a palavra “provocar”, mas o que não aconteceu no tempo esperando pela professora que ao se deparar com negativa dos alunos, deixou cair os ombros numa expressão de cansaço e desistência. Durante as Sessões foi possível detectar a preocupação que ambas demonstraram em relação aos seus alunos. A PM percebeu que estavam apáticos e, a PT pelo fato do desenrolar da aula ter acontecido em função de que os mesmos chegassem à palavra-chave. Através desse aspecto comum de ambas as professoras, a preocupação em relação aos alunos, foi possível caracterizar o gênero de atividade docente. Relembrando Clot, que afirma que “o gênero profissional é o instrumento coletivo de atividade” e que esse mesmo gênero “é um instrumento decisivo do poder de agir” (CLOT, 2010, p.35). O que foi comum para as professoras foi a preocupação com o aprendizado dos alunos e por eles toda a atividade docente se desenrolou.
O diálogo que as professoras realizaram durante as Sessões de Autoconfrontação Simples e Cruzada e que elas realizam em seu cotidiano escolar, a partir da intervenção, sem dúvida alimentou mudanças para si e para o coletivo dos docentes a que pertencem. E para onde quer que elas vão, o desenvolvimento decorrente da implementação da Clínica da Atividade Docente se tornou parte delas, pois o que realizaram já afetou suas vidas. Referências Bibliográficas BAKHTIN, Mikhail. (VOLOCHINOV). Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 10.ed. São Paulo: Hucitec, 1929/2014. ___________. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1979/2003. CLOT, Yves. Trabalho e poder de agir. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira e Marlene Machado Zica Vianna. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2008/2010. _____. A função psicológica do trabalho. Trad. Adail Sobral. Petrópolis: Vozes, 1999/2007. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 50ª ed. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. LIMA, Anselmo. Pereira de. Visitas técnicas: Interação Escola-Empresa. Curitiba: CRV, 2010a.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 49 de 138
__________. (Re)pensando o Problema dos Gêneros do Discurso por meio de uma relação entre Bakthin e Vigotsky. Bakthiniana. São Paulo, V. 1, N. 3, p. 113-126. 2010b. ___________. Clínica da Atividade Docente, 2016a. Disponível em https://formacaoesaudedoprofessor.com/2016/03/28/clinica-da-atividade docente-uma-proposta-de-formacao-continuada-e-de-promocao-da-saude-do-professor-no-trabalho/. Acessado em 10 de julho de 2016 às 20:12. ___________. Autoconfrontação Simples e Cruzada: um método clínico para o tratamento da atividade docente, 2016b. Disponível em https://formacaoesaudedoprofessor.com/2016/04/06/autoconfrontacao-simples-e-cruzada-como-metodo-clinico-de-promocao-da-formacao-continuada-e-da-saude-do-professor/. Acessado em 10 de julho de 2016 às 20:16. PRETI, Dino. (org.). Análise de Textos Orais. 5.ed. São Paulo: Humanitas, 2001. PPGDR/UTFPR. Objetivos. Página on-line do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Disponível em: http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao/mestrados/ppgdr2/conheca-o-ppgdr/objetivos-1. Acessado em 09 de julho de 2016 às 21:15. VYGOTSKY, Lev. S. A formação social da mente. Trad. José Cipolla Neto et al. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. __________, Lev. S. Pensamento e Linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 50 de 138
SERVIÇO SOCIAL: INTERVENÇÃO EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIANTE DA REDE DE ATENÇÃO AO PACIENTE JOVEM
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA URBANA
Erika Moreira Araujo30 Marlene Almeida de Ataíde31
Resumo A violência tem sido responsável por um crescente atendimento nos serviços públicos de saúde. Esses grupos são cada vez maiores e estão inseridos em um conjunto de demandas importantes que busca cada vez mais o apoio da rede de atenção e revelam a importância do profissional assistente social no contexto de produção dos serviços públicos de saúde. Desta forma, o tema surge, assim, como proposta de estudo, com o propósito de compreendermos os diversos aspectos da violência urbana, e a atuação do profissional assistente social diante desta demanda que nortearão políticas públicas voltadas para as causas e consequências da violência. Palavras-chave: Assistente social. Jovem. Violência urbana. Abstract Violence has been responsible for increasing care in public health services. These groups are increasing and are inserted in a set of important demands that increasingly seek the support of the network of attention and reveal the importance of the professional social worker in the context of the production of public health services. In this way, the theme thus emerges as a study proposal, with the purpose of understanding the various aspects of urban violence, and the work of the social worker in the face of this demand that will guide public policies focused on the causes and consequences of violence. Keywords: Social worker. Young. Urban violence. Introdução
Este artigo é resultado de parte de uma pesquisa que teve como objetivo refletir sobre a
intervenção do serviço social na assistência ao jovem vítima da violência urbana que são atendidas em um serviço público de urgência e emergência, para explorar e conhecer a rede de atenção, com intuito de prestar um melhor atendimento, proporcionando uso integral de seus recursos em toda sua totalidade.
A violência tem sido responsável por uma demanda crescente de atendimento nos serviços
públicos de saúde. São diferentes tipos de violências diretas: do trânsito, de assaltos, de brigas e conflitos familiares e nas comunidades. Sendo assim, os danos são imediatos e os riscos iminentes, como fraturas, lesões, queimaduras, podendo ocasionar em incapacidade e até mesmo a morte.
Para analisar a especificidades da violência que abate a juventude, utilizou-se a seguinte
classificação: jovens – entre 15 a 29 anos de idade (BRASIL, 2013, art.1). Segundo o Houaiss (2004), violência é a "ação ou efeito de violentar, de empregar força física
(contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força". Já violência urbana é um tema cada vez mais banalizado, marginalizado e, sobretudo deliberadamente brutal. É a expressão que define o fenômeno social de comportamento transgressor e agressivo, apresentado pelo conjunto dos cidadãos ou por parte deles, nos espaços urbanos.
30Graduada em Serviço Social. Especialista em Emergências Clínicas e Trauma pela Universidade de Santo Amaro – UNISA/SP. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. 31 Doutora em Serviço Social pela PUC-SP, orientadora da Monografia.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 51 de 138
Considerando que muitas são as causas de violência urbana, mas acima de tudo está o envolvimento entre jovens com a criminalidade e a ilegalidade. Estes que descendem da má distribuição de renda que resulta na privação da educação e melhores condições de moradia e acesso a saúde.
A pesquisa foi na perspectiva qualitativa e teve como método para a coleta de dados a história
oral, cujas entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas, o que implicou nas interpretações e percepção de linguagem e comunicação (PORTELLI, 1997).
Nesta perspectiva abordou-se sobre a juventude e sua relação na sociedade contemporânea, e
ainda as legislações que amparam crianças, adolescentes e a juventude. Discutiu-se sobre a violência urbana que abate a juventude, perpassando pela atenção à saúde para adolescentes e jovens para focar sobre o assistente social e a rede de atenção a esse público alvo. Juventude na sociedade contemporânea
Não existe uma juventude, mas uma multiplicidade delas (BOURDIEU,1983), tendo em vista a enorme diversidade (de classe, de cultura, de local de moradia, de etnia, entre outros) que estaria contida dentro desse amplo conceito em construção. Para o autor, o uso do termo seria mais um instrumento na luta entre jovens e adultos pelo poder simbólico. De acordo com Carrano (2000, p. 14-15), “a referência ao jovem, em nossos dias, precisa levar em consideração a heterogênea realidade das sociedades complexas”. Segundo esse autor a ambiguidade e a indefinição sobre o conceito de jovem seriam algumas das características dessa situação de complexidade.
Oficialmente a Organização das Nações Unidas (ONU) define como jovens todos aqueles com
idades entre 15 e 24 anos, mas abre possibilidade a outras definições pelos países-membros de acordo com sua realidade própria. Com o reconhecimento da ONU de que o termo juventude é variável em todo o mundo abriu-se espaço para que no Brasil adotemos uma definição que reflita nossa realidade.
Sendo assim, em 5 de agosto de 2013 foi instituído o Estatuto da Juventude² que dispõe sobre os
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.
Em nossa sociedade a juventude é compreendida como uma categoria socialmente construída, em
estado de transformação constante e de grande diversidade. Desta forma, o acesso aos direitos sociais como educação, cultura, saúde e outros, aos bens materiais e à possibilidade de inserção no mundo do trabalho são elementos relevantes para se refletir sobre quem é o jovem e quais as perspectivas e possibilidades para a vida adulta. As diferenças entre as juventudes passam, também, pelas classes sociais, pela desigualdade socioeconômica, pelo acesso aos direitos, dentre outros muitos elementos.
Na sociedade contemporânea surgem demandas amplas e complexas, sendo assim, as redes
interativas dos jovens diversificam-se cada vez mais, e muito se tem para indagar sobre os jovens e tem-se constituído objeto de inúmeros estudos de diferentes perspectivas no entendimento da condição juvenil. Abordagens sociológicas, psicológicas, pedagógicas e outros, analisam mudanças físicas, psicológicas e comportamentais que ocorrem nesse momento da vida. Problemas comuns da juventude, como abuso de álcool e drogas, delinquência, vida escolar, entre outros são associados à juventude enquanto noção de crise, irresponsabilidade e problema social e que carecem de políticas públicas. Estas que em geral, são feitas da ótica do adulto e não da ótica dos direitos da juventude, recentemente adquiridos. Violência urbana e juventude
Qualquer análise abrangente da violência deve começar pela definição das várias formas em que esta ocorre. Portanto, existem várias maneiras de se definir a violência. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 52 de 138
O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2007, p. 1165).
A natureza dos atos violentos proposta aqui será a categoria de violência urbana na juventude, podendo ser configurada em diferentes tipos de violências direta: do trânsito, de assaltos, de brigas e conflitos familiares e nas comunidades. Sendo assim, os danos são imediatos e os riscos iminentes, como fraturas, lesões, queimaduras, podendo ocasionar em incapacidade e até mesmo à morte. A violência não fatal impõe ônus humanos e econômicos aos países, ademais, afetam toda a vida das vítimas, com sequelas permanentes, o que gera incapacidade para o trabalho ou outras funções cotidianas, faltas ao trabalho, e custos aos setores de Saúde e Previdência, além disso, tem contribuído significativamente para a redução da expectativa de vida de adolescentes e jovens e da qualidade de vida da população.
No cenário mundial os acidentes de trânsito ou Acidentes de Transporte Terrestre (ATT)32 vêm
merecendo destaque como uma importante questão de saúde pública. Em consequência do aumento expressivo do número de veículos circulantes e da alta frequência de comportamentos inadequados, os ATT passaram a figurar como causa importante de lesões na população mundial (SOUZA, 2005).
Já a violência comunitária – violência que ocorre entre pessoas sem laços de parentesco
(consanguíneo ou não), e que podem conhecer-se (conhecidos) ou não (estranhos), geralmente fora de casa, podendo ser sem motivação. Inclui violência entre jovens (agressões por arma de fogo; agressões por instrumento perfuro cortante), estupro ou ataque sexual por estranhos, bem como, a violência em grupos institucionais, tais como escolas, locais de trabalho e prisões; violência de Estado, entre outros.
Segundo Minayo e Sousa (2009), a violência, sendo instrumental por natureza, é racional. Ela não
promove causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso; mas pode servir para dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública.
De certo que, a violência não surge do nada, mas tem suas causas. Quando esta violência recai
sobre os jovens, a indignação é muito maior, não só porque pode ser a causa da morte, mas porque geram incapacidades e priva o indivíduo da longaminidade de um viver saúdavel e de um produtor em potencial à sociedade. O Brasil é um desses países onde a violência exerce impacto significativo sobre o campo da saúde (MINAYO, 1994).
Nesta direção, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em seu documento sobre o tema
(1995, 1993), declara que: A violência, pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em vários países. O setor de saúde constitui a encruzilhada para onde confluem todos os corolários da violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, de atenção especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social (OPAS, 1993).
A violência é um problema da sociedade, sendo assim, importa que os problemas relacionados a
ela venham ser enfrentados e nisto está incluso o desafio em atender em sua integralidade aos jovens vítimas de violência urbana. Para isso é preciso que seus direitos sejam respeitados, ou seja, encontrar apoio e recurso em tudo aquilo que necessitará inclusive no que tange a rede de atenção.
Questões de ordem social como a violência podem afetar de forma acentuada a saúde dos jovens.
Por isso, intervenções de saúde aos jovens, são de extrema importância, pois reduzem as vulnerabilidades a que estão expostos e contribuem na formação de cidadãos, sujeitos de direitos, capazes de se responsabilizarem por suas escolhas.
32No Brasil, trabalha-se com o conceito de acidente de transporte como evento não intencional, porém evitável, causador de lesões físicas e emocionais.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 53 de 138
O assistente social e a rede de atenção ao jovem
O assistente social exerce uma profissão de caráter sócio-político, crítico e interventivo, que busca compreender e intervir na realidade sócio histórica e analisar impactos da violência no cotidiano em que as vítimas estão inseridas, colaborando na efetivação e preservação de direitos e garantia do exercício de cidadania, assim como, à identificação e proposição de redes e de sociabilidade, entre os cidadãos e instituições.
Perante uma situação de violência, o assistente social buscará primeiramente produzir um
conhecimento da realidade, entendendo as causas do problema, em seguida utilizando seus instrumentais técnicos passará a adotar formas de intervenção, que possam amenizar ou resolver a situação.
Como parte do processo de trabalho cabe aos profissionais, conscientes da complexidade
requerida na sua atuação, buscar recursos, com intuíto de fortalecer o vínculo entre as partes envolvidas, contribuindo para uma intervenção mais eficaz.
Urge, portanto reconhecer nesse movimento, o apoio da rede de atenção, promovendo assim,
uma recuperação respaldada pela integração, cuidado, proteção e amparo ao jovem. A dificuldade se encontra no momento, em que se percebe a falta de serviços de atenção para
atender a demanda especifica, ou seja, jovem vítima da violência. Isso se torna ainda mais preocupante, quando em meio ao atendimento se tem conhecimento que o serviço disponível não tem recursos suficientes para atender.
Cabe destacar que o assistente social no exercício de suas atribuições, bem como, no
planejamento de uma ação profissional inserida numa política pública de saúde, possui uma relativa autonomia teórica, técnica e ético-política na definição de prioridades, na organização de seu trabalho e mediante o atendimento aos usuários. São essas competências que permitem ao profissional realizar a análise crítica da realidade [...] necessárias ao enfrentamento das situações e demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano (CFESS, 2010, p. 35).
Desta forma, o atendimento de algumas das necessidades mediatas e imediatas dos usuários, não
contempladas pelo SUS, poderá a vir ser suprida a depender da criatividade da profissional, que em busca de um atendimento em sua totalidade, recorre as Organizações não Governamentais (ONG), benemerência e em muitos casos ao coleguismo, entre profissionais do mesmo segmento em outras instituições, fruto de um trabalho cooperativo. Para intervenções positivas, o assistente social conta com uma gama de possibilidades, dentre elas, a disponibilidade da rede de atenção, para dar continências às demandas solicitadas.
Importa salientar que a indisponibilidade da rede pode contribuir para uma demanda fragilizada e
estereotipada, tendo seus direitos violados por uma falta de investimento do Estado em garantir os direitos fundamentais, ou seja, o direito a saúde, no cuidado, na prevenção e na recuperação do paciente vítima de violência urbana.
Desta forma, para dar conta dos desdobramentos da questão social, em suas mais diversas facetas
e levando em consideração a devastação do potencial da violência, cabe ao assistente social uma elevada dose de pró atividade para pensar formas eficazes de intervenção.
Análise e interpretação da pesquisa de campo
Fundamentando-se na questão norteadora, objetivos e hipóteses deste trabalho, foi possível agrupar as seguintes categorias: a) políticas públicas específicas; b) avaliação do atendimento da rede de atenção; c) dificuldades e fragilidades encontradas na rede de atenção aos jovens; d) como ocorre a mediação entre os profissionais e a rede de atenção e) sugestão de melhorias no modo de atuar da rede de atenção.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 54 de 138
O método de coleta de dados adotado foi o da história oral na perspectiva sociológica, que tem
no indivíduo sua fonte de dados, mas sua referência não se esgota nele, pois, [...] o indivíduo que conta sua história, ou dá seu relato de vida não constitui ele próprio o objeto de estudo; a narrativa constitui a matéria prima para o conhecimento sociológico que busca, através do indivíduo e da realidade por ele vivida, aprender as relações sociais em que se insere em sua dinâmica (LANG, 1996, p. 36).
As referências éticas desta metodologia são a Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde e a Carta de Informação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu foi devidamente assinado e acordado pelos sujeitos da pesquisa.
Na categoria de análise políticas públicas específicas as profissionais entrevistadas expuseram sua
visão em relação à existência de políticas públicas especificas ao jovem que sofreu violência urbana. Partindo de um olhar distinto de cada profissional comentaram:
[...] Eu acredito que não tenha uma política pública assim que seja direta e sim indireta, porque a grande maioria dos casos que nós encaminhamos, a gente não consegue um atendimento, um suporte assim.... [...] entrevistada 3 [...] Assim, podemos afirmar que não há um programa ou atendimento específico a este público referente às sequelas decorrente de traumas ao jovem que sofreu violência urbana. Entrevistada 5
Todas as narrativas desta categoria possuem um traço comum: o desconhecimento de políticas
públicas para atender especificamente o jovem. Sendo assim acredita-se que existe uma invisibilidade das pessoas jovens no SUS. Visto que
adolescentes e jovens passam por atendimento em Prontos Socorros, Ambulatórios, Consultórios Médicos, Unidade Básica de Saúde (UBS) e outros sem que recebam uma atenção integral que considerem as suas necessidades como pessoa em desenvolvimento.
No quesito referente a avaliação do atendimento na rede de atenção, nesta fase de análise as
profissionais entrevistadas expuseram sua visão em relação ao atendimento que a rede de atenção oferece ao jovem com sequelas, decorrentes de violência urbana ao comentarem que, Realmente avalio com fragilidade, sim por conta do número pequeno que fazem atendimento para reabilitação desse jovem com sequela. [...] Pois a demanda é tanta que os serviços que possuímos acabam não abrangendo a todos. [...] Entrevistada 2. Acredito que realmente haja essa fragilidade sim, por conta dos números, pequenos números né, de serviços que fazem atendimento pra reabilitação desse jovem com sequela. [...] Entrevistada 4.
Sobre a avaliação do atendimento que a rede de atenção oferece aos jovens com sequelas, as
respostas foram unânimes, apontadas em quase todas as categorias. A rede de atenção é considerada frágil. Vincularam a insuficiência de equipamentos para atender o jovem, seguidos pela alta demanda, impactando assim para um atendimento moroso.
Acerca dessas demandas, Iamamoto (2006) pontua que um dos maiores desafios que o assistente
social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano.
Portanto é dever do assistente social contribuir para a criação de mecanismos que venham
desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados (CFESS, 2012, p.30).
Referente à categoria de análise que trata das dificuldades encontradas na rede de atenção aos
jovens, uma das entrevistadas traz a reflexão sobre as dificuldades e fragilidades, mais relevantes encontradas na rede de atenção aos jovens, na medida em que passou a narrar que,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 55 de 138
[...] A gente se depara com fragilidades de todas as políticas que a gente atua, seja a política da saúde, seja a política da assistência social, então nos deparamos sim com diversas dificuldades e barreiras no nosso cotidiano pra que essa pessoa vítima de violência alcance todos os seus direitos. Entrevistada 4.
Nesta categoria a narrativa reconhece a existência de dificuldades e fragilidades encontradas na
rede de atenção. O acesso a rede ocasionalmente não acontece devido as prioridades, pois o profissional está mais envolvido nas situações de atendimentos de demandas imediatas, que visam “cumprir com a tarefa” já atribuída pela instituição a qual presta serviço. Tal iniciativa, não encontra respaldo no Código de Ética da categoria, o qual preconiza em seu art. 8º, que são deveres do assistente social “contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legitimas demandas de interesse da população usuária” (CFESS, 2012, p.31).
Na categoria em que versa sobre a mediação entre os profissionais e a rede de traz a ponderação
sobre a mediação entre os profissionais e a rede de atenção no atendimento ao jovem vítima de violência urbana. Desta forma apresentou a seguinte narrativas.
[...] A aproximação entre os serviços acontece por meio de contato telefônico, aliado ao relatório social. Em algumas situações mais extremas, podemos até realizar a visita ao serviço, mas no geral essa aproximação acontece através do contato telefônico e relatório. [...] Entrevistada 2.
Seguindo semelhante ordem em todos os discursos, foi descrito os meios utilizados para o
contato com a rede de atenção, conforme segue, ou seja: contato telefônico e relatório social. Houve ainda a referência a notificação ou encaminhamento aos demais serviços, visando uma assistência complementar.
No que diz respeito a categoria de análise sobre a sugestão de melhorias no modo de atuar da
rede de atenção, traze sugestões para o modo de atuar pelos profissionais da área da saúde ao proporem que,
Primeiramente mais política públicas voltadas pra este público, que houvesse entre a rede mais trabalhos educacionais voltados pra interação dessas equipes. [...] Entrevistada 1 Quanto a esse contato que a profissional faz com a rede, acho que teria que ser mais sistematizado... Que a gente conseguisse ter esse retorno da rede, ter respaldo de que esse paciente foi atendido nas necessidades que ele precisa, que essa troca de informação seria muito importante. Entrevistada 2
Na visão das entrevistadas é imprescindível que se procure manter vínculo com a rede de atenção, criando uma conexão, que ultrapasse o ambiente institucional, promovendo maior proximidade, integração e o fortalecimento em rede. Também foi sugerido a apropriação da “categoria jovem” através de participações em movimentos como fóruns, palestras e outros espaços de pertencimento.
Em alguns relatos foram afirmados que o profissional não conhece os serviços disponíveis na
rede de atenção, atribuindo este fato a uma das hipóteses que justifiquem a fragilidade da rede, outrora aqui já citada, podendo refletir na atuação profissional. Para finalizar, referiram sobre a necessidade da criação de mais políticas públicas ao jovem, com ênfase voltada ao jovem com sequelas, vítimas de violência urbana. Considerações finais
As considerações a que chegamos partem da reflexão à luz da discussão teórica, unida à realidade trazida por meio das narrativas das profissionais entrevistadas na pesquisa de campo.
Todas as narrativas possuem um traço comum: o desconhecimento de políticas públicas para
atender especificamente o jovem. Sendo assim acredita-se que existe uma invisibilidade das pessoas jovens no SUS. Visto que adolescentes e jovens passam por atendimento em Prontos Socorros, Ambulatórios,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 56 de 138
Consultórios Médicos, UBS e outros sem que recebam uma atenção integral que considerem as suas necessidades como pessoa em desenvolvimento.
A troca de experiências entre profissionais que atuam em diferentes âmbitos dessa rede, seja ela,
saúde, assistência, criança e adolescente, juventude e outros, é de primordial importância, visto que, estes profissionais são elementos fundamentais para a eficácia da rede de atenção. E ela quem norteará o acompanhamento do jovem na convalescência e promoverá a possibilidade da retomada desse jovem aos meios familiares e sociais.
Nesta perspectiva pontua-se que a ausência de informação acerca do acompanhamento do jovem
pela rede de atenção, pode levar a uma ideia errônea de que o acompanhamento não foi efetivado e em algumas situações, fazendo alusão a um trabalho profissional não concluído. Por conseguinte, podendo ocasionar ao profissional a sensação de um trabalho sem desdobramentos positivos ou simplesmente um trabalho desqualificado.
Numa reflexão mais intensa aos relatos das entrevistadas, podemos avaliar que a rede de atenção é
vista como uma extensão dos serviços, não tendo em si, a qualificação como uma rede independente, e não o é. Ora se entende que ela deve absorver as demandas que não foram esgotadas no atendimento inicial, como atendimento complementar. Ora é compreendida como serviços que devem prestar atendimento independente dos encaminhamentos. Importa destacar, que a rede de atenção existe e que para que ela venha realizar a continuidade ou absorver a demanda, é preciso acessá-la e que seja pontuado o trabalho realizado ou a falta dele, para que de alguma maneira o atendimento ao usuário aconteça de forma integral e humanizado de acordo com o que preconiza o SUS, uma vez que a articulação é fundamental para o trabalho frente a rede de atenção.
Assim sendo, em sua atuação o assistente social pode dispor de um discurso de compromisso
ético-político com a população, mas se não realizar uma análise das condições concretas vai reeditar programas e projetos alheios às necessidades dos usuários, assim como, continuará limitado ao conhecimento apenas das políticas públicas mais difundidas, e com isso, impedindo que o jovem tenha acesso a bens e serviços desconhecidos pelo profissional.
Com base nas respostas das entrevistadas, identifica-se que, de fato, o profissional do serviço
social intervém, na maioria das vezes, para o encaminhamento do paciente jovem vítima de violência urbana a rede de atenção. No entanto, a pouca compreensão que se tem desta rede de atenção, acaba por limitar os encaminhamentos, os enviando somente aos serviços amplamente conhecidos, tornando o uso de seus recursos fracionados.
Por meio das dissertações das entrevistadas, foi possível identificar a existência de fragilidades na
rede de atenção para apoio ao paciente jovem vítima de violência urbana. Do ponto de vista da existência de políticas públicas em saúde para atendimento as especificidades, no caso de sequelas, decorrentes de traumas ao jovem que sofreu violência urbana, nesta natureza, não foram encontrados afirmativas, sendo subentendido que os atendimentos ao jovem com sequelas no pós alta, em sua maioria, deriva dos serviços de reabilitação, não sendo caracterizado em outro tipo de atendimento, pois a questão das sequelas acabou por nortear a pesquisa para o atendimento especifico em traumas. Deve-se assim, desconsiderar outras formas de violência urbana, que não ocasione a incapacidade física.
Convém observar, ainda, que a discussão aqui levantada carece, certamente, de um
amadurecimento teórico e do acúmulo de conhecimentos a respeito de outros estudos que possam, por sua vez, enriquecer o trabalho. É, portanto, pelo fato de estar limitado por essa condição de imaturidade que o presente estudo se apresenta com a pretensão de oferecer uma contribuição para uma reflexão a respeito da intervenção do assistente social diante da rede de atenção ao paciente jovem vítima de violência urbana.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 57 de 138
Referências BRASIL. Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens. Lei n. 12.852, de agosto de 2013. Brasília: Imprensa Oficial; 2013. BOURDIEU, P. A juventude é apenas uma palavra. In: Questões de sociologia. Rio de Janeiro, Marco Zero, 1983. CARRANO, P. C. R. Juventudes e cidades educadoras. Petrópolis: Vozes, 2003. 14-15 p. CFESS - CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL- http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_na_Saude.pdf Brasília, CFESS, 2010. ______. http://www.cfess.org.br/arquivos/Código de Ética do Assistente Social. Pdf. 10º. ed. Brasília, CFESS, 2012. HOUAISS, A. VILLAR, M. S. Minidicionário da Língua Portuguesa. 2. Rio de Janeiro: Editora Moderna, 2004. 762 p. IAMAMOTO, Marilda V. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Editora Cortez, 2006. LANG, A. B. S. G. A palavra do outro: uso e ética. In: Comunicação apresentada no XX Encontro Anual da ANPOCS - G.T. "História Oral e Memória" Caxambu, outubro de 1996. 36 p. MINAYO, M. C. S. A violência social sob a perspectiva da saúde pública. In: Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.10 n.1, p. 07-18, 1994. MINAYO, M. C. S.; SOUZA, E. G. Violência e saúde como campo interdisciplinar e ação coletiva. In: História Ciência e Saúde. Rio de Janeiro: v. 6, n. 6. Fev. 2009. OMS, ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório Mundial da Saúde: trabalhando juntos pela saúde. Genebra: OMS. Trad. Brasília, Ministério da Saúde, 2007. Acesso: Ago /2016. OPAS - Organização Pan-americana de Saúde 1993. Resolución XIX: Violência y Salud. Washington, (mimeo). PORTELLI, A. Tentando aprender um pouquinho da história: algumas reflexões sobre ética na história oral. In: Projeto História nº 15, São Paulo, Abr /1997. SOUZA, E. R, Minayo M.C.S, Malaquias JV. Violência no trânsito: expressão da violência social. In: Impacto da violência na saúde dos brasileiros. Brasília: Ministério da Saúde; 2005. p. 279-312. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 58 de 138
EDUCAÇÃO, PRÁTICAS DOCENTES E PEDAGOGIA FREIREANA: TEMAS QUE SE ENTRECRUZAM33
Francisca Paula do Nascimento34 Cloves Santos de Moraes35
Rosana de Oliveira Rodrigues Dantas36 Resumo Considerando que no cenário educacional ainda há desafios no processo de legitimação de uma educação que transforme as práticas pedagógicas acríticas, esse texto discorre sobre a educação como práxis de liberdade a partir de práticas pedagógicas transformadoras. Nessa direção, o texto aponta para uma concepção de educação como processo de humanização, problematização, conscientização, diálogo, compreensão e intervenção na realidade. A partir de um referencial teórico constituído especificamente pela Pedagogia Freireana, apresenta-se aqui reflexões que contribuem para o entendimento da educação em uma perspectiva crítica, holística e integrada à realidade social, em detrimento da transmissão de conteúdos de forma linear e desconectados das necessidades dos discentes. Os resultados desse estudo apontam para a necessidade de uma educação fincada na realidade, no mundo, no contexto dos sujeitos e cujos conteúdos escolares devem emergir como processo de reflexão, discussão e intervenção no mundo. Palavras Chave: Prática pedagógica. Educação problematizadora. Pedagogia Freireana. Abstract Considering that in the educational scenario there are still challenges in the process of legitimizing an education that transforms uncritical pedagogical practices, this text discusses education as praxis of freedom from transformative pedagogical practices. In this direction, the text points to a conception of education as a process of humanization, problematization, awareness, dialogue, understanding and intervention in reality. Based on a theoretical framework specifically developed by Freireana Pedagogy, we present here reflections that contribute to the understanding of education in a critical, holistic perspective integrated with social reality, to the detriment of the transmission of content in a linear way and disconnected from the needs of Students The results of this study point to the need for an education based on reality, in the world, in the context of the subjects and whose school contents must emerge as a process of reflection, discussion and intervention in the world. Keywords: Pedagogical practice. Problematic education. Freirean Pedagogy. Introdução
Esse texto apresenta uma discussão sobre a necessidade de práticas pedagógicas em uma
perspectiva libertadora, transformadora e, como desdobramento, a reconstrução da sociedade. O magistério como paixão e compromisso social assume pano de fundo dessa educação humanizadora e problematizadora, pois se faz necessário paixão e compromisso, entre outros elementos, na construção da educação. Nesta perspectiva, entende-se que os professores comprometidos com uma educação
33 Este artigo faz parte do trabalho de conclusão de curso desenvolvido pelos autores sob a orientação do Prof. Me. Osmar Hélio Alves Araújo, Universidade Regional do Cariri (URCA), 2017. 34 Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: [email protected] 35 Graduando em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA) – VI semestre. Tem experiência como professor na educação básica. Atualmente, é bolsista PIBIC/URCA/FUNCAP, desde 2016, vinculado ao projeto de Iniciação Científica: Fios e desafios na formação pedagógica dos licenciandos do curso de letras da Universidade Regional do Cariri (URCA), Campus Missão Velha (CE) e do projeto de extensão: ESTÍMULO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA: construindo percursos de apropriação da linguagem científica escrita. Área de interesse: Didática e Pedagogia, trabalho docente e práticas pedagógicas, formação de professores. E-mail: [email protected] 36 Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Tem experiência e atua na área de comunicação Social. Foi bolsista do projeto de monitória: TECENDO RELAÇÕES ENTRE A DIDÁTICA, A UNIVERSIDADE E O CONTEXTO ESCOLAR: territórios em diálogo. E-mail: [email protected]
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 59 de 138
libertadora podem cooperar com a transformação da sociedade e na formação de sujeitos críticos, autônomos nos processos ensino e aprendizagem e na busca do saber, do aprender e crescer.
Buscou-se embasamento nas contribuições da Pedagogia Freireana, pois Paulo Freire nos envolve como sujeitos de experiências reais e transformadoras, as quais são forças motrizes na reconstrução da realidade. Além do mais, a escolha por essa corrente teórica está vinculada às contribuições do referido educador para a sedimentação de uma pedagogia da autonomia, do oprimido, da indignação e da esperança. Ou seja, a partir do legado Freireano compreende-se a docência como um trabalho que exige paixão e compromisso, e uma prática pedagógica comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária.
Em linhas gerais, entende-se que o professor deve refletir a partir da sua formação, das suas experiências e práticas. Entretanto, esses elementos tornam-se elementos formativos à medida que o professor é sujeito pensante, crítico-reflexivo na sua formação e práticas. Assim, as práticas e experiências docentes contribuem para o processo de formação contínua do professor, pois o permitem compreender a ação pedagógica, bem como transformá-la.
A educação, as práticas docentes na perspectiva freireana
Discorre-se, a princípio, sobre a educação como paixão e compromisso, a partir da qual os professores, como protagonistas apaixonados e comprometidos, devem contribuir para uma educação ética, cidadã, autêntica e integrada às expectativas e necessidades dos discentes. Inspirou-se aqui em Paulo Freire, o protótipo desse professor apaixonado e comprometido. Basta conhecer suas contribuições sobre a educação como prática de liberdade, processo dialógico e de transformação da realidade concreta. São significativas as suas contribuições quando assinala que: “[...] e isto é o que eu sou – um educador apaixonado, porque não entendo como viver sem paixão” (SHOR e FREIRE, 1986, p. 104). Assim, compreende-se aqui que ser um professor apaixonado e comprometido é entender e fazer da educação não só como ciência, mais também como possiblidade de um desenvolvimento que considere todas as dimensões da personalidade humana.
Paulo Freire, a respeito desta postura de educador apaixonado, expõe que: “[...] em algum momento, entre os 15 e os 23 anos, descobri o ensino como minha paixão” (SHOR e FREIRE, 1986, p. 25). Nesse sentido, entende-se o magistério como uma escolha prazerosa, uma paixão e um compromisso com a transformação da sociedade. Paixão a começar pela profissão, pela instituição chamada escola, pelos alunos, já que o professor não se constrói no magistério sozinho, pois encontramos educadores apaixonados que fazem da educação paixão e prazer, e alunos que nos ensinam o gosto de aprender e ensinar.
Em uma mesma linha de entendimento, Shor e Freire (1986), assinalam que: “[...] ensinando, descobri que era capaz de ensinar e que gostava muito disso. Comecei a sonhar cada vez mais em ser um professor. Aprendi como ensinar, na medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito” (SHOR e FREIRE, 1986, p. 23). Deste modo, ser professor torna-se uma realidade à medida em que somos influenciados pelos diversos contextos sócio-histórico-culturais e vamos construindo a nossa identidade profissional a partir das experiências docentes e convencendo-nos da necessidade de estabelecermos uma relação entre a ação pedagógica e a realidade concreta do educando.
Entretanto, é oportuno sublinhar que Freire (1996), adverte que a formação docente deve considerar a importância inegável que tem o contorno ecológico, social e econômico no qual docentes e discentes estão inseridos. Assim, os professores se deparam com experinências cheias de momentos imprevisíveis e que marcam para sempre a vida de um povo, pois o processo de construção do conhecimento está interligado à prática social e vivenciado à medida que intervemos sobre o mundo.
Compreendemos que a prática pedagógica assume papel imprescindível na formação, organização da sociedade e na “luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada” (FREIRE, 1996, p. 32). Por isso, é necessário a materialização de uma prática pedagogia humanizadora, transformadora da realidade concreta, ou seja, “[...] mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo” (FREIRE, 1996,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 60 de 138
p. 34). Desse modo, torna-se primordial a escola ser instrumento de inserção do educando em uma educação como prática social a fim de transformar a sociedade e contribuir para a conquista da sua autonomia política, cultural e social. Este prisma de educação está perpassado pela tendência pedagógica Progressista Libertadora preconizada por Libâneo (2008). Tal tendência tem em Paulo Freire seu principal expoente ao postular a Educação Libertadora como prática de transformação do meio social. Isso implica compreendermos que essa libertação é um ato coletivo, de caráter social e político.
A partir das experiências docentes o professor, possivelmente, vê, sente e vive o cotidiano escolar, constituído, muitas vezes, por um povo humilde, amoroso, corajoso, com características próprias, histórias diferentes e ao mesmo tempo semelhantes, e envolve-se, de forma solícita, no contexto social deles e com eles, visando desvelar para transformá-la por meio de uma práxis autêntica. Nesta perspectiva, Freire (1996, p. 42), sustenta que práxis é a “[...] reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo [...]”.
A partir de uma convivência democrática, compartilhada, dialógica e permeada por valores, o professor deve tornar-se sujeito do contexto social, tempo histórico-cultural no qual a escola estava inserida, assim como, gradativamente, deve perceber a necessidade de transformá-la por meio da práxis, ou seja, por meio da ação, reflexão e ação. Deste modo, o professor desenvolverá uma prática progressista à medida que sua ação pedagógica for autêntica, crítica, política e coerente com as necessidades dos discentes. Nessa estrutura, convém indagar: como podemos construir uma educação humanizadora e problematizadora? Como explicitarmos na prática pedagógica as vozes e os sonhos dos diferentes sujeitos do contexto escolar que não são, muitas vezes, ouvidas, mas silenciadas? Não é hora de repensarmos a prática pedagógica, vislumbrando-a como práxis, ação política, cidadã e transformadora da sociedade? Em detrimento de um ensino pautado na pedagogia tradicional ainda muito presente no nosso cenário educacional, na qual há a reprodução, memorização e a transmissão do saber sistematizado?
Entretanto, compreendemos que para a superação do ensino tradicional, centrado na transmissão de conteúdos, devemos defender uma prática docente transformadora, por isso restabelecermos o pensamento de Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido, pois ele assim se posiciona:
A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, transformando a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação (FREIRE, 1987, p. 23).
A partir desse enfoque é oportuno ressaltarmos a problemática da realidade socioeconômica e
cultural brasileira, marcada pelas desigualdades sociais do mundo contemporâneo, a qual vem exigindo professores, enquanto sujeitos históricos, que sejam construtores e transformadores da situação existencial por meio de uma prática pedagógica coletiva. Primeiro, advogamos que seja uma ação pedagógica situada e compartilhada, com ela o sentimento de pertencimento, de sentir-se incluso na e pela escola, ou seja, o imprescindível envolvimento de toda a comunidade escolar, pois, como bem disse Freire (1987, p. 100): “o objetivo da ação dialógica está [...] em proporcionar que os oprimidos, reconhecendo o porquê e o como de sua “aderência”, exerçam um ato de adesão à práxis verdadeira de transformação da realidade injusta”. Por isso, os professores já não podem consentir que o atual contexto brasileiro, perpassado por um capitalismo selvagem, no qual estão inseridos, perdure no limiar do século XXI. Esse cenário forja uma ação histórica, como instrumento de suplantação da própria cultura alienada e alienante e, ainda, exige que o professor faça dessa realidade objeto de análise crítica (FREIRE, 1987). Nesta perspectiva, entendemos que o professor precisa manter-se vigilante em relação aos aspectos relativos à estrutura do sujeito, as necessidades da comunidade, as reais condições econômicas, políticas e culturais da sociedade, a fim de tornar eficaz a ação pedagógica em função da comunidade em que atua e de sua responsabilidade para com ela.
Posteriormente, defendemos uma ação pedagógica situada e compartilhada, pois, a partir da mesma, deve-se emergir diferentes experiências em contextos sociais diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes. O professor, por consequência, deve perceber, de forma muito concreta, a estratificação
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 61 de 138
social, assim como deve buscar compreender o real significado de classe social e como esta impede que os bens produzidos, entre eles a educação, sejam privilégios de todos. E, em consonância com Shor e Freire (1986), acreditamos que:
[...] foi aí que aprendi, na minha relação com eles, que eu deveria ser humilde em relação a sua sabedoria. Eles me ensinaram, pelo silêncio, que era absolutamente indispensável que eu unisse meu conhecimento intelectual com sua própria sabedoria. Ensinaram-me, sem nada dizer, que eu nunca deveria dicotomizar esses dois conjuntos de conhecimentos: o menos rigoroso do muito mais rigoroso. Ensinaram-me, que sua linguagem não era inferior à minha. A sintaxe que usavam era tão bela quanto a minha, quando eu analisava sua estrutura e a ouvia (SHOR E FREIRE, 1986, p. 40).
O professor precisa se permitir aprender pela experiência, sentindo a realidade e entendendo a
relação da prática docente com o contexto social e histórico, ou seja, a prática docente imersa na realidade deve emergir dela e com ela, configurando-se, assim, em uma educação humanizadora e problematizadora. Em síntese, o conhecimento deve provir da relação do homem com o seu entorno, calcada na relação dialógica que pressupõe uma aprendizagem recíproca. Seguindo a mesma linha de pensamento dessa concepção, Freire (1987) afirma que:
Em verdade, não seria possível à educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não seria possível fazê-lo fora do diálogo. Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa (FREIRE, 1987, p. 39).
Destacamos no pensamento do autor a relevância da transformação proveniente da relação do
homem com a realidade, por meio da ação reflexiva, sendo a dialogicidade pano de fundo de uma educação humanizadora e problematizadora que considera o desenvolvimento da consciência crítica do educando um instrumento imprescindível para eliminar a “educação bancária37” (FREIRE, 1987). Por isso, que se faz necessário que aprendizagens e transformações significativas sejam concretizadas e que, por consequência, os professores se tornem conscientes que:
A educação é uma forma de intervenção no mundo. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor não importa o que. Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa (FREIRE, 1996, p. 61-63).
Isso permite ao professor apreender uma nova visão de educação e reconstrução da prática
pedagógica, pois, ainda nos dizeres de Freire (1996, p. 91), “[...] se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar”, realizar. E assim, convictos que podem transformar significativamente a vida de um povo, que os professores busquem ouvir as múltiplas vozes do campo educativo, mesmo aquelas quase silenciadas pelas amarras vindas de fora da escola, em um movimento dinâmico de resgate do sujeito existente em cada aluno/a, em cada família. Que a partir daí os professores e todos os sujeitos que compõem o contexto escolar vivam momentos políticos-pedagógico, por meio dos quais a educação como prática da liberdade transforme a escola em um espaço vivo de formação cidadã, popular, objetivando a concretude da educação progressista e a transformação de sonhos em projetos por meio da conscientização e da educação.
37 Freire (2005, p. 33) assinala que na Educação bancária “[...] o educador faz “comunicados” e depósitos que os
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 62 de 138
Assim, que a educação como prática de cidadania, pautada no princípio da igualdade e proveniente da relação entre a pessoa e a sociedade política e organizada, se materialize no cerne das escolas brasileiras. Todavia, essa educação exige forjar condições de consciência, de organização e elaboração de um projeto pessoal e, portanto, social, que permita ao homem passar da condição de massa para povo, sujeito histórico capaz de constituir uma base social, familiar. Por esta razão, é necessário um trabalho político-pedagógico que promova a conscientização dos cidadãos, enquanto sujeitos capazes de assumirem-se como cidadãos plenos.
Cabe aos professores a responsabilidade de redimensionar o espaço pedagógico, buscando a participação dos diferentes atores da comunidade escolar para uma prática docente significativa, condizente com a realidade e comprometida com os anseios do educando no século XXI. Por esta razão, a educação é um processo social, individual, no qual o professor deve atuar como facilitador crítico no cotidiano escolar, considerando o contexto social que permeia seu entorno. Freire (1996, p. 77) assinala que: “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas”. Isso implica compreendermos que a prática pedagógica, na ótica do mesmo autor, não é uma prática neutra e que o contexto social no qual o discente está inserido, interfere diretamente no processo educacional.
Precisamos ter a ousadia de fazermos suscitar novas descobertas no campo educacional, vivenciarmos a prática do diálogo, o compartilhamento de múltiplos conhecimentos de forma que se entrecruzem com a realidade social e, por fim, mantermos viva a esperança da realização dos sonhos de cada um. Pois Freire (2007, p. 72) destaca que: “[...] a esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, mas puro determinismo”. O desafio, portanto, está posto: os professores marcarem a identidade de um povo com uma sólida e eficaz formação na esperança de proporcionar mobilidade social, superação dos entraves sociais e dar sentido a sua experiência existencial.
É profícuo darmos destaque ao professor ideal para atender as necessidades impostas pela complexidade social, conjuntura socioeconômica mundial, nacional, estadual e municipal que, de uma forma direta ou indireta, influenciam o papel do professor no processo educacional. Esse professor deve apresentar características adequáveis ao cenário histórico vigente, coerentes com a realidade escolar, ao tipo de ser humano que se deseja formar e compatíveis com as necessidades advindas da globalização. Por isso, exige-se presteza da escola no sentido de agilizar um processo de formação continua docente a partir da escola no intuito de fomentar uma reflexão e aprofundamento teórico, formativo de questões dos processos ensino e aprendizagem.
Para concluir, recorremos aqui às contribuições de Freire (1996), modelo de professor apaixonado adotado por este corpo teórico, ao considerar que:
É esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece, apesar da imoralidade dos salários. E não apenas permanece, mas cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente, acrescento. Mas é preciso, sublimo, que, permanecendo e amorosamente cumprindo o seu dever, não deixe de lutar politicamente, por seus direitos e pelo respeito à dignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico em que atua com seus alunos (FREIRE, 1996, p. 91).
Com âncora no pensamento do autor, enfatizamos que ser um professor apaixonado é mover-se
na luta constante, revolucionária por meio de uma prática pedagógica política e com as mãos, os pés e o olhar a partir do chão da escola. De modo definitivo, asseveramos que simplesmente exercer a docência não nos distingue radicalmente dos nossos pares; mas o fato de estarmos apaixonados pelo magistério, sim.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 63 de 138
Considerações finais No cenário educacional, no qual estamos todos inseridos, torna-se um desafio aos professores
cumprirem seu papel e fazer educação com paixão. No entanto, é imprescindível como nos alerta Freire (2000):
É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo nas condições que conhecemos mal pagos, desrespeitados e resistindo ao risco de cair vencidos pelo cinismo. É preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos diariamente. É preciso ousar para continuar quando às vezes se pode deixar de fazê-la, com vantagens materiais. (FREIRE, 2000, p. 9).
Percebemos, assim, que só mesmo com muita paixão, agregada à ousadia, para continuarmos em
estado de apaixonamento pela educação. O que se traduz na capacidade de lutar “contra a manutenção do status quo”, na disposição e coragem de cultivar o desejo de aprender e ensinar e na responsabilidade de assumirmos riscos para que o sonho do outro se realize.
É preciso, portanto, reoxigenarmos nossos sonhos e esperanças, movermo-nos e lutarmos com esperança, assim como perpetuarmos na história a partir da vivência de autênticas experiências docentes calcadas na paixão de aprender, ensinar e transformar este novo século. Conscientes, portanto, que saber não nos torna melhores nem mais felizes. Mas a educação pode ajudar-nos a sermos melhores e mais felizes.
Ressaltamos, mais uma vez, a importância do educador crítico para lutar com o povo pela recuperação da humanidade roubada. O que exige do educador tornar-se consciente que somente por meio de uma autêntica experiência na escola, situada historicamente e construída socialmente, com seus alunos e comunidade, é possível mudar o país e retificar. Isso implica formarmos cidadãos aptos a atuar na sociedade com competência, autonomia, decência, respeito, ou seja, por meio de uma práxis autêntica.
Para finalizar, que os professores contribuam para a transformação da pedagogia brasileira e para substanciar, ainda mais, o papel insubstituível da prática docente no processo de conscientização e análise crítica da sociedade. Para isso, enquanto existir oprimidos, excluídos e preocupação com as classes populares, busquemos assumir uma posição política de conscientização a partir da prática educativa. Por conseguinte, busquemos uma prática educativa política e social oportuna à autonomia do educando.
Enquanto o cenário da violência, exclusão social e concentração de renda for uma realidade, fortaleçamos nossos sonhos e busquemos a cumplicidade, que nós educadores, muitas vezes precisamos, para superar os desafios da missão de educadores.
Por fim, sublinhamos que a prática docente exige coragem, zelo, querer bem, cuidado, interesse pelo outro, querer que o sonho do outro se realize. Enfim, é impossível exercermos a docência sem a ousadia dos que acreditam na educação de um povo, principalmente dos marginalizados pela escola e pela própria sociedade. Referências FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura) ______.Pedagogia da Autonomia. 35. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. ______.A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 50. Ed. São Paulo, Cortez, 2009. ______.Professor sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d´Água, 1997. ______.Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005. ______.Pedagogia do Oprimido. 17ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. SHOR, Ira; FREIRE, P. Medo e Ousadia - O Cotidiano do Professor. Trad. De Adriana Lopez. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. (Coleção educação e Comunicação, v. 18). LIBÂNEO. José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2008. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 64 de 138
PERSPECTIVAS DE IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM
MUNICÍPIOS DO ENTORNO NORTE DO DISTRITO FEDERAL
Francisco Valmir da Silva38 Oberdan Quintino de Ataides39
Resumo Este artigo descreve o processo de implantação das políticas de inclusão na educação de dois municípios do estado de Goiás localizados no entorno norte do Distrito Federal. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as políticas para a inclusão e, documentos presentes nos municípios como os Planos Municipais de Educação e outros; realizou-se ainda, visitas às Secretarias Municipais de Educação, visando observar a implantação e organização da inclusão nas escolas. Como resultado, Observou-se que a inclusão vem sendo implantada de forma sistemática, porém, enfrenta entraves como, a falta de recursos humanos, incentivo à capacitação e valorização dos profissionais da educação. Palavras-chave: Educação. Inclusão. Implantação. Abstract This article describes the process of implementation of inclusion policies in the education of two municipalities in the state of Goiás located in the northern environment of the Federal District. Initially a bibliographical research was carried out on the policies for inclusion and, documents present in the municipalities as the Municipal Plans of Education and others; Visits were also made to the Municipal Secretariats of Education, aiming to observe the implementation and organization of inclusion in schools. As a result, it was observed that inclusion has been implemented in a systematic way, however, it faces obstacles such as lack of human resources, incentive to training and enhancement of education professionals. Keywords: Education. Inclusion. Implantation. Introdução
A ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. Partindo desse principio e tendo como horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, as sociedades atuais sinalizam e tentam personificar a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, independentes de todas as peculiaridades de cada individuo, grupo e / ou grupo social.
A educação tem, nesse cenário, papel fundamental, sendo a escola o espaço no qual se deve oferecer, a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, a possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania (BRANDÃO, 1995).
Uma proposta de educação para paz deve sensibilizar os educandos para novas formas de
convivência baseadas na solidariedade e no respeito às diferenças, valores essenciais na forma de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e sensíveis para rejeitarem a forma de opressão e violência. Sendo a educação, um forte pilar, para o desenvolvimento do processo de inclusão, conforme aponta Parolin.
38 Mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília – UCB, Especialista em Informática em Educação, Pedagogo e professor da Rede Municipal de Educação do município de Planaltina – GO. 39 Mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília - UCB, Especialista em Culturas Negras no Atlântico: História da África e dos Afro-brasileiros, Especialista em Gestão Ambiental. Geógrafo e Historiador. Docente, do Instituto Federal de Goiás - IFG, Câmpus Formosa.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 65 de 138
Inclusão é um tema controverso e complexo, pois nos remete ao direito a educação e ao exercício da cidadania, à justiça social e, ao mesmo tempo, à formação de professores , a políticas públicas, à filosofia das escolas, quer sejam públicas ou particulares (2012 p. 290),
Escola inclusiva, segundo Pacheco (2012) é aquela que garante a qualidade de ensino
educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades.
Para tanto, este trabalho tem como objetivo descrever o processo de implantação das
políticas e ações de inclusão na educação, especificamente nos municípios de Planaltina e Formosa ambos do estado de Goiás, localizados na microrregião do entorno norte do Distrito Federal. Percurso metodológico
O presente estudo partiu de uma proposta na disciplina de Educação Inclusiva ofertada
pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Católica de Brasília – DF, no segundo semestre de 2015. Desta forma, motivados a compreender o que de fato tem ocorrido no processo de inclusão na educação, a presente investigação, se pauta num estudo descritivo inicial de caráter empírico, tendo como seu primeiro momento a pesquisa documental sobre as políticas, com base nos preceitos legais mais relevantes, (para este estudo especificamente os documentos internacionais norteadores, e em termos de Brasil a LDB, as diretrizes curriculares nacionais, os planos nacionais e municipais de educação). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Censo Escolar, e documentos da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Educação – SME, do Conselho Municipal de Educação – CME e o Plano Municipal de Educação – PME, com vigência entre 2015 e 2025. Em um terceiro momento foi realizada visita à Diretoria de Educação Especial – DEE do município de Planaltina-GO e ao Departamento de Educação Inclusiva do município de Formosa-GO, visando entender a forma de implantação das políticas de inclusão. Marcos legais e Norteadores das políticas de Inclusão
A Declaração de Salamanca (1994) teve como objetivo específico de discussão, a atenção
educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais. Nesta os países signatários, declaram entre outras que as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso as escolas comuns, Outro marco importante foi a Convenção da Guatemala (1999) A partir da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência os estados reafirmaram que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas que estes direitos. Além destes marcos internacionais de fato isto se torna presente no Brasil por meio da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Assim, passou a ser responsabilidade do município formalizar a decisão política e desenvolver os passos necessários para implantar em sua realidade sociogeográfica, a educação inclusiva, no âmbito da Educação Infantil e Fundamental.
A política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência previsto no
Decreto 3298/99 adota os seguintes princípios como o desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural; e, respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade, por reconhecimento de seus direitos que são assegurados, sem privilégios ou paternalismos (BRASIL, 1999).
A resolução CNE/CEB n° 02/2001, instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, que manifesta o compromisso do país com o desafio de construir coletivamente condições para atender bem a diversidades dos seus alunos, deste modo. os sistemas
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 66 de 138
de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando a condições necessárias para uma educação de qualidade a todos.
O Novo Plano Nacional de Educação- Lei 13.005 de junho de 2014, destinou na meta
quatro, 19 estratégias visando dentre outras: A dupla matrícula dos estudantes, atendimento as crianças menores de 4 anos em creches, implantação das salas de recursos, criação de centros de pesquisas e de apoio com caráter multidisciplinar, oferta da educação bilíngue, desenvolvimento de pesquisas e metodologias e capacitação de professores, além da articulação intersetorial e com organizações filantrópicas. Sendo assim, vejamos como vem ocorrendo este processo nos municípios selecionados para a pesquisa. Resultados e Discussões A inclusão no município de Planaltina - GO
A Educação Especial no município de Planaltina é regida em acordo com as legislações
federais, estaduais e municipais, neste último, destacam-se as Resoluções - CME nº 026 de 03 de julho de 2013, sendo esta, revogada pela nº 002 de 20 de janeiro de 2015, do mesmo órgão, atualmente em voga, ambas teve por objetivo a Instituição das Diretrizes para a modalidade de Educação Especial e Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino. Com relação às matrículas na educação especial inclusiva, de acordo com senso escolar de 2014 e 2015 o município apresenta os resultados, como descritos na figura seguinte:
Figura 1: Matrículas na educação Inclusiva em Planaltina – 2014/2015
Matrículas iniciais
Ensino Regular EJA
Ed Infantil Ensino Fundamental Médio
EJA presencial Creche Pré –escola Anos iniciais Anos finais
parcial
integral
Parcial
integral
Parcial
Integral
parcial
Integral
Parcial
integral
Fund.
Médio
Total geral
201
5 Urb
a
na 0 2 14 0 170 29 97 1 0 0 43 0 356
Ru
ral
0 0 0 0 6 5 1 8 0 0 0 0 20
201
4 Urb
a
na 4 3 14 0 125 43 74 12 0 0 44 0 319
Ru
ral
0 0 1 0 6 7 3 3 0 0 0 0 20
Fonte: Censo escolar INEP/2014-2015 A figura acima demonstra o número de matrículas iniciais no biênio 2014/2015 da esfera
municipal na modalidade de educação especial, percebe-se que de modo geral, considerando os níveis e modalidades de ensino, modelo integral e parcial, áreas urbanas e rurais e finalmente observando o total geral, houve um aumento de 36% matrículas no número de matrículas iniciais no biênio 2014/2015 na esfera municipal urbana, este aumento se deve as matrículas iniciais no ensino fundamental, anos iniciais e finais ambos no modelo parcial, onde se mostraram com maior expressividade, na esfera municipal rural não apresentou alterações de um ano para o outro.
Outro instrumento que visa garantir a efetivação da educação Especial no âmbito
municipal se deu pela construção do Plano Municipal de Educação - PME, aprovado como lei complementar nº 020/2015 de 22 de junho de 2015, este documento em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE, tem como objetivo, traçar metas e estratégias para a educação no
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 67 de 138
período de 10 anos, ou seja, de 2015 a 2025 na esfera municipal. No tocante a educação Especial, o PME, toma para a responsabilidade do município também a meta 04, que seria:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.(BRASIL. Lei 13.005, 2014, meta 4)
A efetivação da meta 04, no âmbito do município se apresenta por meio de 21 estratégias,
como forma de garantir e alcançar da meta estabelecida. Em visita a Secretaria Municipal de Educação foi apurado de acordo com uma funcionária,
que a educação especial no município de Planaltina – GO, é subsidiada pela Diretoria de Educação Especial – DEE, órgão ligado a SME, as principais atribuições da DEE é apoiar as ações referentes ao funcionamento e sistematização da educação especial tanto nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, como nas salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE, dentre estas atribuições se destacam: a verificação de laudos dos alunos, acompanhar os relatórios de avaliação, encaminhar os alunos quando precisa de atendimento no serviço de saúde, prestar esclarecimento e acompanhamento aos pais quando é possível, promover formação aos professores para atuarem na educação especial.
Ainda de acordo com as informações levantadas junto à DEE, a diretoria é composta por
cerca de dez profissionais, entre eles psicólogos, Psicopedagogos, Assistentes sociais, Tradutor de Libras e pedagogos, alguns com especialização em educação especial ou outras áreas correlatas. Esses profissionais são todos pertencentes ao quadro efetivo dos servidores municipais, dentre estes, estão também os definidos como técnicos da educação especial que são profissionais que visitam as escolas para acompanhar e subsidiar o trabalho dos professores de apoio e itinerante.
Em relação ao atendimento ao educando com deficiência o mesmo ocorre em salas com
professor de apoio ou itinerante, segundo a DEE, o município dispõe de 17 salas de AEE, onde os alunos recebem atendimento especializado, vale reforçar que o atendimento é somente pedagógico. Nas escolas que não possui salas de AEE, os alunos são encaminhados para efetuar sua matrícula nestas salas em horário contrário à frequência na escola a qual frequenta, deste modo, sendo garantida a frequência no Atendimento Educacional Especializado. A inclusão no município de Formosa-GO
Conforme informações obtidas na coleta empírica, realizada por de visitação direta a
Secretaria Municipal de Educação do Município de Formosa, por meio de três encontros previamente agendados, pode-se identificar a forma como a inclusão na educação vem sendo desenvolvida, tais ações de inclusão na educação do município tiveram inicio, no ano de 2010, com a criação de um conjunto de estratégias por parte da subsecretaria em consonância com as prerrogativas presentes na política nacional de educação inclusiva. Para regulamentar e estabelecer uma estrutura e competência de organização para a educação inclusiva foi editada a resolução nº 001 do Conselho Municipal de Educação, que definia em consonância com a política nacional de inclusão de pessoas com deficiência , com a LDB as diretrizes curriculares nacionais, a concepção, criação, implementação e estrutura de organização para a educação inclusiva no município.
Como primeiras ações foram concebidas o Departamento de Inclusão - DI responsável
por questões administrativas, como recebimento de recursos, fiscalização dos contratos, recebimento de relatórios, organização de novos projetos e fiscalização dos que estão em andamento. O Departamento inclusão por sua vez conta encontra-se vinculado ao o Núcleo
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 68 de 138
de Educação e Apoio a Inclusão – NEAI, responsável pelo atendimento pedagógico, tanto para as escolas vinculadas, quanto para professores, estudantes e famílias.
Atualmente o Departamento de Inclusão é coordenado por uma servidora pública efetiva,
com formação em pedagogia, com especialização em psicopedagogia, libras e o cursos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a equipe do NEAI é composta por 06 servidoras públicas do quadro efetivo, sendo 04 delas formadas em psicologia e especialização em psicopedagogia e duas psicólogas. A equipe do NEAI, tem como uma de suas competências a implantação e supervisão das Salas de Atendimento Educacional Especializado, assim como prestar auxílio na flexibilização do currículo e dos conteúdos para os estudantes atendidos.
Com relação às matrículas na educação especial inclusiva, de acordo com senso escolar de
2014 e 2015 o município apresenta os resultados como descritos na figura seguinte:
Figura 2: Matrículas na educação inclusiva em Formosa - GO - 2014/2015
Fonte: Censo escolar INEP (2014-2015) A figura acima demonstra o número de matrículas iniciais no biênio 2014/2015 da esfera
municipal na modalidade de educação especial, percebe-se que de modo geral, considerando os níveis e modalidades de ensino, modelo integral e parcial, áreas urbanas e rurais e finalmente observando o total geral, houve um aumento de 16% matrículas no número de matrículas iniciais no biênio 2014/2015 na esfera municipal urbana, este aumento se deve as matrículas iniciais no ensino fundamental, anos iniciais e finais ambos no modelo parcial, onde se mostraram com maior expressividade, na esfera municipal rural o crescimento foi de 15% um ano para o outro. Observa-se que ocorreu uma redução das matrículas das séries iniciais do ensino fundamental, tal fato e explicado pela conclusão de vários estudantes desta etapa e consequente continuação dos estudos na segunda etapa do ensino fundamental. Registra-se que não há dados sobre o ensino médio pelo município não apresentar nenhuma escola sob sua responsabilidade.
Na época deste estudo eram atendidos pelo Departamento de Inclusão e pelo Núcleo, com
necessidades especiais, 213 estudantes, sendo 136 deficientes intelectuais em todos os níveis, 4 alunos cegos, 06 alunos com baixa visão, 20 com síndrome de Down, 8 surdos, 06 deficientes auditivos, 20 com deficiência múltipla, 11 TGD’s, 1 com esquizofrenia, 04 deficientes físicos e dois estudantes com paralisia cerebral. Além disto, existem mais de cem estudantes com outras necessidades que são encaminhados para o departamento e o núcleo para o atendimento e acompanhamento. Quanto às escolas o NEAI atende as 37 escolas de ensino fundamental e mais de 20 creches municipais. No entanto atualmente apenas 12 salas estão em pleno funcionamento, permitindo que estes estudantes possam desenvolver atividades, quando necessário em outra escola. As salas dispões de recursos pedagógicos diversos, adquiridos pelo núcleo, ou concebido pelos
Matrículas iniciais
Ensino Regular EJA
Ed Infantil Ensino Fundamental Médio
EJA presencial Creche Pré –escola Anos iniciais Anos finais
parcial
Integral
Parcial
integral
Parcial
integral
parcial
integral
Parcial
integral
Fund.
Médio
Total geral
2015
Urb
ana 0 3 5 3 97 3 82 0 0 0 23 0 216
Rur
al 0 0 4 0 13 1 8 2 0 0 1 0 29
2014
Urb
ana 0 2 8 4 82 24 69 0 0 0 2 0 187
Rur
al 0 0 0 0 4 11 7 3 0 0 0 0 25
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 69 de 138
professores, por meio de suas práticas, visando adaptação do currículo e das temáticas dos respectivos componentes curriculares.
Os professores das salas de AEE são selecionados conforme portaria interna da secretaria
e devem possuir curso especifico para AEE, devidamente comprovado, ou ter realizado cursos para atendimento as diferentes necessidades como Libras, Braile, DEMU, DM, entre outros.
Completa destacar que conforme dados da gestora do Departamento de Inclusão, hoje o
DI e o NEAI estão avançando nas estratégias da meta 4 do Plano Municipal de Educação de formosa a lei nº 020 de maio de 2015, porém a limitação do nº de servidores, carência de recursos do município e a visão inda distorcida da inclusão por parte dos gestores, familiares e dos próprios professores , pode comprometer estas importantes metas. Considerações finais
Apesar do grande esforço brasileiro na institucionalização das políticas de inclusão com a
implantação e, importantes marcos como a LDB 9394/96 e o novo plano Nacional de Educação, o que se percebe é que a inclusão ainda precisa de avanços.
Nos municípios, conforme constatado nesta pesquisa, os Sistemas Municipais de
Educação, no entorno do Distrito Federal, apresar dos esforços e dos trabalhos exitosos ainda esbarram em desafios e obstáculos como: a falta de reconhecimento do papel da inclusão realizado pela escola; conscientização dos professores de que a inclusão é para todos, valorização dos profissionais das salas de AEE, oferta de cursos e das mais diversas formas de capacitação para os profissionais da educação, apoio financeiro e material para os profissionais e para os estudantes, bem como, ocupar a pauta na agenda de todos os gestores , tanto do poder publico, quanto das instituições de ensino. Referências BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33 ed. São Paulo :Brasiliense, 1995 BRASIL. Lei 9.394/1996, 20 de Dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de Dez. 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm >.Acesso em 08 de Setembro de 2015. _____. Lei 13.005, 25 de Junho de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 de Junho de 2015. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm> Acesso em 12 de Setembro de 2015. CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA. Lei nº 029/2015, de 19 de Maio de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação. Disponível em < http://www.formosa.go.leg.br/processo-legislativo/autografos/2015/029-pl-019-15-ib.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2015. CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS. Lei complementar nº 020/2015 de 22 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação. Disponível em < http://www.Planaltina de Goiás.go.leg.br/processo-legislativo/autografos/2015/020-pl-019-15-ib.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2015. INEP – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA . Dados do censo escolar (2014-2015). Disponível em < http://portal.inep.gov.br/basica-censo> Acesso em 20 de Novembro de 2015. MUNICIPIO DE FORMOSA, Secretaria Municipal DE Educação, Conselho Municipal de Educação. Resolução nº 001/2014, dispõe sobre a política de educação inclusiva no município de Formosa-GO. N.P, 2014. PACHECO, José. Berços da Desigualdade. In : GOMES, Mario (org.).Construindo Trilhas para Inclusão. 2.ed.Petrópolis,RJ:Vozes, 2012. PAROLIN, Isabel Cristina Hierro. Aprender e ensinar –Família e Escola: um Inclusão necessária. In : GOMES, Mario (org.).Construindo Trilhas para Inclusão. 2.ed.Petrópolis,RJ:Vozes, 2012. UNESCO (1994). Declaração de Salamanca e Linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 70 de 138
INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE DA VODKA CIROC NO VÍDEO CLIPE DA MÚSICA DICED PINAPPLES – RICK ROSS EM RELAÇÃO À INTENÇÃO DE
COMPRA DO CONSUMIDOR
Geórgia Tomazelli Menezes40 Resumo O presente artigo tem como objetivo apresentar resultados de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, no campo de Publicidade, na qual foi proposto analisar a influência da publicidade da vodka da marca Ciroc no vídeo clipe da música Diced Pinapples – Rick Ross em relação à intenção de compra do consumidor. Para tanto, o trabalho abordou temas como valor e status que estão agregados a marca de um produto, bem como, o endosso de celebridade. Segundo o autor Khatri (2006) é a celebridade empresar sua imagem para anunciar determinado produto ou serviço, trazendo credibilidade à marca, com a função de influenciar o público-alvo ao consumo de determinada marca. Desta forma, foi possível analisar que um produto como a vodka Ciroc, que apresenta alto valor agregado à sua marca, gera sim desejo e intenção de compra aos olhos do consumidor. Não só pelo produto em si, mas pelo meio em que está inserido. Palavras chave: Influência, Marca, Intenção de Compra. Abstract The present article aims to present results of a qualitative and quantitative research in the field of Advertising, in which it was proposed to analyze the influence of advertising of vodka Ciroc in the video clip Diced Pinapples - Rick Ross in relation to the intention to buy of the consumer. To do so, the work addressed topics such as value and status that are aggregated the brand of a product, as well as, celebrity endorsement. According to the author Khatri (2006) it is the celebrity to lend its image to announce a particular product or service, bringing credibility to the brand, with the function of influencing the target audience to the consumption of a certain brand. In this way, it was possible to analyze that a product like Ciroc vodka, which presents high added value to its brand, generates desire and purchase intention in the eyes of the consumer. Not only by the product itself, but by the medium in which it is inserted. Key Words: Influence, Brand, Intention to Purchase. Introdução
Atualmente, pode-se analisar que com o grande número de produtos do mesmo seguimento, as marcas vêm buscando formas de se destacar não só em relação a sua qualidade, mas sim em agregar valor a sua marca, e, por mais que tenha o custo mais elevado que seus concorrentes, ela ainda sim, seja a preferência nas escolhas de seu público alvo. Para que isso seja possível, são diversas as estratégias utilizadas pelas empresas para esse fim de persuadir o consumidor e influenciar sua decisão de compra. Este trabalho vem com a intenção de analisar uma dessas estratégias que hoje vem crescendo e tomando conta do mercado, que são as estratégias de publicidade e inserções em mídias, como televisão, internet, celulares, entre outros.
O foco principal do presente artigo é analisar as inserções de marcas feitas durante o vídeo
clipe escolhido. Tendo em vista que, os vídeos clipes são largamente utilizados para publicidade de diversas marcas, onde são inseridas no contexto do clipe, para que pareçam naturais e que não aparentem ser inserções pagas pelas marcas que estão ali sendo ofertadas para criarem a necessidade e o desejo no consumidor.
40 Especialista em Marketing, Propaganda e Vendas da Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel – UNIVEL.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 71 de 138
Neste sentido, o endosso por celebridade vem sendo utilizando como uma das estratégias
de comunicação empregadas por diversas marcas com a intenção de construir uma imagem congruente entre a marca e o consumidor. Diante disso, será analisado no decorrer do trabalho a eficiência e a eficácia desse tipo de publicidade para fortalecimento de marcas, e se ela realmente gera influencia em relação às escolhas e decisão de compra do consumidor. Fundamentação teórica Marketing e Comunicação Integrada de Marketing
Segundo os autores Kotler e Keller (2006), o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, suprindo as necessidades lucrativamente. Ou seja, seu objetivo é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. O marketing mix (ou o composto de marketing) foi popularizado por E. Jerome McCarthy e adotado pelos teóricos e pelo mercado como sendo os ‘’quatro pês’’ (produto, praça, preço e promoção) e é o conjunto de variáveis controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar as respostas dos consumidores (KOTLER, 1980 p.90 apud MORGADO; GONÇALVES, 1999 p. 61).
Para Kotler (2006), o conceito de Comunicação Integrada abrange a análise das funções estratégicas de cada atividade de comunicação, bem como sua integração contínua e permanente, somando esforços para que a mensagem seja concisa a e uniforme. Cada empresa deve coordenar e orientar seus canais de comunicação, com o objetivo claro de propagar uma única mensagem que seja coerente com seus princípios.
Segundo Santiago (2008) o papel fundamental da comunicação integrada de marketing é
ampliar a integração da marca e/ou produto com o mercado, tornando a comunicação mais eficaz. Sendo fundamental para a criação da consciência da marca, estabelecendo uma imagem positiva, baseada em sua identidade corporativa, representada por seus produtos, serviços, soluções e benefícios oferecido. Marcas e Valor e Status da Marca
Segundo Irigaray (2011) define a marca como a carteira de identidade do produto ou da empresa e, seguindo a tendência mundial de especialização, várias empresas escolhem lançar uma nova marca para entrar num mercado completamente distinto. Aaker (2001) define marca como, um nome ou símbolo diferenciado (como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem) destinado a identificar bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços em relação concorrentes. Assim uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto, e protege tanto, o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos semelhantes ou idênticos.
Segundo Jones (2004), o produto tem seu propósito funcional, enquanto isso, a marca é a junção do produto com o valor agregado, o que gera influência na escolha do consumidor. Os valores agregados surgem geralmente através do uso e da experiência que as pessoas têm com a marca, de sua publicidade e sua embalagem. Além disso, os valores agregados não estão imediatamente disponíveis para fabricantes de novas marcas, pois são construídos com o tempo. Para Tavares (2004), a marca atua na esfera mito-simbólica como um signo de linguagem e um totem, além de “contaminar” mentes com as suas ideias publicitárias e promocionais.
O autor ainda ressalta que, os fatores intangíveis como a imagem e o prestígio da marca, dificultam a competição e a cópia entre marcas, estabelecendo uma relação com seus clientes.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 72 de 138
Intenção de Compra
Como afirmam Kotler e Keller (2006) é preciso observar de forma constante o comportamento de compra do consumidor. “Mas que consumidor é este? Como as características pessoais influenciam o comportamento de compra? Que fatores psicológicos influenciam as respostas do comprador ao programa de marketing?”.
De acordo com Kotler (2000) existe um conjunto de fatores que influenciam o
comportamento de compra dos consumidores, que não podem ser controlados, porém são levados em consideração para a tomada de decisões. Para o autor, esses fatores são agrupados em quatro categorias: os fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e fatores psicológicos.
Endosso de Celebridade
O autor Khatri (2006) traz a teoria sobre o endosso de celebridade, que nada mais é que, a celebridade empresar sua imagem para anunciar determinado produto ou serviço, trazendo credibilidade à marca, com a função de influenciar o público-alvo ao consumo de determinada marca. Segundo Spry, Pappu e Cornwell (2011), o endosso de celebridade influencia a eficácia da publicidade, o reconhecimento da marca, o recall da marca, as intenções de compra e o comportamento de compra. Chao, Wührer e Werani (2005) complementa que, o uso adequado das celebridades endossantes pode ser extremamente eficaz na divulgação de produtos, trazendo maior confiabilidade a marca.
Em contra partida, o autor Shimp (2002) aponta também o lado negativo do endosso, onde
a celebridade pode afetar a imagem da marca através de sua trajetória de vida veiculada pela mídia ao longo de sua carreira. Metodologia
Para analisar o perfil dos participantes, foi utilizada primeiramente, a pesquisa quantitativa, que segundo o autor Hayati, Karami e Slee (2006), nada mais é que uma abordagem das ciências naturais, que demanda de uma realidade externa examinada de forma objetiva, pelas relações de causa e efeito, onde são aplicados métodos quantitativos de investigação, permitindo chegar em verdades universais. Seguindo a pesquisa qualitativa, o presente artigo se utilizou do estudo de caso, que para o autor Vogt (1993) é delimitado como a coleta e análise de dados sobre um modelo individual para definir fenômenos mais amplos. E posterior, a coleta de dados foi realizada a partir da entrevista em grupo, também conhecida como grupo focal. Ainda sobre esta ótica, Barbour (2009) define grupo focal como, entrevista de grupo, e vem sido utilizados na investigação com minorias étnicas, na projeção de metodologias em questionários culturalmente delicados e na formulação de questões de contextos relevantes. E para constatação e respostas dos questionamentos descritos, a técnica mais adequada para conclusão de objetivos é a análise dos dados, que segundo Campos (2004) é extremamente importante após a coleta de informações, sendo necessárias, leituras apuradas e discussões interpretativas criativas.
O perfil da população escolhido para analise do presente artigo são pessoas acima de 18
anos, que costumam frequentar barzinhos e baladas, ou seja, adeptos a vida noturna, e que costumam ingerir bebidas alcóolicas. Dentre essa população, amostra foi composta por 7 pessoas escolhidas de forma aleatória. Foi aplicado um questionário com 11 questões, dentre as questões, quatro são fechadas a fim de identificar o perfil do grupo analisado. O restante das questões são abertas, com a intenção de analisar o grau de percepção dos telespectadores em relação às inserções da vodka Ciroc durante o vídeo clipe. ¹Os dados quantitativos coletados foram referentes ao perfil da amostra foram tabulados e organizados em gráficos, e em seguida, as questões qualitativas foram analisadas separadamente, por cada entrevistado, e posterior a isso, as respostas foram analisadas novamente, porém, em conjunto.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 73 de 138
Levantamento das variáveis
As primeiras questões do questionário aplicado foram fechadas, para coletar dados demográficos a fim de analisar o perfil da amostra escolhida para a pesquisa.
Em relação ao perfil dos entrevistados, a primeira questão trata do gênero. Como mostra o
gráfico a seguir:
Gráfico 1 - Sexo Fonte: Geórgia Tomazelli Menezes (2016)
Onde três dos sete entrevistados eram mulheres, e quatro, eram homens. A segunda questão trazia qual a faixa etária média dessa população. Como mostra o gráfico a seguir:
Gráfico 2 - Idade Fonte: Geórgia Tomazelli Menezes (2016)
Em relação à faixa etária dos entrevistados, a maioria deles está na faixa entre 28 e 30 anos. A questão 3 questionava a formação acadêmica do grupo. Como mostra o gráfico a seguir:
Gráfico 3 - Formação Fonte: Geórgia Tomazelli Menezes (2016) Sobre a formação dos entrevistados, a maioria já possui graduação, e apenas 2 já possuem especialização. A última questão de perfil trata da renda mensal dos participantes, como mostra o gráfico 4.
Sexo
Masculin
o Feminino
Idade
18 a 23 anos
24 a 29 anos
30 a 35 anos
36 ou mais
Formação
Ensino
médio
Comp.
Graduação
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 74 de 138
Gráfico 4 - Renda Fonte: Geórgia Tomazelli Menezes (2016) Nenhum dos entrevistados ganha mensalmente apenas 1 salário mínimo. Grande parte dos entrevistados, ganha em média de 4 a 5 salários por mês, Dois dos entrevistados ganham entre 2 a 3 salários, e apenas um deles ganha acima de 6 salários mínimos por mês.
Como descrito anteriormente, o restante das questões trouxeram questões abertas, a fim de
entender melhor qual a percepção dos entrevistados e seus sentimentos em relação à publicidade inserida dentro do vídeo clipe analisado.
O primeiro quadro traz as respostas dadas por cada participante, sobre suas opiniões e
percepções a cerca do tema escolhido e aplicado através do questionário (Apêndice A). Na questão 5, foi perguntando aos participantes quantas vezes eles percebeu a vodka Ciroc
durante o vídeo clipe. O primeiro participante afirma que viu a garrafa de Ciroc umas 12 durante o clipe. O segundo participante, acha que 8 vezes. O terceiro responde que viu a marca 5 vezes no vídeo. O quarto entrevistado ficou em dúvida, mas respondeu que acha que viu a marca 3 vezes. O quinto entrevistado percebe a garrafa 4 vezes durante o clipe. O sexto entrevistado, mais observador, acredita ter visto a marca umas 18 ou 20 vezes. E o último entrevistado viu a garrada de Circo pelo menos umas 15 vezes durante a música.
A questão 6 questionava os entrevistados se a aparição da vodka Ciroc durante o vídeo
clipe, agregou valor e status a marca. O primeiro entrevistado afirma que sim, pois sabendo que os rappers possuem um grande poder aquisitivo além de ostentar seus bens nos clipes com certeza agrega valor a marca apresentada. Já o segundo entrevistado afirma ser indiferente, pois a marca Ciroc em si já possui status. O terceiro entrevistado, concordando com o primeiro, também afirma que sim, justificando que o dono da marca Ciroc é um rapper com certeza a ideia de apresentar a marca no clipe é totalmente válida.
O quarto entrevistado também afirma que sim, pois aparentemente os rappers no clipe
possuem alto poder aquisitivo, o que leva todos a crer que a vodka possui valor agregado. O quinto entrevistado diz que sim, pois a vodka é premium e com a aparição no clipe agrega ainda mais a marca. O sexto entrevistado acredita que com as inserções do clipe a vodka ganha valor agregado a marca, porém por si só, já possui status. E o último entrevistado também responde que sim, pois a marca já é rotulada como sinônimo de qualidade.
Na questão 7 foi perguntado se os participantes acreditam que a vodka Ciroc se encaixa no
contexto do vídeo clipe, e para essa pergunta os entrevistados trouxeram as seguintes respostas. O entrevistado número 1 diz que sim, pois durante o clipe os rappers disfrutam de coisas caras, além disso, aparecem em suas mansões em momentos de lazer. O segundo afirma que indiferente, pois poderiam estar bebendo vodka ou qualquer outro tipo de bebida. O participante número 3 acredita que sim, pois o clipe possui um contexto de casal desfrutando de suas riquezas e ostentando seus bens. O número 4 afirma que sim, pois durante o clipe aparecem diversas marcas de alto valor agregado. O quinto também diz que sim, pois o contexto do clipe é sobre um casal que está em conflito e é o que acontece quando ingere muita bebida alcóolicas. Ainda na sequência, o sexto
Renda
Até 1 salário
De 2 a 3
salários De 4 a 5
salários 6 ou mais
salários
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 75 de 138
participante afirma que sim, pois a aparição de vodka em vídeo clipe de rapper é muito comum. E o sétimo também diz que sim, por que pelo o que se recorda o nome da música “diced pineapples” significa cubos de abacaxi, e geralmente são utilizados em drinks com vodka.
A oitava pergunta do questionário tratava sobre a marca e as celebridades, perguntando se
eles acreditam que os rappers do clipe realmente consomem este produto. Nessa, apenas um dos participantes veio com resposta contrária ao grupo. O participante número 1 diz que sim, pois em vários clipes dos mesmos rappers aparecem a mesma marca de vodka. O 2 afirmou que sim, porém existem outras marcas de vodka mais caras e que provavelmente são consumidas por eles. O terceiro afirmou que sim também, pois pela grande quantidade de vezes que a vodka aparece, nos leva a entender que realmente consomem a Ciroc. O quarto participante falou que sim, afirmando que a vodka é muito boa. O quinto respondeu que sim, porque como disse antes a marca é de um rapper, então provavelmente eles consumam esse produto. O sexto entrevistado, afirma que não, pois pode se tratar apenas de um merchandising pago pela marca Ciroc. E o sétimo diz que sim, essa deve ser uma das marcas que eles consomem, pois seu poder aquisitivo é altíssimo, além de estarem ligados diretamente a vida noturna.
A questão de número 9 questiona se o grupo sentiu vontade de consumir a vodka Ciroc
após verem o clipe, e de forma mútua todos afirmaram que sim. O número 1 respondeu que claro, pois geralmente já consume a vodka e vendo no clipe gerou vontade. O número 2 falou que sim, pois a vodka com abacaxi como aparece no clipe é um drink bem saboroso. O terceiro disse que sim, quando tem a oportunidade de adquirir a um bom preço com certeza tomaria. O número 4 disse que sim, geralmente Ciroc é a preferencia quando toma destilados. O número 5 disse que sim pois da classe das vodkas ultra premium em sua opinião é a melhor. O sexto participante disse que sim, pois ficou muito atrativo o drink com a vodka durante o vídeo clipe. E o último também afirmou que sim, completando que com certeza seria uma excelente opção para este momento.
Na questão 10 o grupo foi questionado como consumidor, perguntando se trocariam a
marca de vodka que costumam consumir pela vodka Ciroc, o participante número 1 respondeu que quando pode consume a marca, porém ainda prefere optar por marcas um pouco mais baratas mas que não deixam a desejar em qualidade. O número 2 disse que vodka Ciroc é a vodka que geralmente consume. O participante número 3 respondeu que a vodka Ciroc é a vodka realmente já faz parte das minhas bebidas favoritas. O número 4 disse que não, pois ainda tem preferência por bebidas alcoólicas mais em conta. O quinto participante afirmou que preconiza a quantidade e não a qualidade, portanto não seria uma opção para seus finais de semana. O sexto participante também afirmou que sim, principalmente se for consumi-la em uma ocasião especial em que valha a pena comprar a marca. E o sétimo participante afirma que não, pois já tem sua preferência por marcas nacionais.
A última questão, de número 11, pergunta que os entrevistados acham que esse tipo de
publicidade pode gerar intenção de consumo no público alvo, e novamente todas as respostas foram positivas. O primeiro participante afirma que sim, pois vendo ao clipe ficou com vontade de comprar a vodka para tomar no final de semana. O participante 2 disse que claro, pois o público que gosta do estilo musical geralmente consome bebida alcóolicas e gosta de marcas caras. O número 3 diz que sim, pois os fãs dos rappers gostam de “segui-los” e terem um estilo de vida semelhante ao que mostram em seus clipes. O número 4 também disse que sim, pois o público alvo da vodka Ciroc possui alto poder aquisitivo, portanto a questão preço não é um problema. O número 5 afirmou que sim, porém o público alvo do clipe possui diversas opções de vodkas do mesmo padrão. O participante número 6 respondeu que talvez, pois acredita que o clipe gere vontade de consumir bebidas alcóolicas em geral e não exclusivamente da marca Ciroc. E por fim o sétimo participante que acredita que sim, tendo em vista que o publico alvo do clipe e da vodka geralmente são o mesmo, e consomem bebidas frequentemente, o que instiga e gera intenção de consumo pela marca Ciroc.
Para as referências, deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 10,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 76 de 138
espaçamento simples, prevendo 6 pontos depois de cada referência, exatamente conforme aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. As referências devem aparecer em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Todas as referências citadas no texto, e apenas estas, devem ser incluídas ao final, na seção Referências. Considerações finais
A partir da pesquisa realizada, pode-se concluir que, as marcas utilizarem dos meios artísticos para divulgarem suas marcas, são sim, extremamente eficazes e úteis para mostrar seu produto, despertar desejo e necessidade de consumo em seu público alvo, e, além disso, ainda agregar valor e status através do endosso de celebridade, utilizando do prestígio do artista para aumentar a credibilidade do seu produto.
A pesquisa respondeu todos os questionamentos abordados no presente artigo,
identificando o grau de percepção da marca pela amostra escolhida, que dentre as inúmeras inserções durante o vídeo clipe, a grande maioria pode ser notava pelos entrevistados, além disso, afirmando ainda que a vodka se encaixa no contexto do vídeo clipe sim, e que ainda, agrega valor e status a marca com propriedade.
Outro ponto importante analisado durante a pesquisa é a relação entre os artistas e a marca,
que se mostrou extremamente positiva perante o grupo, afirmando que os rappers realmente consomem a marca de vodka Ciroc, pois além de ser um produto de alta qualidade, ainda é um produto de um rapper famoso, trazendo assim, maior credibilidade a marca e a sua qualidade propriamente dita.
E a última das indagações ainda traziam a tona uma dos tópicos mais importantes do
trabalho, sobre o fato de a publicidade influenciar e gerar intenção de compra no público alvo do vídeo clipe, que trouxe com clareza as opiniões dos entrevistados a partir das questões qualitativas aplicadas, onde apontou que a publicidade utilizada influencia sim nas escolhas e no poder de compra do público, sendo eficaz e eficiente na hora de fidelizar a marca e fazer com que os consumidores optem pela marca Ciroc ao invés de outra de mesma classe. Referências AAKER, A. David. Administração estratégica de mercado. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. BARBOUR, Rosaline. Grupos Focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. CAMPOS, C. J. G. O método de Análise de Conteúdo: Ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm., 2004. GARCIA, Bruno Gaspar. Responsabilidade social nas empresas: a contribuição nas universidades. 3 ed. São Paulo: Peirópolis, 2004. GONÇALEZ, Márcio Carbaca. Publicidade e Propaganda. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009. HAYATI, D; KARAMI, E. & SLEE, B. Combining Qualitative and Quantitative Methods in the Measurement of Rural Poverty. Social Indicators Research, v.75, Springer, 2006. IRIGARAY, Hélio Arthur. Gestão de Desenvolvimento de Produtos e Marcas. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. JONES, John Philip. Publicidade na Construção de Grandes Marcas. São Paulo: Nobel, 2004. KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise, planejamento, implementação e controle. São Paulo: Atlas, 1998. KOTLER, P. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000. KOTLER, P; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. SANTIAGO, Marcelo Piragibe. Gestão de Marketing. Editora IESDE, 2008. TAVARES, Fred. Gestão de Marcas – Estratégia e Marketing. Rio de Janeiro: E-papers, 2004. SHIMP, Terence. Propaganda e promoção: aspectos complementares da comunicação integrada de marketing. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 77 de 138
SPRY, Amanda; PAPPU, Ravi; CORNWELL, T. Bettina. Celebrity Endorsement, Brand Credibility and Brand Equity. European Journal of Marketing, v. 45, n. 6, p. 882-909, 2011. TAVARES, Mauro Calixta. Gestão De Marcas: Construindo Marcas De Valor. São Paulo: Harbra, 2008. VOGT, W. P. Dictionary of Statistics and Methodology: A nontechnical guide for the social scientist. Newbury Park: Sage, 1993. KHATRI, Paul. Celebrity endorsement: a strategic promotion perspective. Indian Media Studies Journal, v. 1, n. 1, Jul.-Dec. 2006. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 78 de 138
SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE: AVALIAÇÃO ÁS FAMÍLIAS DE RECÉM-NASCIDOS
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Grasiani Souza Oliveira Sá41 Marlene Almeida de Ataíde42
Resumo O presente estudo discorre sobre a instrumentalidade do Assistente Social na avaliação da vulnerabilidade social de famílias de recém-nascidos em uma Maternidade do Sistema Único de Saúde na região norte da cidade de São Paulo. A pesquisa teve como objetivo identificar os desafios deste profissional diante da realização de avaliação social, considerando as fragilidades do Estado em fornecer assistência e políticas suficientes para garantir os direitos constitucionais. Desta forma, foram pontuados os desafios deste profissional para promover a manutenção dos vínculos entre recém-nascidos e suas famílias para garantir o direito a convivência familiar e comunitária. O método de abordagem foi realizado pela história oral ancorada no materialismo histórico dialético e teve como instrumento para a coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada, que foram audiogravadas e transcritas mediante autorização dos sujeitos participantes. Palavras-chave: Serviço Social. Avaliação de vulnerabilidade social. Direito à convivência familiar. Redes de assistência. Abstract The present study discusses the instrumentality of the Social worker in assessing the social vulnerability of families of newborns in a maternity health system in the North of the city of São Paulo. The research had as objective to identify the challenges of this professional on the realization of social assessment, considering the weakness of the State in providing assistance and adequate policies to ensure the constitutional rights. In this way, were punctuated the challenges of this professional to promote the maintenance of links The method of approach was conducted by oral history anchored in dialectical and historical materialism had as an instrument for data collection a semi-structured interview script, that were audio cassettes or videos and transcribed with the permission of the participants Keywords: Social Service. Instrumentality. Social vulnerability assessment. Right to family life. Service networks Introdução
A vulnerabilidade é resultado das expressões da questão social, objeto de trabalho do
profissional de Serviço Social. A vulnerabilidade relacionada às famílias de recém-nascidos está associada aos fatores que possam colocar em risco a segurança, os direitos dos sujeitos integrantes de uma família e seus vínculos de convivência e afetividade. Segundo Sierra e Mesquita (2006, p.150) “[...] vulnerabilidade não reflete uma questão de caos social ou desordem urbana, mas de interação que sinaliza para a questão do acesso aos serviços e dos relacionamentos”. Não obstante, a atribuição do assistente social no Sistema Único de Saúde (SUS) com famílias de Recém-Nascidos (RNs) em situação de vulnerabilidade está em garantir os direitos aos sujeitos que as compõem, utilizando-se da sua instrumentalidade profissional na efetivação dos direitos. De acordo com Guerra (2014. p. 26) “[...] a instrumentalidade é a capacidade de articularmos estratégias e táticas mais adequadas (ou não) aos objetivos que pretendemos alcançar”. Logo, abordaremos o tema para refletir sobre a prática profissional do assistente social para potencializar as famílias usuárias do
41 Assistente Social, Especialista em Neonatologia pelo Curso de Residência Multiprofissional daUniversidade Santo Amaro – Unisa - SP 42 Doutora em Serviço Social pela PUC-SP, orientadora da Monografia.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 79 de 138
serviço de saúde em uma maternidade e os desafios enfrentados para garantia de seus direitos, protagonismo, fortalecimento de vínculos e convivência familiar e comunitária como previsto na Lei 12.010/2010 (Lei de Convivência Familiar e Comunitária).
A pesquisa teve como objetivo identificar os desafios dos assistentes sociais na avaliação
social às famílias de RNs em situação de vulnerabilidade social, considerando as múltiplas expressões da questão social e as singularidades e particularidades das configurações familiares. A pesquisa foi na perspectiva qualitativa. O método de abordagem foi realizado pela história oral na perspectiva sociológica, ancorada no materialismo histórico. Serviço Social e Saúde: instrumentalidade na prática cotidiana
A instrumentalidade na praxe do assistente social concerne na capacidade de criar
estratégias para garantir a efetivação dos direitos, através de uma prática em consonância com o Projeto Ético-Político Profissional da categoria. Para uma atuação profissional que atinja a integralidade de um serviço, cuja importância se coloca a saúde como eixo central, torna-se necessário pleitear estratégias de atuação que minimizem as lacunas do sistema, propondo um trabalho interdisciplinar e em rede, para que os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde sejam alcançados de forma ampla e consistente e, por meio deste, garantir a integralidade, a equidade e a universalidade. Nesta perspectiva é possível compreender que a instrumentalidade, é parte de uma ação do profissional de Serviço Social nas relações sociais e não somente uma ferramenta padronizada. Ela requer uma iniciativa que garanta um atendimento completo e integral. Segundo Guerra (2014) o assistente social é um profissional que trabalha na implementação das políticas sociais, que são consideradas estratégias do Estado para o enfrentamento das lacunas deixadas pelo capital e também para garantir legitimidade do Estado. Desta forma,
[...] As políticas sociais constituem-se em estratégias de enfrentamento da crise do capital e servem ao Estado para garantir sua legitimidade perante as duas classes fundamentais: trabalhadores e capitalistas. Enquanto estratégia do Estado para promover o consenso e manter a forças de trabalho ocupadas e excedentes apta a ser inserida no mercado de trabalho, as políticas sociais escondem a contradição de que são resultado de luta e conquista dos trabalhadores. (GUERRA, 2014, p. 35)
Em meio as contradições das políticas sociais, estão os impactos que delas decorrem e
repercutem diretamente na atuação do profissional de Serviço Social, conferindo-os possibilidades e/ou limites no exercício de sua instrumentalidade.
Historicamente o Serviço Social sofreu influencias que marcaram sua atuação com uma
ideologia conservadora e atrelada aos preceitos religiosos. Atualmente, é reconhecido como uma profissão de nível superior, inscrita na divisão social e técnica do trabalho, regulamentada no Brasil pela Lei n. 8.662/93, de 07 de junho de 1993 e balizada pelo Código de Ética. Deste modo, o Serviço Social dispõe de dimensões técnico-operativas para compor o processo de trabalho dos assistentes sociais na sua intervenção que incide nas expressões da questão social, sofrida pela sociedade.
Logo, para o exercício da instrumentalidade, exige um profissional, com uma postura
crítica e propositiva, para garantir a integralidade do atendimento, reduzir as desigualdades e injustiças sociais, buscando a autonomia, o fortalecimento dos sujeitos e promovendo a ascensão da democracia.
Segundo Torres, (2007) é determinante que a atuação do profissional do Serviço Social, seja
em conformidade do que ele chama, de tendência ideológica da categoria, pois na sua visão:
[...] Dimensão interventiva é aquela em que se explicita não somente a construção, mas a efetivação das ações desenvolvidas pelo assistente social.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 80 de 138
Compreende intervenção propriamente dita, o conhecimento das tendências teórico metodológicas, a instrumentalidade, os instrumentos técnico-operativos e os do campo das habilidades, os componentes éticos e os componentes políticos, o conhecimento das condições objetivas de vida do usuário e o reconhecimento da realidade social e a dimensão investigativa: compreende a produção do conhecimento, a elaboração de pesquisas e os aspectos analíticos que dão suporte, qualificam e garantem a concretização da ação interventiva. Ambas – em complementaridade – favorecem a visibilidade do fazer profissional. São essas 36 dimensões que consolidam a coerência, a consistência teórica e argumentativa, e, para, além disso, são as formas concretas do agir profissional. Acrescenta-se que o exercício profissional realizado sob essa dupla dimensão amplia a discussão sobre a intervenção profissional, enfatizando a questão do compromisso e da competência; além de salientar a preocupação com o desenvolvimento teórico do Serviço Social. (TORRES, 2007, p.47-48)
Para tanto, faz-se necessário um olhar para a instrumentalidade do assistente social ao
acompanhamento de família em situação vulnerabilidade, no contexto de constituição familiar. Ao ingressar num Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia em um
Hospital Maternidade Escola do Sistema Único de Saúde da Zona Norte da Capital de São Paulo, iniciou-se uma busca a literatura do acervo bibliográfico que aborda as questões relativas às funções inerentes a profissão do assistente social, e poucas são as produções encontradas que tratam especificamente de Avaliações de Vulnerabilidade Social na área da saúde.
Em consulta aos registros de atendimentos realizados pela equipe de Serviço Social da
Maternidade, observou-se a crescente demanda de avaliações de vulnerabilidade social, no qual sustenta em seu bojo a desproteção das famílias atendidas e as múltiplas implicações nas dinâmicas familiares. Os caminhos da pesquisa
Esta pesquisa passou por apreciação e aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP)
da Universidade Santo Amaro (nº do Parecer: 1.473.299) e pela Instituição coparticipante (Número do Parecer: 1.497.058).
A pesquisa teve natureza qualitativa, para explorar e entender os desafios dados aos
profissionais de Serviço Social, em uma Maternidade, nas avaliações das famílias dos recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. De acordo com Martinelli (1999, p. 5) a pesquisa qualitativa é “[...] muito mais do que descrever um 39 objeto, busca-se conhecer trajetórias de vida, experiências sociais dos sujeitos”. A matriz teórica que norteou a pesquisa foi dada pelo materialismo histórico-dialético na qual possui sua perspectiva vinculada a concepção da realidade de mundo e de vida dos sujeitos. O método da pesquisa foi pautado pela história oral por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado. As narrativas foram gravadas transcritas e digitalizadas. Ao falar sobre técnicas de gravador e registro da informação viva, Queiroz (1991 p. 73) refere-se que, “[...] As técnicas que lidam com o relato oral foram as que mais atraíram a reflexão de especialista, havendo já alguns estudos sobre elas”.
Assim, a pesquisadora que colheu os depoimentos pessoais, percebeu a importância de
preservar a espontaneidade do relato, conforme afirma Queiroz, “[...] Por espontaneidade entende-se o que é feito por seu próprio impulso, em decorrência de um primeiro movimento, sem provocação acusada ou influência alheia.” (QUEIROZ, 1991, p. 82).
Foram entrevistados 3 (três) assistentes sociais com mais de 5 (cinco) anos de experiência
que atuam na maternidade e realizam avaliações dessas famílias em situação de vulnerabilidade social e que, com propriedade, puderam relatar as experiências e suas perspectivas longitudinais da
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 81 de 138
demanda e os desafios em potencializar essas famílias. A fim de garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa foram identificados como sujeito 1, sujeito 2 e sujeito 3.
A análise de dados obedeceu ao sistema qualitativo, considerando a fala dos sujeitos
participantes mantendo a descrição dos relatos e interpretação de experiências. “O processo de análise qualitativa está baseado em uma impregnação dos dados pelo
pesquisador, o que só tem condição de acontecer se ele interage completamente com esses dados, na sua integridade e repetidas vezes” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 61). Neste sistema, busca-se compreender os significados presentes na fala. Essa apreensão se dá a partir abordagem conceitual do entrevistador, trazendo à tona, por intermédio da fala, do relato oral, uma sistematização baseada na qualidade.
A análise partiu das experiências longitudinais vividas no cotidiano do profissional de
Serviço Social frente a sua instrumentalidade, materializada em intervenções a famílias em situação de vulnerabilidade, que vivem o momento de constituição familiar, na qual foi considerada a política de saúde pública em que se pressupõe integralidade, universalidade e a equidade do atendimento.
Partiu-se da premissa que o atual quadro sócio histórico não se reduz a um pano de fundo,
para que se permita protelar a discussão do agir profissional do assistente social, e para tanto foi imprescindível uma reflexão deste processo.
Tratou-se ainda do tema focando o contexto em que é produzida a questão social e suas
repercussões nas vidas das famílias em situação de vulnerabilidade social, com a perspectiva da chegada de um novo membro no seio familiar. E ainda a circunstância em que se dá a atuação do assistente social, chamado a avaliar a proteção dessa família, no período de 2 (dois) dias no parto normal a 3 (três) em parto cesariana e/ou durante internação do RN em Unidade Neonatal.
O cotidiano do assistente social em uma maternidade retrata a complexidade em garantir a
efetivação do tripé da Seguridade Social, quando nos referimos à família em situação de vulnerabilidade social.
Em casos mais extremos, a porta de entrada aos serviços de saúde é a Maternidade, nesses
casos, chegam sem pré-natal ou com raros atendimentos anteriores, é nesse contexto que se dá o processo denominado de Avaliação de Vulnerabilidade Social, que será um balizador de sua condição atual e de permanência com sua prole. Segundo afirma Volic (2006), além das condições de vida fora dos padrões básicos para sobrevivência e garantia da proteção aos seus filhos, existem falhas nas políticas públicas que dificulta o trabalho profissional do assistente social, e consequentemente o comprometimento da integralidade da saúde.
Sabendo disto, buscou-se entender de que maneira esta avaliação chega para o assistente
social, e conforme a narrativa têm-se que:
Hoje, o que é mais presente no Hospital, é vulnerabilidade ligada a uso abusivo de drogas, licitas e ilícitas. Mas também, a gente faz avaliações nos casos que tem suspeita de adoção irregular, doação de RN, Casos de vítimas de violência sexual, pacientes que tenham algum transtorno psiquiátrico, ou que tenha questões ligadas a renda também, falta de condições financeiras, [...] (Sujeito 1)
Logo as expressões da questão social vividas por essas famílias nos mostram o quanto os
frutos do capitalismo reservam desigualdades e sequelas que podem fragmentar os laços e vínculos das mesmas. Segundo Iamamoto a questão social expressa as desigualdades;
A questão social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 82 de 138
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 2010, p. 27)
Quando essas mães chegam para dar à luz e são identificadas possíveis situações que
colocam em risco a vida do bebê, que se desvelam através da vulnerabilidade pelo uso de drogas licitas ou ilícitas, questões de saúde mental, pessoas em situação de rua, demandas que expressam a questão social. Sabendo disto, buscou-se entender de que maneira esta avaliação chega para o assistente social, e, conforme a narrativa das profissionais pesquisadas tem-se que:
[...] as avaliações chegam ou por demanda de outros profissionais médica, de psicologia, enfermagem, fonoaudiologia da equipe multi como um todo, ou também por busca ativa dos profissionais do Serviço Social... Então a gente recebe uma solicitação destes outros profissionais, ou [...] em prontuário ou através das entrevistas de rotina dos setores, são percebidas algumas demandas que podem ser consideradas que as pacientes estejam em situação de vulnerabilidade. (Sujeito 1)
Verifica-se que seu discurso traz as adversidades sofridas por essas famílias, na qual expressa os desdobramentos da vida. “Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública, etc.” (IAMAMOTO, 1997, p.14).
Sarti reitera quando nos diz que,
Dentro dos referencias sociais e culturais de nossa época e de nossa sociedade, cada família terá uma versão de sua história, a qual dá significado à experiência vivida. Ou seja, trabalhar com família requer uma abertura para uma escuta, a fim de localizar os pontos de vulnerabilidade, mas também os recursos disponíveis. (SARTI, 2008, p. 26)
Essa peculiaridade de ótica ampliada, que percebe o sujeito como um ser social e dialético
possibilita ao assistente social esmerar-se com questões que situa a pessoa em um determinado grupo social, cultura, religiosidade, formas de organização próprias.
Por diversos momentos, os sujeitos entrevistados relatam que grande parte dessas mães e
famílias estão inseridas nas redes formais de assistência, mas que de alguma forma elas se tornam redes insuficientes, pois não se efetivam como suporte assistencial de proteção social. Vejamos as narrativas:
[...] Dificilmente, acho que são pouco casos. O que a gente percebe é que o primeiro contato, delas, assim, somente na área da saúde é aqui, o primeiro contato muitas vezes. Com serviço, digamos assim, no geral, no serviço público, acho que muitas vezes o primeiro contato é aqui. Pelo menos no período que eu trabalhei, acho que a gente evidenciava, assim. [...] Dependendo da quantidade de gestações, aí pode até ser que já passou por um serviço de assistência social, né, mas geralmente, acho que pelos menos na maioria dos casos, o primeiro contato na área da saúde é aqui[...], principalmente as situações mais críticas, assim, acho que o primeiro contato é, é aqui. (Sujeito 3)
Diante desta realidade percebemos os desafios do profissional de Serviço Social de criar estratégias profissionais e assegurar sua instrumentalidade para fortalecimento do Projeto Ético-Político Profissional, do Projeto da Reforma Sanitária e a ampliação das políticas públicas para garantir um atendimento integral e humanizado a toda e qualquer família, para que estas possam pleitear sua própria emancipação e autonomia. É preciso considerar atendimentos numa perspectiva transversalizadora e interdisciplinar.
É notório que a realidade ressalta as relações familiares, as políticas públicas insuficientes
ou inexistentes, principalmente na demanda de uso abusivo de drogas, e estas não possuem um
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 83 de 138
respaldo familiar acabam impossibilitados da convivência familiar, conforme destacam as entrevistadas.
Então, acho que esse é o grande desafio, [...] Na verdade a gente tem todo um legado, aí de políticas, né, de estatutos que influenciam, que favorece pra que essas mães fiquem com os filhos, pra que a gente possa fazer, cada vez mais. [...] é que na prática não acontece, [...] a questão da droga ela ta criminalizada, [...] então essa mãe já é caracterizada como impotente pra cuidar dessa criança. Quando na verdade isso não foi olhada lá traz, é nesse sentido que eu quero dizer, que todas essas ausências, da saúde, da educação na vida dessa mulher quando ela chega aqui, não é, não foi olhada, então aí a partir de agora a gente começa a caracterizar só a questão da droga como uma questão que ala não vai dar contar de cuidar de seus filhos, e ela não foi olhada lá traz [...]. (Sujeito 3)
O uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas se tornou uma questão de saúde pública,
principalmente quanto nos referimos à constituição familiar, pois retrata uma situação de vulnerabilidade que precede um risco em uma perspectiva coletiva, considerando toda a conjuntura familiar.
É sabido que nas gestantes, o resultado do uso de drogas psicoativas produz impactos na
vida do bebê e do núcleo familiar, pois segundo Kassada e alt. (2013, p. 468) “aumento de ocorrências sociais indesejáveis, como crises familiares, violências e internações hospitalares evitáveis” entre outras demandas sociais, que poderiam ser evitadas, e em decorrência da política inconsistente, trazem desfeixos dispendiosos e pouco positivo”.
De acordo com a Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de
Álcool e outras Drogas (2003) afirma que se faz necessário garantir atendimentos integralizado, com ações planejadas, pois,
A ausência de cuidados que atinge, de forma histórica e contínua, aqueles que sofrem de exclusão desigual pelos serviços de saúde, aponta para a necessidade da reversão de modelos assistenciais que não contemplem as reais necessidades de uma população, o que implica em disposição para atender igualmente ao direito de cada cidadão. Tal lógica também deve ser contemplada pelo planejamento de ações voltadas para a atenção integral às pessoas que consomem álcool e outras drogas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003 p.7)
Para tanto se busca entender se essa lógica de atendimento integralizado e questionou-se
no que diz respeito à existência de articulação do Setor de Serviço Social com as Redes de Assistência e como as profissionais visualizam essa rede em relação aos serviços prestados, e seus depoimentos retratam que,
O Serviço Social, tenta buscar diariamente essa rede, por que aqui no hospital os recursos que a gente tem são mínimos, a gente realmente tem que articular onde o paciente está no território [...] a gente [...] não faz esse encaminhamento por papel, a gente tenta ligar discutir o caso, encaminhar um relatório mínimo, para que a rede conheça um pouco da história e um pouco do trabalho que foi feito aqui no hospital. [...] O Serviço Social está numa equipe muito reduzida, isso acaba restringindo nossa ida a reuniões, encontros que facilitaria a articulação a essa rede de assistência à Saúde. (Sujeito 1)
Sua fala torna clara a fragmentação e desarticulação das Políticas Públicas que garantam o
apoio a essas famílias, o que é fundamental, independentemente do ciclo da vida: maternidade, infância, adolescência ou velhice. A promoção e integração na saúde, na assistência social, na educação, na habitação ou em qualquer outra política é essencial, para promover a emancipação e a autonomia.
No quesito que diz respeito ao tipo de responsabilidade dada pela instituição ao assistente
social nos casos de avaliação de vulnerabilidade, e enquanto profissionais avaliam tal questão asseverar que,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 84 de 138
Eu acho que... o Hospital ele não vê como se fosse uma avaliação social, fosse da equipe, de todos os profissionais, de um atendimento multi, eles acham que a gente é detentor da palavra final, detentor do poder.[...] Ao mesmo tempo que ele dá um poder enorme para gente,[...] eles não nos dão suporte pra isso. Então tem que dar conta onde todo mundo está se recuando [...] Eles querem que a gente corra pra poder liberar alta, liberar leito também. Eles dão um poder muito grande, mas eu não sei se é no sentido positivo, por que eu acho que não é, que uma forma de fugi da responsabilidade [...] (Sujeito 2)
A responsabilização da avaliação de vulnerabilidade dada ao assistente social evidencia, o
quão verticalizado é o atendimento no Sistema Único de Saúde nesta maternidade. Nota-se o desejo de viabilizar discussões para ampliar a ótica de atendimentos que reze por integralidade.
Embora notável a sobrecarga dada ao assistente social, pouco se fala em estudos e
discussões entre profissionais acerca da intersetorialidade, interdisciplinaridade e seu papel em um sistema público de saúde, onde a vulnerabilidade estabelece uma relação de permanência.
No tocante as redes de serviços mais utilizadas para assistência destas famílias, relata que,
Unidades básicas de saúde, por ser um equipamento mais próximo a casa, mais próximo ao território onde essa paciente mora, o CAPS ou CAPS AD, pra questão ou paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, ou paciente que faça uso abusivo de drogas, o Centro de Referência Assistência Social -CRAS, pra tentar inserir estas famílias em algum tipo de benefício ou pra que eles sejam acompanhados. O CREAS em situação onde já não tenha mais vínculo com família, Conselho Tutelar e Vara da Infância são os mais presentes. (Sujeito 1)
Seu discurso representa a clara evidencia de que embora exista equipamentos de apoio e de
atenção à Saúde, a execução das atividades não consegue atingir as necessidades reais da vulnerabilidade. São serviços que não estão em consonância com a integralidade do atendimento, com a dimensão política, social, econômica e cultural destas famílias, e, portanto, não conseguem alcançar a proposta de Rede de Apoio Social, para que estas famílias conquistem a autonomia, a dignidade e o protagonismos de suas vidas e de seus núcleos familiares.
Um dos problemas de grande relevância é o enfrentamento dessa vulnerabilidade
vivenciada pelas famílias que se encontram em situações de pobreza e sem intervenção pública, o que resulta muitas vezes na institucionalização de seus filhos, mesmos com todos aparatos legais disponíveis, a execução torna-se um grande desafio para todos os profissionais da saúde.
De acordo com o Manual Técnico do Pré-natal e Puerpério - Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo (2010, p.11) “É preciso potencializar os recursos humanos e materiais existentes [...] desenvolvimento econômico, social e humano de cada região, que terminam por conferir maior ou menor suporte às mulheres no momento da reprodução. ”
Pensando nisso levou-se a discorrer com estes profissionais se em suas percepções ocorreu
o aumento dos casos de avaliação e que tipo de estratégias foram utilizadas, e ainda, se possuem o gerenciamento destes dados de avaliações, e estes argumentaram que,
[...] Nos últimos anos houve sim um aumento nas solicitações de avaliação, se destacando as mães que fazem uso de drogas lícitas e ilícitas. A equipe se organizou e criou um grupo multiprofissional para se discutir sobre o tema, trazendo profissionais de outros equipamentos. No momento este grupo não está funcionando a alguns meses. Temos procurado palestras e cursos nas áreas de drogadição, que nos auxilie nos atendimentos. Inicialmente as avaliações eram realizadas pelos profissionais da internação, devido o aumento da demanda, agora a equipe de serviço social de todos os setores se revezam nos atendimentos de drogadição, as demais avaliações são realizadas pelos profissionais do setor. (Sujeito 2)
Diante da afirmativa concernente ao aumento de avaliações de vulnerabilidade, observou-se que na praxe do profissional, faz-se necessário potencializar a capacidade de utilização da instrumentalidade, celebrar o comprometimento Ético Político destes, e criar estratégias de
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 85 de 138
proteção de direitos que harmonize com a garantia e o fortalecimento dos vínculos, diante de situações de vulnerabilidade, que estreite os laços e também o protagonismo, político, social e cultural destas famílias e também o protagonismo, político, social e cultural destas famílias. Considerações Finais
A pesquisa possibilitou entender o cotidiano do profissional de Serviço Social na avaliação de vulnerabilidade vivenciada por famílias de recém-nascidos, evidenciando os desafios em materializar sua instrumentalidade diante desta caminhada quase solitária, com pouco ou nenhuma reciprocidade institucional.
O agir profissional dos assistentes sociais, diante de seus discursos, mostrou em sua maioria
orientada e norteada na perspectiva totalizante, através de uma leitura crítica e articulada com a análise do movimento histórico da sociedade brasileira, para enfrentar as demandas decorrentes de vulnerabilidades na sua mais ampla dimensão.
É notória a prática cotidiana em consonância com o projeto da Reforma Sanitária e com o
Projeto Ético Político Profissional, porém embora o espaço de estudo se trate de uma Maternidade Escola, nota-se a escassez de estudos sistemáticos sobre essa temática, o que se constata na pesquisa, não só interna, mas em nível nacional.
Acrescenta-se a essa realidade, a privação de políticas abrangentes à demanda abordada,
onde na maioria dos casos atendidos, mostrou-se necessários encaminhamentos ao Conselho Tutelar e/ ou Vara da Infância e Juventude. Isto remete às situações de extrema vulnerabilidade social e dificuldade de promover a emancipação em um período de 2 (dois) ou 3 (três) de internação, além de dispêndios de recursos contrários à proteção da família, regimentando apenas a proteção imediata ao recém-nascido, nos casos de institucionalização, desconsiderando a vulnerabilidade dos outros membros deste núcleo além de fragilizar os vínculos e laços afetivos.
Logo se propõe a viabilização de estudos interdisciplinares pleiteados pela Maternidade,
junto aos equipamentos de atenção à saúde, para discutir e sugerir atendimentos sistematizados, que alcancem as reais necessidades inerentes a vulnerabilidade e que possa garantir autonomia das famílias e minimizar ou extinguir o processo de avaliação.
Diante desta demanda os assistentes sociais, criaram estratégias como palestras, grupos de
discussões para promoção e melhorias acerca da demanda, principalmente demandas relacionadas ao uso abusivo de drogas. Pode-se destacar ainda que estas estratégias seguem com modesto apoio institucional.
Os profissionais também buscaram parcerias de outras categorias e apoio da rede externa,
com o propósito de se fortalecerem e garantirem a integralidade do atendimento em meio ao sucateamento das políticas públicas. Suas falas situaram uma realidade instigante a estudos e aprofundamentos quanto às lacunas deixadas pelas políticas públicas nas vidas destas famílias, que estão desprovidas de assistência que garanta sua emancipação, convivência familiar e a promoção da saúde.
Também indicou a necessidade de atendimento com dimensão multidimensional, para
alcançar atenção integral à saúde em todos os ciclos de suas vidas, pois se observou que em muitos casos o momento de constituição familiar se torna a primeira oportunidade dessa família ser assistida, inviabilizando a devida promoção ou eventualmente recuperação da saúde na mais ampla perspectiva, ferindo a sumula da Constituição Federal no que se refere à saúde.
Destaca-se ainda, que a família mesmo estando em situação de vulnerabilidade, ainda
permanece com a maior responsabilidade pelo desenvolvimento de seus membros, contando com uma rede de proteção fragmentada e insuficiente, que dificulta seu fortalecimento e protagonismo
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 86 de 138
social. Os discursos elucidaram uma realidade que assola as avaliações de vulnerabilidade, na qual as famílias estão destituídas de proteção e incapazes de romper com as desigualdades, pobreza e consequentemente vulnerabilidades vividas e sentidas.
Nas vulnerabilidades vividas pelas famílias estão intrínsecas as relações que são
estabelecidas ou não nos equipamentos e serviços de proteção social e de saúde. As peculiaridades entre os vários aspectos que fazem parte das realidades vividas pelas famílias ensejam políticas potentes que atinjam a integralidade, e articulem com a educação, emprego, renda, saúde, habitação e assistência social. Fazem-se indispensáveis políticas públicas comprometidas com a justiça social, a cidadania e concessão distributiva dos recursos sociais para maior proteção e emancipação das famílias.
É de extrema importância a ampliação de políticas públicas que rezem por atenção
maximizadas às famílias e não ao indivíduo, políticas que respeite a dinâmica familiar, a relação construída do indivíduo com esta, considerando a perspectiva socioeconômica, cultural, psicológica, e até na forma de proteção ofertada pelas famílias aos seus membros.
Em suma, observou-se que o assistente social, diante do aumento da demanda, da
complexidade dos atendimentos e da redução da equipe de Serviço Social, acaba se atendo ao que Netto (1990) denomina de execução terminal da política. Suas falas destacam claramente a exaustão que permeia este processo avaliação, o quanto a reflexão, o planejamento e a organização, numa demanda que cresce vertiginosamente na contramão das políticas, que se apresentam fragmentadas.
Frente a esse panorama, observa-se o distanciamento do Poder Público, frente às
demandas de vulnerabilidade social das famílias, destacando o sucateamento dos serviços, com redução do número de profissionais que se vêem limitados a práticas institucionalizadas.
Deste modo as políticas sociais se fragmentam e depauperam os gastos e investimentos
governamentais na área de proteção as famílias, e abre espaço para expansão de políticas neoliberais, que segmenta o aprofundamento do quadro de desigualdade entre as classes, na quais ratificam as vulnerabilidades já estabelecidas nestas famílias e fragilizam os vínculos relacionais e afetivos de seus membros, segregando gradualmente estas famílias. Referências BRASIL, LEI nº 12.010/2009, 03 de agosto de 2009. Dispõe sobre o Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 2009, Brasília. BRASIL. LEI no 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. 1993, Brasília. BRASIL. LEI nº 12.010/2009, 03 de agosto de 2009. Dispõe sobre o Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 2009, Brasília. BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: documento para discussão. Secretaria de Políticas de Saúde, nov.- dez., Brasília, 2002. BRASIL, Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de álcool e outras drogas. Brasília, 2003. Código de ética do/a assistente social. 10ª. Edição. rev. e atual. Brasília, Conselho Federal de Serviço Social, 2012. <http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf> Acesso em: 20 de maio de 2016. GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez, 2005. IAMAMOTO, Marilda Vilela. Projeto Profissional, espaços ocupacionais e trabalho do Assistente Social na atualidade. In: CFESS. Atribuições privativas do Assistente Social em Questão. Brasília: CFESS, 2002 IAMAMOTO, Marilda Vilela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 19. Ed. – São Paulo, Cortez, 2010.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 87 de 138
SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Planejamento em Saúde. Acessória Técnica em Saúde da Mulher. Atenção à gestante e a puérpera no SUS- SP: Manual Técnico do pré-natal e puerpério. São Paulo: SES/SP, 2010. SIERRA, Vânia Morales; Mesquita, Wania Amélia. Vulnerabilidade e Fatores de Risco na Vida de Crianças e Adolescentes. São Paulo em Perspectiva, v,20, n.1, p.148-145 jan./mar.2006. KASSADA DS, Marcon SS, Pagliarini MA, Rossi RM. Prevalência do uso de drogas de abuso por gestantes. Acta Paulista de Enfermagem. vol.26 no.5 São Paulo.2013. Disponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002013000500010 > Acesso em: 13 de agosto 2016. MARTINELLI, M. L. Seminário sobre metodologias qualitativas de pesquisa. In: MARTINELLI, Maria Lúcia. (Org.). Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São Paulo: Veras, 1999. Série (Núcleo de Pesquisa; 1). MEIHY, José Carlos Sebe. Manual de história oral. São Paulo: Loyola, 2002. QUEIROZ, M. I. de. Variações sobre a técnica do gravador no registro da informação viva. Biblioteca Básica das Ciências Sociais. Série 2. Textos. v. 7. São Paulo, 1991. ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto; ARNOLDI, Marlene Aparecida Gonzalez Colombo. A entrevista na pesquisa qualitativa. Mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. Disponível em: <file:///C:/Users/hmec/Downloads/nota_de_aula_an%C3%A1lise_e_interpreta%C3%A7%C3%A3o_de_dados.pdf>. Acesso em: 24 de novembro de 2015. SARTI, C. A. Famílias Enredadas. In: ACOSTA, A. R.; VITALE, M. A. F. (Orgs.). Família: redes, laços e políticas públicas. 4. ed. São Paulo: Cortez; Instituto de Estudos Especiais – PUC/SP, 2008. TORRES, Mabel Mascarenhas - Atribuições privativas presentes no exercício profissional do assistente social: uma contribuição para o debate. Online Libertas, Revista do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Juiz de Fora - MG. Disponível em: <http://arquivos.mppb.mp.br/psicosocial/servico_social/atribuicoes.pdf>Acesso em: 26 de agosto de 2015. VOLIC, Catarina. A Preservação dos Vínculos Familiares: Um estudo em abrigo.2006. 108 f. Dissertação em Mestrado. PUC/SP. São Paulo, 2006. YAZBEK, Maria Carmelita. Os fundamentos históricos e teóricos-metodológicos do serviço social brasileiro na contemporaneidade. In: CFESS; ABEPSS. SERVIÇO SOCIAL: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: DF. CFESS/ABEPSS, 2009 Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 88 de 138
OS SIGNIFICADOS DO FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS NA PERCEPÇÃO
DE SEUS PRATICANTES
Hugo Norberto Krug43 Cassiano Telles44
Rodrigo de Rosso Krug45 Resumo Este estudo teve como objetivo compreender os significados que homens que se encontram na velhice atribuem à prática do futebol de campo de veteranos na cidade de Santa Maria (RS). Caracterizamos a pesquisa como qualitativa descritiva do tipo estudo de caso. O instrumento para a coleta de informações foi uma entrevista, tendo a interpretação por meio da análise de conteúdo. Participaram do estudo vinte e cinco futebolistas de uma equipe de futebol de veteranos da categoria sessenta anos participantes da 28ª Copa Amizade de Futebol de Veteranos. Concluímos que os futebolistas estudados possuem, de forma geral, uma percepção da prática do futebol como uma forma de lazer e de manutenção da saúde. Palavras-chave: Futebol de Campo. Veteranos. Significados. Abstract This study was with aim to understand the meanings that men who that meet in senescence attribute to the practice of veteran soccer in the city of Santa Maria (RS). We characterize the research as qualitative descriptive of the case study type. The instrument for the collection of information was an interview, having the interpretation through content analysis. Particple os study twenty-five football players from a veterans soccer team of the sixty-year age category participating in the 28th Friendship Cup of Veteran Soccer. We conclude that the players studied they have, generally, a perception of the practice of soccer as a form of leisure and of the health maintenance. Keywords: Soccer. Veterans. Meanings. Considerações introdutórias
De acordo com Silveira e Rosa (2010) o aumento da expectativa de vida no Brasil proporcionou maior visibilidade à população que se encontra na velhice.
É possível dizer que os velhos assumiram novas características, a maioria desses, atualmente não fica somente em casa, ou isolados, basta analisarmos ao nosso redor, e perceber que esses indivíduos estão presentes em praticamente todos os locais, pelas ruas, nas praças, nos espaços públicos em geral e em grupos destinados a tal público (SILVEIRA; ROSA, 2010, p.58).
Neste contexto, facilmente podemos verificar na literatura especializada que o esporte é
uma forma de vivenciar a velhice (STIGGER, 1997; SILVEIRA; STIGGER, 2007; SILVA, 2009; SILVEIRA; ROSA, 2010; GHIGGI, 2010; PEREIRA NETO; MENEGHELLO, 2012; GHIGGI, 2012). Segundo Stigger (2002, p.213), “[a] prática do esporte aparece como mais uma entre outras maneiras de expressar o estilo de vida, que está, assim, relacionado com as escolhas que as pessoas podem fazer dentro de um universo sempre limitado de escolhas”.
43 Doutor em Educação (UNICAMP/UFSM); Doutor em Ciência do Movimento Humano (UFSM); Professor Aposentado da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); [email protected]. 44 Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); [email protected]. 45 Doutor em Ciências Médicas (UFSC); Professor da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ); [email protected].
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 89 de 138
Entretanto, nas diversas possibilidades de prática do esporte, Giulianotti (2002) destaca que
não há outra forma de cultura popular tão arrebatadora quanto o futebol. Possivelmente, em parte, pela simplicidade do jogo e pela praticidade estrutural, mas certamente não apenas isso. A prática do futebol foi apreendida e reconstruída por diferentes culturas, produzindo significados próprios em cada uma delas.
Conforme Ghiggi (2010), no Brasil, popularmente denominado ‘país do futebol’, a prática espetacularizada do futebol toma conta do cenário e aparenta ser a principal forma de se praticar esse esporte. Contudo, a autora destaca que generalizar todas as práticas do futebol a esta forma restringe as outras expressões desta prática. Assim, essa autora compartilha a ideia de que
existem formas diversificadas de futebol para além dessa hegemônica, como a prática do futebol comunitário. Este tem em sua denominação a tarefa de acomodar, entre outras, a riqueza cultural do futebol de veteranos e todas as significações que estão envolvidas nas práticas deste grupo. Práticas estas que podem estar entre as opções de lazer das pessoas e envolver relevantes relações sociais e culturais (GHIGGI, 2010, p.205-206).
Desta forma, o foco central do estudo foi o futebol de veteranos. Para isso nos aproximamos das características elaboradas por Damo (2005), referentes ao futebol comunitário, pois este trata, nesta rubrica, dos futebóis de várzea, amador e veterano. Já Pereira Neto e Meneghello (2012) colocam que o futebol comunitário também é chamado de futebol amador, sendo mais conhecido, na maioria das cidades brasileiras, como futebol de várzea. Damo (2003) diz que no futebol amador há a presença de quase todos os componentes do futebol profissional, porém diferindo em escala.
De acordo com Ghiggi (2012), alguns estudos realizados em cidades como Rio Grande-RS, Pelotas-RS, Porto Alegre-RS e São Paulo-SP mostram que o futebol de várzea continua a ser importante opção de lazer das classes populares.
Neste sentido, no presente estudo, tratamos especificamente do futebol de várzea ou amador, na categoria veteranos, considerando-o um futebol praticado como lazer que, segundo Damo (2005), geralmente tende a ser ignorado pelos grandes veículos midiáticos e também pelo poder público, que continua permitindo a destruição de campos de futebol que servem como espaço de lazer. Contudo, conforme Ghiggi (2012), diversos estudos indicam que o futebol de várzea (de lazer) resiste, modifica-se e está longe de acabar.
Ao tratarmos do futebol de veteranos citamos Ghiggi (2012) que diz que futebol de veteranos é um termo utilizado em diferentes regiões do Brasil para definir a prática do futebol por sujeitos que já alcançaram uma faixa etária significativamente elevada quando comparada à idade que predomina no futebol profissional.
Silva (2009) classifica internamente as equipes amadoras em torno de categorias e semelhante ao que acontece no futebol profissional, mas com algumas especificidades. A categoria veteranos é um grupo específico para aqueles que ‘já passaram da idade’ ao que seria o ideal do futebol profissional. Pode ser dividido em outras categorias de acordo com as faixas etárias, que delimitam geralmente a idade mínima: trinta e cinco, quarentão, cinquentão e sessenta anos.
Neste contexto do futebol de veteranos voltamos olhares para a categoria de sessenta anos, já que esta faixa etária, segundo Luizari (2006), corresponde à idade da velhice e esse fato causa certa curiosidade, ou seja, qual é o significado que homens que se encontram na velhice atribuem à prática do futebol de campo de veteranos na cidade de Santa Maria (RS)? A partir desta indagação delineamos o objetivo geral do estudo como sendo: compreender os significados que homens que se encontram na velhice atribuem à prática do futebol de campo de veteranos na cidade de Santa Maria (RS).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 90 de 138
Justificamos a realização deste estudo acreditando que pesquisas desta natureza ofereçam
subsídios para reflexões que podem possibilitar o desenvolvimento de iniciativas, nos mais diversos municípios deste imenso Brasil, para a realização de eventos de lazer deste tipo, beneficiando assim pessoas de uma determinada faixa etária mais elevada, para um estilo de vida ativo mediante a prática do futebol. Procedimentos metodológicos
Caracterizamos os procedimentos metodológicos deste estudo como uma pesquisa
qualitativa, descritiva do tipo estudo de caso. Segundo André (2005, p.47) a pesquisa qualitativa tem como preocupação “[...] o mundo dos sujeitos, os significados que atribuem às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de interações sociais”. Conforme Triviños (1987, p.110) “[o] estudo descritivo pretende pesquisar com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Para Ponte (2006) o estudo de caso é uma investigação sobre uma situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de certo fenômeno de interesse.
O instrumento de pesquisa utilizado para coletar as informações foi uma entrevista, sendo
que a interpretação das informações coletadas foi realizada mediante procedimentos básicos de análise de conteúdo, como a leitura flutuante, o agrupamento de respostas e a categorização (TURATO, 2003).
Participaram do estudo vinte e cinco (25) jogadores de futebol de campo de veteranos 60
anos da Associação Fighera que disputaram a 28ª Copa Amizade, organizada pela Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria-RS (AFUVESMA), realizada no 2º semestre de 2015. A escolha dos participantes se deu por conveniência, pois embora existissem diversas equipes/times de veteranos nesta categoria (doze), optamos estrategicamente por investigar a Associação Fighera porque a mesma foi à equipe campeã.
Convém ressaltar que as ‘idades dos colaboradores do estudo variaram de 60 a 67
anos’. Nesse sentido, citamos Luizari (2006) que diz que a vida é composta de ciclos (fases) e esses estão relacionados, geralmente, às mudanças pelas quais às pessoas passam. Assim, cada ciclo de vida tem suas próprias características, mas é necessário frizar que nenhum é mais importante que outro, pois cada ciclo de vida é influenciado pelo que ocorreu antes e irá afetar o que verá depois. Dessa forma, de acordo com a classificação de Sears e Feldman (apud LUIZARI, 2006) dos ciclos de vida, a idade da velhice (o ciclo que interessa a este estudo), é aquela que contabiliza mais de 60 anos. A velhice é permeada por muitos problemas que devem ser enfrentados, pois é nessa etapa da vida que ocorrem grandes perdas, por exemplo, a memória e a capacidade física que entram em declínio, a depressão pode ocorrer devido à perda de conhecidos e familiares, além da iminência da própria morte. A velhice pode ser uma fase muito vivida e que a produtividade – remunerada ou não - e a prática de atividades físicas proporcionam às pessoas melhor qualidade de vida, ou seja, o estilo de vida influencia na maneira como às pessoas podem e efetivamente vivem os últimos anos de suas vidas. Os resultados e as discussões
Os resultados e as discussões deste estudo foram orientados e explicitados a partir do seu objetivo geral, pois esse representou a única categoria de análise existente, fato esse em concordância com o afirmado por Minayo; Deslandes e Gomes (2007) de que a(s) categoria(s) de análise pode(m) ser gerada(s) previamente à pesquisa de campo.
Considerando então o objetivo geral como a única categoria de análise deste estudo, após a
análise das informações coletadas emergiram ‘sete unidades de significados’. Segundo Molina Neto (2004) unidades de significados são como enunciados dos discursos do informante que são significativos tanto para o colaborador (pesquisado) como para o pesquisador, sendo atribuídos aos
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 91 de 138
pressupostos teóricos da pesquisa. E, nesse sentido, as unidades de significados foram descritas a seguir.
A primeira e principal unidade de significado manifestada foi ‘o futebol como um
sentimento de alegria e de prazer’, isto é, o gostar de jogar, de participar (vinte citações). Convém lembrar que, segundo Luft (2000), alegria é um estado de satisfação extrema, um sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Já prazer é uma sensação que normalmente está relacionada à satisfação de um desejo, vontade e/ou necessidade que causa contentamento ou alegria. Nesse sentido, alegria e prazer são sinônimos. Entretanto, a respeito dessa unidade de significado mencionamos Martins Júnior (2002) que afirma que a prática esportiva é proporcional à necessidade e ao prazer que dela advém. Um indivíduo normal não continuará a praticar esportes se não sentir prazer e alegria. Poderá inclusive, inibir-se, provocando uma reação negativa adversa ao esporte praticado. Assim sendo, quando a satisfação e a diversão só se obtém ao vencer os seus confrontos, muitos indivíduos desmotivam-se porque no esporte há sempre muito mais perdedores do que ganhadores. É por este motivo que, para o homem normal, a experiência importante no esporte não está no resultado final, mas, sim, na sua participação. Conforme Silva (2009) a motivação para a prática emerge, no futebol amador, no amor pelo mesmo. Assim, na categoria veteranos, o interesse do indivíduo está ligado ao prazer do jogo.
Outra unidade de significado manifestada, a segunda, foi ‘o futebol como busca de
emoção’ (quinze citações). Segundo Luft (2000) emoção é uma reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos, que se tem diante de algum fato, situação, notícia, fazendo com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, através de alterações respiratórias, circulatórias. Emoção é sinônimo de abalo, surpresa, comoção, susto. Dessa forma, sobre essa unidade de significado citamos Silva (2009) que coloca que a emoção é um dos elementos significantes do futebol amador. Adjetivos como emocionante e empolgante definem uma série de sensações presentes no contexto geral da prática deste futebol, tanto no jogo, onde teríamos um equilíbrio de tensão que como afirmam Elias e Dunning (1985), promovem uma excitação agradável, quanto na festa (celebração após o jogo), onde outros comentários são celebrados, tais como: o reconhecimento da qualidade da equipe e dos jogadores independentemente da vitória, estabelecimento de novas e reforço de antigas relações sociais, etc.
‘O futebol como uma diversão’ (quatorze citações) foi a terceira unidade de significado
manifestada. É importante destacar que, para Luft (2000), a diversão é a ação ou efeito de divertir ou de se divertir, é um passatempo, isto é, o que distrai, diverte. Diversão é sinônimo de passatempo, entretenimento, divertimento, distração. E, nesse direcionamento de conceituação citamos Silva (2009) que ressalta que o futebol amador fortalece também a ideia de diversão que aparece como uma contraposição à ideia de revelação de atletas.
A quarta unidade de significado manifestada foi ‘o futebol como uma oportunidade de
fazer amizades’ (dez citações). Segundo Luft (2000) amizade é uma afeição, estima, uma dedicação recíproca. Dessa maneira, a respeito dessa unidade de significado nos reportamos a Silva (2009) que afirma que o futebol amador trás como um dos significados a amizade. Esse significado se relaciona à possibilidade de conhecer outras pessoas. Assim, na categoria veteranos, o interesse do indivíduo pode estar ligado à relação com outras pessoas.
‘O futebol como uma forma de manter a saúde’ (nove citações) foi a quinta unidade de
significado manifestada. Convém destacar que, para Luft (2000), saúde é o estado do que é são, está normal, é um estado habitual de equilíbrio do organismo. Saúde é sinônimo de força, robustez, vigor. Nesse sentido de significado citamos Sá Lima (2017) que coloca que a saúde depende de comportamentos individuais e também de aspectos de dimensão coletiva, sendo, neste último caso, uma questão intimamente ligada às políticas públicas.
Também outra unidade de significado manifestada, a sexta, foi ‘o futebol como uma
possibilidade de festa’ (sete citações). Conforme Luft (2000) festa é uma solenidade,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 92 de 138
comemoração, cerimônia em regozijo por qualquer fato ou data. Assim, no sentido dessa conceituação citamos Silva (2009) que afirma que a festa é um dos momentos que não pode faltar no futebol amador, sendo, por vezes, o fato mais esperado pelos jogadores e seus acompanhantes.
A sétima e última unidade de significado manifestada foi ‘o futebol como forma de
competição, ganhar, ser campeão’ (três citações). Segundo Luft (2000) competição é uma disputa ou concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória ou, simplesmente, superar quem os desafiam. Ganhar significa vencer, alcançar vantagem, sucesso numa competição. Vitória é a ação ou efeito de vencer, é sucesso, êxito ou vantagem alcançada. Campeão é ser vencedor de uma competição esportiva. Dessa forma, quanto à essa unidade de significado nos reportamos a Stigger (1997) que diz que para os jogadores envolvidos na realidade do futebol de várzea, a motivação e o interesse pode ser comparado ao futebol profissional, onde vencer é importante.
Ao realizarmos uma análise geral, relativamente às percepções dos futebolistas estudados,
verificamos um rol de ‘sete unidades de significados’, sendo que seis (primeira, segunda, terceira, quarta, sexta e sétima) estão relacionadas ‘ao futebol como uma prática de lazer’ e uma única (quinta) relacionada ‘ao futebol como uma atividade física atrelada ao cuidado com a saúde’.
Assim, ao efetuarmos uma aproximação entre o futebol de veteranos e o lazer, sentimos a
necessidade de uma conceituação de lazer. Para Luft (2000) lazer significa divertimento, atividade agradável praticada num momento de descanso ou de entretenimento. Seus sinônimos são: passatempo, divertimento, descanso, folga, ócio, ocasião. E, nesse direcionamento de conceito citamos Silva (2009) que destaca que no futebol amador existe um compromisso com o divertimento, a diversão, com isso permitindo relações mais frouxas que deixam ao bel prazer do indivíduo a escolha da participação e engajamento nesta prática. Dessa forma, segundo Silva (2009), o futebol amador é situado como uma prática de lazer. Ainda para reafirmar a aproximação entre o futebol e o lazer citamos Elias e Dunning (1985) que dizem que as atividades de lazer caracterizam-se principalmente por serem atividades em que os sujeitos (agentes) possuem um grau maior de autonomia e uma maior possibilidade de livre-arbítrio para deliberar sobre elas. Já Ghiggi (2012, p.28) coloca que atividades de lazer são:
aqueles momentos em que o indivíduo tem a si mesmo como principal referência na sua realização, ou seja, em que os comportamentos dele estão menos restritos a uma formatação do ambiente, não há exigências estipuladas, e normalizadoras de um único tempo-espaço. Dentre as diferentes formas de lazer existentes, em muitas delas, a presença ou não de uma ou mais equipes/grupos é fundamental como em uma competição de futebol, por exemplo.
Para Ghiggi (2012) a competição como uma dentre as possibilidades de lazer tem duas possibilidades sobre o seu entendimento. Uma de superação do entendimento de lazer como um relaxamento de tensões diárias, e outra como uma agradável tensão-excitação, responsável por proporcionar uma sensação de satisfação no lazer.
Desta forma, a partir destas premissas colocadas justificamos a ocorrência das seis unidades de significados que se aproximam ‘ao futebol como uma prática de lazer’.
Já a ocorrência de uma unidade de significado que se aproxima ‘ao futebol como uma atividade física atrelada ao cuidado com a saúde’, nos fundamentamos em Ghiggi (2012) que afirma que, para os veteranos, a presença do futebol em suas vidas possui dois significados: como prática de atividade física relacionada à saúde e como forma de lazer.
Neste sentido, podemos inferir que os futebolistas estudados possuem, de forma geral, uma
‘percepção da prática do futebol como uma forma de lazer e de manutenção da saúde’.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 93 de 138
Considerações transitórias
Pela análise das informações obtidas por meio das entrevistas constatamos a existência de
sete significados para o futebol de campo de veteranos da categoria 60 anos. Foram eles: 1) ‘o futebol como um sentimento de alegria e de prazer’; 2) ‘o futebol como busca de emoções’; 3) ‘o futebol como uma diversão’; 4) ‘o futebol como uma oportunidade de fazer amizades’; 5) ‘o futebol como uma forma de manter a saúde’; 6) ‘o futebol como uma possibilidade de festa’; e, 7) ‘o futebol como forma de competição, ganhar, ser campeão’. A partir destas constatações concluímos que os futebolistas estudados possuem, de forma geral, uma percepção da prática do futebol como uma forma de lazer e de manutenção da saúde.
Para finalizar, destacamos que é preciso considerar que este estudo fundamentou-se nas especificidades e nos contextos de um grupo de futebolistas veteranos em específico e que por isso não pode ser generalizado os seus achados. Referências ANDRÉ, M.E.D.A. Estudo de caso em pesquisa e em avaliação educacional. Brasília: LiberLivro, 2005. DAMO, A.S. Monopólio estético e diversidade configuracional no futebol brasileiro. Revista Movimento, n.2, p.1-10, 2003. DAMO, A.S. Do dom à profissão: uma etnografia do futebol de espetáculo a partir da formação de jogadores no Brasil e na França, 2005. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – UFRGS, Porto Alegre, 2005. ELIAS, N.; DUNNING, E. A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1985. GIULIANOTTI, R. Sociologia do futebol: dimensões históricas e socioculturais do esporte. São Paulo: Nova Alexandria, 2002. GHIGGI, M.V. A bola rola campo a fora: um estudo sobre as significações do futebol de veteranos como prática de lazer. Revista Didática Sistêmica, Edição Especial, p.205-209, 2010. GHIGGI, M.V. Liga de veteranos do Rio Grande: formas de lazer e singularidades futebolísticas, 2012. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – UFPel, Pelotas, 2012. LUFT, C.P. MiniDicionário Luft. São Paulo: Ática/Scipione, 2000. LUIZARI, D.C.M. Estudo dos ciclos de vida e de carreira, inclinação profissional e crenças pessoais, 2006. Dissertação (Mestrado em Gestão e Desenvolvimento REGIONAL) – UFPI, Terezina, 2012. MARTINS JÚNIOR, J. A Educação Física Escolar. In: SHIGUNOV, V.; SHIGUNOV NETO, A. (Orgs.). Educação Física: conhecimento teórico x prática pedagógica. Porto Alegre: Mediação, 2002. MINAYO, C.; DESLANDES, S.; GOMES, R. (Orgs.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2007. MOLINA NETO, V. Etnografia: uma opção metodológica para alguns problemas e investigação no âmbito da Educação Física. In: MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, A.N.S. (Orgs.). A pesquisa qualitativa em Educação Física: alternativas metodológicas. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. PEREIRA NETO, A.D.; MENEGHELLO, L.C. Fatores de risco relacionados à saúde em jogadores de futebol de várzea da categoria máster de Porto Alegre. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, v.4, n.14, p.258-262, jan./dez., 2012. PONTE, J.P. da. Estudos de casos em Educação Matemática. Revista Bolema, n.25, p.105-132, 2006. SÁ LIMA, M.A. de C. Saúde e bem-estar, 2017. Disponível em: http://www.mundo educação.bol.uol.com.br/saúde-bem-estar. Acesso em: 26 abr. 2017. SILVA, J.L.F. Os significados do futebol amador recifense a partir de sua interdependência com o futebol profissional, 2009. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – UFPE, Recife, 2009. SILVEIRA, R. da; ROSA, S.M. da. Envelhecimento e esporte: um estudo sobre os basqueteiros veteranos da cidade de Rio Grande/RS. Revista Caderno de Educação Física, v.9, n.17, p.57-66, 2. sem., 2010.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 94 de 138
SILVEIRA, R. da; STIGGER, M.P. Espaço do jogo-espaço do envelhecimento. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.29, n.1, p.177-192, 2007. STIGGER, M.P. Futebol de veteranos: um estudo etnográfico sobre o esporte no cotidiano urbano. Revista Movimento, n.7, p.52-66, 1997. STIGGER, M.P. Esporte, lazer e estilos de vida: um estudo etnográfico. Campinas: Autores Associados, 2002. TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais – pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. TURATO, E.R. Tratado de metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 95 de 138
AS PERCEPÇÕES DE ACADÊMICOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS PROFESSORES FORMADORES
Hugo Norberto Krug46 Marilia de Rosso Krug47
Rodrigo de Rosso Krug48 Cassiano Telles49
Resumo Este estudo teve como objetivo analisar as percepções de acadêmicos de licenciatura em Educação Física (EF) de uma universidade pública da região sul do Brasil sobre a importância ou não dos professores formadores na formação profissional inicial e suas justificativas. Caracterizamos a pesquisa como qualitativa do tipo estudo de caso. O instrumento de pesquisa foi um questionário. A interpretação das informações foi por meio da análise de conteúdo. Participaram 25 acadêmicos do 8º semestre do referido curso. Constatamos que praticamente a totalidade (24) dos pesquisados declararam a importância dos professores formadores em sua formação profissional inicial, tendo as seguintes justificativas: 1) foi acolhedor e afetivo; 2) foi competente ao ensinar os conhecimentos da profissão; 3) ensinou a ser pesquisador; 4) foi um espelho com seu exemplo; 5) incentivou a reflexão sobre a prática; e, 6) proporcionou bons momentos de experiências relevantes para a aprendizagem docente. Palavras-chave: Educação Física. Formação de Professores. Professor Formador. Abstract This study was aimed to analyze the perceptions of academics of physical education (PE) degree of a public university in the southern region of Brazil about the importance or not of teaching teachers in initial professional formation and its justifications. We characterize the research as qualitative of the case study type. The research instrument was a questionnaire. The interpretation of the information was through of content analysis. Participated twenty-five academics from the 8th semester of this course. We verified that practically the tottality (24) of the researched declared the importance of the teaching teacher in their initial professional formation, having the following justifications: 1) was cozi and affective; 2) was competent in teaching the knowledge of the profession; 3) teach the to be researcher; 4) was a mirror with his example; 5) encouraged the reflection about the practice; and, 6) provided good moments of relevant experiences to the teacher learning. As considerações iniciais
Segundo André et al. (2010, p.123), no Brasil:
[...] as reformas educacionais implantadas nos últimos dez anos atribuem ao professor um papel central na melhoria do processo educativo. A formação docente tornou-se, então, um dos temas mais importantes na agenda das reformas. Espera-se muito dos cursos de formação inicial e, consequentemente, dos professores formadores.
46 Doutor em Educação (UNICAMP/UFSM); Doutor em Ciência do Movimento Humano (UFSM); Professor Aposentado da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); E-mail: [email protected]. 47 Doutora em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (UFSM). Professora da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ); E-mail: [email protected]. 48 Doutor em Ciências Médicas (UFSC); Professor da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ); E-mail: [email protected]. 49 Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); E-mail: [email protected] .
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 96 de 138
De acordo com Beillerot (1996) é necessário diferenciar os diversos tipos de formadores.
E, para esse autor, existem formadores de dois tipos: a) o formador de base – é aquele que forma o docente; e, b) o formador de formadores – é aquele que “[...] é antes de tudo, um profissional da formação que intervém para formar novos formadores ou para aperfeiçoar, atualizar, etc., o formador em exercício” (BEILLEROT, 1996, p.2). Mas, na perspectiva de melhor esclarecer estes conceitos, citamos Hobold e Buendgens (2015, p.201):
[...] o formador de base é aquele que forma novos professores, ou seja, os que lecionam em cursos de Licenciatura, Normal Superior, Pedagogia; enquanto que o formador de formadores atua na formação daqueles que são responsáveis pela formação de futuros docentes formadores [...].
Então, a partir desta conceituação, enfocamos nossa pesquisa sobre o formador de base. Entretanto, consideramos importante mencionarmos Mizukami (2005, p.69) que afirma
que professores formadores são:
[...] todos os profissionais envolvidos nos processos formativos de aprendizagem da docência de futuros professores ou daqueles que já estão desenvolvendo atividades docentes: os professores das disciplinas Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, os das disciplinas pedagógicas em geral, os das disciplinas específicas de diferentes áreas do conhecimento e os profissionais que acolhem os futuros professores.
Desta forma, para Hobold e Buendgens (2015, p.201):
[...] o professor formador deve propiciar uma formação que prepare os futuros professores para dar continuidade aos estudos, analisar o cotidiano, refletir eticamente sobre as relações, assim como reivindicar melhores condições de trabalho. O respeito pela profissão de professor e pelo compromisso com o crescimento social e, consequentemente, cultural do país, deve ser frizado e construído no curso de formação inicial.
Diante deste cenário, André et al. (2010, p.124) ressaltam que “[a]inda se sabe muito pouco sobre aquele que conduz a formação inicial de professores, isto é, o professor formador”.
Assim, embasando-nos nestas premissas anteriormente citadas formulamos a seguinte
questão norteadora deste estudo: quais são as percepções de acadêmicos de licenciatura em Educação Física (EF) de uma universidade pública da região sul do Brasil sobre a importância ou não dos professores formadores na formação profissional inicial e suas justificativas?
A partir desta indagação delineamos o objetivo geral do estudo como sendo: analisar as
percepções de acadêmicos de licenciatura em EF de uma universidade pública da região sul do Brasil sobre a importância ou não dos professores formadores na formação profissional inicial e suas justificativas.
Justificamos a realização deste estudo afirmando que pesquisas desta natureza oferecem subsídios para reflexões que podem despertar modificações no contexto da formação profissional inicial de professores, as quais podem contribuir para a melhoria da qualidade da futura atuação docente na escola básica, pois, segundo Silva e Cunha (2014, p.1), a temática dos professores formadores é “recente no campo educacional, [...], com experiências bem sucedidas de melhoria da qualidade em cursos de graduação que formam professores”. Os procedimentos metodológicos
Em relação aos procedimentos metodológicos, caracterizamos o estudo como qualitativo
do tipo estudo de caso. Segundo Gatti e André (2010) a pesquisa qualitativa procura entender o ser humano em sua dimensão social, cultural e pessoal, além de destacar a não neutralidade e a
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 97 de 138
interatividade entre o pesquisador e o pesquisado. Já Godoy (1995) diz que o estudo de caso visa proporcionar um exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular.
Utilizamos como instrumento para a coleta de informações um questionário, que, segundo
Trivinõs (1987), mesmo sendo de emprego usual no trabalho positivista, também o podemos usar na pesquisa qualitativa. A interpretação das informações foi realizada por meio da análise de conteúdo, que, para Bardin (2011), possui três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados.
Participaram do estudo vinte e cinco (25) acadêmicos do 8º semestre de um curso de
licenciatura em EF de uma universidade pública da região sul do Brasil. Consideramos que os acadêmicos no final do curso teriam mais pertinência para opinar sobre a temática do estudo. A escolha dos participantes aconteceu de forma espontânea, em que a disponibilidade dos mesmos foi o fator determinante. Molina Neto (2004) coloca que esse tipo de participação influencia positivamente no volume e credibilidade de informações disponibilizadas pelos colaboradores. Quanto aos aspectos éticos vinculados às pesquisas científicas, destacamos que todos os envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e as suas identidades foram preservadas. Os resultados e as discussões A importância ou não dos professores formadores na formação profissional inicial na percepção dos acadêmicos estudados
Praticamente a totalidade (vinte e quatro) dos acadêmicos estudados (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 25) declararam ‘sim’, isto é, que ‘os professores formadores foram importantes na sua formação profissional inicial’. Essa constatação está em consonância com Hobold e Buendgens (2015), os quais acreditam que na formação inicial o trabalho do professor formador tem grande importância para a constituição da profissionalidade dos futuros professores. Nesse sentido, consideramos necessário citarmos Sacristán (1995, p.65) que define profissionalidade como “[a] afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor”.
Entretanto, um único acadêmico (15) declarou ‘não’, isto é, que ‘os professores formadores não foram importantes na sua formação profissional inicial’. Essa constatação está em consonância com os achados de Machado et al. (2016) que no estudo intitulado ‘Ser professor: elementos consensuais das representações sociais de docentes em início de carreira’ constataram que a maior parte dos professores em início de carreira pesquisados negou o valor da formação inicial para a atuação profissional e a partir daí podemos inferir que também o professor formador não foi importante. As justificativas da importância ou não dos professores formadores na formação profissional inicial na percepção dos acadêmicos estudados
Os acadêmicos estudados elencaram as seguintes justificativas da importância dos professores formadores:
1ª) O professor formador foi importante porque... foi ‘acolhedor e afetivo’* (vinte citações: acadêmicos 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24 e 25). Em relação a essa justificativa citamos André e Hobold (2013, p.185) que dizem que a “aparente necessidade de acolhimento e afetividade do professor formador está cada vez mais presente nos cursos de ensino superior”. Já Ferreira e Krug (2001) destacam que ser afetivo é uma das características pessoais dos bons professores formadores de profissionais de EF;
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 98 de 138
2ª) O professor formador foi importante porque... ‘ensinou os conhecimentos da profissão’** (dezoito citações: acadêmicos 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23 e 24). Essa justificativa pode ser fundamentada em Roldão (2007) que diz que ensinar configura-se como a especialidade de fazer aprender alguma coisa a alguém. Para essa autora, ensinar é o que caracteriza a função do professor. Já Ferreira e Krug (2001) salientam que ser competente é uma das características profissionais dos bons professores formadores de profissionais de EF; 3ª) O professor formador foi importante porque... ‘ensinou a ser pesquisador’** (dez citações: acadêmicos 1; 4; 6; 8; 13; 14; 18; 20; 22 e 24). Sobre essa justificativa nos reportamos a Pesce (2014, p.201) que parte do princípio de que “a constituição subjetiva do professor como pesquisador ocorre na relação dialógica, estabelecida com os professores formadores, os teóricos, os colegas e os profissionais e alunos do campo de estágio”. Ainda esta autora diz que “[a] formação docente é complexa e deve possibilitar o desenvolvimento de diferentes conhecimentos e habilidades, entre as quais a de ser professor pesquisador” (PESCE, 2014, p.200). Nesse sentido, André (2006) destaca que a proposta da formação do professor pesquisador (e/ou reflexivo) tem sido defendida por inúmeros profissionais como uma forma de promover o desenvolvimento profissional do professor e de que ele possa assumir seu papel como transformador social, pois o envolvimento com a pesquisa poderá ajudar o professor a conhecer a realidade, a ter um posicionamento crítico em relação ao seu fazer e às condições para o exercício da profissão; 4ª) O professor formador foi importante porque... foi um ‘espelho com o seu exemplo’** (oito citações: acadêmicos 1; 2; 5; 7; 11; 16; 23 e 25). Essa justificativa pode ser fundamentada por Hobold e Buendgens (2015, p.203) que destacam que,
[o] professor formador, quando está realizando sua atividade docente, tem responsabilidade na formação dos futuros professores, ou seja, no trabalho que esse professor irá exercer. Essa responsabilidade está intimamente relacionada com a constituição da profissionalidade, pois os licenciandos utilizam-se dos modelos, sejam eles positivos ou não, para o exercício da sua profissão.
Ainda Imbernón (2004) destaca que não só os conteúdos trabalhados pelo professor
formador, mas as formas de trabalhá-los e os valores a eles associados vão constituir uma espécie de modelo para o futuro docente; 5ª) O professor formador foi importante porque... ‘incentivou a reflexão sobre a prática’** (cinco citações: acadêmicos 1; 4; 18; 20 e 22). Relativamente a essa justificativa nos reportamos a Hobold e Buendgens (2015, p.202) que dizem que: “[...] independentemente se ocorre na formação inicial ou na formação continuada, o trabalho do professor formador precisa estimular os futuros docentes ou já profissionais a analisar o cotidiano da sala de aula e discutir com seus pares as questões pedagógicas, sociais e políticas”. Já Imbernón (2004, p.52) coloca que:
[u]ma formação deve propor um processo que dote o professor de conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores. O eixo fundamental do currículo de formação de professor é o desenvolvimento de instrumentos para facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria prática docente, e cuja meta principal é aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a educação e a realidade social de forma comunitária. O caráter ético da atividade educativa também adquire relevância.
6ª) O professor formador foi importante porque... ‘proporcionou bons momentos de experiências relevantes para a aprendizagem docente’** (três citações: acadêmicos 7; 17 e 21). Em referência a essa justificativa apontamos André e Hobold (2013) que afirmam que o modo de ser de alguns professores é determinante para que os licenciandos vivenciem bons momentos no curso e no processo de aprendizagem. As experiências referidas dizem respeito não só ao modo de ensinar, mas também ao aspecto interativo do trabalho dos professores.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 99 de 138
O único acadêmico estudado (15) que destacou a não importância dos professores formadores apontou a seguinte justificativa: O professor formador não foi importante porque... ‘não possuía domínio do conteúdo educacional da EF na escola’** (uma citação: acadêmicos 15). Sobre essa justificativa mencionamos Cunha (apud ANDRÉ et al., 2012, p.114) que destaca que:
a ampliação do ensino superior tem trazido para as universidades, docentes que passaram por cursos de mestrado ou doutorado que os prepararam para a pesquisa e privilegiam o aprofundamento de um tema de estudo, mas não os qualificam para o exercício da docência, especialmente para o atendimento a estudantes provenientes de classes sociais menos favorecidas e com lacunas na sua formação.
Ao fazermos uma análise geral sobre as justificativas da importância ou não dos
professores formadores na formação profissional inicial dos acadêmicos estudados quanto ao ‘sim’ verificamos que a ‘maioria’ (cinco de seis) está ‘ligada às características profissionais’** (2ª; 3ª; 4ª; 5ª e 6ª) e a ‘minoria’ (uma de seis) ‘ligada às características pessoais’* (1ª) dos professores formadores. Vale destacar que as cinco justificativas ‘ligadas às características profissionais’** tiveram no ‘total’ quarenta e quatro citações, enquanto que a ‘única’ justificativa ‘ligada às características pessoais’* teve no ‘total’ vinte citações. Já quanto ao ‘não’ observamos que a ‘totalidade’ (uma de uma) está ‘ligada às características profissionais’** (1ª) dos professores formadores. Convém salientar que esta ‘única’ justificativa teve uma citação. Nesse sentido, consideramos necessário citarmos Ferreira e Krug (2001) que constataram que os bons professores formadores de profissionais de EF tiveram destacadas diversas características profissionais, bem como características pessoais. Ainda podemos notar que a ‘quase totalidade’ (vinte e três de vinte e quatro) dos acadêmicos estudados utilizaram ‘mais de uma’ justificativa para a importância dos professores formadores (cinco justificativas: acadêmico 1; quatro justificativas: acadêmicos 4; 20 e 22; três justificativas: acadêmicos 6; 7; 8; 13; 14; 17; 18 e 24; duas justificativas: acadêmicos 2; 3; 5; 9; 10; 11; 16; 19; 21; 23 e 25; uma justificativa: acadêmico 12). Assim, a partir destas constatações, podemos inferir que os professores formadores são importantes na formação profissional inicial dos acadêmicos estudados, primordialmente pelas suas características profissionais, mas também, secundariamente pelas suas características pessoais. Considerações finais
Pela análise das informações obtidas constatamos que praticamente a totalidade (vinte e quatro) dos acadêmicos estudados declarou ‘sim’, isto é, que ‘os professores formadores foram importantes na sua formação profissional inicial’, sendo que somente ‘um’ declarou ‘não’. Quanto às ‘justificativas’ para tais afirmativas os acadêmicos apontaram as seguintes: a) para o ‘sim’: 1ª) ‘foi acolhedor e afetivo’; 2ª) ‘foi competente ao ensinar os conhecimentos da profissão’; 3ª) ‘ensinou a ser pesquisador’; 4ª) ‘foi um espelho com seu exemplo’; 5ª) ‘incentivou a reflexão sobre a prática’; e, 6ª) ‘proporcionou bons momentos de experiências relevantes para a aprendizagem docente’; b) para o ‘não’: 1ª) ‘não possuía domínio do conteúdo educacional da EF na escola’.
A partir destas constatações proporcionadas pelas percepções dos acadêmicos estudados podemos concluir que os professores formadores, de forma ampla, são importantes na formação profissional inicial na licenciatura em EF do curso estudado, pois contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais dos futuros docentes, como também exercem influência na forma como estes compreendem o seu papel. E, nesse sentido, são valorizadas, primordialmente as características profissionais dos professores formadores, mas também, secundariamente as características pessoais.
Para finalizar, destacamos que este estudo fundamentou-se nas especificidades e nos contextos de um curso de formação profissional inicial de professores de EF em específico e que
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 100 de 138
por isso não pode ser generalizado os seus achados. Assim, sugerimos estudos mais aprofundados sobre esta temática. Referências ANDRÉ, M.E.D.A. de. Pesquisa, formação e prática docente. In: ANDRÉ, M.E.D.A. de (Org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006. ANDRÉ, M.E.D.A. de et al. O trabalho docente do professor formador no contexto atual das reformas e das mudanças no mundo contemporâneo. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.91, n.227, p.122-143, jan./abr., 2010. ANDRÉ, M.E.D.A. de et al. O papel do professor formador e das práticas pedagógicas de licenciatura sob o olhar avaliativo dos futuros professores. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, v.12, p.101-123, 2012. ANDRÉ, M.E.D.A. de; HOBOLD, M. de S. As práticas de licenciatura e o trabalho docente dos formadores na perspectiva de licenciandos de Letras. Revista Educação em Perspectiva, v.4, n.1, p.175-198, jan./jun., 2013. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. BEILLEROT, J. La formación de formadores: entre la teoria e la prática. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas/Universidad de Buenos Aires, 1996. FERREIRA, L.M.; KRUG, H.N. Os bons professores formadores de profissioais de Educação Física: características pessoais, histórias de vida e práticas pedagógicas. Revista Kinesis, n.24, p.73-96, 2001. GATTI, B.; ANDRÉ, M.E.D.A. de. A relevância dos métodos de pesquisa qualitativa em educação no Brasil. In: WELLER, V.; PFAFF, N. (Orgs.). Metodologias da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. GODOY, A.S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas, v.35, n.3, p.20-29, mai./jun., 1995. HOBOLD, M. de S.; BUENDGENS, J.F. Trabalho do professor formador: a influência da dimensão relacional na constituição da profissionalidade docente. Revista Reflexão e Ação, v.23, n.2, p.198-219, jul./out., 2015. IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2004. MACHADO, L.B. et al. Ser professor: elementos consensuais das representações sociais de docentes em início de carreira. Revista Série-Estudos, v.21, n.41, p.97-110, jan./abr., 2016. MIZUKAMI, M. da G.N. Aprendizagem da docência: professores formadores. In: ROMANOWSKI, J.; MARTINS, P.L.; JUNQUEIRA, S.R.A. (Orgs.). Conhecimento local e conhecimento universal: formação docente, aprendizado e ensino. V5. Curitiba: Ed. Universitária Champagnat, 2005. MOLINA NETO, V. Etnografia: uma opção metodológica para alguns problemas e investigação no âmbito da Educação Física. In: MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, A.N.S. (Orgs.). A pesquisa qualitativa em Educação Física: alternativas metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2004. PESCE, M.K. de A percepção do professor formador sobre a formação do professor pesquisador. Revista Educação & Linguagem, v.17, n.2, p.199-214, jul./dez., 2014. ROLDÃO, M. do C. Função docente: natureza e construção do conhecimento profissional. Revista Brasileira de Educação, v.12, n.34, p.94-103, jan./abr., 2007. SACRISTÁN, J.G. Consciência e acção sobre a prática como libertação profissional dos professores. In: NÒVOA, A. (Org.). Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto Ed., 1995. SILVA, C.R. da; CUNHA, N.F. da. O formador de formadores nos cursos de Pedagogia. Revista Pedagogia em Foco, n.1, p.1-13, jan./jun., 2014. TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução À pesquisa em ciências humanas – pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 101 de 138
A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO PROCESSO
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Hugo Norberto Krug50 Marilia de Rosso Krug51
Cassiano Telles52 Rodrigo Rosso Krug53
Resumo Este estudo teve como objetivo abordar a importância do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) no processo de formação profissional docente em Educação Física (EF). A metodologia caracterizou-se por ser uma pesquisa qualitativa com enfoque bibliográfico tendo como interpretação das informações a análise de documentos. Pela análise das informações obtidas na literatura especializada sobre o ECS em EF concluímos que este é um momento importante no processo de formação docente porque possibilita aos futuros professores ‘conhecer a realidade escolar’, ‘a aprendizagem da docência’, ‘a construção da identidade docente’ e ‘a confirmação da escolha profissional’. Palavras-chave: Formação Inicial. Estágio Curricular Supervisionado. Importância. Abstract This study aimed to approach the importance of Supervised in process of teaching professional formation in physical education (PE). The methodology was characterized for being a qualitative research with approach bibliographic being with interpretation of the information the document analysis. By the analysis of information obtained in the especialized literature about the Supervised in PE we conclude that this is an important moment in the processo of teaching formation because allows the future teachers 'know the school reality', 'the learning of teaching', 'the construction of the teaching identity' and 'the confirmation of the career choice'. Keywords: Initial Formation. Supervised. Importance. Considerações introdutórias Segundo Bellochio (2012) estudos relacionados ao Estágio Curricular Supervisionado (ECS) nos cursos de licenciatura no Brasil e de suas implicações no processo formativo de professores, na vida acadêmica dos licenciandos e na organização das práticas docentes nas escolas de educação básica têm sido ampliados na última década. Acrescenta que as investigações, nesta temática, decorrem da preocupação mundial com os processos de formação e ação profissional de professores que, por sua vez, também, pretendem melhorar os processos de ensinar e aprender na instituição de formação profissional e na escola de educação básica.
Na área da Educação Física (EF), produções sobre o ECS têm gerado contribuições como as de Silva e Krug (2007), Ilha et al. (2009), Flores et al. (2009), entre outras. Entretanto, destacamos que estes estudos revelaram algumas dificuldades do ECS, mas, também, apontaram o seu potencial na formação de professores, pois mostraram certas configurações do contexto de seu desenvolvimento, indicando a geração de possíveis transformações para uma melhor qualificação profissional. Assim, para Bellochio (2012, p.228), de modo geral, as pesquisas sobre o ECS apontam este como um componente importante na formação profissional e de grande relevância na trajetória formativa para a docência, “visto que há neste momento uma aproximação com os contextos de ensinar e aprender e todos os desafios teórico-práticos que neles vão sendo
50 Doutor em Educação; Professor Aposentado da UFSM; [email protected]. 51 Doutora em Educação nas Ciências: Química da Vida e Saúde; Professora da UNICRUZ; [email protected]. 52 Doutorando em Educação pela UFSM; [email protected]. 53 Doutorando em Ciências Médicas pela UFSC; Professor da UNICRUZ; [email protected].
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 102 de 138
manifestados”. Assim, o ECS é uma importante etapa na formação profissional e deve ser assumido fortemente pelo curso e seus professores formadores.
Neste sentido, considerando a disciplina de ECS como um importante momento na formação inicial de professores de EF, voltamos nossos olhares para a literatura especializada tentando vislumbrar o que já foi constatado a esse respeito.
Desta forma, embasando-nos nestas premissas descritas, formulamos a seguinte questão problemática norteadora do estudo: qual é a importância do ECS no processo de formação profissional docente em EF? Então, a partir desta indagação, o objetivo geral foi abordar a importância do ECS no processo de formação profissional docente em EF.
A argumentação sobre a justificativa do acontecimento deste estudo embasou-se na inferência de que as informações colhidas poderão possibilitar uma reflexão sobre o ECS em EF e a partir de seus achados, oferecer subsídios para modificações no seu desenvolvimento, auxiliando na qualidade da formação profissional inicial. Os procedimentos metodológicos Caracterizamos este estudo como uma pesquisa qualitativa com enfoque bibliográfico. Segundo Gamboa (1995, p.61) a pesquisa qualitativa proporciona “a busca de novas alternativas para o conhecimento de uma realidade tão dinâmica e policefática como a problemática [...]” da educação. De acordo com Godoy (1995, p.21), em tempos mais recentes, “[...] a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”. Então, a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa realizamos uma pesquisa bibliográfica que, conforme Oliveira (2007) possui como finalidade levar o pesquisador a entrar em contato direto com obras, artigos e documentos que tratem do tema em questão. Assim sendo, no primeiro momento, realizamos um levantamento sobre a literatura que aborda o ECS em geral, mas principalmente de EF. No segundo momento, fizemos leituras sobre o tema proposto. No terceiro momento, desenvolvemos o presente texto, a partir das reflexões sobre as obras encontradas e estudadas. Dessa forma, utilizamos à análise de documentos. Os resultados e as discussões Os resultados e as discussões deste estudo foram orientados e explicitados pelo objetivo geral. Assim, ao analisarmos diversas obras sobre a temática em questão, constatamos que o ECS é importante no processo de formação profissional inicial em EF porque possibilita aos futuros professores: 1) ‘conhecer a realidade escolar’; 2) ‘a aprendizagem da docência’; 3) ‘a construção da identidade docente’; e, 4) ‘a confirmação da escolha profissional’. E, a seguir, abordamos todas essas constatações.
Quanto ao ECS em EF ser importante na formação profissional inicial porque possibilita aos futuros professores (1) ‘conhecer a realidade escolar’ citamos Freire (1996, p.76) que diz que “ensinar exige a apreensão da realidade”. Pimenta e Lima (2004) afirmam que é importante desenvolver nos futuros professores habilidades para o conhecimento e a análise das escolas, bem como das comunidades onde se insere. Assim, no contexto do ECS em EF, Silva e Krug (2007) e Ilha; Krug e Krug (2009) constataram em estudos realizados que o conhecimento da realidade escolar é uma das contribuições positivas do ECS para a formação profissional dos acadêmicos de EF. Quanto ao ECS em EF ser importante na formação profissional inicial porque possibilita aos futuros professores (2) ‘a aprendizagem da docência’ nos reportamos a Isaia (2006) que conceitua aprendizagem da docência como um processo que envolve a apropriação de conhecimentos, saberes e fazeres próprios ao magistério, que estão vinculados à realidade concreta da atividade docente em diversos campos de atuação e em seus respectivos domínios. Já Pimenta e Lima (2004) afirmam que o ECS é essencial à formação do futuro professor, pois lhe proporciona um momento
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 103 de 138
específico de aprendizagem da profissão docente, mediada pelas relações sociais historicamente situadas. Assim, no contexto do ECS em EF Silva e Krug (2007) e Ilha; Krug e Krug (2009) em estudos desenvolvidos constataram que a aprendizagem da docência é uma das contribuições positivas do ECS para a formação profissional de acadêmicos de EF.
Entretanto, segundo Flores et al. (2009), a aprendizagem da docência engloba alguns principais aspectos, a seguir descriminados: a) ‘aprender a planejar’; b) ‘aprender a ensinar’; c) ‘aprender a relacionar teoria e prática’; d) ‘aprender a lidar com as diferenças, problemas e achar soluções’; e) ‘aprender a refletir sobre a prática’; f) ‘aprender a relação professor e aluno’; g) ‘aprender a aprender’; e, h) ‘aprender a ser professor’.
Relativamente ao (a) ‘aprender a planejar’ apontamos Marques e Krug (2009) que destacam que nos cursos de licenciatura em EF os estágios são disciplinas que mais se articulam com a realidade da docência na escola e assim sendo, estas devem necessariamente privilegiar a prática do planejar, tanto no que se refere ao planejamento geral como também na elaboração do plano de aula, buscando oferecer uma base teórico-metodológica para que os acadêmicos entendam sua importância e aprendam a planejar de forma responsável e organizada. Já Pimenta e Lima (2004) ressaltam que a importância do planejamento se revela não apenas como um momento ou evento, mas como uma atividade-eixo, como espinha dorsal que sustenta e permeia todo o percurso do ensinar e do aprender.
A respeito do (b) ‘aprender a ensinar’ mencionamos Marcelo Garcia (1999) que diz que o ECS representa a oportunidade privilegiada para aprender a ensinar na medida em que se integrem as diferentes dimensões que envolvem a atuação docente, ou seja, o conhecimento psicopedagógico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo.
Em relação ao (c) ‘aprender a relacionar teoria e prática’ nos fundamentamos em Shigunov; Dornelles e Nascimento (2002) que destacam que o relacionamento teoria e prática constitui-se em um problema básico no campo educacional. Entretanto, Pimenta e Lima (2004) ressaltam que o estágio encontra-se como meio de superação da dicotomia entre teoria e prática. Ele é a aproximação da realidade com o embasamento teórico, como campo de pesquisa pedagógica e como um dos elementos iniciais de construção da identidade docente. Salientam também que o estágio compreende um momento de articulação entre culturas diferentes, ainda que com bases epistemológicas comuns, entre a universidade, educação superior e as escolas de educação básica.
No direcionamento do (d) ‘aprender a lidar com as diferenças, problemas e achar soluções’ nos embasamos em Perrenoud (1997) que diz que, em tempos recentes, ser professor significa, simultaneamente, exercer a profissão em condições muito adversas e também lidar com públicos muito heterogêneos. Nesse sentido, Miranda (2008) destaca que o ECS, nos cursos de formação de professores, é um momento em que o futuro professor tem a oportunidade de enfrentar os desafios do cotidiano escolar.
Sobre o (e) ‘aprender a refletir sobre a prática’ nos referimos a Furter (1985) que destaca que a reflexão é uma qualidade muito necessária ao professor, sobretudo, quando adota uma atitude de busca, sempre mais rigorosa, de pesquisa e de avaliação, de aperfeiçoamento permanente, pois a reflexão é, ao mesmo tempo crítica, dialética e renovadora. Dessa forma, segundo Miranda (2008), o ECS, nos cursos de formação de professores, é um espaço para a reflexão crítica dos acadêmicos, futuros docentes, acerca das concepções pré-estabelecidas e de situações momentâneas pelas quais estejam passando.
No que diz respeito a (f) ‘aprender a relação professor aluno’ referenciamos Cunha (1996) que diz que a aula é um lugar de interação entre as pessoas e, portanto, um momento único de troca de influências. Dessa forma, a relação professor-aluno no sistema formal é parte da educação e insubstituível na sua natureza. Para Miranda (2008) o ECS, nos cursos de formação de professores, é um momento em que o acadêmico tem a oportunidade de interagir com os alunos.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 104 de 138
Sobre o (g) ‘aprender a aprender’ mencionamos Marcelo Garcia (1999) que afirma que os
professores são sujeitos que aprendem. Isto requer que a investigação sobre o desenvolvimento profissional continue para compreender como os professores aprendem novas formas de pensar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos, assim como as condições que facilitam as aprendizagens dos professores. Ainda Isaia e Bolsan (2009) colocam que o professor deve ter consciência que, na medida em que ensina também aprende, mostrando-se ciente de sua responsabilidade na participação do seu processo formativo, assumindo-se como sujeito gerativo de si mesmo e de seus alunos.
Em referência ao (h) ‘aprender a ser professor’ observamos que, segundo Krüger e Krug (2008), ‘aprender’ passa pelos nossos desejos, sentidos e emoções voltados para um determinado foco, podendo possibilitar e estabelecer relações com os conhecimentos já construídos. Ressaltam que dentre tantos saberes (conhecimentos) necessários para a vida adulta, pessoal e profissional, o aprender a ser professor é algo complexo. Entretanto, ao longo dos desafios e encruzilhadas do processo formativo, construímos uma imagem sobre o ser professor, talvez baseada em nossa própria experiência como aprendizes, ou talvez a partir da imitação de outros docentes, ou também, à medida que vamos acumulando experiência como docente, temos a capacidade de modificar algumas ideias que tínhamos, ressignificando saberes (conhecimentos). Nesse sentido, a reflexão sobre atitudes, comportamentos, visão de mundo, valores, usos, costumes, ideologia, prática cultural, torna-se não só um desafio qualquer, mas significa a apreensão e apropriação do conhecimento, indo além do simples fato de aprender, visando assumir ‘ser professor’ no sentido de se tornar um profissional preocupado com a melhoria da função docente, da prática como política e pedagógica. Ivo e Krug (2008) afirmam que o ECS é o momento em que o acadêmico confronta-se com a escola e com a sua futura profissão, ser professor. No ECS passa da situação de aluno para a posição de professor, devendo, portanto, assumir uma nova postura no processo de ensino. Entretanto, Perlozo (2007) diz que o ECS por si só não garante uma preparação completa para a docência do futuro professor, mas dá oportunidades para que este futuro educador tenha noções básicas do que é ser professor em tempos mais recentes, conhecendo a realidade onde estão inseridos os alunos.
Após abordarmos os principais aspectos da aprendizagem da docência enumerados por Flores et al. (2009) consideramos necessário citarmos Freire (2001) que afirma que as principais aprendizagens proporcionadas pelos estágios estão ligadas a três momentos que embasam a prática pedagógica, que são: o planejamento da ação, o desenvolvimento da aula e a reflexão sobre o vivido. E, realmente foi o constatado no estudo de Flores et al. (2009), ou seja, o momento do planejamento está no ítem (a), o momento do desenvolvimento da aula nos ítens (b), (d), (f) e (h) e o momento da reflexão sobre o vivido nos itens (e) e (g).
Quanto ao ECS em EF ser importante na formação profissional inicial porque possibilita
aos futuros professores (3) ‘a construção da identidade docente’ nos referimos a Nóvoa (1992, p.16) que destaca a identidade como sendo “[...] um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor”. Nesse sentido, segundo Kronbauer; Antunes e Krug (2011) cabe aos cursos de formação inicial, a responsabilidade de propiciar um ambiente adequado e prazeroso para uma sólida construção do processo de identidade profissional docente. Já Pimenta e Lima (2004), Miranda (2008) e Ilha et al. (2009) afirmam que o ECS é essencial na formação da identidade docente dos acadêmicos de licenciatura, onde o fundamental é a busca do diálogo com as situações de ensino e aprendizagem, com os outros e consigo mesmo, num processo consciente de interpretação da realidade e da compreensão de que o desenvolvimento profissional é fruto do compartilhamento de saberes, de experiências, enfim, do trabalho reflexivo, construído de forma crítica, sistemática e coletivamente. Assim, no contexto do ECS em EF, Krug (2010) em estudo realizado identificou quinze diferentes traços caracterizadores da construção da identidade profissional docente destacados por acadêmicos de EF durante a realização do ECS.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 105 de 138
Quanto ao ECS em EF ser importante na formação profissional inicial porque possibilita
aos futuros professores (4) ‘a confirmação da escolha profissional’ nos embasamos em Pimenta e Lima (2004) que dizem que o ECS é um espaço de aprendizagem da docência marcada pela contínua aproximação do futuro professor coma realidade escolar, sendo importante para que os candidatos a essa profissão digam, para si, que querem ser professor. Também Ilha et al. (2009) vão neste direcionamento de ideia de que o ECS é uma disciplina importante na constituição do ser professor na formação inicial, oportunizando a confirmação ou não do desejo de ser professor. Entretanto, Krug e Krug (2013) destacam que as experiências positivas e prazerosas durante o ECS influenciam na confirmação do ser professor de EF na escola. Assim, no contexto do ECS em EF, Ilha; Krug e Krug (2009) em estudo desenvolvido constataram que a aceitação da escola como futuro campo profissional é uma das contribuições positivas do ECS para a formação profissional de acadêmicos de EF. Considerações conclusivas
Pela análise das informações obtidas na literatura especializada sobre a temática em questão podemos concluir que o ECS é um momento importante no processo de formação profissional inicial em EF porque possibilita aos futuros professores ‘conhecer a realidade escolar’, ‘a aprendizagem da docência’, ‘a construção da identidade docente’ e ‘a confirmação da escolha profissional’. Entretanto, chamamos à atenção que esta temática suscita novas discussões e reflexões nas instituições formadoras, pois apesar de sua indiscutível importância os ECS em EF apresentam mazelas que precisam ser redimensionadas para uma melhor qualificação profissional. Referências BELLOCHIO, C.R. Representando a docência, vou me fazendo professora: uma pesquisa com estagiárias de licenciatura de Música. Revista Práxis Educativa, v.7, n.1, p.227-252, jan./jun., 2012. CUNHA, M.I. da. A relação professor-aluno. In: VEIGA, I.P. de A. (Coord.). Repensando a Didática. 11. ed. Campinas: Papirus, 1996. FLORES, P.P. et al. A importância do Estágio Curricular Supervisionado para a formação profissional em Educação Física: uma visão discente. Boletim Brasileiro de Educação Física, n.73, p.1-9, fev./mar., 2009. FREIRE, A.M. Concepções orientadoras do processo de aprendizagem do ensino nos estágios pedagógicos. In: COLÓQUIO: MODELOS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, 2001, Lisboa. Anais, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 2001. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. FURTER, P. Educação e reflexão. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. GAMBOA, S.S. (Org.). Pesquisa educacional: quantidade – qualidade. São Paulo: Cortez, 1995. GODOY, A.S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas, v.35, p.20-29, mai./jun., 1995. ILHA, F.R. da S. et al. Estágio Curricular Supervisionado em Educação Física: significado e importância sob a ótica dos acadêmicos do curso de licenciatura. Boletim Brasileiro de Educação Física, n.73, p.1-9, fev./mar., 2009. ILHA, F.R. da S.; KRUG, R. de R.; KRUG, H.N. As contribuições da Prática de Ensino em Educação Física para a formação profissional dos acadêmicos (currículo 1990) do CEFD/UFSM. Boletim Brasileiro de Educação Física, n.73, p.1-10, fev./mar., 2009. ISAIA, S.M. de A. Trajetória pessoal; trajetória profissional; aprendizagem docente. In: MOROSINI, M. (Org.). Enciclopédia de pedagogia universitária: glossário. Brasília: INPE, 2006. ISAIA, S.M. de A.; BOLZAN, D.P.V. Trajetórias da docência: articulando estudos sobre os processos formativos e a aprendizagem de ser professor. In: ISAIA, S.M. de A.; BOLZAN, D.P.V. (Orgs.). Pedagogia universitária e desenvolvimento profissional docente. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 106 de 138
IVO, A.A.; KRUG, H.N. O Estágio Curricular Supervisionado e a formação do futuro professor de Educação Física. Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes, a.13, n.127, p.1-18, dic., 2008. KRONBAUER, C.P.; ANTUNES, F.R.; KRUG, H.N. A construção da identidade profissional docente durante a formação inicial em Educação Física. Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes, a.16, n.159, p.1-5, ago., 2011. KRÜGER, L.G.; KRUG, H.N. Aprendizagem e auto-formação: algumas percepções do desenvolvimento profissional docente. Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes, a.13, n.122, p.1-10, jul., 2008. KRUG, H.N. A construção da identidade profissional docente no Estágio Curricular Supervisionado na percepção dos acadêmicos da licenciatura em Educação Física do CEFD/UFSM. Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes, a.15, n.143, p.1-10, abr., 2010. KRUG, R. de R.; KRUG, H.N. Os Estágios Curriculares Supervisionados I-II-III na licenciatura em Educação Física do CEFD/UFSM: a confirmação ou não do ser professor de Educação Física... na escola. Revista Formação@Docente, v.5, n.2, p.34-45, 2013. MARCELO GARCIA, C. A formação de professores - para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999. MARQUES, M.N.; KRUG, H.N. O acadêmico de Educação Física vivenciando a Prática de Ensino: planejamento e desempenho nas aulas. Revista Virtual P@rtes, p.1-6, jun., 2009. MIRANDA, M.I. Ensino e pesquisa: o estágio como espaço de articulação. In: SILVA, L.C.; MIRANDA, M.I. (Orgs.). Estágio Supervisionado e Prática de Ensino: desafios e possibilidades. Araraquara: Junqueira & Marin/Belo Horizonte: FAPEMIG, 2008. NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992. OLIVEIRA, M.M. de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2007. PERLOZO, R.C.B. Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado enquanto mediação entre ensino, pesquisa e extensão. Revista Eletrônica de Pedagogia, n.10, jul., 2007. PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. 2. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997. PIMENTA, S.G.; LIMA, M.S.L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004. SHIGUNOV, V.; DORNELES, C.I.R.; NASCIMENTO, J.V. do. O ensino da Educação Física: a relação teoria e prática. In: SHIGUNOV, V.; SHIGUNOV NETO, A. (Orgs.). Educação Física: conhecimento teórico x prática pedagógica. Porto: Mediação, 2002. SILVA, M.S. da; KRUG, H.N. A opinião discente sobre o Estágio Curricular Supervisionado em Educação Física na UFSM. In: KRUG, H.N. (Org.). Dizeres e fazeres sobre formação de professores de Educação Física. Santa Maria: [s.n.], 2007. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 107 de 138
O ABRIGO DE MENORES DE PELOTAS/RS (1944-1987): AMPARO, EDUCAÇÃO E
PROFISSIONALIZAÇÃO DE MENINOS DESVALIDOS
Jeane dos Santos Caldeira54
Resumo O presente artigo tem por objetivo analisar aspectos sobre o Abrigo de Menores e sua conexão com Dom Antônio Zattera, um bispo que teve grande atuação no espaço educacional da cidade de Pelotas/RS. O Abrigo foi fundado para o amparo, educação e profissionalização de meninos pobres, órfãos, abandonados e infratores. Este estudo que resulta de primeiras aproximações com a temática, ressalta as relações de iniciativas individuais e coletivas em uma instituição de ensino. Tem por base aspectos que envolvem o contexto institucional e urbano relacionados com as políticas voltadas para proteção e educação dos então considerados meninos desvalidos. Palavras-chave: Infância desvalida; abrigo para infância; instituição educacional; educação católica. Abstract This article aims to analyze some aspects about the Shelter of Minors and its connection with Antônio Zattera, bishop who had a significant role in the educational system of Pelotas/RS. The Shelter was founded for the protection, education and professionalization of poor children, orphans, abandoned children and juvenile offenders. The first approaches to the theme results in this study, and it highlights the relations of individual and collective initiatives in an educational institution. It is based on the aspects involving the institutional and urban context related to the policies aimed at the protection and education of those considered underprivileged children. Keywords: Childhood helpless; Shelter for children; educational institution; Catholic education. Introdução
O presente artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla que vem sendo realizada no intuito de investigar as ações no espaço educacional pelotense promovidas por D. Antônio Zattera, bispo da Diocese de Pelotas entre os anos de 1942 a 1977. O foco aqui será o Abrigo de Menores de Pelotas, instituição inaugurada no bairro Areal por D. Antônio em 1944 para acolher meninos desvalidos e onde passou a morar depois que D. Jayme Chemello tornou-se bispo da Diocese. D. Antônio esteve a frente do Abrigo de Menores até sua morte em 1987.
Considerado um homem empreendedor (HAMMES, 2005), o sacerdote colaborou no
desenvolvimento do cenário educacional pelotense, fundando em pouco espaço de tempo o Colégio Diocesano e mais tarde a Universidade Católica de Pelotas. Além do bispo D. Antônio ter atuado de forma significativa no ensino secundário e ensino superior, teve expressiva colaboração na institucionalização da infância desvalida.
Primeiramente, é relevante elucidar sobre a designação “desvalida”. O termo é utilizado
para se referir aos enjeitados, expostos, órfãos, crianças pobres, recolhidos, abandonados, aqueles considerados sem valia, desprotegidos, desamparados, enfim, os também denominados “desvalidos da sorte”. De acordo com Schueler (2009) as designações e conceitos como infância desvalida, infância abandonada e infância delinquente, além da categoria “menor”, surgiram num determinado contexto histórico e estão diretamente relacionados aos processos de lutas e embates políticos, econômicos e culturais.
54 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas (PPGE / FaE / UFPel), na linha de Filosofia e História da Educação.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 108 de 138
Até parte do século XX, estas designações e adjetivações eram mencionadas para se referir
ao “menor”, ou seja, nunca aos filhos de famílias das classes abastadas, pois tem conotações negativas e desqualificantes (LEITE, 2009). Atualmente os termos mais comuns são crianças e adolescentes55 carentes, em situação de risco ou de vulnerabilidade social, bem como, crianças e adolescentes encaminhados para o acolhimento institucional e não mais asiladas ou recolhidas.
Cabe reiterar que é sobre essa infância desvalida, mais precisamente a instrução e ensino profissional de meninos desvalidos acolhidos pelo Abrigo de Menores de Pelotas, e a atuação do bispo D. Antônio Zattera em prol da instituição entre os anos 1944 a 1987, o principal foco do presente estudo. Institucionalização, educação e leis de proteção de meninos desvalidos
Alguns estudos relacionados à História Social da Infância e a institucionalização de crianças no Brasil, como os Irene Rizzini e Irma Rizzini (2004) e Marcílio (1998), evidenciam que as instituições fundadas para o acolhimento e instrução dos ditos meninos “desvalidos da sorte”, faziam investimentos no ensino profissional, com o objetivo de formar bons trabalhadores braçais e subalternos, e dessa forma, acabavam suprindo as necessidades das classes mais abastadas.
A educação voltada para infância desvalida fez parte de diferentes momentos da História
do Brasil. Entre os séculos XVIII e XIX com a fundação de Arsenais de Guerra, Escolas de Aprendizes e de Asilos de Órfãs, as crianças pobres eram preparadas para trabalhos artesanais ou domésticos. Com a abolição oficial da escravatura no Brasil em 1888 e com o início do período republicano (1889), a instrução de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, passou a fazer parte das ações do governo, conforme explicita Inácio Filho e Silva (2010, p. 221) afirmando que:
A educação aparecia, nesse momento, como grande promessa regeneradora do povo (abandonado no analfabetismo e na ignorância generalizada) e de construção da nação, agora urbana e caminhando para a industrialização. Não se admitia a formação de uma moderna nação (sempre tendo no horizonte o modelo europeu), sem que fosse equacionada a grande questão nacional que era a educação.
Dessa forma, o governo passou a investir na educação das camadas populares. Para
mulheres, a preparação para o trabalho doméstico ou o magistério como forma de ascensão social. Aos homens, preparação para a mão de obra qualificada, mas dessa vez visando o processo de urbanização e industrialização pelo qual o país estava passando.
Apesar da criação de Escolas de Aprendizes e Artífices em diversas regiões do Brasil e da
regulamentação da estruturação do ensino agrícola na primeira década do século XX, a educação profissional era destinada apenas para o aprendizado de ofícios sem preocupação da formação integral do cidadão (PORTO JÚNIOR; BANDEIRA; BRONGAR, 2007).
Sobre o ensino profissionalizante no país, Cunha (2000) aponta que existem muitas lacunas
da educação profissional no âmbito da História da Educação Brasileira. A educação profissional está presente desde o período colonial quando o ensino de ofícios tinha como principal público os escravos, órfãos, mendigos e outros indivíduos em situação de vulnerabilidade social (VALLE, 2015). Tal premissa esteve presente durante o Estado Novo (1937-1945) conforme a Constituição de 1937, mas dessa vez o país já não contava com o trabalho escravo. Nos três últimos anos do Estado Novo, durante a gestão do Ministro Gustavo Capanema surgiu as Leis Orgânicas do Ensino (ensino industrial, comercial e agrícola) que estruturaram o ensino técnico-profissional (ROMANELLI, 1986).
55 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 109 de 138
Quanto ao ensino profissional e as disputas do catolicismo contra as correntes de
pensamento do liberalismo e do positivismo presente desde o início da República e refletidas nas Constituições de 1934 e 1937, Cunha (2005, p. 24) elucida que:
O ensino profissional para os desvalidos era visto por essas correntes de pensamento como uma pedagogia tanto preventiva quanto corretiva. Enquanto pedagogia preventiva, propiciaria o disciplinamento e a qualificação técnica das crianças ou jovens cujo destino era “evidente” o trabalho manual, de modo de evitar que fossem seduzidos pelo pecado, pelos vícios, pelos crimes e pela subversão político-ideológica. Ademais, nas oficinas das escolas correcionais, o trabalho seria o remédio adequado para combater aqueles desvios, caso as crianças e os jovens já tivessem sido vítimas das influências das ruas.
Assim como a instrução de parte das crianças “desvalidas da sorte” deu-se de forma tardia
no país, também pode ser considerado tardio as leis de proteção ao menor. Com os estudos de Bulcão (2006), Marcílio (1998), Negrão (2004), Irene Rizzini e Irma Rizzini (2004), pode-se constatar que somente na década de 1920, é que surgiram leis para proteção e assistência à infância através da criação do Juizo de Menores em 1923 e do Código de Menores de 1927. Mais tarde foram criados o Departamento Nacional da Criança em 1940 e o SAM (Serviço de Assistência a Menores) durante o governo de Getúlio Vargas, em 1941. A partir da década de 1960 surgiram a FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) criada por militares em 1964, o Código do Menor em 1979 que colaborou para a criação das Febems (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) em 1967, e que a partir de 2002, tornou-se a Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo) e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que entrou em vigor em 1990 e até hoje é a maior lei de proteção da criança e adolescente.
No que se refere a institucionalização dos “desvalidos da sorte” em Pelotas, destaca-se que as principais ações em benefício da infância desvalida foram direcionadas as meninas. Com a implementação da Roda dos Expostos56 na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas em 1849, o acolhimento de crianças entre zero a sete anos de idade, ficou a cargo da instituição. A partir de 1855 foi fundado o Asilo de Órfãs Nossa Senhora da Conceição que acolheu as meninas enjeitadas na Roda dos Expostos. Em 1901 Pelotas passou a contar com o Asilo de Órfãs São Benedito, criado principalmente para amparar meninas negras e filhas de pais desconhecidos.
Em relação ao destino dos menores, Marcílio (1998) enfatiza que no Brasil o
encaminhamento dos meninos expostos nas Santas Casas sempre foi problemático, já com as meninas era mais fácil, pois havia instituições próprias para as desvalidas ou famílias consideradas respeitáveis, dispostas a ampará-las. Na cidade de Pelotas, os meninos eram acolhidos pela Santa Casa até os sete anos. Ao atingirem essa idade, eram enviados para o Arsenal de Guerra em Porto Alegre. Com a extinção da Roda dos Expostos no início do século XX, está sendo necessário buscar e analisar fontes documentais que indicam o encaminhamento de meninos desvalidos da cidade de Pelotas, pois se percebe uma lacuna de estudos acadêmicos referentes ao acolhimento de meninos durante as primeiras duas décadas do século XX.
Em 1924 foi instalado em Pelotas o Patronato Agrícola Visconde da Graça, com o objetivo
de qualificar internos para o trabalho agrícola e retirar dos centros urbanos meninos pobres, órfãos e desvalidos, com idade entre seis e 16 anos (VICENTE, 2010). Também em 1924, por iniciativa
56A Roda de Expostos era um sistema de formato cilíndrico giratório de madeira, com uma divisória, fixado em um muro ou janela no andar térreo das Santas Casas. Primeiramente o bebê rejeitado, o exposto, é colocado em um tabuleiro pela abertura externa da Roda, em seguida o expositor, ou seja, aquele que deposita a criança, gira o mecanismo e o exposto passa para o interior da instituição. Logo após, o expositor toca uma sineta para avisar da chegada de mais uma criança. O exposto é recolhido pela pessoa responsável pela vigilância da Roda, sem que o expositor possa ser identificado. O objetivo da criação da roda era o de evitar as práticas de abandono em lugares de risco, infanticídio e de aborto (MARCÍLIO, 1998; VANTI, 2004).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 110 de 138
de D. Joaquim Ferreira de Mello, foi fundada a Associação Protetora de Meninos Desvalidos de Pelotas, na intenção de acolher menores do sexo masculino.
Com a chegada de D. Antônio Zattera na Diocese de Pelotas em 1942, a cidade teve o
nome de sua maior autoridade da Igreja Católica, envolvido com a inauguração do Abrigo de Menores no bairro Areal, instituição esta responsável pelo amparo, educação e profissionalização de meninos pobres, órfãos, abandonados e infratores.
O Abrigo de Menores de Pelotas
Considerado por Hammes (2005) “Bispo da Educação”, D. Antônio Zattera e seus
colaboradores, entre eles o Juiz de Menores José Alsina Lemos e o Delegado de Polícia Galeão Xavier, em 1942 tiveram a iniciativa de adquirir um terreno de 5 hectares localizado no bairro Areal, para a construção do prédio do Abrigo de Menores de Pelotas. No dia 26 de março de 1944 foi inaugurado o referido Abrigo, tendo como objetivo o de acolher e instruir meninos órfãos, desvalidos ou infratores. Em 1946 a instituição passou a denominar-se Instituto de Menores de Pelotas (IMP) e atualmente recebe a denominação Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (IMDAZ)57 em homenagem ao bispo que durante 43 anos colaborou com a ampliação e manutenção deste espaço (PERUZZO, 1997).
A instituição mantida pela Mitra Diocesana acolheu menores abandonados entre quatro a
12 anos, não podendo lá permanecer além dos 18 anos (ATA..., 1944). A primeira turma do Abrigo foi composta por dez menores que até o dia 18 de março estavam recolhidos na Delegacia de Polícia e por outros meninos que passaram a viver na “escola de correção” conforme as informações extraídas do jornal O Diário Popular (19/03/1944)58. Ainda sobre os meninos que estavam na delegacia, “estes estavam vivendo de acordo com as possibilidades e acomodações do local. Embora o local não satisfaça as exigências da higiene moderna, tudo foi feito para os referidos menores tivessem uma assistência razoável” (O DIÁRIO POPULAR, 19/03/1944).
Para a investigação da instituição, as publicações de Hammes (2005) e Peruzzo (1997) estão
sendo fundamentais, pois os autores trazem em seus estudos importantes dados sobre a instituição investigada. De acordo com os autores, a educação escolarizada ofertada no Abrigo de Menores era ministrada pelas Irmãs do Sagrado Coração de Maria e posteriormente por professores denominados como leigos. Ainda sobre o ensino primário, a partir de 1947 a instituição passou a contar com o Grupo Escolar Padre Anchieta, escola anexa ao prédio do então denominado Instituto de Menores de Pelotas (IMP). O grupo escolar era mantido pelo governo estadual e exclusivo para os internos do IMP.
O ensino profissional era ofertado e ministrado nas oficinas que integravam o parque de
artesanato, tais como: tipografia, sapataria, malharia, serraria, marcenaria, olaria, eletrotécnica, entre outras que foram sendo inseridas ou modificadas ao longo do tempo. O ensino de ofícios colaborou na formação profissional e pessoal de muitos menores, além disso, os serviços prestados nas oficinas do parque de artesanato eram reconhecidos e usufruídos pela comunidade pelotense. São muitos os exemplos, como as telas de arame que eram feitas sob encomenda, bem como, os trabalhos gráficos que recebiam pedidos de grandes firmas locais e órgãos de imprensa. Na marcenaria foi produzida a mobília da Rádio Universidade e de alguns móveis da Faculdade de Medicina. Não é difícil encontrar relatos de algumas senhoras que tiveram suas roupas
57As obras e documentos analisados utilizam diferentes denominações para se referir à instituição. Para o presente texto será utilizando Abrigo de Menores até 1945 e Instituto de Menores de Pelotas a partir de 1946, ano da troca do nome da instituição. 58As informações publicadas nos jornais locais da época foram consultadas através da leitura do livro intitulado Dom Antônio Zattera 3º Bispo de Pelotas: uma cronobiografia de autoria do professor Wallney Joelmir Hammes publicado em 2005, bem como os termos utilizados para referir-se a Dom Antônio Zattera no decorrer do presente texto, entre eles “Menina dos Olhos”, homem empreendedor e Bispo da Educação.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 111 de 138
confeccionadas nas malharias do IMP. Tais exemplos servem para evidenciar sobre a importância do ensino profissional ministrado na instituição.
A entidade também oferecia Curso Vocacional Agrícola na zona rural de Pelotas, onde
atualmente é a fazenda rural da CAEX – Casa do Amor Exigente, que desenvolve um trabalho com dependentes químicos do sexo masculino. Com a fundação do Colégio Diocesano em 1956, os internos do IMP tiverem a oportunidade de cursar o ensino secundário na referida instituição. Salienta-se que o IMP ofereceu a modalidade de internato até 1980, quando abriu suas portas para crianças e adolescente de ambos os sexos (HAMMES, 2005; PERUZZO, 1997).
Dez anos antes da sua morte, D. Antônio então com 78 anos, renunciou o cargo de Bispo
Diocesano passando as funções episcopais a D. Jayme Chemello. Com a renúncia, D. Antônio adotou o então Instituto de Menores como moradia oficial, passando a participar da manutenção do Instituto, bem como do acolhimento, recuperação e ressocialização dos meninos.
Cabe salientar que há muito que pesquisar sobre a história da fundação e denominação da
instituição, principalmente sobre as divergências dos dados encontrados nos documentos oficiais escritos. Alguns autores enfatizam que o Abrigo de Menores teve como marco inicial a Associação Protetora de Meninos, fundada em 1924, pelo segundo bispo de Pelotas, D. Joaquim Ferreira de Mello. A instituição estava localizada na região do porto de Pelotas e em 1925 passou a ser denominada como Asilo de Meninos Desvalidos. Mais tarde, em 1944, o Asilo foi transferido para o prédio situado no bairro Areal, recebendo a denominação Abrigo de Menores de Pelotas. Tais divergências causam estranhamentos, algo fundamental para no trabalho do historiador. As divergências também podem ocorrer através da interpretação que o pesquisador faz dos documentos analisados. Para Jenkins (2004) a história não obedece a uma única interpretação. Conforme o historiador mude o olhar, desloque a perspectiva, novas interpretações surgirão, o mesmo acontece com a leitura e análise dos documentos existentes nos acervos das instituições, pois estes carregam a história e memória institucional, produzidos em um determinado tempo e espaço. Considerações finais
O Abrigo de Menores, hoje denominado Instituto de Menores Dom Antônio Zattera, tem
sua história diretamente relacionada com a do bispo D. Antônio, pois este muito colaborou com a manutenção da instituição, cuidado com os menores e educação ofertada para os meninos desvalidos. Conforme o exposto, o Abrigo de Menores contemplou parte dos objetivos previstos tanto nas leis de proteção e de assistência aos menores, quanto nas leis da educação que previam o ensino industrial, comercial e agrícola.
Cabe ressaltar que até o momento, o estudo sobre a vida e obra do bispo foi feito através
do livro de Wallney Hammes. O estudo mencionado necessita de leitura crítica e atenta por parte do pesquisador, pois provavelmente trata-se de pesquisa encomendada com o objetivo de enaltecer e evidenciar os aspectos positivos dos trabalhos realizados pelo bispo.
Também é relevante frisar que o ensino profissional desenvolvido no parque de artesanato
da instituição, além de colaborar na formação pessoal do menor amparado pelo Instituto, contribuiu para inserir diversos meninos no mercado de trabalho, sendo que alguns deles serão entrevistados tendo por base o referencial teórico-metodológico da história oral. A educação profissional “revelou” o potencial de muitos meninos, alguns cursaram o ensino técnico e o ensino superior em instituições da cidade.
O IMDAZ atualmente desenvolve um trabalho sócio-educacional com alunos da Escola
Estadual Padre Anchieta que fica anexa ao prédio do Instituto. A instituição está em plena atividade, mas enfrenta problemas estruturais, econômicos e percebe-se que ela não tem o devido reconhecimento da população pelotense. O acervo que há na instituição e seus atores educativos
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 112 de 138
merecem um estudo histórico dentro dos rigores da pesquisa acadêmica, uma vez que muito do que tem sido escrito advém de autores que traçam uma narrativa descomprometida com o rigor do fazer historiográfico, bem como o estudo da vida e obra do bispo, pois este conseguiu mudanças significativas no cenário educacional pelotense.
Referências ATA de Fundação do Instituto de Menores de Pelotas 1944. In: PERUZZO, Rosária Sperotto. Abrigo de Menores: Hibridações na Constituição de Si. 1997. 3002f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. BULCÃO, Irene. Investigando as Políticas de Assistência e Proteção à Infância: Psicologia e ações do Estado. 2006. 272f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, rio de Janeiro. CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. São Paulo: UNESP, 2000. ______. O ensino de ofícios no primórdio da industrialização. São Paulo: UNESP, 2005. HAMMES, Wallney Joelmir. Dom Antônio Zattera 3º Bispo de Pelotas: uma cronobiografia. Pelotas: EDUCAT, 2005. INÁCIO FILHO, Geraldo; SILVA, Maria Aparecida da. Reformas Educacionais durante a Primeira República no Brasil (1889-1930). In: SAVIANI, Dermeval (Org.). Estado e políticas educacionais na história da educação brasileira. Vitória: EDUFES, 2010. p. 271-250. JENKINS, Keith. A História repensada. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. LEITE, Miriam Moreira. A infância no século XIX segundo memórias e livros de viagem. In: FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). História social da infância no Brasil. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. p. 19-52. MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998. NEGRÃO, Ana Maria Melo. Infância, educação e direitos sociais: Asilo de Órfãs (1870-1960). Campinas: UNICAMP/CMU, 2004. PERUZZO, Rosária Sperotto. Abrigo de Menores: Hibridações na Constituição de Si. 1997. 302 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. PORTO JÚNIOR, Manoel José; BANDEIRA, Alexandre de Pauli; BRONGAR; Francisco Carlos Gonçalves. A Educação para o trabalho no Brasil: Breve histórico século XV até a LDB de 1971. In: ASPHE - ENCONTRO SUL-RIOGRANDENSE DE PESQUISADORES EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 13, 2002. ASPHE – Acervos e História da Educação. Porto Alegre: UFRGS, 2007. p. 1-15. RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e desafios do presente. 2. Ed. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: São Paulo: Loyola, 2004. ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930-1973). 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. SCHUELER, Alessandra Frota Martinez de. Internatos, asilos e instituições disciplinares na história da educação brasileira. In: Revista Contemporânea de Educação, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, p. 1-7, dez. 2009. VALLE, Hardalla Santos do. O ensino profissionalizante Salesiano: um estudo sobre as oficinas do Leão XIII em Rio Grande/ RS (1900-1960). 2015. 140 f. Projeto (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. VANTI, Elisa dos Santos. Lições de infância: reflexões sobre a História da Educação Infantil. Pelotas: Seiva Publicações, 2004. VICENTE, Magda. O Patronato Agrícola Visconde da Graça em Pelotas/RS (1923-1934): gênese e práticas educativas. 2010. 157 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, Pelotas, RS, 2010. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 113 de 138
PRÁTICAS E CONTEÚDO: ABORDAGENS METODOLÓGICAS PARA
O ENSINO DE CIÊNCIAS
Jocelline Borges Santos59 Rozângela Soares Grangeiro Borges60
Resumo Este artigo resulta da pesquisa realizada em uma escola Estadual, cidade de Porto Nacional, Tocantins, nas aulas de Biologia. Tendo como objetivo exemplificar as diferentes metodologias que podem ser aplicadas durante as aulas. Foi proposta como metodologia, a construção de três modelos alternativos que posteriormente foram avaliados através dos resultados obtidos por questionários I e II (I aplicado antes da utilização da metodologia e II posteriormente à aula). A partir do resultado ficou evidente que a metodologia usada pelo professor interfere na aprendizagem dos alunos, desta forma, o modelo metodológico prático e/ou teórico/prático é uma das alternativas válidas entre muitos modelos possíveis. Palavras-chave: Práticas de ensino, educação, metodologia do ensino de ciências. Abstract This article results from the research carried out in a State school, city of Porto National, Tocantins, in Biology classes. In order to exemplify the different methodologies that can be applied during class. It was proposed as methodology, the construction of three alternative models that were later evaluated through the results obtained by questionnaires I and II (I applied before the use of themethodology and II after the lesson). From the result it became evident that the methodology used by the teacher interferes with the students' learning, in this way, the practical and / or theoretical / practical methodological model is one of the valid alternatives many possible models. Keywords: Teaching practices, education, methodology of science teaching Introdução
O ensino de ciências, nos últimos anos, tem recebido uma maior importância no que tange as licenciaturas dos cursos de Ciências Biológicas, e este tem sido a bandeira de investigação de inúmeros educadores da área, sobre qual a melhor abordagem a ser considerada mais eficaz para que se tenha êxito dentro do ensino desta modalidade. Devido à rapidez no surgimento das novas descobertas científicas, a formação que muitos professores adquirem durante a graduação é considera obsoleta, poucos anos após sua graduação (LIMA e VASCONCELOS, 2006).
Para Moran (2013), existem diferenças entre os conceitos ensino e educação. Ensino são as
atividades didáticas utilizadas como facilitadoras do processo de aprendizagem; e educação engloba tanto o procedimento de ensino quanto todas as dimensões emocional, psicológica da vida do indivíduo. Brito (2015, p. 1) salienta que: “é importante destacar que quando falamos de aprendizagem nos referimos ao processo de aprendizagem e quando nos referimos ao conhecimento é o produto ou resultado do processo de aprendizagem”.
É fundamental evidenciar que o ensino e a aprendizagem são dois processos distintos,
onde o educando constrói o seu próprio conhecimento, e o faz de modo idiossincrático, pois o processo depende fundamentalmente do que o aluno já sabe, ou seja, de seu conhecimento anterior,
59 Graduada em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Tocantins 60 Docente na Universidade Federal do Tocantins
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 114 de 138
sobre qual ele desenvolverá o novo conhecimento. Desta forma o processamento final da aprendizagem é também diferente para cada estudante (FREIRE, 1987).
Isso evidencia que a didática utilizada pelo professor, pode interferir nesta problemática,
pois as metodologias das aulas podem instigar a atenção dos alunos ou causar a repulsão da mesma. Certamente, não há um método ideal para ensinar os alunos a enfrentar a complexidade dos assuntos trabalhados, mas sim haverá alguns métodos potencialmente mais favoráveis do que outros Bazzo (2000) citado por (LIMA e VASCONCELOS, 2006).
Nesta perspectiva as atividades objetivam exemplificar as diferentes metodologias que
podem ser aplicadas durante as aulas; e através de questionários teste aplicado aos alunos, verificar a eficiência de cada prática de ensino. Desse modo, chegamos às seguintes inquietações, a metodologia utilizada pelo professor influencia na assimilação significativa do conteúdo abordado? Qual a influência que cada aula (prática, teórica ou teórico/prática) exerce sobre o aprendizado dos alunos? E qual metodologia melhor contribui para aprendizagem dos alunos? Metodologia
O presente trabalho foi realizado em uma escola Estadual, cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins. Escolheram-se três turmas de 1º ano do Ensino Médio (sendo A, B e C). Em cada turma foi abordando os conteúdos proteínas e vitaminas, pois já estavam previstos no planejamento da professora regente. A metodologia previu a pesquisa dos conhecimentos prévios dos alunos, seguida da instalação do conflito cognitivo, visando à alteração do conhecimento empírico para o conhecimento científico. Foi proposta como metodologia para esta análise, a construção de três modelos alternativos que posteriormente foram avaliados através dos resultados obtidos por questionários, sendo um questionário aplicado antes da utilização da metodologia e outro aplicado posteriormente à aula.
Na turma A foi abordado apenas aulas práticas, inicialmente a turma recebeu o
Questionário I e logo em seguida foi ministrada a prática – Jogo das Caixas e Jogo das Perguntas - com abordagem dos conteúdos; após a conclusão da prática, os alunos responderam o Questionário II, sendo as mesmas perguntas para os dois questionários. A turma B recebeu o ensino teórico tradicional, também recebeu o Questionário I e após a explicação do conteúdo, respondeu ao Questionário II. A turma C passou pelo mesmo processo, porém com um diferencial de aulas teórico/práticas.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), aprender Biologia na escola básica
permite ampliar o entendimento sobre o mundo vivo, e especialmente contribui para que seja percebida a singularidade da vida humana relativamente aos demais seres vivos e em função da sua incomparável capacidade de intervenção do meio (BRASIL, 2000). Resultados e discussão
Durante as aulas práticas foi utilizado o Jogo das Caixas e Jogo das Perguntas; e a turma foi
dividida em vários grupos contendo cinco alunos em cada um. Para confecção do Jogo das Caixas foram necessárias caixas de fósforos pequenas e vazias, com nomes relacionados aos conteúdos e com exemplos de alimentos nos quais são encontrados os nutrientes. Para o Jogo das Perguntas foi utilizado apenas papéis A4 que foram entregues aos grupos de alunos, onde continham várias frases aleatórias. Estas deviam ser associadas e respondidas de acordo às perguntas interrogadas pela professora durante o jogo. Estes jogos tinham como objetivo levar os alunos a associar os alimentos com suas propriedades funcionais (proteínas e vitaminas) e verificar a capacidade desta associação. Durante as aulas teóricas e dialogadas foi realizada atividade educacional tradicional, elaborada de acordo com o conteúdo do livro didático da escola; para a exposição do conteúdo, foi utilizado recursos de multimídia (notebook, data-show), com imagens e ilustrações do conteúdo.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 115 de 138
Durante as aulas teórico/práticas foi abordado o mesmo conteúdo da aula teórica, porém, além de exposição oral do conteúdo, foram realizadas as mesmas atividades práticas citadas acima.
No decorrer da pesquisa, foi realizada a coleta de dados a partir dos questionários I e II, relacionados ao tema vitaminas. Posteriormente, foram mostradas as diferenças entre estes questionários e somado, separadamente, a quantidade de acertos, erros e sem resposta de cada turma (A, B, C) (ver Gráfico 1). Durante a comparação dos resultados evidenciamos que a turma que obteve maior porcentagem de acertos nos questionários referentes ao tema vitaminas, foi a turma A com 38% de acertos, seguida da turma C com 33% acertos e por último a turma B que obteve 26% de acertos. A turma B atingiu a maior quantidade de erros com 71%, seguida desta, a turma C com 66%, e posteriormente a turma A que atingiu 60% de erros. Na análise das perguntas que foram deixadas sem respostas, observa-se que a turma B atingiu a maior porcentagem com 3%, enquanto que a turma A atingiu 2% e C atingiu apenas 1% (ver Gráfico 1).
Gráfico 1 - Porcentagem média (acertos, erros e sem resposta) das perguntas na avaliação do conteúdo
Vitaminas, nas turmas A (aulas práticas), turma B (aulas teóricas) e turma C (aulas teóricas-práticas). Fonte: Elaboração própria (2016)
O destaque na porcentagem de acertos para a turma A, descrita no gráfico 1, pode ser
justificada por Amorim (2013, p. 23) que define: Os modelos didáticos correspondem a um sistema figurativo que reproduz a realidade de forma esquematizada e concreta, tornando-a mais compreensível ao aluno. Representa uma estrutura que pode ser utilizada como referência, uma imagem que permite materializar a ideia ou o conceito, tornando-os assimiláveis (AMORIM, 2013, p. 23).
Considerando a relevância de tal aplicabilidade em sala de aula, Lunetta (1991) citado por
Leite et. al., (2008, p. 3) sugere: “as práticas desenvolvidas pelo professor ajudam no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos”.
A partir da análise das porcentagens de erros, ficou evidente que a turma B obteve a maior
porcentagem. Nesta turma aplicou-se a metodologia do ensino tradicional, esses valores nos permitiram observar que a metodologia aplicada não permitiu desenvolver os conceitos científicos no processo cognitivo dos alunos de forma a fazer com que esses conseguissem ultrapassar seus conceitos empíricos. Este resultado pode ser compreendido quando se entende a abordagem de Moran (2013), onde diz que:
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 116 de 138
As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais e auxiliam o professor em sua tarefa de ajudá-los mais e melhor (MORAN, 2013, p. 27).
A partir das porcentagens de perguntas sem respostas, entendemos que a metodologia
usada na turma B (aulas teóricas) não contribuiu para a aprendizagem de alguns alunos, pois é evidente que os mesmos ficaram confusos a cerca do conteúdo vitaminas. Já nas turmas A e C as porcentagens de perguntas sem respostas foram bem menores chegando a 1%; tais resultados podem ser justificados pela aplicabilidade de metodologias práticas e teórico/práticas, as quais corroboram para uma melhor assimilação do conteúdo pelos alunos, auxiliando também na construção do conhecimento dos estudantes.
Tais discussões também foram evidenciadas com relação ao conteúdo proteínas; quanto
aos dados obtidos a partir dos questionários relacionados a este tema, notamos que a turma C obteve maior porcentagem de acertos, sendo 42%, seguida da turma A com 35%, e a turma B obteve 31% de acertos. Quanto aos erros, a turma em destaque é a B, pois atingiu 67% de erros, seguida da turma A com 63%, e a turma C que obteve a menor quantidade de erros com 56%. Todas as três turmas atingiram 2% de “sem resposta” (ver Gráfico 2).
Gráfico 2 - Porcentagem média (acertos, erros e sem resposta) das perguntas na avaliação do conteúdo Proteínas, nas turmas A (aulas práticas), turma B (aulas teóricas) e turma C (aulas teóricas-práticas). Fonte: Elaboração própria (2016)
Com base nos resultados obtidos, é interessante observar que a turma que se destacou
quanto à maior porcentagem de acertos e menor percentual de erros, foi a turma que recebeu o ensino teórico/prático. Nessa perspectiva, partimos de um pressuposto de que ensinar vai além da simples informação do conteúdo, de acordo com Zuanon & Diniz (2004):
As propostas metodológicas têm como eixo central oportunizar aos alunos a organização e a direção de situações de aprendizagem, ou seja, que promovam maior interação entre os alunos, podem efetiva e eficazmente contribuir para uma formação integral do indivíduo (ZUANON & DINIZ, 2004, p 130).
Considerando a relevância do uso adequado dos modelos nas aulas para fins educacionais,
de forma que estes sejam usados para facilitar e promover assimilação dos conteúdos, como é mencionado por Setuval e Bejarano (2009, p. 4) “os modelos didáticos são instrumentos sugestivos e que podem ser eficazes na prática docente diante da abordagem de conteúdos que, muitas vezes, são de difícil compreensão pelos estudantes”.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 117 de 138
Mesmo sabendo a importância da aplicabilidade da interação entre conteúdo e prática, vale
ressaltar que a mesma deve ser realizada de forma coerente para que atinja os devidos objetivos, Setuval e Bejarano (2009) enfatizam:
Outra evidência é o dinamismo que os modelos didáticos poderão propiciar na fixação dos conteúdos, assim como na resolução dos problemas evidenciados no modo como os professores desenvolverão na execução da sua prática. Sob esta ótica, é imperativo que os docentes possam promover a articulação entre a teoria e a prática de maneira dialógica e afetiva, partindo do princípio da autonomia do estudante em questionar sobre o que ele realiza e observa diante de um fenômeno ou processo estudado (SETUVAL e BEJARANO, 2009, p. 8).
Por isso, é importante salientar que para alcançar resultados satisfatórios com os modelos
didáticos, estes devem ser aplicados em conjunto com a parte teórica dos conteúdos e sempre com a abordagem do professor, pois é dele a função de fazer a ligação do modelo e conteúdo e concomitantemente, fazer os direcionamentos adequados para cada prática.
Ainda sobre os dados coletados na pesquisa, a maior porcentagem de erros foi observada
na turma B, onde se trabalhou com a metodologia exclusivamente tradicional, sem se preocupar com a utilização do método científico, ou seja, fazer com que o aluno fosse o agente do processo e não meramente um expectador. Esse resultado enfatiza ainda mais a necessidade que o professor da área de ciências naturais trabalhe com atividade prática e que esta faça parte da sua rotina de trabalho em suas aulas. Nesse sentido, Santos (2005) afirma que o sentido da aplicação de práticas, é que a Ciência encaminha o pesquisador para rupturas de fronteiras, métodos, experimentos e experiências de verdades transitórias. Assim, entende-se que as práticas atuam como forma de melhorar o desempenho dos estudantes em conteúdos de difícil compreensão.
Outro motivo que pode ter influenciado na quantidade de erros, é a questão dos termos
científicos usados no processo de ensino durante as aulas, esses termos podem ter deixado os alunos mais confusos após as aulas teóricas, e os estudantes que tiveram a aula teórico/prática, por terem passado mais tempo trabalhando esses termos, atingiram um melhor desempenho nas respostas do questionário II. Conclusão
A partir desta pesquisa observamos que os alunos que obtiveram um ensino por meio de metodologias práticas e teórico/práticas foram os que mais se destacaram quanto às porcentagens de acertos.
A partir do estudo realizado, evidenciamos que a ação metodológica utilizada pelo
professor interfere no processo de ensino-aprendizagem dos alunos; portanto, o educador atua diretamente como promotor neste processo, e este deve trabalhar na criação de situações que ativem a participação dos alunos nas atividades abordadas durante as aulas, de forma que o aluno também assuma responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem.
Analisando o conteúdo Vitaminas, a turma que obteve maior quantidade de acertos foi a A
na qual se trabalhou apenas com aulas práticas. A aplicação desta categoria caracterizou-se, portanto, como contribuinte efetivo na construção do conhecimento pelo aluno.
Analisando os resultados obtidos do conteúdo Proteínas, a turma que obteve maior
entendimento do assunto foi a turma C, onde a partir das aulas teórico/práticas, os alunos foram capazes de desenvolver uma aprendizagem mais significativa.
Através dos dados adquiridos nesta pesquisa, percebemos que a prática não pode ser
desvinculada da teoria, pois a mesma corrobora para o melhor aprendizado dos alunos. O aumento do percentual de acertos nas turmas em que foram trabalhadas aulas práticas e teórico/práticas,
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 118 de 138
talvez se explique pelo interesse dos alunos durante as aulas, pois ficou nítida a participação dos mesmos. Esse comportamento influenciou significativamente na sua aprendizagem. Evidenciamos também que as práticas não precisam necessariamente contemplar experimentos no laboratório. Estas podem ser realizadas dentro da sala de aula, proporcionando o contato com os alunos.
Quanto à análise das porcentagens de erros relacionados ao conteúdo vitaminas, a turma
que obteve a maior quantidade, foi a B, onde trabalhamos apenas com aulas teóricas. Quanto às observações nos valores de erros relacionados ao conteúdo proteínas, a turma B novamente se destacou dentre as demais, isto evidencia que o ensino teórico não foi favorável à ampliação do conhecimento dos alunos. Assim, o estudo de ciências numa abordagem metodológica tradicional, não ajuda o aluno a construir o conjunto de competências e habilidades para elaborar novos conhecimentos. Porém, é cabível destacar que as aulas práticas dialogadas não precisam ser abolidas das práticas pedagógicas, mas devem ceder espaços para que outras ações metodológicas sejam contempladas. Portanto, cabe ao professor saber mediar o uso desta metodologia tradicional.
Evidenciamos também que os alunos manifestaram maior interesse em participar de
praticamente todas as propostas didáticas, como jogos, entre outras práticas durante as aulas. Pois, mesmo sabendo que as aulas expositivas tenham sua importância para o processo de aprendizado dos alunos, aulas estas com explicações orais e a utilização do quadro, às vezes torna desanimadoras para os mesmos, portanto foi possível perceber que as aulas práticas geraram curiosidades e satisfação.
A partir desta pesquisa, observamos que a metodologia usada pelo professor interfere na
aprendizagem dos alunos, desta forma, o modelo metodológico prático e/ou teórico/prático é uma das alternativas válidas entre muitos modelos possíveis. E, percebe-se o quanto as aulas práticas são importantes, pois a partir delas, os alunos podem visualizar o que viram em livros ou ouviram através da fala do professor, contribuindo com a qualidade no ensino-aprendizagem. Referências AMORIM, Alessandra dos Santos. A influência do uso de jogos e modelos didáticos no ensino de Biologia para alunos de Ensino Médio. 2013. Disponível em: <http://www.uece.br/sate/index.php/downloads/doc_download/2146-biobeberibeamorim>. Acesso dia 05 de maio de 2016. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Secretária de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2000. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf>. Acesso dia 08 de abril de 2016. BRITO, Márcia Regina F., O ensino e a formação de conceitos na sala de aula. 2015. Disponível em: <http://www.infocien.org/Interface/Colets/v1n05a08.pdf>. Acesso dia 14 de março de 2016. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Editora: Paz e Terra, 1987.Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/paulo_freire_pedagogia_do_oprimido.pdf>. Acesso dia 27 de maio de 2016. LEITE, Adriana Cristina Souza; SILVA, Pollana Alves Borges; VAZ, Ana Cristina Ribeiro. A importância das aulas práticas para alunos jovens e adultos: uma abordagem investigativa sobre a percepção dos alunos do PROEF II. 2008. Disponível em: < http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewfile/98/147>. Acesso dia 29 de março de 2016. LIMA, Kênio Erithon Cavalcante; VASCONCELOS, Simão Dias. Análise da metodologia de ensino de Ciências nas escolas da rede municipal de Recife. Ensaio: Avaliação e Políticas em Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 52, jul/set.2006. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000300008>. Acesso dia 21 de março de 2016.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 119 de 138
MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e Mediações Pedagógicas. – 21º ed. rev. e atual. – Campinas, SP: Papirus, 2013. – (Coleção Papirus Educação). SANTOS, Valdecí. Projetos de pesquisa em educação: um olhar sobre a formação do professor de Biologia. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, 1, 2005, III ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA DA REGIONAL RJ/ES, v. 3. n. 1. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 9 a 12/ago/ 2005. Disponível em: <http://www.valdeci.bio.br/pdf/n01_2005/projetos_de_pesquisa_valdeci.pdf>. Acesso dia 30 de maio de 2016. SETUVAL, Francisco; BEJARANO, Nelson. OS Modelos didáticos com conteúdos de genética e a sua importância na formação inicial de professores para o ensino de ciências e biologia. Bahia, 2009. Disponível em: <http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/1751.pdf>. Acesso dia 21 de abril de 2016. ZUANON, Átima Clemente Alves; DINIZ, Renato Eugênio da Silva. O ensino de Biologia e a participação dos alunos em “atividades de docência”: uma proposta metodológica. Pesquisas em ensino de ciência: contribuições para a formação de professores/ Roberto Nardi, Fernando Bastos, Renato Eugênio da Silva Diniz. Organizadores. - 5. ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2004. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 120 de 138
PREENCHA AS LACUNAS: ANÁLISE DE ATIVIDADE DE LÍNGUA INGLESA EM
UMA TURMA DE EJA61
José Amilsom Rodrigues Vieira62
Kelma de Sousa Silva Dias63 Resumo A Educação de Jovens e Adultos – EJA – é assegurada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Considerando que o ensino de língua estrangeira assume fundamental importância para a formação interdisciplinar nesse segmento, o artigo traz reflexões sobre atividade desenvolvida por uma professora de língua inglesa em uma escola do município de Araguaína, Estado do Tocantins. Os resultados apontam para a manutenção de práticas que focalizam a exploração de palavras e estruturas gramaticais em prejuízo da função social da linguagem. Palavras-chave: PCNLE. Ensino de língua estrangeira. Língua inglesa. EJA. Abstract Youth and Adult Education - EJA - is guaranteed to those who did not have access or continuation of studies in primary and secondary education in their appropriate age. Considering that foreign language teaching is fundamentally important for interdisciplinary training in this segment, the article reflects on an activity developed by an English language teacher at a school in the municipality of Araguaína, Tocantins State. The results point to the maintenance of practices that focus on the exploration of words and grammatical structures to the detriment of the social function of language. Keywords: PCNLE. Foreign language teaching. English language. EJA. Introdução
A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB64), em seu artigo 37, expressa que
“a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, n. p.). No conjunto de esforços envidados para que o segmento EJA represente resposta aos desafios educacionais dos novos tempos, o ensino de língua estrangeira emerge com acentuada importância à formação interdisciplinar desses jovens e adultos, visto contribuir para a construção da cidadania e favorecer a participação social, possibilitando novas formas de compreender o mundo e nele intervir (BRASIL, 2002). Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental para as Línguas Estrangeiras (PCNLE) assumem como temas centrais “a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de língua estrangeira” (BRASIL, 1998, p. 15).
Os PCNLE, em sua apresentação, destacam que a aprendizagem de língua estrangeira
constitui possibilidade de o aluno desenvolver sua autopercepção como ser humano e como cidadão, devendo o seu ensino, por esse motivo, “centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social” (BRASIL, 1998, n. p.). O ensino de língua estrangeira, sob esse
61Texto produzido a partir de relato de observação apresentado à disciplina Investigação da Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado em Língua Inglesa: Língua e Literatura I do curso de Letras da Universidade Federal do Tocantins – UFT. 62Mestre em Letras: Ensino de Língua e Literatura (UFT). E-mail: [email protected] 63Graduada em Letras: Inglês/Português (UFT). E-mail: [email protected] 64Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 121 de 138
entendimento, deve orientar-se às necessidades do aluno enquanto sujeito do discursivo65, razão por que deve ser negado, em sala de aula, território a práticas de ensino que privilegiam, por exemplo, a exploração de palavras e estruturas gramaticais descontextualizadas.
No âmbito do ensino pautado pela estrutura linguística, têm predomínio as aulas
essencialmente expositivas, em geral alicerçadas por material apostilado e/ou livros didáticos. Os conteúdos ali recorrentes são tópicos como cumprimentos, dias da semana, meses, profissões, cores, verbos to be e to have, pronomes pessoais, nacionalidades, números, artigos, adjetivos, preposições, formas interrogativas, respostas curtas, abordados de maneira dissociada de contextos mais amplos (BRASIL, 2006). É forçoso reconhecer que essa prática, que privilegia a norma em detrimento do uso, tem como objetivo tornar mais simples a aprendizagem de línguas estrangeiras, ainda que incorrendo em grande equívoco.
Na tentativa de facilitar a aprendizagem, […] há uma tendência a se organizar os conteúdos de maneira excessivamente simplificada, em torno de diálogos pouco significativos para os alunos ou de pequenos textos, muitas vezes descontextualizados, seguidos de exploração das palavras e das estruturas gramaticais, trabalhados em forma de exercícios de tradução, cópia, transformação e repetição (BRASIL, 1998, p. 54).
É no âmbito das práticas facilitadoras da aprendizagem que se perpetua a abordagem da gramática e da tradução (AGT). Essa abordagem, conforme assinalado por Leffa (1988), tem como principais características: 1. Memorização do léxico; 2. Ensino de regras sintáticas; 3. Dedução; 4. Tradução de textos para a língua L1; 5. Versão de textos para a L2; 6. Ênfase na língua escrita; 7. Ênfase na literatura da L2, atribuindo-se primazia à forma escrita da língua e conferindo-se, por isso, pouca ou nenhuma importância aos aspectos inerentes à pronúncia e à entonação. Sob esse prisma, as atividades em sala de aula demandam o domínio da terminologia gramatical e das regras do idioma com todas suas exceções. Em síntese, a aprendizagem de língua estrangeira deve nortear-se por três passos:
(a) memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras necessárias para juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução e versão (tema). É uma abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para o exemplo (LEFFA, 1988, p. 212).
Entreveem-se das considerações de Leffa (1988) não apenas as características da AGT, mas
a clara forma como, em nossas escolas, o ensino de língua estrangeira tem sido conduzido. Acrescente-se que nossos professores têm dispensado especial atenção ao conhecimento das regras gramaticais e memorização de lista de palavras, essa a pretexto de enriquecimento do vocabulário. Os exercícios de tradução não raro são relegados a segundo plano. A permanência da AGT em sala de aula decorre da prática de reduzir o ensino de línguas ao ensino de gramática normativa, conquanto tal prática tenha sido exaustivamente criticada pelos estudos da linguagem.
Um processo ensino-aprendizagem de língua estrangeira alicerçado nos atos de memorizar e recitar regras gramaticais, bem como em traduções desenvolvidas de forma mecânica, irrefletidas, não mais se sustenta, haja vista que nas interações verbais e escritas as pessoas agem no mundo social, situadas em determinado momento e espaço, sendo por isso o sujeito um ser discursivo e a língua uma prática social. Em atendimento a esse pressuposto, os PCNLE expressam ser urgente que no e para o ensino de língua estrangeira seja assumida a visão sociointeracional da linguagem e da aprendizagem (BRASIL, 1998).
65Conforme os PCNLE, ‘a construção do aluno como sujeito do discurso se relaciona ao desenvolvimento de
sua capacidade de agir no mundo por meio da palavra em língua estrangeira nas várias habilidades
comunicativas’ (BRASIL, 1998, p. 19).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 122 de 138
O enfoque sociointeracional da linguagem indica que, ao se engajarem no discurso, as pessoas consideram aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção social do significado. É determinante nesse processo o posicionamento das pessoas na instituição, na cultura e na história (BRASIL, 1998, p. 15).
A perspectiva sociointeracional pressupõe que o aprendiz seja mobilizado a utilizar
conhecimentos sistêmicos, de mundo e sobre a organização textual, necessários à construção social do significado. Em termos outros, o ensino de língua estrangeira, da forma enfocado nos PCNLE, impõe ao professor o desafio de possibilitar ao aluno o espaço que a esse de direito pertence, o de sujeito no processo de construção de saberes. Esse redimensionamento da posição do aluno é, sem dúvidas, um dos grandes óbices a efetivos avanços nas práticas de ensino.
Isso considerado, este artigo traz reflexões acerca de atividade de língua inglesa
desenvolvida por uma professora de jovens e adultos em uma escola pública do município de Araguaína, Estado do Tocantins, objetivando-se constatar em que medida sua prática mantém diálogo com as proposições contidas no referido documento. Nesse sentido, o texto divide-se nas seguintes seções: Introdução, que comporta também o referencial teórico; Metodologia, na qual são apresentados os colaboradores e a atividade objeto de análise; Inglês pra quê? composta pela análise e pela discussão; por fim, as considerações finais, em Últimas palavras. Metodologia Colaboradores
Os colaboradores do estudo foram professora e alunos de uma turma de EJA, primeiro
período do segundo segmento do ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual do município de Araguaína, Estado do Tocantins. Com vistas a assegurar-lhe o devido anonimato, a professora colaboradora será identificada como Emília Lajolo. Na seção abaixo, considerações relativas à atividade objeto de análise. 1.2 Let’s practice
A professora Emília Lajolo norteia sua prática docente por uma xérox do livro “A New
Practical English Course66”, de Edgar Laporta. Os alunos, por sua vez, fazem uso da cópia desse material, a qual, em razão de ser cópia de cópia, apresenta qualidade já bastante comprometida. O original do livro em questão, conforme indicado em sua capa, vem acompanhado de um CD, recurso que, evidentemente, deve ser utilizado como suporte a atividades atinentes às práticas de pronúncia, principalmente. A atividade abaixo transcrita é representativa do conjunto de “exercícios de fixação” desenvolvido pela turma observada.
Let’s practice
A. Ask a classmate the names of four school objects. Follow the example. Example: A: What’s this in English?
B: It’s _____
B. Complete the sentences with a or an
1. That is _____ ruler 2. This is _____ eraser 3. That is _____ book 4. This is _____ address book67
66 Não foi possível identificar os dados bibliográficos da obra. 67 Registre-se que ao lado do nome a ser precedido pelo artigo há ilustração de uma criança com o respectivo objeto escolar.
a an
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 123 de 138
A transcrição é aqui justificada em função da precária qualidade do material disponibilizado
pela colaboradora, o que, pela razão já mencionada, compromete a sua legibilidade68. Por assim ser, cópia da atividade propriamente dita será disponibilizada como anexo. Na seção abaixo, apresentam-se reflexões relativas ao seu desenvolvimento. Inglês pra quê?
Atividades como a acima descrita, em contextos de ensino e de aprendizagem de línguas,
esclarece Antunes (2009), elaboram-se esvaziadas do exercício de interação, mostrando-se, em razão disso, faltosas de uma função, de uma finalidade para as frases aí elencadas, de uma unidade semântica, portanto. Observe-se, a esse respeito, que a atividade tem como alicerces enunciados aleatoriamente distribuídos, cujo nexo semântico se estrutura unicamente em razão de pertencerem a uma pequena lista de objetos escolares. Fossem esses substantivos pertencentes a campos semânticos diversos, não repercutiriam alterações ao objetivo primeiro da atividade, qual seja o preenchimento das lacunas com os artigos a ou an.
Tem-se, nesse sentido, que a atividade orienta-se à constatação dos efeitos das “vacinas"
lexicográficas e "injeções" sintáticas que, segundo Weininger (2008), são aplicadas no cérebro dos estudantes sob o equívoco de serem essas suficientes para o enfrentamento dos desafios da comunicação autêntica no novo idioma. Em assim sendo, claro está que a professora acolhe em sua prática pressupostos da AGT, da forma referenciada por Leffa (1998). O pressuposto aqui em relevo é aquele que se traduz pelo entendimento de que a aprendizagem de línguas condiciona-se ao “domínio da terminologia gramatical e [a]o conhecimento profundo das regras do idioma com todas as suas exceções” (LEFFA, 1988, p. 212).
A prática da professora Emília, assim tomada em síntese, move-se em distância ao que
propõem os PCNLE quando destacam que o estudo repetitivo de palavras e estruturas apenas suscitará o desinteresse do aluno em relação à respectiva língua estrangeira (BRASIL, 1998). Ressalte-se, nesse sentido, que, não poucas vezes, os alunos questionaram a professora quanto à validade de aprender uma segunda língua, principalmente a língua inglesa, sendo que os argumentos tinham por órbita em particular o fato de que não haveria situações fora da sala de aula que demandassem sua utilização. Não obstante os esforços da professora para lhes demonstrar tal importância, destacando, por exemplo, que o domínio de uma segunda língua, principalmente a língua inglesa, tem papel importante para uma compreensão e intervenção no mundo contemporâneo, os alunos continuavam apáticos, inertes diante da atividade proposta.
Observe-se que o argumento da professora tem clara relação com o pensamento de Moita-
Lopes (2003, p. 33), que, em repetição a palavras de Santos (2000), pontua que vivemos em “um mundo no qual nada se faz de importante sem discurso”. E os discursos em rápida circulação no mundo contemporâneo, acrescenta Moita-Lopes (2003), são construídos em língua inglesa. Estabelecida a correlação entre o entendimento do autor e os esforços da professora para demonstrar aos alunos o porquê de o inglês fazer parte do currículo escolar, resta a prática, a forma como a teoria adquire corpo na construção de saberes em sala de aula.
A prática, aqui representada pela atividade ora sob análise, remete o aluno ao entendimento
de que não há um “sentido prático” para a aprendizagem de uma língua estrangeira, dado que essa lhe parece resumir-se à memorização de regras e à identificação de palavras, ainda que se diga que a compreensão e intervenção na realidade que os cerca inscreve-se, de certo modo, na aquisição de saberes multilinguísticos. E é no âmbito da incoerência entre discurso e prática docente que a aprendizagem de língua inglesa mostra-se como algo a ser “suportado” em sala de aula, haja vista ser indispensável ao processo de “aprovação” do aluno.
68 Um e outro aluno reclamaram da qualidade do material, como aqueles de idade já avançada.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 124 de 138
Voltadas as lentes aos PCNLE, constata-se que uma das fragilidades do ensino de língua
estrangeira tem raízes fincadas em práticas que privilegiam conteúdos que se traduzem em pontos ou estruturas gramaticais descontextualizados em detrimento do sujeito em sua condição de aprendiz. Assegurar ao aluno a condição de aprendiz, com muitas das implicações que o verbo aprender comporta, é desafio que pode ser superado se, conforme já afirmado, for assumida, por exemplo, a concepção sociointeracional de linguagem, que deve manifestar-se por meio de atividades pedagógicas centradas na constituição do aluno como “ser discursivo”, ou seja, em sua constituição como “sujeito do discurso” via língua estrangeira (BRASIL, 1998).
A concepção sociointeracional de linguagem, ao pressupor que “a aprendizagem de uma
língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso” (BRASIL, 1998, p. 19), impõe ao professor o compromisso de, desde o início da aprendizagem de língua estrangeira, desenvolver um trabalho que possibilite ao aluno a confiança em sua capacidade de aprender, elegendo-se como ponto de partida temas de interesse do sujeito que aprende, e não daquele que ensina (BRASIL, 1998). Em se tratando de alunos de EJA, o professor precisa compreender que tem à sua frente um grupo com características diversas àquele que frequenta as séries regulares. E isso é essencial ao processo de ensino e de aprendizagem.
Uma das características mais frequentes dos alunos de EJA é a baixa autoestima. Essas
pessoas, via de regra, chegam à escola trazendo sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de modo a perderem a crença de que são capazes de aprender (BARCELOS, 2006 apud SANTIAGO, 2008). Tais sentimentos, não raro, são reforçados por situações de fracasso escolar, visto que, em sua eventual passagem pela escola, experienciaram eventos muitas vezes marcados pela exclusão e/ou pelo insucesso (BRASIL, 2006).
Atividades como a aqui analisada representam forma de inércia docente em face do que
representa, para os alunos de EJA, o ingresso ou retorno às salas de aula. É flagrante, nesse sentido, não haver nela nada que represente intento de envolvê-los, colocá-los na condição de sujeitos do discurso, instigá-los, em decorrência, a acreditar que são capazes de aprender. Antes, ao modo do que prescreve a concepção bancária da educação69, são tratados como meros receptáculos de conteúdos a serem retirados quando necessário. Essa prática, sem margens a dúvidas, torna o professor insensível ao aluno enquanto ser permeado por experiências, por conhecimentos que podem ser considerados para e na construção de novos saberes.
Há que reconhecer, nesse sentido, a existência de um saber que é proveniente das
experiências, bagagem cultural e habilidades profissionais desse sujeito, o qual deve ser tomado como ponto de partida para o resgate da autoimagem positiva, ampliação da autoestima e fortalecimento da autoconfiança (BRASIL, 2006). O que se percebe, todavia, considerada a forma como alunos de EJA têm sido tratados em sala de aula, é a manutenção do equívoco de imaginar que essas pessoas, em suas vivências extraescolares, não mantêm contato com saberes minimamente relacionados à língua inglesa, por exemplo. Daí as atividades que lhes negam vez e voz, que não atendem a questionamentos, expectativas e temores suscitados por esse idioma.
Em resultado de equívocos dessa ordem, tem-se o acolhimento de abordagens que não
concebem a linguagem como “prática social, como possibilidade de compreender e expressar opiniões, valores, sentimentos, informações” (BRASIL, 1998, p. 54), como mediadora de um encontro entre pessoas com necessidades concretas de comunicação, mas como um encontro entre indivíduos e regras abstratas, distantes de um contexto sócio-histórico-cultural. Ao aluno de EJA, resta, nesse sentido, o fortalecimento da crença de que se é difícil português, imagine inglês, o que significa acentuar suas limitações em face dos desafios que lhes são impostos pelo retorno ou ingresso às salas de aula.
69 Para uma leitura consistente acerca dessa concepção, ver FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1987.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 125 de 138
Últimas palavras
A atividade analisada neste artigo inscreve-se aos pressupostos da Abordagem da
Gramática e da Tradução, havendo, por isso, ênfase ao uso de tópico gramatical dissociado de situação que remeta o aluno aos usos reais da linguagem. Para o professor, representa um esforço de simplificação da aprendizagem, o que resulta tão somente na perpetuação de práticas equivocadas. Para o aluno, significa o contato não com outro idioma, com todas as suas especificidades, mas com uma língua traduzida em regras a serem “fixadas”, sem vínculos com situações vivenciadas em seu dia a dia.
Os PCNLE põem em negrito o caráter inócuo de abordagens dessa ordem, haja vista
esvaziadas de uma análise das necessidades dos alunos, de uma concepção explícita da natureza da linguagem, do processo de ensino e aprendizagem de línguas e principalmente de sua função social (BRASIL, 1998). Ao associar o ensino de línguas à visão sociointeracional da linguagem e da aprendizagem, o documento desafia o professor a reconhecer o aluno como sujeito do discurso e, por consequência, da aprendizagem. Esse desafio, há muito aceito em âmbito teórico, na medida em que a expressão de ordem tem sido o aluno como sujeito na construção de saberes, é ainda distante da prática docente, dado importar revisão crítica, por parte de nossos professores, quanto ao que seja, de fato, o ato de ensinar.
Como evidenciado, a professora colaboradora tem consciência da importância da
aprendizagem de língua estrangeira para a formação interdisciplinar do aluno, para sua forma de ser e estar no mundo. Isso sem dúvidas ela tem. O que lhe falta, acredita-se, é o exercício do que se conhece, pelo menos em princípio, como prática reflexiva. Somente essa tomada de postura pode trazer luz a cantos escuros do fazer pedagógico, como aqueles no qual se escondem as causas do desinteresse do aluno em face de atividades como a aqui analisada. Até lá, persiste um questionamento comum a muitos alunos: inglês pra quê? Referências ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. (Estratégias de ensino, 10). BRASIL. Cadernos EJA 1: Trabalhando com a educação de jovens e adultos - Alunas e alunos de EJA. Brasília: MEC/SECAD, 2006. ______. Ministério da Educação. Proposta curricular para educação de jovens e adultos: segundo segmento do Ensino Fundamental: 5a a 8a série: língua estrangeira. Brasília: MEC, 2002. v. 2. ______. Secretaria de educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Língua Estrangeira/Secretaria de Educação Fundamental- Brasília: MEC / SEF, 1998. ______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997. LEFFA, V. J. Metodologia do ensino de línguas. In: BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. (Org.). Tópicos em linguística aplicada: o ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. p. 211-236. SANTIAGO, C. A. B. Uma situação de aprendizagem de língua inglesa com alunos da EJA: percepções sobre uma unidade didática e a aprendizagem. 2008. 162 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP, São Paulo. 2008. WEININGER, M. J. Do aquário em direção ao mar aberto: mudanças no papel do professor e do aluno. In: LEFFA, V. J. (Org.). O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 2. ed. Pelotas: EDUCAT, 2008. p. 45-72. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 126 de 138
O GÊNERO PICARESCO: DO CLÁSSICO À MODERNIDADE
José Cabral Mendes 70
Luciana Marino do Nascimento 71 Resumo O presente trabalho tem como objetivo apresentar a Picaresca, de maneira conceitual e histórica, desde sua origem, na Espanha em 1554, século XVI, até sua manifestação na literatura latino-americana, século XX. O gênero picaresco não ficou restrito somente à literatura europeia; percorreu outros caminhos, atravessou fronteiras, chegando à América Latina. Nesse sentido, faz-se mister uma abordagem sucinta do surgimento e trajetória desse gênero romanesco, bem como de suas manifestações nas Literaturas Hispano-americana e Brasileira. Neste trabalho, alguns autores e críticos literários, os quais tratam desse gênero literário, serão utilizados metodologicamente como fundamentação teórica para a apresentação da proposta, que será desenvolvida em uma perspectiva dialógica, dentre os quais: Bakhtin (1981), González (1994), Bergson (2004), e Rico (1988). Palavras-chave: picaresco; história; literatura. Resumen El presente trabajo tiene como objetivo presentar la Picaresca, de manera conceptual e histórica, desde su origen, en España en 1554, siglo XVI, hasta su manifestación en la literatura latinoamericana, siglo XX. El género picaresco no quedó restringido sólo a la literatura europea; Recorrió otros caminos, atravesó fronteras, llegando a América Latina. En ese sentido, se hace menester un abordaje sucinta del surgimiento y trayectoria de ese género románico, así como de sus manifestaciones en las Literaturas Hispanoamericana y Brasileña. En este trabajo, algunos autores y críticos literarios, que tratan de ese género literario, serán utilizados metodológicamente como fundamentación teórica para la presentación de la propuesta, que se desarrollará en una perspectiva dialógica, entre los cuales: Bakhtin (1981), González (1994), Bergson (2004), y Rico (1988). Palabras clave: picaresco; Historia; Literatura. A picaresca
A picaresca é o gênero literário no qual se descreve o comportamento dos pícaros. Entende-se por pícaro aquele homem que é ardiloso, astuto, velhaco, esperto, sagaz (HOUAISS, 2001, p. 2207), que é o personagem próprio do gênero literário intitulado como picaresca, que sobrevive por meio da enganação e de espertezas, buscando frequentemente a sobrevivência lucrativa e vantajosa para si, quando seus maiores alvos eram as pessoas bem sucedidas financeiramente, em especial as burguesas.
De acordo com Jiménez (1992, p. 11), “datam do ano 1554 as três edições mais antigas do Lazarillo hoje conhecidas. Nenhuma delas indica o nome do autor”. Portanto, o gênero picaresco surgiu no século XVI na Espanha com a obra intitulada “Lazarillo de Tormes”, publicada em 1554 por um autor desconhecido, merecendo, pois, uma posição destacável no que se diz respeito à historicidade literária, tendo em vista fundamentar relevantemente o que pode ser classificado como a modernização da literatura e, por esse motivo, pode-se compreendê-la como um trabalho fruto
70 Mestre em Letras pela UFAC. Professor Assistente de Língua e Literatura Espanhola da Universidade Federal do Acre. Doutorando em Linguística Aplicada pelo PIPGLA-Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. 71 Doutora em Teoria e História Literária pela UNICAMP. Docente da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro- Departamento de Ciência da Literatura e do PIPGLA-Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 127 de 138
dos primeiros manifestos da generalidade literária, o romance, incluindo, dentro desta, a primeira manifestação do gênero picaresco em forma de romance.
Sobre o autor do Lazarillo, houve bastantes discussões polêmicas, por muito tempo. Vários críticos levantaram hipóteses sobre sua autoria, apontando alguns possíveis autores, dentre os quais: Diego Hurtado de Mendoza (1503 – 1575) e Sebastián de Horozco (1510 – 1580). Para tanto, diversos críticos pensavam ter solucionado o grande mistério da historicidade literária sobre o verdadeiro autor do Lazarillo. Entretanto, na atualidade, o anonimato do autor desta obra é aceito unanimemente. Francisco Rico, crítico literário, evidencia seu ponto de vista com relação a esta obra, que, se não soluciona a existência do verdadeiro autor da obra, esclarece o motivo pelo qual o texto foi escrito anonimamente, pois, segundo ele,
o Lazarillo foi publicado anonimamente porque, para os seus leitores, quem conta a sua própria vida é Lázaro de Tormes. Se a grande novidade era que um desclassificado contasse sua própria história, não teria sentido para a verossimilhança da obra – que pretende apoiar-se numa absoluta aparência de verdade – que um outro aparecesse na função de “autor” na capa do livro (RICO, 1988, p. 31-44).
Esse anonimato nos leva a conceber a ideia de que mesmo sendo muito contundente a
concepção de Rico, não desprezemos hipoteticamente a ideia de o autor usar essa artimanha com uma égide para se prevenir das possibilidades consecutivas que lhe podiam acontecer caso fosse seu nome evidenciado na publicação de uma obra que denunciava sarcasticamente a sociedade espanhola corrupta da época, quando a Espanha atravessava momentos conturbados de guerras, pestes e crises econômicas. O clero foi também muito atingido pelas denúncias evidenciadas nessa obra, pois este setor estava em crise que foi motivada principalmente pela reforma religiosa de Lutero.
A censura imposta ao livro corrobora o verdadeiro envolvimento da classe dominante na
obra e que isso era grande motivo de preocupação para os dominadores. Logo, é compreendido que as críticas pesadas no texto da obra são um grande motivo para o anonimato, protegendo um desconhecido o qual fazia parte da sociedade da época, todavia age de forma transgressora, segundo os preceitos sociais daquele momento, justamente por não compactuar com a corrupção, denunciando-a por meio da escrita anônima, gerando um grande transtorno para quem dos desmandos se beneficiava.
Porém o mais relevante para a historicidade literária em se tratando de o Lazarillo de Tormes é o fato inovador que essa obra propõe, pois o anonimato do texto nos remete ao romance. Vale ressaltar aqui a maneira como os contemporâneos compreenderam as manifestações do autor deste tão polêmico livro, os quais não estavam acostumados com esse tipo de escrita tratando de uma realidade culturalmente imediatista e muito crítica, quando os escritores espanhóis do século XVI escreviam suas obras ainda muito arraigados ao passado medieval, especialmente aos moldes das novelas de cavalaria.
Portanto, levaram-se muitos anos para que os leitores do Lazarillo entendessem o que para os leitores do século XVI, possivelmente, estivesse muito claro: a escrita era direcionada a alguém como resposta a certas inquietudes. E essa riqueza de detalhamento nos leva a compreensão de que é uma resposta de Lázaro de Tormes, o personagem protagonista da obra, a alguém detentor de muito poder ou aos poderosos políticos e religiosos da época, é como se este personagem escrevesse uma carta (gênero literário epistolar) com fins destinatários (JIMÉNEZ, 1992, p. 14).
Na atualidade, o primeiro crítico a atribuir essa característica genérica literária epistolar ao Lazarillo foi Cláudio Guillén. Sobre essa questão, vejamos o que afirma Guillén:
“O Lazarillo é, em primeiro lugar, uma epístola falada” [...] “Digo que se trata de uma epístola falada, com termos um pouco contraditórios, porque parece que
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 128 de 138
escutássemos, sorrateiramente, a confissão que Lázaro faz ao amigo do seu protetor”. [...] “...a confissão pública de Lázaro ... tem como ouvinte não o leitor mas a pessoa que solicitou o relato”. [...] A redação do Lazarillo é, antes de mais nada, um ato de obediência” (GUILLÉN, 1957, p. 264-279).
Lazarillo de Tormes também se assemelha com o tipo de obra autobiográfica confessional
(epístola confessional). Essa mescla desses dois gêneros literários, nos quais o Lazarillo está mergulhado, ou seja, a carta e a autobiografia confessional, direciona o Lazarillo ao gênero romance (JIMÉNEZ, 1992, p. 15).
O fator determinante para a separação das epístolas (cartas e confissões) do romance é que
este gênero literário está inscrito ficcionalmente. O verdadeiro autor do Lazarillo se apropria de documentos narrativos e faz um acréscimo a esta documentação dos textos ficcionais mais conhecidos e propagados na época, as narrativas de cavalaria, as quais eram parodiadas pelo possível autor e se tornaram atrativas para os leitores, uma vez que esse tipo de narrativa era inovador.
Sobre o pretenso destinatário de Lázaro, o seguinte trecho expõe que:
o recurso da pseudo-autobiografia tende a impor ao escritor a explicitação de um destinatário de sua narrativa. Assim acontecera em Lazarillo de Tormes...[...] ...em Lazarillo de Tormes o destinatário – Vuestra Merced – fica incorporado ao universo, na medida em que trata de um amigo do Arcipreste de San Salvador (GONZÁLEZ, 1994, p. 335-336).
Observa-se, então, que na obra picaresca, geralmente, há a necessidade de um pedido de
clemência dirigido a alguém ou a um órgão superior. No caso de Lázaro de Tormes, é um personagem vítima de uma desestruturação familiar, o qual carecerá de apoios fora da família, pois é obrigado a deixar o seu lar, é entregue por sua mãe a um cego, o qual foi o seu primeiro amo, quando começa sua peregrinação e o seu sofrimento, passando a conviver com outros seis amos em diferentes etapas de sua juventude e em cada uma delas enfrentou momentos de amarguras, desilusões e até privações de alimentos.
Na obra, Lázaro de Tormes nasce às margens do rio Tormes, Espanha, e, por esse motivo,
foi assim alcunhado. Ele representa na trama a figura do anti-herói por sua nova roupagem em detrimento dos moldes dos heróis ficcionais cavaleiros da época que tinham como objetivo lutar em favor de sua pátria e de seu representante, o que para os leitores do século XVI essa representação era vista como positiva na ficção, pois a honra do herói cavaleiro era umas das características fundamentais desse tipo de personagem protagonista.
Essa representatividade de Lázaro opõe-se aos heróis de cavalaria, tendo em vista ele não
possuir aspectos característicos típicos de um herói cavaleiro, já que em suas lutas por sobrevivência, pensava somente em ascensão própria, empreendendo, assim, a desconstrução mitológica da figura do herói cultuada e apoiada pela sociedade contemporânea à publicação do Lazarillo.
Esta inexistência do narrador observador na obra nos abre caminho para nos colocarmos no lugar de Lázaro de Tormes, o que contribui para rompermos com a velha estrutura do texto narrativo o qual não podia ser alterado, a exemplo da heroicidade existente nos livros de cavalaria com o final já pré-destinado. Neste caso, a narrativa não está presa aos acontecimentos com o personagem, mas a existência do personagem protagonista (o pícaro) nos acontecimentos. Nessa perspectiva, consubstancia Glissant (2005, p. 33) que “o ser humano não é ser, mas sendo e como todo sendo, muda.” Nesse caso, o desfecho do Lazarillo é velado e descoberto mediante o desenrolar dos fatos ocorridos com o protagonista Lázaro.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 129 de 138
Possivelmente, com o surgimento do Lazarillo, o termo “pícaro”, na língua espanhola, era
empregado para nomear os jovens ajudantes nos trabalhos de cozinha. Mais tarde, expandiu-se a quaisquer homens sem ocupação ou com baixo ofício e, por isso, apelavam para atitudes ardis, transformando-se em pessoas marginalizadas. Esse personagem pícaro também foi destaque em outras obras literárias espanholas, dentre as quais, destaquemos aqui: Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán (primeira parte publicada em Madri em 1599 e a segunda em Lisboa em 1604) e El Buscón, de Francisco de Quevedo (publicada provavelmente de 1604 a 1620).
Sobre o romance picaresco, González faz a seguinte consideração: a pseudo-autobiografia de um anti-herói, definido como marginal à sociedade, o qual narra suas aventuras, que, por sua vez, são a síntese crítica de um processo de tentativa de ascensão social pela trapaça e representam uma sátira da sociedade contemporânea do pícaro, seu protagonista (GONZÁLEZ, 1994, p. 263).
Compreendemos que em se tratando da conceituação do gênero picaresco, há a aceitação
por vários críticos da maior parte dos conceitos considerados coerentes quanto à intertextualização da picaresca no romance. Porém muitos acreditam que a autobiografia é a maior identificadora da generalidade literária picaresca e, portanto, necessária à sua identificação.
Mesmo sendo a autobiografia um dos aspectos característicos primordiais da picaresca com
o narrador em primeira pessoa, surgem romances picarescos na Espanha no século XVII com narradores oniscientes, como é o caso da obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, confirmando, desse modo, a não imposição do caráter autobiográfico como definidor do romance picaresco. Podemos observar que a existência da primeira pessoa no Lazarillo de Tormes já define um rompimento com a narração onisciente, fundamentalmente importante nas obras de cavalaria.
Por sua grande aceitação, o gênero picaresco atingiu outros países europeus nos séculos XVII e XVIII, especialmente a Alemanha, a Inglaterra e a França. Em países ibero-americanos, a picaresca só foi evidenciada durante os séculos XIX e XX em obras as quais dialogam com esse gênero literário, consubstanciando o que é conveniente ser conceituado como romance picaresco, de forma acintosa ou não, pois “não há nada na composição do sentido que possa colocar-se acima da evolução, que seja independente do alargamento dialético do horizonte social” (BAKHTIN, 1981, p. 136).
É importante salientar que a figura do pícaro, clássico ou não, é apresentada, geralmente, como um indivíduo que almeja ascender socialmente por meio da malandragem, pois em seu objetivo o trabalho é excluído, tendo em vista este atributo dificultar sua ascensão em alcançar alguma posição nobre. O homem nobre a quem o pícaro aspira ser, já possui título de nobreza sem precisar galgá-lo por meio do trabalho. Esse comportamento de aparente “homem de bem” é justamente para impressionar os outros, especialmente os mais abastados, e obter algum lucro com esse comportamento.
Nesse processo de ascensão do pícaro, a sua única saída é a vida de aventuras a qual será sempre indissociável da enganação. Esse tipo de comportamento perpassa, de forma sutil, na obra Lazarillo de Tormes na medida em que Lázaro usa também essas artimanhas; mas, neste caso, com o intuito de sobrevivência. Por essa razão, tanto os romances picarescos espanhóis como os clássicos apresentam uma forte carga satírica envolvendo uma sociedade que privilegia a aparência social em detrimento dos valores essenciais de um ser humano.
O objetivo da sátira é a censura das mazelas sociais, das imperfeições físicas e fraquezas morais dos seres humanos e de problemas existenciais em certos ambientes ou instituições. Sua estruturação envolve bastantes aspectos humorísticos e comediantes, provocando o riso por meio de uma ironia irreverente na qual a tonicidade linguística evidencia, muitas vezes, insinuações leves ou pesadas direcionadas a pessoas ou a determinadas situações desagradáveis vivenciadas por
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 130 de 138
alguém. As maiores vítimas ridicularizadas por meio da sátira são aqueles indivíduos que não seguem certos ditames sociais, dentre estes seres humanos podemos citar: contraventores, corruptos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos etc. Há pessoas também que, mesmo de forma involuntária, são cômicas e sobre este automatismo cômico involuntário, o filósofo e diplomata francês, Henri Bergon, diz que:
só é essencialmente risível aquilo que é automaticamente realizado. Num defeito, numa qualidade mesmo, a comicidade é aquilo graças a que a personagem se entrega sem saber, o gesto involuntário, a palavra inconsciente. Toda distração é cômica. E, quanto mais profunda a distração, mais elevada é a comédia (BERGSON, 2004, p. 109).
Na verdade, o desvio comportamental involuntário torna-se comicidade quando
inconscientemente a personagem utiliza-se, por conta própria, de gestos ou palavras que não foram idealizados em um tempo prévio. Essas atitudes involuntárias e assistemáticas são geralmente vistas em apresentações de peças teatrais, mas podemos comprová-las também em narrativas, como é o caso de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, na qual essa mudança de comportamento sistemático deste protagonista gera uma das maiores comicidades de todos os tempos.
A palavra satírico é proveniente do latim satiricu que, na língua portuguesa, significa o que é cáustico, mordaz, ácido (HOUAISS, 2001, p. 2.524). A sátira é de origem dramática, possuindo dois polos antagônicos, o ameno e o mordaz, e, por essa razão, já nasceu conflitante. Mas esse gênero literário não se tornou exclusividade somente da Europa; ela se estendeu a outros continentes, inclusive ao americano.
Na literatura hispano-americana, duas obras de grande destaque são consideradas como derivadas do gênero picaresco, trata-se de: El Periquillo Sarniento, publicada em 1816 pelo escritor Lizardi (1997), e Lazarillo de ciegos caminantes, publicada em 1773 por “Alonso Carrió de la Vandera (Concolorcorvo)” que nasceu em “Gijón”, Espanha, mas publicou essa obra em Lima, onde faleceu. Em El Periquillo Sarniento é narrada a trajetória da vida sofrida de Pedro Sarniento, alcunhado de “Periquillo” ainda na infância por seus amiguinhos de escola devido às suas vestimentas que eram sempre das mesmas cores, verde e amarela; superou cada um de seus problemas fazendo uma sátira de sua época. Lazarillo de ciegos caminantes narra a viagem feita por “Alonso Carrió de la Vandera”, de Buenos Aires a Lima, no período entre novembro de 1771 e junho de 1773 (ALONSO CARRIÓ DE LA VANDERA, 1985); para essa aventura, assume o pseudônimo de “Concolorcorvo”, que é uma palavra de origem indígena cujo significado é “cor de corvo”.
Para muitos críticos literários, como “Luis Alberto Sánchez”, “Fernando Alegría” e
“Lorente Medina”, a obra Lazarillo de ciegos caminantes (ALONSO CARRIÓ DE LA VANDERA, 1985) mantém somente um parentesco com o romance picaresco, pois, para que realmente se enquadre nesse gênero romanesco, falta-lhe a trama novelesca em se tratando da autobiografia do pícaro, Concolorcorvo, já que o cenário na obra é um caminho, de Buenos Aires a Lima, apresentando cidades e povos com seus costumes, contrastes e uma grande heterogeneidade cultural e, por esse motivo, torna-se uma dissimulação do cenário picaresco, incluindo-o em um estudo sem maiores convicções a respeito das características picarescas presentes na obra.
O primeiro movimento literário, considerado em nossa literatura, é o Barroco, cujo marco
inicial ficou a cargo de Bento Teixeira com a publicação do seu poema épico Prosopopeia, em 1601, século XVI. Mas a sátira se manifestou primeiramente no Brasil com os trabalhos literários de Gregório de Matos, no século XVII, considerado como o primeiro poeta brasileiro, nascido na Bahia. Por serem suas sátiras muito ferinas e mordazes, recebeu a alcunha de “Boca do Inferno”. Ademais deste gênero literário, Gregório se destaca ainda com temas religiosos, filosóficos e amorosos.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 131 de 138
Nesse mesmo período, a sátira começa a se mesclar com a temática religiosa de Padre
Antônio Vieira, o sermão. Vieira nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil aos seis anos de idade onde se ordenou religioso. Destacam-se os três campos temáticos dos seus sermões:
o primeiro é a polifonia, com a presença dos quatro discursos da igreja na época da colonização: o universal, o doutrinário, o soteriológico e o guerreiro; a segunda é a denuncia social, feita por meio dos recursos sério -cômico - críticos da sátira, da paródia e da ironia; e a terceira é a liberação da linguagem, na qual destaca o emprego de trocadilhos, alusões, hipérbole e repetições (DOMINGUES, 2002, p. 1).
A multiplicidade de conhecimento que detinha Vieira, visivelmente em seus trabalhos, não
o colocou em um patamar superior aos homens comuns e escravizados de sua época, pelos quais lutou e os defendeu por meio de suas obras denunciadoras. Além dos sermões, Vieira também se destaca com suas cartas e profecias.
A obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicada em 1854 (ALMEIDA, 1982), é apontada por diversos críticos como um dos primeiros romances brasileiros derivados da picaresca; mas os traços característicos de Leonardo Pataca, protagonista da obra, são pouco enquadrados nos moldes característicos de um verdadeiro pícaro, tendo em vista este personagem desenvolver habilidades que nos colocam em dúvida se são realmente positivas ou conflitantes, pois em toda a trama este personagem está sempre preso ao maniqueísmo como todos os demais na obra. Simplesmente por essa razão, tentam aproximá-lo do anti-herói pícaro pertencente à obra picaresca espanhola.
Ora, como já vimos, o personagem pícaro é malvisto socialmente por suas atitudes enganadoras para com o próximo, buscando sempre uma ascensão social, mesmo que seja apenas para a sua sobrevivência. Entretanto, Leonardo Pataca se distancia dessas caracterizações. Outro fator a ser discutido nesta obra com respeito a perspectiva picaresca é o linguístico o qual não difere dos demais escritores da época, já que o linguajar do pícaro é específico do mundo da malandragem.
Há a possibilidade de se ver também em Macunaíma, de Mário de Andrade, publicada em 1928 (ANDRADE, 1990), características picarescas, na medida em que este escritor parodia a heroicidade clássica da figura do herói cavaleiro medieval, transformando-o em um herói nacional sem nenhum caráter. Este personagem representa o brasileiro comum, especificamente o malandro, envolto às suas tradições folclóricas locais, como: lendas, superstições e os mistérios que estão presentes na paisagem brasileira, além de um linguajar com frases elaboradas envolvendo provérbios e modismos linguísticos nacionais.
A obra Galvez, Imperador do Acre, publicada em 1976, por Márcio Souza (SOUZA, 1976), escritor amazonense, é mais uma idealização do romance picaresco por meio da criação de um personagem protagonista com traços característicos do pícaro clássico espanhol, pois, além de ter nascido em “San Fernando”, Espanha, em 1864, veio para o Brasil, chegou à Amazônia onde foi encarregado pelo Governo de Manaus, Ramalho Júnior, de libertar o Acre da dominação boliviana. Com o objetivo de ascensão social, aceita a proposta, principalmente porque se tratava de uma região detentora de uma das maiores riquezas econômicas da época para o mercado consumidor mundial, o látex, que, quando era transformado em borracha, era chamado de “o ouro negro” do Brasil.
Na atualidade, escritores e artistas brasileiros procuram se afastar dos modelos característicos europeus, motivados pelo Modernismo e pelos ideais defendidos na Semana de Arte Moderna, em 1922, de ruptura com o passado, de uma renovação estética no tocante às artes, buscando novas ideias e conceitos artísticos. A arte literária brasileira, em especial, é direcionada para a realidade local, enfatizando positiva e negativamente o perfil do caráter do povo deste país por meio do espírito criativo do artista da palavra.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 132 de 138
Entretanto, com todas essas buscas de libertação dos padrões característicos literários
europeus, diversos autores brasileiros não abdicaram do uso de alguns gêneros literários criados na Europa, como é o caso da picaresca, utilizando-os com um novo olhar, evidenciando-os de um modo bem brasileiro, peculiar ao nosso povo, que em tudo busca um motivo para brincar e sorrir, até mesmo nos momentos mais difíceis. Referências ALMEIDA, Manoel Antonio de. Memórias de um Sargento de Milícias. 11. ed. São Paulo: Editora Ática, 1982. ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 26. ed. Edição. Villa Rica Editoras: Belo Horizonte, 1990. ALONSO CARRIÓ DE LA VANDERA. El lazarillo de ciegos caminantes. Cronología y bibliografía de Antonio Lorente Medina. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985. BAKHTIN, M.; VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981. BERGSON, Henri. O riso: ensaio sobre a significação da comicidade. Trad. Ivone Castillo Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004. CÁCERES, Milagros Rodríguez. Lazarillo de Tormes. Editora Página Aberta. Consejería de Educación de la Embajada de España. São Paulo, 1992. DOMINGUES, Thereza da Conceição. O múltiplo Vieira. Estudo dos sermões indigenistas. Annablume editora, 2002, São Paulo. LIZARDI, J. Joaquín Fernández de. El Periquillo Sarniento. Madrid: Cátedra, 1997. GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: UFJF, 2005. GONZÁLEZ, Mário. A saga do anti-herói. São Paulo. Editora Nova Alexandria, 1994. GUILLÉN, Cláudio. “La disposición temporal del Lazarillo de Tormes”. Hispanic Review, XXV, 1957, p. 264-279. JIMÉNEZ, Felipe B. Pedraza. Lazarilho de Tormes. São Paulo: Editora Página Aberta Ltda, 1992. Tradução Pedro Câncio da Silva. RICO, Francisco. Problemas del “Lazarillo”. Madrid, Cátedra, 1988 p.157-158: ou “Introducción” in Lazarillo de Tormes, Madrid, Cátedra, 1988 p. 31- 44. SOUZA, Márcio. Galvez, Imperador do Acre. 1. ed. Manaus: Edições Governo do Estado do Amazonas, 1976. Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 133 de 138
FAIXA ETÁRIA DAS GESTANTES ADOLESCENTES NO HOSPITAL
MATERNIDADE SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO 1º SEMESTRE DE 2016
Jose Júnior de Oliveira Silva72 Madson Ferreira Machado73
Miriele Oliveira da Silva74 Resumo O presente trabalho discute o processo de maturação da gestante adolescente e as consequências do parto, assim como os impactos na vida social. Justifica a pesquisa para verificar no Hospital Maternidade São José (HMSJ) o quantitativo de grávidas que ganharam bebê nos seis primeiros meses de 2016, em especial as grávidas adolescentes, com idade entre 11 e 19 anos, apesar de existirem muitas informações sobre métodos contraceptivos. E a ideia central do trabalho é identificar o quantitativo de grávidas que ganharam bebê no HMSJ, com idade de 11 a 20 anos, no ano/semestre de 2016/1. Para analisar essas informações, essa pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, descritiva, e de natureza qualitativa. Assim conclui-se que a maior incidência de partos aconteceu na idade entre 15 e 20 anos. Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Fatores. Família Abstract This paper discusses the process of maturation of the adolescent pregnant woman and the consequences of childbirth, as well as the impacts on social life. It justifies the research to verify at Maternidade São José Hospital (HMSJ) the number of pregnant women who gained a baby in the first six months of 2016, especially pregnant teenagers, aged between 11 and 19 years, although there is a lot of information about contraceptive methods. And the central idea of the work is to identify the number of pregnant women who gained a baby in the HMSJ, aged 11 to 20 years, in the year / semester of 2016/1. To analyze this information, this research is characterized as bibliographical and documentary, descriptive, and of a qualitative nature. Thus, it was concluded that the highest incidence of births occurred at ages between 15 and 20 years. Keywords: Pregnancy in Adolescence. Factors. Family Introdução
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende um período entre 11 e 19 anos de idade, desencadeado por mudanças corporais e fisiológicas advindas da maturação fisiológica (BURCH e SACHS, 1999). Para Diniz (2010, p. 9) “a adolescência é um período da vida que merece atenção, pois esta transição entre a infância e a idade adulta pode resultar ou não em problemas futuros”, para o desenvolvimento de um determinado indivíduo, sejam elas físicas, psicológicas e que são acompanhadas pela alteração das emoções, alterações
72 Mestre em “Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional”, pela Faculdade Vale do Cricaré. Especialista na área da Educação. Licenciado em Letras e Pedagogia. Professor na Faculdade Capixaba de Nova Venécia. 73 Graduado em: Medicina (Centro Universitário do Espírito Santo). Pediatria (HMSJ). Mestrando no programa de pós-graduação stricto sensu, mestrado, em “Ciência, Tecnologia e Educação” (Faculdade Vale do Cricaré). Médico no Hospital Maternidade São José (Colatina/ES) e São Bernardo Apart Hospital (Colatina/ES). 74 Graduada em: Administração (Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multitivix); Pedagogia (Instituto de Educação e Tecnologias). Especialista na área de Educação. Mestranda no curso de “Ciência, Tecnologia e Educação” (Faculdade Vale do Cricaré). Professora do ensino técnico da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo.
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 134 de 138
biológicas, mudanças essas que são explicadas através da interação com o ambiente em que vive (TAKIUTT, 1986).
Nesta perspectiva o presente trabalho possui o seguinte questionamento: QUAL O PERFIL DAS GESTANTES ADOLESCENTES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO 1º SEMESTRE DE 2016?
Assim, o trabalho propõe entender como a gravidez precoce pode favorecer o aparecimento de grandes problemas na adolescência e quais fatores críticos estão relacionados em todos os âmbitos ambientais e sociais, em um estudo no Hospital Maternidade São José / Colatina – ES. E a ideia central do trabalho é identificar o quantitativo de grávidas que ganharam bebê no HMSJ, com idade de 11 a 20 anos, no ano/semestre de 2016/1.
A presente pesquisa possui uma metodologia classificada como bibliográfica, documental e de natureza qualitativa. As informações foram obtidas através de teóricos da área como: Airés (1986), Muuss (1996), Araújo (2014), assim como dados obtidos através dos relatórios gerenciais do lócus da pesquisa. Referencial teórico Processo de maturação da gestante adolescente
A gravidez precoce torna-se muito preocupante quando está relacionada à vida sexual futura da adolescente, podendo trazer graves problemas para a vida delas, de seus filhos e de suas famílias, além de comprometer a sua formação e o olhar da sociedade sobre elas.
Segundo Airés (1986, p.3),
(...) por muito tempo, as crianças começaram a trabalhar a partir dos sete anos de idade, poucas estudavam ou permaneciam no sistema educativo, e muitas vezes não estavam separadas por níveis diferenciados de idade. Como a adolescência não era considerada um período particular de desenvolvimento, não existia, ainda, uma cultura adolescente. Em consequência da complexidade das sociedades modernas industrializadas foi-se criando um espaço intermediário entre a infância e a idade adulta, entre a maturidade bio-fisiológica e a maturidade psicossocial, sendo resultado dos padrões de mudança da nossa sociedade.
Complementando “a pubescência parece ser único aspecto do processo de maturação que
algumas sociedades primitivas reconhecem, depois da puberdade o jovem ou a jovem obtêm o status e os privilégios de adultos (...)”(MUUSS, 1976, p. 15). No Brasil, a adolescente possui diferentes comportamentos, que variam de individuo para individuo, pois depende da classe sócio econômica na qual está instalada. Nas classes mais elitizadas, compreende-se como um período que passam por grandes consequências emocionais, econômicas e sociais, o adolescente não assume responsabilidade, pois se dedica apenas aos estudos. Enquanto que nas classes econômicas mais desfavorecidas, os riscos são maiores, há maior abandono e promiscuidade, maior desinformação, menor acesso aos métodos contraceptivos - esta a grande incidência de gestação na adolescência - não há possibilidade de se dedicar somente aos estudos, levando-os ao mercado de trabalho mais cedo para ajudar no sustento da família.
A maior contribuição das mudanças biológicas, do ponto de vista cultural, é a
"transformação do estado não reprodutivo ao reprodutivo" (MUUSS, 1996, p. 385), pois o amadurecimento do sistema reprodutivo impõe os limites para cada sexo (KAHHALE, 1997). Neste contexto, surge a sexualidade na adolescência, sendo esta temática de relevância mundial, pois tanto dificuldades como desafios que aparecem aos adolescentes ocorrem independentemente da diversidade cultural, étnica e social (CARVALHO, 1999).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 135 de 138
A sexualidade do adolescente pode se expressar através da relação heterossexual e/ou homossexual, da masturbação e de fantasias (MUUSS, 1996). Este desempenho na adolescência é decorrente principalmente dos meios de comunicação como, propagandas, televisão, filmes e músicas que as influenciam.
A partir do momento em que a prática sexual tem como consequência a gravidez, gera sequelas tardias e em longo prazo, tanto para as novas mamães quanto para os respectivos filhos. A adolescente poderá apresentar problemas de crescimento e desenvolvimento, emocionais e comportamentais, educacionais e de aprendizado, além de complicações da gravidez e problemas de parto. Há inclusive quem considere a gravidez na adolescência como complicação da atividade sexual (Creatsas et al., 1991; Piyasil, 1998; Wilcox & Field, 1998).
Outro fator que pode levar a gravidez indesejada é o abuso sexual, onde a adolescente é forçada a realizar uma prática sexual contra a sua vontade, podendo levar consigo prejuízos psicológicos e físicos, tais como lesões em diversas partes do corpo, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis e gravidez.
O convívio familiar tem influência direta com a época em que as adolescentes iniciam a atividade sexual. As meninas que iniciam a prática sexual precocemente ou engravidam nesse período, geralmente, vêm de famílias cujas mães também iniciaram a vida sexual antecipada ou engravidaram durante a adolescência.
Para Costeira (2013), uma vez constatada a gravidez, se a família da adolescente for capaz de acolher o novo fato com harmonia, respeito e colaboração, esta gravidez tem maior probabilidade de ser levada a termo (entre 37 e 42 semanas de gestação) normalmente e sem grandes transtornos. Porém, havendo rejeição, conflitos traumáticos de relacionamento, punições e incompreensão, a adolescente poderá sentir-se profundamente só nesta experiência difícil e desconhecida, poderá correr o risco de procurar abortar, sair de casa, e submeter-se a toda sorte de atitudes.
O convívio e aceitação da gestação por parte de sua família é de suma importância para o desenvolvimento da gravidez da adolescente solteira e não planejada e para a vida do bebê que está sendo gerado. Sendo assim, se sentirão seguras e terão o total apoio necessário para seu conforto afetivo. Parto na adolescencia
Para Morais (2012, p.70), a gravidez na adolescência é, portanto:
Um problema que deve ser levado muito a sério e não deve ser subestimado, assim como deve ser levado a sério o próprio processo do parto. Este pode ser dificultado por problemas anatômicos e comuns da adolescente, tais como o tamanho e conformidade da pelve, a elasticidade dos músculos uterinos, os temores, desinformação e fantasias da mãe ex criança, além dos importantíssimos elementos psicológicos e afetivos possivelmente presentes.
As maiores complicações no parto normalmente acontecem com meninas menores de 15
anos, e sendo pior ainda em menores de 13 anos. A mãe adolescente tem maior morbidade e mortalidade por complicações na gravidez, do parto e do puerpério. A taxa de mortalidade é duas vezes maior entre as gestantes adultas. A incidência de recém nascidos de mães adolescentes com baixo peso é duas vezes maior que em recém nascidos de mães adultas, e a taxa de morte neonatal é três vezes maior (LIMA et al, 2010).
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 136 de 138
De acordo com Araújo (et al, 2014, p.4):
(...) as dificuldades sociais geradas após o parto contribuem com a evasão escolar, sendo que poucas adolescentes retornam aos estudos, ocasionando menores níveis de escolaridade e consequentemente inadequado grau de profissionalização, tendência a proles numerosas e outras tantas mudanças na vida, criando um ciclo de manutenção da pobreza.
Análise dos dados
Os dados coletados para a elaboração desse artigo foi realizado no Hospital Maternidade São José, localizado na cidade de Colatina no estado do Espírito Santo.
Vale ressaltar que o Hospital Maternidade São José é referência em gestação e partos de alto risco em todo noroeste do estado. Atualmente ficou mais conhecido pelo recente caso da gestante adolescente de 17 anos com morte cerebral, onde foi mantido o bebê vido intra útero por 54 dias, ele nasceu e permaneceu na UTIN para cuidados neonatais, com total sucesso do caso. Sendo esse o primeiro caso no Brasil e o trigésimo quinto caso no mundo.
Através de um relatório gerencial disponibilizado pelo Hospital Maternidade São José, com o perfil da idade das adolescentes gestantes no primeiro semestre de 2016, conseguiu-se organizar e analisar os dados adquiridos.
IDADE JAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN %
≤ 15 anos 9 4,09 8 3,70 10 4,31 7 3,03 3 1,20 7 2,83
16 - 20 anos 57 25,91 48 22,22 63 27,16 58 25,11 48 19,28 55 22,27
21 - 30 anos 103 46,82 113 52,31 109 46,98 113 48,92 125 50,20 138 55,87
31 - 40 anos 48 21,82 44 20,37 47 20,26 49 21,21 68 27,31 44 17,81
> 40 anos 3 1,36 3 1,39 3 1,29 4 1,73 5 2,01 3 1,21
TOTAL 220 100 216 100 232 100 231 100 249 100 247 100
TABELA 1: PARTOS REALIZADOS MENSALMENTE NO 1º SEMESTRE DE 2016, NOHOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ, COLATINA/ES
GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE PARTOS
IDADE QUANTIDADE DE PARTOS PORCENTAGEM (%)
≤ 15 anos 44 3,15
16 - 20 anos 329 23,58
21 - 30 anos 701 50,25
31 - 40 anos 300 21,51
> 40 anos 21 1,51
TOTAL 1395 100,00
0
50
100
150
200
250
300
> 40 anos
31 - 40 anos
21 - 30 anos
16 - 20 anos
≤ 15 anos
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 137 de 138
TABELA 2: PARTOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2016, NOHOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ, COLATINA/ES
GRÁFICO 2: PORCENTAGEM DE PARTOS
Com os dados tabulados, pode-se verificar que a idade mínima dessas gestantes foi ≤15 anos e a idade máxima foi >40 anos. As gestantes com idade entre ≤15 e ≤20 anos, representam 26,73% delas, totalizando 373 partos no 1º semestre de 2016, no Hospital Maternidade São José, Colatina/ES.
Além dos aspectos psicológicos e biológicos, não se pode deixar de analisar a influência da sociedade, da cultura, seus costumes e dos meios de comunicação na constituição do projeto de vida das adolescentes.
Diante disso, devem ser discutidas estratégias de programas de prevenção de gravidez na adolescência, estimulando, nos serviços públicos de saúde, inclusão de atividades educativas na área da sexualidade, culturais, de lazer e preparo profissional de modo a propiciar às jovens outras perspectivas além do casamento e/ou maternidade. Conclusão
Conclui-se que um dos diversos fatores da gravidez na adolescência, com faixa etária entre 11 e 19 anos, é a falta de auto continência para lidar com suas angústias e impulsos, capacidade que não foi suficientemente favorecida por suas famílias e pelo meio social em que vivem, no qual seria um período de conquistas e projetos, movido pela emergência do novo.
Tendo essa competência cognitiva diminuída, a adolescente fica sujeita às influencias interna e externa, que a levam diretamente à ação, prejudicando sua capacidade de avaliar o que é melhor para sua vida e discriminar os riscos.
Como resultado de ações impulsivas, ocorre a gravidez, que vai limitar ainda mais seus projetos de vida. Assim, a gravidez pareceu ser uma tentativa de preencher esse vazio tão presente. Referências ARAÚJO, Rayanne Lima Dantas de; NÓBREGA, Andressa Lacerda; NÓBREGA, Jéssica Yasmine de Lacerda; SILVA, Gilvânia da; SOUSA, Kilmara Melo de Oliveira; COELHO, Débora Cristina; BORGES, Heloisa Elaine. Gravidez na adolescência: consequências voltadas para a mulher. Paraíba: 2014. Disponivel em: < file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/3189-9921-1-PB%20(1).pdf>. Acesso em: 12 de out. 2016. ARIÉS, Philippe. História social da criança e da família. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. BURCH, Elizabeth. SACHS, Judith. Saúde natural para mulheres grávidas. São Paulo: Madras, 1999.
3,15
23,58
50,25
21,51
1,51
PORCENTAGEM (%)
≤ 15 anos
16 - 20 anos
21 - 30 anos
31 - 40 anos
> 40 anos
Revista Querubim – revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais – Ano 13 Nº32 vol. 02 – 2017 ISSN 1809-3264
Página 138 de 138
CARVALHO, Maria do Carmo Brant. Alguns apontamentos para o debate. In: RICO, Elizabeth de Melo; RAICHELIS, Raquel (Orgs.). Gestão Social: uma questão em debate. São Paulo: Educ/IEE/PUCSP, 1999.p. 19-29. COSTEIRA, Osiris. A evolução da mulher: adolescência, sexualidade e gravidez. Terapia de Caminhos, Ano VII - nº 4 (62) - Junho /Julho de 2013. Disponível em: http://www.terapiadecaminhos.com.br/conversas02-13.htm. Acesso em: 8 de out. 2016. CREATSAS, G.; NICOSGOREMALATSOS, F.A.C.S.; DELIGEOROGLORI, E.; KARAGITSOU, T.; CALPAKTSOGLOU, C.; AREFETZ, N. - Teenage pregnancy: comparison with two groups of older pregnant women. J. Adolesc. Health. 1991; 12: 77-81. DINIZ, Nataly Carvalho. Gravidez na adolescência: um desafio social. Campos Gerais: 2010. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2336.pdf>. Acesso em: 02 de out. 2016. KAHHALE, E.M.P. Mecanismos psíquicos da grávida adolescente. In: M. Zugaib, J.J. Tedesco & J. Quayle. Obstetrícia psicossomática. São Paulo: Atheneu, p. 243 – 251, 1997. LIMA, Elizabeth F.; CORRÊA, Camila Santos; CORRÊA, Catarina; RIBEIRO, Darília Santos; STAEL, Priscilla; FERREIRA, Thainá de Paula. Assistência de enfermagem a primípara adolescente em trabalho de parto. Anais do Encontro Científico de Enfermagem do IFF/FIOCRUZ, 2010.71º Semana Brasileira de Enfermagem. Disponível em: <http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/11167/2/Anais%20do%20Encontro%20Cient%C3%ADfico%20de%20Enfermagem%20do%20IFF%20FIOCRUZ%20-%20trabalho%2012.pdf>. Acesso em: 9 de out. 2016. MORAIS, Morais1 Maricelma Ribeiro; MORAIS, Taise Ribeiro. A sexualidade na adolescência como um problema de saúde pública. Facene/Famene - 2012;10(1):67-74. Disponível em: <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/A_sexualidade_na_adolesc%C3%AAncia_-_2012_-_1_p.67-74.pdf>. Acesso em 8 de out. 2016. MUUSS, Rolf. Teorias da Adolescência. 5ª ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1996. MUUSS, Rolf. Teorias da Adolescência. Belo Horizonte: Interlivros, 1976. PIYASIL, V. Anxiety and depression in teenage mothers: a comparative study. J. Med. Assoc. Thai. 1998; 81(2): 125-9. TAKIUTT, Albertina. A adolescente está ligeiramente grávida, e agora? São Paulo: Coleção e sociedade precisa saber, 1986. WILCOX, H; FIELD, T. Correlations between the BDI and CES-D in a sample of adolescent mothers. Adolescence.1998; 33(131): 565-74 Enviado em 30/04/2017 Avaliado em 15/06/2017