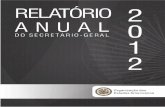Tese -Thaís Costa da Silva - 2021 - Completa.pdf - BDTD/UERJ
Relatório técnico Thaís Lopes
Transcript of Relatório técnico Thaís Lopes
1.9. Relatório técnico-científico
Autoconstrução na favela: moradia, emancipação e reificação
IntroduçãoPrimeiramente cabe destacar que, em sendo o projeto de
pesquisa da orientadora voltado para mutirõeshabitacionais, o recorte de estudo da aluna deu-se em tornoda autoconstrução nas favelas.
Dito isso é possível pontuar que, de maneira global, apresente pesquisa tem por pano de fundo a tentativa deinterpretar o modo de vida das favelas de maneira diferentedos estigmas pejorativos repetidos na cidade formal emrelação a essas territorialidades. Ainda, faz-se como umacritica à mercantilização do espaço urbano e a fixação deum modelo de cidade, fatores esses que inferiorizam einvisibilizam maneiras distintas de organização do espaço,como no caso de aglomerados. Pretende-se aqui evidencia adinâmica própria de apropriação do espaço e construção deidentidade de favelas, através do enfoque na autoconstruçãoe na significação da moradia nesse contexto. Com isso, oque se defende no presente relatório é a legitimidade daforma de vida do espaço-favela. Por fim, é também umatentativa de demonstrar como a estigmatização dessesespaços é fomentada pela própria legislação urbanística epolíticas públicas, que, em juntamente com o mercadoimobiliário, prestam-se não poucas vezes a se fazerem comoentrave ao exercício de direito à moradia e à cidade demoradores de favelas.
Parte-se do pressuposto de que a relação morador-moradia na favela desenvolve-se de maneira peculiar, em umcontexto de significação visceral da habitação, bem como deapropriação mais intensa do espaço. Contudo, essa relação étambém ambígua, marcada por aspectos de negativos. Ela seexpressa em uma forte ligação com a moradia e com a favela,ao mesmo tempo que é exteriorizada por discursos que negama condição de favelado, pela reiteração de práticas eanseios que correspondem à reprodução de hábitos da cidadeformal, mesmo que descontextualizados do cotidiano deaglomerados.
Assim, através do presente trabalho pretende-se tambémentender o que faz dessa relação morador-moradia na faveladiferenciada quando comparada à observada na cidade formale ainda quais são os fatores que fazem dela ambígua, nostermos já explicitados acima.
FundamentaçãoA discussão que pauta diferentes dinâmicas de ocupação
dos espaços urbanos e que incorpora a [re]interpretaçãojurídica e social da moradia faz-se relevante na sociedadecontemporânea, principalmente em um contexto de releiturados institutos clássicos de propriedade e posse, do direitoà cidade e à moradia e do crescimento de políticas publicasde urbanização. O que se vê desses termos é um debate,apesar de intenso, ainda em construção no tocante aoDireito Urbanístico, cujos conceitos fundantes encontram-seem disputa e elaboração no ordenamento jurídico brasileiro.Por outro lado, no plano fático, o Direito Urbanístico tem-se feito cada vez mais demandado, principalmente no cenáriode expansão, reconstrução e mercantilização das cidades.
Essa expansão, reconstrução e mercantilização atingemos diferentes “lugares” da cidade, sendo a discussão aquivoltada para a prática da autoconstrução do espaço e damoradia em vilas e favelas. Traz-se a autoconstrução comoelemento diferenciador da relação moradia-morador nasfavelas em comparação às cidades formais, sendo necessário,portanto, um esforço crítico para compreender o seusignificado para esses sujeitos. O que se vê já há décadasem relação às favelas são discursos e práticas sociaismarcadamente inferiorizantes e que não reconhecem suadinâmica. Na tentativa de rompimento com essaestigmatização, aborda-se aqui a autoconstrução comoprática positiva, carregada de uma maneira própria deorganização do espaço, não sem problematizar também suasfacetas negativas.
O trabalho é em grande parte fruto das vivências emvilas e favelas de Belo Horizonte, decorrentes da atuaçãonos Programas Pólos de Cidadania e Cidade e Alteridade,programas de extensão e pesquisa da Faculdade de Direito daUFMG. Nessas vivências tanto foi possível conhecer ereconhecer o cotidiano desses aglomerados, quantoacompanhar a implantação do Programa Vila Viva, política
pública de urbanização voltada para áreas de favelização dacapital mineira.
O que se observou, ao contrário do estigma negativoque circunda o imaginário de favelas e apesar daprecariedade de recursos que é de fato um dos traços dessasterritorialidades, foram espaços pulsantes de vida,detentores de uma dinâmica de organização própria que passapela [auto]construção de sua identidade. Essa identidade,muito além de decorrer somente da precariedade de recursos,está ligada à maneira de seus moradores se projetaremnesses espaços, de se apropriarem deles por meio daspráticas cotidianas. Por outro lado, constatou-se também afalta de reconhecimento dessas práticas cotidianas porparte do poder público durante a implementação do ProgramaVila Viva, marcado pela imposição de modelos hegemônicos ehomogeneizadores de urbano, que vão de encontro à dinâmicade vida dos aglomerados.
Metodologia
No intuito de aprofundamento da temática que toca adinâmica de vida em vilas e favelas, principalmente naorganização do espaço e exercício do direito à moradiapelos sujeitos, além do acúmulo teórico através debibliografia pertinente, o presente estudo toma por basetambém a pesquisa de campo e observação direta duranteatividades de extensão.
A pesquisa de campo realizada no âmbito do ProgramaCidade e Alteridade, voltada especificamente para a VilaBandeirantes, favela situada em área nobre de BeloHorizonte, consistiu em entrevistas semi-estruradas comseus moradores. As atividades de extensão realizadas comoparte do trabalho dos Programas Pólos e Cidade e Alteridadepermitiram a observação do cotidiano e das práticas deaglomerados.
É preciso ressaltar que, apesar de fortementeinfluenciado pelos trabalhos de campo já mencionados, opresente estudo dá-se no contexto de Iniciação Científica,cuja metodologia principal centra-se em estudo teóricointerdisciplinar da temática.
Objetivos
1) Demonstrar o lugar central ocupado pela moradia naconstituição da identidade e desenvolvimento do serhumano;
2) Lançar luz à dinâmica própria de organização doespaço da favela, trazendo-a como também legítimaem um contexto de multiculturalismo urbano;
3) Interpretar o processo de autoconstrução na favela,evidenciando-o como mecanismo de apropriação doespaço e constituição de identidade;
4) Demonstrar a relação peculiar entre morador emoradia no contexto da favela, evidenciando osignificado singularmente visceral da casa paraesses sujeitos;
5) Desenvolver uma reflexão crítica acerca damercantilização da cidade, o papel do Estado e domercado imobiliário na construção do espaço urbanoe o reflexo da dinâmica mercadológica de cidade narelação favela, favelado e moradia.
Resultados alcançados e discussão
I- Autoconstrução e favela: emancipação e reificação
A autoconstrução, tanto de moradias quanto do próprioespaço público, está intrinsicamente relacionada a umpadrão periférico de ocupação do espaço (SILVA, 2009, p.86). É bastante comum em vilas e favelas, ou bairrosafastados da metrópole que não contam com infraestruturamínima e acesso a serviços, onde os próprios moradoresabrem ruas, elaboram um sistema de iluminação, desaneamento, e, principalmente, constroem suas própriascasas.
É corriqueiro no contexto do proletariado que contacom baixa renda no Brasil adquirir ou ocupar um lote emáreas irregulares, provendo ali a autoconstrução gradual damoradia, com uso de recursos próprios, saberes ordinários,trabalhando nos fins de semana, ou nas horas de folga,contando com a ajuda de amigos ou parentes, ou contandoapenas com a própria força de trabalho. Essa autoconstruçãonormalmente se prolonga no tempo, de acordo com aspossibilidades e necessidades das famílias. De qualquerforma, em um primeiro momento a casa atende às necessidadesmais básicas dos moradores, respondendo por uma parcela
considerável de provisão habitacional no país. (SILVA,2009, p.86)
A autoconstrução é ainda atualmente responsável pelamaior parte do provimento de moradias nas áreas urbanas daAmérica Latina, sobretudo nas faixas mais pobres dapopulação (SILVA, 2009, p.86). Aliás, apesar do silêncio derelatórios oficiais que propagandeiam políticas públicas eprogramas de habitação, a autoconstrução tem importânciaqualitativa muito superior a esses no cenário latino-americano, sendo o principal meio através do qual apopulação trabalhadora resolve sua carência por moradia.(Maricato, 1982, p. 72). Essa moradia é para eles não sóproteção imediata contra frio e calor, mas significa oinvestimento de uma vida em busca de alguma estabilidade emelhoria de vida.
O que rege o processo de autoconstrução em áreasperiféricas são as possibilidades e necessidades dasfamílias ocupantes. Se aos olhos de técnicos as casas emfavelas lhes parecem um bem permanentemente inacabado e comdeficiências nas condições de habitabilidade, para omorador aquele é o espaço que atende ao seu cotidiano. Asqualidades físicas da unidade de moradia, convencionalmentepriorizadas por arquitetos e planejadores, têm pouco ounenhuma relevância para essa população. (SILVA, 2009, p.87)Aliás, a verdade é que essa população detém um conhecimentonão técnico, mas prosaico, que lhes é suficiente noprocesso de autoconstrução e que lhes garante no geral umresultado que responde às suas necessidades cotidianas. Semdesprezar as técnicas convencionadas por profissionais, amaneira de construir desses moradores de alguma formaquestiona a tendência atual, ao menos da cidade formal, deimprescindibilidade e superioridade do conhecimentoespecializado e científico, destacando-se, no real dasfavelas, o saber cotidiano.
Não se está aqui negligenciando a importância detecnologias e técnicas desenvolvidas e que auxiliam aconstrução civil, porém não se pode negar que no processode construção da moradia existe outros saberes tambémrelevantes. Ainda, o processo de autoconstrução evidenciaque, no contexto da favela, há certa desconecção dessesrecursos especializados com as possibilidades,principalmente financeiras, de seus moradores. Turner
defende que os valores de uso da moradia variam de acordocom as situações sociais dos moradores, e que são essesvalores que realmente são relevantes na produçãohabitacional. "Mostraram-me problemas – favelas, mocambos,alagados, etc. – que considero soluções. E mostraram-mesoluções – conjuntos de habitações de baixo custo – que euchamo problemas." (TURNER, in SILVA, 2009, p.87).
Não se pode ignorar, entretanto, que a autoconstruçãona periferia quase sempre implica prolongados sacrifíciosdos trabalhadores. Isso porque a construção de sua moradiademanda do sujeito tempos livres que lhe serviriam dedescanso necessário, exigindo dele esforço físicoconsiderável. Além disso, exige também a redução de suasdespesas com consumo mais básico, como alimentação,vestuário e transporte, se não a tomada de empréstimos eendividamento para a compra de materiais.
Outro ponto importante a ser destacado é que o caráterespontâneo da autoconstrução não é por si só garantia de umprocesso de fato autônomo e emancipador. Por mais que sejauma resposta de iniciativa do sujeito diante de suasdemandas cotidianas, com vistas a permitir prioritariamenteo [valor de] uso do espaço, a autoconstrução é atravessadapor inúmeros fatores, não se podendo falar em um processoautônomo total. Se por um lado diz-se em uma maiorautonomia na gestão do espaço, já que o sujeito é quecontrola e toma as decisões no processo de autoconstrução,por outro a escassez financeira, a imitação de paradigmasde casa, o significado monetário e simbólico dessa moradia,também condicionam o morador, que opera em uma margem demanobra limitada ao seu contexto.
Além disso, no mais das vezes o processo deautoconstrução não corresponde a uma alternativa conscientede busca por maior apropriação do espaço em oposição àlógica mercadológica que prevalece na cidade formal, sendoque, ao contrário, é muito mais uma necessidade do queescolha. Assim, muitas vezes, apesar de se regerprincipalmente pelo valor de uso e não de troca, não estácompletamente fora da lógica de objetificação do espaço queprevalece na cidade.
Inegável, contudo, que a autoconstrução traz em si umpotencial emancipador, em que o espaço não é mera coisa eos sujeitos detém autonomia para dele se apropriar e nele
criar, em busca, principalmente, de realizar seus anseios enecessidades.
Não se trata de romantizar tal produção, comose ela ainda fosse efetivamente livre. Pelocontrário, é evidente que ela se faz menos poropção do que por necessidade; que ela envolvevalores de troca e certa lógica de mercado; quemuitos de seus materiais, técnicas e padrõesnão representam alternativas às práticasformais vigentes, mas apenas as imitam; e que oramo arquitetônico da indústria cultural, comseus automatismos perceptivos ecomportamentais, alcança também essas áreas.Mas, por outro lado, há na favela um tipo deautonomia de indivíduos e pequenos grupos comrelação ao espaço, que simplesmente inexiste nacidade formal. Tal autonomia, que nada mais édo que efeito da condição marginal ao sistemaeconômico, significa que a divisão entretrabalho intelectual e trabalho materialpredominante na produção formal do espaço nãoprevalece ali. As pessoas que concebem o espaçosão as mesmas que o constróem e, em geral,também as que o usam. Trabalho intelectual deconcepção e trabalho manual de execução nãoestão apartados. A produção não é dirigida pelolado de fora. (SILVA, 2007, s.p.)
II- Favela: subjetividade, autoconstrução eparticipação
II.1- Favela e subjetividade: dinâmica própria de organização
Por trás do discurso estigmatizador que recai sobre afavela, com um olhar um pouco mais cuidadoso é possívelperceber que, muito diferente do espaço de desordem ecriminalidade do qual é taxado, o lugar-favela possui umadinâmica própria, diferenciada do que se concebe por idealna cidade formal, e que nem por isso necessariamentenegativa ou sintomática de ausência lógica organizacional.
A primeira e forte marca da favela é a ausência depadrões, numa disposição não linear do espaço, resultado deuma construção fragmentada tanto no tempo quanto na forma,
e, no geral, com vistas a atender necessidades imediatas.Em verdade tem-se um espaço rizomático, flexível atransformações, não engessado diante das variadaspossibilidades e necessidades cotidianas. (MELO, 2009)
Observa-se uma mistura de formas e materiais, nemsempre harmônicos entre si e por vezes irregulares. Alémdisso, é nítida a relação fluida entre o espaço público eprivado, confundindo-se por vezes o interno e externo dacasa, do comércio, etc. O espaço é mutável, acolhendopossibilidades diversas de usos, que variam conformecircunstância. A alternativa de expansão das construçõestambém é comum, sendo o espaço marcadamente horizontal, asmoradias muitas vezes com quintais, varandas e lajesbatidas. Essa expansão normalmente se dá no âmbito de umamesma rede familiar, em que é corriqueiro o aproveitamentode todos os pequenos espaços vazios, que resultam muitasvezes na construção de casas geminadas ou sobrepostas.
Há, assim, a interpenetração relativa entre asedificações e entre os espaços internos. Isso é bastanteindicativo no contexto de rede de solidariedade da favela,em que os moradores estabelecem a prática comum de apoiomútuo. Mais do que boa vizinhança, esse apoio mútuo faz-sedeterminante, já que, em cenário inegavelmente marcado porprecariedades, a ajuda do outro muitas vezes é o únicorecurso possível.
Não há limites claros entre os espaços de cadaedificação. As casas parecem encaixar-se umasnas outras, em um intricado sistema de ocupaçãoque sorrateiramente se apropria do vazioconforme a necessidade da cada um e até olimite do vizinho. O agrupamento das casas nafavela se dá como um “conjunto de expressãocontínua e expressiva” (PORTAS, 2004), em umacontinuidade que garante estreita relação entrevizinhos em espaços sociais comunicantes.Espaços de contato, se não de encontro, deproximidade e inter-relação (nãonecessariamente positiva), em lotes que seencaixam e aproximam, de lado, as células defamílias que se entremeiam. Os espaçosexteriores na favela se definem por seusinteriores, e vice-e-versa, não havendo
definição precisa de qual determina ou conformao outro. (MELO, 2009, p. 153)
Ao olhar para a favela com alteridade, com verdadeirointuito de reconhecer a dinâmica do espaço e ocomportamento dos seus moradores, fica bastante clara ainteração orgânica entre o espaço e o ocupante. Essadinâmica sinaliza e registra o cotidiano dos aglomerados, odia-a-dia de seus habitantes. É nítida a relação intensacom a rua e a casa, em um movimento permanente de adaptaçãoconforme necessidades e maneiras de apropriação doslugares. É possível, por exemplo, não só a expansão damoradia, mas a otimização de espaços mínimos para usosdiversos e por várias pessoas.
Esse processo pulsante de transformação do espaçoreflete-se não só nas casas, mas resulta em um intrincadosistema de becos, ruas e vielas, que crescem e se alteramconforme demanda de caminhos a serem abertos. Diferente dacidade formal, a flexibilidade é a marca dos lugares-favela, que se consolidam pelo ocupação insistente demoradores. A separação mínima entre o espaço público e oprivado e entre os espaços privados é decorrente e tambémreflete a troca constante entre os moradores, quecompartilham, não sem conflitos, o espaço – e assim tambémo constroem coletivamente, na soma de pequenas ações. Essaproximidade e compartilhamento fomentam uma espécie vinculoestreito entre os ocupantes do espaço e entre eles e afavela, numa outra lógica de convívio.
Não existe um limite definido da moradia, tantoem relação à vizinhança quanto em relação aoespaço público. É tênue a separação tantoformalmente quanto no uso destes espaços que semisturam e entrelaçam. Esta lógica divergediametralmente do que é proposto, mesmo que nemsempre alcançado, para a cidade regulada eformalizada. A demarcação clara do limite decada propriedade, de onde começa e termina oespaço público é determinante nas regras deregulação da cidade. O que pertence a cada um eo que é de todos configura uma base denegociação que é estritamente atrelada àdefinição de limites. Na favela os limitesparecem ser mais fluidos, mais flexíveis,construídos pela estratégia de aproveitamento
de pequenos espaços e de contínua expansão.Espaço público orgânico definido mais pelaapropriação e uso dos espaços do que por regrase limites claros, assim como as casas. (MELO,2009, p. 154)
Outro aspecto marcante é que o lugar-favela é aindaespaço dimensionado prioritariamente em função das pessoas.Os lugares são por elas e para elas construídos – sãoespaços de uso. Apesar da presença cada vez mais comum deveículos automotores em seu interior, como carros e ônibus,percebe-se ainda a utilização intensa dos locais públicospelos moradores, os quais servem de ambiente de lazer, detrabalho, de encontro, de descanso, de extensão da casa, enão somente de caminho de passagem, na contramão da lógicada cidade formal.
Com um simples olhar em direção à favela não é difícilperceber que se está diante de uma dinâmica diferenciada deorganização do espaço e de vida. O desafio que se traz aquié perceber que essa dinâmica é em nada inferior à “lógicaoficial” de organização do espaço, presente na cidadeformal, e que é necessário reconhecer a organização dafavela como também legítima. O intuito do presente trabalhoé lançar luz à lógica própria dos aglomerados, ressaltandoseus inúmeros aspectos peculiares que, ao contrário deproblemas, por vezes servem como exemplo positivo à cidadeformal.
II.2- Favela, autoconstrução e participação
Izabel Dias de Oliveira Melo traz uma perspectivainteressante dessa relação intensa do espaço-morador e dalógica do cotidiano que se realiza por meio daautoconstrução na favela. Ela defende o que chama de“políticas do espaço”, que corresponde justamente a quanto oespaço diz dos sujeitos que o ocupam, sendo esse o local departicipação mais plena de seus ocupantes. Segundo MELO(2009), muito mais que promover espaços institucionais departicipação marcados pela argumentação oral (espaços depolítica), no âmbito das políticas públicas a inclusão dossujeitos deve se dar pela observância de seu dia-a-dia,sendo a dinâmica dos lugares indicativa dos anseios,necessidades e estilo de vida. Nessa linha, a estética da
favela não seria aleatória, mas resposta espontânea dossujeitos ao seu contexto, criadora e transformadora,enunciadora de uma lógica de organização particular elegítima.
A ação política do cotidiano, talvez de maneirasimplificadora, mas elucidativa, pode serpercebida nas trilhas alternativas que sãoformadas a partir das escolhas de percursosadotados pelas pessoas em seu dia-a-dia, adespeito de trajetos construídos para tal fim.Sem que haja um ato explícito de escolha, deforma “fragmentária”, da soma de pequenas açõesinstituintes, se configura uma ação política dequestionamento das regras. E dessa maneira, apolítica extrapola a idéia de acesso ao podernos sistemas políticos decisórios, ou maisprecisamente a relação com uma deliberaçãoformal, para se instituir nas ações cotidianas,não formalizadas, mas criativas etransformadoras. (MELO, 2009, p. 17)É nesta confrontação, é na construção dadiferença, é na enunciação de uma presença, quediscutiremos a política. É no uso, na vivênciae na aproximação que discutiremos o espaço,entendendo que as políticas do espaço. (MELO, 2009,p.20)
A estética da favela é assim desenhada por seusmoradores, por suas práticas cotidianas de autoconstruçãodas casas, dos becos, das ligações com os bairros dacidade. Mais do que a forma final é o processo queinteressa, visto que o cerne da favela é o próprio processode se construir, a possibilidade de não estar nuncaacabada. O lugar-favela institui-se não por umaracionalidade técnica, mas pelas práticas diárias de seusmoradores.
O espaço-movimento não está ligado a projetos,mas ao dia-a-dia do urbano.[...] Diferentes dossistemas de gestos sem surpresa, da rotinamecanizada de um mundo veloz, da informação eda homogeneidade, as favelas se constroem pelasensação do processo, do espaço percorrido, daexperiência sensível. Favela adaptável, alerta,do tempo percebido e vivenciado, tempo dadiferença e da instabilidade. (JACQUES, 2001,p. 152).
A essência do cotidiano dos aglomerados, o uso, aapropriação do espaço nas favelas está intensamentevinculado a sua autoconstrução, à possibilidade deexpansão, transformação constantes. Construídosiniterruptamente “são (...) espaços do aproximativo e dacriatividade, opostos às zonas luminosas, espaços deexatidão.” Construídos pela experiência prática, pelavivência dos lugares e da exploração de suas possibilidades“os espaços inorgânicos [das favelas] é que são abertos, eos espaços regulares [da cidade planejada] são fechados,racionalizados e racionalizadores” (SANTOS, 1996, p. 326 inMELO, 2009, p. X).
Acredita-se aqui que por meio da experiência cotidianaos moradores das favelas criam soluções relacionadas a umamaneira de morar e viver, conforme suas práticas e cultura.Assim, a forma de apropriação e estruturação urbana dasfavelas não está associada simplesmente a uma situação deprecariedade e adversidade física, mas se relaciona tambémà percepção e vivência diferentes do espaço. Diferente dacidade formal, na favela a projeção dos sujeitos noslugares, seja de suas necessidades ou de hábitos, épossível na em razão da liberdade criativa do espaço.
Cultura própria, principalmente construtiva eespacial (...) que difere dos bairros formaisaté mesmo por seu processo singular deocupação. Favelas são sempre espaços que foramem parte ou totalmente conquistados econstruídos pelos próprios moradores, segundouma lógica participativa singular, contrária aoque ocorre na cidade formal. Insistiremos aquina idéia de que as favelas se constituem pormeio de um processo arquitetônico e urbanísticovernáculo singular, que difere do dispositivoprojetual tradicional da arquitetura eurbanismo eruditos, e também constitui umacultura e até mesmo uma estética espacialprópria, diferente da cultura e da estética dacidade formal e com características peculiares.Essa cultura e estética da favela, essa outraforma de construir e de habitar, têm reflexosou influências de todos os aspectos da vidacotidiana de seus moradores. (JACQUES, 2002, p.28-29)
O que se está ressaltando é que a favela possui umadinâmica própria de organização. Assim, em que pese anecessidade de investimento estatal através de políticaspúblicas em aglomerados, tais políticas devem se dar comobservância a essa organização prévia, deixando margem paraa construção do espaço conforme cotidiano e cultura locais.Reivindica-se, portanto, políticas públicas pautadas muitomais nas políticas do espaço do que em espaços de política.
III- Moradia, subjetividade e necessidade
III.1 -Moradia e sujeito
Muito além da dimensão física das quatro paredes e umteto e transcendendo também a noção de propriedade, amoradia assume significado orgânico para o ser humano. Amorada expressa o conteúdo cognitivo e emocional queconstitui os sujeitos como indivíduos. A casa é repositóriode vivências físicas, afetivas e intelectuais; refletecotidianos, como um lugar-processo de interação do moradorcom o espaço, em uma dinâmica de construção desse espaço edo sujeito. A memória, as histórias de vida materializam-seno “lar”, sendo esse “lar” quase um espelho daspossibilidades, vontades, da percepção que o indivíduo temde si e que exterioriza no espaço. Assim, a casa oferecepistas dos valores e crenças que caracterizam o seuhabitante em um nível mais profundo, refletindo tanto seuscomportamentos atuais como seus traços mais permanentes.Habitar, vivenciar(se) (n)a casa é também forma de “ser” -a morada, extensão da mente e do corpo, constitui-se comocomponente integrante do “eu”.
Priscila Augusta Lima, na tese de mestrado “Aconstrução da subjetividade no interior das classessubalternas através da moradia – um estudo de caso naperiferia de Belo Horizonte”, traz uma abordagem dainfluência da moradia na formação da subjetividade demoradores da periferia belo-horizontina. A tese central daautora é que a construção e características do espaçointerferem de maneira decisiva na formação da identidadedaquele que o habita. Isso porque o homem, sendo sujeito de
práxis, transforma a natureza e a si através da ação. Pelotrabalho cria a cultura e a sociedade em posição relacionalcom o outro, construindo-se concretamente através da práxise da interação.
O homem sendo, antes de mais nada, um serhistórico que transforma a natureza e a simesmo através do trabalho, produz também asrelações sociais e as ideias. O homem concretoé o ser social que transforma a naturezaatravés do trabalho, construindo, assim, acultura e a sociedade humana. (LIMA, 1990,p.24)
O espaço, e no caso do presente trabalho, a moradia, éassim um lócus de construção, interação, e, portanto, detransformação do sujeito, que ao construí-la constrói a simesmo. A disposição dessa morada reflete não somente ascondições financeiras de quem o habita, mas suasnecessidades diárias, seus hábitos, estilo de vida, amaneira de se apropriar e se projetar no espaço por meio docotidiano. Ao participar desse cotidiano, o sujeito o fazcom todo a sua personalidade, reproduzindo a si e àsociedade, como também construindo:
Ao participar da vida cotidiana, o homem o fazcom todos os aspectos da sua individualidade epersonalidade. Nela funcionam todos ossentidos, capacidades intelectuais, habilidadesmanipulativas, sentimentos, paixões, ideias eideologias. Fazem parte da vida cotidiana todasas atividades através das quais o homemreproduz a si mesmo para reproduzir asociedade. Assim, a casa, como unidadeprodutora (dos sujeitos) e reprodutora, fazparte da vida cotidiana e é importante nosentido de assegurar a reposição do desgastefísico e reduzir o custo de reposição da forçade trabalho (Quiroga, in LIMA, 1990, p.54)
Dessa maneira, sendo a casa um dos principais espaçosde produção e reprodução do cotidiano, nos termos de LIMA(1990), a casa reflete e interfere no comportamento dosujeito, sendo constitutiva do seu fazer e do seu ser. Esseprocesso de constituição do fazer e do ser dos sujeitostraduz-se na formação de identidades, processo constituído
também em função da interação da pessoa com a casa. Essaidentidade não está pronta, nem acabada, mas em permanenteformação, sendo a moradia o espaço que abriga essatransformação constante, tanto influenciando quanto sendoinfluenciado por ela. Nas palavras de Marcelo Milagres(2009):
[...] é o espaço da subjetividade, é o local deencontro do eu consigo e com o outro. A moradaé pensada, construída, vivenciada e protegidacomo refúgio físico e psicológico. O que édenominado de lar é o espaço da afetividade, dopreenchimento da alma; [...] Precisamos de umlar no sentido psicológico tanto quanto nofísico; para compensar uma vulnerabilidade.Precisamos de um refugio para proteger nossosestados mentais, porque o mundo em grande partese opõe às nossas convicções.(...)A casaenvolve tudo o que ser humano possui evivência, seus pertences e seus Sonhos, suahistoricidade e o imaginário do porvir. É sob oresguardo da morada que se desenvolve parte davida. (Milagres, 2009, p.68)
Assim, o sujeito está expresso na casa: desde alocalização e condição estrutural da moradia, que em algumamedida revela sua posição social, até a organização doespaço, os cômodos, os objetos que se tem e a maneira dedispô-los, que dizem muito das possibilidades enecessidades cotidianas e da identidade da pessoa.
III.2- Favela: moradia, subjetividade e necessidade
Trazida a importância da relação da moradia com osujeito, é preciso destacar que na favela, se a casa éespaço de encontro do morador consigo, é também lugar deencontro com o outro, sendo marcada pela lógica dacoletividade. A subjetividade desses moradores éconstituída exatamente pela soma dessa relação do indivíduocom si mesmo e com seu entorno social, expressando-se comouma personalidade autônoma permeada pela dinâmica dacomunidade. Um dos elementos de diferenciação da moradia nafavela e na cidade formal consiste no fato de no aglomeradoa casa ser menos um espaço do indivíduo isolado para ser doindivíduo com o coletivo. Assim, a construção da
subjetividade e a relação com a casa é na favela processopeculiarmente compartilhado, resultado da interação entre osujeito, espaço e comunidade.
A prática da autoconstrução na favela tem por um dosimpulsos fortes um fator não único, mas decisivo:necessidade. Assim, movidos pela carência de moradia, em umprimeiro momento os sujeitos ocupam espaços informais embusca de sanar urgências, realizar anseios, projetarsonhos. Edificam o espaço e edificam a si, numa trocafluida em que o cotidiano dá os contornos da casa, a casainterfere no cotidiano. A ocupação do espaço é uma questãode sobrevivência: fuga contra a chuva, o frio, os perigosda rua, o aluguel que toma a metade do salário; buscaansiosa por um ponto fixo de resguardo, segurança, abrigo,por recolhimento, local de expressão do ser, dereconhecimento.
A moradia na favela é o espaço de realização demínimos existenciais, não só físicos, mas tambémpsicológicos. É muitas vezes o único canto no mundo. É oinvestimento de uma vida, tempo e dinheiro, afeto,expectativas. Meta, construção permanente e incansávelporque esperança de uma condição de vida melhor. Espaço deprojeções, onde o concreto se molda conforme o dia-a-dia. Acasa na favela é para os moradores possibilidade, éperspectiva. O sonho da casa própria, tão recorrente entreos brasileiros, assume uma conotação diferenciada para apopulação de favela: é uma chance no mundo sem lugar.
O ímpeto de autoconstrução da moradia vem de privaçõeslatentes: da exclusão, da indignidade, da falta dereconhecimento. Os moradores, entretanto, e aqui se trazuma questão importante, num movimento talvez inconscientede ressignificação de sua condição, reinventam o seucontexto. A favela não é depósito de necessitadosincapazes, armazém de pobrezas e desgraças, mas étransformada no lugar de criação e expressão de um estilode vida, onde os sujeitos se colocam. O cotidiano éconstruído em tentativa de sanar necessidades, mas semdeixar de ser também expressão de uma cultura própria quese materializa através da apropriação do espaço. Se éinegável que o elemento necessidade desempenha papeldeterminante na autoconstrução do espaço, também é deextrema relevância que isso se dá permeado por um processo
de projeção de identidade. O que se constrói ali é umamaneira própria de gerir o espaço, conforme carências, mastambém de acordo com a percepção de mundo dos sujeitos.
A relação do sujeito-coletivo com a moradia évisceral: porque ali é seu espaço de sobreviver e de ser.Diferente da cidade formal, em que a casa, principalmentenesse cenário de especulação imobiliária intensa, é umproduto, investimento financeiro premeditado, sobressaindoo seu valor de troca, na favela a moradia é resultado de umesforço intenso na luta contra carências básicas,prevalecendo seu valor de uso. “A fome é a fome, mas a fomeque se satisfaz com carne comida com garfo e faca não é amesma fome que come carne crua, servindo-se das mãos, dasunhas e dos dentes” (MARX, in LIMA, 1990, p.32). Contudo, épreciso destacar desde já que essa relação visceral étambém permeada por contradições, em uma relação deapropriação e uso, mas também de coisificação da moradia edo sujeito, o que se destrincha mais abaixo.
Vale ressalvar ainda a necessidade de se ampliar oespectro do que se entende por carência básica. Ferroafirma que “da casa, o operário requer, inicialmente, poucomais que proteção contra chuva e frio, espaço eequipamentos suficientes para o preparo de alimentos edescanso”. (FERRO, in SILVA, 2009, p.49). Contudo, para apopulação socialmente vulnerável, a moradia não constituimeramente um teto, mas é além disso “parte ativa daeconomia doméstica, unidade de produção, possibilidade derenda, apólice de seguro, poupança, garantia de inserçãosocial e de acesso a trabalho, escola, saúde, comércio”(SILVA, 2006, p.12). É também lugar onde ele constrói eexpressa o seu ser, sendo espaço de reconhecimento. Assim,as carências básicas passam pelas demandas físicas,econômicas e psicológicas desses sujeitos.
Ainda, não se está aqui negando o papel econômicodesempenhado pela moradia no universo desses sujeitos.Entretanto, pode-se dizer que a casa não é para elesprimordialmente uma unidade de consumo, um negócio, uminvestimento com vistas a obter-se lucro, mas é sim umamaneira de suprir boa parte das necessidades, amplamenteconsideradas, que o modo de produção capitalista lhes nega.(SILVA, 2006, p.17)
Enquanto na lógica da cidade formal, como na produçãode conjuntos habitacionais e empreendimentos afins, dá-semais atenção às características como o conforto ambiental,ergonomia ou aparência, esses aspectos só têm valor de usopara os moradores no momento em que outras condições maisbásicas estão asseguradas, e mesmo a partir disso nãocostumam obedecer aos padrões imaginados pelos projetistas(SILVA, 2006, p.18).
Assim, quando se trata das favelas, a habitaçãonão se resume a padrões hegemônicos do usoexclusivamente residencial. A casa possui outrosentido. Isso porque a habitação no cotidianodos espaços populares exerce funções muito maisamplas do que a de uma simples residência. Umadelas esta vinculada às oportunidades degeração de trabalho e renda. Nas favelas, amoradia pode ter um puxadinho para frente oupara trás, dando lugar a uma pequena mercearia,um bar ou um salão de beleza. (...) E não é sóo uso econômico da habitação que é importante.A casa na favela está intimamente ligada à rua.Até mesmo por serem edificadas em ruasestreitas, os parentes e vizinhos estão maispróximos. (...) A rua é um prolongamento dacasa. (...) Mas aos olhares dos dominantes tudoé desorganização nas favelas: falta privacidadee a bagunça é insuportável. (SILVA, 2006, p.18)
O significado da habitação na vida cotidiana dasfavelas se estende do uso exclusivamente residencial parapossibilidades de geração de renda para complementar obaixo salário(o bar, a mercearia, o artesanato feito nalaje) e para o crescimento da família (o filho que casa, asogra...). A casa é também, muitas vezes, o lugar da festae de encontro, sendo importantes as áreas de quintais elajes, que são também a possibilidade de expansão dahabitação. A própria rua também cumpre esta função. Mais doque espaços de circulação são lugares de convivência elazer, do futebol dos meninos, das conversas e encontrosdos adultos.
Com tudo isso, especulamos que o processo deconstrução das casas pelos próprios moradores relaciona-sea uma prática singular que pode ser identificada nasmorfologias das edificações e que tem vinculação direta com
seus hábitos, necessidades e com uma cultura de apropriaçãoe uso dos espaços. A construção de uma varanda, amanutenção de um quintal ou de uma laje nas habitações dafavela, enquanto espaços mínimos de quarto ou cozinha aindanão estão garantidos, podem não estar associados unicamentea uma impossibilidade financeira de ampliação da moradia,mas serem formas de apropriação do espaço que se vinculamàs práticas cotidianas destes moradores (como as festas nalaje ou criação de animais nos quintais, por exemplo).
Em que pese essa tendência de relação visceral dosujeito-coletivo com a sua moradia, impossível nãoconsiderar as ambiguidades que a atravessam. É que apesardo potencial emancipador da autoconstrução da moradia, jáque processo de busca “autônoma” por alternativas desobrevivência e reconhecimento, essa relação nem sempre seestabelece no sentido de emancipação, sendo que emcontrário presta-se até mesmo a fortalecer a reificação damoradia e do morador. Isso porque quando o assunto é “casa”incide, inevitavelmente, um conjunto de regras impostaspela sociedade, pelo mercado, pelo Estado na problemática.
Assim, não é incomum discursos de moradores de favelasque evidenciam a essencialidade da moradia para o exercíciode suas necessidades, sua significação como projeção de umsonho e de esforço árduo e permanente, como espaço deautonomia que possibilita suas atividades cotidianas e aexpressão do seu ser. Porém, muitas vezes esses discursosvêm acompanhados pela insatisfação com a condição demorador de favela, pelo anseio e busca de enquadramento nospadrões de morar da cidade formal, pela imitação decostumes “convencionados” que envolvem a moradia na cidadeformal, seja estética ou tecnicamente, mesmo que nãocondizentes com o seu cotidiano. Está também presente aexcessiva mercantilização do espaço e significação da casacomo possibilidade de ascensão financeira. Dessa maneira, arelação morador-casa, constituída por uma facetaemancipadora, ambiguamente também repete padrõesdominantes, às custas da reificação do espaço e do sujeitoque o ocupa.
IV- Espaço e reificação: fatores que atravessam arelação espaço, moradia e morador na favela
A favela está inserida em um histórico urbano denegação e subalternização, sendo que ainda hoje carrega oestigma de problema da cidade, abrigo de bandidos, lugar dadesordem e do caos. Diante desse cenário pejorativo,fatalmente a sociedade reproduz pré-conceitossubalternizantes em relação às favelas, e também ospróprios moradores de aglomerado sentem-se inferiores nacondição de favelados, o que impacta inevitável enegativamente na sua relação com o espaço e com a moradia.
Como já defendido, o morador de favela possui umarelação peculiarmente visceral com o espaço e sua casa.Entretanto, essa relação é atravessada por fatores que afazem ambígua, em um movimento de empoderamento de suacondição, mas também de negação da mesma, de emancipação eao mesmo tempo reificação.
Entende-se aqui que esses fatores que atravessam arelação moradia-morador e favela decorrem em grande medidada dinâmica mercadológica das cidades, viabilizada a partirde diferentes lógicas de atuação na produção do espaçourbano. Essa dinâmica da cidade está imersa em um processoeconômico o qual distribui espaços diferenciais através demecanismos de mercado. Para discutir a relação do moradorde favela com o espaço e com a moradia, necessárioexplicitar como se dá produção do urbano sob a condução deatores centrais nesses processos, sendo que, com base natese de mestrado já citada de Geruza Tibo, destrinchar-se-áaqui dois protagonistas: o Estado e mercado imobiliário.
Em primeiro lugar cabe abordar a lógica do Estado deprodução do espaço urbano. Atualizando o debate em torno daatuação do Estado na dinâmica da cidade, observa-se que,apesar do decurso do tempo, mudança de contexto elegislação, o poder público permanece com a posturahigienista de séculos passados em relação às favelas. Averdade é que, em que pese o surgimento de políticaspúblicas calcadas no discurso de inclusão das favelas, bemcomo de disposições normativas que protegem essasterritorialidades, o que se tem visto na prática sãopoliticas ainda autoritárias e segregadoras, que nãoreconhecem esses espaços e nem os seus habitantes, e que
fortalecem a lógica de exclusão já enraizada no cenáriourbano.
Ainda, percebe-se a ingerência cada vez mais marcadado capital nas políticas estatais, estando o poder públicorecorrentemente alinhado à lógica da iniciativa privada,não sem sacrifício de interesses coletivos ou direitosfundamentais principalmente de populações socialmentevulneráveis.
Não entrando no mérito do judiciário, a atuação doEstado dá-se, oficialmente, por dois meios: execução depolíticas públicas e elaboração de legislação. O cerne doque se pretende demonstrar aqui é que, em ambos os casos,tais instrumentos têm servido inúmeras vezes para fomentara mercantilização do espaço e não a administraçãodemocrática da cidade, corroborando e mesmo fomentando paraa segregação e auto-inferiorização dos espaços de favelas.
No concernente às políticas públicas, essamercantilização ocorre principalmente por meio davalorização da terra urbana, que se dá pelo provimento deinfraestrutura, acesso a equipamentos e serviços como detransporte, educação, saúde, lazer. Assim, em sendo oEstado responsável pelo fornecimento de grande parte dasmaterialidades urbanas prestacionais e infraestruturais,ele possui papel importante na hierarquização dasespacialidades, das demandas do solo urbano e, com isso, novalor da terra urbana. Nesse sentido, explica TIBO (2011)
Para exemplificar, Singer (1982) cita que oEstado, ao prover determinada zona da cidade deserviços e melhorias urbanas está afetandodiretamente a dinâmica de valorização da terranaquela localidade. Assim, promove umaalteração na estrutura social do espaço, sendoque com o aumento do preço do solo urbanocomeça a ocupar o espaço a camada social queconsegue pagar pelo novo preço da terra, o quepode determinar a migração da população derenda baixa, que não é mais capaz de pagar pelaárea agora valorizada. Para o autor, essadinâmica de valorização da terra, garantidapela atuação do Estado, é aproveitada pelosespeculadores imobiliários, que, visando obterrendimentos futuros, influenciam a decisão do
Estado na escolha das áreas que irão recebermelhorias. (grifo nosso) (TIBO, 2011, p. 28)
Aqui vale uma análise mais cuidadosa do papeltendencioso desempenhado pela legislação urbanística nessecenário, que, pode-se dizer, por vezes tem prestado papeldesfavorável no concernente ao direito à cidade e à moradiade favelados. Conforme acentua TIBO (2003), a legislaçãourbanística tem reforçado a disseminação da ilegalidadeurbana.
“O arcabouço jurídico tem contribuídofortemente com os processos de apropriaçãoprivada dos investimentos públicos pelapopulação de alta renda nas cidades. Assim, apopulação de baixa renda fica alheia aoprocesso de urbanização regulado pelo PoderPúblico e instaura a informalidade em seusprocessos de produção do espaço urbano.” (TIBO,2003, p.30)
É importante destacar que os parâmetros estabelecidospela legislação têm projeção social relevante, já que alegalidade, muito mais que organizar e identificar oterritório conforme alguns critérios técnicos, estabelecelinhas simbólicas de espaços legítimos e ilegítimos, legaise ilegais. Acontece que essa classificação de ilegalidade eilegitimidade não são aplicações neutras desses critérios,sendo que a norma que classifica, na verdade, tem públicode incidência negativa específico. Há, portanto, umacontextualização do critério técnico, que tem seu alvoselecionado.
Aprofundando a discussão sobre a lógica doEstado como legislador do solo urbano, épossível perceber que as leis urbanas sãoaplicadas de forma desigual e desleal no espaçourbano. A disparidade da abrangência naaplicação da lei produz a visível segregação efragmentação das cidades e formaliza doisespaços distintos: os legais, que atendem alei; e os ilegais, que não atendem a lei.(TIBO, 2011, p.31)
Como já acentua ROLNIK (2003), a ilegalidade urbanatem a ver com a classe social e, consequentemente, com a
possibilidade ou não de exercício da cidadania. A autoradiscute o poder simbólico do papel regulador da legislaçãourbanística:
Mais além do que permitir formas de apropriaçãodo espaço permitidas ou proibidas, mais do queefetivamente regular a produção da cidade, alegislação urbana age como marco delimitador defronteiras de poder. A lei organiza, classificae coleciona os territórios urbanos, conferindosignificados e gerando noções de civilidade ecidadania diretamente correspondentes ao modode vida e à micropolítica familiar dos gruposque estiveram mais envolvidos em suaformulação. Funciona, portanto, como referentecultural fortíssimo na cidade, mesmo quando nãoé capaz de determinar sua forma final (grifonosso) (ROLNIK, 2003, p. 13).
O entendimento da ilegalidade urbana não pode servisto apenas com resolução de problemas urbanísticos, masdeve ser encarado em toda sua complexidade. É importantenotar que a ilegalidade faz-se como mais uma barreira nainserção dos pobres na cidade e nesse mercado, sendo a elesmais uma vez negado o acesso à dinâmica “oficial” deadministração e uso de terras. Os espaços de ilegalidadesão subjulgados e desvalorizados no contexto da cidade e ospobres nunca conseguem chegar perto do mecanismo legal depropriedade necessário para gerar capital. Os efeitoseconômicos desse apartheid legal são mais marcadamentevisíveis na falta de direitos formais de propriedade sobreimóveis, sendo a propriedade mais um fator de diferenciaçãoe exclusão social.
No concernente à lógica do mercado de produção doespaço urbano, a venda de terras e produção habitacionalconfigura, ela mesma, um setor produtivo, isto é, uma formade extração de mais-valia. O entendimento da forma deprodução das cidades está imerso em complexidades inerentesao próprio modo capitalista de produção. Em princípio, essaoperação do capital produtivo no setor imobiliário nãodifere da lógica da produção capitalista em qualquer outrosetor. (SILVA, 2009, p.20)
Contudo, o capital investido em empreendimentosimobiliários enfrenta limites específicos. É que, diferentede outros setores em que o produto se renova conforme
produção, os produtos “terreno” ou “moradia” não sãorenováveis; eles não são automaticamente fabricáveisconforme demanda, sendo que sua circulação no mercadodepende da existência de novas terras e casas disponíveis,e, portanto, prescindem de espaços urbanos. A cada novoempreendimento habitacional, o empreendedor se depara com adificuldade de aquisição de terrenos, sendo que sua demandanão é equilibrada por um incremento da oferta. (Ribeiro, inSILVA, 2009, p.21).
O preço dessa terra ou moradia não é preestabelecidoconforme custo da produção, sendo variável de acordo comuma série de fatores, como localização, infraestrutura eserviços disponíveis no entorno. Estabelecem-sediferenciais para essas “mercadorias” que também se fazem,assim, como produtos, e que, portanto, são disputáveisnesse mercado. A provisão de políticas públicas, que vãoexatamente viabilizar boa parte desses elementosdiferenciais, passa, portanto, a interferir nesse contexto,sendo também alvo de disputa mercadológica.
Nesse cenário de disputas por diferenciais, osloteamentos periféricos (cabe aqui esclarecer que essaperiferia tem um conotação muito mais simbólica queespacial de fato) assumem um papel paradigmático no mercadoimobiliário: tanto servem de parâmetro de comparação, sendoque no geral correspondem a ocupações irregulares e comprovimento deficitário de infraestrutura, o que sobrevaloramonetariamente localidades regulares e com melhorescondições infraestruturais, quanto figuram comopossibilidade de expansão para investidores imobiliários,já que, em sendo essas áreas desvalorizadas, propiciamterrenos e casas abaixo custo de aquisição. Posteriormente,então, investe-se nessas áreas com vistas a promover suavalorização, e destaque-se, não poucas vezes através depolíticas públicas, o que torna esses espaços interessantespara o mercado imobiliário, mas inacessíveis aos seusantigos ocupantes.
Assim, é duplamente favorável para a indústriaimobiliária que os loteamentos periféricos existam. Tantoque não é incomum a expulsão de moradores de ocupaçõesirregulares, principalmente quando inseridos em regiõesnobres da cidade, seja por meio de gentrificação ouremoções involuntárias no bojo de políticas públicas que se
dão sob o discurso necessidade de revitalização dessasáreas ou interesse público, sendo essas localidadesposteriormente ocupadas por classes mais favorecidasmonetariamente. Não é exagero dizer que muitas vezes omercado imobiliário e o poder público convergem nãocoincidentemente para o mesmo objetivo, que é amercantilização do espaço para a geração de lucro.
Considerações Finais
A moradia é espaço de subjetividade, de desenvolvimentoda identidade, em que o sujeito, construindo ereconstruindo o espaço, transforma também a si mesmo. Omorar é ato de ser, reflexo da pessoa e de seu cotidiano. Amoradia, abrigo da alma, é refúgio físico e psicológico,que não se traduz somente em quatro paredes e um teto,sendo na verdade a soma da matéria com o espírito.
Partindo do papel visceral do morar na constituição doser, imprescindível uma reflexão jurídica sobre moradia.Nesse sentido, nas últimas décadas têm insurgido diversosdebates em torno da classificação do direito à moradia,sendo esse enquadrado atualmente entre os direitosfundamentais sociais. Nesse cenário de disputa deinterpretações, inegável é que o morar está ligado ao cerneda pessoa, às condições existenciais do homem. A morada,que pode apresentar-se de inúmeras formas, é algo inerenteao ser humano, ao seu necessário, livre e integraldesenvolvimento. Entretanto, o que se observa em geral noâmbito do Direito é um tratamento ainda muito afeito àquestão patrimonial da casa, que parece não dar conta dacomplexidade do direito à moradia.
As favelas trazem uma provocação que toca o instituto damoradia e mesmo do tratamento social, político e jurídicodado ao espaço. Isso porque, detentores de uma dinâmica deorganização própria, os aglomerados não se enquadram nospadrões de cidade socialmente estabelecidos e reproduzidosna legislação e políticas públicas, sendo historicamenteestigmatizados e não reconhecidos, sob alvo insistente depráticas higienizantes que tem por pano de fundo aimplantação de um modelo hegemônico e burguês de cidade.
Ao afirmar-se uma lógica própria de organização, aidentidade da favela e a interação visceral do morador coma moradia e com o espaço, não se está ignorando asambiguidades que envolvem o espaço-favela e a relaçãomoradia-morador. Isso porque, se por um lado observa-se umamaior autonomia na gestão do território, já que o sujeito éque controla e toma as decisões no processo deautoconstrução, por outro a negação da condição defavelado, a imitação de paradigmas de casa da cidadeformal, o significado monetário e simbólico do espaço e damoradia, também surgem como traços presentes. Tem-se com oespaço e com a moradia tanto relação emancipatória, quantoreificante. Isso advém, em grande medida, de um contexto desubalternização da favela e excessiva mercantilização doespaço, que, por meio da atuação do mercado imobiliário edo próprio Estado, colabora não para o empoderamento dofavelado, mas para sua coisificação.
O estabelecimento do território como fator dediferenciação de status social, diferenciação essareforçada pelo estigma da ilegalidade, desempenha papelfortemente negativo no imaginário do morador de favela, emum movimento de auto-inferiorização desses sujeitos. Emsendo ocupantes de localidades tidas por subalternas eilegais, no contexto de confusão de valoração da coisa epessoa, eles próprios passam a se colocar como subalternose ilegais e por isso não detentores de direitos sobre aterra e à moradia. Apesar do cotidiano de uso intenso darua e da moradia, a sensação de ausência de legitimidadenão deixa estar presente. O sujeito se vê como invasor, àmargem da norma e da sociedade.
Essa taxação de ilegalidade está em muito ligada àausência de propriedade. A supervalorização da propriedade,que em última análise presta-se como condição de inserçãosocial da territorialidade e de seus habitantes, tambéminterfere de maneira negativa no imaginário dos moradoresde favela. A coisificação do espaço passa a ser reproduzidapor eles, sendo interiorizada a ideia de que a detenção dapropriedade é essencial para um processo de inserçãosocial.
A partir do instante em que o comércio sebaseia no valor de troca, a natureza e oshomens passam a ser valorizados atravésde dados exteriores à sociedade
considerada. Isto foi o ponto de partidade um duplo processo: um, que haveria deseparar os homens entre compradores evendedores da força de trabalho, e, porisso, subordiná-los aos objetos; outro,que retiraria a esses mesmos objetos umvalor fundado no trabalho necessário àsua produção, substituindo-o por um valorcomercial. Desse modo, o homem tornou-seduplamente alienado. (SANTOS, 2007)
A propriedade, em alguma medida, representa apossibilidade de rompimento com a condição inferiorizanteque é ser morador de favela. Assim, o espaço e a moradiatambém são um produto, signos que têm algum valor nocontexto de mercantilização do status social, representandoa possibilidade de saída da condição de subalterno eilegal, e, em última análise, de inserção no que se dizcidade formal.
O que une, no espaço, é sua função demercadoria ou e dado fundamental na produção demercadorias. O espaço, portanto, reúne homenstão fetichizados quanto a mercadoria que elesvêm produzindo nele. Mercadoria eles próprios,sua alienação faz de cada homem um outro homem.O espaço, como esse ponto de encontro de quefala Lefebvre (Ibid, p.121), é uma reunião desombras ou, quando muito, um encontro desímbolos. (SANTOS, 2007)
É importante entender que o espaço e a moradia nacidade, e consequentemente também para o morador de favela,extrapolam em muito o conceito de ocupar e habitar, ouseja, o seu valor de uso, e se tornam um diferencialsocial, seja pela sua localização, pelos materiaisempregados, pela sua dimensão e pela detenção de suapropriedade, sobressaindo o seu valor de troca. Essasdistinções sociais de localização e habitação sãoabsorvidas pela sociedade, legitimadas pelo Estado efomentadas pela indústria imobiliária e seus mecanismos decontrole capitalistas. O resultado é que o morador dafavela, vulnerável a essas manobras da cidade empresa, emúltima instância é por elas privado do exercício do direitoà cidade e à moradia, privação essa não poucas vezes
fomentada pela própria legislação e políticas públicasurbanísticas.
Bibliografia
ALFONSIN, Betânia; Fernandes, Edésio. A lei e a ilegalidadena produção do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey,2003.
BACHELARD, Gastón. Poética do espaço, Colação OsPensadores, p. 200. São Paulo : Abril Cultural, 1978.
BONDUKI, Nabil G. Origens da habitação social no Brasil:Arquitetura Moderna, lei do Inquilinato e Difusão da CasaPrópria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.
CHAUÍ, Marilena de Souza. Cultura e democracia. O discursocompetente e outras falas. 11 ed. rev e ampl. São Paulo:Cortez Editora, 2006.
CIDADE E ALTERIDADE. Concepções sobre direito à moradia dosafetados pelo Programa Vila Viva nas vilas São Tomás eAeroporto e no Aglomerado da Serra, em contraposição àproposta oficial do Programa. Relatório Parcial. 2013.Heller, A. O cotidiano e a história. São Paulo, Paz eTerra, 1985.
JACQUES, Paola Bereinstein. Estética da Ginga: Aarquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica.Rio de Janeiro: Editora Casa da Palavra, 2001.
SILVA, Silke. A outra produção arquitetônica. In: Duarte,Rodrigo et al. Estéticas do Deslocamento, Belo Horizonte:Associação Brasileira de Estética, 2007.
SILVA, Silke; Baltazar dos SANTOS, Ana Paula; Velloso, Ritade Cássia Lucena. Morar de Outras Maneiras: Pontos dePartida para uma Investigação da Produção Habitacional.Topos Revista de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte,v. 4, p. 34-42, 2006.
LIMA, Priscila Augusta. A construção da subjetividade nointerior das classes subalternas através da moradia – umestudo de caso na periferia de Belo Horizonte. 1990.
MARICATO, Ermínia. A produção capitalista da casa (e dacidade) no Brasil industrial. São Paulo: Editora Alfa-omega, 1982.
MELO, Izabel Dias de Oliveira. O Espaço Da Política e asPolíticas Do Espaço: tensões entre o programa deurbanização de favelas “Vila Viva” e as práticas cotidianasno Aglomerado da Serra em Belo Horizonte, Minas Gerais.Faculdade de Geografia da UFMG. 2009
MILAGRES, Marcelo. Direito à Moradia: direito especial depersonalidade? Faculdade de Direito da UFMG. 2009.
MORADA NASCIMENTO, Denise. A autoconstrução na produção doespaço urbano. In: Mendonça, Jupira Gomes de; Costa,Heloísa Soares de Moura (org.) Estado e capitalimobiliário: convergências atuais na produção do espaçourbano brasileiro. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2011. p.217-230.
ROLNIK, Raquel (2007) Como atuar em projetos que envolvamdespejos e remoções? Guia, São Paulo: Relatoria especial daONU para moradia adequada.
________. A cidade e lei: legislação, política urbana eterritórios na cidade de São Paulo. 3 ed. São Paulo: StudioNobel FAPESP, 2003.
SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo:Editora da Universidade de São Paulo, 2007b, 5ª edição.
SILVA, Rodrigo Arlindo dos SANTOS. O cooperativismoautogestionário na produção da habitação popular. Escola deArquitetura da UFMG. 2009.Tibo, Geruza Lustosa de Andrade. A superação da ilegalidadeurbana: o que é ilegal no espaço urbano? Escola deArquitetura da UFMG. 2011.