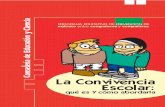Programa Radiofônico Papo Cabeça
Transcript of Programa Radiofônico Papo Cabeça
EXPEDIENTE Coordenação Prof. Dr. Jefferson O. Goulart Prof. Dr. José Carlos Marques Comitê Científico Prof. Dr. Carlo José Napolitano Prof. Dr. Jean Cristtus Portela Profª. Drª. Lucilene dos Santos Gonzales Promoção Departamento de Ciências Humanas Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Chefia do Departamento de Ciências Humanas Prof. Dr. Jean Cristtus Portela (2011-2013) Prof. Dr. Célio José Losnak (2009-2011) Apoio Empresa Júnior de Relações Públicas – RPJr Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol – GECEF Programa de Pós-Graduação em Comunicação – FAAC/UNESP Fundação para o Desenvolvimento da UNESP – FUNDUNESP Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP – Prope/UNESP Pró-Reitoria de Extensão da UNESP – Proex/UNESP Fundação Vunesp Design e Editoração Eletrônica Edvaldo José Scoton Contatos Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01 -Vargem Limpa – Bauru/SP - CEP 17.033-360 – Fones: (14) 3103-6064 / (14) 3103-6036
Copyright Departamento de Ciências Humanas – FAAC/UNESP, 2011
ISBN 978-85-99679-27-2
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 8 Futebol, Comunicação e Cultura RESUMOS A agressividade dentro do campo de futebol. 9 Thiago Thadeu Dias Paluan A cidadania nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo: os enquadramentos noticiosos do caso Geisy Arruda.
10
Murilo Cesar Soares, Noemi Correa Nueno A comunicação interna no contexto das tecnologias digitais de comunicação. 11 Fernanda Terezinha de Almeida, Maximiliano Martin Vicente A construção da cidadania no filme Fuga para a Vitória. 12 Maximiliano Martin Vicente A Copa do Mundo de 1970 e a revista Placar, 13 Eric Moreira Profitti A Copa do Mundo em cores e em alta resolução, ao vivo: o futebol para os telespectadores de 1970 e de 2010, 14 Santiago Naliato Garcia A crítica literária e a imprensa atual: análise da coluna Prosa de Sábado, do suplemento literário Sabático. 15 Felipe de Oliveira Mateus A crônica do futebol no Fantástico: a busca por uma narrativa além do factual. 16 Renata Barreto Malta A espetacularização do futebol: as conseqüências da influência midiática dentro do esporte. 17 Luís Henrique Mendonça Ferraz A ética da bola. 18 Jefferson O. Goulart A Gestão da Comunicação na Copa Africana de Futebol 2010. 19 Edilson Marques da Silva Miranda, Leopoldo Martinho Baio A imagem em jogo. Representatividade do uso da fotografia no futebol. 20 Ana Carolina Milo Britto A imagem em preto-e-branco. 21 Sara Lemes Perenti Vitor A Lenda Alenta: a importância da (re) contação de histórias. 22 Jamile Coutrim Dalri A manipulação velada dos veículos de comunicação: Estudo de caso – Capas da Revista Veja. 23 Rúbia Gabriele dos Santos Rodrigues A Mensagem da Face Jornalística: Uma Leitura Sobre a Cobertura da Imprensa Esportiva em Brasil e Portugal. 24 Lincoln Chaves de Oliveira A mensuração da opinião pública no apoio a gestão organizacional: caso universidades privadas de Bauru. 25 Mônica Santos Martins Unger, Célia Maria Retz Godoy dos Santos A Musicoterapia na reabilitação dos pacientes com afasia de broca. 26 Thiago Henrique Xavier Rodrigues A narrativa fantástica em coraline. 27 Aline Aparecida dos Santos
A regulação da propriedade dos meios de comunicação social na constituinte de 87/88: monopolização versus pluralidade dos meios e das informações.
28
Bárbara Bressan Belan, Carlo José Napolitano A regulação da propriedade imaterial na constituinte de 87/88: direito à comunicação, direitos fundamentais e econômicos.
29
Carlo José Napolitano, Mirela Dias de Aguiar Peloso, Gabriela Garcia Brandão
A Semiologia de Roland Barthes. 30 Helena Silva Ometto, Jean Cristtus Portela Análise da abordagem sociológica do programa Observatório do Esporte. 31 Fernando Trindade, José Carlos Marques Análise da apresentação de esportes diversos no Programa Observatório do Esporte da UNESP FM. 32 Nathalia Fernanda Boni, Ângelo Sottovia Aranha Análise de conteúdo: notícias divulgadas nos sites folha.com e globo.com sobre os jogos mundiais militares. 33 Elis Angela dos Anjos Análise do esforço de comunicação da Confederação Brasileira de Rugby na divulgação do esporte no Brasil. 34 Marta Regina Garcia Cafeo Aprendizagem de crianças com dificuldades em matemática: um estudo com a utilização da linguagem logo. 35 Roberta Ribeiro Soares Moura Padoan As condições materiais do jornalismo: o mercado de trabalho 36 Cristiane Hengler Corrêa Bernardo, Inara Barbosa Leão As novas demandas na produção de conteúdos para a televisão digital 37 Leire Mara Bevilaqua As relações sociedade-natureza e suas interações com os processos de degradação ambiental. 38 Edvaldo José Scoton, Rosane Aparecida Gomes Battistelle Basquete x futsal: o duelo por espaço dos esportes „amadores‟ na mídia impressa bauruense. 39 Júlio César Penariol Bruxas cibernéticas. 40 Patricia Basseto dos Santos Comunicação Pública e Gestão Democrática – uma análise da I Conferência Nacional de Transparência e Participação Pública.
41
Antonio Carlos Sardinha
Comunicação visual através de web sites: uma análise semiótica. 42 Barbara dos Santos
Comunicando pelo Twitter. 43 Rafael Chinaglia Leite Corpo e representação na Educação Física. 44 Ana Carolina Biscalquini Talamoni Crítica em perspectiva semiótica: o caso de Barbara Heliodora. 45 Alana Carrer Martins De Volta aos Trilhos: o Esporte Clube Noroeste em busca do orgulho perdido. 46 Marcelo Ribeiro Ricciardi Debates, o jogo agonístico das habilidades retóricas. 47 Suzan Martins Pereira
Democracia e Internet: o uso da web 2.0 por comunicadores políticos. 48 Karol Natasha Lourenço Castanheira Educação e consciência ambiental: uma experiência didático-pedagógica. 49 Maria da Graça Mello Magnoni Educomunicação: o desafio da construção cidadã a partir de um mundo editado. 51 Rosa Malena Pignatari, Maria Antonia Vieira Soares Eleições presidenciais brasileiras: o perfil de Dilma Rousseff na ótica do New York Times. 53 Maria Inez Mateus Dota Entre o Samba e a Bossa: as canções da dor demais. 54 Cláudia Regina Paixão, Wellington César Martins Leite Estatuto do torcedor e estádio alfredo de castilho: reflexos em âmbito local. 55 Fernando Menezes Oliver
Freesom. 56 Mariana de Souza Duré, Paula Pinto Monezzi Futebol e cidades criativas: Barcelona conexão S.Paulo. 57 Juarez Tadeu de Paula Xavier Globo Esporte: da Informação ao Entretenimento. 58 Beatriz Albuquerque e Castro Guerra de kosovo: análise semiótica da cobertura josnalística do conflito. 59 Amanda Pioli Ribeiro Havaianas segundo Bakhtin. 60 Fadia Camacho Feitosa, Andreza Patrícia Balbino Cezário Imagem do Papa na imprensa brasileira: a cobertura da Folha de S. Paulo sobre pedofilia. 62 Marcello Zanluchi Surano Simon 63 Imagens, intenções e diretrizes editoriais: estratégias do jornalismo visual na cobertura política. 63 Tássia Caroline Zanini Impactos das tecnologias digitais sobre a comunicação persuasiva. 64 João Eduardo Justi Interações no ciberespaço e no espaço urbano. 65 Luis Enrique Cazani Junior Jornal do Ferradura: Estímulo à Mobilização Social. 66 Aline Cristina Camargo, Laura Luz Pessanha Henriques Jornalismo e Cidadania: uma análise comparativa de coberturas de violações de direitos do adolescente. 67 Aline Maria Fuzisaki Leão Jornalismo e meio ambiente: A contribuição dos meios de comunicação e o conceito de sustentabilidade. 68 Pedro Celso Campos Jornalismo em TV digital e redação convergente. 69 Ricardo Polettini Juventude, Estilo de Vida e Consumo. 70 Thaís Helena Paixão Luiz Beltrão: Vez e voz dos marginalizados. 71 Ana Lucia Lima de Assis, Elaine Cristina Gomes de Moraes
Marcas da enunciação: a breagem actorial nos programas de ensino de Linguística. 72 Henri Georges Chevalier Merchandising social na novela paginas da vida. 73 Aline Dória De Alcantara Camargo, Leticia Passos Affini Movimentos sociais e a realização de eventos para a cidadania. 74 Elaine Cristina Gomes de Moraes, Murilo Cesar Soares Multimodalidade e mídia-educação: uma proposta para livre expressão e criatividade na escola. 75 Marcele Tonelli de Oliveira, Roseane Andrelo
Nos dias de hoje, Vale-Tudo! 76 Fábio de Lima Alvarez Notas para uma história da Semiologia. 77 Jean Cristtus Portela Novas estratégias de comunicação na Diocese de Bauru e proposta do diálogo interreligioso: o caso da revista Conversa.
78
Paulo Vitor Giraldi Pires Novas tecnologias e a web 2.0: mediadoras da divulgação do processo de inclusão digital? 80 Tatiana de Carvalho Duarte Núcleo Artístico – Rádio Unesp Virtual. 81 Paula Cristina dos Reis Costa
Núcleo de jornalismo da rádio unesp virtual: uma experiência prática. 82 Mirele Carolina Ribeiro Corrêa O Cinema Experimental de Matthias Müller. 83 Cristiane Sabino Vianna de Oliveira O futebol como expressão dos direitos humanos. 84 Loriza Lacerda de Almeida O futebol feminino frente ao discurso machista 86 Matheus Seiji Bazaglia Kuroda O Futebol no Regime Militar Brasileiro (1964-1985): Uma análise bibliográfica inicial. 87 Rafael Nogueira Rodrigues, Jean Fabiano Marcato Lamana, Pedro Lucas dos Santos Pêgo O início da telenovela no Brasil. 88 Rafaela Calado Bortoletto O jeitinho brasileiro: futebol e economia criativa como ferramentas de transformação social. 89 Juliana Santos, Vitor Soares Torres, Luiz Fernando de Araújo Valim O jogo entre luz e sombra na produção de sentido de fotografias da Magnum In Motion. 90 Erica Cristina de Souza Franzon O meio revista como ferramenta da Comunicação Institucional. 91 Bruna Silvestre Innocenti Giorgi, Lucilene dos Santos Gonzales O mito da caverna e as marcas na literatura: um paralelo entre a odisséia e os lusíadas. 92 Maria Angélica Seabra Rodrigues Martins O publico na Televisão : da platéia ao Reality Show. 93 Débora dos Santos De Grande O relações públicas entre a ironia das comédias e a realidade das organizações. 94 Clóvis Aparecido Moscardini Júnior, Christiane Delmondes Versuti O valor da nossa camisa: práticas de consumo e identificação coletiva entre membros de uma torcida organizada. 95 Gabriel Moreira Monteiro Bocchi, Antônio Mendes da Costa Braga Observatório do esporte nos esportes regionais. 96 Rodrigo Turati Pessoa, Marcos Américo Os símbolos esportivos: um estudo semiótico das logomarcas que atuam no esporte. 97 Adenil Alfeu Domingos Panoramas da interatividade no radiojornalismo esportivo em São Paulo. 98 Daniel Gomes do Nascimento de Araújo Pelas Entrelinhas: Esporte e Políticia na Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo. 99 Luis Paulo Isnard Jarussi Política 2.0 no youtube: jornalismo cidadão e a campanha online de barack obama. 100 Rafael Lefcadito Álvares Programa - Papo Cabeça. 101 Giovani Vieira Miranda Projeto de Requalificação do Estádio “Alfredo de Castilho” – Noroeste – Cidade de Bauru. 103 Bruna de Brito Prado, Bruno de Souza Arruda, Marcela Zanni Siqueira, Talita Cristina Pereira Rádio Unesp Virtual. 104 Camila Helena Franzoni Ribeiro, Maíra Batista Diogo, Gabriel Silva Teixeira Dias Reconfigurando o Corpo na Pós-Modernidade. 105 Muriel Emídio Pessoa do Amaral, Adenil Alfeu Domingos Reflexão: a indústria cultural, a culturas híbridas e a televisão pública. 106 Vivianne Lindsay Cardoso Relações públicas e eventos esportivos: tendência ou modismo. 107 Larissa Meza Ribeiro da Silva Representações midiáticas de telejornais brasileiros sobre a tragédia da região Serrana do RJ. 108 Guilherme Vallera Tavares
Responsabilidade Social da Mídia: o papel da ouvidoria nas emissoras de TV brasileiras de concessão pública. 109 Deborah Cunha Teodoro Semiótica da Cultura: As representações sociais e culturais através das imagens da mídia. 110 Rodrigo Carvalho da Silva Televisão digital: potencialidades da multiprogramação. 111 Elica Ito Temas tabus em narrativas seriadas. 112 Lucas Vicente Bortoletto Transmídia e Interação: o caso spoiler em Lost. 113 Caroline Rye Yamasaki, Maria Luiza Furatori Leopassi Um modelo de programa para alfabetização de adultos tendo como suporte plataformas interativas. 114 Alex Sampaio Lima Um primeiro olhar sobre a influência da mídia na personificação política dos acadêmicos de Comunicação Social. 115 Ariane Esteves Amaro Uma relação entre os apelidos e o público nos casos de Pelé e Guga. 116 Thiago Camargos Koguchi Uniforme esportivo: Identidades e significados. 117 Gabriel Arroyo Variante da Língua Portuguesa na transmissão radiofônica de futebol: aspectos léxsico-sintáticos. 118 João Batista Neto Chamadoira
FUTEBOL, COMUNICAÇÃO E CULTURA A Jornada Multidisciplinar consolidou-se como um dos principais eventos do calendário acadêmico da UNESP de Bauru. Essa conquista está diretamente vinculada à perseverança de seus idealizadores e dos organizadores que se seguiram, mas também à valiosa contribuição intelectual dos que por ela passaram e, sobretudo, à resposta vigorosa da comunidade acadêmica. Tornou-se, assim, para além dos clichês, um evento que efetivamente articula as dimensões estruturais da universidade: ensino, pesquisa e extensão. A quantidade e a qualidade de trabalhos inscritos e de participantes, a diversidade de temas de pesquisa de graduação e pós-graduação, a integração e o diálogo com a sociedade, além das generosas provocações estimuladas por conferencistas e debatedores, tudo isso representa um patrimônio valioso que vem sendo aperfeiçoado a cada edição. Em 2011, a escolha temática teve uma dupla motivação. De um lado, incorporar à agenda da academia um tema de grande impacto na sociedade brasileira, mas ainda relativamente pouco absorvido pela pesquisa científica. De outro, intensificar a reflexão sobre temas sociais da identidade cultural brasileira que pudessem ser interpretados sob múltiplos ângulos. Assim nasceu a edição sobre “Futebol, Comunicação e Cultura”. O resultado foi além das expectativas mais otimistas, tanto pela acolhida do tema, quanto pelo interesse dos participantes ou ainda pelas inquietantes provocações de expositores e pela maneira inevitavelmente apaixonada que o tema suscita. Falou-se muito sobre futebol e das muitas manifestações que o cercam, e mais ainda da identidade cultural de nosso país e até da contemporânea dimensão futebolística globalizada. Em resposta à questão indigesta formulada pelo antropólogo Roberto Da Matta – pioneiro na introdução desse tema de pesquisa das ciências humanas –, de que o futebol seria a maior expressão de democracia da sociedade brasileira, podemos pensar de forma saudavelmente contraditória. Como lembra José Miguel Wisnik, o futebol “é a afirmação de um paradoxo da escravidão como um mal nunca superado e, ao mesmo tempo, um bem valioso em nossa existência, não pela escravidão enquanto tal – o que é obvio e gritante nos céus –, mas pela amplitude da humanidade que desvelou”. Em síntese, é simultaneamente veneno e remédio. Assim encerramos nosso trabalho com a sensação de dever cumprido, afinal a Jornada manteve a vocação que é sua marca registrada, qual seja, incentivar a reflexão multidisciplinar sobre temas relevantes para o país e a comunidade acadêmica, permitindo e estimulando o contato entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. E um de seus melhores produtos agora pode ser acessado, na forma do Caderno de Resumos. Boa leitura.
Bauru, setembro de 2011.
Jefferson O. Goulart e Zeca Marques Coordenadores da XIII Jornada Multidisciplinar
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 9
A AGRESSIVIDADE DENTRO DO CAMPO DE FUTEBOL
THIAGO THADEU DIAS PALUAN [email protected]
Graduado em Marketing Palavras-chave: Agressividade; Atitude; Temperamento; Personalidade. Durante uma partida de futebol, que pode levar aproximadamente noventa minutos, ou até
mais alguns minutos, os jogadores estão preparados fisicamente para que o objetivo seja
cumprido: a vitória. Porém o preparo psicológico deixa a desejar, desencadeando atitudes
comportamentais negativas durante o jogo, que são transmitidas para a sociedade
(torcedores). É fato que os seres humanos são agressivos, apesar de ser profissional, cada
jogador tem sua personalidade e a agressividade é uma característica comportamental do
ser humano. Visto que nem sempre a agressividade parte do princípio de ser física, pode
ainda ser verbal ou não verbal, e durante uma partida, está presente a cada momento. Esta
agressividade pode ainda ter vínculo com a história particular de cada indivíduo em sua
formação e isto difere um do outro. Já dentro do campo de futebol, um lugar muitas vezes
“sagrado” pelos participantes, o jogador pode desenvolver este tipo de comportamento com
o objetivo de intimidar, se autoafirmar e ainda prejudicar o adversário com o propósito de
favorecer o seu grupo na vantagem pelo prêmio. Este fator social, presente na
personalidade de cada um, torna-se “explosivo”, pois nem sempre é considerada violência e
sim a maneira de reagir sensivelmente a cada estímulo gerado de insegurança. Com base
neste princípio, a agressividade é constituída por aspectos que compõem a personalidade, e
este trabalho visa explorar o temperamento do jogador de futebol durante o jogo, bem como
a agressividade presente no individualismo de cada participante com o meio em que este
está inserido (time) através de uma pesquisa descritiva, com o objetivo de sugerir o preparo
psicológico e individual de cada jogador antes do jogo com o intuito de demonstrar para a
sociedade que a agressividade durante a partida de futebol tem características individuais e
não coletivas.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 10
A CIDADANIA NOS JORNAIS FOLHA DE S. PAULO E O ESTADO DE S. PAULO: OS ENQUADRAMENTOS NOTICIOSOS DO CASO GEISY ARRUDA
MURILO CESAR SOARES [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
NOEMI CORREA NUENO [email protected]
Mestranda em Comunicação -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Cidadania; Jornalismo; Gênero feminino. Este artigo analisa as representações construídas sobre a então estudante Geisy Arruda em
2009, quando a universitária foi hostilizada por cerca de 700 alunos de sua escola, a
UNIBAN, com a alegação de que utilizava um vestido curto e tinha atitudes “provocativas”
em relação aos colegas. Nossa análise procura relacionar o papel de dois jornais em
relação aos direitos de cidadania da estudante, examinando os enquadramentos dos textos
veiculados nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo relacionados ao caso e
aos seus desdobramentos. O objetivo foi verificar a pertinência das considerações de
Bourdieu sobre o jornalismo em relação ao gênero feminino, bem como a adequação da
crítica dos movimentos feminista e de mulheres contemporâneos de que os meios reforçam
a dominação masculina. Foi realizada uma análise de enquadramento das matérias do
período, focalizando como a estudante foi referida nos textos. Verificou-se a predominância
de um enquadramento neutro, seguido do favorável em relação à compreensão do
acontecimento como caso de intolerância e violência. Foram minoritárias em ambos os
jornais as expressões que constroem um enquadramento contrário a tomar os
acontecimentos como violência. Os dados, portanto, mostram que não se pode considerar
que, nesse caso, os jornais tenham apenas reproduzido as expressões de dominação
masculina. No entanto, os mesmos dados, ao mostrarem uma proporção majoritária de
termos neutros, sugerem que o jornalismo ainda se mantém cauteloso quando a questão é
debater papéis e valores masculinos e femininos em nossa sociedade.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 11
A COMUNICAÇÃO INTERNA NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO
FERNANDA TEREZINHA DE ALMEIDA [email protected]
Mestranda - Comunicação -Unesp -FAAC
MAXIMILIANO MARTIN VICENTE [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Comunicação Organizacional; Comunicação Interna;Tecnologias Digitais de Comunicação; Interatividade. Vivenciando o ambiente interno das organizações, estando estas inseridas no atual contexto
tecnológico, pode-se perceber uma tríade de fatores no âmbito da comunicação interna
estabelecida nessas organizações. O primeiro mostra que dentro da comunicação
organizacional, a comunicação interna é a que menos teve práticas e processos alterados
desde a formação moderna das organizações. Na grande maioria, é mantida a mesma
lógica de comunicação linear baseada em estruturas hierarquizadas. Como segundo fator,
tem-se que dentre as organizações que utilizam as tecnologias digitais de comunicação na
comunicação interna, grande parte o fez sem que os processos fossem repensados à luz
das práticas interativas de comunicação. Modernizam-se os instrumentos, mas a lógica da
comunicação permanece a mesma. E como terceiro fator observa-se que um número
crescente de pessoas que iniciam suas carreiras nas organizações, possui uma lógica de
comunicação caracterizada pela colaboração, interatividade e pelo compartilhamento de
informações, própria da cultura digital. Uma vez adotada ou absorvida a “cultura
participativa”, não se pode esperar que apenas no ambiente organizacional estas pessoas
convivam com um processo de comunicação estático. Assim, visualiza-se um cenário que
demandará uma mudança na forma como a comunicação interna é pensada dentro das
organizações, não apenas pelas questões de produtividade, controle e competitividade; mas
principalmente para que acompanhe as novas práticas sociais de comunicação. A pesquisa
tem por objetivo analisar como a adoção das tecnologias digitais de comunicação na
comunicação interna pode contribuir para a geração de conhecimento nas organizações, a
partir de um estudo de caso. A base teórica será composta pela comunicação
organizacional e as tecnologias digitais de comunicação.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 12
A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO FILME FUGA PARA A VITÓRIA
MAXIMILIANO MARTIN VICENTE [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Comunicação; Cinema; Cidadania; Futebol. A construção da cidadania não envolve apenas um dialogo com as instituições políticas
estabelecidas numa determinada sociedade. A forma como ela pode ser construída
perpassa os produtos culturais contribuindo dessa maneira para criar atitudes e valores que
podem vir a somar na conscientização social e, consequentemente, na luta mais objetiva na
hora de construir a cidadania. Este trabalho discute exatamente como o cinema pode ser
transformado numa ferramenta capaz de evidenciar situações promotoras da cidadania. De
forma mais concreta um filme será estudado para aferir como a cidadania pode ter esses
desdobramentos midiáticos incluindo, nesse caso concreto, uma película voltada para o
futebol: Fuga para a vitória. Concretamente o filme em questão reúne elementos relevantes
para discutir temas próprios da construção da cidadania: política, divertimento, resistência,
questão social, entre outros. Tendo como base um episodio verídico ocorrido na Segunda
Guerra Mundial e dirigida por John Huston e congregando futebolistas de primeiro nível
como Pelé, Ardiles e Bobby Moore a fita narra a derrota de uma seleção alemã (nazistas)
por aliados que planejam a fuga de um campo de concentração tendo como álibi o jogo. A
comunicação justamente estabelece reflexões sobre o cinema e o futebol, dentro do
contexto proposto, para refletir sobre a construção da cidadania.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 13
A COPA DO MUNDO DE 1970 E A REVISTA PLACAR
ERIC MOREIRA PROFITTI [email protected]
Graduado em História -Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Palavras-chave: Futebol; Revista Placar; Copa do Mundo de 1970. Este trabalho tem como objetivos: discutir a relação entre o futebol e a identidade nacional
brasileira na década de 1970, quando vigorava a ditadura militar no Brasil; e discutir, por
meio do estudo crítico da revista Placar, como as análises jornalísticas sobre a participação
da seleção brasileira na Copa de 1970 expressaram críticas, expectativas, projetos e
estereótipos acerca da sociedade brasileira. Para alcançarmos os objetivos, adotam-se os
seguintes métodos: o levantamento bibliográfico das obras que tratam, direta ou
indiretamente, do tema proposto, bem como de trabalhos acerca da sociedade e da política
no Brasil dos anos 1970. A análise bibliográfica acompanha o levantamento, a pesquisa e a
análise da revista Placar do ano de 1970, com especial atenção ao período específico da
Copa do Mundo realizada no México. Nossa pesquisa tem como base teórica autores como
Simoni Lahud Guedes (2009), Marcos Guterman (2006) e Plínio Labriola Negreiros (2009),
os quais apontam que a identidade nacional brasileira é constantemente discutida por meio
do desempenho da seleção nacional de futebol em disputas internacionais, principalmente
durante o período de disputa da Copa do Mundo. Em relação aos resultados da pesquisa,
podemos apontar que na análise das revistas Placar do ano de 1970 percebemos que o
treinador João Saldanha é apontado como a síntese da imagem do povo brasileiro que seria
“mais brigão do que pacífico, mais apaixonado do que amarrotado” (Placar, 01, 1970:05). A
questão da malícia e da malandragem é muitas vezes mencionada também, por exemplo,
na charge do cartunista Henfil, que trata do jogo entre Brasil e Inglaterra durante a Copa do
Mundo de 1970 e que mostra os brasileiros de uma forma bem descontraída ao contrário
dos ingleses que são retratados como calculistas e com medo da seleção brasileira.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 14
A COPA DO MUNDO EM CORES E EM ALTA RESOLUÇÃO, AO VIVO: O FUTEBOL PARA OS TELESPECTADORES DE 1970 E DE 2010
SANTIAGO NALIATO GARCIA [email protected]
Mestrando em Comunicação -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Copa do Mundo em cores; Copa do Mundo digital; Televisão; Futebol. Quarenta anos separam a utilização de dois avanços tecnológicos nas transmissões
televisivas para as massas: as transmissões, ao vivo, da Copa do Mundo de Futebol de
1970 em cores – realizada no México – e a transmissão da Copa do Mundo de 2010 em alta
definição – realizada na África do Sul. Neste estudo de caso serão ressaltadas ambas
ocasiões e suas inovações tecnológicas. Tais avanços, bem aceitos por aqueles que
vivenciaram tais mudanças, representam momentos nos quais os jogos esportivos passam a
mover inovações tecnológicas e estéticas, atualizando as definições de linguagem da
televisão, como os proporcionados pelos planos de câmera e utilização de equipamentos
como o videotape e replays. O objetivo deste trabalho é elencar algumas características
inovadoras apresentadas nestes dois momentos da televisão mundial, formular tanto
recuperações teóricas quanto apresentar imagens captadas nestes dois formatos, estáticas
e em movimento, nas diferentes décadas: a transmissão em cores e em alta resolução. Será
realizado, para isso, revisão bibliográfica e pesquisa de periódicos, como jornais e revistas,
que veicularam, cada qual em sua época, informações sobre as atualizações na qualidade
da imagem nessas transmissões. Com isso, buscaremos não apenas retratar o início
comercial de novos recursos tecnológicos na TV, mas também esclarecer como os recursos
foram recebidos pelos espectadores. Serão realizadas, também, entrevistas com
espectadores que acompanharam esses dois momentos marcantes da televisão como
forma de entender o que representaram, na extremidade da recepção, essas mudanças nas
características televisivas. Uma das hipóteses é de que as inovações apresentadas nas
décadas de 70 e de 2010 trouxeram imagens com capacidade técnica mais apuradas,
reformulando de forma positiva a relação do espectador com a televisão.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 15
A CRÍTICA LITERÁRIA E A IMPRENSA ATUAL: ANÁLISE DA COLUNA PROSA DE SÁBADO, DO SUPLEMENTO LITERÁRIO SABÁTICO
FELIPE DE OLIVEIRA MATEUS [email protected]
Graduando - Comunicação Social - Jornalismo -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Crítica literária; Crítica jornalística; Suplementos literários; Jornalismo cultural. Esta pesquisa propõe uma análise comparada da coluna de crítica literária Prosa de
Sábado, integrante do suplemento literário Sabático, do jornal O Estado de S. Paulo. Trata-
se dos textos produzidos pelo crítico de origem acadêmica Silviano Santiago e pelo
jornalista Sérgio Augusto no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Assim, tem-se por
objetivo investigar e demarcar os contrastes e as aproximações entre a crítica literária do
meio universitário, acadêmico, e a de linhagem jornalística. Para tanto, serão verificadas
características comuns e contrastantes em relação à temática dos textos, seus valores
críticos e os posicionamentos tomados pelos autores. A partir dessa análise prévia e tendo
como base os pressupostos teóricos de Pierre Bourdieu e sua teoria dos campos, pretende-
se refletir sobre o lugar que os críticos em questão ocupam em seus distintos campos de
legitimação artística – a academia e o jornalismo – e como eles compartilham uma mesma
instância de difusão, no caso, o suplemento Sabático. Também com base nas colocações
de Beatriz Sarlo relativas ao papel dos intelectuais na contemporaneidade e nos estudos de
Flora Sussekind sobre a crítica enquanto formato jornalístico e sobre os suplementos
literários, a pesquisa também se ocupa em abordar históricamente a presença da literatura
na imprensa brasileira, seguindo a ideia do próprio Santiago ao afirmar que a história da
imprensa é a história de sua desliteraturização, além de refletir sobre a presença dos críticos
e dos suplementos literários no contexto atual do jornalismo cultural no Brasil.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 16
A CRÔNICA DO FUTEBOL NO FANTÁSTICO: A BUSCA POR UMA NARRATIVA ALÉM DO FACTUAL
RENATA BARRETO MALTA [email protected]
Doutoranda em Comunicação -Universidade Metodista -São Paulo Palavras-chave: Futebol; Comunicação; Espetáculo. Entendemos que o acesso à informação é cada vez maior e que os programas televisivos
vêm buscando formas de se destacar na mídia e atrair um público cativo. A crônica poderia,
assim, ser uma saída para trabalhar flagrantes de fatos que, via de regra, não teriam tanta
importância e, provavelmente, não seriam notados. A crônica tem seu objeto, de acordo com
Neves (1992; p.75), “no cotidiano construído pelo cronista através da seleção que o leva a
registrar alguns aspectos e eventos e abandonar outros”. Poderíamos afirmar que esse seria
um gênero híbrido que mesclaria o lírico da literatura com o prático do jornalismo. A
linguagem, em geral, utilizada nesse gênero, é simplificada, através da aplicação das
normas da língua falada, resultando em um texto leve e descontraído. Quando o Fantástico
noticia os gols do domingo ele procura ir além do factual, ou seja, dos resultados obtidos
nos campos. A busca pelo inovador seria uma tentativa de fugir do mero informativo. Assim,
as crônicas esportivas do Fantástico perseguem uma filosofia de montar o espetáculo do
espetáculo, já considerando, aqui, o futebol como espetáculo. As narrativas seriam tecidas
com fragmentos de factuais entrelaçados a símbolos ideologicamente pensados,
construindo redes de intertextualidades. A análise do corpus, metodologia aqui utilizada,
ajuda-nos a entender como o Fantástico extrapola a simples narrativa factual de partidas de
futebol buscando pontos de convergência ou divergência entre os jogos disputados no
domingo. Esses pormenores, que na maioria das vezes passariam despercebidos,
colocados lado a lado nas crônicas do Fantástico, causam estranhamento e garantem o
caráter cômico das suas crônicas futebolísticas. A busca pelo que não é óbvio envolve o
olhar técnico e o lírico capaz de despertar pensamentos e sentimentos subjetivos, tecendo
uma narrativa com característica sinestésica que tem a intenção de atingir todos os poros do
receptor. Assim, o futebol é apresentado como espetáculo de forma fantástica e inovadora.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 17
A ESPETACULARIZAÇÃO DO FUTEBOL: AS CONSEQUÊNCIAS DA INFLUÊNCIA MIDIÁTICA DENTRO DO ESPORTE
LUÍS HENRIQUE MENDONÇA FERRAZ [email protected]
Graduado em Comunicação social - Jornalismo -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Futebol; Espetáculo; Meios de comunicação; Jornalismo esportivo; Jogos agonísticos. A pesquisa tem por objetivo discutir as relações e implicações entre o futebol brasileiro e
sua espetacularização na mídia. A análise abordará o esporte televisado através de uma
perspectiva de entretenimento, em que o jornalismo esportivo fica aquém de ser exercido
em sua plenitude. O trabalho será contextualizado de maneira qualitativa, por meio das
declarações do técnico de futebol, Renê Simões, no dia 15 de setembro de 2010, em
entrevista ao canal Sportv, após a partida entre Santos e Atlético Goianiense. Nessa coletiva
de imprensa, Renê Simões, técnico do time Goiano, demonstra preocupação com o futuro
de Neymar, a nova jóia do esporte nacional. O técnico evidencia as qualidades do jogador
como inquestionáveis, mas faz uma advertência para a imprensa, que celebra a genialidade
e a “brasilidade” do atleta sem maiores questionamentos: “Nós estamos criando um monstro
no futebol brasileiro”. Simões atribui essa preocupação pelo comportamento do atleta no
decorrer da partida, e o cita como “um todo poderoso dentro do campo”, que amparado
pelos meios de comunicação, transgride inúmeras regras socialmente estabelecidas dentro
dos jogos (Agôn). Os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão,
exploram o futebol com espetáculo, pois os dramas presentes nas partidas evocam
sentimentos e emoções que estão arraigadas em nossa cultura. Dessa forma, reduzem as
partidas de futebol apenas ao sensacionalismo descabido. A mídia está preocupada em
engrandecer as figuras nas quais tem interesse, em virtude da movimentação milionária em
torno da paixão futebolística. O esporte no país torna-se cada vez mais rentável, tanto para
as mídias, quanto para os clubes e seus jogadores. Por fim, a proposta da pesquisa é
averiguar o posicionamento da imprensa, durante os jogos ao vivo e os programas de
jornalismo esportivo, como práticas que impõe um discurso ideológico previamente
estabelecido aos telespectadores. Outro ponto a ser discutido serão as consequências da
influência midiática dentro do futebol, relacionado à motivação intrínseca e extrínseca dos
jogadores de futebol na contemporaneidade.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 18
A ÉTICA DA BOLA
JEFFERSON O. GOULART [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC Palavras-chave: Futebol; Ética; Bola. O futebol teria uma ética própria? Essa pergunta espinhosa é o ponto de ponto de partida de
um ensaio exploratório que postula problematizar os conteúdos morais que ensejam o
universo futebolístico como fenômeno social marcado por múltiplos conflitos e tensões. Mais
ainda: trata-se de interpretar esse objeto em um contexto de progressiva institucionalização
e profissionalização que o elevaram à condição de negócio e mercadoria. A hipótese a ser
testada e problematizada é: o esporte em geral e o futebol em particular teriam uma
alteridade específica, qual seja, a necessidade do outro não se estabelece numa
perspectiva de respeito à diferença própria de outras formas de sociabilidade, mas, antes,
na tentativa absolutizante de derrotar o(s) antagonista(s). Nessa lógica amigo-inimigo em
que o fair play figura tão somente como valor normativo e imagem retórica, emerge uma
rivalidade que, com efeito, depende do outro para nutri-la, mas que abriga a prevalência de
um objetivo estratégico supremo: impor-se e submeter o interlocutor. Trata-se,
supostamente, de uma dialética da conquista, a qual, para sacramentar o triunfo dos
vencedores, obrigatoriamente requer derrotados. Dessa perspectiva analítico-conceitual, um
campo empírico fértil para investigar o conteúdo ético do futebol remete a episódios
recentes em que há plausibilidade de que eventualmente também se joga para perder, e
que essa conduta teria uma moralidade legítima.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 19
A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO NA COPA AFRICANA DE FUTEBOL 2010
EDILSON MARQUES DA SILVA MIRANDA [email protected]
Graduando - Comunicação Social - Relações Públicas -Unesp -FAAC
LEOPOLDO MARTINHO BAIO [email protected]
Graduando - Comunicação Social - Relações Públicas -UNiA - Universidade Independente de Angola
Palavras-chave: Futebol; Comunicação; África; Angola. A Copa das Nações Africanas é a principal competição de futebol organizada pela
Confederação Africana de Futebol – CAF, que é um órgão ligado à FIFA – Federação
Internacional de Futebol Associado, e é o principal evento esportivo do continente africano.
O evento teve a sua primeira edição no ano 1957, e após o ano de 1968 passou a ser
realizado a cada 2 anos. Em 2010, pela primeira vez, a Copa das Nações Africanas foi
realizada em Angola, e o pais teve a sua estréia de experiência de organização de um
evento de escala continental. O objetivo da pesquisa foi analisar a gestão da comunicação
na realização deste evento esportivo. O país Angola esteve por 30 anos mergulhado em
uma guerra civil. Faz apenas sete anos que a guerra acabou, e que a paz foi estabelecida
no país. Para a mídia internacional, Angola esteve, sempre, associado ao seu cenário de
guerra. O futebol constituiu-se na grande oportunidade do país em mudar a sua imagem. O
futebol propiciou a possibilidade da criação da marca “Angola” associada à gestão de evento
internacional e atrelado a ideia do desenvolvimento turístico do pais. A pesquisa abordou a
criação do Comitê Organizador do Campeonato Africano das Nações – COCAN 2010.
Analisou a estrutura e as competências do DIPM - Direção de Informação Publicidade e
Marketing, órgão responsável pelo processo de gestão da comunicação do CAN 2010
(Campeonato Africano das Nações). A pesquisa abordou o relacionamento da coordenação
evento com a mídia e a sua comunicação interna e externa. Tratou-se dos veículos de
comunicação utilizados, desde página na Web, programas oficiais de radio e de televisão,
outdoors, e a visibilidade do evento no estrangeiro. Para realizar a pesquisa, foram
entrevistadas pessoas do staff do COCAN 2010, profissionais da comunicação social em
Angola e atletas angolanos. A pesquisa bibliográfica e a observação in loco das publicidades
veiculadas na imprensa angolana e em outdoors também fizeram parte da metodologia de
pesquisa.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 20
A IMAGEM EM JOGO: REPRESENTATIVIDADE DO USO DA FOTOGRAFIA NO FUTEBOL
ANA CAROLINA MILO BRITTO [email protected]
Mestranda em Comunicação - Jornalismo -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Futebol; Fotografia; Representação; Pelé. A proximidade entre o futebol e o público brasileiro tem sido tema de relevantes discussões
no meio acadêmico entre os pesquisadores em comunicação. O compartilhamento de
valores, representações e sentidos que se organizam em torno do esporte agem na
constituição de uma comunidade simbólica, permeada por ações, regras, imagens e
memórias. Desse modo, através do entendimento de que o homem cria o seu discurso
através da linguagem, entendido não como fala individual, como antecipa Michel Foucault,
será analisada a fotografia do famoso soco no ar do jogador brasileiro Pelé, em 1970, do
fotógrafo Orlando Abrunhosa, retomada pela revista Fotografe Melhor (n. 169 de outubro de
2010, p. 82) em comparação com a fotografia que veio a estampar a capa do filme
documentário “Pelé Eterno” de 2004, produzido pela Universal Pictures. Os objetos serão
analisados no contexto das particularidades do futebol proposto por Roberto DaMatta, à luz
do conceito de representação social e mediática de Serge e através das crônicas de Nelson
Rodrigues, que colaboram com uma “doação de sentido, uma vez que organiza os fatos e
consiste em importante registro” (Maia e Oliveira, 2010). Num primeiro momento, a
fotografia analisada em seu contexto nos leva a entender a importância da figura de Pelé,
um jogador que acima de tudo acreditava em si mesmo e mantinha acesa a esperança
daqueles que compactuavam com o “complexo de vira-latas”, termo criado por Nelson
Rodrigues. E no que tange que alguns atributos verdadeiramente representativos do futebol
há uma não caracterização do mesmo na capa do documentário “Pelé Eterno”, em relação
ao recorte da fotografia de Pelé, que elimina um dos principais atores na partida: os pés.
Dessa forma, sabendo que “a fotografia é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou
mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa” coloca-se em xeque o jogo de representações
que permeia a sociedade por meio das imagens sugeridas para este estudo.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 21
A IMAGEM EM PRETO-E-BRANCO
SARA LEMES PERENTI VITOR [email protected]
Mestranda em Comunicação - Jornalismo -Unesp -FAAC Palavras-chave: Fotografia; Henri Cartier-Bresson; Imagem preto-e-branco; Vilém Flusser. O propósito da pesquisa é legitimar a fotografia em preto-e-branco partindo da ideia
passada por Vilém Flusser, destacando o fotógrafo Henri Cartier-Bresson, considerado o
mestre do fotojornalismo. O trabalho de Cartier-Bresson é produzido em imagens preto-e-
branco, independentemente do que fotografe, tornando-se essa uma característica marcante
do fotógrafo. Sobre as cores nas fotografias, Flusser apresenta questões relevantes e que
serão aqui consideradas, coloca a imagem em preto-e-branco como a imagem mais próxima
do real. Afirma que as fotografias coloridas dão a impressão de real, mas quanto mais “fiéis”
se tornarem as cores, mais essas são mentirosas, já que o “verde Kodak” difere do “verde
Fuji”.A partir da reflexão apresentada por Flusser, as imagens de Cartier-Bresson ganham
ainda mais legitimidade, e uma possível razão para o fotógrafo não utilizar cores em seu
trabalho é a busca de uma imagem ideal, sem cores que pudessem modificar a realidade da
mesma, pois as fotografias em preto-e-branco são a magia do pensamento teórico e é nisto
que reside seu fascínio. Revelam a beleza do pensamento conceitual abstrato. Cenas em
preto-e-branco não existem, mas fotografias em preto-e-branco, sim. As cores nas imagens
penetram os olhos e a consciência, e acabam poluindo o sentido implícito na fotografia.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 22
A LENDA ALENTA: A IMPORTÂNCIA DA (RE) CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
JAMILE COUTRIM DALRI [email protected]
Graduanda Comunicação Social: Relações Públicas -Unesp -FAAC Palavras-chave: Literatura infantil; Leitura, Inclusão sociocultural; Cidadania. A lenda Alenta: (re) contando histórias é um projeto de inclusão sociocultural que visa
proporcionar a crianças carentes o acesso a um dos bens culturais de nossa sociedade: a
literatura. As crianças através da construção do hábito de leitura passam a apropriar-se da
principal ferramenta para sua autonomia crítica e formação de sua cidadania. O objetivo do
projeto é proporcionar a crianças carentes uma possibilidade de inclusão cultural, por meio
do contato com obras literárias infantis de qualidade. Assim como fornecer às crianças os
rudimentos da estrutura narrativa, visando à possibilidade de dar a voz a essa população
socialmente excluída. Fazer ver às crianças, de maneira lúdica, que a leitura do mundo
passa pela leitura de várias linguagens. Em relação aos discentes, o objetivo é levá-los à
utilização de meios de comunicação não-midiáticos, proporcionando-lhes o contato direto
com o público, contribuindo assim para a desautomação de suas atitudes perante o
receptor. O projeto teve a duração de três anos (2007-2009), sob a coordenação da Profª
Dra. Maria do Carmo Almeida Corrêa. Foi executado por alunos do curso de Comunicação
Social da FAAC- Unesp, Bauru, que participavam de uma reunião semanal, a fim de adquirir
embasamento teórico sobre o papel da literatura na formação da criança, além de
esclarecimentos sobre metodologia de leitura e de contação de histórias.
Concomitantemente a isso, os alunos atuavam como intermediários entre a literatura e a
clientela, por meio de visitas semanais a duas instituições bauruenses que atendem
crianças carentes. Nessas visitas, as crianças passam a ter contato com a literatura
(primeiro passo na formação do hábito de leitura) e passam a adquirir de forma lúdica
conhecimentos sobre linguagem, narratividade e poesia. Os resultados podem ser
verificados a partir do interesse espontâneo das crianças pela leitura livre, e também pela
evolução na produção de textos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 23
A MANIPULAÇÃO VELADA DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO: ESTUDO DE CASO – CAPAS DA REVISTA VEJA
RÚBIA GABRIELE DOS SANTOS RODRIGUES [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo -Unesp -FAAC Palavras-chave: Revista; Manipulação; Análise Semiótica; Peirce. O presente trabalho visa investigar, através de análises semióticas, a possível manipulação
na formação da opinião do leitor encontrada nas capas da Revista Veja. Voltada para a
classe social A e B, Veja traz semanalmente em suas edições assuntos como política,
economia, cultura e comportamento. O fato de ser a revista mais lida no país e ser dirigida à
classe dominante fez com que se tornasse o objeto de estudo deste trabalho. Ainda nesse
contexto, há a intenção de despertar os leitores para a manipulação velada dos veículos de
comunicação; mostrar a relevância da aplicação semiótica na capa e como ela influencia o
olhar do leitor e, ainda, contribuir para produção de informação mais qualificada. Para o
presente evento foi escolhida a capa da edição de junho/10, que traz o episódio “Cala Boca
Galvão”. Para realizar as análises, utilizaremos a Semiótica de Charles Sanders Peirce
(1839-1914), por se mostrar pertinente ao objeto a ser analisado. No seu significado mais
simples, semiótica é o estudo dos signos. A análise será realizada da seguinte forma: a)
descrição dos elementos da capa; b) ícone, índice e símbolo, que, segundo a teoria de
Peirce, correspondem respectivamente ao nosso primeiro, segundo e terceiro olhar, à
relação do signo com seu objeto; c) Rema, discendi, argumento, que, segundo a teoria de
Peirce, corresponde à relação do signo com seu interpretante; d) a interpretação da capa; e
e) a manipulação encontrada. Na análise a ser apresentada, encontramos diversos vestígios
da tentativa de passar uma imagem negativa do locutor esportivo Galvão Bueno, no
episódio ocorrido durante a Copa do Mundo 2010. Indícios como a expressão do locutor, a
mancha em seu terno, o uso sutil da palavra “engolfou”, a citação da emissora para qual o
locutor trabalha e o recurso da caixa alta para destacar a última frase “FÚRIA DO TWITTER”
passam a impressão de que ele foi realmente derrubado pelo movimento “Cala boca
Galvão” e que teve sua imagem afetada por conta disso, o que não é uma verdade absoluta.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 24
A MENSAGEM DA FACE JORNALÍSTICA: UMA LEITURA SOBRE A COBERTURA DA IMPRENSA ESPORTIVA EM BRASIL E PORTUGAL
LINCOLN CHAVES DE OLIVEIRA [email protected]
Graduado em Comunicação social - Jornalismo -Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Palavras-chave: Brasil; Portugal; Record; Lance!; Jornalismo; Esporte. O artigo científico para conclusão de pós-graduação em Jornalismo Esportivo e Negócios do
Esporte nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), com nome A Mensagem da Face
Jornalística: Uma Leitura Sobre a Cobertura da Imprensa Esportiva em Brasil e Portugal
buscou estudar, durante janeiro, as capas dos jornais Lance! (Brasil) e Record (Portugal). A
ideia foi analisar, a partir da seleção e distribuição do conteúdo nas capas, reflexões sobre a
linha editorial dos veículos esportivos de maior circulação em seus países. Além de
possibilitar outra visão aos que já acompanhavam tais jornais, outro objetivo era ser um
ponto de partida e um incentivo para uma análise mais extensa sobre a comunicação
esportiva em ambos os países, segmento pouco abordado neste universo.
Dentre os autores observados, destaca-se Charles Peirce, cujo estudo sobre semiótica da
imagem foi abordado em Introdução à análise da imagem, de Martine Joly. Ambos
trabalham o conceito de imagem –compreendida em um conjunto de fotos e, inclusive,
manchetes – como algo que pode ser trabalhado para que passe uma determinada
mensagem ou exprima certo modo de pensar.
Foram selecionadas duas hipóteses para estudo: o impacto da cultura esportiva de cada
país na elaboração das capas e o peso das torcidas futebolísticas nos destaques. Foi
possível observar que, tanto em Portugal como no Brasil, o aspecto mercadológico (o que
pode vender) mostrou-se a frente da tradição e valorização esportiva do país quando o
esporte em questão não era o futebol. Confirmou-se, ainda, a hipótese acerca da
representatividade das torcidas (consumidores) na distribuição do conteúdo na página
frontal, além de ter sido possível observar uma maior atenção, por parte de Record, aos
feitos de atletas do país, limitando seus destaques de capa não-futebolísticos a tais
competidores – procedimento que nem sempre fora visto em Lance!. Porém, enfatiza-se:
trata-se de um estudo inicial, passível de novas hipóteses e reflexões em outros meses ou a
partir de comparações com outros veículos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 25
A MENSURAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NO APOIO À GESTÃO ORGANIZACIONAL: O CASO DAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DE BAURU
MÔNICA SANTOS MARTINS UNGER unger.mô[email protected]
Graduada em Administração -
CÉLIA MARIA RETZ GODOY DOS SANTOS [email protected]
Professora Doutora -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Pesquisa; Marketing; Opinião pública. O crescimento acelerado do número de Instituições de Ensino Superior, originou maior
concorrência especialmente entre as organizações de ensino privado. Além disso, como o
público-alvo não aumentou na mesma proporção que o oferecimento de cursos, os
clientes/consumidores destes serviços foram divididos entre estas organizações. Vale
destacar o fato dos cursos ofertados nem sempre atenderem às expectativas dos
consumidores exigindo assim, o uso de ferramentas para definir as demandas e anseios do
público em questão. A busca de informações junto aos interessados por meio da pesquisa
de opinião seria uma das ferramentas mais adequadas para se explorar os diferenciais nos
cenários; social, político, econômico e financeiro. Nesse sentido, entendendo a importância
de se capturar a opinião dos públicos de interesse para subsidiar o planejamento dos cursos
já oferecidos, as estratégias de divulgação dos mesmos e a criação de novos produtos ou
cursos, é que se resolveu analisar como esta ferramenta é utilizada por Instituições de
Ensino Superior, particulares e quais alternativas efetuadas para se definir as áreas e cursos
mais solicitados no mercado. Ao término do estudo pretende-se ter levantado – por meio de
entrevistas com coordenadores e responsáveis de cada uma das Universidades com sede
em Bauru - os procedimentos de métodos utilizados pelos departamentos de marketing
destas para direcionar suas decisões estratégicas diante da grande concorrência no setor.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 26
A MUSICOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DOS PACIENTES COM AFASIA DE BROCA
THIAGO HENRIQUE XAVIER RODRIGUES [email protected]
Graduado em Música e RegênciaUnesp - Palavras-chave: Musicoterapia; Afasia; Linguagem; Prática clínica. A presente pesquisa objetiva demonstrar os benefícios que a musicoterapia pode
proporcionar aos pacientes que sofrem de afasia de broca, um distúrbio de linguagem
decorrente de lesão ou disfunção encefálica, que interfere no processamento e na produção
linguística, uma vez que afeta a expressão e a compreensão verbal, comprometendo a
inserção do afásico na sociedade. Para isso, aplicou-se o referencial teórico da
musicoterapia, cuja literatura ainda é incipiente na área, a um grupo de adultos afásicos de
uma clínica de fonoaudiologia de uma universidade pública de Bauru/SP, em sessões
semanais, com duração média entre 30 e 45 minutos cada, no decorrer de um ano, visando
constatar a capacidade de recuperação da comunicação e da coordenação motora dos
pacientes. Por meio de uma pesquisa de campo qualitativa com intervenção direta do
pesquisador, o processo musicoterápico revelou-se um importante instrumento no auxílio à
reabilitação dos afásicos, demonstrando a possibilidade de atuação do musicoterapeuta no
campo da saúde ao contribuir para o bem estar físico, mental e espiritual dos pacientes.
Assim, verificou-se que a utilização da música, considerada uma forma de linguagem, pode
funcionar, enquanto recurso terapêutico, como um facilitador da comunicação, sendo capaz
de estimular a expressão e o convívio dos afásicos em sociedade.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 27
A NARRATIVA FANTÁSTICA EM CORALINE
ALINE APARECIDA DOS SANTOS [email protected]
Graduanda - comunicação Social - Radialismo -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Narrativa; Semiótica greimasiana; Percurso gerativo; Coraline. Este trabalho apresenta um dos aspectos abordados na pesquisa de iniciação científica “O
fantástico em Coraline: uma abordagem semiótica”, que consiste em aplicar a teoria
semiótica greimasiana na novela Coraline (2002), do autor inglês Neil Gaiman, e em sua
transmutação para o produto audiovisual Coraline e o mundo secreto (2009), e, partindo dos
princípios semióticos de geração de sentido, fazer uma análise comparativa desses
produtos. De acordo com os objetivos sugeridos, o córpus desta pesquisa será analisado
levando-se em consideração a semiótica francesa, as teorias estruturais sobre o fantástico e
o processo de transmutação do texto literário verbal em filme de animação. O presente
trabalho tem por objetivo depreender as características do texto literário Coraline, com foco
nos percursos do sujeito e do antissujeito. Pretende-se compreender de que maneira esses
percursos se relacionam, a partir dos programas narrativos de base e dos programas de uso
relevantes. A análise do material literário tem como base teórica reflexões sobre as
publicações de Propp e a semiótica narrativa de Greimas, bem como considerações
relacionadas à teoria do fantástico desenvolvida por Filipe Furtado, com base em Todorov. A
análise do nível narrativo apresentada demonstra a relação entre os elementos semióticos
contidos no texto literário e a caracterização essencial do gênero fantástico.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 28
A REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA CONSTITUINTE DE 87/88: MONOPOLIZAÇÃO VERSUS PLURALIDADE DOS MEIOS E DAS INFORMAÇÕES
BÁRBARA BRESSAN BELAN [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - JornalismoUnesp -FAAC
CARLO JOSÉ NAPOLITANO [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Comunicação Social; Exclusividade; Monopólio, Oligopólio; Propriedade dos meios; Regulação. Trata-se a presente de projeto de pesquisa em iniciação científica que objetiva investigar a
regulação jurídica constitucional da propriedade dos meios de comunicação e para tanto
propõe a revisitação ao processo constituinte de 1987/88, no intuito de verificar e interpretar,
em uma perspectiva histórica e também dogmática, a regulação jurídica almejada durante o
processo constituinte para a propriedade dos meios de comunicação e para a divulgação de
informações. Por hipótese, a pesquisa parte do pressuposto de que a intenção constituinte,
no plano jurídico normativo, foi a de impor severas restrições à propriedade dos meios de
comunicação, proibindo-se, de forma expressa, a formação de monopólios e/ou oligopólios
no setor, e, em consequência, propiciar um mercado plural e diversificado na veiculação de
informações. No entanto, compreende-se que, no plano da realidade, muitas empresas de
comunicação atuam de forma ilegal, ora em forma de oligopólio ou até mesmo
monopolizando determinados setores da economia, ora, controlando as informações
veiculadas por essas empresas, como pode ser verificado na recente questão acerca do
monopólio dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol da
Série A, por parte da Rede Globo de Televisão, tema que será utilizado para justificar a
ilegalidade apontada para o setor. A comunicação tratará especificamente das questões
jurídicas relacionadas à decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, no processo administrativo movido em relação à Rede Globo de Televisão e
que trata do monopólio das transmissões do Campeonato Brasileiro de Futebol da série A.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 29
A REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE IMATERIAL NA CONSTITUINTE DE 87/88: DIREITO À COMUNICAÇÃO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E ECONÔMICOS
CARLO JOSÉ NAPOLITANO
[email protected] Professor Doutor -Unesp -FAAC
MIRELA DIAS DE AGUIAR PELOSO
[email protected] Graduanda - Comunicação Social - JornalismoUnesp -FAAC
GABRIELA GARCIA BRANDÃO
[email protected] Graduanda - Comunicação Social - JornalismoUnesp -FAAC
Palavras-chave: Regulação constitucional, Constituinte, Direito à comunicação, Direitos fundamentais, Propriedade imaterial. Trata-se a presente de resultado de pesquisa que partiu do pressuposto que o direito à
comunicação é composto por um conjunto de direitos isolados, relacionados à regulação
jurídica da comunicação, que reunidos se transformam naquele. Dentro desses direitos que
compreendem o direito à comunicação podem ser relacionados os direitos à propriedade
imaterial (direitos autorais, direito da propriedade industrial, direitos sobre os programas de
computadores), dentre outros. Esses direitos estão previstos e garantidos na constituição
brasileira de 88 no artigo 5º, XXVII que dispõe sobre os direitos autorais e no artigo 5º, XXIX
que trata dos direitos da propriedade industrial. A regulação constitucional desses direitos
garante o acesso à cultura, à educação e à informação, direitos fundamentais do cidadão.
No entanto, também configuram normativas de grande conotação econômica. A
compreensão desses direitos, simultaneamente, como mercadoria e como direitos
fundamentais pode, potencialmente, gerar um conflito de interesses, o que, por hipótese,
acarretou grandes discussões e debates na sua regulação constitucional. A partir das
considerações apresentadas, o projeto objetivou verificar e interpretar, na perspectiva
dogmática e histórica, a regulação constitucional dos direitos relativos à propriedade
imaterial produzida durante o processo constituinte de 87/88, no intuito de averiguar
eventual choque de interesses econômicos e sociais na produção desses direitos. A
hipótese da pesquisa, que restou comprovada, era de que prevaleceu, ao final dos debates
constituintes, a concepção desses direitos como direitos econômicos em detrimento da sua
compreensão como direitos fundamentais. Para se alcançar o objetivo proposto foram
pesquisadas nos Diários do Congresso Nacional as propostas e as discussões dos
constituintes acerca da regulação dos direitos de propriedade imaterial, interpretando-se
essa regulação constitucional.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 30
A SEMIOLOGIA DE ROLAND BARTHES
HELENA SILVA OMETTO [email protected]
Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo -Unesp -FAAC
JEAN CRISTTUS PORTELA [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Semiologia; Linguística; Roland Barthes; Ferdinand de Saussure. O legado de Ferdinand de Saussure é vasto e complexo, envolvendo as dualidades
concebidas para o estudo da língua que serviram de parâmetro não só à Linguística, mas
também à Semiologia. As bases fundamentais da ciência dos signos foram lançadas na
passagem do século XIX para o XX e um dos principais estudiosos dessa nova ciência foi
Roland Barthes, pertencente à Escola Estruturalista. Barthes criticava os conceitos teóricos
herméticos da década de 50 e, influenciado por Saussure, fez um novo estudo teórico e
concretizou alguns fundamentos da Semiologia. Para estudar a vertente barthesiana da
semiologia de Saussure, é necessário analisar também a obra de Louis Hjelmslev, já que foi
através de sua ótica que Barthes analisou os estudos de Saussure. Hjelmslev desenvolveu
uma teoria própria a partir dos pressupostos de Saussure, a glossemática e suas análises
serviram de base para que Barthes analisasse a obra saussuriana. Para desenvolver esse
estudo foram feitas leituras das obras dos três autores com o objetivo de estabelecer
relações, semelhanças e diferenças entre seus pressupostos e, até mesmo, inferir e
identificar as influências de um sobre as análises de outro, considerando a época de seus
estudos e a ordem cronológica das descobertas e conclusões. A base para realizar essa
pesquisa é o conhecimento prévio dos pressupostos saussurianos para desencadear as
novas leituras barthesianas e saber como compará-las e relacioná-las, sendo assim, essa
será a metodologia aplicada: um estudo comparativo e cronológico dos pressupostos. O
objetivo desta pesquisa é descrever e compreender a semiologia de Barthes marcada pela
ótica hjelmsleviana de Saussure, explorando suas características e realizações. Com essa
análise em mãos, a semiologia de Barthes irá se estabelecer como única e diferenciada,
numa visão evolutiva da semiologia original de Saussure. Se ela não tiver permanecido
estagnada é sinal que seus fundamentos são adaptáveis aos contextos de cada época,
verificando sua aplicabilidade e eficácia verdadeiras. Como resultado, espera-se a obtenção
desse panorama semiológico para esclarecer o ensino e o aprendizado dessa disciplina,
aprimorando sua didática nas Ciências Humanas.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 31
ANÁLISE DA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DO PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO ESPORTE
FERNANDO TRINDADE [email protected]
Graduando - Comunicação Social: Jornalismo -Unesp -FAAC
JOSÉ CARLOS MARQUES [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Observatório do Esporte; Sociologia; Métodos de análise. O Observatório do Esporte é um programa esportivo veiculado na Rádio Unesp FM 105,7,
que tem como intuito discutir o mundo do esporte além do que é noticiado pela mídia em
geral. O programa é composto pelos docentes Marcos “Tuca“ Américo e José Carlos
Marques, que são responsáveis por centrar as discussões num molde acadêmico, evitando
o senso comum. A apresentação desse trabalho visa mostrar como é feita essa análise
acadêmica pelos docentes, que se utilizam das diversas teorias do esporte para fomentar
suas explicações. A apresentação terá exemplos de pautas escolhidas para os programas e
as diferentes abordagens do ponto de vista acadêmico dos docentes presentes na mesa.
Teóricos do mundo esportivo, tanto nacional como internacional, são utilizados nas
discussões. O resultado disso é o que o “slogan” do programa trata: “Informação além das 4
linhas”, ou seja, uma visão diferente do que é visto comumente nas mídias esportivas tanto
no rádio, como televisão e internet. O projeto é financiado pela PROEX – Pró-Reitoria de
extensão universitária e é coordenado pelos professores doutores Angelo Sottovia Aranha,
Tuca Américo e José Carlos Marques.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 32
ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DE ESPORTES DIVERSOS NO PROGRAMA OBSERVATÓRIO DO ESPORTE DA UNESP FM
NATHALIA FERNANDA BONI [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - JornalismoUnesp -FAAC
ÂNGELO SOTTOVIA ARANHA [email protected]
Professor Doutor -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Observatório Esporte; Esportes. O Observatório do Esporte é um programa veiculado semanalmente na Rádio Unesp FM, de
Bauru/SP que analisa criticamente, através de matérias, comentários e opiniões
embasadas, o esporte em suas mais variadas formas. Os fatos esportivos são expostos em
análises que podem abranger o âmbito cultural, social, econômico, político, antropológico.
Além disso, procura-se mostrar todas as modalidades esportivas, inclusive aquelas menos
focados pela mídia em geral. Além dos comentários e do panorama envolvendo partidas,
jogadores, torcida, contratações, entre outros, voltados ao futebol, o programa sempre leva
em conta outras modalidades esportivas. A despeito do futebol, procuramos abordar o tema
de maneira que os ouvintes, não interados no assunto, compreendam totalmente
determinada partida ou competição. O vôlei, basquete, futebol de salão, automobilismo,
entre outros esportes que não o futebol também são divulgados nos âmbitos regional,
nacional e internacional. Além disso, o programa promove esportes poucos difundidos na
mídia, mostrando suas regras e colocando o ouvinte a par do que se trata, através de
especialistas no assunto. O objetivo do presente estudo é demonstrar como o programa
Observatório do Esporte aborda as diferentes modalidades esportivas, exceto o futebol.
Para isso, analisaremos pautas de programas anteriores e as diferentes abordagens,
escolhas de fontes e uso da linguagem, com o intuito de mostrar como são abordados os
esportes em geral.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 33
ANÁLISE DE CONTEÚDO: NOTÍCIAS DIVULGADAS NOS SITES FOLHA.COM E GLOBO.COM SOBRE OS JOGOS MUNDIAIS MILITARES
ELIS ANGELA DOS ANJOS [email protected]
Graduada em Administração e Ciências Contábeis
Palavras-chave: Comunicação; Esporte; Militares; Mundiais; Jogos. O objetivo do presente trabalho é analisar através de respostas encontradas na Teoria
Organizacional, os diferentes enfoques com relação aos Jogos Mundiais Militares que serão
disputados em sua quinta edição, de 16 a 24 de julho deste ano, no Rio de Janeiro. Serão
analisadas notícias publicadas entre os meses de abril de 2009 a abril de 2011 nos sites da
folha.com, site do Jornal Folha de São Paulo e globo.com, site das Organizações Globo que
tem sua sede no Rio de Janeiro. Com as explicações da Teoria Organizacional, fica
evidente que o mecanismo que promove o conformismo é a socialização do redator no que
diz respeito às normas do seu trabalho, que ocorre por um “processo de osmose”, como
afirma Breed (1955), todos sabem qual é a política editorial, e os pontos de vista da
empresa chegam a controlar o trabalho do jornalista. Traquina (2004) afirma existir “a
importância de uma cultura organizacional e não de uma cultura profissional”. As notícias
sofrem uma influência econômica e são resultado de processos de interação social que têm
lugar dentro da empresa jornalística, sendo, portanto, o trabalho jornalístico influenciado
pelos meios de que a organização dispõe. Assim a teoria aponta a importância do fator
econômico na atividade jornalística. Através das matérias analisadas e em conformidade
com estudos da Teoria das Organizações, fica evidenciado que o site folha.com enfatiza
notícias gerais sobre o evento, apontando possíveis problemas que poderão ocorrer com
relação à organização e estrutura, já as notícias publicadas no site globo.com dão maior
ênfase aos atletas, a grandiosidade do evento e a importância da cidade do Rio de Janeiro
sediar um evento mundial, que representa um marco na história esportiva nacional.
Destacam-se as matérias publicadas quanto a introdução de atletas olímpicos na carreira
militar, para reforçar a equipe brasileira e assim ajudar o país na conquista de medalhas.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 34
ANÁLISE DO ESFORÇO DE COMUNICAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY NA DIVULGAÇÃO DO ESPORTE NO BRASIL.
MARTA REGINA GARCIA CAFEO [email protected]
Pós-Graduanda em Comunicação Midiática -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Comunicação; Esporte; CBRu; Rugby. O Rugby é visto como um esporte que trabalha importantes valores, tais como espírito de
equipe, lealdade, diversidade e respeito, que podem contribuir com a formação de caráter
dos jovens e adolescentes. Hoje é o segundo esporte de equipe mais popular do mundo,
perdendo apenas para o futebol. A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) está
determinada a promover o esporte em todo território nacional, visando divulgar o potencial
dessa modalidade esportiva e todas as suas oportunidades. Para contribuir com o seu
objetivo está firmado importantes parcerias de marketing esportivo com grandes marcas
nacionais que apóiam o plano de comunicação. O marketing esportivo tem se mostrado no
Brasil como uma ferramenta estratégica de comunicação eficiente para o patrocinado e para
patrocinador. Para isso a CBRu elaborou um plano de desenvolvimento, chamado de
Projeto 2016, que visa: “garantir o retorno do Investimento dos parceiros e patrocinadores,
garantir o financiamento para o progresso profissional e contínuo das equipes nacionais
masculina e feminina, posicionar o Rugby do Brasil como referência no continente
Americano e criar uma estrutura de competição nacional vibrante através de uma plano de
comunicação dinâmico e abrangente. O presente artigo tem como finalidade analisar os
esforços de comunicação da Confederação Brasileira de Rugby para divulgar a modalidade
esportiva no Brasil, no ano de 2010. O estudo será realizado através de pesquisa
bibliográfica e análise de conteúdo da comunicação da CBRu, divulgados nos canais de
televisão aberta e fechada, jornais, rádio e internet e terá como embasamento as teorias da
comunicação; como a teoria dos signos e a comunicação como processo de influência.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 35
APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES EM MATEMÁTICA: UM ESTUDO COM A UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM LOGO
ROBERTA RIBEIRO SOARES MOURA PADOAN [email protected]
Mestranda em Televisão Digital -Unesp -FAAC Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem; Linguagem LOGO; Ensino da matemática. Computadores; Educação; Software educativo. As novas perspectivas educacionais estão fazendo com que os computadores passem a
entrar nas salas de aula das escolas de ensino fundamental, levando estas a vivenciarem
um momento de mudança, desenvolvimento e integração da instituição com o mundo
globalizado. Desenvolver o raciocínio ou possibilitar situações de resolução de problemas
essa certamente é a razão mais nobre do uso do computador na educação. LOGO, é uma
linguagem de programação voltada para a educação, e, portanto, especialmente adequada
para o trabalho com crianças. Embora, quando de sua criação, LOGO não contivesse
características eminentemente gráficas, sentiu-se, à medida que a linguagem evoluiu, a
necessidade de dotá-la de recursos gráficos para torná-la mais acessível e mais
interessante para crianças. O LOGO propõe um ambiente de aprendizagem no qual o
conhecimento não é meramente passado para o aluno, mas, uma forma de trabalho em que
esse aluno em interação com os objetos desse ambiente, pode desenvolver outros
conhecimentos. Essa pesquisa visa elaborar e avaliar um programa de intervenção com a
utilização do software educativo LOGO para crianças com dificuldades de aprendizagem em
matemática, mais precisamente com relação ao raciocínio e conceitos matemáticos básicos,
proporcionando, também, subsídios teórico-práticos para os professores atuarem com a
informática como recurso de ensino para crianças com este perfil e ainda investigar as
condições para a incorporação deste programa à prática pedagógica. A metodologia será
aplicar a pesquisa em crianças de 7 anos, correspondentes a 1ª série do Ensino
Fundamental de escolas públicas do município de Bauru/SP que apresentam dificuldades de
aprendizagem em matemática. Pretende-se com essa pesquisa contribuir para a
aprendizagem de crianças com dificuldades em matemática e também proporcionar
subsídios teórico-práticos para os professores atuarem com a informática como recurso de
ensino para crianças com esse perfil.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 36
AS CONDIÇÕES MATERIAIS DO JORNALISMO: O MERCADO DE TRABALHO
CRISTIANE HENGLER CORRÊA BERNARDO [email protected]
Professora Doutora -Unesp -Campus Experimental de Tupã
INARA BARBOSA LEÃO [email protected]
Professora Doutora
Palavras-chave: Mercado; Comunicação; Jornalismo; Controle. Este texto tem como objetivo central caracterizar como o mercado de trabalho para a área
de jornalismo exerce o controle sobre a atividade profissional do jornalista. A pesquisa foi
estruturada às vistas do Materialismo Histórico Dialético e, por isso, percorreu um caminho
que apresenta diferentes elementos constitutivos da realidade histórica na criação do que,
usando a concepção de Marx (1974), chamamos de forças produtivas e das relações de
produção. O mercado de trabalho brasileiro é o corpus de análise para nossa pesquisa,
sendo que para integrá-lo consideramos os veículos impressos, como os jornais e revistas;
os telejornais; os programas de rádio de caráter jornalístico; os jornais e revistas on line; as
agências de notícias e as assessorias de comunicação. Diante de um mercado que tem
suas estruturas totalmente voltadas para a imprensa capitalista as sínteses possíveis ficam
restritas às alternativas de emancipação a esse mercado, pois entendemos que o jornalismo
condicionado historicamente, se entendido como estrutura comunicacional, é evidentemente
hegemonizado pela lógica do capital que o controla e, consequentemente, o direciona. O
método escolhido ancorou suas análises na regulamentação da profissão, na antiga reserva
de mercado para o profissional frente a disputa pelo fim da obrigatoriedade do diploma com
o objetivo de garantir os preceitos Constitucionais de Liberdade de Expressão e, por fim,
questões sobre as críticas mútuas entre mercado e academia sobre a qualidade do ensino
em busca de preparar o jornalista para estar apto ao exercício profissional. Como síntese
possível, vislumbramos a mídia independente como única alternativa emancipatória diante
de um jornalismo ancorado na dependência quase total da publicidade defendendo os
interesses do capital.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 37
AS NOVAS DEMANDAS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA A TELEVISÃO DIGITAL
LEIRE MARA BEVILAQUA [email protected]
Mestranda - Televisão Digital: Informação e Conhecimento -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Televisão digital; Produção de conteúdo; Produção interativa. Com a transição do sistema analógico para o digital, o Brasil estará diante de uma das
mudanças mais significativas da televisão, desde a sua implantação no país. A melhora na
qualidade do som e da imagem, uma vez que não mais sofrerão interferências ao serem
representados por bits, é a principal qualidade divulgada. Porém, ela não é a única. Junto
com som e imagem de qualidade, será possível enviar e receber informações a partir dos
chamados serviços interativos. A portabilidade e a mobilidade também são características
do novo sistema. Será possível sintonizar a televisão digital por meio dos dispositivos
móveis e portáteis. Sendo assim, serão exigidos novos fluxos de produção de conteúdo,
uma vez que linguagem e formatos da televisão analógica precisarão ser redefinidos ou
adaptados. O mesmo acontecerá com o processo de veiculação, que terá à disposição
plataformas convergentes e integradas em uma rede de distribuição, acessada de qualquer
lugar e por diversos dispositivos. O telespectador, de receptor passará a interagente,
mudando a forma de consumir conteúdos midiáticos, já que agora ele participará de forma
ativa na produção dos conteúdos. Diante do exposto e com base em revisões bibliográficas,
o objetivo deste trabalho é refletir quais são as novas demandas na produção de conteúdo
com a implantação do sinal digital, uma forma de contribuir para que a televisão digital não
seja apenas uma evolução tecnológica da televisão analógica, mas sim uma nova
plataforma de comunicação democrática.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 38
AS RELAÇÕES SOCIEDADE-NATUREZA E SUAS INTERAÇÕES COM OS PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
EDVALDO JOSÉ SCOTON [email protected]
Mestrando Engenharia de Produção -Unesp -Faculdade de Engenharia
ROSANE APARECIDA GOMES BATTISTELLE [email protected]
Professora Doutora -Unesp -Faculdade de Engenharia
Palavras-chave: Sociedade-natureza; Meio ambiente; Degradação ambiental. O interesse em compreender a relação que se dá individual ou coletivamente com diferentes
componentes da natureza – água, vegetação, solo, ar, clima e outros – tem-se manifestado
nas últimas décadas, nas mais variadas áreas do conhecimento. Compreender tal relação é
o ponto de partida para o diálogo interdisciplinar na gestão do meio ambiente, entendido
como o complexo de fatores bióticos, abióticos e antrópicos, que interagem em determinado
espaço geográfico, na busca de soluções para processos degradantes e de prevenção
contra o pouco que ainda resta para a sobrevivência humana com qualidade e para a
conservação das espécies vivas. A partir da literatura disponível, apresentam-se e discutem-
se sinteticamente as abordagens que se têm destacado em estabelecer a lógica explicativa
das interações que se relacionam entre os seres humanos e outros componentes do meio
ambiente, individual ou coletivamente. Identificou-se um elenco de nove abordagens
distintas, permeando as diversas áreas do conhecimento. Se a complexidade das relações
que se estabelecem entre os vários componentes ambientais não pode ser suficientemente
explicada com uma única abordagem, abordagens multifocais não podem estar desprovidas
de fundamentação teórica, isto é, de lógica consistente que permita a compreensão da
dinâmica entre os fatores supostamente envolvidos no processo. A combinação de
abordagens que se complementam pode levar a explicação consistente da realidade; já a
complementação das abordagens que sustentam princípios opostos, dificilmente produzirão
explicação sólida das relações sociedade-natureza.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 39
BASQUETE X FUTSAL: O DUELO POR ESPAÇO DOS ESPORTES „AMADORES‟ NA MÍDIA IMPRESSA BAURUENSE
JÚLIO CÉSAR PENARIOL [email protected]
Graduado em Comunicação social - Jornalismo -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Literatura infantil; Leitura; Inclusão sociocultural; Cidadania. As duas modalidades esportivas consideradas “amadoras” – entre aspas, porque ambas
possuem estrutura profissional, atletas que recebem salários e visam ao alto rendimento –
mais representativas da cidade de Bauru e, por isso, mais retratadas pela mídia impressa
local (Jornal da Cidade e Jornal Bom Dia) são o basquete masculino, representado pelo time
Itabom/Bauru, e o futsal masculino, representado pela equipe FIB/Bauru.
A pesquisa consiste em analisar o Jornal da Cidade e o Bom Dia durante os meses de
março e abril, período em que as duas modalidades estão envolvidas em competições
importantes: o basquete disputa a Liga Nacional e o futsal inicia sua campanha no
Campeonato Paulista da primeira divisão, e verificar o espaço ocupado por elas nas mídias.
Para isso, utilizamos as teorias do jornalismo e os critérios de noticiabilidade no meio
impresso. Entrevistas com os editores de esporte dos dois jornais também auxiliam a
verificar, na prática, como se dão as decisões sobre a cobertura das duas modalidades.
Com base nos dados coletados, procuramos entender por que, apesar do destaque que o
basquete e o futsal têm na imprensa, o primeiro recebe mais espaço que o segundo em
ambos os jornais.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 40
BRUXAS CIBERNÉTICAS
PATRICIA BASSETO DOS SANTOS [email protected]
Graduada Comunicação Social: Rádio e TVUnesp -FAAC
Palavras-chave: Semiótica; Religião; Wicca. O presente trabalho tem como objetivo a revelação da existência da “bruxa cibernética”, um
fenômeno da era globalizada, em que a bruxaria antiga renasce através dos meios
cibernéticos sob o nome de Wicca. E a iniciação passa a ocorrer a partir do écran. Através
da utilização da teoria semiótica busca-se desvendar o processo de catequisação de uma
religião tida como marginal através da plataforma tecnológica. Com o uso de metodologia
indutiva-dedutiva pude comprovar a existência do fenômeno religioso que nomeei como
“bruxa cibernética” de praticamentes da Wicca surgidos a partir da interação com o ciber-
espaço. O resultado é uma monografia de oitenta páginas em que comparo a religião em
sua forma tradicional de comunicação oral com a religião em sua forma virtual, onde os
meios e a propagação são totalmente alterados através do ciber sem perder sua essência e
um documentário com depoimentos “das ciber-bruxas”. Há a comprovação não só de um
novo fenômeno religioso, como também da propagação do glocal, o nicho conquistando seu
lugar no mundo por meio dos códigos binários, que permitem não só o livre acesso a
doutrinas antes restritas como a horizontalização dos ritos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 41
COMUNICAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DEMOCRÁTICA – UMA ANÁLISE DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA.
ANTONIO CARLOS SARDINHA [email protected]
Mestrando em Comunicação -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Comunicação pública; Participação; Gestão pública; Direito à informação; Direito à comunicação Apesar dos desafios para se legitimarem como espaços decisórios sobre temas de interesse
coletivo, as conferências públicas são espaços importantes em que governo e sociedade
civil debatem políticas públicas a serem implementadas pelo Estado nas mais diversas
áreas (SILVA, 2009). A inédita Conferência Nacional de Transparência e Participação surge
nesse contexto com a proposta de delinear meios para fortalecer o controle do Estado por
parte da sociedade. Na minuta em discussão, divulgada pelo Governo Federal para orientar
a preparação das etapas locais da conferência, estão entre os eixos temáticos sugeridos
três questões que relacionamos estruturalmente às políticas de comunicação: (1) promoção
da transparência pública e acesso à informação, (2) o engajamento e capacitação da
sociedade para o controle social e (3) a atuação dos conselhos de políticas públicas como
instâncias de controle. Por meio de pesquisa bibliográfica, buscamos analisar com base nas
referências sobre Comunicação Pública (DUARTE, 2009; PITTA, 2001; BRANDÃO, 2009;
MATOS; 1999; 2009) e das reflexões sobre democracia e participação (DAGNINO, 2002;
TATAGIBA, 2002, AVRITZER e SANTOS, 2002), o escopo e dimensão conferidos às
políticas de comunicação no contexto da gestão pública e do controle social sobre as ações
do Estado, em estudo do regimento interno que regulamenta a realização da Conferência
Nacional de Transparência e Participação. Identifica-se que o entendimento elementar está
ainda em pensar a comunicação como ferramenta para aperfeiçoar a transparência e a
estimular a participação no processo de execução das políticas pelos governos. Em uma
perspectiva crítica sobre política de comunicação pública no Brasil (SIGNATES, 2009;
LASSANCE, 2011, FAUSTO NETO, 1995), entendemos que o desafio – operacional e
epistêmico - sobre o papel da Comunicação no contexto da participação e transparência na
gestão pública deve ser apontado não como estratégia ou ação isolada, em que
funcionalmente se atribui a essa área uma natureza publicista ou de ferramenta meramente
facilitadora, na compreensão de que esse discurso escamoteia o teor regulatório que
marcadamente caracteriza a comunicação quando apropriada pelo Estado, sobretudo em
um contexto democrático como o brasileiro.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 42
COMUNICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE WEB SITES: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA
BARBARA DOS SANTOS [email protected]
Graduada em Letras -Unesp -Marília Palavras-chave: Comunicação visual; Design; Layout; Semiótica; Tipologia; Websites. OBJETIVOS DA PESQUISA: O principal objetivo da pesquisa é analisar dois grandes sites
diferentes entre si, que suscitem comparações, acerca de seu layout, tipologia e conteúdo.
Para isso, se faz necessário os estudos de semiótica. Primeiramente, faremos uma análise
linguística, ou seja, ressaltaremos como a linguagem verbal e/ou não verbal se manifesta
nas páginas que compõe o produto midiático, visando um público específico. Num segundo
momento, traremos as discussões da semiótica a partir de três elementos importantes:
conteúdo temático, construção composicional e ato estilístico, dito em outras palavras, do
tema, da composição e do estilo. CORPUS: A bibliografia utilizada para o trabalho foi:
FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006, 144 p.
PORTELA, J. C. (org.). Semiótica e Mídia: textos, práticas, estratégias. Bauru, SP:
Unesp/FAAC, 2008, 269 p. TEORIA: Utilizamos como principal teórico dos gêneros do
discurso, o linguista russo Mikhail Bakhtin (1895 – 1975). A partir desse pensador,
tentaremos entender a questão da linguagem enquanto expressão e conteúdo, à luz dos
elementos de enunciação (enunciado, enunciador e enunciatário). Como essa teoria se
aplica os gêneros digitais, mas precisamente o site , e de que forma a semiótica pode
contribuir para isso. METODOLOGIA: A metodologia utilizada será uma apresentação em
power point, em que haverá uma explanação de trinta minutos e uma sessão de perguntas e
discussões.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 43
COMUNICANDO PELO TWITTER
RAFAEL CHINAGLIA LEITE [email protected]
Graduado em Comunicação social - Jornalismo -Unesp -FAAC Palavras-chave: Twitter; Comunicação; Atletas; Jogadores; Futebol. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a busca por informação e o acesso se
tornam democratizados, ou mais compartilhados, a internet tem papel fundamental na
história e na vida de cada cidadão e as relações interpessoais se baseiam, em muitos
casos, no que ela oferece. O advento da internet, poucos anos atrás, possibilitou uma
mudança de comportamento. Foi possível “aproximar” pessoas, ainda mais depois que
surgiram as redes sociais. Ter uma página pessoal no Orkut, no Facebook ou no Twitter (pra
citar apenas as redes mais populares) se tornou questão de status, e de estar inserido na
sociedade da informação, para alguns. Além de ter amigos virtuais, mesmo sem conhecê-
los pessoalmente. Essa aparente aproximação entre indivíduos, muda o jeito de agir das
pessoas. Analisando o tema pela ótica da comunicação, decidi verificar o impacto disso no
esporte. Mais precisamente, nos atletas que se utilizam dessas ferramentas. Delimitando
minha pesquisa na utilização do Twitter (microblog, onde só podem ser digitados 140
caracteres por vez), é possivel perceber que hoje não é preciso mais o intermediador, o
repórter, para se ter uma comunicação entre fã e atleta. Eles conseguem se comunicar
sozinhos, por meio do twitter. Ao mesmo tempo, essa liberdade, faz com que o site seja
usado como meio de expressar sentimentos, desabafos. O que não se diz nas relações
interpessoais cotidianas, cara-a-cara, se manifesta na vida online. Isso, pode causar (e já
causou em alguns casos) repercussões, confusões e mal entendidos, de acordo com o que
for publicado. A imprensa passa, então, a se pautar por essas publicações também e não
mais (e apenas como antes) pelas conversas.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 44
CORPO E REPRESENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA CAROLINA BISCALQUINI TALAMONI
[email protected] Doutoranda - Educação para a CiênciaUnesp -Faculdade de Ciências
Palavras-chave: Corpo; Educação física; Representação. Os discursos pós-modernos sobre o corpo são cada vez mais densos e se centram na
busca pelo corpo “ideal”. Através da mídia e de outros canais de comunicação, suscitam
uma “nova lógica” para a qual o corpo é um “projeto pessoal” que ao ser moldado,
contribuiria para a formação de identidades consonantes com a centralidade do corpo, da
beleza e da estética na cultura contemporânea. Esses “projetos corporais” situam-se nas
fronteiras entre a autonomia/ controle, prazer/ sofrimento, libertação/ subordinação, inclusão/
exclusão, estimulando os sujeitos a estabelecerem novas relações (inclusive tecnológicas),
com seus corpos. Assim, observa-se o aumento de hábitos corporais incompatíveis com a
saúde, que em suas formas mais mórbidas de manifestação, pode implicar no surgimento
de doenças orgânicas ou transtornos psicológicos como a bulimia, a anorexia, e mais
recentemente a vigorexia. As estratégias de manipulação do corpo pautam-se visão
cartesiana do corpo, tradicional nos meios científicos e reiterada, sobretudo pelos meios de
comunicação através da metáfora do “corpo/máquina”. Deste modo, buscou-se investigar,
através de Pesquisa Qualitativa em Educação, as representações de corpo nutridas por
estudantes de um curso de licenciatura em Educação Física, já que estas representações
influenciam no modo como concebem seus corpos e o corpo do outro, objeto de sua futura
profissão. Foram entrevistados 25 alunos do primeiro ano, 16 do sexo feminino, e nove do
sexo masculino. Ao responderem à questão “como você define o corpo humano?”, 88% dos
alunos responderam que se trata de um conjunto de órgãos e sistemas que funcionam de
forma interdependente, o que pôde ser interpretado como uma visão cartesiana do corpo,
sustentada inclusive por adjetivos como, “perfeito”, “fascinante”, “completo”, “complexo”, “um
computador programado”, dentre outros. Foi possível concluir que as representações do
corpo dentre os alunos entrevistados não se mostram diferentes daquelas presentes nos
discursos científicos e midiáticos, que reiteram que o corpo, assim como uma máquina,
pode ser programado, reprogramado e com isto, constantemente aperfeiçoado, aprimorado.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 45
CRÍTICA EM PERSPECTIVA SEMIÓTICA: O CASO DE BARBARA HELIODORA
ALANA CARRER MARTINS [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - JornalismoUnesp -FAAC Palavras-chave: Crítica; Semiótica; Jornalismo; Teatro. Esta pesquisa tem por objetivo analisar, tomando por base as teorias da Semiótica francesa
(ou greimasiana), o desenvolvimento do texto crítico da carioca Barbara Heliodora e
paralelamente o da crítica de teatro, gênero textual de grande popularidade no jornalismo e
portanto, de grande relevância para os estudiosos da área. Para isso, como corpus desta
pesquisa serão analisados nove textos da autora, selecionados da seguinte forma: cada 3
anos de atividade corresponderão aqui à análise de um texto crítico, por exemplo: Barbara
trabalhou 3 anos na revista Visão (de 1986 à 1989), portanto, para compreender esse
período será analisada apenas uma das críticas publicadas durante esse triênio. A opção
pela Semiótica greimasiana justifica-se por ser uma metodologia que fornece todos os
elementos necessários à interpretação do conteúdo textual e sua relação tanto no ramo do
teatro quanto do jornalismo. A partir da comparação entre seus textos, entre as muitas
características destacadas, percebe-se como mais imediata, que Hediodora tem a
preocupação de sempre ancorar seu discurso a elementos conhecidos da realidade do
leitor, como forma de afirmar sua capacidade de análise crítica e portanto, “convencer” o
enunciatário a confiar em seu julgamento.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 46
DE VOLTA AOS TRILHOS: O ESPORTE CLUBE NOROESTE EM BUSCA DO ORGULHO PERDIDO
MARCELO RIBEIRO RICCIARDI [email protected]
Graduado em Comunicação social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Futebol; Bauru; Noroeste; Paulistão; Interior; Estaduais. Em 2006, o Esporte Clube Noroeste, time da cidade de Bauru, fez aquela que pode ser
considerada a melhor participação de toda a sua trajetória em décadas no Campeonato
Paulista, a principal competição de seu calendário. Por si só, a campanha histórica, que
valeu uma quarta posição entre os vinte clubes da competição, já seria digna de registro.
Ainda mais quando se leva em conta que, poucos anos antes, a instituição se encontrava
sob risco de fechar suas portas. As atuações do zagueiro Bonfim, dos meias Hernani e
Lenílson ou do atacante Leandrinho, mais do que encherem de entusiasmo a população
local, permitiram também fazer um questionamento mais amplo a respeito de toda a
estrutura sobre a qual foi construído o futebol brasileiro. O Paulistão, campeonato que, no
passado, já chegou a se estender por um semestre inteiro, hoje dura pouco mais que quatro
meses e há até quem proponha a sua extinção. Porém, convém lembrar que, para quem
gosta de futebol e mora no interior, o torneio é uma das raras chances de poder presenciar,
ao vivo, atletas dos quatro principais times do estado: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e
Santos. São eles quem dão sentido à disputa. Ao mesmo tempo, tais grandes forças
reclamam cada vez mais do excesso de jogos ao longo da temporada, tanto mais para uma
competição que já não goza do mesmo prestígio. Seria correta tal relação de dependência
por parte das agremiações menores? Haveria um futuro viável para o Noroeste e demais
times de mesmo porte? Em um cenário em que investimentos financeiros são obrigatórios
para os resultados em campo, todos terão seu espaço? As respostas para essas perguntas
apontam para o futuro de uma das maiores paixões do povo brasileiro.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 47
DEBATES, O JOGO AGONÍSTICO DAS HABILIDADES RETÓRICAS
SUZAN MARTINS PEREIRA [email protected]
Pós-Graduanda em Linguagem, Cultura e Mídia - Unesp - FAAC Palavras-chave: Debates; Jogo; Discurso. Por ser uma prática comum na comunicação oral, os debates abrangem diversas
possibilidades discursivas, articulando enunciados aparentemente neutros inseridos em um
tema principal utilizando como suporte a mediação, que o remete a regras e protocolos.
Objetiva-se, neste artigo, relativizar o formato dos debates que se baseiam no método
dialético de teses e objeções ao conceito de jogo por meio das concepções teóricas,
pretende-se também, estabelecer parâmetros que relacionem a atividade mental e social à
competição discursiva, ideológica e persuasiva implícita ou explícita presente nesses
torneios. O discurso e o jogo se associam à medida que refletem cultura e sociedade,
transformando os debates competitivos em um elo inegável entre essas duas vertentes.
Este trabalho justifica-se pela necessidade de um maior aprofundamento sobre a conexão
entre as formas discursivas e lúdicas que o debate representa, pontuando informações
importantes sobre o jogo como forma de atividade agonística, que incorpora outros
elementos em maior ou menor proporção. A hipótese que classifica os debates como jogo
agonístico das habilidades retóricas é explanada a partir da definição dos termos principais
e que envolvem o jogo e a prática discursiva, questiona-se ainda os elementos antagônicos
que alteram os possíveis resultados do jogo, bem como as funções do debate competitivo
na sociedade. Discute-se, também, o papel do discurso persuasivo na composição dos
textos utilizados nos debates, expondo os conceitos da retórica para desmistificar a
estrutura dos argumentos. Este trabalho se apoiou nos vieses teóricos erigindo uma ponte
entre as diversas conceituações de jogo e discurso direcionadas aos debates em formato de
competição, permitindo uma reflexão sobre essa prática, que nos permite concluir que esse
exercício intelectual agrega a civilidade, disciplina e eloquência.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 48
DEMOCRACIA E INTERNET: O USO DA WEB 2.0 POR COMUNICADORES POLÍTICOS
KAROL NATASHA LOURENÇO CASTANHEIRA [email protected]
Mestranda em Comunicação - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Democratização; Internet; Comunicação; Políticos; Redes sociais. Com a liberação da internet para a campanha eleitoral de 2010 e de olho nos 32 milhões de
eleitores brasileiros com acesso a web, muitos partidos políticos apostam nas redes sociais
como o twitter para divulgar propostas, prestar contas e conquistar votos, através da
interação com os eleitores. Dados das últimas eleições realizadas no nosso país já
evidenciavam o uso dessa ferramenta, por parte de alguns candidatos, para chegar aos
eleitores e estabelecer, desta maneira, formas alternativas de comunicação não se
restringindo, portanto, ao uso dos métodos mais tradicionais como o rádio e a televisão.
Sendo, o discurso tão importante na sociedade informacional, na qual, tecnologia e
conhecimento caminham juntos, tem o poder aquele que consegue convencer melhor.
Pensando por este lado, os políticos deixam de ser meros políticos e passam a ser
comunicadores políticos. Passam a migrar os discursos e utilizar as mídias digitais como
forma de difundir informação. Com isto, o objetiva-se neste artigo analisar a democratização
da comunicação a favor da política nas novas tecnologias. Através do método de pesquisa
bibliográfica, concluiu-se que fazer uma campanha eleitoral hoje é um campo de
possibilidades e de acessos a meios alternativos, como por exemplo, o uso da web 2.0.
Alternativa e não uma solução do fazer política atualmente, porque apenas 31,5% da
população brasileira possuem acesso à internet (63,3 milhões de usuários diante de uma
população de 200 milhões de pessoas). Portanto, ao adentrarmos ao ciberespaço, não
estamos falando de todos e nem com todos, mas com uma parcela que tende a crescer
progressivamente, mas ainda carente financeiramente para ter condições técnicas para
utilizar a internet, e cognitivo para ter conhecimento necessário para operar sobre esta nova
tecnologia. Apesar dessa configuração de inclusão/exclusão digital, podemos afirmar que a
internet, por sua arquitetura descentralizada, inaugurou novos espaços de reivindicação e
de encontro, possibilitando o desenvolvimento de novas vozes de resistência e formas de
aglutinação.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 49
EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
MARIA DA GRAÇA MELLO MAGNONI [email protected]
Professora Doutora - Unesp - Faculdade de Ciências Palavras-chave: Educação; Ensino de Geografia ; Consciência Ambiental. As atividades a serem relatadas fizeram parte das aulas de Geografia no Ensino
Fundamental e das atividades da “Oficina de Geografia”, na disciplina Conteúdos e
Metodologias de Geografia, no curso de Pedagogia da UNESP, campus de Bauru (SP). A
atividade organizada a partir da exposição da prática pedagógica desenvolvida na Educação
Básica, teve o objetivo de proporcionar às futuras pedagogas, a oportunidade de análise dos
vários conteúdos abordados no desenvolvimento do conceito Educação Ambiental, da
metodologia empregada e dos recursos didáticos desenvolvidos. No Ensino Fundamental,
iniciamos o tema a partir de uma aula-passeio realizada num bairro pobre periférico da
vizinha cidade de Agudos, denominado “Taperão” e, entre as alunas do Curso de Pedagogia
as discussões tiveram início a partir da “aula passeio” ao Córrego da Água Comprida,
próximo à Universidade. A aula-passeio, a hora da conversa, o desenho, a pintura, a
fotografia, programas de televisão, o jornal em sala aula, a biblioteca de classe, as fichas de
conteúdos e de atividades, a produção do texto impresso e do vídeo, depoimentos de
moradores da cidade, entrevistas, letras de músicas, poemas e charges, foram algumas das
técnicas e dos recursos propostos por Célestin Freinet e explorados através da Pedagogia
do Bom Senso. Na Educação Escolar, Freinet, atento às situações do cotidiano e à
necessidade de impedir a perpetuação da práxis que não proporcionava nem a
compreensão dos procedimentos e nem o conhecimento da realidade nas quais deveriam
ser aplicadas, tomou como básico na construção do conhecimento a “experiência tateante”.
O objetivo de Freinet era o de, a partir da consideração das várias experiências reais dos
alunos, vincular a educação escolar às questões sociais, culturais, econômicas. A reflexão
sobre a Educação Ambiental nos leva à questão mais ampla que é a Educação, logo à
questão dos valores, dos objetivos a que nos propomos a partir do processo educativo. Se
a questão dos valores é considerada central na reflexão em relação à Educação, é a partir
dos valores transmitidos e construídos em nossa realidade, no nosso contexto, implícitos na
Educação escolar e não-escolar de nossas crianças, presas nos apartamentos ou nos
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 50
barracos, cercadas nos condomínios ou nas favelas, vendo o mundo a partir do cimento e
do ferro ou do lixo e do papelão, submissas às propagandas apelativas e
homogeneizadoras, apesar das diferenças sócio-econômicas gritantes, sendo construídas
na frieza, na dureza e na sede do consumo desenfreado ou impossibilitado, que podemos
entender a Educação; repensá-la. Os resultados das discussões dos conceitos e conteúdos
voltados à questão ambiental originaram diferentes recursos a serem explorados, avaliados
e complementados no processo educativo escolar.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 51
EDUCOMUNICAÇÃO: O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO CIDADÃ A PARTIR DE UM MUNDO EDITADO
ROSA MALENA PIGNATARI [email protected]
Mestre em comunicação - Unesp - FAAC
MARIA ANTONIA VIEIRA SOARES [email protected]
Professora Doutora - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Educomunicação; Interdisciplinaridade; Cidadania; Metassignificação. A educomunicação é um campo de estudos que integra Comunicação e Educação e surge
também como um terreno de síntese dialética entre a Pedagogia e a Comunicação.
Segundo Ismar Soares (2007), professor e coordenador do Núcleo de Comunicação e
Educação da USP (NCE), o campo - interdisciplinar e autônomo – de intervenção social “é
compreendido como um novo gerenciamento, aberto e rico, dos processos comunicativos
dentro do espaço educacional e de seu relacionamento com a sociedade”. Na
contemporaneidade é notória a disputa que há entre as tradicionais agências de
socialização como a família e a escola, de um lado, e os meios de comunicação, de outro.
Ambos os lados pretendem ter a hegemonia na influência da formação de valores, na
condução do imaginário e dos procedimentos dos indivíduos/sujeitos (Baccega, 2009).
Nessa altercação, a cultura mediática representa uma realidade outra construída pelo
processo de edição. O mundo que nos é apresentado pelos relatos mediáticos é
redesenhado de modo a passar por inúmeras mediações até que se manifeste no jornal, no
rádio, na televisão, na internet. E são essas mediações (instituições/tecnologias/pessoas)
que selecionam o que vamos ouvir, ver ou ler; que fazem a montagem do mundo que
conhecemos. Essa realidade outra que a edição constrói reconfigura-se no
enunciatário/receptor, com seu universo cultural e dinâmica próprios. Se o mundo a que se
tem acesso é este, o editado, é nele, com ele e para ele que se desafia construir a
cidadania. A questão, desse modo, é como trabalhar esse mundo editado presente no
cotidiano que, pela persuasão que o caracteriza, interfere astuciosamente nas decisões de
professores, alunos, familiares, frente à ideia de que ser cidadão, no sentido de participação
democrática no destino da sociedade, é interferir no curso da história, modificando-a e,
assim, alargando as fronteiras identitárias em nome da noção de pertencimento, de
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 52
reconhecimento social mútuo. Portanto, não se trata mais de discutir se os meios de
comunicação devem ou não ser usados no processo educacional, tampouco o de procurar
estratégias de educação para os meios, mas de constatar que os meios constituem
variáveis no processo educacional por onde passa a construção da cidadania. Frente ao
exposto, defende-se a discussão do campo como metassignificação de um novo espaço
teórico complexo que exige o reconhecimento dos meios de comunicação como um outro
lugar do saber, atuando juntamente com a escola e outras agências de socialização.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 53
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS: O PERFIL DE DILMA ROUSSEFF NA ÓTICA DO NEW YORK TIMES
MARIA INEZ MATEUS DOTA [email protected]
Professora Doutora - Unesp - FAAC Palavras-chave: Jornalismo; Linguagem; Análise do discurso. O objetivo deste trabalho é verificar qual o perfil da então candidata Dilma Rousseff traçado
pelo jornal The New York Times, na campanha das eleições presidenciais brasileiras de
2010. Nesse sentido, busca-se mostrar que imagem da candidata o periódico apresenta
para os cidadãos do mundo, uma vez que se trata de um veículo com prestígio e inserção
em todas as partes do globo. Fundamenta-se nos Estudos do Jornalismo, procurando
mapear as escolhas efetuadas pelo jornal e, consequentemente, os subtemas explorados na
construção do perfil de Dilma Rousseff e os recursos discursivos empregados para tal.
Assim, baseia-se nos trabalhos de Sousa (2004 e 2006) e Traquina (2004 e 2005), que se
debruçam sobre questões relativas à construção das notícias. O instrumental metodológico
advém da Análise do Discurso, tanto na linha francesa com os trabalhos de Maingueneau
(2001) e Charaudeau (2006), como na Análise Crítica do Discurso com os estudos de
Fairclough (2005 e 2001) e Fowler(1991). O corpus utilizado foi coletado diariamente na
versão on-line do referido jornal, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010,
perfazendo um total de 9 notícias. Os resultados da análise efetuada apontam,
principalmente, a candidata Dilma Rousseff sem o carisma de Lula e como tendo sido
Ministra das Minas e Energia e Chefe de Gabinete do governo de Lula, funcionária eficiente
e respeitada, militante de um movimento de esquerda durante a ditadura militar no Brasil,
oriunda de família de classe média relativamente privilegiada e adepta do controle do
Estado sobre a economia.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 54
ENTRE O SAMBA E A BOSSA: AS CANÇÕES DA DOR DEMAIS.
CLÁUDIA REGINA PAIXÃO [email protected]
Graduada em Comunicação Social – habilitação em Radialismo - Unesp - FAAC
WELLINGTON CÉSAR MARTINS LEITE [email protected]
Graduado em Comunicação Social – habilitação em Radialismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Samba-Canção; Música; Show; Rádio. “Entre o Samba e a Bossa: as canções da dor demais”, trata-se de uma monografia
desenvolvida para a obtenção do bacharelado em Rádio e Televisão. O trabalho, como o
próprio nome diz, teve como objetivo principal resgatar um gênero musical situado entre o
samba e a bossa e que é lembrado até hoje por suas letras ultra-românticas: o samba-
canção. O desafio era investigar o gênero samba-canção através do seu histórico e da
experiência de seus autores, que com seus depoimentos constituíram o corpus da pesquisa.
O método de abordagem da pesquisa foi o hipotético-dedutivo e o método de procedimento
o histórico e experimental. Na busca de maior compreensão do fenômeno, foram realizadas
entrevistas, audições no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro e visita à Funarte. O
corpo teórico do trabalho foi construído por obras sobre música, mídia, produção musical e
história da urbanização no Rio de Janeiro. A pesquisa teve aplicação prática através da
organização de um espetáculo musical e de um especial radiofônico baseado no show.
Como resultado, verificou-se a importância do samba-canção para a música popular
brasileira, uma vez que ele foi o responsável por introduzir um modo diferenciado de se
fazer sambas, deslocando-o da batucada, dando ênfase na melodia e nas orquestrações
mais elaboradas. A temática norteadora desse estilo eram as dores do coração, um misto de
mágoa, ciúme, saudade, vingança e culpa. Acusado por uns como brega, cafona e tido por
outros como dono de letras de alto grau de lirismo, é inegável que ele marcou uma época.
Desta forma, esta pesquisa contribuiu para dar luz a um gênero ainda pouco estudado,
mesmo possuindo extensa musicografia.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 55
ESTATUTO DO TORCEDOR E ESTÁDIO ALFREDO DE CASTILHO: REFLEXOS EM ÂMBITO LOCAL
FERNANDO MENEZES OLIVER [email protected]
Graduado - Jornalismo - Unip - Bauru Palavras-chave: Estatuto; Torcedor; Noroeste; Alfredão; Impressos locais. Há praticamente 08 (oito) anos está em vigor no país o chamado “Estatuto de Defesa do
Torcedor”, legislação nacional aplicável ao desporto profissional e que estabelece, dentre
outras determinações, normas de proteção aos apreciadores dos espetáculos esportivos.
Em julho do ano passado, o referido estatuto passou por uma minirreforma com a inclusão e
supressão de diversos artigos, incisos e parágrafos, tornando-o mais rigoroso para os
acompanhantes e clubes, associações e entidades esportivas. Em âmbito local, os
torcedores que frequentam o estádio Alfredo de Castilho, o “Alfredão”, conhecem os direitos
e deveres previstos nessa lei? O Esporte Clube Noroeste cumpre integralmente as
exigências do Estatuto? Os meios de comunicação impressos da cidade, principalmente nos
jogos contra os “grandes” da capital, divulgam algo sobre o assunto? As autoridades
públicas locais são procuradas por eventuais descumprimentos desse estatuto? O corpus da
pesquisa abrange os cadernos de esportes dos dois jornais diários do município, o Bom Dia
Bauru e o Jornal da Cidade, da véspera, do dia da partida e do dia seguinte ao jogo do
Noroeste e São Paulo Futebol Clube, ocorrido na primeira quinzena do mês de abril deste
ano e que foi assistido por mais de sete mil e quinhentos torcedores, recorde de público
durante todo o Campeonato Paulista no “Alfredão”. Para a análise do trabalho são
considerados assuntos direta e indiretamente relacionados ao estudo em tela (Estatuto).
Gerente do clube, jornalistas dos veículos impressos, representantes de órgãos públicos e
torcedores noroestinos complementam a metodologia deste trabalho. Constantes
divulgações facilitariam a compreensão dessa lei pelos admiradores do futebol no
“Alfredão”, local sem precedentes de grandes tumultos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 56
FREESOM
MARIANA DE SOUZA DURÉ [email protected]
Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
PAULA PINTO MONEZZI [email protected]
Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Música; Jornalismo; Informação; Shows; Lançamentos. O Freesom é uma revista radiofônica semanal com duração de 30 minutos, veiculada na
Rádio Unesp Virtual, que aborda notícias sobre música tanto no âmbito nacional quanto
internacional. O programa foi criado em agosto de 2010, e atualmente possui duas equipes
de sete pessoas. Cada edição conta com: - Uma matéria de abertura, que apresenta a
cobertura de um show recentemente realizado na cidade de Bauru; - O bloco „Em que
bandas anda‟, retomando a carreira de um cantor/grupo que sumiu da mídia; - O quadro
„Notas Musicais‟ informa com pequenas notas as novidades no universo musical; - Em
seguida, o repórter da semana faz uma resenha ao vivo, conferindo nota a algum CD, clipe
ou DVD lançado; - E o bloco „Luz, câmera e som‟ finaliza o programa com a trajetória de
músicas que marcaram filmes ou seriados; Ao final de cada matéria, uma música
correspondente a ela vai ao ar. Acompanhando a edição radiofônica, o Freesom possui um
blog, atualizado diariamente: http://www.programafreesom.blogspot.com. O objetivo do
projeto consiste em treinar os participantes para o meio radiofônico e virtual, além de
divulgar conteúdo cultural, voltado especificamente para a música, através de matérias,
entrevistas e textos opinativos. Conservamos o caráter factual do jornalismo, mas abrimos
espaço também para curiosidades e marcos da trajetória da música, até esta alcançar o
cenário que conhecemos hoje.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 57
FUTEBOL E CIDADES CRIATIVAS: BARCELONA CONEXÃO S.PAULO
JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Economia criativa; Design, Arquitetura; Sustentabilidade; Cidades criativas; Futebol. Os projetos de pesquisas desenvolvidos no Núcleo de Estudo e Observação em Economia
Criativa têm como objetivo contribuir para consolidar as bases conceituais da área de
Economia Criativa, com ênfase na cultura, tecnologia e economia. A área tem amplo
espectro de estudo e observação (patrimônio histórico, mídias digitais, edições impressas,
arquitetura, design gráfico, modo, ambiente, audiovisual, jornalismo, publicidade) e
convergência com o conceito de Cidades Criativas, desenvolvido pela Unctad - Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Para este estudo, o corpus é a
construção da arena esportiva do Sport Club Corinthians Paulista, para a abertura da Copa
do Mundo de Futebol, em 2014, na cidade de S. Paulo, no bairro de Itaquera, extremo Lesta
do município. O quadro teórico de referência serão os estudos realizados no âmbito da
Unctad e os seus desdobramentos conceituais, como os desenvolvidos no seio do projeto
do ministério da Cultura e das redes em economia criativa desenvolvidas no país (Economia
Criativa como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento.
Organização Ana Carla Fonseca Reis. São Paulo: Itaú Cultural, 2008.) Para este estudo
será desenvolvida a metódica da leitura comparativa entre as potencialidades das cidades
de Barcelona e S. Paulo, com destaque para a o universo criativo propiciado pelo Futebol,
com a utilização de imagens – próprias e capturadas pelo software Google Earth – e
narrativas de jornais e dos sítios das cidades observadas. A cidade de S. Paulo apresenta
as mesmas potencialidades e possibilidades observadas na cidade de Barcelona, para o
desenvolvimento de projetos de Cidades Criativas, com o futebol como epicentro da
articulação de projetos, processos, pessoas e recursos criativos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 58
GLOBO ESPORTE: DA INFORMAÇÃO AO ENTRETENIMENTO
BEATRIZ ALBUQUERQUE E CASTRO [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - Radialismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Comunicação; Telejornalismo; Telejornalismo esportivo; Globo Esporte. O presente artigo tem como objetivo analisar do novo formato do programa Globo Esporte
da Rede Globo de Televisão, no ar desde 1978. Idealizado por Leo Batista, o programa
passou por várias modificações, principalmente após a entrada do jornalista Tiago Leifert.
Para tanto se observou o desenvolvimento do telejornalismo brasileiro, desde o surgimento
da televisão no país; do telejornalismo esportivo, presente na programação brasileira depois
de apenas alguns meses da entrada da TV Tupi no ar e a trajetória do programa, desde seu
surgimento, passando pelas baixas de audiência até seu restabelecimento. Baseando-se no
artigo Globo Esporte São Paulo: Ousadia e Experimentalismo no Telejornal Esportivo, de
Patrícia Rangel Moreira Bezerra, Mestre em Comunicação na Contemporaneidade pela
Faculdade Cásper Líbero, e da observação das características e variações do programa,
como a fusão entre jornalismo e entretenimento, procurou-se detectar as mudanças
relevantes, elencar as possíveis causas e apontar quais os reflexos dessas alterações para
os espectadores e para o próprio jornalismo, questionando se o programa pratica ou não o
verdadeiro jornalismo. Sob uma ótica mais radical, o sucesso da receita experimentada pelo
Globo Esporte é resultado da chamada Indústria Cultural. Porém, não se pode negar que a
experiência deu certo, chegando a superar, em níveis de audiência, as emissoras
concorrentes e o programa que sempre atinge a maior pontuação vespertina da Rede
Globo.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 59
GUERRA DE KOSOVO: ANÁLISE SEMIÓTICA DA COBERTURA JORNALÍSTICA DO CONFLITO
AMANDA PIOLI RIBEIRO [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Discurso; Guerra; Kosovo; Semiótica; Análise. A pesquisa analisa a produção jornalística do jornal diário Folha de S. Paulo referente a dois
períodos da guerra de Kosovo: A primeira semana dos ataques da OTAN à região
(março/99) e a última semana desses ataques (junho do mesmo ano). O estudo será
realizado com base na semiótica francesa de A. J. Greimas, com o objetivo de entender
como a cobertura dessa guerra foi construída discursivamente, e como seus elementos
textuais e discursivos são dispostos de forma a montar o cenário que é apresentado ao
leitor. Será aplicada a teoria semiótica nas matérias analisadas, definindo seu sistema
narrativo, por meio da análise e da construção dos atores (personagens), além de mostrar a
sistematização de alguns outros fatores (contextualização da guerra, os protagonistas, os
antagonistas e o objeto de valor), que compõem outros cenários discursivos. Durante a
organização do córpus desse projeto, foram necessárias uma série de observações e
buscas por especificações que justificassem o período escolhido para análise. Para
encontrar o objeto escolhido, acessou-se o arquivo do jornal Folha de S. Paulo,
disponibilizado online, buscando encontrar todas as menções da palavra “Kosovo”. Por meio
dessa contabilidade, foi possível notar os períodos em que houve o maior número de
referências. Assim, escolheram-se os dois pontos culminantes dessa época: a primeira e a
última semana dos ataques da OTAN ao país. Foram recenseadas as páginas do jornal que
continham a citação “Kosovo” durante essas semanas, e observadas características das
matérias: sua data de impressão, título, autor, caderno em que foram colocadas, gênero
jornalístico a que pertenciam, e a presença – ou não – de fotos e infográficos. Desse modo,
nessa primeira parte da pesquisa, foi possível notar como foi construída a guerra nas
principais páginas da Folha e quais foram as figuras e os temas recorrentes: locais em que
ocorreram os bombardeios, quantos mortos deixaram, os erros de ataque, as
consequências da destruição e o número de fugitivos e refugiados que surgiram.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 60
HAVAIANAS SEGUNDO BAKHTIN
FADIA CAMACHO FEITOSA [email protected]
ANDREZA PATRÍCIA BALBINO CEZÁRIO
Palavras-chave: Inovação; Apelo sedutor; Metáfora; Bakhtin. A escolha do anúncio das Havaianas, surgiu da ideia de conhecer a linguagem publicitária
de um produto popular que faz parte do cotidiano dos brasileiros, encontrado nos lares, de
uma forma universal. Para confirmar, analisamos a linguagem publicitária utilizada no
anúncio Havaianas: Novo Havaianas com Murilo Rosa, Fernanda Tavares e André Dale,
baseamo-nos nas teorias de Bakthin. As Havaianas surgiram em 1962, inspiradas na
sandália japonesa Zori, a versão nacional trouxe o diferencial de ser 100% em borracha,
natural e nacional o que garante a extrema durabilidade de suas sandálias. Abordagem
Semiótica: (linguagens envolvidas na construção do objeto da análise) São três os
elementos principais em que devemos nos fundamentar para verificar o gênero do discurso
a que pertence determinado enunciado - conteúdo temático, plano composicional e estilo
verbal - “...fundem-se no todo do enunciado e todos eles são marcados pela especificidade
de uma esfera de comunicação” (Bakthin, 1992: 277). Consideremos, ainda, que as três
características aqui arroladas como principais nada representam se o enunciado não for
analisado levando-se em consideração todo um contexto. Ou seja, os enunciados
pertencem à determinada esfera da atividade humana, são devidamente localizados em um
tempo e espaço (condição sócio-histórica) e dependem de um conjunto de participantes e
suas vontades enunciativas ou intenções. Para a confirmação das teorias anteriormente
discutidas, o anúncio publicitário “Novo comercial Havaianas com Murilo Rosa, Fernanda
Tavares e André Dale”, utiliza-se das representações de identidade cultural, em âmbito
nacional e regional, como estratégia de comunicação publicitária de marcas, produtos e
serviços. Faz dos signos e valores culturais um “apelativo” para estimular o consumo, pois
geram uma identificação da marca enunciada com os valores nacionais, proporcionando,
dessa forma, um diferencial de dimensão afetiva. Para convencer os telespectadores, os
anúncios buscam imagens e sons para chamar atenção, como por exemplo, cenários, a
construção do diálogo com a câmera (filmagem), tentando passar o cotidiano, os temas
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 61
como fonte das vozes sociais (a cultura de um povo sendo massificadas como forma de
manter o produto no mercado), os enunciatários. A marca Havaianas hoje é conhecida
mundialmente e seus anúncios televisivos têm um argumento de autoridade significativo
sobre seus telespectadores. Ocorre a manipulação da sociedade para consumir seu
produto, utilizando da imagem de atores e atrizes nos seus anúncios mostrando que usam o
produto, ou seja, os famosos anúncios testemunhais. Com o destaque que a TV tem na
sociedade, ocorre autoridade na grande maioria da sociedade. Mostrando que o povo
brasileiro de qualquer idade, raça, cor, nível social pode usar as sandálias Havaianas. O fato
é que o par de sandálias já foi item de cesta básica e vendida por preço bem acessível,
sendo a opção mais barata de calçados. Antes era vista como chinelo que todos tinham
vergonha de usar. E a partir dos anos 90 surge a versão sandália das Havaianas Top,
buscando ampliar seu público consumidor entre as classes A e B, até então não desejadas
e trabalhadas pela comunicação, veiculando um novo discurso publicitário que atinge a
todas as tribos existentes no território nacional.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 62
IMAGEM DO PAPA NA IMPRENSA BRASILEIRA: A COBERTURA DA FOLHA DE S. PAULO SOBRE PEDOFILIA
MARCELLO ZANLUCHI SURANO SIMON
[email protected] Mestrando em Comunicação - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Comunicação; Jornalismo; Análise do Discurso; Papa; Pedofilia; Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana (que, por praticidade, chamaremos simplesmente de
Igreja Católica), ao longo do tempo, tornou-se uma das mais importantes instituições sociais
em nível mundial que a história conheceu e conhece. Atualmente, pesquisas do Anuário
Pontifício apontam para um número de aproximadamente 1,2 bilhão de católicos no mundo,
o que revela, ao menos, quantitativamente, a influência da ação católica romana, cuja
cosmologia tem sido propagada junto à humanidade através de mensagens e práticas. Esta
visão de mundo, em tese, está embasada principalmente no Evangelho e na própria
Tradição. A influência revela-se presente, ainda que em medidas diferentes, junto àqueles
católicos cuja inserção na Igreja Católica limita-se a uma prática ritual, bem como junto
àqueles cristãos de outras denominações, fiéis de outras religiões (não cristãs) e até mesmo
pessoas sem uma convicção religiosa. Por isso, a importância do catolicismo não é ignorada
pelos seus opositores, que dentro ou fora da Instituição, tecem críticas positivas ou
negativas sobre atitudes e posicionamentos, colocando-a como objeto de pesquisa em
todos os níveis e áreas, sobretudo nas Ciências Humanas e Sociais e, mais recentemente e
com destaque, na Comunicação Social. Em virtude da representatividade da Igreja Católica
e de seu atual líder, o Papa Bento XVI, este trabalho pretende analisar os diferentes
simulacros que foram atribuídos ao Pontífice durante a exposição do tema pedofilia nas
reportagens do jornal Folha de S. Paulo, em 2010. Para tanto, este estudo será embasado
nas Teorias do Jornalismo, principalmente sustentadas por autores como Mauro Wolf, Jorge
Pedro Sousa e Nelson Traquina, com a finalidade de compreender como se processa a
produção das notícias. Partindo desta fundamentação, serão utilizados os aparatos da
análise do discurso de linha francesa, através de suas teorias e metodologias, para analisar
como são construídos os enunciados no jornal Folha de S. Paulo, como forma de investigar
a produção de discursos, observada sob o ponto de vista da posição ideológica, presente
em cada ator social num determinado espaço de tempo. Ao pesquisar as formações de
discurso em notícias de um veículo impresso, a análise do discurso facilita, dentro dos
estudos de jornalismo, a identificação das vozes e sentidos que estão no texto ou que são
adjacentes a ele.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 63
IMAGENS, INTENÇÕES E DIRETRIZES EDITORIAIS: ESTRATÉGIAS DO JORNALISMO VISUAL NA COBERTURA POLÍTICA
TÁSSIA CAROLINE ZANINI [email protected]
Mestranda em Comunicação - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Campanha presidencial de 2010; Jornalismo visual; Imaginário político; Revistas semanais. A partir do acompanhamento crítico da cobertura jornalística no período da campanha
presidencial de 2010, desde a definição dos candidatos até a repercussão do resultado, este
artigo descreve e analisa alguns comportamentos do jornalismo visual na formação do
imaginário político, especificamente nas características que servem de sustentação para o
julgamento de valores da candidata eleita Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores
(PT). O corpus selecionado compreende as edições das revistas semanais Veja e Istoé
publicadas no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, com recorte específico nas
imagens de capa e aberturas de grandes matérias que trazem a candidata eleita ao longo
da campanha – espaços em que as informações visuais costumam ser construídas de forma
mais cuidadosa, permitindo, na análise, obter elementos que denunciam as intenções e
diretrizes editoriais, declaradas ou latentes. As observações identificadas são relatadas a
partir da composição da imagem da candidata e seu partido político, em plano geral e sob a
discussão de tópicos específicos, como enquadramento, ação e contexto (cena e cenário),
gestualidade, caricaturização, cores e iluminação. A análise é complementada com a
apresentação de algumas características do jornalismo visual na cobertura política, com
base em autores como Flusser, Pross, Baitello, Romano e Guimarães, com o objetivo de
demonstrar como pode ser verificada a intencionalidade de alguns produtos midiáticos e de
contribuir para o entendimento do comportamento da mídia no que se refere ao jornalismo
político.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 64
IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS SOBRE A COMUNICAÇÃO PERSUASIVA
JOÃO EDUARDO JUSTI [email protected]
Mestrando - Comunicação - Unesp - FAAC Palavras-chave: Propaganda; Digital; Consumidor; Marca; Persuasão. O que é propaganda e qual a sua função social? Como a propaganda se modificou com as
transformações tecnológicas? Quais as principais mudanças que o advento das tecnologias
digitais trouxe para a comunicação persuasiva? Essas são as questões principais que
norteiam o trabalho. Num primeiro momento, apresentamos o conceito de propaganda e
como a propaganda altera seus objetivos com o passar do tempo e se torna um modelo de
referência a ser seguido pelo público. Depois, a grande questão que se coloca é quais tipos
de anúncios seriam capazes de despertar a atenção desse público e impulsioná-los à
compra, hoje, quando estamos expostos a mais de 3 mil propagandas por dia, em diferentes
plataformas midiáticas, e quando as novas ferramentas online de informação e comunicação
nos permitem produzir conteúdos de mídia, inclusive contra ou a favor, das marcas e
produtos que consumimos. Em seguida, apresentamos a propaganda como espetáculo que
visa não mais a simples identificação do consumidor com marcas ou pessoas ideais, mas
sim proporcionar a vivência de momentos de lazer e diversão agradáveis, patrocinados pela
marca. O trabalho continua com a discussão a respeito da lógica da extensão de marca e
mostramos que os publicitários também não querem apenas que o consumidor faça uma
única compra, mas que estabeleça uma relação de longo prazo com a empresa e que os
novos modelos de marketing procuram expandir os investimentos emocionais, sociais e
intelectuais do consumidor, com o intuito de formatar os padrões de consumo. Encerramos
demonstrando que a publicidade está mais dependente de consumidores ativos e
envolvidos para divulgar marcas em um mercado saturado e, em alguns casos, procura
formas de aproveitar a produção midiática dos consumidores fiéis para baixar os custos de
produção das propagandas. Os exemplos das campanhas publicitárias da cerveja Skol e do
automóvel Tahoe revelam os benefícios e os perigos de se apelar à cooperação da
audiência.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 65
INTERAÇÕES NO CIBERESPAÇO E NO ESPAÇO URBANO.
LUIS ENRIQUE CAZANI JUNIOR [email protected]
Graduando em Comunicação Social - Radialismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Audiovisual; Interação; Mobilidade. Procura-se nesse trabalho expor os processos de interação proporcionados por narrativas
audiovisuais instituídas no ciberespaço e em espaços urbanos para acesso via de
dispositivos móveis. Centra-se no estudo de caso proposto por Robert Yin e nos estudos de
interatividade com Alex Primo, Fernando Crocomo e Lev Manovich, para análise do seguinte
corpus: o filme para GPS (Global Positioning System) Nine Lives, produzido em 2007 e a
websérie Desenrola, de 2008. Em nove fragmentos, Nine Lives encontra-se disponibilizado
em localidades ao qual está relacionado, permitindo ao interagente se inserir no espaço
narrativo e reconstruir o percurso das personagens pelo processo de montagem do
audiovisual. Para o seu desenvolvimento optou-se pelo uso de flashbacks dada à quebra da
linearidade da informação na exibição e por um balanceamento narrativo de acordo com a
movimentação do lugar que também determina a duração de cada parcela. Com Alex Primo,
classifica-se o filme como promotor de uma interação reativa, e com Lev Manovich,
interatividade fechada pela limitação das possibilidades oferecidas. Na websérie Desenrola
há a simulação de conversas com o expectador quebrando a denominada "quarta parede",
referente à separação entre público e personagens, além da utilização excessiva de
câmeras subjetivas como forma de sua inserção. Convida-se o expectador a enviar vídeos
sobre a temática exposta numa bidirecionalidade similar à proposta de Fernando Crocomo,
além de recados em redes sociais. Destaca-se o concurso cultural que oferece ao público a
oportunidade de ingressar na banda da estória “Estudante paga meia”, como forma de
aproximação entre mundo virtual e real. Com Alex Primo, classifica-se a websérie como
promotora de uma interação mista (mútua e reativa) e com Lev Manovich, interatividade
fechada. Afirma-se que enquanto a websérie encontra-se sob a lógica on demand, o
gpsfilme se estabelece "sob entrada” para acesso via dispositivo móvel, o que ocasiona um
rompimento com o antigo paradigma analógico de assistir peças audiovisuais, oriundo das
novas formas de interação entre o emissor e o interagente.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 66
JORNAL DO FERRADURA: ESTÍMULO À MOBILIZAÇÃO SOCIAL
ALINE CRISTINA CAMARGO
[email protected] Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
LAURA LUZ PESSANHA HENRIQUES
[email protected] Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Jornalismo comunitário; Cidadania; Comunidade; Mobilização. A necessidade social da informação é hoje suprida em grande parte pelo jornalismo. É por
meio do profissional jornalista que as informações chegam de forma mediada, e não direta,
à sociedade. A relação entre jornalismo e democracia pode ser percebida a partir do direito
dos eleitores de conhecer todas as propostas e alternativas, o que só ocorre caso haja
pluralismo nos meios de comunicação. “Onde o pluralismo social é forte, a liberdade e a
democracia tendem a ser fortes; e, inversamente, as forças que enfraquecem o pluralismo
social também enfraquecem a liberdade e a democracia”, afirma Gentilli (2002, p. 14). Um
dos caminhos para se alcançar a democracia por meio de jornais comunitários está na
tentativa de se garantir o direito à informação de boa qualidade e que realmente interesse à
comunidade, o “que fomenta o exercício da cidadania necessário ao exercício pleno do
conjunto dos direitos de cidadania e, portanto, um fator decisivo no processo de
aprofundamento democrático”, aponta Gentilli (2002, p. 23). Assim como defende Callado e
Estrada (1985, p. 8), acreditamos que “o jornal comunitário é muito mais do que um órgão
de informação; é um instrumento de mobilização”. Com este objetivo, o Jornal do Ferradura
pretende dar visibilidade às atividades culturais e sociais da região, além de ressaltar as
necessidades dos moradores, promover a identificação entre o jornal e os agentes sociais
do bairro, com a intenção de estimular a organização para a reivindicação de direitos
coletivos, como obras de infra-estrutura, difusão de manifestações culturais da própria
comunidade, e contribuir para que se desmistifique a visão negativa que a sociedade
bauruense tem do bairro, não de forma solidária ou assistencialista, mas sim como
compromisso com o leitor. A produção de um jornal comunitário exige várias etapas, assim
como a de um jornal convencional. A principal diferença na produção dos dois tipos é que,
no caso do jornal para a comunidade, os moradores do bairro participam ativamente da
escolha dos assuntos a serem tratados no periódico por meio de reclamações e sugestões
de temas. Ou seja, o Jornal do Ferradura usa métodos e técnicas jornalísticos
convencionais, mas sempre com uma visão social e sem fins mercadológicos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 67
JORNALISMO E CIDADANIA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE COBERTURAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DO ADOLESCENTE
ALINE MARIA FUZISAKI LEÃO [email protected]
Mestranda em Comunicação - Unesp - FAAC Palavras-chave: Jornalismo; Cidadania; Direitos da infância e da Adolescência; Violência estatal; Enquadramento; Folha de S. Paulo; Jornal da Cidade. O objetivo deste trabalho é a questão da cidadania, entendida como a posse de direitos, e
sua relação com o jornalismo, considerado fundamental para a efetivação desses direitos,
pois possui o poder simbólico de agendar e enquadrar temas, além de fomentar o debate na
sociedade. Com o objetivo de compreender de que maneira os jornais atuam na
consolidação da cidadania e investigar como são construídos os enquadramentos
noticiosos, capazes de apresentar aos leitores uma versão dos fatos, optamos pela análise
comparativa de dois jornais, sendo um de abrangência nacional e outro de circulação
regional. Para examinarmos os enquadramentos presentes nas narrativas desses dois
jornais, escolhemos o caso de um adolescente morto por policiais em Bauru/SP, em
dezembro de 2007, por considerarmos um grave caso de violação dos direitos de cidadania,
já que foi um crime cometido por agentes do Estado contra um garoto. Dividimos nossa
pesquisa em duas etapas: fundamentação teórica e análise dos jornais. Iniciamos o trabalho
abordando o conceito de cidadania e as mudanças sofridas por ele no decorrer da história.
Em seguida, discorremos sobre o surgimento da imprensa como direito de expressão e a
função do jornalismo para difundir os direitos de cidadania. A seguir, apontamos o papel da
ANDI na consolidação dos direitos da infância e da juventude na imprensa brasileira.
Tratamos do processo de produção jornalística expondo as implicações do agendamento e
da seleção de notícias, os critérios de noticiabilidade e as influências do enquadramento na
construção da realidade. Por fim, apresentamos uma análise comparativa, baseada na
metodologia da análise do enquadramento, das notícias publicadas nos dois jornais,
referentes ao caso do garoto assassinado por policiais. Dessa forma, foi possível observar
que os jornais cumpriram sua função social de dar visibilidade a um caso de violação dos
direitos e de exigir a prestação de contas daquilo que é de responsabilidade do Estado,
promovendo, assim, o exercício da cidadania e contribuindo para a formação de uma
sociedade verdadeiramente democrática.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 68
JORNALISMO E MEIO AMBIENTE: A CONTRIBUIÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
PEDRO CELSO CAMPOS [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC Palavras-chave: Jornalismo Ambiental; Teorias da comunicação; Sustentabilidade. Este artigo é uma reflexão sobre a contribuição que os meios de comunicação social podem
dar ao debate público sobre os problemas ambientais. A Agenda XXI e vários outros
documentos da ONU chamam atenção para a necessidade de informar e conscientizar a
sociedade. Por outro lado, as Teorias da Comunicação têm sempre em comum o imperativo
do emissor se fazer entender pelos receptores, de tal modo que eles possam ser agentes da
mudança e não apenas passivos observadores. O primeiro passo, portanto, é estudar a
questão ambiental, pautar adequadamente o tema e levar esclarecimento. Não é o que
ocorre, por exemplo, com alguns conceitos técnicos da área, destacando-se o de
“sustentabilidade”, surgido nos anos 70 para nortear políticas públicas a serviço da
preservação da vida presente e, principalmente, futura, e, hoje, utilizado até mesmo como
parâmetro de preservação dos lucros e das vantagens resultantes da exploração da
natureza.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 69
JORNALISMO EM TV DIGITAL E REDAÇÃO CONVERGENTE
RICARDO POLETTINI [email protected]
Mestrando - TV Digital - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Televisão digital; Telejornalismo; Convergência de mídias; Gestão do conhecimento. O avanço da tecnologia fez com que a informação se impusesse a outros parâmetros que
antes delineavam a eficiência das organizações no mercado. O desenvolvimento das TIC
modificou os processos comunicativos e mudou a maneira de o público consumir
informação. Essa nova realidade midiática provoca transformações nas rotinas de trabalho
nas empresas produtoras de conteúdo para os meios de comunicação. Assim, o jornalismo
aos poucos abandona o modelo industrial analógico de produção, em que o trabalho
determina funções e etapas definidas. A redação de jornalismo passa a funcionar como uma
usina de processamento de conteúdos, capaz de atender as demandas de outras
plataformas e de transformar a informação processada em conhecimento. No caso da TV
digital, essas transformações se fazem ainda mais contundentes, já que a produção de
conteúdos em formato digital facilita o intercâmbio entre as diferentes plataformas
tecnológicas disponíveis. Este estudo, de caráter exploratório, se apóia em teorias da
sociedade em rede, na gestão do conhecimento e artigos diversos sobre o processo de
convergência experimentado em empresas de comunicação. Aponta para uma tendência
de produção multiplataformas que exige novas competências dos profissionais de
comunicação e da tecnologia da informação.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 70
JUVENTUDE, ESTILO DE VIDA E CONSUMO.
THAÍS HELENA PAIXÃO [email protected]
Mestranda em Comunicação - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Juventude; Consumo; Mídia. A pesquisa tem como objetivo, primeiramente, falar do jovem como ator social e sua
consolidação na sociedade moderna, assim como, a forte relação da mídia nesse processo,
valorizando a cultura jovem e ligando-a as atividades de consumo e estilo de vida. A partir
do século XX, nas décadas de 50 e 60 o ator social jovem, antes “excluído” se consolidou.
Eric Hobsbawm (HOBSBAWM, 1995) fala do início de uma “cultura jovem”. Hoje em dia, há
o aumento da variedade de produtos, expansão do acesso aos mesmos e formas híbridas
de usá-los. Por conseguinte, a mídia utiliza-se de pessoas jovens e bonitas para atrair
consumidores e determinar estilos de vida. Não somente na publicidade, mas também em
matérias jornalísticas, há a atração do público-jovem ao consumo e estilo de vida,
precisamente, em revistas teens. Para este fim é utilizada a pesquisa bibliográfica, artigo
científico e análise de textos ligados ao consumo, produtos e marcas de uma revista
Capricho do dia 24/11/2010. O resultado é a amostra de como a revista não vende somente
matérias, mas produtos, marcas, estilo de vida e cultura (filme, música, livro) estereotipada.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 71
LUIZ BELTRÃO: VEZ E VOZ DOS MARGINALIZADOS
ANA LUCIA LIMA DE ASSIS [email protected]
ELAINE CRISTINA GOMES DE MORAES
[email protected] Mestranda em Comunicação - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Folkcomunicação; Comunicação; Folclore. Este trabalho foi realizado na Disciplina Matrizes Comunicacionais Latino-Americanas do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNESP/Bauru e tem como objetivo
demonstrar a importância do trabalho pioneiro de Luiz Beltrão e a origem do termo
Folkcomunicação que surgiu, em 1967, com sua tese de doutoramento: Folkcomunicação -
um estudo dos agentes e dos meios populares de informação de fatos e expressões de
ideias. Foi o primeiro Doutor em Comunicação do Brasil. Sua tese teve repercussão no
exterior sendo recebida com entusiasmo por teóricos e pesquisadores. Luiz Beltrão nasceu
em Olinda/PE (1918), graduou-se em Direito e dedicou sua vida profissional ao jornalismo.
Seu interesse pela cultura popular, pelos trabalhadores classistas e por sua sensibilidade
em entender o cotidiano das camadas que vivem à margem da sociedade o levou a analisar
a comunicação popular, observando até que ponto a mídia influenciava determinadas
comunidades. Percebeu que alguns grupos sociais encontraram formas alternativas de
comunicação, como os cordelistas que, através da música, transmitem informações para
diversas gerações. Seus estudos resultaram na identificação e classificação de três grupos
de usuários de folkcomunicação que estão não só à margem do sistema político como do de
comunicação social: grupos rurais marginalizados – isolados geograficamente, com penúria
econômica e baixo nível intelectual; grupos urbanos marginalizados – nos escalões
inferiores da sociedade, subalternos desassistidos, subinformados e com mínimas
condições de acesso; grupos culturalmente marginalizados – urbanos ou rurais, que
representam contingentes de contestação aos princípios, à moral ou à estrutura social
vigente. Ao falecer, em 1986, Luiz Beltrão deixou muitos ensinamentos e reflexões curiosas
e atraentes a leitura, e principalmente, grandes contribuições a área de comunicação.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 72
MARCAS DA ENUNCIAÇÃO: A BREAGEM ACTORIAL NOS PROGRAMAS DE ENSINO DE LINGUÍSTICA
HENRI GEORGES CHEVALIER [email protected]
Graduando em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Greimas; Enunciação; Programa de Ensino. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa que visa analisar como se organiza e se
distribui o ensino de Linguística, com atenção especial às ideias de Ferdinand de Saussure,
nas grades dos Cursos de Jornalismo ministrados em Universidades públicas do Estado de
São Paulo. Como metodologia de análise são utilizados os procedimentos da Semiótica
francesa, mais especificamente a análise segundo os níveis discursivo e narrativo do
percurso gerativo do sentido. A Semiótica francesa apresenta uma característica particular.
Seus objetos de estudo são o texto e o discurso, definidos como aquilo que apresenta uma
totalidade de sentido, totalidade esta que a Semiótica procura explicar do ponto de vista do
enunciado (daquilo que aparece como texto e como discurso) e do ponto de vista da
enunciação (das forças que atuam na organização e na produção dos textos e discursos).
Nesse sentido, diz-se habitualmente que a Semiótica procura explicar não apenas o que o
texto diz, mas como o texto diz o que diz. Centrando as atenções na questão da
enunciação, mais especificamente no conceito de sujeito (e de breagem actorial), o presente
trabalho objetiva a exploração do que é chamado por Jacques Fontanille de breagem, a qual
se desdobra em embreagem e debreagem. A debreagem nos dá sensação de
imparcialidade e, portanto, de verdade “absoluta”. Apesar de marcado pelo ponto de vista do
enunciador, assim como qualquer outro texto, por meio da debreagem enunciva do sujeito,
cria-se a impressão de que o texto do Programa de Ensino é isento de ideologia e de
opiniões, ainda que se saiba que, de um ponto de vista sociossemiótico, nenhum texto é
isento, mas se articula de forma complexa com um “contexto de produção” textualizado e,
portanto, passível de uma análise formal.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 73
MERCHANDISING SOCIAL NA NOVELA PAGINAS DA VIDA ALINE DÓRIA DE ALCANTARA CAMARGO
[email protected] Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
LETICIA PASSOS AFFINI
[email protected] Professora Doutora - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Merchandising Social; Telenovela; Campanhas; Páginas da Vida. Esse trabalho apresenta uma análise do modo como campanhas sociais são introduzidas
nas narrativas das telenovelas brasileiras. Aborda-se em particular a novela “Páginas da
Vida” de Manoel Carlos, exibida em 2006/2007, pela Rede Globo de Televisão, no horário
nobre. A trama aborda temas como a síndrome de down, o soropositivo e o afro-
descendente. Contou também com a participação de cidadãos no final de cada capítulo
relatando suas vivencias, dando verossimilhança para a trama e tornando-a crível. A
telenovela é um produto de entretenimento que reproduz situações cotidianas de forma
ficcional e focando o lazer do telespectador. O público é composto por telespectadores que
relaxam, depois de um dia cansativo de trabalho, em frente a televisão. Visto o tamanho do
alcance, de proporções inigualáveis, que a telenovela brasileira atinge e seu poder de
influência, aproveita-se para inserir na trama uma propaganda, uma ideologia, uma
campanha, uma prestação de serviço social. Trata-se de um trabalho baseado em pesquisa
teórica, ensaística, qualitativa que analisa os aspectos culturais e sociais de um determinado
momento, assim como seu contexto. A análise é feita com base em dados obtidos por
revisão de literatura, vídeos arquivados de capítulos da novela baixados do YouTube e
resumos colhidos em páginas da emissora. Apesar de a televisão não moldar a sociedade,
possui grande abrangência de público e é capaz de propagar uma ideia por todo o território
nacional, visto que 97% dos lares possuem aparelho receptor. Conclui-se que a inserção de
campanhas sociais nas narrativas televisivas fomentam a conscientização e o debate pelo
público, fazendo-o ao menos refletir sobre o tema e a questão social causando ou não uma
possível mudança de hábitos ou forma de pensar.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 74
MOVIMENTOS SOCIAIS E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A CIDADANIA
ELAINE CRISTINA GOMES DE MORAES [email protected]
Mestranda em Comunicação - Unesp - FAAC
MURILO CESAR SOARES [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Cidadania; Comunicação; Eventos; Movimentos sociais. Se por um lado o advento da globalização proporcionou uma aproximação física entre as
nações e um avanço tecnológico, por outro, deve-se considerar que esses benefícios não
atingem de maneira uniforme a população brasileira, composta por grupos heterogêneos, os
quais muitos deles não têm acesso a esses benefícios. Ao se analisar o contexto histórico
brasileiro, verifica-se o início da cultura de exploração desde a chegada dos portugueses
com a escravidão indígena e posteriormente africana. Apesar do fim da escravidão e a
garantia dos direitos estabelecidos na Constituição de 1988 a todos os cidadãos, é
inquestionável a desigualdade social no que diz respeito ao acesso real a esses direitos.
Com o objetivo de lutar pela garantia dos direitos dessas pessoas, surgem os movimentos
sociais, que atuam por meio de ações de mobilização social a fim de transformar as
necessidades de um grupo em realidade. Nesse contexto, o papel da comunicação torna-se
estratégico para a organização desses movimentos, para despertar o envolvimento e a co-
responsabilidade dos participantes com o movimento e para o planejamento de ações para
a conquista dos objetivos propostos. Um instrumento de comunicação muito utilizado nesses
movimentos é a realização de eventos, também comumente encontrado no campo
mercadológico para a integração de públicos e divulgação de produtos ou serviços. Nos
movimentos sociais, observa-se a constante utilização de eventos, sejam em formato de
passeatas para protestar ou reivindicar direitos como também por meio de reuniões para
compartilhamento de ideias e opiniões em fóruns, seminários, debates e outras tipologias.
Observa-se que os eventos tornam-se meios de representações perante o poder público,
mídia e sociedade. Este estudo propõe uma análise sobre a utilização de eventos pelos
movimentos sociais, como essas ações os representam e qual a sua contribuição como
instrumento da cidadania.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 75
MULTIMODALIDADE E MÍDIA-EDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA PARA LIVRE EXPRESSÃO E CRIATIVIDADE NA ESCOLA
MARCELE TONELLI DE OLIVEIRA [email protected]
Graduanda - Jornalismo - Universidade do Sagrado Coração - Bauru
ROSEANE ANDRELO [email protected]
Professora Doutora - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Mídia-educação; Jovens; Criatividade; Linguagens; Música; Fotografia. Com o advento das mídias e da cultura de massa, ações de mídia-educação tornam-se
cada vez mais necessárias no contexto da escola. O presente estudo focou a construção de
metodologias e materiais capazes de exercitarem a leitura crítica das mídias e estimularem
a produção de conteúdos criativos usando as linguagens multimodais do som e da imagem.
As atividades foram testadas em oficinas com alunos do Ensino Médio Público e os
exercícios propostos exploraram os recursos do rádio e da fotografia. Utilizando de maneira
simultânea as linguagens aprendidas, os estudantes elaboraram um programa radiofônico e
posteriormente uma fotoestória. Como instrumento de publicação e junção dos conteúdos
desenvolvidos foi explorado o potencial da plataforma Mypace, que mostrou ser um espaço
capaz de colaborar para o exercício da livre expressão. Os resultados das análises obtidas
mostraram que os estudantes, apesar de serem alvos de um aprendizado acrítico e passivo,
possuem grande capacidade de expressão e potencial criativo quando são instigados a falar
sobre algo através das linguagens midiáticas, bem como capacidade para sintetizar o
próprio aprendizado. A pesquisa também mostrou as dificuldades estruturais de aplicação e
de realização de atividades desse tipo fora do contexto diário da escola.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 76
NOS DIAS DE HOJE, VALE-TUDO!
FÁBIO DE LIMA ALVAREZ [email protected]
Graduado - Comunicação Social: Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: MMA (Mixed Martial Arts); Vale-Tudo; Esportes; Mito; Espetáculo. O presente trabalho busca lançar algumas bases para a compreensão do MMA (Mixed
Martial Arts), ou Artes Marciais Mistas (também conhecido como Vale-Tudo) como
fenômeno midiático em plena expansão. A partir de um conceitual que busca definir o
esporte como produto socialmente construído, refrator e refratário do espírito de uma época,
versaremos sobre como o MMA se insere em nossa atual sociedade, evidenciando valores
inerentes a uma sociedade de consumo e do espetáculo. Além disso, traçando paralelos
entre o esporte e a guerra, buscaremos iniciar uma discussão sobre os valores encenados
no octágono, a arena moderna, palco das violentas batalhas corpo-a-corpo, evidenciando
suas inúmeras relações subjacentes à própria atividade em si. Espírito guerreiro,
empreendedorismo, força, inteligência e altivez são atributos buscados e largamente
empregados ao se tratar dos praticantes das artes marciais mistas, propiciando um terreno
fértil para o surgimento de figuras passíveis de se tornarem mitos. Esportes de combate
sempre existiram na história humana, nas mais diversas civilizações – podemos citar como
exemplos o pankration, o boxe, o wrestling, dentre outros – onde o espírito agonístico e
vertiginoso sempre cativaram o público de forma bastante incisiva. Podemos, então, falar
que o MMA é algo novo ou uma atividade corriqueira, inerente à natureza humana? Como a
“pancadaria” televisionada arrebata audiências em todo o mundo e alavanca uma indústria
bilionária? Marketing puro ou reflexo de um zeitgeist? Metodologicamente, nos apoiaremos
em autores que discutem o esporte, como Johan Huizinga, Roger Caillois e T.J. Cornell, e
em autores que discutem a questão do mito, como Mircea Eliade, Joseph Campbell e
Roland Barthes. A pesquisa é exploratória e pode ter um tom ensaístico, não por capricho,
mas sim devido à escassez de bibliografia específica sobre o tema MMA.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 77
NOTAS PARA UMA HISTÓRIA DA SEMIOLOGIA
JEAN CRISTTUS PORTELA [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC Palavras-chave: Semiologia; Ferdinand de Saussure; Historiografia da Linguística. As ideias de Saussure suscitam ainda – seja como complemento seja como contraponto –
vivo interesse nos dias de hoje por parte da comunidade de estudiosos. Além disso – e mais
importante, segundo o ponto de vista aqui adotado, que prioriza o ensino – o pensamento
saussuriano encontra-se disseminado de forma generalizada no ensino de graduação e pós-
graduação em humanidades de universidades de todo o mundo. Na formação de
comunicadores, professores de língua materna e estrangeira, antropólogos, sociólogos,
psicólogos, as ideias saussurianas são introduzidas e debatidas. Na quase totalidade de
disciplinas de graduação e pós-graduação das áreas de Linguística, Análise do Discurso e
Teorias da Comunicação, a partir do momento em que se trata da natureza da significação e
da comunicação humanas, não se pode ignorar a reflexão sobre a língua e a linguagem
empreendida por Saussure, que resultou na virada semiológica de que trata este trabalho.
Entre 1964 e 1974, foram publicados quatro manuais de Semiologia em língua francesa por
grandes expoentes da Linguística da época: R. Barthes, G. Mounin, P. Guiraud e Jeanne
Martinet. Essa década, responsável pela virada semiológica francesa, marcou a história dos
estudos semióticos e semiológicos de forma permanente. No pioneiro Éléments de
Sémiologie (1964), R. Barthes deu forma ao projeto iniciado em seu Mitologias (1957), que
buscava na leitura hjelmsleviana do legado saussuriano os conceitos que embasariam a
Semiologia enquanto método. Em Introduction à la Sémiologie (1970), de G. Mounin, o
campo semiológico encontra-se largamente ampliado, em franca extrapolação das bases
saussurianas, processo que culminará na publicação do acessível La Sémiologie (1971), de
P. Guiraud, como um livro de bolso na coleção “Que-sais-je?” – cujo equivalente no Brasil foi
a coleção Primeiros Passos, da extinta editora Brasiliense – e na edição de Clefs pour la
Sémiologie (1973), de J. Martinet, publicado no catálogo da Éditions Seghers, na coleção
“Clefs pour...”. Essas obras, que serão objeto de um estudo temático e estrutural neste
trabalho, têm em comum o fato de serem introduções às “semiologias saussurianas” – para
usar o termo cunhado por R. Engler – e o mérito de terem esboçado o programa
semiológico e, posteriormente, semiótico da segunda metade do século XX, por meio de sua
preocupação com as diversas linguagens e os métodos que nos dão acesso a sua
significação.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 78
NOVAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NA DIOCESE DE BAURU E PROPOSTA DO DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: O CASO DA REVISTA CONVERSA
PAULO VITOR GIRALDI PIRES [email protected]
Graduado - Comunicação Social: Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Revista Conversa; Igreja Católica; Diocese de Bauru; Comunicação Religiosa. A comunicação religiosa tem sido importante para a Igreja Católica Apostólica Romana
prosseguir com seu objetivo de levar a palavra de Cristo aos seus fiéis. Como Instituição
milenar e instância produtora de sentidos, num universo simbólico cada vez mais
competitivo e no mundo cada vez mais pluralista e secularizado, a Instituição necessita de
uma comunicação mais eficiente, mais presente, que nasça no interior da comunidade e que
contribua para que esta cumpra seu papel social e sua razão de ser, na promoção do
diálogo interreligioso. Este trabalho tem por objetivo apresentar os primeiros resultados do
novo produto de comunicação desenvolvido para a Diocese de Bauru, lançado em outubro
de 2010. A revista informativa denominada “Conversa”, com edições bimestrais, foi
desenvolvida ao longo de dois anos de projeto, em parceria com a Pastoral da Comunicação
Diocesana e o bispado, com o objetivo de agregar a comunicação já existente entre a
diocese e a comunidade local. O objetivo inicial da criação da Conversa foi contribuir para
uma melhoria e ampliação da comunicação religiosa, na tentativa do diálogo interreligioso.
Para tanto, busca a colaboração de padres, leigos, professores universitários, profissionais
de diferentes áreas e representantes da sociedade, para produção dos conteúdos, como
proposta de ampliar o diálogo interno e externo da Igreja, qualificando ainda mais o
processo de comunicação atual da diocese. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica, principalmente no que se refere à fundamentação acerca das práticas
jornalísticas e da comunicação religiosa. Além da pesquisa documental que buscou nos
principais documentos publicados pela Igreja Católica, analisar como a comunicação vem
sendo pensada e executada. Especificamente no que diz respeito ao conteúdo e formato da
revista, foram utilizados critérios propostos pela prática jornalística e com base em
Instruções Pastorais e Decretos da Igreja Católica (Communio et Progressio e Inter Mirifica).
Como resultado desta pesquisa, apresentou-se a Revista Conversa, como um desafio
lançado para a Igreja Católica de Bauru e para os que desejam fazer comunicação
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 79
diferenciada, evangelizadora e, sobretudo, profissional. A execução de novos produtos de
comunicação social na Igreja, e especificamente na Diocese de Bauru nos meios sociais,
tão defendida pela Igreja exige, no entanto, a competência profissional a exemplo deste
projeto, abertura a temáticas e fontes mais ousadas e o exercício do diálogo mais efetivo,
ainda que isso implique num certo confronto.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 80
NOVAS TECNOLOGIAS E A WEB 2.0: MEDIADORAS DA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE INCLUSÃO DIGITAL?
TATIANA DE CARVALHO DUARTE [email protected]
Graduada em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Novas tecnologias; Web 2.0; Inclusão digital; Políticas públicas. Vivemos um período técnico-científico que se distingue dos anteriores pela profunda
interação da ciência e da técnica a fim de ampliar o alcance comercial do capitalismo. As
novas tecnologias da comunicação e da informação (NTCI`s) e a WEB 2.0 surgem nesse
contexto. Porém, em meio ao processo de inclusão digital, o Brasil depara-se em um
crescente paradoxo: simultaneamente ao aparecimento de novas formas de participação e
promoção, o país continua a apresentar altos índices de exclusão digital. A multiplicidade
imediata de culturas constitui fator determinante a medida que deflagra-se com a alta
variabilidade de povos, relações socioeconômicas e faixas etárias. Fatores que influenciam
diretamente nas formas de absorção de conteúdo e informação pelas pessoas. Assim, as
iniciativas públicas, para garantir o acesso às tecnologias, demandam a utilização das mais
diversas mídias que divulguem o processo de inclusão. Na visão de que, com a evolução da
sociedade, a forma de obtenção de conteúdo também evolui, temos a demanda de novas
formas de publicidade adequadas e que atinjam ao público de forma mais efetiva. As novas
tecnologias surgem, portanto para favorecer a tendência da difusão. E o conteúdo
comunicacional se torna sujeito a esse contexto, por meio da digitalização e da
comunicação em redes (mediada ou não por computadores) para a captação, transmissão e
distribuição das informações. Assim, através de revisão bibliográfica, da análise de redes
sociais e da aplicação de questionários on-line, levantamos a discussão sobre qual seria a
melhor forma de divulgar as políticas públicas de inclusão digital. A proposta desse artigo é,
portanto, analisar se o advento da web 2.0 seria a abertura para que a inclusão digital fosse
difundida. Além de demonstrar como as próprias novas tecnologias podem ser mediadoras
desse processo de inclusão digital em torno das mais variadas identidades populacionais
brasileiras.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 81
NÚCLEO ARTÍSTICO – RÁDIO UNESP VIRTUAL
PAULA CRISTINA DOS REIS COSTA [email protected]
Graduanda - Comunicação Social – Radialismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Produção artística; Web-rádio; Comunicação. O Núcleo de Produção artística da Rádio UNESP Virtual existe desde 2004. O projeto
articula as disciplinas teórico-práticas do curso de Radialismo. A produção contínua dos
programas permite que os alunos participantes exercitem suas práticas profissionais e
conheçam mais sobre a produção de um programa radiofônico em todos os seus aspectos
dentro de uma emissora – desde a organização de reuniões até a veiculação do produto
final, passando por pesquisa e produção de roteiro. Cada programa é acompanhado e
analisado semanalmente pelos diretores do núcleo, para assegurar a qualidade da
programação e o aprendizado correto para os alunos envolvidos na produção. Atualmente o
Núcleo Artístico da Web-Rádio UNESP Virtual possui 17 programas. O núcleo abrange
projetos diversificados de cunho experimental como nossa rádio-novela "Murder", popular
como o programa semanal de fofoca “Venenosa no Ar”, de variedades onde se abordam
associados a musica temas como filmes, novelas, quadrinhos e séries, como é o caso, por
exemplo, do "Filmusicário", "Momento Nerd", "Vale a pena ouvir de novo", programas
culturais como "Passageiro Vip", programas que exploram o dia a dia na universidade como
o "Viva La Faac", e por fim contamos com os clássicos programas que falam sobre música,
das mais criativas e diversas maneiras, como o "Diacronia Musical", "Obituário", "On the
rock". Toda essa programação, rica em conteúdo e dinamismo, agrega cerca de sete horas
de programação inédita semanal, atividade multidisciplinar que envolve mais de sessenta
alunos dos cursos de Radialismo, Jornalismo e Relações Públicas. A criação de novos
meios e formas de comunicação em um mercado alimentado pela internet e pela
digitalização dos veículos e tecnologias de informação colocam novas exigências para
formação e exercício profissional de jornalistas, radialistas e relações públicas. Desenvolver
projetos de extensão articulados ao ensino e pesquisa é fundamental para agregar aos
Cursos da FAAC/UNESP novos conhecimentos, métodos, parâmetros profissionais e novas
possibilidades tecnológicas e comunicativas.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 82
NÚCLEO DE JORNALISMO DA RÁDIO UNESP VIRTUAL: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA
MIRELE CAROLINA RIBEIRO CORRÊA [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Produção Jornalística; Webrádio; Redação multimídia; Extensão. O Núcleo de Jornalismo da web-rádio “Unesp Virtual” conta com cerca de 100 alunos e
apresenta 16 programas, abrangendo vários formatos de produção radiofônica, como rádio
jornal, documentário, revista radiofônica, boletim e debate; e também diferentes abordagens:
política, economia, esportes, cultura, cotidiano, saúde, cinema, moda e outros. O atual
desafio do projeto é atender a demanda do mercado de trabalho quanto ao tipo de
profissional que atende às redações de Rádio em um contexto de divergências midiáticas,
para atingi-lo o Núcleo de Jornalismo trabalha não só com a produção radiofônica,
disponível em www.radiovirtual.unesp.br, mas também com a produção multimidiática a
partir do portal www.mundodigital.unesp.br/jornal que reúne reportagens produzidas e
disponíveis nos blogs, instrumento que agrega todos os programas. Os projetos de
extensão, de uma maneira geral, permitem aos alunos a prática da profissão de maneira a
acrescentar conhecimento, no caso específico do curso de Comunicação Social: Jornalismo;
a importância da extensão se dá na necessidade do aluno não aprender apenas o que é ser
jornalista, mas também o que é ser profissional, trabalhando em equipe e enfrentando os
desafios do dia a dia. Acreditamos que o Núcleo de Jornalismo da Rádio Unesp Virtual
cumpre seu papel ao propiciar aos alunos um ensino multidisciplinar, aliando as técnicas do
jornalismo às noções básicas de operação de áudio, manipulação de softwares de edição e
redação multimídia, permitindo a interação entre os alunos dos cursos de comunicação da
faculdade. Além disso, o participante do Núcleo de Jornalismo utiliza o projeto como
laboratório para aperfeiçoar as técnicas radiofônicas convencionais, entrar em contato com
as novas técnicas do jornalismo em web-rádio e ter experiência na produção jornalística.
Trabalhando em uma via de mão dupla (equipes-ouvintes) o desafio diário, e também
resultado já obtido pelo projeto, é alcançar às expectativas e ao mesmo tempo buscar a
maior qualidade de nosso trabalho, buscando ferramentas atuais, como a utilização da
internet de maneira a aperfeiçoar nosso trabalho, permitir não só o aprendizado e prática da
técnica redacional para rádio, mas também para a web e também buscando a integração
dos meios.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 83
O CINEMA EXPERIMENTAL DE MATTHIAS MÜLLER CRISTIANE SABINO VIANNA DE OLIVEIRA
[email protected] Graduada em Comunicação Social -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Cinema; Experimental; Alemão; Müller. O objetivo da pesquisa é a análise dos filmes do realizador alemão Matthias Müller.Cinema
Experimental é um termo que engloba uma série de gêneros. Podemos dizer que a
produção do que se classifica como experimental, inicia-se com as vanguardas artísticas do
século XX. Nasce como fruto das artes plásticas, ou seja, de artistas que utilizavam o filme
como suporte para suas criações. Assim, é comum encontrarmos os chamados meta-filmes,
ou seja, filmes em que a preocupação está na exploração do próprio celulóide. A Alemanha
é um país que se destaca nesse movimento e um de seus principais representantes é
Matthias Müller, diretor que utiliza muito a técnica do found footage, isto é, o trabalho com
materias encontrados, pedaços de películas que são usados para compor suas obras.
Artista de grande sensibilidade, despontou nos anos 90 e, desde então, vem acumulando
prêmios em festivais e apresenta uma produção que merece ser divulgada e estudada. Essa
pesquisa pretende analisar sua obra, considerando suas influências, inspirações, citações, a
construção de seu discurso cinematográfico, revelando sua poiesis, ao mesmo tempo em
que aborda o filme como objeto transacional de jogo. Para tal, o embasamento teórico
abrange aspectos estruturais, semióticos, análise do discurso, teoria dos jogos e análise
transacional.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 84
O FUTEBOL COMO EXPRESSÃO DOS DIREITOS HUMANOS
LORIZA LACERDA DE ALMEIDA [email protected]
Professora Doutora -Unesp -FAAC Palavras-chave: Socialização; Juventude; Futebol. Para compreender melhor o significado do futebol no Brasil, é necessário buscar suas
raízes. Em uma breve imersão na história, verificamos que os grandes espetáculos e a fama
sempre atraíram a humanidade, especialmente porque explicitam força e coragem. Por volta
de 3000 A.C., há relatos de uma modalidade parecida com futebol entre militares chineses:
depois das guerras, como modo de celebração, eles formavam equipes para chutar cabeças
decepadas de soldados inimigos. No Japão, um pouco mais tarde, surge o jogo com oito
jogadores para cada lado, usando redes feitas de fibra de bambu. Já no século I A.C. foi a
vez dos gregos de Esparta. A violência era a regra também na idade média, conta a história
que se juntavam 27 militares de cada lado e eram permitidos socos, pontapés e rasteiras. A
disputa em arenas públicas cativa a atenção: a história do Coliseu é ilustrativa, Durante
séculos, a grande a movimentação pelas lutas e embates que ali se vivenciou tomava a
competitividade e a coragem como os motes do sucesso. Nesta perspectiva, as atividades
que movimentam as grandes massas são aquelas que, em sua química interna possuem
pitadas de suor, sangue e uma certa feracidade, que estimula a competição, criando a
possibilidade de demonstrar forças e competências individuais. Na Inglaterra, mãe do
futebol, o rei Eduardo II, assustado com a agressividade, proibiu a brincadeira em 1314, que
renasceria entre os nobres, agora sem pancadaria – era o início de sua civilização. Efeitos
no Brasil: O regime militar brasileiro usou o futebol, nos anos 70/80, manobrando a
interpretação da realidade daquele período, uma das estratégias utilizadas foi usar o futebol
como esporte de massa especialmente na copa de 70, construindo referências coletivas, de
modo que parecesse haver na população um eixo articulado de felicidade e
desenvolvimento do país. Atualmente a discussão é de outra natureza, muitos veem no
futebol e nas pessoas que o praticam com sucesso, uma referência de comportamento e de
vida. O processo de socialização humana possui muitas entradas e interfaces, de forma que
os valores que são apreendidos e inculcados durante nosso desenvolvimento, provêm de
fontes nem sempre claramente conhecidas. Podemos, de forma genérica, apontar para a
televisão e seus astros, para o cinema e seus personagens, para os grandes da história que
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 85
estão nos livros, mas certamente os ídolos do esporte de massas, hábeis e sorridentes, que
por suposto se deram bem e ficaram ricos, invadem a fantasia e modelam comportamentos,
conforme aponta Roberto da Matta. Estes ícones de sucesso, tão badalados pela mídia em
geral e pela TV em particular podem se transformar em referências, sendo homens e
mulheres de boa índole e detentores de valores morais e éticos, podem contribuir para
modelar um desenvolvimento sócio-cultural rico e qualitativo. Há muitas figuras públicas do
futebol que inspiram a garotada a buscar mais disciplina e, aguerridos saem em busca do
sonho de ser feliz e famoso. Assim, o futebol pode se transformar em uma manifestação de
lazer e sociabilidade, contribuindo na defesa dos direitos humanos, favorecendo a ascensão
social e a superação do racismo.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 86
O FUTEBOL FEMININO FRENTE AO DISCURSO MACHISTA
MATHEUS SEIJI BAZAGLIA KURODA [email protected]
Graduando - Letras - Universidade do Sagrado Coração - Bauru
Palavras-chave: Futebol; Comunicação; Discurso; Sociedade; Machismo. Este trabalho, desenvolvido por meio de pesquisas bibliográfica, pretende investigar o
discurso midiático em relação ao futebol feminino, exacerbando a questão cultural, histórico-
social e ideológico na construção do preconceito sexual. Frente a uma realidade
eminentemente machista, percebe-se que, por mais que a sociedade pareça igualitária, a
mulher continua ocupando uma posição submissa. No futebol não é diferente. Como afirma
Costa (2005), o esporte tem uma capacidade impressionante de sublinhar os valores da
sociedade e até a lógica daqueles que governam, podendo chegar a uma teoria social,
alcançando a sociologia. Logo, considera-se o futebol como um meio sócio-cultural.
Justamente por refletir a vida e ser mimese da realidade, foi criado, de modo imediato, pelos
discursos midiáticos, em todos os canais de comunicação, o lema “Futebol é coisa para
macho”, ou seja, a mulher é considerada inapta a praticar tal esporte. Como se não
bastasse, com a comunicação de massa e promulgação dessa nova cultura massificada,
foram criados, embora fiquem às escondidas, outros paradigmas ainda mais complicados.
Ao analisar um corpus de locutores e de comentaristas esportivos, percebe-se que, por meio
de determinados termos e expressões, a mulher é vista como um objeto da sociedade, da
qual deve subserviência eterna ao homem. Assim, no futebol feminino, um bom jogo não é
aquele no qual as jogadoras se destacam pela técnica e por suas habilidades com os pés,
mas sim, aquele em que as atletas têm boa aparência e um bom porte físico, de acordo com
as tendências atuais. Desse modo, elas não são lembradas pelas suas conquistas, mas por
seus trajes, pelo jeito que amarram o cabelo e pela maneira como se vestem.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 87
O FUTEBOL NO REGIME MILITAR BRASILEIRO (1964-1985): UMA ANÁLISE
BIBLIOGRÁFICA INICIAL
RAFAEL NOGUEIRA RODRIGUES [email protected]
Licenciatura em Educação Física - Unesp - Faculdade de Ciências
JEAN FABIANO MARCATO LAMANA Licenciatura em Educação Física -
Unesp - Faculdade de Ciências
PEDRO LUCAS DOS SANTOS PÊGO
Licenciatura em Educação Física - Unesp - Faculdade de Ciências
Palavras-chave: Futebol; Regime militar; Bibliografia. Nos anos do Regime Militar no Brasil (1964-1985), segundo literatura estudada, o futebol foi
usado como meio político pelo Estado naqueles anos, enfatizando o uso deste esporte como
propaganda positiva para o seu governo, alienando a população e afastando-a de questões
políticas para a contestação do regime. Nesse sentido, objetivou-se, na presente pesquisa,
analisar a bibliografia referente ao período citado, especialmente no que concerne ao
contexto político, social e cultural do futebol nos anos da Ditadura Militar. Trata-se de
pesquisa de natureza qualitativa, em que se realizou pesquisa e análise bibliográfica de
livros, artigos, documentários e revistas referentes à ditadura militar, o futebol no contexto
sócio político nesse período histórico com o intuito de colocar o pesquisador em contato com
a produção da literatura referente à temática em questão. Conforme a literatura analisada,
constatou-se que o Futebol, foi utilizado pelas lideranças políticas como forma de alienar a
população quanto a questões políticas do momento e que o futebol foi utilizado como
Propagando Nacionalista com o objetivo de divulgar a nação. O então presidente Médici
apresentado como “homem do povo” se dizia “apaixonado por futebol” daí surgem bordões
como “Ninguém segura esse pais” ou “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Também verificou-se que o
Futebol neste período foi utilizado como uma política semelhante à utilizada na Roma antiga
denominada “Pão e Circo”, enquanto a população era entretida pelo belo futebol
apresentado pela Seleção liderada por Pelé e companhia, as manobras políticas ficavam
camufladas diante do futebol-arte, campeão do Mundo apresentado pela seleção de Zagallo.
Conclui-se, conforme os autores estudados, que o Futebol foi utilizado como meio de
propaganda política com o objetivo de desviar as atenções de um conturbado momento para
o país para dentro das quatro linhas, e aproveitar o esplendoroso futebol apresentado pela
seleção canarinho para realizar uma propaganda nacionalista, pró governamentalista e pró-
ditadorial.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 88
O INÍCIO DA TELENOVELA NO BRASIL
RAFAELA CALADO BORTOLETTO [email protected]
Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Audiovisual; Telenovela; Brasil. A telenovela surge no Brasil como uma herança do rádio, no entanto, diferente do que
acontece em outros países latino-americanos, que investem no melodrama, ela tem seu
foco inicial nas adaptações de obras estrangeiras. Isso porque, a princípio, nos primórdios
da televisão brasileira, o teleteatro era o principal produto, por conta de uma elitização desse
meio de comunicação, e pelo desejo de alguns profissionais de aproximá-lo do Cinema. A
telenovela firma-se como produto audiovisual nas décadas de 60 e 70, em conseqüência da
popularização dos aparelhos televisores. Junto a isso, há uma melhoria no sistema de
comunicações e surge também o videotape. Na década de 60 surge a TV Excelsior, que
revolucionou a televisão no âmbito empresarial, além de introduzir a telenovela diária no
país, reestruturando a forma como esse formato era assistido. Com a telenovela diária, e a
entrada de patrocínio das grandes multinacionais como Colgate-Palmolive, a telenovela
passa por um período de popularização e conquista de audiência, ultrapassando o teleteatro
e firmando-se como principal produto dessa nova indústria. A telenovela ao consolidar-se no
mercado, muda a sua orientação, passa a ser movida pela esfera do melodrama, que faz
sucesso em outros países latinos, no entanto, no caso brasileiro, ela se esforça para manter
uma identidade nacional, o que pode ser visto nas falas, no figurino e cenário. Durantes
anos, ela passou por um período de experimentação até chegar hoje no padrão
estabelecido pela Rede Globo, duração de 6 a 9 meses e três faixas de horário fixas: 18h,
19h e 20h (21h). É importante o reconhecimento desse produto audiovisual na indústria
televisiva brasileira, fato evidenciado na pesquisa dos estudos de autores como Renato
Ortiz, Silvia Helena Simões Borelli e José Mário Ortiz Ramos. Nessa pesquisa
comprovamos a importância desse produto na nossa televisão e como ele se estruturou ao
longo dos anos, bem como quais foram as telenovelas divisoras de água como Beto
Rockefeller, Irmãos Coragem e Pantanal.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 89
O JEITINHO BRASILEIRO: FUTEBOL E ECONOMIA CRIATIVA COMO FERRAMENTAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
JULIANA SANTOS [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
VITOR SOARES TORRES [email protected]
Graduando - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO VALIM
Graduando - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Economia; Criatividade; Futebol; Desenvolvimento social. O que mais encanta o mundo no futebol brasileiro é sua ginga, sua criatividade e
capacidade de inovação. O “jeitinho brasileiro” de jogar é responsável pela criação de
verdadeiros mitos no futebol e vai muito além dos estádios. A capacidade de inovação do
povo brasileiro aliada à força cultural do futebol no Brasil tem potencial de criar uma força
motriz para geração de verdadeiros polos econômicos e de geração e qualidade de vida em
comunidades onde, na maioria das vezes, os investimentos em educação e cultura são
nulos. Assim, discutiremos como o “jeitinho brasileiro”, por meio das teorias da economia
criativa, pode reformular a estrutura dos centros urbanos degradados, utilizando o conceito
de cidades criativas, durante os eventos esportivos sediados no Brasil nos próximos anos
(com foco na Copa de 2014). Analisaremos dados relacionados à economia criativa e
levantamentos em relação ao futebol nos últimos anos para discutir possibilidades de
inserção social e melhora de qualidade de vida. Utilizaremos como base a compilação de
artigos feitos pelo Itaú Cultural (organizado por REIS, Ana Carla Fonseca, 2008) e os textos
feitos por Edna dos Santos-Duisenberg. Análises feitas pelo UNCTAD (Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) e levantamentos feitos seguindo as
teorias britânicas de economia criativa e suas repercussões ao longo da última década entre
teóricos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 90
O JOGO ENTRE LUZ E SOMBRA NA PRODUÇÃO DE SENTIDO DE FOTOGRAFIAS DA MAGNUM IN MOTION
ERICA CRISTINA DE SOUZA FRANZON [email protected]
Mestre em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Fotojornalismo; Luz e sombra; Magnum In Motion; Produção de sentido. O interesse deste estudo é analisar de que forma a presença e atuação de luz e sombra
(áreas iluminadas e áreas em penumbra ou totalmente escuras) nas fotografias jornalísticas
configuram-se como eixos de produção de sentido capazes de resgatar simbologias
arcaicas e, ao mesmo tempo, responder a determinadas estratégias de composição de
imagens. Dessa forma, procurou-se descrever o papel da imagem, suas intencionalidades,
as possibilidades de leitura e as estratégias discursivas das fotografias da Agência Magnum
(www.magnuminmotion.com), na seção In Motion, na série Access to Life (2008), realizada
por oito fotojornalistas com 30 soropositivos em nove países, quatro meses antes e depois
de iniciarem o tratamento com o antirretroviral para a Aids.
Este trabalho reúne imagens com intensa presença de luz e sombra, resultando em
importantes instrumentos de significação, o que contempla o aporte teórico ancorado na
Semiótica da Cultura e Teoria da Mídia, cujos estudos podem servir para investigar os
fenômenos produzidos pela fotografia, suas intencionalidades, estratégias discursivas, por
meio da análise da superfície da imagem, com o intuito de descobrir estruturas de sentido
mais profundo. As ideias aqui articuladas são resultantes da leitura de teóricos como Aby
Walburg, Hans Belting, Dietmar Kamper, Ivan Bystrina, Harry Pross, Vilém Flusser e de
Norval Baitello Júnior. Eles entendem a imagem como ponto fundamental da cultura
humana, uma vez que é a partir da produção desta cultura que os homens se diferem dos
outros animais por meio da imaginação e criação de textos culturais.
A proposta é realizar uma pesquisa qualitativa, um estudo descritivo-dedutivo que, na
primeira fase de análise, pretende investigar os aspectos de luz e sombra. Neste sentido,
mais do que fazer uma análise geral, o que se pretende é descobrir novas relações entre os
elementos constitutivos da fotografia, compreendendo melhor as intenções vinculadas, as
estratégias inerentes ao texto imagético, evidenciando a edição e a produção de sentido
como fruto da própria estrutura da imagem e não simplesmente de técnicas de composição.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 91
O MEIO REVISTA COMO FERRAMENTA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
BRUNA SILVESTRE INNOCENTI GIORGI [email protected]
Graduanda - Comunicação Social – Jornalismo - Unesp - FAAC
LUCILENE DOS SANTOS GONZALES [email protected]
Professora Doutora -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Comunicação Institucional; Propaganda institucional; Revista institucional; Unesp; Jornalismo de revista. Além de existir pouco material teórico sobre revista institucional, o objetivo maior desta
pesquisa é levar informações, conhecimentos e serviços gerados pela Unesp à população
mais carente de Bauru. A pesquisa partiu do princípio de fortalecer a imagem da Unesp
como instituição pública, ampliando a atuação da Agência PropagAção e do Minuto
Consciente – projetos experimentais que existem desde 2007 na FAAC. A pesquisa de
Iniciação Científica financiada pela Fapesp desde setembro de 2010, é pautada pela
Metodologia exploratória, ou seja, há primeiro um estudo teórico do assunto para depois ser
colocado na prática a fomentação de uma revista institucional da Agência PropagAção. O
meio impresso foi pensado como estratégia da ampliação da Comunicação Organizacional
e Institucional do Minuto Consciente e da Agência PropagAção. Para isso, é necessário
refletirmos sobre a Comunicação Organizacional, dando enfâse à Comunicação Institucional
e Propaganda Institucional. Desse modo, os autores: GRACIOSO, KUNSCH, REGO e
PINHO formam a base teórica da presente pesquisa. Como está em fase de conclusão, o
resultado esperado da formulação da revista é: aproximar a comunidade da universidade e,
assim, construir uma sociedade mais positiva e atuante em seus direitos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 92
O MITO DA CAVERNA E AS MARCAS NA LITERATURA: UM PARALELO ENTRE A ODISSÉIA E OS LUSÍADAS
MARIA ANGÉLICA SEABRA RODRIGUES MARTINS [email protected]
Professora Doutora - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Mito da caverna; Literatura comparada; Herói clássico; Renascimento. A literatura é pródiga em abordar o afastamento do indivíduo de seu local de origem,
motivando-o a experiências transformadoras que lhe permitem retornar renovado, para que
possa transmitir suas experiências aos conterrâneos. O mito da caverna platônico surge
tanto nos clássicos da Antiguidade, quanto em temáticas mais modernas, seja na literatura
ou no cinema. Neste artigo, será feita uma abordagem dessa alegoria, analisando, com
base no mito da caverna de Platão, na literatura comparada e nas correntes estruturalistas
que estudaram o dialogismo e a intertextualidade, como foram retomados elementos
marcantes de textos conhecidos, aos quais se conferiu novo efeito de sentido, na recriação
de novos motivos. A partir do mito platônico será analisado o afastamento de Ulisses em A
Odisséia de Homero e a partida dos portugueses liderados por Vasco da Gama, em Os
Lusíadas, de Camões, e seu retorno ao local de origem, bem como os processos por que
passaram os heróis em ambas as epopéias e suas reações finais face aos novos contextos.
O presente trabalho é resultado de estudos desenvolvidos durante os anos de 2009-2010 no
GEPLLE (Grupo de Estudos em Linguística, Literatura e Educação), em que foi enfocado o
estudo do mito em suas diferentes vertentes, desde o formalismo russo, com a Morfologia
do Conto Maravilhoso e as funções dos personagens desenvolvidas por Vladimir Propp, até
os estudos estruturalistas de Lévi-Strauss e, modernamente, com o enfoque dado por
Campbell e Volker para a construção do herói. Neste trabalho procura-se enfocar, além
dessas questões, também o dialogismo e a intertextualidade propostos por Bakhtin e por
Julia Kristeva, na construção do texto-discurso literário.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 93
O PÚBLICO NA TELEVISÃO : DA PLATÉIA AO REALITY SHOW
DÉBORA DOS SANTOS DE GRANDE [email protected]
Graduanda em Comunicação Social - Radialismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Televisão; Público; Interatividade. Essa pesquisa foi feita para mostrar a evolução da participação e influência do público sobre
o conteúdo da televisão brasileira. A televisão chegou ao Brasil no ano de 1950, os
profissionais que trabalhavam nela eram oriundos tanto do teatro consagrado quanto do
rádio. Durante sua primeira década, a televisão era elitizada e o seu conteúdo mostrava
isso: eram transmitidas óperas, cinemas e teleteatro, feitos pelos artistas do teatro e do
cinema consagrado nacional. Na década seguinte, o aparelho televisivo começa a se
popularizar no país, a partir daí o publico começou a interagir com a programação por meio
de cartas e ligações, suas histórias passam a ser retratadas nas telenovelas que vão
ganhando a simpatia da audiência e, nessa década, ganham destaque os festivais de
música que levavam multidões para assistir os shows e os programas de auditórios. Nesse
momento, o público participava como platéia ou competidor nas gincanas dos programas.
Nos anos 70, pouca coisa mudou em relação à participação do público; já nos anos 80, com
o final da censura, começa o famoso “jornalismo cão”, mostrando de forma sensacionalista
as histórias populares na televisão. Nos anos 90, a novidade em programas com
participação do público é o programa Você Decide, no qual o público decidia o final da
história apresentada, uma forma de interatividade nova do público com a televisão. Mas o
auge da participação do público na televisão ocorre no começo dos anos 2000 com os
Reality Shows, no caso do Brasil, o mais popular é o Big Brother Brasil da Rede Globo.
Nesse formato, o público rompe a barreira entre personagens e telespectadores: pessoas
comuns são os personagens do jogo e decidem o fim do jogo, apesar da emissora ainda
direcionar essas decisões na edição e em supostas fraudes. Essa é uma pesquisa
bibliografia e videográfica; utilizamos os autores que retratam a historia da televisão
brasileira como Borelli, Ortiz e Machado e o autor brasileiro sobre interatividade Alex Primo.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 94
O RELAÇÕES PÚBLICAS ENTRE A IRONIA DAS COMÉDIAS E A REALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES
CLÓVIS APARECIDO MOSCARDINI JÚNIOR
[email protected] Graduando - Comunicação Social – Jornalismo - Unesp - FAAC
CHRISTIANE DELMONDES VERSUTI
[email protected] Graduanda - Comunicação Social – Jornalismo Unesp - FAAC
Palavras-chave: Humor; Ironia; Semiótica; Relações públicas; Storytelling. Este artigo busca apresentar uma visão da ironia que está presente na comédia e no humor,
desde as suas estruturações até os seus mecanismos de funcionamento, notadamente as
homonímias e as bissociações, bem como o modo pela qual podemos entender a ironia
como uma ferramenta de caráter suavizador de nossos temores existenciais e capacidade
de expressar alegrias ou mesmo demonstrar nossa agressividade. O humor ainda nos
permite entender a realidade das organizações, notadamente em seu aspecto burocrático e
modo com o qual vem dificultando as novas realizações empreendedoras. Para direcionar a
discussão, foi analisado o episódio “burocracia” da série humorística “Junto e Misturado”
veiculada pela Rede Globo. Tal episódio foi escolinho pelo fato de seu gênero ser uma
crônica do cotidiano e retratar uma repartição pública, mesmo que de modo caricaturizado,
passível de problemas e dilemas que afetam diretamente o desenvolvimento das
organizações. Entende-se que um dos mecanismos mais básicos e complexos do humor
está centrado na bissociação, ou seja, utiliza-se destes recursos nos textos humorísticos a
fim de ativar e permitir dois mundos textuais. O texto torna-se então compatível com dois
sentidos, e certamente trabalhará basicamente com mais de uma possibilidade de leitura, de
seqüências lingüísticas e buscará sempre surpreender o seu receptor com as possibilidades
não percebidas, pois o condicionamento discursivo que privilegiam para certos textos e
contextos, uma situação imediata de comunicação e contexto, uma determinada leitura.
Neste contexto, tomando a semiótica como instrumento de análise, é possível envolver o
relações-públicas no enfrentamento deste modo burocrático para a realização da
comunicação, haja vista todo o processo de significação aliado neste caso, trazendo à
discussão as reflexões propostas por Charles S. Peirce.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 95
O VALOR DA NOSSA CAMISA: PRÁTICAS DE CONSUMO E IDENTIFICAÇÃO COLETIVA ENTRE MEMBROS DE UMA TORCIDA ORGANIZADA
GABRIEL MOREIRA MONTEIRO BOCCHI [email protected]
Graduando - Ciências Sociais - Unesp - Marilia
ANTÔNIO MENDES DA COSTA BRAGA Graduando - Ciências Sociais - Unesp - Marilia -
Palavras-chave: Consumo; Futebol; Identificação; Marketing; Rituais; Torcedores organizados. A presente pesquisa vem sendo realizada no Grêmio Escola de Samba Estopim da Fiel
Torcida, vinculado ao Sport Club Corinthians Paulista, localizado no município de Diadema,
SP. A obtenção dos dados se dá a partir de técnicas qualitativas, como observação
participante (na sede da torcida e no acompanhamento em dias de jogos do Corinthians) e
entrevistas (abertas e semi-abertas) com membros da torcida. Tais entrevistas são
realizadas partindo-se de divisão desta população em torcedores membros da diretoria,
demais torcedores associados ao Estopim, e torcedores do Corinthians não associados à
torcida consumindo produtos desta. Um dos objetivos é analisar a presença de aspectos
rituais nos processos de produção, publicidade e comercialização dos produtos vendidos na
sede da torcida. A comercialização destes produtos se desenvolve por meio de ações de
publicidade e marketing, realizadas pelos próprios membros da torcida, entre demais
associados e não associados, no cotidiano da mesma. Compreende-se aqui que tais
produtos são peças e serviços de consumo individual, que carregam em si símbolos, lemas
e imagens, dotados de significados e representativos de um coletivo e dos indivíduos que os
compõem. Configurando, assim, uma estrutura social total, em que valores e ações sociais
são compartilhados através de práticas de consumo específico na loja da torcida. Entende-
se que as estratégias de marketing desenvolvidas para esses produtos se baseiam,
justamente, nos valores compactuados entre os membros da torcida. Desta forma, a
pesquisa visa compreender as representações manifestadas nestas peças, tomando-as
como leituras do cotidiano deste coletivo por aqueles que o compõe. A metodologia desta
pesquisa segue caráter etnográfico, posterior às leituras, com pesquisa de campo baseada
em observações participantes, e outras técnicas de pesquisa. Como primeiros resultados,
tem-se a compreensão de que, para além da produção, e consumo de camisetas e bonés,
bandeiras e faixas, estes próprios são peças publicitárias.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 96
OBSERVATÓRIO DO ESPORTE NOS ESPORTES REGIONAIS
RODRIGO TURATI PESSOA [email protected]
Graduando em Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC
MARCOS AMÉRICO [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Observatório; Esportes; Regionais. O programa “Observatório do Esporte” veiculado pela Rádio Unesp FM, da cidade de Bauru,
tem como objetivo mostrar e analisar o esporte como algo que ultrapassa os limites das
quatro linhas. O “Observatório do Esporte” não toma como objetivo analisar o esporte em
limites geográficos, ou esportes de alto escalão, mas sim, tudo que é compreendido como.
No ano de 2011, o programa “Observatório do Esporte” vem retratando o esporte regional
de Bauru como um de seus temas. Na edição 35 do programa, um dos temas retratados foi
do time de futsal da cidade que disputa a primeira divisão do campeonato estadual. O
programa se preocupa em mostrar a situação do clube, e, além disso, divulgar o esporte
para quem ainda não tem o conhecimento na cidade. A abordagem é feita para que o
ouvinte fique situado com a circunstância em que a equipe se encontra. E também, o debate
após a notícia para o melhor entendimento do ouvinte ilustra a situação do esporte regional.
Outro caso do esporte regional abordado no “Observatório do Esporte” é a situação do Pólo
Aquático vivido na cidade de Bauru. O programa não se preocupa somente em demonstrar
resultados e debatê-los, como é de costume na maioria dos veículos de comunicação, mas
sim mostrar resultados e o projeto que o esporte vive na cidade. Como, por exemplo, o
“Projeto Futuro”, que além de resultar em bons atletas para a modalidade, também tem um
grande projeto de resgatar crianças carentes para a educação e o esporte. Além desses
dois esportes, o “Observatório do Esporte” também abordou a situação do Beisebol
praticado na cidade de Botucatu. O programa divulgou a situação em que o esporte se
encontra na região, além das competições que o time abordado disputa.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 97
OS SÍMBOLOS ESPORTIVOS: UM ESTUDO SEMIÓTICO DAS LOGOMARCAS QUE ATUAM NO ESPORTE
ADENIL ALFEU DOMINGOS [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Semiótica; Símbolos esportivos; Significação; Empresas; Publicidade. Este artigo tem a finalidade de fazer um estudo dos significados dos símbolos das grandes
marcas que atuam no esporte. Para sobreviver, os grandes times passaram a ser empresas
que ocupam largo espaço na mídia; as grandes empresas de produtos de consumo,
aproveitando esse pormenor, aliaram-se a eles e passaram a estampar suas logomarcas
nos uniformes desses times, como se formassem uma só família. Os times, desse modo,
encontram um meio de sobreviver, ao passarem a ser o suporte de logos das grandes
empresas, enquanto estas encontram neles um meio de serem vistas, por longo tempo em
milhares de residências. Como souvenirs a serem dados, ou como objetos até de coleção,
comprados pelos aficcionados de um desses times, os uniformes com logos neles
estampados passaram a desfilar com contundência pelas ruas das cidades e estádios de
futebol. O corpus desse estudo será essas logomarcas e a teoria de base, a semiótica
norte-americana, que entende que todo objeto é um signo ideologicamente construído.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 98
PANORAMAS DA INTERATIVIDADE NO RADIOJORNALISMO ESPORTIVO EM SÃO PAULO
DANIEL GOMES DO NASCIMENTO DE ARAÚJO [email protected]
Pós Graduação/ Especialização em Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte - CPPG - FMU Palavras-chave: Futebol; Radiojornalismo esportivo; Interatividade; Mídia social; Twitter. A pesquisa, já finalizada, diagnosticou as maneiras pelas quais três emissoras rádios de
São Paulo veicularam, ao longo das transmissões de jogos de futebol, as mensagens que
receberam dos ouvintes por meio de fóruns online, e-mails, SMS por celular e Twitter. Com
base nas transmissões das partidas Corinthians e Palmeiras, na Transamérica-Record;
Palmeiras e São Paulo, na Central Brasileira de Notícias (CBN); e Palmeiras e Goiás, na
Eldorado-ESPN (atual Estadão ESPN), todas realizadas em 2010. A Análise teve como
objetivo verificar se a rotina de enunciação das mensagens possibilitou a interação efetiva
do ouvinte – ou seja, a mensagem por ele produzida e enviada constituiu parte do conteúdo
enunciado e alterou, ainda que sutilmente, o expediente padrão das transmissões – ou mais
se aproximou de um registro de audiência – com a simples citação dos nomes daqueles que
entraram em contato com a rádio durante o período de jogo. Para a categorização das
condutas recorreu-se às conceituações de interatividade mútua e reativa, de Alex Primo
(2008), e aos subconceitos de interação de Jensen (1999) - interatividade de transmissão,
de consulta, de conversação, e de registro. Para melhor embasamento das análises,
também foram consultadas literaturas sobre mídias sociais, Twitter, história do radialismo
esportivo e peculiaridades atuais do radiojornalismo. Ao final, chegou-se a panoramas
distintos de interação: na Transamérica-Record predominou o expediente de registro de
audiência, com a leitura dos nomes dos ouvintes que enviaram mensagens por SMS; na
Eldorado-ESPN, a interação reativa, com respostas padronizadas dos cronistas após a
leitura das mensagens recebidas por fóruns online e pelo Twitter, foi o modo de interação
mais recorrente; e na CBN preponderou a interação mútua, que levou à construção
cooperada do conteúdo e a troca de ideias, a partir das mensagens recebidas via Twitter.
Nas três rádios não houve espaço para a leitura das interações em momentos que seriam
propícios como no intervalo dos jogos e após a ocorrência de lances polêmicos e marcação
de gols. As constatações fazem crer que a interação das rádios com os ouvintes ainda pode
ser mais bem explorada.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 99
PELAS ENTRELINHAS: ESPORTE E POLÍTICIA NA FOLHA DE S. PAULO E O ESTADO DE S. PAULO
LUIS PAULO ISNARD JARUSSI [email protected]
Graduando em Comunicação Social: Jornalismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Esporte; Política; Folha de S. Paulo; O Estado de S. Paulo. Muito mais do que apenas exercício físico e descontração, o esporte desempenha um papel
dentro da sociedade que vai além do que boa parte da população vê. Por trás do evento
esportivo, existe um universo de atuações políticas que regem os rumos do esporte no
Brasil, e essa atmosfera político administrativa da atividade esportiva é freqüentemente
descartada pelos veículos midiáticos, que por sua vez preferem representar o esporte na
sua simplicidade de prática esportiva. A proposta deste projeto é analisar as características
da cobertura esportiva dos dois maiores jornais do Estado de São Paulo (Folha de S. Paulo
e O Estado de S. Paulo) durante o período de um mês que antecedeu a escolha do Brasil
como sede da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Os anúncios foram feitos
pela FIFA, entidade máxima do futebol, no dia 30 de outubro de 2007 enquanto o anúncio
do COI, Comitê Olímpico Internacional, foi feito no dia 2 de outubro de 2009. As datas
analisadas são de 30 de setembro de 2007 a 31 de outubro de 2007 para o anúncio da
Copa do Mundo e de 2 de setembro de 2009 a 3 de outubro de 2009, para os Jogos
Olímpicos. O objetivo é analisar a contextualização feita pelos veículos escolhidos no que
diz respeito ao esporte e à política, podendo distinguir desta forma o posicionamento de
cada jornal perante a administração esportiva brasileira. As metodologias empregadas serão
de análise de conteúdo e análise de enquadramento, a fim de descobrir qual veículo oferece
ao seu público uma gama maior de informações sobre a atuação política no âmbito
esportivo.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 100
POLÍTICA 2.0 NO YOUTUBE: JORNALISMO CIDADÃO E A CAMPANHA ONLINE DE BARACK OBAMA
RAFAEL LEFCADITO ÁLVARES [email protected]
Mestrando - Comunicação - Unesp - FAAC Palavras-chave: Ciberativismo; Política; Eleições; Obama; Internet; YouTube. Em 2006, durante as eleições para o Congresso americano, o YouTube e outras redes
sociais registraram os primeiros sinais de ciberativismo político organizado e direcionado
para a Internet. Em 2008, esse movimento se intensificou com a experiência de Barack
Obama e a política passou a integrar amplamente a esfera das novas mídias digitais,
possibilitando mais diálogo entre políticos e eleitores. Nesse contexto, o presente trabalho
investiga, de um lado, como a sociedade americana utilizou o Youtube durante as eleições
de 2008, e de outro, como se estruturou a chamada campanha online do então candidato
Obama. Por meio da análise de vídeos de conteúdo político postados no YouTube durante o
período eleitoral, este estudo busca explicações para o fenômeno que ficou conhecido como
a primeira campanha em rede de toda história. As postulações teóricas de Manuel Castells
sobre a sociedade em rede foram adotadas como referencial teórico-metodológico para
investigação dos sentidos produzidos pelos produtos que constituem o corpus deste projeto.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 101
PROGRAMA PAPO-CABEÇA
GIOVANI VIEIRA MIRANDA [email protected]
Graduando - Comunicação Social – Jornalismo Unesp - FAAC Palavras-chave: Divulgação científica; Jornalismo científico; Jornalismo literário; Meio ambiente; Sustentabilidade. O “Papo Cabeça” é o único programa da Rádio Unesp Virtual que lida com Jornalismo
Científico com abordagens literárias. Com veiculação quinzenal às segundas-feiras às
13h30min (duração de 30 minutos), o programa tem como objetivo divulgar questões
relacionadas ao campo das Ciências, bem como a abrangência de questões sobre ecologia,
saúde, meio ambiente, sustentabilidade, de maneira atrativa, dinâmica e envolvente. A meta
é que o produto seja um diferencial no estudo/divulgação de ciência em comparação com os
demais programas do gênero. A cada edição, a Ciência, vista, muitas vezes, como um
assunto desinteressante e complicado, é abordada de forma a despertar maior interesse e
incentive a participação do público geral, com foco nos jovens e adolescentes (daí a
explicação do nome do programa). Para atingir os objetivos, a linguagem utilizada é a mais
clara, objetiva e explicativa possível, a fim de aproximar o ouvinte do assunto a ser tratado.
As abordagens não se limitam às universidades e/ou centros de pesquisa, mas é proposta a
criação de um ambiente amplo e dinâmico, que colabore para a construção da sociedade e
envolva os mais diversificados setores. Entre os quadros do programa destacam-se: “Papo
no Campus” (espaço para a divulgação de projetos de pesquisa desenvolvidos nos campi da
Unesp); “In Site” (análises de produtos da mídia, como músicas, filmes, campanhas
publicitárias nas áreas de atuação do programa); “Em Tempo” (discussão de temas ligados
à História, sem perder de vista a perspectiva da ciência), “Quem foi...” (biografia de
cientistas e pesquisadores que contribuíram para o estudo de Ciências, principalmente
brasileiros); “Dica Cabeça” (pequenas dicas e reflexões sobre preservação,
sustentabilidade, meio ambiente e Ciências ao término de cada bloco), “Ondas Verdes”
(voltado para a propagação de pesquisas e projetos na área ambiental) além de outros
quadros informativos que contam com ativa participação da equipe de reportagem
(composta por quatro repórteres e um editor-chefe). Além da vertente radiofônica, as
matérias veiculadas são analisadas e aprofundadas em um blog
(http://paponoradio.wordpress.com/), permitindo aos repórteres e colaboradores o exercício
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 102
do jornalismo em plataformas diferentes, sendo também uma forma alternativa de levar o
conteúdo ao público-alvo do projeto. O programa conta com a colaboração do Projeto Toque
da Ciência (www.ciencia.inf.br), um produto de divulgação científica desenvolvido por
integrantes do LECOTEC - Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e
Educação Cidadã, da Unesp, que tem como meta divulgar a ciência produzida nas
instituições brasileiras.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 103
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO “ALFREDO DE CASTILHO” – NOROESTE – CIDADE DE BAURU
BRUNA DE BRITO PRADO [email protected]
Graduanda - Arquitetura e Urbanismo -Unesp - FAAC
BRUNO DE SOUZA ARRUDA [email protected]
Graduando - Arquitetura e Urbanismo - Unesp - FAAC
MARCELA ZANNI SIQUEIRA
[email protected] Graduanda - Arquitetura e Urbanismo - Unesp - FAAC
TALITA CRISTINA PEREIRA
[email protected] Graduanda - Arquitetura e Urbanismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Arquitetura esportiva; Operação urbana; Copa de 2014. A cidade de Bauru, confirmada como uma das sub-sedes da Copa do Mundo de 2014,
servirá de apoio para as sedes principais e seu Estádio “Alfredo de Castilho” – Noroeste
será utilizado para treinamento de seleções de futebol. Devido à dimensão do evento
supracitado, a disciplina de Trabalho Projetual Integrado III, do curso de Arquitetura e
Urbanismo, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Bauru,
propôs como trabalho final, a execução de um projeto urbano, paisagístico e habitacional
para uma área, na cidade de Bauru, com possibilidade de aplicação de um dos instrumentos
do Estatuto da Cidade, a Operação Urbana Consorciada. Seu principal objetivo é a
intervenção, por meio do Poder Público Municipal e participação de proprietários,
moradores, usuários permanentes e investidores privados, em áreas das cidades, primando
pelas transformações urbanísticas, melhorias sociais e valorização ambiental. A área de
projeto atualmente encontra-se deteriorada, situa-se às margens do Córrego da Grama e é
ladeada pelos bairros Vila Falcão e Jardim Rosa Branca, abrangendo as favelas São
Manuel e Vila Marise, como também o Estádio do Noroeste. O partido arquitetônico justifica-
se pela Lógica, com as noções de encaixe da matemática e pela Filosofia como instrumento
de percepção do usuário. Para o projeto de requalificação do Estádio do Noroeste o intuito
foi criar uma área de permanência para torcedores e vizinhança, gerando uma grande praça
na entrada principal do Estádio. A capacidade foi ampliada para 30 mil espectadores e o
Centro de Treinamento, composto por alojamentos, centro esportivo, administração e hotel,
foi transferido para uma área que dista aproximadamente 250 metros da quadra do Estádio.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 104
RÁDIO UNESP VIRTUAL
CAMILA HELENA FRANZONI RIBEIRO
[email protected] Graduanda - Comunicação Social – Radialismo Unesp - FAAC
MAÍRA BATISTA DIOGO
[email protected] Graduanda - Comunicação Social – Radialismo Unesp - FAAC
GABRIEL SILVA TEIXEIRA DIAS
[email protected] Graduando - Comunicação Social – Radialismo Unesp – FAAC
Palavras-chave: Web-rádio; Projeto multidisciplinar; Ensino; Extensão. Com a retribalização do mundo, a fase atual da evolução cultural segundo McLuhan, o
processo de comunicação através de mídias globais se torna cada vez mais importante para
a propagação da informação. Uma dessas mídias é a Web-Rádio, já que não se restringe ao
limite de ondas de Freqüência Modulada ou Amplitude Modulada (FM e AM). A Rádio
UNESP Virtual é uma Web-Rádio produzida por alunos da UNESP de Bauru dos cursos de
Comunicação Social. Conta com uma diretoria e com sete núcleos, cada um com suas
funções específicas.
A Rádio Unesp Virtual (RUV) foi criada em 2003, sendo logo integrada ao Portal Mundo
Digital, que conta com mais dois projetos e tem o intuito de integrar os alunos tanto dos
cursos de comunicação, como de outros cursos em um mesmo projeto multidisciplinar. Mas,
principalmente, de ser um projeto de extensão que contribuísse para os alunos se
familiarizarem com o rádio, um meio de comunicação muito difundido e utilizado até hoje, e
que, com isso, tivessem a oportunidade de aprender como uma rádio funciona, tanto na
parte técnica como na produção e execução de programas.
A web rádio conta ainda com mais de trinta programas produzidos por mais de duzentos
colaboradores, todos os alunos de graduação, que integram um dos três núcleos
responsáveis pela análise e funcionalidade adequada dos programas, de acordo com suas
características. Ao todo, são mais de oitenta horas mensais de programação inédita,
abordando os mais variados temas, desde esportes até música, passando por cinema,
notícias, utilidades, etc. A Rádio Unesp Virtual transmite 24 horas por dia, através do site
www.radiovirtual.unesp.br. Ao veicular conteúdo pela internet, o projeto permite a divulgação
externa dos cursos da universidade, se aproxima de comunidades heterogêneas e obtém
retorno correspondente dos ouvintes por intermédio de um meio interativo.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 105
RECONFIGURANDO O CORPO NA PÓS-MODERNIDADE
MURIEL EMÍDIO PESSOA DO AMARAL [email protected]
Mestrando - Comunicação - Unesp - FAAC
ADENIL ALFEU DOMINGOS [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Comunicação; Pós-modernidade; Corpo; Mídia. Esse artigo reflete sobre a influência da pós-modernidade na representação do corpo
humano. Para isso, foi necessário teorizar, sucintamente, noções do corpo como referência
da primeira mídia a ser utilizada pelo homem como artefato de comunicação, ainda nos
primórdios da escala evolutiva, progredindo até ao uso da tecnologia como suporte de
comunicação desse mesmo corpo. Infere-se que há consequências das idéias da pós-
modernidade para a ressignificação desse corpo na criação de novos símbolos e novas
formas de representação para a comunicação. Como recorte teórico, parte-se das reflexões
de Stuart Hall, para definir e contextualizar a pós-modernidade e de Norval Baitello Junior,
sobre a temática do corpo, e concepções de Richard Dawkins para entender a relação do
homem com o meio para evolução cultural. Para as reflexões desse artigo, foi necessária a
revisão bibliográfica dos temas que permeiam os assuntos propostos para discutir. Esse
artigo é o recorte de um objeto mais complexo que é a representação do corpo em veículos
de comunicação homoeróticos tendo como foco de análise do jornal Lampião da Esquina
que circularam na década de 1970/1980 e da revista Junior, que circula na atualidade. A
dissertação pretende refletir sobre as mudanças ocasionadas na representação corpórea ao
longo dos anos, por uma questão de ressignificação de sentido, representação e percepção.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 106
REFLEXÃO: A INDÚSTRIA CULTURAL, A CULTURAS HÍBRIDAS E A TELEVISÃO PÚBLICA
VIVIANNE LINDSAY CARDOSO [email protected]
Mestranda em Comunicação –Unesp - FAAC Palavras-chave: Comunicação; Indústria cultural; Cultura; TV pública; Políticas públicas. Desde seu surgimento, a televisão pública brasileira pouco teve espaço como veículo de
comunicação cultural, educativo, informativo e com representatividade na sociedade. A luta
e as dificuldades são imensas quanto a sua identidade, missão, obrigatoriedade, gestão,
recursos humanos e financeiros, financiamento e apoio. A regulação que a norteia pouco
ajuda. Engessada desde 1967, recebeu precária atenção. Foi com a chegada da tecnologia
digital no Brasil que ganha novas esperanças de renovação e a criação de uma regulação
efetiva. O que se busca é a garantia uma programação de alta qualidade em conteúdo,
produção e uma transmissão mais diversificada e inovadora, fugindo dos padrões adotados
pelas televisões comerciais nacionais que são movidos exclusivamente pela audiência e o
mercado. Em um cenário incerto, surge a possibilidade para que a sociedade, caracterizada
como dominada ou subalterna, tenha a chance de agir ativamente, para intervir e produzir o
conteúdo a ser assistido, levando a culturas das ruas ditas populares para este meio
massivo de comunicação. Em uma análise a partir dos conceitos da indústria cultural de
Adorno e Horkheimer (2002), a proposta pode parecer um tanto quanto utópica. No entanto,
ao analisar a perspectiva das culturas híbridas de Canclini (2003), tal iniciativa seria apenas
uma transição para a televisão da hibridação que já vem acontecendo em diversas
manifestações culturais na sociedade pós-moderna intercambiadas e entrelaçadas. A
cultura popular faz parte da indústria cultural, assim como a indústria cultural integra a
cultura popular em um imbricamento interdependente, criando o que denomina como cultura
urbana. O que se propõe é que esta hibridação se faça presente efetivamente na televisão
pública.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 107
RELAÇÕES PÚBLICAS E EVENTOS ESPORTIVOS: TENDÊNCIA OU MODISMO
LARISSA MEZA RIBEIRO DA SILVA [email protected]
Graduada em Relações Públicas -Universidade do Sagrado Coração Palavras-chave: Eventos; Relações públicas; Planejamento; Gestão de eventos; Eventos esportivos. Este trabalho constitui-se em um estudo teórico, prático e exploratório, que aborda o
contexto da relação entre eventos esportivos e o profissional de Relações Públicas. Tendo
como objetivo geral abordar a utilização das ferramentas de Relações Públicas em eventos
esportivos. Acreditando-se que a ligação entre os dois sempre foi indispensável e fulcral,
mas que na atualidade não tem ocorrido com a frequência que deveria. Desta forma, este
trabalho propõe que a relação entre ambos é necessária e detecta, após a fundamentação
teórica, pesquisa qualitativa com profissionais que atuam na gestão de eventos esportivos e
um estudo exploratório em quatro diferentes eventos esportivos, Assim, podendo abordar
quais são as falhas que existem pela falta de um profissional de Relações Públicas. No
último capitulo aborda o tema “A mudança de cenário” aponta as possíveis alternativas para
alterar estes eventos, propondo mudanças para que no Brasil o amadorismo deixe de
imperar e as Relações Públicas assumam seu papel nos eventos esportivos da sociedade
hodierna, para assim, conseguir alcançar a satisfação dos principais envolvidos, os públicos
estratégicos.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 108
REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS DE TELEJORNAIS BRASILEIROS SOBRE A TRAGÉDIA DA REGIÃO SERRANA DO RJ
GUILHERME VALLERA TAVARES [email protected]
Mestrando - Comunicação - Unesp - FAAC Palavras-chave: Representações midiáticas; Telejornalismo; Enquadramentos noticiosos; região Serrana do Rio de Janeiro. Em janeiro de 2011, a região Serrana do Estado do Rio de Janeiro foi castigada por fortes
chuvas, que em apenas dois dias superaram as expectativas pluviométricas previstas para
todo o mês de janeiro. Como resultado, quase mil mortos e mais de 20 mil desabrigados ou
desalojados, acumulados em menos de uma semana de tempestades. A cobertura midiática
foi intensa sobre o assunto e os telejornais dedicaram amplo espaço para noticiar a tragédia
e bombardear o público com imagens de deslizamentos de terra e resgates
cinematográficos. Nesse trabalho, o objetivo é avaliar como que dois dos principais
telejornais brasileiros - o Jornal Nacional, da Rede Globo, e o Jornal da Record, da emissora
homônima - representaram tais fatos. Foram analisadas as edições exibidas pelos dois
programas no dia 12 da janeiro - segundo dia de cobertura das chuvas na região e o que
teve maior espaço dedicado para informações sobre os estragos e prejuízos nos quatro
municípios mais atingidos. Os programas foram observados a partir do referencial teórico
das representações midiáticas e o método utilizado foi a análise de enquadramento. Dessa
maneira, identificou-se maior intensidade na descrição das tragédias, dos dramas individuais
e de um determinismo climático do que reflexões acerca das responsabilidades políticas
sobre prevenções de desastres naturais.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 109
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA MÍDIA: O PAPEL DA OUVIDORIA NAS EMISSORAS DE TV BRASILEIRAS DE CONCESSÃO PÚBLICA
DEBORAH CUNHA TEODORO [email protected]
Mestranda Comunicação Social: Jornalismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Responsabilidade social; Mídia; Ouvidoria. Situada no âmbito dos estudos sobre a responsabilidade social da mídia, a presente
pesquisa visa avaliar o papel da ouvidoria nas emissoras de TV brasileiras de concessão
pública, sejam elas comerciais ou não. Ao prestar um serviço à comunidade, a TV deveria
primar por possibilitar aos telespectadores desenvolver um pensamento crítico, a partir da
veiculação de informações que lhes proporcionasse educação e reflexão sobre a realidade
na qual estão inseridos. Entretanto, as dificuldades encontradas para implementar políticas
que atendam aos propósitos teóricos deste veículo de comunicação têm razões históricas,
as quais devem ser encaradas à luz do direito brasileiro, para que possam ser superadas,
juntamente com a evolução da sociedade. Com base na análise crítica do conteúdo
normalmente veiculado pelas grades de programação destes meios de radiodifusão de som
e imagem, serão apresentados parâmetros adequados para a regulação dos serviços a
serem disponibilizados aos usuários. Neste ínterim, torna-se viável a figura da ouvidoria, que
tem por função precípua zelar pela qualidade e eficiência do serviço prestado à comunidade,
atuando como um canal de comunicação permanente entre emissor e receptor, sempre
receptiva às manifestações do público, sejam elas reclamações, sugestões, elogios, críticas,
denúncias etc. Ainda iminente na mídia televisiva, a ouvidoria, ao desempenhar seu papel e
fazer valer o respeito às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da
programação, conforme prega o texto constitucional, pode se revelar um eficaz instrumento
de concretização dos direitos do cidadão e de fortalecimento da democracia.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 110
SEMIÓTICA DA CULTURA: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS ATRAVÉS DAS IMAGENS DA MÍDIA
RODRIGO CARVALHO DA SILVA [email protected]
Mestrando em Comunicação - Unesp - FAAC Palavras-chave: Imagens; Comunicação; Cultura; Mídia; Semiótica. Este artigo relata como a mídia constrói e dissemina suas mensagens e conteúdos através
do uso intencional das imagens. Esse trabalho justifica-se pela possibilidade de se
evidenciar como as imagens disseminadas em nossa sociedade pela mídia representam
situações e características culturais de nossa sociedade. A pesquisa é direcionada para a
análise dos usos das imagens pelo cinema como forma de transmissão de significados e
conceitos. O estudo das intenções dessas imagens possui alta relevância, pois é capaz de
provocar mudanças no pensamento individual e coletivo. O cinema através de suas
produções apresenta diversos aspectos sobre nossa cultura e sociedade, criando imagens
que têm a intenção de explicar as nossas vidas. Essas representações ao mesmo tempo em
que fornecem informações sobre nossa sociedade também contribuem para a formação ou
alteração de determinados aspectos culturais. Nossa cultura é um processo dinâmico,
sujeito a constantes interferências e transformações. O objetivo é demonstrar através do
exemplo de uma análise fílmica como a mídia imagina e tenta intencionalmente representar
nosso mundo. O filme norte-americano intitulado como “Pleasantiville” e no Brasil chamado
de “A vida em preto e branco” foi utilizado como objeto desta pesquisa. O estudo foi guiado
pela análise temática, proposta por Casetti (1996) e com base nos postulados teóricos da
semiótica da cultura, relacionando os elementos culturais de nossa sociedade e os
elementos cinematográficos observados nos aspectos e características específicas do filme.
Essa relação resultou nas interpretações e percepções consideradas e descritas na análise.
Algumas cenas e sequências foram utilizadas como apoio e ilustração para pontos da
análise que dialogam com a questão da representação e do contexto que envolve o filme.
Primeiramente, foi realizada uma decupagem das cenas do filme, que incluiu a indicação de
conteúdo, a transcrição de diálogos e outros parâmetros como enquadramentos, iluminação,
cenografia, maquiagem, produção e mudanças de cenário. Posteriormente o filme foi revisto
e a partir do objetivo pretendido e com base na decupagem, foi realizada uma interpretação
dos significados e sentidos propostos pela obra.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 111
TELEVISÃO DIGITAL: POTENCIALIDADES DA MULTIPROGRAMAÇÃO
ELICA ITO [email protected]
Mestranda em TV Digital - Unesp - FAAC Palavras-chave: Jogos; Audiovisual; Televisão digital; Multiprogramação; Sociedade da informação. O SBTVD sistema de televisão digital adotado pelo Brasil, derivado do ISBD-T japonês,
proporciona melhor qualidade de som e imagem, além de mobilidade, portabilidade,
interatividade e multiprogramação. Esse último item está autorizado apenas às emissoras
vinculadas à União, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça. A TV Cultura de São Paulo obteve
permissão para operar multiprogramação, em caráter experimental, através de autorização
judicial. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as especificidades e
potencialidades que a multiprogramação oferece aos telespectadores. Para a análise
realizou-se uma pesquisa bibliográfica, exploratória e contextual, avaliando a legislação
brasileira, experiências em outros países como Japão e Estados Unidos, além da
pertinência deste recurso em uma sociedade da informação a partir de Castells. Conclui-se
que a discussão sobre a multiprogramação está permeada por duas searas principais,
cidadania e política, o que contribui para a discussão de questões pertinentes ao cenário
brasileiro de televisão digital, como, maior oferta de conteúdos na televisão pública,
comercialização de espaço na grade de programação para televendas e igrejas,
pulverização da audiência e diminuição do "bolo publicitário", relevância do recurso na
questão da educação à distância e a constatação de que maior oferta de programas não
significa, necessariamente, melhor programação.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 112
TEMAS TABUS EM NARRATIVAS SERIADAS
LUCAS VICENTE BORTOLETTO [email protected]
Graduando em Comunicação Social: Radialismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Televisão; Narrativas seriadas; Temas tabus. Investigando a História da Comunicação, percebe-se a influência dos meios de
comunicação de massa sobre as sociedades em especial na cultura ocidental
contemporânea. Questões sociais levantadas tanto por ficções como por programas
jornalísticos podem influir nas vidas política, social e ético-cultural de uma nação inteira.
Dentre os formatos de programas televisivos, ganha cada vez mais destaque o “seriado”.
Herdeiro do popular gênero cinematográfico dos anos de 1910 a meados da década de
1950, com exemplos como Flash Gordon e The Perils of Pauline, os seriados, caracterizam-
se por um enredo fragmentado episódios, com começo, meio e fim, cada um deles
apresentado em um dia ou horário diferente e subdividido em blocos menores, separados
por breakes para entrada de comerciais ou chamadas de outros programas. Diferente das
telenovelas, os seriados exploram mais abertamente temas polêmicos, a exemplo do tráfico
de drogas em Weeds, a poligamia em Big Love, a vida pelos olhos de um serial killer em
Dexter, a rotina de uma prisão de segurança máxima em Oz, ou diversidade sexual como
em Queer as Folk. Analisa-se o modo como cada seriado lida com temáticas tabus através
de personagens, situações e ambientes. Coloca-se a sinopse do seriado, sua linha geral de
abordagem, seguindo com exemplificação de episódios específicos, os conflitos abordados,
estabelecendo as convergências e divergências entre os seriados, além de apontar os
estereótipos e clichês. A pesquisa constata uma grande diversidade na abordagem de
temas semelhantes. Canais de televisão aberta buscam estar em harmonia com a cultura
vigente, preocupando-se com experiências que levem a uma resposta moral. Canais de
televisão por assinatura preocupam-se menos com julgamentos morais, buscando uma
abordagem mais realista e permitindo ao telespectador uma reflexão e crítica própria de
juízo e valor.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 113
TRANSMÍDIA E INTERAÇÃO: O CASO SPOILER EM LOST
CAROLINE RYE YAMASAKI [email protected]
Graduada em Comunicação Social - Radialismo - Unesp - FAAC
MARIA LUIZA FURATORI LEOPASSI [email protected]
Graduada em Comunicação Social - Radialismo - Unesp - FAAC
Palavras-chave: Audiovisual; Transmídia; Ficção seriada; Spoiler. A série Lost não se limitou apenas aos capítulos televisivos. Com o total de seis temporadas
e a fim de dar ao espectador a sensação de interação e proximidade com a série, a ficção
também foi inserida em outras mídias, como por exemplo a internet, jogos, filmes e
outdoores. Cada vez mais acessível, com o surgimento da TV Digital e de sua mobilidade, a
interatividade e suas características pôde ser analisada: a pesquisa esquadrinhou e
caracterizou as consequências da inserção da ficção seriada Lost em diversos meios de
comunicação, ou seja, na transmídia. Como base de pesquisa acerca das diversas
plataformas em que esteve inserida, a ficção possibilitou analisar a interatividade com o
advento da mobilidade da TV Digital e estudar as influências da voz coletiva na série, a fim
de analisar o comportamentos dos chamados spoilers, e sua contribuição em relação aos
níveis de audiência e a fidelização à série. Lost, como ficção seriada inserida em diversas
plataformas, pôde ser estudado com base em Jenkins, que discute a convergência das
mídias, propõe definições para as transformações tecnológicas e fundamenta seu
argumento em três conceitos básicos, sendo eles a convergência midiática, inteligência
coletiva e cultura participativa. O estudo e entendimento das novas oportunidades de mídia,
divulgação e interatividade, relevantes na área de comunicação, foi importante para a
elaboração da pesquisa, realizada de forma ensaística. E constatou-se que através do
spoiler, a voz coletiva tem o poder de influenciar a narrativa da ficção.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 114
UM MODELO DE PROGRAMA PARA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS TENDO COMO SUPORTE PLATAFORMAS INTERATIVAS
ALEX SAMPAIO LIMA [email protected]
Mestrando em Comunicação - Radio e TVUnesp - FAAC Palavras-chave: Pedagogia comunicacioanal interativa; Interatividade; Tv digital. O trabalho consiste na construção de um modelo de um programa para alfabetização de
adultos tendo como suporte plataformas interativas. O objetivo geral do projeto é a
construção de um espaço de aprendizagem mediada por plataformas interativas, trazendo
uma proposta de ensino-aprendizagem inovadora, afixada em práticas pedagógicas
renovadas trazidas dentro do conceito da pedagogia comunicacional interativa, porém
condizente as práticas sociais do mundo contemporâneo. Tendo como base os conceitos de
interatividade proposto por correntes construtivistas e como concretização dos referenciais
da modalidade comunicacional interativa, o processo de ensino-aprendizagem em meios
telemáticos como a internet, tv digital, teleconferências, vídeos-conferências, que pressupõe
ações muito objetivas para sua realização, tais como; participação-interação,
bidirecionalidade-hibridação, permutabilidade/potencialidade, meios esses, que se realizam
através da lógica da interatividade no meio virtual. Partindo desse enquadramento, o modelo
traz o processo de colaboração e coletividade na construção do conhecimento como ponto
elementar para que a lógica aluno/professor e transmissão do saber subverta os processos
tradicionais e conservadores do ensino. A proposição é a realização do processo de co-
autoria, na qual possibilita a concretização de uma prática educativa mais interativa e
emancipatória.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 115
UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA PERSONIFICAÇÃO POLÍTICA DOS ACADÊMICOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ARIANE ESTEVES AMARO [email protected]
Graduanda - Comunicação Social - Jornalismo - Unesp - FAAC Palavras-chave: Influência; Mídia; Comunicador; Voto. O trabalho concretiza uma revisão bibliográfica sobre o tema, um levantamento sobre
pressupostos teóricos e a mensuração e análise de periódicos, no período que antecedeu
as eleições presidenciais de 2010, assim como a aplicação de uma pesquisa quantitativa
com acadêmicos de Comunicação Social, a fim de discutir a influência exercida pelo mass
media na definição de voto e na formação de opinião sobre partidos e candidatos. O estudo
– que é também um projeto de iniciação cientifica - propõe explorar, como a mass media e
toda manifestação do meio social motiva interesses pessoais que refletem na formação da
opinião pública e, consequentemente, na decisão do voto e na personalização política. Mais
especificamente, a questão central é refletir como os meios de comunicação de massa -
atuando como vigilantes da informação e formadores de opinião – exercem influência nos
acadêmicos de comunicação, que partir de um processo dialético de interlocução,
informação e convencimento. Espera-se que, ao término da analise, seja possível perceber
a simbiose deste processo na construção da opinião pública e da personalização politica do
século XXI.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 116
UMA RELAÇÃO ENTRE OS APELIDOS E O PÚBLICO NOS CASOS DE PELÉ E GUGA
THIAGO CAMARGOS KOGUCHI [email protected]
Graduando - Comunicação Social: Jornalismo Unesp - FAAC
Palavras-chave: Esporte; Comunicação; Apelido; Relação social. O artigo analisa a relação existente entre o público que aprecia esporte e elege seus ídolos
nesse espaço e alguns atletas que tiveram sucesso em suas modalidades e ficaram
conhecidos principalmente pelos seus apelidos. Dois personagens foram escolhidos para
esta pesquisa: o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento (Pelé) e o ex-tenista
Gustavo Kuerten (Guga), que obtiveram vários êxitos e fizeram de seus apodos algo maior
que uma referência, além da distinção de suas modalidades – o esporte considerado
nacional e outro menos conhecido pelos brasileiros. A análise foi feita baseada em dois
autores importantes da sociologia brasileira: Sérgio Buarque de Holanda e Roberto da
Matta, cujas teorias, o “homem cordial” e o “Você sabe com quem está falando”,
respectivamente, permitem traçar certas relações de aproximação e afastamento do
esportista em relação ao seu público pelo conhecimento crescente de seus apelidos,
concebidos desde as infâncias dos ex-atletas. Pode-se observar que o apodo cria uma
relação que aproxima o público do seu esportista preferido, pois é uma maneira de
comunicação e construção de identidade nacional, e vice-versa, em que Pelé e Guga se
tornam mais do que ídolos, mas símbolos de vitórias e superação para quem os
acompanha.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 117
UNIFORME ESPORTIVO: IDENTIDADES E SIGNIFICADOS
GABRIEL ARROYO [email protected]
Mestrando - Comunicação -Unesp -FAAC
Palavras-chave: Esporte; Camisa de futebol; Comunicação. O estudo tem como objetivo analisar a representação da camisa de futebol como
manifestação no esporte e na sociedade, ao estabelecer uma cultura de comunicação
realizando uma ligação entre torcedores, times e ídolos. O uso da camisa pelo atleta é
obrigatório para o diferenciar dos demais competidores, já o uso por indivíduos que não são
profissionais do esporte pode ser visto como atividade voluntária. A cultura dos ambientes
está ligada diretamente a quem vive nele, de acordo com Huizinga, o jogo é visto como o
principal elemento humano, criador das culturas e sociedades com suas características
próprias, como por exemplo na forma de se vestir para o combate ou culto. A camisa como
elemento lúdico pode ser vista como o passaporte de imersão no ambiente ficcional, como
forma de interação e aproximação da cultura esportiva pelos usuários. Observando a
classificação do jogo por Caillois, é possível identificar as características dos jogos
miméticos (Mimicry) como jogos fictícios em que os participantes adotam para si o papel de
determinado personagem. “A mera identificação com o campeão constitui já um mimicry
semelhante aquela que faz com que o leitor se reconheça no herói do romance”. Essa
identificação com o seu time ou ídolo torna-se muito forte com o uso da camisa, elemento de
comunicação que possui a força de tornar o indivíduo comum em parte da equipe, levando o
mesmo a sair de sua rotina, estreitando a relação com o ídolo ou time. Ainda para Caillois, a
alienação do jogo pode ser encontrada quando ao fingir-se de outro se esquece do próprio
eu. Assim sendo, as identidades e os significados que a camisa de futebol representa no
esporte e na sociedade possibilitam ampliar e estreitar a comunicação entre clubes,
jogadores e torcedores. Com o uso da linguagem esportiva a aproximação de elementos
com mesmo interesse cria um mundo lúdico, no qual o indivíduo atua fora de sua realidade
cotidiana.
10 A 12 DE MAIO DE 2011
Unesp - Campus Bauru – FAAC-Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Departamento de Ciências Humanas
III Jornada Multidisciplinar “Futebol, comunicação e cultura”, 2011 – Caderno de Resumos 118
VARIANTE DA LÍNGUA PORTUGUESA NA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE FUTEBOL: ASPECTOS LÉXICO-SINTÁTICOS
JOÃO BATISTA NETO CHAMADOIRA [email protected]
Professor Doutor - Unesp - FAAC Palavras-chave: Língua portuguesa; Rádio; Futebol. Este trabalho tem o escopo de apresentar os resultados de uma verificação sobre a
presença dos elementos lexicais e sintáticos num texto radiofônico de uma transmissão de
jogo de futebol. O trabalho é parte de pesquisas referentes à minha atividade como
professor de lingüística, de jornalismo e radiojornalismo, como produtor de programas de
rádio e observador da linguagem radiofônica. Nesta pesquisa, foi selecionado um corpus
composto de texto da narração do jogo de futebol entre as equipes do Sport Club
Corinthians e São Paulo Futebol Clube, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo - transmitido
pela RÁDIO JOVEM PAN, de São Paulo, na voz do narrador esportivo Nilson César, um dos
líderes de audiência - realizado no dia 7 de outubro de 2007, pelo Campeonato Brasileiro de
Futebol, que terminou com a contagem de a um a zero para o Corinthians. A pesquisa partiu
de elementos teóricos da caracterização do veículo rádio, da importância da presença do
futebol na cultura brasileira, dos conceitos relativos ao léxico e à sintaxe e dos aspectos
sociolinguísticos que definem a Língua Portuguesa na sua variante empregada no rádio, na
transmissão das partidas de futebol. A linguagem falada, característica do rádio e marca
desse veículo e a escolha das palavras, bem como a combinação delas, nos conhecidos
eixos saussurianos, devem, na transmissão dos lances do jogo, pelo narrador, substituir a
presença do aficionado, do observador e torcedor no local do evento, compensando, assim,
a distância e ausência. Portanto, o emprego da Língua Portuguesa na transmissão de um
jogo de futebol mostrou suas próprias peculiaridades tanto no aspecto lexical, visto sob o
ponto de vista da presença dos substantivos, dos adjetivos, verbos, neologismos e quanto
ao aspecto sintático, observada a presença da coordenação e da subordinação.