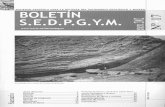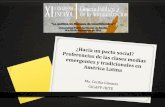Práticas Criativas & Territórios Emergentes | O Hibridismo do/nos Elevados
Transcript of Práticas Criativas & Territórios Emergentes | O Hibridismo do/nos Elevados
1
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PRÁTICAS CRIATIVAS E TERRITÓRIOS EMERGENTES | O HIBRIDISMO DOS/NOS ELEVADOSElisabete Castanheira
São Paulo2015
C346p Castanheira, Elisabete Barbosa.
Práticas criativas e territórios emergentes – o hibridismo do/nos elevados. – 2015.
129 f. : il. ; 30 cm.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. Referências bibliográficas: f. 108-114.
Ap
rova
da
com
dis
tinçã
o em
27.
02.2
015.
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito à obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo, área de concentração: Projeto de Arquitetura e Urbanismo.
Orientador Prof. Dr. Carlos de Souza Leite
PRÁTICAS CRIATIVAS E TERRITÓRIOS EMERGENTES | O HIBRIDISMO DOS/NOS ELEVADOSElsabete Castanheira
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.
____________________________________________________Prof. Dr. Carlos Leite – OrientadorUniversidade Presbiteriana Mackenzie
____________________________________________________Profª. Drª. Maria Isabel VillacUniversidade Presbiteriana Mackenzie
____________________________________________________Profª. Drª. Elisabete FrançaUniversidade São Paulo
BANCA EXAMINADORA
3
5
obrigadaHá muito que agradecer! Primeiramente agradeço aos meus Pais, que me apoia-ram incondicionalmente e permitiram as minhas escolhas, mesmo não en-tendendo muito bem o que é Design... À Mamãe, muito especialmente (que se foi no percurso do presente trabalho), o meu eterno agradecimento e amor. Ao Tatá, meu filho amado, pela interlocução lúcida e melódica, todo o meu amor.
Agradeço aos professores do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanis-mo da Universidade Presbiteriana Mackenzie pelos momentos de partilha e reflexão. Deste grupo, agradeço de forma especial ao meu orientador, Prof. Carlos Leite, que na qualidade de verdadeiro Mestre soube expressar a paixão por sua ativida-de e pesquisa, e, sobretudo, “contaminar” e transformar com o seu entusiasmo. À Profª Eunice Helena S. Abascal, Coordenadora do Programa de Pós Gra-duação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Macken-zie, o meu mais profundo reconhecimento por todo o apoio recebido em um período tão complexo da minha vida. À CAPES, agradeço o apoio financeiro.
Agradeço ainda aos colegas de curso que tão plenamente me acolheram e muitas vezes me guiaram no instigante universo da Arquitetura e do Urba-nismo, um carinhoso e expressivo muito obrigada. Cabe ainda um agradeci-mento especial à generosidade explícita de Janaína Stédile, colega de cur-so e vizinha querida que tantas caronas proporcionou. Muito, muito obrigada.
Por fim, um agradecimento especialíssimo àqueles, que fora do círculo acadêmico, es-tiveram comigo neste percurso labiríntico: Neusa Romano, Fábio Pulitta, Cadu Sche-liga, Eliane Jimenez e demais amigos queridos, além, claro, de toda equipe Objeto Brasil na pessoa de Joice Joppert Leal. O agradecimento e reconhecimento é também transatlântico. Um expressivo e carinhoso obrigada aos queridos: José e Olga Ucha, Carlos José Ferreira, Pedro Canas, Natália e Zézinha Regalado. Eterno agradecimento.
A presença da criatividade na sociedade contemporânea se dá de forma trans-versal. Como vetor de crescimento, está na origem de inúmeros outros con-ceitos. Da Economia Criativa de John Howkins à Classe Criativa de Richard Florida, a criatividade extrapola o âmbito artístico para se instalar como agen-te ativo na solução de problemas complexos, particularmente nas cidades. Primeiramente em megaescalas, posteriormente a criatividade passa a ser per-cebida em uma escala menor: as práticas criativas resultantes de microplaneja-mentos urbanos, que surgem a partir da base, da percepção de uma neces-sidade local. São as iniciativas Bottom Up, cuja proliferação pode se dar em territórios inusitados e cuja notabilidade tem se manifestado em cadência crescente. O presente trabalho atravessa a polivalência de algumas estruturas urbanas híbridas, similarmente presentes nas cidades de Paris, Nova York e São Paulo (respectivamen-te: o Promenade Plantée, o High Line e o Elevado Costa e Silva, também conhecido como Minhocão), para pontuar a micro escala da inovação não tecnológica no âmbi-to da cidade, as práticas criativas que hibridizam, resignificam e inventam territórios.
Imagem 1 | Minhocão.Fonte| Disponível em http://camilapastorelli.com/Acesso| 27 de Novembro de 2014
keywordscreativity creative practices innovationsocial innovationemerging behaviors hybriditydesign/city
criatividade cidades criativas inovaçãoinovação socialcomportamentos emergenteshibridismodesign/cidade
criatividade cidades criativas inovaçãoinovação socialcomportamentos emergenteshibridismodesign/cidade
11
13
1. Introdução 16
2. Cidades Criativas, Escalas e Motivações 21
2.1. Derivação de Conceitos: Indústrias, Classe e Cidades Criativas 272.1.1. Indústria Criativa 272.1.2. Classe Criativa 302.1.3. Cidades Criativas 31
2.2. Escalas e Motivações 372.2.1. Escalas 372.2.2. Motivações 39
3. Praticas Criativas,Micro Planejamento Urbano e Iniciativas Bottom Up 47
4. O Hibridismo dos/nos Elevados 61 Paris [Promenade Plantée] Nova York [High Line] São Paulo [Minhocão/Baixo Augusta]
4.1.1. Do Lugar ou Espaço ou Território 63 4.1.2. Da Motivação 734.1.3. Da Condição de Ser Híbrido & Da Apropriação do Território 83 5. Considerações Finais 101
6. Referências Bibliográficas 113
A economia atual é, segundo Florida (2002), em essência, uma Economia Criati-va. Embora esta discussão seja tida como atual, já no final da década de 50, no discurso que proferiu por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel da Paz, Lester B. Pearson mencionava que o bem-estar da humanidade dependeria de sua ha-bilidade em ultrapassar todos os desafios por meio da criatividade. (Mau, 2004).
A coexistência entre a intangibilidade das ideias e a materialidade dos equipamentos e serviços caracteriza a sociedade do conhecimen-to – como refere Lojkine (2002) - e, está na origem de inúmeros concei-tos contemporâneos: Economia Criativa, Cidades Criativas, entre outros.
A relação entre o urbano e a Economia Criativa é muito próxima. O concei-to de Florida (2002) trabalha, sobretudo, a macro escala. Os estudos so-bre o tema materializam o coletivo e os padrões notáveis pela expres-são econômico-financeira que apresentam, ou seja, pela sua dimensão.
As práticas criativas que podem (ou não) apresentar em sua gênese a pe-quena dimensão são objetos de estudo, sobretudo na lógica dos APLs – Arranjos Produtivos Locais – cuja característica principal é o fato de formarem um agrupamento, circunscrito geograficamente a uma região e onde é possível perceber alinhamentos em termos de governança1. Nes-sa perspectiva, o APL é o uno agrupado, que tem no coletivo a sua identidade.
No nível mais básico, a economia do conhecimento refere-se a pes-soas criativas se juntando – a cidade é o diferencial que propi-cia isso – para adicionar valor ao trabalho através da troca de in-formações, gerando, assim, novas ideias. A economia keynesiana supunha que o consumo era a força motriz da economia, enquanto as teorias atuais sugerem que as ideias que permitem avanços tecnoló-gicos e inovadores são as forças motores do futuro. (Leite, 2012 p. 70)
1.Oficina Regional de Orientação à Instalação de APLs – GTP APL, MDIC, 2006. Disponível em: http://www.sedes.es.gov.br/index.php/arranjos-produtivos-locais/o-que-sao-apls. Acesso em: 09 de Novembro de 2014.
Imagem 2 | Bruce Mau
Fonte| Disponível em http://camilapastorelli.com/Acesso| 27 de Novembro de 2014
Para Leite (2012) é a grande deformidade na localização de vetores de crescimento:
Segundo o autor, os clusters pautam a sua estratégia central pro-dutiva em serviços avançados, parte da chamada nova economia e:
A Economia Criativa enquanto conceito congrega e, cada vez mais, é tra-duzida em números. A isto, Florida (2002) denomina: Estrutura So-cial da Criatividade. O autor traça a nova geografia das classes nos Esta-dos Unidos, mensurando a sua distribuição e a sua relação com a vantagem regional nos Estados Unidos, chegando a calcular um índice da criatividade que:
a grande contradição do nosso tempo: os novos drivers de desen-volvimento e riqueza econômicos tendem a se concentrar em al-gumas localidades. As forças do mercado e as economias de aglomeração tendem a concentrar inovações tecnológicas em al-gumas ilhas territoriais, clusters especializados. (Leite, 2012 p. 70)
Vale ressaltar, portanto, que os cluster são um formato de arranjo pro-dutivo local com imenso potencial como estratégia na reestruturação de antigas áreas industriais degradadas, ou seja, são um instrumen-to importante a ser utilizado nos processos de regeneração urbana e na implementação de projetos urbanos inovadores. (Leite, 2012 p. 128)
combina quatro fatores, todos com o mesmo peso: a parcela de for-ça de trabalho que corresponde à classe criativa; o grau de inova-ção, avaliado segundo o número de patentes per capita; o índice de alta tecnologia, cuja referência é o Tech Pole Index, do Milken Institu-te2; e a diversidade mensurada pelo índice gay – um referencial cabí-vel para avaliar a abertura de uma área a diversos tipos de pessoas e ideias. Essa combinação de fatores é um instrumento mais eficaz para avaliar os recursos criativos de uma região do que a simples quan-tificação da classe criativa, pois, associa o impacto da sua concen-tração a resultados econômicos inovadores. (Florida, 2002, p. 243)
2 Índice de Tecnologia estabelecido pelo Instituto Milken, Organização Sem Fins Lucrativos, que pro-cura, por meio da pesquisa, encontrar soluções para os desafios contemporâneos. Tradução da autora. Disponível em: < http://www.milkeninstitute.org/about> Acesso em: 09 de Novembro de 2014.
17
Para este autor, o índice de criatividade é capaz de fazer uma leitura regio-nal do elemento criativo instalado, bem como, presumir o seu potencial. Flo-rida (2002) trabalha com a noção do coletivo que aponta possibilidades.
É da abrangência decorrente do conceito da criatividade que trata o capítu-lo 1. Cidades Criativas, Escalas e Motivações, busca a origem do significa-do da Cidade Criativa (e conceitos correlatos), e ainda, a diferença de escalas, daquilo que transita entre o local e global. Por fim, trata ainda de diferen-tes tipos de Motivação e, em que cenário se propicia o seu surgimento.
Vivant (2012) refere o escopo das pesquisas desenvolvidas por Flori-da (2003) que evidenciam uma economia da aglomeração. A mesma au-tora levanta ainda a questão da instrumentalização da cultura, que despi-da de espontaneidade ou serendipidade, articula ações com finalidades políticas: unicamente utilizadas como estratégia para a valorização do espaço.
Diametralmente oposto a esta prática, o capítulo 2 trata de práticas criativas que se percebem fruto de ações de micro planejamento urbano. O âmbito da iniciativa é lo-cal, o desdobramento circunscrito e se concretiza como iniciativa espontânea, fruto de uma observação minuciosa e articulada: são as iniciativas Bottom Up que podem (ou não adquirir um comportamento notável). Não é o uno que adquire a condição de coletivo, mas sim, alça outra dimensão. Esta prática, que reconhece a necessidade (ou a oportunidade) e é elaborada segundo a especificidade do locus, reforça a identi-dade e o contexto em que se apresenta. Trabalha o uno como condição do complexo.
A cidade, é claro, envolve muito mais do que as relações econômicas que nela se desenrolam. Unem-se a elas as relações sociais, a cultura local, os hábitos e atitudes da população, aquelas peculiaridades que fazem que um espaço seja tão diferente de outro e que dão alma a uma cidade. Diante disso, seria reducionista dizer que uma cidade criativa é aquela em que a economia criativa é essencialmente pujante. (Reis, 2012, pg. 17)
No desenvolvimento do conceito de Classe Criativa, Florida (2003) remete ao poder que o lugar exerce sobre a classe. Questões como a autenticidade, o “poder da iden-tidade” (Castells APUD Florida, 2003), e, sobretudo, a qualidade como fruto da ex-periência (entre tantos outros fatores) dão conta da apetência da Classe Criativa em privilegiar a cultura vernacular, a criação orgânica, aquilo que é local. E continua: a Classe Criativa é componente ativo. Há uma necessidade de participar no processo de edificação. É fundamental para a Classe Criativa delinear uma identidade própria, contribuir para a construção de lugares que reflitam e legitimem essa identidade.
O terceiro e último capítulo promove, em simultâneo, uma reflexão sobre 3 equipamen-tos urbanos que contrariando a vocação de origem se transformaram: o Promenade Plantée em Paris, o High Line em Nova York e o Elevado Costa e Silva em São Paulo.
Em 43 anos de vida, o Elevado Costa e Silva, embora não reverbere unanimidade em seus propósitos urbanos, tem vindo a tornar-se local de usos inusitados, constituindo nas palavras de Koolhaas, objeto de “promiscuidade programática”. As atividades que se desenvolvem no Minhocão, passaram por distintas fases, em um processo de descoberta e apropriação que altera por completo a percepção do elevado inserido na cidade. Alargando a vocação construída, o equipamento urbano vê emergir uma multiplicidade de usos, e uma intensa discussão sobre o futuro de seu papel na cidade.
Este trabalho não procura discutir a polarização de opiniões sobre o destino do Minho-cão (transformar ou demolir) nem tampouco o rol de soluções projetuais destinadas à sua requalificação. Atém-se, em exclusivo, à reflexão sobre a utilização do Minhocão como suporte de práticas criativas que legitimam o caráter híbrido do equipamento.
19
patrimônio
televisão
publicidade
design
locais culturais
expressões culturais tradicionais
moda
artes cênicas
arquitetura
cinema
artes visuais
música áudiovisual
software
circo
Na introdução do livro a Era das Revoluções, Hobsbawm (2009) elen-ca uma série de palavras que nasceram ou aprofundaram os seus significados no período ao qual se refere o livro: 1789-1848.
Para pesquisar o panorama atual é necessário acrescentar a esta lista uma série de palavras que surgiram, ou se evidenciaram neste período e sem as quais seria impossível descrever ou pensar a sociedade de hoje. São elas: tecnologia, em-preendedorismo, inovação, start up, stakeholders, e entre outras, a criatividade.
O termo criatividade atravessou a história e passou de inspiração proveniente das Musas na Grécia antiga a ativo fundamental na economia contemporânea. A expressão “Eureka” de Arquimedes, certamente contribuiu para o mito do gênio criador do século XIX, onde, aqueles cujo talen-to fosse notável, eram considerados iluminados e dotados de algo divino.
Vários foram os teóricos que se debruçaram sobre o assunto: Rogers (1959 apud Castanheira, 2005) relaciona a criatividade com o meio; Ghiselin (1952 apud Casta-nheira, 2005) referia que a criatividade é tão ampla quanto possa ser considerada a estrutura do homem; ou ainda, Guilford (1950 apud Castanheira, 2005) que trouxe os c
São elas: “indústria”, “industrial”, “fábrica”, “classe média” ‘, “classe tra-balhadora”, “capitalismo” e “socialismo”. Ou ainda “aristocracia” e “fer-rovia”, “liberal” e “conservador” como termos políticos, “nacionalidade”, “cientista” e “engenheiro”, “proletariado” e “crise” (econômica). “Utilitá-rio” e “estatística”, “sociologia” e vários outros nomes das ciências mo-dernas, “jornalismo” e “ideologia”, todas elas cunhagens ou adaptações deste período *. Como também “greve” e “pauperismo”. Imaginar o mun-do moderno sem estas palavras - isto é, sem as coisas e conceitos a que dão nomes - é medir a profundidade da revolução que eclodiu entre 1789 e 1848, e que constitui a maior transformação da história huma-na desde os tempos remotos quando o homem inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. (Hobsbawm, 2009, p. 11)
23
conceitos de Pensamento Convergente e Divergente: este último como uma solução inovadora, ou seja, aquela que responde de maneira distinta do que seria esperado.
Para pesquisar o panorama atual é necessário acrescentar a esta lista uma série de palavras que surgiram, ou se evidenciaram neste período e sem as quais seria impossível descrever ou pensar a sociedade de hoje. São elas: tecnologia, em-preendedorismo, inovação, start up, stakeholders, e entre outras, a criatividade.
O termo criatividade atravessou a história e passou de inspiração proveniente das Musas na Grécia antiga a ativo fundamental na economia contemporânea. A expressão “Eureka” de Arquimedes, certamente contribuiu para o mito do gênio criador do século XIX, onde, aqueles cujo talen-to fosse notável, eram considerados iluminados e dotados de algo divino.
Vários foram os teóricos que se debruçaram sobre o assunto: Rogers (1959) relaciona a criatividade com o meio; Ghiselin (1952) referia que a criatividade é tão ampla quanto possa ser considerada a estrutura do homem; ou ainda, Guilford (1950) que trouxe os conceitos de Pensamento Convergente e Divergente: este último como uma solução inovadora, ou seja, aquela que responde de maneira distinta do que seria esperado.
Cidades Criativas
O conceito de Cidades Criativas deriva de outro conceito mais abrangente (que o contém), a Economia Criativa, cuja perspectiva contemporânea atrai interesses dis-tintos, e tem como premissa repensar recursos, formas de administração, caminhos de contribuição, entre outros.
Economia Criativa
O final do século XX trouxe o conceito da Economia Criativa:
Imediatamente a seguir, na Inglaterra do governo de Tony Blair, há um meticulo-so estudo que reuniu governo e setor privado e do qual resultou um documento elencando os 13 setores com maior potencial econômico. Este conjunto recebeu o nome de Indústrias Criativas e tem na criatividade, na habilidade e nos talentos individuais o potencial para a criação de riqueza e empregos por meio da geração e exploração de propriedade intelectual. (Reis, 2011)
Segundo Reis (2011), a propriedade intelectual torna-se a essência da conceitua-ção de John Howkins (2001) que no início deste século, debruça-se sobre o tema. A “moeda da economia criativa”:
Embora não haja consenso quanto às raízes da Economia Cria-tiva, as evidências bibliográficas coletadas indicam sua primei-ra aparição sob a roupagem da expressão Creative Nation, sur-gido na Austrália, em 1994 (Department of Comunications, Information Technology and the Arts, Austrália, 2004). (Reis, 2011, pg. 8)
ativo intangível criado pela mente humana, altamente cobiçado pelo va-lor que agrega a indústrias novas e tradicionais da economia, teria além de tudo uma vantagem extraordinária, em um mundo de produtos e ser-viços, como vimos, crescentemente padronizados e com ciclos de vida fugazes. Trata-se da menor vulnerabilidade à cópia, em se pressupon-do o respeito aos acordos de propriedade intelectual ratificados pelos 184 países membros da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMP) e não obstante a prática da pirataria nos meandros globais, no-tória inclusive em países signatários da organização. (Reis, 2012, p. 26)
25
Imagem 3 | Diagrama Economia CriativaFonte | Autora
Vivant (2012), por seu turno, refere que:
Crítico em relação à denominação da economia contemporânea como da “infor-mação” ou “conhecimento”, Florida (2002) entende ser a criatividade humana a força motriz desta sociedade. Para o autor, um dos grandes pilares da teoria da Economia Criativa é o conjunto de indicadores. Este conjunto, além do número de pessoas com diploma do ensino superior e do ensino técnico, que Florida (2002) denomina respectivamente de Talento e Tecnologia, contém também um terceiro T: a Tolerância. Este último contempla a diversidade, que por sua vez encampa “o peso da comunidade homossexual dentro da coletividade” e a “boêmia artística”.
Sobre estes critérios, Vivant (2012) cita Shearmur (2005) que diz não ser a quanti-dade de diplomados um indicador de crescimento, mas antes, as oportunidades ofertadas que são capazes de atrair um grupo destes graduados.
Florida (2002) refere também que a criatividade é multidimensional, apresentando diversas formas que se potencializam.
A criatividade relacionada exclusivamente às criações artísticas há muito que não a delimita. A visão contemporânea a define como sendo proveniente da diversidade, sendo diretamente proporcional à pluralidade onde pode ser encontrada e se apre-senta na forma de resultados, cada vez mais, em áreas a primeira vista sisudas e despidas de grau criativo.
Segundo Florida (2002), a sua transversalidade:
Na nova economia dita cognitiva, em que as ferramentas de produção e matéria-prima são a informação e o conhecimento, a criatividade cons-titui uma vantagem comparativa para empresas, indivíduos e territórios. (Vivant, 2012, p. 11)
A criatividade se está presente em produtos, pode estar também em processos, articulando informações e relacionando-as de modo a obter o aprimoramento dos modos de fazer, seja um artefato, seja um serviço, seja um procedimento. Atributo de fundamental importância, a criatividade é hoje um ativo importante e bastante representativo enquanto indicador econômico na sociedade contemporânea. No entanto, e como refere Reis (2012):
Para Reis (2012) a construção do conceito de Economia Criativa tem na globaliza-ção um agente acelerador. Isto se deve não só ao fato do conceito suscitar “ques-tionamentos acerca da importância da localização de recursos”, mas, também, pela amplitude que a noção de espaço adquiriu e que se reflete de forma direta na mo-bilidade, deixando mais “permeáveis as fronteiras espaciais e mentais entre local e global”. (Reis, 2012). A mesma autora refere ainda que a consequência da globali-zação da Economia Criativa pode ser observada sob outra perspectiva: a da frag-mentação das cadeias produtivas que inserida em um cenário de globalização pode dificultar o resgate dos benefícios gerados pela criatividade, pois, segundo a autora há um problema crônico: um estrangulamento da distribuição da indústria cultural.
Desencadeou outra reviravolta impressionante: levou os que antes eram vistos como rebeldes excêntricos atuando à margem para o centro do processo de inovação e crescimento econômico. Essas mudanças na economia e no ambiente de trabalho, por sua vez, ajudaram a propa-gar e a legitimar transformações semelhantes na sociedade como um todo. O indivíduo criativo não é mais encarado como um iconoclasta; ele – ou ela –faz parte da nova cultura predominante. (Florida, 2002, p. 6)
Embora o aporte que a criatividade gera em termos econômicos, sociais e culturais seja tema corriqueiro na literatura econômica, de Schumpeter aos arautos da economia do conhecimento, ela passa a ser reconhecida cada vez mais como recurso básico, diferencial e imprescindível. (Reis, 2012, p. 18)
27
2.1. Derivação de Conceitos: Indústrias, Classe e Cidades Criativas
2.1.1. Indústrias Criativas
Resultado do documento elaborado no governo de Tony Blair, conforme referido anteriormente, o conceito de Indústrias Criativas, segundo Bendassolli (2009) con-templa a criatividade como matéria-prima da propriedade intelectual; a percepção de valor atribuído à cultura (o que a transforma em objeto cultural); a transformação desse valor em propriedade intelectual e, portanto em valor econômico e, a conver-gência entre artes, negócios e tecnologia.
A análise de Jaguaribe (2006 apud Bendassolli, 2009) sobre as fronteiras das In-dústrias Criativas reforça a ideia de transversalidade do conceito, a importância da tecnologia que dota o “analógico” de uma possibilidade de maior abrangência.
A relevância adquirida pelo tema levou as Nações Unidas a publicarem um estudo sobre o assunto (2010) que, além de apontar a ação aceleradora que a Indústria Criativa pode imprimir às economias emergentes, também elenca seguintes con-tornos:
Em geral, existe uma espécie de acordo que as Indústrias Criativas têm um coregroup, um coração, que seria composto de música, audiovisual, multimídia, software, broadcasting e todos os processos de editoria em geral. No entanto, a coisa curiosa é que a fronteira das indústrias criativas não é nítida. As pessoas utilizam o termo como sinônimo de indústrias de conteúdo, mas o que se vê cada vez mais é que uma grande gama de processos, produtos e serviços que são baseados na criatividade, mas que têm as suas origens em coisas muito mais tradicionais, como o craft, folclore ou artesanato, estão cada vez mais utilizando tecnologias de ma-nagement, de informática para se transformarem em bens, produtos e serviços de grande distribuição. (Jaguaribe, 2006 apud Bendassolli, 2009 p.12)
_ são ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade e o capital intelectual como insumos primários;_ constituem um conjunto de atividades baseadas em conhecimento, focadas, en-tre outros, nas artes, que potencialmente geram receitas de vendas e direitos de propriedade intelectual; _ constituem produtos tangíveis e intangíveis e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de mercado;_ posicionam-se no cruzamento entre os serviços artísticos, de serviços e indus-triais;_ constituem um novo setor dinâmico no comércio mundial3;
No Brasil, a importância do tema levou a criação da Secretaria de Economia Criativa (SEC), por meio do Decreto 7743 de 1º de Junho de 2012, vinculado ao Ministério da Cultura e cujo objetivo centra-se potencialização da cultura como eixo estratégi-co nas políticas púbicas de desenvolvimento do Estado brasileiro4.
Imagem 4 | Ranking - Indústrias Criativas/Países. Fonte | Disponível em: < http://jpress.jornalismojunior.com.br/2012/05/economia-criativa/> Acesso em: 17 de maio de 2014.
29
3 Relatório de Economia Criativa – 2010. Economia Criativa: Uma Opção de Desenvolvimento Viável. Nações Unidas, 2010. Disponível em: < http://www2.cultura.gov.br/economiacriativa/wp-content/uploads/2013/06/relatorioUNCTAD2010Port.pdf> Acesso: 02 de novembro de 2014.
4 Secretaria de Economia Criativa – Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/secretaria-da-economia-criativa-sec> Acesso: 02 de novembro de 2014.
2.1.2. Classe Criativa
Florida (2002) cunha o conceito de Classe Criativa como sendo um grupo formado por indivíduos das ciências, das engenharias, da arquitetura e do design, da edu-cação, das artes plásticas, da música e do entretenimento. Basicamente, o objetivo deste grupo é criar novos conteúdos: sejam tecnológicos, de serviços, de produtos. Nesta definição de Florida (2002) cabe ainda uma extensão que abarca profissionais das áreas das finanças, negócios, leis, saúde e afins. Tal definição alarga em muito a já presente abrangência do conceito. Isto se dá, muito em função do que Florida (2002) pretende como substrato para o conceito: independentemente da área, os membros da Classe Criativa compartilham o mesmo Éthos Criativo, que valoriza a criatividade, a individualidade, as diferenças e o mérito.
Vivant (2012) é bastante crítica em relação ao conceito de Classe Criativa desenvol-vido por Florida (2002) por defini-lo como um pouco simplista. Segundo a autora. o novo conceito esquiva-se das noções básicas de classe: um conjunto de interesses e valores compartilhados. Dada a diversidade de segmentos que a Classe Criativa abarca, a “pertinência da análise” fica comprometida:
Florida (2002) refere que hoje, nos Estados Unidos, a tradicional Classe Trabalhado-ra já é numericamente inferior ao contingente da Classe Criativa, que por sua vez, também é menor que a Classe de Serviços. Embora assim seja, o papel vital da Classe Criativa no panorama econômico americano, faz com que seja muitíssimo influente. No comparativo com a Classe Empresarial, o autor afirma que a Classe Criativa é substancialmente maior.
seja sob o ângulo das trajetórias individuais, dos salários e das posições sociais, seja sob o ângulo de uma consciência de pertencimento a uma entidade social, ainda que esta seja vasta. (Vivant, 2012, p.18)
A principal diferença entre as atividades desenvolvidas pelas distintas classes as-senta na subordinação ou na liberdade para a realização de tarefas: enquanto a Classe Trabalhadora realiza funções de acordo com um plano pré-estabelecido, a Classe Criativa tem autonomia para elaborar a complexidade de suas atividades.
2.1.3. Cidade Criativa
Para Florida (2002 apud Vivant, 2012) a Cidade Criativa está ligada a sua dimen-são criativa, revelado por seu dinamismo cultural e artístico, único capaz de fazer frente aos efeitos de desinvestimento causados pelo declínio industrial e embora as grandes cidades tenham sido sempre espaços de manifestação da singularidade e da criatividade, estes atributos eram tidos como marginais. Hoje a efervescência criativa passou para o centro da cidade e de sua atividade, tomando a dianteira de motor do desenvolvimento econômico.
É sobre a cidade como polo dinamizador da criatividade que Leite (2012) referencia Schumpeter e o seu pioneirismo em relacionar inovação e desenvolvimento. Para Schumpeter (1934) a inovação é diretamente proporcional ao investimento e ao lucro e se apresenta sob duas formas: inovação radical (que opera alterações) e inovação incremental (que retroalimenta o processo de inovação). No pós-guerra surge a Economia da Inovação. A partir da teoria econômica de então, Schumpeter (1934) faz uma nova leitura na qual insere variáveis dinâmicas e aspectos sociais, o que alarga o seu espectro de análise. Da leitura resulta o conceito de “destruição criadora”: onde produtos e hábitos estabelecidos são substituídos por novos. (Ha-ddad, 2010)
31
Reis (2010) refere que a Cidade Criativa está diretamente relacionada a uma cida-de na qual prevalece a Economia Criativa, embora não seja de forma exclusiva. A complexidade de uma cidade contempla dinâmicas próprias capazes de alavancar iniciativas de forma muito mais amplas.
Vivant (2012) relaciona as cidades pioneiras com aquelas que mais sofreram com a crise industrial e entende que, a ideia de Cidade Criativa, deve ser repensada para que com um mínimo de clareza possa escapar da rejeição que suscita.
O grande mérito do conceito, segundo a autora, é repensar a ideia de cidade, sob uma ótica contemporânea, que expõe seu grande atributo como “entidade emanci-padora” e agente facilitador na “expressão das singularidades, a reinvindicação e a manifestação das diferenças e da diversidade”. (Vivant, 2012)
Para a autora há uma incompatibilidade contida no conceito: se por um lado o processo relaciona de forma crescente aquilo que é urbano com a criatividade, por outro, se vê diante da possibilidade de romper com a população local que “garante a autenticidade local”. (Vivant, 2012)
A questão dos indicadores de Florida (2002) na ótica de Vivant (2012) faz revelar uma interface com a esfera governativa bastante apetecível. E
As cidades são pensadas como centros de inovação há muito tempo. Em 1606, o padre e pensador liberal italiano Giovanni Botero já dizia que o grande diferencial das cidades não eram nem os prazeres da vida urbana, nem a segurança que elas traziam (em comparação com a vida precária no campo), mas sim, a riqueza (econômica, social e cultural) que provinha da concentração da diversidade de suas populações. O argumento só seria retomado, aprofundado e popularizado mais de 300 anos depois por Jane Jacobs em Vida e Morte das Grandes Cidades. (Leite, 2012 p. 74)
Esta leitura que a autora faz sobre os conceitos de Florida (2002) tem forte conte-údo político e remete à utilização da cultura no quadro das políticas urbanas como ferramenta de valoração, o que seria a expressão mais visível do “fenômeno”: um ativismo cultural dos políticos municipais destinado a suscitar o retorno da popula-ção abastada e culta à cidade. (Vivant, 2012)
Reis (2010), a partir de um estudo desenvolvido em 2009 (Perspectivas sobre Cida-des Criativas/ Creative City Perspectives), cuja transversalidade do conceito reuniu especialistas de 18 áreas distintas, pôde perceber que a grande característica da
Cidade Criativa centra-se em uma dinâmica de constante mudan-ça o que as incita a lançar novos olhares sobre problemas e a aprovei-tar oportunidades que de outra forma passariam despercebidas. (Reis, 2010)
O referido estudo permitiu ainda elencar três atributos, a saber: a inova-ção, as conexões e a cultura. Para a autora, o primeiro dos atributos, a inova-ção (aqui entendida como a prática da criatividade) abrange processos e pro-dutos e extrapola o caráter tecnológico e científico das descobertas. Tem um âmbito transversal, permeando aspectos sociais e administrativos, e ainda, re-pensando formatos de desenvolvimento (como os colaborativos, por exemplo).
Os Parklets congregam algumas dessas características.
Projetos originalmente concebidos em São Francisco, nos EUA, os Parklets foram pensados de forma a, em uma escala muito pequena, prover a cidade de áreas recreativas, de caráter temporário. Acabam de ser regulamentados pelo poder pú-blico local da cidade de São Paulo, depois de uma implantação-piloto ocorrida em 2012, muito bem sucedida em termos de aceitação pelos usuários.
33
A instalação de Parklets na cidade pode surgir por iniciativa dos moradores e pro-põe a utilização temporária de espaços originalmente destinados ao estacionamen-to de carros, para a ampliação do passeio público. O segundo atributo mencionado pela autora (a conexão) abrange um amplo es-pectro: a conexão entre áreas distintas da cidade (promovendo a mobilidade); o acesso a informação, situando a cidade em termos locais, regionais ou globais; a interação entre classes sociais, por meio da oferta de espaços e equipamentos urbanos indistintos; a conexão temporal: a articulação entre passado, presente e futuro, construindo e consolidando a identidade urbana; e por fim, a convergência entre os setores público e privado na concretização de iniciativas urbanas.
Imagem 5 | Parklet.Fonte | Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/2161> Acesso em: 17 de maio de
2014.
Dentro desta perspectiva, está a Praça Victor Civita: equipamento urbano que ofe-rece ao morador da cidade de São Paulo uma extensa área de lazer, com progra-mação cultural, esportiva, além de atividades educacionais voltadas para a reflexão sobre o tema da sustentabilidade. Espaço público construído em uma área anterior-mente degradada, os 14.000m² foram construídos na sequência de uma parceria público-privada, instituída entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o Instituto Abril. A gestão do equipamento também tem um formato que contempla a articu-lação entre empresas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e o próprio usuário, por meio da AAPVC – Associação Amigos da Praça Victor Civita.
35
O terceiro atributo a que Reis (2010) faz menção no referido estudo é a cultura: sempre na perspectiva do valor identitário que se constitui como produto de um “ambiente de liberdade de expressão e comportamento”, onde coexiste a diver-sidade e promoção “do que é distinto”. E desta forma, a cultura dá o seu con-tributo para a economia, para a qualidade de vida, para a autoestima e para a participação de quem compõem a cidade, bem como para a formação de um ambiente favorável a suscitar perspectivas alternativas, como refere Reis (2010).
Aqui, como nos atributos anteriores, também está presente a questão da escala. Para reportá-la, faz-se referência à instalação Toque-me, Sou Seu. Versão nacional do pro-jeto do artista inglês, Luke Jarram. Play Me, I’m Yours (que nasceu em 2008 por meio da instalação de vários pianos em lugares públicos na cidade de Londres, com o objetivo de promover a interação) a instalação paulistana se efetivou por iniciativa do SESC.
Na sequência, a CPTM tomou para si a responsabilidade do projeto.
Na outra extremidade da análise feita por Reis (2010) para o atributo cultura, faz-se referência à Virada Cultural e aos números que contempla: 10 anos de existência, 28 munícipios participantes, 900 atrações, 24 horas de programação, mais de 4 milhões de espectadores e uma movimentação financeira superior a 100 milhões de reais 5.
Desde aí, há um piano itinerante e um piano instalado no saguão da Esta-ção da Luz. O Fritz Dobert residente acolhe: tanto o espanto dos passagei-ros, quanto àqueles que se apropriam do objeto para produzir sonoridade. A Estação da Luz, local de passagem, rápida circulação, que determina trajetórias e impõem fluxos, recebe diariamente 150 mil pessoas. É aqui, inserido na imponência de seu hall de entrada, o abrigo desta que, apesar de micro-intervenção, é capaz de alterar sonoridades, horários e encon-tros. (Castanheira, 2013 p.3)
5 Virada Cultural 2014 – Disponível em: <viradacul-tural.prefeitura.sp.gov.br > Acesso: 02 de novembro de 2014.
2.2. Escalas e Motivações
2.2.1. Escalas
Para refletir sobre a escala busca-se referência em Deleuze (1983 apud Zourabich-vili, 2004) e no conceito de Agenciamento:
Segundo Gomes (2008), este conceito de Deleuze (1983 apud Zourabichvili, 2004) contempla a coexistência de distintos elementos, justapostos, cujos comportamen-tos estão diretamente relacionados à configuração que adquirem. Para o mesmo autor, há uma relação de horizontalidade cuja abrangência abarca a corporeidade das ações, dos atos e das transformações, definindo assim, conteúdo e forma de expressão. A relação de verticalidade apresentada pelo conceito define a sua iden-tidade.
O conceito de Univocidade do Ser (Deleuze 1983 apud Zourabichvili, 2004) também contempla o atributo da transversalidade e remete ao conceito de Emergência, na medida em que detecta que esta comunicação acontece de forma horizontal entre seres que apenas diferem, mas, onde não é possível perceber um comando ou uma hierarquia.
O Rizoma, outro conceito de Deleuze (1983 apud Zourabichvili, 2004) fala de sub-trair o único da multiplicidade a ser construída, mas, ressalta que não se refere ao uno ou ao múltiplo. Refuta a ideia de unidade em detrimento da ideia de dimensão.
Esse conceito pode parecer à primeira vista de uso amplo e indetermina-do: remete, segundo o caso, a instituições muito fortemente territorializa-das (agenciamento judiciário, conjugal, familiar etc), a formações íntimas desterritorializantes (devir animal etc), enfim ao campo de experiência em que se elaboram essas formações (o plano de imanência como “agencia-mento maquinico das imagens-movimentos”). (Zourabichvili, 2004, p. 9).
37
Mas, para falar de outra escala que não a macro, retoma-se, por meio de Zou-rabichvili (2004) o conceito de Agenciamento (Deleuze 1983 apud Zourabichvi-li, 2004) que segundo o autor, em essência, se constitui todas as vezes que for possível identificar e descrever o acoplamento de um conjunto de relações mate-riais e de um regime de signos correspondentes. O mesmo autor acrescenta que o indivíduo, por meio de códigos específicos (que incluem uma redução no cam-po de experimentação), processa os agenciamentos sociais. Este é o polo estra-to dos agenciamentos denominados pelo autor como “Molares”. A forma como o indivíduo intervém e participa nos agenciamentos sociais está diretamente rela-cionado aos agenciamentos locais, denominado pelo autor como “Moleculares”:
Para Rodovic (2012) (fundador do Co + Lab da Universidade de Keio) alguns dos fenômenos urbanos se prestam a uma mensuração exata e outros não, como é o caso da cultura urbana e da sustentabilidade ambiental que “resistem ao exercício de quantificação”. Em associação à Gehl Architects, o Co + Lab desenvolveu um método de percepção da cidade – que tem como característica principal a atenção ao detalhe e à escala humana, a partir daquilo que foi desenvolvido na década de 1960 por Jan Gehl. Denominado Mensurando o Não-Mensurável, o projeto lide-rado por Rodovic, pretende fazer esta leitura e tem como premissa levar em con-ta a especificidade cultural e ambiental no desenvolvimento urbano, enfatizando a complexidade decorrente da identidade local por meio de critérios de avaliação circunscritos 6.
nos quais ele próprio é apanhado, seja porque, limitando-se a efetuar as formas socialmente disponíveis, a modelar sua existência segundo os có-digos em vigor, ele aí introduz sua pequena irregularidade, seja porque procede à elaboração involuntária e tateante de agenciamentos próprios que “decodificam” ou “fazem fugir” o agenciamento estratificado: esse é o pólo máquina abstrata (entre os quais é preciso incluir os agenciamen-tos artísticos). (Zourabichvili, 2004, p. 9).
6 Co + Labo Radovic -– Disponível em: <http://rado-vic.sd.keio.ac.jp/> Acesso: 02 de novembro de 2014.
Franco (2013 apud Rosa, 2013) refere a dicotomia presente nas iniciativas macro/micro, top down/bottom up, plano/tática, enquanto contrários e complementares. O autor trabalha a ideia de complementaridade sob a perspectiva da filosofia e da dialética platônica: repartição de um conceito em dois outros, geralmente contrários e complementares. Na perspectiva da dicotomia que traduz a coexistência entre o macro e o micro, entende-se ser possível remeter à utilização flexível dos espaços urbanos. Entende-se o uso temporário como uma micro escala, uma parcela da totalidade possível de ocupação.
2.2.2. Motivações
A referência que Vivant (2012) faz à dimensão polissêmica da cidade criativa vai de encontro ao que Florida (2002) pensa sobre a transversalidade da criatividade: é proveniente da diversidade, há uma relação de proporcionalidade entre criatividade e pluralidade. Jacobs, no início da década de 1960, já discutia esta questão. Flo-rida (2002) reforça o seu argumento citando a autora: lugares bem sucedidos são multidimensionais e diversificados – eles não apelam a um único setor ou grupo demográfico; eles são repletos de estímulo e troca criativa.
O lugar geográfico para Florida (2002) desempenha hoje o papel agregador que antes pertencia à empresa. A questão do lugar, segundo o autor, é de suma impor-tância para os indivíduos criativos: é fundamental haver a troca entre pares. Para Vi-vant (2012) a Cidade Criativa remete a dois fenômenos: o processo de gentrificação dos bairros dos artistas e a política de valorização da cidade, como polo atrativo. (Vivant, 2012) Para a mesma autora, a promoção da Cidade Criativa por meio de um processo conduzido, inibe aquela que é a conjuntura fundamental para a sua proli-feração: a serendipidade, que a autora chama de a condição urbana da criatividade.
39
Este termo, segundo Ferreira (1986) é aquele usado na ciência para descrever o processo da descoberta científica, como se de um acaso esperado se tratasse. Há muitos relatos de acasos na história da ciência. E, para Vivant (2012), é só neste terreno propício que a criatividade urbana se desenvolve e concretiza a Cidade Criativa. Dos encontros e das conexões randômicas surgem as distintas formas de construir e viabilizar o novo.
Morin (2005), na elaboração do conceito Pensamento Complexo, também faz refe-rência ao acaso. Para este autor, a complexidade não compreende apenas quanti-dades de unidades e interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo: ela compreende também incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios. A com-plexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso.
Johnson (2001) também recorre à Jacobs (1961) para referenciar a questão da vida própria que o espaço urbano apresenta e que somente por meio da leitura atenta da cidade, em um processo endogênico, será possível entender, apreender e aprender com a própria cidade. As pesquisas deste autor que tem origem nos estudos da biologia remetem à complexidade, emergência e auto-organização.
A complexidade de Morin (2005) está presente em Johnson (2001) e o seu conceito de comportamentos emergentes. Sendo a complexidade uma palavra que recorren-temente surge em “relatos críticos sobre o espaço metropolitano”, Johnson (2001) faz a distinção entre dois tipos:
Mais do que conceber uma cidade criativa, o desafio do urbanista é criar condições de serendipidade e de criatividade, deixando espaço para o desconhecido e aceitando que apareçam na região práticas não planeja-das, até mesmo não autorizadas, que tornam possíveis encontros impre-vistos e improváveis. (Ascher, 2007 apud Vivant, 2012, p. 84)
A primeira, segundo o autor, que está circunscrita a uma sobrecarga sensorial, se relaciona à expansão da cidade, em um processo de quase resiliência, onde os no-vos cenários repercutem novos reflexos e novos valores.
A segunda, que diz respeito a um processo de auto-organização, ao contrário da primeira, não se constitui como um processo sensorial, mas, sim, descritivo do sis-tema da própria cidade.
O conceito de complexidade em Morin (2005) pode ser entendido como uma sobre-posição de camadas que se observadas de forma conjunta tem o seu entendimento dificultado, mas, por outro lado, se dissecadas e observados em sua condição uni-tária, possibilitam a construção da percepção individual que constitui o conjunto. Está próximo do que Johnson (2001) refere como sendo o comportamento com-plexo: um sistema com múltiplos agentes interagindo dinamicamente de diversas formas - a partir de complexas interações paralelas entre agentes locais, seguindo regras locais e não percebendo qualquer instrução de nível mais alto. Este com-portamento se efetiva verdadeiramente emergente - na confluência entre ordem e anarquia, quando todas as interações locais resultam em algum tipo de macro comportamento observável.
A auto-organização a que Johnson (2002) se refere diz respeito a um arranjo em de-terminado sentido, sem haver a presença de uma entidade superior. No conceito de comportamentos emergentes, Jonhson (2002) faz referência a Morfogênese, con-ceito de Allan Turing (1954): como a partir de algo muito simples é possível atingir um estágio de complexidade e sofisticação.
A cidade é complexa porque surpreende, sim, mas também porque tem uma personalidade coerente, uma personalidade que se auto-organiza a partir de milhões de decisões individuais, uma ordem global construída a partir das interações locais. (Johnson, 2002, p. 28/29)
41
Turing (1954) teve um papel essencial na criação do hardware e do software, a partir de seu trabalho sobre a morfogênese: uma das primeiras tentativas sistemáticas de conceber o desenvolvimento como um problema de complexidade organizada (Johnson, 2001, p. 36). Para que a ocorrência possa se tornar um padrão, é neces-sário que seja reconhecida em distintos contextos. Jonhson (2002) refere que Keller 7 e Segel 8 perceberam o padrão nas agregações do Dyctyostelium discoideum 9; Jane Jacobs o viu na formação das comunidades urbanas; Marvin Minsky 10; nas redes distribuídas do cérebro humano. (Johnson, 2001)
Para Johnson (2001) o traço comum entre os referidos sistemas é o fato de todos eles serem capazes de resolver problemas:
O autor quer referir que o comportamento emergente é resultado de um comporta-mento atípico para a escala dos atores, ou seja, estes se auto induzem a produzir ações típicas de uma escala superior, partindo de algo simples para chegar a algo sofisticado, caracterizando assim aquilo que se denomina emergência. Este com-portamento adaptativo trabalha a micro escala: se utiliza de regras circunscritas, apropriadas ao local e que alçam este nível superior. Se assim não for, ou seja, se não houver esta componente adaptativa, não há funcionalidade. A complexidade do comportamento, segundo Johnson (2001), é:
com o auxílio de massas de elementos relativamente “simplórios” 11, em vez de contar com uma única “divisão executiva” inteligente. São siste-mas Bottom Up, e não, Top Down. Pegam seus conhecimentos a par-tir de baixo. Em uma linguagem mais técnica, são complexos sistemas adaptativos que mostram comportamento emergente. (Johnson, 2001, p. 14)
Um sistema com múltiplos agentes interagindo dinamicamente de diver-sas formas, seguindo regras locais e não percebendo qualquer instrução de nível mais alto. Contudo, o sistema só seria considerado verdadei-ramente emergente quando todas as interações locais resultassem em algum tipo de macrocomportamento observável. (Johnson, 2001, p. 14)
43
Imagem 6 | Projeto Giganto | Colunas do Elevado Costa e Silva.Fonte| Disponível em http://camilapastorelli.com/Imagem | Camila PastorelliAcesso| 27 de Novembro de 2014
7. Evelyn Fox Keller, doutora em Física, pela Universidade de Harvard, que no final de década de 1960 desenvolveu pesquisa no campo da “ter-modinâmica do não equilíbrio” que, posteriormente se associaria a Teoria da Complexidade (Johnson, 2001, p. 9)
8. Em 1968 Keller conheceu o pesquisador Lee Segel, cuja pesquisa em matemática aplicada em muito se alinhava à sua pesquisa. Foi Segel que apresentou à Keller o inusitado comportamento do Dyctyostelium discoideum, a partir do qual foram desenvolvidas pesquisas em conjunto que contribuíram de forma relevante para o entendi-mento contemporâneo quer da evolução biológica, do design de software ou dos estudos urbanos. (Johnson, 2001, p. 10)
9. Dictyostelium discoideum, é uma espécie de amebóide, que pela simplicidade de sua consti-tuição é amplamente usado como modelo para estudos do desenvolvimento multicelular. Dispo-nível em: <http://www.nature.com/nature/journal/v408/n6815/abs/408965a0.html> Acesso em: 02 de novembro de 2014.
10. Marvin Minsky é um cientista americano e professor do MIT, cuja pesquisa centra-se nos es-tudos cognitivos no campo da inteligência artificial. Disponível em: < https://web.media.mit.edu/~-minsky/> Acesso em: 02 de novembro de 2014.
11. Aspas da autora.
Imagem 7 | Beco do Batman, Pinheiros, SP.Fonte | Disponível em: <http://criancacomconteu-do.blogspot.com.br/2012/04/beco-do-batman.html#.VFZ_hPl4r0c> Acesso: 02 de novembro de 2014.
3. Praticas criativas, micro planejamento urbano e iniciativas Bottom Up
Ao contrário das grandes intervenções urbanas, para Rosa (2011), a invisibilidade das micro ações represa o enorme potencial desses projetos, que indicam a escala local e as táticas urbanas (como definido por Certeau, 1998) como uma (outra) for-ma de pensar a cidade. Para o mesmo autor, a cidade se constitui como um grande laboratório de experimentações múltiplas, onde “as novas conexões e redes estra-tégicas focam processos locais abertos a táticas Bottom Up (de baixo para cima)” e que carece de um “planejamento capaz de absorver o que emerge e o que é gerado pelos meios urbanos”.
As “microrresistências” referidas por Jacques (apud Rosa 2013) convergem para Guatelli (2008).
As práticas transdisciplinares que operam em sentido oposto ao formato estabe-lecido e regido por regras e leis (Guatelli, 2008) contribuem para compor o urbano contemporâneo que, propiciadas por espaços experimentais, atribuem novos sig-nificados às interações, apropriações e relações locais. Guatelli (2008) detecta que esta série contemporânea de práticas projetuais revela uma preocupação em refletir a respeito da tradição e das identidades locais.
Nesse cenário, segundo o autor, emerge um usuário capaz de identificar as necessi-dades e, ao mesmo tempo, antever potencialidades locais para desta forma, conce-ber e construir intervenções, que de outra forma possivelmente não aconteceriam.
Para Rosa (2013) é este envolvimento (a auto-organização) da população que ca-racteriza a prática urbana criativa e que, parece ao autor, ser produto da falta de espaços de coexistência, fruto do processo de urbanização.
47
O Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo, é uma dessas iniciativas. Na década de 1980 os muros dos fundos das residências que ladeavam as ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque, na Vila Madalena, começaram a atrair estudantes de Artes Plásticas.
As intervenções artísticas tomaram conta das paredes disponíveis e, o que come-çou como um espaço de apropriação pela reduzida oferta de suportes semelhantes se notabilizou na imprensa nacional e estrangeira, tornando-se referência artística e parada obrigatória no circuito artístico da cidade. Apesar de ser uma galeria de arte que não funciona nos moldes de uma convencional, a articulação da auto-organi-zação fez deste vazio urbano, um espaço com uma dinâmica própria de utilização e alternância das intervenções 12.
A Academia de Boxe Cora Garrido, que há 10 anos se instalou no Viaduto do Café, em São Paulo, também é representativa deste formato contemporâneo de interven-ção. Com visibilidade internacional, o projeto Garrido (que tem no ex-pugilista Nil-son Garrido a figura de comando) passou de um formato-mix com locais inusitados para a prática de boxe para um formato quase-franquia-social em que o idealizador instala, consolida, delega e parte em busca de outros locais para a implantação de novos polos. A Cora Garrido já está no terceiro espaço: sob o Viaduto Alcântara Ma-chado, na Rua Avanhandava e mais recentemente, na Zona Leste, em São Miguel Paulista.
Curiosamente, esse mesmo processo produziu espaços urbanos desper-diçados, vazios, subutilizados, residuais que, quando interpretados como campos com potencial para a prática criativa, representam uma possibi-lidade de reestruturação urbana comprometida com a escala local. Esses pensamentos traduzem a cidade aberta à brincadeira e à experimenta-ção, no espaço aberto à criação, à ação coletiva e à ocupação – a reinter-pretação de um cenário construído ao qual novo significado é adicionado. (Rosa, 2013, p. 16/18)
Para refletir sobre o trabalho desenvolvido por Garrido busca-se substrato no con-ceito de Não-Lugar de Augé (1992) e desta forma, o projeto passa a expressar uma dicotomia: insere em um Não-Lugar a personalização de um espaço construído para o resgate pessoal, para a inclusão.
A concretização de uma iniciativa que parte da base, onde o usuário protagoniza a iniciativa a partir da percepção pessoal das necessidades e das possíveis soluções, caracterizam as iniciativas Bottom Up. Ao contrário das iniciativas Top Down, nas práticas Bottom Up, não há hierarquia ou figura de comando. É um sistema trans-versal, configurando uma ação de auto-organização. O conjunto trabalha, com um objetivo comum, e no entanto, a partir dessas rotinas de nível baixo, emerge uma forma coerente. (Johnson, 2001 p.15)
Garrido, em parceria com Cora Batista Garrido, idealizadora e responsá-vel pela associação civil Cora Sol Nascente, minam a “representação” e “identidade original” de um local (Não Lugar?) “historicamente” indesejá-vel e condenável ao criarem e estruturarem um lugar esportivo e cultural hospitaleiro, composto por uma academia de ginástica, ringue de boxe, além de uma biblioteca e escola infantil, ou seja, uma praça esportiva e cultural, pública e gratuita. (Guatelli, 2008 p. 38)
Pleiteando o registro para atuar como uma ONG, estabeleceram recen-temente um acordo verbal, uma parceria com o poder municipal para disseminar suas “praças” por locais semelhantes na cidade, gerando in-tensidades (diferencial qualitativo) sob viadutos, metamorfoseando-os. Incapaz de controlar esses espaços, a prefeitura parece perceber na par-ceria uma possibilidade de gerenciamento indireto dessas áreas residu-ais. Ao contrário de estratégias (de negação) baseadas em impedimentos, falsos embelezamentos, esvaziamentos e inibições, o que vemos é a po-tencialização de um espaço-suporte, agora de acolhimento social incon-dicional, estimulante à ocupação produtiva, gerada por um congestão e “promiscuidade ” programáticas 13, de contiguidade e concomitâncias de atividades não complementares; afinal, o que historicamente têm em co-mum uma biblioteca, escola infantil e um ringue de Boxe? (Guatelli, 2008 p. 38)
Imagem 8 | Academia Cora GarridoFonte | Disponível em: <http://dafoto.blogspot.com.br/2011/04/academia-de-boxe-do-garrido.html> Acesso: 02 de novembro de 2014.
Imagem 9 | Academia Cora GarridoFonte | Disponível em: <http://dafoto.blogspot.com.br/2011/04/academia-de-boxe-do-garrido.html> Acesso: 02 de novembro de 2014.
49
12. Vila Madalena: grafites fazem a fama do Beco do Batman. Revista Veja. Disponível em: < http://vejasp.abril.com.br/materia/vila-madalena-grafi-te-beco-do-batman> Acesso em: 02 de novembro de 2014.
13. O autor faz referência ao arquiteto Rem Koo-lhaas que denomina promiscuidade programática, uma situação projetual onde a densidade e des-hierarquização do programa porpicia a condição fundante de uma arquitetura de acontecimentos inesperados. (Guatelli, 2007 p.3)
Na perspectiva de Hehl (apud Rosa 2013), a prática Bottom Up pode ser considera-da a mais significativa inovação em planejamento urbano. O mesmo autor chama a atenção, não só para a robustez dos desdobramentos Bottom Up, mas, sobretudo, para a notabilidade que estas práticas vêm conquistando junto aos “macro atores”.
O reconhecimento da capacidade de transformação inerente ao impulso local fica materializado na medida em que estas iniciativas passam a compor programas ofi-ciais.
Leite (2012) contrapõe, por meio do conceito da externalidade, a presença da ino-vação e do conhecimento, proporcional à concentração de capital, às práticas cria-tivas e Bottom Up, que, por meio de sua reinvenção, emergem dos territórios infor-mais. O projeto Bio Urban, de Jeff Anderson, começou reinventado um pequeno espaço na cidade de São Paulo “pré-destinado” a ser um vazio de urbanidade preenchido com sujeira, insegurança e feiura. O conceito, desenvolvido por Jeff Anderson, tra-balha a recuperação local (a pequena escala) por meio do envolvimento dos mora-dores do entorno, articulados em um processo colaborativo.
O Bio Urban trabalha, sobretudo, a questão da subutilização dos espaços urbanos e a ativação destas lacunas por meio da articulação coletiva.
Os economistas e sociológos especializados em questões urbanas tam-bém têm feito experiências com modelos que podem simular como uma cidade se auto-organiza ao longo do tempo. Embora as cidades atuais sejam rigidamente definidas de cima para baixo, por forças Top-Down, como as leis de zoneamento e as comissões de planejamento, estudio-sos há muito tempo reconheceram que forças Bottom-Up desempenham um papel fundamental na formação das cidades, criando comunidades distintas e grupos demográficos não planejados. (Johnson, 2001 p. 65)
Imagem 13 | Escadão do Cambuci – Projeto Bio Urban – Jeff Anderson.Fonte | Disponível em: <http://dafoto.blogspot.com.br/2011/04/academhttp://www.midiaindepen-dente.org/pt/red/2008/09/428856.shtml> Acesso: 04 de novembro de 2014.
Imagem 10 | Kit de Intervenção.Fonte | Disponível em: <http://marcoslrosa.com/filter/research/DBUAA-Rio> Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
Imagem 11 | Kit de Intervenção.Fonte | Disponível em: <http://marcoslrosa.com/filter/research/DBUAA-Rio> Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
Imagem 12 | Intervenção.Fonte | Disponível em: <http://marcoslrosa.com/filter/research/DBUAA-Rio> Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
14. Adote um Espaço Público. Jornal do Cambuci e da Aclimação. Disponível em: <http://projeto-amarelo.wordpress.com/2008/03/27/novas_desco-bertas_novos_horizontes/materia-do-jornal-proje-to-biourban/> Acesso: 04 de novembro de 2014.
15.Adote um Espaço Público. Jornal do Cambuci e da Aclimação. Disponível em: <http://projetoama-relo.wordpress.com/2008/03/27/novas_descober-tas_novos_horizontes/materia-do-jornal-projeto-biourban/> Acesso: 04 de novembro de 2014.
A gênese do projeto está na convergência entre a paixão pela cidade e a necessária temática para o desenvolvimento do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) de sua graduação em Ciências Sociais na PUC SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 14.
Neste primeiro projeto, o Escadão do Cambuci, o Bio Urban detectou esse espaço subaproveitado para, por meio de uma intervenção artística coletiva, transformar o local em um recinto de interação, capaz de receber atividades festivas e de conví-vio. O escadão oferecia ainda uma biblioteca, onde era permitido ao usuário levar o livro de seu interesse sem nenhuma inscrição prévia ou mesmo sem apresentação de documento, sob o lema “Confiar é Fundamental” 15.
51
Para o pesquisador, a cidade é antes de tudo uma questão de poder. As proble-máticas contidas no urbano se relacionam com o exercício do poder no espaço e a complexidade da cidade contemporânea há muito que exacerba o âmbito de ação do arquiteto e urbanista. O Bio Urban pesquisa formas complementares de promover a cidadania e o direito à cidade de uma forma interventiva, responsável e articuladora. Está em muito alinhado ao conceito de Empoderamento desenvolvido por Freire, que ao contrário do Empowerment , contempla um agente ativo no pro-cesso, que busca e concretiza.
A consciência dessa possibilidade individual construtiva, o Empoderamento 16, per-mite as novas conexões e a articulação de redes estratégicas locais. As práticas urbanas coletivas buscam por novas ferramentas capazes de lidar com estas reali-dades urbanas emergentes.
Desta “cidade real”, fruto da experimentação, como refere Rosa (2013), emerge “um espaço construído” que necessita ser revelado, descoberto, explorado. Para o autor, esta emergência criativa se constitui como resposta “à desertificação de es-paços coletivos de qualidade”. A manualidade das ações diz de sua escala: micro.
A urgência na resolução dessas ações diz de sua temporalidade: agora. É um re-pertório gestual, onde cada um deles (o gesto) efetiva este formato de intervenção e marca a localidade e a sua identidade.
Em 2013, no Rio de Janeiro, paralelamente ao trabalho desenvolvido na cura-doria do Deustche Bank Urban Age Award 17 e ao mapeamento das práticas criativas locais, o arquiteto Marcos Rosa e a designer Andrea Bandoni cria-ram kits de intervenção a partir de utensílios cotidianos. Pensando na esca-la e na temporalidade (o local, agora), os kits ofertavam a possibilidade imedia-ta de intervenção a partir de necessidades detectadas pelos usuários locais 18..
À dualidade que faz coexistir o planejado e o espontâneo no âmbito da cidade, referenciam-se duas questões contemporâneas: a transitoriedade e a espetacula-rização. A transitoriedade, ou a temporalidade líquida, remete a um conceito sur-gido nos Estados Unidos: o Pop Up. Termo originalmente associado a livros com ilustrações dinâmicas, posteriormente à internet e recentemente ao comércio, as Pop Ups Stores, se caracterizam por constituírem espaços temporários para a co-mercialização de produtos, podendo o local que recebe estes eventos, ser ou não, originalmente concebido para o efeito.
Nesta perspectiva de multiplicidade de usos associado ao que é transitório, surge, também nos Estados Unidos, o conceito do Pop Up Park (no qual estão incluídos os Parklets, mencionados anteriormente). Mais recentemente, arquitetos e desig-ners têm vindo a desenvolver o conceito, cuja premissa assenta na ativação de espaços subutilizados ou vagos.
Na contramão destas iniciativas de ocupação há o exemplo do Largo da Batata em Pinheiros, São Paulo. A sua atual configuração resulta dos dez anos de interven-ção da Operação Faria Lima 19. O projeto contemplou o alargamento das avenidas e a delimitação de uma enorme área vizinha a uma igreja, uma estação de metrô e ao comércio que resistiu à desapropriação e ao interlúdio da operação urbana. A requalificação, no entanto, resultou em profusão de pavimentação e ausência de qualquer mobiliário urbano ou vegetação. A imensa área (notadamente vocaciona-da para a implantação de uma praça), antes ocupada por intensa atividade comer-cial, materializa agora, a aridez de um lugar de passagem. Quase um não-lugar.
Ainda que o Ágora, ou o Fórum ou até mesmo a Praça inserida na escala urba-na contemporânea apresentem configuração e elementos compositivos distin-tos, estes espaços mantém-se como áreas simbólicas, apropriadas pelo cidadão,
53
Imagem 14 | Peça do Kit de Intervenção.Fonte | Disponível em: <Disponível em: <http://mar-coslrosa.com/filter/research/DBUAA-Rio> Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
17. O Deutsche Bank Urban foi criado em 2008 e tem por objetivo reconhecer e chancelar respostas criativas aos problemas das cidades contemporâ-neas. Catálogo Deutsche Bank Urban Age Award. Dis-ponível em: < http://issuu.com/marcoslrosa/docs/dbuaario_brochurept_singles_low> Acesso: 12 de novembro de 2014. 18. Catálogo Deutsche Bank Urban Age Award. Disponível em: < http://issuu.com/marcoslrosa/docs/dbuaario_brochurept_singles_low> Acesso: 12 de novembro de 2014.
19. Prefeitura de São Paulo – Operação Consor-ciada Faria Lima. Disponível em: < http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvi-mento_urbano/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/faria_lima/index.php?p=19591> Acesso: 04 de novembro de 2014.
sobretudo, para fins de interação: primeiramente de teor político, posteriormente comercial e atualmente, de lazer e cívico. Para Lamas (1990):
Se a rua, o traçado, são os lugares de circulação, a praça é o lugar in-tencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes e arquitecturas significati-vas...... A praça reúne a ênfase do desenho urbano como espaço colec-tivo de significação importante. Este é um dos seus atributos principais e que a distingue dos outros vazios da estrutura das cidades. (LAMAS, 1990 p.102)
Nesta perspectiva, a fim de promover uma reflexão e ao mesmo tempo reativar o espaço como local de interação surgiu o movimento A Batata Precisa de Você. O movimento, “uma manifestação cidadã propositiva”, se pauta por ser uma in-tervenção minimamente invasiva em termos de equipamentos ou acessórios.
A ideia, segundo a organização, é “ocupar o Largo com o que se tem à mão”. O acessível torna-se o necessário e, exonera qualquer tipo de “megaestruturas ou superproduções”. A “gambiarra como manifestação da permanente criatividade hu-mana e tática social” rege a capacidade cidadã de articulação e concretização 20.
Partilhando da insatisfação com a atual configuração do Largo da Bata-ta como espaço urbano de interação, a Design OK 21 consolidou uma ocupa-ção por ocasião da DW – Design Weekend: um festival de design que promoveiniciativas simultâneas em São Paulo e que tem como objetivo promo-ver a cultura do design e suas conexões com arquitetura, arte, deco-ração, urbanismo, inclusão social, negócios e inovação tecnológica 22.
O projeto contou com o apoio do movimento A Batata Preci-sa de Você, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambien-te de São Paulo, da Sub Prefeitura de Pinheiros, entre outros.
Ocupando uma área de 200 m, a iniciativa foi lançada por ocasião da DW – De-sign Weekend, um festival de design que promove iniciativas simultâneas em São Paulo e que tem como objetivo promover a cultura do design e suas cone-xões com arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios e inovação tecnológica 23. Findo o festival, o Pop Up Park foi doado à cidade.
A concepção da Design OK para o mobiliá-rio urbano utilizado assenta em premissas sustentáveis.
55
Imagem 15 | Largo da Batata – Movimento A Bata-ta Precisa de Você.Fonte | Disponível em: <http://blog.submarino.com.br/sonar/post/batata-precisa-de-voce/> Acesso em: 07 de novembro de 2014.
Imagem 16 | Largo da Batata – Movimento A Bata-ta Precisa de Você.Fonte | Disponível em: <http://mobilidadepinheiros.wordpress.com/2014/04/04/bicicletario-do-largo-da-batata-em-sao-paulo-deve-ser-inaugurado-em-maio/> Acesso em: 07 de novembro de 2014.
Imagem 17 | Pop Up Park instalado no Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo.Fonte | Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/gentileza-urbana/indicacao/largo-da-batata-ganha-jardim-com-parque-em-apenas-24-horas/> Acesso em: 08 de novembro de 2014.
Imagem 18 | Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo.Fonte | Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1502076-largo-da-ba-tata-ganha-area-verde-do-dia-para-a-noite.shtml> Imagem: Davi Ribeiro/ Folhapress. Acesso em: 07 de novembro de 2014.
20. Grupo de Designers, formado em 2008, com o intuito de propõe promover a colaboração e a troca de conhecimentos. 21. Sobral, Laura - O Largo da Batata Precisa de Você – Ocupação e Apropriação do Espaço Públi-co. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/14.166/5176> Acesso: 07 Nov 2014.
22. São Paulo Design Weekend Disponível em: <http://www.designweekend.com.br/wp/index.php/sobre-o-dw/> Acesso: 08 Nov 2014.
23. São Paulo Design Weekend Disponível em: <http://www.designweekend.com.br/wp/index.php/sobre-o-dw/> Acesso: 08 Nov 2014.
Trabalhando em uma escala menor, a Softwalks, um estúdio americano de ino-vação que trabalha o design urbano centrado no usuário, tem como pre-missa ativar os espaços (calçadas) delimitados por andaimes. O concei-to trabalha a questão das várias estruturas de andaimes que a cidade comporta, como uma superestrutura dentro da própria cidade, e que segun-do a Softwalks, também deve receber o mesmo empenho projetual que ou-tros equipamentos, ofertando desta maneira micro espaços de interação e lazer.
Desta forma, e para suprir a lacuna (ou ativar uma oportunidade) detectada pelos pro-fissionais, foi desenvolvido um kit com 5 peças (cadeira, balcão, luminária, suporte para plantas e tela/biombo), que combinadas entre si, compõem os Pop Up Parks.
Em São Paulo, um Pocket Park (derivação da denominação Pop Up Park, que em essência contempla a mesma proposta urbana) foi inaugurado na Rua Oscar Freire. O Pocket Park também tem caráter temporário e tam-bém procura ativar espaços da cidade, públicos ou privados, por meio da ins-talação de equipamentos que promovam a interação, o lazer e a cultura.
Este Pocket Park foi instalado por meio de uma iniciativa híbrida: privada-privada de utilidade pública, entre a Reud, uma empresa de desenvolvimento imobiliário e o Instituto Mobilidade Verde, ONG especializada na transformação de espaços em lugares humanizados, segundo o site da iniciativa.
A natureza das iniciativas pode ser distinta e a escala de sua reverberação também, pois, como refere Leite (2013), há uma emergência na construção da urbanidade, por meio da apropriação e da reativação local.
Para o mesmo autor a crescente participação da sociedade civil está na origem de muitas das múltiplas soluções inovadoras e as novas formas de governança (em especial as do tipo Tríplice: Universidades + Empresas + Governo) materializam novas formas de viabilização.
Para se refletir sobre o caráter genuíno destas manifestações traz-se a referência de Jacques (apud Rosa 2013) que fala do processo de espetacularização da cidade.
Em muitas cidades do globo neste século estamos vendo o reflexo no território do final da era fordista – cidades que construíram enormes in-fraestruturas para os carros, sem urbanidade local (dimensões urbanas locais). As transformações recentes no território urbano são baseadas em forte demanda dos “urbanoides”: cidadãos urbanos reinventando luga-res em todo lugar para encontrar pessoas, interagir, compartilhar, inovar. (Leite, 2013 p. 4)
57
Imagem 19 | Projeto Softwalks.Fonte | Disponível em: < http://citysoftwalks.com> Acesso em: 31 de maio de 2014.
Imagem 20 | Projeto Softwalks.Fonte | Disponível em: < http://citysoftwalks.com> Acesso em: 31 de maio de 2014.
Imagem 21 | Projeto Softwalks.Fonte | Disponível em: < http://citysoftwalks.com> Acesso em: 31 de maio de 2014.
Imagem 22 | Projeto Softwalks.Fonte | Disponível em: < http://citysoftwalks.com> Acesso em: 31 de maio de 2014.
A autora traça uma imagem de assepsia urbana, que, despida do seu ritmo natural, acaba por compor uma dinâmica que não traduz a cidade, se transformando em um cenário apenas. Em algo para ser visto e não vivido.
A autora faz uma relação direta entre este cenário urbano espetacular e dois aspec-tos: a ausência de experiências corporais urbanas 24 e a “pacificação securitária, homogeneizadora e consensual dos espaços públicos”. E ainda conclui que, dia-metralmente oposto à espetacularização da cidade, há o “urbanismo mais incorpo-rado”, que se concretiza por meio de “microrresistências” que só são perceptíveis nos usos e nas práticas urbanas, “geralmente informais, conflituosos e dissensu-ais”.
Sobre esta espécie de assepsia urbana, que Jacques (apud Rosa 2013) chama de espetacularização da cidade, a autora refere que os projetos contemporâneos:
As relações entre espaço público e imagens da cidade contemporânea hoje passam inevitavelmente pelo já citado processo de espetaculariza-ção, que é um dos maiores responsáveis tanto pelo empobrecimento das experiências corporais no espaço público contemporâneo quanto pela negação dos conflitos e dissensos nesses espaços e, sobretudo, pela negação, eliminação ou ocultação da vitalidade dos espaços opacos das cidades, as quais também buscam tornar-se mais luminosas, midiáticas e espetaculares. (Jacques apud Rosa, 2013 p. 162)
buscam transformar os espaços públicos em cenários, espaços desen-carnados, fachadas sem corpo: pura imagem publicitária. As cidades cenográficas contemporâneas estão cada dia mais padronizadas e uni-formizadas. As imagens de marca de cidades distintas (e seus cartões-postais), com culturas singulares, se parecem cada vez mais entre si. Isso já ocorre com os espaços padronizados das cadeias dos grandes hotéis internacionais ou, ainda, dos aeroportos, das redes de fast-food, dos shopping centers, dos parques temáticos, dos condomínios fechados e demais espaços privatizados. (Jacques apud Rosa, 2013 p. 164)
Imag
em 2
3 | P
raça
Osc
ar F
reire
.Fo
nte
| Dis
pon
ível
em
: <ht
tp:/
/inst
ituto
mob
ilid
a-d
ever
de.
wor
dp
ress
.com
/poc
ket-
par
k/>
Ace
sso
em: 1
6 d
e d
ezem
bro
de
2014
.
Imag
em 2
4 | P
raça
Osc
ar F
reire
.Fo
nte
| Dis
pon
ível
em
: <ht
tp:/
/inst
ituto
mob
ilid
a-d
ever
de.
wor
dp
ress
.com
/poc
ket-
par
k/>
Ace
sso
em: 1
6 d
e d
ezem
bro
de
2014
.
24. Para fazer reportar à questão do corpo no espaço urbano, a autor a referencia: Milton Santos e Michel de Certeau. O primeiro, por meio do conceito da corporeidade dos homens lentos e o segundo, pelo conceito de praticantes ordinários da cidade (Jacques apud Rosa, 2013, p. 162).
O conceito relaciona a cidade-espetáculo com a ausência, cada vez maior, de inte-ração entre o usuário e a cidade. Para a autora, esta privação da participação po-pular, de teor físico que se constitui em uma experiência urbana, está diretamente relacionada à construção de uma cidade-cenário.
Para falar da corporeidade, Jacques (2005) busca aporte no conceito da corpo-reidade dos homens lentos desenvolvido por Santos. Para o autor a globalização comporta uma dicotomia, que faz com que só seja possível ao usuário adquirir a “noção da sociedade global por meio da concretude da escala local”. O que está próximo, ao alcance da mão, é que permite efetivar este entendimento.
A transitoriedade de algumas iniciativas de apropriação e ocupação da cidade re-mete à profunda ligação que Florida (2002) enxerga entre criatividade e lugar, que por sua vez, busca substrato no conceito da Modernidade Líquida Bauman (2001).
Na era da economia corporativa, para usar uma expressão de Florida (2002), a iden-tidade do indivíduo era calcada na construção de uma sólida e duradoura carreira profissional, onde se buscava a estabilidade das grandes empresas.
Na era da Economia Criativa, por outro lado, Florida (2002) se vale de Bauman (2001) para referenciar a fragilidade das relações de forma geral e, da fluidez das relações profissionais em especial, para desta forma justificar a volatilidade das carreiras profissionais construídas pela Classe Criativa.
Assim sendo, para Florida (2002) o lugar é cada vez mais responsável por um as-pecto importante desta classe: a sua identidade.
O lugar se torna aos poucos o sinônimo de uma identidade construída, escolhida.
59
Imag
em 2
5| P
raça
Osc
ar F
reire
.Fo
nte
| Dis
pon
ível
em
: <ht
tp:/
/inst
ituto
mob
ilid
adev
erd
e.w
ord
pre
ss.c
om/p
ocke
t-p
ark/
> A
cess
o em
: 16
de
dez
emb
ro d
e 20
14.
4.1. Promenade Plantée, High Line e Minhocão| Do Lugar ou Espaço ou Território
Para que haja uma construção/edificação há necessariamente um lugar (um espaço ou um território) que a comporta: o lugar é a condição Sine Qua Non da arquitetura. (Unwin, 2013)
O lugar em Augé (2012) pode ser definido como sendo identitário, relacional e histó-rico. Identitário na medida em que comporta as qualidades daquilo que é idêntico, daquilo que o define e o identifica. Relacional enquanto possibilidade de interação, ainda que de “elementos distintos”, constituindo assim a efetivação da coexistên-cia. E por fim, o lugar também pode ser definido como histórico, na medida em que, ao se articular identidade e relação, é possível definir uma estabilidade mínima. (Augé, 2012 p. 53)
O relacionamento com o urbano é concretizado por meio do lugar, enquanto agente mediador. Esta mediação, que situa o habitante da/na cidade, é para Unwin (2013), o que garante a sua existência e, por meio das variáveis de tempo e lugar (que constituem o situar-se em lugares e momentos específicos), é possível estar, se deslocar e intentar novos deslocamentos.
Certeau (1998) refere que o lugar ao invés de apresentar uma ordem geométrica de justaposição, se constrói por meio da sobreposição de superfícies – “o empi-lhamento de camadas heterogêneas”, sendo que este conjunto, de alguma forma, apresenta como atributo, a complementaridade. Segundo o autor, de forma silen-ciosa, este ato de poder ser complementar atribui uma falsa inércia ao conjunto.
63
O mesmo autor acrescenta ainda que, o lugar é um palimpsesto, cuja “análise erudi-ta” só permite conhecer a versão final – a mais recente – e que a mesma, em muito se assemelha a uma colagem: é possível observar a superfície sem conhecimento das camadas inferiores.
A imagem resultante da configuração da cidade (ruas, avenidas, entre outras) so-breposta ao fenômeno urbano (o comércio, a industrialização, entre outros), que Ferrara (1993) denomina “robusta realização humana”, consolidam um repertório cultural cotidiano, cujas “características sedimentam a cidade enquanto império fervilhante de signos”. Sendo que, estes últimos, na perspectiva da autora, consti-tuem o único tipo de filtro por meio do qual é possível pensar o urbano.
Norberg-Schulz (apud Nesbitt, 2006) refere lugar como um termo concreto para se falar de ambiente. E que este, por sua vez, contempla fenômenos concretos e fenô-menos menos tangíveis, que articulados, constituem a “qualidade ambiental” como essência do lugar.
A mesma autora refere que o conceito de lugar contempla uma análise em duas categorias: o espaço e o caráter. Para a autora o espaço constitui a organização tridimensional dos elementos que formam um lugar e o caráter, a sua “atmosfera”.
O lugar para Certeau (1998) é determinado por uma configuração de elementos que resultam em ordem e estabilidade enquanto o espaço contempla variáveis de tem-po, direção e velocidade, não constituindo desta forma, a estabilidade de um lugar: “em suma o espaço é um lugar praticado”.
Acrescenta ainda a indissociabilidade entre imprevisto e lugar, sendo que, eliminar a imprevisibilidade ou o tempo acidentado é como:
O conceito de espaço em Certeau (1998) está para o conceito de espaço antropo-lógico em Merleau-Ponty (a experiência com o mundo) assim como, o conceito de lugar em Certeau (1998) está para o conceito de espaço geométrico em Merleau-Ponty (“espacialidade homogênea e isótropa”).
Certeau (1998) reforça a conceituação relacionando o lugar aos objetos e o espaço às operações, ou seja, “pela ação dos sujeitos históricos” há a efetivação de um espaço e a sua associação a uma história. A coexistência dos elementos naturais e dos elementos fabricados pelo homem, na composição do urbano são, segundo Norberg-Schulz (2006 apud Nesbitt, 2006), o ponto de partida para uma “fenome-nologia do ambiente” 25.
A integração a que a autora faz referência se consolida de forma natural, assimilan-do como conhecido e estabelecendo vínculos.
Expulsá-lo do cálculo como acidente legítimo e perturbador da racionali-dade, é interdizer a possibilidade de uma prática viva e “mítica” da cidade. Seria deixar a seus habitantes apenas os pedaços de uma programação feita pelo poder do outro e alterada pelo acontecimento. O tempo aciden-tado é o que se narra no discurso efetivo da cidade: fábula indeterminada, melhor articulada em cima das práticas metafóricas e dos lugares estrati-ficados que o império da evidência na tecnocracia funcionalista. (Certeau, 1998 p. 311)
Os elementos do ambiente criado pelo homem são, em primeiro lugar, todos os “assentamentos” de diferentes escalas, das casas às fazendas, das aldeias às cidades, e, em segundo lugar, os “caminhos” que os co-nectam, além dos diversos elementos que transformaram a natureza em “paisagem cultural”. Quando os assentamentos estão organicamente in-tegrados ao seu ambiente, supõe-se que são os pontos focais onde a qualidade peculiar do ambiente se condensa e “explica”. (Norberg-Schulz 2006 apud Nesbitt, 2006 p. 449)
65
25. Ramo da ciência que trata da classificação dos fenômenos urbanos. A fenomenologia foi concebida como um “retorno às coisas” em oposição a abstrações e constru-ções mentais. (Norberg-Schulz apud Nesbitt, 2006 p. 445)
Seja pela qualidade visual da edificação, seja pela densidade do paisagismo que abriga ou ainda pelo tempo já decorrido sobre a sua inauguração, a cidade de Paris parece já ter absorvido aquele que, bem menos midiático que seus congêneres, é considerado o primeiro parque suspenso inaugurado em 1994: La Promenade Plantée.
O espaço que abriga o Promenade Plantée, também conhecido como La Coulée Verte 26, tem uma extensão de 4,5 km, uma área com 3 hectares de jardins 27 e per-corre praticamente todo 12º Distrito de Paris, entre a Place de La Bastille e o Bois de Vincennes.
Imagem 26 | Promenade Plantée, Paris.Fonte | Disponível em: < http://francais-jetaime.blo-gspot.com.br/2011/04/promenade-plantee.html> Acesso em: 12 de novembro de 2014.
Imagem 27 | Localização do Promenade Plantée, Paris..Fonte | Disponível em: < https://www.google.com.br/mapmaker?tab=MM> Acesso: 08 de novembro de 2014.
26. O Corredor Verde
27. Local Nômade – Acesso em: 13 setembro 2014http://www.localnomad.com/pt/blog/2013/02/13/promenade-plantee-o-high-line-de-paris/
Imagem 28 | High Line, Nova York.Autor | ©Iwan Baan, 2011.Fonte | Disponível em: <http://www.domusweb.it/en/architecture/2011/06/10/looking-moving-gathe-ring-functions-of-the-high-line.html> Acesso: 08 de novembro de 2014.
Unwin (2013) refere ainda a relevância que a participação coletiva tem na identifica-ção do lugar que, para o autor, está no núcleo gerador da arquitetura, como a sua função essencial. Esta articulação dentre os que habitam a cidade esteve na origem do High Line em Nova York. Assumidamente inspirado no Promenade Plantée, o seu congênere americano apresenta 2,6 km de extensão e atravessa 3 bairros de Manhattan: Meatpacking, West Chelsea e Hell’s Kitchen/Clinton. O High Line está dividido em 3 seções inauguradas respectivamente em 2009, 2011 e 2014: a primei-ra compreende o trecho entre a Gansevoort Street e West 20th Street; a segunda vai até a West 30th Street e a terceira, termina na West 34th Street 28.
Imag
em 2
9 | H
igh
Line
, Nov
a Yo
rk.
Font
e | D
isp
onív
el e
m: <
http
://w
ww
.dom
usw
eb.it
/en/
arch
itect
ure/
2011
/06/
10/lo
okin
g-m
ovin
g-ga
ther
ing-
func
tions
-of-
the-
high
-lin
e.ht
ml>
Ace
sso:
08
de
nove
mb
ro d
e 20
14.
Imagem 30 | Mapa de Localização do High Line, Nova York.Fonte | Disponível em: <https://www.google.com.br/mapmaker?ll=40.723323,=73-988457.&spn0=035647.0,0739.&t=m&z-14&vpsrc=6&q=High+line,+Nova+Iorque,+NY,+Estados+Unidos&hl=pt-BR&utm_medium=website&utm_campaign=relate-dproducts_maps&utm_source=mapseditbutton_normal> Acesso: 08 de novembro de 2014.
28. Friends of the High Line. High Line History. In: High Line: The official Web site of the High Line and Friends of the High Line. Disponível em: <http://www.thehighline.org/events/all/2011/12/rail-yards-community-input-meeting>. Acesso em 25 outubro 2014
69
Por outro lado, para se propor a reflexão acerca dos rebatimentos da instalação do Elevado Costa e Silva, em São Paulo, o presente trabalho adota a nomenclatura território, pois, ainda que tenha origem na definição de lugar, comporta uma parcela política na tessitura do seu conceito e, segundo Raffestin (1993) está assenta nas relações de poder.
Dada a abrangência de sua definição e uso, o conceito de território abarca ainda a questão do conflito e da coexistência de distintas intenções que poderão eventual-mente resultar na demarcação territorial.
Minhocão, como também é conhecido o elevado, é o apelido dado ao trecho de 3,5 km (a rigor, a parte elevada em si tem 2 775 m), ligação entre as regiões Leste e Oeste da cidade de São Paulo, integrante de uma gigantesca estrutura viária nesta cidade que (Zaidler, 2014 p.108):
O território de que se ocupa o Minhocão, estabelece uma das ligações possíveis entre a Praça Roosevelt, no centro da cidade e a Praça Padre Péricles, na Água Branca/Perdizes. O percurso do Minhocão segue pela Rua Amaral Gurgel, a Praça Marechal Deodoro, parte da Avenida São João e a Avenida General Olímpio da Sil-veira tendo atravessado os bairros de Água Branca, Santa Cecília, Higienópolis e Centro.
Organizada funcionalmente, concebe lugar como pontos de partida ou de chegada, destinos individuais: lugar de trabalho, de moradia, de estudo, de lazer. O deslocamento entre lugares, antes feitos por ruas, alamedas, avenidas, cada vez mais se dá por acessos, corredores, interligações, vias expressas, complexos viários, pelos quais se deve passar sem parar, a não ser em obediência à sinalização de tráfego e nos inevitáveis con-gestionamentos. (ZAIDLER, 2014 p.95)
Imagem 31 | Minhocão, São Paulo.Fonte | Disponível em: <http://www.domusweb.it/en/architecture/2011/06http://thebookisonthetable.me/2013/11/01/the-minhocao-and-other-sao-paulo-strolls/> Acesso: 16 de dezembro de 2014.
71
4.2. Promenade Plantée, High Line e Minhocão| Da Motivação
Depois de um século servindo exclusivamente à Estação Place de La Bastille e 24 anos de desativação (a partir de 1969), a década de 90 viu emergir o Promenade Plantée.
A reflexão sobre o destino a ser dado ao equipamento teve início em 1979. Jardim (2012) refere que para a linha férrea havia duas possibilidades em estudo: a primeira previa a implantação de um promenade na parte superior da linha e a ocupação da parte inferior por meio de fechamentos laterais para a obtenção de espaços fecha-dos. A segunda propunha a sua demolição para a construção de edificações ao lon-go de duas ruas ocupadas pelo Promenade Plantée. Segundo a autora a escolha da primeira opção, além de preservar os “raros traços do passado industrial de Paris” materializados na estrutura da linha férrea, propiciava também, o aproveitamento das arcadas na parte inferior com o objetivo de se criar espaços para distintas ati-vidades sem a necessidade de uma construção de raiz.
Tomada a decisão, a prefeitura de Paris obteve os direitos sobre as instalações da SNCF (Societé Nationale des Chemins de fer Français) em 1987. No início da década de 1990, o SEMAEST (Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Est Parisien) 29 com projeto do Arquiteto Paisagista Jacques Vergely e do Arquiteto Phili-ppe Mathieux), foi encarregado da obra de transformação da antiga linha ferroviária. O percurso, com 350 metros, também é formado por um viaduto suspenso por 71 arcos que, reabilitados por meio de projeto dos arquitetos Patrick Berger e Jamine Galiano, abrigam hoje uma “vitrine” do artesanato, do design, da arte e da gastro-nomia parisiense: o Viaduc des Arts.
Imagem 32 | Linha Férrea Aérea que deu origem ao Promenade Plantée.Fonte | Disponível em: http://fabioechay.blogspot.com.br/2013/03/promenade-plantee-e-viaduc-des-arts.html> Acesso: 15 de novembro de 2014.
29. O SEMAEST é sociedade de economia mista, com base na cidade de Paris, especializada no desenvolvimento de ações para o estímulo econô-mico dos bairros. A entidade conduz há 30 anos projetos de desenvolvimento, renovação e desen-volvimento econômico a serviço da vitalidade urba-na. Fonte: http://www.semaest.fr/la-semaest/nos-missions-amenageur-et-developpeur-economique/
73
Nos Estados Unidos, dois anos antes do desaparecimento do World Trade Center, o então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, propunha que a ferrovia elevada desativada desde 1980 (e construída 50 anos antes) fosse demolida. Em uma das reuniões realizadas para discutir a proposta, que a esmagadora maioria apoiava, dois vizinhos do equipamento, que não se conheciam, manifestaram intenção con-trária: Joshua David e Robert Hammond. Apesar destes moradores do Chelsea e do West Village, respectivamente, orbitarem em mundos muito distantes da política, do urbanismo ou do associativismo, tiveram a capacidade de articular um enorme movimento que impediu a demolição do equipamento 30.
Estava assim fundada a Organização Não Governamental “Friends of the High Line” que arregimentou artistas, celebridades e moradores do entorno, com o objetivo de instalar um parque na plataforma abandonada.
O ano de 2001 pausou o processo. Além do 11 de setembro, o prefeito Giuliani, pouco antes de deixar o cargo, assinou a demolição da via férrea elevada (impedida na época por via judicial colaborativa) 31.
Só depois de um estudo feito, demonstrando a relação benéfica entre investimento e valorização da área, é que o sucessor de Giuliani, Michael Bloomberg, passou a apoiar a iniciativa.
Existe um processo de reinvenção urbana e inovação social através das pessoas nesses territórios híbridos das cidades emergentes. Em muitas cidades ao redor do globo neste século estamos vendo o reflexo no ter-ritório do final da era fordista – cidades que construíram enormes infraes-truturas para os carros, sem urbanidade local (dimensões urbanas locais). As transformações recentes no território urbano são baseadas em forte demanda dos “urbanoides”: cidadãos urbanos reinventando lugares em todo lugar para encontrar pessoas, interagir, compartilhar, inovar. (Leite, 2013 p.4)
Imagem 33 | Linha Férrea Aérea que deu origem ao High Line.Fonte | Disponível em: <http://sacolaecologica.wordpress.com/2011/10/11/high-line-park-ny/> Acesso em: 16 de novembro de 2014.
30. LORES, R. J. - Uma História Americana. In: Revista Serafina. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/sr2608201209.htm>. Acesso em 25 outubro 2014.
31. LORES, R. J. - Uma História Americana. In: Revista Serafina. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/sr2608201209.htm>. Acesso em 25 outubro 2014
75
Administrado pela ONG, os recursos para a construção (e manutenção) do comple-xo, provém da esfera local e federal, da iniciativa privada e do empenho colabora-tivo 32.
Um concurso internacional de ideias, com a participação de 730 projetos, foi a pri-meira ação rumo à requalificação do espaço.
Na sequência, foi promovido um concurso internacional de arquitetura que teve como vencedor os escritórios de James Corner & Piet Oudolf e Diller, Scofidio + Renfro. Estava assim, decidida, a primeira fase do High Line 35.
Em 2008, nova pausa.
Apesar da crise financeira instalada, a primeira fase foi concluída e aberta ao público em 2009. Em 2011 foi inaugurada a segunda fase do projeto e em 2014, a terceira.
Está prevista para o ano de 2016 a inauguração de um pequeno teatro 36.
Seguindo o exemplo do Central Park, a gestão do High Line fica a cargo da sociedade de amigos, que precisa arrecadar fundos com programas de doações e sócios. Em 2012, a manutenção é de US$ 4 milhões (R$ 8 milhões) por ano. A prefeitura cuida da segurança, menos de 9% do custo total 33.
Em março de 2002, a associação recebeu o primeiro suporte da prefeitura de Nova York: uma resolução advogando pelo reuso da High Line. Em se-guida, por meio de estudos conduzidos pelo próprio grupo, a viabilidade econômica do projeto pôde ser comprovada. Feito isso e, por conseguin-te, tendo obtido o suporte e a parceria da prefeitura da Cidade de Nova York nesta empreitada, o grupo Friends of the High Line lançou, no início de 2003, um concurso de ideias para o reuso da via férrea abandonada, denominado Designing the High Line 34.
Imagem 34 | High Line.Fonte | Disponível em: <http://www.amazing-s-naps.com/2013_12_01_archive.html> Acesso: 16 de novembro de 2014.
Imagem 36 | High Line.Fonte | Disponível em: <http://www.amazing-s-naps.com/2013_12_01_archive.html> Acesso: 16 de novembro de 2014.
Imagem 35 | High Line.Fonte | Disponível em: < http://thethirstygardener.wordpress.com/2011/07/13/the-highline-garden-new-york/> Acesso: 16 de novembro de 2014.
32/33. LORES, R. J. - Uma História Americana. In: Revista Serafina. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/sr2608201209.htm>. Acesso em 25 outubro 2014
34/35. Friends of the High Line. High Line History. In: High Line: The official Web site of the High Line and Friends of the High Line. Disponível em: <http://www.thehighline.org/events/all/2011/12/rail-yards-community-input-meeting>. Acesso em 25 outubro 2014.
36. Terceira e Última Fase do High Line Park é Inaugurada em Nova York. Disponível em: <http://hauertramujas.com.br/index.php/terceira-e-ulti-ma-fase-do-high-line-park-e-inaugurada-em-nova-york/>. Acesso em 25 outubro 2014
77
No início da década de 1970, a linha férrea que serve hoje como estrutura ao Pro-menade Plantée estava desativada havia dois anos, e, a que serve ao High Line ainda estava ativa. No Brasil, por seu turno, era inaugurado o Elevado Costa e Silva que, juntamente com o Edifício-Praça Roosevelt inaugurado um ano antes, consti-tuía a ligação Leste-Oeste, e que, materializava o caráter de monumentalidade que se pretendia para uma metrópole em plena era do progresso.
A exemplo do que Guatelli (2008) menciona sobre o Viaduto Spittelau 37, o Elevado Costa e Silva também carrega em seu nome a condição histórica de sua constru-ção.
A urgência construtiva do regime militar visava unicamente aumentar a oferta viária e assim, por meio da grandiosidade das construções, traduzir a era do progresso. A desproporcionalidade do Elevado Costa e Silva em relação à área de implantação resultou em uma proximidade excessiva: a cinco metros das janelas dos prédios lindeiros. Zaidler (2014) refere que o Minhocão:
Converge para o que Certeau (1998) denomina de cidade-conceito cujo atributo funcionalista privilegia o progresso em detrimento da cidade expectante. Em opo-sição, o autor refere o que pode (e deve) ser analisado: as “práticas singulares e plurais”.
Batizado em homenagem ao marechal presidente que abriu caminho à ra-dicalização do jugo militar, seu nome oficial reforça tais associações com o período sombrio – o peso dos anos de chumbo, a linha dura imposta à força, os tenebrosos porões do regime. (Campos 2008 apud Artigas 2008 p 20)
inspirado em soluções viárias consagradas, ao longo do século XX, em diversas cidades norte-americanas e europeias; uma via expressa segre-gada do tecido urbano, idealizada para aumentar a velocidade de des-locamento de veículos a revelia de condicionantes topográficas, visuais, históricas. (Zaidler, 2014 p.108)
Imagem 37 | Convite para a Inauguração do Eleva-do Costa e Silva.Fonte | Disponível em: <http://spinfoco.wordpress.com/2013/08/04/elevado-costa-e-silva-a-historia-e-construcao-do-minhocao/> Acesso em: 05 de outubro de 2014.
Imagem 38 | Publicidade da construtora do Eleva-do Costa e Silva.Fonte | Disponível em: <https://quandoacidade.wordpress.com/category/minhocao/page/2/> Acesso em: 22 de outubro de 2014.
37. Spittelau está vinculado ao termo alemão “Spit-tel”, “hospital de indigentes” ou “asilo de pobres”. O distrito de Spittelau, situado ao norte do centro de Viena, em área semiperiférica, destaca-se pela presença de uma incineradora de lixo e usina termal, construída em 1969, responsável por parte do suprimento de energia do município e pelo for-necimento de energia para um novo hospital que estava sendo construído a dois quilômetros dali. (Guatelli, 2008 p. 69)
79
Imag
em 3
9 | –
Av.
São
Joã
o an
tes
da
cons
truç
ão
do
Ele
vad
o C
osta
e S
ilva.
Font
e | D
isp
onív
el e
m: <
htt
ps:
//ci
dad
edes
aop
aulo
.w
ord
pre
ss.c
om/t
ag/e
leva
do-
cost
a-e-
silv
a/>
Ace
s-so
em
: 27
de
sete
mb
ro d
e 20
14 .
Imag
em 4
2 | P
raça
Mar
echa
l Deo
dor
o, e
m S
ão
Pau
lo, a
ntes
da
cons
truç
ão d
o E
leva
do
Cos
ta e
S
ilva.
Font
e | D
isp
onív
el e
m: <
http
://b
logs
.est
adao
.com
.b
r/m
arce
lo-r
uben
s-p
aiva
/por
-que
-der
rub
ar-o
-mi-
nhoc
ao/>
Ace
sso
em: 2
7 d
e se
tem
bro
de
2014
.
Imag
em 4
0 | A
v. G
ener
al O
límp
io d
a S
ilvei
ra a
ntes
d
a co
nstr
ução
do
Ele
vad
o C
osta
e S
ilva.
Font
e | D
isp
onív
el e
m: <
htt
ps:
//q
uand
oaci
dad
e.w
ord
pre
ss.c
om/c
ateg
ory/
min
hoca
o/p
age/
3/>
A
cess
o em
: 22
de
outu
bro
de
2014
.
Imag
em 4
1 | A
veni
da
Am
aral
Gur
gel a
ntes
da
imp
lant
ação
do
Ele
vad
o C
osta
e S
ilva.
Font
e | D
isp
onív
el e
m: <
http
s://
qua
ndoa
cid
ade.
wor
dp
ress
.com
/cat
egor
y/m
inho
cao/
pag
e/3/
>
Ace
sso
em: 0
5 d
e ou
tub
ro d
e 20
14.
“As instrumentalidades menores” capazes, pela mera organização dos “detalhes”, de transformar uma multiplicidade humana em sociedade “disciplinar” e de gerir, diferenciar, classificar, hierarquizar todos os des-vios concernentes à aprendizagem, saúde, justiça, forças armadas ou tra-balho. (Certeau, 1998 p. 175)
Estas que capilarizam “táticas ilegíveis” constituindo “regulações cotidianas e cria-tividades sub-reptícias” ignoradas por um modus operandi governativo “atravan-cado”. Para referenciar a escala destas intervenções (e o respectivo leitmotiv que reside na interação entre o espaço e o processo) o autor se serve da argumentação de Foucault sobre:
Muitas são as denominações recebidas pelo Minhocão (fratura, cicatriz urbana, en-tre outras) cuja implantação transformou drasticamente o território de implantação.
Imagem 43 | Construção do Elevado Costa e Silva.Fonte | Disponível em: <http://viabilyblog.com.br/2014/08/12/como-era-sao-paulo-sem-o-minho-cao/> Acesso em: 22 de outubro de 2014.
Imagem 44 | Av. Amaral Gurgel durante a constru-ção do Elevado Costa e Silva. Fonte | Disponível em: <http://plataformasuperior.com/fotos_mundo/americas/america_sul/ama-ral_gurgel_libero_badaro.html> Acesso em: 28 de setembro de 2014.
81
4.3. Promenade Plantée, High Line e Minhocão| Da Condição de Ser Híbrido & Da Apropriação do Território
Os objetivos funcionais dos espaços - o programa, segundo Guatelli (2008), há mui-to que comportam uma polivalência “a ponto de provocar uma dissociação entre forma e conteúdo”.
O autor acrescenta a urgência de uma nova “racionalidade”, cuja essência projetual poderia (e deveria) ser “contaminada por uma outra intuição do espaço”:
A possibilidade dos múltiplos usos de um equipamento comporta a latência de sua usabilidade. Conceito presente na física (relacionado à transformação isotérmica e isobárica ocorrida em condições de equilíbrio), a latência tem na biologia, uma definição que converge para a polivalência de usos: estado de repouso de um orga-nismo em que não se percebem as manifestações vitais que são as mais evidentes nos períodos de plena atividade 38.
Presenciamos hoje, com mais frequência, o florescimento de aconteci-mentos, verificados nas mais diversas escalas, que rompem, mesmo que momentaneamente, com o originalmente proposto e pensado para o lo-cal, “excedendo”, através da utilização, os usos e funções inicialmente previstos como mais apropriados; desde “alpinistas” de pontes e esca-das, escadarias urbanas que se transformam em praças (ágoras momen-tâneas) de contemplação ou local de encontro e conversas, às ruas, arca-bouços de todo o tipo de atividades. (Guatelli, 2008 p. 74)
Um espaço enquanto um meio (inter)ativo, formado por eventos (leia-se, profusão de elementos e acontecimentos imprevistos, por vezes ambiva-lentes ou bivalentes, de apreensão e leitura não-imediata) adjacentes e remotos, alavancando rotinas e lógicas outras e adversas, um processo o qual denominamos contaminações constitutivas.(Guatelli, 2008 p. 74)
38. Do latim latente-, «idem», particípio presente de lat²re, «estar escondido». Infopédia – Dicionários Porto Editora. Disponível em: < http://www.infope-dia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/lat%C3%A-Ancia> Acesso em: 09 de novembro de 2014.
83
Para Guatelli (2008), a latência condiciona a Intensidade, conceito oposto ao de Espaço Suporte 39 que, segundo o autor, suscitam combinações programáticas mo-mentâneas, com a aparição de usos e situações além do esperado.
A transformação do High Line em High Line Park marcou uma vitória considerável numa longa batalha contra proprietários e empresas de imóveis que pretendiam lucrar com a venda de terrenos 40.
O hiato de quase 20 anos, durante o qual a estrutura esteve abandonada faz refletir sobre o conceito de latência. Disponível para uma utilização em várias frentes (a so-cial, a urbana, a sustentável, entre outras), a efetivação do High Line só foi possível por meio de uma iniciativa citadina, sem recursos e sob forte oposição. A percep-ção do que o recurso disponível poderia ofertar, e ainda mais, a articulação de um conjunto de habitantes na busca de um objetivo comum, caracterizam as iniciativas Bottom Up.
A mobilização que a ONG “Friends of the High Line” consolidou foi capaz de pro-mover uma lucratividade muito superior: a requalificação do High Line reverberou valorização para a área do entorno além de ter ofertado um espaço de lazer e con-vívio, que preservou a memória por meio da transformação, além de ter em sua gênese premissas sustentáveis.
Uma solução comum para essas estratégias “out-of-the-box” da cidade é a crescente função da sociedade civil e novas formas de governança, espacialmente ações do tipo Hélice Tripla (universidades + empresas + governo), ou projetos os quais são levados pela sociedade ou pelo se-tor privado e politicamente patrocinado pelo governo local. Além dessa estratégia, que podemos ver em muitas cidades ao redor do mundo hoje em dia, a particularidade básica aqui é um processo menos formal de situações botton-up criativas e inovadoras nesses territórios da cidade. Práticas criativas e micro-planejamento urbano no território híbrido. (Leite, 2013 p.5)
39. Um espaço suporte capaz de absorver e regis-trar as marcas deixadas sem, no entanto, adquirir um sentido que pudesse ser adotado como o mais adequado, e, no momento seguinte, capaz de voltar à sua situação de significante, à espera de novos significados, interpretações, intervenções por parte das pessoas. (Guatelli, 2008 p. 121)
40/41. MITCHEM S. High Line – Nova York - Um Olhar para o Futuro. Disponível em:<http://www.cbic.org.br/sites/default/files/Um%20olhar%20para%20o%20futuro.pdf>. Acesso em 25 de outubro de 2014.
42. Friends of the High Line. High Line History. In: High Line: The official Web site of the High Line and Friends of the High Line. Disponível em: <http://www.thehighline.org/events/all/2011/12/rail-yards-community-input-meeting>. Acesso em 25 outubro 2014
Por outro lado, observados que foram aspectos de preservação e sustentabilidade a concretização do Promenade Plantée tem caráter governamental: foi uma decisão Top Down. Para Jardim (2012) é muito claro a distinção que há no processo de ori-gem do High Line e do Promenade Plantée.
O projeto de requalificação do High Line, segundo o arquiteto Charles Renfro, do escritório vencedor do concurso partiu da ideia que a intervenção deveria ser a mais sintética possível, a fim de não subtrair as qualidades natas da edificação. Os próprios trilhos de trem serviram como orientação visual para a construção do desenho do passeio, além do paisagismo ser projetado a partir da vegetação nativa (que tomou conta da plataforma durante os anos de abandono).
O arquiteto acrescenta ainda que a própria cidade de Nova York serviu como “ins-piração” para o projeto e que o High Line, mais do que um equipamento urbano, se constitui como um mediador para ser e ver a cidade de forma distinta 41.
Esta mediação esta presente na forma como o High Line é gerido. A administração procura elaborar uma programação de forma transversal: para adultos, crianças e adolescentes. Tem ainda como objetivo promover experiências inovadoras no âm-bito do equipamento público e, sobretudo, envolver a comunidade para uma pos-tura participativa e interventiva, ou de outra forma, renegaria a gênese da própria iniciativa 42.
nota-se que a comunidade não exerceu o papel de grande incentivadora nem teve participação nas decisões tomadas ao longo dele; o poder pú-blico concentrou as deliberações sobre o destino da Promenade Plantée. Em contraste, no caso da High Line, os residentes locais não só foram os detonadores do processo de reconversão como também dele participa-ram ativamente por meio de encontros, reuniões e fóruns públicos; foram informados e convidados a tomar parte através de publicidade veiculada em jornais e revistas.
85
A extensão de 32 quadras do High Line oferta espaços de convivência, descanso, lazer, mas, sobretudo, construiu uma nova dinâmica na relação do habitante da ci-dade com o entorno.
O Promenade Plantée é um parque suspenso que oferta ao visitante unicamente espaço para lazer por meio de um trabalho de restauro e intervenção na estrutura com um projeto paisagístico cuidado e exuberante, mas, que, ao contrário do High Line não mantém uma agenda de atividades e de interação.
O Viaduc des Arts (nome dado ao segmento do Promenade Plantée com lojas na parte inferior) se constitui como um polo centralizador e difusor da boa culinária, das artes e do design.
As duas iniciativas acabam por efetivar uma justaposição: embora possam ser pró-ximas (talvez até complementares) as atividades não mantém interação entre si. Apesar da implantação do parque ter promovido desdobramentos positivos no en-torno, a presente pesquisa não pôde detectar iniciativas da administração do par-que que procurassem uma interação direta com os moradores das proximidades.
O High Line, por outro lado, além das atividades ofertadas de forma regular, elabora uma intensa programação, com eventos sazonais que mobilizam um contingente considerável interessado nas experiências vernaculares e/ou populares em cenário contemporâneo, que o equipamento oferece.
Estas ações incidem de forma preferencial no entorno procurando estabelecer e intensificar o engajamento da comunidade imediata com o equipamento. Em um âmbito geográfico mais alargado, está presente também uma preocupação em es-tabelecer o diálogo com os complexos habitacionais da cidade, concretizada nas
atividades comunitárias e pedagógicas ofertadas, bem como, a inclusão de jovens de baixa renda, por meio da oferta de empregos e colocações em diversas ativida-des que realiza 43.
Esta proximidade com a população, que afinal está na origem do High Line, conti-nuou como critério no desenvolvimento dos 2 trechos que completam o parque. A administração disponibilizou canais de comunicação onde era possível ao usuário interagir e contribuir com sugestões para o desenvolvimento do projeto de amplia-ção do parque.
Como desdobramentos perceptíveis e consideráveis, a área do High Line, anterior-mente deteriorada e repleta de galpões, com as mais distintas atividades, se trans-formou ante a instalação do parque suspenso. Estima-se que a concentração de investimentos seja superior a R$ 4 bilhões. A valorização imediata da área mobilizou designers americanos e estrangeiros na busca de imóveis disponíveis para a insta-lação de espaços comerciais 44. A dois quarteirões do parque, a Google instalou o seu escritório em uma sede de 15 andares que custou US$ 1,9 bilhão e, em 2015, está prevista a abertura da nova sede do Museu Whitney também nas imediações do High Line.
Os 13 anos do High Line condensam o superlativo de seus números: um custo de US$ 223 milhões para a intervenção com cerca de 5 milhões de visitantes por ano (um milhão a mais do que o MOMA) 45 e uma arrecadação superior a R$ 1,8 bi, em tributos, por conta da valorização do entorno 46.
Em Paris, embora não haja mensuração disponível, foi possível detectar que com a inauguração do Promenade Plantée havia a intenção de devolver ao entorno da estrutura a qualificação urbana que a implantação da via férrea deteriorou.
Imagem 45 | Vista Parcial do Promende Plantée. Fonte | Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/> Acesso em: 17 de novembro de 2014.
Imagem 46 | Vista Parcial do Viaduc des Arts. Fonte | Disponível em: << http://www.panoramio.com/photo/14553249> Acesso em: 17 de novem-bro de 2014.
43. Friends of the High Line. High Line History. In: High Line: The official Web site of the High Line and Friends of the High Line. Disponível em: <http://www.thehighline.org/events/all/2011/12/rail-yards-community-input-meeting>. Acesso em 25 outubro 2014.
44/46. LORES, R. J. - Uma História Americana. In: Revista Serafina. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/sr2608201209.htm>. Acesso em 25 outubro 2014
45. Terceira e Última Fase do High Line Park é Inaugurada em Nova York. Disponível em: <http://hauertramujas.com.br/index.php/terceira-e-ulti-ma-fase-do-high-line-park-e-inaugurada-em-nova-york/>. Acesso em 25 outubro 2014
87
A múltipla oferta na realização de eventos promovida pela latência faz do espaço, um híbrido. Conceito que se empresta da Biologia, o híbrido diz respeito a um cru-zamento inesperado, impensado a priori. Fenton (1985 apud Neves 2012) organizou três categorias de híbridos: aquele que é orgânico e resulta da dinâmica urbana – híbridos nos Tecidos; aquele que é resultado da soma volumétrica, mas, mantém a independência programática das partes – híbridos Enxertados; e aquele onde os usos coexistem em um mesmo volume – híbridos Monolíticos.
O híbrido para Canclini (1995 apud Madeira, 2010) comporta uma maior diversida-de: desde aquelas relacionadas às novas tecnologias, passando pelos processos sociais contemporâneos que têm como cenário a cidade. Para o mesmo autor, o processo de hibridação apresenta intensidades diferentes cuja alternância entre processos heterogênos e homogêneos de efetivação do híbrido, compõem o que o autor denomina de “Ciclos de Hibridação”.
A personalidade do híbrido, segundo Per (2008 apud Neves 2012), diz respeito à sua capacidade de permitir flexibilizar diante da diversidade e da variedade de pro-gramas. A flexibilização de uso do Minhocão tem início em 1976, quando o seu uso passa a ser interditado para veículos no período noturno.
Igualmente, a prefeitura aprovou a criação de um perímetro de “Decla-ração de utilidade pública”, visando a desapropriação de bens em um trecho que abarcava o próprio viaduto e diversos lotes em sua parte pos-terior (entre a Place de la Bastille e o setor Reuilly). Essa decisão apoiou-se numa tentativa de restaurar a malha urbana da área que, conforme o fragmento destacado abaixo, sofreu com a implantação da linha férrea: A construção do viaduto de fato gerou uma ruptura brutal entre as regiões da Rue du Faubourg Saint-Antoine e da Avenue Daumesnil, deixando ex-postas as feridas na seção posterior dos quarteirões que beiram a Rue Charenton. (Jardim, 2012 p.115)
Na gestão da então Prefeita Luíza Erundina, no ano de 1989, fica estabelecido o fechamento do viaduto entre 21h30 e 6h30 de segunda a domingo.
A partir deste momento, o equipamento urbano passa, de forma paulatina, a ser apropriado pela população para os mais distintos fins. Como suporte, como recinto ou como coadjuvante em produções fotográficas ou audiovisuais, o Minhocão se hibridiza, permitindo os mais variados eventos.
As possibilidades se circunscrevem à divisão em dois planos que a construção do Minhocão sedimentou na região.
O plano vertical dividiu o centro tradicional de regiões mais valorizados da cidade, como refere Campos (2008 apud Artigas, 2008)
O plano horizontal separa os quadrantes superiores (e a circulação viária Leste-O-este) dos quadrantes inferiores onde convive a circulação de automóveis e de pe-destres. A fronteira determinada pela construção do elevado isolou a parte inferior da região, submetida ao que Campos (2008) chama de ocultação.
Esse verme urbano sem pé nem cabeça costuma ser apreendido de ma-neira fragmentada. Por cima, por baixo, ou como segmento de algo do qual não se vislumbra começo nem fim. Para motoristas usuários, é sem-pre trecho de trajeto maior; para transeuntes de baixios e entornos, são pórticos de concreto que se sucedem, perdendo-se na distância e escon-dendo o lance seguinte. (Campos apud Artigas 2008 p. 20)
Cria uma zona de sombras, um mundo semi-enterrado, em que térreos e primeiros andares se perdem em um longo subsolo. Seu próprio apelido evoca um ser subterrâneo. Nessa área aparentemente escondida, surgem elementos e usos que não ousam se manifestar em locais mais expostos, sempre com mão dupla: da arte proibida das pichações ao apelo ambíguo dos travestir. (Campos apud Artigas 2008 p. 20)
Imagem 46 | Evento no High Line. Fonte | Disponível em: < http://www.meetup.com/LOL-MNF/events/122587662/> Acesso em: 17 de novembro de 2014.
Imagem 47 | Evento no High Line. Fonte - Disponível em: <http://aizakbuyondo.com/2013/06/13/coach-friends-of-the-high-line-summer-party/> Acesso em: 17 de novembro de 2014.
Imagem 48 | Evento no High Line. Fonte - Disponível em: <https://www.thehighline.org/blog/2012/09/27/high-line-community-engage-ment-in-%E2%80%98chelsea-now%E2%80%99> Acesso em: 17 de novembro de 2014.
89
A cidade-panorama a que Certeau (1998) se refere como sendo resultado de uma remota observação, platonicamente empreendida do alto de um edifício, se contra-põe ao embaixo, ao down, onde estão confinados os “praticantes ordinários da ci-dade” cujas impossibilidades visuais efetivam a mobilidade opaca e cega da cidade habitada. É no rés-do-chão que os passos da pressa “moldam espaços” e “tecem lugares” que efetivam a cidade por meio de um “processo de apropriação do siste-ma topográfico” e da realização espacial do lugar, implicando, segundo o autor, em “contratos pragmáticos sob a forma de movimentos”.
A justaposição dos universos resultantes (inferior e superior) não permite intera-ções. A parte superior é determinada pelo contingente de automóveis, pelo fluxo, pela velocidade (ou a ausência dela).
O subterrâneo, também prescrito em parte pelos mesmos componentes, contem-pla a interação do cidadão e do comércio existente. Como limite para estes dois universos paralelos, há o que é lindeiro, o que emoldura, o que convive.
Na tentativa de diminuir o impacto da construção, em 1997, a FUNARTE (Fundação Nacional de Arte) propõe a realização do Projeto Elevado à Arte, cujo propósito era que os 54 mil m2 de pintura, que compreendiam toda a extensão do elevado, tives-se caráter permanente.
A intervenção na lateral norte ficou a cargo de Maurício Nogueira Lima que por meio da inserção de linhas diagonais em ocre e amarelo procurou se aproximar do gra-fismo dos sinais de trânsito.
Para a intervenção na lateral oposta, artista Sônia Von Brusly utilizou as cores cinza, vermelho e azul de “forma a contrastar com o aspecto agressivo” da edificação 47.
Imagem 49 | Divulgação do novo horário de funcio-namento do Elevado Costa e Silva.Fonte | Disponível em: <https://quandoacidade.wordpress.com/category/minhocao/page/2/> Acesso em: 22 de outubro de 2014 .
Hoje nada resta dessas primeiras intervenções. A via, cada vez mais con-gestionada, impedia a visão em tempo cinematográfico e a pouca luz na parte inferior igualmente não auxiliava visualização dos trabalhos. Outras camadas foram sobrepostas aos murais: cartazes publicitários, grafites e a própria repintura da estrutura, em cor que mimetiza o concreto. A ini-ciativa de cobrir parcialmente a enorme estrutura com trabalhos artísticos funcionou como uma espécie de maquiagem, que se esvaiu no tempo. (Nascimento, apud Artigas 2008 p. 49)
Na parte inferior, por sugestão da crítica de arte Radha Abramo, foram recriados painéis de Flávio Motta como forma de homenagem a um dos pioneiros interventi-vos 48.
Proposta semelhantes de requalificação, por intervenção cromática, ocorreram na Praça Roosevelt na década de 1980 49. Ocorre que, para requalificar é preciso, an-tes, desqualificar, ou pelo menos classificar como inadequadas ou insuficientes as qualidades de um objeto para determinadas funções, como refere Zaidler (2014). Para o autor as intervenções vencedoras:
Diametralmente oposta a ideia de requalificação da edificação, a intervenção ar-tística passa a enxergar no Minhocão uma possibilidade de suporte-arte, muito de encontro ao que Sevcenko (2001) chama de a desmaterialização dos suportes nas artes plásticas face às grandes mudanças tecnológicas e a super valorização da exposição como exibição, o que de certa maneira, dilui o valor inerente à expressão artística e distanciam público e arte. (Sevcenko, 2001 p. 127)
Atenderam ao edital no ponto que ele tem em comum com muitos ou-tros e que o caracteriza enquanto modelo: o caráter de requalificação, a tentativa de amenizar com tintas uma situação visual complexa gerada por fatores que nada têm a ver com visualidade, ainda que nela sejam sintetizados. Equivale, a meu ver, a oferecer uma corda multicolorida ao condenado à forca, ou a embelezar Quasimodo colocando-lhe uma visto-sa peruca. (Zaidler, 2014 p.110)
47. Urbanismo – Morador e Profissional defendem desativação do elevado - Pintura vira paliativo contra má imagem do polêmico Minhocão. Folha de São Paulo. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/1998/11/22/264>. Acesso: 19 de outu-bro de 2014. 48. Instituto Arte Cidadania. Disponível em: <http://www.artecidadania.org.br/_._Instituto_ArteCida-dania_../Publicacoes/Entradas/2013/9/9_Proje-to_Elevado_a_Arte.html>. Acesso: 19 de outubro de 2014.
49. Segundo Coelho (2012), a década de 80 do século passado traz duas intervenções cromáticas para a Praça Roosevelt: em 1980 a edificação re-cebe uma intervenção na cor verde e 4 anos mais tarde, a praça fica povoada pelos pigmentos ver-melhos e ocre da obra do artista plástico Maurício Nogueira Lima. (Castanheira, 2013 p.6)
91
Neste que é um avesso urbano, os pilares do Minhocão foram utilizados como su-porte logo após a sua inauguração. Esta que foi a primeira intervenção realizada no Minhocão teve autoria de Flávio Motta e Marcello Nitsche e explorava as variáveis de tempo e de posicionamento (conceitos da arte cinética) para a percepção da obra.
Intitulada Caminhos do Jaraguá, a intervenção, segundo Zaidler (2014), marcou o deslocamento de trabalhos artísticos em empenas cegas para outras superfícies da cidade. Paralelamente, o ineditismo na utilização dos pilares do Minhocão teve grande destaque, emancipando este tipo de apropriação, e “abrindo possibilidades inéditas para a concepção de trabalhos artísticos visuais na cidade”, pois, até en-tão, as “pinturas artísticas a céu aberto” tinham o status de mural “e as empenas cegas eram o suporte preferencial”.
Note-se ainda o caráter de transitoriedade da obra na qual não foram utilizados ma-teriais que pudessem perpetuar a sua presença, como refere o mesmo autor.
Segundo o artista, o objetivo do projeto era tornar a cidade um campo de relacionamento urbano mais amplo. A intervenção, finalizada em 1974, integrou o projeto “Arte e Planejamento”, sob responsabilidade da Co-ordenadoria Geral de Planejamento do Município (1975). (Nascimento, apud Artigas 2008 p. 48)
As pinturas recobriam a totalidade da área dos pilares, exclusivamente nas cores azul, vermelho e branco; eram em sua maioria geométricas. Em alguns trechos, a sequência sugeria um pôr do sol; em outros, movimen-tos de expansão e contração. A certa altura tornava-se figurativa: um pás-saro ocupava sempre a mesma posição relativa em pilares sucessivos, enquanto suas asas se deslocavam alguns centímetros, primeiro para cima e depois para baixo, criando a ilusão do voo. Tudo isso na direção oeste, na qual era visível o pico do Jaraguá, o mais alto da cidade e marco referencial natural cuja visão, desde a Avenida São João, foi bloqueada pelo elevado. (Zaidler, 2014 p.100)
As intervenções artísticas na qualidade de agentes transformadores constituem um modo de construção social dos espaços públicos, uma via de produção simbólica da cidade, expondo e mediando suas conflitantes relações sociais, como refere Pallamin (2000).
Para Campos (2010), a drástica desvalorização do entorno, de uma região até en-tão extremamente interessante para a construção vertical, contribui para dotar o Minhocão de uma aura transgressora.
A apropriação, que efetiva a cidade como suporte da manifestação artística ex-põem, relata e discute ao mesmo tempo em que promove uma leitura do espaço ur-bano como fonte de informação e conexões culturais. É a polivalência que se trans-forma na polifonia de Canevacci (1983). Polifonia como definição de conceito em Canto Coral, se refere a um conjunto de instrumentos que não tocam em uníssono. Emitem distintos sons, que não constroem uma melodia. Não está relacionado à qualidade dos sons de forma individual. A sonoridade produzida, em termos indi-viduais, pode apresentar qualidade musical, que não é notável de forma coletiva.
93
Nos casos dos trechos atravessados pelo Elevado, seu caráter aberto à transgressão e acolhedor da diferença passou a ganhar valor com a ascensão do multiculturalismo, do pluralismo e das identidades alterna-tivas como traços definidores da paulistanidade. Suas pistas passaram a ser aproveitadas, nos finais de semana, como área de lazer, na qual se manifesta a diversidade das tribos urbanas. (Campos 2008 apud Artigas, 2010 p. 42)
a cidade em geral e a comunicação urbana em particular comparam-se a um coro que canta com uma multiplicidade de vozes autônomas que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se umas às outras, isolam-se ou se contrastam; também designa uma determinada escolha metodológica de dar voz a muitas vozes, experimentando assim um enfoque polifônico com o qual se pode representar o mesmo objeto – justamente a comuni-cação urbana. A polifonia está no objeto e no método. (Canevacci, 1983 p. 17)
A ocupação do Minhocão como recinto/suporte de eventos tem mobilizado inicia-tivas em outras esferas. Uma das mais recentes foi promovida pelo SESC e auto-rizada pela subprefeitura da Sé. O projeto Giganto, de autoria da jornalista Raquel Brust, integrou o festival PhotoEspaña cuja proposta era a utilização da arquitetura da cidade como suporte e, por meio da inserção de imagens hiperdimensionadas.
A temática tinha por objetivo propor uma reflexão sobre a perfeição de rostos veicu-lados em publicidade, por meio da utilização da imagem de moradores de diferen-tes áreas da cidade, cuja escala das fotografias altera a percepção do fotografado em relação a si mesmo, e, do observador em relação à cidade. Procurava ainda, “enquanto todos fazem parte de uma massa única e sem rosto”, discutir a individu-alidade e a “complexidade em cada unidade”, de cada apartamento que compõem as fronteiras do elevado 50.
A utilização das bases do Minhocão como suporte, como tela urbana, remete ao conceito de arquigrafia que diz respeito aos edifícios que incorporam imagens em suas superfícies e, cujo resultado interfere diretamente na forma como se percebe a edificação-suporte no contexto urbano. (Simon, 2006)
Ocupada intensamente por veículos durante a semana, a face solar do Minhocão, aquela que oculta o lado obscuro, enlutado, o avesso da edificação, se transmuta ante o final de semana e feriados.
Esta transformação efetiva a qualidade do equipamento de ser híbrido, transgredin-do a sua funcionalidade primeira.
A típica utilização dominical é antes de tudo um grande manifesto de ocupação: esta via expressa, nega a sua vocação original, facultando o seu território para uma atividade tão banal quanto caminhar.
50. Projeto Giganto - Disponível em: <(http://pro-jetogiganto.com/about/)>. Acesso: 19 de outubro de 2014.
51. Baixo Centro – Quem Somos – Disponível em: <http://baixocentro.org/quem-somos/ > Acesso em: 09 de novembro de 2014.
O ato de caminhar ou espaço de enunciação como refere Certeau (1998), é para o autor a privação do lugar em um processo constante de sua procura, o que faz desta trivialidade “uma experiência social” e faz da cidade, um recinto próprio para as experimentações, um laboratório onde é possível ao “usuário extrair fragmentos do percurso e atualizá-los em segredo”, como refere Barthes (1996 apud Certeau, 1998).
O uso (esta relação entre o usuário e o percurso), que em Certeau (1998) se qualifica como enunciação pedestre e onde o percurso se altera pelas práticas do usuário, se transmutando “em singularidades aumentadas e em ilhotas separadas” (Bour-dieu 1996 apud Certeau,1998) – “define o fenômeno social pelo qual um sistema de comunicação se manifesta de fato”, remetendo a um comportamento, entendido como norma.
A salubridade da ocupação pedestre reverberou e teve desdobramentos: o Minho-cão fez parte do percurso da corrida de São Silvestre entre 1980 e 2010.
Além disto, é cenário frequente de skatistas e ciclistas.
A apropriação interage, interfere, acrescenta. São muitas as ações que buscam refletir a falta de verde no Minhocão. Em 2009, o fotógrafo Felipe Morozini com a ajuda de 20 amigos, realizou uma intervenção denominada Jardim Suspenso da Babilônia, onde foram desenhadas grandes flores, com cal, na superfície do equi-pamento.
Em 2012, o Festival Baixo Centro simulou um teaser do que poderá vir a ser o Par-que do Minhocão. O festival é um movimento de ocupação civil, transversal, que busca de forma colaborativa promover ações de apropriação urbana 51.
95
Mais recentemente foi instalado um Jardim Vertical na região do Minhocão. O proje-to, iniciativa da marca Absolut e feito em parceria com o Movimento 90º e a Escola São Paulo, busca colaborar para a mudança na cidade por meio de intervenções que estejam alinhadas ao mote “Transform Today” (estratégia concebida pela marca para assim, estabelecer proximidade e vínculos com a geração Y, também conheci-da como Millenials, que para os patrocinadores constituem uma geração ávida pela materialização do novo 52).
A instalação de Parques Verticais, segundo os idealizadores, pode reduzir em 30% a poluição da área próxima, além de desempenhar papel de isolante térmico.
Independentemente da motivação inicial, a iniciativa gerou desdobramentos. Em busca de patrocinadores, o Movimento 90º anunciou há pouco a intenção de insta-lar 8 mil m2 de novos jardins (também denominados “parques verticais”) de forma a ocupar parte das mais de 140 empenas cegas dos prédios que se debruçam sobre o Minhocão e que se esvaziaram de conteúdo com a instalação da Lei da Cidade Limpa (2007) 53.
Esta plataforma a céu aberto que é o Minhocão, hospedou, no âmbito da 10ª Edi-ção da Bienal de Arquitetura de São Paulo subordinada ao tema “Cidade: Modos de Fazer, Modos de Usar”.
O BaixoCentro é um festival de rua colaborativo, horizontal, independente e autogestionado realizado por uma rede aberta de produtores interes-sados em ressignificar esta região da capital de São Paulo em torno do Minhocão, que compreende os bairros de Santa Cecília, Vila Buarque, Campos Elísios, Barra Funda e Luz. Com o mote “as ruas são pra dançar”, busca estimular a apropriação do espaço público pelo público a quem, de fato, pertence, motivando uma maior interação das pessoas com seus locais de passagem, trabalho ou moradia cotidianos .
52. Jardim Vertical Invade Minhocão – Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/jardim-vertical-invade-minhocao-em-sao-paulo> Acesso em: 09 de novembro de 2014.
53. Minhocão terá Jardins Verticais em 2015 – Dis-ponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/jardim-vertical-invade-minhocao-em-sao-paulo> Acesso em: 09 de novembro de 2014.
54. Benfeitoria – Mobilização para Projetos de Impacto. Disponível em: <http://benfeitoria.com/festajuninanominhocao>. Acesso: 19 de outubro de 2014.
A bienal pretendeu promover uma reflexão sobre as possibilidades de construção do viver urbano e “sobre a cidade contemporânea a partir da sua própria estrutura espacial”, ou seja, os conteúdos foram alocados em diferentes pontos da cidade, cujos critérios de escolha recaíram sobre a qualidade do espaço e a respectiva acessibilidade permitindo desta forma, uma “uma experiência viva da cidade”.
Se por um lado a utilização do Minhocão como suporte de intervenções tem vindo a mobilizar agentes de distintas esferas, por outro, as iniciativas coletivas que nascem da articulação de moradores se efetivam de forma crescente. Em 2012 aconteceu a primeira Festa Junina no Minhocão. Processo colaborativo, a iniciativa mobilizou cidadãos animados pelo lema “A Festa Junina no Minhocão será dos cidadãos para a cidade e da cidade para cidadãos” 54. A iniciativa visa chamar a atenção para a função social da arte e a relevância da participação social individual, que constrói a coletiva. É a legitimação de uma identidade construída, como refere Florida (2011), por meio, da apropriação do espaço urbano, do exercício do direito à cidade e tam-bém, da concretização cultural.
A interação possível entre os prédios (que ladeiam) e o próprio elevado se resume a uma contemplação (que pode ser mútua), mas, que certamente é muito mais dos moradores em relação à presença ou a ausência de automóveis no elevado, do que o contrário. E o que supostamente deveria ser um brutal contraste (entre o interior dos prédios e o exterior, entre o que é público e o que é privado), no caso do Minho-cão, se confunde pela exagerada proximidade, pela invasão de uma privacidade inexistente.
A arte, no entanto, mudou a direção deste olhar. O Grupo de Teatro Esparrama con-cebeu um espetáculo, ambientado no Minhocão, que discute a convivência cotidia-na com a velocidade, a poluição, o barulho. A narrativa mostra como esse morador, vizinho do Minhocão, transforma em música essa vivência.
97
A realidade se mescla à fábula e o prédio se transforma em um castelo. O texto usa o humor e a fantasia para mostrar o caos da metrópole com um olhar diferente 55. A plateia é o chão do Minhocão. O palco se instala em duas janelas do terceiro andar no Edifício São Benedito e a cenografia se resume a batentes azuis e uma floreira, além do enfileirado de janelas vizinhas.
A dramaticidade que o Minhocão atribuiu à região e às suas novas utilizações foram também apropriadas por cineastas.
Pelo olhar de João Sodré, o documentário Elevado 3.5 traça um panorama da re-alidade em primeira pessoa de quem convive com o Minhocão. As distintas pers-pectivas mostradas pelo cineasta denunciam enquadramentos inimagináveis para aqueles que percebem o Minhocão apenas como um recurso viário.
O elevado serviu de locação para personagens do Ensaio Sobre a Cegueira de Fernando Meirelles (baseado no livro homônimo de José Saramago) buscarem uma saída, um novo caminho.
O peso da estrutura do Minhocão está presente no filme Terra Estrangeira de Walter Salles e Daniela Thomas (1995) e é retratado na dicotomia que a edificação con-templa: o barulho e o silencio; a velocidade e a lentidão; o fluxo e a escassez; a presença e a ausência.
Como pano de fundo (em o Signo da Cidade, de Carlos Alberto Ricceli – 2007), como cenário romântico (em Estamos Juntos de Toni Venturi – 2011) ou como espa-ço de lazer (como em Não Por Acaso, de Philippe Barcinski – 2007) o Minhocão se presta a construir a realidade urbana com a dramaticidade inerente a sua presença.
55. Grupo Esparrama encena peça em janela do Minhocão - Disponível em: <http://www.rede-brasilatual.com.br/entretenimento/2014/01/gru-po-esparrama-encena-peca-em-janela-do-minho-cao-1686.html>. Acesso: 08 de outubro de 2014.
99
Imagem 50 | Apresentação do Grupo Esparrama no Minhocão.Fonte | Disponível em: <http://arteessenciadavida.blogspot.com.br/2014/02/grupo-esparrama-da-janela-de-um.html> Acesso em: 08 de novembro de 2014.
Imagem 51 |Evento no Minhocão.Fonte | Disponível em: < http://comidasebebidas.uol.com.br/noticias/redacao/2014/05/15/virada-cultural-tem-cervejas-artesanais-cerimonia-do-cha-e-chefs-na-rua.htm> Imagem: Reinaldo Canato/Folhapress. Acesso em: 08 de novembro de 2014.
Imagem 52 | Festa Junina no Minhocão .Fonte | Disponível em: <http://gabrielmedina13.com.br/2012/06/agenda-cultural-2906/> Acesso em: 23 de outubro de 2014
Imagem 53 | Elevado Costa e Silva aos domingos e feriadosFonte | Disponível em: < http://vadebike.org/2013/06/passeio-ciclistico-virada-sustenta-vel-2013-sp-wwf-brasil/> Imagem: Raquel Schein Acesso: 19 de novembro de 2014.
Imagem 54 | Projeto Giganto.Fonte | Disponível em: <http://projetogiganto.com/> Acesso: 19 de novembro de 2014.
Imagem 55 | – Intervenção Elevado Costa e Silva – X Bienal de Arquitetura – Artista Luana Geiger. Fonte | Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,piscina-e-montada-em-cima-do-minhocao,1144198> Acesso em: 02 de outubro de 2014.
Imagem 56| Cena do Filme Ensaio Sobre a Ceguei-ra.Fonte | Disponível em: <http://universofantastico.wordpress.com/2008/10/06/so-nao-ve-quem-nao-quer-ensaio-sobre-a-cegueira/> Acesso em: 08 de outubro de 2014.
5. Considerações Finais
As transformações econômicas e sociais que grifam o urbano elaboram o que a Ferrara (1993) chama de a “história não verbal” da cidade. Para além das motiva-ções socioeconômicas é possível identificar a imagem da cidade, por meio da reali-zação humana. Na apreensão dessas imagens residem as representações, que em suas palavras, constituem a linguagem urbana que não se apreende por meio da abstração, mas, antes, pela recorrência dos fatos urbanos que inferem e modelam o cotidiano.
Ali, onde é possível fazer a leitura do cotidiano local, o observador manifesta o seu papel ativo na percepção do mundo por meio de uma participação criativa no desenvolvimento da imagem ambiental, que afinal, é o resultado de um processo bilateral entre o observador e o local, reforça Lynch (2011).
Na “história não verbal” da cidade de São Paulo há um episódio de vulto não só pela dimensão formal que adquiriu, mas, também, por materializar a herança de um período duro da história recente do Brasil: o Elevado Costa e Silva, também conhe-cido como Minhocão.
As prioridades construtivas da administração militar tinham por objetivo ofertar escoamentos viários em exuberantes equipamentos que revelassem o caráter de grandiosidade de um país em desenvolvimento. Renunciando a qualquer condicio-nante topográfica, visual ou histórica, como refere Zaidler (2014), a desproporcio-nalidade do Elevado Costa e Silva em relação à área de implantação, estabeleceu dois territórios em uma área anteriormente valorizada da cidade de São Paulo. Além de polarizar a valoração da área (entre maior e menor valor), a intersecção resultou
105
uma fronteira que materializa a desproporção, o incômodo e a invasão da privaci-dade.
Esta, que para Koolhaas (2010), se constitui como uma das categorias possíveis em arquitetura (a grandeza) e que, para o autor, caminha para a erradicação pelos atributos que apresenta (imperícia, lentidão, inflexibilidade, entre tantos), é por outro lado, o que instiga o regime da complexidade mobilizadora em termos da inteligên-cia total da arquitetura e dos seus campos afiliados.
Argan (1991) no texto o Espaço Visual da Cidade faz a distinção entre a função e o valor de uma edificação. Embora relacionados, há que distinguir os conceitos no âmbito urbano. A função é resultado de um projeto, pensado para atender neces-sidades e objetivos funcionais. Em relação ao segundo aspecto, Argan (1991) faz a distinção entre valor (seja estético, formal, histórico) e a atribuição de valor. Esta concessão só se efetiva por meio da importância que a totalidade dos usuários de uma cidade é capaz de expressar.
O autor refere que “devemos levar em conta, então, não o valor em si, mas a atribui-ção de valor, venha de quem vier e para o que quer que seja. De fato, o valor de uma cidade é aquele que a comunidade lhe atribui”. Nada mais errado do que identificar função e significado num edifício inserido no contexto urbano. A função não confere significado, mas, simplesmente a razão de ser. (Argan, 1991 p. 20)
O autor refere ainda que uma arquitetura pode conservar um valor estético, ainda que a sua funcionalidade não exista mais. Exemplifica esta possibilidade com o Coliseu, que conservou (e ampliou) o seu valor, embora já não exista a sua fun-cionalidade de origem. Por outro lado, o valor estético ou formal pode preceder à funcionalidade perdida.
A transformação da linha ferroviária que originou o Promenade Plantée foi iniciativa pública. O High Line é fruto de uma muito bem sucedida articulação pública que soube arregimentar força para a sua concretização. É muito claro, em termos de motivação, as distintas forças propulsoras que deram origem ao Promenade Plan-tée e ao High Line. Enquanto a articulação cidadã que resultou na instalação do High Line constitui uma iniciativa Bottom Up, a efetivação do Promenade Plantée foi um processo que ficou totalmente a cargo da prefeitura, caracterizando uma iniciativa Top Down. O presente trabalho não pretende minimizar a assertividade de iniciativas Top Down. Trata-se, sobretudo de uma reflexão acerca do crescente rol de manifestações diametralmente opostas, as Botton Up.
O High Line materializa a emergência de um comportamento que se notabilizou pela abrangência que adquiriu. Entre a antiga linha férrea construída em 1930 (e desati-vada em 1980) e a articulação empreendida por Robert Hammond e Joshua David na liderança de um grupo contrário a sua demolição, houve uma trajetória “out of the box”, como refere Leite (2013), através da presença de personagens locais que alavancaram novos usos e significados, reprogramando lugares.
Tanto no High Line como no Promenade Plantée é possível à população usufruir dos equipamentos para o lazer. O High Line, no entanto, além de ofertar o equipamento, promove também vasta programação e interação com o entorno e a cidade.
Em grande parte, significados e simbolismos hoje associados ao Minho-cão nada mais fazem que exacerbar vocações historicamente atribuídas ao eixo da São João: rua desprezada que se quis bulevar, área sempre reproposta para funções de prestígio, e, ao mesmo tempo, sempre rea-proveitada para usos “indesejados”; vetor de expansão para tudo aquilo que o olhar dominante vê como melhor e pior no centro de São Paulo. (Campos 2008 apud Artigas, 2008 p. 21)
107
O Minhocão, certamente não se enquadra em nenhuma das referências de Argan (1991). Há ambiguidades. Embora seja claro que a funcionalidade do Minhocão não esteja perdida, representando um significativo recurso de escoamento para o trânsito paulistano, por outro lado, o peso de sua presença materializou um enorme impacto na região em termos sociais, ambientais e econômicos.
Enquanto espaço de permanente publicação (o espaço público, do público) como refere Guatelli (2008), o Minhocão passa paulatinamente a ser visto como anacrôni-co, passando a ser objeto de propostas de demolição total ou parcial, como refere Campos (2008).
Apesar da rejeição que o equipamento suscita (diretamente relacionada com o valor percebido), os usuários souberam reinventar a sua vocação original, hibridizando usos e legitimando a apropriação em diversos formatos.
Tal capacidade de reinvenção converge para o que Florida (2002) refere sobre a Classe Criativa e sua vocação para privilegiar a cultura orgânica e vernacular.
Esta expressão artística espontânea é diametralmente oposta ao que Vivant (2012) chama de cultura instrumentalizada: a produção cultural pasteurizada, sem cone-xão.
Com o novo século, a situação se galvanizou. De um lado, ressuscitou-se mais uma vez a ideia de renovar a área de Santa Ifigênia, transformando a “cracolândia” em Nova Luz; de outro, começou-se a pensar em reapro-veitar elementos e situações urbanas até então desprezados, como o pró-prio Elevado, repropondo-se como ponto de partida para outras visões da cidade. Artistas, cineastas e arquitetos lançam olhares que tentam des-vendar essa multiplicidade de sentidos. O Minhocão segue dividindo opi-niões, incomodando, revelando diferenças e invertendo valores. (Campos apud Artigas 2008 p. 43)
Converge também para o conceito de Máquina de Guerra em Deleuze (1998 apud Oneto, 2008) que apesar da denominação, contém um sentido bélico-simbólico em sua essência e se constitui como uma articulada rede cuja capilaridade alcança de forma transversal a propagação que se deseja. Este conceito é por definição, como refere Oneto (2008), exterior às diversas formas de Estado surgidas ao longo da história e se encontra diametralmente oposto ao seu aparelho.
O Minhocão se por um lado constrói um referencial de apropriação, tem também nos usuários a diversidade característica desta classe: há skatistas, grafiteiros, ar-tistas, esportistas, entre tantos outros.
Como referido anteriormente, este trabalho não procurou refletir sobre o que deve ser feito com a estrutura do Minhocão, embora a discussão tenha estado em pauta muito recentemente com o novo Plano Diretor de São Paulo 56, sancionado pelo Prefeito Fernando Haddad que prevê, entre outras medidas, a desativação do Mi-nhocão enquanto passagem viária.
109
O Estado é a soberania que está sempre pronta para se apropriar da po-tência no intuito de interiorizá-la sob a forma de um poder hierarquizado. A forma-Estado tem uma forte tendência a se reproduzir solicitando o reconhecimento público de seus direitos, como uma necessidade – a ne-cessidade da Lei. Mas a máquina de guerra, como pura forma de exterio-ridade, só aparece e existe em processo, nas suas metamorfoses, como um fluxo com suas regras imanentes: nas informações que circulam na internet, num movimento religioso ou numa manifestação de rua, nas gan-gues, nos movimentos de sem-terra, sem-teto, sem-voto, sem-formação etc. Sua apropriação ou eliminação pelos aparelhos de Estado é sempre iminente, mas ela acaba implicando abertura para novos fluxos. (Oneto, 2008, p.152)
desde a promulgação da lei que o mantém fechado para carros durante as noites e aos domingos, a cidade está sendo testemunha do surgimento de novas apropriações espontâneas desse símbolo de SP: o Minhocão como um espaço de lazer dos moradores, de encontros, de expressão cultural e artística, de esporte.
55. Projeto de Lei Nº 01-00010/2014 de autoria dos Vereadores José Police Neto (PSD), Nabil Bonduki (PT), Toninho Vespoli (PSOL), Ricardo Young (PPS), Goulart (PSD), Natalini (PV) e Floriano Pesaro (PSDB) que cria o Parque Municipal do Minhocão e Prevê a desativação gradativa do Elevado Costa e Silva. Disponível em: < http://cida-deaberta.org.br/projeto-de-lei-no-01-000102014/>. Acesso: 09 Out 2014.
57. Associação Parque Minhocão - Disponível em: <http://minhocao.org/>. Acesso: 08 de outubro de 2014.
Importante referir ainda que, a par desta iniciativa governamental, foi fundada em 2013 a associação sem fins lucrativos Amigos do Parque Minhocão que tem como objetivo principal promover a instalação do parque linear. Para a associação o Mi-nhocão é um “grande estandarte da cidade” que, apesar de materializar a dinâmica da cidade voltada para o automóvel,
Esta pesquisa procurou antes de tudo, entender o conjunto de manifestações que o Minhocão alberga, pois, como refere Leite (2013), emerge um poder contagiante de reinvenção onde é possível se redescobrir a cidade de forma criativa e inovadora, por meio de situações híbridas contaminadas por pré-existências e pela emergên-cia do novo: oportunidades, programas, eventos, pessoas.
A questão da escala, transposta da perspectiva global para a efetivação local, foi assunto de interesse no percurso do presente trabalho, muito alinhado ao que refe-re Madeira (2010) sobre o hibridismo estrutural que, introduz uma espécie de “glo-calismo”: “pensamento global, ação local”.
A transposição de uma realidade digital emancipadora para a emergência de uma interação presencial (Leite, 2013), onde as pessoas, cada vez mais, promovem o convívio e a partilha, também foi de interesse para este trabalho.
É, nas palavras de Leite (2003), o compartilhamento da cooperação: um urbanismo feito à mão, do tipo “faça-você-mesmo” (Do-It-Yourself – DYI).
Queremos transformar o Minhocão em um parque linear elevado com ci-clovia, criando um espaço público de lazer que reafirma e impulsiona ain-da mais a apropriação e ressignificação do lugar pela população, a partir da convicção de que devemos viver em “cidades para pessoas”.
Uma espécie de geração Maker Analógica, que ao contrário dos Makers 58, vê no mundo digital apenas como ferramenta pulverizadora das concretizações, da rein-venção cotidiana, presencial.
Da ocupação do Minhocão emergem, como refere Jonhson (2001), complexas in-terações paralelas entre agentes locais, onde é possível verificar um macro com-portamento: o Minhocão como território apropriado na construção e difusão da cidadania.
58. O que exatamente, define o Movimento Maker? A descrição é ampla e abrange grande diversidade de atividades, desde artesanato clássico até ele-trônica avançada, muitas das quais estão por aí há séculos. Porém, os Makers, pelo menos os de que trata este livro, estão fazendo algo novo. Primeiro, usam ferramentas digitais, projetando em compu-tador e produzindo cada vez mais em máquinas de fabricação pessoais. Segundo, como pertencem à geração Web, compartilham instintivamente suas criações on-line. Apenas pelo fato de incluírem no processo a cultura e a colaboração pela Web, os Makers conjugam esforços para construir coisas em escala nunca vista antes em termos de FVM (Faça Você Mesmo). (Anderson, 2013 p.23)Anderson, C. A Nova Revolução Industrial: Makers. São Paulo: Elsevier Editora, 2013. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=J5rOQPDEkNoC&pg=PA23&lp-g=PA23&dq=gera%C3%A7%C3%A3o+maker-s&source=bl&ots=m1jmRGVWQj&sig=RKYlI0zk-4JMmanvGl3b9NaFRmcQ&hl=pt=-BR&sa=X&ei-OwRgVOLEN4OhgwT5oYS4AQ&ved=0CDY-Q6AEwBQ#v=onepage&q=gera%C3%A7%-C3%A3o%20makers&f=false>. Acesso em: 09 de
111
Imagem 74 | Projeto Giganto.Fonte | Disponível em: <projetogiganto.com> Acesso em: 22 de outubro de 2014 .
ANDERSON, Chris. A Nova Revolução Industrial: Makers. São Paulo: Elsevier Editora, 2013.
ARGAN, Giulio Carlo. O Espaço Visual da Cidade. Revista de Estudos Regionais e Urbanos – Ano: XI - São Paulo: Espaços & Debates – Revista de Estudos Regionais e Urbanos. Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos, 1991.
ARTIGAS, Rosa. Caminhos do Elevado – Memória e Projetos. São Paulo: Imprensa Oficial, 2008.
AUGÉ, Marc. Não Lugares – Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade. São Paulo: Papirus Editora, 2012.
BARBOSA, Eliana Rosa de Queiroz. Minhocão e suas múltiplas interpretações. São Paulo: Vitruvius, 2012. Disponível em:<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4455> Acesso em: 17 de maio de 2014.
BAUMAN, Zygmunt. A Modernidade Líquida. São Paulo: Editora Zahar, 2001.
BENDASSOLLI, Pedro Indústrias Criativas: Definição, Limites e Possibilidades. São Paulo: RAE, 2009. V. 49 – n.1 jan/mar 2009 – 010.018 Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rae/v49n1/v49n1a03.pdf> Acesso em: 17 de maio de 2014.
CANEVACCI, Massimo A Cidade Polifônica: Ensaio sobre a An-tropologia da Comunicação Urbana. São Paulo: Livros Stu-dio Nobel, 2004. Disponível em> < http://books.google.com.br/books?id=W0kP6DobUJYC&pg=PA29&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false> Acesso em: 30 de maio de 2014.
CASTANHEIRA, Elisabete Barbosa. Objeto E Lugar: O Não Pre-sente - Micro Intervenções Possíveis Para Não-Lugares – São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013._________________ Paisagem Urbana: Leituras Possíveis – São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013.
CERTEAU, Michel. A invenção do Cotidiano. Petrópolis: Editora Vozes, 1998.
CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 790, 1971.
FERRARA, Lucrécia D’Alessio. Olhar Periférico. São Paulo: EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 1993.
FERREIRA, Pedro Magalhães Guimarães Ferreira. Jesuítas na Ci-ência. PUC, 2012.
FLORIDA, Richard. A Ascensão da Classe Criativa. Porto Alegre: Editora L&PM, 2011.
GLAESER, Edward. Os Centros Urbanos – A Maior Invenção da Humanidade. Rio de Janeiro: Editora Campos, 2011.
GOMES, Pedro Manuel Serrano. As Noções Deleuzo-Guattaria-nas de Território e Agenciamento a partir de 1837 – A Lengalenga. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2008.
GUATELLI, Igor. Condensadores Urbanos – Baixio Viaduto do Café – Academia Cora_Garrido. São Paulo: Mack Pesquisa, 2008.___________, RUBANO, L. M. Os Projetos de Reconfiguração de Territórios Urbanos: Condições Teóricas. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.Disponível em: <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FAU/Publicacoes/PDF_IIIForum_a/MACK_III_FORUM_IGOR_GUATELLI.pdf> Aces-so em: 31 maio 2014.
HADDAD, Evelyn Witt. Inovação Tecnológica em Schumpeter e na Ótica Neo-Schumpeteriana – Dissertação de Mestrado - Uni-versidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre – 2010. Disponível em: < http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/hand-le/10183/25385/000750582.pdf?sequence=1>. Acesso em: 31 maio 2013.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos – O Breve Século XX – 1914 – 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.____________ Era das Revoluções. São Paulo: Companhia das Letras, 2009._____________ Da Revolução Industrial Inglesa Ao Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
HORTA, Dina Isabel Rodrigues de. Estruturas Industriais Urbanas: O Emergir de um Novo Conceito Criativo no Projecto de Arqui-tectura Paisagista. Dissertação de Mestrado – Arquitetura Paisa-gística – Faculdade de Ciência e Tecnologia – Universidade do Algarve. Algarve: Universidade do Algarve, 2011.
HOWKINS, John. A Economia Criativa. São Paulo: M Books, 2011.
JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
JACQUES, Paola Berenstein. Errâncias Urbanas: A Arte de Andar pela Cidade. ArqTexto, 2005. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_7/7_Paola%20Berenstein%20Jacques.pdf> Acesso: 24 de maio de 2014.
JARDIM, Renata Maciel. Revitalização de Espaços Urbanos Ocio-sos como Estratégia para a Sustentabilidade Ambiental: O Caso do High Line Park no Contexto do PlaNYC. Dissertação de Mes-trado – PUC – RJ - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-neiro. Rio da Janeiro: PUC – RJ - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012.
JOHNSON, Steven. Emergência: A Vida Integrada de Formigas, Cérebros, Cidades e Softwares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edi-tor, 2001.
KOOLHAAS, Rem. Três Textos sobre a Cidade. Barcelona: Edito-rial Gustavo Gili, 2010.
LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia Urbana e De-senho da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
LEITE, Carlos de Souza. Cidades Sustentáveis. Cidades Inteligen-tes. Rio Grande do Sul: Editora Bookman, 2012.________ Territórios Híbridos + Reinvenção Urbana: América. São Carlos: Vírus, n. 9 (Online), 2013.Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/_virus09/secs/review/virus_09_review_1_pt.pdf>. Acesso em: 09 de novembro de 2014.
LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
LOJKINE, Jean. A Revolução Informacional. São Paulo: Editora Cortez, 2002.
MANZINI, Ennio. Design para a Inovação Social e Sustentabilida-de. Rio de Janeiro: E-Papers, 2008.
MADEIRA, Cláudia. Híbrido – Do Mito Ao Paradigma Invasor? Lis-boa: Editora Mundos Sociais, CIES, ISCTE-IUL, 2010.
MAU, Bruce. Massive Change. Londres: Phaidon, 2004.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
MONTENEGRO, Gildo. A Invenção do Projeto. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2006.
MORIN, Edgar. Introdução Pensamento Complexo. Rio Grande do Sul: Salina, 2011.
NEVES, Andreia Sofia Felisberto. O Edifício Híbrido Residencial – Temporalidades Distintas na Vivência da Cidade – Dissertação de Mestrado – Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 2012.
NESBITT, Kate. Uma Nova Agenda Para a Arquitetura. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2006.
NEWBIGIN, J. A Economia Criativa: Um Guia Introdutório. Reino Unido: British Council, 2010. Disponível em: < http://creativeco-nomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide_-_Portu-guese.pdf>. Acesso: 31 de maio de 2014.
ONETO, Paulo Domenech. A Nomadologia de Deleuze-Gattari. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. Disponível em: < http://uninomade.net/wp-content/files_mf/112703120549Lugar%20Comum%2023-24_completo.pdf> Acesso em: 10 de novembro de 2014.
PALLAMIN, Rosa. Arte Urbana ; São Paulo : Região Central (1945 - 1998):obras de caráter temporário e permanente. São Paulo: FAPESP, 2000.
RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Editora Ática, 1993.
REIS, Ana Carla Fonseca. Cidades Criativas – Soluções Inventi-vas. São Paulo: Garimpo de Soluções e FUNDARPE, 2010.____________ Cidades Criativas: Análise de um Conceito em For-mação e da sua Pertinência de sua Aplicação à Cidade de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Uni-versidade de São Paulo, 2011.____________ Cidades Criativas – São Paulo: Editora SESI-SP, 2012.
ROSA, Marcos Leite. Micro Planejamento – Práticas Urbanas Criativas – São Paulo – São Paulo: Cultura, 2011.
115
Imagem 75 | Janela de Prédio no Minhocão.Fonte | Disponível em: <https://helvioromero.wor-dpress.com/page/14/> Imagem: Hélvio Romero.Acesso em: 22 de outubro de 2014 .
RIFKIN, Jeremy. A Terceira Revolução Industrial. São Paulo: M Books, 2012.
SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o Século XXI – No Loop da Montanha-Russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
SIMON, Antônio Fernando Bannon. Arquigrafias: O Edifício e o Lugar como Suporte Gráfico. Dissertação de Mestrado. Rio Gran-de do Sul: UFRGS, 2006 Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/11040/000604505.pdf?sequence=1> Acesso: 19 de maio de 2014.
SHUMPETER, Joseph. Teoria do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.
____________________Capitalismo, Socialismo e Democracia. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
SUDJIC, Deyan. A Linguagem das Coisas. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2008. UNWIN, Simon. A Análise da Arquitetura. Porto Alegre: Editora Bookman, 2013.
Valoura, Leila de Castro. Paulo Freire, o Educador Brasileiro Autor do Termo Empoderamento, em seu Sentido Transformador. Dis-ponível em: <http://siteantigo.paulofreire.org/pub/Crpf/CrpfAcer-vo000120/Paulo_Freire_e_o_conceito_de_empoderamento.pdf> Acesso: 04 de novembro de 2014.
VIVANT, Elsa. O Que é uma Cidade Criativa. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2012.
ZAIDLER JUNIOR, Waldemar. Ratículas: As Superfícies Mudas como Lugar da Fabulação. Dissertação (Mestrado em Design e Arquitetura) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universi-dade de São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014.
ZOURABICHVILI, François. O Vocabulário de Deleuze. Campinas: Centro Interdisciplinar de Estudo em Novas Tecnologias e Infor-mação, 2004.
117
Imagem 57 | Mapa de localização do Promenade Plantée.Fonte | Disponível em: <https://www.google.com.br/mapmaker?tab=MM> Acesso: 08 de novembro de 2014.
Imagem 58 | Mapa de localização do High Line.Fonte | Disponível em: <https://www.google.com.br/mapmake-r?ll=40.723323,-73.988457&spn=0.035647,0.0739&t=m&z=-14&vpsrc=6&q=High+line,+Nova+Iorque,+NY,+Estados+Unidos&hl=pt-BR&utm_me-dium=website&utm_campaign=relatedproducts_maps&utm_source=mapseditbut-ton_normal> Acesso: 08 de novembro de 2014.
Imagem 59 | Mapa de localização do Elevado Costa e Silva.Fonte | Disponível em: <https://www.google.com.br/mapmake-r?ll=-23.540383,-46.653013&spn=0.043121,0.0739&t=m&z=14&vpsrc=6&utm_me-dium=website&utm_campaign=relatedproducts_maps&utm_source=mapseditbutton_normal> Acesso: 08 Nov 2014.
Imagem 60 | Local do High Line antes da construção da linha férrea.Fonte | Disponível em: <http://keithyorkcity.wordpress.com/2012/10/17/the-high-line-from-death-trap-to-tourist-trap/> Acesso: 19 de novembro de 2014.
Imagem 61 | Praça Marechal Deodoro, em São Paulo, antes da construção do Elevado Costa e Silva.Fonte - Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/marcelo-rubens-paiva/por-que-derrubar-o-minhocao/> Acesso em: 27 de setembro de 2014.
Imagem 62 | Linha Férrea Aérea que deu origem ao Promenade Plantée.Fonte | Disponível em: http://fabioechay.blogspot.com.br/2013/03/promenade-plantee-e-viaduc-des-arts.html Acesso: 15 de novembro de 2014.
Imagem 63 | Local do La Promenade Plantée antes da implantação do projeto.Fonte | Disponível em: <http://www.semaest.fr/nos-realisations/zac-promenade-plantee-12e/> Acesso em: 11 de setembro de 2014.
Imagem 64 | Vista Parcial do Promende Plantée. Fonte | Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/> Acesso em: 17 de novembro de 2014.
Imagem 65 | Viaduc des Arts.Fonte | Disponível em: < http://www.cristinamello.com.br/?p=4120> Acesso em: 12 de setembro de 2014.
Imagem 66 | Linha aérea férrea em funcionamento.Fonte | Disponível em: < http://endlessbanquet.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html > Acesso em: 12 de setembro de 2014.
Imagem 67 | Linha aérea férrea abandonada.Fonte | Disponível em: < http://planyourcity.net/2013/05/01/the-divide-between-archi-tecture-and-landscape-architecture-part-i/ > Acesso em: 12 de setembro de 2014.
Imagem 68 | Usuários do High Line.Fonte | Disponível em: <http://www.localnomad.com/pt/blog/2013/01/21/high-line-um-parque-elevado-em-nova-york/> Acesso em: 12 de setembro de 2014.
Imagem 69 | Evento no High Line.Fonte | Disponível em: <http://endlessbanquet.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html> Acesso em: 12 de setembro de 2014.
Imagem 70 | Construção do Minhocão.Fonte | Disponível em: <http://viabilyblog.com.br/2014/08/12/como-era-sao-paulo-sem-o-minhocao/> Acesso em: 22 de outubro de 2014.
Imagem 71 | Vista Aérea Parcial do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, em São Paulo.Fonte | Disponível em: < http://www.reabilitare.info/2012/02/02/deratizare-urbana-prin-anihilarea-viermelui-brazilian/> Acesso: 16 de novembro de 2014.
Imagem 72 | Evento no Minhocão, em São Paulo.Fonte | Disponível em: <http://www.tocadacotia.com/cultura/festa-underground-no-mi-nhocao-em-sao-paulo> Acesso: 16 de novembro de 2014.
Imagem 73 | Evento no Minhocão, em São Paulo.Fonte | Disponível em: <http://www.tocadacotia.com/cultura/festa-underground-no-mi-nhocao-em-sao-paulo> Acesso: 16 de novembro de 2014.