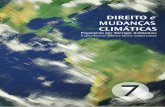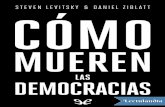Políticas Culturais e Democracias Locais (Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número...
Transcript of Políticas Culturais e Democracias Locais (Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número...
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
1
Políticas Culturais e Democracias Locais
Mestre Rui Matoso
Docente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Gestor e Programador Cultural
Se a sociedade politicamente organizada não acionar processos de re-democratização,
pode estar em causa a sobrevivência da democracia. O que vem não será uma ditadura. Será uma ditamole ou uma democradura.
Boaventura de Sousa-Santos [revista Visão, 13 de Setembro de 2007]
1
Este texto pretende-se como um conjunto de reflexões em torno das
políticas culturais locais e da sua intima conexão com re-democratização da
vida colectiva. Em contexto de crise generalizada (económica, social e política)
a dimensão cultural das políticas públicas locais é frequentemente desprezada,
justificando-se consensualmente pelos deficits das contas públicas, situações
de carência social ou falta de infraestruturas de saneamento básico. Esta
postura radica ainda no então designado “grau zero do poder local”1, ou seja,
num funcionamento excessivamente consensual da ação política e na sua
contrapartida mais elementar: o fazer obra.
O diagnóstico relativo às debilidades do poder local está feito há muito:
«...entre as condicionantes da autonomia e as das potencialidades do poder
autárquico, a ação política municipal parece caracterizar-se sobretudo por um
défice de poder. O processo de democratização, de diferenciação da sociedade
e do desenvolvimento local, impõem uma maior capacidade de seleção de
alternativas...conducentes a uma dinamização do desenvolvimento local.»2. É
preciso entender aqui a expressão «défice de poder local» como falta de
1 «Uma das razões, julgamos, que podem explicar este consenso é o que denominamos
de "grau zero do poder local-, entendido como a aceitação relativamente pacifica e generalizada, da necessidade, durante uma primeira fase de implementação do poder local (1974-1984), de um programa de acção centrado na criação de infra-estruturas e equipamentos sociais» JUAN MOZZICAFREDO, ISABEL GUERRA, MARGARIDA A. FERNANDES, JOÁO QUINTELA [1988]. Revista Crítica de Ciências Sociais nº 25/26 2 Idem, p. 111
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
2
distribuição do poder (poder relacional) pelos diversos grupos de atores sociais
locais, gerando essa ausência uma acumulação de poder nas mãos do “César
local”. É aliás reconhecido que os autarcas recorrem frequentemente às vias
informais, aos contactos pessoais e às cumplicidades partidárias dando assim
azo à formação de clientelas e ao centralismo da administração local e, por
consequência, ao chamado "cesarismo local". Daí a utilidade pública da lei da
limitação de mandatos (Lei nº 46 /2005 de 29 de Agosto) . É este, diz
Boaventura Sousa-Santos, o paradoxo do poder local no nosso país:
Presidentes de Câmara fortes coexistem com um poder local fraco.
A construção e a seleção de alternativas políticas e sociais, num mundo
interdependente e em sociedades hipermediatizadas, só poderá florescer e
intensificar-se num contexto de cidadania cultural sinónima do exercício de
liberdades e direitos culturais.
O que de fundamental uma política cultural ao nível municipal deverá
propor é uma Cultura Cívica, a cultura promovida com os cidadãos, sempre no
plural. A tónica no pluralismo é uma preocupação central, pois não se pode
reduzir a produção cultural de uma sociedade à hegemonia ou ao pensamento
único. Aliás, como refere a UNESCO, a diversidade cultural é o maior tesouro
da humanidade, pelo que deve ser protegida e socialmente valorizada.
As cidades ideais são entidades dinâmicas, e por isso mesmo geram
novas formas de organização, novos projetos e novas relações sociais
consubstanciadas em redes locais de tipologias diversas. Daqui resulta que os
direitos políticos e os direitos culturais sejam direitos de cidadania, isto é,
direitos cuja efetividade dependem da ação coletiva dos cidadãos, e não
apenas de atos isolados ou atomizados, como a lógica do individualismo
neoliberal pretende insistentemente fazer crer. Neste sentido, a cultura –
enquanto dimensão de política pública – não pode continuar a ser entendida
como mero entretenimento ou ocupação dos tempos livres vocacionada para a
distração dos cidadãos mais aborrecidos, mas antes como uma capacidade
ativa de cidadania: como conjunto de ferramentas simbólicas e conceptuais
que os membros de uma comunidade necessitam para lidar com a realidade
difusa do mundo contemporâneo e para elaborar novas estratégias de vida
coletiva.
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
3
Não confundimos por isso cultura com indústria do entretenimento ou
com as indústrias criativas enquanto “trendies”. Cultura, enquanto dimensão da
política pública, afigura-se como a capacidade individual e coletiva inserida
numa dinâmica de desenvolvimento integrada num projeto comum para
determinado território. Enquanto que “entretenimento” tende a ser consolação
anestesiante e cómoda perante as perplexidades complexas do mundo atual, e
cuja perspetiva implica exclusivamente a visão do cidadão como consumidor:
“o idiota feliz”. Uma política pública não pode conformar-se com esta visão
hiperconsumista e hiperindividualista. Sem uma: uma cidade (polis) não é um
shopping.
Por um lado, a cultura tende a englobar o repertório de uma sociedade,
o seu conjunto de traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos:
estilos de vida (padrões de cultura), tradições, patrimónios, memórias,
identidades, costumes, valores e significados. Numa atitude que valorize o
passado enquanto memória coletiva, sem que isso conduza a uma cristalização
dos fenómenos culturais, reconhecendo-se assim que todas as identidades
culturais são dinâmicas. Por outro, a cultura na sua componente sectorial
ligada às artes, às criatividades, aos conhecimentos, às ciências e às
tecnologias, proporciona-nos um maior capital de inovação, uma atmosfera de
vitalidade e um vasto stock de experiências absolutamente necessárias para o
futuro da cidade que se pretenda como lugar de vida vibrante, sustentável e
socialmente justa.
2
A centralidade da dimensão cultural das cidades e da sua importância
para o desenvolvimento sustentável das mesmas é inegável, desde há
décadas que não se fala de outra coisa e a proliferação de estudos neste
campo é notória. Contudo, o panorama nas cidades médias portuguesas é
complexo e fruto de diversas encruzilhadas3: societais, políticas, educacionais,
urbanas, culturais, económicas e geográficas.
3 Um estudo em cinco cidades portugueses tomou por referência empírica as cenas
culturais das cidades de Aveiro, Braga, Coimbra, Guimarães e Porto, ao longo da segunda
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
4
Algumas dessas tensões já identificadas são:
o impacto, poder mediático e incrustação das “industrias culturais”
globalmente produzidas em território local - o que gera novas tipologias,
gostos e modas de consumo cultural;
o reforço do consumo cultural doméstico por via do potencial lúdico das
novas tecnologias versus a participação cultural em espaços públicos e
semi-públicos (fora de casa);
entre modelos de associativismo “antigos” e “novos”, ou seja, entre uma
visão do associativismo cultural generalista baseada no papel de
intermediação e acesso a “obras primas” (modelo antigo) e um
associativismo especializado em projectos mais profissionalizados e
específicos ;
entre o envelhecimento da população e o aumento da escolarização
(mais jovens licenciados), o que significa o potencial aumento de público
jovem e a preocupação com a oferta cultural para públicos seniores;
a tendência para o conformismo e escassa participação cívica, bem
como a fraca resistência aos poderes locais instituídos; isto, note-se, em
situação de liberdade democrática (pós 25 de Abril);
a valorização e empenho político-administrativos em prol de eventos
maioritários e de massas (de largo espectro eleitoral) versus a ausência
de políticas e estratégias favoráveis à diversidade e pluralidade de
minorias culturais e artísticas;
a dificuldade de articulação e cooperação inter-associativa e entre
protagonistas (programadores, artistas, activistas,...) por um lado, e a
tentação (real) da “municipalização da cultura”, ou seja, a absoluta
centralidade dos equipamentos e dispositivos municipais e participação
directa da Câmara como produtora de eventos culturais, por outro; o que
na prática significa a existência de um consensualismo sóciocultural,
logo um défice de práticas diversificadas e a redução dos “mundos”
possíveis a uma unificação ideológica;
a escassez de apoios públicos contrasta com a absoluta necessidade de
metade dos anos 1990, algumas conclusões deste estudo estão acessíveis em Sociologia, problemas e práticas, n.º 62, 2010, pp.11-34 . http://sociologiapp.iscte.pt/
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
5
encontrar mecanismos redistributivos e de captação de financiamento,
neste caso é notória a ausência de pensamento estratégico e de gestão
cultural ao nível da governança local, nomeadamente em equacionar
soluções para o estabelecimento de fundos destinados ao financiamento
de projectos da sociedade civil, por exemplo, através da criação de
agências ou plataformas de angariação de mecenato;
o poder de atração das metrópoles (Lisboa e Porto) contrasta com a
ausência de políticas e medidas que visem a criação de condições
favoráveis ao estabelecimento dos jovens criativos nas suas cidades de
pertença, provocando assim o êxodo de massa crítica e de capital
cultural para as grandes urbes e a consequente desertificação intelectual
e simbólica.
Faltarão nesta lista outras tensões e paradoxos da vivência cultural
urbana, todavia, a maior destas lacunas e a mais estruturante é sem dúvida a
inexistência de um debate construtivo e conclusivo acerca dos modelos de
políticas culturais locais motivadas pela intensificação da democracia e pelo
desenvolvimento humano sustentável4.
A exigência de políticas públicas qualificadas e democratizantes é um
imperativo cívico categórico, e não existem razões plausíveis para que não
existam propostas políticas competentes nesse sentido, os conhecimentos e a
informação que permitem essa mesma definição são recursos abundantes na
era da sociedade do conhecimento, não sendo por isso necessário inventar de
raiz a roda ou descobrir a galinha dos ovos de oiro...
Uma das matrizes contemporâneas visa exactamente colocar a
dimensão cultural das políticas públicas (e das cidades) na reconfiguração de
um paradigma de desenvolvimento sustentável que inclua a cultura como
quarto pilar, para além dos habitualmente conhecidos: ambiente (proteção
ambiental), economia (justiça económica) e social (coesão social).
A cultura é (ou deveria ser) cada vez mais o epicentro das políticas
municipais, pela importância que vem revelando no contexto de um paradigma
de desenvolvimento humano integral. Para além da atenção que lhe é dirigida
4 Sobre a relação entre cultura e desenvolvimento sustentável: http://www.academia.edu/1100666/Cultura_e_Desenvolvimento_Humano_Sustentavel
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
6
graças à sua intima conexão a factores de índole económica, social e urbana; a
sua relevância deve-se essencialmente às relações intrínsecas que mantém
com as questões da identidade, da memória, da criatividade, da ciência e do
pensamento e conhecimento crítico. Contudo, os modelos em que vêm sendo
plasmadas as estratégias de desenvolvimento sustentável de grande parte das
cidades europeias, designadamente através da implementação da Agenda 21
Local5 e dos compromissos da Carta de Aalborg6, tendem a ignorar a cultura
como um dos seus eixos vertebradores.
O modelo de Desenvolvimento Humano Sustentável (PNUD7) enfatiza
as várias dimensões necessárias para o desenvolvimento, abrangendo não só
o crescimento económico, mas também a erradicação da pobreza, a promoção
da equidade e inclusão sociais, da igualdade de género e étnica, a
sustentabilidade ambiental, a participação política e os direitos humanos, todos
considerados factores determinantes para o aumento da qualidade de vida
humana.
A Convenção sobre a Protecção e a Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, adotada em Outubro de 2005 pela 33ª Conferência Geral
da UNESCO, e ratificada em Dezembro do mesmo ano pela União Europeia,
explicita no seu Artigo 2º (princípios orientadores) alínea 6 (princípio do
desenvolvimento sustentável) que «a diversidade cultural é uma grande riqueza
para os indivíduos e sociedades. A proteção, a promoção e a manutenção da
diversidade cultural constituem uma condição essencial para um
desenvolvimento sustentável em benefício das gerações presentes e futuras».
Ao ratificar esta convenção, os Estados-membros comprometem-se a
empenhar-se em integrar a cultura nas suas políticas de desenvolvimento, a
todos os níveis, tendo em vista criar condições propícias ao desenvolvimento
sustentável e, neste contexto, privilegiar os aspectos ligados à proteção e à
promoção da diversidade das expressões culturais. Portugal ratificou8 a
convenção em 2007, desde então já passaram seis anos, e no entanto não se
vislumbra a referida integração nas políticas de desenvolvimento ao nível local,
5 http://www.agenda21local.info/
6 http://www.aalborgplus10.dk/
7 http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
8 Através do Decreto do Presidente da Republica no 27-B/2007, de 16 de Marco.
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
7
mas essa seria a escala onde o efeito das medidas e das opções políticas mais
repercussões pragmáticas evidenciaria.
Urge por isso repensar as políticas culturais e a sua interdependência
face aos outros sectores das políticas urbanas, numa visão integrada da
administração pública local. Uma proposta possível dá-se por via da expansão
das agendas 21 locais pela inclusão de agendas 21 culturais.
3
As cidades não podem ser meras máquinas artificiais e administrativas capturadas pelos fluxos globais de hegemonização, da informação e do financiamento.
Nem produtos “prontos-a-consumir” enclausuradas numa cultura burocrática.
Portuguesa Monochrome (Paulo Mendes) DR
Os acontecimentos recentes no 1ª Avenida (Porto), envolvendo o
trabalho do artista Paulo Mendes9 e a exposição “Uma questão de género”10
dão visibilidade a uma preocupante tendência (antiga) de domesticação da
esfera pública cultural, designadamente através do uso de entraves,
esquecimentos, negligências, etc. - por ação ou por omissão- na tentativa de
9 http://www.paulomendes.org/?pagina=noticias/noticias&accao=ver_noticia&id_noticia=478#conteudo e http://www.publico.pt/cultura/noticia/paulo-mendes-nao-aceitou-proposta-da-camara-do-porto-de-manter-bandeira-no-exterior-do-axa-apenas-uma-semana-1592877
10 http://www.artecapital.net/noticia-3138-sa%C3%ADda-da-exposicao-1%C2%AA-
avenida-uma-questao-de-genero-no-porto
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
8
filtrar a visibilidade da produção artística e cultural, e procurando assim evitar
que certas obras (e autores) menos consentâneas com o status quo
contaminem a cidade ou as instituições com as suas propostas críticas.
As razões para que isso aconteça são de natureza diversa, mas tem o
seu denominador comum no desejo totalitário de incluir a dimensão estética
nas opções políticas, desejo esse incompatível com o princípio da separação
entre o juízo de gosto e a função da governação democrática, tal como previsto
no 2 do Art 43º da Constituição da República Portuguesa (CRP): «O Estado
não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes
filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.». Apesar da clareza
interpretativa do artigo da CRP, intitulado «Liberdade de aprender e ensinar»,
são prolíficos os casos onde é notória a “mão invisível” dos autarcas por detrás
da definição de programações, projetos, eventos e iniciativas públicas de
cultura, como se se tratasse de um direito natural ou régio11.
Mas, reconhecendo que as políticas culturais não se restringem às
“políticas da arte”, voltemos um pouco atrás. Por um lado, a prioridade dada à
dimensão cultural das políticas públicas locais, remete para a questão da
autonomia cultural de uma determinada “comunidade” enquanto forma de
definição das prioridades das suas práticas expressivas e criativas, sejam estas
públicas ou privadas, individuais ou colectivas; por outro, a necessidade de se
transcender a dimensão económica do desenvolvimento, afirmando que os
direitos económicos e os direitos políticos não podem ser separados dos
direitos sociais e culturais, coloca a diversidade cultural e criativa como fontes
de capacitação e empoderamento dos indivíduos e das comunidades.
Este é um passo fundamental para o aprofundamento da democracia
participativa e da intensificação da cidadania activa na vida pública das
cidades, nomeadamente na definição de políticas e avaliação da execução das
mesmas. Esta asserção, da importância da cultura para a densidade
qualitativa da democracia local parece-nos evidente, primeiro porque as
identidades individuais e colectivas contemporâneas se (de)formam sob
11 Sobre esta temática sugiro a leitura do meu texto « Da política de gosto à
construção do consenso e vice-versa », http://grupolusofona.academia.edu/ruimatoso
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
9
influência de um capitalismo semiótico (semiocapital12), e segundo porque este
é um campo de batalha fulcral onde se entroncam questões relacionadas com
o trabalho e a liberdade. Neste sentido, a cultura – enquanto dimensão de
política pública – não pode continuar a ser entendida como mero sinónimo de
entretenimento ou diversão, mas antes como uma capacidade activa de
cidadania: como conjunto de ferramentas simbólicas e conceptuais que os
membros de uma comunidade necessitam para lidar com a realidade difusa e
complexa do mundo contemporâneo e para elaborar novas estratégias de vida
colectiva. Todavia, apesar de décadas de produção cognitiva e empírica em
torno dessa “evidência” a resistência dos nossos governantes locais ao
desenvolvimento da democracia e da cidadania cultural continua inamovível
(há sempre exceções, claro).
Sem cair em exageros e sem ter de recuar à Convenção Cultural
Europeia13 (1954), é no entanto necessário reconhecer a importância do
legado do Conselho da Europa na promoção de boas práticas em matéria de
políticas culturais14 . Como mero exemplo, a Declaração Europeia de
Objectivos Culturais (1984) propõe seis grandes causas comuns e objectivos
fundados na «liberdade e esperança»: desenvolvimento da criatividade e do
património; desenvolvimento das atitudes humanas; salvaguarda da liberdade;
a promoção da participação; incentivar o sentido de unidade e comunidade; e a
construção do futuro.
Em Maio de 2007, a Comissão Europeia aprovou uma comunicação
intitulada Agenda Europeia para a Cultura num Mundo Globalizado. A partir
deste momento a dimensão cultural do desenvolvimento assume na Agenda
uma proeminência que até aqui não havia assumido em nenhum órgão oficial
da União Europeia, começando por apresentar uma definição ampla
(antropológica) de cultura, e não apenas uma conceptualização sectorial
restrita: «A cultura encontra-se no cerne do desenvolvimento humano e da
civilização. Cultura é aquilo que leva as pessoas a ter esperança e a sonhar,
estimulando-lhes os sentidos e facultando-lhes novas maneiras de encarar a
12 Acerca desta noção: Franco Berardi Bifo, Cognitarian Subjectivation: http://www.e-
flux.com/journal/cognitarian-subjectivation/
13 O documento integral da Convenção Cultural Europeia está disponível em:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/018.htm 14 http://www.culturalpolicies.net
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
10
realidade. É aquilo que congrega as pessoas, suscitando o diálogo e
despertando paixões, de uma maneira que une em vez de dividir. A cultura
deveria ser vista como um conjunto de traços distintivos espirituais e materiais
que caracterizam uma sociedade e um grupo social. Abarca a literatura e as
artes, assim como modos de vida,sistemas de valores, tradições e
crenças.»(p.2).
Pôr as mãos à obra
Escusando-me a mais proselitismo eurocêntrico, convém esclarecer
cabalmente que uma das ambiguidades inerentes ao termo “política cultural” é
poder pensar-se que equivale a uma administração das actividades culturais,
no sentido em que se produz e programa a acção cultural. Por isso, não
podemos deixar de sublinhar que a administração pública, o Estado, ou
qualquer forma de governação política local ou regional não produz, nem
programa, cultura. Pode e deve apenas operar estrategicamente nas outras
esferas que não as da produção (criação): distribuição, acesso,
democratização, financiamento, regulamentação, salvaguarda,
desenvolvimento, sustentabilidade, etc. Deste modo, as autarquias não podem
aspirar a determinar, dirigir, controlar ou tutelar a cultura, mas antes a
incentivar uma efectiva participação e a autonomia da pluralidade dos agentes.
Assim, pode perceber-se que umas das finalidades fundamentais das políticas
públicas de cultura é a de desenvolver o protagonismo cultural da sociedade
civil, das populações, dos artistas e criadores, dos grupos amadores, das
associações, das indústrias culturais e criativas, na sua potencial diversidade e
riqueza de conteúdos.
Este entendimento tem como pressuposto de base o dever de
autonomizar de forma clara e inequívoca as instituições e os equipamentos
culturais públicos (salas de espectáculo, museus, galerias, etc), garantindo as
condições de trabalho e a independência aos seus responsáveis. Ao mesmo
tempo que se exigem formas de gestão e avaliação intrínsecas a um serviço
público de qualidade e catalisador de práticas democráticas regulares. Isto
significa que só com um forte pensamento estratégico se pode e deve encarar
a dimensão cultural da política e da cidade. Ou seja, medidas avulsas,
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
11
devaneios pessoais ou eventos sazonais, não são necessários nem suficientes
para elaborar uma política cultural!
Dar primazia ao desenvolvimento e à cultura é, antes de mais,
aprofundar a democracia e a cidadania enfatizando a dimensão cultural, ou
seja: o desenvolvimento da criatividade e o incremento da inovação. É
defender a igualdade de oportunidades, é facultar a expressão cultural, facilitar
o conhecimento das várias línguas, é reforçar as relações interculturais. Hoje, a
derradeira finalidade de uma política cultural é a de enriquecer o universo de
possibilidades abertas às práticas culturais dos cidadãos, intervindo sobre as
condições que estruturam essas mesmas práticas:
· Condições de produção e criação cultural em sentido amplo;
· Condições de conservação, preservação e valorização do património
cultural material e imaterial, bem como de investigação, crítica, divulgação e
ensino;
· Condições de acessibilidade aos serviços e aos bens culturais ;
· Condições de fruição das artes e dos equipamentos culturais em
diferentes modalidades e intensidades.
4
Plans are nothing, planning is everything
De modo a favorecer o potencial e a diversidade das práticas, as
políticas culturais devem estar correlacionadas com o conjunto das políticas de
desenvolvimento sustentável dos municípios, formando o que vem sendo
reconhecido como o 4º pilar do desenvolvimento (humano) sustentável15.
Existem claras analogias políticas entre as questões culturais e ecológicas,
pois tanto a cultura como o meio ambiente são bens comuns da humanidade.
De acordo com estes princípios, a Agenda 21 da Cultura16
(www.agenda21culture.net) vem complementar a Agenda 21 Local - Carta de
15 http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=1000&nr=506&menu=126
16 A Agenda 21 da cultura foi aprovada por cidades e governos locais de todo o mundo comprometidos com os direitos humanos, a diversidade cultural, a sustentabilidade, a democracia participativa e a criação de condições para a paz. Aprovada no dia 8 de maio de
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
12
Aalborg - (http://www.cidadessustentaveis.info), promovendo uma visão
integrada do desenvolvimento, como aliás veem defendendo a UNESCO, a
Organização Mundial de Cidades e Governos Locais ou o Fórum Social
Mundial.
Como não existe desenvolvimento sustentável sem participação activa e
crítica dos cidadãos, também a construção de uma política cultural local deve
obrigatoriamente nascer de um debate público democrático, plural e inclusivo.
O desenvolvimento cultural apoia-se na multiplicidade dos agentes sociais e os
princípios de uma boa governança incluem a transparência informativa e a
participação cidadã na concepção das políticas culturais, nos processos de
tomada de decisões e na avaliação de programas e projetos (A21C –
princípios, 5º).
A motivação para a mudança urgente e necessária na direção de
sociedades sustentáveis e indutoras de bem-estar equitativamente distribuído
não pode fazer esquecer as circunstâncias actuais da política e da microfísica
do poder, a colonização tecnocrática e o controle do espaço público ou a
concentração excessiva de poder nas formas de governação pública actuais.
Como efectivamente o uso do espaço público (urbanístico e
comunicacional) tem sido fortemente condicionado pelo poder político, a este
caberá um papel determinante na configuração de uma cidadania activa ou,
pelo contrário, de uma passividade pardacenta, para usar uma expressão
cromática do Livro do Desassossego.
E essa é sem dúvida uma visão e uma opção política; a escolha entre
uma atitude que promova a vitalidade e a coesão social das comunidades num
espaço público relacional – e conflitual-; ou uma postura conservadora que
privilegia a predominância de um Estado paternalista.
O nível mais grave da segunda opção poderá ter a forma daquilo que
Boaventura de Sousa-Santos designa como «Fascismo Societal», isto é, um
regime social e civilizacional que numa das suas formas mais radicais promove
2004, em Barcelona, pelo IV Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social de Porto Alegre, no marco do primeiro Fórum Universal das Culturas. http://www.agenda21culture.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9&Itemid=&lang=pt
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
13
a segregação social dos excluídos através de uma cartografia urbana dividida
em zonas selvagens e zonas civilizadas.
A ausência de uma dimensão participativa sistemática na gestão
estratégica e democrática das cidades tem levado à persistência de um
"consenso operacional", o qual é produzido e controlado pelas instâncias de
poder (político, mediático ou institucional) favorecendo a reprodução das
desigualdades, alimentando a inércia no mundo social, cuja causa e existência
aparece aos olhos do mundo como sendo eterna e metafísica (P. Bourdieu),
humanamente irresolúvel portanto. Não deixa de ser inquietante que, de acordo
com uma investigação coordenada por Manuel Villaverde Cabral, se revele que
os portugueses têm muito ou algum receio de exprimir publicamente uma
opinião contrária à das autoridades políticas.
Não existem fórmulas mágicas ou saltos quânticos que permitam passar
de uma ambiente urbano monocromático, onde a dominação sócio-política é
exercida atavicamente pelos mesmos agentes “de sempre”, para a construção
imediata ou espontânea da acção colectiva e da inovação social. Nem a
implementação burocrática de fóruns participativos com um fim em si, como se
de uma moda ou tendência se tratasse, deve ser vista como contributo
consistente para o desenvolvimento sustentável.
Iniciar um processo de construção de uma política cultural local requer
“planeamento estratégico criativo e participativo” e o uso de metodologias que
visem a mudança social e a inclusão da acção colectiva17. Um dos processos
mais recentes e tornado públicos foi a elaboração das “Estratégias para a
Cultura em Lisboa”18, um documento que regista a metodologia participativa e
as fases de diagnóstico, análise e identificação de medidas e projectos. O
“Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales
locales para ciudades europeas”19 ou o relatório “Towards an architecture of
17 Neste campo, mas com uma abordagem sociológica, as obras de Isabel Carvalho
Guerra são um importante contributo: “Participação e acção colectiva” (2006) e “Fundamentos e Processos de Uma Sociologia da Acção”(2002), ambos publicados pela Princípia Editora.
18 http://cultura.cm-lisboa.pt/
19
http://aragonparticipa.aragon.es/attachments/239_Guia%20participacion%20ciudadana%20politicas%20culturales%20en%20ciudades%20europeas%20%28Pascual%20Ruiz,%20Jordi%29.pdf
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
14
governance for participatory cultural policy making”20 de Colin Mercer, são
recursos úteis e pragmáticos, entre outros documentos e casos-de-estudo
existentes neste âmbito e em diversas geografias. São igualmente
reconhecidos internacionalmente os avanços na investigação em políticas
culturais na América Latina (Brasil, Argentina, México, Colômbia,..), na
Austrália ou no Canadá. E, para dar um exemplo europeu, refira-se a “Réseau
culture 21” (http://reseauculture21.fr/), uma rede francesa independente que
visa promover políticas culturais ancoradas nos pressupostos da Agenda 21
da Cultura.
Existem certamente diferenças de contexto e opções específicas, mas,
de uma forma geral, a metodologia para desencadear um processo de
planeamento estratégico criativo e participativo, segue as seguintes etapas:
Fase 1 – Emergência de uma vontade coletiva de mudança
Instituição e valorização do “Conselho Municipal de Cultura”21, o qual
deve funcionar como uma instituição pública gerida coletivamente pela
administração local, pelos agentes culturais e cidadãos interessados,
organizados em assembleia e em grupos de trabalho sectoriais;
Adoção dos princípios e compromissos constitutivos da Agenda 21 da
Cultura – os municípios podem aderir formalmente a esta “carta” (ver
www.agenda21culture.net)
É importante nesta fase coligir os documentos estratégicos municipais
de cultura já existentes (cartas de património, diagnósticos, planos
estratégicos, etc..) e fazer uma síntese dos mesmos.
Fase 2 – Análise da situação e diagnóstico
Analisar documental das fontes de informação já disponíveis relativas à
caracterização demográfica do município;
Realizar entrevistas a informadores privilegiados: responsáveis políticos,
20 http://www.policiesforculture.org/administration/upload/ColinMercer_Towards_an_architecture_of_governance_BCN2006.pdf 21 Comissão de Cultura ou Fórum Cultural, são designações igualmente possíveis
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
15
agentes culturais, directores municipais de cultura, directores de
equipamentos culturais, personalidades, artistas, produtores, gestores,
…;
Realizar fóruns sectoriais de consulta;
Mapeamento do Ecossistema Cultural - recursos culturais do concelho
(Património Material e Imaterial, Equipamentos Culturais,
Associativismo, Artistas, Artesãos, Indústrias Criativas, Produtores
Culturais, Projectos, Festas Populares, Grande Eventos,...)
Análise das dinâmicas culturais: programações e actividades
desenvolvidas por entidades públicas e privadas;
Elaborar o diagnóstico (SWOT): pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças.
Fase 3 – Estabelecer as prioridades para a intervenção, reflexão
estratégica e formulação de medidas e projectos
Partindo do diagnóstico elaborado na fase anterior, e tendo em
consideração o mapeamento de recursos efectuada, é possível
promover a reflexão e identificar as áreas de intervenção prioriritárias;
Definir Eixos e Objectivos Estratégicos de intervenção;
Criar grupos de trabalho sectoriais/temáticos para brainstorming de
elaboração e priorização de Medidas e Projectos.
Fase 4 – Implementação e monitorização
Definir orçamentos e fontes de financiamento para a implementação das
Medidas e Projectos;
Definir bateria de indicadores de monitorização e avaliação22;
Definir calendário de execução;
22 Guía para la evaluación de las políticas culturales locales / Sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales locales en el marco de la Agenda 21 de la cultura. http://www.femp.es/files/566-762-archivo/Gu%C3%ADa_indicadores%20final.pdf
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
16
Desenvolver mecanismos participativos de acompanhamento da
execução, monitorização e avaliação de resultados.
Fonte: Estratégias para a Cultura em Lisboa (CML, 2009), p.31.
Revista “Práticas de Animação” Ano 7 – Número 6, Outubro de 2013
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
17
Dados do Autor
Rui Matoso é professor na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, na especialização em Gestão das Artes da Licenciatura em
Ciências da Comunicação e da Cultura. Gestor e programador cultural.
Atualmente produz o projeto "Leituras Ultra-Sónicas" e o teatro participativo
infanto-juvenil "O Bosque Mágico". Concebeu e coordenou em 2010 o ciclo
“Noites Utópicas” no Teatro-Cine de Torres Vedras. Concebeu o portal de
divulgação cultural tvedraszine.net.
É membro da Academia de Produtores Culturais, onde promoveu dois
seminários com Toni Puig (Barcelona), com o apoio da CML/EGEAC, em Maio
de 2009. Obteve o grau de Mestre em Práticas Culturais para Municípios -
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
(2008), tendo anteriormente realizado uma Pós-Graduação em Gestão Cultural
na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (2006). É formador
certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (CAP), em
diversas áreas da gestão cultural – culturaviva.com.pt.