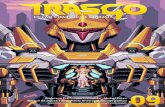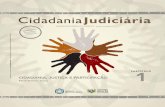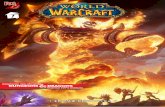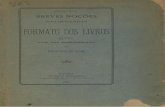Pluralidade, Mudança e Produção de Valor na Edição de Livros
Transcript of Pluralidade, Mudança e Produção de Valor na Edição de Livros
ÁREA TEMÁTICA: Arte, Cultura e Comunicação
PLURALIDADE, MUDANÇA E PRODUÇÃO DE VALOR NA EDIÇÃO DE LIVROS: NOTAS SOBRE A
EDIFICAÇÃO SOCIAL DA CULTURA IMPRESSA
MEDEIROS, Nuno
Mestre em Sociologia Histórica
CesNova – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa e Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa
3 de 11
Palavras-chave: Editor de livros; edição de livros; construção social; cultura impressa; mudança
Keywords: Book publisher; book publishing; social construction; print culture; change
PAP0870
Resumo
Habitando um campo de intermediação, filtragem e interpretação, o editor assume um papel de
legitimação, ordenação e prescrição do mundo pela via tipográfica. O esforço de realização de um
livro não se restringe à génese autoral do texto. O livro resulta de um trabalho que implica acrescento
simbólico e viabilidade de circulação, sem os quais o objecto se perde enquanto objecto de desejo,
factor de aval de conteúdos ou elemento de alarde identitário. A existência de um livro corresponde
em grande parte à acção editorial de o instituir socialmente como obra conhecida e reconhecida pelos
seus receptores finais. Produtor de valor e materialidade, o editor inscreve o projecto do livro num
espaço social colaborativo de trabalho, o campo da edição. Esta apresentação procura sistematizar
teoricamente alguns tópicos relativos à articulação do editor com a construção social do campo
editorial e a edificação da cultura impressa. Empreender semelhante exploração é abdicar
forçosamente de uma visão linear, unidimensional e a-histórica do mundo social e cultural do livro,
cuja morfologia e suportes conhecem crescentemente os desafios da desmaterialização.
Abstract
Occupying a field of intermediation, gatekeeping, and interpretation, the publisher plays a role of
legitimating, organizing, and prescribing the world typographically. The endeavor of making a book
does not confine itself to authorial conception of text. A book is the result of an effort of infusing
symbolism, and turning circulation viable, without which the object is impaired as an object of desire,
as a factor of content validation, or as an element of identity. The existence of a book greatly
corresponds to the publishing action of socially instituting it as a work known and recognized by its
final recipients. The publisher, producer of value and materiality, inscribes the project of the book in a
social space of collaborative work, the publishing field. This presentation intends to theoretically
address some topics relating to the articulation of the publisher with the social construction of the
publishing field, and the structuring of print culture. Attempting such an exploration inevitably
translates into relinquishing a linear, one-dimensional, and a-historic view of the social and cultural
world of the book, whose morphology and media increasingly face the challenges of
dematerialization.
5 de 11
Um dos propósitos desta apresentação é procurar explorar não empiricamente a dimensão social da edição de
livros como processo de configuração e recorte das ideias que é matricialmente extra-individual. Outras vias,
que não poucas, haverá de perscrutação do carácter social da edição. Escolho, como breve caminho de
exemplificação, a da produção de livros como ruptura do ensimesmamento cultural, isto é, como ruptura de
uma produção centrada no mito genético do génio vivendo em vácuo. Na acepção de espaço social da edição
de que parto, radica então o pressuposto de superação paradigmática de um princípio de imaculada
concepção das ideias e dos textos, como se aquelas e estes fossem exteriores às circunstâncias e
assintomáticos na sua circulação. A visão social do espaço editorial de um livro corresponde, nessa medida, à
ruptura com o que Pierre Bourdieu (1994) designou de visão interna da obra como texto. A esta perspectiva,
que tende a conceber as obras culturais como formas puras e intemporais, assimiladas a monumentos
essencialistas e ontológicos de significado alheios a determinações históricas e inserções sociais, o autor
contrapõe uma “ciência das obras” (Bourdieu, 1991). A “ciência das obras” mais não será do que formular o
estudo das mesmas – isto é, do campo da produção cultural e literária – como um espaço dos possíveis que
transcende os agentes singulares e os situa num sistema comum de coordenadas de referenciação.
Ao associar um grau de autonomia relativa à actuação dos criadores textuais, Bourdieu procura refutar a
lógica que impera na enunciação do texto como dado absoluto. O texto, contudo, é um dado contingente,
sobretudo se pensado como livro, que se apresenta como espaço de construção do conhecimento e da
imaginação, espaço que é o da recepção do texto e da sua sucessiva transformação, nele intervindo uma
plêiade de actores e circunstâncias. Um entendimento do universo social do livro e do seu facto editorial
engendra-se, então, através da denúncia do que William Wimsatt e Monroe Beardsley (1954) designam de
falácia intencional, segundo a qual seria somente no autor que se lograriam encontrar os sentidos a extrair de
um texto. Inversamente à falácia intencional, o fabrico do livro dota-se de atributos criadores tanto quanto o
manuseio da escrita.
O olhar sociológico para o livro como texto editado pode – ou deve – suportar-se, por isso, numa
hermenêutica do objecto enquanto resultado de processualidade cooperativa. As condições sociais que
tornam exequível a própria existência do livro e, portanto, o espaço social do seu engendramento, são
passíveis de se encontrar na acção individual colectivamente consistente num quadro contextual promotor ou
limitador. Não é, nessa medida, excessivamente arriscado concluir que socialmente o livro é o “produto de
uma imensa actividade de alquimia simbólica, em que colaboram, com a mesma convicção e ganhos
extremamente desiguais, o conjunto dos agentes cometidos com o campo de produção” (Bourdieu, 1996, p.
201, itálico no original). A noção que é possível elaborar da literatura enquanto género emblemático do livro
decorre do reconhecimento desta interacção sistémica cooperativa. Por exemplo, quando aborda o romance
inglês da época vitoriana como género, John Sutherland não deixa de perceber que muitas das obras mais
marcantes desse período, “que aparentam ser o produto solitário do génio criativo”, são, na verdade “o
resultado de colaboração, compromisso ou comissão” (Sutherland, 1976, p. 6). Não se confunda, porém, a
colaboração entre agentes sociais com convergência de interesses ou consonância de posições. Longe de se
pautar por uma dinâmica harmónica, a relação entre autores, editores, livreiros e outros habitantes do
6 de 11
universo do livro tende a corresponder, como em tudo o mais, a uma espécie de “cooperação antagonística”,
seguindo a denominação de William Sumner (2002).
Pego ainda na eloquente afirmação de Roger Chartier: “Pensado (e pensando-se) como demiurgo, o escritor
cria, contudo, na dependência. Dependência em relação às regras (do patronato, do mecenato, do mercado),
que definem a sua condição. Dependência, ainda mais fundamental, em relação às determinações
desconhecidas que são parte constituinte da obra e que fazem com que ela seja concebível, comunicável,
decifrável” (Chartier, 1992, p. 10). Para Chartier, há um ordenamento no espaço social que produz – e em
que se produz – a obra, possibilitando justamente a pluralidade de apropriações que a obra conhece. Se esta
ordem do livro é estabelecida no feixe multímodo de relações e operações que preceituam a cultura escrita
(Curto, 2007), ela é também fundada na disposição de intuitos e perspectivas que o texto e as materialidades
(mesmo as desmaterialidades, se estivermos focados num mundo virtual no actual quadro de diversificação
da relação com o livro) vão procurando impor ao leitor nos sucessivos quadros sociais de inscrição da leitura
(Medeiros, 2006). A leitura é aqui concebida como acto transformador e activo por parte de actores
socialmente capazes de apropriações transgressivas de decifração face às intenções de quem escreveu o texto
e editou o livro, não só no que se refere aos modos particulares e próprios como o leitor vai interpretando o
que lê, mas igualmente no que concerne aos usos materiais e imateriais do objecto e da leitura, escrevendo
onde não é suposto escrever, lendo em locais onde não se previa que o fizesse e dando a ler de formas
também elas próprias.
Do ponto de vista da sua produção, vale então a pena olhar para o livro numa óptica do trabalho editorial que
o materializa, mesmo quando esse trabalho editorial é fruto do próprio autor enquanto auto-editor. Mesmo
nestes casos, dispensando eventualmente a figura mediadora e prescritora do editor, não deixa de existir na
concretização impressa ou virtual do texto um conjunto de preocupações editoriais, inseparáveis da
adequação do manuscrito ao seu posicionamento num mercado (das ideias e do dinheiro), consumando-se a
transformação de um “texto-superfície” num “livro-volume” (Babo, 1993), autónomo do primeiro.
O livro é a tradução conhecida da intervenção editorial activa e transfiguradora, pautada pela busca de uma
consonância entre a disposição de leitores e leituras, por um lado, e o intuito idealmente primordial do autor,
por outro. A decisão de publicar joga-se no precário equilíbrio de conformar a pretensão criativa do autor, o
projecto conceptual do editor e a resposta de consumo do leitor final. É nos interstícios deste processo e do
espaço social que o cria que se constrói e reconstrói o sentido da palavra e da cultura publicada.
Deste modo, reitera-se nesta apresentação aquilo que, aparentando ser um truísmo, frequentemente não é
sublinhado nem problematizado com a insistência necessária. E o que se reitera é a proposição de que é
essencialmente a realidade do livro, não tanto a do texto, que é construída por actores como o editor. Não
necessariamente o editor enquanto figura individual que se encerra em si, nova asserção com forte risco de
cair numa apologia da presciência individual como algo que nasce, medra e morre solitário, bastando-se
como fenómeno. Fala-se aqui do editor como figura, mas essencialmente como actor de um universo
povoado por outras figuras que dão consistência e concretização à cultura impressa. O editor – uma, apenas
uma, das peças centrais da divisão social do trabalho da esfera tipográfica – coordena os procedimentos que
7 de 11
tornam possível a criação de uma entidade nova, o livro (entidade e artefacto não inteiramente sobreponíveis
com o que resultou do labor autoral), produzindo um objecto, simultaneamente recurso e meio, relativamente
ao qual os outros podem responder. Como diria Irving Horowitz: “Um livro pode ser recenseado, premiado,
citado” (Horowitz, 1986, p. 35).
A amplitude de formas com que se pode comprar, desejar, recomendar, atacar, citar, consumir um livro, não
deixa, pois, de ser afectada na sua diversidade pelas decisões e operações editoriais (isto é, aquelas que se
operam no e pelo mundo editorial) sobre a obra. O próprio tipo de público que se atinge com uma
determinada obra pode nem sequer encontrar equivalência na audiência desejada ou pensada inicialmente
pelo autor ou por um editor anterior dessa mesma obra. O modo como o processo editorial – e livreiro –
comodifica e vende um determinado livro pode modificar-lhe a índole, reclassificando-o nos quadros
interpretativos com que é visto e encaixado. Os resultados efectivos ou expectáveis das transformações que o
trabalho de edição opera sobre o texto podem gerar entendimentos discrepantes entre os actores sociais
envolvidos. Não se estranham, nessa medida, as reacções e desacordos que no âmbito da edição moderna
sempre parecem ter pautado as relações entre autores, ilustradores, tradutores e editores. Ilustre-se a ideia
com a inquietação com que Giacomo Leopardi demonstrou por carta a Antonio Fortunato Stella, o editor, a
sua discordância em relação à maneira como este estava a incorporar no catálogo o seu livro Operette
Morali, queixando-se da inclusão do volume na “Biblioteca Amena”, nas palavras do autor uma “biblioteca
para senhoras”, imprópria, portanto, para uma obra “de argumento profundo e de carácter filosófico e
metafísico” (apud Cadioli, 2001, p. 46).
Outro caso exemplar da dimensão transmutadora da intervenção do editor nos destinos do texto – e, portanto,
na formulação da cultura impressa como produto social – é o do best-seller de Richard Adams, Watership
Down, de meados dos anos 1970. Obra escrita e publicada inicialmente no Reino Unido como literatura para
a infância e juventude, recebeu os prémios britânicos mais importantes para livros infanto-juvenis. No
decurso deste itinerário, a Macmillan, pela mão do responsável na editora pelas edições infanto-juvenis,
adquire os direitos de publicação do livro para os Estados Unidos da América. É já na editora norte-
americana que se altera profundamente o percurso do livro, decidindo-se aquela pela publicação simultânea
do título nas categorias de literatura para adultos (no género fantasia) e para a infância e juventude (Neavill,
1975). Comercializar o livro apelando a públicos e modelos de referência diferentes do que foram os
anteriores, transfigurou-o enquanto obra. Com isso, a Macmillan conseguiu uma mudança nos pressupostos
de consumo para aquele título, alargando ao mesmo tempo a esfera de leitores-compradores, duplo
movimento acabou por conduzir Watership Down ao segundo lugar da lista dos livros de ficção mais
vendidos nos EUA em 1974.
Os casos aduzidos ilustram a proposição segundo a qual o sucesso ou insucesso de um modo de escrita e de
um autor não pode residir exclusivamente – diria até nem tanto – na índole pessoal de um agente nas suas
características morais, estéticas, empreendedoras ou mesmo de sociabilidade, devendo ser explicada
igualmente na relação contextual desse sucesso com as configurações e reconfigurações operadas através de
campos como o editorial. Em termos sociológicos, a análise do elemento autoral e do elemento editorial não
8 de 11
pode ignorar a indagação da morfologia social da obra editada, descortinável entre outros aspectos nas
articulações tecidas entre redes de actividades culturais, económicas, políticas e intelectuais, governadas
frequentemente por tensões e descontinuidades. A edificação social da cultura impressa (como tradução
literal da anglófona expressão print culture) baseada no livro, ou tomando-o como um dos eixos, é
governada pela relação complexa entre a inscrição venal e comercial do livro e a sua inscrição simbólica
enquanto objecto de uma pluralidade de prescrições e apropriações tornadas possíveis por um conjunto de
mudanças históricas e estruturais constitutivas da modernidade.
Sintetizando, correndo embora o risco do óbvio e do esquemático, direi então que o mundo social do livro
não corresponde tanto à esfera do objecto (apesar de também lhe corresponder) como corresponderá à das
práticas e dos agentes que o viabilizam enquanto tal. E o risco que assumo prende-se com a necessidade de
sublinhar como um dos atributos centrais do mundo social do livro o facto de a edição ser um trabalho de
produção de valor. O esforço de produção e de disseminação de um livro (factores que nem sempre andam
juntos) é em boa medida o de transformar a escrita e o conteúdo textual em objecto de aspiração e compra,
ou o de conferir a essa escrita e a esse conteúdo um cunho de caução e legitimidade, ou ainda o de conseguir
remeter a referência a essa escrita e a esse conteúdo para o domínio da identidade (um leitor disto ou um não
leitor daquilo).
A consecução de um livro é, por isso, muito mais que uma origem primordial; é em larguíssima medida o
resultado editorial da sua instituição social como obra conhecida e reconhecida por quem dela se aproprie
leituralmente. Muito mais do que elemento reduzido no seu trabalho à reificação do texto em objecto que se
dissemina (e isso por si só já seria assinalável), o editor produz a sua legitimidade como material impresso ao
qual certas comunidades de leitores podem imputar uma fruição ou um uso interpretativo. A edição funciona
neste plano como domínio de construção e enunciação cultural, procurando assegurar socialmente a crença
no valor que o texto tenha adquirido como livro. E, retomando Bourdieu, esse é, a vários títulos, o seu poder
simbólico de prescrição: o de “constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou
de transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo” (Bourdieu, 1989,
p. 14).
O editor acaba por ser objectiva e subjectivamente (por se tratar de um papel embutido ideologicamente e
projectado no discurso presente no campo editorial de modo multiforme e heterogéneo) um descobridor.
Neste sentido, recorrentemente o editor acaba por ser e se ver como criador do criador, constituindo um dos
eixos cuja actuação confere ao livro a possibilidade de se tornar num objecto no qual se joga o universo da
cultura impressa de jaez literário e no qual se plasma a amplitude da história tipográfica do conhecimento e
do aparecimento, desenvolvimento e declínio de géneros, temas e autores, das transformações do mercado do
livro e das mudanças tecnológicas patentes no objecto em si.
Não se negue que o panorama actual do livro configura uma realidade em rápida mutação que representará e
está já representando um desafio às plurais figuras do editor como instância de construção social do universo
tipográfico. Tipográfico como dimensão não reduzida materialmente a uma forma que perdurou séculos e,
por isso, também como metáfora, símbolo inclusivo cujo traço definidor é, em termos editoriais, o da
9 de 11
elaboração de um mundo por via da mediação (igualmente intermediação) e da prescrição. A mudança
operada tecnologicamente – suporte do denominado paradigma digital – emerge simultaneamente como
pressão e oportunidade, forjando rupturas e permanências na relação com o livro (Jobim, 2005). Este surge
como objecto crescentemente desmaterializado na sua textualidade, instaurando novos modos de relação com
o texto e amplificando a plasticidade do já escorregadio conceito de livro. Mas vislumbra-se também como
incontestável o facto de a actual possibilidade de desmaterialização textual se corporizar justamente noutras
materialidades e tecnologias imprescindíveis aos procedimentos de leitura do texto e à sua organização de
maneiras a um tempo diferentes e semelhantes às leituras mais identificáveis com um ambiente
predominantemente tipográfico. Por outro lado, além da não anulação dos atributos de interposição leitural e
de uma formulação editorial do mundo do livro assente na interferência, o que se tem verificado são formas
remanescentes de transferência de conteúdos para novos suportes, o que para alguns prefigura uma re-
mediação (Bolter & Grusin, 2000; Furtado, 2006).
Assim, o cenário em mudança vivido pelo mundo do livro não confirmou até agora as hipóteses que auguram
a substituição de suportes e de modelos. Por enquanto, pelo menos, o impresso tem logrado sobreviver,
mantendo um impressivo poder de legitimidade face à emergência do digital (Bragança, 2005; Darnton,
2009; Reinking, 2009).
Finalmente, o entendimento sociológico desta questão não pode evitar o esforço de compreender as
transformações por que passa, desde há várias décadas, a fileira do livro. Se, por um lado, se tem verificado
na actividade editorial uma conformação cada vez maior à ideia – verdadeiro imperativo categórico – de
mercado e aos procedimentos que daí decorrem (Altbach & Hoshino, 1995; Mollier, 2008), por outro, grande
parte dos agentes editoriais parece crescentemente afastada do eros pedagógico (Bragança, 2001),
caracterizado por um sentido – não raro empolado discursivamente – da actividade editorial mais
interventivo culturalmente e menos movido pela busca da rentabilidade nos livros e autores editados,
mundividência-base do que noutro lugar se designou de edição como apostolado (Medeiros, 2010). Estas
modificações, claramente detectáveis no actual panorama português, traduzem-se na adopção por um número
significativo de editoras (remíveis à pertença corporativa a grupos do sector da comunicação e
entretenimento) de uma lógica de actuação alicerçada produtivamente no leitor, concebido como
consumidor, afastando progressivamente para as margens da edição de nicho e da pequena e micro-edição a
produção fundada numa economia de autor. Sendo certo que esta deslocação incorre num conjunto ainda não
inteiramente abarcável de mudanças no seio da edição e dos editores, enquanto campo e agentes individuais
e colectivos socialmente organizadores do livro, não é menos certo que a deslocação referida constitui uma
continuidade matricial na natureza mediadora relativamente às práticas de elaboração autoral e de utilização
leitural através de uma acção de configuração cultural.
10 de 11
Referências bibliográficas
Altbach, Philip, & Hoshino, Edith (Eds.). (1995). International book publishing: an encyclopedia. New York
& London: Garland.
Babo, Maria Augusta (1993). A escrita do livro. Lisboa: Vega.
Bragança, Aníbal (2001). Eros pedagógico: a função autor e a função editor. Tese de doutoramento,
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Bragança, Aníbal (2005). O pretérito futuro do livro. In Márcia Abreu & Nelson Schapochnik (Eds.),
Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas (pp. 487-498). Campinas & São Paulo: Mercado de Letras,
ALB & Fapesp.
Bolter, Jay D., & Grusin, Richard (2000). Remediation. Understanding new media. Cambridge: The MIT
Press.
Bourdieu, Pierre (1989). O poder simbólico. Lisboa: Difel.
Bourdieu, Pierre (1991). Le champ littéraire, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 89, Septembre, 4-
46.
Bourdieu, Pierre (1994). Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris: Seuil.
Bourdieu, Pierre (1996). As regras da arte. Génese e estrutura do campo literário. Lisboa: Presença.
Cadioli, Alberto (2001). Dall’editoria moderna all’editoria multimediale. Il testo, l’edizione, la lettura dal
Settecento a oggi. Milano: Unicopli.
Chartier, Roger (1992). L’ordre des livres: lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe
siècle. Aix-en-Provence: Alinéa.
Curto, Diogo, Ramada (2007). Cultura escrita: séculos XV a XVIII. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
Darnton, Robert (2009). The case for books. Past, present, and future. New York: PublicAffairs.
Furtado, José Afonso (2006). O papel e o pixel. Do impresso ao digital: continuidades e transformações.
Florianópolis: Escritório do Livro.
Horowitz, Irving (1986). Communicating ideas. The crisis of publishing in a post-industrial society. New
York & Oxford: Oxford University Press.
Jobim, José Luís (2005). Autoria, leitura e bibliotecas no mundo digital. In Márcia Abreu & Nelson
Schapochnik (Eds.), Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas (pp. 473-485). Campinas & São Paulo:
Mercado de Letras, ALB & Fapesp.
Medeiros, Nuno (2006). Editores e livreiros: que papéis de mediação para o livro? In Diogo Ramada Curto
(Ed.), Estudos de sociologia da leitura em Portugal no século XX (pp. 343-385). Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian.
11 de 11
Medeiros, Nuno (2009). Cavalheiros, mercadores ou centauros? Traços de actividade e sentido de si dos
editores. In Inês Brasão, Diogo Ramada Curto, Nuno Domingos, Nuno Medeiros, Rahul Kumar, & Tiago
Santos, Comunidades de leitura. Cinco estudos de sociologia da cultura (pp. 23-61). Lisboa: Colibri.
Medeiros, Nuno (2010). Edição e editores: o mundo do livro em Portugal, 1940-1970. Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais.
Mollier, Jean-Yves (2008). Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle. n.l.: Fayard.
Neavill, Gordon (1975). Role of the publisher in the dissemination of knowledge, The Annals of the
American Academy of Political and Social Science, 421, September, 23-33.
Reinking, David (2009). Valuing reading, writing, and books in a post-typographical world. In David Nord,
Joan Rubin & Michael Schudson (Eds.), A history of the book in America (Vol. 5, The enduring book: print
culture in Postwar America, pp. 485-501). Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
Sumner, William (2002). Folkways: a study of mores, manners, customs and morals. New York: Dover.
Sutherland, John (1976). Victorian novelists and publishers. Chicago: University of Chicago Press.
Wimsatt, William, & Beardsley, Monroe (1954). The verbal icon: studies in the meaning of poetry.
Lexington: University of Kentucky Press.