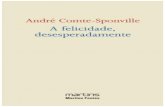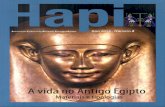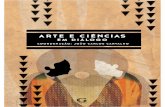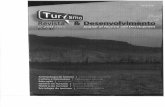André Comte-Sponville A FELICIDADE, DESESPERADAMENTE Tradução de Eduardo Brandão Martins Fontes
PERSONAGEM, TEMPO E ESPAÇO LITERÁRIO: UMA VISÃO ANALÍTICA DA CONSTRUÇÃO DESSES ELEMENTOS EM A...
Transcript of PERSONAGEM, TEMPO E ESPAÇO LITERÁRIO: UMA VISÃO ANALÍTICA DA CONSTRUÇÃO DESSES ELEMENTOS EM A...
PERSONAGEM, TEMPO E ESPAÇO LITERÁRIO: UMA VISÃO ANALÍTICADA CONSTRUÇÃO DESSES ELEMENTOS EM A FELICIDADE É FÁCIL
Resumo: Este artigo, de cunho analítico, traz umaarticulação entre os três elementos cruciais de umanarrativa ficcional: personagem, tempo e espaço. Ao longodos anos, a Teoria da Literatura se deleita com as maisdiversas contribuições dadas pelos teóricos cujos trabalhossão produtos de intensa pesquisa e dedicação. São pesquisasde teóricos, tais como Candido et all (1969), Brait (1990),Nunes (2008), Moisés (s/a) Santos Filho (2009) e Dimas(1985). Este arcabouço teórico comprova o quão relevantesão estes elementos inseridos, não por acaso, numanarrativa ficcional. Afinal, eles se inter-relacionam eengendram o romance. Em A felicidade é fácil, Edney Silvestreganha destaque no campo da Literatura. O autor extrapola oromance policial, configurando seu trabalho como um romancepolítico, gênero pouco explorado na literatura brasileira.O ponto alto do romance anlisado reside no fato de como ocontexto histórico e social influencia na vida das pessoasque os compõe. À título de ilustração, é observável na obracomo os personagens Olavo e Mara foram moldados pelahistória brasileira, bem como os personagens Irene, Major eBárbara.
Palavras-chave: Personagem. Tempo. Espaço. Teoria daLiteratura.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ao longo dos anos, a Teoria da Literatura se deleita
com as mais diversas contribuições dadas pelos teóricos
cujos trabalhos são produtos de intensa pesquisa e
dedicação. No que diz respeito a analise de três elementos
cruciais da narrativa – personagem, tempo e espaço –, não
seria diferente.
O trabalho de teóricos, tais como Candido et all (1969),
Brait (1990), Nunes (2008), Moisés (s/a) Santos Filho
(2009) e Dimas (1985), comprova o quão relevante são estes
elementos inseridos, não por acaso, numa narrativa
ficcional. Afinal, eles se inter-relacionam e engendram o
romance.
Em A felicidade é fácil, Edney Silvestre ganha destaque no
campo da Literatura. O autor extrapola o romance policial,
configurando seu trabalho como um romance político, gênero
pouco explorado na literatura brasileira – porém, não menos
complexo que o outro. A narrativa se passa na “Era Collor”,
episódio que ficou marcado na história recente dos
brasileiros, no início da década de noventa.
Além disso, o autor utiliza uma linguagem próxima da
realidade, recheada de coloquialismos e de fácil
compreensão.
Silvestre recria os cenários político, social e
cultural que permeavam o final do século XX no país. Se
trata de um período relativamente esquecido pelos leitores
brasileiros. É a partir deste contexto sociocultural que se
inserem e se desenvolvem os complexos personagens,
relacionando-os, portanto, com o espaço e tempo da referida
obra literária.
O romance narra a história de um seqüestro equivocado,
realizado por um grupo de mafiosos latino-americanos. Os
bandidos acreditavam que se tratava do filho do casal Olavo
e Mara, milionários que residiam em São Paulo. No entanto,
o garoto era filho dos empregados do casal. A história se
passa em apenas vinte e quatro horas.
Além disso, o autor trilha caminhos diferentes, sonhos
diferentes, na construção de seus personagens. De um lado,
a ostentação do casal; do outro, a vida difícil de seus
empregados e respectivos filhos numa época em que o Brasil
engatinhava para uma economia sólida.
O ponto alto do Romance de Edney Silvestre reside no
fato de como o contexto histórico e social influencia na
vida das pessoas que os compõe. À título de ilustração, é
observável na obra como os personagens Olavo e Mara foram
moldados pela história brasileira, bem como os personagens
Irene, Major e Bárbara.
A PERSONAGEM INSERIDA NA NARRATIVA
1. Fundamentação teórica:
Dentre os principais componentes do romance, se
encontra a personagem, exercendo grande importância dentro
da obra por dar sentido ao enredo. A personagem, segundo
teóricos como Brait (1990) e Candido et all (1969), é um ser
ficcional, ao qual são dadas características reais,
humanas, ou seja, é um ser que está presente no campo real,
pois representa ações humanas, e no campo fictício, por
não, segundo Brait, existir fora da linguagem, ou seja, do
léxico. Contrária a essa definição tem-se:A personagem não é um retrato do ser humanocriado na e pela linguagem, que antes dereproduzi-lo, o engendra e determina, propondo-o como um complexo de significantes que nadatêm a ver com ele, mas que nos aproxima dele,
na medida em que nos sugere um modo de vê-lo.(LIMA, s/p, 2008).
A realidade da personagem liga-se ao termo mimeses,
destacado por Brait (1990) e utilizado pela primeira vez
nas descrições de Aristóteles em suas análises sobre o ser
ficcional na obra literária, para dar uma margem simples de
lógica ‘real’. Neste conceito, a personagem seria, “aquilo
que é ‘imitado’ ou ‘refletido’”, todavia sabe-se, que este
ser não é uma simples imitação do real.
Para desmistificar este conceito, as teorias da
tradição da critica literária, vêm se prostrar de modo fixo
como mediadora, dando assim, uma ideia concreta do que
realmente seria a personagem. Esta, por si, seria um ser
que se encontra medidamente entre a reprodução e a
invenção, composto de lógica e de ilimitados elementos
caracterizadores. Assim, pra que ela exista, logo é
necessária que haja uma “rede de relações” com as quais ele
interaja [ser ficcional]. Citando o conceito de Forster
apud Candido, A personagem deve dar a impressão de que vive,de que é como um ser vivo. Para tanto, develembrar um ser vivo, isto é, manter certasrelações com a realidade do mundo, participandode um universo de ação e de sensibilidade quese possa equiparar ao que conhecemos na vida.(CANDIDO, s/p, 2005, grifo do autor).
Assim, a realidade torna-se apenas um referencial para
nortear a construção da personagem. Este processo se dar a
partir do momento em que seu criador inspira-se em
vivências e experiências próprias para ‘dar luz’, ou
melhor, vida aos seres que criou, dando-lhes
características próprias e autônomas. Daí a importância da
linguagem para tal façanha:A materialidade desses seres só pode seratingida através de um jogo de linguagem quetorne tangível a sua presença e sensíveis osseus movimentos (...) o texto (...) é o únicodado concreto capaz de fornecer elementosutilizados pelo autor (...), para caracterizaras personagens, sejam elas encaradas como puraconstrução linguístico-literária ou espelho doser humano. (BRAIT, p.52, 1990)
Considerando ainda as teorias propostas no que
concerne à construção do sentido da personagem na obra,
tem-se a verossimilhança interna, termo destacado por Brait
(1990), em seu livro A Personagem. Este termo é usado como
um complemento de mimeses, o qual tem em sua denominação a
caracterização real pertencente à obra, ou seja, o caráter
real trazido pelos fatos que compõe a narrativa. Assim, os
fatos devem ser analisados, ou melhor, entendidos apenas
dentro do contexto de tal obra, sem deixar as influências
exteriores interferirem em sua interpretação.
Sobre o sentido e as interpretações acerca da
personagem vale destacar: Candido et all (s/p, 1969):
“podemos variar relativamente a nossa interpretação da
personagem; mas o escritor lhe deu, desde logo, uma linha
de coerência fixada para sempre, delimitando a curva da sua
existência e a natureza do seu modo de ser”. Desta forma, a
personagem segue uma lógica mais centrada ou linear, do que
um humano, já que suas ações, conceitos, atitudes,
pensamentos e outros estão predeterminados.
A analise das personagens tem definições especificas,
dentre as quais vale destacar as que Brait (1990), que
define as funções, e Candido et all (1969), que propõem as
caracterizações. Estas respectivas contribuições servirão
como base teórica para o presente artigo. Pois tais
definições serviram de base interpretativa dos diferentes
tipos de personagens, auxiliando assim a descreve-lós e
compreende-los melhor dentro da obra romanesca aqui
analisada. Porém, até chegar aos dias de hoje como são
conhecidas, tais definições passaram por um aparato de
evoluções técnicas.
As definições usadas por Candido et all (1969) vêm
norteadas, ou melhor, embasadas, nas teorias de grandes
nomes de teóricos literários. Eles citam, primeiramente, a
visão de Johnson do século XVIII, que definia as
personagens como sendo de “costumes” e de “natureza”.
Em suas diferenciações temos respectivamente, a
primeira que tem como fácil caracterização e identificação,
que até um leitor mais desapercebido pode identificar esse
tipo de personagem, mesmo quando não é citado seu nome,
somente uma de suas características, que permanecem as
mesmas até o fim da drama e as quais são bem definidas, ou
seja, “dominados com exclusividade por uma característica
invariável e desde logo revelada”.
As “personagens de natureza” são complicadas em sua
definição e caracterização, ou seja, para que se compreenda
é necessário ir mais a fundo do que as de “costume” que são
mais superficiais, e sua caracterização são definidas pelo
seu intimo, ou seja, a cada mudança é preciso “ lançar mão
de uma caracterização diferente”.
Agora usando a distinção proposta por Forster, Candido
et all (s/p, 1969), fala de personagens “planas” e
“esféricas”. Sendo a primeira facilmente identificada, como
as de “costume, e não mudam as características, ou seja,
permanecem inalteradas até o final, são personagens também
de caráter fatigante, por seguir um fator linear. Já a
segunda [as esféricas], tem um caráter surpreendente e
podem mudar a qualquer momento, são mais complexas, por
trazer em si uma linha de constantes mudanças.
As definições propostas por Brait (1990) completam o
sentido das teorias propostas por Candido et all (1969). Em A
personagem, a autora [Brait] cita as funções da personagem,
apoiada nas críticas de vários outros autores que se
utilizam, também, dessas expressões. Estas se dividem em
quatro que são elas: a personagem com função decorativa, agente da
ação, porta-voz do autor, ser fictício com forma própria de existir, dentre as
quais uma delas se subdivide em seis, representando, assim,
de forma clara estas funções. Porém, as referidas
características são mais empregadas em narrativas como
“fotonovela, a telenovela e outras espécies de narrativa
centradas em formulas tradicionais”.
A primeira tem as características atreladas ao
cenário, ou seja, são personagens de pouca significação,
mas é, de certo modo, importante, pois auxilia na
construção visual da trama. Só este tipo de personagem não
carrega grandes aparatos, assim, é mais comum que aparece
em cenas conjuntas, ou melhor, grupais. Já a personagem
caracterizada como agente da ação tem em sua definição seis
subdivisões, mas três delas são as que merecem determinado
destaque, são elas:
condutor da ação, trata se da personagem que inicia a
trama, ou seja, aquela a qual a cena circunda, sendo
assim a de maior importância.
Oponente, é chamada antagonista, ou melhor, falando
“vilã”, ou seja, aquela que vai de encontro as
decisões da personagem principal.
A adjuvante, ou coadjuvante, são aquelas em que a
influencia é secundária, sendo assim uma personagem
auxiliar.
No romance é indispensável a presença de um narrador.
Este pode adquirir um caráter um caráter de impessoalidade.
Como define Brait (1990) é um ser privilegiado, afinal é a
partir desta posição que ele nos oferecerá as imagens da
obra literária.
A narração do romance em questão, por exemplo, é em
terceira pessoa, logo defere-se que o narrador observa e
descreve de fora todas as ações das personagens. Ora este
narrador pode ser o próprio personagem, adquirindo um
caráter mais complexo.
Assim, o narrador é “uma câmera” como cita Brait
(1990), e seja ora a personagem que o represente ou esteja
ele implícito, é ele quem conduz toda a ação, situando
assim o leitor dentro da obra, empenhando se em trazer lhe
proximidade da ficção com a realidade e da realidade com a
ficção, utilizando de artifícios linguísticos para causar
lhe tais sensações.
Em suma, a personagem é um ser fictício e, como tal,
tem sua apreensão dentro da obra, ou seja, tem uma
complexidade ficcional assim como a trama a qual está
inserida.
2. Análise Textual:
No que diz respeito à caracterização da personagem, o
autor faz um desnudamento valioso, utilizando-se de jogos
de linguagem e sentido, com o intuito de segurar a atenção
do leitor e aguçar seu espírito de curiosidade. Usando, não
somente, as falas de um narrador, mas também o psicológico
de seus personagens, os quais entram em conflito com seus
próprios pensamentos, dando, assim, a obra um caráter
superendente, onde, não se tem somente, a visão do narrador
sobre as personagens, mas também as deles sobre si mesmo.
Dentre as várias figuras que permeiam a obra,
destacam-se as personagens principais: Mara, Olavo, Antônio
e o “Guri”, estes são aqueles com os quais a obra ganha
sentido, impulsionada pelas ações, dos mesmo, envolta da
trama.
2.1. Mara:
Mara em sua totalidade se caracteriza como uma mulher
rica, embora esta não tenha sido sempre sua realidade. Ao
entrar na adolescência, ela depara-se com a carreira de
“modelo”, onde a partir de um trabalho publicitário
“apaixona-se” por Olavo com se casa e, consequentemente,
tem uma ascensão social que tanto almejava.
Em momentos de reflexão, o narrador explora os
conflitos d’alma desta personagem deixando transparecer sua
cólera e horror ao marido. Pelo filho ela retém um
sentimento mais ameno, entretanto, ainda assim, com um tom
de repulsa. Nesta passagem os pensamentos da personagem
aderem a um caráter ora repulsivo ora afetuoso por
Olavinho, seu filho. Assim, a referida personagem ganha um
tom dúbio quanto aos seus sentimentos:Essa criança gelatinosa, meu Deus. Eu sou mãedisso [...]. Fechou os olhos [...]. Não. Nãoposso pensar isso. Não posso sentir isso. Nãoposso ter nojo do meu filho, não posso, nãoposso, não posso. Eu devo amar meu filho.(SILVESTRE, p. 27, 2011, grifo nosso).
O narrador dá voz à personagem através dos pensamentos
desta, aderindo ao recurso do monologo interior, o qual tem
a finalidade de expressar a interioridade do personagem, ou
seja, seus pensamentos e consciência, conforme Brait (p.62,
1990).
A partir do primeiro momento em que Mara vê o “Guri”,
este desperta nesta um sentimento afetuoso peculiar, tal
qual nunca sentira pelo filho. Ela sente um incomodo a todo
instante com uma mistura de comoção com a presença daquela
criança perto de si. Pelas características dadas do menino
ele parece mais com ele do que se próprio filho.
Misturando um tom simbólico, Mara se vê no espelho e
quando Silvestre (2011) dá abertura a visão desta há uma
retrospecção e uma caracterização que se levado em conta e
observado no contexto da situação é visível sua semelhança
com a “realidade” do “Guri”, que um dia também fora a dela:O que viu: uma menina comprida, magra,branquela, os ossos do tórax marcados sob apele, os cabelos cortados por causa dos piolhosda escola, a barriga roncando de fome [...] osolhos tão fundos no rosto encovado que nem sepercebia seu tom azul giz. (SILVESTRE, p 198,2011)
A mudança de Mara no final da obra transfere para está
um caráter de personagem “esférica”, como denomina Candido
(1969), onde a qual deixa de ser submissa ao marido e
transfere para fora toda a sua irá, quando o mesmo se recua
a pagar o resgate do garoto ao qual simpatizara:– Preciso que tu ligues para este telefone-Mara colocou um pedaço de papel na mão deIrene.
– É o telefone do editor dessa revista [...] –Está atacando a corrupção do governo.
– Não dona Mara. Desculpe. Não vou ligar. Nãoposso.
– Tu liga e diz que eu tenho informações [...]diz que o ministro tem uma conta secreta e queeu sei de tudo e que eu quero contar. Diz paraum repórter me procurar na festa [...] que euvou contar tudo.
– Dona Mara... Eu tenho medo.
– Eu também, Irene. Eu também. (SILVESTRE, p.214-215, 2011).
A complexidade de tal personagem é visível, nota-se
isso nas suas passagens de voz, através do recurso
utilizado pelo romancista – conhecido como monólogo
interior e reflexões. A mesma vive em constante estado de
controvérsia com aquilo que demonstra e aquilo que
realmente sente e pensa.
2.2. Olavo:
Olavo nem sempre teve o caráter corrupto que
demonstra. Publicitário promissor que tem o futuro nas
mãos. Sua ambição torna-se maior e sua ganância exarcebada
por, quando vê à sua frente negócios com os quais
facilmente ganharia dinheiro. Influenciado pelo seu sócio,
decide envolver-se com a política.
O fragmento abaixo traz o ápice da mudança de Olavo,
na qual seria adequado utilizar o termo romance epistolar,
que seria o recurso onde há uma caracterização
retrospectiva do personagem com o pretexto de mostrar
sutilmente o presente e motivações interiores, como
explicita Brait(p. 62, 1990):- Você devia vir aqui. (...) [Ernesto]- Não me atrapalhe. (...)-O futuro está bem aqui, diante de sua janela.E você se recusa a se levantar dessa cadeira evir aqui. Ver essa manifestação tão... Tão...(...)-Vamos ficar ricos. Desta vez o sócio se interessou. Colocou acaneta de lado, girou a cadeira e aguardou.-Vamos criar as campanhas políticas doscandidatos às eleições diretas.(...) O dinheiro vem de todos os lados (...)(SILVESTRE, 2011:143)
Olavo, um homem de ambição, procurava fazer tudo por
status e crescimento econômico. Diferentemente de Mara, sua
mulher, esta personagem não ganha proporções de reflexão no
que diz respeito a seus questionamentos e pensamentos.
Era um homem carinhoso, porém não era amável. Fazia de
tudo para inserir se nas camadas sociais altas e ganhar
prestigio. Ao se tratar do filho e da mulher propunha
sempre o melhor, mas tratava esta como mero objeto o que a
fazia sentir nojo dele.
Tratando-se da classe minoritária ele pouco se
importava. O que queria era sua ascensão. Quando soube que
o sequestrado era o filho do caseiro e não o seu, ele cria
uma situação na qual todos os envolvidos sairiam mortos,
inclusive o “Guri”, fato que choca Mara e a faz tomar
certas atitudes.
Olavo, assim como, Mara também tem um caráter
esférico, embora não tenha o elemento surpresa.
2.3. O “Guri”:
Este personagem não sofre nenhuma transformação ou
mudança de estado. Embora de um caráter plano, termo usado
por Candido et all (1969), este personagem é um condutor da
ação, termo utilizado por Brait (1990). Visto que este é o
personagem através do qual todos os outros ganham sentido.
Assim como os seus sequestradores, onde têm a função ora
decorativa ora adjuvante e seus pais, que têm a função de
adjuvante. A fala de ação imposta por esta personagem
infere no conteúdo da obra.
O narrador em momento algum dá voz a qualquer refração
reflexiva desse personagem, por sua característica
marcante: o garoto é surdo-mudo. Ele utiliza se apenas da
linguagem corporal e se limita ao descritivismo. Há,
também, na obra a caracterização do garoto que é feita
através de outras personagens.
2.4. Antônio:
De um caráter plano, este personagem não sofre nenhum
tipo de mudança, embora seja um condutor da ação. Era
integrante do SNI (Serviço nacional de Informação). Um das
suas primazias caracterizadoras está o fato de ser o
organizador do sequestro.
Embora não seja algo que vale destacar, mas funciona
como uma característica dada por Silvestre (2011), este
personagem assim como o ouro é deficiente [paraplégico], o
que pode caracterizá-lo também como uma personagem de
costume, conforme Candido et all (1969), pois embora seu nome
não esteja explicito, é de fácil reconhecimento o que não
infere no fato de comandar um grupo de mercenários com
total organização.
E o menino, vamos deixá-lo nesta casa,perguntou Guillermo. – Há uma represa aqui perto. Joguem o corpo lá,amarrado a alguma coisa pesada. Você ,Portenho. Dê um fim nessa criança. Mas nãojogue viva, que é crueldade. (SILVESTRE, p.204, 2011, grifo nosso).
2.5. Outros personagens:
Um romance é constituído de personagens importantes e
necessários para a condução da ação e outros menos
importantes, como os que seguem, que adquirem um caráter de
adjuvante, decorativo. Mas que não dispensam as outras
denominações, pois não se descarta nenhuma possibilidade
quando explana-se sobre personagens tão complexos. O autor
do romance em questão faz suspense quando se trata da
identidade dos sequestradores, que só aos poucos é possível
decifra lós.
Vale destacar Emiliano que, embora não tenha muitas
falas é considerado um personagem esférico, pois sua
atitude no final adquire um caráter surpreendente. Embora
Silvestre (2011) tenha deixado implicitamente a ideia de
sua atitude, ele fora o único dos sequestradores que se
preocupou com o menino. E, em seu desfecho na obra, ele
volta-se contra o companheiro para defender o “Guri” nesta
passagem: Bastou um tiro. (...) Alfonso despencou sobresi mesmo, como um fantoche que tem os barbantescortados. (SILVESTRE, p. 215-217, 2011).
Barbara é uma personagem que ganha força na narrativa
por seu desenvolvimento sagaz. Ela é filha de “Major” e se
depara com a crueldade do mundo quando perde seu pai, sendo
assim obrigada a se tornar “adulta” antes da hora. É uma
personagem adjuvante, mas que tem sua importância para
obra, ela é a personagem que insere na narrativa a questão
da imigração:(...) documentos que entregaria a Luís Claudiojunto com seu pedido de ajuda para viagem semvolta aos Estados Unidos (...) da praça darepública. Era uma despedida. (...) Tornara-seuma adulta. (SILVESTRE, p. 206 e 218, grifonosso).
Cabe também destacar Ernesto, aliado de Olavo nos
“tramites”, mas porta-voz de poucas falas. Corrupto e
ambicioso como o amigo. Ele é que insere Olavo com o
envolvimento na política.
E, por fim, Major um personagem de pouco destaque, mas
que foi o causador da mudança da filha, pois só após sua
morte e sua condenação injusta, causada por Olavo no
sequestro. Era o motorista dos “novos ricos”. Além de Irene
e Stephan, pais do garoto seqüestrado. Pessoas simples,
humildes e ignorantes. Submissos às vontades de vossos
patrões.
O TEMPO NA OBRA LITERÁRIA A FELICIDADE É FÁCIL
[...]
Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo, tempo, tempo, tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo, tempo, tempo, tempo
[...]
(Caetano Veloso)
1. Fundamentação teórica:
O tempo é um elemento inserido no universo ficcional
dotado de uma natureza complexa e, quase sempre, se
apresenta de modo implícito nas formas narrativas (NUNES,
p. 6, 2008). Moisés (p. 180, s/a) também explana a
complexidade do tempo, afirmando que se trata de uma
questão em aberto, além de ser objeto de investigação desde
os antigos gregos.
Por esse motivo, não abordaremos aqui o conceito de
tempo que envolve os aspectos filosóficos e científicos da
referida problemática. Limitarmo-nos-emos, portanto, às
terminologias propostas por Nunes (2008) e Moisés (s/a)
para a análise do romance em questão.
O romance, de modo geral, diferentemente das outras
expressões artísticas, origina a problemática do tempo.
Isso porque o romancista é “senhor do espaço e do tempo em
que a própria vida humana se realiza.” (MOISÉS, p. 181,
s/a). Em outras palavras, cria-se um tempo imaginário
“imune à progressão vigilante dos ponteiros do relógio
(...).” (NUNES, p.15, 2008).
Nas obras literárias, o tempo está intrinsecamente
ligado ao mundo imaginário, acompanhando a natureza
ficcional dos seres, objetos e situações que também estão
inseridas na literatura: “No plano imaginário, o tempo é
apresentado senão através dos acontecimentos e suas
relações, salvo quando ocorrem assinalado momentos ou fases
e expressões temporais.” (NUNES, p. 24, 2008).
O caráter complexo da problemática do tempo se dá pelo
fato de que pelo menos dois tempos estarão interligados no
interior da obra literária (prosaica). Pois, conforme Nunes
(p. 27, 2008), uma narrativa possui três planos temporais:
o da história, o do discurso e o da narração. O referido
autor cita Todorov para compreender as diferenças
estabelecidas entre os dois primeiros planos:
O tempo do discurso é, num certo sentido, umtempo linear, enquanto que o tempo da históriaé pluridimensional. Na história muitos eventospodem desenrolar-se ao mesmo tempo. Mas odiscurso deve obrigatoriamente colocá-los um emseguida a outro; uma figura complexa seencontra projetada sobre uma linha reta.(TODOROV apud NUNES, p. 27, 2008).
1.1. A pluralidade do tempo no romance:
No plano do mundo imaginário, existem várias modalidades
temporais, das quais servem de subsídio para o romancista
usufruir no ato de criação de um romance.
Massaud Moisés (p. 182, s/a) classifica o tempo em três
modalidades básicas: a) o tempo histórico; b) o psicológico
e c) o mítico. O referido autor diz-nos que o tempo
histórico é regido pelo relógio, sendo facilmente
perceptível, pois é marcado pelas alternâncias entre dia e
noite e outros fatores. “É um tempo social por excelência.”
O tempo psicológico, por sua vez, se opõe notadamente ao
primeiro. Essa forma temporal ignora as marcações dos
relógios. Afinal, é um tempo regido pelas ideias, sensações
e vivências de cada personagem. Em síntese, pertence ao
“labirinto mental de cada um.” Trata-se, portanto, de um
tempo marcado pela subjetividade. (MOISES, p. 183, s/a).
Quanto ao tempo mítico, Moisés – para conceituar tal
modalidade temporal – recorre à Georges Gusdorf:(...) é o tempo do ser. Acima ou fora do tempohistórico ou do tempo psicológico, embora possaneles inserir-se ou por meio deles revelar-se éo tempo ontológico por excelência, anterior àHistória e a consciência, identificado com oCosmos ou a Natureza. Tempo coletivo,transindividual, tempo da humanidade quando era
um só corpo fundido às coisas do Mundo, temporeversível em circularidade perene, tempoprimordial, originário, sempre idêntico (...)tempo sagrado, eterno, sem começo nem fim.(MOISES, p. 185, s/a).
Além destas, Nunes (p. 18-23, 2008) propõe outras
modalidades temporais, como o tempo físico, cronológico,
linguístico e verbal. Para ele, se trata de uma
característica do tempo: a pluralidade. Todavia, no que diz
respeitos a tais modalidades, optaremos apenas pelas
terminologias propostas por Moisés (s/a).
1.2. Anacronias e Simultaneidades:Expor-se-ia ao ridículo quem apresentasse aanacronia como uma “raridade ou como umainvenção moderna: ela é, ao contrario, um dosrecursos tradicionais da narração literária.”(GENETTE apud NUNES, p. 31, 2008, grifo doautor).
É dessa forma que Nunes (2008) introduz o tópico do
qual ele discorre acerca deste recurso utilizado pelos
romancistas. Técnica esta que é observável desde os poemas
homéricos até os romances contemporâneos.
O referido autor recorre à Genette para detalhar os
recursos que envolvem as anacronias. Numa obra literária,
pode-se observar o recuo, compreendido como uma “evocação
de momentos anteriores, como também o avanço pela
antecipação de momentos posteriores ao que estão sendo
narrados (...).” (NUNES, p. 32, 2008).
Conforme Nunes, citando Genette, os recuos são
denominados de analepse – retrospecção – e prolepse
(prospecção). Quanto às diferenciações, diz-nos Nunes:Quando minuciosamente analisadas em cada casoconcreto, percebe-se que as antecipações eretrospecções diferem entre si quanto ao seualcance (o período de tempo que ocupam a partirdo momento em que começam) e a sua amplitude (aduração do evento que introduzem, alcançando ounão o evento principal), podendo interferir oudeixar de interferir, pelo aporte de um novoconteúdo, com a “narrativa primeira”, cujaslacunas servem também para completar. (p. 32,2008)
A obra de Nunes (2008), O tempo na Narrativa, nos tem
servido como fio condutor deste trabalho no que concerne ao
recurso das anacronias, pois o referido autor explora esta
técnica, através de outros teóricos.
Ainda conforme a utilização de retrospecção e
prospecção, Nunes (p. 32, 2008) afirma que o recurso mais
utilizado nas obras literárias é intercalar sequências de
analepse ou prolepse às sequências relacionadas ao momento
narrado, sem quebrar a continuidade do discurso narrado,
“que evoca ou antecipa acontecimentos, de modo a deslocar a
mesma ação ora para o passado ora para o futuro;”
Há ainda o chamado “feitiço hermético” descrito por
Nunes (p. 33, 2008), citando Thomas Mann. Segundo este, uma
história – diferentemente da música – que abrange cerca de
cinco minutos pode ter uma duração “mil vezes maior”,
devido à meticulosa descrição utilizada pelo romancista.
Ou, em outro caso, fazer o caminho inverso.
Quanto às simultaneidades, o caso mais próximo – no
sentido escrito – é quando o tempo da história se desdobra
no espaço. Em suma, significa dizer que a simultaneidade se
dá quando múltiplas histórias se passam em diferentes
unidades espaço-temporais. (NUNES, p. 51, 2008).
O romance moderno, afirma Nunes (p. 51-52, 2008), é
influenciado pelo dinamismo do cinema e também pelo
movimento cubista, utilizando a técnicas, tais como a
simultaneidade. Não seria, pois, diferente com o romance de
Edney Silvestre. Afinal, a narrativa reúne ingredientes
indispensáveis ao romance contemporâneo e indispensáveis ao
gênero: político.
2. Análise textual:Antes de tudo, o tempo [histórico] é linear,horizontal, “objetivo”, matemático, visível aoleitor mais desprovido: este vê a históriadesenrolar-se à sua frente, obediente a umacronologia definida. Mesmo quando tudo seinicia num ano incerto, 18..., percebe-se quenão se passa de um truque: tudo quanto preenchea história submete-se a marcação do calendário,mais importante que a vaguidade inicial, alémde anulá-la com a harmoniosa correlaçãotemporal entre os acontecimentos que ponteiam anarrativa. Não raro, o romancista indica, noapropósito da história, as datas em que osfatos se sucedem, como a enfatizar a coerênciacronológica da narrativa. (MOISÉS, p. 187-188,s/a).
Com esta epígrafe iniciamos a análise textual do
romance em questão. Pois Moisés (s/a) traz, nesta passagem,
uma definição mais ampla do romance de tempo histórico.
Pode-se dizer que o romance de Silvestre (2011) se
trata de um típico exemplo de uma narrativa permeada pelo
tempo histórico. A obra é dividida em dezessete capítulos,
nos quais todos são introduzidos por datas, horas e
expressões temporais que servem de fios condutores aos
acontecimentos da história:Capítulo 1Naquela tardeSegunda-feira, 20 de agosto, 15h43. (SILVESTRE,p.7, 2011).
Em A felicidade é fácil, o autor Edney Silvestre escreve uma
história que se passa em, aproximadamente, vinte e quatro
horas. No entanto, desfrutando dos recursos disponíveis aos
romancistas, o autor recria o movimento das diretas já e a
chamada era Collor.
São através de recursos como as anacronias,
simultaneidades e o “feitiço hermético” que a história do
romance de Silvestre (2011) é composta. Já no primeiro
capítulo é perceptível a presença da ilusão de alongamento
do acontecimento narrado. Isso porque o autor explora os
detalhes da ação:O menino se assustou quando o carro compridoparou ao seu lado e o homem ao volante lheindicou que entrasse. O menino sorriu, porqueera de sua natureza sorrir e assim demonstrarreconhecimento a alguma gentileza que lhefaziam ou prometiam. O menino sorriu porqueantegozou o prazer de entrar naquele carroazul-marinho reluzente, de bancos de couromacio e claro. O menino sorriu porque tinhaaprendido que, ao sorrir e inclinar a cabeçapara a esquerda, como fazia agora, olhando osadultos com os olhos azuis que herdara dos
bisavós pomeranos (...). (SILVESTRE, p. 7,2011).
A partir do segundo capítulo da obra, há as
retrospecções intercaladas com as prospecções. O autor
evoca e, posteriormente, antecipa momentos anteriores ao
fato que fora contado no primeiro capítulo. O mesmo
acontece com os capítulos seguintes. Essas informações,
como já foi dito antes, são observáveis no título de cada
capítulo:Capítulo 2Naquela ManhãSegunda-feira, 20 de agosto, 10h56Capítulo 9Naquela NoiteSegunda-feira, 20 de agosto, 19h03. (SILVESTRE,p. 17-87, 2011).
As articulações entre as unidades espaços-temporais,
criando a ilusão da simultaneidade, é outro artifício
notadamente explorado por Silvestre (2011). É uma técnica
bastante usada em romances de gênero policial e político.
Dessa forma, a história – através da alternância de um
episódio por outro, por meio do discurso – ganha ares com
efeito suspensivo. (NUNES, p.51, 2008).
No capítulo quatorze da obra encontramos um exemplo
real de simultaneidade com efeito suspensivo. Na referida
passagem do romance, o autor narra quatro unidades de
espaço e tempo diferentes. A angústia de Irene pela demora
inusitada do filho; a procura de El Boliviana e Afonso por
uma farmácia; a admiração e preocupação de Emiliano com o
garoto doente que fora seqüestrado; e a aflição de Bárbara,
desesperada para ter notícias do pai, Major. (SILVESTRE, p.
161-173, 2011).
O mesmo acontece nos capítulos dezesseis e dezessete,
quando, enfim, a obra é finalizada. Tem-se um desfecho
surpreendente, recheado de cenas intercaladas, contribuindo
com o efeito suspensivo do romance, ponto alto do gênero
político.
O ESPAÇO LITERÁRIO
O espaço na narrativa literária contemporânea écaracterizado pelo imbricamento espaço-temporalexperenciado pelo sujeito. Esse espaço éplural. Um espaço percebido que se realiza nopresente do imaginário do leitor, onde opassado e o futuro são presentificados. Osacontecimentos do ontem se presentifica noagora imaginado no ato da leitura, bem como oporvir. (SANTOS FILHO, p. 52, 2009).
1. Fundamentação teórica:
O estudo do espaço tem uma abrangência e relevância
muito grande, daí se origina a natureza complexa da
referida problemática. Afinal, o espaço romanesco está
ligado diretamente aos outros elementos da narrativa, além
de se referir ao processo fictício e real. Somando-se a
este fato, conforme Dimas (p. 6, 1985), trata-se de um
objeto de estudo pouco explorado pela teoria literária.
Enganar-se-ia o leitor se encarasse o espaço na obra
romanesca como uma “mera exposição factual ou de pouca
relevância”, sem levar em consideração a relação que este
elemento mantém com o enredo, a personagem e o tempo.
(SANTOS FILHO, p. 30, 2009).
O espaço literário é um dos elementos onde se ocorre a
ação, ou seja, os acontecimentos, numa narrativa, além de
ser um dos fatores estruturais da ficção, bem como a
personagem e o tempo.
Para Dimas (p. 5-6, 1985), o espaço romanesco pode
alcançar um estatuto tão importante quanto os outros
elementos narratológicos, mas “isto dependerá do leitor
reconhecer, se estiver atento a todos os movimentos da
personagem no espaço em que está inserida. Santos Filho (p.
26, 2009), citando Tuan (1983), diz-nos que este teórico:(...) atribui ao espaço o caráter de lugarquando lhe conferimos todo um referencial,passamos a identificar nele um significado eainda o percebemos a partir de nossas afeições.O lugar, então, é simbólico, pois ele épassível às abstrações. Fazemos do lugar onosso reduto de apoio físico, moral eespiritual. (p. 26, 2009)
Ao darmos atenção ao espaço na narrativa, atribuímos
de imediato um espaço físico pela qual a personagem
transitará. No entanto, temos que considerar o espaço
literário como um elemento subjetivo, imaginário e fruto da
ficcionalidade. (SANTOS FILHO, p. 31, 2009)
1.1. Espaço versus Ambientação:
No que concerne à distinção entre espaço e
ambientação, Dimas (p. 19-21, 1985) recorre à Osman Lins,
teórico que deu grandes contribuições ao publicar O espaço
romanesco, onde diz-nos:
Por ambientação, entenderíamos o conjunto deprocessos conhecidos ou possíveis, destinados aprovocar, na narrativa, a noção de umdeterminado ambiente. Para a aferição doespaço, levamos a nossa experiência do mundo;para ajuizar sobre a ambientação, ondetransparecem os recursos expressivos do autor,impõe-se certo conhecimento de artenarrativa. (p.20, 1985)
Portanto, não devemos confundir espaço e ambiente,
pois são elementos que compõem o gênero narrativo, mas cada
um tem sua relevância e conceituação. O espaço é
denotativo, usado no seu sentido real, ou seja, representa
a realidade; ambientação, por sua vez, é conotada,
utilizada no seu sentido figurado, simbólico ou implícito.
Santos Filho, citando Merleau-Ponty (1999), proporciona uma
melhor compreensão do espaço literário:O espaço não é ambiente (real ou lógico) em queas coisas se dispõem, mais o meio pelo qual aposição das coisas se torna possível. Querdizer, em lugar de imaginá-lo como uma espéciede éter no qual todas as coisas mergulham, oude concebê-lo abstratamente com um caráter quelhe seja comum, devemos pensá-lo como apotencia universal de suas conexões. (p.31,2009)
Santos Filho (p. 18, 2009) amplia ainda mais o
conceito de espaço, afirmando que este liga-se
intrinsecamente às experiências e sentimentos do sujeito-
leitor.
Ainda com relação à questão da ambientação, Dimas (p.
20-26, 1985), baseando-se em Osman Lins explana os
diferentes tipos de ambientações: a) franca, b) reflexa e
c) dissimulada.
A primeira é compreendida como uma ambientação pura e
simples, da qual o narrador não faz parte da ação e este se
volta para o descritivismo; a segunda se pauta na visão da
personagem, isto é, são percebidas através desta; e a
terceira, por sua vez, depende das ações da personagem,
pois o espaço nasce através de seus próprios gestos.
Há ainda uma discussão, segundo Dimas (p. 33, 1985)
acerca da utilidade e inutilidade dos recursos que servem
como decoração utilizada pelo narrador “em sua tentativa de
situar a ação do romance.” Trata-se, porém, de uma
discussão ampla e, portanto, não abordaremos neste
trabalho.
Entretanto, vale ressaltar a funcionalidade do
descritivismo – um recurso decorativo – que é citado por
Dimas (p. 41, 1985), recorrendo às terminologias propostas
por Bourneuf e Ouellet (1972).
A descrição pode atuar como desvio – descrição de um
ambiente, depois de uma longa passagem; suspense – inserção
de uma passagem com a finalidade de aguçar a curiosidade do
leitor; abertura – antecipar o andamento de uma narrativa;
e alargamento – verticaliza a informação, complementado o
que já foi informado anteriormente.
Em suma, a problemática do espaço é vasta e não se
limita ao que foi dito neste tópico, todavia nos servirá
como arcabouço teórico para a análise textual do romance
contemporâneo A felicidade é fácil, no que diz respeito à
problemática do espaço literário.
2. Análise Textual:
O romance aqui analisado se passa na cidade de São
Paulo, durante o período que abrange os movimentos das
diretas já até a chamada era Collor. O curioso, porém, é que a
história narrada se passa em vinte e quatro horas. Dessa
forma, o espaço que norteará a narrativa é a capital
paulistana: lugar onde concentra a maior parte dos
milionários da época, sendo, portanto, um centro de poder,
luxo e ostentação.
A narrativa tem, como fio condutor, várias unidades de
ambientação, dentre elas a mansão do Casal Olavo e Mara
Bettencourt no Jardim Paulistano, bairro nobre de São
Paulo. A relação que esta unidade narrativa mantém com os
referidos personagens não se limita no discurso.
Afinal, Olavo e Mara são descritos como pessoas
esnobes que fazem questão de exibir o poder aquisitivo e
tal característica reflete no ambiente em que são situados
pelo narrador. Tais características servem de subsídios
para que o sujeito-leitor, de acordo com suas experiências,
componha em seu imaginário ambientes aos quais estes
personagens são situados.
Em A felicidade é fácil é notório a presença tanto de
ambientação franca, quanto da reflexa. Pois, o autor dá a
voz aos seus personagens através dos pensamentos e
sentimentos destes. Assim, adentramos – por vezes - no
universo ficcional através do olhar das personagens,
caracterizando a ambientação reflexa. Paralelo a isso,
temos o narrador utilizando o descritivismo e suas
respectivas funções.
À título de ilustração, a ambientação franca se faz
presente na narrativa como no fragmento abaixo, quando o
narrador descreve o apartamento de Major, pai de Bárbara e
motorista de Olavo:A campainha do quarto e sala tocou quatro vezes(...). O apartamento era mínimo: bastou-lheesticar o braço para destrancar a chave e osdois ferrolhos (...) pegando a embalagem depizza, dobrando-a e levando-a para a pia, aolado do fogão de duas bocas, dentro do cubículosem janelas que os corretores chamavam decozinha compacta. (SILVESTRE, p. 43-44, 2011)
Quanto à ambientação reflexa, podemos citar como
exemplo, quando o narrador recriar o local de infância de
Mara através de uma lembrança tida pela personagem, pode-se
concluir, também, que há uma junção entre as ambientações
franca e reflexa:Na sua lembrança faz sempre muito frio naquelacasa mínima, onde os três dormiam no mesmocômodo. Até Vicente ser levado para o hospital.Se lembra dos fios de água correndo pelasparedes, principalmente nas noites geladas deagosto e julho. (SILVESTRE, p. 84, 2011, grifonosso).
Edney Silvestre situa seus personagens de acordo com
as características atribuídas a eles e, portanto, explicita
as relações estabelecidas entre eles. No decorrer da obra,
são observáveis várias ambientações, das quais não se faz
necessário mencioná-las.
Ao analisarmos minuciosamente as unidades espaciais do
romance em questão, ampliamos nossa visão acerca da
compreensão de outros elementos inseridos na narrativa.
Afinal, um complementa o outro e, assim, engendram a
narrativa literária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ler A felicidade é fácil nos proporcionou uma reflexão
acerca dos valores morais, éticos, socioculturais e
econômicos que permeiam e corrompem a vida dos homens desde
as mais remotas épocas. Vimos e construímos em nosso
imaginário um período recente do Brasil.
Percebemos como o contexto histórico moldou a
construção das personagens do romance analisado.
Compartilhamos as dúvidas, as angústias, os anseios, medos
e desejos destes seres ficcionais. Habitamos, construímos –
através do imaginário – as unidades espaços-temporais
inseridas no romance.
Compreendê-las, pois, significou adotar um olhar
analítico-crítico da obra literária. Podemos observar o
quão refletido está o nosso mundo dentro do universo
ficcional. Portanto, vale ressaltar a importância de termos
encarados e estudados os três elementos narratológicos – a
personagem, o tempo e espaço – para a nossa formação
acadêmica.
A obra de Edney Silvestre é uma obra complexa,
caracterizada por um gênero literário pouco explorado pelos
autores brasileiros. Sendo, portanto, uma obra romanesca
dotada de elementos narrativos também complexos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRAIT, B. A personagem. 4º edição. São Paulo: Ática, 1990.CANDIDO, A. et all. A personagem de ficção. 1º edição. SãoPaulo: digital source, 1969DIMAS, A. Espaço e Romance. 1ª edição. São Paulo: Ática,1985.LIMA, E. S. Forma e sentido: a personagem narrativa emfoco. Estudos Semióticos. [online] Disponível na Internetvia WWW. URL: http://www.ftlch.usp.br/dl/semiotica/es.Editor Peter Dietrich. Número 4, São Paulo, 2008. Acessadodia 30.09.2013MOISES, M. A criação literária: prosa 1: formas em prosa. Oconto. A novela. O romance. 9ª edição. São Paulo: Cultrix,s/a.NUNES, B. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 2008.SANTOS FILHO, J. J. O beijo da mulher-aranha: o espaço nanarrativa literária e fílmica. Recife: Editora UFPE, 2009.SILVESTRE, E. A felicidade é fácil. Rio de Janeiro: Record,2011.