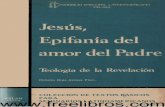Programas de cumplimiento “efectivos” en la experiencia comparada
Os prazeres do comparatismo literário: Octavio Paz e a literatura comparada
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Os prazeres do comparatismo literário: Octavio Paz e a literatura comparada
OS PRAZERES DO COMPARATISMO LITERÁRIO: OCTAVIO PAZ E A
LITERATURA COMPARADA
Claudio Willer
No começo de 2006 publiquei um ensaio, Octavio Paz e a
literatura comparada (em Diálogos Críticos: Literatura e Sociedade nos países
de Língua Portuguesa, Vima Lima Martins, organizadora, Coleção
Via Atlântica, nº 8, Arte & Ciência, São Paulo, 2005). O
que vem a seguir é uma versão algo ampliada (ou menos
reduzida) do mesmo texto, e sem algumas das convenções – o
modo de indicar referências bibliográficas, por exemplo –
que a meu ver servem mais para complicar a leitura que para
facilitá-la (notas de rodapé e criptogramas do tipo
PAZ:1973, 26 estão fora – ao final do texto, bibliografia
com os textos citados).
O acréscimo ao título – Os Prazeres do Comparatismo Literário
– remete a outro ensaio meu recente, publicado aqui em
Agulha, Lautréamont e os prazeres do comparatismo literário (em
http://www.revista.agulha.nom.br/ag51lautreamont.htm), onde
declaro minha preferência por esse campo, a literatura
comparada, no qual crítica e estudos literários podem respirar, libertos da
opressão do paradigma e da prisão na série cronológica.
Minha intenção é examinar e discutir algumas
contribuições de Octavio Paz aos estudos comparados em
literatura. Para tal, idéias e passagens de obras do poeta
e ensaísta mexicano, especialmente de Os Filhos do Barro, são
1
examinadas à luz do que é dito sobre Literatura Comparada
no livro de Sandra Nitrini com esse título, e em outros
textos desse campo. Semelhante exame equivale a uma seleção
que deixa de lado temas indispensáveis em um estudo mais
amplo sobre a sua obra ensaística. Entre outros, sua
relação com budismo, tantrismo e outras filosofias
orientais, seu pensamento político, seus vínculos com o
surrealismo e outras correntes literárias, etc.
Comparações, mais do que um campo, um método ou modo
de estudar literatura, são, em Octavio Paz, algo decisivo
em sua própria formação como poeta. Relata, em seu ensaio
homenageando André Breton (publicado em La búsqueda del
comienzo e outros lugares):
Em minha adolescência, em um período de isolamento e exaltação, li por
acaso umas páginas que, depois o soube, formam o capítulo V de
L’amour fou. Nelas [Breton] relata sua ascensão ao pico de Teide,
em Tenerife. Esse texto, lido quase ao mesmo tempo que The
marriage of heaven and hell [de William Blake], me abriu
as portas para a poesia moderna (BC, pg. 62).
Note-se que a iluminação ou iniciação ocorreu, não
apenas através deste ou daquele texto, mas de ambos, em uma
leitura sincrônica, na qual um iluminava o outro. Essa
aproximação Blake-Breton – que reapareceria em O Arco e a Lira
e outros de seus ensaios – acrescenta algo ao próprio
surrealismo, ou ao pensamento de Breton, pois este não
demonstrou especial interesse por Blake (chegou a acusá-lo
de teísmo, em Les vases communicants, desprezando,
2
estranhamente, o que havia de herético e neo-pagão em sua
obra).
Também o início de sua produção como ensaísta, seu
primeiro ensaio de 1941, é associado à leitura de dois
autores distintos, Quevedo e San Juan de la Cruz.
Personificam, diz em A Outra Voz, os dois extremos da experiência
poética e humana: a solidão e a comunhão.
Há, ainda, um tipo de comparação direta, no plano da
experiência pessoal, que também faz parte de sua formação.
Inclui a primeira estada nos Estados Unidos, inspirando-lhe
O Labirinto da Solidão e possibilitando-lhe a experiência de ser
o outro; aliás, um outro entre os outros, já que tampouco
tinha o perfil do emigrado mexicano típico, o pachuco. E,
também, o contato e a convivência com poetas de outras
nacionalidades, intensificados pelas diásporas provocadas
pela Guerra Civil na Espanha e, logo a seguir, pela Segunda
Guerra Mundial, incluindo o diálogo com expoentes da
geração espanhola de 27, como Luis Cernuda e León Felipe,
com os surrealistas, e com grandes nomes da literatura
hispano-americana.
Tais contatos são registrados em dois ensaios-
depoimento, Antevíspera: Taller e Poesía e Historia, na coletânea
Sombras de Obras – Arte y Literatura. Permitem-lhe, a uma dada
altura de Os Filhos do Barro, declarar: Meu ponto de vista é parcial: é
o ponto de vista de um poeta hispano-americano. Note-se: poeta hispano-
americano, e não apenas mexicano. Certamente, isso tem a ver
com o cosmopolitismo de Octavio Paz, ou com sua dialética
3
do regional e universal e seu interesse pela trans-
nacionalidade.
Diálogo é, por isso, um termo fundamental em Octavio
Paz, chegando a substituir a noção de intertextualidade,
que ele não adota. Daí a valorização de obras coletivas
como a renga (em seu livro de entrevistas, Solo a dos voces, e
no final de Os Filhos do Barro), expressões da criação cujo
interesse cresce no período atual, aquele que se sucederia
ao ciclo das rupturas, vanguardas e modernismos, período
esse, diz ele, marcado pela dissolução da noção de autoria.
E, também, a atenção que dá ao diálogo e colaboração entre
autores; por exemplo, de Pound e Eliot na criação de The
Waste Land (também em Solo a dos voces).
Sua ensaística de maior fôlego tem início,
cronologicamente, com O Labirinto da Solidão de 1950. Nesse
livro, trata de identidade cultural, do contraste entre o
emigrante mexicano, o pachuco, e os Estados Unidos, e mais,
da história do México e da sua formação; conseqüentemente,
de política, e da relação entre intelectuais, a sociedade e
o poder. Suas observações sobre o disfarce positivista, a
superposição histórica artificial do positivismo no México
apresentam consonância com a famosa crítica de Roberto
Schwartz à sobreposição de ideologias em nossa formação, às
idéias fora do lugar, em Ao Vencedor as Batatas de 1977. No entanto,
como será visto adiante, há divergência entre o pensamento
de Schwartz e de Paz no tocante à questão da influência e
da cópia nas relações entre literaturas de diferentes
4
nacionalidades (ou, quem sabe, a divergência resida apenas
no foco, no objeto de interesse).
Em O Arco e a Lira, primeiro de seus ensaios de maior
amplidão tratando especificamente de poesia, de 1956,
dispõe-se a examinar o que são a poesia e o poema em sua
essência, em seus fundamentos. São feitas comparações, como
a de William Blake, Novalis e Hölderlin, para a melhor
compreensão do romantismo. Temas de O Labirinto da Solidão são
retomados a partir de outro ângulo. Focaliza, desta vez, as
relações entre poesia e poetas, de um lado, e a sociedade,
de outro. No mundo moderno, aquele existente e constituído
a partir do iluminismo, da instalação da sociedade burguesa
e, correlatamente, do romantismo, tais relações são
contraditórias e antagônicas: A poesia é desterrada do mundo
burguês, diz, em uma afirmação que seria reiterada ao longo
de toda a sua obra. Passadas mais de três décadas, em A
outra voz, de 1990, voltaria a afirmar: A discórdia entre poesia e
modernidade não é acidental e sim consubstancial. A oposição entre ambas
aparece desde o começo da nossa época, com os primeiros românticos.
Assim, insiste na solidão e isolamento do poeta em sua
relação com a sociedade, equivalente a um exílio em sua
própria terra. Aludindo especialmente a Mallarmé, observa,
em O Arco e a Lira:
O poema hermético proclama a grandeza da poesia e a miséria da
história. (...) Cada vez que surge um grande poeta hermético ou
movimento de poesia em rebelião contra os valores de uma sociedade
determinada, deve-se suspeitar de que essa sociedade, e não a poesia,
sofre de males incuráveis. (...) A solidão do poeta mostra a queda
5
social. A criação, sempre na mesma altura, acusa a descida do nível
histórico. Daí que às vezes nos pareçam mais elevados os poetas difíceis.
Trata-se de um erro de perspectiva. Não são mais elevados;
simplesmente, o mundo que os cerca é mais baixo.
Examinando o trajeto desde O Labirinto da Solidão e O Arco e a
Lira até A Outra Voz e A Dupla Chama, ao longo de quatro
décadas, é como se Octavio Paz reescrevesse o mesmo ensaio,
porém movendo o objeto, buscando angulações diferentes,
procedendo à sua rotação. Outro de seus títulos, Signos em
Rotação, aplica-se a seu próprio procedimento. Há sempre um
tema, um objeto de estudo, e um contexto: a história do
México e sua cultura (em O Labirinto da Solidão), a poesia e a
sociedade (em O Arco e a Lira e Os Filhos do Barro, de 1974), as
civilizações e seus símbolos (em Conjunções e Disjunções, de
1969). No entanto, ao mesmo tempo em que sempre leva em
conta o contexto, e que relação é uma palavra-chave em suas
interpretações, objeta às explicações deterministas.
Crítica e estudos literários, ao longo dos séculos XIX
e XX, muitas vezes foram impregnados pelo positivismo, em
duas de suas modalidades. Uma delas, o positivismo
empirista que tem sua origem em Comte e em Ernest Mach,
evidente em abordagens historicistas, sociológicas e nos
recentes estudos sócio-culturais, além de muito ligado à
própria origem da Literatura Comparada (conforme examinado
por Nitrini em Literatura Comparada, a propósito do
comparatismo clássico). Outra, o positivismo formalista,
lógico-dedutivo, cuja principal origem está nos neo-
kantianos da Escola de Viena, e que norteia estudos de
6
orientação estruturalista. Octavio Paz é um vigoroso
contendor de ambos. Contrapõe a filosofia romântica aos
cientificismos. Em A Outra Voz, dedica algumas páginas à
crítica ao cientificismo nos estudos literários. Equipara
interpretações mais sociológicas ou deterministas a alguém
tomar uma pintura de flores de Van Gogh para esclarecer
questões de botânica. Na mesma medida, objeta aos
formalismos, chegando a falar em imperialismo da lingüística nos
estudos literários. Assinala com clareza suas diferenças
com relação aos lógico-matemáticos e aos estudos literários
em Claude Lévi-Strauss ou o Novo Festim de Esopo.
Quanto às comparações, esquematizando seu
procedimento, é como se houvesse dois termos, A e B,
suponhamos, onde A poderia ser a poesia, e B o seu
contexto, ou um de seus contextos. Seu “método” seria
então, para a melhor compreensão de A e de B, examinar um à
luz do outro, rodando-os, como é feito em cálculos e
representações complexas nas ciências exatas. A noção
científica e matemática de rotação não é estranha ao
pensamento de Paz. Está presente, entre outros lugares, em
Signos em Rotação, bem como na idéia de uma dialética dos signos em
Conjunções e Disjunções. Mas se o termo A deste exemplo for a
poesia, e se B for, por exemplo, a nossa sociedade, o mundo
contemporâneo, então intervém uma valoração, uma dimensão
qualitativa: B é o mundo da instrumentalização, da
submissão aos ditames do útil, e A contém sua crítica e a
verdades reveladas através de poetas tão distintos entre si
(ao menos, distintos na forma e cronologicamente) quanto
7
Blake, Novalis, Baudelaire, Mallarmé ou Breton, entre
outros.
Essa rotação dos termos é bem captada por Maria Esther
Maciel, em uma substanciosa contribuição à bibliografia
sobre Paz, intitulada Vertigens da Lucidez, levando-a a falar
em uma lógica da vertigem, quando
.Sem subtrair as diferenças e as possibilidades de síntese entre duas
instâncias dissimiles, Paz tridimensionaliza a relação, de forma a exibir,
simultaneamente, a cisão e a identidade entre os termos, mantendo,
ainda, tanto a tensão entre eles quanto uma certa independência de
cada um.
Para Maciel, esse é um procedimento que se distingue
da dialética hegeliana, pois esta, embora também alicerçada no
jogo de contrários, não admite que tese e antítese aconteçam
concomitantemente. A ensaísta conclui que
(...) a lógica de Paz espacializa a lógica hegeliana, por funcionar
pela via da contigüidade (base do pensamento sincrônico) sem, contudo,
se eximir da temporalidade: para ele, todas as faces e fases da relação
entre os contrários se mostram em conjunção e disjunção ao mesmo
tempo, sem prejuízo da idéia de movimento que a impulsiona. Daí o
caráter paradoxal do seu pensamento.
Em síntese: Paz, ao proceder como ensaísta, pensa como
poeta. Quando Maciel fala em contigüidade e em pensamento
sincrônico, pode estar dizendo que os ensaios de Paz são
regidos por um pensamento analógico, mais que lógico-
dedutivo. E isso, com todas as conseqüências e implicações
expostas no capítulo inicial de Os Filhos do Barro:
8
Em sua disputa com o racionalismo moderno, os poetas redescobrem
uma tradição tão antiga como o próprio homem, a qual, transmitida
pelo neoplatonismo renascentista, além das seitas e correntes
herméticas e ocultistas dos séculos XVI e XVII, atravessa o século XVIII e
chega a nossos dias. Refiro-me à analogia, à visão do universo como um
sistema de correspondências e à visão da linguagem como o duplo do
universo.
Assim, prossegue Paz em Os Filhos do Barro, o pensamento
analógico é central na poesia moderna, e a constitui:
Apesar dessa vertiginosa diversidade de sistemas poéticos – isto é: no
centro mesmo dessa diversidade – é visível uma crença comum. Essa
crença é a verdadeira religião da poesia moderna, do romantismo ao
surrealismo, e aparece em todos os poemas, às vezes de uma maneira
implícita e outras, em número maior, de maneira explícita. Denominei-a
analogia.
Uma conseqüência é haver, em seus ensaios, bastante
prosa poética, a par da quase obsessão com o jogo de termos
antagônicos, exemplificado por este parágrafo sobre a
poesia, identificada à outra voz no ensaio com o mesmo
título:
Entre a revolução e a religião, a poesia é a outra voz. Sua voz é outra
porque é a voz das paixões e das visões; é de outro mundo e é deste
mundo, é antiga e é de hoje mesmo, antiguidade sem datas. Poesia
herética e cismática, poesia inocente e perversa, límpida e viscosa, aérea
e subterrânea, poesia da capela e do bar da esquina, poesia ao alcance
da mão e sempre de um mais além que está aqui mesmo. Todos os
poetas, nesses momentos longos ou curtos, repetidos ou isolados, em
que são realmente poetas, ouvem a voz outra. É sua e é alheia, é de
9
ninguém e é de todos. (...) Plenitude e vacuidade, vôo e queda,
entusiasmo e melancolia: poesia.
O trecho acima repete o que Paz já dizia sobre a
natureza da poesia décadas antes, na abertura de O Arco e a
Lira. Tais séries de termos opostos em sua obra, aparentes
oxímoros, podem parecer exercícios de estilo. No entanto,
resultam em análises brilhantes, como a comparação, em Os
Filhos do Barro (entre outros lugares – conforme já observado,
Octavio Paz é recorrente ou reiterativo), de vanguarda
francesa e surrealismo, de um lado, e o formalismo anglo-
americano de Pound e Eliot, de outro (e aqui, avançamos no
propósito deste ensaio, a localização de temas de
Literatura Comparada). Argumenta que, a partir da mesma
matriz simbolista e simultaneísta, em um caso (dos
franceses) houve prosseguimento da rebelião romântica, da
tradição da ruptura, e em outro (dos anglo-americanos) houve
restauração tradicionalista, mesmo esta sendo formalmente
inovadora. O jogo de afinidades e oposições, convergências
e divergências, é aplicado ao exame do caráter simétrico e
contraditório da evolução da poesia moderna em inglês e francês, durante
a qual ...os anglo-americanos utilizaram o simultaneísmo [ou seja, a
contribuição, em primeira instância, de Apollinaire] em
sentido contrário ao dos poetas franceses: não para expulsar a história da
poesia, mas como o eixo da reconciliação entre história e poesia. Culmina
em sua crítica a Pound, cujo erro teria sido ler a Divina
Comédia como epopéia, ao pé da letra, como expressão de um
projeto político, e não como alegoria: Teologia secularizada:
política autoritária. O fascismo de Pound, mais que um erro moral, foi um erro
10
literário, uma confusão de gêneros. Este fecho exemplifica bem o
caráter paradoxal de seu pensamento ao qual se refere Maciel, e
mostra sua produtividade.
Na mesma medida em que faz poesia em seus ensaios, nos
seus poemas há bastante metalinguagem, conforme observei
aqui em Agulha, em Comentário sobre dois poemas de Octavio Paz
disponível em http://www.secrel.com.br/jpoesia/ag8paz.html, ao
publicar a tradução de um de seus poemas, Carta a León Felipe,
no qual imagens se confundem com reflexões sobre a poesia,
o corpo, o mundo que o cerca: A poesia/ É a ruptura instantânea/
Instantaneamente cicatrizada/ Aberta de novo/ Pelo olhar dos outros. Por
isso, dentre seus livros, merece especial interesse
(conforme bem observado por Maciel) El mono gramatical: é
aquele em que se fundem ensaio, crônica, depoimento e
poesia, dissolvendo a diferença entre gêneros e
modalidades.
Associar questões e temas da literatura comparada a
Octavio Paz não deve, portanto, permitir que se perca de
vista o que sua ensaística tem de original. Disposto a
apresentar pontos de vista e leituras críticas nas quais
sua própria experiência como poeta é central, não propõe um
modelo, paradigma ou teoria literária, embora contribua
enormemente para esse campo, das teorias literárias e dos
estudos comparados. Sua idéia de uma dialética de signos,
exposta de um modo em Signos em Rotação, no final de O Arco e a
Lira, e de Os Filhos do Barro, e de outro em Conjunções e Disjunções,
antes de ser crítica ou teoria literária é um pensar sobre
a linguagem e o ser humano, a história, e o modo como o
11
homem, para ele um ser de palavras e feixe de imagens (em O Arco e a
Lira), é constituído pela linguagem, ao mesmo tempo em que a
produz. São evidentes as afinidades desse pensamento com a
“hipótese de Whorf-Sapir” (pela qual a linguagem precede e
constitui a percepção e organização do mundo), por ele
examinada e discutida no ensaio Leitura e contemplação
(publicada, entre outros lugares, na coletânea brasileira
Convergências).
Comparações entre literaturas e autores, no modo
sincrônico e diacrônico, fazem parte desse jogo de signos.
Portanto, são um procedimento fundamental dentro de um
projeto amplo, que inclui uma poética e uma história não-
cronológica da literatura, para usar suas próprias palavras para
designar Os Filhos do Barro. Um dos resultados é a
argumentação, também em Os Filhos do Barro, de que momentos e
movimentos distintos da história da literatura podem ser
tomados como metáfora um do outro. Mais precisamente, o
primeiro romantismo alemão e o simbolismo francês, ambos
expressões da tradição da ruptura, apresentariam relações de
equivalência, e não só de continuidade.
Daí entender o romantismo, não como movimento
delimitado por datas do final do século XVIII e meados do
XIX, mas como processo, vertente marcada pela rebelião, ao
focalizar sua unidade negativa, por sua vez associada à
tradição da ruptura. Refere-se a uma revolução romântica, expressão
da crítica, fundamento da sociedade burguesa e do que se
opõe a ela, contraposta ao classicismo. E distingue o
romantismo oficial, dos manuais e histórias da literatura, do que chama
12
de verdadeiro romantismo francês. Um deles, o oficial, é composto
de uma série de obras eloqüentes, sentimentais e discursivas, que ilustram os
nomes de Musset e Lamartine. O outro, verdadeiro, é composto por
um número muito reduzido de obras e de autores: Nerval, Nodier, o Hugo do
período final e os chamados “pequenos românticos”. Na verdade, os
verdadeiros herdeiros do romantismo alemão e inglês são os poetas
posteriores aos românticos oficiais, de Baudelaire aos simbolistas.
Por isso, prossegue, ...A poesia francesa da segunda metade
do século passado – chamá-la de simbolista seria mutilá-la – é indissociável do
romantismo alemão e inglês: é seu prolongamento, mas também é sua
metáfora. Nessa linha de raciocínio, faz afirmações ousadas:
Houve na França uma literatura romântica – um estilo, uma ideologia, uns
gestos românticos –, mas não houve realmente um espírito romântico,
senão até a segunda metade do século XIX. Acaba chegando a
comparações entre Novalis e Rimbaud, mostrando como, em
ambos, a poesia, equivalente ao conhecimento revelado, é
identificada ora à revolução, ora à magia.
Nesses tópicos localizam-se, portanto, contribuições
evidentes à literatura comparada. São afins e sincrônicas
com relação às revisões de romantismo e simbolismo e ao
reexame da relação entre esses dois movimentos a que
procederam autores como René Wellek, Edmund Wilson, Roger
Shattuck (que é mencionado em Os Filhos do Barro) e Anna
Balakian.
Em especial, há continuidade (não-declarada) com
relação a uma obra pioneira, O Castelo de Axel de Edmund Wilson
(que deveria constar nas bibliotecas básicas do
comparatismo literário). Nela, o simbolismo é qualificado
13
como segundo romantismo, e, de modo precursor, é estabelecida
a conexão entre os simbolistas Laforgue e Corbière, e os
modernizadores anglo-americanos Pound e Eliot. No entanto,
cotejando a contribuição de Wilson com as leituras de
Octavio Paz, vê-se que, nestas, é como se fosse contada a
história toda, a versão mais completa da gênese dos
modernismos e vanguardas, pois são examinados os
desdobramentos e influências do simbolismo francês no
formalismo anglo-americano de Eliot e Pound, e também nos
modernismos hispano-americanos, e no surrealismo.
Conforme bem observa Hugh Kenner, em seu prefácio à
nova edição de O Castelo de Axel, trata-se de estudo
comparativo, e a formação acadêmica do próprio Wilson foi
comparatista. Contudo, em Octavio Paz não há apenas
ampliação do alcance das comparações, porém algo a mais, o
acréscimo de um modo original de pensar, levando-o a
enxergar melhor sincronias, relações de equivalência. Daí
permitir-se qualificar o simbolismo francês como metáfora do
romantismo, e não mais, apenas, como sua continuação.
Outro tema de literatura comparada, segundo Nitrini,
corresponderia à questão e às teorias da recepção, estágio
à frente da discussão clássica da influência, por sua vez
na gênese do comparatismo literário. Talvez possa ser
associada à recepção a idéia de uma teoria da leitura, tal como
apresentada por Leyla Perrone-Moisés em um dos ensaios da
coletânea Flores da escrivaninha, que também trata de literatura
comparada:
14
Jorge Luis Borges propõe uma total subversão do conceito de tradição, a
partir de uma teoria da leitura. Em “Kafka e seus precursores”, ele
observa como uma obra forte nos obriga a uma releitura de todo o
passado literário, onde passaremos a encontrar não as fontes daquele
novo autor, mas obras que se tornam legíveis e interessantes porque
existem esses autores modernos; obras que passam a ser, então,
“precursoras” dessa nova obra. Diz ele: “O fato é que cada escritor cria
seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado,
como há de modificar o futuro.
Tais afirmações do autor de O Aleph fazem parte de uma
crítica filosófica radical, que inclui o questionamento da
própria noção de tempo, e das relações entre os símbolos e
as coisas. Seu intuito é lançar dúvidas sobre a série
cronológica, a diacronia (como em seu ensaio refutando o
tempo), e sobre as noções correntes de história e de
autoria (como em Pierre Ménard, autor do Quixote, entre outros
lugares). Borges pretendia não deixar pedra sobre pedra,
desmontando ou desconstruindo o “real”. Tanto em contos
quanto em ensaios, deixa claro que para ele literatura boa,
mesmo, eram os kennigans, as sagas islandesas do ano 1000, e
que toda poesia contemporânea seria uma versão degradada de
A Divina Comédia, esta sim, obra perfeita, completa.
A mesma idéia, da leitura como transformadora e
atualizadora do passado, pode ser encontrada, sintetizada
de modo feliz, em Roland Barthes, na passagem de O Prazer do
Texto em que comenta como vê Proust em um texto citado por
Stendhal e em uma passagem de Flaubert sobre macieiras
normandas em flor, para observar que ...a obra de Proust é, ao menos
15
para mim, a obra de referência, a mathesis geral, a mandala de toda a
cosmogonia literária. Vê-se que, para Barthes, Proust é um
ensinamento, fonte de conhecimento para a leitura de
Flaubert e Stendhal: torna-os mais legíveis, ou mais ricos
em sentido.
Algo semelhante foi dito por Octavio Paz (por sua vez
comentado por Leyla Perrone-Moisés em Altas Literaturas) em Os
Filhos do Barro, porém focalizando a criação, mais que o
prazer (como em Barthes) ou o conhecimento (como em
Borges):
Cada leitura produz um poema diferente. Nenhuma leitura é definitiva,
e, nesse sentido, cada leitura, sem excluir a do autor, é uma acidente do
texto. Soberania do texto sobre seu autor-leitor e seus sucessivos leitores.
(...) Não há poema em si, mas em mim ou em ti. Vaivém entre o
trans-histórico e o histórico: o texto é a condição das leituras e as
leituras realizam o texto, inserem-no no transcorrer. Cada leitura é
histórica e cada uma delas nega a história. As leituras passam, são
históricas, e ao mesmo tempo ultrapassam-na, vão mais adiante dela.
Vê-se que Paz fala em soberania do texto sobre (...) seus
leitores – mas, ao mesmo tempo, observa uma soberania do
leitor sobre o texto, já que cada leitura recria ou
transforma a obra original. Mas o que interessa são as
conseqüências extraídas dessa identificação de criação e
leitura, e da idéia de leitura produtiva, criadora.
Significa, a rigor, que uma obra não existe em si, porém
apenas quando lida, e enquanto leitura, ao relacionar-se com o
leitor. O real é a relação, e não a coisa. Tais afirmações
– que não há poema em si e o texto só se realiza na leitura –
16
correspondem, sem dúvida, a um pensamento vertiginoso (para
utilizar a mesma expressão que Maciel no ensaio citado).
Suas reflexões mais vertiginosas estão em Claude Lévi-
Strauss ou o Novo Festim de Esopo. Acaba chegando a indagações
abissais:
...se a linguagem – e com ela a sociedade inteira: ritos, arte, economia,
religião – é um sistema de signos, que significam os signos? Um autor
muito citado por Jacobson, o filósofo Charles Peirce, diz: “O sentido de
um símbolo é sua tradução em outro símbolo”. Ao contrário de Husserl,
o filósofo anglo-americano reduz o sentido a uma operação: um signo
nos remete a outro signo. Resposta circular e que se destrói a si mesma:
se a linguagem é um sistema de signos, um signo de signos, que
significa este sistema de signos?
E, adiante, depois de criticar o horror à semântica dos
lingüistas e dos lógico-matemáticos, volta ao que seria o
enigma da linguagem: ...se a linguagem nos funda, nos dá sentido, qual
é o sentido desse sentido? A linguagem nos dá a possibilidade de dizer, mas
que quer dizer dizer?
Ligada à valorização da leitura, à noção de obra como
relação entre texto e leitor, condição para tornar-se, como
diz em O Arco e a Lira, verbo encarnado (esta expressão, O Verbo
Encarnado é o título de um dos capítulos de O Arco e a Lira),
temos o exame de outro tema que cabe nos estudos
comparados: o da tradução. No ensaio Traducción: Literatura y
Literalidad, argumenta que tradução e criação são operações gêmeas,
citando os casos de Baudelaire (traduzindo Poe) e Pound. E
chega a afirmações que, se adotadas e tomadas em suas
conseqüências, iriam refletir-se nos estudos comparados e
17
de história da literatura. Para ele, a noção de influência
é um equívoco (nisso coincidindo com a crítica de Leyla.
Perrone-Moisés no texto já citado). E também a de
literatura nacional:
...mais correto seria considerar a literatura do Ocidente como todo
unitário, no qual os personagens centrais não são tradições nacionais –
a poesia inglesa, a francesa, a portuguesa, a alemã – senão os estilos e
as tendências. Nenhuma tendência e nenhum estilo têm sido nacionais,
nem sequer o chamado “nacionalismo artístico”. Todos os estilos foram
translingüísticos: Donne está mais próximo de Quevedo do que de
Wordsworth; entre Gôngora e Marino há uma evidente afinidade,
enquanto nada, salvo a língua, une a Gôngora e ao Arcipreste de Hita
que, por sua vez, faz pensar por momentos em Chaucer. Os estilos são
coletivos e passam de uma língua a outra; as obras, todas enraizadas
em seu solo verbal, são únicas.
E, ainda: ...Em cada período os poetas europeus – agora também
os do continente americano, em suas duas metades – escrevem o mesmo
poema em línguas diferentes.
Exemplifica com a influência (apesar de questionar o
termo, utiliza-o) de Laforgue, resultando em poemas
distintos, imitando o simbolista francês, porém oferecendo,
ao mesmo tempo, versões originais. São Lunario Sentimental de
Leopoldo Lugones e Zozobra de López Velarde, de um lado, e
Prufrock and other observations de Eliot, de outro: Em Boston, recém-
saído de Harvard, um Laforgue protestante; em Zacatecas, escapado de um
seminário, um Laforgue católico.
Aceita essa argumentação, a idéia de literatura
nacional é esvaziada; e, conseqüentemente, um dos modos de
18
entender literatura comparada, como consistindo em
comparações entre “literaturas nacionais”. Ou então,
reciprocamente, crítica e estudos literários em geral
seriam sempre, forçosamente, comparatistas, para captar a
transnacionalidade dos estilos, exibindo a relatividade dos
contextos nacionais.
Resumindo, comparações, em Octavio Paz, tanto podem
ser entendidas como identificação de toda a crítica
literária a esse campo, ao levar em conta a trans-
nacionalidade, quanto como redução ao absurdo da literatura
comparada. Se a leitura e a crítica são necessariamente
comparativas, a idéia de uma disciplina autônoma,
literatura comparada, distinta de outras, deixa de fazer
sentido. O que existiria então seria uma crítica mais ou
menos redutora, na razão inversa de ser mais ou menos
comparativa.
Cabe perguntar: Octavio Paz faz isso, procede desse
modo? Compara sempre? Seus ensaios de maior fôlego sobre
autores específicos – Sade, Sor Juana de la Cruz, Pessoa,
Michaux – são comparativos? Aparentemente não, pois
focaliza a obra de cada um. Contudo, em um ensaio
particularmente brilhante, Fernando Pessoa, o desconhecido de si
mesmo (publicado em Signos em Rotação), inicia contando como
foi sua própria descoberta de Pessoa. Poderia parecer um
modo auto-referente de fazer crítica, confundindo-a com
autobiografia. Mas, na verdade, está sendo coerente: se a
obra existe enquanto leitura, ele começa relatando a
leitura. E – consultando agora a edição de sua Obra Completa
19
– logo a seguir,volta a escrever sobre Pessoa, mas desta
vez comparando-o com o Valéry-Larbaud de Barnaboth.
Outro tema recorrente nos estudos comparados é o
trânsito de influências acompanhando relações de dominação,
hegemonia ou influência política e econômica. Octavio Paz
(nisso acompanhado de modo entusiástico por Haroldo de
Campos) mostra que tais influências equivalem, na
modernidade, a vias de mão dupla. Ou de mão invertida:
Quase todos os grandes movimentos poéticos do século [do século XX,
entenda-se] chegaram à Espanha através dos poetas hispano-americanos,
diz ele em Alrededores de la literatura hispanoamericana (publicado
em In/Mediaciones). A trans-nacionalidade tem muitas
direções. Figuras exemplares, como argumenta em Os Filhos do
Barro, são o nicaragüense Rubén Darío e o chileno Vicente
Huidobro, pelo modo como estimularam, respectivamente,
modernismos e vanguardismos em literaturas hispano-
americanas e na própria Espanha. São autores – assim como
Marti, Vallejo, Neruda, Lugones, Borges, etc, e,
acrescentaria, o próprio Paz, cujo prestígio cresceu depois
de ser traduzido para o francês por figuras do porte de
Benjamin Péret e A. Pieyre de Mandiargues – que ultrapassam
suas fronteiras nacionais. Aduziria, por minha conta, que o
caso de Borges é especialmente representativo: lido e
divulgado na França por Roger Caillois, marcou a Ítalo
Calvino e outros contemporâneos, aportou como exemplo
paradigmático ao importante livro de Michel Foucault, As
Palavras e as Coisas, para, a partir daí, com seu prestígio
ampliado, projetar-se mundialmente, inclusive no Brasil
20
(mesmo já sendo conhecido antes, porém em círculos mais
restritos, especializados – no Brasil, Mário de Andrade
chegou a comentá-lo).
O modo como Octavio Paz examina relações entre autores
de diferentes nacionalidades, a partir de uma perspectiva
mais continental que nacional, difere de uma certa
insularidade brasileira (aliás, até mesmo no México ele foi
objeto de restrições em alguns círculos, por ser demasiado
cosmopolita e insuficientemente “nacional”). Tendemos a nos
pensar como escritores brasileiros, e não da língua
portuguesa. Já Octavio Paz, a partir de uma prática, de uma
experiência concreta de trabalho e diálogo, inclusive na
preparação de revistas e antologias como Taller e Laurel
(conforme relatado em Sombras de Obras), pensa hispano-
americano. Cada país hispano-americano, Argentina, Peru,
Equador, México, etc, tem sua história; mas há uma história
literária feita de relações entre escritores desses países,
e com aqueles da Espanha. A poesia moderna espanhola,
descrita, valendo-se da metáfora, como um contínuo cair e
levantar-se de ondas que começa por volta de 1885, é vista como
um corpus autônomo, unidade vivente e elástica, um tecido de sucessivas
negações e afirmações. Por isso, critica fortemente a idéia de
“independência literária”: Este conceito é a origem de um tenaz
preconceito: a crença na existência de literaturas nacionais. Abusiva aplicação
da idéia de nação às letras, foi um obstáculo para a reta compreensão de
nossa literatura.
Rastrear influências e interlocução, do modo como é
feito por Octavio Paz, contrasta, portanto, com as diversas
21
abordagens nas quais é suposto que influências vão dos
centros para as periferias. Em Ao Vencedor as Batatas de
Schwartz, encontramos uma afirmação categórica, que parece
sintetizar sua crítica: Ao longo de sua reprodução social,
incansavelmente, o Brasil propõe e repropõe idéias européias, sempre em
sentido impróprio. Cabe discutir se a relação entre um ponto
de vista como esse e o que foi examinado nos parágrafos
precedentes é de complementaridade ou de antagonismo
frontal. A atribuição de um sentido impróprio a idéias,
qualquer que fosse sua proveniência, é estranha ao
pensamento de Paz. Equivaleria a equiparar idéias a coisas.
Em Octavio Paz, uma idéia seria antes uma conseqüência de
um sentido, e este é sempre uma relação, ou, antes, o
resultado de um tecido de relações, com leitores e com outros
signos. Aquela idéia (uma idéia européia, por exemplo), uma vez
formulada e sustentada aqui, já não é mais a mesma; é
outra, por estar em outro contexto, outro sistema de
relações.
Ou não? Veja-se estas passagens do ensaio Es moderna
nuestra literatura? (em In/Mediaciones), de 1975, criticando a
sobreposição artificial de ideologias no México (e por
extensão na América Latina):
Na França havia uma relação orgânica entre as idéias revolucionárias e
os homens e as classes que as encarnavam e tratavam de realizá-las.
(...) Por mais abstratas e ainda utópicas que parecessem,
correspondiam de alguma maneira aos homens que as haviam pensado
e aos interesses das classes que as haviam feito suas. O mesmo sucedeu
nos Estados Unidos. Em um e outro caso, os homens que combatiam
22
pelas idéias modernas eram homens modernos. Na Hispanoamérica
essas idéias eram máscaras; os homens que gesticulavam por trás delas
eram herdeiros diretos da sociedade hierárquica espanhola (...) O
verdadeiro nome da nossa democracia é caudilhismo e do nosso
liberalismo é autoritarismo.
Ainda observa a troca de máscaras: depois do
liberalismo, o positivismo; em seguida, o marxismo-
leninismo. A diferença está em incluir marxismo-leninismo
entre as ideologias sobrepostas de modo artificial, não-
orgânico, acarretando polêmicas notórias, e na introdução
do termo máscaras, uma metáfora.
Exemplos, recortes e citações dos parágrafos
precedentes correspondem, é claro, a casos particulares de
seu procedimento, da rotação e comparação de signos. E, em
Octavio Paz, o termo signo tem um sentido amplo. Poderia até
ser questionado se não há um resíduo platônico nesse modo
de enxergar acontecimentos históricos, da esfera humana e
mundana, como projeção da esfera simbólica. A resposta a
essa possível crítica está em suas considerações sobre o
caráter histórico da literatura e, ao mesmo tempo, o modo
como a própria literatura faz história, projeta-se nela, em
O Arco e a Lira. Simplificando (o capítulo sobre O mundo heróico,
no segmento Poesia e História), Homero retrata e reflete um
momento da história, e sua obra somente seria possível
naquele período e naquela sociedade. Mas sua adoção –
sobretudo no ensino, conforme frisa em A Outra Voz – impregna
nossa percepção do real; produz ideologia ou visão de
mundo. Nesse sentido, somos um produto de Homero (e de
23
Virgílio, Dante, Camões, Cervantes, Shakesperare,
Baudelaire etc).
Em Octavio Paz, a relação entre o simbólico e o
histórico tem, portanto, mão dupla. Em Conjunções e Disjunções,
civilizações são examinadas à luz da dialética dos signos
do corpo e não-corpo. De Buda ao tantrismo, do homem
desencarnado ao culto sexualizado, há uma encarnação ou
corporificação de signos do não-corpo; e de Jesus Cristo a
Lutero, o trânsito do corpo, do Deus encarnado, até sua
máxima depuração e sublimação, ou abstração. Mas os signos,
sendo por sua vez históricos, são um produto humano, e não
entidades transcendentais.
Seu modo de relacionar o literário e o extra-
literário, projetando um no outro, fica claro em uma obra
recente, A Dupla Chama, de 1993. É, talvez, seu livro mais
assemelhado a uma história da literatura, pois segue a
cronologia. Contudo, seu propósito não é estritamente
literário. Vai além, ao reconstituir, através da
literatura, a história do amor e erotismo na tradição
ocidental, desde Platão e os líricos gregos, passando pelo
amor cortês medieval, até a modernidade, o romantismo e
surrealismo, para chegar à discussão das possíveis
respostas à pergunta de como fica a questão do amor cortês
ou romântico, o amor sublime dos surrealistas, contraposto
à libertinagem e licenciosidade, na sociedade mais aberta
dos dias de hoje.
Simplificando, pode-se afirmar que, ao tratar de
poesia lírica e erótica, como em A Dupla Chama, o crítico de
24
orientação formalista faria um recorte e focalizaria apenas
as obras, os textos, a “escritura”; e o sociólogo
examinaria essa lírica como retrato ou índice do que
acontecia, do que as pessoas faziam e de como era a
sociedade em cada momento considerado. Mas Octavio Paz,
nesse quase-testamento ou balanço final (tinha 79 anos ao
publicá-lo), novamente aplica a dialética dos signos – no caso, o
amor único e o erotismo, tomados como signos – em suas
relações de antipatia e simpatia, atração e repulsão.
Pode ser demonstrado que falar de relações entre
signos desse modo, e projetá-las na história, é pensamento
analógico, mobilizado de modo coerente com sua própria
poesia, toda ela de imagens (no sentido dado ao termo por
Pierre Reverdy, como aproximação de realidades distintas), e com
sua poética, na qual a analogia é central. Talvez caiba
classificar a ensaística de Octavio Paz como expressão de
uma visão de mundo, mais que uma filosofia, teoria
literária ou teoria da História, e isso, com o mesmo
sentido com que utiliza a expressão em O Arco e a Lira,
aplicando-a ao surrealismo, ao observar que o surrealismo não é
uma poesia, mas uma poética, e, sobretudo, uma visão de mundo. Ir além
no estudo e discussão dessa visão de mundo obrigaria a
examinar sua contribuição propriamente filosófica, e também
sua afinidade com os sistemas filosófico-religiosos do
oriente, especialmente o Budismo, seguindo um caminho já
trilhado por outros ensaístas.
Observe-se ainda que Octavio Paz exagera em seu não-
academicismo, especialmente no modo como despreza a citação
25
de fontes e referências bibliográficas, ao contrário do que
se faz nas teses e ensaios acadêmicos, onde cada passo é
fundamentado, esperando-se que sejam apresentadas pelo
ensaísta suas fontes, as referências, o que provém de outro
autor. Em A Outra Voz, discute uma passagem de C. S. Lewis
sobre símbolo e alegoria; porém o mais correto, nesse caso,
teria sido empreender o exame e discussão desses conceitos
em Walter Benjamin. Denis de Rougemont é citado, discutido
e questionado, a propósito de amor cortês, em A Dupla Chama.
Em Os Filhos do Barro, há uma nota final, de algumas páginas,
em que discute um estudo de Edmund L. King, What is Spanish
Romanticism?, confrontando-o com sua própria visão do
romantismo e dos modernismos hispano-americanos (FB, pgs.
208-211, para mostrar que os modernismos hispano-americanos
influenciaram seus equivalentes espanhóis, e não o
contrário). Em algumas ocasiões, em O Arco e a Lira (em uma
nota para a segunda edição), Os Filhos do Barro e Claude Lévi-
Strauss ou o Novo Festim de Esopo, refere-se a Roman Jacobson,
reconhecendo sua contribuição, distinguindo-a daquela dos
formalistas e estruturalistas que aplicam modelos baseados
na lingüística, de modo redutor.
Mas essas são exceções. O normal é passar por cima.
Isso cria dificuldades adicionais para estudá-lo e discuti-
lo. Em O Arco e a Lira, Heidegger aparece no capítulo sobre a
inspiração, citado – e também nas entrelinhas, ou em
alusões, como no belo final deste capítulo, quando vê a
emergência do outro, da sua outridade, como aproximação ao
Ser, para concluir assim: A inspiração é lançar-se para ser, mas
26
também e sobretudo é recordar e voltar a ser. Voltar ao Ser. Mas fica no
ar a pergunta: até que ponto Paz segue a ontologia
heideggeriana? Talvez o faça além do que admite: no ensaio
sobre surrealismo, La Busqueda del Comienzo, diz que a imagem
poética é uma abertura para o Ser. Uma afirmação como essa
é um acréscimo ao pensamento de André Breton, materialista
e monista, a quem a noção de ser da metafísica é estranha.
Também sua insistência no outro, na otredad (aqui
traduzido pelo neologismo outridade), pode corresponder a
uma noção hegeliana, da alteridade. Pode, ou não: não se
sabe, é algo que permanece ao sabor das interpretações. Sem
dúvida, seu emprego da noção de negatividade é hegeliana. O
tratamento dado à contradição entre a esfera do sujeito, ou
da subjetividade, e do objeto, do mundo das coisas, ao
falar em objetivização do sujeito e de subjetivização do objeto (em
maior detalhe em A Busca do Começo) pode ter raiz diretamente
hegeliana. Ou indiretamente: André Breton, por sua vez
fonte declarada de Paz, foi leitor de Hegel, e o destacou
como fundamento. Ou então, há uma origem baudelairiana,
correspondendo ao que foi sugerido como arte pura pelo autor
de As Flores do Mal, por sua vez leitor de Hegel e de filosofia
romântica, em A Arte Filosófica, ao propor a superação da
dualidade entre sujeito e objeto: O que é a arte pura segundo a
concepção moderna? É criar a magia sugestiva que contenha ao mesmo tempo
o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista.
Baudelaire, sim, é freqüentemente citado por Octavio
Paz. Ocupa posição central em sua ensaística. Aparece como
protagonista em Os Filhos do Barro (a capa da edição espanhola
27
de 1974, da Seix Barral, é uma seqüência de retratos
alternados de Baudelaire e Stalin, para ilustrar a idéia de
um contraste entre rebelião romântica e autoritarismo a
pretexto de revolução). As correspondências baudelairianas,
ou o modo como Baudelaire reinterpretou as correspondências
swedenborguianas, são um fundamento da dialética dos
signos. Sua contribuição como crítico de arte é examinada
em um ensaio publicado em El Signo y el Garabato, no qual Paz
sustenta que sua idéia de harmonia de formas e cores
antecipou o abstracionismo, a desaparição da presença.
A aparente falta de rigor nas referências, fontes e
citações pode ser um modo de destacar aquilo que realmente
importa. Poemas, como o soneto Correspondências de
Baudelaire, Cristo no Monte das Oliveiras, de Gérard de Nerval, e
No Túmulo de Christian Rosenkreutz, de Fernando Pessoa, têm versos
transcritos em Os Filhos do Barro, para ilustrar, através
deles, respectivamente a analogia (em Baudelaire) e a morte
de Deus (em Nerval e Pessoa). Implicitamente, sugere que a
fonte de conhecimento e reflexão está na poesia, e não na
teoria, na metalinguagem. Daí o grau maior de consideração
pelos poetas, com relação a críticos e filósofos. Ou por
poetas-críticos e poetas-filósofos, como Novalis,
Baudelaire, Mallarmé, Eliot, Breton, compondo uma família à
qual Octavio Paz também pertence.
Bibliografia: textos citados:
28
Obras de Octavio Paz:
A dupla chama – Amor e Erotismo, tradução de Wladir Dupont,
Editora Siciliano, São Paulo, 1993;
A outra voz, tradução de Wladir Dupont, Editora
Siciliano, São Paulo, 1990;
Claude Lévi-Strauss ou o Novo festim de Esopo, tradução de
Sebastião Uchoa Leite, Editora Perspectiva, 1977.
Conjunções e Disjunções, tradução Lúcia Teixeira Wisnik,
Editora Perspectiva, São Paulo, 1979;
Convergências – Ensaios sobre arte e literatura, tradução de
Moacyr Werneck de Castro, Editora Rocco, Rio de
Janeiro, 1991;
El Signo y el Garabato, Ed. Joaquim Mortiz, México, 1975;
In/Mediaciones, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1981;
La búsqueda del comienzo, Editorial Fundamentos/ Espiral,
Madri, 1974;
O Arco e a Lira, tradução de Olga Savary, Nova Fronteira,
Rio de Janeiro, 1982;
O Labirinto da Solidão e post-scriptum, tradução de Eliane
Zagury, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro,
1976;
Os Filhos do Barro, tradução de Olga Savary, Nova
Fronteira, Rio de Janeiro, 1984;
Signos em Rotação, tradução de Sebastião Uchoa Leite,
Editora Perspectiva, São Paulo, 1972;
Solo a dos voces (em parceria com Juliás Rios), Editorial
Lumen, Barcelona, 1973;
29
Sombras de Obras – Arte y Literatura, Biblioteca de Bolsillo,
Barcelona, 1996;
Traducción: Literatura y Literalidad, Tursquets Editores,
Barcelona, 1980.
Outros autores:
Barthes, Roland, O Prazer do Texto, tradução de Jacó
Guinsburg, Editora Perspectiva, São Paulo, 1977;
Baudelaire, Charles Baudelaire – Poesia e Prosa, organizado por Ivo
Barroso, vários tradutores, Ed. Nova Aguillar, Rio de
Janeiro, 1996;
Maciel, Maria Esther, Vertigens da Lucidez, poesia e crítica em Octavio
Paz, Editora Experimento, São Paulo, 1995;
Perrone-Moisés, Leyla, Flores da escrivaninha: ensaios, Companhia
das Letras, São Paulo, 1990;
Perrone-Moisés, Leyla, Altas Literaturas, Companhia das Letras,
São Paulo, 1998;
Nitrini, Sandra, Literatura Comparada, Edusp, São Paulo, 2000;
Schwartz, Roberto, Ao Vencedor as Batatas, Livraria Duas
Cidades, São Paulo, 1977;
Wilson, Edmund, O Castelo de Axel, tradução de José Paulo Paes,
Companhia das Letras, São Paulo, 2004.
30