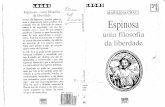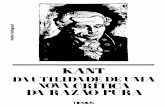Pensamento Organizacional - Uma Análise de uma Prática de Liderança sob a Perspectiva da Teoria...
Transcript of Pensamento Organizacional - Uma Análise de uma Prática de Liderança sob a Perspectiva da Teoria...
Página 1
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMP RESAS
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS
Uma Análise de uma Prática de Liderança sob a
Perspectiva da Teoria da Ação Comunicativa
DISCIPLINA: Pensamento Organizacional
PROFESSOR: Fernando Guilherme Tenório
ALUNO: Gilberto Alves
MATRÍCULA: 086105020
Rio de janeiro
Maio de 20
Página 2
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO 3
2. DESENVOLVIMENTO 4
2.1. Referencial Teórico 4
2.1.1. A Escola de Frankfurt 4
2.1.2. A Dialética de Hegel e Marx 7
2.1.3. A Teoria Crítica 10
2.1.4. A Razão Instrumental 13
2.1.5. A Modernidade em Habermas 15
2.1.6. A Teoria da Ação Comunicativa 17
2.2. Referencial Prático 21
2.2.1. Breve Explanação do Contexto Histórico da Aplicação
do Diagnóstico do Gerente Geral 21
2.2.2. Sobre o Diagnóstico do Gerente Geral 24
2.2.3. As três questões da Teoria da comunicação aplicadas ao estudo 25
3. CONCLUSÃO 26
4. BIBLIOGRAFIA 27
Página 3
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho é um estudo sobre a aplicação de uma prática gerencial numa unidade de
negócios da PETROBRAS, mas seu foco primordial será uma revisão teórica sobre Teoria
da Ação Comunicativa.
No entanto, para entender a Teoria da Ação Comunicativa, é mister entender as suas
origens, seus principais antecessores e a linha de pensamento que levou Habermas a
construção desse raciocínio.
Este trabalho não tem o mérito de dissecar o tema, tanto pela imaturidade acadêmica do
seu autor quanto pela vasta bibliografia, desde autores originais da formação da Teoria da
Ação Comunicativa, até o conjunto de pensadores que escreveram sobre o tema.
No entanto, considerando o roteiro de estudo desenvolvido, é uma apreensão
considerável sobre o tema e que dará um bom fechamento para a disciplina de Pensamento
Organizacional.
A Teoria Crítica Social e a Teoria da Ação Comunicativa são as teorias
contemporâneas mais importantes, indiscutivelmente. Nas preliminares desse estudo e
durante as aulas ficou claro como elas representam a base do pensamento contemporâneo,
tanto quanto o que representa o pensador Habermas para o mundo atual.
Este trabalho está divido em duas partes. Na primeira, denominada referencial teórico,
será feita uma revisão desde o surgimento da Escola de Frankfurt, passando pela Dialética
de Hegel e Marx, pelo estudo da Teoria Crítica, da Racionalidade Instrumental, da grande
discussão sobre Modernidade e Pós-modernidade e sobre a Teoria da Ação Comunicativa,
sendo os dois últimos mais especificamente para entender o universo de Habermas.
Na segunda parte é focada numa prática organizacional, aplicando-se o estudo teórico
sobre o caso escolhido. Mais uma vez não se esgota o assunto. Um aprofundamento
exigiria uma pesquisa mais aprofundada, um acompanhamento da prática apresentada e
provavelmente um estudo etnográfico para buscar no dia-a-dia o verdadeiro sentido e
efeito dessa prática estudada sobre as pessoas, sobre seus propósitos e sobre o quanto ela
atende as especificidades da Teoria da Ação Comunicativa.
A conclusão encerra uma reflexão sobre o estudo, sobre o seu efeito sobretudo na
aprendizagem e apreensão de um conceito que será extremamente útil para a vida prática e
para o amadurecimento acadêmico do autor.
Página 4
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Referencial Teórico
2.1.1. A Escola de Frankfurt
O termo Escola de Frankfurt se confunde com o termo Teoria Crítica Social,
surgida no âmbito da Universidade de Frankfurt. Sua origem remonta o Marxismo
Ocidental formado por pensadores que munidos da nova teoria reviam o pressuposto de
Marx de que as mudanças sociais e econômicas se davam pelas lutas de classes.
Para os pensadores do Marxismo Ocidental, dentre os quais se enquadram aqueles
da Escola de Frankfurt, signatários da Teoria Crítica Social, a cultura e a filosofia política,
dentre outros aspectos, deveriam ser analisados como funções das mudanças sociais.
Os fundamentos da chamada "teoria crítica" foi, então, lançada pela Escola de
Frankfurt. Essa teoria que veremos no próximo capítulo, foi baseada no Marxismo e
delineia idéias sobre a cultura contemporânea.
A Escola de Frankfurt teve origem na Alemanha, em 1923, e foi concebida por
Felix Weil, Horkheimer e Pollock. A sua formação foi feita basicamente por filhos de
judeus, oriundos de famílias da classe média alemã.
Durante a guerra, a Escola emigrou para os Estados Unidos, repartindo-se por Nova
Iorque e por Los Angeles. O retorno à Alemanha só se produziria por 1950, com o fim da
guerra.
Essa escola quase foi denominada Instituto para o Marxismo, se consolidando ao
final como Instituto de Pesquisas Sociais, dedicou-se à pesquisa interdisciplinar entre
filósofos, sociólogos, estetas, economistas e psicólogos.
A Revista para a Pesquisa Social foi o órgão oficial do Instituto e foi criada na
gestão de Horkheimer, a partir de 1931. Baseado na Teoria Crítica, o foco dessa revista
foi o pensamento da filosofia tradicional em detrimento ao pensamento econômico,
originário do pensamento de Marx.
Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Lowenthal formaram o que se chamou de a
primeira geração dessa escola. Habermas, Wellmer e Apel, formaram a segunda.
Benjamin e Kracauer, mesmo não participando diretamente dessa escola, somaram-se a
essa corrente de pensamento.
Destaca-se, abaixo, uma breve biografia dos principais fundadores dessa escola,
obviamente o grupo da primeira geração, e um resumo do pensamento principal de cada
Página 5
um deles e sobre suas principais obras, pesquisados, na Wikipédia, cujas referências se
encontram na bibliografia no item 4 deste trabalho.
Max Horkheimer (Nasceu em Stuttgard, 1885 – Morreu em Nuremberg, 1975)
Como todos os intelectuais da Escola de Frankfurt, era judeu de origem. Por
intermédio de seu amigo Pollock, Horkheimer associou-se em 1923 à criação do Instituto
para a Pesquisa Social, do qual foi diretor, em 1931, sucedendo o historiador austríaco Carl
Grünberg.
Sua fonte de inspiração foi Schopenhauer, que também influenciou Nietzsche e foi
influenciado por Kant, principalmente no que tange a concepção de Fenômeno.
O seu pensamento, juntamente com o de Adorno e Marcus, representa o cerne do
pensamento da Escola de Frankfurt, principalmente aquele relativo a razão instrumental. A
sua Teoria Crítica denuncia como a razão instrumental cria mitos tomando como base o
marxismo ortodoxo e o humanismo individual.
Dentre as obras de Horkheimer, destacam-se:
Materialismo e Moral (ensaio de 1933)
Teoria Tradicional e Teoria Crítica (1937)
Eclipse da Razão (1955)
Teoria Crítica Ontem e Hoje (1970)
Theodor Adorno (Nasceu em Frankfurt, 1903 – Morreu em Visp, 1969)
Era judeu convertido ao protestantismo. Descobriu a obra de Kant, através de
leituras com seu amigo Kracauer, especializado em sociologia do conhecimento.
Com o fim da Guerra, Adorno é um dos que mais desejam o retorno a Frankfurt,
tornando-se diretor-adjunto do Instituto Para Pesquisa Social e seu co-diretor em 1955.
Quando Horkheimer se aposenta, Adorno torna-se o novo diretor da Escola de Frankfurt.
Sofreu grande influencia de Lukács e Valter Benjamin. Crítico de Kierkegaard,
Lukács decepcionará o jovem Adorno ao renegar sua obra de juventude (A Teoria do
Romance por completo, e a História e Consciência de Classe em sua maior parte). Essas
obras são pilares do pensamento de Adorno que travará inúmeras polêmicas com Lukács
por seus "desvios" de pensamento em prol do partido.
Página 6
A Dialética do Esclarecimento é a sua obra mais importante e foi escrita junto com
Max Horkheimer. Esta obra é uma crítica da razão instrumental, abordando o que ele
chama de “indústria cultural”, e da sociedade de mercado que procura somente o progresso
técnico.
Dentre as obras de Adorno, destacam-se:
Kierkegaard: A construção do estético (1933)
A idéia de História Natural (1932)
Mínima Moralia (1945)
Dialética do Esclarecimento (1947)
Dialética Negativa (1966)
Teoria Estética (1968)
Herbert Marcuse (Nasceu em Berlim, 1898 – Morreu Starnberg, 1979)
Nasceu numa família de judeus assimilados. Foi membro do Partido Social-
Democrata Alemão entre 1917 e 1918, tendo participado de um Conselho de Soldados
durante a revolução berlinense de 1919, na seqüência da qual deixou o partido. Como
estudante de filosofia conheceu Husserl e Heidegger, e se doutorando com a tese
"Romance de artista", baseada em Lukács e Hegel.
Foi o primeiro a interpretar os Manuscritos Econômico-filosóficos de Marx e via
neles o sentido de uma teoria da revolução fundamentada pela economia política.
Criticou a sociedade capitalista nas obras "Eros e Civilização", de 1955, e em "O
homem unidimensional", de 1964, especialmente. Essas obras foram o eco aos
movimentos estudantis de esquerda dos anos 1960.
Entrou para o Instituto de Pesquisas Sociais em 1933, pelo intermédio de Leo
Lowenthal e Kurt Riezler. Foi companheiro de Adorno e Horkheimer nos EUA, durante a
guerra, quando a escola de Frankfurt interrompeu as suas atividades a Alemanha.
Dentre as obras de Marcuse, destacam-se:
Razão e Revolução (1941)
Eros e Civilização (1955)
O Homem Unidimensional (1964)
O Fim da Utopia (1967), além da coletânea de artigos Cultura e Sociedade (1965)
Página 7
2.1.2. A Dialética em Hegel e Marx
Roberto Silveira em seu artigo “A Dialética de Hegel e Marx” apresenta um
detalhe de um momento dialético em que Hegel expõe:
"O dialético, tomado para si pelo entendimento separadamente, constitui o ceticismo – sobretudo quando é mostrado em
conceitos científicos: o ceticismo contém a simples negação como resultado do dialético. A dialética é habitualmente
considerada como uma arte exterior, que por capricho suscita confusão nos conceitos determinados, e uma simples
aparência de contradições entre eles; de modo que não seriam uma nulidade essas determinações e sim essa aparência; e ao
contrário seria verdadeiro o que pertence ao entendimento. (...) Em sua determinidade peculiar, a dialética é antes a
natureza própria e verdadeira das determinações-do-entendimento – das coisas e do finito em geral. A reflexão é antes de
tudo o ultrapassar sobre a determinidade isolada, e um relacionar dessa última pelo qual ela é posta em relação – embora
sendo mantida em seu valor isolado. A dialética, ao contrário, é esse ultrapassar imanente, em que a unilateralidade, a
limitação das determinações do entendimento é exposta como ela é, isto é, como sua negação. Todo o finito é isto;
suprassumir-se a si mesmo. O dialético constitui pois a alma motriz do progredir científico; e é o único princípio pelo qual
entram no conteúdo da ciência a conexão e a necessidade imanentes, assim como, no dialético em geral, reside a verdadeira
elevação – não exterior – sobre o finito". (Hegel, 1995: pp. 162-3)
A construção da história para Hegel deve ser pensada por meio do raciocínio
dialético que se dá através da tese, antítese e síntese.
A tese representa uma afirmação geral sobre ser; a antítese representa a negação da
tese, que também pode ser negada; a síntese é a negação da negação onde estão a tese e a
antítese de outra forma pensada, refeita.
Esse processo promove a superação de uma história anterior, apesar de uma
abordagem simples, mas que demonstra a história numa perspectiva dinâmica.
Para Hegel, a razão humana conduz o homem para a liberdade, que é a capacidade
que ele tem para decidir, e movimentar a história. Os produtos dessa história são as
instituições humanas e os homens nela contido.
Hegel classifica a paixão como aquilo que não permite a inércia dos indivíduos na
sociedade em que estão inseridos, e diz:
“Tudo o que pode ingressar no ânimo do homem e despertar o seu interesse, todo o sentimento do bem, do belo e do grande
se vê solicitado: por toda a parte se concebem e perseguem fins que reconhecemos cuja realização desejamos; por ele
esperamos e tememos.”
Para Hegel, a razão e o tempo estão vinculados. Ou seja, a filosofia não pode ser
separada do contexto da sociedade e da história. A razão, como um processo dinâmico,
não pode prescindir do processo histórico, sem o qual não seria verdadeiro e racional.
Página 8
A razão humana progride conforme progride a humanidade. E é através do método
dialético que essa progressão é assimilada. Uma contradição que se estabelece sobre um
pressuposto anterior e que formará um pressuposto a posteriori.
Apresentada dessa forma, a história não é simplesmente uma linha do tempo em
que fatos sucedem outros conforme prescrevia a filosofia tradicional. Sob a perspectiva
hegeliana, os fatos históricos são a sintetização de uma dinâmica de negação de fatos
antecedentes, daí o entendimento do seu método dialético. Sob a dinâmica da dialética e
pelo entendimento do processo dinâmico da história pode-se, então, entender que o ser
humano não seria um produto estático dessa história, mas o próprio construtor da história
num processo de negação e superação constante, entendendo-se por isso um processo
dialético.
Hegel, mais uma vez, aponta que:
“...não devemos deixar-nos seduzir pelos historiadores de ofício; com efeito, pelo menos entre os historiadores alemães,
inclusive os que possuem grande autoridade e se ufanam do chamado estudo das fontes, há os que fazem aquilo que
censuram aos filósofos, a saber, fazem na História ficções apriorísticas.”
O pensamento de Hegel sobre a história é sem precedente. Enxergar a dinâmica da
história sob o ponto de vista da Dialética é uma forma inovadora de apreender a realidade.
Entender a sucessão de fatos numa perspectiva não somente temporal é também entender a
história não determinada por um ente universal, estático e totalitário. Seria como não
pensar em Deus ou em destino.
Contrapondo o absoluto, ao mesmo tempo uma atemporalidade histórica, a história
seria produto de um tempo determinado. Aqui reside uma oposição a Kant. Se a história,
os fatos, as idéias, as convicções são determinações do tempo e seus atores, não pode ser
uma verdade universal e absoluta.
Hegel afirma que as gerações mudam o conhecimento e as verdades não se
eternizam nesse contexto. A história se caracteriza, então, por um constante vir-a-ser, ou a
síntese de sua própria negação, ou produto imediato de uma antítese sobre o que era tese,
uma verdade anterior. Olhando sobre esse prisma, não existe verdade absoluta. Não existe
história absoluta. Não existe verdade, senão uma apreensão momentânea da natureza.
Como se verdade só valesse para um momento histórico e para a percepção dos seus
agentes.
Página 9
Para finalizar o entendimento da Dialética em Hegel e proceder ao entendimento da
Dialética em Marx, tomo de empréstimo um resumo proposto pelos escritores do site
“Mundo dos Filósofos” que compara a lógica tradicional com a lógica hegeliana. A partir
desse ponto, torna-se possível engendrar brevemente pelo pensamento da dialética em
Marx, entender seus pressupostos e entender as bases da teoria crítica social fundamentada
no marxismo ocidental, em contrapondo ao pensamento de Marx.
LÓGICA TRADICIONAL LÓGICA HEGELIANA Afirma que o ser é idêntico a si mesmo e exclui o seu oposto (princípio de identidade e de contradição).
Sustenta que a realidade é essencialmente mudança, devir, passagem de um elemento ao seu oposto.
Afirma que o conceito é universal abstrato, enquanto apreende o ser imutável, realmente, ainda que não totalmente.
Sustenta que o conceito é universal concreto, isto é, conexão histórica do particular com a totalidade do real, onde tudo é essencialmente conexo com tudo.
Distingue substancialmente a filosofia, cujo objeto é o universal e o imutável, da história, cujo objeto é o particular e o mutável.
Assimila a filosofia com a história, enquanto o ser é vir-a-ser.
Distingue-se da ontologia, enquanto o nosso pensamento se apreende o ser, não o esgota totalmente - como faz o pensamento de Deus.
Coincide com a ontologia, porquanto a realidade é o desenvolvimento dialético do próprio "logos" divino, que no espírito humano adquire plena consciência de si mesmo.
Tabela 1 – Comparação entre a lógica tradicional e a lógica hegeliana. Adaptado do Artigo sobre Hegel, a partir do site http://www.mundodosfilosofos.com.br/hegel.htm
Dentre as obras de Hegel, se destacam: A Fenomenologia do Espírito; A Lógica; A
Enciclopédia das Ciências Filosóficas; A Filosofia do Direito.
Enquanto o idealismo está presente na dialética de Hegel, a dialética marxista é um
processo de abstração da realidade, cuja história se realiza nos modos de produção, no
mundo material.
Mais uma vez recorro ao artigo “A Dialética de Hegel e Marx”, de Roberto
Silveira, que cita Marx em Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, onde ele
expõe essa questão histórica:
"Assim como os povos antigos viveram sua pré-história na imaginação, na mitologia, nós, alemães, vivemos nossa pós-
história no pensamento, na filosofia. Somos contemporâneos filosóficos do presente, sem ser seus contemporâneos históricos.
A filosofia alemã é o prolongamento ideal da história da Alemanha. Portanto, se ao invés das oeuvres incompletes [Obras
incompletas] de nossa história real, criticamos as oeuvres posthumes [Obras póstumas] de nossa história ideal, a filosofia,
nossa crítica figura no centro dos problemas dos quais diz o presente: That is the question [Eis a questão]". (Introdução à
Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Karl Marx, 1843)
Marx e Engels reinventam a dialética hegeliana incluindo ao movimento histórico a
componente materialista, indicando que a história se movimenta pelas condições materiais
da vida.
Página 10
Marx dividiu a história em períodos conforme a organização do trabalho humano e
quem se beneficiam dele. Considera quatro momentos históricos: antiguidade, feudalismo,
capitalismo e socialismo.
No materialismo dialético histórico de Marx, as forças produtivas e a relação de
produção é que vão determinar as mundanas históricas. Cada momento histórico vai
determinar as mudanças históricas.
O método dialético aplicado na análise do momento econômico da história vai
revelar as contradições desse momento e conduzir a sua superação. Esse é o movimento da
dialética em que uma tese é negada formando uma antítese que forma uma síntese que se
consolida uma nova tese donde da continuidade a um novo ciclo dialético. Observa que
esse movimento intui que cada tese leva consigo suas próprias contradições. É assim que
Marx demonstra que cada momento histórico trás o “germe da destruição”.
Mas, interessa-nos, sobretudo pontuar esse elemento “economia” na dialética
marxista, adicionando a síntese histórica essa perspectiva determinante que será então
combatida pela Teoria Crítica Social.
2.1.3. A Teoria Crítica
A teoria crítica, como comentado no item 2.1.1, acima, surgiu na Escola de
Frankfurt pelos seus fundadores, especificamente com Horkheimer e Adorno. É marcada
especificamente pelo ensaio-manifesto “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, escrito por
Horkheimer em 1937.
No texto, abaixo, fica muito claro o pensamento de Horkheimer sobre o qual se
assentou a teoria crítica. Observa-se, claramente, uma rejeição a autonomia da ciência e a
separação da teoria (pensamento) da prática. Contesta, também, o distanciamento entre o
indivíduo da sociedade pela oposição gerada pela “proclamação do espírito social” ou
“comunidade nacional”. Reclama o abandono da essência do pensamento que deveria
estar dentro da totalidade social, e que, ao contrário, se constitui num “reino à parte”.
“O futuro da humanidade depende da existência do comportamento crítico que abriga em si elementos da teoria tradicional e
dessa cultura que tende a desaparecer. Uma ciência que em sua autonomia imaginária se satisfaz em considerar a práxis – à
qual serve e na qual está inserida – como o seu Além, e se contenta com a separação entre pensamento e ação, já renunciou
à humanidade. Determinar o conteúdo e a finalidade de suas próprias realizações, e não apenas nas partes isoladas, mas em
sua totalidade, é a característica marcante da atividade intelectual. Sua própria condição a leva à transformação histórica.
Por detrás da proclamação de 'espírito social' e 'comunidade nacional' se aprofunda, dia a dia, a oposição entre indivíduo e
sociedade. A autodeterminação da ciência se torna cada vez mais abstrata. O conformismo do pensamento, a insistência em
Página 11
que isto constitua uma atividade fixa, um reino à parte dentro da totalidade social, faz com que o pensamento abandone a
sua própria essência” (HORKHEIMER, M. Teoria Tradicional e Teoria Crítica).
A teoria crítica resgata a dialética hegeliana em contrapondo a dialética marxista
que reduziu a análise das mudanças sociais aos aspectos econômicos.
Para os teóricos críticos interessava uma teoria eclética focada nas ciências
humanas e que negasse o cientismo marxista.
Ainda como destaque, reproduzo outro texto, que demonstra mais uma vez esse
espírito crítico dessa nova teoria sobre o espírito da teoria tradicional, então formada sobre
a economia política.
"Em meu ensaio "Teoria Tradicional e Teoria Crítica” apontei a diferença entre dois métodos gnosiológicos. Um foi
fundamentado no Discours de la Méthode [Discurso sobre o Método], cujo jubileu de publicação se comemorou neste ano, e
o outro, na crítica da economia política. A teoria em sentido tradicional, cartesiano, como a que se encontra em vigor em
todas as ciências especializadas, organiza a experiência à base da formulação de questões que surgem em conexão com a
reprodução da vida dentro da sociedade atual. Os sistemas das disciplinas contém os conhecimentos de tal forma que, sob
circunstâncias dadas, são aplicáveis ao maior número possível de ocasiões. A gênese social dos problemas, as situações
reais nas quais a ciência é empregada e os fins perseguidos em sua aplicação, são por ela mesma consideradas exteriores. –
A teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os homens como produtores de todas as suas formas históricas
de vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se baseia, não são para ela uma coisa dada, cujo único problema estaria
na mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado não depende apenas da natureza, mas
também do poder do homem sobre ele. Os objetos e a espécie de percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta
dão provas da atividade humana e do grau de seu poder." (Max Horkheimer, Filosofia e Teoria Crítica, 1968, em Textos
Escolhidos, Coleção Os Pensadores, p. 163)
O texto acima mostra no pensamento de Horkheimer uma teoria crítica que “tem
como objeto os homens como produtores de todas as suas formas históricas de vida”.
Mostra uma teoria tradicional que considera seus elementos (“gênese social dos problemas,
as situações reais nas quais a ciência é empregada e os fins perseguidos em sua
aplicação”), como elementos externos.
A união da teoria com a prática é a função da teoria crítica. A análise do indivíduo
como produto da sociedade e a formação das classes, o entendimento da cultura
transformadora da sociedade toma sentido na teoria crítica. Uma teoria que coloca a
dominação sobre a crítica e que vai esclarecer a razão funcional da ciência explicativa da
sociedade.
Essa crítica vai se fundamentar na dialética, mas uma dialética que nega a produção
e as lutas de classes como transformadora da sociedade. Essa dialética, cuja base se dá
Página 12
num novo marxismo, denominado ocidental, cuja base é os teóricos de Frankfurt, e que
incorpora outras disciplinas como elementos dessa crítica.
Pecora (1997), descrito no artigo “A escola de Frankfurt”, no e-Dicionário de
Termos Literários Carlos Ceia, assim como Furlani (São Paulo, 2008), apresenta “cinco
motivos que dariam especial consistência à Teoria Crítica desenvolvida pela primeira
geração”.
1) Reinterpretação do marxismo a partir da rejeição das suas concretizações dogmáticas: totalização simples da história,
relações de espelhismo mecânico entre infra-estrutura e super-estrutura, centralidade da luta de classes e posicionamento
providencial do proletariado como sujeito da história.
2) Rejeição do “intelectual flutuante” de Manheim e de concepções afins, sobretudo no campo da sociologia. A teoria deve
ser “crítica”, historicizada e comprometida, por isso que a neutralidade científica não seria senão adaptabilidade prática às
condições sociais existentes tidas por inaceitáveis.
3) Investigação das condições socio-psíquicas de enraizamento e subsistência do autoritarismo e da hegemonia social.
4) Crítica radical do Iluminismo enquanto triunfo da razão instrumental.
5) Postulação da estética como lugar privilegiado de exercício da Teoria Crítica.
Ceia(2009) acrescenta ainda :
“A Teoria Crítica é crítica porque, interessada em rejeitar a civilização moderna que subsistiria pela implantação de uma
“vida diminuída”, não aceita o cientismo marxista, como em geral acha inaceitável qualquer um. Rejeita, pois, o ideal
cientista aplicado ao domínio humano; e definir-se-ia, em contrapartida, por uma prática teórica eclética, interessada em
discernir nas chamadas ciências humanas (psicologia, sociologia, história, etc.) o potencial crítico. Assim, seria também
crítica porque não dogmática — seria, enfim, dialética. A dialética em causa é a hegeliana, ressalvada. Merquior fala mesmo
de um hegelianismo de esquerda redivivo.”
Essas afirmações demonstram bem o que pretende a teoria crítica. A rejeição a
civilização moderna e a negação do cientismo marxista, aplicados a dominação humana e a
busca de um potencial crítico baseados nas ciências humanas, é o que vai configurar uma
teoria sem dogmas, baseado na experiência e no tempo.
Conforme Morgado (2007), por teoria crítica se entende a análise da possibilidade
de coexistência “numa sociedade organizada racionalmente, sem que isso implicasse a
subordinação da vontade e da individualidade à autoridade logocêntrica”, dentro de uma
perspectiva histórica, “uma análise crítica da sociedade, mas diz-se também proponente de
um método que contribui para a erradicação das várias formas de dominação da sociedade
em nome de uma autoritária razão instrumental; uma teoria que tinha por objetivo incluir
todas as ciências sociais num projeto comum que visasse a construção de uma teoria
materialista da sociedade; o estudo do papel da ciência e da tecnologia na sociedade
moderna, sendo-lhe atribuído um papel negativo no que à formação da consciência e da
Página 13
razão diz respeito; oposição, sob a forma de análises e das produções teóricas, à estrutura
racional das sociedades contemporâneas; e, finalmente, uma teoria que serviu de referência
teórica para os movimentos sociais de protesto na Alemanha, no fim da década de sessenta.
2.1.4. A Razão Instrumental
Chauí (São Paulo, 2000) nos mostra que:
“A noção de razão instrumental nos permite compreender:
● a transformação de uma ciência em ideologia e mito social, isto é, em senso comum cientificista;
● que a ideologia da ciência não se reduz à transformação de uma teoria científica em ideologia, mas encontra-se na própria
ciência, quando esta é concebida como instrumento de dominação, controle e poder sobre a Natureza e a sociedade;
● que as idéias de progresso técnico e neutralidade científica pertencem ao campo da ideologia cientificista.
E acrescenta dizendo “...que alguns filósofos alemães, reunidos na Escola de
Frankfurt, descreveram a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão.”
Para ela “a razão instrumental – que os frankfurtianos, como Adorno, Marcuse e
Horkheimer também designaram com a expressão razão iluminista – nasce quando o
sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a Natureza
e os seres humanos.”
Nos pressupostos da escola de Frankfurt a razão instrumental está no fato de que o
conhecimento científico não estava sendo usado para a emancipação do homem, mas como
meio de dominação. Essa era a crítica na qual se focava a teoria crítica. Na medida em
que o homem ficava reduzido a apenas o aspecto econômico e a luta de classes, o objeto da
ciência era entender esse contexto e buscar soluções para os conflitos.
Chauí (São Paulo, 2000) faz uma comparação ao Darwinismo que surgiu na mesma
época em que o processo de sobrevivência das espécies foi generalizado para o as relações
humanas na sociedade econômica, que justifica a concorrência tal qual a concorrência pela
sobrevivência entre os animais. Tal como uma seleção natural em que os mais fortes, mais
inteligentes etc. é quem sobreviveriam a competição.
Essa comparação torna o conhecimento um instrumental usado erroneamente, sob
uma forma de generalização que mascara o real. Será possível resumir as relações
humanas na sociedade tal qual a lei das sobrevivências das espécies?
Chauí (São Paulo, 2000) ressalta que quando mais a razão se instrumentaliza, a
ciência vai se tornando um instrumento da “dominação, poder e exploração”.
Página 14
Para os filósofos da Escola de Frankfurt, especialmente Horkheimer, a razão crítica
é a contradição à razão instrumental. A operacionalização da razão é o seu uso para a
dominação enquanto a razão crítica é a sua superação. E Horkheimer diz:
“Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhada
pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo
pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no
processo social. Seu valor operacional, seu papel de domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para
avaliá-la."' (Max Horkheimer, Eclipse da Razão, Ed. Centauro, p. 29).
Observa-se que Horkheimer diz que a operacionalização da razão, o seu serviço ao
domínio dos homens e da natureza, se tornou o único critério para avaliá-la. A razão se
tornou meio e, tendo como finalidade específica a dominação, ela deixou de ser reflexiva e
crítica.
O artigo da Wikipédia sobre racionalidade instrumental destaca o texto a seguir, de
Max Weber, que demonstra como a instrumentalização da ciência e do saber enrijece a
razão e o homem. Chaplin, no filme Tempos Modernos, demonstrou essa transformação
do homem e sob essa bandeira a Teoria Crítica se formou.
A modernidade, que Habermas considera inacabada por não ter cumprido o seu
propósito, se caracterizou pela desorientação dos ideais iluministas de emancipação e
libertação do homem. Weber é muito duro e assertivo na sua compreensão dessa realidade.
“Ainda segundo Weber, embora esse padrão de ação resulte em maior poder e domínio sobre a Natureza, também escraviza
o Homem, reprimindo a sensibilidade, a afetividade, a emotividade e as demais formas sensíveis de conduta humana,
gerando especialistas sem espírito e sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de civilização
nunca antes alcançado (A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo).”
Para finalizar, destaco ainda o seguinte texto, também da mesma fonte do anterior,
como mote ao item seguinte em que a modernidade será tratada na perspectiva de
Habermas.
Mais recentemente, também Habermas, ao abordar a Modernidade, criticou a ação racional com relação a fins ou razão
instrumental. Todavia, ao contrário de Weber, que era pessimista quanto ao futuro da Humanidade, Habermas mantém sua
crença no projeto moderno e no crescente desenvolvimento da razão como base para a emancipação humana [1] . Para tanto,
propõe a substituição do racionalismo instrumental pelo racionalismo comunicativo que é expresso por meio do discurso.
2.1.5. A Modernidade em Habermas
Antes de tratar especificamente da modernidade em Habermas, tratarei de alguns
autores, com um foco muito breve sobre as principais obras e sobre os seus temas, como
recomendação do Professor Mário Aquino Alves, da FGV EAESP.
Página 15
Conforme a indicação bibliográfica, em Dialética do Esclarecimento, Adorno e
Horkheimer (Rio de janeiro, 1985) vão explicar “como o Iluminismo e a modernidade
criaram uma promessa de libertação do ser humano das restrições da natureza e do mito,
tornando possível o controle sobre a natureza por meio da ciência, a abundância material
por meio de alta tecnologia e a eficiência de governo por meio da organização racional da
sociedade. Os autores mostram a contradição do Iluminismo, que traz em seu bojo a
própria regressão, o retorno às formas primitivas que levam à destruição e ao próprio
aprisionamento do indivíduo”.
E Adorno e Horkheimer (1944) vão definir esclarecimento como:
“No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os
homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma
calamidade triunfal...”
Num sentido simples, o esclarecimento colocado sob a dialética seria a negação
daquilo que o iluminismo propôs em termos de trazer “à luz” a razão humana. A antítese é
exatamente o contrapondo que se apresenta em Habermas sobre a não realização desse
projeto. O iluminismo cedeu ao cientismo e a razão virou um instrumento da dominação,
demonstrando o fracasso do projeto original.
O Professor Mário Aquino Alves comenta que em a “Condição Pós-Moderna”,
Lyotard (Rio de Janeiro, 2002) coloca que ““pós-moderna” é a condição histórica e
cultural da sociedade capitalista contemporânea, que sofreu fortes transformações,
especialmente calcadas na dissolução das grandes narrativas do Iluminismo – as
metanarrativas – e das ideologias revolucionárias do século XIX, que legitimavam tanto as
regras do conhecimento das ciências quanto as instituições modernas. Este livro é uma das
primeiras obras a difundir o uso do termo “pós-moderno””.
No livro, é como se Lyotard tivesse entendido a iminência de um novo tempo. A
pós-mordenidade caracterizaria a crise das ideologias modernas, especificamente aquelas
ligadas ao iluminismo.
Abaixo, apresento um quadro comparativo entre o modernismo e o pós-
modernismo, numa tentativa mostrar as principais características desses dois temas. Sabe,
como está sendo demonstrado, que não existe uma unanimidade quanto ao advento do pós-
modernismo, como é o caso de Habermas e Giddens. No entanto, no escopo dessas
discussões, apesar de muitos autores não admitirem essa ruptura do modernismo e outros
Página 16
sim, há uma defesa clara sobre esses dois momentos e, sobretudo, uma tentativa de
discernir o que caracteriza cada um deles. Este quadro comparativo foi tirado do artigo
David Harvey, conforme bibliografia.
MODERNISMO PÓS-MODERNISMO Romantismo/simbolismo Parafísica/dadaísmo Forma (conjuntiva, fechada) Antiforma (disjuntiva, aberta) Propósito Jogo Projeto Acaso Hierarquia Anarquia Domínio/logos Exaustão/silêncio Objeto de arte/obra acabada processo/performance/happening Distância Participação Criação/totalização/síntese descri ação/desconstrução/antítese Presença Ausência Centração Dispersão Gênero/fronteira Texto/intertexto Semântica Retórica Paradigma Sintagma Hipotaxe Parataxe Metáfora Metonímia Seleção Combinação Raiz/profundidade Rizoma/superfície Interpretação/leitura Contra a interpretação/desleitura Significado Significante Lisible (legível) Scriptible (escrevível) Narrativa/grande histoire Antinarrativa/petit histoire Código mestre Idioleto Sintoma Desejo Tipo Mutante Genital/fálico Polimorfo/andrógino Paranóia Esquizofrenia Origem/causa Diferença-diferença/vestígio Deus Pai Espírito Santo Metafísica Ironia Determinação Indeterminação Transcendência Imanência Tabela 2 - Diferenças esquemáticas entre modernismo e pós-modernismo Fonte: Hassan (1985, 123-4)
Comentando “The Consequences of Modernity”, o professor Mário diz que
Giddens ( Cambridge: Polity Press, 1990) “situa a modernidade nas formas de vida social
ou de organização que surgiram na Europa a partir do século XVII e que se espalharam
pelo mundo. Afirma que não vivemos em um mundo pós-moderno, mas que estamos
experimentando um período de “alta modernidade”, no qual a des-tradicionalização do
mundo e o desencaixe (disembedding) das relações sociais de contextos locais de interação
para novos ajustes de tempo e espaço se tornam cada vez mais radicais e universais.”
Já em Jamais Fomos Modernos, Latour (São Paulo, 1994) “retoma a questão do
domínio da natureza pela cultura como um traço característico da modernidade. Afirma
que nos últimos anos houve uma combinação do natural e do cultural, que se mostra por
meio da mídia, e que faz convergir a política, a ciência e a natureza em discursos. Mostra
que as sociedades pré-modernas são o resultado híbrido desta combinação e que a
Página 17
sociedade “moderna” nunca teria funcionado baseada nos princípios da separação entre
ciência e cultura, decorrendo disso a sua tese de que jamais tenhamos sido modernos.”
Em Latour (São Paulo, 1994) vemos mais um autor que trás a discussão sobre a não
ruptura da modernidade. Essa recorrência é que assistimos nos autores e que Habermas irá
tratar mais fortemente em sua Teoria da Ação Comunicativa, como nos Freitag (São Paulo,
1993).
Na obra o “Discurso Filosófico da Modernidade”, Habermas “faz uma tentativa de
resgate do projeto da modernidade, que para ele se configura como incompleto. Em uma
crítica à filosofia pós-moderna – ou pós-estruturalista francesa – Habermas defende a idéia
de que o projeto da modernidade deveria ser reconstruído (não desconstruído) com bases
no resgate da razão comunicativa como força emancipatória”, como resume o Professor
Mário.
Conforme Freitag (São Paulo, 1993), a Teoria da Modernidade é parte da integrante
da Teoria da Ação Comunicativa e explica a gênese da sociedade ocidental, diagnostica as
suas patologias e busca solução para a sua correção.
Para Habermas o início da modernidade é marcado pela Reforma Protestante, Pelo
Iluminismo e pela Revolução Francesa. Definidos no tempo, nos séculos XVIII a XX, e no
espaço, na Europa. Distingue os processos de modernização, marcado pela racionalização
da economia e da política, do processo de autonomia das esferas de valor que consistem
na moral, na ciência e na arte.
Interessa-nos a Teoria da Modernidade, sobretudo para entender em que contexto a
Teoria da Ação comunicativa vai aparecer na distinção dos mundos definidos por
Habermas: o sistema e o mundo vivido.
O sistema é o espaço onde a reprodução material e institucional é assegurada.
Nesse mundo predomina a ação instrumental e é regido pela ação instrumental. O mundo
vivido, como nos informa Freitag (São Paulo, 1993) “se constitui no espaço social em que
a ação comunicativa permite a realização da razão comunicativa, calcada no diálogo e na
força do melhor argumento em contextos interativos, livres de coação.”
2.1.6. A Teoria da Ação Comunicativa
Então, no contexto de toda essa discussão, cabe-nos delinear o que seria essa Teoria
da Ação Comunicativa, que se formatou a partir de toda a discussão da teoria crítica da
Página 18
sociedade, da longa discussão do projeto modernista e de toda a instrumentalização do
saber e da alienação do homem.
Para Damasceno (Belo Horizonte, 1997) a Teoria da Ação Comunicativa “nos
possibilita a edificação de uma concepção societária da democracia, o que aponta para uma
concepção dialógica do Estado.”
Abaixo, numa tentativa de explicar o pensamento de Habermas na sua formulação
da Teoria da Ação Comunicativa, procurou-se esquematizar as suas idéias em vários
diagramas. O exercício é a busca de uma sintetização, e deve ser ressalvada a
possibilidade da perda de algumas informações. Essa esquematização foi produzida a
partir de três artigos pesquisados no site da “geocities”, descrito na bibliografia, que são:
Habermas: Projeto de Intelectual; Teoria da Opinião Pública; e, As Três Idéias
Fundamentais de Habermas.
Na figura 1, abaixo, é apresentado um dos objetivos de Habermas em sua teoria. O
propósito é mostrar que para Habermas o conhecimento é definido pelos objetos da
experiência e pelas categorias e conceitos, que são frutos do ato de pensar e da percepção.
Além disso, que o conhecimento só é possível pela experiência social e pela cultura e que o
conhecimento é, também, social. Também que o processo de conhecimento e
compreensão é determinado pelo padrão de linguagem.
Figura 1 – Habermas: Projeto Intelectual. (Parte 1)
A Figura 2 mostra que o poder da razão vem do processo de reflexão e que o
conhecimento dos objetivos de uma sociedade é produzido pela teoria crítica e
Página 19
compreendem o fim da coerção e a busca da autonomia, como frutos da razão; o fim da
alienação, oriundo da harmonia consensual de interesses; e, o fim da injustiça e pobreza,
oriundos administração racional da justiça.
Figura 2 – Habermas: Projeto Intelectual. (Parte 2)
Habermas afirma que fora das instituições existe um espaço para as pessoas
discutirem sobre a vida, que ele chama de esfera pública. Esse espaço tem diminuído por
causa das grandes corporações e da mídia. Reclama que a diminuição desse espaço é uma
estratégia de divisão e conquista e ressalta o surgimento da internet como uma nova esfera
pública.
Figura 3 – A Reconciliação da Hermenêutica e do Positivismo
Na figura 3, acima, é a apresentada como Habermas concebe a reconciliação da
Hermenêutica com o Positivismo. Ele explicita a existência da realidade objetiva que é
Página 20
tratada pela lógica das ciências naturais. Por outro lado, a existência da realidade subjetiva
que é tratada pela lógica das ciências humanas. E vai justificar isto, porque a sociedade e a
cultura são estruturadas por símbolos que exigem interpretação. No entanto, ele vai
estabelecer uma lógica do poder e dominação que age sobre o simbólico e que deverá ser
interpretado pela lógica da teoria crítica.
A figura 4 é para demonstrar que para Habermas existe uma verdade de caráter
universal que compreende uma comunicação não distorcida. E que a linguagem se
justifica nos quatro níveis dessa comunicação.
Figura 4 – A Teoria da Ação Comunicativa
No texto, a seguir, Habermas demonstra como o processo de dominação é
estabelecido pelo processo de legitimação administrativo.
“… o sistema político assegura o consentimento da população tanto por via positiva, quanto por via seletiva;…
capitalizando as expectativas..; … excluindo assuntos…; E isso pode ser feito por meio de filtros estruturais no acesso à
esfera da opinião pública-política, por meio de deformações burocráticas das estruturas da comunicação pública, ou por
meio de um controle manipulativo dos fluxos de informação”.
A Ação Instrumental é, então, a extensão do âmbito da ação técnica e o incremento
das capacidades de direção e cálculo dos processos sociais que tiveram lugar nas
sociedades contemporâneas. Ação Comunicativa presume aqueles processos articulados
em esferas comunicativas livre de domínio e que estão orientados para o consenso e o
entendimento mútuo. O propósito da figura 5 é exatamente demonstrar como a ação
comunicativa se estabelece dentro Teoria da Opinião Pública. Observe que o processo de
opinião publica é fruto das bases empíricas e do modo de interpretação da sociedade. A
formação do discurso se dá por vontade e opinião dos cidadãos, se estabelecendo como as
Página 21
condições para a comunicação. O livre processo de comunicação possibilita acordos
consensuais em decisões coletivas e a linguagem como base para a democracia. A opinião
pública é a condição de modernidade. A opinião pública é legitimada pelo domínio
público, que vem do processo crítico de comunicação; que vem do consenso racionalmente
motivado; e, que vem da ação comunicativa.
Figura 5 – Teoria da Opinião Pública
Para finalizar, a opinião pública deve sustentar três questões: a programação dos
sistemas administrativos por meio de políticas e leis derivadas de processos públicos de
formação da opinião e da vontade (1); a possibilidade de democratização dos processos de
formação da opinião e da vontade (2); a factabilidade de uma praxe comunicativa que
combine uma formação da opinião orientada para a verdade como uma forma de vontade
majoritária (3).
Sobre essas questões será abordado o referencial prático do próximo capítulo.
Buscar e entender práticas que ajam sobre essas questões torna-se uma experiência
fundamental para identificar e constatar um potencial de concretização da modernidade
não realizada, proclamada por Habermas.
2.2. Referencial Prático
2.2.1. Breve Explanação do Contexto Histórico da Aplicação do Diagnóstico
do Gerente Geral
Página 22
O Diagnóstico do Gerente Geral é uma prática de gestão que foi instituída em 1996,
na Unidade de Negócio da Bacia de Campos, até hoje a maior Unidade de Exploração e
Produção da empresa brasileira de economia mista Petróleo Brasileiro SA – PETROBRAS,
e que produz mais de 1,500 milhão de barris de Petróleo por dia. Possui mais de 7.000
empregados próprios e, aproximadamente, 21.000 empregados de empresas contratadas.
Sua estrutura compreende mais de 100 gerências, além de supervisores, coordenadores e
consultores técnicos.
A necessidade de implantação dessa prática, que está detalhada adiante, além de
correlacionada ao referencial teórico, surgiu dentro do movimento de Excelência em
Gestão, como resultado da aplicação regular dos Critérios de Excelência do Prêmio
Nacional da Qualidade, mantido pela Fundação Nacional da Qualidade.
A partir de 1992, a PETROBRAS incorporou em suas atividades dois grandes
movimentos de modernização da indústria nacional, que foram: O Gerenciamento da
Qualidade Total (TQC no Estilo Japonês) e a Avaliação pelos critérios de Excelência do
Prêmio Nacional da Qualidade.
Essas duas metodologias foram parte dos resultados do Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade, instituído em 1989, pelo Governo Collor, que definiu diretrizes
para o processo de modernização da indústria brasileira e que incentivou várias instituições
na busca de metodologias que cumprisse a função de ajudar o desenvolvimento gerencial,
no Brasil.
Nessa investida, a Fundação Christiano Ottoni e a Fundação Vanzolini, junto com
outras instituições, partiram para as suas pesquisas em diversos países. A Fundação
Christiano Ottoni, ligada a Universidade de Minas, foi quem trouxe para o Brasil o TQC
no Estilo Japonês, cuja base principal é o Toyotismo. Essa prática ganhou grande
repercussão nas empresas brasileiras, e, em determinado momento, um conjunto de
empresas que correspondiam a aproximadamente 40% do PIB brasileiro, na década de 90,
enchia grandes hotéis no Rio de Janeiro e São Paulo, para ouvir os casos de sucessos na
implantação do TQC e prestigiar o maior responsável por essa prática no Brasil que foi
Professor Vicente Falconi.
As empresas que participaram fortemente do uso do TQC, naquela época, hoje são
grandes conglomerados de empresas brasileiras, dentre as quais podemos destacar: a
Brahma, que culminou na AMBEV e depois IMBEV; o Grupo Sadia e o Grupo Perdigão,
Página 23
que recentemente se fundiram e se transformaram na maior empresa de alimentos das
Américas e a segunda maior do Brasil; o Grupo Gerdau, que além do seu desenvolvimento
no Brasil, se internacionalizou e é dono de diversas siderúrgicas, pelo mundo; de um modo
geral, boa parte das empresas do Pólo de Camaçari, na Bahia, dentre as quais, a CETREL;
a SERASA e muitas outras.
Em 1992, a Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade foi criada e foram
instituídos os Critérios de Excelência, cuja base principal era o Prêmio “Malcolm
Baldrige”, dos Estados Unidos, e com ligeira referência ao Prêmio Deming, do Japão.
Atenta a esses movimentos e, por outro lado, como a maior empresa brasileira,
pertencente ao governo brasileiro, a PETROBRAS imediatamente partiu para a
implantação dessas metodologias.
Especificamente a década de 90 foi quando essas duas metodologias cresceram. O
TQC manteve as suas bases, mas evoluiu sobremaneira para um conjunto de ferramentas
muito pragmáticas, voltados para a melhoria dos resultados das empresas que a contrata.
Hoje, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG herdou o legado da Fundação
Christiano Ottoni, com independência da Universidade de Minas, e seus consultores estão
espalhados pelo mundo ainda sob a coordenação do Professor Vicente Falconi.
Provavelmente seja uma das maiores consultorias brasileiras. No entanto, o velho TQC,
toyotista de origem, perdeu um pouco do seu “glamour” original, e aqueles que beberam
nessa fonte ainda circulam no circuito dos serviços de consultoria pelo Brasil e por muitos
países pelo mundo.
A Fundação do Prêmio Nacional para a Qualidade continua ativa. A cada ano vem
evoluindo com o seu modelo de avaliação que foi transformado num modelo de gestão.
Neste ano realizará o 17º ciclo de avaliações, reconhecendo empresas públicas e privadas,
de grande, médio e pequeno porte, que atingem patamares de excelência segundo seus
critérios. Os critérios recentes guardam pouca correspondência aos do Malcolm Baldrige.
Têm uma “cara” brasileira, adaptado a cultura do Brasil, e é referência para os demais
prêmios do mundo. No último ano, a Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade foi
escolhida entre as organizações mantenedoras de Prêmios, no mundo, para repensar o
modelo de critérios de excelência e sediou um encontro com membros dos mais destacados
prêmios do mundo para discutir a nova proposta desenvolvida no Brasil. Essa proposta,
Página 24
além da contribuição da rede de examinadores do prêmio, contou com a participação de
empresas brasileiras, universidades, institutos, consultores.
2.2.2. Sobre o Diagnóstico do Gerente Geral
O Diagnóstico do Gerente Geral foi implantado como demanda do resultado de
uma das avaliações da Unidade de Negócios Bacia de Campos, que culminou num Projeto
de Melhoria da Gestão.
Essa demanda se originou da necessidade da organização estruturar uma prática
para atendimento de um dos requisitos dos critérios de excelência que previa a necessidade
de se responder como a alta administração, através do seu sistema de liderança, se
comunicava com as pessoas da organização de modo a lhes informar sobre os rumos da
Unidade e ouvi-los quanto às suas percepções da própria organização, o negócio, suas
práticas e sobre sugestões de melhoria.
Cabe observar, que tanto os Critérios do Prêmio Nacional para a Qualidade, quanto
originalmente o TQC, tem como valor a participação e o envolvimento de todas as pessoas
nos processos organizacionais. Há uma crença, que se consubstancia nas práticas de
gestão, que sem a participação e o envolvimento das pessoas e os seus plenos potenciais, as
organizações não dão os saltos de excelência esperados e preconizados nos critérios. Sob
esses aspectos, a vasta experiência em avaliações de empresas pelo Brasil e de unidades da
Petrobras demonstra que as empresas de excelência têm em comum uma particularidade
que é a formação de estruturas informais, traduzidas em grupos de melhorias, equipes de
alto desempenho, uma evolução dos CCQ’s que muito sucesso fizeram na abordagem do
TQC no Estilo Japonês. Outro fator relevante é o processo de comunicação da organização
com o seu público de interesse, neste caso incluindo as pessoas.
Olhando sob essa perspectiva, recorremos a Habermas e constatamos a importância
do processo de comunicação, da busca da verdade nas organizações, tanto quanto da
potencialização de “espaços públicos” onde a comunicação, a inter-subjetividade, a
construção de um espaço onde as pessoas discutem vida, trabalho, sejam realizados.
Especificamente o Diagnóstico do Gerente Geral se fundamentou num problema
muito sensível em todas as organizações: a forma como a comunicação flui de uma ponta a
outra na estrutura organizacional.
Página 25
O problema marcante é: entre as pontas, entre os hemisférios organizacionais, entre
a superestrutura e a infra-estrutura, entre a “classe alta” e a “classe baixa”, entre a alta
administração e os operadores, existe um muro, uma parede, um filtro com muitos
elementos que impede a comunicação plena. Na verdade, as verdades não circulam. Elas
são represadas na massa de gerentes e técnicos que se colocam entre as pontas.
Tal como fala Habermas, que fora do sistema existe um mundo da vida,
poderíamos dizer que fora do que a Alta Administração de qualquer organização pensa
sobre a sua organização, existe outro mundo, um mundo da vida onde as coisas realmente
acontecem.
Uma boa ilustração disso seria a figura de um iceberg. O que está fora da água é
muito menos do que está submerso. Assim são as organizações. Quando a alta
administração submerge, ela enxerga um mundo diferente, maior, mais complexo, mais
explícito, e, no entanto, mais verdadeiro.
O Diagnóstico do Gerente Geral é esse submergir. O processo envolve atividades
formais, cujo objetivo é verificar o atendimento a um conjunto de diretrizes e práticas
corporativas. Mas, em outros momentos, é uma circulação pela organização para contatar e
ouvir pessoas. Em outro momento, um espaço para perguntas e respostas francas, abertas,
sem restrições.
Esse processo olho no olho, esse juntar as pontas provoca um efeito incalculável
para a organização. Esse processo revela tudo que está entre as pontas. Esse juntar o
sistema com o mundo da vida é tal como entender que tantos os valores técnicos, de
conhecimentos, tecnológicos, quanto os valores pessoais, as percepções, as verdades
individuais, a vida em suas nuances das personalidades, das culturas, dos costumes, são
parte de um todo indivisível, portanto importante para a construção da organização.
Nossa revisão teórica se findou com a indicação de um espaço de opinião público
que deve sustentar três questões. Sobre elas, analisaremos o Diagnóstico.
2.2.3 As três Questões da Teoria da comunicação aplicadas ao estudo
A primeira questão é a programação dos sistemas administrativos por meio de
políticas e leis derivadas de processos públicos de formação da opinião e da vontade.
No caso do Diagnóstico do Gerente Geral, a programação é feita pela instituição de uma
prática validada pelo conjunto da organização, regulada por procedimento aprovado no
Página 26
grupo de direção da unidade e que abrange todas as pessoas da organização tanto no
aspecto do impacto dessa prática sobre elas e sobre suas atividades quanto pelo feedback
que é fornecido sobre a validação desse espaço de debate e discussão sobre o futuro da
unidade.
A segunda questão é a possibilidade de democratização dos processos de
formação da opinião e da vontade. O atendimento pleno dessa questão, no caso do
Diagnóstico do Gerente Geral, seria possível se não fosse o impeditivo do Sistema. A
prática pressupõe essa democratização porque acordos são muito bem estabelecidos, dentre
os quais, a disposição para ouvir e falar verdades. No entanto, a continuidade dessa prática
é diretamente associada à liderança e a sua habilidade. Estilos mais democráticos e
participativos tenderão a valorizar esses espaços de opinião pública. Outros estilos, não.
Além disso, a depender das demandas organizacionais esses espaços podem ser inibidos.
Dependendo das questões de ordem econômica, esse espaço pode ser amplamente utilizado
pela democracia ou confundido como instrumentalista, ideológicos, policialesco e toda a
ordem de jargões e taxações que pode sofrer. Então, o mais provável é que esse espaço
sobreviva ou sucumba a depender da liderança ou das pressões sobre a organização, tanto
internas quanto externas.
A terceira questão é a factabilidade de uma praxe comunicativa que combine uma
formação da opinião orientada para a verdade como uma forma de vontade
majoritária . Essa praxe é factual. Aliás, é o que justifica uma prática como essa. Cabe
lembrar que ela surge da necessidade de “unir as pontas”, de revelar as verdades, fazer
emergir a parcela maior da organização, como ilustrado na figura do iceberg. Além disso,
o processo é justificado pela necessidade de garantir o fluxo das informações sobre as
pontas da organização, pulando a muralha entre a Alta administração e a operação. O
propósito de estabelecer uma relação de confiança dentro da organização é foco dessa
prática. Assim, essa terceira questão é factual.
3. CONCLUSÃO
Este trabalho proporcionou uma boa análise da Escola de Frankfurt e de todas das
teorias surgidas no berço dessa escola. Desde Horkheimer e Adorno, especialmente com a
formação da Teoria Crítica Social, até Habermas e sua Teoria da Ação Comunicativa pode-
se conhecer uma parcela significativamente do pensamento contemporâneo.
Página 27
É certa as influências dessa escola e seus percussores sobre a sociedade atual e a
tentativa de emancipação do homem, a busca de um processo de democratização, a
redução do fosso entre as diferenças sociais, dentre outros aspectos.
Sobre o Diagnóstico do Gerente Geral, observou-se que esta, dentre outras práticas, é
uma tentativa de amenizar os conflitos organizacionais, especialmente a redução da
supremacia cientista, utilitarista, instrumentalista, cuja racionalidade justifica todo o
distanciamento de uma esfera pública de construção de verdades, consensos, de uma
comunicação efetiva voltada para a melhoria da vida sob a perspectiva do mundo da vida,
como foca Habermas.
Fica ainda a sensação do quanto são novas essas discussões, surgidas mais fortemente
após a segunda grande guerra, e de que o projeto moderno, originário fundamentalmente
do iluminismo, fracassou e nem se realizou completamente. Poderia ser dito que ele não
foi capaz de gerar uma antítese, pois sua tese não se consolidou.
Dentro de uma perspectiva crítica, sob a lógica dialética, não se formula uma antítese,
uma contradição que leve a uma nova tese. A grande tese, e Habermas é confessadamente
o grande mentor disso, é sobre a concretização moderna para que se justifique uma pós-
modernidade.
Como muitas vezes foi ouvido do nosso já saudoso Professor Tenório, não é possível
entender as organizações se não pelo viés das ciências humanas, considerando que a
administração sozinha não dá conta desse papel. Essa sociologia discutida na Teoria
Crítica estende-se de maneira perfeita aos estudos das organizações e suas relações, e,
certamente, essa é a grande lição do presente estudo, o que leva a necessidade de cada vez
mais se aprofundar nas disciplinas das ciências humanas.
O presente trabalho está muito longe de esgotar o estudo a que se propôs e nos serve
como uma entrada ao longo estudo que se deve estabelecer pela frente, em busca de uma
maturidade acadêmica que complemente e justifique a prática diária para a consolidação de
uma práxis emancipadora ou facilitadora de uma emancipação.
Página 28
4. BIBLIOGRAFIA
4.1. Pusey, Michael. JÜRGEN HABERMAS . Routledge. Londres 1995.
4.2. Habermas, Jürgen. TEORIA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA I . Editora
Taurus. Espanha, 1988.
4.3. Ingran, David. HABERMAS AND THE DIALECTIC OF REASON . Yale
University, 1987.
4.4. Silveira, Jorge. A DIALÉTICA DE MARX E HEGEL .
http://www.geniodalampada.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=132:a-dialetica-de-marx-e-hegel&catid=52:sociologia&Itemid=72
4.5. HEGEL. http://www.mundodosfilosofos.com.br/hegel.htm
4.6. A DIALÉTICA HEGELIANA.
http://pt.shvoong.com/humanities/h_philosophy/1631539-dial%C3%A9tica-
hegeliana/
4.7. Carlos Ignacio Pinto. O PENSAMENTO HEGELIANO .
http://www.klepsidra.net/klepsidra10/hegel.html
4.8. WIKIPÉDIA. BIOGRAFIA: MAX HORKHEIMER . Desenvolvido pela
Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Horkheimer&oldid=14448640>.
Acesso em: 19 maio 2009.
4.9. WIKIPÉDIA. BIOGRAFIA: ARTHR SCHOPENHAUER . Desenvolvido pela
Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Schopenhauer&oldid=150420
50>. Acesso em: 19 maio 2009.
4.10. WIKIPÉDIA. BIOGRAFIA: THODOR ADORNO . Desenvolvido pela
Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Adorno&oldid=15346186>.
Acesso em: 19 maio 2009.
4.11. WIKIPÉDIA. BIOGRAFIA: HERBERT MARCUSE . Desenvolvido pela
Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Marcuse&oldid=14644837>.
Acesso em: 20 maio 2009.
Página 29
4.12. WIKIPÉDIA. BIOGRAFIA: WALTER BENJAMIN . Desenvolvido pela
Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Benjamin&oldid=15221921>.
Acesso em: 20 maio 2009
4.13. WIKIPÉDIA. BIOGRAFIA: ERICH FROM . Desenvolvido pela Wikimedia
Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Erich_Fromm&oldid=14531554>.
Acesso em: 20 maio 2009.
4.14. WIKIPÉDIA. TEORIA CRÍTICA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation.
Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_Cr%C3%ADtica&oldid=1384
1057>. Acesso em: 21 maio 2009
4.15. Machado MMT, Leitão. O CONCEITO DE AÇÃO. Rev Latino-am
Enfermagem 2005 setembro-outubro; 13(5):723-8. www.eerp.usp.br/rlae; GCM,
Holanda FUX
4.16. WIKIPÉDIA. RAZÃO INSTRUMENTAL. Desenvolvido pela Wikimedia
Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raz%C3%A3o_instrumental&oldid=1
4504081>. Acesso em: 22 maio 2009
4.17. SILVA, Franklin Leopoldo e. CONHECIMENTO E RAZÃO
INSTRUMENTAL . Psicol. USP, São Paulo, v. 8, n. 1, 1997 . Available
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65641997000100002&lng=en&nrm=iso>. access on22 May 2009. doi:
10.1590/S0103-65641997000100002.
4.18. Chauí, Marilena. CONVITE À FILOSOFIA . Ed. Ática, São Paulo, 2000.
4.19. Evangelista, E. G. S. .RAZÃO INSTRUMENTAL E INDÚSTRIA
CULTURAL . Inter-Ação: Rev. Fac. Educ. UFG, 28 (1): 83-101, jan./jun. 2003.
4.20. WIKIPÉDIA. MATERIALISMO DIALÉTICO . Desenvolvido pela Wikimedia
Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Materialismo_dial%C3%A9tico&oldi
d=15088556>. Acesso em: 23 maio 2009.
Página 30
4.21. Furlani, Fernando. A INEFICÁCIA DO PODER JUDICIÁRIO
BRASILEIRO - Sob a ótica das idéias da Escola de Frankfurt. Costa.
Universidade Presbiteriana Makenzie. São Paulo, 2008.
4.22. Coord. de Ceia, Carlos. A ESCOLA DE FRANKFURT . E-Dicionários de
Termos Literários, ISBN: 989-20-0088-9
http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/E/escola_frankfurt.htm. Acesso em 24 de
maio de 2009.
4.23. Groden, M. & Kreiswirth, M. (eds.). “Frankfurt School”, in The Johns Hopkins
Guide to Literary Theory and Criticism, Baltimore, Vincent P. Pecora, The Johns
Hopkins University Press (1997).
4.24. Morgado, Isabel Salema. TEORIA CRÍTICA . Dicionário de Filosofia Moral e
Política. Instituto de Filosofia da Linguagem. (2007).
4.25. Horkheimer, Max. ECLIPSE DA RAZÃO . Ed. Centauro, p. 29
4.26. Adorno, Theodor W. e Horkheimer, Max. DIALÉTICA DO
ESCLARECIMENTO: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1985. 256 p.
4.27. Lyotard, Jean-François. A CONDIÇÃO PÓS-MODERNA. Rio de Janeiro: Ed.
José Olympio, 2002. 132 p.
4.28. Habermas, Jürgen. DISCURSO FILOSÓFICO DA MODERNIDADE. São
Paulo: Editora Martins Fontes, 2000. 540 p.
4.29. Giddens, Anthony. THE CONSEQUENCES OF MODERNITY. Cambridge:
Polity Press, 1990. 186 p.
4.30. Latour, Bruno. JAMAIS FOMOS MODERNOS: ensaio de antropologia
simétrica. São Paulo: Editora 34, 1994. 152 p.
4.31. Harvey, David PASSAGEM DA MODERNIDADE PARA A PÓS-
MODERNIDADE., p. 45-53. http://br.geocities.com/m80811/davidharvey.htm.
Acesso em 25 de Maio de 2009.
4.32. Damasceno, Gilberto J. B.A EMERGÊNCIA DAS NOVAS ENERGIAS -
UTÓPICAS. BREVE INTRODUÇÃO À TEORIA DA AÇÃO
COMUNICATIVA. Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, 3(6):81-100, jul/dez.,
1997.