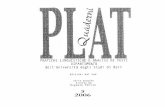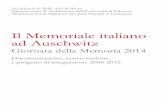Notas para uma Fenomenologia da Vida Informacional
Transcript of Notas para uma Fenomenologia da Vida Informacional
INFORMAÇÃO, COMPLEXIDADE E AUTO-ORGANIZAÇÃO:
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES
VOLUME 73 - 2015COLEÇÃO CLE
Mariana Claudia Broens João Antonio de Moraes
Edna Alves de Souza(orgs.)
COLEÇÃO CLE
Editor: Itala M. Loffredo D’Ottaviano
Conselho Editorial: Newton C.A. da Costa (USP) - Itala M. Loffredo D’Ottaviano(UNICAMP) - Fátima R. R. Évora (UNICAMP) - Osmyr F. Gabbi Jr. (UNICAMP)- Michel O. Ghins (UNIV. LOUVAIN) - Zeljko Loparic (UNICAMP) - OswaldoPorchat Pereira (USP)
Centro de Lógica, Epistemologia e História da CiênciaCidade Universitária “Zeferino Vaz” - C.P. 6133 - 13083-970 Campinas, [email protected]
Copyright by Coleção CLE, 2015
)LFKD�FDWDORJUi¿FD�HODERUDGD�SHOD�%LEOLRWHFD�GD�))&�0DUtOLD
ËQGLFH�SDUD�FDWiORJR�VLVWHPiWLFR���6LVWHPDV�DXWR�RUJDQL]DGRUHV������
Capa: (ODERUDGD�SRU�(GHYDOGR�'��6DQWRV
,035(662�12�%5$6,/
,���,QIRUPDomR��&RPSOH[LGDGH�H�$XWR�2UJDQL]DomR��(VWXGRV�,QWHUGLVFLSOL�QDUHV���0DULDQD�&ODXGLD�%URHQV��-RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(GQD�$OYHV�GH�6RX]D��RUJV����RUJV������&DPSLQDV���81,&$03��&HQWUR�GH�/yJLFD��(SLVWHPRORJLD�H�+LVWyULD�GD�&LrQFLD�������
���������������S��LO���&ROHomR�&/(���Y����,QFOXL�ELEOLRJUD¿D ISBN 978-85-86497-23-0
���6LVWHPDV�DXWR�RUJDQL]DGRUHV�����7HRULD�GD�LQIRUPDomR�����$ERUGDJHP�LQWHUGLVFLSOLQDU�GR�FRQKHFLPHQWR��,��%URHQV��0DULDQD�&ODXGLD��,,��0R�UDHV��-RmR�$QWRQLR�GH��,,,��6RX]D��(GQD�$OYHV�GH��,9��6pULH
&''��������
SUMÁRIO
Prefácio ......................................................................................... 7
Apresentação ................................................................................. 11
PARTE 1 REFLEXÕES ACERCA DA INFORMAÇÃO
EM SUA COMPLEXIDADE
Passado, presente e futuro do conceito de informaçãoRafael Capurro ............................................................................... 21
Afinal, o que é informação?Alfredo Pereira Júnior ..................................................................... 51
Percepção/ação: uma abordagem ecológica e informacionalRamon Souza Capelle de Andrade ................................................... 71
Mente-mundo: uma proposta de análise realista naturalEdna Alves de Souza ....................................................................... 91
Notas para uma fenomenologia da vida informacionalJoão Antonio de Moraes; Eloísa Benvenutti de Andrade ..................... 115
PARTE 2INFORMAÇÃO, AUTO-ORGANIZAÇÃO E AÇÃO:
DESDOBRAMENTOS INTERDISCIPLINARES
Eppur si muove!Lauro Frederico Barbosa da Silveira ................................................. 135
O estudo das fronteiras da amizade na academiaClaus Emmeche .............................................................................. 145
Processo de iluminação e processo de auto-organizaçãoEttore Bresciani Filho ...................................................................... 177
Implicação e informação: uma análise quantitativo-informacional da implicação materialMarcos Antonio Alves; Itala M. Loffredo D’Ottaviano ....................... 195
A dimensão ontológica do conceito de ação na filosofia de Charles S. PeirceIvo A. Ibri ...................................................................................... 223
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organizaçãoLuis Felipe Oliveira ........................................................................ 239
Registros descritivos no contexto da complexidadePlacida L. V. A. da Costa Santos; Ana Maria Nogueira Machado ...... 257
Perspectiva em primeira pessoa e identidade narrativa: para umaabordagem prática-linguística da identidade pessoalCristina Amaro Viana Meireles ........................................................ 273
PARTE 3 CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA
TRAJETÓRIA INTELECTUAL
Entrevista com o Prof. Dr. Antonio Trajano Menezes Arruda ........ 307
Entrevista com a Profa. Dra. Carmen Beatriz Milidoni .................. 315
Jogos epifenomenistasOsvaldo Pessoa Jr. ........................................................................... 319
Um breve relato pessoalRamon Souza Capelle de Andrade ................................................... 333
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
NOTAS PARA UMA FENOMENOLOGIA DA VIDA INFORMACIONAL1
JOÃO ANTONIO DE MORAESDoutorando em Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia
da Universidade Estadual de Campinas, [email protected],
ELOÍSA BENVENUTTI DE ANDRADEMestre em Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Universidade Estadual Paulista, UNESP/Marí[email protected]
1 INTRODUÇÃO
Durante uma conferência realizada no dia 16 de agosto de 2013, no anfiteatro da História na Universidade de São Paulo (USP), ocasião em que apresentava seu parecer sobre os “acontecimentos de junho”2, Marilena Chauí, ao ser perguntada sobre o papel da internet como instrumento for-mativo - uma vez que a rede mundial de computadores supostamente teria sido a responsável pela divulgação e organização das manifestações que tomaram as ruas do Brasil no referido mês - responde com um diagnóstico
1 Com este capítulo homenageamos a Prof. Maria Eunice Quilici Gonzalez, cuja trajetória intelectual e filosófica se confunde com um profundo apreço pelo livre pensamento, pelo cultivo e incentivo à elabora-ção de novas ideias, explicitando com isso, para nós, um compromisso com a profundidade, com o rigor, e com os “problemas” do nosso tempo. Sobretudo, explicita também um incansável engajamento em prol da tarefa originária da filosofia. Tal comportamento inspira nosso texto e a reflexão que aqui iniciamos. 2 No mês de Junho de 2013, uma grande quantidade de pessoas foi às ruas em todo o Brasil para se manifestar, inicialmente contra os aumentos nos preços do transporte público e, posteriormente, apresentando outras reivindicações. Para uma análise mais detalhada da relação entre as TIC e essas manifestações ver Moraes e Bellini-Leite (2013).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
sobre a inserção das novas tecnologias informacionais e comunicacionais (TIC, daqui em diante) na sociedade:
[...] um colega estava me contando sobre um menino de uns 3 anos, que costuma brincar com um tablet, mas neste caso sua mãe lhe trouxe um livro. No manuseio do livro ele reproduzia os mesmos movimentos que realiza para manusear o tablet, porém a página não mudava. Ele – o menino – sem possuir qualquer dúvida, limpava seu dedo, achando que fosse um defeito de seu corpo [...]. O que temos, então, é um novo corpo. E isso está ligado à discussão sobre o problema da atopia, da acronia, da perda da relação com o corpo, da mudança da percepção. Eu acho que a internet cria a necessidade de que se escreva uma nova Fenomenologia da Percepção. Infelizmente, eu não vou ter idade para fazer isso, não vai dar tempo, mas estou fazendo essa minha missão de gritar [...] na esperança de que os mais jovens agarrem isso e façam esse trabalho de uma nova Fenomenologia da Percepção. Porque é um novo sujeito que surgiu; o corpo é outra coisa, a memória é outra coisa, tudo é ‘outro’. Quando eu digo que sou velha não é só no sentido cronológico, mas é no sentido de que pertenço a outra Fenomenologia da Percepção3.
Na esteira do que nos aponta Chauí, reafirmamos que as TIC, presentes no dia a dia dos indivíduos, têm gerado novas possibilidades de (inter)ação no mundo. Isto, principalmente, em função do surgimento da internet e da acessibilidade de grande parte da população a artefatos que possibilitem seu uso. A presença de smartphones, notebooks, tablets, entre outros, têm possibilitado a imersão dos indivíduos em um meio informa-cional, no qual são possíveis:
i. a interação social sem a presença física da outra pessoa, por meio das redes sociais.
ii. os relacionamentos afetivos virtuais – nos quais, em boa parte dos casos, os usuários só se conhecem pessoalmente após um tempo de relação.
iii. a realização de atividades de trabalho sem a necessidade de estar no espaço físico da empresa na qual se trabalha – homeoffice.
3 Trecho adaptado da linguagem oral.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
iv. o estudo à distância (EaD), parcial ou integralmente;
v. o aumento da acessibilidade – pessoas com deficiência estão adquirindo maior possibilidade de interação autônoma a partir do uso de TIC.
Estes são apenas alguns exemplos do papel marcante que a internet possui na vida das pessoas atualmente, através das TIC, em grande parte de suas atividades rotineiras. Como argumentaremos, tais fatores ilustra-riam a ocorrência de uma reontologização informacional dos seres e do meio (FLORIDI, 2005, 2009).
Diante deste cenário, cabe questionar: quem e/ou o que é o sujeito da percepção, cujas relações com o mundo não são passíveis de análise pela Fenomenologia da Percepção tradicional? Compartilhamos com Chauí (2013) o entendimento segundo o qual “a internet cria a necessidade de que se escreva uma nova Fenomenologia da Percepção”. Porém, como seria esta Fenomenologia?
Na Fenomenologia tradicional (e.g.: HUSSERL, 2006, 2008; MERLEAU-PONTY, 2006), o fenômeno, ou aquilo que aparece, é trata-do a partir da correlação consciência/mundo. Husserl (2006, 2008), por exemplo, trata da questão reivindicando uma participação efetiva da cons-ciência no mundo, prezando a existência de um “ego puro” cuja atenção – via epoché – viabiliza a constituição e aparição dos objetos como correlatos da consciência intencional. Merleau-Ponty (2006), por sua vez, trabalhan-do na esteira de Husserl, promove, a partir da correlação corpo/mundo, uma reabilitação ontológica do corpo e do sensível.
Uma corrente atual da Fenomenologia, conhecida como Fenomenologia da Vida, tematiza especificamente a consciência como a tra-dição, mas destaca que a grande questão talvez não seja a análise da corre-lação consciência/mundo, e sim a própria premissa de que esta correlação é a base fundamental para a descrição do ser. Esta vertente parte da admissão do a priori da correlação consciência/mundo, da qual emergiria uma on-tologia radical e original. Por exemplo, segundo Barbaras (2008a, 2008b, 2012), o a priori, no escopo da Fenomenologia da Vida, seria a própria vida enquanto viver (conforme explicitaremos na Seção 2).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
118 -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
É importante destacar que a Fenomenologia da Vida tem como pre-ocupação responder a problemas da Fenomenologia tradicional. Ou seja, seu objetivo é o desenvolvimento de uma proposta voltada aos problemas clássicos. Assim, não teríamos ainda um caminho trilhado no estudo do que seria a Fenomenologia da Vida para os dias atuais – no modo como a vida pode ser entendida em relação ao mundo digital. Daí nosso respaldo na fala de Chauí (2013), segundo a qual se faz necessária uma nova Fenomenologia, pois “é um novo sujeito que surgiu; o corpo é outra coisa, a memória é ou-tra coisa, tudo é ‘outro’”. Ou seja, o paradigma fenomenológico tradicional parece não incorporar em suas análises o ser-no-mundo(-em-rede) e suas ex-periências. Por essa razão, julgamos que para abarcar este ser, que extrapola abordagem realizada pela Fenomenologia da Vida, se faz necessário o desen-volvimento de uma Fenomenologia da Vida Informacional.
Convém explicitar que buscamos, neste capítulo, introduzir a Fenomenologia da Vida Informacional enquanto resultante da união de duas áreas, a rigor, distintas, quais sejam: a Fenomenologia da Vida e a Filosofia da Informação. Desta última, importamos a noção de ser híbrido (que, confor-me indicaremos, é aquele para o qual as TIC são intrínsecas às suas próprias relações e dele com o seu ambiente) e da primeira consideramos suas contri-buições sobre a reflexão contemporânea acerca do que seja “vida”.
Para argumentar em favor do desenvolvimento de uma Fenomenologia da Vida Informacional estruturamos o presente capítulo em três partes. Num primeiro momento, explicitamos os pressupostos centrais da Fenomenologia da Vida - que parte do a priori da correlação viver/mundo enquanto viver, e visa abordar a comunhão ontológica cons-ciência/mundo, sendo este seu desafio atual. Em seguida, apresentamos a noção de ser híbrido, que é o ser do meio informacional. Por fim, trazemos algumas notas do cenário apresentado que nos fornecem elementos para a constituição de uma Fenomenologia da Vida Informacional.
2 ASPECTOS CENTRAIS DA FENOMENOLOGIA DA VIDA
Diferente de Husserl (2006, 2008), que com sua fenomenologia compreendeu a vida ainda a partir da tematização da consciência, a pro-
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � 119
posta da Fenomenologia da Vida concebe a vida desde ela mesma. Esta vertente da Fenomenologia tem por intuito pensar o viver a partir do mos-trar-se, ou aparecer, que configuraria a existência do ser que é imanente ao mundo, sendo este o fim do privilégio de qualquer natureza do subjetivo e o início do que ela reivindica como “autonomia do aparecer”4.
Em outras palavras, tal corrente, trabalha com a ideia de consciên-cia em comunhão ontológica com o mundo. Nesse sentido, viver substitui-ria a correlação entre consciência/vida ou consciência/mundo. Se antes o desafio da Fenomenologia, inaugurada por Husserl, era superar o dualismo substancial mente/corpo e a possível reificação do sujeito diante deste pa-radigma, isto tendo como ponto de partida o a priori da correlação ente/transcendente – ou seja, um sujeito dotado de consciência que apreende a coisa, e dá conta da diversidade das aparições subjetivas –, atualmente a tarefa da Fenomenologia seria abarcar um ser que é parte do mundo e, ao mesmo tempo, condição de sua própria existência.
No paradigma da Fenomenologia da Vida de Barbaras (2008a, 2008b, 2012), por exemplo, ser é viver. Viver no sentido de “estar vivo”, de “experienciar algo”, sendo que é o auto-movimento que faz com que o ser viva. Tal auto-movimento é denominado desejo.
Em relação ao desejo, o ponto que se coloca é que ele não pretende suprir uma falta, não aspira fazer com que algo apareça; pelo contrário, ele é sempre frustração. Isso porque, no contexto da elaboração de uma Fenomenologia da Vida, o movimento do sujeito em direção ao mundo é sua própria realização enquanto ser. Logo, o desejo funciona como uma
4 No entendimento de Moutinho (2012, p. 69), o fim do privilégio presente no subjetivo não revoga a significância do subjetivo, pois este deixa de ter papel constituinte, mas ainda está implicado na lei do aparecer. Em outras palavras: uma vez que o ser mundo implica aparição, ele requer o polo subjetivo. Nesse sentido, Moutinho (2012, p. 70) argumenta que: “não é mais necessário [...] partir da percepção: se o ‘sujeito’ se tornou implicado pela lei do aparecer, podemos dar um passo adiante e perguntar pelo corpo não enquanto perceptivo, mas ‘por ele mesmo’, em seu sentido de ser próprio”. A colocação de Moutinho se faz presente, pois na Fenomenologia da Vida (e principalmente naquela proposta por Barbaras), enten-de-se que em Husserl há um fosso intransponível entre a consciência empírica e a consciência transcen-dental, já que esta só pode constituir o mundo contanto que não faça parte dele, criando, desse modo, um abismo de sentido. Em virtude de problemas como este, Barbaras (2012, p. 14), em sua Fenomenologia da Vida, ressalta que a pergunta que deveria ser feita na verdade é: como pensar o ser do sujeito de tal modo que ele possa fazer aparecer o mundo e fazer parte deste mundo, do mesmo ponto de vista?
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
abertura originária à transcendência, mas como o desejo não visa nada, uma vez que a realização é o movimento, tal realização é sempre frustrada. O cenário dessa vida não é o cenário enfrentado pela tradição (i.e., tribu-tário de uma consciência objetivante que, por fim, reifica o sujeito), mas o que parece emergir é um contexto em que o que “aparece” é um fenômeno desde sempre ambíguo. Em outras palavras, não há uma única interpre-tação da realidade, nem a expectativa da aparição de um objeto que seja correlato da consciência intencional, mas o ser-no-mundo, a vida que se compreenderia por um “tender a algo”.
A profundidade da questão reside na compreensão de que o apare-cer enquanto ser-no-mundo seja equivalente ao pertencer ao mundo. Em outras palavras, como ressalta Barbaras (2008a, 2008b, 2012), o perten-cimento do ser ao mundo não o compromete, mas condiciona a atividade fenomenalizante; ao invés da abordagem tradicional estática do ser, preza-se uma abordagem dinâmica, em que o modo de ser da “coisa” é aquilo que ela é. É justamente essa alteração de abordagem que faz com que o movi-mento advenha necessariamente do mundo, tornando possível conciliar a diferença do sujeito com seu pertencimento ao mundo. Mas, a questão é: como fazer com que isso não equivalha a abandonar o mundo em proveito de um “fora do mundo” que continuaria sendo substancial?
Na perspectiva da Fenomenologia da Vida, Barbaras (2012, p. 14-15) responde tal questão ao considerar que o movimento remete à pró-pria vida, uma vez que esta se enraíza num viver que é mais profundo do que a partição entre a vida intransitiva (leben) e a vida transitiva (erleben). Pertencendo ao mundo enquanto ser vivo, o sujeito o faz aparecer enquan-to o “vive”, ou seja, enquanto o experimenta. O movimento se realiza no mundo, remetendo a um modo de ser mais originário e mais profundo do que a prova subjetiva e o deslocamento propostos pela tradição. Em outras palavras, na Fenomenologia da Vida, a noção de movimento é mais pro-funda do que a diferença entre experiência transitiva e estar vivo.
Ilustrada mais uma vez pela Fenomenologia da Vida de Barbaras (2012, p. 15), nesta perspectiva o excesso (i.e., a constante abertura do ser-no-mundo) em relação ao próprio ser caracteriza que o viver dinâmico é a
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
contrapartida do excesso irredutível do mundo em relação àquilo que nele aparece. São esses quesitos teóricos, oriundos da correlação consciência/mundo, que nos levam a definir o viver subjetivo como desejo. O desejo, diferente da necessidade, é caracterizado pelo fato de que aquilo que o apa-zigua o provoca ao mesmo tempo. Nenhum objeto suscetível de satisfazê-lo pode preenchê-lo e é, por isso, que ele só tende a seu objeto através do impulso. O desejo é inextinguível porque nada o pode preencher, pois uma vez que aquilo que ele visa o mundo, também impossibilita, por princípio, qualquer apropriação.
No contexto da articulação entre as noções de desejo, pertenci-mento e reflexão sobre a vida, Barbaras argumenta (2012, p. 16-17) que o ser é conduzido a ultrapassar a fenomenologia em proveito de uma cosmo-logia. Quer dizer, ao reconhecer que o verdadeiro sujeito de seu movimen-to fenomenalizante é o próprio mundo, que seu movimento insere-se num arquimovimento de uma natureza. Ou seja, na Fenomenologia da Vida existe um avanço efetivo quanto ao problema da correlação ao considerar a questão do ser da correlação, e não apenas dos polos da correlação. Neste sentido, uma análise à luz da Fenomenologia da Vida possibilita uma in-vestigação de natureza cosmológica. No entanto, é preciso acrescentar que essa cosmologia permanece fenomenológica, pois aquilo que vale para o ser também vale para o mundo, de modo que a natureza (physis) deve ser compreendida como um “movimento fenomenalizante”.
A dinâmica entre ser e mundo proposta pela Fenomenologia da Vida amplia o horizonte da Fenomenologia tradicional, pois descobre em qualquer movimento um processo de fenomenalização. Isto é: nela o ser existe como movimento e não existe movimento que não seja, de algum modo, um movimento de aparecer (BARBARAS, 2012, p. 19). Em uma extensa, porém, esclarecedora passagem destacamos as principais caracte-rísticas da Fenomenologia da Vida, aqui ilustrada a partir da proposta de Barbaras (2012, p. 26):
Tudo quanto acabamos de expor pode, no final das contas, ser formu-lado no âmbito da vida. Como vimos, na verdade a vida, ou seja, o movimento, não pode começar em nós ou conosco e é muito menos
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
desgastante teoricamente dizer que nossa vida provém de uma vida que nos antecede do que pretender que ela poderia surgir em nós por ocasião da nossa organização específica. Portanto, é melhor dizer que a vida não começou, que ela é caracterizada por uma forma de eternidade que não é outra do que a do arquimovimento de mundificação, sendo que a vida confunde-se com esse arquimovimento. O processo de mundificação é o sentido primeiro e único da vida. É uma vida que ainda não é a vida de ninguém, uma vida anônima cujo único sujeito é o próprio mundo e que junta, de acordo com o próprio sentido da vida, uma autorrealização e uma fenomenalização: ela é a vida da manifestação. Qualquer vida é da alçada dessa vida originária ou arquivida, o que equivale a dizer que a vida dos seres vivos é mais profunda e mais antiga do que eles mes-mos, vem de mais longe do que os próprios seres vivos: estes são apenas realizações ou cristalizações da arquivida. É claro, a dificuldade é a de entender exatamente a modalidade dessa realização.
É diante da proposta de uma Fenomenologia da Vida, em que o ser é concebido como viver, que trazemos nossa questão: como ficaria este cenário se incluíssemos nele as dimensões de mundo das TIC? Se a Fenomenologia da Vida discute a vida por uma perspectiva ontológica res-pondendo ao problema da correlação consciência/mundo, herdado da tra-dição, nossa proposta é pensar esta mesma noção de vida à luz da influência das TIC, na qual a noção de ser híbrido parece ser mais adequada quando do tratamento da Fenomenologia da Vida para os problemas atuais. Em outras palavras, o “estar vivo”, próprio da abordagem da Fenomenologia da Vida, é aqui entendido considerando as contribuições da concepção de ser híbrido, que pode agora, para nós, ser abordada à luz da Fenomenologia da Vida Informacional, o que conduz a uma investigação filosófica que inclua a admissão de um ser que está “online”. O “estar online”, desse modo, se caracterizaria, tal qual explicitaremos, como estar presente no meio infor-macional. Nesse sentido, garantimos uma perspectiva mais ampla do que a abordagem acerca do ser realizada tanto pela Fenomenologia da Vida quanto pela da Filosofia da Informação.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
3 AS TIC E A CONSTITUIÇÃO DOS SERES HÍBRIDOS
É notória a presença, cada vez maior, das TIC na vida cotidiana dos indivíduos. Dentre as características das TIC, destacam-se as seguintes (MORAES; ANDRADE, 2015):
i. novos meios de manusear informação;
ii. novos tipos de interação - online (indiretas e anônimas).
iii. ampliação da capacidade de captar, revisar, armazenar, proteger e com-partilhar informação;
iv. a informação ganha amplitude global rapidamente.
Como consequência da presença das TIC na rotina dos indivídu-os, temos novas formas do ser agir e se compreender no mundo, seja em relação aos outros seres, seja na relação com seu ambiente em geral, alte-rando hábitos vigentes. Neste contexto, destaca-se a internet como fator catalisador, uma vez que são os artefatos relacionados a ela que apresentam as características indicadas. Além disso, graças a este tipo de TIC, os indi-víduos, que até então eram apenas receptores de informação e produtores, no máximo de informação local, passam a ser produtores de informação para essa rede global, alterando sua concepção de mundo, uma vez que se encontram imersos no meio informacional.
Como indicamos, graças à internet, criou-se a possibilidade da re-alização de algumas atividades do trabalho sem a necessidade de estar no ambiente físico da empresa – o que implica na provável alteração de leis trabalhistas e também o modo como se constituem as relações entre os empregados. Há o crescente aumento de pessoas criando perfis pessoais em redes de relacionamento online, gerando uma nova forma de interação interpessoal, ocasionando, em diversas vezes, o surgimento de relaciona-mentos virtuais (muitas vezes constituídos sem a disponibilidade de um conhecimento seguro e confiável da outra pessoa – devido à possibilidade do anonimato assegurado no meio virtual).
A análise da influência que as TIC possuem no comportamento dos indivíduos se complexifica quando os usuários são crianças e adolescentes.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
Há um ditado sobre a internet que diz: “Internet: aproximando quem está longe e afastando quem está perto”. Essa é uma característica presente nas ações da chamada Geração Y. Uma vez que nasceram e cresceram rodeados pelas TIC, a atuação destes no mundo por meio delas é natural: por vezes privilegiando-se o online, em detrimento do real. A presença das TIC no desenvolvimento desta geração também pode ser ilustrada pela presença de mecanismos de ensino-aprendizagem, como: lousas digitais, jogos interati-vos (aplicativos ou videogames), entre outros. A estes indivíduos, o acesso às TIC durante toda sua vida faz com que tal manuseio seja mais do que um comportamento novo, mas um hábito de ação. Hábito no sentido de um comportamento já constituído, tal qual dirigir um carro: depois que se aprende a dirigir um carro, a troca de marchas e o pisar nos pedais se tornam, praticamente, movimentos automáticos. Ou seja, uma vez que um determi-nado comportamento se torna um hábito, não é comum que se questione o porquê de seu desempenho. Com isso, retomando o problema colocado por Marilena Chauí, temos um “novo” sujeito que surge a partir das novas formas de interação possíveis, o qual pertence à outra Fenomenologia da Percepção. Qual seria, então, esse sujeito que extrapola a Fenomenologia da Percepção tradicional? Entendemos que o que se apresenta no meio, especi-ficamente, informacional é um novo ser: um ser híbrido.
A noção de ser híbrido é analisada por Floridi (2005, 2009) no âm-bito da Filosofia da Informação. Esta é uma área de investigação que cons-titui um novo paradigma que rompe com os anteriores, uma vez que não é antropocêntrica, nem apenas biocêntrica, e tem a informação como foco de análise (FLORIDI, 2014, p. 137). Neste contexto, o ser é concebido a partir de uma ontologia informacional, isto é: passa-se de uma ontologia materia-lista, na qual os objetos, processos físicos e indivíduos, situados e incorpora-dos, exercem um papel central na concepção de mundo, para uma ontologia informacional, na qual a informação (imaterial) é o elemento central. Em tal perspectiva, a partir de relações informacionais presente em um mundo de dados, conhecimento e comunicação, o ser se torna, por fim, híbrido.
De acordo com Floridi (2005, 2009) o ser híbrido apresentaria três características centrais:
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
i. ausência de estranheza frente às novas tecnologias;
ii. desenvolvimento natural em meio ao contexto informacional, a saber, real/virtual;
iii. compartilhamento da mesma ontologia informacional de seu meio, agindo nele com liberdade e controle.
Em relação a (i), temos o agir dos seres com uma naturalidade em meio às TIC, tanto existentes, como as que vão surgindo durante seu cres-cimento. Como indicamos, as crianças atualmente possuem uma grande facilidade para o manuseio de artefatos informacionais, sem qualquer di-ficuldade e, inclusive, sem a possibilidade de concepção de um mundo no qual tais artefatos não existiriam (como no caso da criança que manipula um tablet com facilidade e, em contraste, tem dificuldade para manusear um livro5). A característica (ii) se segue diretamente da primeira, pois expli-cita a naturalidade com a qual a presença das TIC é vista por parte dos in-divíduos mais jovens. Por exemplo, perguntar a um indivíduo da Geração Y sobre os perigos de sua privacidade quando este insere informações, fotos e vídeos pessoais nas redes sociais se torna irrelevante, pois para ele este modo de agir no mundo é “natural”. Destaca-se, assim, um dos motivos geradores do problema da aceitação tácita das TIC (MORAES, 2014).
A característica (iii), por sua vez, remete a um processo de reontolo-gização informacional dos seres, do meio, e da relação entre eles, defendida por Floridi (2005, 2009) em virtude da inserção das TIC na vida diária dos indivíduos (fortalecendo, assim, i e ii). A reontologização informacional seria, em princípio, decorrente da digitalização do meio, na qual a pro-dução de informação ocorre cada vez com maior velocidade; informações estas produzidas e armazenadas em meios digitais. Este, por sua vez, pro-piciaria uma homogeneização entre processador e processado, pois, como afirma Floridi (2005, p. 188, tradução nossa): “a ontologia das tecnologias informacionais disponíveis é agora a mesma de seus objetos (e, portan-to, completamente compatível)”. Ou seja, seres informacionais utilizam tecnologias informacionais para agir num mundo informacional. Nesse sentido, eles comporiam, assim, uma mesma ontologia. 5 Cf. <https://www.youtube.com/watch?v=50BkXVSClOw>.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
Como ressalta Floridi (2005, p. 188, tradução nossa), num meio re-ontologizado informacionalmente, popularizado pela presença de entidades e agentes ontologicamente iguais, se torna difícil a identificação do limiar en-tre processador e processado. O que temos, assim, são: “atividades como ler/escrever interpretadas por acessar/alterar, ou como um ‘executar’ de um pro-cesso digital”. O filósofo (2005, p. 189, tradução nossa) destaca ainda que:
Nele [meio informacional], humanos são agentes informacionais entre outros agentes informacionais (possivelmente artificiais). Eles operam em um meio que é amigável a ‘criaturas digitais’ e têm o status ontoló-gico de entidades informacionais.
Ao reontologizar o meio, as novas tecnologias trouxeram à tona a natureza informacional dos agentes humanos. Esta constituiria a marca de uma revolução informacional, resultante de “um processo de deslocamento e reavaliação da natureza fundamental da humanidade e de sua função no universo” (FLORIDI, 2009, p. 154, tradução nossa). Neste sentido, enten-demos que o que estaria ocorrendo é uma abertura (um excedente, na lin-guagem da Fenomenologia) à compreensão dos agentes humanos como en-tidades informacionais entre outras entidades informacionais, e não apenas de meros alter egos ou avatares criados no mundo virtual. Teríamos, assim, a constituição de seres híbridos. Entendemos que o processo subjacente a constituição dos seres híbridos pode ser esquematizado da seguinte maneira:
Figura 1 – A constituição do ser híbridoFonte: Elaborada pelo autor
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
Conforme a Figura 1, um indivíduo, a partir de sua vivência no mundo real, constitui uma identidade pessoal (ID), ou seja, uma forma de se reconhecer e interagir com o mundo. Com a manipulação das TIC e sua inserção no meio virtual, este indivíduo descobre uma gama de pos-sibilidades de ação, constituindo sua identidade virtual (e-ID), isto é, sua forma de se reconhecer no meio virtual - que, graças, principalmente, ao anonimato e à não-presencialidade, possibilita ao indivíduo se comportar de uma forma que não seria possível no mundo real (e.g., a superação da timidez ou o acesso a conteúdos que, se acessados no mundo real, gerariam uma repreensão moral). É com o passar do tempo (t), na dinâmica entre as vivências que o indivíduo experiencia, ora no mundo real, ora no mundo virtual, que suas identidades, pessoal e virtual, irão se tornam uma só. Neste estágio, não seria possível diferenciar o ID e o e-ID do indivíduo em suas ações, constituindo-se, assim, uma identidade híbrida (h-ID). Nossa hipótese é que é justamente na relação dinâmica de feedback entre suas vivências real e virtual e da incorporação de uma identidade híbrida que está o “novo sujeito que surgiu; [no qual] o corpo é outra coisa, a memória é outra coisa, tudo é ‘outro’”, mencionado por Chauí (2013).
Com a concepção de ser híbrido visamos propor um entendimen-to de ser que possibilite a contextualização da Filosofia da Vida para os problemas atuais. Como indicamos, a Fenomenologia da Vida, ainda em desenvolvimento, tem por objetivo discutir problemas da Fenomenologia tradicional. É neste contexto que, na próxima seção, indicamos elementos que sustentariam uma Fenomenologia da Vida Informacional.
4 NOTAS PARA UMA FENOMENOLOGIA DA VIDA INFORMACIONAL
A partir do que foi apresentado nas seções anteriores, traçamos, então, alguns pressupostos que comporiam a Fenomenologia da Vida Informacional. Tendo em vista que na Fenomenologia da Vida ser é viver, e que viver é “estar vivo” e “experienciar algo”, analisaremos tais concepções à luz da Fenomenologia da Vida Informacional.
Uma primeira caracterização da Fenomenologia da Vida Informacional poderia ser formulada da seguinte maneira: uma corrente
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
da Fenomenologia da Vida que tem por objetivo investigar o ser enquanto resultado do processo de reontologização informacional promovido pela inserção de TIC na vida cotidiana dos indivíduos, expressos nas dimensões real, híbrida e virtual.
O “estar vivo”, próprio da Fenomenologia da Vida, é aqui enten-dido mediante a concepção de ser híbrido, podendo ser entendido como “estar online”. Este “estar online” se caracterizaria como estar presente no meio informacional. Isto se daria por meio de conexão à internet via al-gum artefato tecnológico, ou simplesmente na presença de ambientes que possuam algum tipo de computação ubíqua6. Nesse sentido, teríamos como implicação direta o entendimento de que se o indivíduo não está conecta-do, então ele não é tido como existente. Porém, tendo em vista um mundo repleto por artefatos da computação ubíqua, seria possível não existir?
Diante deste cenário, poderia ser perguntado: num plano global, qual seria a proporção dos seres humanos que possuem acesso à internet e as TIC em sua vida cotidiana? Esta questão se faz relevante, visto que são estes seres que se enquadram na categoria dos seres híbridos e que são objeto de análise da Fenomenologia da Vida Informacional. Uma pesqui-sa7 de 2013 destacou que 37,7% das pessoas do mundo utilizam a inter-net em seu dia a dia. Este número é resultado de um aumento de 566% quando comparado às pessoas que tinham acesso à internet em 2000. Embora o número de usuários não chegue a 50% da população mun-dial, entendemos que o desenvolvimento de uma Fenomenologia da Vida Informacional se faz relevante para a atualidade, pois os 37,7% citados re-presentam 2,405,518,376 pessoas, sendo que este número cresce exponen-
6 O termo computação ubíqua foi introduzido por Weiser (1991) para denominar os processadores de informação que estão disseminados na vida diária dos indivíduos, captando, armazenando e transmitindo informação sobre eles o tempo todo. Uma característica central da computação ubíqua é ser espalhada, sem um centro controlador específico, atuando, na maior parte das vezes, sem a consciência atenta dos indivíduos. Conforme destaca Moraes (2012, p. 78), exemplos desse tipo de computação são as câmeras de vigilância, que armazenam informações sobre o que acontece em um determinado ambiente, mesmo sem a atenção do indivíduo que está passando por aquela área, crachás com código de barra e sistemas de biometria, que registram a frequência das pessoas em certos ambientes, entre outros. 7 Disponível em: <http://www.thecultureist.com/2013/05/09/how-many-people-use-the-internet-more-han-2-billion-infographic/>. Acesso em: 4 fev. 2014.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
cialmente. Além disso, apesar de não ser a maioria das pessoas as que pos-suem tablets, notebooks ou smartphones, podemos considerar como grande a quantidade de pessoas que lidam, pelo menos, com celulares e cartões de créditos atualmente (itens praticamente imprescindíveis para a vida profis-sional atual). Além disso, recentemente, a empresa Facebook divulgou um projeto em que planeja levar internet as regiões mais inóspitas do mundo por meio da utilização de drones8. É a consideração do meio informacional, que não estava circunscrito na Fenomenologia quando esta considera a vida, que constitui um dos objetos de investigação da Fenomenologia da Vida Informacional.
O “experienciar algo”, por sua vez, passa a ser entendido na Fenomenologia da Vida Informacional como “ser interativo”. As experiên-cias são obtidas a partir da interação com outros indivíduos e com o meio, considerando também as possibilidades de interações mediadas pelas TIC. Ou seja, não basta “sentir” o mundo como no paradigma tradicional da percepção, mas faz-se necessário interagir com ele. Na Fenomenologia da Vida o experienciar do mundo ser-no-mundo se compreenderia por seu “tender a algo”. No contexto da Fenomenologia da Vida Informacional, esse “tender a algo” se manifesta a partir das potencialidades de interação do ser-no-mundo(-em-rede), constituindo diferentes dimensões. Tais di-mensões expressam seres reais, híbridos e virtuais, os quais seriam resultan-tes da influência que as TIC têm nos hábitos de ação dos indivíduos, o que denotaria a ambiguidade da dimensão do ser-no-mundo(-em-rede).
Ainda poderia ser questionado o seguinte acerca das 1,2 bilhão de pessoas que vivem em regiões que não possuem eletricidade9: eles esta-riam fora do alcance de análise da Fenomenologia da Vida Informacional? Entendemos que não, mas deixaremos este ponto para discussão em outra oportunidade. O que buscamos, com este trabalho, é investigar o fenôme-no de reontologização informacional e sua relação com a Fenomenologia da Vida. Ilustramos alguns dos principais conceitos desta corrente com o
8 Disponível em: <http://canaltech.com.br/noticia/facebook/Projeto-do-Facebook-planeja-levar-internet-a-regioes-inospitas-usando-drones/>. Acesso em: 1 abr. 2014.9 Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,segundo-o-banco-mun-dial-1-2-bilhao-de-pessoas-nao-tem-eletricidade,154858,0.htm>. Acesso em: 1 abr. 2014.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
trabalho de Barbaras, pois este filósofo pretende dar conta de uma expres-são de ser mais ampla do que a elaborada pela Fenomenologia tradicio-nal. É neste ponto que perguntamos: se aceitarmos a concepção de ser da Fenomenologia da Vida, como a proposta por Barbaras, poderíamos con-siderar que a existência de um indivíduo no mundo real é tão verídica e tão importante quanto sua aparição online? Poderíamos conceber as TIC como uma expressão da ambiguidade do ser que realmente ocorre no mundo?
À luz da Fenomenologia da Vida Informacional, entendemos que o perfil de um usuário no Facebook não seria apenas um espetáculo dele mesmo, mas sim sua extensão, sua expressão no mundo – própria dos seres híbridos (h-ID). Isso se torna ainda mais complexo quando falamos de um público que “passou a ter voz” em virtude das TIC, como, por exemplo: crianças e jovens com comprometimentos motores, pessoas com deficiên-cia intelectual, crianças com autismo, crianças com atrasos no desenvolvi-mento da linguagem e pessoas com transtornos do sistema nervoso central congênito ou transtorno adquirido, entre outras.
As pessoas que passaram a ser reconhecidas ou podem se expres-sar em função das TIC são aquelas que as utilizam para (sobre)viver, que utilizam aplicativos para se comunicar (efetivamente, e não apenas artifi-cialmente). Como ressalta Goldini (2014), as TIC responsáveis pela capa-citação de pessoas que possuem alguma deficiência são denominadas tec-nologias assistivas. Estas surgem como um elemento essencial para a pessoa com deficiência, pois estimulam a construção de novos caminhos e pos-sibilidades para seu aprendizado e desenvolvimento. Na medida em que se situa como instrumento mediador, as tecnologias assistivas disponibili-zam recursos para a interação social de pessoas com necessidades especiais, pois permitem que elas interajam, se relacionem e possam interagir em seu meio com ferramentas mais poderosas. Nesse sentido, Von Tetzchner (2005, p. 155) destaca que: “[o] desenvolvimento de meios alternativos de comunicação não constitui apenas a aprendizagem de um modo diferente de comunicação; implica um caminho alternativo de constituição cultural do sujeito [...]”. Entendemos ser necessário trabalhar com essas minorias e que o paradigma da Fenomenologia da Vida Informacional englobaria esse cenário, no sentido de que a dimensão do vivo extrapola o “eu aqui” em
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
1RWDV�SDUD�XPD�)HQRPHQRORJLD�GD�9LGD�,QIRUPDFLRQDO� � ��������
uma esfera informacional, ilustrada por “estar online” e “ser interativo” que dilui o eu expressando uma ambiguidade abarcada pelo que apresentamos como real/híbrido/virtual.
Enfim, buscamos no presente capítulo indicar os primeiros caminhos a serem percorridos no desenvolvimento de uma Fenomenologia da Vida Informacional. Destacamos a relevância desta pesquisa em função do surgi-mento de uma possível nova noção de ser em virtude da influência que as TIC têm promovido na vida cotidiana dos indivíduos. Compreendemos que ainda se faz necessário o desenvolvimento de diversos pontos indicados aqui que compõem os pressupostos dessa nova área de pesquisa. Conforme indi-camos, esta nova área emerge da junção das investigações já realizadas pela Fenomenologia da Vida e pela Filosofia da Informação, que nos auxilia no tratamento de noções como a de ser híbrido e possibilita uma abordagem que extrapola a condição de “estar online” e de “ser interativo”, entre outros pontos que são reconceituados à luz da Fenomenologia da Vida Informacional.
REFERÊNCIAS
BARBARAS, R. Introduction à une phénoménologie de la vie. Paris: Vrin, 2008a.
______. Introduction à la philosophie de Husserl. Paris: Les Éditions de la transpa-rence, 2008b.
______. Dinâmica da manifestação. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n. 27, p. 11-29, jul./dez, 2012.
CHAUÍ, M. Laymert Garcia e Marilena Chauí: Brasil em tempo d. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lahGqCCOikE>. Vídeo publicado em 16 ago. 2013.
FLORIDI, L. (2002). What is the philosophy of information. Disponível em: <http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/wipi.pdf>. Acesso em 24 fev. 2014.
______. The ontological interpretation of informational privacy. Ethics and infor-mation technology, v. 7, p. 185-200, 2005.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 115-132, 2015.
��� -RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(ORtVD�%HQYHQXWWL�GH�$QGUDGH�
______. The information society and its philosophy: introduction to the special issue on “the philosophy of information, its nature and future developments”. The Information Society: An International Journal, v. 25, n. 3, p. 153-158, 2009.
GOLDONI, N. I. Orientação para familiares de alunos com paralisia cerebral usu-ários de sistemas de comunicação suplementar e alternativa. 2014. 119f. Dissertação (Mestrado em) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2014.
HUSSERL, E. Ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica – Livro Primeiro: Introdução geral a Fenomenologia. Tradução de Marcio Suzuki. São Paulo: Ideias e Letras, 2006.
______. A ideia da fenomenologia. Lisboa: Edições 70, 2008.
MERLAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MORAES, J. A. Implicações éticas da “virada informacional na Filosofia”. Uberlandia: EDUFU, 2014.
MORAES, J. A.; BELLINI-LEITE. S. C. O que acordou o Brasil? Uma análi-se memética e sistêmica do início das manifestações de 2013 no Brasil. Revista Filosofia, Ciência &Vida, n. 85, p. 54-62, 2013.
MORAES, J. A.; ANDRADE, E. B. Who are the citizens of the digital citizen-ship? International Review of Information Ethics, n. 23, 2015.
MOUTINHO, L. D. S. De Merleau-Ponty a Barbaras. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n. 27, p. 63-70, jul./dez, 2012.
VON TETZCHNER, S. Inclusão de crianças em educação pré-escolar regular utilizando comunicação suplementar e alternativa. Revista Brasileira de Educação Especial, Marilia, v. 11, n. 2, p.151-184, 2005.
WEISER, M. The computer for the 21st century. Scientific American, p. 94-104, 1991.