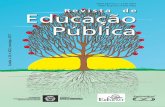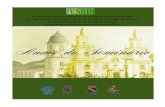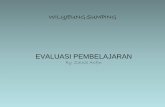PDF - UFMT
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of PDF - UFMT
Proposta Editorial
ACENO – Revista de Antropologia do Centro-Oeste é um periódico científico lotado no Departamento de Antropologia e vinculado ao Pro-grama de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Mato Grosso, que tem como propósito se constituir em um espaço per-manente para o debate, a construção do conhecimento e a interlocução en-tre antropólogos e pesquisadores de áreas afins, do país e do exterior. Ape-sar de ACENO fazer referência ao Centro-Oeste, em seu título, ela não tem como único objetivo dar visibilidade a resultados de pesquisas científicas relativas às populações desta região, mas sim, se tornar um fórum que tra-duza a pluralidade de perspectivas teóricas e temáticas que caracterizam a antropologia na contemporaneidade. Igualmente, incentiva-se a publica-ção de artigos de cunho transdisciplinar, resultados de pesquisas que en-volvam equipes interdisciplinares que estudam a diversidade da experiên-cia humana.
Catalogação na Fonte. Elaborada por Igor Yure Ramos Matos. Bibliotecário CRB1-2819.
ACENO: Revista de Antropologia do Centro Oeste / Universidade Federal de Mato
Grosso, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. V. 7, n. 13, Jan./Abr.
2020 – Cuiabá: ICHS/ Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, 2020. (Publicada em agosto de 2020)
Semestral. Início: jan./jul. 2014.
Editores: Prof. Dr. Marcos Aurélio da Silva
Prof. Dr. Moisés Alessandro de Souza Lopes
ISSN: 2358-5587.
1. Ciências Sociais – Periódico. 2. Antropologia Social – Periódico. 3. Teoria An-tropológica – Periódico. I. Universidade Federal de Mato Grosso. II. Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social. IV. Título.
CDU: 39(05)
AC
EN
O,
7 (
13),
ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ex
pe
die
nte
3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Reitor: Evandro Aparecido Soares da Silva
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS Diretora: Marluce Souza Silva
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA Chefe: Aloir Pacini
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL Coordenador: Marcos Aurélio da Silva
Vice-Coordenador: Paulo Delgado
EDITORES Marcos Aurélio da Silva
Moisés Alessandro de Souza Lopes
COMITÊ EDITORIAL Marcos Aurélio da Silva
Moisés Alessandro de Souza Lopes Sonia Regina Lourenço
Flávia Carolina da Costa
CONSELHO CIENTÍFICO Aloir Pacini – UFMT
Andréa de Souza Lobo – UnB Carla Costa Teixeira – UnB
Carlos Emanuel Sautchuk – UnB Carmen Lucia Silva – UFMT
Clark Mangabeira Macedo – UFMT Deise Lucy Montardo – UFAM
Edir Pina de Barros Eliane O’Dwyer – UFF
Érica Renata de Souza – UFMG Esther Jean Langdon – UFSC
Fabiano Gontijo – UFPA Flávio Luiz Tarnovski – UFMT
Heloísa Afonso Ariano – UFMT Izabela Tamaso – UFG
4
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Ce
ntr
o-O
este
, 7
(13
), j
an
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
.
Juliana Braz Dias – UnB Luciane Ouriques Ferreira – FIOCRUZ/ENSP
Luís Roberto Cardoso de Oliveira – UnB Márcia Rosato – UFPR
Márcio Goldman – MN/UFRJ Marcos Aurélio da Silva – UFMT
Maria Luiza Heilborn – IMS/UERJ Miriam Pillar Grossi – UFSC
Moisés Alessandro de Souza Lopes – UFMT Patrice Schuch - UFRGS
Patrícia Silva Osório – UFMT Paulo Rogers Ferreira – Université Laval
Paulo Sérgio Delgado – UFMT Rafael José de Menezes Bastos – UFSC
Sérgio Carrara – IMS/UERJ Sonia Regina Lourenço – UFMT
Sueli Pereira Castro – UFMT
PROJETO GRÁFICO Marcos Aurélio da Silva – UFMT
José Sarmento – UCDB Moisés Alessandro de Souza Lopes – UFMT
Sonia Regina Lourenço – UFMT
CAPA José Sarmento – UCDB
Marcos Aurélio da Silva – UFMT
13
Ac
en
o,
7 (
13),
ja
n./
ab
r.
20
20
5
Sumário Table of Contents
Tabla de Contenido
Editorial 9
Dossiê Temático Experiências de campo e localizações etnográficas:
a antropologia de brasileiras no estrangeiro Thematic Dossier Field experiences and ethnographic locations: the
anthropology of Brazilians abroad Dossier Temático Experiencias de campo y localizaciones etnográficas: la
antropología de las brasileñas en el exterior
Apresentação Presentation Presentación
Marina Veiga França, Rogério B. W. Pires 11
Articulação oracular e pesquisa de campo Oracular articulacy and fieldwork
Articulación oracular y pesquisa de campo
Marcelo Moura Mello 35
Deslocamentos etnográficos: religião, raça e poder em Moçambique
Ethnographic displacement: religion, race and power in Mozambique
Cambios etnográficos: religión, raza y poder en Mozambique
Lívia Reis 53
Ori, Ooni: Etnografando o Inusitado em Ilê Ifé, Nigéria Ori, Ooni: Ethnographing the Unusual in Ilê Ifé, Nigeria
Ori, Ooni: Etnografando lo inusual en Ilê Ifé, Nigeria
Deborah de Magalhães Lima, Nílsia Santos 73
Etnografia e fluxo transnacional: congoleses em seus trânsitos
Ethnography and transnational flow: Congolese in their flows Etnografía y flujo transnacional: congoleños en su trânsito
Mariana Batista dos Santos 91
AC
EN
O,
7 (
13),
ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Su
má
rio
/ T
ab
le o
f C
on
ten
ts /
Ta
bla
de
Co
nte
nid
os
6
“É uma vida esquisita, um pouco esquisita, mas boa”: entrevista com o marido de uma travesti em Paris
“It is a weird life, a little weird, but good”: interview with the husband of a transgender woman in Paris
“Es una vida extraña, un poco extraña, pero buena”: entrevista con el marido de una travesti en París
Marina Veiga França 113
O corpo negro no trabalho de campo: notas de uma pesquisadora negra em Havana
The black body in fieldwork: notes from a black researcher in Havana El cuerpo negro en el trabajo de campo:
notas de un investigador negro en La Habana
Antônia Gabriela Pereira de Araújo 133
Artigos Livres
Free Articles Artículos Libres
ADI 4277- DF: Tendências discursivas no reconhecimento e
equiparação das relações entre pessoas do mesmo sexo no Brasil ADI 4277- DF: Discursive tendencies in the recognition and leveling
of relations between people of the same sex in Brazil ADI 4277- DF: Tendencias discursivas en el reconocimiento e
igualación de las relaciones entre personas del mismo sexo en Brasil
Fabricio Marcelo Vijales 145
Saúde e transexualidade entre dispositivos e tecnologias do gênero
Health and transsexuality between devices and technologies of the gender
Salud y transexualidad entre dispositivos y tecnologías de género
Pablo Rocon, Alexsandro Rodrigues, Francis Sodré, Maria Elizabeth Barros, Izabel Mação 165 Dia de visita: acompanhando familiares em uma
penitenciária de Mato Grosso Visiting day: accompanying families on a
penitentiary in Mato Grosso Día de visita: acompañando familiares en un cárcel de Mato Grosso
Maria das Graças de Mendonça S. Calicchio, Reni A. Barsaglini 181
7
Ac
en
o –
Rev
ista
de
An
tro
po
log
ia d
o C
entr
o-O
este
, 7
(13
), j
an
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
.
Memória: Série Antropologia Memory: Série Antropologia
Memoria: Série Antropologia
A etnia e a terra: notas para uma etnologia dos índios Arara (Aripuanã – MT)
Ethnicity and the land: notes for an ethnology of Arara Indians (Aripuanã - MT)
Etnicidad y tierra: notas para una etnología de Indios Arara (Aripuanã - MT)
Ivo Dal Poz 197
Ensaios Fotográficos
Photo Essays Ensayos Fotográficos
Cuia pitinga, natureza e cultura da várzea amazônica
Cuia pitinga, nature and culture of the Amazon varzea Cuia pitinga, naturaleza y cultura de la várzea amazonica
Luciana G. Carvalho, Carlos de M. Bandeira, Alexandre N. da Rocha 245
AC
EN
O,
7 (
13),
ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Su
má
rio
/ T
ab
le o
f C
on
ten
ts /
Ta
bla
de
Co
nte
nid
os
8
Ac
en
o –
Rev
ista
de
An
tro
po
log
ia d
o C
entr
o-O
este
, 7
(13
), j
an
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
Editorial
Aceno, 7 (13), jan./abr. 2020
com imenso prazer que trazemos até vocês, a décima terceira edição da Aceno – Revista de Antropologia do Centro-Oeste, que chega com novidades. O periódico científico on-line do Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Mato Grosso, que até então era semestral, passa a ser quadrimestral, ou seja, teremos três edições anuais. Nosso projeto de contribuir com a pro-dução antropológica fora dos grandes centros continua agora mais forte e frequente, representando também o reconhecimento que a revista Aceno conquistou junto à comunidade acadêmica, em seus primeiros cinco anos de existência.
O dossiê temático Experiências de campo e localizações etnográficas: a antropologia de brasileiras no estrangeiro traz uma série de artigos que problematizam a produção antropológica em contextos distantes a partir da experiência de pesquisadores que não fazem parte de países que historica-mente fazem esse tipo de pesquisa – europeus e norte-americanos. Nesse “diálogo entre periferias”, os coordenadores do dossiê, Marina França e Ro-gério Pires, atestam na apresentação:
A sensação de relativo pioneirismo (real ou imaginado) que pesa sobre pesquisadoras brasileiras que resolvem fazer campo fora do Brasil torna particularmente evidente as vicissitudes práticas das quais estamos falando e o peso disso nos resultados das etno-grafias. Mesmo ao escolher uma região etnográfica tão fundante para a disciplina quanto a África, torna-se necessário inventar uma práxis, quando não fazemos parte das grandes escolas da disciplina. Afinal, como vimos, há muitas minúcias que as et-nografias seguem escondendo, e que poderiam ser resolvidas com conversas de corre-dor. Mas e quando a esmagadora maioria das colegas que encontramos nos corredores fazem pesquisa dentro do Brasil? A quem recorrer?
Na sessão de Artigos Livres, trazemos três trabalhos que fazem cruzar questões de gênero e sexualidade, com o poder judiciário, o sistema peni-tenciário e os sistemas de saúde. Fabricio Marcelo Vijales, no artigo “ADI
É
AC
EN
O,
7 (
13),
ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ed
ito
ria
l
10
4277 - DF: Tendências discursivas no reconhecimento e equiparação das re-lações entre pessoas do mesmo sexo no Brasil” analisa criticamente os dis-cursos sobre sexualidade construídos na circulação pelas esferas mais altas do Justiça brasileira, onde uma ordem familiar heterocentrada se coloca como obstáculo a direitos básicos dos sujeitos. Uma normatividade que se reproduz o tempo todo, mas não sem encontrar resistência, como vemos no artigo “Saúde e transexualidade entre dispositivos e tecnologias do gênero”, de Pablo Rocon et al., que nos mostra que “o processo de diagnóstico como requisito para o acesso ao processo transexualizador opera segundo os prin-cípios de um racismo do Estado”. Fechando esta sessão, o artigo “Dia de visita: acompanhando familiares em uma penitenciária de Mato Grosso”, de Maria das Graças Calicchio e Reni Barsaglini, realizado na área da saúde, nos traz um olhar etnográfico para as trajetórias semanais de mulheres que visitar maridos e filhos, em procedimentos e rituais que alternam constran-gimentos e alegrias.
Na sessão Memória: Série Antropologia, temos a honra de publicar um artigo publicado em 1995, mas com um realismo digno dos dias de hoje. “A etnia e a terra: notas para uma etnologia dos índios Arara (Aripuanã – MT)”, de João Dal Poz, traz uma história de perdas e sofrimentos para os índios Arara, que resistem à mercê de fazendeiros, jagunços e da ineficiência ou mesmo corrupção do Estado. Nada muito diferente do atual quadro de vio-lência e descaso por que passam os povos indígenas do Centro-oeste.
Por fim, na sessão de Ensaios Fotográficos, um simples e corriqueiro objeto do cotidiano amazônico, a cuia, rende um belíssimo ensaio fotográ-fico. “Cuia pitinga, natureza e cultura da várzea amazônica”, realizado por Luciana G. Carvalho, Carlos de M. Bandeira e Alexandre N. da Rocha, traz a poesia visual de um cotidiano repleto de sabedoria presente nos objetos e nas relações.
A Aceno se sente honrada por contribuir no fortalecimento da Antropo-logia brasileira e agradece a todos os colaboradores que fazem parte deste número.
Boa leitura!
Os Editores
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s:
a
an
tro
po
log
ia d
e b
ra
sil
eir
as
no
es
tra
ng
eir
o –
ap
re
se
nta
çã
o a
o d
os
siê
. A
cen
o –
Rev
ista
de
An
tro
po
log
ia d
o C
entr
o-O
este
, 7
(13
): 1
1-3
4,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
Dossiê Temático
Experiências de campo e localizações etnográficas: a antropologia de brasileiras
no estrangeiro
.
Marina Veiga França (org.)1 Universidade Federal de Mato Grosso
Rogério B. W. Pires (org.)2 Universidade Federal de Minas Gerais
1 Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMT. Possui mestrado em Antropologia, na especialidade "Gênero, política e sexualidades" (2006) e doutorado em Antropologia Social (2011) pela École des Hau-tes Études en Sciences Sociales (Paris). Cursou Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais (2005). 2 Professor do departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Mestre e doutor em Antropologia Social pelo Mu-seu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
12
Apresentação
ara pessoas formadas dentro de uma tradição disciplinar local que privile-gia – por variados motivos – pesquisas realizadas dentro das fronteiras na-cionais, o desejo e a oportunidade de realizar trabalho de campo em outro
país apresentam alguns desafios3. Para começar, surgem questões sobre como co-meçar a mergulhar na bibliografia regional e com quem dialogar, dada a escassez de especialistas em nossas universidades. Pesquisar um outro país, para parte de nós, ainda é um pouco como aventurar-se num terreno misterioso, no qual não sabemos se seremos bem-vindas4. Parece um pouco (re) inventar o fazer antro-pológico. Isso torna particularmente agudas as lacunas textuais acerca de ques-tões práticas do nosso métier. No que segue, começamos argumentando pela ne-cessidade – para a qual já se chama atenção há pelo menos 45 anos, como vere-mos – de suprir tais lacunas. Depois, realizamos um breve sobrevoo sobre as pe-culiaridades de pesquisar em um país estrangeiro, tendo formação no Brasil. Fi-nalmente, apresentamos os textos que compõem o atual dossiê, para então explo-rar como eles nos fornecem alguns indícios de respostas para inquietações que expusemos anteriormente.
Experiências de campo e localizações etnográficas Passadas mais de três décadas da explosão do pós-modernismo na antropo-
logia (e os pós-modernos não foram os primeiros a atentar para a questão), hoje parece bem sedimentada na disciplina a ideia de que todo conhecimento é locali-zado e que, portanto, toda etnografia deve abrir à leitora janelas para suas condi-ções de realização. Se não há “ponto de vista de Deus”; se cada uma observa os fenômenos empíricos a partir de sua particular perspectiva; e se dialogamos com interlocutoras acadêmicas e “nativas” a partir de seus particulares lugares de fala; então explicitar o processo de construção do conhecimento produzido entre o campo e a escrita torna-se uma regra quase incontornável na disciplina.
Muita tinta correu acerca de questões epistemológicas, políticas e poéticas inerentes ao fazer antropológico. Em particular, o trabalho de campo, a observa-ção participante e a etnografia – locus, método e gênero de escrita distintivos da antropologia – têm sido alvo de intensas reflexões ao menos desde os anos 1970. A disciplina apresenta um grau notável de autocrítica que parece bem absorvido pelo grosso de seus praticantes. Alunas de graduação muito rapidamente apren-dem a enxergar os vieses e limitações das monografias e teorias clássicas; a apon-tar as continuidades entre a antropologia e as empreitadas coloniais; a dar aten-ção para questões de raça e gênero inerentes ao exercício científico. Isso, acredi-tamos, é bom. É fundamental estarmos atentas, desde o início, para o “privilégio da perspectiva parcial” (para falar como HARAWAY, 1995 [1988]).
3 Agradecemos ao comitê editorial da Aceno e especialmente ao editor Marcos Aurélio da Silva pela oportunidade e pelo apoio; a Raquel Freire de Andrade pela revisão do português; e a todas as autoras e autor pelo prazer da leitura dos textos, pelo trabalho em conjunto e pela leitura e sugestões referentes a esta introdução. 4 Evitando adotar o masculino como genérico, mas também construções que marcam simultaneamente o gênero mascu-lino e feminino e, no entanto, prejudicam a leitura de deficientes visuais, utilizamos o feminino como forma não-marcada no conjunto do texto – até porque 50% das editoras e quase todas as autoras deste dossiê são mulheres.
P
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
13
Porém, a reflexividade da disciplina pode ser sobrepujante para iniciantes. Nas cadeiras de método ofertadas nos cursos de graduação no Brasil, a maioria dos textos indicados levantam discussões fundamentais, mas abstratas, sobre ge-opolítica e cronopolítica (FABIAN, 2013 [1983]) do saber antropológico, antes de oferecer indicações sobre dúvidas muito básicas que todas temos quando come-çamos a nos preparar para ir a campo. Gravo ou não minhas conversas? Quando posso sacar minha máquina fotográfica (ou câmera do celular)? Como decido onde estudar, e em qual tema focar? Com quem converso para que permitam mi-nha entrada na comunidade? Levo presentes? O campo vai ser caro? Vou ter que pagar por estadia ou alimentação? Como lido com alianças e conflitos internos ao grupo ou população estudada? Qual o impacto de minha cor, raça, gênero, naci-onalidade, idade e classe social nas relações em campo?
A indolente – mesmo que não errônea – resposta que insiste que “cada caso é um caso” reproduz graves lacunas da discussão textual sobre questões práticas da realização do trabalho de campo. Como resultado, parece que formamos alu-nas mais aptas para discutir os paradoxos da representação e da representativi-dade (SPIVAK, 2010 [1988]) do que preparadas para enfrentar os desafios pro-saicos, mas nada banais, do cotidiano da pesquisa empírica. Da solidão a riscos de violência (KLOß, 2017; FLEISCHER e BONETTI, 2010) e ao tabu das práticas sexuais entre pesquisadores e pesquisados (KULICK e WILSON, 2005 [1995]); das dificuldades de “estudar para cima” (NADER, 1972) a receios de cair no este-reótipo do cientista social paternalista; há uma série de problemas comuns para todas aquelas que partem para “o campo” que merecem um espaço de discussão para além das chamadas “conversas de corredor” (ou de boteco).
Hoje, decerto, o silêncio sobre questões práticas não é completo5. É digno de nota que periódicos como Ethnography e Ponto Urbe hoje tenham seções dedi-cadas a relatos e discussões sobre trabalho de campo (“Ethnography’s Kitchen” e “Etnográficas”, respectivamente). Mas não deixa de ser irônico que talvez o mais clássico texto sobre as questões práticas do fazer antropológico – as reminiscên-cias de Evans-Pritchard (2005 [1973]), quase onipresentes nas bibliografias de métodos qualitativos – parta de uma reclamação de que essas questões práticas sejam deixadas para que etnógrafas iniciantes aprendam sozinhas, “na marra”, ao chegarem em seus locais de pesquisa. Escrevendo contemporaneamente a Evans-Pritchard, em outro clássico utilizado para introduzir a antropologia e seu método, DaMatta (1978) chama atenção para a diminuição, nos já então velhos manuais de etnografia, de aspectos práticos e existenciais da coleta de dados a meras “anedotas”, ou a um traço “romântico” do métier, que não precisaria ser escrito. O autor chama atenção para o foco no ensino da fase “teórica” em detri-mento da “prática” e da “pessoal ou existencial” do fazer antropológico.6 Parece
5 É um hábito infelizmente comum partir da hipótese da inexistência ou insuficiência de uma dada discussão sem ter, porém, que apresentar provas através de uma pesquisa bibliográfica. Aqui passamos por muitos fatores relacionados, mas distintos, à prática disciplinar, que exigiriam, cada um, seu próprio levantamento bibliográfico. Assim, não temos como afirmar que “não existe” ou mesmo “existe pouca” discussão sobre um ou outro ponto elencado. A afirmação que podemos fazer é que essas discussões não são canônicas no ensino de metodologia antropológica no Brasil, não aparecem de ma-neira recorrente nas ementas das disciplinas de métodos disponíveis nos sites das universidades. Ademais, a sensação subjetiva dessas ausências é compartilhada. Ver, por exemplo, as reminiscências de Bonetti e Fleis-cher (2007: 16): “Eu me lembro que uma graduanda em Ciências Sociais nos escreveu assim: ‘Realmente esse ‘silêncio’ sobre o campo faz com que todos os trabalhos pareçam ser feitos na total tranquilidade, onde as coisas ‘brotam’ natural-mente e não há espaço para dúvidas e angústias’”. E mais à frente: “Lembro dos ensinamentos de um professor de gradu-ação que dizia que não há como ensinar a fazer campo; a gente aprende fazendo. Na época, eu fiquei muito perturbada com essa ideia. Para uma neófita, recém ingressa na Antropologia, aquele conselho parecia tirar todo meu chão” (idem :20). 6 Entendemos, porém, que “teórica”, “prática” e “pessoal ou existencial” são melhor descritos como três aspectos e não fases do trabalho antropológico. A divisão em etapas proposta por Da Matta é um artifício que busca reforçar, através da aproximação à sintaxe ritual de Van Gennep, o clichê do trabalho de campo como rito de passagem. Preocupações teóricas, práticas e existenciais sempre ocupam quem faz pesquisa, seja na fase de preparação, coleta de dados, sistematização,
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
14
que continuamos revivendo este mesmo problema, mesmo com as mudanças nas formas e conteúdos das etnografias nas últimas décadas.
Lacunas na discussão refletem-se na maneira superficial com que a prática etnográfica amiúde aparece nas dissertações e teses, inseridas muitas vezes “para constar”, pouco conectadas às problemáticas centrais dos trabalhos, o que pode resultar na reprodução de problemas clássicos. Há um risco envolvido numa re-corrente leitura simplista da crítica pós-moderna: muitas vezes se constrói um espantalho do etnógrafo modernista-malinowskiano que não se localiza, de ma-neira nenhuma, no campo, não revela nada sobre suas condições de pesquisa. E crê-se, então, que basta dizer quem sou e como fui parar em meu local de estudo para resolver o problema. Não é bem assim: há, por exemplo, toda uma constru-ção da empreitada antropológica heróica frente aos sofrimentos, das situações de campo. Poderíamos citar Malinowski (1976 [1922]) e seu “Imagine-se o leitor so-zinho…”; a “nuerose” de Evans-Pritchard (2002 [1940]); e as reclamações de Lévi-Strauss em Tristes Trópicos (1996 [1955]). É o tropo (androcêntrico e eu-rocêntrico, aliás) do antropólogo aventureiro, cuja superação das dificuldades re-sulta em credibilidade acadêmica (KLOß, 2017). Exemplos não faltam. O pro-blema – já notava Crapanzano (1986) em sua leitura de Geertz (1989 [1973]) – é que tal construção permite um subsequente apagamento dessa figura: o pesqui-sador e suas dificuldades aparecem, sim, mas com um toque de “magia do etnó-grafo”. Depois do “rito de passagem”, ele logo some de cena e passa a ser capaz de falar de uma perspectiva neutra. Quando se perde a noção da complexidade retórica de operações deste tipo, corre-se o risco de repetir as limitações da forma clássica: apresentar sua localização etnográfica na altura apropriada do texto (na introdução) e depois não fazer com que tal localização tenha efeitos perceptíveis sobre o núcleo da narrativa7.
Ademais, no automatismo da localização etnográfica “para constar”, muitas vezes se elege um punhado de fatores como importantes de serem expostos, em detrimento de outros talvez tão relevantes quanto. Quase todo mundo, hoje, ex-plica na introdução de sua tese como veio a escolher e recortar seu objeto de pes-quisa, como estabeleceu seus contatos iniciais e quem foram as informantes pri-vilegiadas. Aprofundar-se minimamente em questões de raça e gênero torna-se cada vez mais incontornável. Tais pontos não deixam de ser cruciais, mas há mais janelas a abrir. Expor as condições de realização de uma etnografia pode signifi-car também expor, digamos, as condições de financiamento8, de acesso à biblio-grafia especializada, de estabelecimento de redes com pesquisadores, de engaja-mento em linhas de pesquisa e em projetos preexistentes. Não estamos propondo que todas essas questões que elencamos devam ser tratadas em todas as etnogra-fias. Nem que elas esgotam temas prático-metodológicos que merecem trata-mento etnográfico. Seria impossível encaixar tudo isso num texto sem torná-lo insuportavelmente detalhado ou insuportavelmente autocentrado. Nosso argu-mento é de que é possível ampliar o leque de fatores, tendo sempre como critério
escrita ou apresentação pública de resultados. Ver nota 15, infra. 7 Ainda pior - algo recorrente em monografias de graduação - é gastar longas páginas contando sobre os primórdios de seu interesse no tema (“desde que eu era criança, sempre me interessei por…”) e dos problemas enfrentados para chegar no campo, mudanças de tema de pesquisa… E depois não demonstrar quais os efeitos concretos desses antecedentes no restante do texto. 8 Não nos referimos aqui a análises de distribuições de recurso entre programas de pós-graduação (sobre isso, ver SEY-FERTH, 2004) e sim aos efeitos concretos que mais ou menos dinheiro disponível causam no campo. Num extremo, quem consegue uma bolsa Wenner-Gren consegue pagar salários fixos a assistentes de campo ou comprar um barco para se deslocar entre múltiplas localidades; no outro, quem não tem bolsa nenhuma pode acabar tendo que manter um emprego e, logo, optar por fazer pesquisa em um local próximo à sua residência, restringindo-se apenas aos fins de semana. Dados diferente emergem daí, não necessariamente melhores ou piores. O importante é romper com a ilusão de que a pesquisa tem lugar num espaço-tempo apartado da vida cotidiana da cientista, ilusão que restringe o imaginário da pesquisa a um ideal alcançável apenas àquelas que têm privilégios financeiros (e outros).
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
15
de seleção do que deve ou não ir para a versão publicada qual efeito sobre o pro-duto textual deste ou daquele fator. Não basta, portanto, apenas mencionar con-dicionantes da investigação, é preciso levá-las a sério. Nos casos de pesquisas re-alizadas no estrangeiro, talvez algumas destas questões sejam particularmente importantes.
Compreendemos que as questões epistemológicas, políticas e poéticas que motivaram as autocríticas da antropologia nas últimas décadas nunca estão des-conectadas das dúvidas mais pragmáticas que acometem etnógrafas em forma-ção. Compreendemos também que tais questões têm sido renovadas pela aproxi-mação da antropologia (e da academia como um todo) a novas ondas de ativismos políticos que levantam a importância do lugar de fala, do protagonismo e da vi-vência enquanto fundamentais na construção do conhecimento sobre si e sobre o outro. É por isso que estamos propondo aqui uma coleção de textos que deta-lham experiências de campo, no sentido mais imediato. Relatos de situações, dú-vidas, desafios enfrentados no fazer antropológico.
As pesquisas empíricas que as editoras deste dossiê realizaram para seus res-pectivos doutorados têm pouco em comum. Rogério, engajado num projeto mais amplo de pesquisas na região do Caribe e das Guianas do Laboratório de Antro-pologia e História coordenado pela professora Olívia Maria Gomes da Cunha, fez pesquisa entre os Saamaka do Suriname seguindo moldes clássicos: 14 meses in-termitentes numa aldeia Businenge na Amazônia, aprendendo uma nova língua, participando de rituais, trabalhando na roça (PIRES, 2015). Marina fez o douto-rado na École des Hautes Études (Paris) e campos urbanos no Brasil e na França, alternando períodos em cada um deles entre os anos de 2006 e 2009: uma pes-quisa mais breve, relatada no dossiê, com prostitutas brasileiras em Paris; e uma etnografia na zona boêmia de Belo Horizonte, local que já estudava desde o final da graduação (FRANÇA, 2016). O ponto em comum é que ambas realizaram suas pesquisas fora do país. Parece pouco, mas, como o resultado do dossiê nos de-monstra, não é. A sensação de relativo pioneirismo (real ou imaginado) que pesa sobre pesquisadoras brasileiras que resolvem fazer campo fora do Brasil torna particularmente evidente as vicissitudes práticas das quais estamos falando e o peso disso nos resultados das etnografias. Mesmo ao escolher uma região etno-gráfica tão fundante para a disciplina quanto a África, torna-se necessário inven-tar uma práxis, quando não fazemos parte das grandes escolas da disciplina. Afi-nal, como vimos, há muitas minúcias que as etnografias seguem escondendo, e que poderiam ser resolvidas com conversas de corredor. Mas e quando a esma-gadora maioria das colegas que encontramos nos corredores fazem pesquisa den-tro do Brasil? A quem recorrer?
Veio daí a ideia de criar esta coleção de artigos tratando de questões práticas de campo – problemas e dilemas que passam por gênero, raça, idade, dificuldades de comunicação, modos de inserção… Enfim, os desafios éticos, metodológicos e pessoais que todas enfrentamos, mas tantas vezes deixamos de lado em nossas publicações.
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
16
A antropologia de brasileiras no exterior
Nosso problema, decerto, é bastante brasileiro.9 Antropólogas europeias e norte-americanas, com muita frequência, fazem pesquisa no estrangeiro. Sua ela-boração da própria ideia de campo inclui o deslocamento entre fronteiras nacio-nais, de preferência para (ex-) colônias ou o seu equivalente no sul global. Lá, a antropologia at home é um problema a ser enfrentado, necessitando alguma rein-venção do fazer antropológico (STRATHERN, 1985). Aqui é diferente: a norma, como se sabe, é fazer antropologia dentro do país. Nosso universo acadêmico é (ou ao menos, era) bastante nacio-centrado, como bem colocou Neiburg (2019: 13). Afinal, estamos inseridas, mesmo que de forma crítica, resistente, num pro-cesso de construção de nação; um processo racializado, de expansão de fronteiras agrícolas, um processo civilizatório que avança sobre diversas populações com sua própria dinâmica centro-periferias e suas formas de colonialismo interno (cf., entre outros, CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000 [1993]; SIGAUD, NEIBURG e L’ESTOILE 2005 [2002]).
No dossiê, limitamo-nos a experiências de antropólogas brasileiras (com ao menos parte de sua formação e/ou carreira no país) que cruzaram fronteiras na-cionais a fim de realizar pesquisas etnográficas10. Esta história, decerto, não é re-cente. Mariza Corrêa, em “Traficantes do excêntrico” (1988), cita a importância de estrangeiros na criação de tradições antropológicas de diversos países (Boas nos EUA, Nimuendaju no Brasil, Malinowski na Inglaterra), e ressalta a grande participação de estrangeiros na consolidação da antropologia brasileira. A antro-pologia no/do Brasil sempre foi marcada por deslocamentos internacionais, no âmbito da pesquisa e do ensino. Tal presença passa, nos primórdios, pelo próprio Curt Nimuendaju; por Dina e Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide na USP; por Charles Wagley e Herbert Baldus na Escola Livre de Sociologia e Política; por projetos como o Bahia-Columbia, o Harvard-Brasil e o projeto UNESCO, além de uma série de pesquisadoras vindas de outros países que realizaram trabalho de campo no Brasil.
À medida que o Brasil consolidou sua antropologia, mais investigadoras - dos “grandes centros” ou não - passaram períodos consideráveis pesquisando e ensi-nando aqui, e outras tantas construíram suas carreiras em instituições de ensino superior brasileiras. É fácil pensar em 20 ou mais norte-americanas, europeias, africanas e latino-americanas, entre recém-doutoras e recém-aposentadas, com atuação relevante enquanto pesquisadoras e docentes em muitas regiões do país. Todas as nossas tentativas de fazer listas, porém, esbarram em limitações. Melhor não citar nomes, portanto11.
Se as possibilidades de campo no Brasil são ricas e atraíram desde cedo pes-quisadoras estrangeiras (especialmente para questões ameríndias e afro-brasilei-ras), não demorou para que pesquisadoras brasileiras começassem a circular in-ternacionalmente, indo estudar fora, e, em menor medida, fazer trabalho de campo, comparativo ou não, em outros países. Basta lembrar que uma das formas
9 Ainda que ele certamente tenha paralelos em países como México, Argentina e Índia, onde se faz uma antropologia do tipo “construção de nação” mais do que uma antropologia do tipo “construção de império”, para usar os termos de Stocking (1982). 10 A chamada era mais ampla, aberta para textos de pesquisadoras estrangeiras fazendo campo no Brasil, e para pesquisas documentais sobre pesquisas etnográficas feitas por terceiras que tenham igualmente cruzado fronteiras nacionais. Não recebemos textos em nenhuma nessas categorias. 11 Temos plena consciência de que, apesar de nossos esforços no sentido contrário, ao falar sobre história da antropologia do/no Brasil, estamos limitadas por uma perspectiva sudestecêntrica, informada por um cânone meta-antropológico que, sobretudo a partir da década de 1980, tem como efeito invisibilizar a produção feita no Norte, Nordeste e Centro-Oeste (excetuando-se a UnB). Sobre isso, ver Reesink e Campos, 2014.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
17
mais comuns de se narrar a emergência da antropologia moderna no Brasil é co-meçar pela importação do culturalismo boasiano por Gilberto Freyre quando este volta de Columbia. Algumas parcerias de ensino e pesquisa entre brasileiras e es-trangeiras levaram estudantes e professoras do Brasil a passarem períodos em universidades estrangeiras. Eduardo Galvão (1955), Oracy Nogueira (1985 [1954]) e Roberto Da Matta (1976) foram importantes pioneiros; seus estudos – respectivamente acerca da religiosidade amazônica, sobre preconceito racial no Brasil e nos EUA urbanos, e sobre a estrutura social dos Apinayé do Brasil Central –, bem como de boa parte daquelas que os seguiram, focavam fenômenos cir-cunscritos pelas fronteiras nacionais, ou em perspectivas comparativas entre a realidade brasileira e outros contextos. Uma das pesquisas pioneiras com o campo inteiramente fora do Brasil foi a tese de Ruy Coelho (2002 [1955]) entre os Garifuna (Black Carib) de Belize. Essa pesquisa foi orientada por Melville Herskovits, cuja relevância para a antropologia brasileira em meados no século passado não pode ser subestimada (PIRES e CASTRO, no prelo).
Enquanto a parceria científica brasileira com a Europa predominou nas dé-cadas de 1930 e 1940, após 1950, no pós-guerra, o intercâmbio com os EUA em todas as áreas de saberes se intensificou. Especialmente na década de 1970, houve um aumento do número de pesquisadoras realizando doutorado ou pós-douto-rado em universidades norte-americanas (MUÑOZ e GARCIA, 2004-2005). Já nas ciências humanas e sociais, especialmente na antropologia e na sociologia, manteve-se um predomínio do número de brasileiras a se dirigir à França durante as últimas décadas do século XX. Contatos institucionais e os caminhos já trilha-dos por orientadores e conhecidos contribuíram para a parceria franco-brasileira. Em relação mais especificamente ao local de desenvolvimento da pesquisa, de acordo com Peter Fry (2004: 227), entre os anos 1980 e o início da década de 2000, cerca de 40 antropólogas brasileiras teriam feito pesquisas fora do país. É um aumento em relação às gerações anteriores, mas ainda quase irrisório. Na dé-cada seguinte, o salto é notável: no período de 2004 a 2012, foram feitas 264 pes-quisas no exterior, número que corresponde a aproximadamente um quarto das pesquisas feitas por antropólogas vinculadas a universidades brasileiras (RI-BEIRO, 2018: 118-119)12.
O perfil do conjunto de estudantes brasileiras que se dirigem ao hemisfério Norte passou por variações. Após 1968, com a reforma universitária – que insti-tucionaliza os cursos de pós-graduação no Brasil e expande as bolsas para os es-tudos no exterior, concedidas por órgãos como Capes, CNPq e FAPESP – e com alguns acordos internacionais, a mobilidade se intensifica (CANÊDO e GARCIA, 2004-2005). Nos anos 1980, grande parte dos doutorandos têm um cargo de pro-fessor no Brasil e busca, no estudo fora, se dedicar à pesquisa, consolidar suas carreiras e aperfeiçoar-se de maneira a contribuir para o conhecimento no país (BRITO, 2004-2005). Nos anos 1990, as bolsas-sanduíche são criadas e, apesar de não substituírem as bolsas de doutorado pleno, começam a alterar a circulação internacional de brasileiras, tornando mais comum a ida temporária ao exterior de pessoas inscritas em universidades daqui. A partir dos anos 2000, o perfil de quem se dirige ao exterior para realizar um doutorado se torna predominante-mente o de pesquisadoras em início de carreira e com pretensão de seguir na uni-versidade. Há também um aumento significativo do número de mulheres.
12 Note-se que tanto Fry quanto Ribeiro contabilizam trabalhos de estrangeiros formados em instituições brasileiras es-crevendo sobre seus próprios países e trabalhos não-etnográficos de brasileiros sobre situações sociais fora do Brasil. Cabe também notar que Ribeiro sublinha, para o período de 2004-2012, uma tendência maior para estudar África e América Latina, “o que confirma a tendência dos pesquisadores a se interessarem por lugares relacionados a uma geopo lítica pós-colonial herdada pelo Brasil e à nossa inserção regional.” (Ribeiro, 2018: 119).
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
18
A partir dos anos 2000, ao lado de doutorados, doutorados-sanduíche e pós-doutorados em universidades do exterior, que continuam fazendo circular inten-samente estudantes e professoras de antropologia, assistimos a uma nova ten-dência, sobretudo se consideramos doutorados integralmente cursados em uni-versidades brasileiras: o aumento de campos realizados por pesquisadoras brasi-leiras que ultrapassam fronteiras nacionais. Não fomos as primeiras a dar atenção a tal abertura. De fato, o atual dossiê coloca-se em continuidade direta com uma coletânea publicada há mais de meia década (DULLEY e JARDIM, 2013) e talvez seja interessante, numa futura empreitada, comparar os volumes mais detida-mente.
Nos últimos 20 anos, temos notícias de pesquisas realizadas em ex-colônias portuguesas e outros países da África, do Caribe, da América Latina e alhures. Certamente, a expansão das pós-graduações e dos fomentos à pesquisa na década de 2000 e primeira metade de 2010 teve papel crucial nesses processos. Tais mu-danças acompanham um conjunto mais amplo de deslocamentos no universo acadêmico, que têm provocado crescente discussão acerca das relações Norte/Sul e Sul/Sul no que tange às políticas da produção de conhecimento (ROSA, 2015; CESARINO, 2014). No Brasil, “internacionalização” (palavra que esconde múlti-plos sentidos) foi meta importante da política educacional ao longo dos três-e-meio governos de esquerda recentes. Políticas públicas como o Programa Ciên-cias sem Fronteiras (ainda que esse especificamente não abarcasse as ciências humanas), criado em 2011, no Governo Dilma, apoiavam o intercâmbio de estu-dantes desde a graduação. Linhas de financiamento como os editais ProÁfrica do CNPq (2005-2010) incentivavam pesquisas brasileiras em outros continentes. A criação da Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira) e da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) talvez seja a cereja deste bolo, abrindo novas formas de relação com pesquisado-ras e alunas de diversos países, com foco no sul global13.
O resultado desse tipo de investimento começa a ser sentido agora, na gera-ção da qual nós (e a maioria das participantes deste dossiê) fazemos parte. Ainda é cedo para traçar panoramas e, mais importante, não acreditamos que seja muito rentável perguntar genericamente o que procuram as antropólogas brasileiras quando resolvem fazer trabalho de campo fora do país. Especulamos que, para muitas desta geração, a questão “o que faz o brasil, Brasil?” (DAMATTA, 1984) talvez soe antiga, desinteressante, o que pode ter incentivado a fazer campo no estrangeiro. Mas isso é dizer pouco, afinal, “fora do país” pode significar virtual-mente qualquer coisa, qualquer tema, qualquer recorte, qualquer continente.
As contribuições para este dossiê convidam a explorar algumas diferenças entre pesquisar em África, Caribe e Europa14. Com a bagagem teórica e cultural que carregamos, pesquisar fora do Brasil nunca será tabula rasa. Sempre parti-remos de alguma imagem do que esperamos encontrar – desejar conhecer um lugar ou objeto, nos lembra Maria Rita Kehl (1990: 369), é sempre desejar reco-nhecer as imagens mentais que carregamos. A África, por exemplo, em sua posi-ção fundante na tradição empírica disciplinar, impõe um peso de décadas de “africanismo” a qualquer uma que resolva fazer antropologia por lá. Mas, certa-mente, partir para a África do Brasil não é o mesmo que partir para lá saindo da
13 Note-se, entretanto, que políticas educacionais visando à internacionalização são de fato muito mais antigas. Mariana Batista dos Santos (neste volume) nos lembra que as origens da PEC-G remontam à década de 1920. 14 Infelizmente, não recebemos contribuições acerca de pesquisas alhures. Parte dessa limitação provavelmente é resultado do fato de que, até onde sabemos, as explorações etnográficas brasileiras em Ásia e Oceania ainda são limitadas. Por outro lado, estimamos que a ausência de textos tratando de países da América do Sul, Central e Oriente Médio, por exemplo, são mais fruto do alcance limitado de nossa chamada, que circulou sobretudo em nossas redes de contatos.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
19
Europa, em particular para pesquisadoras negras: a África não é apenas o conti-nente das linhagens e dos oráculos, é também da negritude, do pan-africanismo, da ancestralidade. E – como nos mostram Deborah Lima, Nilsia Santos e Lívia Reis, no dossiê – nem sempre o que se encontra lá era o que se imaginava. O Caribe, que só ganha peso na discussão teórica das antropologias do norte a partir da década de 1990 (ver TROUILLOT, 2018 [1992]), também é, por um lado, locus da negritude, e parece oferecer, para os estudos afrobrasileiros, uma enormidade de paralelos relativamente fáceis. Mas eles podem ser enganosos e, como os tex-tos de Marcelo Mello e Antônia Gabriela demonstram, existem muitos Caribes a serem investigados. Entre boxeadores cubanos e cultos indoguianenses, resta al-guma “região etnográfica” que una as pesquisas, para além de sua orientadora em comum?
Há mais. E aqui arriscamos falar sobre um sentimento difuso, inconfesso por escrito, que diferencia a pesquisa no Norte e no Sul globais. Ao pesquisar África e Caribe, brasileiras parecem se colocar na posição de desbravar uma área etno-gráfica nova (mesmo que nova apenas para elas). Discute-se, por exemplo, sobre a necessidade de uma antropologia brasileira em África, mais ou menos nos ter-mos em que se fala de uma antropologia britânica em África (DIAS et al, 2009). Todas sabemos, certo, dos problemas da própria ideia de “africanismo” e simila-res (cf. MUDIMBE 2013 [1988]; 2013 [1994]), ainda assim, a imagem das pes-quisas clássicas paira sobre o que fazemos15. Fazer pesquisa na Europa ou na América do Norte é muito diferente. Mesmo que, em 1995, Gilberto Velho (1995) tenha levantado um número significativo de pesquisadoras brasileiras fazendo campo na Europa e, principalmente, nos EUA, não parece ter emergido daí um esforço comparativo ordenado. Ninguém parece propor um “europeanismo bra-sileiro”. O norte não é tratado como área etnográfica, mesmo por quem lá pes-quisa. Dito de uma maneira menos ácida, percebemos um esforço no sentido de criação de redes de brasileiras estudando Caribe e África16, mas não de redes de brasileiras estudando a Europa (talvez na Europa sim).
Em parte, pela história de formação que resgatamos rapidamente acima, a Europa (principalmente França e Inglaterra) e os EUA foram e continuam sendo eminentemente locais de formação para as antropólogas. Buscam-se um mergu-lho em seminários com grandes professores e pesquisas bibliográficas nas im-pressionantes bibliotecas, com o objetivo de voltar ao país e contribuir para a dis-cussão teórica da área. Isso não impede o paralelo esforço no sentido de estabe-lecer diálogos e parcerias entre pesquisadoras brasileiras e estrangeiras, mas, ainda assim, o círculo de pesquisa ao qual as pesquisadoras se ligam tende a ser principalmente delimitado por sua subárea de estudo, quando não se conectam a grupos de estudos sobre o Brasil no exterior. Aliás, tal movimento vai ao encontro de um interesse das pesquisadoras e orientadoras dos países do Norte por "da-dos" trazidos do Brasil – o que pode incorrer no que Rosa (2015: 314) chama de “imperialismo intelectual”. De toda forma, grande parte das pesquisadoras que
15 Notamos ainda, com Peirano (2014), o quanto a própria ideia de “antropologia brasileira” reproduz uma história linear problemática, nos relegando a uma espécie de sub-escola subalterna aos “grandes centros” de antropologia ao Norte. Mesmo a ideia inclusiva de “antropologias mundiais” é dependente da ideia de “antropologias nacionais”, que por sua vez é tributária de ideais nacionalistas (ver também SIGAUD, NEIBURG e L’ESTOILE, 2005 [2002]). Isso não quer dizer que sejamos contra refletir sobre a antropologia feita por brasileiras, ou sobre as características daquelas que se formam em antropologia em nosso país. Quer dizer que fazer confluir sob a expressão “antropologia brasileira” todo aquele conheci-mento antropológico feito no Brasil, sobre o Brasil, e por brasileiras (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1986) gera mais proble-mas do que resolve. 16 Inclusive da parte de um dos organizadores do dossiê: Rogério tem feito esforços justamente para aproximar pesquisa-doras brasileiras que estudam África e Caribe (<http://www.lah-ufrj.org/lacs-lah-2020.html>) e tem participado de even-tos e publicações que colocam o Caribe como recorte. Ver também os dossiês organizados por Loureiro (2014) e Goyatá; Bulamah; Ramassote (2020).
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
20
se deslocaram para o Norte em seus estudos nas últimas décadas fizeram campo no Brasil e, eventualmente, um campo comparativo no outro país. Nesse período, notamos uma tendência à realização de campo em países da Europa Latina, prin-cipalmente Espanha e Portugal, em muitos casos sobre brasileiras em situação de migração.
Neste sentido, parece que seguimos reproduzindo um recorte geopolítico do mundo em “áreas etnográficas” que são, fundamentalmente, as pós/neocolônias, locus da alteridade. A antropologia dos grandes centros pode ser caricaturizada como derivando da pretensão colonialista de construir universais à sua própria semelhança e, a partir daí, recortar o mundo através das diferenças que contrain-ventam, simultaneamente, o Outro. Mas e visto do Brasil, o que é mais "outro"? África, Caribe ou Europa? E visto por quem? Muitos brasileiros “de elite” (econô-mica e/ou intelectual) gostam de imaginar sua continuidade (em geral inferiori-zante) com o mundo euro-americano. A metáfora rodriguiana do vira-latas segue relevante. Nesta lógica, pesquisar a Europa seria desinteressante por não permitir certo “estranhamento clichê” que seleciona imagens de periferias precárias (do Brasil e do mundo) como o locus apropriado da produção antropológica (ANJOS, 2006: 28). Mas, à medida que a academia brasileira deixa de ser tão branca, a relação com outras terras muda. Nesse sentido, escalas de alteridade como a que propunha Peirano (1999), que já eram problemáticas para pensar pesquisas feitas dentro do Brasil, tornam-se inúteis no além-fronteiras. Concordamos com Stra-thern quando esta escreve que seria bom “livrar o conceito de casa de medições impossíveis de graus de familiaridade” (2014 [1987]:134).
Decerto não queremos reproduzir uma imagem idealizada das relações Sul-Sul ou glorificar nossos interesses de pesquisa como motivados por questões teó-rico-políticas nobres que transcendam vicissitudes geopolíticas incômodas. Muito pelo contrário, sabemos que pesquisadoras brasileiras chegam em terras estrangeiras na esteira da Vale, Embrapa, Odebrecht (no caso da África, cf. CE-SARINO, 2014); do exército e das ONGs (no caso do Haiti, cf. NEIBURG, 2019); de um enorme contingente de garimpeiros (no caso das Guianas, cf. de THEIJE, 2007); e das igrejas pentecostais (em diversos locais – ver REIS, neste volume). Isso ocorre na enorme maioria dos casos, para bem ou para mal, quer escolhamos investigar esses temas, quer não. Isso não descredita o trabalho de ninguém – apenas sublinha em que medida nossas próprias janelas de oportunidades e nossa atenção para possibilidades de investigação são sobredeterminadas por fatores socioeconômicos, políticos, religiosos que em geral consideramos menos excel-sos, enquanto definidores de agendas de pesquisa, do que questões teóricas mais abstratas.
O dossiê Ao longo das últimas páginas, levantamos muitos temas para debate, sem
pretensão de responder nenhum - mais como provocações. Os textos que com-põem o presente dossiê retomarão alguns desses fios. O conjunto heterogêneo que ora apresentamos situa, sem qualquer pretensão de representatividade, pes-quisas de brasileiras que produziram etnografias além das fronteiras do país, de forma a pensar as localizações etnográficas, os deslocamentos transnacionais e o que eles provocam de resultado concreto: teórico, descritivo, textual.
De um campo, no mestrado, em comunidades remanescentes de quilombos, Marcelo Moura Mello parte rumo à Guiana, onde uma série de encontros e “even-
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
21
tos inesperados” o levam à Deusa hindu Kali. O autor realiza uma pesquisa etno-gráfica entre membros do culto à divindade, envolvendo-se nas atividades no templo de Blairmont. No artigo “Articulação oracular e pesquisa de campo”, foca o efeito das revelações oraculares entre os devotos e em sua pró-pria pesquisa. Alterna tons distintos, ora dialogando com a teoria antropológica contemporânea sobre divinação, dúvida e verdade, ora mais próximo dos dados empíricos e da situação de construção de pesquisa. Costurando os diferentes ní-veis de abstração, o trabalho de Marcelo nos convida a entender o quanto as ver-dades da antropologia repousam sobre complexas articulações entre seres, coisas, saberes e fazeres díspares - de financiamento de pesquisa e escolhas de orienta-dora a conceitos filosóficos, espíritos, estátuas e opiniões divergentes. São encon-tros que, como nos ensinam os adeptos de Kali, nada têm de fortuitos.
Lívia Reis volta-se para a religião vivida em Maputo, pesquisando entre fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente jovens mulheres, com quem estabelece relações de amizade. Em “Deslocamentos etnográficos: re-ligião, raça e poder em Moçambique”, reflete sobre as reconfigurações em sua identidade negra provocadas por uma pesquisa etnográfica além-mar; sobre as ambivalências de experimentar a religiosidade e a alteridade iurdiana em sua “repugnância” para uma ética secularizada; e sobre suas trocas, demandas e assi-metrias na relação com mulheres de Moçambique. Lidando com um tema para o qual acenamos acima, a autora discute o processo (e as armadilhas) da construção de uma pesquisa acerca de um tema “brasileiro” num país distante, evitando “transportar automaticamente para o contexto moçambicano as controvérsias protagonizadas pela IURD no Brasil”. Sua solução passa pela importância do pro-cesso de textualização (incluindo as pausas que a escrita exige) enquanto parte do processo de colocar em movimento uma reelaboração constante das ideias e con-ceitualizações, a partir das relações travadas em campo17.
Nílsia Santos, sacerdotisa do Ilè Asé Aségun Itesiwajú Aterosun, vai à Nigéria para a realização de uma pesquisa de mestrado sobre Ori, acompanhada de sua orientadora Deborah Lima, e recebe o título de Iyalodè, “Rainha das Damas de Ilê Ifé”. Em “Ori, Ooni: Etnografando o Inusitado em Ilê Ifé, Nigéria”, as duas autoras apresentam – em um formato de experimentação de escrita a duas vozes, irreverente e bem-humorado – uma “etnografia da etnografia”. É abordada a realização de uma pesquisa bastante incomum, já que se hospedam e se encontram completamente envoltas na corte do Rei de Ifé. Narram encontros e situações diversas que viveram, assim como as alternâncias de papéis pelas quais as duas passaram: Deborah, como professora / orientadora / filha de Axé / tradutora / pajem; Nílsia, como sacerdotisa / mestranda / Rainha das Damas / possível esposa do Rei. Gênero, idade, classe, cor, cargos religiosos e acadêmicos, dentre outras formas de localização etnográfica, ganham pesos talvez inesperados num trabalho de campo “para cima”, um tanto quanto inusitado. Ao mesmo tempo, o texto oferece uma reflexão profunda acerca do fazer antropológico, das velocidades e lentidões do momento de observação participante, das distâncias e aproximações entre coleta de dados e pesquisa.
Em “Etnografia e fluxo transnacional: congoleses em seus trânsi-tos”, Mariana Batista dos Santos retrata o processo de coleta de dados de duas
17 Note-se ainda que a proposta aqui parece ir além de uma simples distinção entre “estar lá e escrever aqui” (GEERTZ 2002 [1989]). O “ler aqui” também afeta nossa maneira de “estar lá”, como acontece quando Reis imagina uma descrição “à la Hertz” de um evento presenciado em Maputo; ou quando Deborah Lima imagina que de sua estadia na Nigéria poderia emergir uma nova pesquisa sobre dinheiro. Microteorizações e protodescrições, no caderno de campo ou só na mente da pesquisadora, pequenos experimentos etnográficos imaginários, são típicos do trabalho antropológico e de-monstram o quanto nosso olhar é guiado pela formação prévia, e também como teoria e empiria moldam-se mutuamente ao longo da pesquisa.
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
22
pesquisas distintas, ligadas entre si: uma com estudantes congoleses de PEC-G, no Rio de Janeiro; outra em Paris, com Sapeurs, “homens congoleses que enca-ram a busca pela elegância como um estilo de vida”. As pesquisas são amarradas por conceitos como trajetória, migração, pós-colonialidade, e pela discussão de questões práticas de campo. As aspirações de celebridade dos sapeurs os colocam em cena frente à pesquisadora brasileira, percebida como uma forma de estende-rem sua fama à América Latina, o que rende reflexão etnográfica e contribui para inserir Batista no cotidiano SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élé-gantes, Sociedade dos Ambientadores e das Pessoas Elegantes) parisiense. As pesquisas de Mariana nos oferecem imagens da ambígua geopolítica atlântica contemporânea, entre sapeurs “famosos” no Congo, mas ilegais na França, e es-tudantes cujas expectativas em relação ao Brasil nem sempre se concretizam. Uma das coisas que aprendemos com seu texto é o quanto os desejos de nossos interlocutores afetam nossas pesquisas - é muito diferente, afinal, entrevistar al-guém que quer ser famoso internacionalmente ou migrantes buscando formação acadêmica no Brasil.
O anonimato dos migrantes na França também é abordado no artigo de Ma-rina França, “'É uma vida esquisita, um pouco esquisita, mas boa': en-trevista com o marido de uma travesti em Paris”. Estruturada em torno de uma entrevista com um casal sul-americano vivendo em Paris, transcrita quase em sua integridade, a autora permite que seus interlocutores falem “por si mes-mos” - ou melhor, uns pelos outros, já que é o marido quem narra quase toda a história de vida da esposa. O tom da conversa é íntimo, ainda que pesquisadora e pesquisados estivessem apenas começando a se conhecer. Isso mostra como a tão falada (e real) artificialidade da situação de entrevista é capaz de abrandar-se em casos concretos em que a empatia emerge entre as partes. A condição de brasilei-ras morando na França parece ser um dos elementos possibilitadores da abertura de diálogo. Mesmo que Wanda, a informante, fosse nascida no Peru e pouco aceita pela comunidade de prostitutas brasileiras em Paris, o “sou brasileira!” cria um laço quase instantâneo entre as duas no Bois de Boulogne. Marina aproveita a situação para refletir sobre sua própria condição de mulher-pesquisadora di-ante um tema tão delicado quanto a prostituição, em um ambiente possivelmente perigoso. Além disso, é relevante notar que seu campo com prostitutas brasileiras na França não teve a continuidade planejada. Ideias e projetos interrompidos, porém, não significam fracassos, e quebrar o silêncio em torno disso é importante para mitigar o medo de rejeição que paira sobre as etnógrafas em formação. Vol-tando a registros de encontros que não puderam ser bem retratados na tese, Ma-rina demonstra como os dados que somos obrigadas a deixar de lado seguem re-levantes, informando aquilo que efetivamente aparece nas etnografias, e perma-necendo disponíveis para reflexões futuras.
Antônia Pereira traz um relato franco, multifacetado e politicamente locali-zado de uma experiência de campo em Cuba acerca de boxeadoras negras em "O corpo negro em/no trabalho de campo: notas de campo de uma pes-quisadora negra em Havana". O texto dobra-se sobre si mesmo: o tema de pesquisa – o corpo negro feminino – vira tema de reflexão acerca das barreiras para o fazer antropológico de uma pesquisadora que não se adéqua ao ideal ima-ginado e evocado nas leituras de metodologia: “um sujeito masculino livre e com privilégio racial, a quem o Campo significa um espaço longe de casa em que ele pode facilmente se inserir e sair”. Além disso, Antônia chama atenção para o mo-mento particular atravessado pela antropologia feita em instituições de pesquisa brasileiras: está atualmente em formação a primeira geração que se forma tendo
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
23
vivido os efeitos das políticas de ações afirmativas, em particular as cotas na pós-graduação. Há uma entrada, pela primeira vez maciça, de alunas negras e indíge-nas nos centros de formação de antropologia. Isso traz consigo a potência de pro-vocar alterações imprevisíveis na disciplina, seja em ensino, pesquisa ou teoria. Encontramos então um paralelo interessante entre as reflexões de Antônia com o seminal texto de Gupta e Ferguson (1997) sobre a ideia de “campo” na antropo-logia. Estes dois autores percebiam a necessidade e a emergência de uma reori-entação teórica-metodológica na disciplina, num momento em que a produção dos grandes centros via-se em crise - a chamada “crise da representação”. No mo-mento atual, Antônia sugere que
essa área de conhecimento é chamada para encarar as tensões geradas pelo Trabalho de Campo ou Campo, partindo-se do entendimento de que essa noção de Campo na antropologia é um lugar não somente físico, mas também é um espaço epistemológico de investigação moldado pelas histórias do imperialismo e do colonialismo dos Estados Unidos e da Europa.
Contribuir para a construção de uma nova imagem, menos reificada, do que é fazer trabalho de campo em antropologia é um dos objetivos centrais do atual dossiê. Não se trata de abrir mão dos ensinamentos dos clássicos, e sim de enten-der que as possibilidades do fazer antropológico se multiplicaram, assim como se diversificaram os lugares que podemos chamar de campo, e, mais importante, as formas de ser antropóloga.
Seguindo alguns fios Sem pretensão de aprofundar os temas, vejamos como algumas das questões
práticas elencadas na primeira parte desta introdução aproximam e distanciam trabalhos que compõem nosso dossiê. Para começar, notemos como relações de poder, amiúde atravessadas por trocas materiais, se colocam, mais ou menos ex-plicitamente, nas situações de campo. Lívia Reis reflete sobre sua tentativa de se distanciar do histórico colonialista da antropologia e de estabelecer relações igua-litárias com suas interlocutoras em Moçambique. Percebe après-coup que não é possível simplesmente apagar as diferenças econômicas e as assimetrias entre pesquisadora e as pessoas que encontra em campo, e que havia entre ela e as ou-tras noções distintas de troca e de retribuição. As demandas de dinheiro apare-cem também na interação cotidiana de Nílsia Santos e Deborah Lima com os sú-ditos do Rei Ifé. Santos, que descobriu, no início de sua viagem, que para ser co-roada Rainha das Damas teria que distribuir todo o dinheiro que levara para a Nigéria, exclama, por fim: “Tudo nesse país é à base de dinheiro”. Por outro lado, as autoras realizam uma “pesquisa de campo por ordem real”, o que lhes abre uma série de caminhos, embora ocupe tempo e mitigue autonomia. Ao mesmo tempo em que o Rei provoca em Nílsia um encantamento, sendo um grande an-fitrião, simpático, respeitoso e sedutor, são recorrentes no texto expressões de indignação contra o poder real: “não tinha como não ir”, “não havia escolha”, “a obediência ao rei era sem comentários”, “ele ultrapassara todos os limites do abuso de poder”.
A etnografia “para cima” tem efeitos desde a preparação do campo. Nílsia e Deborah preparam uma mala de viagem um tanto diferente das de outras antro-pólogas que se dirigem para o interior ou para aldeias. Compram ou escolhem
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
24
vestidos caros e de festa para frequentar o Palácio18. Embora seu campo não im-plique comprar vestidos luxuosos, Antônia Pereira também precisa arranjar, com o programa de financiamento de sua pós-graduação, com sua família e pessoas próximas, o suporte financeiro e os cuidados com sua filha, necessários para ela ir a Havana. Estas não são observações meramente curiosas, anedotas. De acordo com Gupta e Ferguson, descrições de entrada-e-saída do local de pesquisa aju-dam a construir a alteridade existencial e geográfica que inventa tanto a imagem idealizada do “campo” quanto a do “antropólogo” e seus “nativos”. E notem que aqui voltamos a usar o gênero gramatical masculino. “Mesmo em uma era em que números significativos de mulheres, minorias e acadêmicos do terceiro mundo entraram na disciplina, o eu implícito no ritual antropológico crucial de encontrar ‘o Outro’ no campo segue sendo um homem euro-americano, branco e de classe média” (GUPTA e FERGUSON, 1997: 16, tradução nossa.). Haraway (1995 [1988]) vai além, mostrando como o pesquisador torna-se um ser incorpóreo, ca-paz de representar o outro sem ser representado. Esse “eu” implícito, decerto, não precisa se preocupar sobre com quem vai deixar os filhos, se vai ser confundido com uma prostituta, se suas roupas serão elegantes o suficiente…
Antropólogos, de maneira geral, adoram dizer o quanto é complicado seu campo, mas os problemas para os quais preferem chamar atenção são muito mais de estabelecer diálogo com as pessoas, de isolamento, solidão, de doenças, mos-quitos, saudades. Raramente o “aventureiro” se permite dizer que tem medo de ser abordado sexualmente de maneira violenta, ou que não gostou de ser tratado como babá por seus interlocutores. Insistimos, portanto, que o leque de tipos de problemas que espera-se enfrentar no campo tendem a ser reduzidos por um ar-quétipo malinowskiano que segue tendo efeitos sobre o imaginário e a prática antropológica - mesmo que tal arquétipo não se realize plenamente nos casos concretos, e mesmo que seja crescentemente parodiado e criticado (GUPTA e FERGUSON, 1997).
É por isso que nosso dossiê convida a pensar como se chegou até o campo e como situações e interações específicas tornaram possível (ou não) a pesquisa e a maneira como ela se delimitou. Isso inclui questões muito práticas, de financia-mento, visto ou burocracias acadêmicas, até questões macro, de relações entre o país de origem e o de pesquisa. Lila Abu-Lughod (2000), uma das autoras que mais convincentemente argumentou pela importância da “localização etnográ-fica”, ressalta a importância de olhar e, sobretudo, mapear as situações, condições e relações que permitem a realização de uma pesquisa em determinado lugar.
Foco importante poderiam ser as várias conexões e interconexões, históricas e contem-porâneas, entre dada comunidade e o/a antropólogo/a trabalhando e escrevendo sobre ela, para não mencionarmos o mundo ao qual ele ou ela pertencem e que os possibilita estar naquele lugar específico estudando tal grupo. (ABU-LUGHOD, 2018 [1991]:204)
Se percebemos, através dos artigos, que entre países do Sul as relações de poder continuam marcando os diferentes espaços de pesquisa, há indicações de que, em comparação com europeus e norte-americanos, antropólogas brasileiras aparecem aos grupos pesquisados como possibilidade de se estabelecer relações mais horizontais, ou menos ameaçadoras, mais simpáticas, pelo menos. De
18 Vemos semelhante referência no livro Entre saias justas e jogos de cintura: gênero e etnografia na antropologia bra-sileira recente, em que Kelly da Silva (2007) escreve sobre sua pesquisa que tratou do processo de construção do Estado nacional em Timor-Leste. Ser acolhida pelo primeiro-ministro e realizar trabalho voluntário em seu gabinete muda as relações de campo. Passa a ser respeitada, convidada e recebida por autoridades internacionais. Mas ter que se vestir de maneira elegante, frequentar restaurantes e outros eventos sociais não só altera seu modo de vida, como lhe inflige um ônus financeiro difícil de arcar com uma bolsa de estudos.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
25
acordo com Marcelo Mello, apesar de ser diferenciado de outros brasileiros co-nhecidos, os garimpeiros, ele era visto como mixed, e “em algumas situações meu espírito ‘amigável’ era contrastado ao de europeus e americanos, pessoas em geral brancas e com pendor, para meus interlocutores, a inferiorizarem guianenses”. A nacionalidade parece provocar um enquadramento, mas parece estar principal-mente imbricada com outros marcadores sociais da diferença ou com o status da pesquisadora. Marcelo não se parece com um garimpeiro. Seu colega de pele mais clara, Rogério Pires, que fez campo paralelamente no país vizinho, nunca conse-guiu ser entendido por seus amigos surinameses como plenamente “brasileiro”, categoria que nas guianas hoje é uma descrição étnico-racial que engloba sobre-tudo pessoas da região norte e nordeste do Brasil, em grande parte garimpeiros. De acordo com Lívia Reis, o Brasil evoca respeito e admiração em Moçambique, e, para sua surpresa e incômodo, ela mesma parecia ser mais percebida como uma brasileira de classe média, “clarinha”, do que como uma mulher negra pesqui-sando com pessoas negras, como inicialmente imaginara.19
Marina França, mesmo brasileira pesquisando brasileiras na França, por ter como campo a prostituição durante o governo de Nicolas Sarkozy, em que pros-titutas eram constantemente presas e multadas, foi objeto de desconfiança por parte de algumas trabalhadoras do Bois de Boulogne. Trabalhava para o governo? Era brasileira mesmo? Já com outras interlocutoras, a nacionalidade provocou proximidade, como um almoço com feijoada e uma tarde de salsa entre travestis latino-americanas. Mariana Batista, mestiça e estrangeira (embora com status de estudante) na França, vinda de um país distante, simpático e exótico como o Bra-sil para os sapeurs, teve acesso menos controlado a certas conversas, diferente-mente de “certas coisas que não se deve falar aos franceses, sob o risco de ser mal interpretado”. Além disso, como comentado anteriormente, Batista negociou sua entrada no campo dos sapeurs muito em função do desejo deles de atenção e de projeção da fama; com isto, seu comportamento e retribuições eram constante-mente avaliados. O tempo e quantidade de entrevistas realizadas com cada um e os comentários nas mídias sobre um ou outro sapeur apresentaram um risco para a pesquisa.20
Como dito acima, os desejos das interlocutoras (“objetos”) têm peso funda-mental no resultado de qualquer pesquisa. Nas palavras de Hélio Silva, “o per-curso do etnógrafo no campo deriva da conjunção exitosa ou atritada, isto é, pelos acordos e pelos entreveros entre a orientação que ele mesmo quer imprimir a seu itinerário e os itinerários permitidos, prescritos, previstos, aceitos pelos interlo-cutores/interagentes” (2009: 176). Este autor escreve ainda que as trajetórias de pesquisa e autopercepções do antropólogo têm que ser constantemente revistas, em interação com as percepções alheias e com a maneira pela qual a imagem que o pesquisador projeta é decodificada pelos nativos. Os impasses, resistências e limites colocados pelos interlocutores devem, inclusive, ser analisados na com-preensão dos grupos ou sociedades estudadas; a análise crítica da situação etno-gráfica e da relação etnográfica são condição do saber antropológico (FASSIN, 2008).
19 Ser obrigada a reavaliar suas autoidentificações étnico-raciais, aliás, parece ser um problema recorrente entre pesqui-sadoras brasileiras “não-brancas” (por aqui) que aportam em África. Luena Pereira (2013: 79), por exemplo, afirma: “Ser mestiça em Luanda significa não ser negra, algo muito diferente da atual concepção brasileira, e que me proporcionou, lá, facilidades desconfortáveis. [...] Eu fui muitas vezes classificada como branca e custei a entender que isso não estava ape-nas relacionado com a minha condição de estrangeira”. 20 Ainda no tema da “brasilidade”, cabe lembrar que é recorrente por parte de etnógrafas mulheres terem de lidar com o estereótipo da brasileira hipersexualizada, comum no olhar de muitos estrangeiros, tanto na Europa (Cioccari, 2009) quanto nas Américas (CRUZ, 2012).
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
26
Antônia Pereira escreve que foi para campo “para entender os processos de produção dos corpos das boxeadoras habaneras em contextos de estereotipização racializadas e acabei me defrontando com algumas experiências de racialização e estereotipização no meu próprio corpo”. Teve que se esforçar para construir o seu reconhecimento como pesquisadora mulher e negra. Após um assédio, adotou uma postura mais “masculinizada” na academia de boxe, mas ainda assim tinha que se deparar com os efeitos de se revelar como lésbica e com outras reproduções de normas de gênero. Lívia Reis também relata, no dossiê, escolhas feitas em campo e reflexões sobre as relações estabelecidas, avaliadas sob a perspectiva do medo do campo “dar errado”: a decisão de comunicar à direção da Igreja que era pesquisadora, a percepção de como era vista pelas interlocutoras, que contrastava com a maneira como tinha construído suas identificações no Brasil, e escreve “eu simplesmente não sabia ser a pessoa que diziam que eu era”. Don Kulick indica a ansiedade de antropólogos de serem rejeitados no campo, de não conseguirem “estabelecer relação”, algo tão essencial se “na antropologia, os segredos das ou-tras pessoas são mercadorias valiosas”. Afinal, “uma das principais coisas que uma educação de nível superior em antropologia parece fazer com estudantes é incutir nelas uma séria ansiedade de que podem ser rejeitadas pelas pessoas que escolheram estudar” (KULICK 2005 [1995]: 9-11, tradução nossa). A questão se complica ainda mais quando se estuda alteridades que incomodam na mesma medida em que fascinam, como no caso dos grupos pentecostais estudados por Lívia21.
Ainda, para Kulick, a ansiedade para estabelecer relações em campo pode ser especialmente paralisante para mulheres, gays e lésbicas, que têm medo de se mostrar como são, mas não sabem também o que podem ser em campo. O que nos remete a uma das primeiras mulheres estrangeiras no Brasil. A norte-ameri-cana Ruth Landes escreve em “Woman anthropologist in Brazil” (1986) que não havia lugar para uma antropóloga mulher em campo no país do final dos anos de 1930. Descreve seu adoecimento físico, sua ansiedade e pensamentos de suicídio em um hotel de Salvador, decorrentes das tensões de campo. Além do clima polí-tico – em plena ditadura do Estado Novo, que acabou levando-a a ser expulsa –, pondera que não foi preparada para as desigualdades de gênero no Brasil. Apesar de relatar um casamento frustrante e suas disputas com o primeiro marido ame-ricano para ir à universidade, choca-se de não poder se deslocar sozinha, seja no Rio de Janeiro ou em Salvador, por ser mulher. Edison Carneiro devia acompa-nhá-la em cada passo. Posteriormente, boa parte das críticas que foram dirigidas a Landes, principalmente por Artur Ramos e Melville Herskovits, carregam acu-sações frequentes contra as mulheres: foi difamada por incompetência acadê-mica, pelo peso que dava ao papel das mulheres e dos homosseuxais no candom-blé, por um suposto erotismo e até por rumores de que gerenciou um bordel no Brasil. Seu campo de pesquisa com negros certamente agravou o pânico de sua presença. Foi chamada de “nigger lover” e sua amizade com algumas mulheres brasileiras desaconselhada (ver também CUNHA, 2005).
Muitas antropólogas ocupam um lugar assexuado em campo que permite cir-cular em lugares eminentemente masculinos22. Mas isso não quer dizer que te-mos que comprar sempre o “mito do antropólogo assexuado” (BUFFON, 1992:
21 A repugnância ou antipatia acontecem em diferentes campos, como em pesquisas com grupos xenófobos italianos (AVANZA, 2008), de uma pesquisadora feminista em uma comunidade masculina de sedução na França (GOURARIER, 2012), ou de uma mulher negra pesquisando policiais civis no Rio de Janeiro (MEDEIROS, 2017). 22 Como Bruna Franchetto, que se viu, no início de sua relação com os Kuikuro, em um “lugar surreal de um ser andrógino” (1996:36), ou como Marie-Elisabeth Handman (1983), que era a única mulher a frequentar cafés em uma pequena cidade da Grécia.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
27
68). Se há as mulheres “neutras”, há também “as mulheres que são vistas pelos informantes como sexualmente disponíveis” (GROSSI, 1992: 12). De insinuações a assédios, nem sempre os casos são contados fora de um círculo íntimo, muito menos nas etnografias. Como apontam Soraya Fleischer e Alinne Bonetti (2010), é difícil falar com os pares dos riscos enfrentados em campo, em parte pela expo-sição a que se vê submetida a pesquisadora. Kulick (2005 [1995]) aponta na dis-ciplina um desdém por narrativas pessoais, reforçado pelo tabu de discutir sexo – o dos antropólogos, não o dos “nativos”. O silêncio sobre gênero e sexualidade em campo serviria para manter a subjetividade heterossexual masculina fora de escrutínio e emudecer mulheres e gays, para quem tais questões são problemáti-cas mas a sua discussão pública é um risco para as carreiras.
Ainda como aponta Antônia Pereira, em seu artigo no dossiê, a individualiza-ção do campo põe o peso do “sucesso” ou “fracasso” do campo, e de seus infortú-nios, sobre a pesquisadora. A autora chegou a considerar sua responsabilidade, como mulher e negra, as situações pelas quais passou. Além de ser assediada por um homem que entrevistava (apesar de estratégias para se mostrar inicialmente como uma mulher casada), foi solicitada a ficar como babá da filha de um boxea-dor enquanto ele treinava, e sofreu pressão para entrevistar os homens da acade-mia, aqueles que detinham o “conhecimento verdadeiro” sobre o boxe, enquanto seu objeto eram mulheres boxeadoras. O gênero de quem pesquisa certamente conta; deve-se refletir sobre suas implicações na localização da antropóloga no espaço social que pesquisa, pensado em suas interconexões com outros marcado-res sociais.23
Mas se as pesquisadoras sempre encontram barreiras em campo, costu-mam também encontrar esteios, pessoas que são essenciais para abrir e moldar caminhos, como apontam Nílsia Santos e Deborah Lima. Marcelo Mello contou com o apoio de um professor que, embora morasse nos EUA, arranjou hospeda-gem na casa de sua família na Guiana e o contato com um diretor de escola que levou Marcelo à região do templo que viria a pesquisar. Antônia obteve indicações com a dona da pensão onde se hospedou e com uma boxeadora que não estava em Havana. O artigo de Lívia indica, além disso, a importância de orientações e trocas com supervisoras locais e outras antropólogas que fazem campo no mesmo local ou país.
Os caminhos de interação são certamente construídos também segundo os marcadores sociais. Marcelo conversou sobretudo com homens jovens e de meia-idade, não sendo conveniente que passasse tempo sozinho com mulheres jovens. Lívia conversou com alguns homens, mas, como convinha no universo iurdiano, só estabeleceu relações mais próximas de pesquisa com jovens mulheres. Idade, aliás, é um elemento cujo peso recorrentemente é desconsiderado quando se fala em localização etnográfica. O etnógrafo-ideal é ou bem o intrépido doutorando de 20-e-poucos-anos, ou bem o antropólogo já familiarizado, que pesquisa há dé-cadas um mesmo grupo. Nílsia e Deborah nos mostram uma situação diferente. São duas mulheres de sessenta anos que chegam à Nigéria. A idade e cargo reli-gioso de Nílsia lhes dão status para relações com a alta cúpula de Ifé. Ela é inclu-sive envolta em um cortejo amoroso por parte do rei. Deborah, com seu cargo de professora da Universidade Federal de Minas Gerais, se torna “troféu” do Rei, sendo apresentada por ele aos visitantes como “professora de Cambridge”, des-crição que lhe soa fraudulenta, apesar de ter feito seu doutorado lá. O que nos
23 Ainda assim, parece ser principalmente mulheres que respondem chamadas de artigos que envolvem a discussão dos efeitos de marcadores sociais da diferença em campo e de posicionalidade. Não poderíamos deixar de notar que o dossiê é composto por quatro mulheres negras, seis mulheres ao todo, e um homem. Kulick e Wilson (2005 [1995]: xiii) tiveram resultado parecido quinze anos atrás.
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
28
lembra que o status da etnógrafa, mesmo quando imaginado, contagia seus inter-locutores.
Discutindo no final do artigo a questão da inseparabilidade entre os diversos momentos de uma etnografia, Lima e Santos relembram a discussão de Marilyn Strathern, ponderando “que são na verdade dois campos, o de lá e o de cá, cons-tituídos reciprocamente pela antecipação da escrita durante o campo e a recriação do campo durante a escrita”. E elas recriam esse campo no artigo de maneira ví-vida, em uma autoria dupla que versa também sobre a parceria delas e sobre a interação dos papéis que cada uma ocupou em campo. Pensamos rapidamente em Davi Kopenawa e Bruce Albert (2019), parceria que marcou a antropologia recente e entrou rapidamente no panteão dos grandes textos da disciplina (cf. KELLY, 2011). Mas a escrita de uma e outra obra é bem diferente. Albert organi-zou o material, deixando-se aparecer principalmente nas notas, depois de gravar o narrador, Kopenawa, durante anos. Ao mesmo tempo, Davi observa que falam através dele seu sogro, que muito lhe ensinou, e os xapiri. Em Nílsia e Deborah, acompanhamos quem escreve, em primeira pessoa, a cada momento, através de seus estilos característicos e pelo jogo com suas posições em campo. Elas também falam uma da outra, tornando-se simultaneamente personagens e narradoras de um mesmo texto polifônico. Podemos pensar em outra diferença importante, já que Nílsia não escreve sobre seu Ilê; apesar de estudar o Ori, a etnógrafa o faz na Nigéria. Nesse sentido, há também uma particularidade em relação a antropólo-gas que escrevem sobre seu próprio povo, como em grande parte do que tem sido produzido em uma “antropologia indígena” no Brasil (GALLOIS et al., 2016) ou em uma autoetnografia (RAMOS, 2016). Ao mesmo tempo, no caso de Nílsia, po-demos provavelmente dizer que se os espíritos não falam em seu texto (ao menos não neste), as autoras reconhecem que os interesses espirituais de Nílsia guiavam as suas observações.
Por três vezes ao longo do texto Nílsia se descreve como “ocidental”. Uma “boa ocidental”, aliás. Tal palavra soa crescentemente estranha na boca da maio-ria das antropólogas, sobretudo aquelas que escrevem desde um país de terceiro mundo. De repente, aparece na pena de nossa colega yalodè, líder espiritual afro-brasileira. Nílsia certamente está certa ao se descrever assim, não apenas porque o Brasil está ao ocidente da Nigéria, mas porque “ocidentalidade” é, fundamen-talmente, uma categoria relacional e posicional. Assim como “brasilidade”, como os textos desta coletânea mostram. Provavelmente qualquer pessoa com forma-ção universitária, saída da terceira maior região metropolitana do Brasil, se sen-tiria “ocidental” no interior da Nigéria, independentemente de sua religião. A ver-dade é que o estudo de questões afro-brasileiras (religiosas, mas não somente) sempre bagunçou o modelo eurocêntrico seguido por outros setores da antropo-logia feita por brasileiros (em particular a etnologia ameríndia). Os terreiros, en-quanto “campos”, amiúde são na vizinhança da pesquisadora, que muitas vezes é negra e muitas vezes praticante. Antropólogas (inclusive estrangeiras) viram mães-de-santo. Na tentativa de aproximar-se do arquétipo malinowskiano, o me-canismo criado por parte dos estudiosos das religiões afro-brasileiras foi cons-truir uma espécie de eu virtual (mais que euro-americano, caricaturalmente car-tesiano) para contraefetuar a alteridade afro-brasileira. Isto é, antropólogos ten-dem a escrever como se fossem estrangeiros para quem a cosmopolítica das reli-giões de matriz africana seria tão alienígena quanto a da melanésia. Isto é parti-cularmente irônico quando lembramos, com Gonzalez (1984), que a “cultura bra-sileira” é constituída em nosso imaginário fundamentalmente por elementos afro.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
29
O resultado disso tudo é que a tendência da antropologia feita por brasileiros en-tre afrobrasileiros foi de pintar-se como externa à cultura brasileira, num exem-plo dos problemas derivados de resumir o projeto antropológico a “transformar o exótico no familiar e/ou transformar o familiar em exótico”, para voltar ao texto clássico de Da Matta (1978: 4).
Nem nossa apresentação, nem nenhum dos textos deste dossiê coloca-se na posição de oferecer respostas definitivas sobre como se deve agir ou não em campo – são questões éticas, afinal, e que, portanto, dizem respeito a situações concretas, e não questões morais nas quais há certo ou errado no absoluto. Reve-lar e esconder, lembremos, são efeitos estéticos (STRATHERN, 2006 [1988]) e estética, como sabemos, é ética (DELEUZE, 1992 [1986]: 125-6). Tampouco so-mos capazes de responder definitivamente sobre o que se deve revelar e o que se deve esconder da experiência etnográfica no texto monográfico – janelas demais podem tornar a etnografia sobre a etnógrafa e não sobre as pessoas que ela es-tuda. Seria absurdo querer que todas as questões que aqui levantamos sejam res-pondidas em toda etnografia – de financiamento a gênero, de emoções a raça.24 Sempre haverá um recorte, narrar é sempre fazer sinédoques. Mas tampouco queremos voltar ao “cada caso é um caso”. Fonseca (1999), falando sobre o uso desse tipo de argumento em outras situações, adverte que fugir de “sujeitos eter-nos e ahistóricos” não deveria significar cair na “sacralização do indivíduo”. Frisar que nós, pesquisadoras, não somos todas iguais - e sobretudo que não nos enqua-dramos em arquétipos que eram supostamente neutros há cem anos - não signi-fica dizer que cada uma age à sua maneira. O que mostrar? Para nós, a regra de ouro é: aquilo que tem efeitos relevantes no conhecimento produzido.
Referências
ABU-LUGHOD. Locating ethnography. Ethnography, 1 (2): 261-267, 2000.
ABU-LUGHOD. A escrita contra a cultura. Equatorial, 5 (8): 193-226, 2018 [1991].
ANJOS, José Carlos dos. No território da linha cruzxada: A cosmopolítica afro-brasileira. Porto Alegre, UFRGS/Fundação Cultural Palmares, 2006.
AVANZA, Martina. « Comment faire de l'ethnographie quand on n'aime pas "ses indigènes" ». In: FASSIN, Didier; BENSA, Alban (orgs.). Les politiques de l'enquête: épreuves ethnographiques. Paris: La Découverte, 2008. pp. 41-58.
BONETTI, Aline; FLEISCHER, Soraya (orgs.). Entre saias justas e jogos de cin-tura: gênero e etnografia na antropologia brasileira recente. Florianópolis /Santa Cruz do Sul: UNISC/Editora Mulheres, 2007.
24 Há, decerto, inúmeras questões que deixamos de abordar no presente texto. Marcelo Mello, ao ler uma versão anterior desta introdução, nos lembrou que ignoramos os problemas linguísticos. Para fazer campo fora do Brasil, na maioria dos casos é preciso ou saber de antemão uma segunda língua, ou ter condições de aprendê-la em campo (no caso de países como o Suriname, uma terceira ou quarta línguas seriam também desejáveis). Estas nem sempre são opções para ingres-santes nos programas de pós-graduação em antropologia de instituições brasileiras.
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
30
BRITO, Angela X. Transformations institutionnelles et caractéristiques sociales des étudiants brésiliens en France. Cahiers du Brésil Contemporain, 57/58-59/60: 75-105, 2004-2005.
BUFFON, Roseli. “Encontrando uma tribo masculina de camadas médias”. In: GROSSI, Miriam P. (org.). Trabalho de campo e subjetividade. Florianópolis: Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, 1992. pp. 53-70.
CANÊDO, Letícia; GARCIA, Afrânio. Les boursiers brésiliens et l'accès aux formations d'excellence internacionales. Cahiers du Brésil Contemporain, 57/58-59/60: 21-48, 2004-2005.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O que é isso que chamamos de Antropologia Brasileira? Anuário Antropológico, 85: 227-246, 1986.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “O movimento dos conceitos na antropolo-gia”. In: O trabalho do antropólogo. São Paulo: UNESP, 2000 [1993]. pp. 37-52.
CESARINO, Letícia. Antropologia multissituada e a questão de escala: Reflexões com base no estudo da cooperação Sul-Sul brasileira. Horizontes Antropológicos, 20 (41): 19-50, 2014.
CIOCCARI, Marta. Reflexões de uma antropóloga “andarina” sobre a etnografia numa comunidade de mineiros de carvão. Horizontes Antropológicos, 15 (32): 217-246, 2009.
COELHO, Ruy. Os caraíbas negros de Honduras. São Paulo, Perspectiva: 2002 [1955].
CORRÊA, Mariza. Traficantes do excêntrico: os antropólogos no Brasil dos anos 30 aos anos 60. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 3 (6): 79-98, 1988.
CRAPANZANO, Vincent. “Hermes’ dilemma: The masking of subversion in ethnographic description”. In: CLIFFORD, James; MARCUS, George (eds.). Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of California Press, 1986. pp. 51-76.
CRUZ, Alline Torres Dias da. Sobre dons, pessoas, espíritos e suas moradas. Tese em Antropologia Social. Museu Nacional, UFRJ, 2012.
CUNHA, Olívia M. G. Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos. Estudos Históricos, 36: 7-32, 2005.
DA MATTA, Roberto. Um mundo dividido: A estrutura social dos índios Api-nayé. Petrópolis: Vozes, 1976.
DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo, ou como ter anthropological blues. Boletim do Museu Nacional, N.S. 27: 1-12, 1978.
DA MATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro, Rocco: 1984.
DELEUZE, Gilles. A vida como obra de arte (entrevista a Didier Eribon). In: Con-versações. São Paulo, 34: 1992 [1986].
DIAS, Juliana Braz; SILVA, Kelly C. da; THOMAZ, Omar Ribeiro; TRAJANO FI-LHO, Wilson. Antropólogos brasileiros na África: algumas considerações sobre o ofício disciplinar além-mar. Série Antropologia, 430: 5-26, 2009.
DULLEY, Iracema; JARDIM, Marta (orgs.). Antropologia em trânsito: Reflexões sobre deslocamento e comparação. São Paulo: Annablume, 2013.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
31
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. Os Nuer. São Paulo, Perspectiva: 2002 [1940].
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. “Algumas reminiscências e reflexões sobre o trabalho de campo”. In: Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar, 2005 [1973]. pp. 243-255.
FABIAN, Johannes. O tempo e o outro: como a antropologia estabelece seu ob-jeto. Petrópolis: Vozes, 2013 [1983].
FASSIN, Didier. L'inquiétude ethnographique. In: FASSIN, Didier; BENSA, Alban (orgs.). Les politiques de l'enquête: épreuves ethnographiques. Paris: La Découverte, 2008. pp. 7-15.
FLEISCHER, Soraya; BONETTI, Aline. Dossiê. Etnografia Arriscada: dos limites entre vicissitudes e “riscos” no fazer etnográfico contemporâneo. Teoria & Pes-quisa: Revista de Ciência Política, 19 (1): 7-17, 2010.
FONSECA, Claudia. Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa etnográfica e educação. Revista Brasileira de Educação, 10: 58-78, 1999.
FRANÇA, Marina V. Sexualité et affects dans la prostitution: regards croisés sur le Brésil et le Bois de Boulogne. Paris: L'Harmattan/Éditions Pepper, 2016.
FRANCHETTO, Bruna. Mulheres entre os Kuikuro. Estudos Feministas, 4 (1): 35-54, 1996.
FRY, Peter. “Internacionalização da disciplina”. In: TRAJANO FILHO, Wilson; LINS RIBEIRO, Gustavo (orgs.). O campo da antropologia no Brasil. Rio de Ja-neiro: Contracapa/ABA, 2004. pp. 227-248.
GALLOIS, Dominique T.; TESTA, Adriana Q.; VENTURA, Augusto; BRAGA, Le-onardo V. Ethnologie brésilienne. Les voies d’une anthropologie indigène. Brésil(s), Sciences Humaines et Sociales, 9, 2016.
GALVÃO, Eduardo. Santos e visagens: um estudo da vida religiosa de Itá, Baixo Amazonas. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1955.
GEERTZ, Clifford. Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa. In: A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989 [1973]. pp. 278-321.
GEERTZ, Clifford. Obras e vidas: O antropólogo como autor. Rio de Janeiro, UFRJ: 2002 [1989].
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Ciências Sociais Hoje, 2: 223-244, 1984.
GOURARIER, Mélanie. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes. Une ethnographie des sociabilités masculines hétérosexuelles au sein de la Communauté de la séduction en France. Tese em antropologia. École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2012.
GOYATÁ, Júlia; BULAMAH, Rodrigo C; RAMASSOTE, Rodrigo. Dossier Carib-bean Routes: Ethnographic Experiences, Theoretical Challenges, and the Produc-tion of Knowledge. Vibrant, 17, 2020.
GROSSI, Miriam P. “Na busca do outro, encontra-se a si mesmo”. In: GROSSI, Miriam P. (org.). Trabalho de campo e subjetividade. Florianópolis: Programa
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
32
de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Cata-rina, 1992. pp. 7-18.
GUPTA, Akhil; FERGUSON, James. “Discipline and practice: ‘The field’ as site, method, and location in anthropology”. In: Anthropological locations: Bounda-ries and grounds of a field science. Berkeley: University of California Press, 1997. pp. 1-46.
HANDMAN, Marie-Elisabeth. La violence et la ruse: hommes et femmes dans un village grec. Aix-en-provence: Edisud, 1983.
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, 5: 7-41, 1995 [1988].
KEHL, Maria Rita. “O desejo da realidade”. In: NOVAES, Adauto (org.). O desejo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. pp. 363-382.
KELLY LUCIANI, José A. Compte rendu “Kopenawa Davi et Bruce Albert, La chute du ciel: Parols d'un chaman yanomami”. Journal de la société des améri-canistes, 97 (1): 339-357, 2011.
KLOß, Sinah Theres. Sexual(ized) harassment and ethnographical fieldwork: a silenced aspect of social research. Ethnography, 18 (3): 396-414, 2017.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã ya-nomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
KULICK, Don. “Introduction. The sexual life of anthropologists: erotic subjectiv-ity and ethnographic work”. In: KULICK, Don; WILLSON, Margaret (orgs.). Ta-boo: sex, identity, and erotic subjetivity in anthopological fieldwork. London/ New York: Routledge, 2005 [1995]. pp. 1-21.
KULICK, Don; WILLSON, Margaret. Taboo: sex, identity, and erotic subjetivity in anthopological fieldwork. London/New York: Routledge, 2005 [1995].
LANDES, Ruth. A woman anthropologist in Brazil. In: GOLDE, Petty. Women in the field: anthropological experiences. Berkeley, University of California Press: 1986. pp. 119-139.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo, Companhia das Letras: 1996 [1955].
LOUREIRO, Thiago Niemeyer M. Dossiê Caribe. Teoria e Cultura, 9 (2): 2014.
MALINOWSKI, Bronislaw. Introdução: tema, método e objetivo desta pesquisa. In: Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Abril Cultural: 1976 [1922]. pp. 17-34.
MEDEIROS, Flavia. Adversidades e lugares de fala na produção do conhecimento etnográfico com policiais civis. São Paulo: Cadernos de Campo 1 (26), 2017, 327-347.
MUDIMBE, Valentin-Yves. A invenção de África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Mangualde / Luanda, Pedago / Mulemba: 2013 [1988].
MUDIMBE, Valentin-Yves. A ideia de África. Mangualde / Luanda, Pedago / Mu-lemba: 2013 [1994]
MUÑOZ, Marie-Claude; GARCIA, Afrânio. Les étudiants brésiliens en France (2000-2001). Cahiers du Brésil Contemporain 57/58-59/60: 107-128, 2004-2005.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
V;
PIR
ES
, R
og
ério
B.
W.
A
pr
es
en
taç
ão
ao
do
ss
iê
33
NADER, Laura. Up the anthropologist: perspectives gained from studying up. In: HYMES, Dell (ed.). Reinventing Anthropology. New York, Pantheon: 1972. pp. 284-311.
NEIBURG, Federico. Entrando na conversa. In: NEIBURG, Federico (org.). Con-versas etnográficas haitianas. Rio de Janeiro, Papéis Selvagens: 2019. pp. 13-24.
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem. In: Tanto preto quanto branco: Estudos de relações raciais. São Paulo, T.A. Queiroz: 1985 [1954]. pp. 57-93.
PEIRANO, Mariza. A antropologia no Brasil (alteridade contextualizada). In: MI-CELI, Sérgio (org.). O que ler na ciência social brasileira (1970-1995): Antropo-logia. São Paulo, Sumaré/ANPOCS: 1999. pp. 225-266.
PEIRANO, Mariza. A história que me orienta. In: SCOTT, Parry; CAMPOS, Ro-berta Bivar; PEREIRA, Fabiana (orgs.). Rumos da antropologia no Brasil e no mundo: Geopolíticas disciplinares. Recife, EdUFPE / ABA: 2014. pp. 15-34.
PEREIRA, Luena Nunes. Identidades racial e religiosa em Angola e no Brasil: Re-flexões a partir da experiência de campo em Luanda. In: DULLEY, Iracema; JAR-DIM, Marta (orgs.). Antropologia em trânsito: Reflexões sobre deslocamento e comparação. São Paulo, Annablume: 2013. pp. 59-89.
PIRES, Rogério Brittes W. A mása gádu ko ndë: Morte, espíritos e rituais fune-rários em uma aldeia saamaka cristã. Tese em antropologia social, Museu Na-cional, UFRJ. Rio de Janeiro, 2015.
PIRES, Rogério Brittes W.; CASTRO, Carlos Gomes. Frazier e Herskovits na Ba-hia, tantas décadas depois. Ayé: Revista de Antropologia, [no prelo].
RAMOS, Alcida Rita. Por uma crítica indígena da razão antropológica. Série An-tropologia, 455, 2016.
REESINK, Mísia & CAMPOS, Roberta Bivar. A geopolítica da antropologia no Brasil: Ou como a província vem se submetendo ao Leito de Procusto. In: SCOTT, Parry; CAMPOS, Roberta Bivar; PEREIRA, Fabiana (orgs.). Rumos da antropo-logia no Brasil e no mundo: Geopolíticas disciplinares. Recife, EdUFPE / ABA: 2014. pp. 55-81.
RIBEIRO, Gustavo Lins. Que internacionalização da antropologia queremos? In: SIMIÃO, Daniel S.; FELDMAN-BIANCO, Bela (orgs.). O Campo da antropologia no Brasil: Retrospectiva, alcances e desafios. Rio de Janeiro, ABA: 2018. pp. 105-130.
ROSA, Marcelo C. A África, o Sul e as ciências sociais brasileiras: Descolonização e abertura. Revista Sociedade e Estado 30 (2): 313-323, 2015.
SEYFERTH, Giralda. O papel do financiamento e da avaliação na constituição do campo disciplinar. In: TRAJANO FILHO, Wilson; LINS RIBEIRO, Gustavo (orgs.). O campo da antropologia no Brasil. Rio de Janeiro: Contracapa / ABA: 2004. pp. 93-116.
SIGAUD, Lygia; NEIBURG, Federico; L’ESTOILE, Benoît de (orgs.). Empires, nations, and natives: Anthropology and State-making. Durham, Duke Univer-sity Press: 2005 [2002].
SILVA, Hélio. A situação etnográfica: andar e ver. Porto Alegre: Horizontes An-tropológicos. 15 (32): 171-188, 2009.
AC
EN
O,
7 (
13):
11-
34
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
34
SILVA, Kelly C. O poder do campo e o seu campo de poder. In: BONETTI, Aline; FLEISCHER, Soraya (orgs.) Entre saias justas e jogos de cintura: gênero e etno-grafia na antropologia brasileira recente. Florianópolis / Santa Cruz do Sul, UNISC / Editora Mulheres: 2007. pp. 168-186.
SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar?. Belo Horizonte, UFMG: 2010 [1988].
STOCKING Jr., George W. Afterword: A view from the center. Ethnos 47 (1): 172-86, 1982.
STRATHERN, Marilyn. Not a field diary: 'Anthropology at home' - with the As-sociation of Social Anthropologists. Anthropology Today 1 (3): 25-26, 1985.
STRATHERN, Marilyn. O gênero da dádiva. Campinas, Unicamp: 2006 [1988].
STRATHERN, Marilyn. Os limites da autoantropologia, In: O efeito etnográfico – e outros ensaios. São Paulo, Cosac Naify: 2014 [1987]. pp. 134-157.
de THEIJE, Marjo. Insegurança próspera: As vidas dos migrantes brasileiros no Suriname. Revista Anthropológicas 18 (1): 71-93, 2007.
TROUILLOT, Michel-Rolph. A região do Caribe: Uma fronteira aberta na teoria antropológica. Afro-Ásia 58: 189-232, 2018 [1992].
VELHO, Gilberto (org.). Quatro viagens: Antropólogos brasileiros no exterior. Comunicações do PPGAS, 6: 1995.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Cen
tro
-Oes
te,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Articulação oracular e
pesquisa de campo
Marcelo Moura Mello1 Universidade Federal da Bahia
Resumo: Este artigo constitui um olhar retrospectivo sobre minha pesquisa etno-gráfica na Guiana (antiga Guiana Inglesa) entre membros do culto à deusa hindu Kali. Analiso diversas ordens de reverberações das revelações oraculares de divinda-des hindus, tanto na dinâmica assumida por minha própria pesquisa como em dinâ-micas rituais. Longe de me centrar em experiências subjetivas, busco refletir sobre as potencialidades trazidas por essas revelações, bem como sobre os limites concei-tuais de noções como crença para se compreender o culto à Kali na Guiana.
Palavras-chave: Guiana; hinduísmo; oráculos.
1 Mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (2008). Doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (2014). Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Antropologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), atuando nos programas de pós-graduação de Antro-pologia e Multidisciplinar de Estudos Étnicos e Africanos.
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
36
Oracular articulacy and fieldwork
Abstract: In this article I reflect upon my ethnographic research in Guyana (for-merly British Guiana), among members of the worship of the Hindu goddess Kali, through an analysis of several orders of reverberations of oracular revelations deliv-ered by Hindu deities, both in my own research as well as in ritual dynamics. Far from focus on subjective experiences, I seek to analyse the potentialities brought by these revelations, as well as the conceptual constrains of notions as belief to under-stand the worship of the goddess Kali in Guyana.
Keywords: Guyana; hinduism; oracles.
Articulación oracular y pesquisa de campo
Resumen: Este artículo es una mirada retrospectiva a cerca de mi investigación etnográfica en Guyana (antigua Guyana Inglesa) entre los miembros del culto à la diosa hindú Kali. Analiso diversas ordenes de reverberaciones de revelaciones ora-culares de las deidades hindúes, tanto en la dinámica asumida por mi propria inves-tigación como en los rituales. Lejo de centrarme en experiencias subjetivas, busco reflexionar sobre los potenciales generados por estas revelaciones, así como sobre los límites conceptuales de nociones como creencia para comprender el culto a Kali en Guyana.
Palabras clave: Guyana; hinduismo; oráculos.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
37
ecapitulações e olhares retrospectivos sobre diversas ordens de encontros na pesquisa de campo trazem consigo o potencial de forjar contornos nar-rativos alternativos à experiência etnográfica.2 Neste texto, longe de re-
constituir em minúcias todos os meandros de minha pesquisa etnográfica reali-zada na Guiana – sobretudo, mas não exclusivamente, com “devotos”3 e “devotas” da deusa hindu Kali –, busco destacar o papel de revelações oraculares de divin-dades hindus e de espíritos, e as reflexões de meus interlocutores a esse respeito, na própria dinâmica assumida pela minha pesquisa e nos desdobramentos das relações de membros do culto à Kali com divindades. Complementarmente, aponto as limitações de paradigmas explanatórios fundados na noção de crença no tocante às explicações normalmente avançadas acerca de oráculos e práticas divinatórias.
Considerando a proeminência assumida, em diversos estudos antropológicos sobre formações religiosas, pela subjetividade, pelo posicionamento do observa-dor no campo e pelas distintas formas de participação de etnógrafos em rituais de caráter religioso (Cf. JOHNSON, 2016), proponho analisar mais de perto não tanto opiniões e sensibilidades subjetivas, mas antes captar mais finamente os percursos que certas instâncias de criação e recriação de relações entre humanos, divindades hindus e espíritos podem vir a assumir na pesquisa de campo e nas narrativas etnográficas produzidas a partir daí. De modo a tornar tal proposta mais inteligível, é necessário detalhar minimamente os percursos de minha pes-quisa de campo, em particular os contornos assumidos por relações entre divin-dades e humanos em virtude de revelações oraculares que apontam menos para trajetos e caminhos pré-determinados e mais para os potenciais da circulação de pontos de vista heteróclitos em esferas rituais e não-rituais. Igualmente indispen-sável é apresentar elementos básicos sobre o culto à deusa hindu Kali na Guiana.
Encontrando Kali O culto à Kali (“Kali worship”, “Kali Mai Puja” ou “Madras religion”, nos ter-
mos locais) é uma vertente hindu existente na Guiana, caracterizada por uma sé-rie de práticas criadas e recriadas por descendentes de trabalhadores contratados (indentured labourers) provenientes da Índia4. Semanalmente, devotos e devo-tas da deusa congregam para “fazer devoção” e “fazer pujas” (ofertas, inclusive de animais) a deusas e deuses hindus, bem como para interagir com divindades que,
2 Agradeço ao apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, que financiou minha pesquisa de campo por meio da destinação de dotações orçamentárias da CAPES, bem como ao CNPq e à FAPERJ pela concessão de bolsas de estudos. Agradeço também à gestão da Universidade Federal da Bahia por financiar meu retorno à Guiana em 2018, por meio de edital destinado a recém-doutores (Edital 004/2016 – Apoio a Jovens Doutores PRO-PESQ). E agradeço a Rogério Pires e Marina França, editores e organizadores deste dossiê, pela leitura atenta e por suas sugestões para qualificar este texto. 3 Neste texto, aspas remetem a expressões, aos conceitos e a noções nativos, assim grifados apenas quando de sua primeira ocorrência. 4 O sistema de trabalho sob contrato [indentured labour] foi implementado pela Coroa Britânica e por plantadores após a emancipação, em 1834. Homens e mulheres provenientes da China, da África, de ilhas caribenhas vizinhas, da Ilha da Madeira e, principalmente, da Índia, foram recrutados para trabalhar em plantações de açúcar na então Guiana Inglesa. O recrutamento de trabalhadores da Índia se estendeu entre 1838 e 1917. Para uma análise da experiência indiana, ver: Bahadur (2013), Connoly (2019) e Look Lai (1993).
R
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
38
ao se “manifestarem” em corpos de especialistas religiosos, conduzem tratamen-tos terapêuticos, transmitindo mensagens oraculares sobre as causas e origens das aflições que acometem as pessoas.
O encontro com a deusa Kali e com seus devotos e suas devotas foi suscitado por situações inesperadas, e de modo algum fazia parte de meus planos quando ingressei no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2009. Go-zando de experiência prévia de pesquisa com comunidades remanescentes de quilombos localizadas no Brasil meridional desde 2003, decidi testar outras pos-sibilidades de investigação no doutorado, no que fui prontamente apoiado por Lygia Sigaud, minha orientadora à época. Lygia, com seu modo caracteristica-mente direto, via com bons olhos minha inclinação em não me tornar um pesqui-sador ultraespecializado. O curso de doutorado não só era etapa necessária de minha formação, como uma oportunidade de expandir horizontes investigativos e de imaginação.
Lygia viria a falecer, precocemente, em abril de 2009, pouco após o início do ano letivo. Após semanas angustiantes, Olívia Maria Gomes da Cunha, cuja pro-dução intelectual já me inspirava, assumiu minha orientação, sugerindo-me a re-alização de uma pesquisa de campo na Guiana, uma vez que o Caribe era a região na qual seus investimentos se concentravam nos anos anteriores. Sem muita con-vicção, devo admitir, levei essa possibilidade adiante5, e passei a ler o (pouco) que encontrava de produção bibliográfica sobre o país. Meses depois, em janeiro de 2010, parti para a Guiana, para realizar uma pesquisa de campo exploratória por dois meses, com recursos financeiros disponibilizados pelo PPGAS6.
Pude me estabelecer na Guiana graças a Wazir Mohamed, sociólogo, histori-ador e professor na Universidade de Indiana, Estados Unidos. Embora só tenha encontrado Wazir na Guiana em uma única oportunidade no ano de 2012 – por ocasião do funeral de seu pai, uma importante liderança muçulmana no vilarejo onde residia –, foi com sua família que convivi nesse período inicial, pernoitando na casa de seu primo, um homem que vivia só,7 e realizando refeições na casa em frente, onde seus pais, primas, sobrinhos/as e demais parentes residiam. Com a família de Wazir iniciei o aprendizado mais efetivo das línguas8, frequentei mes-quitas e participei de sessões semanais de recitação, em urdu, do Corão em âm-bito doméstico, além de acompanhá-los em bares, estabelecimentos comerciais, casamentos e passeios.
5 Destaco o papel fundamental de Olívia Cunha não apenas na supervisão de minha pesquisa, mas também por sua inici-ativa de propor possibilidades inovadoras de campos de pesquisa e, igualmente, de modos alternativos de se abordar problemas antropológicos. 6 Inevitável referir a um contexto de relativa bonança das universidades públicas brasileiras, sobretudo em comparação com o recente projeto de aniquilação da universidade pública. Com efeito, qualquer consideração sobre pesquisas empí-ricas deve levar em conta condições de possibilidade historicamente contingentes e mutáveis. 7 Durante a maior parte da minha pesquisa, diversas famílias indo-guianenses manifestaram reservas em me hospedar, em especial em residências onde jovens solteiras residiam. Minhas interações se deram sobretudo, mas não exclusiva-mente, com homens jovens e de meia-idade. Em relação às mulheres, boa parte de minhas interações se deu em espaços públicos, ou em companhia de seus familiares. Com idosas e crianças meu contato era mais facilitado. Sinah Kloß, antropóloga alemã que realizou sua pesquisa de campo quase que concomitantemente à minha, apresenta diversas reflexões sobre os constrangimentos, imposições e violências enfrentados por antropólogas em campo, atentando para as dinâmicas de relações de gênero na Guiana (KLOß, 2017). 8 A língua oficial da Guiana é o inglês britânico. Na prática, guianenses alternam suas falas entre versões mais próximas do inglês padrão e diversas modulações do creolese, língua crioula do país (BICKERTON, 1975; RICKFORD, 1987; SID-NELL, 2005). Dediquei maior atenção à questão da língua alhures (MELLO, 2014: 26-41). Minhas conversações foram entabuladas, normalmente, em inglês, embora progressivamente tenha me familiarizado com as diversas modulações e variações do creolese. Em relação a outras línguas – urdu, árabe, tâmil e híndi – meu aprendizado se limitou, tão somente, ao aprendizado de algumas dezenas de palavras, em especial aquelas empregadas nos domínios das relações de paren-tesco, do ritual e da religião, da culinária e de plantas.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
39
Meu projeto de pesquisa inicial, tão provisório quanto precário, propunha-se a estudar comerciantes de artigos religiosos de origem indiana. Tal projeto se de-finiu, em larga medida, pelas orientações de Olívia Cunha, que me alertara para o fato de a população indo-caribenha ter sido relativamente negligenciada pela produção caribeanista, bem como para o privilégio conferido pela diminuta bibli-ografia sobre a Guiana a questões relativas à raça e à etnicidade, algo decorrente das instabilidades e dos conflitos persistentes entre os dois maiores segmentos populacionais do país, os indo-guianenses e os afro-guianenses.9 Olívia não só me estimulou a testar outras teorias etnográficas, como sugeriu que no âmbito reli-gioso as diferenças étnico-raciais da Guiana poderiam se configurar de modos inesperados.
Assim, ao chegar na Guiana apresentei-me como um estudante de antropo-logia interessado em aprender mais sobre a vida religiosa no país. O fato de eu ser brasileiro surpreendia um tanto, pois além de eu não me assemelhar a “bra-zus”, parecia peculiar às pessoas com quem interagi o fato de um brasileiro reali-zar estudos na Guiana.10 Ao revelar meus planos a meus anfitriões, passei a ser conhecido como um sujeito interessado em estudar “religião”, assim definida em termos amplos. Meus anfitriões faziam referências constantes à vida religiosa no país, em especial ao islamismo, pois eram muçulmanos. Concomitantemente, as-suntos correlatos ganharam proeminência. Desde meu primeiro dia em campo, de fato, menções a “jumbies” (espíritos de mortos) e à feitiçaria surgiram quase que espontaneamente.
Evidentemente, havia uma razão para isso. Ouvi falar não só de diversos ca-sos de ataques espirituais e/ou de feiticeiros, amplamente noticiados em jornais e em telejornais, aliás, como descobri, logo a seguir, que a casa onde eu vivia era considerada mal-assombrada, restando em uma área onde existiu uma plantação de cana-de-açúcar no passado – e, portanto, servido de morada de espíritos de colonizadores.11 Progressivamente passei a fazer indagações mais detalhadas a respeito desses tópicos, sempre tomando o cuidado de não direcionar excessiva-mente o rumo das conversações. Invariavelmente, meus interlocutores e interlo-cutoras recomendavam-me “procurar o povo de Kali” caso eu quisesse saber mais a respeito, pois eram eles que “lidavam”, e “sabiam como lidar”, com “esse tipo de coisa”.
A dada altura, por meio da intermediação, à distância, de Wazir, encontrei-me com Swami Aksharananda, diretor de uma escola privada hindu, doutor em
9 O processo de independência da Guiana, concretizado em 1966, deixou profundas fraturas na sociedade guianense, pois o principal partido independentista cingiu ainda na década de 1950, dando surgimento a dois partidos, um apoiado quase que exclusivamente por indo-guianeses e outro por afro-guianeses. Adicionalmente, diversos conflitos tiveram lugar entre esses grupos, antes, durante e após a independência (ver HINTZEN, 1989 e SMITH, 1995). Para uma reveladora análise, remeto à fascinante etnografia de Williams (1991). Ver também: Pires, Strange e Mello (2018). 10 Raríssimas vezes fui identificado como brasileiro na Guiana, que são popularmente chamados de “brazus”. Para os/as guianenses eu não me assemelhava, fisicamente, a outros brasileiros, em sua maioria garimpeiros. Provavelmente, hábitos encorporados pela minha circulação em espaços sociais intelectualizados e privilegiados no Brasil refletiram-se em pos-turas corporais idiossincráticas. Em geral, eu era identificado como americano, muito em virtude de meu cabelo, e, em menor medida, como norte-indiano, em especial por afro-guianenses. Em termos de categorias de cor, eu era classificado como “mixed”, alguém que certamente não era indiano, nem africano, nem branco (identificação restrita a descendentes de norte-europeus). Considero que o fato de eu ser brasileiro, em si, não foi tão relevante para minha inserção em campo. Certamente, em algumas situações meu espírito “amigável” era contrastado ao de europeus e americanos, pessoas em geral brancas e com pendor, para meus interlocutores, a inferiorizarem guianenses. De todo modo, e apesar da presença de milhares de brasileiros e brasileiras na Guiana, sobretudo em áreas de garimpo, meus interlocutores tinham pouco contato com pessoas do Brasil. Por fim, um último comentário. O fato de eu ser brasileiro, e não-branco (nos termos locais), dificultou minha inserção em círculos intelectuais. Pode bem ser que se trate de uma percepção pessoal equivo-cada, mas a minha origem não metropolitana era algo que parecia importar para alguns intelectuais e para pessoas com alguma posse. 11 Isto é, espíritos de colonizadores holandeses, cujas moradas são, normalmente, áreas onde existiriam, no passado, plan-tações de açúcar. Para mais detalhes, ver Mello (2020) e o instigante artigo de Williams (1990). Espíritos holandeses são considerados, para os moradores da região da costeira da Guiana, como os “donos da terra”, detendo prerrogativas e direitos sobre certos locais.
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
40
filosofia pela Universidade de Madison, Estados Unidos. Ao saber de meu inte-resse no “povo de Kali”, Aksharananda recomendou-me ir a Berbice, região loca-lizada a mais de cem quilômetros de onde eu morava, na costa ocidental de De-merara12, pois era ali que eu encontraria, em seus termos, os templos “mais tra-dicionais”. No mesmo dia, Aksharananda me pôs em contato com um amigo seu, residente em Berbice, com quem me encontrei pessoalmente dias depois. Esse senhor, Rudy, que era indiano e hindu, me levou a um templo de Kali, apesar de sua profunda aversão ao que “aquelas pessoas” faziam, como sacrifícios de ani-mais. Em sua visão, o povo de Kali “deturpava” princípios centrais do hinduísmo, e o culto à Kali não era propriamente uma religião, mas antes um “culto selva-gem”. Seja como for, não só fui muito bem recebido por Rudy e sua família, como passei a frequentar o templo de Blairmont, todos os finais de semana.
A chegada a Blairmont também não foi planejada, pois Rudy não tinha um plano em mente quando me conduziu até o local, não sem antes fazer questão de percorrer comigo o vilarejo negro vizinho de Ithaca, para eu ver, com os próprios olhos, como os “negros viviam” (Rudy deplorou, particularmente, a aparente falta de disposição desses em cuidarem de seus quintais). Durante essa jornada, Rudy comentou que já ouvira falar de um sacerdote de Kali que vivia próximo à sua residência, levou-me ao vilarejo onde este morava, e indagou passantes. Em um bar, descobrimos que tal sacerdote viajara para as Ilhas Virgens Americanas ape-nas dois dias antes. Entretanto, encontramos seu filho, Vijay, que sugeriu, efusi-vamente, que fôssemos ao templo de Blairmont. Ao chegar em Blairmont, Vijay não se encontrava lá, apenas a chefe da cozinha do local, Nadya, e alguns meninos e meninas, que me convidaram para pernoitar ali e conversar com o sacerdote no dia seguinte13.
Após esse primeiro contato – na metade final de meu campo exploratório, portanto – decidi reorientar minha pesquisa, enfocando o culto à Kali. Tal reso-lução se pautou tanto pela excelente recepção das pessoas quanto pelo fascínio que os rituais exerceram em mim, fascínio esse estimulado menos por exotismo – fator certamente relevante e que explica, em alguma medida, a proeminência de estudos sobre essa vertente hindu na Guiana, em detrimento de outras, como notou Kloß (2016) – e mais pelas sensações despertadas pela profusão de cores, cheiros, aromas, sons e de movimentos de artefatos rituais e de corpos. Diante desses estímulos sensoriais, seria possível agregar à descrição etnográfica o po-tencial daquilo que Michael Taussig (2009) chamou de “conscientização do corpo do investigador no entendimento da abrangência do mundo”, na medida em que os encontros e os contatos com o universo de Kali permitiriam explorar as poten-cialidades de um “conhecimento sensual” (Cf. STOLLER, 1997), relativizando a ênfase visualista da disciplina em prol da construção de relações de conhecimento atentas às limitações de oposições rígidas entre visual e textual, corporal e men-tal, material e imaterial.
Outro fator foi relevante, qual seja: a maior abertura, por assim dizer, dos templos de Kali a indivíduos vinculados a outras formações religiosas e a afro-guianenses, algo bastante diferente do que sucede na vertente hindu preponde-rante na Guiana, o Sanatan Dharma. Não é que meus interlocutores e minhas interlocutoras, majoritariamente de origem indiana, não possuíssem rivalidades
12 Não disponho de espaço para abordar em detalhes aspectos relativos à geografia e à topografia da Guiana, um país situado abaixo do nível do mar e no qual 96% da população reside em uma estreita faixa territorial costeira que compraz cerca de 4% da área total do país. O deslocamento entre as três regiões da Guiana – Essequibo, Demerara e Berbice – é um tanto dificultoso, mesmo que as distâncias entre os locais (do ponto de vista de brasileiros) pareça curta. 13 Coincidentemente, ou não, Vijay não quis nos acompanhar, vim a descobrir após algumas semanas, porque seu pai, o sacerdote que procurávamos, havia cortado relações com o templo de Blairmont.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
41
com afro-guianenses, nem que se furtassem de fazer comentários estereotipados sobre estes. Contudo, efetivamente assiste-se à participação de pessoas de diver-sas origens no culto à Kali, muitas das quais sem vínculo prévio com essa vertente religiosa14 (voltarei a isso, destacando o papel de revelações oraculares em dinâ-micas de pertencimento religioso).
Devo mencionar que os conflitos entre afro-guianenses e indo-guianenses, documentados em todas as obras que consultei previamente à minha pesquisa de campo, gerou-me certas hesitações, na medida em que minhas convicções e meu compromisso pessoal, ético e político com comunidades remanescentes de qui-lombos no Brasil seria colocado à prova em um país no qual fraturas motivadas por rivalidades entre dois grupos subalternos não só geraram animosidades per-sistentes como violentos embates, inclusive no passado recente (ver TROTZ, 2004). Como Olívia Cunha me sugerira, realizar pesquisa de campo na Guiana era desafiador, pois seria necessário não reduzir toda a vida de guianenses à raça/etnicidade e, em paralelo, ter disposição para compreender em outros ter-mos linguagens que fazem referência à raça/etnicidade.
Iniciada minha pesquisa sobre o culto à Kali, decidi concentrar minhas ob-servações em um templo apenas, Blairmont, pois julgava que assim poderia me aproximar melhor das pessoas, além de prevenir embaraços resultantes de facci-onalismos internos.15 Estava, e permaneço, totalmente ciente de que tal escolha limita generalizações sobre o culto à Kali como um todo na Guiana. Afinal de con-tas, e como dizem meus interlocutores, “cada templo faz as coisas do seu modo”. Precisamente por isso, descrições etnográficas localizadas me parecem mais ren-táveis, até porque proporcionam acompanhar mais de perto como as relações das pessoas com o culto à Kali se desdobram no tempo, inclusive por meio de confli-tos, cisões, distanciamentos e rupturas – ponto finamente captado por Rabelo (2014) em seu estudo sobre o candomblé na Bahia.
Findo o campo exploratório, regressei ao Brasil em abril de 2010, planejando uma nova e longa viagem para o segundo semestre daquele ano. Em virtude de demandas burocráticas16, reajustei meu cronograma: em vez de realizar um campo ininterrupto de nove meses, como inicialmente previa, realizei mais três viagens a Guiana, que totalizaram mais oito meses de pesquisa de campo. Na se-gunda etapa da pesquisa residi, por algumas semanas, em Georgetown, capital do país, onde realizei diversas incursões em bibliotecas, encontrei intelectuais locais e consolidei relações com algumas pessoas, de diversas origens e filiações religi-osas. Em fevereiro de 2011, passei duas semanas seguidas no interior do templo de Blairmont, acompanhado os preparativos do principal festival religioso do ca-lendário anual do culto à Kali, o “Big Puja”.
Nesse período, minha esposa, Marcela, que me visitava durante seu período de férias letivas, acompanhou-me em diversas incursões etnográficas. No último dia do festival, em virtude de uma sugestão do sacerdote do templo, Bayo, nossa união foi celebrada pela deusa Mariamma em uma cerimônia religiosa17. Esse mo-mento foi considerado por meus interlocutores como um evidente sinal de nossa
14 De resto, confesso que nunca nutri muita simpatia por grandes religiões; interessava-me mais por práticas minoritárias. 15 Estima-se que existam mais de 100 templos de Kali na Guiana. A circulação de pessoas entre vários templos é comum. Durante a etapa final de minha pesquisa houve uma cisão no templo onde eu concentrava minhas observações, o que resultou no deslocamento de vários de seus membros para outro templo, que se tornou rival a aquele. 16 Fui obrigado a retornar ao Brasil, após viajar para a Guiana novamente em novembro de 2010, em março de 2011, devido à concessão de uma bolsa de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). As assinaturas dos termos de concessão e de outorga da bolsa demandavam minha presença física no Brasil. 17 As implicações da presença de minha esposa em meu campo, e de nosso casamento, não serão objeto de reflexão aqui (ver MELLO, 2014: 198-208). Chamo a atenção para o fato de dezenas de pessoas – que, ao menos inicialmente, não sabiam dos meus propósitos antropológicos – atribuírem minha estada ali a algum problema de infertilidade, pois parecia-
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
42
disposição em conviver com as pessoas. Adicionalmente, atestou uma inclinação verdadeira de minha parte em efetivamente me tornar alguém “próximo da reli-gião”, e não somente um visitante, afinal eu regressaria ao local no futuro desa-companhado de minha esposa, mas com vínculos já estabelecidos, inclusive com Marcela, com o templo, com as divindades e com seus membros.
O culto à Kali não é para espectadores, e esse é outro aspecto importante a ser mencionado. Desde meus primeiros encontros com Kali minha inclinação de não tomar notas na frente de meus interlocutores reforçou-se devido à impossi-bilidade de ser um mero observador, distante e alheio às tarefas realizadas no templo. Além de seguir a “abstinência” requerida para frequentar os templos18, fui instado a auxiliar os membros de Blairmont em tarefas práticas, além de acompanhar as pessoas fora do templo19 e em atividades de lazer. Como comen-tou diversas vezes o sacerdote Bayo, para aprender sobre “a religião”, eu deveria “viver como um devoto”, algo que implica envolvimento com os preparativos dos rituais – colher flores, regar árvores, varrer e esfregar o chão.
Outra inflexão fundamental de minha pesquisa se deu na terceira viagem re-alizada à Guiana em setembro de 2011, quando não só passei a residir com um jovem muito assíduo em Blairmont, Omar, como assumi um novo papel nas di-nâmicas rituais de Blairmont, muito em virtude de uma revelação oracular da deusa Mariamma, que se manifestava no sacerdote Bayo: eu deveria realizar, por nove semanas, “devoção” para algumas divindades, em prol do bem-estar físico de uma parente próxima, que se encontrava, então, adoentada. Tal prescrição, suscitada por uma revelação oracular da deusa, apesar de bastante inesperada para mim, mas não para Bayo, que sabia previamente da condição de saúde de minha parente, é consoante à maneira pela qual as pessoas estabelecem, criam e recriam relações com as divindades. De modo a tornar isso mais evidente, é ne-cessário tecer algumas considerações sobre o papel das mensagens oraculares di-vinas na criação e recriação de relações entre membros e divindades de Blair-mont.
Articulação oracular
Nos cerimoniais do culto à Kali que ocorrem semanalmente, o momento mais aguardado por devotos e devotas é a invocação de divindades nos corpos de espe-cialistas religiosos, “marlos”, cujos corpos se tornam temporariamente veículos da agência divina. Ao serem invocados, deuses e deusas conduzem tratamentos terapêuticos, prescrevem a realização de práticas de devoção por determinado período de tempo e “revelam” as causas e os motivos das “aflições”, das “doenças” e dos “problemas” que se abatem sobre as pessoas. Marlos são homens e mulheres cujo treinamento para manifestar divindades já se encontra consolidado. Resu-midamente, por meio de uma série de manipulações rituais e da preparação do corpo e da mente desses especialistas religiosos, o poder divino (“shakti”) in-funde-se nestes/as, disseminando-se entre as demais pessoas, sobretudo por meio das ações performadas durante a manifestação.
lhes estranho que Marcela e eu não tivéssemos filhos. Essa percepção se explica também pelo fato de diversos casais bus-carem o auxílio das divindades hindus para gerar um rebento. 18 Os rituais semanais de Kali ocorrem aos domingos. Na sexta-feira anterior, pessoas que pretendem frequentar o templo devem iniciar a abstinência, evitando o consumo de fibra animal, álcool e entorpecentes, além de evitar qualquer ordem de contato sexual, consigo mesmo ou com outras pessoas. 19 Com efeito, aprendi muito sobre o culto à Kali fora do templo, “gaffing” (conversando descompromissada) com mem-bros do templo em outros espaços, como bares.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
43
Em um estimulante e recente artigo, Anastasios Panagiotopoulos (2018) ana-lisa a troca, a circulação e os comentários suscitados por conhecimentos, mensa-gens e narrativas expressas por meio de revelações oraculares entre adeptos de religiões afro-cubanas. Panagiotopoulos demonstra, muito habilmente, como “redes oraculares” se tornam significantes pontos de referência não só no domí-nio religioso, como na vida diária de afro-cubanos, de modo que os pronuncia-mentos oraculares não só constituem pontos de atração para as pessoas como abrem caminhos múltiplos e cruzados, caminhos esses que tornam “a divinação um significante ponto de referência e de ação” (PANAGIOTOPOULOS, 2018: 478). Segundo o autor, articulações oraculares se constituem em pontos de par-tida, de passagem e de entrecruzamento de diversos pontos de vista. Pronuncia-mentos oraculares são levados a sério não tanto pela tenacidade de crenças reli-giosas, mas antes porque revelações oraculares podem transformar os próprios caminhos das pessoas, além de portarem consigo o potencial de apresentar novos elementos sobre acontecimentos do passado, do presente e do porvir.
As sugestões de Panagiotopoulos parecem-me produtivas por uma série de motivos, como espero deixar evidente abaixo. A título de ilustração, noto que di-versos membros de Blairmont não eram, como se diz, “nascidos na religião”, ou seja, não tinham vínculo prévio com o culto à Kali. Em comum à trajetória de várias pessoas é a importância que revelações oraculares assumiram em suas vi-das e em seus pertencimentos religiosos. Dezenas de homens e mulheres eram hindus de outras vertentes, muçulmanos, cristãos e mesmo sem religião, até que algum acontecimento inesperado, como o surgimento de doenças cujas origens nem médicos conseguiam determinar, impeliu as pessoas a frequentar um templo de Kali, onde não raro se “curaram” após deuses e deusas determinarem as ori-gens e a causas de seus problemas. Tais revelações atestavam não só o poder das divindades, mas também a “veracidade” dos atos performados por meio de mar-los, e a própria qualidade da devoção destes últimos.
Idealmente, marlos não detêm qualquer lembrança dos eventos que sucedem durante a manifestação, pois perdem sua consciência quando manifestam as di-vindades, tornando-se veículos de fala e de ação de seres com estatuto ontológico distinto dos humanos, as divindades. Entretanto, não só se admite francamente a possibilidade de se “forjar” uma manifestação (MELLO, 2020), como se sugere que diversos fatores podem “interferir” na “profundidade” da manifestação. Ou seja, se as manifestações sempre se efetuam em determinados “níveis” (mais ou menos “profundas”, “plenas” ou “puras”). Assim, pode bem ser que uma influên-cia maligna (de espíritos ou de feitiços, por exemplo), ou que a instabilidade cor-poral e emocional de uma pessoa, faça emergir relances da consciência individual de marlos, que, ademais, muitas vezes detêm um conhecimento prévio da vida dos consulentes. Não à toa, ressaltaram diversas vezes meus interlocutores e in-terlocutoras, a melhor maneira de se certificar da “seriedade” de um templo de Kali desconhecido é não revelar a ninguém as motivações de se estar presente ali. Se o templo em questão é sério, se diz, “as divindades farão o seu trabalho e des-cobrirão o que realmente se passa”.
As mensagens oraculares no culto à Kali remetem à “verdade”, pois têm ori-gem extra-humana, provindo de seres “poderosos” e “puros”. Contudo, não há garantia absoluta de que uma mensagem comunicada por uma divindade seja to-talmente precisa. Para se ter garantias a esse respeito, é necessário, primeira-mente, que o treinamento, como dito, esteja consolidado, e que marlos mante-nham a “constância” da sua devoção – isto é, foquem os pensamentos nas divin-dades, rezem diariamente para elas, realizem ofertas continuamente, sigam à
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
44
risca a abstinência e previnam a emergência de influências malignas em seus cor-pos. Em segundo lugar, “testes” são realizados no próprio ato da invocação, testes esses que incidem sobre os corpos de marlos, seja por meio de açoitamentos com cordas molhadas em seus braços e pernas, seja pela ingestão temporária de cubos de vela acesos em suas bocas. Esses atos certificam a ocorrência de manifestações divinas, pois seres malignos e indivíduos conscientes não escapariam imunes a tais regimes de provação corporal.
Acompanhei uma série de situações nas quais as revelações das divindades ditaram cursos de ação, reconfiguraram relações e (re)ordenaram arranjos pré-vios. Esse foi o caso, por exemplo, de uma jovem que, repleta de dúvidas quanto às reais intenções de seu noivo, decidiu levar adiante seu casamento após uma divindade (manifestada coincidentemente, em seu pai) assim o recomendar. Foi também o caso do jovem ansioso por migrar para os Estados Unidos que protelou o pedido de visto junto à Embaixada Americana, de modo a lograr sucesso; bem como de uma divindade que espancou um homem que, aparentemente, manifes-tava o deus Khal Bhairo, quando em realidade tal sujeito “se passava” pela divin-dade apenas para beber rum, líquido ingerido pelo deus nas cerimônias; e de um sacrificador que falhou na execução de sacrifícios porque não seguia à risca sua devoção, como assegurou uma deusa diante de uma vasta audiência. Outros ca-sos, ainda, envolveram uma guianense migrada, ausente do país há uma década, cujas percepções quanto ao culto à Kali foram revistas quando detalhes muito íntimos de sua vida foram explicitados por uma manifestação divina; uma viagem de membros de Blairmont ao exterior para realizar um ritual para um trinidadi-ano que “descobriu” ser necessário honrar seus ancestrais em seu país de origem, após uma divindade que se manifestou em um templo de Kali em Nova Iorque20 assim o prescrever; e, finalmente, a deposição de um marlo de seu cargo após uma série de pessoas concluírem que as revelações oraculares emitidas por meio de si não tinham, absolutamente, origem divina, mas antes provinham de sua es-posa, que se espreitava entre a audiência para descobrir os problemas de consu-lentes recém-chegados ao templo, informando seu marido a respeito, como evi-denciou outra manifestação divina.
Poderia multiplicar os exemplos aqui, mas me limito a detalhar apenas outros dois, de modo a destacar que 1) no que concerne à manifestação, não está em jogo uma oposição absoluta entre consciência e inconsciência; 2) outros seres, para além de divindades hindus, participam na determinação do que está ocorrendo na vida das pessoas.
Em determinada ocasião o jovem Mohammed compartilhou comigo suas dú-vidas quanto ao “nível de consciência” de um marlo, Araf, que manifestava a deusa Mariamma semanalmente. Para Mohammed, alguns acontecimentos lhe pareciam “suspeitos”, como as constantes reclamações emitidas pela manifesta-ção de Araf21 a alguns membros do templo, as quais eram em muito semelhantes aos queixumes dirigidos aos mesmos indivíduos pelo sacerdote do local. Ora, Araf era muito próximo ao sacerdote, e em diversos momentos havia “coincidências” entre as revelações emitidas pelas divindades por meio de Araf e as declarações do sacerdote.
20 Estima-se que existam mais guianenses vivendo no exterior do que na própria Guiana. Indo-guianenses migrados fun-daram templos em cidades como Miami, Nova Iorque, Fort Lawrence, Toronto, Londres e San Fernando (na ilha de Tri-nidad). O templo de Nova Iorque mencionado acima é considerado uma “filial” (branch) de Blairmont e efetivamente há muitas trocas entre ambos os templos. 21 Em Blairmont se diz tanto que uma pessoa manifesta uma divindade, como que uma divindade se manifesta numa pessoa. Embora a manifestação provenha de divindades, é comum que se empreguem sentenças como “a manifestação de Araf”, “Araf manifesta Mariamma”, “Mariamma se manifesta em Araf”. Não obstante as variações no emprego de prono-mes, considera-se que em última instância quem se manifesta em pessoas são as divindades.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
45
Entretanto, Mohammed não considerava que Araf22 fingia a manifestação. O que ocorria é que a manifestação deste último, comparativamente à de outros marlos, “enfraquecia” mais rapidamente, o que explicava os reiterados pedidos da deusa Mariamma, quando nele se manifestava, para intensificar o ritmo de tambores tocados durante os rituais. Assim, explicou didaticamente Mohammed, se progressivamente a consciência individual de Araf “aumentava” à medida que sua manifestação “enfraquecia”, o incremento da sonoridade dos tamborins fazia com que a divindade “voltasse com mais força nele”. Adicionalmente, comple-mentou, as prescrições e as revelações de Mariamma por meio de Araf demons-travam-se acertadas, pois muitos consulentes se “curavam” após serem “tratados” por sua manifestação.
Chamo a atenção para a parte final das considerações de Mohammed. Atos, verbais ou não, performados por divindades que se manifestam em humanos em-basam outras ações e são constantemente (re)avaliadas à luz de desdobramentos futuros. Assim, mensagens oraculares não remetem apenas a questões de ordem ontológica (o que é) e epistemológicas (o que se sabe e como se sabe), mas tam-bém pragmáticas (o que fazer), pois os conhecimentos expressos por meio de di-vindades implicam manipulações rituais que, uma vez iniciadas, podem não ape-nas solucionar os problemas das pessoas como fomentar relações que se desdo-bram no tempo e no espaço.
O segundo caso ao qual farei breve referência, analisado em pormenor alhu-res (MELLO, 2020), é o de José, um homem de meia-idade que passou a sofrer com os ataques de um espírito holandês (ver nota 10). Em uma visita ao templo de Blairmont, José passou a ser “cuidado” pelo deus Khal Bhairo, cuja manifes-tação incidia, naquela ocasião, em seu filho, Robert. Subitamente, José começou a manifestar e, incontinenti, foi espancado por Khal Bhairo, que, aos gritos, su-geriu que “outra coisa” se fazia passar por uma divindade hindu. O fato de uma manifestação divina, presente no corpo do filho de José, reprimir o ser corporifi-cado neste último, suscitou algumas piadas. Um membro do templo, de modo muito matreiro, comentou: “Pobre José [...] está sendo espancado pelo filho”.
Tal comentário não pôs em xeque a ocorrência da manifestação divina de Khal Bhairo em Robert, apesar da piada, pois revelações oraculares posteriores confirmaram esse veredito: efetivamente, José sofria com um espírito. Dias de-pois, acompanhei membros de Blairmont à casa de José, onde um “trabalho” foi levado a cabo para aplacar o espírito que, manifestando-se em um marlo, revelou, com um forte sotaque (o espírito não sabia falar inglês apropriadamente), a ori-gem dos problemas de José: as libações feitas a outros espíritos, mas não ao ver-dadeiro “dono da terra” – no caso, o espírito que emitia essas palavras. José então ofertou alimentos, bebidas alcoólicas, cigarros e um galo branco ao espírito, que se disse “satisfeito” com sua oferta, disposto tanto a deixar José e sua família “em paz” como a controlar os outros espíritos ali residentes. Semanas depois, José recuperou-se prontamente. A revelação oracular inicial, comunicada por meio do corpo de Robert, confirmou-se.
Como dito, realizei nove semanas de devoção para diversas divindades após uma revelação oracular. Deixei de ser mero espectador não apenas por conta dos rituais nos quais me envolvi, mas porque paralelamente o sacerdote do templo de Blairmont estimulou-me a “viver como um devoto para aprender sobre a reli-gião”. Assim, tomei parte em diversas atividades: na limpeza de altares e do ter-reno onde se situa o templo; no preparo de alimentos; na colheita de flores e na
22 Mohamed, Araf e José (ver abaixo), são nomes fictícios.
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
46
confecção de guirlandas para as divindades; acompanhando procissões e partici-pando da coleta de itens para festivais; nos preparativos para trabalhos em âm-bito doméstico (como aquele acima descrito); assistindo às divindades que se ma-nifestavam, dando-lhes água23 e alcançando-lhes instrumentos de cura (notada-mente os ramos de folhas de uma árvore considerada sagrada e com poder cura-tivo, a neem); e até mesmo servindo de “intérprete”, isto é, encarregando-me de dar instruções a consulentes sobre como deveriam fazer sua devoção.
Essas relações de proximidade com divindades, especialistas religiosos e con-sulentes não só me permitiram observar de perto rituais e incrementar meu co-nhecimento da língua (em especial no que concerne a um amplo léxico de pala-vras de origem indiana), como me facultaram acompanhar em primeira mão os efeitos desencadeados por revelações oraculares, as conversas íntimas entre di-vindades e humanos, os rumos de ação prescritos por deuses e deusas, bem como os debates e comentários suscitados pelas mensagens divinas. Desse modo, pude acompanhar os potenciais das revelações oraculares, as articulações daí proveni-entes e os desdobramentos de relações entre seres com estatuto ontológico dis-tinto.
Igualmente importantes, os comentários, as polêmicas, o caráter sugestivo e ambíguo de algumas declarações e as fofocas conformaram minhas próprias aná-lises acerca do culto à Kali: meus interlocutores e interlocutoras não comparti-lhavam de visões homogêneas a todo instante, instando-me a refletir sobre ques-tões relativas à verdade em termos menos assertivos. Relações entre pessoas, es-píritos e divindades hindus, mesmo quando resolvidas, como no caso de José, eram passíveis de constante reformulação, abriam caminhos cujos percursos não estavam, de antemão, determinados, nem mesmo pela suposta tenacidade de crenças.
Verdade, dúvida e crença: a potência de articulações oraculares
Durante minha estadia na Guiana, diversos/as guianenses/as perguntaram-
me, ao tomarem ciência de minha pesquisa, se eu realmente acreditava na pos-sessão das divindades e em seus enunciados verbais. Em larga medida tais inda-gações refletiam a estigmatização do culto à Kali na Guiana, não raro associado ao diabo, ao maléfico, ao supersticioso, ao atrasado, ao primitivo e ao selvagem. Usualmente, minha resposta era a seguinte: minhas crenças pessoais pouco im-portavam. O mais relevante era o fato de que algo efetivamente ocorria durante a manifestação: novas relações eram forjadas, outros rituais eram ensejados e de-bates emergiam a partir da expressão de pontos de vista divinos.
Tais indagações permitem-me abordar duas problemáticas que me parecem centrais: 1) a necessidade de contrabalançar paradigmas fundados na noção de crença; e 2) conceber o culto à Kali não enquanto uma religião já dada, mas antes constituída por práticas que também se moldam por meio da circulação e do en-trecruzamento de diversos pontos de vista que, longe de serem aceitos esponta-neamente e de se encontrarem estabilizados, se moldam continuamente.
Estudos já clássicos sobre a possessão espiritual exploraram de modo frutí-fero o modo pelo qual as mensagens transmitidas por espíritos podem estabelecer
23 Enquanto se manifestam, as divindades derramam incessantemente água, misturada com flores, folhas de neem e pós com propriedades terapêuticas sobre os corpos de marlos. Isso é feito, sobretudo, para “esfriar” os corpos das pessoas, que se aquecem sobremaneira com o poder divino.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
47
novos canais de comunicação com e entre humanos. Os pontos de vista, os con-selhos, as advertências e as revelações expressos em interações redirecionam, mediante redescobertas, extensões e reelaborações retrospectivas, novas cama-das de interpretações, estimulando a emergência de novas visões e versões de eventos passados e presentes (BODDY, 1989; LAMBEK, 1981), além de reconfi-gurar expectativas futuras, não raro trazendo implicações incertas nas relações entre os vivos e os mortos ao longo do tempo (VITEBSKY, 1993).
As perspectivas de Boddy e Lambek, formuladas no apogeu de paradigmas interpretativos em antropologia, podem ser complementadas por análises mais atentas aos modos pelos quais atos verbais concorrem, ou não, para a consolida-ção de interpretações permeadas pelo entrecruzamento de pontos de vista huma-nos e não-humanos. Como demonstrou Irvine (1982), a inteligibilidade de canais de comunicação estabelecidos pela possessão espiritual pode ser clarificada de diversos modos, mas além de a participação de uma audiência mais ampla ser fundamental, nem sempre as dúvidas e controvérsias se encerram, na medida em que rituais podem fornecer mais elementos para deliberação, em vez de simples-mente reforçarem visões comuns.
Para meus interlocutores e interlocutoras, as revelações oraculares atestam a potência das divindades, seres capazes de evidenciar a “verdade”. Ainda que de-votos e devotas atestem a necessidade de se ter “fé” nas divindades, em relações concretas não se está diante da tenacidade de crenças ou da adesão imediata ao conteúdo das mensagens veiculadas pelas divindades. Em um recente estudo so-bre a bruxaria na Indonésia, Nils Bubandt (2014) nota que a dúvida ocupa um lugar crucial e estranho na antropologia, pois dúvidas e ambivalências são trata-das como aspectos temporários, passíveis de resolução, de crenças e suas funções sociais derivadas.
A persistência desse “paradigma explanatório”, para utilizar o vocabulário do autor, provém desde Evans-Pritchard (1980 [1937]), cuja clássica monografia não ignora contradições, ambivalências, o papel de hierarquias internas no próprio conteúdo das questões formuladas aos oráculos e situações concretas por meio das quais revelações oraculares se articulam às explicações sobre certos aconte-cimentos, como infortúnios. Assim, e como notou Tambiah (2013), em sua época Evans-Pritchard notou as limitações de descrições centradas exclusivamente em crenças místicas que ignoravam o comportamento empírico das pessoas no coti-diano, como se elas habitassem o universo mental de crenças místicas o tempo todo. Dito de outro modo, crenças não são resultados de tradições impensadas que ignoram experiências que porventura as contradigam (Cf. LIENHARDT, 1964).
Não obstante, e sem ignorar o tom de denúncia de diversos trechos de Bru-xaria, Magia e Oráculos (ver GIUMBELLI, 2011), e o emprego de estratégias de pesquisa um tanto problemáticas – notadamente o incitamento de rivalidades entre adivinhos para se extrair informações de outro modo inacessíveis –, ao cabo Evans-Pritchard lança mão de uma “explicação circular” (Cf. HOLBRAAD, 2012), pois a confiabilidade nos oráculos é reforçada por elaborações secundárias da crença que acabam por reforçar a crença na bruxaria, mesmo que dúvidas emer-jam constantemente. Para Holbraad, caberia descrever mais atentamente formas diferenciadas de se engajar com a verdade – como no caso dos oráculos de Ifá em Cuba –, comparando-as com noções de verdade na antropologia. Ao propor uma antropologia recursiva, Holbraad – cujas indagações repousam fundamental-mente no plano conceitual – desestabiliza, por meio da comparação, a força de
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
48
concepções antropológicas representacionalistas, seguindo a motilidade da ver-dade em cenários nos quais a noção de caminho aponta menos para traçados li-neares e mais para a potencialidade, e a multiplicidade, de caminhos que sempre abrem novos caminhos – e “fecham” outros tantos, podemos acrescentar, embora o porvir possa reabrir caminhos já trilhados de outras maneiras. Assim, não se trata apenas de fechamento e abertura: caminhos interligam seres humanos e não-humanos de modos variados, tornam-se emaranhados justamente porque não resultam apenas de pronunciamentos oraculares, afinal sempre há outras fontes de experiência na vida das pessoas.
Em consonância à proposta de Bubandt (que, se comparada a de Holbraad, é mais fundada na etnografia), sugiro que dúvidas podem ser tratadas como uma dimensão do caráter altamente reflexivo dos engajamentos das pessoas com re-velações oraculares e divindades, afinal eventuais desconfianças não necessaria-mente são o reverso oposto da confiança (CAREY, 2017). Nesse sentido, minha narrativa etnográfica buscou destacar o caráter mutável e dinâmico de relações marcadas pela presença de entes espirituais no cotidiano dos humanos, para além da esfera religiosa. Mensagens transmitidas por divindades – e também por es-píritos – não se encerram nos momentos de sua enunciação, pois são marcadas por uma série de “validações empíricas” (Cf. PELKSMAN, 2018) acerca do pró-prio conteúdo dessas mensagens. O modo pelo qual tais validações se tornam ve-reditos (ou melhor, versões estabilizadas sobre certos acontecimentos e seus des-dobramentos) são repletas de evidências fragmentárias, ambivalências, dúvidas, hesitações e testes de hipóteses. Assim, o “senso do inesperado” (Cf. CARDOSO, 2007; 2014) da agência de entes espirituais torna a dúvida um elemento central das interações entre espíritos, divindades e humanos. Dúvidas que não necessi-tam ser abordadas à luz de suas funções sociais, nem enquanto aspectos transitó-rios de crenças.
Metodológica e teoricamente, isso implica indagar, baseado nas sugestões de Romberg (2014), em que medida dúvidas sobre a veracidade de eventos de pos-sessão espiritual são formuladas sem que a autenticidade de mensagens transmi-tidas por espíritos e divindades sejam, necessariamente, totalmente refutadas. Assim, é fundamental perguntar quem está sendo testado: médiuns, entes espiri-tuais, ou ambos? Do mesmo modo, cabe atentar que diferentes participantes de rituais podem veicular distintas interpretações de eventos religiosos, autenti-cando diferencialmente a veracidade de experiências religiosas (WIRTZ, 2007).
Semelhantemente ao caso de Cuba descrito por Panagiotopoulos, no caso do culto à Kali não se trata somente da tenacidade de crenças, ditas religiosas. Se é indispensável ter fé nas divindades, o campo de possibilidades aberto por revela-ções oraculares demonstra que a permeabilidade de humanos aos pontos de vista de não-humanos (ISHII, 2012) envolve distintas ordens de participação (PINA-CABRAL, 2018; 2019) de pessoas não-humanas na vida dos humanos. Se a noção moderna de crença se assenta em valores liberais que a concebem enquanto fe-nômeno interno, privado e essencialmente mental (Cf. ASAD, 1993), cumpre no-tar que diversos agentes participam, de modos variados, da formação de “verda-des” acerca de fenômenos atravessados pela agência espiritual.
Os encontros suscitados pela pesquisa de campo não estão apartados de arti-fícios narrativos, discursivos e estilísticos que redimensionam fatos do campo à luz de artefatos conceituais que portam consigo histórias específicas. Neste texto busquei demonstrar como revelações oraculares incidiram não só sobre a dinâ-mica de minha pesquisa de campo ou sobre experiências subjetivas do pesquisa-dor. Mensagens oraculares concorrem para a criação e recriação de relações entre
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
49
devotos e devotas de Kali, promovendo a circulação de pontos de vista múltiplos, pontos de vista esses que trazem consigo potencialidades diversas, fomentando manipulações rituais e lançando possibilidades nas trajetórias de vida de pessoas. Revelações oraculares apontam não apenas para o que é ou o que foi, mas para o que pode vir a ser.
Em resposta a alguns interlocutores mais próximos, interessados em saber como, e por que, afinal, eu viajara a Guiana e, mais especificamente, como eu me encontrara com Kali, narrei parte do meu trajeto enquanto estudante no Brasil, destacando como decisões tomadas anos atrás, eventos inesperados e sugestões até então inimaginadas fizeram-me chegar onde cheguei. Não me parece à toa que pelo menos seis interlocutores mais próximos – Bayo, Arjune, Omar, Kesho, Reshme e Nadya – tenham reagido de forma muito semelhante: ouviram a nar-rativa com atenção, sorriram com assentimento, e declararam: “A Mother (Kali) o trouxe aqui”.
Essa declaração, aparentemente simples, parece-me tão singela como po-tente. Singela e potente porque Kali, a Divindade Suprema, “sabe de tudo”; ela “vê tudo”, como se diz. A Mother vê tudo porque os seres humanos são, por natu-reza, limitados; seus raios de visão, e suas percepções, são, por assim dizer, mais confinados, comparativamente ao poder visual das divindades. Os olhares retros-pectivos sobre eventos passados trazem consigo o potencial de reavaliar cami-nhos já trilhados, expandindo seus horizontes. Talvez a verdade se constitua pela movimentação contínua de antevisões que, estabilizadas por narrativas, permi-tem vislumbrar relances de traços e vestígios de percursos que em realidade nunca se encerraram, pois continuam a acontecer. Oráculos articulam potencia-lidades e itinerários em permanente expansão. Nos encontros etnográficos, ex-plicações antropológicas são constantemente postas à prova por prognósticos que desestabilizam vaticínios, pois prenunciam possibilidades.
Recebido em 3 de dezembro de 2019. Aceito em 8 de janeiro de 2020.
Referências
ASAD, Talal. Genealogies of religion. Discipline and reasons of power in Chris-tianity. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.
BAHADUR, Gaiutra. Coolie woman. The odyssey of indenture. Chicago: The Uni-versity of Chicago Press, 2013.
BICKERTON, Derek. Dynamics of a creole system. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press, 1975.
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
50
BODDY, Janice. Wombs and spirits. Women, men, and the Zar cult in Northern Sudan. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989.
BUBANDT, Nils. The empty seashell. Witchcraft and doubt on an Indonesian island. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
CARDOSO, Vânia. Narrar o mundo: estórias do “povo da rua” e a narração do imprevisível. Mana – Estudos de Antropologia Social, 13 (2): 317-375, 2007.
CARDOSO, Vânia. “Spirits and stories in the crossroads”. In: BLANES, Ruy & ESPÍRITO SANTO, Diana (eds.). The Social Life of Spirits. Chicago: The Univer-sity of Chicago Press, 2014. pp. 93-107.
CAREY, Matthew. Mistrust: an ethnographic theory. Chicago: The University of Chicago Press/HAU Books, 2017.
CONNOLY, Jonathan. Indentured labour migration and the meaning of emanci-pation. Past and Present, 38 (1): 85-119, 2018.
EVANS-PRITCHARD, Edward. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar, 1980 [1937].
IRVINE, Judith. “The creation of identity in spirit mediumship and possession”. In: PARKIN, David (ed.). Semantic Anthropology. London: Academic Press Inc. 1982, pp. 241-260.
GIUMBELLI, Emerson. A noção de crença e suas implicações para a moderni-dade. Horizontes Antropológicos, 17 (35): 327-356, 2011.
HINTZEN, Percy. The costs of regime survival. Racial mobilization, elite domi-nation and control of the state in Guyana and Trinidad. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
HOLBRAAD, Martin. Truth in the motion: the recursive anthropology of Cuban divination. Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
ISHII, Miho. Playing with perspectives: spirit possession, mimesis, and permea-bility among the buuta ritual in South India”. Journal of the Royal Anthropolog-ical Institute, 19: 795-821, 2012.
JOHNSON, Paul. Scholars possessed! On writing Africana religions with the left hand. Journal of Africana Religions, 4 (2): 154-185, 2016.
KLOß, Sinah. Fabric of Indianness. The exchange of clothes in transnational Guyanese Hindu communities. New York: Palgrave McMillan, 2016.
KLOß, Sinah. Sexual(ized) harassment and ethnographical fieldwork: a silenced aspect of social research. Ethnography, 18 (3): 396-414, 2017.
LAMBEK, Michael. Human spirits: a cultural account of trance in Mayotte. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
LIENHARDT, Godfrey. Social anthropology. London: Oxford University Press, 1964.
LOOK LAI, Walter. Indentured labour, Caribbean sugar. Chinese and Indian migrants to the British West Indies, 1838-1918. Baltimore: John Hopkins Uni-versity Press, 1993.
ME
LL
O,
Ma
rcel
o M
ou
ra.
Ar
tic
ula
çã
o o
ra
cu
lar
e p
es
qu
isa
de
ca
mp
o
51
MELLO, Marcelo Moura. Devoções manifestas. Religião, pureza e cura em um templo hindu da deusa Kali (Berbice, Guiana). Tese (Doutorado em Antropolo-gia Social). Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014.
MELLO, Marcelo Moura. Mimesis, dúvida e poder: espíritos de colonizadores e divindades hindus na Guiana. Horizontes Antropológicos, 26 (56): 57-86, 2020.
PANAGIOTOPOULOS, Anastasios. Food-for-words: sacrificial counterpoint and oracular articulacy in Cuba. Hau – Journal of Ethnographical Theory, 8 (3): 474-487, 2018.
PELKSMAN, Mathijs. “Doubt, suspicion, mistrust...semantic approximations”. In: MÜHLFRIED, Florian. (ed.) Mistrust: ethnographic approximations. Biele-feld: Transcript, 2018, pp. 169-178.
PINA-CABRAL, João de. Modes of participation. Anthropological Theory, 18 (4): 435-455, 2018.
PINA-CABRAL, João de. My mother, or father: person, metaperson, and tran-scendence in ethnographical theory. Journal of the Royal Anthropological Insti-tute, 25: 3030-323, 2019.
PIRES, Rogério; STRANGE, Stuart; MELLO, Marcelo Moura. The Bakru speaks: Money-making demons and racial stereotypes in Guyana and Suriname. New West Indian Guide, 92 (1-2): 1-34, 2018.
RABELO, Miriam. Enredos, feituras e modos de cuidado. Dimensões da vida e da convivência no candomblé. Salvador: EDUFBA, 2014.
RICKFORD, John. Dimensions of a creole continuum. History, texts and linguis-tic analysis of Guyanese creole. Stanford: Stanford University Press, 1987.
ROMBERG, Raquel. “Mimetic corporality, discourse and indeterminacy in spirit possession”. In: JOHNSON, Paul (ed.). Spirited things. The work of “possession” in Afro-Atlantic religions. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. pp. 225-256.
SIDNELL, Jack. Talk and practical epistemology. The social life of knowledge in a Caribbean community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005.
SMITH, Raymond T. “Living in the gun mouth”: race, class and political violence in Guyana. New West Indian Guide, 69 (3-4): 223-252, 1995.
STOLLER, Paul. Sensuous scholarship. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
TAMBIAH, Stanley. Múltiplos ordenamentos da realidade: o debate iniciado por Lévy-Bruhl. Cadernos de Campo, 22: 193-220, 2014.
TAUSSIG, Michael. What color is the sacred? Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
TROTZ, Alissa. Between despair and hope: women and violence in contemporary Guyana. Small Axe, 8 (1): 1-20, 2004.
VITEBSKYY, Piers. Dialogues with the dead. The discussion of mortality among the Sora of Eastern India. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
AC
EN
O,
7 (
13):
35
-52
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
52
WILLIAMS, Brackette. Dutchman ghosts and the history mystery: ritual, colo-nizer, and colonized interpretations of the 1763 Berbice slave rebellion”. Journal of Historical Sociology, 3 (2): 133-165, 1990.
WILLIAMS, Brackette. Stains on my name, war in my veins. Guyana and the politics of culture struggle. Durham: Duke University Press, 1991.
WIRTZ, Kristina. Ritual, discourse and community in Cuban Santería: speaking a sacred world. Gainesville: University Press of Florida, 2017.
RE
IS,
Lív
ia.
De
slo
ca
me
nto
s e
tno
gr
áfi
co
s:
re
lig
ião
, r
aç
a e
po
de
r e
m M
oç
am
biq
ue
. A
cen
o –
Rev
ista
de
An
tro
po
log
ia d
o C
en
tro
-Oes
te,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Deslocamentos etnográficos: religião, raça e poder em Moçambique
Lívia Reis1 Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo: Tendo como base o trabalho de campo realizado junto a crentes da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Maputo, capital de Moçambique, este artigo reflete sobre alguns deslocamentos impostos ao pesquisador no decorrer do fazer etnográfico. Partindo de três diferentes etapas da pesquisa, o trabalho de campo, a construção do objeto e o tempo da escrita, demonstro como a experiência de apren-dizado com jovens crentes – comumente percebidos a partir de uma alteridade re-pugnante – revelou um jogo de ambivalências e situações inesperadas que coloca-ram em xeque minha identidade negra e, consequentemente, a percepção das rela-ções de poder entre mim e eles. Demonstro, ao final, o rendimento analítico trazido pela opção de apreender a “religião” em movimento, a importância do distancia-mento do campo para que eu pudesse perceber os diferentes sentidos dos desloca-mentos e os efeitos epistemológicos dessas constantes negociações para a produção antropológica.
Palavras-chave: Igreja Universal do Reino de Deus; etnografia; identidades; po-der; Moçambique.
1 Pesquisadora de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (PPGAS/MN/UFRJ). Doutora em Ciências Sociais pelo PPCIS/UERJ.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
54
Ethnographic displacement: religion, race and power in Mozambique
Abstract: Based on the fieldwork carried out with believers from the Universal Church of the Kingdom of God (IURD) in Maputo, capital of Mozambique, this arti-cle reflects on some displacements imposed on the researcher in the course of eth-nographic work. Starting from three different stages of research, the fieldwork, the construction of the object and the time of writing, I demonstrate how the learning experience with young believers - commonly perceived from a repugnant otherness - revealed a game of ambivalences and unexpected situations that put in check my black identity and, consequently, the perception of the power relations between me and them. In the end, I demonstrate the analytical performance brought by the op-tion to apprehend “religion” in movement, the importance of distance from the field so that I could perceive the different meanings of displacements and the epistemo-logical effects of these constant negotiations for anthropological production.
Keywords: Universal Church of the Kingdom of God; ethnography; identities; power; Mozambique.
Cambios etnográficos: religión, raza y poder en Mozambique
Resumen: Basado en el trabajo de campo realizado con creyentes de la Iglesia Uni-versal del Reino de Dios (IURD) en Maputo, capital de Mozambique, este artículo reflexiona sobre algunos desplazamientos impuestos al investigador en el curso del trabajo etnográfico. A partir de tres etapas diferentes de la investigación, el trabajo de campo, la construcción del objeto y el tiempo de escritura, demuestro cómo la experiencia de aprendizaje con los jóvenes creyentes, comúnmente percibida por una repugnante otredad, reveló un juego de ambivalencias y situaciones inespera-das. eso puso en jaque mi identidad negra y, en consecuencia, la percepción de las relaciones de poder entre ellos y yo. Al final, demuestro el desempeño analítico que brinda la opción de aprehender a la "religión" en movimiento, la importancia de la distancia del campo para poder percibir los diferentes significados de los desplaza-mientos y los efectos epistemológicos de estas negociaciones constantes para la pro-ducción antropológica.
Palabras clave: Iglesia Universal del Reino de Dios; etnografía; identidades; po-der; Mozambique.
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
55
ra novembro de 2014 e já fazia alguns meses que eu havia começado o tra-balho de campo com jovens crentes da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Maputo, capital de Moçambique, acompanhando cotidiana-
mente suas atividades dentro e fora da igreja. Naquele domingo, ao final de um culto, me dirigi com algumas amigas até o lado de fora do Cenáculo Maior, sede da IURD na cidade, para encontrar o restante do grupo. Como de praxe, os jovens ligados à Força Jovem Universal (FJU) se reuniam ali para uma atividade que se repetia todos os dias após o encerramento das atividades ordinárias na igreja. A “concentração”2, uma categoria nativa, pode ser definida como uma reunião de membros interessados em se informar sobre as atividades do grupo jovem por meio dos recados transmitidos pelas lideranças após os cultos e encontros3. Du-rante a semana, ela costumava acontecer no hall de entrada do Cenáculo, mas, aos domingos, devido ao trânsito maior de pessoas, era realizada na calçada em frente à igreja, isto é, na rua. Depois que um número mínimo de jovens se reunia, um obreiro, quase sempre o obreiro líder da FJU, posicionava-se no centro do círculo de pessoas para transmitir comunicados importantes ou conselhos mais gerais aos membros do grupo e, ao final, realizava uma oração. Só depois da con-centração é que as atividades do grupo eram consideradas oficialmente encerra-das e os jovens liberados para voltar para casa4.
Neste dia, no entanto, um mistério pairava no ar. Havia um burburinho sobre uma possível reunião no dia seguinte com o Bispo Jean5, líder da IURD no país, e cuja participação seria restrita a trezentos jovens. Citando a passagem bíblica de Mateus 22: 14, na qual Jesus afirma que “muitos são chamados, mas poucos escolhidos”, o obreiro enfatizou que os jovens selecionados deveriam comparecer à reunião trajando a roupa mais bonita de seus armários, pois encontrariam um representante de Deus. Ao perceber que o conselho gerou expectativa entre os jovens, não me senti confortável em participar e, eventualmente, “roubar” o lugar de um fiel que quisesse ir ao evento, motivo pelo qual me afastei do grupo para comprar um lanche. Enquanto caminhava, notei que o obreiro começara a esco-lher os fiéis, apontando individualmente os selecionados. Eu estava distraída comprando salgadinhos quando Maria, uma amiga da igreja e importante inter-locutora, veio até mim para informar que o obreiro lhe pedira para avisar que “aquela clarinha” - no caso, eu - havia sido escolhida.
Minha primeira reação foi perguntar à Maria se deveria ou não aceitar o con-vite para a reunião que, descobri no dia seguinte, introduziria a temática da Fo-gueira Santa, uma importante corrente anual realizada na IURD6 que teria início dali a uns dias. No entanto, e é para isso que quero chamar atenção ao descrever toda a cena, a forma como o obreiro se referiu a mim para Maria impôs um novo conjunto de problemas ao meu trabalho de campo. Em primeiro lugar, constatei que as lideranças sabiam que eu existia e que, apesar de me considerarem dife-rente das outras pessoas, mais clarinha, jamais me interpelaram para saber da
2 Em itálico estão as palavras estrangeiras. Entre aspas estão as categorias "nativas" e citações textuais com menos de três linhas. 3 Notei que outros grupos temáticos da IURD também realizavam concentrações ao final das reuniões. 4 Sobre as atividades da FJU em Maputo, cf. Reis, 2018. 5 Os nomes dos fiéis são fictícios, mas optei por manter o nome das lideranças. 6 Cf. Teixeira, 2016; Reis, 2018.
E
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
56
minha vida ou o que eu fazia ali, algo comum dentro dos grupos etários ou temá-ticos da IURD. Como explicarei mais adiante, optei por não me apresentar à hie-rarquia da igreja após avaliar inicialmente que isso poderia colocar meu trabalho e a mim mesma em risco. Com relação a essa reunião, especificamente, minha preocupação estava relacionada exclusivamente com a restrição ao número de pessoas, mas fui convencida por Maria sob o argumento de que, se o obreiro me escolhera, era porque eu deveria ir.
Como explicitei na tese, meus interlocutores sabiam que eu não era religiosa, mas nunca deixaram de acreditar que eu pudesse me converter. Por isso, qual-quer oportunidade era vista como uma chance real de que eu fosse tocada pelo Espírito Santo. Para eles, quanto mais eu frequentasse a igreja, maiores as chan-ces de conversão e, como crentes, era seu papel cuidar para que isso acontecesse. De minha parte, jamais considerei possível produzir um distanciamento que to-masse como dado a impossibilidade de uma vivência espiritual junto aos crentes. Nossa relação era atravessada por essa ambivalência e isso nunca foi um pro-blema, ao menos para mim.
Decidi comparecer à reunião, afinal. Informei meu nome e telefone a uma das obreiras encarregadas de organizar a lista de convidados e passei o caminho de volta para casa revisitando memórias em torno do processo lento e gradual de construção da minha negritude no Brasil. O objetivo, obviamente, era entender por que eu havia me chocado tanto por ter sido considerada “clarinha”, assim, no diminutivo, o segundo e principal problema colocado por essa situação etnográ-fica. Lembrei-me que, durante boa parte da minha vida, fui uma negra de classe média, moreninha ou pretinha, dependendo do contexto, que circulava apenas em ambientes brancos e que sempre tentou se blindar do racismo seguindo pa-drões estéticos e relacionais brancos, mesmo que de forma inconsciente. Alisei o cabelo por anos, convivia e me relacionava afetivamente com pessoas brancas, estudei toda a vida em colégios particulares onde era uma das únicas negras e fiz minha primeira graduação numa faculdade pública de Direito antes da política de cotas, ou seja, majoritariamente branca.
Apesar das minhas tentativas de branqueamento, evidentemente eu era lida socialmente como uma mulher negra e a busca por entender como lidar com isso me levou para as Ciências Sociais. Ali, meus incômodos encontraram sentido e, melhor, uma explicação. Por isso mesmo, foi desconcertante descobrir naquele dia que, em Moçambique, eu não era negra. Não da forma como eu entendia mi-nha negritude, constituída por minha cor de pele e atravessada por representa-ções sociais, desigualdades e discriminações raciais, como aprendi com o debate interseccional (RIOS, 2019), mas que estavam relacionadas ao contexto sócio-histórico brasileiro. Em Moçambique, meu fenótipo me fazia “mulata” para meus amigos de classe média-alta e descendentes de portugueses e branca ou clara para pessoas negras. No entanto, minha condição econômica acima da média moçam-bicana – embora bolsista de doutorado – e, ainda, de estrangeira, um “mulungo”7, também ajudava a compor a percepção racial e social que os crentes formavam de mim. Independente de ser mulata, clarinha ou branca, o fato é que eu havia entendido finalmente que não era negra como os negros de lá8.
7 No Brasil, mulungo(a) seria o equivalente a gringo(a), um nome pejorativo dado aos estrangeiros. 8 Sobre as complexas relações raciais em Moçambique, cf. Thomaz (2006).
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
57
Branca, estrangeira e brasileira: costurando caminhos a partir de identidades móveis
Ao longo da minha tese, relato como a minha própria crença se relacionou
com a crença dos meus “outros” durante o trabalho de campo e como a experiên-cia com crentes podia ajudar a pensar o fazer antropológico. Eu fui a campo pre-parada para isso, mas, por ingenuidade ou inexperiência, a questão racial me pe-gou despreparada. A despeito das relações de poder que permeiam o trabalho de campo e das assimetrias nas relações estabelecidas entre antropólogos e seus “in-terlocutores”, eu pensava que poderia estabelecer um vínculo mais horizontal com as pessoas ao meu redor, afinal, eu era uma mulher negra fazendo trabalho de campo com pessoas negras. Naquele dia, entretanto, me dei conta de que se tratava apenas da ilusão de alguém que não esteve atenta às pistas sobre essa questão que já haviam aparecido em outros momentos da vida em Maputo, nas vezes em que me dava ao luxo de esquecer que era uma antropóloga em perma-nente trabalho de campo.
Transportei-me, então, para o dia em que cheguei a Maputo. Meu primeiro contato com a empregada da casa onde aluguei um quarto foi impactante: embora estivesse muito feliz, em suas palavras, por “trabalhar para uma brasileira”, ela não me olhava nos olhos, falava com a cabeça baixa, não se sentava à mesa para almoçar comigo por mais que eu pedisse e nem mesmo compartilhava o banheiro da casa. Depois, lembrei-me de nossa convivência diária e de como Adélia me ensinou em seu português quase incompreensível que, para ela, eu era indubita-velmente branca. Além disso, costumava reclamar dos mulatos moçambicanos com quem convivia, afirmando que eles se achavam melhores que os negros. Seja por ato falho ou pura negação, em momento algum pensei as questões de Adélia à luz da minha identidade de pesquisadora até o fatídico dia em que fui indireta-mente interpelada pela fala do obreiro.
Para além disso, eu era brasileira, não uma estrangeira qualquer. Nos meus primeiros minutos em solo moçambicano, ainda antes de chegar em casa, a jovem que me vendeu um chip de celular na rua – e que, coincidentemente, pertencia a uma das tribos9 que pesquisei na Força Jovem – rapidamente mudou o sotaque ao perceber minha nacionalidade e começou a falar comigo “assim como falavam na novela” – revelou-me. De maneira geral, os moçambicanos têm uma relação de admiração e respeito com o Brasil. Segundo Thomaz (2001: 37), as imagens do Brasil como um modelo de integração racial que deu certo foram apropriadas desde o período colonial pelos atores que participaram do processo de libertação do país, além de existir uma intensa aproximação no terreno cultural. Com o pas-sar do tempo, essa aproximação se intensificou na medida em que músicas, no-velas, roupas, cosméticos, políticas públicas para fortalecimento das relações sul-sul e, não sem críticas, igrejas e empresas passaram a compor o conjunto de refe-rências brasileiras facilmente encontradas em terras moçambicanas. Para com-pletar, eu vinha do lugar onde a IURD surgiu, e, ainda que, curiosamente, a mai-oria dos fiéis não soubesse da origem brasileira da igreja que frequentavam, sa-biam que o Templo de Salomão, destino turístico dos sonhos de muitos deles, estava localizado no Brasil. Diante desse cenário – ainda que não sem desconfi-ança – a maioria dos fiéis com quem me relacionei expressava uma postura de admiração para comigo.
9 A Força Jovem Universal era dividida internamente para facilitar a organização do grupo. Estes subgrupos eram chama-dos de tribos, em alusão às doze tribos de Israel.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
58
No entanto, ao contrário do que se possa imaginar num primeiro momento, toda essa conjuntura serviu para acentuar ainda mais o medo que eu tinha de que o campo “desse errado”, além de me deixar numa posição profundamente des-confortável. Eu simplesmente não sabia ser a pessoa que diziam que eu era e foi muito difícil me adaptar a esse novo registro de existência. De todo modo, enfren-tar essa situação fez com que eu me desse conta de que a assimetria ali existente era indefinidamente maior do que eu pensava que seria, como já alertava Clifford ao afirmar que o trabalho etnográfico “coloca em cena relações de poder”. No en-tanto, continua o autor, “sua função nessas relações é complexa, por vezes ambi-valente, e potencialmente contra-hegemônica” (CLIFFORD, 2016: 41) e, embora eu não soubesse como estabeleceria uma relação de troca sem me aproveitar desse lugar de poder, o fato é que ele existia e eu precisei aprender a lidar com isso.
Como bem lembrado por Ortner (2006: 63), “as histórias da Antropologia e do colonialismo por muito tempo andaram juntas, e, à luz dessas histórias as pró-prias práticas da Antropologia eram repensadas”, motivo pelo qual passei a ocu-par boa parte do meu tempo tentando encontrar uma maneira menos caricatural de ser antropóloga. Inicialmente, comecei a aplicar algumas regras que eu julgava corretas para resolver determinadas assimetrias: dividia a conta de igual para igual com as meninas sempre que comíamos – embora vez ou outra eu tivesse que convidar as que estavam sem dinheiro algum – e estabelecia uma relação de troca que, a meu ver, seria a mais justa. Se eu oferecesse os ingredientes do al-moço, elas tinham que cozinhar algum dos pratos e assim por diante. Embora elas tenham, inclusive, pagado lanches ou passagens de “chapa”10 para mim nas vezes em que fui sem dinheiro ao Cenáculo, isso não impediu que me pedissem dinheiro emprestado sem que nunca pagassem de volta – ainda que eu tenha cobrado –, que me pedissem Bíblias ou livros da IURD de presente ou que uma das minhas amigas me roubasse uma grande quantia em dinheiro, cerca de R$1.000,00. Fi-cou evidente, ao final, que eu não resolveria assimetria alguma dessa forma.
Passada a frustração inicial, me dei conta de que a noção de “troca justa” era apenas minha, não delas, e acabei pagando um preço alto por não ter compreen-dido a tempo os códigos por elas emitidos – os ditos e os não ditos. Por mais que mantivéssemos uma relação amistosa, a maioria delas vivia em situação precária, dividindo casa com muitos membros da família – escutei casos de quatro ou cinco pessoas por cômodo – e eu concluí que, naquele contexto, eu deveria ter oferecido uma compensação em dinheiro pela ajuda na pesquisa que eu efetivamente rece-bia. Maria, especificamente, atuava como uma assistente de pesquisa das mais dedicadas: guardava folhetos e matérias de jornal que me interessavam, ligava para avisar sobre alguma reportagem na televisão, aconselhava sobre como me comportar ou não me comportar na igreja. Se, na minha concepção, eu retribuía a ajuda delas proporcionando momentos de lazer, almoços ou jantares, não era isso, definitivamente, o que elas precisavam. Tratar o dinheiro como um tabu, neste caso, revelava mais sobre meus valores morais e éticos do que sobre as re-lações entre nós estabelecidas, o que me levou a questionar mais uma vez as con-dições de produção dos meus dados. Se, inevitavelmente, não é possível prever as situações que exigirão uma mudança de postura no decorrer do trabalho etnográ-fico – sobretudo quando ele é atravessado por relações de poder que jamais serão apagadas, mas negociadas – é necessário que estejamos preparados para reco-nhecer sua contingência e abertos para traçar caminhos alternativos.
10 Transporte público.
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
59
O “outro repugnante” e o trabalho antropológico: alternativas possíveis
A percepção quase tardia da forma como os meus “outros” me percebiam em campo, portanto, foi fundamental para os rumos posteriores do meu trabalho. Em primeiro lugar, porque colocou em jogo minha identidade e as relações de poder entre mim e eles, e não somente entre fiéis, igreja e Estado – plano inicial de minha pesquisa. Depois, porque esse jogo foi atravessado por outra questão igualmente importante e intrinsecamente conectada às duas primeiras, isto é, o fazer etnográfico junto àqueles comumente percebidos por nossos pares antropó-logos a partir de uma alteridade repugnante, nos termos propostos por Harding (1990).
Em seu trabalho sobre as origens do “fundamentalismo”, a autora nos mostra que a categoria surge como contraponto à ideia de modernidade e deve ser pen-sada a partir dessa perspectiva. Com base em uma pesquisa documental, Harding propõe uma genealogia que tem como ponto de partida um episódio de consagra-ção e visibilização do termo – uma disputa judicial sobre o ensino do criacionismo nas escolas que tem como uma das partes “fundamentalistas cristãos” – e não a origem etimológica da palavra, para demonstrar que o tratamento dado ao grupo está assentado na oposição entre modernidade e atraso. Se, por um lado, o pen-samento antropológico foi capaz de produzir “outros” culturais legítimos, em ge-ral minorias étnicas e identitárias, o fundamentalista é percebido como um outro hipoteticamente antimoderno e, portanto, repugnante. Como saída possível, a autora sugere que os “fundamentalistas” sejam tratados a partir de um quadro que não reproduza uma oposição totalizante entre nós e eles, pois negar a margi-nalidade desses grupos significaria negar sua própria existência. Já Coleman (2018), que retoma magistralmente a ideia de Harding para aprofundá-la, propõe que os pesquisadores do “cristianismo conservador” se apeguem às “zonas fron-teiriças” onde as ambivalências aparecem, prestem atenção à temporalidade de enquadramentos éticos (nosso e deles) e considerem a experiência pentecostal como fragmentada, e, consequentemente, permeada também pelo lúdico e pelo irônico.
À luz desses estudos, concluí que um trabalho de campo que focasse na reli-giosidade tal como vivida por membros-engajados da IURD, não por membros-flutuantes, poderia se apresentar como solução possível para todas as minhas in-quietações. De acordo com Orsi (2010), a “religião vivida” 11, conceito que escolhi para guiar minha observação, só tem significado em relação com outras formas culturais, experiências de vida e circunstâncias nas quais está inserida, de modo que só pode ser compreendida situacionalmente. Já Hartel (2006), ao apontar as lacunas de trabalhos que adotaram este conceito como perspectiva teórica, res-salta que a maioria dos autores reconhece a importância da performatividade como ferramenta conceitual, mas subestima a importância da cultura material e visual para examinar como as pessoas reais fazem e veem suas práticas religiosas em determinadas circunstâncias. Assim, tanto o trabalho de Hartel (2006) sobre o processo de santificação do Padre Backer numa diocese norte-americana, quanto às dinâmicas em torno da Madonna da 115th Street descritas por Orsi (2010), nos mostram como o mundo material “aparece não apenas como um ce-nário inerte para as práticas culturais, mas, ao contrário, constitui seu meio es-sencial” (idem: xxxix, tradução minha).
11 Ver Hall, 1997; Orsi, 2010 [1985]; Hartel, 2006.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
60
A meu ver, acompanhar as trajetórias dos membros, prestando atenção ao que faziam, com o que faziam e como faziam, me ajudaria a entender as negocia-ções feitas pelos fiéis ao transitar por esse mundo fragmentado a partir de seu pertencimento religioso. Ao fazer essa opção, contraponho-me às análises feitas no Brasil que classificam a IURD como igreja de “serviço” (PIERUCCI, 1998; MA-RIANO, 2005; CAMPOS, 1997), bem como à análise realizada por van Wyk (2014) sobre a IURD na África do Sul, que chama atenção para a total ausência de laços sociais entre membros da IURD em Durban e até mesmo à análise de Kamp (2016), que destaca a fraca sociabilidade engendrada pela IURD em Ma-puto. Considerando que grande parte das pesquisas sobre evangélicos é centrada nos discursos e práticas institucionais e que, embora importante, esse tipo de análise tende a reduzir o lugar e a capacidade de agenciamento dos fiéis, fazer do cotidiano dos membros o centro da observação ajudaria a entender esse “outro” em toda a sua complexidade. Para isso, eu deveria levar a sério as categorias na-tivas, ações, reações, dúvidas, entrega e questionamentos de meus interlocutores, o que incluía, descobri em campo, considerar a forma como eu era percebida por eles.
Toda essa reflexão me ensinou, no fim das contas, que o trabalho de campo não é feito apenas de escolhas metodológicas, sempre arbitrárias e redutoras, mas também de contingências que nos obrigam a repensar nosso próprio lugar du-rante o campo. Ter minha identidade e, consequentemente, meu lugar de poder tão bruscamente deslocados reverberou diretamente na forma como passei a re-fletir sobre as relações construídas entre mim e meus interlocutores, no conjunto de reflexões a partir das quais construí meu objeto e, finalmente, no conheci-mento antropológico produzido e textualizado posteriormente. É sobre estas três etapas que passo a falar a partir de agora.
Entrando em campo Antes de narrar os outros deslocamentos realizados ao longo do campo, faz-
se necessário descrever rapidamente a forma como me inseri nele. Morei em Ma-puto entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, período em que estive vinculada como pesquisadora visitante no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Ao longo dos seis meses, realizei observação partici-pante nos cultos, frequentei reuniões de grupo temáticos, festas, ações assisten-ciais e de evangelização fora da igreja, além de acompanhar trajetórias de dife-rentes fiéis, todas mulheres, em seu cotidiano dentro e fora da igreja. É possível afirmar que fui a todas as dinâmicas oferecidas aos fiéis pela hierarquia da igreja neste período e frequentei o Cenáculo em todos os dias da semana, ainda que não na mesma semana.
De fato, seria arrogante da minha parte estabelecer qualquer comparação com a participação observante realizada por Wacquant nos ringues, quando ele resolveu se tornar um boxeador e dedicar-se integralmente ao projeto a ponto de participar de torneios profissionais, tal como ele fez em Corpo e Alma: notas et-nográficas de um aprendiz de boxe (2002). Embora eu não tenha ido ao campo com o objetivo de me tornar crente, logo me convenci de que seria impossível passar por ali sendo uma mera observadora se me dispunha a compartilhar mo-mentos tão intensos com os fiéis. Para o bem e para o mal, assim como aconteceu com Wacquant, meu aprendizado com os crentes passou pelo corpo e fez de mim uma pesquisadora-experimentadora de sensações, mediações, orações e práticas iudianas.
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
61
Como bem colocado por Goldman, é importante reconhecer a etnografia como um devir, isto é, “um movimento através do qual um sujeito sai de sua pró-pria condição por meio de uma relação de afetos que consegue estabelecer com uma condição outra” (2003: 464). O afeto, neste caso, não tem nada a ver com emoções, sentimentos ou empatia, mas com deixar-se afetar pelas mesmas forças que afetam o nativo. Ainda que eu não saiba afirmar se fui ou não afetada pelas mesmas forças que afetavam a eles, no sentido atribuído por Goldman, reconheço que acompanhar cotidianamente a religiosidade iurdiana me afetou de muitas formas. Em geral, eu participava ativamente dos cultos, respondia fisicamente aos estímulos ali experimentados – chorei, me emocionei, tremi, passei mal – e cheguei a ser “assistida” por uma obreira que identificou em mim o espírito da inveja. Mesmo por isso, houve vezes em que precisei ser mais cuidadosa com as expressões corporais, de modo a evitar ser interpelada por obreiros durante even-tos cujos detalhes eu considerava importante observar mais atentamente. De todo modo, essas negociações impostas pelo campo são constitutivas da produção an-tropológica (BLANES, 2006) e não foram raras as vezes em que precisei fazer mudanças de meio de caminho, às vezes mais de uma durante um mesmo evento.
Resolvida a questão sobre a forma como eu viveria o campo, precisei decidir se me identificaria ou não como pesquisadora para as lideranças da igreja. Minha supervisora moçambicana na UEM, Teresa Cruz e Silva, alertou-me sobre os pos-síveis riscos que envolveriam essa decisão, baseada em sua experiência alguns anos antes.12 De acordo com seu relato, ela não pôde continuar o trabalho porque se identificou como pesquisadora. Embora não tenha sido impedida formalmente de ir à igreja, os fiéis deixaram de responder suas perguntas, inviabilizando, as-sim, a realização da pesquisa. No Brasil, como sabemos, muitos trabalhos produ-zidos sobre igrejas evangélicas adotam um tom de denúncia ou pejorativo, tema já abordado por Mariz (1995), Giumbelli (2002) e Mariz e Campos, (2011), motivo pelo qual lá, como cá, pesquisadores também são vistos com desconfiança pelas lideranças das grandes igrejas brasileiras.
Como se não bastasse, o tempo escolhido para realização do meu campo coin-cidiu, propositadamente, com a campanha eleitoral, um período que desde o fim da guerra civil13 e do estabelecimento de eleições democráticas costuma ser mar-cado por conflitos e mortes no país. Tendo em vista que o partido governante, a Frelimo, e a IURD mantêm uma relação de cooperação mútua (FRESTON, 2005; REIS, 2018; 2019), são comuns as acusações de favorecimento entre partido e igreja na mídia, no senso comum e sobretudo entre opositores políticos. Portanto, ser confundida com uma jornalista ou ter as intenções de pesquisa sob escrutínio naquele contexto poderia colocar minha própria integridade física em risco, alerta que me foi dado por um amigo moçambicano assim que desembarquei em Maputo e que eu decidi levar à sério.
Em resumo, a possibilidade de ser impedida de pesquisar a IURD naquele momento existia e esse, definitivamente, não era o meu propósito. Após tentar sem sucesso algumas das estratégias de inserção, optei, depois de uma conversa derradeira com Kamp14, por me apresentar como pesquisadora exclusivamente às pessoas cujas trajetórias eu fosse acompanhar. Na prática, isso significou que eu desisti de me apresentar formalmente à hierarquia da igreja a não ser que fosse
12 Ver Cruz e Silva, 2003. 13 Após a independência de Moçambique, em 1975, seguiu-se a guerra civil, travada entre a Frelimo e a Renamo, que acentuou ainda mais as desigualdades existentes no país. A nomenclatura da guerra que se seguiu à independência é uma categoria em disputa. 14 Antropóloga holandesa que pesquisou igrejas pentecostais em Maputo e que me prestou fundamental ajuda durante todo o doutorado. Sobre a sua pesquisa e estratégias de inserção em campo, ver Kamp, 2016.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
62
interpelada por eles – o que nunca aconteceu. Como minha análise recairia sobre as práticas cotidianas dos crentes a partir de seu pertencimento à igreja, não so-bre a instituição em si, jamais considerei um problema ético frequentar as ativi-dades abertas ao público oferecidas pela IURD. Não se trata, como questiona Na-der (1969), de operar com éticas diferentes ao se pesquisar “para cima” e “para baixo”. Meus interlocutores, incluindo obreiros com quem me relacionei direta-mente, sabiam sobre o trabalho e colaboravam com ele, e eram essas pessoas que me interessava acompanhar. No Brasil, minhas experiências anteriores de pes-quisa em megatemplos pentecostais incluíram o diálogo com lideranças, posto que interessadas também em sua atuação político-partidária, mas a experiência moçambicana exigiu que eu levasse em consideração os riscos à minha integri-dade física e foi esse o cuidado que pesou na decisão de me expor o mínimo pos-sível.
Passados os percalços iniciais, aos poucos estreitei os laços de amizade com algumas fiéis, de modo que elas passaram a frequentar a minha casa e organizar saídas de lazer, como comer pizza ou jogar conversa fora na praia da Costa do Sol. Ainda que tenha conversado com homens e me aproximado do obreiro líder do meu grupo, o campo impôs que eu limitasse minha rede de amizade, e, conse-quentemente, minha pesquisa, entre mulheres. Na FJU, não era bem visto que homens e mulheres fossem íntimos e não considerei como opção transgredir essa regra. Entretanto, ainda que não pudesse acessar o universo masculino direta-mente, eu não deixava de observar como homens e mulheres se relacionavam en-tre si, ainda que de uma perspectiva mediada pelas fiéis e por meu próprio lugar como pesquisadora mulher, um exemplo claro de como a identidade do pesqui-sador influencia a construção do objeto.
É evidente, portanto, que minha compreensão do campo possui um recorte de gênero. O conhecimento produzido por nós, antropólogos, é localizado e, mais importante que a busca por uma suposta neutralidade é elucidar esse lugar deta-lhadamente para o leitor. Nesse sentido, foi essa rede de confiança feminina es-tabelecida a partir da FJU que deu origem à tese de doutorado que eu escrevi. Estar com elas cotidianamente, sobretudo fora das rede de vigilância da igreja, me ajudou a abordar assuntos que não seriam abordados de outra maneira e pro-duzir dados que me permitiram entender como a religiosidade iurdiana operava no cotidiano, sobretudo fora do templo.
Como a antropologia é uma via de mão dupla, eu também era constantemente interpelada por elas, por vezes até de maneira sarcástica, em relação a temas como casamento e carreira. Elas não entendiam, por exemplo, por que eu tinha deixado um namorado no Rio de Janeiro para ficar tanto tempo distante em Ma-puto ou, então, porque eu ainda não tinha filhos. Aos risos, alegavam que quando velha eu não seria mais capaz de correr atrás das crianças. A maioria das minhas interlocutoras tinha filhos desde os 18, 20 anos, e este, inclusive, era um tema recorrente nas reuniões de jovens na igreja. O conceito alargado de prosperidade na IURD, como apontam Scheliga (2010) e Teixeira (2016), inclui o planejamento familiar, de modo que um casal só é orientado a ter filhos depois de adquirir al-guma estabilidade financeira, o que não era o caso de nenhuma delas. Na prática, entendi que muitas das fiéis se aproximavam de mim menos porque queriam con-tribuir com a minha pesquisa e mais porque me se interessavam em saber curio-sidades sobre Brasil – como novelas, artistas, produtos de beleza, moda e a vida no Rio de Janeiro – e sobre mim, que estava num país estranho sem família e sem marido. Se, inegavelmente, algumas me admiravam por isso e me viam como um exemplo de independência a ser seguido, outras tantas não compreendiam o que
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
63
levava uma mulher a abrir mão de sua vida pessoal pelo trabalho e a escolher ter filhos tão tarde. Essa posição ambivalente, portanto, era válida para mim e tam-bém para elas. Foi deste lugar de constante negociação, portanto, que produzi dados e passei a construir meu objeto de pesquisa, uma experiência que passo a descrever no próximo tópico.
Construindo um objeto de pesquisa A opção por acompanhar a religião vivida por jovens crentes em seus movi-
mentos na cidade e pela cidade (MAGNANI, 2003) me impôs como dificuldade não conseguir delimitar muito bem o recorte da pesquisa durante o campo, mas apenas ao longo do processo de textualização da tese de doutorado. Como orga-nizo pensamentos, memórias e sensações enquanto escrevo, sem muitos esque-mas ou rascunhos prévios, sabia que o objeto se delinearia aos poucos, acompa-nhando o ritmo da escrita, embora eu não soubesse muito bem quando isso acon-teceria.
Se, por um lado, a complexidade do campo embaçava a imagem daquilo que eu viria a fazer depois, por outro, eu sempre tive em mente aquilo que não queria fazer, neste caso, reificar oposições e definir o que era a IURD em Moçambique como algo estático e verticalmente definido. Sabia, também, que a religiosidade iurdiana não poderia ser pensada apenas a partir do espaço físico da igreja, o templo, mas em relação a ele. Essas certezas, também vale dizer, eram as únicas que eu carregava comigo desde que saí do Brasil e foram importantes para dire-cionar o meu olhar. Enquanto estive em campo, tinha em mente o texto em que Menezes (2009) discute a abordagem caleidoscópica de Robert Hertz na festa de São Besso e tentei colocar em prática um olhar atento que conseguisse observar o mesmo acontecimento por vários ângulos e a partir de diferentes escalas. Exa-tamente como num caleidoscópio, os eventos e situações poderiam assumir dife-rentes configurações que deveriam ser consideradas em suas especificidades, de modo a não “transformar a análise num somatório de ideias, mas rearticulá-las numa sobreposição de interpretações” (MENEZES, 2009: 9). Por isso, ainda que envolta por milhares de questões, eu voltei de Maputo com alguma ideia sobre como organizaria o campo posteriormente. Eu esperava, antes de tudo, escrever um trabalho sobre uma religiosidade que despertava um sentido de pertenci-mento e definia como ideais um conjunto de valores morais que era apropriado e mobilizado por seus membros de diferentes maneiras e em diferentes espaços da vida social. Em outras palavras, não me interessava o substantivo, a igreja, mas o verbo, a IURD em ação, uma escolha que me obrigou a procurar métodos para circunscrever esse movimento.
Para isso, decidi, em primeiro lugar, assumir analiticamente que a IURD não era um dado, isto, é, não existia a priori, mas era algo em constante construção e cuja existência variava conforme o contexto e o compromisso de seus membros. Por isso acompanhar as atividades cotidianas da membresia e conversar sobre assuntos aleatórios se tornou a mais importante das minhas tarefas. Assumir esse posicionamento, contudo, não implicava negar a existência do “poder tutelar” existente naquilo que Mafra, Swatowiski e Sampaio (2012) chamaram de “projeto pastoral de Edir Macedo”, muito menos as múltiplas dimensões de poder que atravessam a relação entre fiéis e hierarquia da igreja, e até mesmo entre fiéis e fiéis (REIS, 2018). Num primeiro momento, inclusive, cheguei a enquadrar a re-lação entre os jovens da FJU e a IURD a partir de uma perspectiva foucaultiana tal como apresentada em a História da Sexualidade (1985), isto é, procurando
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
64
enxergar os processos de disciplinamento de corpos, as técnicas de cuidado de si, de construção de subjetividades, de individualização e de produção de saber-po-der. No entanto, olhar mais atentamente para os dados de campo, já na fase de escrita, me fez optar por centralizar a análise nas práticas dos sujeitos. Ainda que muitas dessas práticas estivessem ancoradas nas relações dos crentes com esses dispositivos de poder, me interessava, sobretudo, entender como tudo isso era mobilizado nas diferentes experiências cotidianas em casa e na rua. Dessa forma, eu poderia desvelar como os crentes viviam, negociavam, reinventavam e dispu-tavam isso que chamamos de “religião”, no interior de um grupo que era perce-bido por eles como uma família e cujo objetivo era promover transformações efe-tivas sobre si e sobre o mundo.
Religião e seus públicos: os desafios de pesquisar os movimentos
Como não poderia deixar de ser, a buscar por apreender esse movimento, es-
tando eu mesma em movimento junto com as fiéis, me obrigou a fazer novos des-locamentos e a me confrontar com mais algumas certezas. Um dia estava a cami-nho do Cenáculo num táxi quando, ao informar meu destino ao motorista, fui surpreendida com uma declaração espontânea de sua parte. Para ele, a IURD se-ria uma boa igreja porque, em suas palavras, “depois que os jovens descobriram Deus ficaram menos confusos15”. Ainda sem entender o sentido da frase, pergun-tei se os jovens não conheciam Deus ou não conheciam a Universal. O motorista foi mais claro desta vez: “não conheciam Deus”. E completou dizendo que “depois que aprenderam que não é bom ficar aí a beber, fumar suruma16 e a jogar conversa fora, estavam mais responsáveis”.
Naquele momento me dei conta de que a observação do motorista – um não-crente, como fez questão de afirmar – apontava para uma questão muito básica. “Conhecer Deus”, naquele contexto, não era uma metáfora, uma forma de dizer que os jovens se converteram à Universal, mas uma referência direta à expansão do cristianismo enquanto base moral de uma sociedade. Embora tenha sido co-lonizada por portugueses e tido o catolicismo como religião oficial, principal-mente após a ocupação que se efetivou com o Tratado de Berlim17, a atuação das missões protestantes e das lideranças dos grandes Estados Negros foram funda-mentais para o processo de desenvolvimento da consciência política dos negros moçambicanos (CRUZ E SILVA, 2001; HEGELSSON, 1994; CABAÇO, 2009; REIS, 2018).
Uma das consequências diretas desses influências pode ser identificada na multiplicação das chamadas “igrejas independentes africanas”18, iniciada já na segunda década do século XX, e que se caracterizam, entre outras coisas, por lei-turas particulares do cristianismo que incorporam de diferentes formas as tradi-ções africanas e a relação com os espíritos ancestrais.
15 A palavra confuso, como adjetivo, era comumente empregada no sentido de baderna, confusão. Uma pessoa confusa era alguém que gostava de arranjar confusão. 16 Como se chama maconha em Moçambique. 17 A Conferência de Berlim tem sido considerada por muitos historiadores como o início de um novo período histórico para o continente africano, marcado pelo domínio colonial. Tratou-se de uma reunião diplomática (com a participação de França, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Áustria-Hungria, Países Baixos, Dinamarca, Rússia, Suécia, Turquia e EUA) que estabeleceu as condições básicas para estes Estados reclamarem determinadas regiões africanas como estando sob sua influência. Diversas são as interpretações sobre as causas e formas através das quais o continente passou ao controle político europeu no final do século XIX. Para uma apresentação inicial destas, ver: Uzoigwe, Godfrey N. “Partilha europeia e conquista da África: apanhado geral” in: ADU BOAHEN, Albert (ed.), História Geral da África vol. VII: a África sob dominação colonial 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010. 18 Sobre o tema e as críticas ao conceito, ver Meyer, 2004.
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
65
Após a guerra de independência19, a orientação marxista-leninista assumida oficialmente pela Frelimo, em 1977, acentuou uma postura antirreligiosa e as igrejas passaram a ser acusadas de promover a divisão entre os moçambicanos e proibidas de realizar atividades públicas. A despeito de sua postura contrária ao colonialismo português, mesmo as igrejas protestantes encontraram dificuldades para organização de atividades religiosas neste período, uma realidade que só co-meçou a mudar em meados da década de 1980.
Com o fim da guerra civil, em 1992, o número de igrejas registrado no Depar-tamento de Assuntos Religiosos do Ministério da Justiça de Moçambique seguiu uma linha ascendente, passando de 112 em 1992 para 907 no ano de 2017. De acordo com os dados do Censo de 2017, a população do país se divide entre cató-licos (27.2%), evangélicos (15.3%), muçulmanos (18,9%), zione (15.6%) e sem re-ligião (13,9%), incluindo ateus ou agnósticos. O cenário na cidade de Maputo, no entanto, não segue os índices nacionais, com cerca de 29% da população decla-rando-se evangélica, ultrapassando católicos, muçulmanos e zione. Estamos fa-lando, portanto, de um país bastante diverso no que diz respeito à pluralidade religiosa, sobretudo quando pensamos este dado em relação ao Brasil majoritari-amente cristão, e marcado por processos coloniais e pós-coloniais bastante dife-rentes dos nossos.
Embora seu registro oficial tenha sido feito em 13 de julho de 1993 (CRUZ E SILVA, 2003: 111), a IURD chegou a Moçambique em 1992, mesmo ano em que iniciou seus trabalhos na África do Sul (VAN WYK, 2014) e um ano depois de ter aportado em Angola (Sampaio, 2014). Atualmente, Moçambique é um dos países com o maior número de adeptos em África20 e tem sua dinâmica definida por padrões hierárquicos, campanhas e, sobretudo, por um fluxo de pessoas que co-necta a IURD mundo afora, mas que está ancorada no Brasil. Assim, se a confi-guração do campo religioso brasileiro e o lugar ocupado pela IURD globalmente me levaram até Maputo, percebi, naquele táxi, que ter o Brasil cristão como con-texto de referência me fez naturalizar a presença pública do cristianismo em Mo-çambique e me fez perceber a urgência desse estranhamento.
Num trabalho etnográfico, apontar as ambivalências constitutivas do campo escorregando minimamente em seus próprios juízos de valor é, ou deveria ser, uma preocupação cara a todo antropólogo. Neste caso, especificamente, eu me dei conta de que deveria ser cuidadosa para não transportar automaticamente para o contexto moçambicano as controvérsias protagonizadas pela IURD no Brasil, ou, em outras palavras, ter o olhar direcionado pelas especificidades do “campo religioso brasileiro”. A melhor forma de fazer isso, sem dúvidas, era mer-gulhando de cabeça no universo da IURD em Moçambique, embora eu não sou-besse de antemão aonde isso me levaria. Já no primeiro culto, fui seduzida pelas coreografias e pela empolgação das músicas cantadas efusivamente em chan-gana21 para, em seguida, me impressionar com a intensidade e quantidade dos exorcismos realizados no altar. Aos poucos, fui desvelando a relação entre a IURD e a Frelimo, entendendo o contexto histórico e as controvérsias em torno da imensa visibilidade conquistada pela IURD em Moçambique.
19 O Acordo de Lusaka que estabeleceu um governo transitório foi assinado em 7 de setembro de 1974 e prepararia para que Samora Machel assumisse a presidência da República em 1975. 20 Para informações sobre Igreja Universal na África Austral, ver Freston (2005). 21 O site oficial do governo reconhece 20 línguas nacionais, mas esse número é controverso. O português é a língua oficial. Disponível em <http://www.portaldogoverno.gov.mz/>. Acessado em 02.12.2017. De acordo com o Censo de 2007, apenas 42,9% da população da cidade de Maputo fala português. O xichangana é falado por 31,5% e xirhonga por % 9,7%. Entre os mais jovens (5-19 anos), o português é falado por 58,4% da população. O zulu é uma das onze línguas oficias da África do Sul, onde a IURD também tem grande penetração, mas também há falantes de zulu em Moçambique, de modo que também é reconhecida como uma língua nacional no país. Na IURD, os cânticos de louvor eram todos cantados em língua local, enquanto os de adoração em português brasileiro. Sobre isso, cf. Reis, 2018.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
66
No entanto, a ausência inicial de conflito em relação à forma como eu experi-mentaria subjetivamente a religiosidade iurdiana dentro dos templos desapare-ceu na mesma velocidade em que meu movimento com os crentes se espraiava para além dos muros da igreja: muito rapidamente. Não foram raras as vezes em que me peguei completamente constrangida por sentir que estaria cooperando, ainda que infimamente, para aumentar a visibilidade da IURD quando partici-pava de suas intervenções no mundo em forma de ações sociais contra drogas, violência, desemprego, ou, ainda, dos projetos de evangelização nas periferias da cidade, por exemplo.
Esse constrangimento pessoal, claramente assentado em meus próprios po-sicionamentos políticos, se chocava com a postura antropológica que eu havia de-cidido assumir quando entrei em campo, escancarando para mim mesma as am-bivalências de pesquisar esse “outro”. Ironicamente, o próprio campo se encarre-gou de demonstrar que minha postura compreensiva encontrava uma dupla bar-reira, a primeira no plano subjetivo, mas também a partir de uma condição obje-tiva, pois aquele corpo não-negro, mais clarinho, denunciava que eu era diferente dos outros e despertava entre os não-membros uma imensa curiosidade em torno da minha presença. Ainda que a atuação de missionários brasileiros em Moçam-bique não seja exatamente uma novidade, entrar em contato com um deles cau-sava um grande alvoroço entre adultos, jovens e, principalmente, crianças fasci-nadas com o meu cabelo que “caía” e poderia ser tão facilmente trançado. De certa forma, eu me sentia legitimando o projeto social, moral e nacional da IURD para aquelas pessoas e aquilo me causava incômodo.
Se, por um lado, meu receio era justamente produzir uma análise que refle-tisse concepções engessadas sobre religião e espaço público, assim, como se fos-sem opostos, quando inúmeros trabalhos já apontam para a presença pública da religião e os limites do paradigma do secularismo (CASANOVA, 1994; HANSEN, 2014, MONTERO, 2016), por outro, o meu constrangimento ao acompanhar as ações públicas da igreja revelavam para mim, mais uma vez, as ambivalências dessa relativização. Por que, afinal de contas, era um problema que a igreja esti-vesse na rua, na mídia de massa ou na política? Dado o contexto sociopolítico e a relação entre a Frelimo e a IURD, a partir de onde eu deveria observar tudo isso?
Diante desse terreno escorregadio, onde domínios que aparentemente esta-riam separados se misturam, procurei pensar esse emaranhado complexo que en-volvia fiéis, não-fiéis, igreja, rua, mídia, partido e Estado a partir da apropriação que Meyer e Moods (2006) fazem do conceito de “esfera pública”. Sem encampar por completo o conceito habermasiano, nem tomar a noção de esfera pública como universal, ele se mostra, de acordo com as autoras, uma ferramenta útil para pensar o contexto pós-colonial se utilizado “como ponto de partida para o desenvolvimento de uma moldura mais adequada para análise das complicadas políticas de identidade na era da informação” (2006: 4, tradução minha). Na con-cepção das autoras, essa ideia de esfera pública pode ser útil para entender a emergência de novas arenas de debate que, embora não ligadas diretamente ao Estado-Nação, engendram ideias e sentimentos compartilhados entre pessoas de quadros cultural ou étnico distintos. Em outras palavras, despertam um perten-cimento comum e, consequentemente, formas convergentes de estar e intervir no mundo.
Em Maputo, fiéis atestavam os benefícios proporcionados pela adesão à IURD em suas performances cotidianas junto a não-crentes, mas toda essa infor-mação também podia ser acessada, sempre que possível, pelos poderosos meios de comunicação de massa dominados pela IURD como o jornal impresso, a rede
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
67
de televisão e a rádio próprios. Assim, os crentes assistiam novelas que retrata-vam histórias bíblicas produzidas pela brasileira Rede Record, liam livros religi-osos e de autoajuda escritos pela família Macedo, circulavam pela cidade levando consigo a Folha Universal para distribuir nos bairros, montavam palcos com mi-crofones e caixas de som em praças públicas para emissão de discursos religiosos que reivindicavam um país melhor, podiam comprar CDs de músicas religiosas em changana e zulu vendidos nas igrejas a preços acessíveis e estabelecer contato via WhatsApp com obreiros ou grupos sempre disponíveis a ajudar. Tudo isso me fez perceber que a sociabilidade engendrada a partir das práticas cotidianas dos crentes não vinculava necessariamente a religiosidade iurdiana ao espaço físico do templo, mas que era capaz de produzir um forte sentido de pertencimento. Se, como afirma Stolow, a religião “está entrelaçada a objetos, técnicas e instrumen-tos do mundo material no seio do qual os atores e as ações religiosas são incorpo-rados e com base no qual ideias, experiências práticas e modos de associação re-ligiosos se tornam possíveis” (2014: 152), eu acrescentaria que, essas ideias, ex-periências e modos de associação fazem parte de um movimento que faz a “reli-gião” circular, transmutar-se e forjar sensibilidades que promovem transforma-ções efetivas na arena pública.
Estes mesmos jovens, entretanto, também precisam se virar, se proteger e sobreviver na cidade em meio a altos índices de desemprego, pobreza extrema e os ecos das inúmeras guerras pelas quais o país passou em sua história recente. Com isso, quero dizer que, para além da igreja, o meio urbano e semiurbano no qual esses jovens circulavam diariamente não deveriam ser percebidos como inertes, mas considerados como espaços produtores de sociabilidades, padrões de troca e rituais da vida pública (MAGNANI, 2002: 6). Assim, se, por um lado, o conceito de “religião vivida” se mostrou uma ferramenta útil para apreender a religião tal como as pessoas a vivem e sua relação com as dimensões materiais da própria religião, por outro, eu ainda me sentia profundamente incomodada por definir, de antemão, como religião, aquilo que os crentes faziam. Definitivamente não era só isso.
Se, como nos lembra Jeremy Stolow, a própria categoria religião está sempre sendo repensada (2014: 149), defini-la a priori não parecia uma estratégia coe-rente com o trabalho que eu me dispunha a fazer. Ao mesmo tempo, minha pes-quisa se debruçava sobre as ações de membros de um grupo que se definia como religioso, embora nem sempre as ações que observei em campo fossem necessa-riamente religiosas, revelando a boa e velha tensão entre categoria nativa e cate-goria analítica tão cara aos antropólogos. Para resolver mais este impasse, decidi que a tentativa de não essencializar a religião (e pensar os meus constrangimen-tos) exigiria que eu articulasse outras perspectivas teóricas ao conceito de religião vivida, tais como performances e cultura material, por exemplo. Não se tratava, contudo, de não levar a sério a essencialização que os próprios crentes faziam de si mesmos – percebo-os como crentes da Universal, assim como eles se definem – apenas me afasto dela para tentar apreender os efeitos que essa essencialização produz no mundo, inclusive, quando se escreve e quando se fala sobre ela. No fim das contas, essa foi a saída que encontrei para dar conta das questões colocadas pelas ambivalências sobre a presença pública dos fiéis – e a minha própria – na cidade e me permitiu construir com mais clareza um objeto de pesquisa.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
68
O trabalho de escrever Neste artigo, procurei aprofundar algumas questões que emergiram da expe-
riência etnográfica que resultou na tese de doutorado (REIS, 2018) sobre a “reli-gião vivida” por “membros-engajados” da IURD em Maputo. Por isso, além de recompor a estrutura da IURD em Maputo, a tese também analisou a interação entre os membros na igreja, em casa e na rua, sua relação com as diferentes tec-nologias na mediação com o divino, incluindo o dinheiro, e com as moralidades instituídas pela igreja. Tudo isso me permitiu detalhar os meandros de uma reli-giosidade que, em intensa relação com o partido governante, produz um forte sentido de pertencimento e aglutina os jovens em torno de uma comunidade es-pecífica, a Família Universal de Moçambique. Ao final, defendi que o engaja-mento desses sujeitos na religiosidade iurdiana era fundamental para que a IURD pudesse existir e se expandir física e simbolicamente, a ponto de ter se transfor-mado num ator político importante na esfera pública moçambicana.
No entanto, até que eu conseguisse definir minimamente qual seria meu ob-jeto de estudo, um longo caminho foi percorrido, muitos imprevistos enfrentados e nem todos solucionados, como ficou bem demonstrado nos tópicos anteriores. E, ao contrário do que se possa imaginar, muitas dessas questões não foram per-cebidas por mim na medida em que aconteciam, mas apenas durante o trabalho da escrita. Se, como nos ensina Cardoso de Oliveira (2006), o trabalho do antro-pólogo é olhar, ouvir e escrever – e aqui acrescentaria, ainda, cheirar, sentir e tocar – é muito comum que os debates clássicos sobre metodologias de pesquisa deem mais atenção aos dois primeiros que ao trabalho de textualização. Eviden-temente, não se trata de ignorar clássicos como A Escrita da Cultura, organizado por Clifford e Marcus (2016), toda a reflexão de Geertz (1989) e até mesmo dis-cussões mais contemporâneas como aquelas feita por Ingold (2013), mas de dar visibilidade aos obstáculos e desdobramentos do processo de textualização.
Para realização de um bom trabalho, nós, antropólogos, precisamos realizar um levantamento bibliográfico que se multiplica a cada nova referência cruzada, mergulhamos no trabalho etnográfico trazendo na bagagem experiências que nem sempre conseguimos racionalizar ou pensar sobre, compartilhamos nossas ideias com colegas, participamos de congressos, classificamos o material reco-lhido em campo. Ao final, toda essa experiência precisa ser comprimida num texto, a meu ver, a parte mais difícil de todas. E não me refiro apenas às dificul-dades que envolvem o trabalho de descrever/interpretar/inventar aquilo que nos dispusemos a pesquisar, mas, sobretudo, à dura realidade trazida pelo momento de textualização de que muitas ideias não serão passíveis de desenvolvimento, tal como nos alerta Menezes (2004: 52). Nesse sentido, corroboro o argumento de Oliveira de que é impossível dissociar o pensar do escrever porque “é no processo de redação de um texto que nosso pensamento caminha, encontrando soluções que dificilmente aparecerão antes da textualização dos dados provenientes da ob-servação sistemática” (2006: 32).
Assim, na mesma medida em que apresenta soluções, o trabalho de escrever desvela um infindável conjunto de questões sobre as quais nunca havíamos pen-sado antes e que deverão necessariamente ser solucionadas ou descartadas, mesmo que temporariamente, para que a etnografia se autonomize e ganhe vida própria no mundo. Não por acaso, escrever revelou-se, para mim, uma experiên-cia intrinsecamente conectada ao trabalho de campo, sobretudo na medida em que eu conseguia reviver quase que integralmente as situações experimentadas anos antes, incluindo odores, arrepios e emoções. Como disse antes, muitas das
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
69
questões que se tornaram problemas centrais na minha tese não foram percebi-dos durante o campo, mas alguns anos depois, quando precisei resgatar memó-rias, insights, anotações e áudios para escrever sobre eles. E, para isso, o trabalho de tempo foi fundamental.
Dar tempo ao tempo: uma parada necessária Volto, agora, ao problema inicial deste texto. Se, como demonstrei até aqui,
perseguir o movimento se tornou quase uma obsessão etnográfica, termino o texto invocando a importância do movimento oposto: a pausa. O trabalho do tempo, às vezes inimigo da pesquisa, mostrou-se fundamental para que eu perce-besse que não faria uma etnografia sobre alguma coisa, mas da relação estabele-cida entre mim e aquilo que se delineou aos poucos como meu objeto de pesquisa. Da mesma forma, também foi o distanciamento do campo que me fez perceber a urgência de abandonar algumas ideias e decidir, finalmente, que não escreveria especificamente sobre religião, nem sobre espaço público, nem sobre relações de poder. Não me guiaria por conceitos que me imobilizassem sendo mais prescriti-vos que descritivos, mas pelo fluxo de coisas e pessoas que a todo momento refa-ziam suas trajetórias e sentidos no interior de uma religiosidade específica, a fim de perceber como esse emaranhado se configurava ao final. Em resumo, toda mi-nha percepção sobre a IURD em Maputo foi compreendida e apresentada a partir da minha relação com membros da FJU, da forma como eu me relacionei com eles e, principalmente, eles comigo.
Para além disso, também quis chamar atenção para o fato de que os diferen-tes estágios da pesquisa não formam, definitivamente, um processo linear. Tra-balho de campo, construção do objeto e textualização, como demonstrei neste texto, são etapas de trabalho que se interpelam a todo o tempo e exigem de nós uma constante ressignificação. Não por acaso, eu invoco flashes de cada uma des-sas etapas em todos os tópicos, a fim de demonstrar como elas se atravessam, complementam e se desordenam quando necessário. Nesse meio de campo, os conceitos aparecem como ferramentas indispensáveis, menos para explicar e cir-cunscrever a análise e mais para ajudar a experimentar saídas para os problemas colocados pelo campo.
Em síntese, esse esforço de tentar conferir alguma inteligibilidade a um pro-cesso que ainda hoje se reflete no meu trabalho, apontando suas especificidades – as minhas e a do campo em um país africano – tem como finalidade destacar a importância desses deslocamentos para o fazer etnográfico, sobretudo quando eles nos movem tão subitamente dos lugares onde nos acostumamos a (ou luta-mos para) estar. Durante todo o tempo, oscilei entre ser uma negra não crente e uma branca semi-crente experimentando temporalidades, festas, ações, intera-ções, materialidades e política a partir da convivência com os jovens da FJU. As ambivalências constitutivas do campo, mais que um problema, se apresentaram, ao final, como uma solução. Melhor que definir qualquer coisa é demonstrar suas várias combinações possíveis, mas isso eu só descobri dando tempo ao tempo, parada, já no Brasil, escrevendo sobre como faria uma etnografia do movimento de jovens crentes pela cidade de Maputo.
Recebido em 7 de dezembro de 2019. Aceito em 8 de janeiro de 2020.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
70
Referências
BLANES, Ruy Llera. The atheist anthropologist: believers and non-believers in anthropologial filedwork. Social Anthropology, 2006 (14): 223-234.
CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: organizaçãoo e marke-ting de um empreendimento neopentecostal. Petrópolis: Vozes; São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 1997.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, es-crever”. In: O trabalho do antropólogo. São Paulo: Editora Unesp, 2006. pp. 17-36.
CASANOVA, José. Public religion in the Modern World. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
CLIFFORD, James. “Introdução: verdades parciais”. In: CLIFFORD, James; MARCUS, Geroge (orgs.). A escrita da cultura: poética e política da etnografia. Rio de Janeiro: Ed. UERJ; Papéis Selvagens Edições, 2016. pp. 31-62.
CLIFFORD, James; MARCUS, Geroge (orgs.). A escrita da cultura: poética e po-lítica da etnografia. Rio de Janeiro: Ed. UERJ; Papéis Selvagens Edições, 2016.
COLEMAN, Simon. “Zonas Fronteiriças: ética, etnografia e o cristianismo “re-pugnante”. Debates do Ner, 1 (33): 271-312, 2018.
CRUZ E SILVA, Teresa. Igreja Universal em Moçambique. In: ORO, Ari Pedro, CORTEN, André, DOZON, Jean-Pierre (org). Igreja Universal do Reino de Deus: os novos conquistadores da fé. São Paulo: Paulinas, 2003. pp. 123-135.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade III: o cuidado de si. Rio de Ja-neiro: Graal, 1985.
FRESTON, Paul. The Universal Church of the Kingdom of God: a brazilian church finds success in Southern Africa. Journal of Religion in Africa, 35 (1): 33-65, 2005.
GIUMBELLI, Emerson. Símbolos Religiosos em controvérsias. São Paulo: Ter-ceiro Nome, 2014.
GIUMBELLI, Emerson. O Fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Bra-sil e na França. São Paulo: Attar/PRONEX, 2002.
GEERTZ, Clifford. Works and Lives: Anthropologist as author. Stanford: Stan-ford University Press, 1989.
GOLDMAN, Marcio. Os Tambores dos Mortos e os Tambores dos Vivos. Etnogra-fia, Antropologia e Política em Ilhéus, Bahia. Revista de Antropologia, 46 (2): 445-476, 2004.
GOMES, Edilaine Campo. A Era das Catedrais: a autenticidade em exibição. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
HALL, David. Lived Religion in America: Toward a History of Practice. Pince-ton, Princeton University Press, 1997.
HANSEN, Thomas B. “Religion”. In: NONINI, Donald. A Companion to Urban Anthropology. London: Willey: Blackwell, 2014. pp. 364-380.
RE
IS,
Lív
ia.
D
es
loc
am
en
tos
etn
og
rá
fic
os
71
HARDING, Susan. “Representing fundamentalism: the problem of the repugnant cultural other”. Social Research, 58 (2): 373-393, 1991.
HARTEL, Heather A. Producing Father Baker: material and visual practices of making a saint. Material Religion, 2(3): 320-349, 2006.
HELGESSON, A. Church, State and people in Mozambique: an historical study with special enphasis on Methodist developments in Inhambane Region. Upp-sala: Swedish Institute of Missionary Research, 1994.
INGOLD, Tim. “Repensando o animado, reanimando o pensamento”. Revista Es-paço Ameríndio, 7(2): 10-25, 2013.
KAMP, Linda Van de. Violent conversion: Brasilian pentecostalism and the ur-ban pioneering of women in Mozambique. Rochester: James Currey, 2016.
MAFRA, Clara; SWATOWISKI, Claudia; SAMPAIO, Camila. O projeto pastoral de Edir Macedo: uma igreja benevolente para indivíduos ambiciosos? Revista Brasileira de Ciências Sociais, 27 (78): 81-96, 2012.
MAGNANI, José Guilherme. De perto e de dentro. Notas para uma etnografia urbana. Rev. Bras. Ci. Soc., São Paulo, 17 (49): 11-29, 2002.
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. 2ª edição. São Paulo: Loyola, 2005.
MARIZ, Cecília Loreto. Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o ne-opentecostalismo. Revista de Cultura Teológica, 3: 37-52, 1995.
MARIZ, Cecília Loreto; CAMPOS, Roberta. Pentecostalism and 'National Cultu-re': a dialogue between brazilian social sciences and the anthropology of christia-nity. Religion and Society: advances in research, 2: 106–121, 2011
MENEZES, Renata de Castro. A dinâmica do sagrado: rituais, sociabilidade e santidade num convento do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ, 2004.
MENEZES, Renata de Castro. Revisitando Saint Besse - Ou, o que Robert Hertz e a Escola Francesa de Sociologia ainda têm a nos dizer sobre festa”. Religião e Sociedade, 29 (1): 179-199, 2009.
MEYER, Birgit. Christianity in Africa: from African Independent to Pentecostal Charismatic Churches. African Review of Anthropology, 33: 447-74, 2004.
MEYER, Birgit; MOODS, Annelies (org). Religion, Media and Public Sphere. Blo-omington and Indianapolis: Indiana University Press, 2006.
MONTERO, Paula. “Religiões Públicas” ou religiões na Esfera Pública? Para uma crítica ao conceito de campo religioso de Pierre Bourdieu”. Religião e Sociedade, 36 (1): 128-150, 2016.
NADER, Laura. “‘Up the Anthropologist: Perspectives Gained from ‘studying up’’’. In: HYMS, D. (ed.) Reinventing Anthropology. New York: Random Hous, 1969. pp. 284-311.
ORTNER, Sherry. Poder e Projetos: “Reflexões sobre agência”. In: GROSSI, Pilar; ECKERT, Cornelia; FRY, Peter. Conferências e diálogos: saberes e práticas an-tropológicas. Nova Letra Gráfica e editora. 2007.
AC
EN
O,
7 (
13):
53
-72
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
72
PIERUCCI, A.F. “Interesses religiosos dos sociólogos da religião”. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto (org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997.
REIS, Lívia. Ser Universal: crentes engajados e práticas cotidianas na cidade de Maputo. Rio de Janeiro, tese de doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2018.
REIS, Lívia. Estreitando alianças, criando crentes moçambicanos: notas sobre a cooperação entre a Igreja Universal do Reino de Deus e a Frelimo na cidade de Maputo. Revista De Antropologia, 62 (3): 584-609, 2019.
RIOS, Flavia. “O que o colorismo diz sobre as relações raciais brasileiras?”, 2019. [online]. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/o-que-o-colorismo-diz-sobre-as-relacoes-raciais-brasileiras/>. Acessado em 20.05.2020.
SAMPAIO, Camila. Através e apesar da “Reconstrução Nacional” em Angola: circunstâncias e arranjos nos limites da vida. Rio de Janeiro, tese de doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014.
SCHECHNER, Richard. “What is performance?”. In: Performance Studies: An introduccion. Second edition. New York & London: Routledge, 2006. pp. 28-51.
STOLLOW, Jeremy. Religião e Mídia: notas sobre pesquisas e direções futuras para um estudo interdisciplinar. Religião & Sociedade, 34 (2): 146-160, 2014.
THOMAZ, Omar Ribeiro. “Contextos cosmopolitas: missões católicas, burocracia colonial e a formação de Moçambique (notas de uma pesquisa em curso)”. In: Estudos Moçambicanos. Maputo: Centro de Estudos Africanos, 2001.
THOMAZ, Omar Ribeiro. “Escravos sem dono”: a experiência social dos campos de trabalho em Moçambique no período socialista. Revista de Antropologia, 51 (1): 177-214, 2008.
UZOIGWE, Godfrey N. “Partilha europeia e conquista da África: apanhado geral”. In: ADU BOAHEN, Albert (ed.), História Geral da África vol. VII: a África sob dominação colonial 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010.
VAN WYK, Ilana. The Universal Church of the Kingdom of God in South Africa: a church of strangers. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
WACQUANT, Loïc. Corpo e Alma Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
. A
cen
o –
Rev
ista
de
An
tro
po
log
ia d
o C
en
tro
-Oes
te,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
.
ISS
N:
23
58
-55
87
Ori, Ooni: etnografando o inusitado em Ilê Ifé, Nigéria
Deborah de Magalhães Lima1
Nílsia Lourdes dos Santos2 Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Relatamos episódios de uma pesquisa na Nigéria que mostram quão inu-sitada uma experiência etnográfica pode ser. Hospedadas no Palácio do Ooni de Ifé, as pesquisadoras acompanharam o Rei em sua intensa agenda social. Para o tema da pesquisa, Ori, o Rei ordenou que os babalaôs da corte recebessem as pesquisado-ras. Deste relato fora do ordinário, o artigo enfatiza o potencial etnografável de qual-quer trabalho de campo – não há como distinguir pesquisa de campo do resultado do campo.
Palavras-chave: etnografia; Nigéria; Iorubá; Ori; Ooni.
1 Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em Antropologia Social pela Universidade de Cambridge (1982) e doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Cambridge (1992). É professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o Núcleo de Estudos sobre Populações Quilombolas e Tradicionais – NuQ. 2 Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Paulista (2014). Mestranda em Antropologia da UFMG.
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
74
Ori, Ooni: ethnographing the unusual in Ilê Ifé, Nigeria
Summary: We report incidents of an ethnographic research in Nigeria showing how extraordinary a field experience can be. Hosted at the Ooni Palace of Ifé, the researchers accompanied the King on his intense social agenda. For the topic of the research, Ori, the King ordered the court babalawos to receive the researchers. From this unusual account, the article emphasizes the ethnographic potential of any field-work – there is no way to distinguish work in the field from result of the field.
Keywords: ethnography; Nigeria; Yoruba; Ori; Ooni.
Ori, Ooni: etnografando lo inusual en Ilê Ifé, Nigeria
Resumen: Reportamos episodios de una encuesta etnográfica en Nigeria que muestran cuán inusitada puede ser una experiencia de campo. Alojadas en el Palacio del Ooni de Ifé, las investigadoras acompañaron al Rey en su intensa agenda social. Para el tema de la investigación, Ori, el Rey ordenó a los babalaós de la corte que recibieran a las investigadoras. Desde esta cuenta inusual, el artículo enfatiza el po-tencial etnográfico de cualquier trabajo de campo: no hay forma de distinguir inves-tigación en el campo de resultado de campo.
Palabras clave: etnografía; Nigeria; Yoruba; Ori; Ooni.
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
75
este artigo, nós duas, Deborah e Nílsia, alternamos nossas falas para re-latar uma experiência de campo inusitada na cidade de Ilê Ifé, na Nigéria. O tema da pesquisa de campo foi Ori. Literalmente “cabeça” em iorubá,
Ori é uma noção metafísica complexa, que trata, resumidamente, do destino, da vivência espiritual, da individualidade e da ancestralidade. Embora seja o mais importante orixá no panteão tradicional iorubá, no Brasil o Ori não é muito co-nhecido. No Candomblé está associado ao ritual do borí, principalmente ao que antecede a iniciação ao orixá, quando se diz “fazer a cabeça do santo”.3 Compa-rado à extensão da literatura sobre os orixás, é raro encontrar trabalhos sobre Ori em português.
No entanto, quase não falamos aqui sobre Ori, tema da dissertação de Nílsia. Focamos a experiência do campo. A exposição por revezamento permitiu dispen-sar a criação de uma fala intermediária, provavelmente impessoal e anódina, e deixou que cada uma falasse a seu modo. Eu, Deborah, havia escrito um esqueleto e Nílsia preencheu longos trechos de forma muito expressiva. Vi que não teria como escrever por cima do seu relato sem comprometer o vigor da sua fala. De-cidi, então, prosseguir a escrita de modo intercalado. Assim, no que se segue, não houve preocupação com a ordem, nem com a extensão das falas. O que sobressai é o contraste, que permite notar qual das duas está falando. De sobra, o arranjo explicitou o caráter individual de toda percepção etnográfica. No meu caso, mi-nha formação acadêmica compromete ambas, a escrita e a vivência do campo. Nílsia é do Axé. É Iyalodè, Ifadará Nílsia d’Oxum, sacerdotisa da comunidade tradicional de terreiro Ilè Asé Aségun Itesiwajú Aterosun, iniciada no culto aos orixás há 40 anos. Em 2019 iniciou o mestrado em Antropologia na UFMG, sob minha orientação. Neste texto ela não é nem a sacerdotisa, muito severa, nem a mestranda, igualmente austera, mas Nílsia, de fala espontânea. Temos quase a mesma idade; ela foi para a Nigéria com 61 anos, lá completou 62; e eu tinha 60. Desde seu ingresso no mestrado me ofereci para lhe acompanhar em campo, por um lado para facilitar a realização da tal etnografia – um tanto misteriosa para quem vem de outras áreas, no seu caso Serviço Social – mas principalmente por-que eu tinha interesse em conhecer a Nigéria e podia ir. Em campo, minha parti-cipação na sua pesquisa foi maior do que eu esperava. Pensei em fazer uma pes-quisa paralela, imaginei estudar a presença do dinheiro nos rituais, mas, como ficará claro, o Ori e o Ooni, além do fato de ter assumido o papel de tradutora em tempo integral, me levou – nos levou – a realizar a pesquisa juntas. No final, meu aprendizado sobre Ori me deixou mais bem qualificada para orientar uma Iya-lodè.
Estivemos na Nigéria entre janeiro e fevereiro de 2019. O planejamento da viagem tomou um rumo inesperado quando, em junho de 2018, o monarca de Ilê Ifé e líder espiritual do povo iorubá, o Ooni Oba Adeyeye Babatunde Ogunwusi, esteve no Brasil pela primeira vez e incluiu Belo Horizonte no seu roteiro. Nessa ocasião, o Ooni e sua comitiva visitaram um único santuário tradicional na ci-dade, justamente o Ilê de Nílsia.4 A recepção que ela ofereceu rendeu dois frutos
3 Na Nigéria é o inverso. Depois de propiciar o Ori, não se deve abaixar a cabeça para nenhum outro orixá. 4 Registros da visita feitos pela mídia oficial do palácio podem ser vistos em: <www.youtube.com/watch?v=NzZXU-5eXFo> e <www.youtube.com/watch?v=LeLNY35dTHo>. Acesso em 15/6/2020.
N
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
76
inesperados. O plano inicial para a logística do campo – alugar uma casa e esta-belecer contatos a partir de um conhecido professor da Universidade Obafemi Awolowo em Ifé – se transformou quando na sala do banquete o Rei nos convidou para começarmos a pesquisa sobre Ori no seu palácio. O outro desdobramento foi a concessão de uma honraria para Nílsia, que deveria ir pessoalmente à Nigé-ria receber um título importante na corte de Ilê Ifé.
As duas pesquisadoras em campo: a oyinbó pépé e a rainha Iyalodè, Iyalodè!!
De fato, a pesquisadora havia recebido do Rei da cidade Ilê Ifé, estado de
Oxum, na Nigéria, o Título de Iyalodè, ou seja, Rainha das Damas. Penso que seja uma espécie de socialite que paga um lobby para fazer parte da corte, sem saber o que é exatamente isso. Na noite anterior à tal coroação, o tradutor me informa que o Rei mandou que eu providenciasse a quantia de ₦ 500.000,00. Perguntei: “Mas isso é quanto em dólares?” Ele me responde “cerca de US$ 1.600,00.” Eu disse: “Como assim? Esse é todo dinheiro que eu trouxe para passar 15 dias, uma vez que já paguei a passagem aérea, paguei R$ 10.000,00 pelas hospedagens, traslado e alimentação. Terei que dar R$ 6.000,00?” Esse era o valor equivalente em agosto de 2018. Recordo-me que sapateei e disse: “Não estou pedindo título para ninguém, esse cara me oferece um título e agora tenho que pagar por ele? Amanhã não apareço lá, pode avisar”. Entrei para minha suíte e fechei a porta muito brava. Suíte sim, porque estava hospedada em um dos resorts do Rei. O emissário não sabia o que dizer, ficou em silêncio. Por volta de 22h esse rapaz foi chamado ao palácio para estar com o Rei. Passei boas horas da noite agitada, re-zando, tentando me acalmar, e também precisando definir se entregava ou não meu único dinheirinho. Mas o emissário também já havia dito que pela manhã chegaria um homem da etnia Hauçá para trocar o dinheiro. Quando amanheceu, nos encontramos novamente na hora do café, cumprimentei e fui dizendo, “Veja bem: o que é que eu ganho com isso? Qual é a contrapartida?” Ele tentou me dizer que as pessoas daquele país pagam lobby altíssimo para fazer parte da corte e que eu seria muito beneficiada por isso. Mas eu não entendia. Até que chegou o do-leiro. Entreguei meu rico dinheirinho e fiquei com apenas US$ 100,00. Recebi uma sacola de supermercado cheia de blocos de dinheiro sujo, horrível. Eu disse: “Não vou sair pela rua carregando essa sacolinha plástica com esse tanto de di-nheiro”. Ele pegou pacientemente o dinheiro, colocou em sua pasta de executivo e lá fomos nós. Fato é que o meu dinheiro foi totalmente distribuído nos oito Templos pelos quais passei antes de chegar ao Palácio, acompanhada por uma multidão de gente cantando e dançando pela rua afora. É uma imagem surreal para uma ocidental.
Nessa viagem, Nílsia reviu membros da corte e autoridades religiosas que es-
tiveram em sua casa dois meses antes. Alguns a acompanharam em sua peregri-nação pelos oito templos, passando por um ritual em cada, até a cerimônia final com dezenas de babalaôs da mais alta corte, que chancelaram a sua coroação. Com o título de Iyalodè, Nílsia foi inserida na matriz relacional extremamente hierárquica dos iorubás, para os quais títulos, cargos e insígnias mobilizam traje-tórias e intensas negociações interpessoais. Nem na ocasião, como ela disse, nem durante o campo chegamos a compreender bem os significados do cargo. Certa-mente a sua expressão monetária só aumentou a sensação de estarmos perdidas na tradução. Nas relações mais próximas era esperado que ela fizesse doações,
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
77
como aconteceu durante a coroação. Mas no geral o título era mesmo vantajoso, facilitando o acesso a pessoas-chave para a pesquisa e nos protegendo do próprio assédio monetário – como nas abordagens dos guardas rodoviários, que param carros nas estradas para receber suborno. Conosco, quando avistavam a coroa, mandavam passar. Em vez de enfrentarmos os entraves dos serviços públicos ni-gerianos, Nílsia – Iyalodè Osún Worldwide, como está bordado na sua coroa de miçanga – era reverenciada por onde passava. Incluindo o aeroporto. Na viagem, sabiamente vestiu a coroa para sair do avião quando aterrissamos em Lagos e a guardou na mala de mão quando embarcamos de volta.
De minha parte, também me tornei conspícua, mas de maneira lenta. E ao contrário de Nílsia, fui “incluída fora” da matriz relacional iorubá, encaixada no protótipo de estrangeiro. Nas escalas do voo para Lagos, notei que aos poucos eu me tornava singular, até ter que me esforçar para avistar outra pessoa branca, especialmente em Ilê Ifé. Algumas mães me disseram que eu era a primeira oyinbó pépé que seus filhos conheciam – oyinbó sendo o termo de zombaria para brancos, como os ingleses que ficam vermelhos como pépé, ou pepper, quando pegam sol.
De fato, um dia após a nossa primeira aula no Templo de Ifá resolvemos ir à
feira, o sol era causticante e minha orientadora não tinha guarda-sol, andava com um pano branco na cabeça, aquilo chamava ainda mais atenção, não resta dúvida de que virou atração turística. Além das crianças os adultos também faziam bul-lying, falavam alto, “Oiynbó pépé!”, porque ela é muito branca de olhos azuis e todos queriam fazer fotos com ela. Lembrava que me sentia assim quando fui a primeira vez à Itália com meu marido; eu era a única pessoa de pele negra e todos da família me olhavam e diziam “Che bel colore!” (“Que bela cor!”).
Não foram só essas transformações. O Rei gostava de me apresentar em pú-
blico como “professor from Cambridge”, que obviamente não sou!, mas não lhe interessava corrigir a ligação que fez entre lugar de pós-graduação e cargo uni-versitário. Como na corte era preciso ter título, fiquei conhecida como Prof. Por outro lado, em Ifé meu papel de orientadora de Nílsia se tornou irrelevante, pois importava mais o fato dela ser minha Iyanifá [sacerdotisa de Ifá capacitada para participar de um trecho do ritual de iniciação, conduzido por sacerdotes do sexo masculino]. Sermos de Ifá foi essencial para o campo.
Realmente foi uma inversão de papéis. Porém o fato é que antes de partirmos
para Nigéria a minha orientadora fez iniciação para Ifá (culto às tradições iorubá) no meu Templo religioso na Grande Belo Horizonte, se tornando assim a minha filha de Axé. No entanto, na Universidade eu era apenas aluna e orientanda. Che-gando à Nigéria, de orientadora ela passou a ser a minha pajem e eu não mais apenas a sua sacerdotisa, mas a Iyalodè do Rei. Gente, pensa uma loucura. E ali na verdade nós não éramos nada, apenas propriedades do Rei. Mas quando en-trevistávamos os sacerdotes do Templo de Ifá, éramos filhas de Ifá igual aos de-mais ali presentes. E nós duas, orientadora e orientanda, éramos respeitadas por isso.
Quando éramos convocadas a comparecer diante do Ooni, era sempre porque tinha uma visita importante e ele queria que estivéssemos presentes. Daí era o momento das apresentações, eu era sempre apresentada como a “Ìyálórìsà do Brasil” e minha Orientadora era sempre apresentada como a “Professor Deborah
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
78
de Cambridge”, ela era como o grande troféu. Como sempre, ouvíamos em silên-cio, porque nem rir a gente podia. Por ocasião de uma reunião com socialites na cidade de Lagos, ao me apresentar ele teve a coragem de dizer que eu sou uma famosa sacerdotisa no Brasil e que tenho milhares de seguidores nas redes soci-ais. Não é verdade, se tiver 250 pessoas já é muito. Na corte tem dessas coisas, mentiras sobre mentiras.
De pesquisadoras a peças da corte: o nosso contexto etnográfico
Quando a gente pensa em fazer etnografia na África, logo imaginamos: vou
usar calça comprida, blusa de manga comprida, botas, chapéu de caçador, muito repelente. No nosso caso só o que se confirmou foi o repelente. Porque eu levei 12 vestidos de festa para a pesquisa, três custaram R$ 1.200,00 numa loja de festas de Belo Horizonte, outros custaram R$ 850,00 e os demais comprei o tecido e paguei a costureira, ficaram mais em conta. De forma que quando eu abria a porta da minha suíte, eu já estava enfeitada igual a um burro de charrete. Toda maqui-ada e aguardando os tradicionais três toques na porta dos iorubás. Tenho abso-luta certeza de que todas as mulheres daquele país dariam a vida para estar no nosso lugar. E deveriam questionar, “Por que elas?” Deveriam também se per-guntar: “Por que o Rei deu esse título a uma afro-brasileira?” São perguntas sem respostas. Porque quando eu questionei o Rei por quê ele estava me dando aquele título, ele disse, “Foi Osun quem mandou”. E continuei questionando, “mas você não me conhece, não sabe o quanto eu sou austera e exigente” etc. Ele respondeu “Osun te conhece e eu confio plenamente em você”.
Antes de viajar, perguntei à Nílsia quantos vestidos levar, ela respondeu: “To-
dos que você tiver!” Não comprei vestidos novos, mas levei os de casamentos e cerimônias que tinha. A clássica reserva de roupas para o campo nem entrou na mala. Chegando em Ilê Ifé, Nílsia nos fez andar na feira atrás de um delineador, porque tinha esquecido de trazer o seu. Isso resume a essência da nossa provisão de campo, mas não caracteriza o verdadeiramente inusitado desta etnografia. Ha-via luxo por toda parte, não nos deixaram sofrer nenhuma das restrições comuns aos campos em lugares desprovidos – como o que víamos logo ali, do lado de fora do Palácio Real. Nossas restrições foram de outra natureza, que se resumem à sujeição ao Rei, e incluem um tipo de proposição amorosa difícil de entender.
O Ooni, o grande anfitrião No primeiro dia em que chegamos a Ilê Ifé, fomos chamadas ao palácio
para nos apresentar diante de Sua Majestade, o Rei, isso por volta de 22h. Entre tantas conversas, o Rei me perguntou: “Quanto tempo você ficará aqui?” Eu disse, “cerca de 44 dias”. “Você tem disponibilidade para me acompanhar na minha agenda nestes dias?” “Claro, senhor, estou à sua disposição”. Então nesse mo-mento o Rei disse: “Quero convidar você para vir morar aqui no palácio”. Um silêncio tumular tomou conta de mim. Não queria responder, mas disse: “O pro-blema é que eu sou ocidental”, para não dizer que não, que não queria obedecer às regras. O Rei ficou um pouco desapontado e me disse. “Vá conhecer a casa primeiro. Vocês venham, se você não gostar, vocês retornam para o resort”. Re-sultado, não houve opção. A casa era maravilhosa, teríamos a liberdade de fazer
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
79
nossa própria comida, teríamos sala de jantar, sala de visita etc. O que não sabí-amos é que não teríamos nenhuma privacidade, porque a todo momento ouvía-mos os três toques na porta, era um súdito que dizia: “O Rei mandou chamar as senhoras”. Isso era de manhã, à tarde ou tarde da noite. Porque o Rei não dorme antes das quatro da madrugada todos os dias, atendendo pessoas, e quando ele concluía que o assunto era do nosso interesse ele mandava nos buscar a qualquer hora que fosse. E o pior é que o súdito ficava de pé na sala nos aguardando, quando a gente saia em direção ao palácio, ele ia atrás nos escoltando, não tinha como não ir.
Nesse primeiro encontro, o Rei já passou a sua agenda da semana: “Amanhã receberei a visita do ex-Presidente da República, quero você presente, depois de amanhã virá o atual Vice-Presidente, depois começará o festival de Obatala e as-sim por diante, de forma que este palácio tem festa todos os dias”. Claro que não acreditei, porque todos os dias era muito. Claro que quebrei a cara. E assim foram todos os dias. Nunca vi uma vida social tão intensa, o Rei não conhece dia de descanso.
Mas não foi só isso. Quando, ainda cansada da longa viagem, tarde da noite fomos convocadas a comparecer diante de Sua Majestade, ele se mostrou encan-tado por mim, tecia elogios infindáveis, até que, em um momento, eu, brincando, disse, “Você quer casar comigo?” Bastou para isso crescer, viralizar, como se diz aqui no Brasil. Para todas as pessoas que ele me apresentava dizia que eu era a nova Oloori (esposa). Havia me feito a seguinte proposta nesse primeiro dia: “Você quer que amanhã todo mundo fique sabendo dessa notícia?” Nesse mo-mento me restava um pouco de sensatez, respondi que não. E assim foi até quando ele quis brincar, começou a divulgar para todo mundo que eu era a sua esposa espiritual, que no ano de 1735 havíamos vivido lá e que estávamos de volta para reparar maldades cometidas e que havíamos sido grandes amantes. O assé-dio foi tamanho que, depois de trinta dias, passei a acreditar naquilo de verdade, achava tudo lindo, rsrsrs, comecei até fazer planos de como deixaria minha vida aqui no Brasil. No dia em que nos mudamos do resort para o palácio ele disse à minha orientadora, porque ele a envolvia também no discurso, exigindo que fosse a sua tradutora, “Não é para trazer a roupa dela do resort, é para trazer as coisas dela do Brasil”. Pense numa maluquice. Quando ele viu que eu estava de fato acre-ditando naquilo, puxou a corda. Foi no dia em que tínhamos ido ao palácio para tratar dos preparativos do casamento. Ele desconstruiu tudo, literalmente. Disse que eu era livre para fazer o que quisesse, que poderia viajar para qualquer país do mundo e assim foi. Pense numa decepção. Chegando em casa, tarde da noite, resolvi escrever uma mensagem para ele no WhatsApp, dizendo: “Senhor, não me interessa marido espiritual, porque marido espiritual não dorme comigo, não faz sexo comigo e não paga minhas despesas”. Foi muita loucura. Daí por diante o respeito acabou. No dia em que eu não estava a fim de fazer graça para ele, esti-cava o braço e o dedo indicador e dizia não para ele, com sagacidade; todas as histórias que ele dizia, que ninguém podia abraçá-lo, eu dizia, “não acredito nisso, isso é balela”. Ele não estava nem aí, levava tudo como se piada fosse e falava todas as bobagens que achava que deveria falar. Sua Majestade ficou longe daí por diante. Gente, tive ódio desse homem por ter me aplicado o maior 171 da mi-nha vida, sentia vergonha, me senti arrasada, desmoralizada. Graças a Deus de-pois que cheguei ao Brasil tudo isso passou, tanto é que sou capaz de escrever sobre isso achando graça. Mesmo depois que voltei ele continuou por muito tempo dizendo que é meu marido. Tive que repetir para ele o mesmo código, ma-rido espiritual…
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
80
O cotidiano do Palácio Uma coisa muito interessante no palácio é que você não vê mulheres circu-
lando, a não ser na parte da manhã quando chegam as faxineiras contratadas, que ganham um salário irrisório. Limpam e vão embora. No mais, todo o trabalho é feito por homens, é incrível. Nem a rainha se vê por lá. Ela fica enfiada em sua casa dia e noite, nem as janelas abre. É o Rei quem faz todo trabalho de receber. Os seus subordinados não têm autorização para muita coisa, porque ele não de-lega nada, tudo passa por ele. Ele passa o tempo todo no WhatsApp. No entanto, é muito simpático com todos, indistintamente. Muito respeitoso com os idosos e carinhoso com as crianças.
No palácio era quase tudo igual todos os dias, as doninhas que faziam a faxina chegavam às vezes antes das oito da manhã e não se faziam de rogadas, iam en-trando pela casa a dentro parecendo um bando de pardais em algazarra – lem-brando que a nossa casa não trancava nem por dentro e nem por fora, e fora inútil pedir para consertarem; somente as portas das suítes trancavam. Trocavam os guardas das três guaritas diariamente. Pela manhã raramente o Ooni dava expe-diente, porque ficava até de madrugada atendendo. Às tardes sempre tinha uma festa, quando surgia gente não sei de onde para encher aquele hall, dançavam, cantavam, sorriam, não recebiam nada para comer, as crianças ganhavam algum dinheiro, depois o Rei voltava para sua sala de audiências e ia receber ilustres visitantes. Na porta do palácio sempre havia fila de pobres querendo ser atendi-dos, não sei ao certo quem os atendia. Uma reunião de motoristas desocupados ficava à disposição, conversando e brincando entre si no pátio, aguardando algum comando. Tinham atribuição definida quando o Rei se ausentava do palácio de carro, daí sim, seguia o comboio, uma frota de mais ou menos dez veículos de luxo. Sua Majestade às vezes saía de Rolls-Royce, outra hora de Mercedes Benz, sempre brancos.
Quando eram rituais religiosos tradicionais, Sua Majestade saía a pé cercado pela sua corte, sempre acompanhado por homens que tocavam e dançavam di-ante dele, e policiais do palácio, civis e federais. Tinha um que apelidamos de Ma-cGyver, e um policial civil que andava de terno e uma pistola 380 na parte de trás da calça, coordenando a saída dos veículos. Na maioria das vezes subia no seu veículo em movimento e esperava por alguns metros antes de entrar, apenas pi-sando no estepe do carro e se segurando na porta, numa exibição cinematográ-fica. Ríamos muito dessas cenas. Ele sempre fora muito simpático com a gente. Era quem determinava em qual veículo eu e a Prof. Deborah deveríamos embar-car. Afinal de contas, nós éramos as únicas mulheres que acompanhavam o com-boio do Rei.
A sala do ora-veja – ora, veja!
Esse foi o apelido que dei a uma sala de audiências no palácio, para onde eram
encaminhadas todas as pessoas que teriam encontro particular com o Ooni. Ali costumávamos ficar duas, três, até quatro horas esperando para sermos recebidas por Sua Majestade. Não por solicitação nossa, e sim para atender a um chamado dele. Houve uma vez em que o Rei nos mandou ficar no resort por alguns dias, porque precisava daquela casa para hospedar uma princesa que chegaria da In-glaterra para fazer uma homenagem ao seu falecido pai. Assim, no dia aprazado nos mudamos de malas e cuias. Não tardou muito, recebi uma mensagem do Rei,
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
81
que estava em Abuja, capital do país, dizendo que se eu não me importasse de hospedar a minha orientadora no meu quarto, não seria preciso nos mudar, ele havia dado um jeito. Só que já estávamos no resort. Agradeci, e disse que estáva-mos bem acomodadas. Bastou isso para que esse Rei determinasse que eu vol-tasse. Eu, como boa ocidental, tentava manter um diálogo democrático dizendo que estávamos bem. E não entendia que ele estava dando ordens. “Volte com suas malas imediatamente, quando eu chegar no palácio quero encontrar você lá”. Mal deu tempo de ir ao quarto da minha orientadora comunicar-lhe das mensagens. Quando retornei ao meu quarto, já dei de cara com o gerente do palácio, o sr. Idowu, dizendo: “O Ooni mandou buscar a senhora, Iyalodè”. Achei aquilo um absurdo, porque esse rapaz não dirige nem para ele próprio, estava se fazendo de meu motorista. Não discuti, passei a mão nas malas que, por Deus, não tinham sido desfeitas e fui para o carro. Mas logo percebi que naquele veículo as nossas malas não cabiam. Disse a ele: “Por favor, volte ao palácio, apanhe um carro com o porta-malas maior e volte para nos buscar”. Foi aí que a minha orientadora, sempre muito obediente, disse: “Não! O Ooni quer encontrar a Iyalodè no palácio quando ele chegar”. Conclusão: seguimos nós e deixamos as malas para serem levadas posteriormente. Do jeito que estava, eu fui, sem me trocar e muito menos colocar a tal coroa, que eu não podia me apresentar diante de Sua Majestade sem ela. Sei dizer que lá ficamos por horas. Nesse ínterim as malas chegaram, fugi, fui até nossa casa, me arrumei e voltei para a sala do ora-veja. Essa história começou por volta de 17h no máximo, sei que já era quase meia-noite quando enviei uma mensagem à Sua Majestade lhe dizendo que estávamos aguardando. Durante esse tempo todo, na sala do ora-veja, o Rei havia atendido umas quatro pessoas. Foi quando ele viu minha mensagem e mandou que entrássemos, para dizer apenas: “I’m sorry. You can go to sleep!” [“Desculpem-me. Vocês podem ir dormir!”] Não é necessário descrever o tanto de desaforo que eu destilei para a Sua Majestade quando retornei para nossa casa naquela noite. Para mim, ele ultrapassara todos os limites do abuso de poder. Este é apenas um dos episódios de espera que vive-mos durante o campo. Fazia parte da etnografia esperar. Todas as vezes que teria um evento, ou uma viagem qualquer, a gente esperava até cansar, para daí a pouco começar aquela correria; era quando o Rei aparecia e tudo tinha que acon-tecer subitamente. Interessante que até os súditos mais imediatos ao Rei se dei-tavam no tapete dessa sala e dormiam tranquilamente, enquanto a gente espe-rava. Era algo inexplicável!
Diversos visitantes No palácio chegava de tudo, desde ex-presidente, vice-presidente, reitores
e professores universitários, até o Príncipe Charles da Inglaterra já tinha estado lá; desde cantores pop, até mães com suas filhas para oferecer ao Rei como futu-ras esposas; de criancinhas de uma escola local que iam cantar para o Rei a líde-res não somente iorubá, mas também das etnias de igbo até hauçá; de dançarinos tradicionais que me faziam lembrar filmes de Tarzan a músicos tocando clássicos num saxofone; enfim, o Rei é muito democrático, recebe Deus e o mundo.
Era uma bucólica noite de sexta-feira, depois de transcrever a entrevista do dia anterior, nos preparávamos para ir dormir, pois no dia seguinte às 10h da manhã já tínhamos uma agenda com Sua Majestade em Iloko Ijesa, uma cidade vizinha, para comemorar o aniversário de 25 anos da escola Olashore Internati-onal School, cujo fundador havia falecido e os alunos decidiram mesmo assim fazer a festa convidando o Ooni, que havia feito uma doação certamente de valor
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
82
expressivo. Quando ouvimos os tradicionais três toques na porta, passava de 21h. Não quis acreditar, mas era verdade, lá estava o porta-voz a nos informar: “O Ooni manda chamar vocês”, não havia escolha, me troquei e lá fomos nós. A professora Deborah com uma gripe infernal, o ar-condicionado em 16ºC, lá estavam um norte-americano e dois homens hauçás, marchands, e um cineasta acompanhado por um jornalista casado com uma jornalista brasileira, que estão fazendo a me-diação entre o Ooni e a prefeitura do Rio de Janeiro para montagem do Museu do Valongo, na zona portuária. Entramos. Logo pudemos entender que se tratava de uma pessoa que negocia peças arqueológicas. E o Rei estava tentando adquirir 800 peças iorubá para montar o Museu do Valongo, coisa pouca, uma bagatela de quinze milhões de dólares. Sentei-me, e por ali fiquei por horas, ouvindo aquela conversa que não me interessava. O cineasta exibiu o trailer do filme que estava produzindo, sobre a história de Pierre Verger e o povo iorubá; muito entu-siasmado, certamente à procura de patrocínio. No final o Rei lhe perguntou numa cartada de mestre “E quem é que vai patrocinar isso?” Em seguida, o Ooni per-guntou ao gringo qual era a peça mais cara que ele havia comprado na sua vida, mas ele desconversou e não respondeu, claro. Mas, como bom iorubá, Ooni se dirigiu falando em língua nativa aos dois hauçás, fazendo-lhes a mesma pergunta, qual foi a peça mais cara que vocês já venderam para esse gringo, eles responde-ram: “Uma peça de oito milhões de dólares”. Nesse momento o Rei chamou Felix, seu assistente pessoal, e pediu que trouxesse algo. Não demorou muito adentrou Felix com três tigelas brancas tampadas, o Rei destampou a primeira e nos apre-sentou duas pedras que estavam dentro da água, pareciam cristais, eram enormes de verdade, e perguntou ao norte-americano que pedra ele achava que era. Des-confiado, o americano não podia acreditar que eram diamantes puros e brutos, em torno de 10 cm cada. O Rei mandou que riscasse vidro. Ele ficou a procurar por algo que pudesse testar, olhou para o relógio, mas não teve coragem. A minha orientadora, muito debochada, lhe disse para riscar “your own glasses” (“seus próprios óculos”). O homem chegou a passar a mão nos óculos, mas não deu ou-vidos e continuou a procurar, até que viu uma mesa redonda de canto, não se fez de rogado e testou. Ficou boquiaberto, porque eram de verdade diamantes, ficou pasmado. O Rei dizia “isso aqui poderia acabar com a miséria da cidade”. Depois tentou exibir uma esmeralda, mas num tom de quem queria se esquivar, disse que a gema não queria sair da terrina de porcelana onde ficava guardada. Eu já não aguentava mais de tanto sono, e até então não sabia o que fazia ali. Não sei por que cargas d’água o jornalista disse algo e o Ooni lhe disse: “ah, a Iyalodè é a minha mais nova Oloori, você não sabia?” Recordo-me do olhar daquele jorna-lista para mim de boca aberta, pensei: “estou ferrada…”
A obediência ao Rei Desde o dia em que tivemos que voltar ao palácio por ordem do Rei, por ter-
mos saído inocentemente sem avisar, entendemos que éramos controladas de verdade. Não queria acreditar. Daí, no dia em que entendemos que teríamos que solicitar carro e motorista se quiséssemos fazer algo diferente, que Deus e o mundo tinha que saber, optamos por alugar um carro de um parente das meninas da Comunidade de Osun e partimos em fuga para a cidade de Ibadan. Nesse dia almoçamos no restaurante, tomamos uma cerveja gelada, demos uma volta pelo shopping, compramos presentes para distribuir para as crianças por ocasião do meu aniversário, e quando retornamos ao palácio já era noite. No dia seguinte a
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
83
façanha se repetiu, dessa vez fomos para a cidade de Ilobu, próximo à grande ci-dade de Osogbo. Fomos visitar um sacerdote meu amigo que já havia estado na minha casa no Brasil, porque queria fazer uma consulta com ele. Todos podem questionar, “mas você não tinha encontros com 16 sacerdotes?” Claro, mas não queria minha vida pessoal à disposição dos sacerdotes do Ooni. Foi preciso fugir. Na outra vez em que voltei a esse mesmo templo para fazer uma entrevista para a pesquisa, voltamos de forma oficial, com veículo e motorista do Rei.
A obediência ao Rei era sem comentários, todas as vezes em que nos apresen-távamos diante de Sua Majestade eu me ajoelhava e colocava a cabeça no chão, sim, em sinal de respeito e submissão. E um dia em que, não sei por que razão, estávamos com ele em particular, somente eu e minha orientadora, ele parecia estar infeliz, pagou um pau para mim, retirou todos as propostas de casamento que tinha feito, na hora de sair, ele disse: “Você não vai se abaixar para o seu Rei não?” Eu não entendi, minha orientadora se abaixou e eu fiquei de pé atônita olhando para ele, ele repetiu a frase e tive que me ajoelhar, hahaha. Era muita loucura, era outro mundo, parecia que estávamos participando da gravação de um filme, hoje penso.
Olusegun, Felix, Omifuntó: três diferentes esteios
Contatos prévios e boa sorte para encontrar esteios no local fazem parte de
todo campo. Uma apresentação pontual ilustra aqui a imbricação particular que se desenvolveu entre o tema da pesquisa, as condições do campo e a produção etnográfica. Já relatamos os dois eventos anteriores que explicam o convite do Rei para a hospedagem no Palácio – a visita real à casa de Nílsia e a sua coroação. Falta mencionar o esteio incidental para essa realização, Olusegun Akinruli. Ou-tros dois esteios foram conhecidos durante o campo, Ogunleye Felix e Omifuntó. A apresentação deles, feita por Nílsia, pontua o contraste entre os nigerianos à nossa volta e introduz a narrativa de como se deu uma pesquisa de campo por ordem real.
Olusegun é a pessoa que eu cito acima na experiência da coroação. Foi meu tradutor durante minha iniciação em Ifá no ano de 2011 na cidade de Ibadan, foi o facilitador para a visita do Rei à minha casa, e foi quem me acompanhou o tempo todo na viagem de 2018. Dessa vez se limitou a nos receber no aeroporto de Lagos e nos conduzir até Ilê Ifé, certamente por ordem do Rei. Esteve por lá três vezes durante a nossa permanência, não mais que isso. Estava envolvido com seus negócios.
Felix é um rapaz muito dócil e fiel ao Rei, que nos atendia sempre que preci-sávamos. Ele era o cozinheiro do Rei, mas, na verdade, fazia de tudo que Sua Ma-jestade solicitava. Ele tem uma história interessante. Antes era cozinheiro de um hotel de uma cidade da Nigéria, não sei precisar qual. E o Rei era então apenas um empresário bem-sucedido da área de construção civil que lá se hospedou, e quando Felix o viu teve um quadro de vidência em que o via sendo coroado Rei de Ilê Ifé e falou para ele.5 Depois de coroado, o Rei mandou buscar o Felix para vir morar em seu palácio. De modo que Felix é pessoa de extrema confiança do Rei, tanto que é quem cuida do Ifá do Rei, tem acesso às pedras de diamantes
5 O Rei foi coroado em 2015, depois de concorrer com 20 outros candidatos ao cargo, pertencentes às quatro famílias reais descendentes diretos de Oduduwa, a divindade que criou as condições de vida na terra. A seleção de Adeyeye Ogunwunsi foi feita por sacerdotes reais e consultas ao oráculo de Ifá, após a confirmação ritual da morte do Rei anterior, aos 85 anos. O Ooni tinha 40 anos e é um dos mais jovens líderes tradicionais da Nigéria.
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
84
brutos que valem milhões de dólares e demais gemas preciosas etc. E sempre es-tava à nossa disposição todas as vezes em que o chamávamos.
Omifuntó pertence à comunidade de Osun e foi disponibilizada pela Oloori chefe maior do templo Itá Osun para nos acompanhar, porque é obrigação da Oloori Osun me assessorar, mas como ela é muito ocupada, determinou que essa moça ficasse ao nosso dispor. Na verdade, ela fazia o papel de informante. Foi extremamente útil para minha pesquisa. Nos acompanhava nas feiras, nas via-gens que fazíamos às escondidas do Rei, por todos os lados. Só não ficava ao nosso lado quando a gente saia acompanhando o Rei, porque o meu lugar era junto do Rei e seus asseclas. Provavelmente essa moça foi a que mais levou dinheiro de nós. Todos os dias a gente lhe dava dinheiro. E ela não se fazia de rogada em pedir mais, sempre mais.
Era grande o contraste entre Felix e Omifuntó em relação ao dinheiro, mas não na demonstração de fidelidade. Ambos foram esteios importantes no palácio. O comportamento de Felix era marcado por sua forte inclinação mística e devoção ao Ooni. Omifuntó tinha servido o exército e encarnava um misto de guerreira e feminista. Em geral, os relacionamentos na corte têm uma forte expressão mone-tária. O comportamento abnegado de Felix era excepcional, enquanto Omifuntó tendia ao exagero. Desde nossa chegada, demos dinheiro para ela pagar dois me-ses de escola dos filhos, o aluguel, compramos um celular etc, etc.
Jamais vou esquecer essa experiência. Tudo nesse país é à base de dinheiro, desde os pequenos rituais religiosos dos quais o dinheiro faz parte, podendo até ser de modo simbólico, mas tem que ter. Até em pequenas aparições do Rei em praça pública, mesmo que essa praça seja dentro do próprio palácio, ele tem que distribuir dinheiro, para quem dança, para quem toca tambores, para quem canta, para as crianças, para um sumo sacerdote que dança… Na nossa casa, mesmo a faxineira contratada pelo palácio, já chegava perguntando “what do you have for me?” (“O que você tem para mim?”) Era o motorista do palácio que nos transportava, eram pessoas que se aproximavam da gente nas ruas tocando tam-bor à nossa frente e nos empatando de andar, chega às raias da imoralidade. E se por ventura você precisasse deles para qualquer coisa a resposta é imediata “don’t worry”, eles não te ofertam nada! Depois de mais de 35 dias, aprendemos tam-bém a dizer “don’t worry” (“não se preocupe”).
Uma pesquisa por ordem real Numa tarde na primeira semana de nossa estadia, após a visita do vice-pre-
sidente, o Rei determinou que fossemos nos encontrar com alguns sacerdotes em um dos salões do palácio. Mais tarde mandou cancelar o encontro e que voltásse-mos para a sala do ora-veja para nada, e depois de quase duas horas mandou nos conduzir de volta ao tal salão. Em seguida o Rei foi até lá se encontrar conosco e o Aragba (o chefe de todos os Sacerdotes ou babalaô da cidade de Ilê Ifé) para determinar que disponibilizasse para mim os 16 Olodus Ifá para responder a mi-nha pesquisa. Nesse momento é que eu pude ver a importância do cargo que tinha recebido, porque, se não fosse pelo título, em hipótese alguma eu teria a oportu-nidade de me encontrar por várias tardes com aquelas autoridades do culto a Ifá. E numa dessas tardes o Aragba disse para os sacerdotes: “O Rei mandou que res-pondêssemos tudo o que a Iyalodè perguntar, não é para omitir nada”. E assim foi feito, até que eles já estavam de saco cheio da gente e o Aragba determinou que iriam encerrar tudo num só dia, seria uma bateria de manhã e à tarde, detalhe que nós não observamos e só aparecemos lá no Templo na parte da tarde, e eles
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
85
estiveram nos aguardando a manhã toda. Foi feio. Os 16 Olodus (Awò Olodu Merindinlogun) são os sacerdotes do Templo Mun-
dial de Ifá, o Oke Tase de Ifé, considerado pelos iorubás como o berço da humanidade. O Aragba Agbaye, chefe Owolabi Aworeni, ocupa o cargo de autori-dade mundial de Ifá. Ele e os outros Olodus obedeceram à ordem real de nos re-ceber, mas impuseram um estilo de entrevista particular. Tínhamos hora mar-cada para o que chamaram de aulas – “classes” – e só respondiam a perguntas. Não faziam preleção, nem ofereciam seu saber de graça. Foi preciso pagar.
Em um dos primeiros dias no Palácio, quando ainda não tínhamos entendido o regime de hospedagem e saímos sem pedir autorização, o Ooni mandou men-sagem para o motorista voltar. Na sua sala, interpelou-nos seriamente e Nílsia explicou que queríamos trocar dinheiro para dar aos Olodus. Na mesma hora o Rei mandou entregar dois grandes pacotes com notas de 500 nairas para Nílsia. Notas novinhas. Nílsia ficou constrangida. Eu disse a ela, “o Rei está financiando a sua pesquisa”.
Durante as aulas, o Aragba dizia – “ask questions” (“Faça perguntas”), e eu traduzia as perguntas de Nílsia para ele. A maioria dos babalaôs falava algum in-glês, mas poucos eram fluentes. As perguntas eram traduzidas para o iorubá e as respostas, debatidas entre eles, eram depois traduzidas de volta para o inglês. Para ganhar tempo, parei de traduzir para Nílsia e passamos a estudar as grava-ções com Omifuntó em casa. Ela completava nos passando o que tinha ficado de fora da tradução para o inglês, e também explicava trechos mais obscuros que só com calma podíamos destrinchar.
Muitos versos do compêndio oral de Ifá são intraduzíveis porque se valem de trocadilhos e metáforas. Às vezes os babalaôs apontavam os trechos que não era possível traduzir – “traduzir é trair”, disse uma vez o Aragba. Mas ali, no vai e vem entre português, inglês e iorubá, traíamos pelo menos quatro vezes… A par-ticipação de Omifuntó foi por isso providencial. Mas o problema da tradução não era só esse. O inglês dos iorubá exige uma adaptação, criando outro tipo de trai-ção. Entre outras particularidades, o “th” é pronunciado como “d”. Isso me fez entender como “Mother Earth” (“Mãe Terra”) um trecho que falava de modern earth – ou seja, Ile mo pe, ou aye tuntun, que quer dizer “nova terra”, “terra mo-derna”, em oposição ao tempo antigo ou aye atijo, quando os orixás chegaram à Terra. A pronúncia “moder” se referia a “modern” e não “mother”…
No último dia, apresentamos um texto impresso com 19 perguntas. Como sempre, notávamos nos babalaôs um misto de interesse em cumprir a ordem real e pressa em ficar livre da obrigação. A metodologia de pedir perguntas foi uma estratégia precisa para atender a esse fim. Eles não revelaram nada além do que lhes foi pedido. Essa foi também uma maneira de só nos oferecer o que podíamos compreender, nivelando o que nos ensinavam pelo conhecimento que nossas per-guntas evidenciavam.
Mais descontraídas foram as conversas com Babalola Kolapo Ifatoogun, no Templo Ogundabede, em Ilobu. Oferecia seu saber com a erudição de uma for-mação familiar privilegiada. Seu falecido pai, antigo informante de Pierre Verger, instruía os filhos à noite. Em um dos encontros, Nílsia lhe fez a mesma pergunta que havia feito aos Olodus – “por que o conhecimento sobre Ori não tinha sido levado para a diáspora?” Os babalaôs tinham respondido, no melhor estilo de E. E. Evans-Pritchard,6 que “Nem todos os orixás são conhecidos na diáspora… não
6 O conhecido trecho diz, “Na ciência como na vida só se acha o que se procura. Não se podem ter respostas quando não se sabe quais são as perguntas” (Evans-Pritchard, 2005: 243).
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
86
somente o Ori. Aquele que você não sabe, só conhece quando você vem e pergunta sobre eles.” A resposta de Kolapo foi mais longa e instrutiva. Ao final, disse rindo: “Ori é igual a cálculo avançado. Confundiria principiantes”. Resumindo sua ex-plicação, a distância e a infância (no caso, espiritual) teriam limitado o acesso ao conhecimento sobre Ori na diáspora.7
Logo no nosso primeiro encontro, os Olodus falaram sobre três tipos de Ori: o Adê, que é o Ori coroado (como o de um presidente, um rei ou rainha), o Ori Odê, que é a cabeça física, e o Ori Inu, ou o Ori interior. Uma vez perguntei se também existe Ori coletivo e os babalaôs responderam que sim, como entre eles, quando estão reunidos no Templo de Ifá.8 Comentei com Nílsia em casa que es-távamos ficando assim também, com um Ori coletivo do trabalho de campo. Nesse momento chegamos juntas a um insight sobre estarmos ali de fato conhe-cendo Ori, que não só se apresentava para nós como exagerava na sua revelação, para não deixarmos de lhe dar devido reconhecimento. Como então interpretar aquelas condições de campo, senão por estarmos dando de cara com nosso Ori, no seu caso um Adê? O tema da pesquisa se exibia no próprio exagero das condi-ções de pesquisa. Era como se a magia da etnografia – e não das etnógrafas – conduzisse o campo.9
Para Nílsia, uma Iyalodè, era isso que acontecia. Se para Evans-Pritchard (2005: 244) “as observações do antropólogo são infletidas por seus interesses teó-ricos”, o que guiava as observações de Nílsia eram os seus interesses espirituais. Com justiça, Evans-Pritchard também falou da necessidade de conhecer o funda-mento existencial, para ir além da tradução e entrar no mundo da etnografia. Sendo assim, pode-se dizer que a observação de campo pode ser infletida tanto pela teoria como pela ontologia. Nesse caso, para definir as condições de obser-vação, faz diferença se o fundamento existencial é levado, ou adquirido em campo. Nílsia tinha essa bagagem.
Os festivais-rituais de um ponto de vista privilegiado Não restam dúvidas de que residir no palácio durante a pesquisa trouxe con-
forto e facilidades. Todas as ocasiões em que tive oportunidade de participar dos rituais religiosos nativos, eu era sempre acompanhada de um dos súditos imedi-atos do Ooni, que me dava o braço ou me segurava pela mão para me conduzir em meio à turba agitada, controlada com violência pelos policiais responsáveis pela guarda da realeza; chegando no templo de destino, ocupava lugar de desta-que sempre ao lado de Sua Majestade, com direito a fotos e filmagens. Éramos vistas como parte da realeza, tanto é que em chegando em Lagos, uma jovem atendente de um hotel cinco estrelas no qual nos hospedamos por conta da corte, quando me viu no café da manhã me disse que se sentia muito orgulhosa de me servir e que estava acompanhando minha trajetória pelos noticiários da TV. E eu nem sabia que estava aparecendo na TV. Fiquei surpresa!
7 Aqui o paralelo é com outro texto conhecido, o de Anthony Seeger (1980), que compara o etnógrafo a uma criança no mundo. 8 Disseram, “Quando todos se reúnem, como no templo, todos se levantam de uma só vez para saudar Ifá. Todos os Ori que vão para lá rezam, rezam para eles mesmos. Estamos juntos para um mesmo objetivo, […] Ifá […] Isso é um Ori coletivo, mas não existe um nome para isso”. 9 Outro paralelo, mas invertendo a metáfora de B. Malinowski (1979), que enaltece a magia do etnógrafo para transformar dados em monografia.
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
87
A viagem para Lagos
Por ocasião da proximidade do meu aniversário, o Ooni nos chamou e disse: “Dia 10 de fevereiro se prepare que vamos para cidade de Lagos”, mas também como sempre, não disse fazer o quê. Na hora aprazada nos apresentamos no pa-lácio, a movimentação de pessoas era grande, afinal ele só sai em grande comboio. Ele disse que ficaríamos por lá dois a três dias. Na hora de embarcar no carro que seria só para mim e minha orientadora, um belo SUV branco da Mitsubishi, acre-ditem que se apresentou uma mulher da Jamaica que havíamos visto na noite anterior no palácio, e que se apresentava como Lady Diana. Até aí tudo bem. O triste é que ela chegou no nosso carro mandando-me afastar e me sentar no meio para ela entrar. Mandei que ela se sentasse no meio, e ela dizia “move!” (“saia!”). Não deu certo. A viagem que poderia ser pitoresca já começou mal. Lá chegando, por volta de 18h, todos aguardavam, era uma reunião da nata social de Lagos, assunto de empoderamento das mulheres, só tinha madames, e nós também. Também estava presente o Embaixador do Brasil, o Dr. Flávio Manzanni, hoje ex-embaixador. Tudo ia muito bem, obrigada. Quando terminou, ao sairmos acom-panhadas pelo nosso amigo Olusegun, já entrando no carro, essa mulher pôs ele abaixo de cachorro, humilhou, pintou a ponto dele quase se ajoelhar na rua para ela, se desculpando porque ele nos cumprimentou lá dentro e não a cumprimen-tou. Mas ele nem a conhecia... Seguimos para um hotel cinco estrelas, com toda pompa e circunstâncias. Eu disse à Deborah, “eu não quero essa mulher acompa-nhando a gente aqui em Lagos”.
Era meu aniversário. Ficamos sabendo que o Ooni retornaria para Ilê Ifé, mas desejei cumprimentá-lo antes de partir e ao sair do quarto para fazer o check-out, fomos chamadas pelos imediatos, porque o Rei estava numa suíte no mesmo an-dar que a gente, eu não sabia. Seguimos, eu estava toda serelepe com um vestido dois dedos abaixo do joelho e usava um turbante. Quando entramos fui logo re-preendida pela minha roupa e porque não usava a tal coroa de Iyalodè. Acredi-tem, as malas já estavam no carro, foi necessário mandar buscar e troquei de roupa no banheiro social da suíte da Sua Majestade, porque já havia dado meio-dia e minha chave já não abria a porta do nosso quarto. Não demorou muito, che-gou a jamaicana e ficamos como as três irmãs cajazeiras sentadas diante do Ooni, e ele decidiu que era o dia de destruir essa mulher. Ele queria que eu e minha orientadora ficássemos em Lagos para passear um pouco e nos divertir pelo meu aniversário, disse que ficaríamos no hotel com motorista e que era para eu ir co-nhecer um dos seus resorts que ficava nessa cidade. Eu não queria ficar mais que um dia. Ele insistiu até que concordei em retornar na quarta-feira de manhã. A jamaicana queria porque queria ficar com a gente. Nesse ponto ficou indigesta a coisa, porque ele disse a ela: “Você não é nenhuma Lady, por acaso você é inglesa? Esse título é concedido a mulheres da Inglaterra” (sendo que foi ele mesmo quem deu o título a ela, e ela acreditou). “Você não passa de uma afro-americana”. Hu-milhou essa criatura até o último limite. Ela chegou a lacrimejar, querendo ficar com a gente, e ele insistia, “você vai atrapalhar as duas, elas têm compromisso aqui e se dão bem”. Muito ardiloso, ele se virou para Deborah e perguntou: “Você quer que ela fique com vocês?” Deborah, ainda mais astuta, respondeu “quem deve responder isso é a Iyalodè.” Ele imediatamente fez a pergunta para mim e eu disse: “não é necessário.” Minha vingança foi maligna.
Retornaram para Ilê Ifé, e levamos uma pernada dele também, porque o nosso motorista foi embora com a jamaicana e nós ficamos no hall do hotel aguar-dando pelo motorista de uma advogada, ex-embaixadora da Nigéria em vários
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
88
países da África, que eu nem sabia disso, uma senhora que ele e nós conhecemos na noite anterior, no evento. A princípio disseram que seria a Rainha de Lagos, dona do evento, quem nos receberia; mas ela não apareceu e quem ficou com a gente foi uma Princesa de Lagos, muito simpática, até que o tal motorista che-gasse. Isso não foi nada diante do que estava para desenrolar. Quando o motorista chegou num belo carrão, nos despedimos da princesa e embarcamos acreditando que seguiríamos para a residência da tal advogada, mas, para minha surpresa, fomos parar numa big festa top de linha em comemoração ao aniversário de 25 anos de morte de uma senhora da família. Pense numa festa onde as pessoas se vestiam com luxo, seguindo um mesmo tema de cor; era outro lado da Nigéria que não conhecíamos, e eu ostentando aquela coroa com o título de Iyalodè do Rei de Ifé, respeito era pouco claro, afinal uma pessoa da corte naquela festa, creio que para eles também era algo inusitado. Lá também foi comemorado o meu ani-versário com parabéns e tudo por mais de cem pessoas. Sorte que tenho fotos, vídeo e um folder sobre a falecida para comprovar isso, porque ninguém acredi-taria numa história dessas. Ao final distribuíram presentes, eu ganhei uma toalha de banho e uma maquininha de triturar salsinha. Quando fomos embora, passa-mos no escritório da advogada, muito simpático, tinha uma secretária simpática, quadros maravilhosos. Nesse escritório nos encontramos com nosso amigo Olu-segun, que nos levaria para jantar. Nossa anfitriã nos indicou um respeitável res-taurante num hotel de luxo vizinho de sua casa, onde encontramos com um fa-moso senador do país que havia chegado para jantar, acompanhado de policiais, afinal era semana de eleições. Durante o jantar, Sua Majestade queria saber onde estávamos, e ainda exigiu que fizesse um vídeo do local onde eu estava e enviasse para ele. Só comigo que acontece essas coisas. Nesse vídeo eu até disse I love you (“eu te amo”), escondendo o copo de cerveja é claro!
Seguimos para a casa da doutora e lá nos hospedamos. No dia seguinte nosso amigo veio nos encontrar para dar uma volta pela cidade, fomos até a Ilha de La-gos, não fomos conhecer o tal resort coisa nenhuma e na quarta de manhã retor-namos a Ilê Ifé, depois de uma tremenda confusão que o Rei arrumou com a tal princesa com relação ao nosso meio de transporte. Ao fim e ao cabo voltamos num carro Oficial do Palácio que, penso, ficava com essa moça.
Afinal… Toda vivência do campo tem um potencial etnográfico em si mesmo. O que
relatamos da nossa vivência não fazia parte do tema da pesquisa, mas certamente poderia se tornar uma etnografia – e aqui não deixa de ser assim. Para a chamada do dossiê, que diz “Interessa-nos sobretudo discussões sobre a prática do campo – como ele se constrói, ditos e os não-ditos antes e durante o campo, dúvidas, negociações, constituição de relações, localização sociocultural do/a pesquisa-dor/a, relações de poder”, só nos resta fazer um arremate final, pois são questões ilustradas por episódios de nossa experiência inusitada, protagonizados pela du-blê Iyalodè-Nílsia. Do mesmo modo, o anúncio diz “Buscamos trabalhos que ex-plicitem o fazer antropológico e o cotidiano em campo e coloquem a alteridade, em diferentes sítios, em questão”. Tem, no nosso relato, um exemplo em que co-tidiano e alteridade – e autoridades – se embaralharam completamente.
De modo diverso ao sentido dado por Clifford Geertz (2008) à parábola das tartarugas sobre tartarugas para se referir à incompletude de toda descrição et-nográfica, o deslocamento do nosso foco, do tema de pesquisa para as condições
LIM
A,
Deb
ora
h d
e M
ag
alh
ães
; S
AN
TO
S, N
ílsi
a.
Or
i, O
on
i: e
tno
gr
afa
nd
o o
in
us
ita
do
em
Ilê
Ifé
, N
igé
ria
89
do campo, direcionou o movimento descritivo para dentro, apontando para a et-nografia da etnografia… Também amplificou a imbricação entre campo e escrita – seguindo a ideia de Marilyn Strathern (1999) de que são, na verdade, dois cam-pos, o de lá e o de cá, constituídos reciprocamente pela antecipação da escrita durante o campo e a recriação do campo durante a escrita. Mostramos um caso em que a trama entre esses dois campos foi adensada pelo inusitado das condi-ções de pesquisa, que expandiu o potencial de produção etnográfica.
Quando no Palácio percebi que estaria integralmente atrelada à Iyalodè, ao Ooni e ao Ori, parei de escrever notas de campo. Decidi viver a minha experiência sem pensar que ali seria depois revivido aqui, nesta escrita acadêmica. Quis me liberar do compromisso intrínseco à situação etnográfica, pretendendo uma ino-cência antropológica para apenas estar lá. Dei um dos cadernos especiais que ti-nha levado para Nílsia, que ficou com três. Um ela usou para a pesquisa sobre Ori, outro para a experiência de campo e um mais secreto para detalhes do ro-mance.
Na sala do ora-veja, o sentimento de tédio malinowskiano, a fome e o frio do ar-condicionado me levaram a inventar histórias para crianças, narradas teatral-mente, para nos distrair.
Era uma vez, uma moça simples que morava em São José da Lapa. Um belo dia, o rei de um país distante bateu à sua porta e lhe propôs em casamento. Mas impôs uma condição. Teria que deixar tudo, sua casa, família, até seu nome. Em troca seria muito rica e poderosa. Ela sofreu muito até tomar a decisão de seguir o rei. Chegando ao palácio viu que havia outras esposas. “O seu lugar é especial”, disse-lhe o rei, “você será minha esposa espiritual”. Por sorte, ela havia levado a sua dama de companhia, que lhe dava orientação sentimental e traduzia a fala estranha do rei. Uma madru-gada, o rei mandou avisar que iria visitá-la na sua casa no palácio real, que ficava ao lado da casa da esposa número um. Apareceu muitas horas depois, vestido em sua melhor indumentária. Sentou-se no sofá da sala e dispensou a companhia de seu sé-quito. Passadas várias horas de proposições, elogios e perguntas íntimas, quando o rei exigia que a pajem traduzisse olhando para ele, foi a hora de dizer boa noite. Ele chamou seus escudeiros, virou-se para sair e de repente ficou furioso. Falou bravo em sua língua nativa, levantando uma cadeira e exigindo que fosse retirada imedia-tamente. Perguntou à pajem quem tinha posto a cadeira ali, mas ela não sabia. De-pois desse dia, a rainha brasileira ficou atenta a qualquer mudança introduzida na sua casa. O perigo de feitiço era real. Ela daria tudo para ter a sua vida de plebeia de volta.
Retornamos desse mundo de poder, magia e tramas palacianas profunda-
mente impactadas. Nílsia, com toda sua fortaleza, demorou algumas semanas para se readaptar à sua rotina. Ao contrário de mim, que passei os primeiros dias de campo me emocionando à toa – segundo Nílsia, porque eu não estava acostu-mada àquela carga espiritual – foi quando voltamos para casa que Nílsia não pa-rou de chorar. Nossa volta tinha sido antecipada por dois dias, suficientes para me recuperar de uma malária e conseguir viajar. As eleições tinham sido cance-ladas e por pouco não ficamos sem acesso ao aeroporto. Mas de verdade já está-vamos no nosso limite, querendo voltar de um campo em que a experiência de estar em outro mundo realmente se fez sentir.
De tudo isso, para tirar a moral da história, este exemplo demonstra de ma-neira exagerada um aspecto incontestável de qualquer trabalho campo: que todos os seus momentos são etnografáveis. Não é possível estabelecer uma divisão a priori entre a vivência de campo e a etnografia, entre condições de pesquisa e resultados da pesquisa. E que nenhuma etnografia é trivial.
AC
EN
O,
7 (
13):
73
-90
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
90
Recebido em 7 de outubro de 2019. Aceito em 8 de janeiro de 2020.
Referências
EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 2005.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
MALINOWSKI, B. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Abril Cultural. 1979.
SEEGER, Anthony (1980), SEEGER, Anthony. Os índios e nós: estudos sobre so-ciedades tribais brasileiras. Rio de Janeiro, Campus, 1980.
STRATHERN, M. 1999. Property, substance, and effect: anthropological essays on persons and things. London and New Brunswick, NJ, The Athlone Press.
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s. E
tno
gr
afi
a e
flu
xo
tr
an
sn
ac
ion
al:
co
ng
ole
se
s e
m s
eu
s t
râ
ns
ito
s.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Ce
ntr
o-O
este
, 7
(13
): 9
1-11
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-5
58
7
Etnografia e fluxo transnacional: congoleses em seus trânsitos
Mariana Batista dos Santos1 Universidade Federal Fluminense
Resumo: O artigo busca, a partir de dois contextos etnográficos, refletir sobre ques-tões envolvendo fluxos transnacionais de congoleses dentro e fora do Brasil, abor-dando as macropolíticas com que se relacionam e a produção de conhecimentos em meio a estes fluxos.
Palavras-chaves: fluxo transnacional, estudantes, sapeurs, etnografia, Congo.
1 Possui graduação em Ciências Sociais pela UFF (2009), mestrado em Antropologia pela UFF (2012) e doutorado em Antropologia pela UFF (2017), com estágio sanduíche pela École des Hautes Études en Sciences Sociales.
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
92
Ethnography and transnational flow: Congolese in their flows
Abstract: From two ethnographic contexts, the article seeks to reflect issues involv-ing transnational flows of Congolese inside and outside Brazil, addressing the macropolitics with which they relate and the production of knowledge in the midst of these flows.
Keywords: transnational flow, students, sapeurs, ethnography, Congo.
Etnografía y flujo transnacional: congoleños en su trânsito
Resumen: Desde dos contextos etnográficos, el artículo busca reflejar cuestiones relacionadas con los flujos transnacionales de congoleños dentro y fuera de Brasil, abordando la macropolítica con la que se relacionan y la producción de conoci-miento en medio de estos flujos.
Palabras clave: flujo transnacional; estudiantes; sapeurs; etnografía; Congo.
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
93
Para Simoni Lahud Guedes, in memoriam
.
Em minha pós-graduação, realizada na Universidade Federal Fluminense, realizei duas pesquisas que abordam o tema dos fluxos transnacionais e de como os sujeitos elaboram seus projetos em meio a estes fluxos. Nas duas pesquisas, tive a alegria de ter sido orientada pela Professora Simoni Lahud Guedes e poder conviver com o brilhantismo, a excelência acadêmica, o pioneirismo e a enorme generosidade que foram características tão marcantes de Simoni e que sempre provocaram minha admiração, assim como a de todos que tiveram o privilégio de seu convívio. Tenho muito a agradecer. Este artigo, que surgiu de uma sugestão de Simoni, é dedicado a ela.
Na primeira pesquisa, realizada entre 2011 e 2012, trabalhei com estudantes da República Democrática do Congo (RDC) que cursavam a graduação em uni-versidades públicas do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Estudantes-Con-vênio de Graduação (PEC-G). Eram jovens entre 21 e 28 anos; naturais de Kins-hasa; que se concentravam principalmente nas áreas de engenharias, ciências so-ciais aplicadas e ciências agrárias e biológicas da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e UFF (Uni-versidade Federal Fluminense). Comecei o campo na própria UFF, onde estu-dava, e, na medida em que criava uma rede de relações, o campo foi se expan-dindo para as demais universidades. Interessava-me saber o que impulsionava os estudantes rumo a esta estadia para fins de estudo no Brasil, as trajetórias que eles vivenciavam aqui e suas expectativas para o futuro, que podiam ser voltar a RDC, permanecer aqui ou partir para um terceiro país.
O interesse pelo fluxo de pessoas se manteve na segunda pesquisa, desta vez somado a questões de consumo e performance. Este segundo estudo, realizado na Universidade Federal Fluminense, contou com o auxílio do CNPq e apoio ins-titucional da École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, em um sandu-íche que permitiu a realização do trabalho de campo, entre maio de 2014 e junho de 2015, com os sapeurs residentes na capital francesa. Os sapeurs são homens congoleses que encaram a busca pela elegância como um estilo de vida e se con-sideram membros da SAPE, uma sigla para Société des Ambianceurs et des Per-sones Élégantes – na tradução, “Sociedade dos Ambientadores e das Pessoas Ele-gantes”. São, portanto, dândis africanos contemporâneos, como irei elaborar mais à frente. Uma vez que a própria dinâmica da SAPE estimula o fluxo entre a República do Congo, a República Democrática do Congo e a França, eles são tam-bém imigrantes. Assim, no primeiro caso, o deslocamento se deu por parte do objeto de estudo; já no segundo caso, o deslocamento é da pesquisadora.
Partindo destes dois casos de campo, busco refletir sobre as implicações de ser uma pesquisadora brasileira na entrada e na construção de um trabalho de campo no exterior, assim como sobre a produção de conhecimentos que se dá em meio ao fluxo transnacional. Proponho pensar como as macropolíticas se refle-tem nas dinâmicas de campo, nos fluxos transnacionais de pessoas e em relação ao contexto político internacional da época em que as etnografias foram realiza-das. Buscarei refletir estas questões tanto nas relações Congo-Brasil quanto nas relações Congo-França.
I
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
94
II. Como afirmei, procurei refletir sobre a experiência dos universitários congo-
leses enquanto projetos (VELHO, 1994) que eram configurados e reconfigurados na experiência do intercâmbio. Interessava-me os planos que os motivaram a vir estudar no Brasil, como a estadia aqui redesenhava estes planos e aquilo que es-peravam obter ao fim deste empreendimento, visando compreender o significado desse período de estudos na vida destes jovens em trânsito.
Estes projetos eram elaborados tanto na RDC quanto durante a vivência no Brasil e podem ser considerados como uma estratégia individual e familiar de as-censão social e econômica, uma vez que demandavam a mobilização de uma série de recursos de suas famílias neste sentido, mesmo porque, diferente dos estudan-tes PEC-PG (Programa Estudante-Convênio de Pós-Graduação), os PEC-G não recebem uma bolsa que possa custeá-los durante o período de estudos.
Embora muito bem planejados, estes não eram projetos “fechados”, mas de-liberadamente deixados em aberto, de modo a serem alterados de acordo com o campo de possibilidades que encontrassem no Rio de Janeiro. Isso se tornava bastante destacado quanto à possibilidade (ou não) de retorno ao país de origem, uma decisão importante e que, geralmente, só era tomada no final do período de estudos no Brasil. Ainda que compartilhem formas de adaptação e de negociação ao país de acolhida com outros tipos de fluxos transnacionais de pessoas, o inter-câmbio pressupõe o retorno e coloca, desde o início, um prazo já pré-determinado para voltarem ao Congo. Mas, assim como há formas do programa forçar o re-torno (como, por exemplo, que o diploma só seja entregue no país de origem), há também formas de permanecer (como, no caso de alguns estudantes pesquisados, estendendo a estadia como estudante de pós-graduação, tendo um filho brasileiro ou voltando a RDC para retornar ao Brasil logo em seguida). Há, ainda, a opção de partir para um terceiro país como trabalhador qualificado. Essas possibilida-des eram analisadas de acordo com as oportunidades que surgissem no Brasil durante este período e com o contexto que eles consideravam lhes aguardar na RDC. Tendo isso em vista, estruturei o trabalho de campo com base no convívio com os estudantes e em um conjunto de entrevistas realizadas de maneira indivi-dual com parte dos universitários com que mantive contato.
A escolha da metodologia adotada se deve à própria questão dos projetos e trajetórias de vida que me propus abordar. Os projetos possuem uma dimensão espaço-temporal específica que, em termos gerais, pode ser dividida em três prin-cipais momentos. No primeiro, quando ainda em Kinshasa, os estudantes ponde-ravam a possibilidade de estudar no Brasil, se inscreviam no PEC-G e se proviam dos recursos para tal. O segundo engloba o tempo de estudos na universidade brasileira, com todos os imponderáveis que podem ocorrer neste período; já o terceiro se refere aos rumos que os estudantes decidem seguir após formados.
Uma vez que todo o trabalho de campo foi realizado no Rio de Janeiro, mesmo tendo ciência de que a experiência de ser um universitário congolês no Brasil começa antes da chegada ao país, eu não poderia ter acesso direto a esta primeira etapa da vivência dos universitários. Tendo isso em vista, as entrevistas entraram em cena como parte da metodologia escolhida, buscando acessar a tem-poralidade em que estes projetos se inscrevem e compreender como os estudan-tes estruturavam suas trajetórias de vida por meio de narrativas.
Para Sayad (1998), “imigração” e “emigração” são perspectivas de uma mesma e única vivência, embora a sociedade de acolhida as enxergue como dois
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
95
movimentos distintos, criando uma fissura na experiência do então “imigrante”, que a permite ignorar toda experiência anterior do sujeito em seu país de origem. Tendo isto em vista, as entrevistas se apresentavam como forma de recuperar esta história pregressa para o leitor brasileiro.
Entretanto, isto trouxe também o questionamento sobre até que ponto o es-tudante pode ou não ser considerado um imigrante, mesmo porque, para este au-tor, “migrante” dificilmente poderia ser compreendido como uma categoria na-tiva, mas uma classificação imposta pela sociedade na qual este “migrante” busca se inserir e que só faria sentido para esta. Hage (2005), por sua vez, argumenta que o status seria o principal fator a classificar certos grupos como sendo imi-grantes ou não: trabalhadores exercendo profissões menos remuneradas são con-siderados imigrantes, banqueiros não o são. Este é um debate que vem sendo re-alizado por pesquisadores que se dedicaram ao tema dos intercâmbios estudan-tis2. E, efetivamente, os universitários não utilizam a categoria de “imigrante” para se referir a si mesmos, mas se distinguem do que geralmente chamam de “os outros congoleses no Brasil” por se perceberem como tendo uma forma especi-fica, própria da condição de estudante, de vivenciar a mobilidade. Além do que, embora sejam estudantes de nível superior e pertençam às camadas médias e mé-dias altas de seu país, eles são africanos negros e precisam lidar com os desafios e estereótipos aos quais os africanos e o povo preto em geral são submetidos no Brasil. Assim, se afirmar enquanto estudante e recusar a classificação como imi-grante pode ser, também, acionado como uma defesa frente a situações de pre-conceito, tal como explorado por Hirsch (2007) e Subuhana (2005). Tendo isto em vista, optei pelos termos “fluxo” e “trânsito”, mais do que “migração”, por con-siderar os dois primeiros mais flexíveis, como flexível é a estadia dos universitá-rios aqui: um tempo que lhes abre um leque de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, as mantêm ainda em suspenso.
Há ainda outra proposta de Hage que gostaria de explorar, que é a de imigra-ção enquanto uma categoria tão objetiva quanto subjetiva. Um dos raros momen-tos em que presenciei um ex-estudante – que atualmente se encontra formado, trabalhando e constituiu família aqui – se referir a si mesmo como imigrante foi ao afirmar que “eu acabei migrando para o Brasil”, não para se referir à opção em vir estudar aqui, mas para comunicar a decisão, tomada já após alguns anos vi-vendo no Rio de Janeiro, de construir sua vida no país. Migrar, neste caso, não era partir para outro lugar, mas a decisão ponderada de permanecer onde se está. A mudança não é física, mas de perspectiva, trazendo elementos ao tema do fluxo de pessoas que ultrapassam a questão da temporalidade e da mobilidade espacial e que se tornam significativos quando consideramos a subjetividade envolvida neste processo.
Daí a opção por trabalhar com narrativas de vida, por meio das quais os uni-versitários construíam suas interpretações sobre este passado em Kinshasa, o presente no Rio e as aspirações para o futuro, articulando estas espacialidades distintas em que eles coabitam simultaneamente, a subjetividade envolvida e a temporalidade específica a este trânsito.
Cabe, ainda, atentar que a entrevista não é uma representação direta da vida do informante, mas uma interpretação produzida para a situação de entrevista e que, mesmo quando versa sobre o passado, é sempre construída a partir do pre-sente. Deste modo, o narrado é mediado e ganha uma coerência, linearidade e um
2 Mungoi (2006) e Subuhana (2005) classificam este fluxo como “migração temporária”, Hirsch (2005) traz a possibili-dade de que os estudantes sejam “migrantes potenciais” ou “migrantes virtuais”, enquanto que Morais (2012) se opõe radicalmente à classificação dos estudantes-convênio enquanto “migrantes”.
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
96
senso de propósito que não equivale à descontinuidade e imprevisibilidade do vi-vido, mas que permite a produção de significados a partir do ponto de vista dos próprios entrevistados. Retornarei a este tema mais à frente, ao tratar do trabalho de campo com os sapeurs.
Recorri também ao convívio e à observação como ferramentas para compre-ender como as interações se davam e como as trajetórias se desenhavam a partir da matéria do dia a dia. Meu foco recaiu sobre as atividades sociais, já que seria bastante complicado assistir aulas junto aos estudantes. Acompanhei reuniões em repúblicas, em praças ou bares próximos às universidades, assim como pas-seios e jogos de futebol e basquete.
Fiquei um pouco mais próxima dos estudantes que estavam há menos tempo no Brasil pois eu acabava sendo uma pessoa com quem se poderia praticar por-tuguês para a prova Celpe-Bras3, em um momento no qual eles ainda não tinham tantas relações com outros brasileiros, ou alguém com quem tirar dúvidas sobre o país (eles me perguntavam desde questões sobre a política brasileira até por quê os cariocas, quando se sentam no chão, cruzam as pernas), obter dicas ou apre-sentar lugares no Rio de Janeiro. Como ocorre com os estudantes congoleses que estão há mais tempo no país, eu me esforçava em preencher este papel de medi-adora para os mais recentemente chegados, com a diferença de ser uma insider na cidade. E foi durante um passeio com os universitários para conhecer pontos turísticos do Rio, que entramos casualmente em um centro cultural onde estava acontecendo uma exposição do fotógrafo congolês Baudouin Mouanda, em que este retratava a SAPE da República do Congo, o que se revelou uma grata surpresa para nós e me apresentou ao objeto da pesquisa seguinte.
Considero que o PEC-G e o PEC-PG proporcionam uma circulação e uma pro-dução de conhecimentos em via de mão dupla. Há um fluxo de conhecimentos que se move do Brasil em direção aos países participantes do convênio, assim como há outro fluxo de conhecimentos vindos desses países em direção ao Brasil. É uma produção de conhecimento que é realizada na universidade brasileira e que carrega as características particulares do próprio trânsito que viabilizou esta produção de saberes.
Ao ler algumas das teses, dissertações e artigos escritos por estudantes PEC-G e, principalmente, PEC-PG, percebi um certo “olhar de estrangeiro”, que seria esta capacidade de perceber coisas que muitas vezes escapam aos locais, próprio da sua condição e que também caracteriza a antropologia como disciplina que se construiu através da reflexão sobre a alteridade. Outra característica é que estes autores combinam bibliografia brasileira com autores que trazem de seus países – o que, uma vez que são textos produzidos no Brasil e que circulam na academia brasileira, acaba por ampliar também a gama de referências bibliográficas dos próprios pesquisadores brasileiros, assim como levam bibliografia brasileira para seus países de origem. Os dois programas produzem conhecimentos que, assim como os estudantes, transitam pelos dois lados do Atlântico e carregam caracte-rísticas do próprio fluxo que possibilitou sua produção. Pois os universitários do PEC-G / PEC-PG têm de estar todo o tempo negociando formas de se viver em uma cultura distinta e, ao realizarem esta negociação com a alteridade, refletem sobre a mesma. Não é de surpreender, então, que parte da bibliografia disponível sobre estudantes-convênio no Brasil tenha sido realizada por pesquisadores que também viveram a experiência de realizar parte de sua formação no Brasil.4 Além
3 Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, um exame iniciado pouco antes dos estudantes começarem o curso universitário propriamente dito. 4 Como os estudos de Mungoi (2006), de Subuhana (2005) e Kaly (2001). Outro exemplo, ainda que não tenha se dedicado especificamente ao tema dos estudantes-convênio, é Kabenguele Munanga (2004), que também realizou parte da pós-
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
97
do que, há um número muito grande de pesquisadores que passaram pela expe-riência de serem estudantes-convênio escrevendo sobre as mais variadas áreas e temáticas como, por exemplo, pesquisas em direito, arquitetura, biologia etc. Esta produção realizada por estrangeiros inseridos na universidade brasileira e tendo pesquisadores brasileiros como interlocutores é, portanto, muito extensa.
A origem do PEC-G data da década de 1920, quando estudantes da América hispânica chegavam às universidades brasileiras, seja por iniciativas individuais quanto por meio de convênios esporádicos com outros países latino-americanos. Esses convênios passaram a ser sistematizados e denominados como PEC-G em 1964, com a proposta de estimular a vinda destes estrangeiros. O PEC-G, assim como outros convênios anteriores, eram administrados exclusivamente pelo Ita-maraty e é apenas em 1967 que o PEC-G passa a ser coordenado por dois minis-térios em conjunto: o Ministério das Relações Exteriores (MRE) ou Itamaraty e o Ministério da Educação (MEC).
O PEC-G e PEC-PG são, também, relações diplomáticas, de modo que uma das questões sobre a qual busquei refletir foi como as relações exteriores e o con-texto político que lhe acompanha se articulam ao trabalho de campo e à produção de conhecimento que o envolve. Assim, fui buscar o que a área de relações inter-nacionais tinha a me dizer a respeito das relações recentes entre Brasil e a África Subsaariana.
As relações internacionais entre Brasil e o continente africano se intensificam na década de 1960, quando muitos países africanos se tornam independentes. Até então, a maior parte das relações políticas e econômicas entre Brasil e o conti-nente africano eram mediadas pelas metrópoles e não havia diálogo direto entre Estados africanos e o Estado brasileiro – transações entre Moçambique e Brasil, por exemplo, geralmente passavam por Lisboa.
Quanto aos acordos envolvendo especificamente o fluxo de estudantes, é em 1960 que chega ao Brasil o primeiro grupo de universitários africanos, composto por 16 jovens de Cabo Verde, Senegal, Gana e Camarões, que inauguram os inter-câmbios estudantis entre Brasil e África (MUNGOI, 2006: 28). Eles chegaram via um convênio distinto do PEC-G, uma vez que este só passa a incorporar estudan-tes que não sejam latino-americanos em 1974. Atualmente, 47 países participam do PEC-G, sendo 25 países africanos.
Retornando às relações diplomáticas para além dos convênios-estudantis, as trocas entre Brasil e África se intensificaram na década de 1970, ainda que a di-plomacia durante a ditadura militar tenha se focado apenas em alguns parceiros privilegiados e não diversificado as parcerias com os Estados africanos. As rela-ções entre Brasil e África sofreram um desvanecimento nos anos 1990 e não re-ceberam destaque no período FHC. Já nos dois mandatos do ex-presidente Lula, estas foram consideravelmente ampliadas, impulso que se manteve, ao menos, até o período em que esta pesquisa foi realizada, no primeiro mandato da presi-denta Dilma Rousseff (VISENTINI, 2015; SARAIVA, 2004).
Foram firmados 271 atos de cooperação, embaixadas brasileiras foram inau-guradas e visitas mútuas foram ampliadas. Especificamente sobre as relações en-tre RDC e Brasil, o saldo da balança comercial entre os dois países teve um cres-cimento de 2.573,63% entre 2003 e 2007 (LECHINI, 2008), o que demonstra um direcionamento da política externa, pois este salto só é possível em comparação
graduação no Brasil e reflete sobre ser negro no país. E, ainda que não lide diretamente com a proposta do artigo, vale lembrar o papel dos estudantes africanos no exterior na difusão do movimento pan-africanista, no processo de descoloni-zação, na construção dos Estados e produção acadêmica de suas pátrias (APPIAH, 1997).
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
98
ao saldo comercial ínfimo anterior, indicando menos um crescimento comercial propriamente dito e mais uma determinada direção de política de Estado.
O discurso brasileiro sobre a cooperação Sul-Sul – entendendo-se por coope-ração Sul-Sul uma agenda comum aos países fora do hemisfério norte, especial-mente os da América do Sul, África e Ásia – foi construído, sobretudo, pelos di-plomatas. Afirma-se as relações do eixo sul-sul como mais horizontais e solidá-rias, respeitando os princípios de não impor condições e não interferir nas ques-tões domésticas de cada país, em contraposição à cooperação tradicional Norte-Sul, tida como mais vertical e intervencionista. O Brasil é apresentado como tendo enfrentado problemas mais próximos aos dos demais países do Sul e obtido relativo sucesso nesta empreitada; de modo que, pela própria experiência prévia e periférica como receptor de ajuda, teria como oferecer soluções melhores que as do Norte. Entretanto, embora procure demarcar um espaço próprio ao se dis-tinguir da cooperação tradicional, é fato que a cooperação Sul-Sul emerge não como um modelo alternativo, mas dentro de uma hegemonia já existente, com a qual se relaciona. O que inclui questões de soberania e também a busca do reco-nhecimento do Norte como um de seus pares, como indica a aspiração por uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. De modo que, a coope-ração Sul-Sul brasileira se apresentaria menos como “um aparato estável, coe-rente e efetivamente alternativo e sim uma composição de relações emergentes entre atores e processos preexistentes, incluindo o hemisfério norte” (CESA-RINO, 2014: 29).
Através da experiência de campo, pude perceber que, apesar da imagem po-sitiva que o país gozava no exterior, a vivência no Rio de Janeiro produzia um descompasso entre o cotidiano vivido aqui e a forma como o país era represen-tado nas relações internacionais, dentre elas o próprio programa PEC-G, e nos meios de comunicação. Este descompasso ecoa com o exposto por Cesarino (2012), de que a cooperação Sul-Sul não formaria uma definição unificada e coe-rente para seus próprios agentes, mas que seria muito mais plural. Para alguns, a cooperação Sul-Sul seria um modelo efetivamente alternativo. Para outros, ela se pautaria nas relações tradicionais, pois reproduziria o mesmo modelo destas úl-timas em menor escala. Há, ainda, os que veem como complementar, embora au-tônoma, à cooperação Norte-Sul. As diferenças se fazem presentes, também, en-tre o nível diplomático e o operacional, dos pesquisadores e técnicos brasileiros em diálogo com instituições de pesquisa africanas. A diplomacia, no período em que as duas pesquisas foram realizadas, adotava um discurso mais culturalista, que ressaltava as afinidades e os laços históricos entre Brasil e o continente afri-cano enquanto elementos agregadores e que refletia ainda nosso próprio processo de nation building, com seus avanços e retrocessos na integração plena dos afro-descendentes. Afirmava-se, ainda, que o Brasil teria experiências, tecnologias, co-nhecimentos, clima e desafios mais aproximados ao dos demais países do Sul, o que favoreceria a criação de pontes e de propostas a serem compartilhadas. Mas este contexto construído pelos diplomatas encontrava pouca ressonância no nível operacional, que via questões práticas de pesquisa e de mediação com a coopera-ção tradicional Norte-Sul como muito mais relevantes (CESARINO, 2012).
Se as relações diplomáticas entre Brasil e África buscavam positivar a coope-ração e valorização da herança africana no Brasil, isso não se concretizava na pro-porção que os universitários aguardavam. Ao contrário, eles se espantavam com o desconhecimento de grande parte dos brasileiros sobre a África e a RDC, assim como com as representações que, a despeito da enorme diversidade do continente
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
99
africano, circulam em meio à população brasileira e em nossos meios de comuni-cação. Tampouco encontraram a “democracia racial” que se costuma apregoar.5 Apesar de perceberem o quanto de África está presente no Brasil, por vezes vi-venciavam situações de franco preconceito, tanto em relação à “africanidade” quanto à “negritude”. Tal experiência pode ser tão agressiva a ponto de fazer com que estudantes que pretendiam seguir vivendo no Brasil mudem de ideia e deci-dam voltar a RDC ou, ainda, em fixar residência em um terceiro país. Some-se a isso a falta de estrutura das universidades brasileiras para recebê-los. Em re-sumo, o Brasil não cumpria com as expectativas que gerava.
Por outro lado, o argumento diplomático de que o Brasil e a RDC, devido à própria situação periférica (ainda que se trate de periferias bastante distintas), teriam desafios e conhecimentos mais aproximados encontrava alguma resso-nância entre parte dos estudantes. Se o ensino superior no Brasil não é, costumei-ramente, a primeira opção dos universitários PEC-G; ele poderia, no entanto, ser considerado um conhecimento mais próximo ao contexto da RDC do que o obtido nos países com que eles sonhavam como primeira opção para realizarem seus es-tudos.
Em “O campo na selva visto da praia”, Viveiros de Castro (1992) revê sua tra-jetória e problematiza as questões que o levaram a pesquisar etnologia no Xingu. Viveiros de Castro pontua que, no momento em que começou sua carreira, era pouco viável a um antropólogo brasileiro conseguir recursos para realizar pes-quisa fora das fronteiras nacionais, de modo que a opção por se tornar america-nista se relacionaria tanto com fatores subjetivos (vontade de “fugir do Brasil”, tédio com a sociologia do desenvolvimento…) quanto com o contexto da antropo-logia nacional da época, que também se insere em um contexto político brasileiro mais amplo.
Se estudei índios no Brasil, é porque a antropologia praticada por aqui se concentra quase exclusivamente em fenômenos intramuros. Não porque buscasse, contudo, qual-quer conexão entre os índios do Xingu e a "realidade brasileira" – tornei-me america-nista e não brasilianista. Mas se me tornei americanista, e não africanista ou oceanista, foi porque fazer etnologia no Brasil significava estudar índios no Brasil, país periférico sem (ex-)colônias externas. Meus professores eram americanistas; e finalmente, não teria sido fácil obter financiamento do CNPq, da FINEP ou do escritório brasileiro da Fundação Ford para fazer pesquisa na Nova Guiné. Em outras palavras, ser um ameri-canista brasileiro não é de forma alguma a mesma coisa que ser um americanista fran-cês ou inglês. (VIVEIROS DE CASTRO, 1992: 4)
Diferente do descrito por Viveiros de Castro, considero que tanto os projetos dos estudantes em buscarem a universidade brasileira quanto meu próprio pro-jeto de pesquisa refletiam um período em que se dispunha de mais facilidade em realizar estudos para além das fronteiras nacionais e no qual o Estado brasileiro buscava ampliar sua influência nas relações diplomáticas, especialmente com ou-tros países do sul e mesmo com seus contratempos trouxe a abertura real de todo um campo de possibilidades, afetando a forma como pesquisadores direcionam suas carreiras.
A RDC conta com uma rede universitária que pode ser considerada relativa-mente extensa, o que torna claro que estudar fora do país é uma opção. A experi-ência estrangeira não é fruto de uma carência, mas de uma escolha. Eles conside-ram que o mercado de trabalho congolês ainda não se recuperou dos conflitos que ocorreram no país e que os estudos realizados no exterior possibilitariam uma maior empregabilidade e mais chances de ocuparem cargos melhor remunerados, seja na RDC ou fora dela, uma vez que consideram que o diploma congolês não
5 Para mais informações a respeito das representações sobre o Brasil que circulam no continente africano e o contraste entre estas e o que os estudantes de fato encontram ao chegarem aqui, ver Kaly (2001).
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
100
seria tão bem-aceito no Brasil. A correspondência cada vez menor entre ensino universitário e posição social na RDC estimula a busca pelo diploma estrangeiro, de modo a retornarem a este cenário competitivo com este diferencial. Esta am-bição se reflete também na escolha do curso estudado, geralmente escolhido por oferecer um mercado de trabalho mais seguro e/ou mais bem remunerado.
A expectativa de que o diploma obtido no estrangeiro seja financeiramente recompensado na volta para casa é nutrida por boa parte dos estudantes-convê-nio. No entanto, ela não é unânime, já que há estudantes que não fazem planos de retornar a RDC após concluírem a universidade, em parte por não estarem seguros a respeito desta recompensa, preferindo fixar residência aqui definitiva-mente. E, assim como são atribuídos status distintos aos diplomas obtidos dentro e fora do país, em diálogo com o tema das periferias e centralidades, eles também fazem gradações entre o ensino superior dos diversos países estrangeiros. A maior parte dos universitários tinha como primeira opção o intercâmbio em paí-ses (como Estados Unidos, França, Inglaterra e Bélgica) que pudessem lhes con-ferir um diploma tido como de maior valor simbólico a ser posteriormente con-vertido em vantagens econômicas e profissionais e vieram ao Brasil como se-gunda opção.
III. Abordarei agora a já citada etnografia realizada com os sapeurs; focando no
trabalho de campo e nas implicações de ser uma brasileira fazendo trabalho de campo com dândis congoleses na França. Mas, antes, cabe expor, ainda que bre-vemente, quem são os sapeurs e o quê é a SAPE. Trata-se de homens congoleses, tanto da República Democrática do Congo quanto da República do Congo, entre 20 e 60 anos e exercendo profissões tão distintas quanto comerciante, médico, motorista, mestre de obras, cabeleireiro e cozinheiro. Eles formam um grupo muito plural, mas que se agrega em torno da origem em comum e do culto à ele-gância como um fim em si mesmo. A construção desta elegância passa pela ob-servação de uma etiqueta própria à SAPE, pelos cuidados com a aparência e pelo consumo de grifes europeias luxuosas. Assim, a sigla SAPE remete também a um verbo: “se saper” é se vestir bem; “bien sapé”, estar bem-vestido. É importante estarem sempre perfumados, barbeados, com sapatos engraxados, e é essencial ostentarem grifes de peso, tais como Yves Saint Laurent, J. M. Westorn, Versace, Salvatore Ferragmo, Yohji Yamamoto, porém vestidas à maneira muito particular dos sapeurs. Ao se apropriarem destes objetos, os sapeurs criam novos usos e significados para eles. Eles não seguem fielmente as passarelas, mas criam um estilo próprio que se caracteriza pela exuberância. Ao contrário do que o elenco de grifes pode sugerir, eles não integram uma elite econômica, mas vêm das ca-madas médias e populares congolesas e custeiam as roupas de luxo através de uma série de sacrifícios cotidianos, em que se economiza nas pequenas coisas para se permitir as grandes. O consumo não é apenas uma questão econômica ou de classe social, mas também de moralidades.
Embora a SAPE se apresente como uma “sociedade”, ela não o é no sentido mais habitual de uma sociedade institucionalizada. Ela é uma “sociedade” en-quanto categoria nativa de um grupo de pessoas que compartilha um estilo de vida na qual a elegância é uma condição de estar no mundo e se organiza de ma-neira mais informal – ser membro da SAPE significa se vestir, se pensar e ser reconhecido pelos demais enquanto tal. Estas roupas e acessórios são mais valo-
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
101
rizados quando obtidos na França e, particularmente, na cidade de Paris, consi-derada como a capital da alta-costura. Estar em Paris significa ter acesso privile-giado a este imaginário e confere um acréscimo de prestígio aos que passam por essa experiência.
Foto 1. Da esquerda para a direita: Ben Mukasha, Majesty, Gentleman, Terminator e Yann Colère se apresentam no Marché de la Poésie, em edição deste evento dedicada a literatura congolesa, em 2014. Foto da autora.
Assim, o sapeur que vai à França e retorna à cidade natal congolesa com a mala cheia de roupas de grife passa a ser visto pelos sapeurs que vivem no Congo como um “grand” (grande), o que é um título de prestígio e faz com que a SAPE seja, também, um projeto de realização pessoal, no qual as roupas de luxo funci-onam como uma espécie de troféu que comunica o sucesso da experiência trans-nacional do sapeur. A maior parte deles acaba se estabelecendo permanente-mente na Europa, seja por gostar de viver lá ou por considerar que a economia congolesa não favorece que retornem à terra natal. Mas, sempre que possível, eles buscam realizar viagens de retorno aos Congos, o que requer uma situação finan-ceira que permita arcar com os custos da viagem, mas significa também ter o que ostentar: é preciso inserir novidades ao guarda-roupa de grife, inclusive como forma de atualizar para o público congolês o que ele obteve em sua estadia na
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
102
França desde sua última visita à cidade natal. A SAPE é, portanto, um tipo muito particular de fluxo de pessoas e coisas, que não acontece exatamente nem na França e nem nos Congos, mas no fluxo entre eles.
Os sapeurs aderem, simultaneamente, a dois imaginários distintos. Um, eurocentrista, que afirma a expertise francesa na produção de roupas de luxo e impulsiona o fluxo para este país. Outro, que subverte este mesmo eurocen-trismo, ao afirmar serem os congoleses quem melhor domina a arte do dandismo, sabendo vestir e apreciar as roupas francesas melhor do que os próprios france-ses. A “sapelogie” traz consigo este emaranhamento de estéticas, éticas, disso-nâncias, agências e narrativas, por vezes conflitantes mas, sobretudo, permeáveis entre si, que é característica da própria pós-colonialidade na qual a SAPE se in-sere. De modo que, como salienta Pires (2017:1 67):
Viver a pós-colonialidade não se limita a uma relação entre nações ex-colonizadas e ex-metropolitanas. Os efeitos dessa época não acabam nas políticas migratórias, nas rela-ções com a pluralidade dos dois lados do Atlântico, e nem mesmo com a economia transnacional que penetra naquilo que um dia foi chamado de periferia. A pós-colônia, como nos ensinam Mbembe, Scott, Glissant e outros, é também um espaço-tempo de produção de subjetividades e modos de vida (isto é, de produção de si mesmo e de outrem)
Aderir a dois imaginários distintos, portanto, não é exclusivo aos sapeurs. É condição da própria globalização, que interconecta o globo, e da pós-coloniali-dade em geral, com sua originalidade e subjetividade específica, e que embora forjada de um encontro violento que produz um poder-saber com efeitos de longa duração, não se resume a violência. E esta dupla adesão é algo que eles enfatizam em sua apresentação de si, talvez ao se utilizarem da moda como um espaço me-nos “sacralizado”6 e, portanto, mais propício (BOURDIEU,1983) para se colocar em questão temas que ainda seriam difíceis de expor em outros espaços tidos como mais legítimos.
Fenômeno urbano e surgido no início dos anos sessenta, logo após as inde-pendências congolesas, a SAPE é um movimento contemporâneo com raízes an-tigas. O antigo Reino do Kongo já possuía uma rica tradição de roupas e orna-mentos que, com a colonização, vieram a conviver com as roupas europeias e os tecidos indianos que eram importados, mas com uma diferença significativa entre eles: enquanto o uso de itens que comunicavam maior status, como as joias e os elaborados tecidos de ráfia, era exclusivo à parcela da população que pertencia à aristocracia tradicional e interdito aos demais, o acesso às roupas europeias era livre a qualquer um que tivesse dinheiro para pagar por elas. Com isso, grupos emergentes, mas que não faziam parte da elite, irão prontamente aderir ao ves-tuário estrangeiro. Ao se introduzir e conferir valor também às roupas estrangei-ras, abala-se o monopólio tradicional do adorno, que era um monopólio aristo-crático (MARTIN, 1994). A ênfase nas relações mercantis provoca um movimento de migração para as grandes cidades, que experimentam um crescimento demo-gráfico explosivo e urbanização acelerada. Amplia-se a gama de produtos ofere-cidos no mercado, acompanhado de um comércio paralelo de itens usados ou mais populares, permitindo a expansão deste público consumidor urbano que se formava e caracterizando a grande cidade não como local de oposição entre uma tradição local e uma modernidade exógena, mas como o espaço onde relações,
6 Seguindo a proposta de Bourdieu, que realiza uma “homologia de estrutura entre o campo de produção desta categoria particular de bens de luxo que são os bens da moda, e o campo de produção desta outra categoria de bens de luxo que são os bens da cultura legítima, a poesia ou a filosofia, etc.: ‘Por que não falar disso diretamente?’ Porque estes objetos legíti-mos estão protegidos contra o olhar científico. Falando de um assunto menos protegido, espero mostrar mais facilmente aquilo que seria recusado se eu falasse de coisas mais sagradas” (1983:157).
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
103
estéticas, costumes, poderes e moralidades diferentes e, por vezes, conflitantes, coabitam e se entrelaçam.
As roupas se tornam um fator a ser mobilizado nesta reorganização das rela-ções sociais e há uma certa “democratização” do consumo de moda pois, ao igno-rar as divisões sociais preexistentes, o colonialismo acabou permitindo que de-terminados grupos sociais, até então privados do jogo da aparência e da ostenta-ção, se inserissem nas novas relações de consumo e dimensão cosmética. (MAR-TIN, 1994). A moda passa a ocupar um papel de destaque na vida citadina e con-some parte considerável dos rendimentos dos moradores dos grandes centros ur-banos congoleses nas décadas de 1940 à 1960. A roupa passa a funcionar como um marcador de urbanidade, que comunica a adesão a um estilo de vida dito “evoluído” (évolué) e em oposição aos habitantes do interior (BALANDIER, 2013). É neste contexto que surge a SAPE.
No entanto, não quero, com este olhar para as origens da SAPE, dar a enten-der que os sapeurs atuais estejam simplesmente reelaborando o passado. Eles es-tão com os pés bem fincados no presente, mas este tempo presente é, nos termos de Mbembe (2001), uma época atravessada por múltiplas durées, temporalidades e descontinuidades que se sobrepõem, se interpenetram e seguem atuando umas sobre as outras. Esta época, enquanto interlocução ou emaranhado de diversas temporalidades vividas, é também matriz de subjetividade para aqueles que a vi-venciam e é expressa pelos sapeurs através da apresentação pessoal e de sua per-formance.
Eles se denominam “ambientadores” (“ambianceurs”); ou seja, pessoas ca-pazes de, com a sua presença, criar uma atmosfera de sofisticação ao seu redor. A “sapelogie” exige esta “ambientação” (faire l´ambiance), que é a performance re-alizada em suas apresentações, seja em Brazzaville, Kinshasa ou em meio à co-munidade congolesa na Europa. É a posse das roupas de luxo somada à perfor-mance específica à SAPE que produz o sapeur enquanto tal e o diferencia de um homem comum; que ainda que vestido de maneira luxuosa não possui esta mesma habilidade em criar uma atmosfera glamorosa. Esta performance inclui um gestual e um modo de falar específicos, mas escaparia às questões levantadas no artigo detalhá-los. Seja como for, eles se apresentam publicamente, exibindo a si mesmos e a suas roupas, tanto um para outro quanto para o público, em um jogo de ver e ser visto. São, ainda, convidados a “ambientarem” festas e eventos, já que a presença deles garantiria uma aura “chic” à comemoração. Mesmo que possam ser remunerados para comparecer em alguns desses eventos, isso não é suficiente para que possam arcar com os custos para manter a si mesmos, suas famílias e as roupas de luxo exclusivamente com estes rendimentos e mesmo os sapeurs mais prestigiados mantêm seus empregos paralelamente às atividades como sapeurs. A SAPE é então, constituída por trabalhadores que se reúnem, so-bretudo nos fins de semana, para fazer sociabilidade em torno das roupas.
O público da SAPE, geralmente composto por pessoas de origem congolesa, se reúne para vê-los principalmente nas ruas dos bairros de Barbès-Roche-chouart, Château Rouge e Goutte d´Or no 18º arrondissement de Paris. Trata-se de bairros multiétnicos, fortemente marcados pela imigração africana e que con-centram um comércio voltado para este público, tais como restaurantes de co-mida congolesa, lojas de cosméticos, de roupas e tecidos africanos, bares, merce-arias com produtos alimentícios importados da África, serviços de telefonia e sa-lões de cabeleireiro afro; formando um espaço cultural, comercial e simbólico da diáspora africana na capital francesa. Atualmente, estes bairros passam por um
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
104
processo de gentrificação que vem gradualmente empurrando a população de ori-gem africana que eles tradicionalmente abrigaram para os arredores da cidade. A centralidade simbólica e comercial da região, no entanto, se mantém, e é lá que os sapeurs se reúnem.
E é em meio a esta população, que compõe o público da SAPE, que os sapeurs são pessoas conhecidas e reconhecidas. As pessoas desejam saber como estarão vestidos, apreciar a performance pública que realizam, tirar fotografias com eles. Mas também os param na rua para conversar sobre os assuntos mais triviais, pe-dem conselhos de moda, convidam-nos para o batizado de seus filhos ou para uma cerveja no bar da esquina. Eles são os “famosos da rua da frente” (MEDIA-VILLA, 2013: 20). Há qualquer coisa de liminar neste estrelato, que eu situaria em algum ponto na passagem do “homem comum”, anônimo, e uma celebridade no sentido tradicional do termo. Isso se reflete na interação do público com eles, que é diferente da habitual relação de inacessibilidade que se mantém, por exem-plo, com cantores e atores famosos.
Talvez se deva também a esta liminaridade que a “sapelogie” passeie com tanta facilidade em meio a outras manifestações artísticas, estando presente na cultura de massa e nos meios de comunicação congoleses. Como são pessoas que buscam a fama, os sapeurs estão continuamente procurando formas de se colo-carem em evidência, como ao participarem de todo tipo de eventos ou ao produ-zirem vídeos e DVDs nos quais são as estrelas. Também podem ser citados em letras de canções populares e dão entrevistas a canais de televisão, rádio, jornais e revistas dos Congos. Muitos colecionam recortes de jornais e revistas congolesas com fotos e reportagens sobre eles, que exibem com orgulho.
Trabalhar com pessoas que são ou desejam ser famosas é muito diferente de trabalhar com pessoas que não são e nem querem ser celebridades. A diferença entre as duas etnografias é radical. Afinal, os universitários tinham muitos planos de carreira, mas nenhum deles incluía um estrelato e não são habituados a lidar com meios de comunicação. Já para os sapeurs, ser reconhecido é um objetivo e lidar com os meios de comunicação é algo banal. Isso cria, portanto, um estar-no-mundo diferente para estes dois grupos – o que, consequentemente, exige uma forma distinta de produzir os dados também. Essa característica acabou dando contornos particulares ao campo, o que me exigiu um esforço de criatividade me-todológica e me convenceu que, como afirma Peirano (1995), toda nova etnogra-fia acaba por reinventar a própria etnografia. Busquei, então, refletir sobre for-mas de se trabalhar com pessoas que estão habituadas a lidar com meios de co-municação e exponho as alternativas que fui descobrindo em campo para tal.
Que os sapeurs busquem estar presentes em todo tipo de mídia, como forma de se tornarem cada vez mais reconhecidos, foi algo que me abriu muitas portas. Eles se mostraram muito receptivos e dispostos a participar da pesquisa e dese-javam ser fotografados e entrevistados. Por outro lado, esta foi também minha maior dificuldade em campo, uma vez que, como eles são muito habituados a li-dar com os meios de comunicação, esperavam que eu agisse da mesma forma que os profissionais desta área. Ao final, acabei adotando um convívio prolongado com os sapeurs e realizando entrevistas. Em muitos casos, realizei mais de uma entrevista com o mesmo sapeur, uma no início e outra no final do campo, obtendo dois conjuntos de informações distintos entre si. As primeiras entrevistas eram marcadas por um “discurso pronto” que eles possuem para dialogar com os meios de comunicação. Pois, tal como celebridades, eles não buscavam apenas se pro-mover, mas tinham também uma preocupação legítima sobre como a imagem de-les seria vinculada e um modelo de como essa imagem deveria ser.
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
105
“Argumentei acima que a entrevista é” uma situação provocada pelo pesqui-sador, na qual o entrevistado busca, através de uma série de mediações, construir um discurso que é percebido, interpretado, selecionado e dotado de finalidade a partir do momento presente. É, ainda, um discurso que emerge e é produzido para o contexto de entrevista (BEHAR, 1995; BOURDIEU, 1997). Na maior parte dos casos, este é um evento pouco comum para os informantes, o que faz com que o discurso surja em meio a um certo improviso. Avalia-se, seleciona-se, inter-preta-se, rememora-se, ordena-se, ignora-se por meio de uma improvisação que é parte da própria da situação de entrevista. Ao final, trabalha-se com o produto deste improviso – que é tanto do entrevistado quanto do entrevistador. Mas ser entrevistado não é algo incomum para os sapeurs. Isso é parte da rotina deles. Consequentemente, eu diria que eles são pessoas que improvisam pouco. Eles já tinham uma ideia bem definida daquilo que diriam, do como diriam, das frases de efeito a se ter na manga e daquilo a não ser dito também. Não quero, com isso, dar a entender que as narrativas produzidas pelos universitários fossem mais “fi-éis” enquanto que as produzidas pelos sapeurs fossem menos “fidedignas”, mesmo porque a busca por uma verdade última dos fatos não me parece fazer qualquer sentido em meio ao fazer antropológico. Desejo apenas apontar que as narrativas dos sapeurs costumam ser mais elaboradas, com mais camadas, o que as torna mais complexas de se interpretar.
Optei por ver essas características do objeto como uma riqueza para a pes-quisa, pois me davam a oportunidade de interpretar até mesmo a ausência de improviso. E isso me era muito útil, uma vez que eu estava interessada em pensar a forma como os sapeurs produzem subjetividade e um estar no mundo particular por meio das performances da SAPE, formando o que chamei de uma pessoa-para-o-espetáculo. Algo que se refletiria, inclusive, a que muitos deles optem por utilizar “nomes de SAPE” para se apresentar, que funcionam como “nomes artís-ticos” – tais como Terminator, Victime de la SAPE (“Vítima da SAPE”), Dada Pourret ou Bachelor (“Bacharel”). Eu tinha, então, um espaço de produção de subjetividade e uma dimensão performática a mais a explorar, além de mais um conjunto de dados com que trabalhar.
Pude, assim, acessar esse discurso pensado para a mídia, o que me informava muito sobre eles e sobre a forma como ambicionavam ser vistos e retratados. Também me informava sobre aquilo que eles não gostariam que fosse enfatizado. Não que escondessem informações sobre suas vidas: caso eu perguntasse, eles geralmente respondiam sem problemas, mas consideravam que falar dos aspec-tos menos glamorosos da vida não teria muito interesse ou sentido – afinal, cele-bridades não falam que dormiram mal a noite anterior, que pegaram o metrô lo-tado ou que estão com dor nas costas. No entanto, trabalhar apenas esse conjunto de dados não seria suficiente. Assim, procurei diferenciar a pesquisa que estava realizando da pesquisa jornalística, que possui uma abordagem e um tempo dis-tinto – das reportagens que os sapeurs participaram e que pude acompanhar, a mais longa foi para um canal de TV congolês, para a qual a equipe de filmagem passou uma semana com eles, e a mais curta foi por telefone para uma emissora de rádio, que durou cerca de duas horas. O convívio mais cotidiano e por um tempo mais prolongado fez com que as pessoas naturalizassem a minha presença ali e foi essencial para que eu conseguisse ultrapassar essa primeira barreira de um discurso produzido para as mídias.
Além do tempo, o próprio desejo dos sapeurs em serem reconhecidos tam-bém me auxiliou a aprofundar o campo. Como afirmei anteriormente, os sapeurs
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
106
recebem muito bem qualquer pessoa que se proponha a escrever, filmar ou foto-grafá-los, pois veem isso como uma forma de publicidade, o que é sempre bem-vindo. Houve mesmo sapeurs que chegaram a me ligar para marcar encontros comigo e me convidar para eventos nos quais iriam se apresentar. Era uma troca de dons: eles me ofereciam seu tempo e aceitavam a minha presença ali e, em contrapartida, eu os oferecia um espaço a mais no qual eles seriam retratados; ainda que esse espaço não contasse, nem de longe, com a mesma relevância que é concedida aos meios de comunicação, congoleses e franceses, mais tradicionais, tais como televisão, revistas e rádios.
Consequentemente, as pessoas que tinham maior interesse em participar da pesquisa eram os sapeurs que estavam regulares na França, por não terem ne-nhum receio em se mostrarem. Os sapeurs que estão irregulares acabam vivendo uma situação difícil de conciliar. Por um lado, enquanto performers e pessoas que almejam o estrelato, eles têm que se mostrar e se apresentar em público, já que a SAPE é, também, uma performance pública. Mas, por outro lado, enquanto imigrantes irregulares, são mais cuidadosos ao se exibirem e acabam priorizando realizar esta performance em espaços mais exclusivos à comunidade congolesa. Como os irregulares costumam evitar os meios de comunicação tradicionais, pre-ferindo as redes sociais e mídias digitais, isso gera um desequilíbrio entre regula-res e irregulares quanto aos recursos que podem lançar mão para se tornarem reconhecidos.
Vale lembrar que, para a sociedade francesa, eles não são sapeurs, mas imi-grantes africanos como todos os outros; uma vez que a categoria de sapeur nem sequer é inteligível para a maioria dos franceses. Se, como visto, a sociedade de acolhida tende a ignorar a vida do indivíduo antes de cruzar as fronteiras, no caso da SAPE isso é ainda mais marcado, pois significa um anonimato para o país de residência. Era importante, então, que eu demonstrasse estar ciente deste papel de celebridades que eles ocupam para a comunidade de origem congolesa.
Ser brasileira me colocava em uma posição peculiar, uma vez que, se a pes-quisa não competia com as mídias que eles costumam utilizar, por outro lado mi-nha nacionalidade expandia as fronteiras da SAPE para além dos locais que ela tradicionalmente alcança. Assim, o sapeur Bachelor, ao me apresentar a seus ami-gos, não deixava de acrescentar: “e ela veio do Brasil para falar comigo e escrever sobre mim. Você sabe onde fica o Brasil, não sabe? Então, veja que até lá eu sou conhecido”. Isto fez com que eles tivessem interesse em me conceder seu tempo e boa vontade ao me permitir participar de seus espaços de sociabilidade e em abrir suas casas e guarda-roupas para mim, pois essa era uma contrapartida que eu poderia lhes oferecer.
Afirmei anteriormente que acompanhei a gravação de um programa para um canal de TV congolês sobre os sapeurs que vivem em Paris. Este foi um evento marcante para que eles me abrissem as portas de diversos espaços que costumam frequentar, ainda que não tenha sido isento de contratempos. Como visto, os sa-peurs utilizam os meios de comunicação para aumentarem seu prestígio. E, du-rante a gravação do programa, utilizaram também da minha presença enquanto pesquisadora brasileira para o mesmo fim. Eu estava interessada em saber mais sobre eles e vinha de um lugar distante e exótico, o que também poderia significar que mesmos nos confins mais distantes e exóticos do globo as pessoas se interes-savam por eles. Assim, eles quiseram que eu participasse de suas entrevistas, afir-mando para a televisão congolesa o quanto eram famosos até na América Latina. O sapeur Dada Pourret quis que eu contasse para a câmera como foi que eu soube dele, ao que eu respondi que havia sido por meio de um filme em uma plataforma
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
107
digital. Dada, então, afirma confiante para a câmera: “como vocês podem confir-mar, meus filmes são um sucesso até no Brasil”. Eu era, portanto, a prova viva deste estrelato tupiniquim. Percebendo que isso me dotava de uma funcionali-dade em campo, não hesitei em reforçar, nesta e em muitas outras ocasiões, o quanto eles eram conhecidos na América do Sul, o que os deixava muito satisfei-tos.
Isso fez com que eles passassem a me convidar a muitos de seus espaços de sociabilidade e me apresentassem a cada vez mais pessoas, para quem eu sempre afirmava o quanto o sapeur que me havia apresentado ou convidado era famoso no continente americano. Isso me permitiu observar como eles interagem entre si e pude privilegiar esta proposta de uma etnografia “de perto e de dentro”. Iro-nicamente, foi justamente a relação dos sapeurs com as mídias – no caso, a en-trevista para a televisão – que fez com que eles me permitissem ultrapassar a bar-reira, presente no início do campo, desta forma já ensaiada de se apresentarem para os meios de comunicação e finalmente acessar o cotidiano deles. Só retornei às entrevistas mais ao final do campo. Em muitos casos, fiz mais de uma entre-vista com o mesmo sapeur, porém com objetivos diferentes: a primeira entrevista, na qual o entrevistado buscava replicar este modelo mais “jornalístico”, e uma segunda entrevista após este período de convivência mais prolongado, que fluía de maneira bem diferente da primeira.
No entanto, esta reportagem de TV também provocou alguns dramas em campo que tive que administrar. Não havia sido previamente informada de que haveria a tal reportagem. Simplesmente, os sapeurs Bachelor e Dada Pourret me disseram que não deixasse de ir à loja Connivences no dia seguinte. Segui a reco-mendação e, quando cheguei lá, me deparei com a equipe de filmagem. Não sabia que haveria outros dias de gravação e que outros sapeurs também seriam entre-vistados, então contei do sucesso brasileiro apenas daqueles que estavam ali pre-sentes. Isso acabou gerando ciúmes no sapeur Mukasha, que seria entrevistado no dia seguinte. Felizmente, ainda havia toda uma semana de filmagens pela frente, o que me deu oportunidade de reverter a situação antes que a equipe vol-tasse para Kinshasa. Aproveitei o tempo que restava para falar sobre a fama bra-sileira de Mukasha e afirmar para a câmera como todos os sapeur que participa-ram da reportagem eram muito famosos no Brasil. Assim, consegui contornar a situação mas, sobretudo, aprendi a ficar mais atenta a que os sapeurs, como é de se esperar se tratando que se pensam como celebridades, são pessoas que pos-suem egos importantes e que eu deveria prestar mais atenção em como adminis-trar esta questão ao longo do campo.
Por vezes, participar da pesquisa ou não, ser entrevistado ou não, poderia mesmo ser lido como uma forma de reconhecimento do sapeur. Assim, sabia que se entrevistasse um determinado sapeur mais de uma vez, igualmente teria que entrevistar outro pela segunda vez. Da mesma forma, havia alguns sapeurs que, por sua centralidade no meio da SAPE, não poderiam deixar de ser entrevistados, e não só por meu interesse como pesquisadora em ouvir o que eles tinham a dizer, mas pela própria posição que ocupavam no campo.
Sapeurs são pessoas vaidosas, tanto no sentido de se dedicarem ao cuidado da própria aparência quanto no sentido de desenvolverem uma elevada autoes-tima associada à valorização do conjunto de práticas e valores que os identificam como membros da sapelogie. Mas, além disso, eles são também pessoas que estão habituadas a se sentirem à vontade frente as câmeras. É um conhecimento com-plexo, pois demanda que uma série de disposições sejam incorporadas por meio de uma prática prolongada.
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
108
Daí a maneira confiante com que o sapeur Norbat de Paris participou de um reality show7 sobre moda na TV aberta francesa, sendo o único candidato estran-geiro do programa. Norbat não chegou ao programa de maneira humilde, e sim afirmando que os demais candidatos, todos eles franceses e brancos, alguns dos quais não hesitaram em debochar de Norbat, iriam “tremer e fazer xixi nas calças” ao conhecerem toda a elegância de sua “potência norbática” (“puissance norba-tique”), que é como ele gosta de chamar seu carisma, e que iria desclassificá-los da competição. Norbat mostrou, orgulhoso, seu guarda-roupa para a câmera e apareceu vestido como sapeur durante toda a semana que durou o programa. Ha-bituado a dialogar com os meios de comunicação, a desfilar e a participar de com-petições de elegância, Norbat de Paris se mostrou muito à vontade no reality show e levou enorme vantagem frente aos demais concorrentes, que eram todos, o que venho chamando de “pessoas comuns”, não-celebridades. Norbat estava consciente desta vantagem e chegou ao programa de TV para ganhar a competi-ção – o que, não é de surpreender, de fato aconteceu.
Assim, entendo que isso gera um tipo de subjetividade diferente em relação a outros grupos que não contam com este reconhecimento em seu país de origem. Viver e trabalhar na França tendo fotos suas publicadas em revistas ou sua ima-gem transmitida em canais de TV de seu país é diferente de viver e trabalhar na França sendo anônimo tanto em Paris quanto no país natal. Este reconhecimento que os sapeurs possuem para o público congolês confere a eles uma posição valo-rizada dentro do seu próprio grupo social, que não apenas dá a eles o sentimento de pertencimento à comunidade de origem como valoriza a própria experiência do fluxo transnacional. Por mais que enfrentem uma série de dificuldades em seu cotidiano como imigrantes africanos na França, o discurso é de afirmação e orgu-lho. O desejo de visibilidade fala da busca de um ganho que não é exclusivamente material, mas simbólico e mesmo os que ainda estão começando a comprar suas roupas de grife têm a expectativa de um dia serem famosos e reconhecidos nos Congos.
Isso coloca a SAPE como, muito mais do que uma busca por roupas grifadas, uma reflexão sobre as relações entre Congo e França, assim como sobre o próprio fluxo entre estes dois países que os sapeurs, simultaneamente, habitam. É, tam-bém, um movimento de afirmação da africanidade e da negritude, que busca en-globar a alteridade como forma de se afirmar. As roupas da SAPE são uma antro-pofagia das roupas francesas e uma forma de refletir, através das atividades per-formáticas, da relação com os objetos e de múltiplos meios de expressão, sobre a pós-colonialidade e o cotidiano da população congolesa ou de origem congolesa em Paris. E, neste contexto, ser brasileira e mestiça me ajudou na entrada em campo.
Ser brasileira era contar com um imaginário longínquo, porém simpático. Além do que, cheguei a França no período em que estava ocorrendo a Copa do Mundo no Brasil, o que colocava o país em evidência, assim como sua relação com o esporte, que era constantemente acionada (GUEDES, 1998). Minha origem era tida como exótica e, por isso mesmo, exterior às relações que eles mantêm com os franceses. E, assim como eles, eu também era uma estrangeira na França, ainda que chegada ao país por meio de um fluxo muito distinto do deles, e era vinda de um país periférico e mestiça.
Isso se apresentou de forma mais marcante no período que sucedeu o aten-tado à revista Charlie Hebdo, que ocorreu na metade do trabalho de campo. Foi
7 O programa “Les rois de shopping” (“Os reis das compras”). Uma versão editada, com os principais momentos de Norbat, está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-XAk6BHBqlY.
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
109
algo que modificou toda a atmosfera e rotina da cidade e, consequentemente, trouxe novas questões para o campo. Todos falavam sobre o que havia se passado e o que poderia ocorrer dali para frente mas, em Château Rouge e Goutte D´Or se considerava que nem tudo deveria ser dito a qualquer pessoa – pois, depen-dendo do interlocutor, se afirmar como não “sendo Charlie”8 poderia ser muito mal compreendido. Assim, várias vezes, ouvia sapeurs e imigrantes não-sapeurs, ao discutirem o ocorrido, afirmarem que “tem certas coisas que não se deve falar aos franceses, sob o risco de ser mal interpretado”. Ser brasileira, então, me per-mitiu ouvir comentários sobre a presente situação que eu não teria tido acesso se fosse francesa e que me auxiliaram a compreender melhor a respeito da interação, nem sempre tranquila e quase nunca horizontal, dos sapeurs, como imigrantes congoleses, com a sociedade francesa.
IV. Busquei, a partir destas duas etnografias, refletir sobre a entrada e a constru-
ção do campo em um contexto de fluxo transnacional, observando as peculiari-dades que cada grupo estudado traz consigo e olhando também seus pontos em comum, que a própria situação de trânsito internacional faz com que comparti-lhem. Sendo assim, o artigo busca contribuir a compreender melhor a posição que o Brasil ocupa nestes trânsitos, enquanto país que segue periférico, mas que experimentou um período em que expandiu sua presença no âmbito internacio-nal, tanto diplomático quanto acadêmico. Esta presença se reflete no fluxo em direção ao país, atraindo jovens pesquisadores estrangeiros a realizarem sua for-mação aqui, a produzirem conhecimento na universidade brasileira e em diálogo com a academia brasileira e, em alguns casos, a optarem por viver aqui também. Da mesma forma, aquele dado contexto também impulsionou o fluxo no sentido contrário, do Brasil em direção a outros países, viabilizando que mais brasileiros realizassem pesquisa no exterior e ampliando os limites da antropologia brasi-leira, mas também trouxe questionamentos a respeito das implicações de ser um pesquisador brasileiro fora das fronteiras nacionais.
Recebido em 30 de outubro de 2019. Aceito em 6 de janeiro de 2020.
8 Referência ao slogan “Je suis Charlie” (“Eu sou Charlie”), criado logo após aos assassinatos, e que aparecia em prédios públicos, vitrines de lojas e adesivos colados em janelas de casas e nas roupas de alguns parisienses.
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
110
Referências
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
BALANDIER, Georges. Sociologia das Brazzavilles negras. Luanda: Ed. Pedagos & Ed. Mulemba da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, 2013.
BEHAR, Ruth. Rage and redemption: reading the lie story of a mexican market-ing woman. Feminist Studies, 16 (2): 223-58, 1990.
BOURDIEU, Pierre. “Compreender”. In: BOURDIEU, Pierre (org.) A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1997. pp. 693-73.
BOURDIEU, Pierre. “Alta costura e alta cultura”. In: BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. pp. 154-161.
CESARINO, Letícia. Antropologia multissituada e a questão da escala: reflexões com base no estudo da cooperação Sul-Sul brasileira. Horizontes Antropológicos, 20 (41): 19-50, 2014.
CESARINO, Letícia. Anthropology of development and the challenge of South-South cooperation. Vibrant, 9 (1): 507-537, 2012.
ELLERY, Daniele. Identidades em trânsito – África “na pasajen”: identidades e nacionalidades guineenses e cabo-verdianas. Campinas: Arte Escrita Ed., 2009.
GUEDES, Simoni Lahud. O Brasil no campo do futebol: estudos antropológicos sobre os significados do futebol brasileiro. Rio de Janeiro: EDUFF, 1998.
HAGE, Ghassan. A not so multi-sited ethnography of a not so imagined commu-nity. Anthropological Theory. 5 (4): 463-475, 2005.
HIRSCH, Olívia Nogueira. “Hoje me sinto africana”: processos de (re) constru-ção de identidades em um grupo de estudantes cabo-verdianos no Rio de Ja-neiro. Dissertação de mestrado, Ciências sociais, PUC-RIO, 2007.
KALY, Alain. O ser preto africano no “paraíso terrestre” brasileiro: um sociólogo senegalês no Brasil. Lusotopie, Lisboa: 105-121, 2001.
LECHINI, Gladys. O Brasil na África ou a África no Brasil? A construção da polí-tica africana pelo Itamaraty. Nueva Sociedad, Especial Brasil, Outubro: 55-71, 2008.
MARTIN, Phyllis M. Contesting Clothes in Colonial Brazzaville. The Journal of African History, 35 (3): 401-426, 1994.
MBEMBE, Achille. On the postcolony. Berkeley: University of California Press, 2001.
MEDIAVILLA, Héctor. S.A.P.E. Paris: Editions Intervalles, 2013.
MORAIS, Sara Santos. Múltiplos regressos a um mundo cosmopolita: moçam-bicanos formados em universidades brasileiras e a construção de um sistema de prestígio em Maputo. Dissertação de mestrado, Antropologia Social, UNB, 2012.
MUNGOI, Dulce Maria Domingos Chale João. “O mito atlântico”: relatando ex-periências singulares de mobilidade dos estudantes africanos em Porto Alegre
SA
NT
OS
, M
ari
an
a B
ati
sta
do
s.
Etn
og
ra
fia
e f
lux
o t
ra
ns
na
cio
na
l
111
no jogo de construção e reconstrução de suas identidades étnicas. Dissertação de mestrado, Antropologia Social, PPGAS/UFRGS, 2006.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Na-cional versus Identidade Negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
PEIRANO, Mariza. A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995.
PIRES, Rogério Brittes. Futuros que seguem: Multiplicidade espaço temporal bu-sinenge no Suriname pós-colonial. Ilha, 19 (2): 143-174, 2017.
SAYAD, Abdelmalek. A imigração: ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998.
SARAIVA, Flávio Sombra. A busca de um novo paradigma: política exterior, co-mércio externo e federalismo no Brasil. Revista Brasileira de Política Internaci-onal, 47 (02): 131-162, 2004.
SUBUHANA, Carlos. Estudar no Brasil: imigração temporária de estudantes moçambicanos no Rio de Janeiro. Tese de doutorado, Serviço Social, UFRJ, 2005.
VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades comple-xas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
VISENTINI, Paulo Fagundes. O Brasil e a história das relações internacionais. Revista Esboços, 21 (32): 18-40, 2015.
VIVEIRO DE CASTRO, Eduardo. O campo na selva, visto da praia. Estudos His-tóricos, 5 (10): 170-190, 1992.
AC
EN
O,
7 (
13):
91-
112
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
112
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
. “
É u
ma
vid
a e
sq
uis
ita
, u
m p
ou
co
es
qu
isit
a,
ma
s b
oa
”:
en
tre
vis
ta c
om
o
ma
rid
o d
e u
ma
tr
av
es
ti e
m P
ar
is.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Cen
tro
-Oes
te,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
“É uma vida esquisita,
um pouco esquisita, mas boa”: entrevista com o marido de uma travesti em Paris
Marina Veiga França1 Universidade Federal de Mato Grosso
Resumo: O artigo é redigido em torno de uma entrevista com o marido brasileiro de uma travesti sul-americana, ambos migrantes em Paris, onde ela é trabalhadora do sexo. Busco aqui mostrar o relato que ele elabora de suas vidas naquele momento. Ao resgatar a experiência de uma pesquisa iniciada em 2006, abordo algumas difi-culdades de um trabalho de campo realizado em Paris; a prostituição no Bois de Boulogne, um parque urbano em que trabalham principalmente pessoas trans; e, mais indiretamente, o contexto francês de políticas voltadas para a prostituição e para a migração.
Palavras-chave: travesti; prostituição; migração; Bois de Boulogne; conjugali-dade.
1 Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMT. Possui mestrado em Antropologia, na especialidade “Gênero, política e sexualidades” (2006) e doutorado em Antropologia Social (2011) pela École des Hau-tes Études en Sciences Sociales (Paris). Cursou Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais (2005).
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
114
“It is a weird life,
a little weird, but good”: interview with the husband of a transgender woman in Paris
Abstract: The article is written around an interview with the Brazilian husband of a South American MtF transgender, both migrants in Paris, where she is a sex worker. I show his narrative of their lives at that moment. Returning to this experi-ence of a research initiated in 2006, I consider some difficulties of a fieldwork real-ized in Paris, in the Bois de Boulogne, an urban park where mainly trans people do sex work, and, more indirectly, the French context of policies concerning prostitu-tion and migration.
Keywords: transgender; sex work; migration; Bois de Boulogne; conjugality.
“Es una vida extraña,
un poco extraña, pero buena”: entrevista con el marido de una travesti en París
Resumen: El artículo está escrito en torno a una entrevista con el esposo brasileño de una travesti sudamericana, ambos migrantes en París, donde ella es una trabaja-dora sexual. Trato de dar paso a la narrativa que él elabora de sus vidas en ese mo-mento. Al rescatar esta pesquisa realizada entre 2006 e 2008, me acerco a un trabajo de campo que no ha tenido el camino esperado en Francia, la prostitución en el Bois de Boulogne, un parque donde trabajan principalmente personas transgénero en Pa-rís; y, más indirectamente, el contexto francés de políticas dirigidas a la prostitución y a la migración.
Palabras clave: travesti; prostitución; migración; Bois de Boulogne; conyugalidad.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
115
ste artigo foi elaborado em torno de uma entrevista que realizei com uma trans latino-americana, que morava há três anos na França, trabalhando como prostituta no Bois de Boulogne, em Paris, ou – como se verá a seguir
– uma entrevista em que é principalmente seu marido2, brasileiro, que toma a palavra e fala sobre a vida dos dois. A entrevista foi realizada em 2007, durante minha pesquisa de doutorado. Após defender a tese e escrever artigos sobre mi-nha pesquisa no campo da prostituição, ficou a sensação de que não tive a opor-tunidade, pela maneira como o tema de minha tese avançou, de retratar os episó-dios em que me encontrei com este casal, Wanda e Fernando3, e a riqueza desses momentos. Com efeito, por dificuldades de ir a campo no Bois de Boulogne, que abordo a seguir, e pela minha tese ter se concentrado principalmente na prosti-tuição de mulheres cisgênero na zona boêmia em Belo Horizonte, a pesquisa que realizei em Paris funcionou principalmente como parâmetro para a etnografia no Brasil.
Busquei recentemente minhas anotações de campo e reli a entrevista que gra-vara em um dos três encontros que tive com o casal. Existem diversos relatos et-nográficos sobre as relações afetivas e sexuais de travestis4, mas ainda são escas-sas as pesquisas que englobam parceiros. O contato com os namorados ou mari-dos de travestis é retratado principalmente no trabalho de Larissa Pelúcio, espe-cialmente no artigo “Três casamentos e algumas reflexões: notas sobre conjuga-lidade envolvendo travestis que se prostituem” (2006), e também na etnografia de Don Kulick (2008), que morou em uma casa com travestis de Salvador e alguns de seus namorados, e relata suas observações das relações e a entrevista com um desses homens.
Além disso, a eloquência de Fernando e a maneira como tece a trajetória de Wanda e de sua própria vida, costurando vários temas como travestilidade, mi-gração, prostituição e educação, são elucidadores. Lembrei-me e me inspirei no artigo “L’initiation. Entretien avec un client de la prostitution” (2009), em que o antropólogo Sébatien Roux reproduz uma entrevista com um francês expatriado na Tailândia, que tivera uma experiência como cliente na prostituição em Bangkok. Assim, resolvi resgatar no presente artigo um pouco das impressões do campo que realizei no Bois de Boulogne e, principalmente, transcrever a entre-vista com Wanda e Fernando quase integralmente.
Um campo não muito frutífero no Bois de Boulogne, que rendeu um grande encontro
Em 2006, estava no início de um Doutorado em Antropologia na École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) e pensava fazer uma análise com-parativa da prostituição em Belo Horizonte e de prostitutas brasileiras em Paris5.
2 O casal se refere a todos os parceiros de travestis como seus maridos. 3 Todos os nomes citados no artigo são fictícios. 4 Apesar de na última década haver um uso crescente do termo trans, utilizo neste artigo predominantemente o termo travesti, pois é o mais usado pelas minhas interlocutoras, além de se referir no Brasil a uma identidade e “orgulho travesti”. Ver Carvalho e Carrara, 2013. 5 Impulsionada por questões familiares, fui para a França, em 2005, realizar um mestrado na EHESS, com um projeto de mestrado sobre a prostituição na zona boêmia de Belo Horizonte. Fui orientada por Marie-Elisabeth Handman, que pes-quisava prostituição em Paris e realizava seminários sobre trabalho do sexo, recebendo pesquisadores que estudavam o
E
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
116
Decidi sondar o campo em Paris, procurando contato de brasileiras em sites fran-ceses e determinados locais de prostituição de rua. O Bois de Boulogne, um par-que de 8,5 km2, que fica ao oeste de Paris, era conhecido como o principal ponto de prostitutas brasileiras. Procurei uma brasileira de uma associação de pessoas trans a fim de verificar a possibilidade de estabelecer contatos de pesquisa pela instituição. Ela me disse que só seria possível se minha tese fosse redigida se-gundo a orientação dela, quer dizer, se eu escrevesse meu trabalho sobre a asso-ciação, da maneira como ela me indicasse. Talvez eu pudesse ter negociado, mas entendi que a posição era categórica e não achei a opção viável, por razões cientí-ficas e éticas.
A situação iniciava-se de maneira diferente daquela de meu campo em Belo Horizonte, em que conheci a zona boêmia apresentada por uma organização não-governamental, o GAPA-MG (Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Ge-rais). Naquela experiência, minha circulação pelos hotéis de prostituição seguiu, em um primeiro momento, o fluxo e os contatos propiciados pelo acompanha-mento das monitoras de saúde da instituição. Pouco a pouco, fui estabelecendo novos contatos e aprendendo a circular sozinha pelo local.
Para ir sem mediadores ao Bois de Boulogne, o terreno era mais complicado. Embora eu já morasse em Paris, era ali uma estrangeira. E o Bois, com suas várias alamedas e bosques, não era um local de fácil circulação, principalmente para uma mulher sozinha, em um lugar ao mesmo tempo ermo e com uma grande cir-culação de homens6. Além disso, ser uma mulher brasileira me deixava com a sensação de maior vulnerabilidade, pois imaginava que poderia ser enquadrada como prostituta pela polícia francesa.
A legislação referente à prostituição na França é abolicionista. A prostituição era, em linhas gerais, tolerada pelos poderes públicos desde que não constituísse dano à pessoa ou prejudicasse a ordem pública (VERNIER, 2005). Mas desde 2003, a lei conhecida como Loi Sarkozy, a Loi pour la Sécurité Intérieure (LSI – Lei de Segurança Interna), criminalizava o racolage passif, uma atividade difícil de ser definida com precisão, pois se refere ao ato de buscar ativamente atrair um cliente7. A lei permitia inculpar qualquer prostituta que estivesse nas vias públi-cas e previa punição de dois meses de prisão, mais uma multa de 3750€.
Ser brasileira na França dos anos 2000 já evocava às vezes uma associação com a prostituição e com o Bois de Boulogne. Aconteceu algumas vezes, quando explicava o tema de minha tese em conversas informais, de franceses me pergun-tarem se no Brasil havia mais prostituição que em outros países, o que me causava certa perplexidade. Nos anos 1980, a associação era ainda mais comum, atribuída à grande presença de travestis brasileiras na prostituição do Bois. Nas décadas seguintes, a referência apenas ao Brasil diminuiu, pois as trans brasileiras passa-ram a dirigir-se mais à Itália (nos anos 1990) e à Espanha (a partir dos anos 2000), e prostitutas trans de diversos outros países latino-americanos adensaram
tema em diferentes lugares do mundo. Naquele contexto, fazia todo o sentido realizar o campo no Brasil e contribuir com os “dados” d’ailleurs para os debates teóricos e políticos que estavam acontecendo na França. Por outro lado, pensando no retorno para o Brasil, seria interessante entender o que estava acontecendo com as brasileiras que trabalhavam no mercado do sexo em Paris. Além disso, pesquisar especificamente brasileiras oferecia uma continuidade ao campo iniciado em Belo Horizonte. 6 Alexandre Vale (2005), durante seu doutorado, realizou campo com travestis brasileiras e participou da pesquisa sobre prostituição em Paris coordenada por minha orientadora. Ele ia geralmente ao Bois de Boulogne acompanhando um ôni-bus da Associação PASTT (Prevenção, Ação, Saúde e Trabalho para os Transgêneros). Na p. 202 de sua tese, cita um dia em que foi ao Bois sozinho, mas não se atardou, porque “estava cansado de correr riscos”. Não desenvolve ali a questão, mas pode-se imaginar que para um pesquisador homem também não era tranquilo ir sozinho ao Bois. 7 O racolage foi suprimido da lei francesa em 2016, quando se adotou a lei de punição dos clientes, inspirado pelo modelo sueco. Trabalhadoras do sexo e associações que militam por seus direitos denunciam que esse modelo de punição do cliente faz com que a prostituição tenha que ser exercida em lugares mais escondidos e precários, com menos segurança para as trabalhadoras.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
117
o Bois. (VALE, 2005; PELÚCIO, 2011; TEIXEIRA, 2011; HANDMAN, MOSSUZ-LAVAU, 2005; FRANÇA, 2016).8
Por sugestão de minha orientadora, Marie-Elisabeth Handman, um colega do mestrado, Jonas Le Bail, me acompanhou nas duas primeiras vezes em que fui ao Bois. Depois, fui acompanhada por amigos brasileiros e um namorado. Na pri-meira visita, em 2006, Jonas e eu circulamos longamente até achar os locais de prostituição, que têm como via principal a Allée de la Reine Marguerite, e cami-nhamos ainda mais para achar onde se encontravam as brasileiras. Neste aspecto faz-se necessário descrever sinteticamente como a prostituição funciona no Bois de Boulogne. Embora seja difícil identificar as separações e passagens quando se está iniciando no local, as alas são divididas por nacionalidade.
Mapa 1. O Bois de Boulogne. Fonte: Modificação de Map data: Google, 2011, Maxar Technologies.
No Bois de Boulogne, travestis e transexuais da América do Sul se aliam ou se afrontam de acordo com suas origens. Em cada local de prostituição, a compe-tição ou a solidariedade determinam as segmentações espaciais entre antigos e novos, francesas e estrangeiras, usuárias de drogas e não-usuárias. A passagem de um lugar a outro também pode corresponder às etapas de uma carreira na prostituição ou fazer parte de uma estratégia de migração mais elaborada (RE-DOUTEY, 2005: 53, tradução minha).
Acontece também uma divisão de acordo com os estados de origem das pros-titutas trans brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, etc. Outra diferença entre as trabalhadoras é entre aquelas que realizam os programas9 em um carro utilitário ou van com a traseira fechada, camionete em francês, e aquelas que o realizam no meio do bosque. Entre estas, a maioria dos programas são realizados
8 Ainda nos anos 1990, a antropóloga Denise Pirani escreveu a tese “Quand les lumières de la ville s’éteignent: minorités et clandestinités à Paris, le cas des travestis” (1997), sobre a prostituição de travestis brasileiras no Bois de Boulogne. 9 Programa é o nome dado em português ao serviço de troca de dinheiro por tempo e serviços prestados, entre eles, os sexuais; em francês, o nome para o programa é la passe.
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
118
em pé, entre as árvores. Há também algumas poucas tendas, que não chegam a ser barracas totalmente fechadas, que oferecem uma pequena cobertura para o ato sexual.
Quando fui ao bosque, não havia brasileiras trans trabalhando em utilitários, apenas quatro ou cinco brasileiras cis. Para se ter uma noção dos preços cobrados, entre 2006 e 2008, uma brasileira cis, na camionete, cobrava 20€ pelo sexo oral e 40€ pelo sexo vaginal. As trans, no bosque, cobravam 20€ pelo sexo oral e entre 30€ e 50€ para o sexo anal, variando com o valor por elas atribuído ao carro do cliente. Chegando ao Bois, uma iniciante, seja ela cis ou trans, tem que negociar seu direito de trabalhar no local, como acontece em outros lugares de prostituição de rua. Nas palavras de Ivone, uma trans do Macapá, é preciso “cavar um lugar para trabalhar” no Bois. Alguma travesti há mais tempo e com certa autoridade tem que “baixar”10 a novata. É comum que uma veterana custeie a vinda de uma conhecida, pague a passagem, negocie a permissão de trabalho e, às vezes, ofereça a hospedagem a suas “baixadas”, cobrando 200€ por semana. Ocorrem casos nos quais a novata tem o passaporte “confiscado” até pagar sua dívida. Ivone comenta que se costuma ganhar 300€ ou 400€ por dia no Bois, então é possível pagar a dívida em dois ou três meses.
Quando finalmente Jonas e eu encontramos algumas brasileiras, mulheres cisgênero trabalhando em vans, o contato foi difícil: elas se mostraram desconfi-adas e não quiseram prolongar a conversa ou nos passar seu telefone. Claudia, de Fortaleza, me perguntou várias vezes se eu não era francesa, pois meu sotaque de português lhe parecia estranho. Depois, quis saber se eu tinha visto de residência e de qual tipo. Indagou também se éramos de alguma associação. Acabou se des-vencilhando de nós com algumas desculpas. Foi apenas no ano seguinte, depois de me ver algumas vezes, que uma dessas mulheres, que aqui chamarei de Bea-triz, concordou em falar comigo. Era uma mulher cis que nasceu na Europa, mas cresceu no Brasil. Pelos idos de 1980, tendo dois diplomas universitários, estava desempregada, divorciada e com dois filhos. Ouviu falar do Bois por um amigo gay e, deixando suas filhas no Brasil, foi para Paris. Pagou à época o equivalente a 2000€ por sua entrada no negócio a uma prostituta que já estava no local. De acordo com Beatriz, em 2008, por causa do acirramento da lei de 2003, pratica-mente só permaneceram no Bois as mulheres cis brasileiras que tinham cidadania europeia ou tinham se casado com um europeu11. Tivemos alguns encontros e Be-atriz se colocou à vontade, embora não tenha autorizado a gravação da entrevista. De fato, o clima na prostituição em Paris era de tensão, com prostitutas sendo presas, tendo que pagar multas altas e vendo seus ganhos diminuindo com a queda de clientes (HANDMAN e MOSSUZ-LAVAU, 2005). Outra suspeita em re-lação à minha presença foi explicitada por Ivone, mencionando que eu ia passar todas as informações que escutassem delas ao Sarkozy, então presidente, e ele ia acabar com a prostituição no Bois de Boulogne.
As travestis brasileiras trabalham em maior quantidade à noite, o que com-plicava ainda mais minha ida a campo. Estabelecer os contatos, conseguir reen-contrar as pessoas, se mostrava difícil e, com o crescimento do meu trabalho em Belo Horizonte, principalmente com mulheres cis, decidi interromper o campo no Bois de Boulogne, depois de ir ao local por cerca de seis vezes, até 2008. Entrar
10 Vale (2005) se refere à expressão “descer no Bois”, utilizada pelas travestis, tanto no sentido de ir cotidianamente ao local, quanto no de ser incorporada ao comércio do sexo do Bois. Algumas de suas interlocutoras não pagaram ao chegar, mas tiveram autorização para fazer programa no local através de trocas de favores e amizades. 11 Conheci, no entanto, no Bois uma mulher recém-chegada, vindo do Nordeste, que não tinha papéis para continuar na França e outra, de Fortaleza, que ficava fazendo idas e voltas ao Brasil.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
119
realmente em campo12, ainda mais na prostituição de rua, requeria investimento, tempo e companhia. Além do próprio ato de mobilizar alguém para me acompa-nhar, a companhia talvez trouxesse inconvenientes, pois implicava interagir e es-cutar as prostitutas acompanhada por homens, alguns homossexuais, outros he-terossexuais, nem todos antropólogos. Naquele momento, acabei optando por centrar meu trabalho em Belo Horizonte.
Sendo difícil o contexto de pesquisa no Bois, é surpreendente que, da segunda vez em que lá estive, perguntei para uma trans sentada sozinha, de traços indíge-nas, vestida com um casaco de pele, se ela sabia onde ficavam as brasileiras e ela, sorridente, exclamou: “Brasileira? Eu sou brasileira!” Conversamos um pouco, trocamos contato e logo me convidou para ir a sua casa. Tive três encontros com ela, que aqui chamarei de Wanda, e seu marido, Fernando, brasileiro, negro de pele clara. Na primeira vez em que fui à casa deles, com Jonas Le Bail, e realiza-mos a entrevista transcrita mais adiante, eles nos convidaram para ir à festa de aniversário de quarenta anos de Wanda, anunciando de antemão que iriam qua-renta casais de travestis com seus namorados.
Nosso segundo encontro se deu então em seu aniversário, realizado em um salão de festas de proprietários peruanos na periferia de Paris. Não havia mais nenhuma brasileira e as demais trans presentes eram todas da América hispânica, com exceção de um trans francesa, veterana do Bois de Boulogne. Como fui saber depois, Wanda nasceu no Peru e, com o processo de mudança de gênero, ainda adolescente teve que sair da casa da família e fugir para o Brasil. Apesar de natu-ralizada brasileira, com a ajuda de Fernando, na Europa a “brasilidade” dWanda não foi aceita pela comunidade de trans brasileiras, que estranhou seu sotaque. Não são raros os conflitos nas ocupações de espaço e certos reagrupamentos na prostituição de rua de migrantes na França e na Itália (VALE, 2015).
No aniversário, grande parte das travestis estavam acompanhadas de homens cis, franceses, muitos deles de origem árabe13. A decoração do local, a produção e a roupa de Wanda lembravam um baile de debutante. Havia outro aniversário no mesmo salão, de uma família peruana mais tradicional. Cada grupo ficou de um lado, sem interagir. Foi uma grande alegria quando as convidadas de Wanda co-meçaram a dançar salsa e rapidamente se espalharam pela pista de dança. Foi um dos dias mais felizes de minha vida e me parece, hoje, que coloquei a antropóloga de lado naquele momento. Entretanto, tratava-se principalmente de um mo-mento de criar os laços ou, fazendo uma referência cara à disciplina, de fugir da briga de galos (GEERTZ, 1989).
Alguns dias depois, Jonas e eu voltamos à casa de Wanda para ver as fotos do aniversário. Naquele momento, eu me preparava para voltar ao trabalho de campo no Brasil e Wanda e Fernando também iriam ao Brasil e ao Peru. Nesse dia, enquanto estávamos lá, Wanda falou com sua irmã ao telefone; estava super-visionando as obras realizadas na casa de sua mãe. Mostrou-me fotos da casa,
12 Já que era difícil ir constantemente e ficar muito tempo no Bois, eu pedi o telefone de algumas trabalhadoras que en-contrei, de maneira a encontrá-las em outro local, assim como fiz na prostituição de rua em Belo Horizonte. Na Avenida Afonso Pena (o mais famoso ponto de prostituição de rua da capital mineira), marquei com algumas mulheres na casa delas, na própria avenida ou em um bar próximo, antes de elas começarem a fazer programa. Mas, uma vez que se tem o telefone, uma outra aventura começa para conseguir concretizar um encontro. Na zona boêmia, um facilitador é que a mulheres alugam constantemente um mesmo quarto e é mais fácil estabelecer um horário e voltar ao local em que se encontram. Meu campo na zona boêmia me permitiu ir aos hotéis várias vezes por semanas, somando todos os períodos, por mais de um ano e meio. Ali, realizei entrevistas com prostitutas nos quartos, circulei de quarto em quarto com moni-toras de saúde do GAPA, participei de reuniões, observei interações, corredores, cantinas, salas de gerência, entrevistando também funcionários, donos de hotéis e clientes. 13 De acordo com o que me contaram interlocutoras, e se pode ler na tese de Alexandre Vale (2005), muitos clientes do Bois – das trans da América-Latina, pelo menos – são classificados por elas como árabes. Wanda disse que a maioria de seus clientes são franceses, mas há muitos árabes também.
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
120
cuja construção Wanda bancava. O casal mostrou também, orgulhoso, fotos de travestis cujos corpos produziram em seu período como “bombadeira” (termo usado para quem aplica silicone). Antes de viajar, falei ainda por telefone com Wanda e lhe passei meu endereço no Brasil. Quando voltei à França, sete meses depois, o telefone dela já não estava conectado e, desde então, nunca mais conse-gui estabelecer contato.
A entrevista Era um domingo do inverno de 2007. Wanda nos convidara para uma feijo-
ada em sua casa, no noroeste de Paris. Morava em um pequeno apartamento de quarto e sala que ficava no prédio atrás de um hotel. São comuns em Paris os prédios menores, aos quais se tem acesso passando pela entrada do edifício prin-cipal. No caso, o dono do hotel locava os apartamentos desse segundo prédio co-brando o aluguel adiantado, por semana, e um preço mais alto que o do mercado, pois abrigava imigrantes sem exigir documentos de residência - que Wanda e Fer-nando não tinham, já que estavam ilegalmente no país. O apartamento era rela-tivamente espaçoso para os padrões parisienses. O mais incômodo era que havia apenas um banheiro para os habitantes dos três andares do prédio, e ficava loca-lizado no pátio de entrada, fora do edifício. Wanda e Fernando moravam, no en-tanto, no Paris intramuros14, e o hotel não ficava longe do Bois, para onde Wanda ia e voltava de taxi.
Ela nos contou que tinha trabalhado aquela noite inteira no Bois. Havia che-gado às nove horas da manhã e não dormiu, dedicando-se a preparar a feijoada. Além de nós (Jonas e eu), ela tinha convidado uma amiga trans peruana que tra-balhava na Itália e estava de passagem por Paris, e um casal que morava no andar de cima, formado por uma trans peruana e um homem cis romeno, apontado como melhor amigo de Fernando. Esses outros convidados chegaram mais tarde, enquanto conversávamos. A entrevista, a princípio, estava voltada principal-mente para Wanda mas, como se verá adiante, Fernando toma conta da conversa e responde muitas vezes por sua parceira, o que indica uma dinâmica tradicional de gênero na relação, que apenas entrevi, como indicarei adiante. Ao mesmo tempo, Wanda se mostra reticente em responder e tocar em pontos íntimos nesse primeiro encontro e existe uma questão da língua: ela perdeu a fluência do por-tuguês quando voltou a falar em espanhol com suas colegas e, como Jonas (que era francês) estava conosco, Fernando se dirigia a nós principalmente em francês. O brasileiro falava francês surpreendentemente bem, considerando que não tra-balhava e não exercitava a língua com tanta frequência. Wanda arriscou poucas vezes um francês misturado com português e espanhol. A entrevista se deu prin-cipalmente em francês, pela iniciativa de Fernando, mas às vezes ele próprio in-seria palavras ou frases em português. Eu traduzi a transcrição que publico para o português. Não indico em geral a língua de cada trecho ao longo de todo o texto, porque a alternância é grande, mas sim as passagens em que fiz cortes ou em que faço resumos e apontamentos, quando as falas estão inaudíveis ou justapostas, principalmente a partir do momento em que os outros convidados chegam e há conversas paralelas15.
Nesse primeiro encontro, eu informei minha intenção de gravar e iniciei uma entrevista, na sala, em que nós quatro estávamos sentados. Atualmente, acredito
14 Paris intramuros se refere ao interior do anel que circunda a cidade. Nas cidades da periferia de Paris, que a contornam, os aluguéis costumam ser mais baratos. 15 Optei também por retirar alguns trechos confusos e longos no final da entrevista, pois não haveria espaço no artigo para toda a transcrição.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
121
que teria mantido o primeiro encontro informal, conhecendo mais o campo e as pessoas, ao invés de me colocar na posição de pesquisadora e rapidamente tirar o gravador. No entanto, acho que as duas opções podem ser interessantes, vari-ando de acordo com a situação. Em minha tese de doutorado, aconteceu muitas vezes de eu construir uma interação através de uma entrevista formal e, depois, repetir encontros informais, e a situação inicial estruturada funcionou bem.
Pesquisadora: [Pergunto em português, voltada para Wanda] Você podia contar para a gente um pouco da sua história, assim, onde você nasceu, como foi sua trajetória...
Fernando: A história da tua vida? São Jerônimo! [Risos] Wanda: O tempo que eu morei com ele... F: Eu até tenho vontade de fazer um livro, escrever no computador.
Uma vida em movimento F: [Começa a falar em francês] Quando ela era bem pequena, ela estava no
Peru. Mas sua família, ela não aceitava muito bem, então ela foi para o Brasil, do Peru, pela fronteira da Amazônia. Aí, pela fronteira brasileira, ela ficou… Ela fez vários amigos em Manaus. E a vida dela é bem interessante, porque ela começou a… em cada fronteira que ela passou, ela ficou um pouco em cada cidade, e assim, aos poucos, ela se aproximou de Brasília. De pouquinho em pouquinho, ela co-nheceu Manaus… ela conhece mais o Brasil do que eu. Ela foi, assim, de carona, ela viajava tantas horas de barco, então ela pegava o barco até a próxima cidade. Quando você viaja de barco, tem a fiscalização, “la douane”, mas a fiscalização, ela não é muito forte, ela deixa estrangeiros passar, mesmo sem documentação. Ela foi pra Manaus. Manaus, a primeira capital, ficou lá quatro anos, né?
W: Não, seis meses. F: Seis meses? W: Manaus, não fiquei. F: E cada vez mais, ela foi se aproximando mais. Aí, foi Porto Velho, Rondônia
e depois São Paulo. Só que aí, ela foi em Porto Velho, ficou um tempo em Porto Velho, sempre trabalhando com prostituição e tudo mais. E depois ela foi pra Bra-sília. Né?
P: E lá no Brasil, depois, você conseguiu ficar legal? W: Não, foi depois que conheci ele, que legalizei como brasileira mesmo. P: Como? F: No Brasil, quem tem mais de dez anos, ganha direito à documentação16. Se
você for estrangeiro, e ficar mais de dez anos no Brasil, você tem direito à nacio-nalidade brasileira… e à documentação. Eu que fiz a documentação para ela.
W: Me pediram para eles confirmarem o tempo que eu moro lá, e as pessoas que me conhecem têm que confirmar que eu moro o tempo que eu estou falando.
F: Alguém tem que ir no tribunal para dizer: “Eu a conheço, ela está aqui…”, para facilitar. E aí depois, depois que a gente se conheceu, que eu conheci ela, em Brasília, aí começou a minha parte de viajar. Com 14 anos, meu pai me botou na rua, minha mãe... assim, minha vida até os onze anos era uma maravilha, certo? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão. Depois, meu pai se separou da minha mãe.
16 O artigo 12 da Constituição Brasileira de 1988 prevê que podem se naturalizar brasileiros: “os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira”.
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
122
Meu pai continuou em Brasília e minha mãe foi pra Fortaleza, no Ceará. Depois que a minha mãe estava em Fortaleza, eu fiquei um tempo com a minha mãe, não gostei muito, voltei para ficar com meu pai, aí começaram as brigas. Meu pai me batia muito. E aí, com 14 anos, ele veio me bater, eu já tinha uma cabeça formada e não deixei ele me bater, mas não levantei a mão para ele também, né? Mas aí eu falei que ele não podia bater em mim. Aí, com 14 anos, primeiramente, fiquei na casa dos meus amigos, vivi acho que uns seis meses. Um belo dia, eu trabalhava à noite com carrinho de cachorro quente, hot dog, uma noite... Em Brasília, em frente à Universal do Reino de Deus, mas atrás da Igreja, é um ponto de prosti-tuição. Um dia, ela passou para comer e fizemos amizade. Ela me convidou para ir à casa dela, uma vez, e depois, depois de estarmos juntos, eu fiquei sempre [ri-sos]. Sempre, sempre. E, depois de ficarmos juntos, viajamos para São Paulo, para Minas, para Porto Alegre, eu ia sempre em Fortaleza. Ela também foi para o Rio Grande do Sul.
P: Mas por que vocês viajavam?
Vida de “bombadeira” F: Ela tem um trabalho... W: Eu trabalhava com um eixo da medicina, entende? Da medicina... o tra-
balho meu era diferente, que eu trabalhava com silicone... P: Ah é? W: E como fiz medicina, aí... como eu estudei medicina, aí eu tinha que ex-
plorar uma experiência a mais. P: Você estudou onde? W: Estudei em Brasília. F: Não medicina, ela tentou fazer um curso de enfermagem. Ela fez dois anos.
E com dois anos, já deu para ela descolar o essencial, porque ela trabalhou com silicone. Por exemplo, eu sou gay, eu gostaria realmente de ser uma travesti, eu vou procurar alguém que trabalha com silicone, para fazer a cabeça. E ela trabalha assim. Eu e ela trabalhamos assim.
P: Ah é? E aqui vocês estão fazendo isso? F: Não! Aqui na Europa é difícil, porque silicone você só pode colocar em
lugar quente, em país quente. Onde faz frio, o silicone fica frio também, então ele te dá uma infecção pulmonar, ou alguma coisa assim do tipo, bem ruim. […] Mui-tas travestis que estão aqui na França, na Espanha, na Alemanha, foi ela que fez. Ela e eu, eu também.
P: Ah é? F: Eu que fiz isso [o silicone de Wanda] P: Verdade? F: Sim, eu que coloquei, mas agora ela precisa tirar um pouco. Tem treze li-
tros de silicone, em todos os lugares, braço, peito, na boca… Jonas: E como faz para comprar silicone? F: No Brasil, não é proibido, silicone. Compramos para fazer parafina, para
cortar o cabelo. Ele já está preparado, a gente tem que comprar natural, não ma-nipulado. Então, a gente propõe isso, somente o puro. E outra coisa, é perigoso. Então, a Wanda é a única pessoa que, por minha causa também, se a pessoa que-ria colocar silicone, tinha que ficar quinze dias com a gente. Porque as outras pes-soas não ficam com a pessoa que vai colocar silicone. A pessoa vai na casa e tchau, é problema seu. Nós, não, ficamos quinze dias, damos remédio, e depois de quinze dias, depois que o perigo passa, a gente pode deixar a pessoa ir.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
123
[…] F: Mas agora ela é arrependida, ela quer tirar: de treze litros, ela quer tirar
quatro. Ela vai colocar uma prótese, porque o silicone, ele fica bem retinho, mas depois de certo tempo, quinze, vinte anos, ele começa a machucar. Ela está can-sada. […] Ela tem a mesma agilidade, mas não muito tempo. Antes ela suportava ficar cinco horas, hoje ela fica duas horas [no Bois]. Por causa do silicone, ele gela como um sorvete. Quando faz sol…
W: Esquenta muito. F: Ele se dilata, fica muito, muito quente. W: Aqui, é porque aqui, na França, não é muito calor, sabe, mas no verão…
oh, menina! F: Ela tem problemas de respiração. W: Mesmo no frio, tem que estar tudo aberto, tem que estar aberto... para me
dar tranquilidade. Se fechar tudo assim [indica as janelas]... é uma coisa assim de química... Então, a gente tem que aguentar, a gente fez...
Fazer prostituição
F: A gente gostava muito da natureza, a gente trabalhava durante a semana, e todos os dias, no final de semana, a gente ia para o rio, para um córrego… É uma vida maravilhosa. É uma vida maravilhosa. Assim, ruim pela parte que ela traba-lha, tem que fazer prostituição. O trabalho que você faz no Brasil, em comparação com a mesma coisa que você faz aqui na Europa, é cinco, dez vezes mais que elas ganham aqui do que ganham no Brasil. Por isso, é natural, é natural isso, no Bra-sil, todos os travestis17 trabalham, os novos agora, a nova geração agora, vai se montar, colocar silicone, mas o futuro é tudo aqui para a Europa, porque é pas-sageiro lá, não vale a pena ficar, trabalhar, aqui ganham dez vezes mais. Mas hoje já não está assim, as brasileiras vinham aqui e voltavam para lá, compravam apar-tamento, carro, rapidinho, mas agora não.
P: Agora está mais difícil. W: Está mais difícil! F: Mas mesmo estando mais difícil, está melhor que no Brasil. W: O pouco que a gente ganha aqui já é diferente. É, mas assim, um povo que
trabalha aqui na área, é violentada, é agredida de tudo! P: Já te aconteceu alguma coisa aqui? W: Já, já! No Bois de Boulogne acontecem muitas coisas. Muito... P: Que tipo de coisas? W: Assim, agressões, de roubo... F: Isso aqui [aponta cicatriz em Wanda], olha, isso aqui ela foi trabalhar em
Brasília. Um cara chegou em uma moto e pediu para fazer um programa com ela. Ele perguntou: “Quanto?”, ela disse “130 reais”. Ele disse “Você não merece 130 reais”. Aí o cara saiu. Ela ficou tranquila, mas depois de dez, quinze minutos, o cara voltou e insistiu, insistiu, para fazer o programa. Ela disse não. Na hora, ele pulou da moto e disse: “Se você não vai quer fazer comigo, não vai fazer com nin-guém!” [Faz barulho de que bateu nela].
J: Na França? F: Não, no Brasil, mas isso pode acontecer mesmo aqui. W: Por isso que eu tenho medo de… F: [interrompe]: Mas nesse dia, o dia das bruxas, no Brasil é dia de Finados.
17 Fernando se refere mais de uma vez a travesti no masculino, utiliza o feminino uma vez e, quando está falando das colegas e amigas de Wanda, costuma utilizar o pronome “elas”.
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
124
E ela nunca sai dia de Finados. E na noite de Halloween, ela foi. W: Por isso que eu tenho medo, dessa data, para mim... F: Não trabalha. Nos feriados santos, ela não trabalha... no dia de Finados,
ela não trabalha. E, e, em dias especiais assim, ela não trabalha. Wanda era da Umbanda, no canto da cozinha havia um altar com Yemanjá e
São Jorge. Disse-me que foi a religião que a aceitou. Tentei abordar mais o as-sunto de como era a prostituição no Bois de Boulogne, mas ela respondeu de ma-neira vaga. Entendi que, pelo menos ali, ao lado do marido, não era o assunto a ser desenvolvido. Aliás, foi apenas nos momentos informais que consegui conver-sar mais diretamente com Wanda, principalmente no encontro seguinte.
É política
F: Antes, ela falava mais português, que ela viveu quinze anos no Brasil, fa-lando só português. Mas teve um problema, depois que ela chegou aqui.
W: Comecei a falar espanhol. F: Só fala espanhol! Que as amigas dela são peruanas, equatorianas... W: Eu trabalho lá com peruanas, equatorianas, então já não pratico mais por-
tuguês em Paris. Só com ele... P: E com brasileiras, você não conversa? F: No Brasil, nós temos bastante amigos, brasileiros, mas aqui não. W: Aqui tem pouca, trabalhando comigo, brasileira. F: Não são de confiar muito não. É triste né, porque olho aqui, os peruanos e
os equatorianos18, eles são todos amigos. Se alguém briga, todo mundo vem aju-dar. Mas as brasileiras não, as brasileiras é uma tentando fazer a outra ser depor-tada e tudo mais, para ganhar mais dinheiro.
W: Maldade. P: Ah é? Que engraçado... F: Os brasileiros não são como os peruanos. Os peruanos e os equatorianos
são geniais, as brasileiras... P: Então, tem muitas brasileiras aqui, mas não são unidas? F: Unidas, elas são, assim, para trabalhar. Mas por trás, tem sempre alguém
que planeja alguma coisa, que a gente fala “doce”, né? Chama no Brasil de “doce”. Só que doce é uma coisa mal, se você fez mal para alguém, essa pessoa vai te man-dar um doce. Esse doce é um castigo para você. Ele vai mandar, contratar alguém para ir lá fazer programa contigo, ele vai fazer o programa contigo, roubar seu dinheiro, bater nele, te bater, e tudo mais.
P: Acontece isso? W: Acontece! Muito. F: Até morte. [...] Para ganhar o lugar dela aqui, ela [Wanda] fez mal a muita
gente, muita gente. Os equatorianos, ela brigou; as francesas, ela brigou também. Para ficar, para trabalhar durante o dia. Porque cada hora tem alguém que traba-lha.
J: Você trabalha de dia e à noite? W: Não, trabalho na “journée” [dia em francês]. Então, assim, quando não
trabalho em “la journée”, eu trabalho “la nuit” [à noite]. F: Antes, ela trabalhava somente à noite. Quando ela queria trabalhar de dia,
as outras não deixavam.
18 Na tese de Vale (2015), ele relata que as brasileiras viam as equatorianas como as mais violentas, cobrando “multas” para quem trabalhasse no Bois.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
125
W: De dia, trabalho de segunda a sexta. Quarta, fica fechado. As crianças vão lá19.
P: Mas como que é esse negócio de conquistar o espaço? W: Você chega, assim, nova, não conhece nada. Mesmo os franceses, qual-
quer pessoa, para continuar trabalhando, você tem que brigar com o outro. F: [traduz para o francês] “Faire la bagarre” [brigar]. W: Sofre um pouco, mas acaba ficando. F: Quando chega alguém novo na área, as que já são velhas lá, que estão tem
bastante tempo, elas não vão ganhar dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro é a pes-soa nova, que chegou, porque é carne nova, é novidade. [...] Tem dia que você pode ir lá e dar muita sorte de ganhar 200€, 300€, 400, 500€, depende. Mas tem dia que não ganha nem um euro.
Em seguida, pergunto a Wanda se ela já foi presa, e ela fala sobre o assunto,
mas a dificuldade da língua torna inviável a transcrição ipsis litteris. Fernando complementa as explicações, mas ainda fica confuso como essas prisões e libera-ções acontecem. O casal conta que Wanda já foi presa mais de dez vezes pela po-lícia francesa, mas como ela não mostra seu documento, a polícia não sabe de que país ela vem e não tem como deportá-la; depois de um tempo, a libera. Acrescen-tam que na França, quem tem HIV/AIDS não é deportado. Com efeito, desde 1997, os estrangeiros com doenças graves que não podem ser tratados em seus países de origem podem solicitar um visto para cuidados20. No entanto, como o Brasil possui tratamento para HIV/AIDS pelo SUS, houve negações do governo francês em conceder o visto para pessoas brasileiras. Não sei a situação de outros países da América Latina. Fernando e Wanda dizem que entre seus amigos, eles são os únicos que não são portadores de HIV, e sempre fazem o teste. Advertem em voz baixa que não é para falar sobre “a doença” quando a amiga peruana che-gar.
Fernando brincou novamente que, escrevendo um livro sobre Wanda, ele iria para a Academia de Letras Francesa, “porque as pessoas gostam disso: traficante, favela...” e que a história de Wanda não tem favela, mas é cheia de aventuras, de coisas estranhas.
F: Eu queria realmente falar da história dela, eu queria fazer um filme sobre
ela. Mas são histórias que… Como dizer? No Brasil, se alguém soubesse disso, poderiam fazer mal a ela. Ela passou por uma história, entendeu? A vida dela, ela teve que vir para a Europa21, a única opção da vida dela era vir para cá, ela não podia continuar no Brasil.
P: Por causa de risco? F: Por causa de risco, por causa de polícia, por causa de um monte de coisa.
Então, ela teve que vir para cá. Então foi uma coisa que caiu certo para a gente. Teve um problema que aconteceu, justo quando a gente estava planejando as coi-sas. E aí, do nada, apareceu a viagem dela, uma amiga dela que mora aqui e quis ajudá-la e mandou a passagem, ela veio para cá, ficou em Nice primeiro, não deu muito bem. Teve briga com os travestis. Depois, ela foi para a Itália. Aí, ficou quanto tempo na Itália? Eu esqueci. Ela ficou quatro meses, porque na Itália, e
19 Na França, não há aula nas quartas-feiras, e as crianças vão passear no Bois. 20 Sobre a perda de legitimidade do direito ao asilo político na França e o deslocamento de valor para o direito do ser humano à saúde, ou seja, um deslocamento da legitimidade da vida política para a vida biológica, ver Didier Fassin (2005). 21 No encontro seguinte, Fernando nos contou que eles estavam em sério conflito com uma pessoa em Brasília por conta de território, então foram para São Paulo, onde Wanda foi confundida com outra pessoa e ficou nove meses presa. Segundo ele, quando saiu, tinha emagrecido, seus cabelos tinham sido cortados.
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
126
Nice, tem peruanos, mas como ela falou português, os peruanos que estavam lá, eles não acreditaram que ela é peruana. Por isso, ela foi para a Itália. Na Itália, a mesma coisa. Aqui e na Itália, a gente nunca vê as pessoas misturadas. Sempre um lugar para os peruanos, um lugar para os brasileiros. Eles são bem organiza-dos. Às vezes, se alguém faz alguma coisa de mal, os próprios brasileiros falam: “Sai fora, você não vai ficar aqui”. E aí, um órfão, ele vai buscar um lugar, ele pede aos peruanos: “Eu sou brasileiro, não posso ficar lá, posso ficar aqui?” E aí, de-pende. Para ficar, tem que dar dinheiro. Aqui, dar dinheiro, é crime. Então, se pede presente. “Ah, você dá um presente e você fica”, mas elas decidem. Se não querem ninguém em seu lugar, ninguém fica. Mesmo ela, Wanda, teve que brigar com outras, com outras pessoas que trabalham, com outras órfãs, para poder tra-balhar no lugar dela. É política. Ela não é como as outras. No Brasil, ela não tra-balhava assim, ela trabalhava com o silicone. Mas, como pode falar? Ela não era cafetona, tinha uma cafetona, em Brasília, que chama Kaila Faisão. E essa cafe-tona é muito amiga dela. Porque ela é boa, mas ela é má também, bem má. Assim, quem é boa com ela, ela é boa com a pessoa; mas se a pessoa é ruim com ela, ela faz o pior com a pessoa. Essa é a lei que funciona em Brasília, é a lei que funciona em São Paulo, tudo mais. Você tem que sempre dar o seu respeito. Você tem um nome, ela se chama Wanda, então ela tem que fazer esse nome crescer, ficar lá no alto. Eu vi que no Brasil, tem sempre que impor respeito. Se você tiver um nome e trabalhar como travesti, tem que colocar o máximo de moral.
Em São Paulo, Fernando diz que fizeram amizade com pessoas perigosas,
para poderem viver tranquilos e terem proteção em caso de necessidade. Fala dos esquemas de cafetões na cidade, que se enfrentam para que as travestis ocupem os pontos de trabalho disputados.
Os planos de Fernando F: Eu não sei o que será da minha vida daqui quatro anos. Já brigamos, nós
brigamos, mas é por isso. Eu gosto que ela vá durante o dia. Quando eu cheguei, duas, três semanas, eu achei que ia arrumar trabalho, mas não é nada disso. Mas consegui ficar com ela.
Fernando pensa em opções para se legalizar na França e poder trabalhar. Ele
teve dificuldades de achar trabalho quando chegou (seis meses depois de Wanda), pelo nível de francês à época, mas principalmente pela falta de autorização para residir na Europa. Tentou trabalhar em uma feira, depois tentou ser pedreiro, mas o responsável lhe disse que sem os papéis não era possível. Sugeriu a Fer-nando conseguir documento de identidade português, falsificado. Fernando tam-bém já considerou se casar com uma francesa ou ter filho no território para se legalizar. Conversamos um pouco sobre o assunto, eu lhe disse que nascer em solo francês não garantia mais a nacionalidade francesa. Desde o início dos anos 1990, o direito do sangue tinha substituído o direito do solo (Ver FASSIN, 2009).
Fernando continuou dizendo que sempre trabalhou como vendedor, massa-gista ou em restaurantes. Trabalha com lábia, “algo realmente brasileiro”, e tenta explicar a Jonas o que é: “Você tem que ser mais esperto, para induzir uma pessoa que quer comprar algo, você tem que ser mais esperto que ela”. Quer que Wanda faça uma operação de transgenitalização, e está atento às informações sobre o melhor país para realizá-la, bem como às inovações que permitem manter a pos-sibilidade de orgasmo.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
127
F: Antes, quando… Eu queria realmente um filho, eu sempre quis uma cri-
ança, uma filha, mas minha. Tentamos achar uma barriga de aluguel, no Brasil mesmo, mas não funcionou. Deixamos para lá. Ela queria realmente uma filha. Muito, muito muito. Mas no Brasil, para adotar, ela precisa cortar, ela precisa fazer a operação, para poder adotar. Porque assim nós somos um casal homosse-xual.
Família e dinheiro Wanda gasta com o aluguel, alimentação, o táxi para ir e voltar do Bois. Ela
manda dinheiro para sua mãe, reformou a casa dela, comprou uma casa para a mãe de Fernando. Wanda não tinha tido contato com a mãe até ir para a França. De lá, falou com a mãe, descobriu que estava doente e passando dificuldades.
W: É perto da fronteira, quatro dias. Da fronteira, para Manaus, mais sete
dias. Primeiro lugar é a família, segundo, somos nós. F: É todo mês, todo mês, ela tem que mandar dinheiro para a mãe, para a
casa, para os seus irmãos. Fora eu! [Risos] Fora eu, que eu não estou trabalhando! Eu não estou trabalhando agora. Então, eu sou mais um peso nas costas dela. Porque se eu tivesse trabalhando, tudo bem, mas eu não estou e me dói a cabeça. Tem hora que minha cabeça dói. É o primeiro ano da minha vida que eu estou sem trabalhar.
[...] F: Mas eu não quero voltar para o Brasil. É bom, bonito, mas é isso, sem di-
nheiro, se você não tiver trabalho lá, se você não tiver casa, se você não tiver seu próprio carro, você não é nada. Então, estou esperando ela terminar de ajudar a mãe dela, porque é ela primeiro. A gente queria fazer primeiro, a gente comprar nossa casa, a gente queria comprar nosso carro. Mas como ela retomou o contato com sua mãe, ela falou: “Primeiro, vou ajudar minha mãe, minha família, depois nós vamos fazer para nós”. Eu dediquei oito anos da minha vida para ficar com ela [quando começaram a relação ele teria por volta de dezesseis anos e ela trinta e dois] e o que temos hoje? Nada. Não é exatamente isso, agora eu falo francês, eu falo italiano, eu falo português. Eu tento falar italiano, não muito [risos]. [...] Eu falo mais de três línguas, eu posso achar um trabalho.
Eu parei, eu parei no segundo grau, eu parei um mês antes de acabar o colé-gio. Depois, a universidade... Mas agora não posso fazer isso. O governo brasi-leiro, ele ajuda os estudantes brasileiros que têm menos de vinte e cinco anos e que já estão na faculdade, que estão fazendo faculdade.
Fernando conta, com empolgação, que tem vontade de conhecer o Peru, gosta
das histórias Inca, das populações antigas, de arqueologia. F: Eu realmente gostaria de estudar isso. Eu sou…realmente inteligente. Te-
nho muita facilidade, uma capacidade incrível de aprender as coisas. O problema é que faltaram para mim… os meios de estudar. Eu amo estudar, mas não tenho condições de ir à faculdade. Ela vai ajudar a mãe dela até junho. Quando terminar a casa, vai ser para a gente, vamos fazer a nossa casa, ou guardar dinheiro.
É engraçado. É uma vida esquisita, um pouco esquisita, mas boa. Eu tenho vinte e quatro anos. Eu viajei, eu aproveitei a minha vida mais que alguém com sessenta anos, setenta anos, mais! Tem gente que trabalha e quando tem quarenta
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
128
ou sessenta anos, começa a viajar. Eu não, comecei antes. Mas a gente aproveita. A vida da prostituição é difícil, é perigosa e tudo mais. Mas também tem as coisas boas. Elas se divertem, quando elas querem se divertir; quando elas vão se diver-tir, elas se divertem como se fosse o último dia da sua vida e é assim... Algumas amizades que nós temos são boas, nem sempre, mas algumas são boas. Ela vai fazer o aniversário dela. Quarenta casais vão.
A conversa continua e, depois, paro de gravar quando vamos comer a feijoada
de Wanda, que além de garantir a vida do casal no espaço público, cuidava tam-bém da cozinha.
Apontamentos finais É perceptível o grande acolhimento que tanto Wanda quanto Fernando tive-
ram comigo e Jonas. Penso em duas ou três questões relacionadas a essa aber-tura. Primeiramente, foi depois de saber que o reconhecimento como brasileira era algo em jogo na vida de Wanda que entendi seu sorriso surpreso quando per-guntei, ainda no Bois, onde ficavam as brasileiras. Além disso, Wanda teria en-tendido que Jonas era meu namorado. O mal-entendido foi esclarecido quando Fernando perguntou se Jonas já tinha experimentado feijoada; como um suposto namorado de brasileira, esperava-se que sim. Quando neguei o relacionamento, Fernando ainda comentou: “Mas ela [Wanda] disse que viria Marina com o na-morado”. O convite de Wanda para ir a sua casa, onde estariam também outros de seus amigos, transparecia ser o de inserir um casal franco-brasileiro em seu círculo, eles que pareciam valorizar tanto as amizades (mesmo que nem todas fossem “boas”) e estabelecer suas conexões através delas. “É assim que eu aprendi”, disse Fernando sobre as amizades no Brasil, “Eu fiz amizade com todos os caras de favela. Todos os caras, todos os ladrões, todo mundo. É assim que a gente fez. Lá não é como aqui, aqui não tem perigo”.
Receberam-nos como amigos, não pareciam estar nos esperando para uma entrevista, apesar de eu ter me apresentado como pesquisadora e explicado o es-tudo. Imagino que minha nacionalidade também tinha importância como cone-xão para Fernando que, sem trabalho, vivia seu cotidiano de maneira bastante isolada. O casal abriu as portas de sua casa e – diante de uma reconfiguração no momento, Fernando tornou-se o principal interlocutor – abordaram uma série de assuntos íntimos ou delicados sem maiores pudores. Foi principalmente Fer-nando que foi tomando a palavra de Wanda, contando e esclarecendo fatos. Quanto a isso, podemos pensar ainda na solidão do migrante, no falatório que dispara em ocasiões em que se encontra um conterrâneo, que vivi também em outras ocasiões de minha vida na França.
Na entrevista, Fernando se mostrou sensível a uma série de questões vividas por Wanda, e um desconforto por não estar trabalhando e “ser mais um peso nas costas” da parceira. Mas alguns elementos que permitem pensar de maneira mais complexa a relação dos dois apareceu fora da entrevista, na última vez em que os vi. Fernando comentou que estava aconselhando um amigo no Brasil, que tinha saído da prisão, a casar-se com uma travesti, como forma de se ajeitar na vida, “afinal ele não tem mais nada a perder”. Mesmo se tinha planos e sonhos educa-cionais e profissionais, o casamento de Fernando com Wanda garantia uma con-dição financeira satisfatória no presente e a possibilidade de um conforto futuro.
Nesse mesmo dia, quando cheguei, Fernando tinha saído. Wanda disse que o marido ia ao Brasil e ia ser bom para ela descansar, pois ele estava lhe dando
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
129
muita dor de cabeça, “você sabe como são os homens”. Depois de um tempo, Fer-nando entrou na casa, e sem perceber que eu já tinha chegado, falou de maneira ríspida com Wanda: “Faz meu prato!” Ao me ver, justificou-se que tinha ajudado em uma mudança e estava exausto. Atritos e negociações da relação apareceram outras vezes. Fernando perguntou à mulher quem era um Daniel italiano, que estava registrado no telefone dela. Em outro momento, disse que quando ele ar-rumasse emprego, Wanda poderia parar de trabalhar e ficar com a mãe dela, ao que sua mulher rapidamente reagiu dizendo que não, “você está louco, homem sem dona arruma outra”.
É comum que travestis trabalhadoras do sexo pertencentes às classes popu-lares e se relacionando com homens de classes populares brasileiros sejam res-ponsáveis pela subsistência do casal quando vivem conjugalmente, inclusive quando o casal vive no exterior22. Segundo Marcos Benedetti, os maridos das tra-vestis costumam ser das camadas sociais mais baixas, jovens, considerados boni-tos/atraentes, com apresentação “viril”, e apresentar uma masculinidade estere-otipada, como ser violento ou ter se envolvido em situações de violência, pode ser valorizado. Percebe ainda que “para as travestis, o fato de sustentarem seus ‘bo-fes’ não causa nenhuma estranheza ou contradição. Acreditam que, assim fa-zendo, manterão seus ‘bofes’ fiéis” (BENEDETTI, 2005: 122). Don Kulick tam-bém apresenta as trocas nos relacionamentos de travestis de maneira bem crua: os namorados entrariam na relação por presentes e dinheiro, e elas estariam bem cientes de que a travesti que pagar mais leva o namorado e tem poder sobre ele. É importante destacar que tais trabalhos foram publicados na primeira década dos anos 2000. Outros trabalhos relevam mais diferentes afetos e o amor nos re-lacionamentos, como o de Zampiroli (2018).
Tanto a artista Linn da Quebrada23 quanto Amara Moira, travesti putafemi-nista e doutora em crítica literária, manifestam-se sobre a dificuldade que é para as travestis viverem o amor, serem amadas, principalmente por homens cis. Moira pergunta-se “se haveria amor livre para nós travestis, em especial as 90% que estão no combo travesti + prostituta” (MOIRA, 2016: 193).
A ambiguidade em torno dos desejos e das possibilidades não é fácil de se resolver. Ao mesmo tempo em que aparece a afirmação do poder de travestis so-bre os homens através do dinheiro, muitas delas originárias de classes populares, compartilhando um modelo de conjugalidade com seu meio, dizem almejar um parceiro provedor e associam a feminilidade com o espaço doméstico. Analisando relações amorosas de mulheres trans/travestis, Zampiroli (2018) ressalta a im-portância para elas de cuidar da casa, o que participa da construção do tornar-se esposa e fazer-se mulher.
Larissa Pelúcio, em seu trabalho sobre conjugalidades de travestis em São Paulo, aponta que, embora esteja claro quem é o homem e quem é a mulher nes-sas relações, os papéis tradicionais de “pai” e “mãe”, “esposo” e “esposa”, “prove-dor” e “administradora” não se ajustam a suas realidades. Realizam, no entanto, esforços de tornar a relação socialmente inteligível.
Não há espaço para relações pautadas pelos roteiros comuns à classe média heterosse-xual. Ainda assim, as travestis, informadas pelos códigos conjugais heteronormativos, almejam uma vida a dois nos moldes instituídos por essa norma: uma casa, marido
22 Há casos na literatura etnográfica e também em meu campo, em que travestis namoram outras travestis ou michês, mas não entro nesse assunto no presente artigo. Sobre maridos brasileiros de travestis que moram na Itália, sem trabalhar, ver Teixeira (2011). Para ler sobre namorados e maridos europeus de mulheres trans/travestis, ver Pelúcio (2011) e Zampiroli (2018). 23 Linn da Quebrada comenta sobre a dificuldade do amor para travestis em diversas entrevistas, e no documentário Bixa Travesty (dir.: Claudia Priscilla e Kiko Goifman, 2018).
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
130
“homem de verdade”, tranquilidade financeira, trabalho “normal”, o que significa fora de noite e da prostituição e, se possível, filhos. (PELÚCIO, 2006: 527)
A rua, onde muitas fazem a vida, é oposta ao espaço doméstico. Eva, travesti de Belo Horizonte, diz que continua fazendo programa enquanto seu namorado não pode sustentá-la: “se ele tiver condições de me tirar da rua e me sustentar com o mesmo dinheiro que eu tiro na rua, eu saio tranquilamente”. Em outro artigo (França, 2014), abordo como aparecem nas falas de diversas prostitutas, trans e principalmente cisgênero, prostituição e casamento como duas alternati-vas de subsistência. O que não quer dizer que cálculos e trocas excluam os afetos entre os parceiros. Transações estão presentes nos relacionamentos íntimos e po-dem até contribuir para a construção de sentimentos (ZELIZER, 2005).
Retomando as falas de Fernando, ele pensa na família que vai construir com Wanda, em como já aproveitam a vida; calcula os investimentos que o casal fará depois que ela terminar de enviar dinheiro à família e sonha com a possibilidade de abrir um negócio próprio. Wanda, como outras trans, retomou contato com a família de origem – décadas depois de sair de casa, ainda adolescente – através de uma substanciosa ajuda financeira. Também nessas relações o dinheiro tem um papel importante de criar e reforçar laços. E é mais fácil fazê-lo de Paris, com glamour, como indica Jennifer, uma trans de Fortaleza que também trabalhava no Bois de Boulogne, em 2008:
Tudo glamour [risos]. Aqui, a gente tem um luxo que a gente nunca vai ter no Brasil. Não é não? A gente é rica para todo mundo, a gente tanto é rica aqui quanto no Brasil. A gente ganha um salário aqui que muito francês não ganha... Entendeu? Aqui, a gente pode comprar perfume importado, a gente pode usar roupa de grife, a gente pode comprar joias, a gente pode ter carro no Brasil, coisa que [trabalhando] no Bra-sil a gente não pode. Lá, a gente tem que trabalhar a semana inteirinha para comprar um perfume importado! Aqui, às vezes, em um dia, você compra um, três, dez perfu-mes!
Mas, como vimos, a prostituição em Paris também vem passando por trans-formações, influenciada fundamentalmente por políticas nacionais. A prostitui-ção em Paris atrai não apenas migrantes da América Latina, mas da África, do Leste Europeu e da Ásia. As prostitutas francesas representam apenas uma pe-quena parte da prostituição na cidade. O endurecimento da lei de 2003, quando Nicolas Sarkozy ainda era Ministro do Interior, apesar de ganhar a aparência de um movimento de luta contra o tráfico de pessoas e o proxenetismo, mirava o controle dos territórios e da migração. Em 2016, pela primeira vez na França, a contratação de serviços sexuais passou a ser penalizada, ou seja, os clientes pas-saram a ser incriminados. A mudança de enquadramento das prostitutas, de cul-padas para vítimas, foi defendida especialmente por parlamentares socialistas engajados na luta pelos direitos das mulheres, dentro da perspectiva de um femi-nismo de Estado, baseado em um modelo de emancipação e de modernidade que se quer universal, mas é incapaz de incluir as prostitutas (JACQUEMART e JAKŠIĆ, 2018). No momento de discutir os direitos das supostas vítimas, a dis-cussão se complica. Embora a direita francesa tenha votado a favor da nova lei, impôs barreiras à concessão de visto às prostitutas estrangeiras. Na lei, para te-rem direito a um visto temporário, de seis meses, as estrangeiras têm que deixar a prostituição. Prostitutas, estrangeiras, transgêneros e michês não foram ouvi-dos nas audições do parlamento francês. Histórias como a de Wanda e Fernando não estão previstas nos debates políticos.
FR
AN
ÇA
, M
ari
na
Vei
ga
.
“É
um
a v
ida
es
qu
isit
a,
um
po
uc
o e
sq
uis
ita
, m
as
bo
a”
131
Recebido em 20 de janeiro de 2020. Aceito em 4 de maio de 2020.
Referências
BENEDETTI, Marcos. Toda feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de Ja-neiro: Garamond, 2005.
CARVALHO, Mario e CARRARA, Sergio. Em direção a um futuro trans? Contri-buição para a história do movimento de travestis e transexuais no Brasil. Sexua-lidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, 14: 319-351, 2013.
FASSIN, Didier. Le sens de la santé. Anthropologie des politique de la vie. In: SAILLANT, Francine e GENEST, Serge (org.). Anthropologie médicale: ancrages locaux, défis globaux. Presses Université Laval, 2005. pp. 383-399.
FASSIN, Éric. Entre famille et nation: la filiation naturalisée. Droit et société, 72 (2): 373-382, 2009.
FRANÇA, Marina. Sexualité et affects dans la prostitution: regards croisés sur le Brésil et le Bois de Boulogne. Paris: L'Harmattan e Éditions Pepper, 2016.
FRANÇA, Marina. Quando a intimidade sobe e desce as escadas da zona boêmia de Belo Horizonte. Cadernos Pagu, 43: 321-346, 2014.
GEERTZ, Clifford. “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”. In: A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008 [1973]. pp.185-213.
HANDMAN, Marie-Elisabeth; MOSSUZ-LAVAU, Janine (org.) La prostitution à Paris. Paris: La Martinière, 2005.
JACQUEMART, Alban ; JAKŠIĆ, Milena. Droits des femmes ou femmes sans droits? Le féminisme d’État face à la prostitution. Genre, sexualité & société (20), outono 2018.
KULICK, Don. Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Editora Riocruz, 2008.
MOIRA, Amara. E se eu fosse puta. São Paulo: Hoo Editora, 2016.
PELÚCIO, Larissa. Três casamentos e algumas reflexões: notas sobre conjugali-dade envolvendo travestis que se prostituem. Estudos Feministas, 14 (2): 522-534, 2006.
PELÚCIO, Larissa. “‘Amores perros’: sexo, paixão e dinheiro na relação entre es-panhóis e travestis brasileiras no mercado transnacional do sexo”. In: PISCI-TELLI, Adriana; ASSIS, Glaucia de O.; OLIVAR, José Miguel Nieto (orgs.) Gê-nero, sexo, afetos e dinheiro: mobilidades transnacionais envolvendo o Brasil. Campinas: UNICAMP/PAGU, 2011. pp. 186-224.
PIRANI, Denise. Quand les lumières de la ville s’éteignent : minorités et clandestinités à Paris, le cas des travestis. Tese de doutorado. Paris: École des
AC
EN
O,
7 (
13):
113
-13
2,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
D
os
siê
Te
má
tic
o:
Ex
pe
riê
nc
ias
de
ca
mp
o e
lo
ca
liz
aç
õe
s e
tno
gr
áfi
ca
s
132
Hautes Études en Sciences Sociales, 1997.
PRISCILLA, Claudia; GOIFMAN, Kiko. Bixa Travesty. Documentário, Brasil, 2018.
REDOUTEY, Emmanuel. « Trottoirs et territoires, les lieux de prostitution à Paris ». In: HANDMAN, Marie-Elisabeth ; MOSSUZ-LAVAU, Janine (orgs.). La prostitution à Paris. Paris: La Martinière, 2005.
ROUX, Sébatien. L’initiation. Entretien avec un client de la prostitution. Genre, Sexualité & Société, 2, 2009.
TEIXEIRA, Flávia. “Juízo e Sorte: enredando maridos e clientes nas narrativas sobre o projeto migratório das travestis brasileiras para a Itália”. In: PISCITELLI, Adriana; ASSIS, Glaucia de O.; OLIVAR, José Miguel Nieto (orgs.) Gênero, sexo, afetos e dinheiro: mobilidades transnacionais envolvendo o Brasil. Campinas: UNICAMP/PAGU, 2011. pp. 225-262.
VALE, Alexandre F.C. O voo da beleza: travestilidade e devir minoritário. Tese de doutorado em Sociologia, Universidade Federal do Ceará, 2005.
VERNIER, Johanne. "La loi pour la sécurité intérieure: punir les victimes du proxénétisme pour mieux les protéger?". In: HANDMAN, Marie-Elisabeth; MOSSUZ-LAVAU, Janine (orgs.). La prostitution à Paris. La Martinière: Paris, 2005.
ZAMPIROLI, Oswaldo. Tornar-se esposa, fazer-se mulher: o casamento estabe-lecendo gênero nas relações conjugais de mulheres trans/travestis. Teoria e Cul-tura, 13 (1), 2018.
ZELIZER, Viviana. The Purchase of Intimacy. Princeton: Princeton University Press, 2005.
AR
AÚ
JO
, A
ntô
nia
Ga
bri
ela
Per
eira
de
. O
co
rp
o n
eg
ro
no
tr
ab
alh
o d
e c
am
po
: n
ota
s d
e u
ma
p
es
qu
isa
do
ra
ne
gr
a e
m H
av
an
a.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Cen
tro
-Oes
te,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
O corpo negro no trabalho de campo: notas de uma pesquisadora negra em Havana
Antônia Gabriela Pereira de Araújo1 Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo: Este artigo gera reflexões sobre noções de metodologia de pesquisa an-tropológica e à política de trabalho de campo, em particular num contexto em que as políticas de inclusão de negros e indígenas nas universidades revela tensões nos modos de produção do conhecimento. A discussão parte do entendimento de que campo na antropologia é um lugar físico e um espaço epistemológico de investigação moldado pelas histórias do imperialismo e do colonialismo. Nesse sentido, verso so-bre as encruzilhadas vividas como pesquisadora negra lésbica na produção do co-nhecimento antropológico através do trabalho de campo enfatizando a urgência de um novo arranjo de normas teórica-metodológica na disciplina.
Palavras-chave: antropologia; epistemologia; políticas afirmativas; intelectuais negras; trabalho de campo.
1 Graduou-se (bacharelado) em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (2013), concluiu o mestrado (2015) em Sociologia e cursa o doutorado (2016) em Antropologia Social no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ). Integrante do Comitê de Antropólogas Negras da Associação Brasileira de Antropologia (ABA).
AC
EN
O,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
134
The black body in fieldwork notes from a black researcher in Havana
Abstract: This article generates reflections on notions of anthropological research methodology and fieldwork policy, particularly in a context where policies to include blacks and indigenous people in universities reveal tensions in the modes of knowledge production. The discussion starts from the understanding that the field in anthropology is a physical place and an epistemological space of investigation shaped by the histories of imperialism and colonialism. In this sense, a verse on the crossroads experienced as a black lesbian researcher in the production of anthropo-logical knowledge through Field Work emphasizing the urgency of a new arrange-ment of theoretical-methodological norms in the discipline.
Keywords: anthropology; epistemology; affirmative politics; black intellectuals; fieldwork.
El cuerpo negro en el trabajo de campo: notas de una investigadora negra en La Habana
Resumen: Este artículo genera reflexiones sobre las nociones de metodología de investigación antropológica y política de trabajo de campo, particularmente en un contexto en el que las políticas de inclusión de negros e indígenas en las universida-des revelan tensiones en los modos de producción de conocimientos. La discusión parte de la comprensión de que el campo de la antropología es un lugar físico y un espacio epistemológico de investigación conformado por las historias del imperia-lismo y el colonialismo. En este sentido, un verso en la encrucijada experimentada como investigadora de lesbianas negras en la producción de conocimiento antropo-lógico a través del trabajo de campo enfatizando la urgencia de un nuevo arreglo de normas teórico-metodológicas en la disciplina.
Palabras clave: antropología; epistemología; política afirmativa; intelectuales ne-gros; trabajo de campo.
AR
AÚ
JO
, A
ntô
nia
Ga
bri
ela
Per
eira
de
. O
co
rp
o n
eg
ro
no
tr
ab
alh
o d
e c
am
po
135
m 1980, um grupo de mulheres de ascendência afro-americana e caribenha se reuniram com a escritora Barbara Smith na criação da editora Kitchen Table Press (SMITH, 2014 [1989]). Essas mulheres, muitas das quais eram
negras e lésbicas, publicaram nessa editora textos sobre suas pesquisas com e so-bre mulheres negras, uma vez que essas discussões não entravam no rol dos te-mas das publicações das revistas de antropologia. A criação da Kitchen Table Press foi iniciada no intuito de construir um espaço em que se pudessem publicar os escritos e as pesquisas das mulheres negras acadêmicas, bem como as experi-ências dessas mulheres nesses espaços como pesquisadoras com corpos marca-dos por gênero, sexualidade e raça.
De acordo com Smith, elas escolheram o nome “mesa de cozinha” por duas razões: (1) porque viram a cozinha como “o centro da casa”, o lugar onde as mu-lheres em particular trabalham e comunicam entre si; e (2) elas queriam expres-sar o fato de que elas eram uma “operação de base” dirigida por mulheres que não podiam confiar em privilégios de raça, nem de classe, como herança familiar, para financiar suas pesquisas e suas produções acadêmicas (SMITH, 2014 [1989]: 11). Somente trinta anos depois da criação da editora Kitchen Table Press a Associa-ção Americana de Antropologia (AAA) publica um estudo sobre o racismo na aca-demia e os privilégios que foram mantidos na antropologia e na própria Associa-ção, incluindo políticas de publicação dos departamentos e o currículo acadêmico do curso (SMEDLEY e HUTCHINSON, 2010). Esta publicação é resultado de um estudo encomendado pela AAA na tentativa de construir e desenvolver um plano abrangente para a Associação e para a Antropologia que “possa aumentar a di-versidade étnica, racial, de gênero e de classe da disciplina e da Associação” (SMEDLEY e HUTCHINSON, 2010: 2).
Em novembro de 2017, ocorreu o I Seminário Novembro negro organizado por quinze alunes negres2 que integram o coletivo Marlene Cunha do curso de Pós graduação em antropologia aocial do Museu Nacional que teve como uma das principais pautas o mesmo tema da publicação da AAA: racismo e academia. Par-ticularmente, foram discutidas as questões pertinentes ao currículo do curso de antropologia e como esse currículo oblitera um caminho possível para a constru-ção de um espaço acadêmico “mais inclusivo”. Trago esse texto como uma ponte para debates e reflexões produzidos nesse Seminário, reconhecendo a importân-cia de discutirmos permanentemente esses e outros temas pertinentes à entrada de alunas negras e indígenas nas universidades públicas, em particular, quero de-bater aqui esse assunto no curso de Antropologia. Mas ao em vez de focar somente em termos restritos a estrutura curricular do curso de Antropologia, que não é menos importante no contexto atual de inserção de alunes, pesquisadores e pro-fessores antropólogas negras nas universidades públicas brasileiras, pretendo trazer outro eixo de debate crucial para a discussão sobre os caminhos para in-
2 A inclusão da vogal “e” é uma forma de inclusão de gênero na linguagem escrita e é usada para se referir à diversidade de gênero neste texto.
E
AC
EN
O,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
136
clusão e a permanência de alunes negres e indígenas como produtores de conhe-cimento na antropologia. Estou me referindo a temas relacionados à metodologia de pesquisa antropológica e à política de trabalho de campo3.
Com a entrada de alunes negres e indígenas nos cursos de Antropologia, essa área de conhecimento é chamada para encarar as tensões geradas pelo Trabalho de campo ou campo, partindo-se do entendimento de que essa noção de campo na antropologia é um lugar não somente físico, mas também é um espaço episte-mológico de investigação moldado pelas histórias do imperialismo e do colonia-lismo dos Estados Unidos e da Europa. A presença e inclusão de pessoas negras e indígenas na academia e os consequentes debates provocados nas encruzilhadas desses corpos com os “Outros” corpos em espaços hegemonicamente heteropa-triarcais e brancos acentuam uma discussão implicitamente presente na Antro-pologia. A discussão diz respeito a (1) presença de pessoas negras na academia como produtoras de perspectivas e conhecimentos e (2) os desafios enfrentados por essas acadêmicas, particularmente quero falar aqui das pesquisadoras ne-gras, nessa produção do conhecimento antropológico através do trabalho de campo. Estudos como, por exemplo, de Alline T. D. Cruz (2014)4, Messias Bas-ques (2019), de Glória Wekker (2006), Jacqui Alexander (2005), Andrea Queeley (2013) e Jessica C. Harris (2017), bem como o próprio relatório “Racism in the Academy: the new millennium” (SMEDLEY e HUTCHINSON, 2010) da Associa-ção Americana de Antropologia (AAA) trazem discussões que atravessam esses temas em seus estudos.
Como estudante e pesquisadora negra, percebi, desde a pesquisa de campo que realizei na graduação de 2010 a 2015 junto aos pescadores artesanais do Nor-deste do Brasil, que estabelecer e construir o trabalho de campo exigiria uma in-timidade concomitante com a precariedade corporal das formas racializadas e se-xualizadas do meu corpo. Para ilustrar o meu apontamento é necessário trazer algumas notas do meu diário de campo da pesquisa exploratória de doutorado realizada no período de junho e julho de 2017 em Havana (para não remexer em notas do trabalho de campo da graduação). Com esse texto quero provocar uma reflexão crítica sobre a ideia de que só competiria a cada pesquisador dar conta ou não da realização do seu campo. Parto da ideia de que essa noção de trabalho de campo obscurece as hierarquias e desigualdades raciais e de gênero que são constitutivas e interligadas ao “fazer antropológico”.
O corpo racializado e sexualizado em “jogo” no trabalho de campo
Em junho de 2017 realizei meu primeiro trabalho de campo do doutorado em
Havana por determinação de minhas inquietudes a respeito da participação de afrocubanas no boxe em Havana e como esses corpos eram produzidos e (re) fa-bricados. Além disso, tinha anseios de outras ordens, como o desejo de conhecer Cuba e vi a possibilidade de realizar minha pesquisa de doutorado nesse país como oportunidade que poderia ser construída para esse anseio. Construí a opor-tunidade por via de financiamentos do programa de Pós-graduação em Antropo-logia Social (PPGAS) e por esforços mútuos de familiares e amigues, pois a minha ida a campo requeria não somente recursos financeiros, como também “recursos
3 O trabalho de campo é o procedimento básico da Antropologia, visto como a experiência básica constitutiva, não só para o conhecimento antropológico, mas também para os próprios antropólogos. Ver Geertz, 1997. 4 A introdução da tese de Alline Cruz intitulada “Sobre dons, pessoas, espíritos e suas moradas” traz algumas narrativas de encontros com seus interlocutores que são atravessados por imagens de um Brasil hipersexualizado, em que gênero, sexualidade, raça e nacionalidade aparecem como marcas nos corpos das antropólogas em campo.
AR
AÚ
JO
, A
ntô
nia
Ga
bri
ela
Per
eira
de
. O
co
rp
o n
eg
ro
no
tr
ab
alh
o d
e c
am
po
137
afetivos” para os devidos cuidados com minha filha de cinco anos, que na ocasião não poderia ir ao campo comigo.
Cheguei em Havana e realizei as conexões necessárias para chegar até a aca-demia de boxe Rafael Tejo, pois sabia que ali poderia encontrar mulheres trei-nando boxe e, assim, podia ir tecendo um diálogo como imaginava das leituras que havia feito sobre trabalho de campo e metodologia realizada na disciplina de Teoria Antropológica. Depois de estabelecida a conexão com minhas primeiras interlocutoras, a dona da casa em que me hospedei e uma das boxeadoras que estava fora de Havana, mas que me forneceu o endereço e contato dos treinadores de boxe, segui para o Ginásio. Naquele dia, quando cheguei ao ginásio de boxe somente encontrei homens treinando. Quando me dirigi a um dos treinadores e me apresentei como pesquisadora brasileira que estava interessada em poder conversar com boxeadoras ele me informou que as mulheres treinavam eventu-almente, pois raramente podiam ir à academia. Perguntou como havia chegado até ali e indiquei que havia conversado com uma das boxeadoras virtualmente e que ela havia me indicado ir ao local e encontrar algumas boxeadoras. Então ele me apresentou aos boxeadores como amiga dessa boxeadora, que é negra e lés-bica. O treinador não me apresentou como pesquisadora, apesar de ter sido a pri-meira informação que dei para ele. Naquele dia perguntei se poderia observar o treino, o treinador disse que sim e sentei num local reservado para ficar somente observando o treino. Um dos rapazes me pergunta se iria fazer boxe, e respondo com simpatia: “Não, não tenho tantas habilidades com esportes!” Aproveito para indicar que estou fazendo uma investigação sobre boxe praticado por mulheres para poder concluir os meus estudos no Brasil. Depois daquele dia continuei indo ao ginásio na espera de poder encontrar e conversar com as boxeadoras. Depois de algumas idas consegui marcar uma conversa com três boxeadoras que fre-quentavam a academia de boxe e continuei indo ao ginásio, mesmo que a possi-bilidade de encontrá-las naquele local fosse esporádica. Mas, sempre apareciam uma ou duas boxeadoras por semana e nesses dias saía do ginásio conversando e acompanhada de uma delas.
A espera do meu interesse pelas perspectivas dos homens boxeadores sobre o boxe e no boxe foi constantemente expresso por eles e pelos treinadores. Era meu interesse, também, conversar com eles, e assim realizei algumas conversas informais com aqueles boxeadores. Mas senti-me inquirida a entrevistá-los de modo incisivo, o que não ocorreu com as mulheres boxeadoras. Eles me pergun-taram: “Não vai querer entrevistar a gente?”, “Não vai nos entrevistar?”, “A gente pode falar com você sobre boxe!” Essa situação, bem como a própria forma com que as conversas se desenrolavam com eles reproduzem a hierarquia do “homem que conhece tudo”, que ensina a mulher que ainda tem muito a aprender e cujo papel é ouvir. Era como se eles tivessem o “conhecimento verdadeiro” sobre o boxe. Algumas vezes que estive conversando com as boxeadoras alguns homens boxeadores interrompiam a fala delas e eu me colocava “num lugar de ouvinte e passiva dessas vozes”. Era como se houvesse, como pesquisadora mulher uma su-posição de passividade de gênero no ato de ouvir esses interlocutores homens no campo. O treinador pediu para que eu entrevistasse os boxeadores, enquanto as boxeadoras não vinham ao ginásio. Realizei conversas e entrevistas com todos os boxeadores. Mas em umas dessas conversas, o interlocutor perguntou se eu podia sair com ele para jantar. Ele sabia que eu “era casada”, pois, inclusive, viu que eu estava usando uma aliança em uma das mãos indicando comprometimento. O fato é que o uso dessa aliança havia sido uma das ferramentas necessárias que
AC
EN
O,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
138
usava para “sobreviver” no campo de pesquisa desde a minha experiência de pes-quisa de campo na graduação. Era o modo que havia encontrado para evitar al-guns constrangimentos5. No entanto, aquele interlocutor não se mostrou preocu-pado com a pseudoaliança e a representação de comprometimento que ela trazia e continuou se insinuando para mim, afirmando: “Sei que é casada, mas pode ainda assim sair comigo?” Eu respondi de modo direto e insistente: “Não. Eu es-tou aqui para realização de minha pesquisa e inclusive meu companheiro também está aqui em Havana”. Ele não demonstrou preocupação com a informação e con-tinuou: “Mas ele não está sempre com você?” Percebi que a estratégia que sempre havia usado no meu campo da graduação – o uso de uma pseudoaliança de com-prometimento – não estava tendo a função que eu esperava. Naquele mesmo dia, após as constantes insistências dele para sair comigo assumi minha sexualidade. Disse: “Não quero, pois sou lésbica”. Imaginei naquele momento que somente essa afirmação poderia fazer com que ele deixasse de me importunar e eu poderia continuar seguindo na realização do trabalho de campo no ginásio. Em seguida, continuo a dizer: “Não posso e não quero, pois me relaciono com mulheres e não com homens”. Ele fez um gesto de surpresa e disse: “Não tem problema…” Fez-se um silêncio e um vácuo na continuação de sua resposta. Então pedi desculpas e me retirei do local.
Depois daquele dia, continuei frequentando o ginásio. O instrutor e os alunos me olhavam de modo estranho e pensei que a revelação de minha identidade lés-bica, ao em vez de pôr fim a um problema, havia criado outro. Essa situação me gerou anseios e medos de outras ordens, pois esses homens podiam estar me olhando agora como alguém que não “merece respeito” ou como uma pesquisa-dora menos respeitável ou ainda como alguém que precisa ter a “sexualidade cor-rigida”. Passei alguns dias sem ir ao ginásio. Conversei com as boxeadoras em suas residências e fiz encontros em outros locais com elas, mas passei três dias para me aproximar do ginásio de boxe. As boxeadoras sabiam da minha sexuali-dade lésbica e me senti confortável ao lado delas e longe dos olhares constrange-dores dos boxeadores. Mas sabia que devia retornar ao ginásio e continuar fre-quentando o campo para continuar o trabalho de pesquisa.
Outro episódio que mostra as especificidades do corpo com gênero, raça e sexualidade como “marcas” que delimitam o campo foi a situação em que uma das boxeadoras pediu para que eu ficasse com sua filha enquanto ela treinava no ginásio de boxe. Esse evento em si se deve ao fato da existência de um território em comum entre as pessoas envolvidas, pois no tempo que passei longe do giná-sio, frequentei sua casa e construímos uma relação amigável em que comparti-lhamos as experiências e dificuldades de ser mãe e mulher negra. Mas, o fato é que esse evento desencadeou outra situação constrangedora, que irei descrever. No dia seguinte, após ter tomado conta da filha dessa boxeadora na academia de boxe, um boxeador levou sua filha e pediu para que eu a olhasse enquanto ele treinava. Talvez eles estivessem tentando encontrar uma boa “ocupação” para mim, já que eu estava ali sentada somente observando seus treinos. O que pode-mos imaginar dessa situação? Se fosse um pesquisador branco, será que isso aconteceria? Se fosse uma pesquisadora branca? Isso aconteceria? Qual a proba-bilidade dessas situações acontecerem com pesquisadores homens, brancos e he-terossexuais?
5 Durante meu campo na graduação usei uma aliança de casamento para evitar assédios por parte dos homens que fre-quentavam a zona marítima pesqueira. Apesar de não ter sofrido assédios de meus interlocutores os outros homens que não me conheciam pois não havia construído relação de pesquisa com eles se sentiam livres para “paqueras” ou “cantadas.”
AR
AÚ
JO
, A
ntô
nia
Ga
bri
ela
Per
eira
de
. O
co
rp
o n
eg
ro
no
tr
ab
alh
o d
e c
am
po
139
Outro dia, estava em Vedado, bairro vizinho a Havana, acompanhando qua-tro transformistas6 negras masculinas que realizavam shows em festas e restau-rantes cubanos. Havia conhecido essas mulheres por meio da dona da casa em que estava hospedada. Eram artistas musicais da cena queer de Havana e amigas do grupo de rap Las Crudas, formado por duas mulheres lésbicas, com quem es-tabeleci os meus primeiros contatos para ir ao trabalho de campo em Havana. Naquela noite, saindo de um dos shows do Quarteto Havana, nome do grupo for-mado por mulheres transformistas negras masculinas, fomos seguidas por dois homens desde o local do show até um restaurante em que sentamos para jantar. Fiquei assustada ao ver os rostos daqueles dois homens nos espiando por cima do muro do restaurante. Expressei gestualmente meu desconforto e elas disseram que eles eram somente homens curiosos, mas que não iam fazer nada com a gente, uma das integrantes do grupo expressou: “essas coisas de assassinato de lésbicas não acontecem em Cuba, você tá assustada por que tem muito no Brasil?” Respondi “Sim”. E ela continuou tentando me convencer de que eles eram dois curiosos que queriam apenas conhecê-las.
Além desses casos, ouvi algumas vezes das minhas interlocutoras do campo, após o primeiro contato, a seguinte expressão: “Mas essa é a pesquisadora?” Essa frase vinha sempre seguida de olhares de surpresa sobre meu corpo negro. Meu corpo não carregava a imagem que as pessoas do meu campo tinham do que era uma pesquisadora: uma mulher branca. A imagem que meu corpo transportava não era a mesma que compunha o imaginário dos meus interlocutores sobre o que deveria ser uma pesquisadora. No mais das vezes, minhas informantes duvi-davam de que eu realmente fosse pesquisadora e estudante de doutorado. Pri-meiro, porque ver pessoas negras em Cuba que não fossem “nativas” e como tu-ristas é algo pouco comum, depois, porque uma pesquisadora negra é um fato também raro.
Meu corpo-mulher e de fato a cor da minha pele me fizeram suspeitar de mim mesma. Suspeitei que fosse a culpada das situações que vivi e que por isso deveria tentar contornar aquelas situações, principalmente a do assédio do boxeador ao meu corpo. Justamente porque o pressuposto existente em torno do trabalho de campo sublinha a ideia de que você coloque seu corpo em um lugar onde a vio-lência pode ser promulgada sobre você, assumindo assim a responsabilidade pela possível violência que incorre. Por um lado, algumas situações vividas em campo, como por exemplo a que cuidei da filha de uma das minhas interlocutoras, foram reflexos da relação de confiança com minhas algumas boxeadoras. Por outro lado, essas situações podem revelar algo mais complexo sobre uma condição imposta a nós, como mulheres pesquisadoras temos que ocupar funções ditas femininas, ainda mais ao entrarmos em espaços ainda percebidos como pertencentes às competências dos homens, tanto o espaço da científica quanto o espaço esportivo.
Num contexto de violência estatal racial e racializada e de retórica heteropa-triarcal branca de Cuba, estava percebendo que as “formas” do meu corpo esta-vam constituindo, informando e moldando a metodologia do meu campo. Nesse sentido, para circular e construir o meu campo comecei a adotar uma perfor-mance “masculinizada” na intenção de amenizar a hipersexualização do meu corpo no ginásio de boxe. Sabia que minhas vestes mais formais e um comporta-mento de “mulher educada”, que havia adotado nos primeiros dias, não haviam
6 Aqui o termo se refere a autodenominação dado por elas mesmas ao se nomearem em público. As quatro mulheres formam o grupo musical denominado Quarteto Havana que se apresenta performando cantores de Havana em espetácu-los musicais que acontecem em boates do bairro denominado Vedado. Por isso mantenho o termo transformistas como respeito a forma como o grupo se autodenomina.
AC
EN
O,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
140
me poupado dos constrangimentos de ter um corpo supervisibilizado com doses de racismo sexual.
A performance de gênero masculinizada foi a segunda estratégica que testei para percorrer os espaços ditos pertencer aos homens – aqui leia-se o espaço do boxe, mas também o “espaço da ciência antropológica que desbrava a natu-reza/campo”, entretanto essa performance me colocava dentro de outro rol de constrangimento, qual seja ele: de ser vista como lésbica – o termo usado por cubanos de forma pejorativa é o termo tortillera. As possibilidades e estratégias de fazer trabalho de campo com meu corpo negro e de mulher lésbica no boxe pareciam reduzir minha agência, ainda assim preferi adotar uma performance tortillera, isto é, comecei a performar com indumentárias uma sexualidade lés-bica. Vestia roupas mais longas e frouxas, adotei posturas e gestos mais masculi-nizados, para que meu corpo com sua “feminilidade ameaçadora” não ficasse hi-pervisível. Mas quando vi que ainda assim estava vulnerável aos possíveis episó-dios de constrangimentos e violências de gênero e sexuais, como o de ser seguida por homens por estar acompanhada de mulheres lésbicas ou por ter uma perfor-mance masculinizada, tomei consciência sobre meu corpo no campo. Ele é negro e possui um gênero que por muitas ocasiões no campo foi hipersexualizado. Pa-radoxalmente, enquanto eu tentava construir habilidades estratégicas para nave-gar num ambiente masculinizado que eu tentava driblar as normas patriarcais entranhadas nele, acabei reproduzindo normas de gênero como, por exemplo, ora assumindo o papel de cuidadora das crianças, ora assumindo posturas mais “masculinizadas” para me afastar das funções ditas femininas e dos assédios.
Em última análise, pude ter consciência de que as relações patriarcais e as relações de poder dentro do campo em que estava trabalhando operaram em meu corpo de forma disciplinar. Além disso, os ensinamentos e práticas que fui ensi-nada através das leituras de métodos antropológicos abordavam a noção de en-volvimento no trabalho de campo de forma neutra para o gênero e para raça. Es-sas leituras me ensinaram que o pesquisador é um sujeito masculino livre e com privilégio racial, a quem o campo significa um espaço longe de casa em que ele pode facilmente entrar e sair.
Como antropóloga, sei que o envolvimento que construo em campo através do relacionamento é um dos pilares cruciais no processo de pesquisa de campo na Antropologia, mas também pude perceber que é uma das vulnerabilidades mais profundas que carrego como mulher negra. Dito isso, o relacionamento/in-timidade que construí como pesquisadora negra com o campo se baseou em um esforço contínuo de driblar o meu privilégio relativo e ambíguo como pesquisa-dora e a minha vulnerabilidade como mulher e negra, já que, de um lado, havia o esforço pelo reconhecimento como pesquisadora e do outro lado precisava cons-truir a ideia de uma pesquisadora capaz de produzir conhecimentos válidos para as realidades sociais que estudava. Além disso, meu privilégio relativo e ambíguo como pesquisadora afiliada a uma universidade pública do Brasil e minhas iden-tidades como mulher, negra advinda de família pobre do nordeste do Brasil, mãe solteira e lésbica, tornavam minha identidade bastante contraditória para ser ple-namente confiada pelos meus interlocutores. Segunda a antropóloga Queeley (2013), para as mulheres negras, ter capital social é uma responsabilidade peri-gosa7. E em Cuba, historicamente, a mobilidade social das mulheres negras, ao contrário de mitigar, acentua a reação branca. Nesse sentido, entendi que era o
7 Sobre o tema a historiadora brasileira Beatriz Nascimento escreve sobre ascensão social e financeira e os dilemas no amor para as mulheres negras no seu texto “A Mulher Negra e o amor” presente no livro Eu sou atlântica. Sobre a traje-tória de vida de Beatriz Nascimento, organizado por Alex Ratts no ano de 2006.
AR
AÚ
JO
, A
ntô
nia
Ga
bri
ela
Per
eira
de
. O
co
rp
o n
eg
ro
no
tr
ab
alh
o d
e c
am
po
141
meu status como pesquisadora estrangeira num corpo negro que estava “fora de ordem” em Cuba.
Finalmente, este artigo enfatizou como a violência racializada e sexualizada, ou seja, o racismo sexual, é encontrada no campo quando os corpos que realizam a pesquisa são de mulheres negras. O argumento de que nosso privilégio relativo como acadêmica mitiga a violência do racismo sexual que encontramos no campo não é verdadeiro quando esse corpo é racializado e sexualizado. Dito isso, é im-prescindível nesse momento de ampliação do quadro de alunes negres e de pes-quisadoras negras na academia uma reflexão sobre o discurso da neutralidade racial, de gênero e sexual no trabalho de campo, bem como é oportuno desfazer a performance de neutralidade de gênero e raça nas representações de nossas ex-periências de trabalho de campo8, já que as intervenções feministas que desmen-tiram o valor dominante atribuído à “objetividade” desde a mudança pós-estru-turalista não foram suficientes para cessar as experiências de violência do ra-cismo sexual contra os corpos negros no trabalho de campo. Esses são temas que precisam ser debatidos nos centros acadêmicos e nos departamentos de antropo-logia.
O boxeador que me assediou teria feito isso se eu fosse uma mulher branca? E as demais situações narradas nesse texto teriam acontecido se eu não fosse mu-lher, negra e lésbica? A incerteza em relação a essas especulações me fez questio-nar meus privilégios e confrontá-los com minhas vulnerabilidades, percebendo que a pesquisa que eu estava engajada no campo ao mesmo tempo que tem rela-ção direta com as temáticas sobre as experiências de racialização e estereotipiza-ção de corpos negros de boxeadoras estava paradoxalmente me sujeitando a essas experiências que estão entranhadas de violência de ordem patriarcal, sexista e racista. Quanto mais eu tentava decifrar essas situações, mais eu comecei a revi-ver experiências anteriores de campo com poder masculino sobre o meu corpo, desde a pesquisa que realizei na graduação num ambiente também masculini-zado, até as atuais experiências de campo em Havana. As complexidades de fazer antropologia por meio do meu corpo, racializado e hipersexualizado historica-mente, tendem a ser apagadas nos debates acalorados sobre metodologia de pes-quisa e a política do trabalho de campo. E aí está um paradoxo, pois enquanto há linhas de pesquisa na antropologia que visam investigar os processos e as experi-ências de racialização e generificação de corpos, o meu corpo vivia essas experi-ências no trabalho de campo. E foi por ter um corpo racialmente marcado como mulher que moldei meu projeto de pesquisa e as linhas de pesquisa que busco durante o trabalho de campo e a minha escrita. Como podemos entender os efei-tos incorporados do racismo e do sexismo em outros corpos racializados em con-textos pós-coloniais? Em que medida os contextos racializados invadem os cor-pos moldando subjetividades e intersubjetividades? Fui para o Campo com essas inquietações e, particularmente, para entender os processos de produção dos cor-pos das boxeadoras habaneras em contextos de estereotipização racializadas, e acabei me defrontando com algumas experiências de racialização e estereotipiza-ção no meu próprio corpo.
No fim dessa estada no campo, tive uma certeza: as situações enfrentadas no campo por mim, certamente não teriam sido experimentadas por um corpo de pesquisador branco. Quais os desafios particulares que os corpos não-masculi-
8 Há estudiosos que escreveram sobre o gênero nas dimensões da pesquisa de campo (ver CAPLAN e KARIM, 1993; KU-LICK, 1995), mas essas pesquisadoras se esqueceram da análise racial.
AC
EN
O,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
142
nos, não-brancos, não-hétero e não-cispares enfrentam para serem pesquisado-res e realizarem trabalho de campo? Minhas formas de socialização como pesqui-sadora negra se tornaram limitadas em contextos onde o patriarcado e a raciali-zação dos corpos estão profundamente enraizados. No entanto, como mulher e negra silenciei por algum tempo minhas experiências incorporadas no trabalho de campo. E isso se deve, em parte, (1) à persistência do poder patriarcal que acompanha a antropologia, (2) às noções de meritocracia que afetam a disciplina como um todo e, (3) o caráter positivista e objetivo da antropologia que afastam questões de raça, gênero e classe do processo de pesquisa afirmando uma postura “neutra” que replica formas coloniais de produção de conhecimento.
Como antropóloga, mantenho-me politicamente responsável diante dos meus interlocutores, adotando métodos e políticas de pesquisa de campo e sei que devo me preocupar com a produção de conhecimento que salvaguarde os di-reitos e a dignidade dos meus interlocutores, ao mesmo tempo não posso silenciar ou esquecer o meu estado físico, emocional e subjetivo no trabalho de campo, justamente por não poder me desfazer da minha própria realidade incorporada como mulher e negra. Ao expressar minhas experiências no trabalho de campo, destaco como a política da pesquisa de campo reproduz o legado de hegemonia do poder heteropatriarcal branco da antropologia. E partindo desse ponto acre-dito que é preciso refletir sobre como essas metodologias clássicas de pesquisa antropológica podem ser cúmplices com as lógicas dominantes heteropatriarcais brancas, incluindo noções de trabalho de campo como um rito de passagem indi-vidual e masculinista. Em última análise, imagino que permitir uma visualização do (meu) campo “pelas brechas” seja um passo necessário para refletirmos sobre a necessidade do currículo da disciplina de antropologia incluir discussões sobre a ideia de neutralidade de gênero e raça no trabalho de campo.
Recebido em 14 de outubro de 2019. Aceito em 8 de janeiro de 2020.
Referências
ALEXANDER, M. Jacqui. Pedagogies of Crossing: Meditations on Feminism, Sexual Politics, Memory, and the Sacred. Durham/London: Duke University Press, 2005.
ASAD, Talal. Introdução a Anthropology & the Colonial Encounter. Ilha, 19 (2): 314-327, 2017.
ANZALDÚA, Gloria. Light in the Dark/Luz en lo Oscuro: Rewriting Identity, Spirituality, Reality. Ed. Analouise Keating: Duke University Press, 2015.
BASQUES, Messias. Tradução Zora Hurston e as luzes negras das Ciências Soci-ais (Texto de apresentação). Ayé: Revista de Antropologia, 1 (1): 102- 111, 2019.
CAPLAN, Pat; BELL, Diane; KARIM, Wazir Jahan. Gendered fields: women, men, and ethnography. New York: Routledge, 1993.
AR
AÚ
JO
, A
ntô
nia
Ga
bri
ela
Per
eira
de
. O
co
rp
o n
eg
ro
no
tr
ab
alh
o d
e c
am
po
143
CRUZ, Alline Torres Dias da. Sobre dons, pessoas, espíritos e suas moradas. Tese de Doutorado, Antropologia Social, UFRJ, Programa de Pós-Graduação em An-tropologia Social, Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2014.
DOMINGUEZ, Virgínia. “Evidence and Power, Sweet and Sour”. In: PALMIE, Stephan; KHAN, Aisha; BACA, George (eds.). Empirical Futures: Critical En-gagements with the Work of Sidney W. Mintz. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009.
GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.
HARRIS, Jessica C. Multiracial Women Students and Racial Stereotypes on the College Campus. Journal of College Student Development, 58 (4), 2017.
HARRISON, Faye V. Decolonizing Anthropology: Moving Further Toward an Anthropology for Liberation. Washington, DC: American Anthropological Asso-ciation, 1991.
KULICK, Don; WILLSON, Margaret. Taboo: sex, identity, and erotic subjectiv-ity in anthropological fieldwork. London; New York: Routledge, 1995.
MOSER, Stephanie. On Disciplinary Culture: Archeology as Fieldwork and Its Gendered Associations. Journal of Archeological Method and Theory, 14 (3): 235-263, 2007.
NAVARRO, Tami; WILLIAMS, Bianca e AHMAD, Attiya. Sitting at the Kitchen Table: Fieldnotes from Women of Color in the Anthropology. Cultural Anthro-pology, 28 (3): 443-463, 2013.
QUEELEY, Andrea. “The Uppity Negro: A Peculiar Challenge for Anti-racist Mo-bilization in Cuba”, paper given at Association for the Study of the Worldwide African Diaspora (ASWAD). Conference, November 2, 2013.
RATTS, Alex. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Ed. Kuanza. 2006.
SMEDLEY, Audrey; HUTCHINSON, Janis Faye. Racism in the Academy: the new millennium. American Anthropological Association, 2010.
SMITH, Barbara. A Press of Our Own Kitchen Table: Women of Color Press. Frontier: A Journal of Women Studies, 10 (3): 11-13, 2014 [1989].
WEKKER, Glória. The Politics of Passion: Women's Sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora. New York: Columbia University Press, 2006.
AC
EN
O,
7 (
13):
13
3-1
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Do
ss
iê T
em
áti
co
: E
xp
er
iên
cia
s d
e c
am
po
e l
oc
ali
za
çõ
es
etn
og
rá
fic
as
144
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
. A
DI
42
77
- D
F:
Te
nd
ên
cia
s d
isc
ur
siv
as
no
re
co
nh
ec
ime
nto
e
eq
uip
ar
aç
ão
da
s r
ela
çõ
es
en
tre
pe
ss
oa
s d
o m
es
mo
se
xo
no
Br
as
il.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Cen
tro
-Oes
te,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
ADI 4277- DF: Tendências discursivas no reconhecimento e equiparação das
relações entre pessoas do mesmo sexo no Brasil
Fabrício Marcelo Vijales1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Resumo: A proposta é analisar, por meio dos discursos contrários e favoráveis, o julgamento da ADI 4277-DF e os ganhos com a decisão. No entanto, a barreira que se quer ultrapassar é a de um modelo de família tradicional. Se, por um lado, houve ganhos, por outro, a decisão deixa de avançar no reconhecimento efetivo de culturas e identidades diversas e para outros núcleos familiares. Do ponto de vista teórico, a pesquisa é construída com alicerce na teoria da rotulação, do etiquetamento e no empreendimento de normas para demonstrar como o transvio é construído a partir da adesão de indivíduos a um padrão de comportamento desviante de forma sequen-cial. No plano metodológico, os dados são analisados a partir da Análise Crítica do Discurso, com foco nas formas de abuso de poder e ideologias para o estudo de como os discursos sofrem influências sociais e legais, como processos de normalização de condutas resultam em desigualdades sociais. Na polarização dos grupos em disputa, encontramos diferentes forças agindo na manutenção de regras que regulamentam a relação entre pessoas do mesmo sexo, frente à naturalização da família e baseada em um suposto único modelo compreendido na exegese constitucional até o mo-mento do julgamento.
Palavras-chave: equiparação; família; discurso; rotulação; normas.
1 Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bolsista em Pesquisa CNPq. Especialista na área de Ética e Direitos Humanos pela FACED da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário UniRitter.
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
146
ADI 4277- DF: Discursive tendencies in the recognition and
leveling of relations between people of the same sex in Brazil
Abstract: Our goal is to analyze, in the speeches around the Supreme Court’s deci-sion on homoerotic relationships, the articulation of ideologies and advances in the perspective of recognition of these relationships in Brazil. The research is built on the theory of labeling, demonstrating how the deviation is built through the imple-mentation of concepts of normality in society, defining the relationship between people of the same sex as an abnormality. The speeches are analyzed through the Critical Discourse Analysis, focusing on forms of abuse of power to study how dis-courses are inserted in society and result in social inequalities. The goal is to analyze, in the polarization of groups, how the progressive and conservative discourses artic-ulate recognition of marriage between same sex, or define it as a deviation from the traditional notion of family. Through the discourse analysis, this study seeks to deepen, critically, the procedures of the action of developing the labeling, through the production of oral and written discourses, by which interpretations are built and shared by the institutions and social forces in the construction of the relationship between people of the same sex as a deviation.
Keywords: recognition; homoerotism; speech; labeling; family.
ADI 4277- DF: Tendencias discursivas en el reconocimiento e igualación de las
relaciones entre personas del mismo sexo en Brasil
Resumen: La propuesta es analizar, a través de discursos contrarios y favorables, la sentencia de ADI 4277-DF y las ganancias de la decisión. Sin embargo, la barrera a superar es la de un modelo familiar tradicional. Si, por un lado, hubo avances, por el otro, la decisión no avanza en el reconocimiento efectivo de las diversas culturas e identidades y de otros núcleos familiares. Desde un punto de vista teórico, la inves-tigación se basa en la teoría del etiquetado, el etiquetado y el cumplimiento de es-tándares para demostrar cómo se construye el cambio de la adhesión de los indivi-duos a un patrón de comportamiento desviado de manera secuencial. A nivel meto-dológico, los datos son analizados a partir del Análisis Crítico del Discurso, enfocán-dose en las formas de abuso de poder e ideologías para el estudio de cómo los dis-cursos sufren influencias sociales y legales, ya que los procesos de normalización de la conducta resultan en desigualdades sociales. En la polarización de los grupos en disputa, encontramos diferentes fuerzas actuando en el mantenimiento de reglas que regulan la relación entre personas del mismo sexo, en vista de la naturalización de la familia y en base a un supuesto modelo único entendido en la exégesis consti-tucional hasta el momento del juicio.
Palabras clave: coincidencia; familia; habla; letras; estándares.
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
147
Introduzindo o debate
sta pesquisa tem por objetivo analisar, através de discursos contrários e favoráveis, de que forma o julgamento da ADI 4277-DF (BRASIL, 2011) representa um avanço no reconhecimento da relação entre pessoas do
mesmo sexo no Brasil. Considerando todo o contexto em que os discursos se in-serem, a hipótese é de que a equiparação à família é construída por meio de um conceito de família tradicional baseado no casamento heterossexual (BUN-CHAFT; CRISTIANETTI, 2016)2. A decisão altera o filtro de percepção do signi-ficado desses acontecimentos, mas não afasta o caráter anatomofisiológico ao conceito de família expresso na Constituição. Assim, a principal pergunta a ser respondida é: de que maneira os discursos emanados da ADI 4277-DF (BRASIL, 2011) impactam a questão da identidade de indivíduos pertencentes a famílias homoparentais?
Os debates em torno da decisão judicial têm como núcleo o artigo art. 226 da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo legal vinha sendo interpretado de forma literal, resumindo a família ao sexo biológico. O texto apresenta os seguin-tes termos: “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. E no parágrafo § 3º exemplifica: “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988).
Casamento, segundo o artigo 226 da Constituição Federal de 1988, pressupõe a diversidade de sexo, tendo como protagonistas da base nuclear familiar o ho-mem e a mulher. Trata-se de um contrato em que o legislador não se preocupou com definir características específicas ao conceito de casamento, apenas delimi-tou como pressuposto básico a comunhão pela vida.
Para o direito, família é um conceito em mutação que assumiu características tradicionais. É o que se pode constatar a partir da conceituação de Rolf Madaleno (2015: 36) “a família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparen-tal, biológica, institucional vista como unidade de produção”, muito embora esse conceito já tenha sido superado no entendimento de grande parte dos doutrina-dores.
2 Os debates em torno da decisão judicial têm como núcleo o artigo art. 226 da Constituição Federal de 1988. Este dispo-sitivo legal vinha sendo interpretado de forma literal resumindo a família à relação entre homem e mulher, reduzidos ao sexo biológico. O texto apresenta os seguintes termos: “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. E no parágrafo § 3º exemplifica: “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988). Estas figuras são portas que dão acesso ao importante debate sobre família e as diferenças sexuais e sua construção como uma exigência social e jurí-dica que passa a ser oposta dentro dos debates na decisão judicial. Para o direito, a sociedade de fato, casamento e união estável são termos distintos que implicam em uma série de efeitos sobre o patrimônio e a regulamentação das relações afetivas. A sociedade de fato foi reconhecida na ausência de uma legislação específica como um recurso para regulamentar o patrimônio dessas relações. No entanto, os efeitos são limitados a uma parceria de negócios, diferenciando de uma união estável que é a relação entre homem e mulher pública e duradoura com o objetivo de constituir família, e seus efeitos são equiparados ao regime de comunhão parcial de bens, em uma situação de internação hospitalar, visitas ocupa uma posição distinta e oposta em relação à união estável. No caso da união estável prevista no artigo 1.723“ descreve que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, con-figurada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família”. O novo Código Civil, nos artigos 1.723/1.727 e 1.790, estabelece os requisitos fundamentais para a constituição da união estável entre homem e mulher, assim como seus efeitos patrimoniais por motivo de dissolução por convenção entre os conviventes ou pela morte de um deles. Já o casamento, segundo o artigo 226 da Constituição Federal de 1988, pressupõe a diversidade de sexo, tendo como protagonistas da base nuclear familiar o homem e a mulher. Trata-se de um contrato onde o legislador não se preocupou com definir características específicas ao conceito de casamento, apenas delimitou como pressuposto básico a comunhão pela de vida. Os regimes dessa comunhão é que irão determinar a relação do direito patrimonial.
E
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
148
No entanto, uma família não é uma constante biológica e sua forma está su-jeita a mudanças permanentes (HONNETH, 2014) e pode ser considerada como um grupo de pessoas unidas por laços no qual adultos assumem a responsabili-dade de cuidar de crianças (GIDDENS, 2004)3.
Segundo Judith Butler (2003: 224), o estado exerce poderes de normalização, principalmente quando condiciona ou limita os debates sobre casamento. Varia-ções no parentesco que se afastem de formas diádicas de família heterossexual garantidas pelo juramento do casamento e qualquer outra forma colocam em risco as leis consideradas naturais.
A reivindicação do casamento por homossexuais problematiza posições polí-ticas em torno da família e do casamento, que em grande medida foram imple-mentados pela ordem médica como forma de empreendimento na construção do desvio (COSTA, 1999), ou seja, informar que a homossexualidade é patológica frente ao modelo de família tradicional. O resultado foi a naturalização da relação casamento/família entre o homem e a mulher como normal e o homoerotismo como estranho.
A relativização das normas que determinam a normalidade leva a refletir so-bre a construção com base nos costumes estabelecidos ao longo de um processo de julgamento e de disputas entre grupos progressistas e conservadores. A homo-afetividade foi construída de forma negativa por ameaçar o estabelecimento das relações de gênero binárias e hierarquizadas dentro de sistemas patriarcais pa-dronizados de forma universal. Segundo Roger Raupp Rios (2014), a formulação da expressão homoafetividade, ainda que bem-intencionada, mostra uma tenta-tiva de adequação à norma, subordinando, ainda, princípios como o da liberdade, igualdade e não discriminação. Se, por um lado, a norma das relações afetivas resultou de valores, ideologias e políticas conservadoras, por outro, as leis tive-ram um papel fundamental no processo institucionalizado de rotulação em fun-ção da interpretação dada ao texto legal. Adotaremos, portanto o termo homoe-rótico, o que permite uma postura mais crítica frente aos aspectos negativos da sexualidade implícitos na ADI 4277- DF.
Se por um lado a ordem médica teve influência na construção cultural da fa-mília, por outro lado, a concepção da relação entre pessoas do mesmo sexo como pecado está fundada no discurso judaico-cristão, articulou um juízo condenató-rio. No casamento, com deveres de obediência na consagração da família consti-tuída pela fé. Sobre os cônjuges, as prescrições normativas eram carregadas de recomendações (FOUCAULT, 1988).
O essencialismo biológico, conceito retirado da desconstrução promovida pelo movimento feminista (CITELLLI, 2001; PARISOTTO, 2003), é o estandarte da ideologia cristã que vê a desorganização social contrária à “ordem natural”, que nada mais é do que um determinismo biológico, aplicado às relações de gê-nero em que predominam papéis específicos próprios para homens e mulheres. Impensável dentro de um núcleo familiar constituído por outros arranjos paren-tais.
É o que esclarecem Oliveira e Duque (2013: 141): Em relação a esse esforço de compreensão desnaturalizante, cabe pensar em que me-dida uma compreensão de família baseada em critérios puramente “biológicos”, ou que assim se pretende, é antes um argumento de cunho político-ideológico do que cientifi-camente fundamentados. A família enquanto uma instituição social é antes produto de relações históricas, políticas e econômicas, ideologicamente marcadas, do que fruto de uma “natureza” ontologicamente estabelecida e pré-determinada.
3 Além disso, há várias definições/ reconfigurações da família contemporaneamente que envolvem outros modelos como os de família monoparental, re-constituída ou recomposta.
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
149
Por estes argumentos, a legislação permaneceu omissa à extensão dos direi-
tos a população LGBT. O entendimento dos tribunais seguiu a mesma tendência e, em alguns casos, foi enfático ao descrever a homossexualidade como um desvio de conduta ou problema de personalidade seguindo a tradição da homossexuali-dade como doença. A definição de “direito” é considerada “parte do grupo de fe-nômenos que pertencem ao âmbito da linguagem, dos discursos que circulam so-cialmente” (CORREAS, 1996: 43). Para melhor compreender o tema da produção de sujeitos através dos discursos jurídicos, Rios e Oliveira (2012: 251) completam:
Esta dinâmica pode ser observada em muitos domínios do direito positivo estatal, tais como o direito de família e o direito penal relativo aos crimes sexuais. Para tanto con-correm o legislador, o processo político parlamentar, a “doutrina jurídica” (formada pelo trabalho de reflexão e comentário por parte de acadêmicos e profissionais do di-reito, em face do direito positivo e da jurisprudência) e a jurisprudência (conjunto de decisões proferidas pelos diversos tribunais e instâncias do Poder Judiciário a respeito de determinado tema).
De um lado, há uma sustentação radical de que a homossexualidade é con-trária à condição humana, de outro uma posição mais tolerante a que pessoas tenham tendências homossexuais e não pratiquem atos sexuais. Ainda há a posi-ção de que o reconhecimento do casamento homossexual seria um exagero, tendo em vista os danos que a medida “[...] pode causar à instituição familiar” (RIOS in RIOS; GOLIN; LEIVAS, 2011: 72).
É o que se constata no discurso do representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre o julgamento da ADI 4277- DF, Hugo José de Oliveira: “Polígamos, incestuosos. Alegrai-vos” (JUSTIÇA, 2011), ao iniciar sua defesa nos ditames da Igreja Católica que condena a homossexualidade desde o seu entendimento da sodomia como um pecado herdado de “Sodoma e Gomorra”.
Ao referir “Polígamos, incestuosos. Alegrai-vos” em sua linguagem retórica, Hugo declara o pegador como possível a procedência da decisão, ao mesmo tempo em que suas palavras surgem como uma ameaça à condenação divina e dá as costas aos atos homossexuais em um processo de condenação ao inferno pelo pecado. Da mesma forma, pela Associação Eduardo Banks falou o advogado Ralph Anzolin Lichote: “Esse julgamento pode ter consequências inimagináveis para todos se dermos um passo errado” (JUSTIÇA, 2011).
É corriqueira a associação com essa referência anatomofisiológica na lingua-gem cotidiana quando a assunto entoa no cenário público. “Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo” foi a frase do deputado federal Victório Galli (PSC) durante um evento organizado pelo governador de Mato Grosso4. Ou, ainda, “filho gay é falta de porrada”, como bradou o então deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). Rever-bera na mídia um discurso presente em nossa cândida sociedade de que ter filho gay é consequência de falta porrada de durante a infância5.
Os discursos que são acionados na decisão estão impregnados da cultura po-pular que tem reflexos diretos no processo de interação social. Inúmeros modos de construção das formas de sexualidade dos indivíduos são ajustados a partir dos “parâmetros” ideológicos da heterossexualidade.
4 Ver: "Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo", diz deputado sobre casamento gay. Disponível em: <http://www.hiper-noticias.com.br/autos/politica/deus-criou-adao-e-eva-e-nao-adao-e-ivo-diz-deputado-sobre-casamento-gay/45642>. Acesso em: 15 ago. 2019. 5 Ver: “Filho gay é falta de porrada”. Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/03/ter-filho-gay-e-falta-de-porrada-diz-bolsonaro.html>. Acesso em: 15 ago. 2019.
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
150
O controle é exercido por meio da normatização e interferência na vida pri-vado-pública. Esse cenário legal-normativo, ajuda-nos a pensar sobre o não reco-nhecimento como núcleos familiares, as famílias homoparentais pelo Estado por decorrência do discurso de representação de papéis de gênero:
observamos nesse discurso uma representação de papéis de gênero tal como normati-zado pela sociedade heteronormativa, em que homens e mulheres possuem não apenas identidades fixas, mas também papéis/funções correspondentes e que devem ser “pre-servados” por um Estado policialesco e discriminatório. (OLIVEIRA e BECKER, 2018: 19)
Portanto, o jogo de interesses em questão no processo de reconhecimento está ordenado pela tradição em torno do conceito de família e ostentado pela “pri-mazia” da heterossexualidade como um padrão único de conduta. Os mecanismos acionados na defesa e ataques argumentativos relatam, nos discursos, a relação entre pessoas do mesmo sexo como uma ameaça.
O Estado se depara, assim, com sua própria fragilidade. A herança de impo-sição de regras e rotulações deixada por nossos antepassados, que define a homo-parentalidade como um desvio, revela a construção de um conjunto de normali-zação da família com base em uma ideologia romântica, mas não só. O afeto é a porta de acesso à interpretação discursiva que permite analisar a relação à sexu-alidade e às diferenças de gênero.
Se a possibilidade é a equiparação, mesmo que por unanimidade dos votos dos ministros, como tornar a homossexualidade aceita? O argumento segue na linha de que a homossexualidade é uma perversão. A solução encontrada na de-cisão é equiparar as relações homoafetivas às relações heteroafetivas.
A imagem dos casais homossexuais, rotuladas por atos estatais, pela religião, pelo direito e por um conjunto de doutrinas científicas que organizaram os sabe-res científicos de forma estratégica em detrimento à identidade de gênero e ori-entação sexual. Portanto, entendemos que questões relacionadas com o casa-mento e homoparentalidade representam a última fronteira de uma definição de normas que permaneciam naturais, não políticas e não históricas.
Assim, o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento.
Princípios teóricos e metodológicos A teoria da rotulação (Labeling Approach) contribuiu para a remoção do véu
que revestia o desdobramento de um complexo sistema de empreendimento de regras observados na ADI 4277- DF. Segundo Becker (2008: 15), “Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com regras esti-puladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada com um outsider”.
O indivíduo que transgride a norma é identificado por um complexo esquema de ajustamento que determina, de forma cuidadosa, a categoria de comporta-mento que não é própria dos processos de sociabilização do mesmo, do ponto de vista da normalidade convencionada. A discrepância entre a identidade social in-formada de um indivíduo e a forma de reconhecimento dos símbolos criados para o estabelecimento da diferença é um meio de informar que os sujeitos apresentam sinais que os categorizam (GOFFMAN, 1988), tendo como referência normativa um comportamento que ele transgrediu, com base no esquema de crenças, valo-rações morais (MACHADO, 1991) como a identificação de comportamentos con-siderados sexualmente incompatíveis aos olhos daqueles que estão envolvidos na
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
151
criação e na manutenção das normas. Portanto, “se um ato é ou não desviante, depende de como as outras pessoas reagem a ele” (BECKER, 2008: 24).
Na aplicação da metodologia, utiliza-se a Análise Crítica do Discurso (ACD) que dialoga com este trabalho à medida que os conceitos da análise são formula-dos por meio de noções fundamentais das Ciências Sociais (DIJK, 2012; FAIR-CLOUGH, 2001; WODAK, 2004). Não existe uma divisão específica dos constru-tos do texto para realização da análise. O pesquisador pode desenvolver, com base no objeto tratado, seus próprios campos de análise. Na Análise Crítica do Dis-curso existe uma postura interdisciplinar, o que Dijk (2012) denomina de plura-lismo metodológico, de modo que pode ter seu foco na análise gramatical, na re-tórica, na estilística, nas estruturas específicas de gênero, nas narrativas ou argu-mentações e, ainda, na análise convencional da fala e da interação.
Além disso, o quadro metodológico pressupõe que a produção discursiva seja mapeada também pela produção inconsciente de normas que contribuem para a desigualdade social, em conformidade com os conceitos de cognição e ideologias (DIJK, 2012), sobretudo no que diz respeito à contribuição do foco analítico no que se refere às estruturas discursivas polarizadas, cujo papel é crucial na expres-são, na aquisição, na confirmação e, portanto, na reprodução das desigualdades.
Durante a análise foram identificados os posicionamentos polarizados e o sentido atribuído pelos atores sociais e juristas ao conceito de entidade familiar. Quanto aos grupos em disputa, encontrou-se diferentes forças agindo na manu-tenção dos seus argumentos. Esses grupos estão representados na disputa entre diferentes conjuntos de forças sociais, progressistas e conservadoras, que são bas-tante heterogêneos em seu interior.
Preliminarmente, as categorias de análise foram escolhidas por meio das po-sições discursivas assumidas. Posteriormente, selecionaram-se as categorias a partir das configurações discursivas tendo em vista o problema social, delimi-tando tensões, diferenças e opiniões expressadas; em seguida, selecionou-se o conflito dentro dos argumentos e, por fim, realizou-se a análise dos espaços se-mânticos presentes nos segmentos discursivos a fim de perceber os desajustes metafóricos e polarizações.
Assim, os dados coletados revelaram que a decisão trazia dois conjuntos de informações: de um lado uma descrição dos fatos emanados do meio social car-regados de empreendimento de regras sociais que evidenciam o que está em jogo na decisão, que é a equiparação dos casais homossexuais ao conceito de família, bem como sua relação com o binarismo homem/mulher, e a noção de pertenci-mento ou não ao conceito de família trazido na Constituição Federal. Por outro lado, com base no sentido de validade que a norma emana, e que provém de uma herança cultural-histórica, os dados revelaram a representação distintiva da questão LGBT no âmbito da decisão, que mostraram camadas distintas de into-lerância. Para tal, dividimos o conjunto de análise em dois eixos:
O eixo “A” analisou os dados pertencentes ao discurso emanado da pressão social para a mudança do paradigma da tradicional concepção de família. Surgi-ram configurações da noção de pertencimento ou não, as atribuições de signifi-cado aos pares, as categorias e os elementos de distinção de entidade familiar.
No eixo “B” o objetivo foi identificar os temas tangentes ao discurso do reco-nhecimento e da equiparação das relações. O controle exercido na disputa judi-cial, a fim de revelar padrões morais, crenças, ideologias e valores públicos que são convencionados na medida dos interesses. O objetivo foi o mapeamento das regras em torno dessa “teia social” presente no debate, na forma de ação, e na
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
152
interação social, o comportamento sexual e à produção de um novo entendimento normativo.
Do objeto de análise o documento/decisão ADI 4277- DF surgiram, os seguin-tes temas denominados marcador discursivo: diferenciação, amor romântico, re-ação conservadora, religião/crença, antinaturalidade e familismo. Desse grupo, analisamos a performatividade que acentua a produção do sujeito como obra em parti-cular dos sistemas jurídicos.
Buscamos os fatores determinantes das regras que estabelecem as relações que possivelmente reforçam ou mitigam subordinação, ao equipara o casamento homoerótico ao heteroafetivo. Ter acesso ao conteúdo dos discursos é uma forma de conhecer a interação social e aferir sobre os processos que determinam grupos familiares como normais e outros como um desvio.
Tendências discursivas no reconhecimento da equiparação no julgamento da ADI 4277-DF
Embora as identidades sociais, os valores culturais e o discurso jurídico sejam
partes diferentes quando teorizadas, na presente análise são relacionadas com a semiótica de misturar o sexual e o não sexual, os casais, os verdadeiros coabitan-tes e os simples conviventes sob o interdito de um modelo de família, casamento e sexualidade.
Esses marcadores discursivos representam obstáculos a serem transpostos para observar diferenças que embora existam, por se tratar de grupos muito heterogêneos e com culturas variáveis, não é suficiente para justificar distingui-los em lei. A interpretação rígida da Constituição que enaltece o caráter biológico da das relações de gênero constituída pelo homem e pela mulher produz a dife-rença social e faz surgir uma distinção produzida culturalmente constituindo pes-soas de outra espécie que não pertencem à ordem material prevista e naturalizada na legislação.
O primeiro marcador discursivo é a diferenciação. Nos debates sobre a dife-rença, conservadores tendem a reafirmar a hierarquia da diferença. Em oposição, a igualdade isonômica é reivindicada por progressistas. Tudo o que parece ser inovação com relação à igualdade pode estar ligado à agenda conservadora com base na naturalização das diferenças. O ponto central destacado por Pierucci (1999, apud NUERNBERG, 2001: 299) é atribuição de juízo de valor, e acredita “que a crença da diferença possa se desvincular das relações de valor que funda-mentam a desigualdade”.
O marcador discursivo diferenciação aparece no discurso como eixo de refe-rência para análise dos debates sobre a diferença. Vejamos no discurso emanado no STF:
A diferença, embora sutil, reside no fato de que, apesar de semelhante em muitos as-pectos à união estável entre pessoas de sexo distinto, especialmente no que tange ao vínculo afetivo, à publicidade e à duração no tempo, a união homossexual não se con-funde com aquela, eis que, por definição legal, abarca, exclusivamente, casais de gênero diverso. (STF, 2011)
As políticas de reconhecimento e equiparação (HONNETH, 2003; FRASER, 2007) e justiça social tendem à valorização da diferença e não, simplesmente, pela definição legal, pois a diferença vem acompanhada, inseparavelmente, da plura-lidade. Daí o desafio na decisão de estabelecer um entendimento sobre o reco-nhecimento e a equiparação no que toca às liberdades individuais e o coletivo, ou seja, reconstruir o geral incorporando a diferença, no caso das relações afetivas
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
153
possíveis, não excluindo uma em detrimento de outras e produzindo formas de emancipação e autonomia para ambas.
De um lado, a trajetória permanente do empreendimento da diferenciação entre homossexuais e heterossexuais, de outro, a exigência de um reconheci-mento à igualdade de direito e o reconhecimento de núcleos familiares dentro do ordenamento jurídico. O debate polarizado aparentemente representa constru-ção, no entanto, deixa claro que a produção da diferença parte de conservadores que dão cores e significados à heteronormatividade vigente, discurso que está li-gado diretamente à identidade familiar tradicional em que se fundem política e religião.
É a partir da diferença anatomofisiológica, estrategicamente prevista no texto constitucional, que a noção de diferença sexual como ato permissivo para o casa-mento, que se encontra o processo diferenciador construído historicamente. Em camadas mais profundas, é possível perceber a própria negativa da existência de outras configurações de núcleos familiares. A partir da constatação da existência, surge a abominação dentro de um cenário político e jurídico. Essa diferença se-xual já vem sendo denunciada pelas feministas a partir da análise sexo/gênero com as categorias de homem e mulher (BUTLER, 2003; SCOTT, 1995).
Segundo Joan Wallach Scott (1995), por intermédio de pesquisas voltadas às relações entre homens e mulheres, os mecanismos de diferenciação social se tor-naram evidentes pelos campos científico, biológico e religioso, ficando possível a identificação dos processos de diferenciação, hierarquização e inferiorização da mulher por meio deles. O movimento feminista buscou responder a perguntas relevantes, inicialmente trabalhando o significado conceitual da questão de gê-nero.
Endossando essa posição, Oliveira e Duque destacam que “precisamos com-preender o papel da sociedade nestas novas percepções não naturalizantes e/ou não metafísicas da análise sobre sexo e gênero” (2013: 144). Nessa perspectiva destacamos que Butler, compreende sexo como parte de uma prática regulatória que produz os corpos que governa.
Nesse sentido: pois, o "sexo" não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática re-gulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir — demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela controla. Assim, o "sexo" é um ideal regulatório cuja materialização é imposta: esta materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) através de certas práticas altamente reguladas. Em outras palavras, o "sexo" é um constructo ideal que é forçosamente materializado através do tempo. Ele não é um simples fato ou a condição estática de um corpo, mas um processo pelo qual as normas regulatórias ma-terializam o "sexo" e produzem essa materialização através de uma reiteração forçada destas normas. (BUTLER, 2001: 153)
A ausência de previsão legal explicita o heterossexismo do legislador (RIOS;
OLIVEIRA, 2012) como diferenciação combatida pelo movimento LGBT em ter-mos legais, civis, políticos e sociais. O reconhecimento das diferenças e equipara-ção que é alcançada na decisão representa um avanço significativo em termos de direito.
Inegável o estabelecimento de uma ordem heterossexual no que se refere à família. Partindo do princípio de que a diferença é um produto social, a família teve influência conservadora com seus interesses na reprodução, na economia e no controle social. É igualmente inegável que, muito embora, socialmente, o ca-samento gay já existisse e talvez em boa parte bem adaptadas ao meio social, o
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
154
reconhecimento recusado por parte da legislação e, consequentemente, o direito, até a decisão, jogavam esses núcleos familiares nas periferias da sociedade.
Sexo entra no cenário dos debates e representa uma visão essencialista que classifica, diferencia e hierarquiza, organizando a sexualidade dentro do sistema binário e estabelecendo uma diferença que é assimilada pela maioria ou pela cul-tura dentro das relações de gênero compartilhadas. No entanto, não deve ser um critério de interpretação que estabeleça limites de direitos e que lance a toda sorte de hostilidade configurações familiares heterossexuais.
Os avanços em torno do reconhecimento jurídico para além das bases famili-ares matrimoniais, poderiam ter sido maiores, lançando mão do modelo binário para o entendimento de um novo núcleo familiar de fato, com suas próprias cul-turas. Mas, após o reconhecimento das relações homoeróticas como entidade fa-miliar, os mecanismos que, por centenas de anos, normalizaram o conceito de família, permanecem no meio social dentro de grupos conservadores dispostos, como afirma Becker (2008), a empreender sua cruzada moral com base no poder que extraem de sua suposta posição superior na sociedade.
O segundo marcador discursivo é o amor romântico, a ação canônica que con-sagrou ao casamento entre o homem e a mulher a missão de procriar. O ideário de amor romântico que surge no discurso marcado de forma explícita como aporte na construção da equiparação. A construção da equiparação é ressignifi-cada a partir da diferenciação, ou seja, seria o mesmo que dizer: iguais, porém diferentes. No entanto, em vez de reconhecer dentro de suas próprias particula-ridades, equipara. Assim, o homossexual deve se comportar como o casal hete-rossexual e sua expressão de sexualidade, equiparado pela aproximação afetiva.
O marcador discursivo amor romântico aparece no discurso para validar o argumento heterocêntrico, e ainda, como possibilidade de regular a conjugali-dade homossexual.
Note-se, conforme se extrai do discurso emanado no STF: Nesse sentido, o reconhecimento do ‘status’ jurídico familiar da união estável, por si, alçou o afeto à condição de princípio jurídico implícito, na medida em que é ele, afeto (amor romântico, no caso), o motivo que faz com que duas pessoas decidam manter uma união estável. O elemento formador da família contemporânea é o ‘amor familiar’, mas é o amor romântico que dá o passo inicial para a constituição da união estável, embora haja outros argumentos a corroborar a afirmação de que o afeto é um princípio jurídico. (STF, 2011)
Como é característico da justiça registrar no nível oficial, legal e ritual o con-trole e essencialmente a normalização, a decisão ainda que bem-intencionada na perspectiva da intolerância sexual ao utilizar o modelo de família heterossexual para equiparação higieniza e domestica a sexualidade na esfera pública e política, a decisão do STF se equipara a um "Cavalo de Tróia" da conjugalidade romântica heterossexista.
Importante frisar que os fins do Direito Civil e do instituto do casamento re-presentam uma regulamentação específica sobre o patrimônio, dando direitos e deveres aos cônjuges sobre a aquisição e divisão de bens, bem como o cumpri-mento de formalidades legais.
O modelo de família heterossexual remete à figura da ordem hierárquica da sexualidade. Essa construção conduz à interpretação do discurso na linha de uma visão tradicional do casamento que não é abandonada no contexto da decisão. O empreendimento da visão tradicional demonstra uma tensão entre os portadores dessa concepção. É o que se constatou logo após o julgamento do precedente ju-dicial quando juízes se opuseram à decisão do STF.
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
155
Há um desafio permanente de teorização para questionar a aplicação de um modelo de família binária em que o sujeito homossexual será equiparado se com-portar-se dentro do modelo normativo. Luiz Mello (2006: 501) propõe:
Ao refletir sobre uma ética sexual pluralista, seria imprescindível incorporar um con-ceito de variedade sexual benigna, o que contraria a ideia, prevalecente na maioria dos sistemas de pensamento sobre o sexo, de que existiria uma única sexualidade ideal, estruturante de uma organização social marcada pelo apartheid sexual, que define como não humanos os que não se enquadram nos limites da norma. Todavia, o sistema sexual não é uma estrutura monolítica.
É importante a constatação, a partir dos discursos sobre afeto e amor na de-cisão, em específico sobre o amor romântico, que, em nossa sociedade, depois da regulamentação do divórcio, cresceu vertiginosamente o número de heterossexu-ais separados e o descrédito em relação à instituição familiar. Dentro desse raci-ocínio, poder-se-ia perguntar por que, então, homossexuais desejam se casar e ter família se a experiência familiar é muito informal e difusa.
Para o direito, homossexuais que conviviam há décadas juntos, quando um dos parceiros adoecia ou falecia, lhe era negado o direito de acesso aos espaços privados reservados à família. As implicações acarretavam problemas com a he-rança quando, em muitos casos, os bens acumulados pelo casal ao longo da vida ficavam com os familiares consanguíneos.
Para ter garantido o direito à equiparação ao concedido aos casais de sexo distinto, e para a regulamentação de patrimônio dentro de uma esfera contratual, o reconhecimento dessas uniões se fez necessário. O reconhecimento exigido é de regulamentação patrimonial e transcende a construção do amor romântico idea-lizado pela pastoral cristã e por forças sociais interessadas na manutenção da tra-dição familiar.
Em diferentes partes do país, mesmo após a decisão, legisladores e a socie-dade civil impõem essa perspectiva política como uma forma de manifestação da opressão àqueles que tentam transgredir a categoria de sexo e gênero, padrão nu-clear moderno homem e mulher, formado por um homem instrumental, uma mu-lher expressiva e a socialização das crianças felizes (MELLO, 2005). Por impulso da disciplina imposta pelo discurso religioso, científico e moral, o amor foi priva-tizado pela instituição familiar, o amor romântico foi uma forma de higienizar o ato sexual.
O terceiro marcador discursivo é a reação conservadora. A postura impositiva de um modelo de família heterossexual corrobora a noção básica da teoria da ro-tulação de Becker (2008), de que a definição de regras, desvios e desviantes é um fenômeno inerentemente político, e se aplica inteiramente a outras formas de constituir família que não se enquadram no modelo binário. Grupos sociais criam o desvio ao estabelecer regras. A regra aqui estabelecida emerge de uma reação social contra aqueles que violaram a norma. Essa reação tem como base a des-construção do modelo de família elaborada em um sistema em que, nas relações de poder, impera um regime autoritário.
O discurso conservador, no contexto da decisão, centraliza a atenção por meio dos atos de fala, utilizando o recurso da metáfora para abrandar de forma positiva o modelo da família tradicional, os valores coletivos e a compreensão do mundo pela visão heterossexual.
De acordo com o STF (2011), Em suma, estamos a lidar com um tipo de dissenso judicial que reflete o fato histórico de que nada incomoda mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
156
preferência já não corresponde ao padrão social da heterossexualidade. É a velha pos-tura de reação conservadora aos que, nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras desse navio chamado coração.
A posição dos ministros revela um histórico de juízo de valor negativo frente às demandas de reconhecimento da conjugalidade homoerótica.
Da mesma forma, revela a ausência de uma linguagem apropriada para tratar das características específicas do choque em torno da questão da violência so-frida, e o contexto jurídico não apresenta um padrão técnico-científico narrativo que considere os reais fatores negativos como forma de argumento a respeito do heterossexismo, que é uma forma mais ampla de discriminação específica de um gênero em relação a outro e que pode ser associada a outras formas de discrimi-nação como o racismo, por exemplo.
A partir da conceituação dada pelo o sociólogo Daniel Welzer Lang, o hete-rossexismo pode ser entendido como: “a discriminação e a opressão baseadas em uma distinção feita a propósito da orientação sexual”. O heterossexismo é a pro-moção incessante, pelas instituições/e ou indivíduos, da superioridade e da su-bordinação simulada da homossexualidade. O toma como dado que todo o mundo é heterossexual, salvo opinião em contrário.
A linguagem metafórica torna poética uma forma severa de violência em torno da construção de papéis no sistema hierárquico da sexualidade e, princi-palmente, na formação do centro da instituição familiar, que se descortina por meio dos saberes em torno do casamento. Da mesma forma, o aspecto político da instituição heterossexual não é revelado, à medida que não surge nos atos de fala a nomeação de onde viria essa reação conservadora, não revelando a identidade de quem se opõe a outras configurações de família, à expressão da sexualidade e de vivência da conjugalidade.
É preciso considerar todo o processo de denúncia das classificações, hierar-quizações e subordinações pelas feministas e, mais recentemente, pelos movi-mentos LGBTs. Na lógica de que nem todo o homem é machista, temos uma abor-dagem que deve considerar a forma de oportunidades e privilégios construídos pela subordinação da sexualidade dentro da realidade de opressão.
A busca de compreensão pelo sentido terminológico do significado de gênero determinou, de forma preliminar, traços iniciais dos processos de classificação. “Gênero”, inicialmente, designava diferenças entre os sexos, e poderia ser com-preendido como um processo de classificação das espécies.
De acordo com Joan Scott (1995: 72), o gênero é compreendido como uma forma de classificar fenômenos, um sistema soci-almente consensual de distinções, uma descrição objetiva de traços inerentes. Além disso, as classificações sugerem uma relação entre as categorias que torna possível dis-tinções ou agrupamentos separados.
De acordo com a autora, nesta classificação a opressão de gênero está vincu-lada ao classismo (diferença de classe), diferencialismo (diferença de raça) e de-terminismo (determinação biológica). Estas formas de distinção apontam para uma maior compreensão das desigualdades, sendo que elas estariam organizadas ao longo destes três eixos.
Conforme se extrai do discurso emanado no STF. Trata-se, portanto, de um laborar normativo no sítio da mais natural diferenciação en-tre as duas tipologias do gênero humano, ou, numa linguagem menos antropológica e mais de lógica formal, trata-se de um laborar normativo no sítio da mais elementar diferenciação entre as duas espécies do gênero humano: a masculina e a feminina. Di-cotomia culturalmente mais elaborada que a do macho e da fêmea, embora ambas as
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
157
modalidades digam respeito ao mesmo reino animal, por oposição aos reinos vegetal e mineral. (STF, 2011)
A forma estruturante de interação que define a homossexualidade como um desvio se dá em um processo de constituição das identidades, de geração a gera-ção, pela instituição familiar. Essa formação se estende, ainda, na escola e na so-ciedade, por meio de um engenhoso processo de identificação, punição e corre-ção. Os atos de fala surgem, e as memórias são reveladas como capital simbólico de argumentação na construção dos raciocínios discursivos.
A centralidade do problema, para os conservadores, reside na tentativa de desarticulação da binariedade heterossexual, gênero. O discurso, na decisão, re-toma esse mecanismo, mesmo não especificando de forma sistemática essa ques-tão. Surgem três questões importantes no discurso conservador: a heterossexua-lidade como política, como instituição e, por meio do discurso jurídico, como forma de construção do Estado Família. Sendo assim, Oliveira e Duque (2013: 147-148), constatam que,
Tais segmentos reivindicando a preservação de determinados valores, frutos de uma perspectiva cristã, tendem a considerar uma série de mudanças ocorridas na sociedade brasileira como uma espécie de ameaça. Nesse sentido, não são poucas as afirmações de que “a família está ameaçada”, “a sociedade vive uma crise de valores”, e que existem segmentos sociais que são “inimigos da moral e dos bons costumes”, portanto, da “fa-mília”. Esta última compreendida como “célula mater”, instituição estabelecida por Deus e, portanto, princípio vital do mundo social. Por isso, qualquer arranjo que fuja ao modelo hegemônico tende a ser rechaçado e combatido.
O conservadorismo jurídico tem origem no processo de classificação das di-versas formas da sexualidade (RIOS, 2009). Essa postura reflete um problema de regulamentação dos papéis sexuais e, da mesma forma, tenta legitimar o modelo heterossexual de casal e de matrimônio para ter acesso a documentos que pro-porcionem validade a outros direitos que emergem dessa relação jurídica. O Es-tado e a Igreja tiveram papel fundamental na construção de um modelo de casa-mento legitimado entre o homem e a mulher, estendendo a formação do Estado pela instituição familiar (CURIEL, 2013), bem como a consagração da missão subliminar por intermédio dos preceitos religiosos. Para Butler (2003) “os pode-res de normalização do Estado se tornam, porém, especialmente claros, quando se considera o quanto a contínua perplexidade sobre o parentesco condiciona e limita os debates sobre casamento”.
Assim, pensar a família dentro de uma dicotomia entre religião e política sob a perspectiva do recorte da identidade implica no retorno das bases da filosofia judaico-cristã, o que torna impossível o avanço do reconhecimento das famílias homoparentais fora do conceito de família constituída pelo homem e a mulher. Ainda assim, a decisão garante que não é possível a imposição de uma hierarquia entre heterossexuais e homossexuais com base nas práticas sexuais.
O quarto marcador discursivo é a religião/crença. Observa-se que, nos dis-cursos do reconhecimento, a explicitação das regras retoma crenças. O discurso enaltecido pelo endogrupo revela pontos de vista, opiniões e formas de como os atores se engajam nos temas abordados. Da mesma forma, observa-se que os dis-cursos estão a revelar essas regras e a colocar em xeque padrão da relação hete-rossexual como único modelo de família existente em diferentes graus de preci-são, contextualizando temporalmente os discursos, mas principalmente com im-plicações não expressas por razões de comunicatividade de sentimentos dos ato-res envolvidos ou por tabus.
Vejamos:
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
158
Por outro lado, o Direito absolutamente submetido à moral prestou serviços à perse-guição e à injustiça, como demonstram episódios da Idade Média, quando uma religião específica capturou o discurso jurídico para se manter hegemônica. Como se sabe, as condenações dos Tribunais da Santa Inquisição eram cumpridas por agentes do pró-prio Estado – que também condenava os homossexuais, acusados de praticar a sodo-mia ou o “pecado nefando” que resultou, para alguns, na destruição divina da cidade de Sodoma, conforme é interpretada a narrativa bíblica. (STF, 2011)
Os atores, na decisão, remontam à trajetória histórica da homossexualidade, retomando crenças religiosas, morais e paradigmas de juízo negativo presentes, de forma contada, através do que se tem noticiado pela mídia, sem historicizar as experiências vividas por homossexuais, furtando-se a detalhes de eventos com-plexos de preconceito e discriminação, demonstrando graus de importância aos níveis de atenuações ou acentuações atribuídas nos significados retóricos. Isso porque é vista por muitos, ainda, como um pecado, uma doença ou um desvio moral, por fugir à normalidade binária heterossexual.
Mas não só, conforme destaca Richard Miskolci, (2007: 109): A sanção estatal das relações entre pessoas do mesmo sexo também traria consigo ou-tras questões para a sociedade e para os próprios gays e lésbicas. Aparentemente, além de enfrentar o estigma da promiscuidade sexual, o casamento gay responderia ao te-mor coletivo da pedofilia. A parceria civil poderia diminuir oestigma de promiscuidade, mas traria à baila a possibilidade de adoção de crianças por casais homoparentais, os quais, mesmo “casados”, não deixam de ser socialmente estigmatizados como possíveis “pedófilos” Historicamente, grupos sociais estigmatizados por sua religião, visão polí-tica ou orientação sexual são socialmente representados como um perigo para as cri-anças. No caso dos judeus, são conhecidas as lendas de que usariam crianças em rituais de sacrifício humano. Também é notória a construção da imagem dos comunistas como “devoradores de criancinhas”. No caso de homens gays, a imagem de perigo os associa à pedofilia.
Os eventos são representados nas crenças, mas são também inseridos no con-texto em que o pânico moral é utilizado como mecanismo de combate aos grupos que deixam transparecer a ameaça. Em seus argumentos, as bases da concepção tradicional de família de forma implícita, trazem à tona o capital simbólico dentro da lógica anatomofisiológica. Os recursos simbólicos são representados por com-plexos sistemas de estigmatização, como aversão fóbica presente na socialização dos indivíduos. O binômio hétero/homo (RIOS, 2009) é um critério distintivo na formação dos indivíduos e na extensão de direitos e benefícios sociais, políticos e econômicos.
O quinto marcador discursivo é a antinaturalidade. Os impactos da lógica di-ferenciadora estão enraizados na construção da homossexualidade como antina-tural. O pressuposto para a determinação de antinaturalidade é que exista um comportamento balizador que sirva de modelo ao natural, em uma visão essenci-alizadora. O período em que a homossexualidade era considerada pecado, e ainda é considerado em muitos países, foi marcada pela punição das relações entre pes-soas do mesmo sexo em meio a um contexto no qual as codificações continham tipos penais puníveis, em que a Igreja influenciava por meio da doutrina judaico-cristã a abominação a essas relações, e em que a ciência ressignificou a antinatu-ralidade das condutas com base no processo higienizador das relações familiares.
Segundo o conjunto de dados em que o discurso foi proferido para o STF (2011),
A aplicação da política de reconhecimento dos direitos dos parceiros homoafetivos é imperiosa, por admitir a diferença entre os indivíduos e trazer para a luz relações pes-soais básicas de um segmento da sociedade que vive parte importantíssima de sua vida na sombra. Ao invés de forçar os homossexuais a viver de modo incompatível com sua personalidade, há que se acolher a existência ordinária de orientações sexuais diversas
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
159
e acolher uma pretensão legítima de que suas relações familiares mereçam o trata-mento que o ordenamento jurídico confere aos atos da vida civil praticados de boa-fé, voluntariamente e sem qualquer potencial de causar dano às partes envolvidas ou a terceiros.
É inegável que a diversidade sexual é muito abrangente em função de todo o conjunto de possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual. A lingua-gem utilizada nos discursos limita-se aos casais homossexuais quando, na ver-dade, deveria problematizar no caso de pessoas de sexo distinto, como é o caso de uma mulher trans constituir família com outra mulher transexual, deixando de ser considerada. Ao se referir à homossexualidade, o discurso demonstra uma carência etimológica e um distanciamento linguístico próprio para se referir à di-versidade sexual.
Pode-se constatar que o discurso em torno da antinaturalidade é estrategica-mente definido com pudor na figura dos estereótipos que são utilizados como ba-lizadores para a percepção de todo e qualquer comportamento que não se enqua-dre no modelo de sexualidade concebido pelos oradores, ou dele tente fugir. A partir do modelo heterossexual de relação, os discursos seguem a linha de tentar definir o que é a homossexualidade. Isso omitindo a diversidade de expressões assumidas por transexuais masculinos e femininos, travestis, transgêneros, que lutam pela liberdade de expressão de suas sexualidades.
Parte-se da premissa de que a homossexualidades é uma experiência social com características, representações e práticas sociais que a tornam distinta das de heterossexuais e a questão ficou por séculos nos guetos, marginalizada como expressão, sexual incompatível com a moral cristalizada e naturalizada no senso comum brasileiro. Da mesma forma, o processo gradativo de visibilização surgiu a partir de um cenário de clandestinidade em que o imaginário coletivo foi cons-truído por meio do terror, da criminalização e do medo a homossexuais.
Há, nos discursos de reconhecimento, uma tentativa de entender o que é a homossexualidade. Essa tentativa revela, por meio do capital simbólico, a lógica dos discursos religiosos, moral e científico, em um misto de antinaturalidade e de categorização revelada na Bíblia e na leitura criacionista. O impacto da lógica di-ferenciadora como de estilo de vida, de escolhas certas e erradas, saudáveis e do-entias, naturais e antinaturais baseado no conjunto de regras impostas tornando determinado comportamento como um desvio.
O sexto marcador discursivo é o familismo. O afeto tem sido reconhecido pela jurisprudência de forma efetiva e abrangente. Na família, como uma forma espe-cífica de amor próprio da conjugalidade e da parentalidade, como definidor de como a instituição familiar foi elaborada, como já referimos, na santificação do matrimônio e na missão sagrada de procriação da espécie humana.
Com base no marcador discursivo, selecionamos a amostra que segue: Daqui se desata a nítida compreensão de que a família é, por natureza ou no plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, cons-tituindo-se, no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualiza-das relações humanas de índole privada. O que a credencia como base da sociedade, pois também a sociedade se deseja assim estável, afetiva, solidária e espiritualmente estruturada (não sendo por outra razão que Rui Barbosa definia a família como “a Pá-tria amplificada”). (STF, 2011)
Ainda que se tente fugir do conceito de família tradicional, esse aparece nos discursos que os papéis são claramente definidos pela proteção do Estado, pelo cuidado indispensável à figura feminina, bancado pela figura do provedor, o que retoma a retórica normatizadora e disciplinadora da família. Ou seja, “observa-se uma verdadeira política de governamentalidade: uma economia política sobre a
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
160
vida e as relações humanas” (OLIVEIRA e DUQUE, 2013: 142). Além disso, novas configurações familiares fora desse padrão discursivo a ser ameaçadoras pela su-posta ausência das figuras principais que configuram o núcleo familiar heteros-sexual binário.
Os discursos, fundados numa leitura religiosa da homossexualidade, enten-dem que lésbicas e gays são livres para estabelecer os vínculos afetivos sexuais que quiserem, mas não teriam o direito de reivindicar a proteção do Estado para relações fundadas nos “apelos da sensualidade”, e não em um “amor verdadeiro” (MELLO, 2005) por meio do casamento.
A solução, com base no discurso homoafetivo, a solução, frente à dificuldade de lidar com a questão do sexo, na tentativa de tirar o estigma envolto sobre a questão do “homossexualismo”6, foi cunhar o termo homoafetivo, o que higieniza a sexualidade envolvida nas relações homoeróticas. Simbolicamente, uma lingua-gem limpa da perversão sexual homossexual que retomaria o amor romântico da família tradicional.
O que revela uma dependência em relação à aprovação social e dos papéis de gênero. Além disso, “no atual cenário das lutas políticas relativas à sexualidade, para grupos religiosos fundamentalistas, o apoio institucional à conjugalidade homossexual deve ser terminantemente negado, por contrariar uma concepção de família fundada na heterossexualidade monogâmica aberta à reprodução que se pretende universal e absoluta” (MELLO, 2006).
Frente a isso, constata-se, no silenciar da lei, a dificuldade para tratar de ter-mos como prostituição, travestilidade, liberdade sexual, sadomasoquismo e por-nografia. Roger Raupp Rios (2014) complementa comparando a decisão a um “Cavalo de Tróia” da conjugalidade romântica heterossexista, uma vez que o pre-cedente judicial não inova ao reconhecer o direito, mas ressignifica o familismo higienizado presente na legislação.
Os discursos, assim, demonstram movimentos de retomada em torno do mo-delo de familismo heterossexual. Os casais homoeróticos são uma possibilidade existente de família. Isso para operacionalizar o conteúdo terminológico que pro-duz um efeito que tende a ter uma conotação negativa, como no caso do termo homoafetividade. Da mesma forma, a utilização do afeto romantizado tem por objetivo maquiar a sexualidade ainda não distante da linguagem jurídica e muito próxima da realidade das tendências de desenvolvimento dos direitos sexuais. Por outro lado, Rios (2001) apresenta a tendência de tensão entre as perspectivas universalistas e particularistas, tão presentes no discurso em análise, da luta por direitos específicos e de minorias sexuais.
Se, por um lado, há as especificidades da tutela do amor romântico, nos dis-cursos, por outro, há o encobrimento da sexualidade no raciocínio jurídico con-servador. As ideologias envolvidas em torno do abstencionismo de tratar do tema famílias homoparentais estão relacionadas, historicamente, ao modelo nuclear de família.
6 Em 1974, a American Psychiatric Association retirou o termo “homossexualismo” da lista de doenças e promoveu uma revisão do conceito, que vinha sendo empregado e rebatizado como distúrbio mental. Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS) o inseriu no capítulo dos sintomas decorrentes de circunstâncias sociais, abandonando a ideia da homos-sexualidade como doença. A 10ª revisão da CID-10, em 1995, inseriu o termo entre os transtornos psicológicos e de com-portamento associados ao desenvolvimento de orientação sexual (F66), mas, no entanto, essa condição não pode ser, por si só, considerada um transtorno. No começo de 1995, a homossexualidade já não era considerada uma doença pelo Con-selho Federal de Medicina. O entendimento foi utilizado a partir de 2004, no programa do Governo Federal denominado "Brasil sem Homofobia". Segundo Trevisan (2007), em 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) editou a resolução CFP nº 001/99, de 22 de março de 1999, que estabelece as normas de atuação para os psicólogos em relação à orientação sexual. A partir dessa data, não era mais adequado referir-se ao grupo de homossexuais com o termo “homossexualismo”, que designa doença, bem como se proibiu qualquer tentativa de tratamento psicológico para a sua cura.
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
161
Não se trata apenas de um ingênuo esquecimento do legislador, e sim de uma política da sexualidade heterossexual hegemônica. Termos como identidade de gênero ou orientação sexual são vetados nos debates no Congresso Nacional. Não por acaso, após a decisão foi votado e aprovado o Estatuto da Família que retoma a forma literal da lei prevista na Constituição Federal.
Em 2013, houve um debate, na Câmara dos Deputados, sobre um projeto pro-tocolado pelo deputado Pastor Eurico (PSB-PE), que buscava derrubar a Resolu-ção de 1999 do Conselho de Psicologia, que proíbe tratamentos destinados a “re-verter a homossexualidade”, a chamada “cura gay”. O argumento para a derru-bada da resolução do Conselho de Psicologia acionava o capital simbólico do dis-curso religioso, argumentando que inexistem bases científicas para explicar a ho-mossexualidade; desconsiderando os estudos da psicologia que referem o contrá-rio.
Em outras palavras, segundo Luiz Mello (2005: 201), “as lutas em torno do reconhecimento social e jurídico da dimensão familiar das uniões homossexuais estão constitutivamente associadas à afirmação/negação do mito da complemen-taridade dos sexos e dos gêneros”, o que reduz à binariedade homem-mulher a competência moral e social de desempenhar as funções atribuídas à instituição familiar.
Há também, entretanto, o discurso liberal de reconhecimento (MECCIA, 2010) que serve de aporte para entender os avanços que existem em torno do reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Trata-se de um dis-curso que tende a adaptar a moral comunitária à concessão de permissão ao in-divíduo – o que revela, por um lado, um problema e, por outro, vai ao encontro da questão da liberdade do indivíduo.
É o mesmo que dizer que a decisão aprisiona pessoas do mesmo sexo a se enquadrar no modelo de casamento heterossexual e é o que define Roger Raupp Rios (2001) ao afirmar que essa modalidade de discurso judicial se caracteriza pela conjunção de duas modalidades de ideologia: o assimilacionismo e o fami-lismo.
Conclusão Até a decisão se considerava normal o entendimento de que casamento era
entre homem e mulher. A lei fala exatamente isso. Isso em um cenário em que o legislador continua negando direitos as relações homoeróticas ao não legislar a respeito. Até que ponto se permite a intervenção na questão da sexualidade ho-mossexual sendo que é a sociedade que está em questão?
O reconhecimento equiparado tem impacto direto na construção da identi-dade dentro das diferentes culturas LGBTs. De forma inédita, a heterossexuali-dade entrou nos debates jurídicos dando sentido à existência da homossexuali-dade como de fato um debate democrático da família. O que se questiona, a partir daí, são os polos em que se encontram uma ou outra. Se a heterossexualidade é o vértice em cujo entorno estão todos os outros núcleos familiares, se está diante de um sistema hegemônico.
O que se interroga é a heterossexualidade estar associada a um padrão nor-mal que serve como modelo para equiparação, nesse caso, não há abertura sufi-ciente para um avanço efetivo no panorama dos direitos sexuais. Como contem-plar juridicamente outros modelos de parentalidade e conjugalidade que ainda não foram considerados na decisão como família de amigos cujo vínculo não passa pela atividade sexual.
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
162
Razoável que se espere capacidade interpretativa no sentido de que a impo-sição de um único padrão sexual não é compatível com princípios democráticos de um Estado de Direito. Para que haja verdadeiros avanços com relação à família não se deve imaginar que seja possível não reconhecer outras formas tanto de relação como de organização social dentro de sua própria identidade fazendo com que padrões de conduta estigmatizados sejam amplamente debatidos e respeita-dos em suas características e em seus direitos fundamentais.
Recebido em 2 de maio de 2019. Aceito em 10 de fevereiro de 2020.
Referências
BECKER, Howard S. Outsiders. Estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Centro Grá-fico Senado Federal, 1988.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277. Decisão Distrito Federal: STF, 5 maio 2011. Disponível em: <redir.stf.jus.br/pa-ginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID...>. Acesso em: 6 jun. 2014.
BUNCHAFT, Maria Eugenia; CRISTIANETTI, Jéssica. O julgamento da ADI 4277 no STF: uma crítica ao binarismo sexual à luz do debate Fraser-Honneth. Revista Direito e Liberade, 18 (2): 51-84, 2016.
BUTLER, Judith. “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’”. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
BUTLER, Judith. O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cadernos Pagu, 21: 219–260, 2003.
CORREAS, Oscar. Introdução à Sociologia Jurídica. Trad. Carlos Souza Coelho. Porto Alegre: Crítica Jurídica, 1996.
COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Edi-ções Graal, 1999.
CURIEL, Ochy. La nación heterosexual: análisis del discurso jurídico y el régi-men heterosexual desde la antropología de la dominación. Bogotá: Brecha Lés-bica y en la frontera, 2013.
DIJK, Teun A. van. Discurso e poder. São Paulo: Contexto, 2012.
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Editora da UnB, 2001
VIJ
AL
ES
, F
ab
rici
o M
arc
elo
.
AD
I 4
27
7-
DF
: T
en
dê
nc
ias
dis
cu
rs
iva
s
163
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. Vol. 1. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.
FRASER, Nancy. Reconhecimento sem Ética? Revista Lua Nova, 70: 101-138, 2007.
FRY, Peter. “Da hierarquia à igualdade: a construção histórica da homossexuali-dade no Brasil”. In: FRY, Peter. Para Inglês ver: identidade e política na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. pp. 87–115.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Tradução Alessandra Figueireto et al. 4a. ed. Lis-boa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
GOFFMAN, Evering. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteri-orada. Tradução Márcia bandeira de mello Leite Nunes. Rio de Janeiro: Guana-bara, 1988.
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Edições 34, 2014.
HONNETH, Axel. “Redistribution as Recognition: a Response to Nancy Fraser”. In: FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition. Londres: Verso, 2003.
MACHADO, João Baptista. Introdução ao direito e ao discurso legitimador. Coimbra: Almedina, 1991.
MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
MECCIA, Ernesto. Los peregrinos a la ley. Una tipología de discursos sobre ex-pertos, jueces y legisladores en torno a las demandas LGTB y al matrimonio igua-litario. In: Matrimonio igualitario. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas. Buenos Aires: Eudeba, 2010.
MELLO, Luiz. Different families: the social construction of homosexual conjugal-ity in Brazil. Cadernos Pagu, 24: 197–225, 2005.
MELLO, Luiz. Familismo (anti) homossexual e regulação da cidadania no Brasil. Estudos Feministas, 14 (2): 497-508, 2006.
MISKOLCI, Richard. Moral panics and social control: reflections about gay mar-riage. Cadernos Pagu, 28: 101–128, 2007.
NUERNBERG, Adriano Henrique. Uma análise crítica do direito à diferença. Es-tudos Feministas, 9 (1): 299–300, 2001.
OLIVEIRA, E. A. de. Políticas do Corpo, políticas da vida: Uma Análise sobre o Estatuto da família no Brasil. Ñanduty, 4: 132–153, 2013.
PARISOTTO, L. Diferenças de gênero no desenvolvimento sexual: integração dos paradigmas biológicos, psicanalítico e evolucionista. Revista de Psiquiatria, 25 (1): 75-87, 2003.
RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. Porto Alegre: Esmafe, 2001.
RIOS, Roger Raupp. “Homofobia na perspectiva dos direitos humanos e no con-texto dos estudos sobre preconceito e discriminação”. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade Sexual na Educação: problematização sobre a homo-fobia nas escolas. Brasília: Unesco, 2009. pp. 53-83.
AC
EN
O,
7 (
13):
14
5-1
64
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
164
RIOS, Roger Raupp. “Direitos sexuais, uniões homossexuais e a decisão do Su-premo Tribunal Federal (ADPF nº 132 - RJ e ADI 4.277)”. In: RIOS, Roger Raupp; GOLIN, Célio; LEIVAS, Paulo Gilberto Logo (orgs.). Homossexualidade e Direi-tos Sexuais: Reflexões a partir da decisão do STF. Porto Alegre: Sulina, 2011. pp. 69-113.
RIOS, Roger Raupp; OLIVEIRA, Rosa Maria Rodrigues de. “Direitos sexuais e heterossexismo: identidades sexuais discursos judiciais no Brasil”. In: MIS-KOLCI, Richard; PELÚCIO, Larissa (orgs.). Discursos fora de ordem: sexuali-dade, saberes e direitos. São Paulo: Annablume, 2012.
RIOS, Roger Raupp. “A criminalização e a representação midiática da homofobia: relações com a trajetória dos direitos sexuais no Brasil”. In: SEFFNER, Fernando; CAETANO, Marcio (orgs.). Cenas latino-americanas da diversidade sexual e de gênero: Práticas, pedagogias e políticas públicas. Rio Grande: Ed. da FURG, 2015. pp. 73-96.
SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, 20 (2) : 71-99, 1995.
VELHO, Gilberto. Desvio e divergência: uma crítica da patologia social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
WODAK, R. Do que trata a ACD: um resumo de sua história, conceitos importan-tes e seus desenvolvimentos. Linguagem em (Dis)curso, 24 (ESPECIAL): 223-243, 2004.
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l. S
aú
de
e t
ra
ns
ex
ua
lid
ad
e e
ntr
e d
isp
os
itiv
os
e t
ec
no
log
ias
do
g
ên
er
o.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Cen
tro
-Oes
te,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Saúde e transexualidade entre dispositivos e tecnologias do gênero
Pablo Cardozo Rocon1 Universidade Federal de Mato Grosso
Alexsandro Rodrigues2 Universidade Federal do Espírito Santo
Francis Sodré3 Universidade Federal do Espírito Santo
Maria Elizabeth Barros De Barros4 Universidade Federal do Espírito Santo
Izabel Rizzi Mação5 Universidade Federal do Espírito Santo
Resumo: A partir do diálogo com Michel Foucault, Judith Butler e Paul Preciado, analisamos que o processo de diagnóstico como requisito para o acesso ao processo transexualizador opera segundo os princípios de um racismo do Estado, realizando um corte entre pessoas que terão acesso aos procedimentos do processo transexua-lizador e aquelas que estarão desamparadas por aquele programa, operando como dispositivo que produz parte da população usuária como vida indigna de ser vivida, não passível de luto.
Palavras-chave: acesso; gênero; transexualidade; processo transexualizador; sa-úde.
1 Docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Mestre em Saúde Coletiva e Doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Contato: 2 Docente do Departamento de Teorias e Práticas Educacionais e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e Pós-Doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. 3 Docente do Departamento de Serviço social e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 4 Docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio pós-doutoral em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. 5 Mestra em História e Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo.
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
166
Health and transsexuality between devices and technologies of the gender
Abstract: From the dialogue with Michel Foucault, Judith Butler and Paul Preci-ado, we analyze that the diagnostic as a requisite for access to the Brazilian’s transgender health care services operates according to the principles of State racism, separating the people who will have access to the procedures of the transexualizador process and those that will be abandoned by this program, operating as a device that produces part of the user population as life unworthy to be lived, not amenable to mourning.
Keywords: access; gender; transsexuality; Brazilian’s transgender health care ser-vices; health.
Salud y transexualidad entre dispositivos y tecnologías de género
Resumen: A partir del diálogo con Michel Foucault, Judith Butler y Paul Preciado, analizamos que el proceso de diagnóstico como requisito para acceder al proceso de transexualización opera de acuerdo con los principios de un racismo estatal, ha-ciendo un corte entre las personas que tendrán acceso y aquellos que estarán inde-fensos por ese programa, operando como un dispositivo que produce parte de la po-blación de usuarios como una vida indigna de vivir, no susceptible de luto.
Palabras clave: acceso; género; transexualidad; proceso de transexualización; sa-lud.
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
167
s políticas de saúde são importantes estratégias de gestão da vida, gerenci-ando-a desde seu nível biológico, celular, fisiológico, anatômico até os pro-cessos macrossociais de reprodução das suas condições no nível da popu-
lação, através, por exemplo, da higiene pública, da epidemiologia, do saneamento e da medicalização. Seu amplo espectro de ação se dá por seu engendramento com as estratégias de governo da vida. Tais estratégias emergiram em conjunto com o advento da medicina social nos Estados modernos e inseriram no funcio-namento dos mecanismos de poder os corpos com seus órgãos, sistemas, tecidos, células, moléculas. É pelo atravessamento do corpo que o governo começa a ges-tar a vida; é, incialmente, sobre corpos humanos, animais, vegetais, entre outros, que ele efetiva seu exercício. A finitude e o prolongamento da vida tornaram-se, deste modo, questões do poder. Isto é, vida e morte não são simplesmente fenô-menos naturais, exteriores ao campo político, mas estão vinculados à biopolítica, ao direito e ao poder. Nesse contexto, o poder encarrega-se da vida, da morte e de sua gestão pela atuação das mais variadas intervenções, mediadas por ações estatais sobre os corpos, entre elas, as políticas de saúde (FOUCAULT, 2010a; 2014a; 2014b).
Contudo, nem todos os corpos receberão essas intervenções de proteção e prolongamento da vida. Certos corpos serão alvo de um investimento de morte, para parar seus sistemas, órgãos, tecidos e células. É justamente nesses corpos, materializadores de vidas não reconhecidas, que não são alvo de intervenção das políticas de saúde, que a biopolítica exercerá um poder de assassino. Sob a égide de proteger a espécie contra seus perigos internos, de agir em defesa da sociedade e “fazer viver”, o poder autoriza a morte de alguns em nome da suposta proteção de outros (FOUCAULT, 2010a). Segundo Judith Butler (2016: 17), existirão “ ‘su-jeitos’ que são exatamente reconhecíveis como sujeitos e há ‘vidas’ que dificil-mente – ou, melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas”.
Mas como são produzidas vidas dignas e indignas de luto? Como podem as (bio) políticas de saúde, que tomam os corpos cotidianamente em seus mecanis-mos de ação, pondo-se a proteger e prolongar a vida, proteger alguns corpos em detrimento dos outros? Para responder essas questões é preciso, em primeiro lu-gar, fazer reverberar Butler (2016) e afirmar que todas as vidas são precárias. Para a autora, todas as vidas carecem de elementos externos que ofereçam suporte para sua existência. No entanto, existem vidas que estão, nesse sentido, mais de-fasadas em relação a outras. Isto é, todas as vidas são precárias, mas existem aquelas cuja condição de precariedade é minimizada pelas intervenções do Es-tado, através de políticas como a de saúde, e há as outras.
Em sua genealogia do poder e através do uso do conceito de “racismo de Es-tado”, Michel Foucault (2014b) afirmou que o funcionamento dos Estados mo-dernos comporta um poder de matar ou deixar morrer os corpos/vidas da popu-lação. Com o racismo de Estado, produzem-se grupos que são considerados como ameaças à vida e à segurança da espécie. As possibilidades de vida desses grupos tendem, assim, a ser dirimidas, frequentemente regulamentadas pela sociedade
A
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
168
normalizada de governamentalidade e regida pela triangulação soberania-disci-plina-gestão governamental sobre a população (FOUCAULT, 2014b). O exercício do biopoder conjuga, em sua atuação, as práticas disciplinares sobre o corpo e a regulamentação biopolítica da vida, promovendo uma acomodação sobre os fe-nômenos próprios de uma multiplicidade de indivíduos – seus processos de re-produção, nascimento, mortalidade, epidemiologia (FOUCAULT, 2010a). A po-pulação, conceito que aparece na modernidade e após a explosão demográfica na Europa, compõe um “corpo com várias cabeças”, múltiplas existências que, de um ponto de vista do poder, se não são totalmente apreensíveis são, ao menos esta-tisticamente, previsíveis. É nesse corpo, individualizado em sua unidade e, igual-mente, coletivizado na população, que vão incidir tanto as tecnologias estatais de gestão da vida, quanto os mecanismos biopolíticos do poder soberano, ou seja, do poder de fazer morrer. É através dos racismos de Estado que o biopoder pode exercer o direito de exigir a morte ou de fazer morrer (FOUCAULT, 2010a), espe-cialmente quando seu acesso aos corpos se dá em nome da proteção da vida e da saúde da população, da profilaxia e do tratamento contra seus riscos internos (FOUCAULT, 2013b).
É possível dizer que a condição universal de precariedade da vida, conforme apontada por Butler (2016), torna aceitável a ação, sobre todos os corpos, de um poder de “fazer viver” em termos foucaultianos, mesmo que isso se dê em detri-mento de algumas vidas. Sobre essa questão, a autora aponta o seguinte:
A condição precária também caracteriza a condição politicamente induzida de maxi-mização da precariedade para populações expostas à violência arbitrária do Estado que com frequência não tem opção a não ser recorrer ao próprio Estado contra o qual pre-cisam de proteção. (BUTLER, 2016: 46-47)
Há um paradoxo inevitável nessa condição, qual seja, a busca de todos os cor-pos sob a condição de precariedade pelas biopolíticas de um Estado Racista-Pro-vedor, em função, justamente, da redução dessa mesma condição. O Estado que mata, ainda que ‘sem sujar as próprias mãos’ pelas mãos de suas populações, é o mesmo capaz de prover diversos aportes que possibilitam o prolongamento e a sustentação das vidas. Nesse paradoxo, há produção de desigualdade e maximi-zações das condições de precariedade para algumas vidas na população, de modo que essas tornam-se mais expostas à precariedade que as outras (BUTLER, 2016).
Michel Foucault e Judith Butler se encontram, nesse contexto cujo pano de fundo é uma sociedade normalizada pelo biopoder, ao proporem a asserção de que existem vidas que são reconhecidas à proteção e vidas que, ao contrário, são deixadas para morrer. Segundo Foucault (2010a), na realidade biopolítica, os ra-cismos atuam permitindo a eliminação de determinadas vidas, consideradas como perigos para a boa saúde da população. Para Butler (2016: 117), é a atuação dessas mesmas normas de gestão biopolítica que tornam o termo humano “cons-tantemente duplicado, expondo a idealidade e o caráter coercitivo da norma: al-guns humanos podem ser qualificados como humanos; outros, não”.
É no contexto biopolítico de assentamento dos poderes sobre os fenômenos da vida, que emergem as políticas e programas de saúde, a medicalização das po-pulações e a medicina enquanto profissão e política pública, ou seja, como estra-tégia de gestão governamental. Esses são todos componentes da Saúde Pública moderna, cujas bases remontam à ascensão da uma medicina social (FOU-CAULT, 2014b). Dito isto, é preciso deixar exposto, fazendo eco ao que dizem os autores, que a política de saúde está inserida nesse exercício de abandono e morte de determinadas populações, agregando-se, de certa forma, ao paradoxal Estado Racista-Provedor. Mas o que faz com que vidas sejam abandonadas ou mortas
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
169
com essa aparente naturalidade? Como se generaliza e se maximiza, desigual-mente, a condição de precariedade das vidas?
O século XVIII não comportou apenas a emergência e a acomodação da so-berania nos processos de governamentalidade da vida. Nesse período, a noção de segurança também foi alterada. O perigo, que outrora havia sido vislumbrado para além dos muros e fronteiras – as guerras eram travadas em relação aos de fora, aos inimigos externos – passa a ser visto, no contexto dos Estados moder-nos, entre os habitantes do próprio território – o inimigo passa a estar entre nós. O perigo não está mais localizado apenas na figura do estrangeiro, mas também entre os cidadãos da nação. No entanto, não são todos: esse poder assassínio des-tina-se àqueles que são classificados como “ameaças” pela justiça e pela medicina. Assim, eliminar esses supostos grupos de risco torna-se tarefa do Estado, que o faz ou permite que seja feito, em nome da segurança e proteção das populações e através da atuação de dispositivos racistas, como o dispositivo da segurança (FOUCAULT, 2008; FOUCAULT, 2010a). Segundo Caponi (2014: 754):
Se o dispositivo de segurança pode se articular com o modo liberal de governar, é por-que este tipo de gestão biopolítica das populações se baseia na confiança absoluta, na difusão de informações que se apresentam neutras e objetivas, e que sutilmente somos levados a aceitar e a integrar a nossas vidas.
Parece haver consenso generalizado em relação à carência de ações estatais sobre as populações, onde, dada a condição universal de precariedade, aceita-se a atuação de saberes e poderes e a tomada dos corpos vivos enquanto instâncias passíveis de modulação, manutenção, prolongamento e proteção. As ciências bi-omédicas e jurídicas são exemplos de instâncias de poder/saber constituídas a partir de importantes edificações e pressupostos sobre os corpos, vidas, gêneros e sexualidades. Essas instâncias, por sua vez, foram pautadas na noção de risco e classificaram os corpos como passíveis de prevenção, necessários de serem admi-nistrados ou eliminados via medicalização. Caponi (2009: 532) aponta que:
Os estudos e as estratégias eugênicas são o que melhor define as características dessa biopolítica da população que, ao mesmo tempo em que se propõe o melhoramento da raça e da espécie, parece precisar da construção de corpos sem direitos que se configu-ram como simples vida nua, vida que se mantém nas margens das relações de poder, vida que pode ser submetida e até aniquilada.
A sociedade biopolítica, que tomou a vida e a apreendeu em seus mecanismos de gestão governamental sob uma promessa de protegê-la de sua própria preca-riedade, exacerbada em uma noção de risco, é a mesma que, através do disposi-tivo da segurança e do racismo de Estado, busca “eliminar, não os adversários, mas os perigos, em relação à população e para a população” (PELBART, 2009: 59). O biopoder, portanto, insere os corpos numa “gestão política, seja para seu melhoramento ou maximização, seja para sua supressão ou aniquilamento” (CA-PONI, 2009: 535). A supressão ou o aniquilamento serão possíveis via racismos, pois “o racismo é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade nor-malizada” (FOUCAULT, 2010a: 215). Trata-se de um dispositivo de poder que não elimina apenas o corpo físico-biológico, mas também o lamento por sua morte. Em nome da segurança e da prevenção do risco, produz-se a indiferença ou o desejo pela morte de determinados grupos, apresentada como condição sine qua non de proteção da vida. Segundo Butler (2016: 45), formas “de racismo ins-tituídas e ativas no nível da percepção tendem a produzir versões icônicas de po-pulações que são eminentemente lamentáveis e de outras cuja perda não é perda, e que não é passível de luto”.
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
170
Nesse cenário, em que o Estado via biopoder regulamenta as vidas e atua em comunhão com o exercício dos racismos, é que se organizam os serviços de saúde, em meio a produção do hospital como clínica (lugar para curar e produzir saberes e verdades), e da reforma da medicina em sua prática profissional. Produziu-se a preocupação em desnudar os corpos em nível anatômico, em quantificar, obser-var e discriminar os processos patológicos; enquadrando, classificando e norma-lizando o que foi conceituado, pela medicina, como um conjunto ou série de sinais e sintomas de doenças. Edifica-se, sob esses processos, um conceito de “normal”, isto é, uma norma que corresponderia ao estágio de plena estabilidade anatômica e fisiológica, de homeostase e de saúde (FOUCAULT, 2013c; CANGUILHEM, 2012). Fortes (2008: 200), ao tratar da reforma do hospital e da medicina en-quanto profissão/saber, aponta para o seguinte fato:
Cientificamente há uma fundamentação cada vez maior no estudo da anatomia hu-mana, sendo que a prática clínica vai se caracterizando por uma medicina classificató-ria das espécies patológicas. Institucionalmente surge o hospital, que até então estava dedicado ao pobre e à preparação da morte; a partir desse período torna-se o local pri-vilegiado de exercício da medicina, cumprindo duas funções diferenciadas, mas inde-pendentes: cura e ensino.
No decorrer do século XVIII, a medicina se elaborou como uma ciência do “homem normal”. Há, portanto, uma associação entre o conceito de saúde e o de normalidade, que se desdobra numa relação direta entre anomalia e patologia, sendo essa definida enquanto desvio social. A patologia é entendida, desta forma, como “uma variação biológica de valor negativo e, consequentemente, como algo que deve sofrer uma intervenção curativo-terapêutica” (CAPONI, 2009: 535). As-sim, tratar uma doença seria um processo para resgatar a norma, um procedi-mento de gestão dicotômica entre o normal e o patológico (CANGUILHEM, 2012). Caponi (2009: 534) aponta o conceito de “norma” como central para a compreensão das estratégias biopolíticas, na medida em que “a característica que define o biopoder é a importância crescente da norma, a obsessão por demarcar fronteiras entre normalidade e desvio”.
O dispositivo da segurança, por sua vez, introduz a noção de risco nos serviços de saúde, de modo que já “não se trata de curar, mas de antecipar, de prevenir. Para isso serão criadas estratégias de controle da sexualidade e da reprodução, estratégias que tem como alvo a grande família dos anormais” (CAPONI, 2009: 540). Os anormais são essas vidas “que devem ser excluídas e evitadas com o ob-jetivo de proteger a sociedade de uma progressiva, mas segura, degradação” (CA-PONI, 2009: 544). Eles figuram como risco, como ameaça às vidas reconhecida-mente humanas e à população como um todo. Aos anormais serão destinadas po-líticas de extermínio, na medida em que esses são apresentados como entraves ao progresso político-econômico dos Estados e da humanidade.
É nesse cenário, de combate e prevenção à degeneração e ao risco que as ano-malias representam à humanidade, que o racismo penetra as políticas e práticas em saúde, e ele o faz por meio de um racismo contra os anormais (FOUCAULT, 2010b). Isso implica um exercício desigual de distribuição dos insumos, serviços, tratamentos, medicamentos, entre outros elementos, limitando o acesso aos ser-viços e delimitando as bioidentidades – “o predomínio da dimensão corporal na constituição identitárias permite falar numa bioidentidade” (PELBART, 2016: 4).
Essas bioidentidades serão atendidas através da formulação de programas e po-líticas de intervenção que, por sua vez, serão pautados por normas hegemônicas acerca da raça, do gênero, da sexualidade e da classe social. Tais normas balizarão
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
171
o reconhecimento de vidas plenas da condição de humanidade que, portanto, re-ceberão os cuidados em saúde requeridos, em detrimento de outras vidas, que podem ser deixadas para morrer e “cuja perda não é lamentada porque ela nunca foi vivida, isto é, nunca contou de verdade como vida” (BUTLER, 2016: 64).
Gênero e sexualidade na governamentalidade da vida
A análise sobre gênero e sexualidade, nas estratégias de controle e normali-
zação da vida, será realizada através da discussão proposta por Paul Preciado (2008) na publicação Testo Yonqui. Seguindo por essa direção, faremos uma di-visão da discussão na tentativa de didatizar a leitura. Tomaremos como objeto de análise dois momentos capitalísticos que encontramos na leitura do autor, a sa-ber: a Era Industrial e a Era Famarcopornográfica.
Gênero, sexualidade no Capitalismo Industrial
O controle disciplinar e a criação de corpos dóceis estão incontestavelmente ligados ao surgimento do capitalismo. (...). Sem a inserção dos indivíduos disciplinados no apa-relho de produção, as novas demandas do capitalismo teriam sido impedidas. Parale-lamente, o capitalismo teria sido impossível sem a fixação, o controle e a distribuição racional da população em larga escala. (DREYFUS e RABINOW, 2013: 178-179)
Foucault (2013a; 2013b) nos apresenta à importância que tiveram os meca-nismos disciplinares ao preparar os corpos para a fábrica. Foi preciso fabricar os corpos que fabricariam na fábrica. Para que se extraísse valor do trabalho em ato, do trabalho vivo, do trabalho como única fonte de valor, foi preciso domesticar esse corpo produtor de valor, ou melhor, esse corpo cuja energia vital, ao ser ca-nalizada na produção fabril, tornava-se valor. Tal processo supôs, num primeiro momento, disciplinar, treinar habilidades, ampliar as forças econômicas de tais corpos, e se deu em detrimento da redução das forças políticas de resistência, do controle dos orgasmos, da excitação, do sexo e de todas as outras formas de uso da energia vital que não fossem canalizadas para a produção de mercadoria/va-lor/fabril. Segundo Sampaio (2006: 32), “própria da primeira fase do modo de produção capitalista, a disciplina prepara o solo e o poder aplica suas técnicas no corpo, que deverá ser organizado, majorando sua força útil, mas com custo redu-zido”.
Nessa fase capitalística, gênero e sexualidade são produzidos enquanto nor-mas e a partir de dispositivos de poder, transformando-se em elementos impor-tantes para o controle dos corpos individuais e das populações. Tais normas são conferidoras de inteligibilidade sobre o gênero e a sexualidade, estando direta-mente relacionadas com a maximização ou minimização da condição de precari-edade das vidas. Isso porque a humanidade dos corpos, como afirmou Bento (2006), é compreendida a partir de uma divisão binária entre corpos-homens e corpos-mulheres. Esses corpos, impregnados por uma relação dicotômica, tende-rão a uma complementariedade estabelecida através da heterossexualidade com-pulsória, conforme foi pontuado por Butler (2014). O gênero em sua estrutura binária, para a qual homem e mulher são conceitos irredutíveis um ao outro, pode ser compreendido como uma invenção moderna. Até tal invenção, o corpo era lido num regime de sexo único, nominado isomorfismo, no qual:
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
172
a vagina era vista como um pênis invertido. O útero era o escroto feminino; os ovários, os testículos; a vulva, um prepúcio e a vagina, um pênis invertido. A mulher era fisio-logicamente um homem invertido que carregava dentro de si tudo o que o homem tra-zia exposto. (BENTO, 2008: 21)
No modelo do sexo único, o corpo era classificado “conforme um grau de per-feição metafísica, conforme seu calor vital, ao longo de um eixo cuja causa final era o masculino. [...] O corpo é representado em termos de continuidade e dife-rença, em termos de grau” (BENTO, 2006: 117). Por não ter sido marcado e selado em um poder/saber capaz da naturalização das diferenciações entre corpos-ho-mens e corpos-mulheres, como, por exemplo, a biomedicina, o corpo se apresen-tava como fluído e ilustrativo, “registrava e absorvia qualquer número de mudan-ças nos eixos e aparições de diferenças” (LAQUEUR, 2001: 75).
No entanto, o advento do capitalismo industrial exigiu a fabricação de um outro corpo, que pudesse ser melhor controlado, sujeitado e treinado pelo dispo-sitivo disciplinar. Assim, o poder/saber biomédico, através especialmente da lin-guagem científica, investiu na estabilização dos corpos, criando bioidentidades. As linguagens da ciência, nesse contexto, afirmam-se como “uma das mais refi-nadas tecnologias de produção de corpos sexuados, à medida que realiza o ato de nomear, batizar, de dar vida, como se estivesse realizando uma tarefa descritiva, neutra, naturalizando-se” (BENTO, 2006: 116). Desta forma, é possível concluir que “a ciência não investiga simplesmente, ela própria cria a diferença entre ho-mens e mulheres” (LAQUEUR, 2001: 28). Bento (2006: 116), a partir de seus di-álogos com Laqueur (2001), conclui o seguinte:
Os estudos históricos de Laqueur tiveram como objetivo apontar que o sexo no isomor-fismo era um fundamento inseguro para posicionar os sujeitos na ordem social e que as mudanças corpóreas podiam fazer o corpo passar facilmente de uma categoria jurí-dica (feminina) para outra (masculina).
Mas, por que tanta preocupação com o sexo? Qual a importância desse ele-mento nas reconfigurações do poder e do governo da vida? Foucault (2014a: 27) aponta que a grande importância dada ao sexo nos processos do poder e gestão das vidas acontece, tendo em vista que “o sexo se situa na junção das disciplinas do corpo e do controle das populações”.
Gênero e sexualidade no Capitalismo Farmacopornográfico
Capitalismo Farmacopornista é um conceito, ou categoria teórica de análise,
se assim preferirmos, cunhado por Paul Preciado (2008). A partir de seu uso, o autor insere gênero e sexualidade nas análises acerca dos circuitos de produção de valor do capitalismo contemporâneo. Segundo o autor:
A aparição de um regime pós-industrial, global e midiático o qual chamarei a partir de agora, tomando como referência os processos de governo biomolecular (fármaco-) e semiótico-técnico (-pornô) da subjetividade sexual, dos quais a pílula e a Playboy são paradigmáticos, “farmacopornográfico” [...] Durante o século XX, período no qual se leva a cabo a materialização farmacopornográfica, a psicologia, a sexologia, a endocri-nologia estabeleceram sua autoridade material transformando os conceitos de psi-quismo, de libido, de consciência, de feminilidade e masculinidade, de heterossexuali-dade e homossexualidade em realidades tangíveis, em substâncias químicas, em molé-culas comercializáveis, em corpos, em biótipos humanos, em bens de troca geridos pe-las multinacionais farmacêuticas. (PRECIADO, 2008: 33, tradução livre)
Estamos diante de um capitalismo cuja organização não se limita, simples-mente, a disciplinar para canalizar e explorar a força vital, transformando-a em
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
173
valor, mas, que penetra o corpo por moléculas, enzimas, géis, próteses. Atraves-sando os limites da pele, ele produz força vital, excitação, atenção, alívio, alegria, desejo, orgasmo, feminilidade, masculinidade e tantos outros novos objetos de troca, venda e comercialização do capitalismo contemporâneo. Nessa direção, Preciado (2008) nos propõe pensar o sexo e o gênero não mais como identidades a serem formatadas e normalizadas por um dispositivo disciplinar, por conjuntos de mecanismos e normas aparentemente externos ao corpo – das quais deriva-ram as subjetividades que vimos em formação no Capitalismo Industrial – pois o capitalismo atual fala em tecnogêneros e tecnosexualidades, em uma ampla gama de possíveis do corpo humano, que é cada vez menos animal ou biológico e cada vez mais Hi-Tech, artificial e pós-industrial.
Preciado, contudo, não afirma que os dispositivos disciplinares e biopolíticos desapareceram. Eles permanecem atuando em conjunto com esses novos meca-nismos de produção e gestão da vida. A partir dessa afirmação, o autor nos conduz por uma leitura sexopolítica das relações de gênero e sexualidade, investigando os dispositivos contemporâneos de governamentalidade da vida e levando em conta as tecnologias envolvidas na produção e gestão de uma tecnovida. Assim, o autor afirma:
Ousemos a hipótese: as verdadeiras matérias primas do processo produtivo atual são a excitação, a ereção, a ejaculação, o prazer e o sentimento de auto complacência e de controle onipresente. O verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle farmaco-pornográfico da subjetividade, cujos produtos são a serotonina, a testosterona, os an-tiácidos, a cortisona, os antibióticos, o estradiol, o álcool e o tabaco, a morfina, a insu-lina, a cocaína, o citrato de sidenofil (Viagra) e todo aquele complexo material-virtual que pode ajudar a produção de estados mentais e psicossomáticos de excitação, rela-xamento e descarga, de onipotência e de total controle. Aqui, inclusive o dinheiro se torna um significante abstrato psicotrópico. O corpo adicto e sexual, o sexo e todos os seus derivados semiótico-técnicos são hoje o principal recurso do capitalismo pós-for-dista. Se a era dominada pela economia do automóvel se denominou “fordismo”, chamaremos “farmacopornismo” a esta nova economia dominada pela indústria da pí-lula, pela lógica masturbatória e pela cadeia de excitação-frustração na qual esta se apoia. (PRECIADO, 2008: 37-38, tradução livre)
Esse novo capitalismo farmacopornográfico constitui-se, para Preciado
(2008), a partir de dois pilares de sustentação que tomam forma na metade do século XX: a indústria farmacêutica e a indústria pornográfica. Assim, o farma-copornismo encontra os meios de seu funcionamento na gestão biomidiática das subjetividades, unindo o controle molecular dos corpos à produção de conexões virtuais audiovisuais. Partindo de uma compreensão marxista do trabalho como a potência vital de trabalhar, de atuar e como força do existir enquanto produtora de valor, Preciado aponta que, na contemporaneidade, a produção de valor se dá na exploração daquilo que ele nomeou como Potência Gaudendi, uma força viva que passa a ser gestada por farmacopornopolíticas, isto é, por uma biopolítica ou por uma política de gestão da vida e, também, por uma tanatopolítica, ou por uma política de gestão e controle da morte. Por Potência Gaudendi, entende-se:
Para compreender como e por que a sexualidade e o corpo, o corpo excitável, irrompem no centro da ação política até chegar a serem objetos de uma gestão estatal e industrial minuciosa a partir de fins do século XIX, é preciso elaborar um novo conceito filosófico equivalente no domínio farmacopornográfico ao conceito de força de trabalho no do-mínio da economia clássica. Nomeio a noção de “força orgástica” ou potentia gaudendi: trata-se da potentia (atual ou virtual) de excitação (total) de um corpo. (PRECIADO, 2008: 40, tradução livre)
O capitalismo atual promete vender excitação, virilidade, ereção, ejaculação, alívio da dor, da tristeza, da solidão, acelerar, concentrar, desejar. E entrega tais
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
174
promessas por meio do mercado, através do viagra, do prozac, das aspirinas, do omeprazol, da testosterona, dos anticoncepcionais, da heroína, do LSD, da ecs-tasy, entre outras moléculas; transformando “nossa depressão em Prozac, nossa masculinidade em testosterona, nossa ereção em Viagra, nossa fertilidade/este-rilidade em pílula, nossa Sida (Aids) em triterapia” (PRECIADO, 2008: 34, tra-dução livre). No capitalismo farmacopornográfico, tornamo-nos sujeitos prozac, sujeitos viagra, e somos, a todo momento, expropriados de nossas Potentias gau-dendi. Esse novo capitalismo nos invade na medida em que nos deixa excitados. Assim, produzimos desejos, consumimos uns aos outros e, com os outros, produ-zimos modos de subjetivar, ser, estar, habitar, existir e, até mesmo, vegetar no mundo. Estamos diante de uma poderosa máquina de produzir humanos hi-tech, com seus tecnogêneros e tecnosexualidades fundamentados nas tecnologias far-macopornistas.
Deste modo, a ciência, para Preciado (2014), não descobriu ou decodificou os órgãos sexuais, ela os produziu, bem como produziu os hormônios, os desejos, os comportamentos que, atualmente, são vendidos no mercado capitalista farmaco-pornista. Esse sexo supostamente “científico” é produzido a partir de tecnologias biopolíticas de dominação heterossocial e resume a totalidade corpórea às geni-tálias, distribuindo desigualmente o poder e marcando assimetrias e desequilí-brios entre os gêneros. Esse recorte farmacopornográfico e biopolítico do corpo acaba por fazer coincidir sensações e afetos com regiões corporais e determinado órgãos (PRECIADO, 2014).
Gêneros “bio” ou “trans”, sexualidades “homo”, “hétero” ou “bi”, são todas produções desses dispositivos que treinam e normalizam os corpos; de tecnolo-gias que adentram os corpos através de pílula, géis adesivos e injetáveis, dos psi-cotrópicos antidepressivos e ansiolíticos, dos dildos, dos suplementos alimenta-res, dentre tantos outros recursos farmacológicos. Esses recursos se aliam, ainda, à indústria pornô, que produz posições, modos de desejar e de se afetar.
Para Preciado (2014), toda essa produção capitalística insinua que não há “lei da natureza” que sistematize, regule e fixe gêneros e sexualidades supostamente correspondentes a uma biologia, como tentam nos vender as normas de gênero. O corpo, em sua realidade orgânica, se dobra as disciplinas desde o capitalismo industrial e, agora, a natureza dobra-se por completo às tecnologias farmacopor-nistas: produzem-se não somente os comportamentos, mas também a própria na-tureza, a biologia, o corpo, a vida e a morte.
O acesso à saúde para a população trans entre dispositivos e tecnologias do gênero
Na vida capturada, corpos indisciplinados e resistentes às estratégias biopo-
líticas e às tecnologias de produção dos gêneros, como as experiências e vivências transexuais, travestis, transmasculinas, etc.; serão apreendidos como vidas que, embora sejam precárias, não serão passíveis de proteção ou, em caso de perda, luto. Na vida regulamentada pelo biopoder as normas sociais, balizadoras do luto e da intervenção estatal sobre determinados grupos, que os faz viver, serão as mesmas que produzirão o substrato à marginalização, abjeção e extermínio de certas vidas que ameaçam, com sua simples existência, a suspeição de todo esse substrato. As normas de gênero buscam selar os corpos e enrijecer sua plastici-dade, limitando seu uso através das inúmeras práticas disciplinares, do poder/sa-ber/discurso biomédico, das ações biopolíticas de medicalização, patologização e judicialização das populações e da regulação do uso das tecnologias de fabricação
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
175
dos corpos e das subjetividades. É pela intervenção desses mecanismos que se determinam quais experiências de gênero e de sexualidade serão compreendidas como vidas a serem protegidas e, também, quais serão deixadas para morrer.
As transexualidades, travestilidades, dentre outras experiências identitárias situadas no campo do gênero, foram bioidentidades produzidas pelo poder/saber biomédico como anormais, patológicas, passíveis de normalização via medicali-zação, na tentativa de capturar os corpos fugidios ao gênero binário e heteronor-mativo. Nessa direção, Rocon et al. (2016: 2524), pontuam que:
numa sociedade cujas normas predominantes para a inteligibilidade dos corpos resi-dem no gênero binário e na heteronormatividade, todos os corpos inadequados a esse padrão poderão ser considerados doentes, como no caso dos corpos trans.
A transexualidade, até a 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM), podia ser vista no capítulo sobre transtornos de identidade sexual, sob a classificação de transtorno de identidade de gênero (TIG) (BENTO; PELÚCIO, 2012). Após a revisão para a 5ª edição do Manual (2014), foi criada uma subcategoria nominada “disforia de gênero”. Caponi (2014: 753) in-dica que os manuais de diagnóstico são permeados pelo uso de estatísticas, mé-dias e desvios populacionais – elementos articulados no contexto biopolítico – e, ao substituir a avaliação da significação clínica, utilizam-se de “todo um arsenal quantitativo”.
Dessa forma, vão sendo construídos graus e tipos de transexualidade, testes, enfim, toda uma lista de requisitos e parâmetros das normas de gênero que vão dar substrato ao dispositivo da transexualidade. Nesses processos vão se produ-zindo diversos tipos de transexualidades, categorizadas e diferenciadas por pode-res/saberes e expressas em manuais diagnósticos (BORBA, 2016; BENTO, 2008). As políticas de saúde assumiram um importante protagonismo na reprodução de verdades sobre o sexo/gênero, bem como no controle das transexualidades, ao se utilizarem de dispositivos e tecnologias como, por exemplo, os manuais de diag-nóstico, estudos clínicos e epidemiológicos, intervenções psi (psiquiatria, psico-logia e psicanálise), medicamentosas e comportamentais. Esses procedimentos produzem bioidentidades como a heterossexualidade, a homossexualidade, a bis-sexualidade, a travestilidade, a transexualidade, os transgêneros, entre outras. Tal sucesso se deve ao fato de os profissionais da saúde apresentarem-se como grandes conselheiros e peritos na arte de governar a vida, se não, “pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o corpo social e mantê-lo em um permanente es-tado de saúde” (FOUCAULT, 2014a: 310).
Os corpos estão, quase que inevitavelmente, atravessados pelos serviços de saúde e pelas práticas profissionais, sendo orientados segundo as leis da biome-dicina e do governo, com seus saberes e poderes normalizadores que incidem so-bre os processos próprios da vida. E não se trata somente da fisiologia do corpo, mas de toda uma sociabilidade analisada sob a ótica de uma espécie de fisiologia social, tendo em vista que a fragilidade das fronteiras entre normal e patológico, sobretudo na saúde mental, “[...] parece ter possibilitado o crescente processo de medicalização de condutas consideradas socialmente indesejáveis, que passaram a ser classificadas como anormais” (CAPONI, 2014: 744).
As vidas trans são exemplos de corpos percebidos como defeituosos pela so-ciedade normalizada, na qual imperam o gênero binário e a heteronormatividade. Como o ato de normalizar “é impor uma exigência a uma existência” (CANGUI-LHEM, 2012: 189), tais vidas/corpos serão inseridas numa maquinaria cujo ob-jetivo será impor as normas de gênero pela atuação das mais variadas farmaco-pornopolíticas. Segundo Connell e Pearse (2015: 95), os “corpos são dóceis e a
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
176
biologia se curva ao furacão da disciplina social [...]. Quando a disciplina social não pode produzir corpos generificados, a faca pode”, nos possibilitando refletir sobre os procedimentos cirúrgicos como importantes tecnologias biomédicas de produção do gênero. Analisando a atenção à saúde trans-específica, em vigor no Brasil, percebe-se que programas de saúde e as intervenções profissionais inci-dem sobre os corpos trans de maneira corretiva, referenciando-os às normas de gênero.
O Processo Transexualizador, do Sistema Único de Saúde, pode ser conside-rado como um dos principais exemplos de regulamentação das vidas trans no Brasil. Ao reunir saberes e poderes que regem toda atenção à saúde trans-espe-cífica, compõem um movimento global de patologização e medicalização das identidades trans (BORBA, 2016). Esse programa, compreendido como impor-tante ação estatal em direção à oferta de cuidados em saúde à população trans, evidencia o paradoxo de buscar respostas à precariedade junto ao Estado, do qual, de fato, também é preciso proteger-se (BUTLER, 2016).
As intervenções corporais para mudança das genitálias e fenótipos foram au-torizadas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, em 1997, e através da Re-solução 1482. Essa normativa definiu os pacientes transexuais como portadores de “desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência a automutilação e/ou autoextermínio” (CFM, 1997). Tal definição se-ria aferida a partir da presença de sintomas, tais como:
Desconforto com o sexo anatômico; Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; Permanência desse distúrbio de forma contínua e consistente por, no mínimo, 2 anos; Ausência de outros transtornos mentais. (CFM, 1997)
O Processo Transexualizador do SUS (PTSUS), criado em 2008 através da Portaria 1707 (BRASIL, 2008), reconheceu as transformações corporais realiza-das por essa população incorporando na tabela de procedimentos do SUS os pro-cessos transgenitalizadores que, por sua vez, já haviam sido autorizados no Brasil desde 1997. A portaria determinou que o acesso aos serviços oferecidos ficasse restrito a autorização profissional mediante laudos médico-psicológicos. Lionço (2009) indica que a criação do Processo Transexualizador do SUS contribui para problematizar o entendimento sobre a atenção à saúde de pessoas transexuais, muitas vezes entendida como restrita à lógica do custeio de procedimentos mé-dico-cirúrgicos, com foco nas cirurgias de redesignação sexual.
O condicionamento do acesso aos serviços em saúde pelo diagnóstico de transexualismo (sic) tem sido apontado por Bento (2006), Rocon et al. (2016), Lionço (2009), Arán et al. (2008), Almeida e Murta (2013), entre outros estudos, como promotor de uma seletividade no acesso ao Processo Transexualizador, pois muitos pacientes são privados de utilizar esses serviços, na medida em que não reproduzem o ideal de masculinidade/feminilidade que é requerido pela equipe multiprofissional de atendimento. A precariedade dessas vidas é, então, redo-brada, pois elas são impossibilitadas de acessar serviços de saúde que, em teoria, seriam destinados a elas.
Compreendendo o processo de diagnóstico enquanto campo micropolítico de disputa entre a engenharia dos corpos trans – que é realizada e toma corpo nos saberes coletivamente produzidos, nas experimentações entre as doses de silico-nes, de hormônios e as produções identitárias da sociabilidade trans – e as con-cepções de masculinidade e feminilidade, que estão atreladas às noções de saúde e adoecimento, fundamentados pelo saber biomédico em conjunto com normas de gênero, são pilares de sustentação do dispositivo da transexualidade. Nesse
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
177
contexto, Almeida e Murta (2013) afirmam que foi criada uma semiologia dos comportamentos e identidades sexuais, que vislumbra produzir uma linearidade entre identidade de gênero, sexualidade e anatomia.
Considerações finais
Concluímos que o diagnóstico no âmbito do processo transexualizador, em
sua seletividade, visualizada já nas possibilidades e impossibilidades de acesso ao programa, opera segundo os princípios de um racismo do Estado. Esse procedi-mento realiza uma cisão entre as pessoas trans produzidas como dignas do acesso ao Processo Transexualizador e aquelas que não o são. A régua utilizada nessa separação privilegia aquelas que melhor reproduzirem as normas de gênero em sua estética corporal e performance de gênero e que, portanto, encontrarão am-paro para transformação de seus corpos junto aos serviços públicos de saúde dis-poníveis. A outras, isto é, aquelas que não reproduzem, por opção ou pela falta dela, os estereótipos considerados normais para feminilidade e masculinidade, serão, entretanto, deixadas para morrer e expostas aos riscos do uso de silicone industrial ou de hormônios sem a possibilidade do acesso ao acompanhamento médico.
Nesse sentido, a produção da seletividade no acesso a processo transexuali-zador nos parece operar como dispositivo que produz parte da população usuária como vida indigna de ser vivida, não passível de luto. Indicamos, a partir das formulações de Bulter (2016), que a população que vislumbra amparo em tais serviços vivencia o dramático paradoxo de buscar respostas para suas necessida-des em saúde por transformação do corpo em um serviço de saúde do qual, en-quanto se organizar pelo diagnóstico de transexualismo, deveriam ser protegidas.
O encontro entre Judith Butler, Paul Preciado e Michel Foucault, nos permi-tiu compreender que as experiências de identificação com a transexualidade são permeadas por normatividades, dispositivos e tecnologias de modulação do gê-nero, que são, igualmente, processos pelos quais as pessoas cisgênero vivem ao se identificarem com perspectivas de gênero. Assim, argumentamos, finalmente, a inexistência de um gênero original, normal e padrão, como o que tem sido atri-buído à cisgeneridade. O original, o normal e o padrão nada mais são do que es-tratégias de controle dos excessos de vida e da potência dos corpos. O gênero como tecnologia – ou o tecnogênero – é a prova de que podemos produzir inú-meras experiências de gênero, de que podemos expandir as possibilidades de ha-bitar o mundo, compreendendo que outras normatividades, para além do gênero binário e da heteronorma, são possíveis e necessárias.
Recebido em 26 de agosto de 2019. Aprovado em 10 de dezembro de 2019.
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
178
Referências
ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatís-tico de transtornos mentais [recurso eletrônico]: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento... et al. Revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
ALMEIDA, G. et al. Reflexões sobre a possibilidade da despatologização da tran-sexualidade e a necessidade da assistência integral à saúde de transexuais no Bra-sil. Sexualidad, Salud y Sociedad, 14: 380-407, 2013.
ARÁN, M. et al. Transexualidade: corpo, subjetividade e saúde coletiva. Psicolo-gia e Sociedade, 20 (1): 70-79, 2008.
BENTO, B. A (re)invenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência tran-sexual. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
BENTO, B. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008.
BENTO, B. at al. Despatologização do gênero: a politização das identidades abje-tas. Estudos Feministas, 20 (2): 559-568, 2012.
BORBA, R. O (Des) Aprendizado de Si: transexualidades, interação e cuidado em saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Portaria n. 1.707, de 18 de agosto de 2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudele-gis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html>. Acesso em: 23 Ago. 2019.
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
BUTLER, J. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
CAPONI, S. Biopolítica e medicalização dos anormais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 19 (2): 529-549, 2009.
CAPONI, S. O DSM-V como dispositivo de segurança. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 24 (3): 741-763, 2014.
CONNELL, R. et al. Gênero uma perspectiva global. São Paulo: nVersos, 2015.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Autoriza a título experimental, a reali-zação de cirurgia de transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplas-tia e ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais se-cundários com o tratamento dos casos de transexualismo. Resolução n. 1.482, de 19 de setembro de 1997. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Po-der Executivo, Brasília, DF, 19 set. 1997. Seção 1, p. 20944.
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitá-ria, 2012.
RO
CO
N,
Pa
blo
Ca
rdo
zo;
et a
l.
Sa
úd
e e
tr
an
se
xu
ali
da
de
en
tre
dis
po
sit
ivo
s e
te
cn
olo
gia
s d
o g
ên
er
o
179
DREYFUS, H.L. et al. Michel Foucault: uma trajetória filosófica para além do es-truturalismo e da hermenêutica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013.
FORTES, L. “Clínica da saúde e biopolítica”. In: JÚNIOR, D. M. A.; VEIGA-NETO, A.; FILHO, A. S. (orgs.). Cartografias de Foucault. Belo Horizonte: Au-têntica Editora, 2008.
FOUCAULT, M. Segurança, Território, População: Curso dado ao Collége de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008.
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010a.
FOUCAULT, M. Os Anormais: curso no Collège de France (1974-1975). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010b.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 41. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2013a.
FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. 23. ed. São Paulo: Graal, 2013b.
FOUCAULT, M. O Nascimento da Clínica. 7. ed. Editora: Forense Universitária, 2013c.
FOUCAULT, M. Ditos e Escritos IX: Genealogia da Ética, Subjetividade e Sexua-lidade. MOTTA, M.B. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014a.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 28. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014b.
LAQUEUR, T. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Ja-neiro: Relume Dumará, 2001.
LIONÇO, T. Atenção integral à saúde e diversidade sexual no Processo Transexu-alizador do SUS. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 19 (1): 43-63, 2009.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. A Classificação Internacional de Doen-ças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID 10. Disponível em < https://www.medicina-net.com.br/cid10/1554/f64_transtornos_da_identidade_sexual.htm> Acesso em: 23 Ago 2020.
PELBART, P. P. Vida Capital: ensaios de biopolítica. 1ª Remp. São Paulo: Ilumi-nuras, 2009.
PELBART, P. P. Vida nua, vida besta, uma vida. Trópico, s/n: 1-5, 2016.
PRECIADO, P.B. Texto Yonqui. Madri: Espasa, 2008.
PRECIADO, B. Manifesto Contrasexual. São Paulo: n-1 edições, 2014.
ROCON, P. C. et al. Dificuldades vividas por pessoas trans no acesso ao Sistema Único de Saúde. Ciência e Saúde Coletiva, 21 (8): 2517-2526, 2016.
SAMPAIO, S. S. Foucault e a resistência. Goiânia: Editora UFG, 2006.
AC
EN
O,
7 (
13):
16
5-1
80
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Ar
tig
os
Liv
re
s
180
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
. D
ia d
e v
isit
a:
ac
om
pa
nh
an
do
fa
mil
iar
es
em
um
a p
en
ite
nc
iár
ia d
e M
ato
Gr
os
so
. A
cen
o –
Re
vis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
Cen
tro
-O
este
, 7
(13
): 1
81-
196
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Dia de visita: acompanhando familiares em
uma penitenciária de Mato Grosso
Maria das Graças de Mendonça S. Calicchio1
Reni A. Barsaglini2 Universidade Federal de Mato Grosso
Resumo: Este ensaio tem a proposta de trazer em texto as impressões, os indícios, as marcas e as afetações no trabalho de campo em uma penitenciária nos dias de visitas de familiares. São seguidos três momentos, não estanques, de um certo ritual da visita ao familiar que abrange: o trajeto das mulheres até a penitenciária; a espera para a visita na área externa da penitenciária; os rituais e procedimentos requisita-dos para a entrada no espaço interno. Diante do olhar, do ouvir e do interagir com o mundo vivido de familiares de pessoas aprisionadas, deixei-me afetar e vi-me possi-bilitada a descrever detalhadamente os objetos, as situações, a realidade partilhada nos dias de visitações.
Palavras-chave: dias de visita; penitenciária; familiares; mulheres.
1 Possui graduação em Enfermagem pela Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de Paranavaí-PR (1995), mes-trado em Educação pela UFMT (2015), doutorado em Saúde Coletiva pela UFMT (2019). Enfermeira da Secretaria Muni-cipal de Saúde do município de Sinop (MT), lotada no Centro de Referência à Saúde da Mulher. 2 Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992), mestrado em Saúde e Ambiente pela UFMT (1999), doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (2006) e pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra/Portugal (2018).
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
182
Visiting day: accompanying families on a penitentiary in Mato Grosso
Abstract: This essay has the purpose of bringing in text the impressions, the signs, the marks and the affects in the field work in a penitentiary in the days of family visits. A certain ritual of visiting the family member follows three, non-watertight, moments: women's journey to the penitentiary; waiting for the visit in the external area of the penitentiary; the rituals and procedures required for entry into the inner space. In the face of looking, hearing and interacting with the lived world of relatives of imprisoned people, I am affected; I am able to describe in detail the objects, the situations, the reality shared on visitation days.
Keywords: days of visit; penitentiary; relatives; women.
Día de visita: acompañando familiares en una cárcel de Mato Grosso
Resumen: Este ensayo tiene la propuesta de traer en texto las impresiones, los in-dicios, las marcas y las afectaciones en el trabajo de campo en una cárcel en los días de visita de familiares. Son seguidos tres momentos, no estancos, de un cierto ritual de visita al familiar que abarca: el trayecto de las mujeres hasta la cárcel: la espera para la visita en el área externa de la cárcel; los rituales y procedimientos solicitados para la entrada en el espacio interno. Delante de la mirada, del oír, y del interactuar con el mundo vivido de familiares de personas aprisionadas, me dejo afectar, me veo posibilitada a describir detalladamente los objetos, las situaciones, la realidad com-partida en los días de visitaciones.
Palabras clave: días de visita; cárcel; familiares; mujeres.
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
183
leger uma penitenciária como trabalho de campo em uma pesquisa não é tarefa fácil, implicando “que o pesquisador tem que se mover num campo complexo de balizamentos” (SALLA, 2013: 13). Cenário esse que vai além
das regras e normas objetivas e produz subjetividades entre pessoas que viven-ciam realidades intramuros e extramuros, como aquelas privadas de liberdade e seus familiares.
O aprisionamento de uma pessoa pode tornar seus familiares alvos do pro-cesso de criminalização sujeitando-os ao controle social pela prisão e, consequen-temente, sofrendo com as medidas coercitivas, mediadas pelo dispositivo de po-der, da vigilância e da violência institucional (FOUCAULT, 2013). Por outro lado, a privação de liberdade promove a (re)estruturação de uma rede ampliada dentro e no entorno da instituição prisão, como a movimentação de ambulantes assim como, também, promove a solidariedade entre familiares, amigos e vizinhos (GO-DOI, 2015). Além disso, a depender do delito (violência doméstica, sexual, por exemplo), pode significar proteção e possibilidade de maior gestão financeira pelo cônjuge (geralmente, quando o preso é o companheiro).
Embora haja a presença de homens, a maior parte da população visitante é composta por mulheres. São elas que exercem os papéis de (re)conectarem a pes-soa privada de liberdade (PPL) à realidade fora dos muros da prisão, tornando-se as principais mediadoras desse universo, contribuindo ativamente na constru-ção da realidade dentro e fora das celas (GODOI, 2015). Como demostra Dráuzio Varella (2017: 27), “chova, faça frio ou calor, quem passa na frente de um presí-dio masculino nos fins de semana fica surpreso com o tamanho das filas, for-madas basicamente por mulheres”. Realidade pouco encontrada no aprisiona-mento feminino pois, comumente, as mulheres são abandonadas por seus fami-liares e companheiros (LERMEN e SILVA, 2018).
Ao longo do cumprimento da pena em regime fechado um elemento, reco-nhecidamente, importante é a visita, cujos significados variam conforme de onde se fala: familiares, PPL, agentes prisionais, defensores, dirigentes etc. Além de permitir a conexão do mundo interno e externo aos muros prisionais, a visita com suas diversas mediações, humanas ou não, potencializa a família à manutenção imaterial e material do privado de liberdade e ao estreitamento dos laços famili-ares, entretanto, tende a ser prática dispendiosa, deslocando tempo e gastos fi-nanceiros às famílias. Ainda assim, colabora para ampliação de solidariedades, sociabilidades, conflitos e, também, possibilita/oportuniza o comércio legal e/ou ilegal (GODOI, 2015).
Diante do exposto, a presente discussão propõe trazer em texto as impres-sões, os indícios, as marcas e as afetações no trabalho de campo em uma peniten-ciária nos dias de visitas, conduzido por meu interesse de estar entre os nativos (familiares de PPL), no âmbito interno e externo de uma penitenciária, nos dias de visitas. Ocupar o lugar com os nativos em uma penitenciária foi a maneira que encontrei para me aproximar da experiência de mulheres com algum grau de pa-rentesco com pessoas privadas de liberdade e assim compreender melhor seus pontos de vista. Indo além de somente entrevistar, observar, deduzir e escrever no diário, minha motivação foi a de me inserir, tanto quanto possível, no mesmo
E
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
184
lugar (físico, social, simbólico) que aquelas pessoas em frente e na antessala de uma penitenciária.
Nas palavras de Márcio Goldman (2005: 159) “quando se está em um tal lu-gar, é-se bombardeado por intensidades especificas” chamadas de afetos. E ser afetado implica em deixar-se alcançar por uma apreensão de mundo diferente do pesquisador, é olhar o mundo a partir do ponto vista do pesquisado. Simultanea-mente, foram realizadas a imersão no campo e a movimentação da escrita, em rearranjos importantes para recriar uma parte dos efeitos do trabalho de campo (LIMA, 2013).
Diante disso, o presente artigo decorre do trabalho de campo de uma pes-quisa qualitativa em saúde, compondo o corpus de análise de uma tese de douto-rado em Saúde Coletiva, cujo intuito foi de analisar a experiência de mulheres com familiares aprisionados em uma penitenciária masculina de regime fechado do Sistema Prisional de Mato Grosso, localizada no interior do estado (CALIC-CHIO, 2019).
A penitenciária em questão, que faz parte do Sistema Prisional, é gerida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (SEJUDH-MT) e está destinada à detenção de homens condenados e homens que aguardam julgamento na região norte do estado. Segundo dados locais, a instituição prisio-nal foi inaugurada em 2006, com capacidade para trezentos e vinte e seis (326) privados de liberdade, sendo que no momento da pesquisa abrigava novecentos e cinquenta e quatro (954) PPL. Para Victor Martins Pimenta (2018), o Estado tende a repreender de forma mais intensa os crimes que envolvem jovens, pobres e de periferia, respondendo pelos crimes mais incidentes no País, como o roubo e o tráfico de drogas.
Conforme dados locais, nessa penitenciária, as PPL são distribuídas em três setores, a saber: a) setor 1: duas alas destinadas para aqueles que exercem tra-balhos internos e externos3 e uma grande ala chamada de raio (conjunto de celas) nomeado por cores, sendo este Vermelho; b) setor 2: constituído por dois raios nomeados de Laranja e Azul, chamados de raios do convívio; c) setor 3, também constituído de dois raios, nomeados de Amarelo e Verde, caracterizados como raios da igreja por seguirem uma doutrina religiosa. A distribuição espacial dos raios4, conforme Jacqueline Sinhoretto et al. (2013), compõe as estratégias forja-das pela comunidade prisional (aprisionados e gestores) para evitar conflitos e facilitar as negociações das regras, sobretudo de convivência social (não estabe-lecidas oficialmente), pois a diversidade arquitetônica exerce influência direta no convívio entre os aprisionados e desses com a administração.
Nesse cenário, o trabalho de campo foi realizado no segundo semestre de 2018, especificamente, a partir de 15 de julho (total de doze incursões aos finais de semana), intercalando entre os sábados e os domingos. Tais incursões foram entendidas em três momentos não estanques de um certo ritual da visita ao fami-liar que abrangeu: o trajeto das mulheres até a penitenciária, compartilhando do transporte coletivo durante dois finais de semanas seguidos; a espera para a visita na área externa da penitenciária; e os rituais e procedimentos requisitados para a entrada no espaço interno.
3 O trabalho interno refere-se aos serviços de lavanderia, refeitório e limpeza da penitenciária. E o externo está voltado para as atividades fora da penitenciária, no perímetro urbano da cidade. 4 Conforme dados da administração local, nos raios laranja e azul estão presentes membros de uma mesma organização criminosa. No raio verde, além da doutrina religiosa, algumas celas estão reservadas para as PPL de crimes de grande comoção social. No raio vermelho, uma cela abriga a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros).
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
185
Diante do olhar, do ouvir e do interagir com o mundo vivido por familiares de pessoas aprisionadas, me vi na possibilidade de descrever detalhadamente os objetos e as situações daquela realidade partilhada. Assim, tão logo eu retornava do campo, relatava em áudio a vivência do dia, evitando a falha de memória e, posteriormente, procurava descrever os fatos marcantes, as reflexões e as autoa-nálises pertinentes que eram registrados em diário de campo.
Entretanto, com a frequência das visitas e o amadurecimento com o campo, percebi que os itens como a caneta e o caderno, em meio à abundância de sacolas transparentes (trazidas por familiares), faziam-me um ser diferente, permeado por olhares desconfiados, mesmo procurando não escrever na presença das in-terlocutoras.
A partir do momento em que tais instrumentos foram deixados de lado, le-vando apenas algumas folhas e uma caneta, ambos acomodados no bolso da roupa, a primeira barreira foi ultrapassada, a minha presença incomodava me-nos, fui aos poucos aceita, sendo mais uma pessoa, dentre tantas, interagindo en-tre elas, trocando ideias, procurando valorizar o conhecimento mútuo. Concordo com Alba Zaluar (1985: 20) que, no trabalho de campo, “vivemos uma relação social em que ambas as partes aprendem a se conhecer”. Assim, foi possível aproximar-me da realidade de aprisionamento familiar vivenciada no dia de vi-sita, possibilitando trazer o que mais me marcou e afetou durante o trabalho de campo.
Para fins de apresentação, este trabalho foi organizado nas duas partes se-guintes. Embora o texto que apresento decorra da própria experiência em campo, o projeto mais amplo do qual deriva (CALICCHIO, 2019) foi submetido e apro-vado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop, sob o Número 2.541.865, de 13/03/2018.
Compartilhando o trajeto das mulheres para a visita
O ponto de partida para mulheres que desejam visitar seus parentes na peni-tenciária começa durante a semana com as compras diversas, principalmente as alimentares, e os preparativos corporais como o cuidado com os cabelos e unhas. Mas é no dia da visita, logo nas primeiras horas, que os familiares de PPL iniciam o ritual de ida à penitenciária, em sua maioria se deslocando de suas residências ao terminal do ônibus coletivo. Esse meio de transporte coletivo é gerido pela ad-ministração municipal e faz parte do cotidiano de muitas pessoas que se deslocam no perímetro urbano. Nos finais de semana destina-se à zona rural onde se loca-liza a penitenciária em questão. Saindo do centro da cidade às seis horas da ma-nhã, percorre a média de 12 km, por cerca de uma hora, entre bairros centrais e periféricos sendo 5,5 km na zona rural. É uma linha não exclusiva, de modo que outras pessoas que não necessariamente se destinam à penitenciária podem usu-fruir desse transporte, embora não tenha observado nenhuma delas embarcando ou desembarcando que não fosse visitante da penitenciária local5.
Diante da expressão clássica de Bronislaw Malinowski (1978), “os imponde-ráveis da vida real", o meu anseio foi de observar, nas situações, os cenários e os contextos em suas plenas realidades. Para isso aventurei-me a ser passageira de um ônibus que carrega mulheres para a visitação em uma penitenciária. A estra-tégia de acompanhar os nativos em seus trajetos habituais, como propõe José
5 Nesse ônibus consta um letreiro escrito Presídio. Essa identificação nos finais de semana parece mobilizar repulsa da população que depende do transporte coletivo. Pode-se dizer tratar-se de uma marca que informa sobre a identidade envolvida, como na acepção de estigma de Goffman (2015).
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
186
Guilherme Cantor Magnani (2002), possibilitou revelar um mapa de desloca-mentos pontuado por significados materiais e imateriais/simbólicos.
Assim, com olhos e ouvidos atentos, ao chegar no terminal do transporte co-letivo, fiquei observando os gestos, as expressões verbais e não verbais das pas-sageiras que adentravam no terminal dos ônibus de bicicletas e motos, oriundas de seus bairros, deixando os veículos no estacionamento desse espaço público. A maioria formada por mulheres (sejam jovens, adultas e idosas) sempre acompa-nhadas por crianças e apresentando as mesmas características − carregadas de sacolas transparentes, recheadas de potes coloridos, sortidas de alimentos e co-mida −, o que é chamado de “jumbo”6. Ali, o ritual de interações e sociabilidades já se iniciava. Tal como apontado José Alcântara Júnior (2010), o ônibus como um ambiente social e temporário favorece as interações sociais entre as pessoas e produz pequenas formas sociais, fluídas no interior desse veículo.
Nessa perspectiva, recorremos à categoria pedaço trazida por Magnani (2002; 2009) para demonstrar que um transporte coletivo pode ser considerado espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público. Uma referência espa-cial, em que a presença regular das pessoas, juntamente a um código de reconhe-cimento e comunicação entre elas, possibilita distinguir determinados membros como pertencentes ao mesmo grupo de relações sociais (MAGNANI, 2002). Po-rém, não basta frequentar o espaço para serem pessoas do pedaço, é preciso per-tencer a uma rede de relações de procedência, de parentescos, de vizinhança, (de visitantes de uma unidade penitenciária, podemos dizer), e ser capaz de perceber de forma clara e imediata quem são as do pedaço, em uma experiência concreta e compartilhada (MAGNANI, 2009).
Já embarcada, procurava um lugar no fundo para facilitar as observações e as interações, ao mesmo tempo em que fazia parte delas; como assinala Cristina Larrea Killinger (2017), no trabalho de campo, nativos e pesquisadores fazem parte da mesma dinâmica cotidiana. Com olhos bem atentos e disposta a uma escuta sensível, observava as expressões corporais e as falas. E não demorava muito para que eu pudesse fazer os primeiros contatos verbais com algumas pas-sageiras sob o acolhimento de olhares desconfiados. Diante desse palco circu-lante, procurava respeitar e compreender suas realidades sociais, pois “o que os nativos pensam, fazem e sentem afeta o nosso olhar sobre eles e a nossa com-preensão do mundo” (KILLINGER, 2017: 192).
Durante todo o trajeto as passageiras permaneciam sentadas havendo, na-queles dias, espaço suficiente para todas. Uma parte delas se acomodava no fundo do ônibus, principalmente as aparentemente mais jovens, com suas crianças, suas sacolas e muita disposição para colocar a conversa em dia, juntando-se aos poucos com aquelas que iam embarcando nas paradas do itinerário do ônibus. Outras mulheres permaneciam nos seus bancos, um pouco mais distantes da-quele grupo de mulheres mais falantes, conversando em tom baixo de voz, en-quanto outras permaneciam em silêncio.
No sentido proposto por Suely Maciel (2014), a conversa é uma forma de co-municação, podendo ser entendida como trocas enunciativas que envolve entre os interlocutores a produção e a recepção de mensagens dentro de um fluxo con-tínuo de afirmações, contraposições, diferenças e proximidades. Claude Lévi-Strauss (1975: 68) nos lembra que na fala “não temos consciência dos fonemas que utilizamos para diferenciar o sentido de nossas palavras”. Dessa forma, a
6 Jumbo é uma expressão nativa usada para denominar as sacolas transparentes (contendo comida, alimentos e outros pertences) que as mulheres levam para seus parentes aprisionados. Na penitenciária local, o jumbo do tipo cobertores, ventiladores e roupas, são entregues fora da visita social, nas quartas-feiras.
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
187
conversa como meio de diálogo se materializa na linguagem como a realidade de qualquer forma de comunicação.
Mantendo a escuta sensível e atentando-me à história contada pela compa-nheira de banco e visitante da penitenciária, que aparentava cerca de 40 anos, percorri o caminho. Ela foi relatando que se encontrava desempregada, que re-centemente recebeu a sogra em sua casa com deficiência visual onde residem dois filhos menores de idade do companheiro privado de liberdade, agregando-se a mais três filhos da parte dela (o filho menor era com o atual companheiro, uma filha de cinco anos e outra de dez anos de um antigo relacionamento amoroso). Desse modo, a unidade doméstica dessa passageira é composta de seis membros (cinco menores de idade e uma idosa). A respeito da unidade doméstica, Paula Orchiucci Miura et al. (2018) consideram-na como espaço de convivência entre as pessoas, tendo ou não vínculo familiar, ou por eventualidade, como o caso de abrigar alguém na residência.
Na maioria das vezes, nesse tipo de unidade, os membros estão ligados por laços de solidariedade e sobrevivência (SARTI, 2004). No caso do aprisiona-mento de um pai/mãe, existe a possibilidade de as pessoas viverem juntas por uma questão de sobrevivência/conveniência, visto que a ausência de um ou de ambos, ou da impossibilidade de manter os cuidados com os filhos, resulta no acolhimento provisório em casa de abrigo, orfanato ou residência de familiares (parentes próximos ou por determinação da Justiça) (SILVA, 2015).
Na companhia da passageira, ficava observando que o ônibus fazia o percurso em meio à movimentação de outros veículos, comércios, casas, até adentrar a es-trada rural de chão/terra batida, marcada por uma invasão de nuvens de poeira, embaçando a visão dos presentes. Além do ar nevoento pela poeira, o que turvava a visão, o olfato também era castigado devido à presença de um curtume cujo odor insistiu em nos acompanhar boa parte do percurso final (cerca de 20 minu-tos na estrada rural). Não obstante, a sensibilidade ao odor desagradável não era homogênea entre as passageiras, principalmente entre as veteranas desse per-curso. Sabe-se que as sensibilidades sensoriais variam entre as pessoas por man-ter articulação com os saberes predominantes no tempo/espaço/ambiente. A existência de certa limitação física e simbólica, seus respectivos odores deveriam se restringir a determinados elementos/objetos/situações/contexto, porém os cheiros podem gerar repulsa e sensação de desordem quando extrapolam fron-teiras (e isto reflete em perigo), quando surgem onde não deveriam, como bem tratou Alain Corbin (1987). No caso, adentrava invadindo local onde havia cheiros de corpos lavados, perfumados, comidas etc. Depois de sessenta minutos, dava-se por encerrado o trajeto (urbano – rural) e ali desembarcamos, cada uma le-vando consigo seus pertences, suas alegrias, suas tristezas. A partir daqui, se-guiam-se as interações, dessa vez, na área externa da penitenciária.
A visita de familiares: a interface externa na penitenciária
As observações na área externa da penitenciária me possibilitaram aproximar da realidade imposta pelo aprisionamento no dia da visita, como o fluxo de visi-tantes, as movimentações de chegada e saída de veículos (viaturas, carros, táxis, motos), o seu entorno, o serviço ambulante, as interações entre os familiares, as sociabilidades, o estreitamento dos laços de amizade, solidariedades e apoio, con-flitos, dentre outras questões marcantes a mim e trazidas nessa apresentação.
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
188
O espaço físico externo da penitenciária, nativamente chamado pelas visitan-tes de a “porta do Ferrugem”, era extenso, embora uma pequena parte se desti-nava ao acolhimento das visitantes. Esse espaço era coberto e muito pequeno pela quantidade de visitantes, circundado por bancos de cimentos insuficientes para o dia das visitas e, possivelmente, desconfortável em dias chuvosos. Observei a existência de várias e minúsculas janelas com grades, representando cada raio, cuja função era de facilitar a distribuição das senhas para a entrada ao espaço interno da penitenciária. Nas paredes com pinturas antigas, havia vários lembre-tes visando à colaboração da comunicação entre a penitenciária e os visitantes, dentre os quais constava o cronograma mensal das visitas. Havia também dois banheiros com chuveiros, bancadas para a troca de fraldas e, do lado de fora, uma torneira para uso das visitantes.
Dividindo o espaço externo funcionava pequeno comércio local (serviço am-bulante) a alguns metros do portão principal da penitenciária. Esse serviço era organizado por um senhor e tratava-se de um ponto comercial de apoio utilizado pelas visitantes para guardarem seus pertences, como os capacetes, as bolsas, os celulares, mas também oferecia aluguel de chinelos, de roupas, sendo cobrada taxa que variava entre R$ 5 a R$ 10. Em contrapartida, o ambulante oferecia gra-tuitamente uma balança para as visitantes que estavam na dúvida em relação ao peso dos alimentos e da comida trazidos de casa, que não deveriam ultrapassar de três quilos por família.
Segundo Roberto DaMatta (1986: 36), “nem tudo que é alimento é comida. Alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva, co-mida é tudo que se come com prazer, de acordo com as regras mais sagradas de comunhão”. A comida, conforme esse mesmo autor, vai além de nossas individu-alidades, define nossas identidades sociais e culturais. Quando a comida aden-trava na penitenciária, trazida por um familiar, traduzia subjetividades, demons-trava zelo e afeição (DUARTE, 2013) e, “as mulheres claramente enxergam a co-mida durante as visitas como ocasiões para recriar ou importar a ‘casa’ para dentro das paredes da prisão” (COMFORT, 2007: 107).
Logo quando chegava à área externa, percebia grande movimentação de táxis. Eram visitantes oriundas de cidades da região próxima à penitenciária e até de outro estado, algo que me chamou atenção, pois repercutia nas despesas finan-ceiras e no cansaço físico, conforme relataram algumas mulheres. Por outro lado, movimentava a rede de taxistas da cidade e região.
As visitantes me disseram que pagam um táxi para vir da cidade de origem à peni-tenciária em Sinop, percorrendo quatro horas de viagem e trazendo, também, os fi-lhos pequenos (...). Duas delas me relataram que residem no sul do Pará, saem um dia antes de casa, ao chegarem na rodoviária pegam um táxi em direção à peniten-ciária. (Nota de campo, 09/08/2018).
Com a chegada do ônibus coletivo trazendo as familiares, foi possível obser-var a dimensão do número de pessoas presentes no dia da visita e suas caracte-rísticas. As mulheres se diversificavam em grupos etários (jovens, jovens-adultas, idosas), conforme o dia de visitação. As visitas seguiam um cronograma (mensal, anexado na parede externa, próximo ao local de distribuição de senha) em que as senhas eram distribuídas conforme as celas dos respectivos raios (amarelo e verde; vermelho, azul e laranja), alternando entre sábados e domingos. Nos dias de visitas dos raios do convívio (vermelho, azul e laranja), existia a presença de maior quantidade de mulheres aparentemente jovens, inclusive várias delas grá-vidas, enquanto as visitantes dos raios da igreja (amarelo e verde) se dividiam entre as aparentes jovens-adultas e idosas.
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
189
Entre o público visitante chamava a atenção o expressivo número de crianças. Elas se misturavam com as visitantes e interagiam com outras crianças. Brinca-vam com o que encontram: lixo, pedriscos, garrafas pets, dentre outros. Entre-tanto, os momentos de diversão eram intercalados com choros, ora porque ha-viam se desentendido entre elas; ora porque as mães, extremamente irritadas, chamavam-lhes atenção, sem se intimidarem com as demais pessoas ao redor. Como bem retrata Andréa Marília Vieira Santos (2006), a rotina imposta no dia da visita, a falta de espaço adequado para recebê-las e o tratamento dispensado pelos agentes prisionais repercutem em uma série de desgastes físico-emocionais, manifestados pela ansiedade, choro e euforia.
Na “porta do Ferrugem” observava a presença de poucos homens, alguns de-les eram líderes religiosos que assim chegavam em pequenos grupos ou duplas, improvisavam de forma rápida a leitura da Bíblia e minutos depois adentravam à penitenciária. A religiosidade nas penitenciárias, a priori, visa colaborar na redu-ção dos impactos da privação de liberdade e preparar para o retorno do egresso (LIVRAMENTO e ROSA, 2016).
No instante em que as visitantes (as que já se encontravam na penitenciária) percebiam a chegada do transporte coletivo, entre elas, havia grande rebuliço mo-tivado pela fila de distribuição das senhas. Essas senhas eram entregues por or-dem de chegada e se configuravam em passaportes para que visitantes pudessem adentrar nas dependências internas da penitenciária ao encontro de seus entes. As mulheres tomavam suas posições na fila, aguardando abertura das minúsculas janelas para a entrega das tais senhas.
Nesse ordenamento, as visitantes se cumprimentavam, guardavam os lugares para as colegas, ajudavam a cuidar das crianças e, aos poucos, a fila estava for-mada. Depois de duas horas (em média) em que as elas haviam chegado nas de-pendências externas, as senhas eram distribuídas. Concomitante, os agentes pri-sionais conferiam a data de validade das carteirinhas de identificação da visitante, aproveitando desse momento para listar os privados de liberdade que receberiam a visita do familiar para, posteriormente, serem retirados das respectivas celas e serem levados ao local destinado à visita social.
Após esse procedimento, a fila se desfazia e outras dinâmicas do dia da visita tomavam lugar. As visitantes passavam a se locomover com mais frequência de um canto a outro, se cumprimentavam, conversavam entre si, mostrando-se so-lidárias umas com as outras. Aos poucos formavam grupos, fumando, em volta de um carro, sentadas na calçada ou tomando um café trazido de casa.
Pode-se pensar que as mulheres nessa sociabilidade grupal se reconheciam, pois transitavam em espaços comuns, compartilhavam as condições objetivas do dentro de uma rede de relações concretizadas no dia da visita. Assim, buscavam um ponto de aglutinação para fortalecerem seus laços, de encontrarem seus iguais, de marcarem suas diferenças (MAGNANI, 2002). Gilberto Velho (2003: 21) pactua da ideia de que o reconhecimento da diferença é elemento constitutivo da sociedade complexa, onde se vive “não só o conflito, mas a troca, a aliança e a interação grupal, constituindo a própria vida social através da experiência, da produção e reconhecimento explícito ou implícito de interesses e valores di-ferentes”.
Para as visitantes a “porta do Ferrugem”, coaduna-se com o que diz Magnani (2009: 142), como espaço que “permite encontros e trocas entre elas nas suas diferenças, seja de classe social, escolaridade, origem, local de moradia e vizi-nhança: é como se pudessem apreciar, para além da condição comum que as
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
190
une, as diferenças entre si”. Assim, nas interações tem lugar, também, as diver-gências e conflitos.
Percebo que as mulheres mesmo sendo tão diferentes, em termos aparentes de idade, vestimentas e localidades, à medida que se aproximam, se cumprimentam, e uma vai perguntando a outra como foi a semana, ali, surgem vários assuntos (...). Uma delas me contou que havia tomado as “dores “da amiga que havia sido traída pelo marido aprisionado por uma mulher (a talarica7) desconhecida entre elas nos dias de visita. (Nota de campo, 09/07/2018)
Em duplas, sozinhas, com ou sem crianças, era comum as visitantes se deslo-carem com frequência para as proximidades do banheiro que ficava um pouco afastado do tumulto. Observava, principalmente entre as mais jovens que, ao che-garem no espaço externo, apresentavam-se com determinada roupa, procuravam o banheiro e, minutos depois, apareciam transformadas, caprichadas nas roupas, nos calçados, na maquiagem e no perfume. Concordando com David Le Breton (2007), a maneira de se vestir, de se pentear e ajeitar o rosto, de cuidar do corpo, responde a uma ação cotidiana de se apresentar socialmente e de se representar e, conforme as circunstâncias, impõe um estilo de presença, que integra a identi-dade feminina. Como destacam Christiane Moura Nascimento e Luiz Carlos Ave-lino da Silva (2014) o embelezamento assim como todos os cuidados corporais fazem parte da mulher ocidental, produto da realidade e da relação do corpo em determinada cultura e tempo.
Desse modo, o banheiro externo da penitenciária, para além dos cuidados pessoais, no dia da visita tornava-se também o espaço de diversas interações dos mais variados tipos e funções. Portanto, o banheiro como pedaço é uma referên-cia espacial, lugar de passagem, de comunicação e interação (MAGNANI, 2002). Como espaço reservado, o banheiro escapava um tanto às vigilâncias dos agentes prisionais, portanto, facilitava as trocas de informações oportunizando o tráfico de drogas, a receptação e ocultação de objetos ilícitos (nos próprios corpos, por exemplo).
Hoje, uma das mulheres relatou-me que, nas proximidades do banheiro, é preciso ter muito cuidado, “ser cega, surda e muda”, pois há mulheres que estão ali para colabo-rar com os maridos na superação da privação de liberdade. Mas, há outras, que vão à penitenciária para ganhar a vida no tráfico de drogas. (Nota de campo, 28/07/2018)
Ao lado, na parte externa do banheiro, havia uma torneira, muito frequentada pelas visitantes que necessitavam manter a higienização, principalmente dos pés, pois grande parte delas eram oriundas de bairros periféricos, sem asfalto (agra-vado por se tratar de uma época de muita poeira) e elas faziam questão do asseio. Essa origem periférica retrata o perfil seleto do Sistema Prisional Brasileiro, sendo a maioria formada por jovens, negros, pobres, de baixa escolaridade e mo-radores de periferia (PIMENTA, 2018).
Após esse momento externo, a porta da penitenciária se abria e as visitantes adentravam, uma dupla de cada vez, a outro espaço intermediário em que toma-vam lugar outros tantos procedimentos do ritual da visita, sendo o local onde era realizada a revista e que abordo no tópico seguinte.
7 As talaricas são mulheres que ocasionalmente estão nas penitenciárias para relacionar-se amorosamente com um pri-vado de liberdade. Essas mulheres não são aceitas entre as demais visitantes, são consideradas um risco iminente para outras mulheres de PPL pela possibilidade de se envolverem com os seus companheiros (LIMA, 2013).
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
191
A interface interna da penitenciária: procedimentos e rituais
No espaço interno da penitenciária designado de hall de entrada, interagem
humanos e não humanos em procedimentos que são decisivos para se concretizar a visita ao familiar propriamente. São rituais de averiguações que incidem sobre as pessoas/visitantes (documentos, corpo) e sobre coisas (alimentos, outros pro-dutos e objetos) que se pretende carregar para dentro e visam identificar situa-ções irregulares impedindo a entrada do que não é permitido (geralmente, armas, munições, drogas, celulares) ou em quantidade fora das normas.
O conjunto de rituais, concordando com Mariza Peirano (2006: 9), é “consti-tuído de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral ex-pressos por múltiplos meios” que se conformam em um sistema cultural de co-municação simbólica. Como conclui essa autora, é um evento especial, estereoti-pado e peculiar, transmite valores e conhecimentos, visões de mundo dominantes e conflitantes, revelando o que é comum em determinado grupo. Nos rituais de entrada à penitenciária, primeiramente eram chamados os familiares de PPL que trabalhavam internamente no ambiente prisional e após, as mulheres que aguar-davam para a visita íntima e assim sucessivamente. Ao adentrar no hall de en-trada as visitantes se deparavam com uma sala espaçosa e vários equipamentos, entre eles: uma balança, um scanner, um portal detector de metais (semelhantes aqueles encontrados em agências bancárias). Esses dois últimos aparelhos faziam parte da revista mecânica8 cuja finalidade era de identificar objetos proibidos e ilícitos.
Dessa forma, novos rituais tomavam lugar para que a passagem se efetivasse. No primeiro momento, eram pesados os alimentos e a comida (limite de três qui-los visitante) e na sequência levados pelas visitantes ao scanner, objetivando ave-riguar a presença de materiais ilícitos (metais e drogas), identificados por meio de cores. No terceiro momento, as visitantes se direcionavam para um balcão, onde se realizava a leitura do código de barras nas carteiras de identificação indi-vidual com o propósito de identificar familiares com possíveis problemas com a Justiça ou que, por algum motivo, encontravam-se impedidos de visitar seu pa-rente, dentre os quais: pendências de documentos ou pedido da própria PPL (MATO GROSSO, 2014). Sequencialmente, as visitantes se dirigiam ao portal de-tector de metais, cuja finalidade era detectar a presença de celulares e /ou armas.
No momento em que observava a passagem de visitantes pelo portal detector de metais, testemunhei duas intercorrências: o equipamento acusou a presença de algo suspeito em uma senhora que possuía um tipo de metal nos dentes. Ela teve que ser revistada, inclusive sua boca. Outra portava metal em uma das per-nas, possivelmente uma ‘’prótese’’, e apresentou uma declaração médica aos agentes prisionais. Uma vez passadas pelo portal detector de metais, as visitantes ficavam no saguão do hall de entrada, em filas, em silêncio total, cabisbaixas (ne-nhuma troca de olhar, tampouco conversa entre elas) aguardando para passarem em um equipamento chamado de banqueta (espécie de assento), usado para iden-tificar objetos metálicos introduzidos na parte íntima da mulher como, por exem-plo, celulares. Com a permanência somente da visitante e da agente prisional, a sala desse tipo de revista era pequena e as mulheres sentavam na banqueta a uma
8Assim como a revista mecânica, outras modalidades de revista nas penitenciárias de Mato Grosso estão previstas con-forme o POP (Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário), a saber: pessoal (por ordem verbal: averí-guam-se partes do corpo e vestes), manual (inspeção das vestes), veículos (verificado todo veículo que adentrar ou sair da unidade prisional) (MATO GROSSO, 2014).
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
192
certa distância da agente prisional. Caso houvesse suspeita de presença de itens proibidos, as visitantes eram direcionadas à Unidade de Pronto Atendimento do município para exames de imagem (raio-x) mas, para isso, precisavam concordar com tal procedimento, caso contrário ficava proibida a visitação9.
No hall de entrada, circulavam e interagiam pretensas visitantes, agentes pri-sionais e aparatos tecnológicos demonstrando toda a dureza do local. Tais artefa-tos pareciam carregar maior precisão, complementando outras modalidades da revista anteriormente destacadas, com objetividade e agilidade na inspeção, como também menos exposição dos familiares ao procedimento, sendo inclusive a principal justificativa central do uso desses equipamentos.
Uma vez finalizada a revista, as visitantes estavam aparentemente prepara-das para o encontro com seus entes, recolhendo suas sacolas e permanecendo em um espaço aberto, em silêncio, no aguardo dos demais familiares, sob os olhares vigilantes da equipe de agentes prisionais. Após alguns minutos de espera (média de 15 minutos), elas eram liberadas para percorrerem uma área aberta, próxima ao pavilhão administrativo, até chegarem aos respectivos raios. Cada conjunto de raios comportava um espaço físico para os encontros familiares, chamados de “ponto de encontro”. Aparentavam ser bem conservados, com paredes pintadas, mesas, bancos de cimento e banheiros recém-construídos. A estrutura desse local era recém-reformada, em decorrência da destruição de sua estrutura física du-rante a última rebelião, em 2017, que resultou em cinco mortos e 27 feridos, como destacado na ocasião: “na manhã desta terça-feira (11.04.2017) na Penitenciária (...) presos ocuparam os raios Laranja e Amarelo da unidade prisional” (MATO GROSSO, 2017).
No “ponto de encontro”, familiares e PPL tinham duas horas para se (re) en-contrarem, momento em meio ao coletivo em que forjavam as suas privacidades valendo-se de pequenos lençóis estendidos no piso. Assim, organizavam os ali-mentos, a comida, as mamadeiras e as fraldas. Outras visitantes e seus entes per-maneciam sentados e circundados em bancos de cimentos, dividindo os alimen-tos e a comida trazida de casa.
De volta ao espaço externo, percebia “certa” quantidade de produtos devolvi-dos durante o procedimento de inspeção das visitantes, tais como produtos de higiene pessoal, pois, não eram permitidos aos familiares trazerem de casa.
Algumas considerações finais O trabalho de campo nos dias de visitas de familiares em uma penitenciária
levou-me a estar lá com os nativos. Essa proximidade e sensações do momento oportunizaram-me percepções e pensamentos estando no mesmo local de quem, de fato, vivencia a privação de liberdade de um ente, como as mães e as compa-nheiras, além de proporcionar a aproximação da experiência do aprisionamento de familiar, deixando-me marcas e afetações.
Nesse cenário, deixei-me afetar não somente pela apreensão cognitiva dos afetos, mas buscando alcançar e compreender entre as visitantes de uma peniten-ciária, diferentes formas de vivenciar o aprisionamento do familiar no dia da vi-sita. A priori, as afetações surgiram como passageira de um transporte coletivo, após, como visitante na área externa da penitenciária e, na sequência, no espaço interno de escrutínio da instituição prisional. Nessa perspectiva, o intuito não era
9 Nas unidades prisionais de Mato Grosso, a Instrução Normativa n.º 002/GAB/SEJUDH, de 16 de julho de 2014, proíbe a revista íntima, chamada de revista vexatória, que são procedimentos que envolvem averiguações nos órgãos genitais femininos dentro das unidades penitenciárias.
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
193
apenas observar e coletar informações, mas também valorizar as relações sociais e o conhecimento mútuo entre as visitantes.
Por fim, ocupar o lugar de visitante em uma penitenciária possibilitou alargar o universo da pesquisa, pois estar entre os nativos corroborou a compreensão dos significados e elementos da prática da visita empreendida pelas mulheres diante do aprisionamento de um familiar. Diante das palavras ditas e não ditas, das in-terações no campo e sob o prisma de quem esteve lá em situações concretas, dei-xei-me afetar pelo aprisionamento de familiar e os esforços para o contato.
Espero que afetações deste trabalho de campo, trazidas em texto estando aqui, possam contribuir para visibilizar e sensibilizar sobre a experiência dessas mulheres e as facetas das repercussões do aprisionamento no dia de visita que as alcançam mais fortemente, colaborando para a elaboração de planos e ações di-rigidas a elas e ao familiar privado de liberdade como direito social.
Recebido em 28 de outubro de 2019. Aceito em 10 de novembro de 2019.
Referências
ALCÂNTARA Jr., José. Sociabilidades em ônibus urbano. São Luís: EDUFMA, 2010.
CALICCHIO, Maria das Graças de M. S. Além das Celas: experiência de mulheres com familiar em cumprimento de pena em regime fechado, Mato Grosso. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Cole-tiva. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2019.
COMFORT, Megan. Partilhamos tudo o que podemos: a dualização do corpo re-cluso nos romances através das grades. Análise Social, 185 (42): 1055-1079, 2007.
CORBIN, Alain. Saberes e Odores. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
DUARTE, Thais Lemos. Amor, Fidelidade e Compaixão: “sucata” para os presos. Revista Sociologia e Antropologia, 3: 621-641, 2013.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2013.
GODOI, Rafael. Fluxo em Cadeias: as prisões de São Paulo na virada dos tem-pos. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia, USP, São Paulo, 2015.
GOLDMAN, Márcio. Jeanne Favret-Saada, os afetos, a etnografia. Cadernos de Campo, 13 (13): 149-153, 2005.
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
194
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteri-orada. Tradução: Mathias Lambert. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, [1981] 2015.
KILLINGER, Cristina Larrea. Além da etnografia: olhares sobre o trabalho dos pesquisadores. Salvador: EDUFBA, 2017. pp. 191-202.
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2007.
LERMEN, Helena Salgueiro; SILVA, Martinho Braga e. Masculinidades no Cár-cere: Homens que visitam suas Parceiras Privadas de Liberdade. Psicologia Ci-ência e Profissão, 38 (núm. esp. 2): 73-87, 2018.
LIMA, Jacqueline Stefanny Ferraz de. Mulher fiel: as famílias das mulheres dos presos relacionados ao primeiro comando da capital. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Uni-versidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasi-leiro, 1975.
LIVRAMENTO, André Mota do; ROSA, Edinete Maria. Homens no cárcere: es-tratégias de vida na prisão. Pesquisas e Práticas Psicossociais, 11 (2): 412-426, 2016.
MACIEL, Suely. “Comunicação radiofônica e interatividade à luz do dialogismo e da interação verbal. In: SIMIS, A. et al. (org.). Comunicação, cultura e lingua-gem. São Paulo: Editora UNESP, 2014. pp. 79-105.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etno-grafia urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17 (49): 14-29, 2002.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Etnografia como prática e experiência. Ho-rizontes Antropológicos, 32 (15): 129-156, 2009.
MALINOWSKI, Bronisław. Os argonautas do pacífico ocidental: um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
MATO GROSSO. Notícias. Forças de segurança são acionadas para conter rebe-lião em presídio em Sinop. Segurança Pública. 11 abr. 2017.
MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Normas de visitas conforme o POP- Procedimento Operacional Padrão do Sistema Peni-tenciário de Mato Grosso. Cuiabá: Secretaria Adjunta de Administração Peniten-ciária, 2014.
MATO GROSSO. Poder Executivo. Decreto nº 103, de 06 de maio 2019. Dispõe sobre a prestação de assistência material referente a produtos permitidos e não fornecidos pelos estabelecimentos penais do Sistema Penitenciário. Diário oficial do Estado. Ano CXXVII, N. 27497, 2019.
MIURA, Paula Orchiucci; SILVA, Ana Caroline dos Santos; PEDROSA, Maria Marques Marinho Perônio; COSTA, Marianne Lemos; FILHO, José Nilson No-bre. Violência Doméstica ou Violência Intrafamiliar: análise dos termos. Psicolo-gia & Sociedade, 30 (e179670): 1-13, 2018.
NASCIMENTO, Christiane Moura; SILVA, Luiz Carlos Avelino da. Sujeito mu-lher: a imagem da beleza. Revista Subjetividades, 14 (2): 343-357, 2014.
CA
LIC
CH
IO,
Ma
ria
da
s G
raça
s d
e M
end
on
ça S
.; B
AR
SA
GL
INI,
Ren
i A
.
Dia
de
vis
ita
: a
co
mp
an
ha
nd
o f
am
ilia
re
s e
m u
ma
pe
nit
en
ciá
ria
195
PEIRANO, Mariza. Temas ou Teorias? O estatuto das noções de ritual e de per-formance. Cadernos de Campos, 7 (2): 9-16, 2006.
PIMENTA, Victor Martins. Por Trás das Grades: o encarceramento em massa no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2018.
RECONDO, Felipe. “Cantinas de presídios financiam o PCC- Em MS, quem não é de facção paga mais; lucro banca melhorias”. Brasília, O Estado de S. Paulo, 16 out. 2009. Disponível emhttps://www.estadao.com.br/noticias/geral,cantinas-de-presidios-financiam-o pcc,451290. Acesso em 20 de agosto de 2019.
SALLA, Fernando. “A Pesquisa na prisão: Labirintos”. In: LOURENÇO, Luís Claudio; GOMES, Gerder Luiz Rocha (org.). Prisões e Punição no Brasil Contem-porâneo. Salvador: EDUFBA, 2013. pp. 11-28.
SANTOS, Andréa Marília Vieira. Pais Encarcerados: Filhos Invisíveis. Revista Psicologia Ciência e Profissão, Brasília, 26 (4): 594-603, 2006.
SARTI, Cíntia. A Família como Ordem Simbólica. Revista de Psicologia da USP, 15 (3): 11-28, 2004.
SINHORETTO, Jacqueline. SILVESTRE, Giane. MELO, Felipe. A. L. de. O encar-ceramento em massa em São Paulo. Tempo Social, 15 (1): 83-106, 2013.
SILVA, Martinho Braga e. Saúde Penitenciária no Brasil: plano e política. Brasí-lia: Verbena, 2015.
VARELLA, Dráuzio. Prisioneiras. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2017.
VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: Antropologia das Sociedades Comple-xas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o signifi-cado da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1985.
AC
EN
O,
7 (
13):
18
1-19
6,
jan
eiro
a a
bri
l d
e 2
02
0.
ISS
N:
23
58
-55
87
A
rti
go
s L
ivr
es
196
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A e
tnia
e a
te
rr
a:
no
tas
pa
ra
um
a e
tno
log
ia d
os
ín
dio
s A
ra
ra
(A
rip
ua
nã
–
MT
). A
cen
o –
Rev
ista
de
An
tro
po
log
ia d
o C
en
tro
-Oes
te,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
A etnia e a terra: notas para uma etnologia
dos índios Arara (Aripuanã – MT)1
João Dal Poz2 Universidade Federal de Mato Grosso
Resumo: Esta é uma coletânea de artigos e entrevistas sobre os índios Arara que vivem no município de Aripuanã, a noroeste do Estado de Mato Grosso. Trata-se aqui, principalmente, de passar a limpo uma certa questão que, desde que os co-nheço3, a eles colocam sem cessar: não seriam apenas seringueiros, apenas caboclos miscigenados, beiradeiros? Índios? Se me disponho a respondê-la, não me engano, porém, com as intenções que estão aí embutidas. Sei muito bem que não a fazem num desprendido exercício intelectual ou mera curiosidade. Não se trata, com efeito, de alguma especulação desinteressada sobre a formação étnica ou o processo histó-rico que caracterizou aquela população regional: os que negam a indianidade aos Arara, sem sofismas, não pretendem mais que lhes negar o direito à posse e ao usu-fruto das terras tradicionais.
Palavras-chave: etnia; território; povo Arara.
1 Originalmente publicado na Série Antropologia n. 4, publicada pela Editora da UFMT, no ano de 1995. Reproduzido aqui com autorização da EdUFMT. Mantivemos as grafias originais. 2 Doutor em Ciências Sociais (Universidade Estadual de Campinas, 2004), mestre em Antropologia Social (Universidade de São Paulo, 1991) e graduado em Engenharia Metalúrgica (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1976). Participou de projetos e da coordenação da Operação Amazônia Nativa (1977-1993) e lecionou na Universidade Federal de Mato Grosso (1992-2005) e na Universidade Federal de Juiz de Fora (2005-2014). Como este texto foi originalmente publicado quando o autor lecionava na UFMT, mantivemos esta como sua filiação institucional. 3 Estive vinculado ao Projeto Cinta Larga, da OPAN - Operação Anchieta, uma entidade indigenista, nos anos de 1980 a 1984. No ano de 1987, desenvolvi pesquisas naquela região para fins de elaboração da dissertação de mestrado. E em 1992, fiz uma viagem ao Guariba junto com uma equipe do GERA/UFMT. A maior parte dos dados etnográficos e históricos que aqui utilizo foram se acumulando ao longo destes anos todos. Agradeço ao CIMI-MT, à OPAN e à CAIEMT a consulta aos seus arquivos, bem como aos colegas do Departamento de Antropologia/UFMT pelas sugestões recebidas.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
198
Ethnicity and the land: notes for an ethnology of Arara Indians (Aripuanã - MT)
Abstract: This is a collection of articles and interviews about the Arara Indians who live in the city of Aripuanã, northwest of the State of Mato Grosso. Here, it is mainly a matter of clearing up a certain question that, as long as I know them, they con-stantly ask themselves: wouldn't they be just rubber tappers, just miscegenated cab-oclos, bordering on? Indians? If I am willing to answer it, I am not mistaken, how-ever, with the intentions that are embedded in it. I know very well that they do not do it in a detached intellectual exercise or mere curiosity. It is not, in effect, any dis-interested speculation about the ethnic formation or the historical process that char-acterized that regional population: those who deny the Arara Indianity, without sophistry, do not intend to deny them the right to possess and enjoy traditional lands.
Keywords: ethnicity; territory; Arara people.
Etnicidad y tierra: notas para una etnología de Indios Arara (Aripuanã - MT)
Resumen: Esta es una colección de artículos y entrevistas sobre los indios Arara que viven en el municipio de Aripuanã, al noroeste del estado de Mato Grosso. Aquí, se trata principalmente de aclarar una cierta pregunta que, siempre y cuando los conozca, se preguntan constantemente: ¿no serían simplemente recolectores de goma, solo caboclos mestiza, bordeando? ¿Indios? Sin embargo, si estoy dispuesto a responderla, no me equivoco con las intenciones que están incrustadas allí. Sé muy bien que no lo hacen en un ejercicio intelectual suelto o mera curiosidad. No es, en efecto, una especulación desinteresada sobre la formación étnica o el proceso histó-rico que caracterizó a la población regional: aquellos que niegan a los indios Arara, sin sofismas, no tienen la intención de negarles el derecho a poseer y disfrutar tierras tradicionales.
Palabras clave: etnicidad; territorio; pueblo Arara.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
199
São índios?
Ainda hoje se mantém o mito de que os aborígenes, nesta parte da Amé-rica, limitaram-se a assistir à ocupação da terra pelos portugueses e a so-frer, passivamente, os efeitos da colonização.
Florestan Fernandes, 1975
sta é uma coletânea de artigos e entrevistas sobre os índios Arara que vi-vem no Município de Aripuanã, a noroeste do Estado de Mato Grosso. Trata-se aqui, principalmente, de passar a limpo uma certa questão que,
desde que os conheço, a eles colocam sem cessar: não seriam apenas seringueiros, apenas caboclos miscigenados, beiradeiros? Índios? Se me disponho a respondê-la, não me engano, porém, com as intenções que estão aí embutidas. Sei muito bem que não a fazem num desprendido exercício intelectual ou mera curiosidade. Não se trata, com efeito, de alguma especulação desinteressada sobre a formação étnica ou o processo histórico que caracterizou aquela população regional: os que negam a indianidade aos Arara, sem sofismas, não pretendem mais que lhes ne-gar o direito à posse e ao usufruto das terras tradicionais.
À negação, portanto, conjuga-se a obstinação sem disfarces de consolidar a apropriação e a exploração do território Arara, entre os rios Branco e Guariba. Uma campanha bem urdida que, das palavras às ações, tem cristalizado naquele município um panorama maniqueísta, onde a simples afirmação da identidade indígena é, de imediato, tomada como uma tática conspiratória dos que se opo-riam ao “progresso” da região. Tal retórica pseudodesenvolvimentista tem fo-mentado sobremaneira as agressões verbais e físicas aos índios e seus aliados. Ilustrativo a este respeito, numa espécie de manifesto assinado pelo sr. Policarpio Mestrinho Rondon de Sá e direcionado ao senador Jonas Pinheiro, temos a posi-ção de um autoproclamado Grupo de Defesa da Amazônia (?): “Forjaram a tribo e os Índios, inventaram a aldeia e fabricaram a reserva indígena e tomaram posse usando violência, invadindo as fazendas”.
E logo adiante, uma exposição inequívoca dos motivos que orientam suas in-vectivas:
A população de Aripuanã sabe que precisa urgente da estrada. Sabe que não pode con-tinuar sendo fim de linha e coberto de reservas indígenas, ecológicas e extrativistas por todos os lados (...). Aripuanã sabe, que a BR-174 é a redenção de todo o Noroeste do Estado. (RONDON DE SÁ, 1995)
Não hei de perguntar aqui, por desnecessário, a quem serve este discurso acu-satório ou mesmo acerca da concepção messiânica (e predatória) de desenvolvi-mento que veicula4. Cabe interrogar, todavia, sua realidade empírica, histórica e etnográfica. E combater, isto sim, a manipulação ideológica que faz dos conceitos e dos preconceitos esta apologia etnocêntrica do “progresso” que aqui e ali ressoa como um solerte e anacrônico neo-bandeirantismo.
Contudo devo confessar, para que fiquem assentadas as bases epistemológi-cas desta investigação – pois assim está colocado o problema no campo das ciên-cias sociais, se não de todo e qualquer conhecimento – que a reflexão antropoló-gica não se faz tampouco com o olhar vago e desinteressado. Os antropólogos,
4 Sem pretender no presente trabalho discutir a natureza dos direitos originais dos índios às terras que ocupam, basta lembrar que “os índios têm direito porque sua posse é, historicamente, anterior à fundação do Estado brasileiro”, razão pela qual a Constituição de 1988 e as anteriores os acataram (cf. DAL POZ, 1995).
E
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
200
definitivamente, em nada se parecem com algum desalmado colecionador de re-líquias e variedades bizarras ou uma espécie acadêmica do personagem Indiana Jones. Não somente no sentido que polemicamente defendeu Darcy Ribeiro (1979), para quem a Antropologia, para não ser simplesmente inútil ou colonia-lista, teria como obrigação se interessar pelo destino daqueles a quem estuda. Mas fundamentalmente porque, como nos ensina Roberto Da Matta (1981), ao tomar como ponto de partida “a posição e o ponto de vista do outro”, a Antropo-logia se realiza como um profundo exercício de comutação e de mediação, como uma experiência genuína de relativização de conceitos e de valores5. E deste ân-gulo, ao buscarmos significados que extrapolam nossos próprios quadros cultu-rais, nada do que é humano pode nos deixar insensíveis, nem alheios ou descom-promissados.
As descobertas antropológicas, basicamente a constatação da rica diversidade cultural que caracteriza a humanidade, têm significado, sobretudo, um aprimo-ramento intelectual e moral da própria civilização ocidental, notadamente porque nos permitiram vê-la como uma entre tantas outras escolhas possíveis – e por isto mesmo, sujeita a toda sorte de deslocamentos e mutações. Não há, desta perspec-tiva, nenhuma hierarquia absoluta, nem qualquer esquema evolutivo ou destino histórico inexorável ao qual as sociedades humanas estariam a priori vinculadas ou submetidas. Demasiadamente humanos em tudo, somos, portanto, de alguma maneira os espíritos livres – embora talvez não agradasse a Nietzsche este jeito de enunciar o porvir incessante de conceitos e de valores.
E aqui voltamos ao caso dos Arara. A rigor, a denegação da identidade étnica por seus inquisidores tem se apoiado particularmente no seguinte pressuposto: uma vez aculturados e a serviço dos seringais, os índios não seriam mais índios, pois já se civilizaram. Ao que parece, cobram destes índios, que sempre foram louvados por mansos e pacíficos, cuja propensão à civilização encantou a muitos, uma feição diferente, um modo de ser original e exótico. À moda kafkiana, se me permitem a expressão, as mudanças sociais e culturais, que no passado foram impostas aos Arara a todo custo, estão no presente sendo arguidas como contra-provas de sua identidade. Inconvenientes antes, os costumes indígenas se torna-ram, agora, indispensáveis para que os Arara não sejam declarados extintos, à sua revelia.
Uma mudança arbitrária e paradoxal nas regras do jogo? A ambiguidade é, entretanto, apenas a aparência das coisas, uma vez que o “jogo” das regras atende primordialmente às próprias “regras” da conquista civilizatória. Como neste dis-curso arrogante de um sociólogo da FUNAI, que tentava pressionar os Arara a desistir de suas reivindicações territoriais (entre elas a área onde está um cemi-tério), para quem a sujeição cultural demonstraria a condição inequívoca de povo definitivamente conquistado e dominado:
Mas vocês dizem: não, a terra foi nossa. Mas o Brasil todo foi dos índios. (...). Tem que ver isso também, gente. A lógica do branco. O branco é o vencedor, ou a gente esqueceu isso? Está na história, não adianta ignorar. Os índios foram vencidos, gente. O que se faz agora é tentar resgatar esse respeito a uma cultura que tem aí. Mas os índios foram vencidos pelos brancos. Foram vencidos no sentido de perderem o domínio sobre tudo isso que está aí. Isso aí tudo era domínio dos nativos daqui. E perderam o domínio, como é que não foram vencidos? Vocês [os Arara] foram obri-gados a aprender a falar português. O que é isso? Isso é uma demonstração de ven-cidos. Porque quem é vitorioso não tem que aprender a falar a língua de ninguém. Quem é vencido é obrigado a se adaptar ao vencedor. (apud SILVA, 1988)6
5 O que faz da Antropologia uma empreitada estimulante, como reconheceram Malinowski (1984: 34) e vários outros, posto que, através da compreensão de sociedades distantes e estranhas, somos levados a entendermo-nos a nós mesmos. 6 Trecho de um pronunciamento de José Augusto Mafra dos Santos, sociólogo da FUNAI, em Aripuanã, em 23 de agosto de 1988, quando das negociações para delimitação da área indígena Arara do Rio Branco.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
201
De nenhuma forma elípticos, os argumentos acima desvendam antes de tudo quem os enuncia e a posição de seu autor nas relações de poder constituídas, por-tanto suas convicções e seu autoritarismo - analisarei isto adiante, no capítulo 2. Detenho-me a examinar, neste momento, estas outras questões que ele também suscita, cuja importância se pode aquilatar pelo grau de seu enraizamento na opi-nião pública mediana. Em primeiro lugar, se o fato de “aprender a falar portu-guês” (e andar vestido, usar dinheiro, possuir carro etc.) denota uma dissolução, um desaparecimento de todas e quaisquer diferenças culturais e étnicas. Se-gundo, se as relações entre índios e brasileiros, como há quinhentos anos, devem estar hoje e sempre determinadas pela lógica colonial, de conquista e destruição do Outro.
Começando por esta última, prefiro acreditar que não, e que a existência de tantos povos indígenas no Brasil signifique um valor positivo a nos engrandecer diante da humanidade. E vale notar a este respeito que não se conhece, em toda a tradição legislativa brasileira, qualquer referência, mesmo remota, a um su-posto direito dos vencedores... Mesmo porque, veremos no capítulo que encerra esta coletânea7, a história ainda não chegou ao seu final.
Quanto à segunda questão, há que se observar, já nos dizia sabiamente Lévi-Strauss (1976) em seu ensaio Raça e História, que a diversidade das culturas hu-manas “não deve ser concebida de maneira estática”, porém como uma função das relações que as sociedades mantêm umas com as outras, num perpétuo mo-vimento de distanciamentos e de aproximações. E porque a cultura, ao contrário do que supõe o senso comum, não sendo um mero aglomerado de traços inertes, antes se traduz como um sistema sujeito a alterações em contextos mais abran-gentes e plurais. E que no caso das sociedades multiétnicas, a exemplo da brasi-leira, as referências culturais dos grupos e segmentos sociais em disputa econô-mica ou política estarão continuamente sendo reelaboradas, reordenadas e mo-bilizadas. Não podia ser de outra forma, já que nenhuma sociedade é ou pretende ser uma ilha ou uma mônada impenetrável.
Mas se não é a cultura, alguém talvez pergunte, então o que fica, o que per-manece como garantia de uma identidade indígena? Responderia com as palavras de Manuela Carneiro da Cunha (1994), para quem “pode-se entender a identi-dade [étnica] como sendo simplesmente a percepção de uma continuidade, de um processo, de um fluxo, em suma, uma memória”.
São estes os termos pelos quais procurei, o mais amplamente possível, inven-tariar os dados históricos e etnográficos existentes sobre os Arara, no sentido de rastrear e ilustrar um processo necessariamente contraditório: de início, a desar-ticulação social promovida pela sua inserção nos seringais; e mais recentemente, o revival étnico em torno da reconquista e retorno a seu território.
Conheci José Rodrigo e Ana Anita Vela e seus filhos em Aripuanã, em fins de 1980. Quando chegaram à cidade, expulsos do rio Branco, em condições muito ruins (alguns deles com tuberculose), foram acolhidos pela gente simples que ali vivia, com generosidade: alimentos, tábuas para construir a casa, internação hos-pitalar... E por uns poucos anos tentaram, neste novo ambiente, reconstruir sua vida. Algumas outras famílias Arara já moravam em Aripuanã. Mas nos anos se-guintes, a estas vieram se juntar mais famílias igualmente enxotadas do beiradão do rio Aripuanã pelos latifundiários. O sonho de uma vida melhor na cidade, deles
7 O autor está se referindo ao número 4, da Série Antropologia, onde o presente artigo foi originalmente publicado. [Nota do Editor]
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
202
e de tantos outros seringueiros, não passava de ilusão: vivendo de biscates, pas-sando dificuldades, discriminados. Restava-lhes como alternativa lutar por seus direitos. Acompanhei este processo, às vezes mais outras vezes menos próximo, e assim fui percebendo uma certa costura sutil entre, de um lado, as lembranças de outrora e de outro, a disposição e a força de vontade que animava Anita, Rodrigo e alguns poucos. Despojados de tudo, exceto da memória e das palavras – e foi justamente em torno delas que os Arara se reuniriam para retornarem às suas terras.
No Capítulo 1 disponho as fontes e os dados sobre o relacionamento dos ín-dios com os seringais da região. Procuro mostrar que, sob a denominação Arara, foram designados pelo menos três grupos que se acercaram dos seringueiros. No Capítulo 2 discuto os resultados de um Grupo de Trabalho da FUNAI, cuja con-clusão foi que estas etnias estariam extintas e que seus remanescentes, miscige-nados, aculturados e dispersos, numa fórmula deveras maquiavélica – mas pouco sociológica –, seriam apenas os “órfãos de uma nação”. O Capítulo 3 traz trans-crições de algumas entrevistas, enfocando aspectos variados da história dos Arara, seus personagens principais, seus deslocamentos, suas idiossincrasias. E por fim, o Capítulo 4 descreve, sucintamente, o processo de retomada das terras pelos Arara e comenta os problemas mais recentes.
Uma advertência aos leitores: incoerências e contradições há e muitas, e po-dem ser facilmente constatadas, pois não me investi a suprimi-las. Tal inconsis-tência nos dados, quando não devido totalmente a mim, parece resultar do pró-prio material com o qual trabalhei: a memória social e individual, somos obriga-dos a reconhecer, percorre na verdade atalhos tortuosos quando não aleatórios. O que se conserva responde a funções complexas que, de fato, não se encaixam à perfeição às demandas presentes, uma vez que, por definição, têm sua origem em um tempo que se foi – e do qual é, simultaneamente, seu portador. Todavia, em-bora descontínuas, atadas a paixões e sujeitas aos melindres do tempo, por isso mesmo as recordações nos revelam facetas por vezes inesperadas dos aconteci-mentos passados que interpretam – e a isto devem propriamente seu inigualável poder de sedução.
Capítulo 1
O êxodo: do seringal à cidade Uma investigação etnológica sobre os chamados índios Arara, cujo habitat
está delimitado pelos rios Branco e Guariba, no Município de Aripuanã (MT), re-quer, sobretudo, uma leitura cautelosa das fontes históricas, de maneira a inter-rogar numa perspectiva ampla as relações étnicas aí envolvidas. Pois sob tal et-nônimo, ao que tudo indica, vieram abrigar-se diversos grupos indígenas que, a partir do início do século XX, passaram a conviver e a trabalhar nos seringais que se instalaram nos vales do rio Aripuanã e seus afluentes.
A denominação Arara, devo salientar, já era de uso corrente nesta zona do médio Aripuanã e ao longo do Madeira desde a segunda metade do século pas-sado, sendo então empregada para, notadamente, designar índios aguerridos que hostilizavam feitorias e vilas, redutos missionários e aldeias Mura8. A alcunha daí
8 Ver por exemplo a informação prestada em 1848 pelo Diretor Geral dos Índios da Província de Mato Grosso, Joaquim Aives Ferreira, sobre os Arara de então: “Esta nação é bastante numerosa. Habita em diversas aldeias à margem do Ma-deira desde o salto do Girão até o Rio Jamary. Mantêm-se da caça e pesca e occupão-se tambem de lavoura e fião algodão. Os Aráras são bravios e vivem em crúa e constante guerra com os Muras e outros vizinhos, nações indigenas, e comem a carne dos seus inimigos. São propensos ao roubo e à matança e procurão todos os meios de fazer mal” (FERREIRA, 1905: 91). Os Relatórios dos presidentes da Província do Amazonas registram vários conflitos envolvendo índios denominados Arara. Exemplos de embates entre os Arara e os Mura, nas proximidades da foz do Aripuanã, foram examinados por
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
203
em diante foi atribuída a vários outros povos encontrados na região9, o que pode-
ria ocasionar controvérsias, por vezes insanáveis, para uma identificação uní-voca das etnias que aí habitavam. Por esta razão, um inventário histórico, isto é, a consulta abrangente tanto das fontes documentais como da memória que se transmitiu de uma geração à outra (uma vez que os fatos aqui tratados são, por assim dizer, ainda recentes, pois concernem, sem nenhuma exceção, ao presente século), parece ser de alguma valia para a compreensão do estado atual daquela população indígena.
As primeiras notícias
Já em 1914, por ocasião da Expedição Roosevelt-Rondon que explorou o atual
rio Roosevelt, afluente do rio Aripuanã que até aquela data os seringueiros co-nheciam por Castanha ou Castanho, o então coronel Cândido Rondon soube da
existência de índios chamados “Araras” que viviam no rio Guariba. Estes, diver-samente dos grupos hostis que habitavam o alto Aripuanã, teriam permitido o estabelecimento de civilizados no seu território. Acerca destes Arara, apresen-tou o coronel Rondon os seguintes comentários durante as Conferências que pro-nunciou no Rio de Janeiro em 1915:
Ha, porém, abaixo da mencionada cachoeira (Infernão), um affluente, o Guariba, re-gularmente povoado pela nossa gente, não obstante existirem nelle tambem muitos indios. Segundo informações do Sr. Caripé, que é o maior proprietario do Roosevelt, os selvicolas desse affluente pertencem a uma tribu differente da que hostilisa os se-ringueiros no rio principal; aquelles são os denominados Araras, e os outros serão, pro-vavelmente, de alguma tribu da grande nação dos Múras. (RONDON, 1916: 108-109)
Conforme os relatos que Rondon (1916: 104) recolheu dos moradores do Ro-osevelt, sabe-se ainda que os seringueiros, ávidos por látex abundante, teriam co-meçado a subir o rio Aripuanã e seus afluentes a partir de 1879. Do que sucedeu nestes trinta e tantos anos, até que viesse a expedição de Rondon, nada ainda se apurou, seja porque se extraviaram os documentos relativos a tais acontecimen-tos seja porque destes, mais provavelmente, os primeiros “conquistadores” não pretenderam nenhum registro. Certo é que, a exemplo do médio Madeira e outras
zonas extrativistas na Amazônia, fatalmente esta frente pioneira não deixaria de desencadear conflitos e violências incalculáveis10, pois toda aquela imensa região, como se depreende das notícias que de lá vieram nos anos se-guintes, estava ainda densamente povoada por inúmeros e numerosos grupos in-dígenas11. Pinheiro (1969/72: 53-54). Outras referências mais extensas podem ser encontradas em Menéndez (1981/82). 9 Eduardo Barros Prado (1959: 69-70), num dos livros onde relata suas viagens e aventuras pela região amazônica, conta o caso de uma visita de 160 índios “Araras” ao seringal Vera Cruz no rio Castanho (Roosevelt), de propriedade de Lauro Paéz. Sem mercadorias para atender a tantas pessoas e atemorizados pela conduta dos índios, os quais pegavam o que lhes agradava, o proprietário e seus empregados abandonaram o seringal às escondidas. Nesta mesma obra o autor traz informações e fotos dos igualmente nomeados “Arara” nos rios Canumã e Sucunduri (idem: 98-108). 10 O denodado inspetor Bento Pereira de Lemos, que durante muitos anos dirigiu a Inspetoria do SPI no Amazonas e Acre, chamou a atenção da direção do órgão, por diversas vezes, para o estado crônico de violência que imperava na região do Aripuanã. No relatório de 1924, por exemplo, após dar conhecimento do assassinato de Agesiláo Carvalho Guilhon, ex-encarregado do posto do rio Madeirinha, exatamente quando tentava “arrebatar do poder do assassino Alcino Pereira uma pobre india que estava sendo submettida às mais deshumanas sevicias”, o inspetor solicitava o restabelecimento dos pos-tos indígenas Madeirinha, Guariba e alto Aripuanã que haviam sido suspensos por falta de crédito: “A restauração desses postos é mais que necessaria, no momento actual, dada a falta absoluta de policiamento naquellas regiões onde seringuei-ros e caucheiros, peruanos e brasileiros, costumam agir obstinadamente, não respeitando os direitos dos civilizados tam-pouco dos selvicolas que são encontrados em zonas inaccessiveis à vigilancia dos Delegados desta Inspectoria” (SPI – Inspetoria do Amazonas e Acre, 1925: 21). E acrescenta adiante: “o valle do Aripuanã é um dos perigosos scenarios onde campeia o banditismo” (idem: 22). 11 Um ofício de Francisco Bayma do Lago, delegado do SPI no rio Roosevelt, datado de 30 de junho de 1919, sublinha a quantidade e a diversidade da população indígena à época: “no rio Castanha existe muitas tribus e das quais umas duas estão domesticadas e conta em numero de oitenta. No rio Aripuanã, aonde é o maior numero, tem approximadamente
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
204
E neste ponto uma primeira distinção deve ser feita, a saber, entre os Arara do Guariba, que não hostilizavam os seringueiros, e as outras etnias que viviam nos lados do Aripuanã. Tal assertiva já a havia feito Rondon, por ocasião de sua passagem pela região. O Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju (1981), por sua vez, traz a este respeito dados que confirmam a existência de pelo menos duas etnias na área: uma primeira referência, datada de 1918, sobre os “Arara” no alto Guariba; e outra, de 1929, assinalando um grupo sob a denominação genérica de “índios” à margem direita do rio Aripuanã, na altura da divisa dos Estados do Mato Grosso e Amazonas.
As referências no Mapa de Nimuendaju, provavelmente fornecidas por Age-siláo Carvalho Guilhon e Henrique Magnani, servidores do então Serviço de Pro-teção aos Índios – SPI, nos conduzem às primeiras evidências etnográficas. Ve-remos adiante quais outros indícios podem ser apresentados, de modo certificar as origens múltiplas desta população que é hoje identificada e se identifica como Arara12.
Seringais e seringueiros
A frente extrativista, que passou a explorar os ricos seringais e castanhais na-
tivos, se espalhou rapidamente e ocupou tanto os rios principais como seus tribu-tários. Estava composta, em sua maior parte, por peruanos, bolivianos, venezue-lanos, cearenses e alguns amazonenses - e, pouco tempo depois, também por ín-dios oriundos dos povos que ali viviam.
A firma J. Negreiros & Cia., uma das maiores empresas envolvidas na produ-ção e na comercialização da borracha por toda a Amazônia, aí estava com um grande número de aviados (ou fregueses) e batelões (barcos) para o transporte fluvial até Manaus. Sua atuação envolveu, direta ou indiretamente, vários grupos indígenas que viviam nos rios Roosevelt e Guariba. Já no rio Aripuanã e suas ad-jacências, é a ação do peruano Alejandro Lopes que merece maior atenção. Ele se tornou proprietário de todos os seringais compreendidos entre o salto de Darda-nellos e a cachoeira de Samaúma, reinando como um senhor absoluto da vida e da morte, de seringueiros e de índios.
Sob as ordens de dom Alejandro, bandos armados dizimaram sistematica-mente os grupos indígenas que resistiam à ocupação de seus territórios. Alguns destes fatos chegaram a ser denunciados à Inspetoria do SPI, sediada em Manaus, a exemplo do massacre em 1927 de índios “Iamé” (os atuais Cinta Larga) no alto Aripuanã, a montante da cachoeira de Dardanellos, no qual foram barbaramente mortos dezenas de índios13. O inquérito policial, mesmo após oitiva das testemu-
uns dois mil quasi todos bravos. Assim calcula-se devido ter-se encontrado inummeras malocas. No alto Roosevelt calcula-se um mil e tantos” (LAGO, 1919). 12 O missionário Manoel Valdez, do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, em seu primeiro relatório observava que eram identificados como Arara dois grupos distintos, um seria “originalmente das cabeceiras do rio Guariba”, o outro do rio Aripuanã. Deste último, as malocas estariam “antigamente nas proximidades do Salto de Dardanelos”, ou seja a atual sede municipal de Aripuanã (VALDEZ, 1984: 2). Também sobre a existência de vários grupos na região, ver as entrevistas no Capítulo 3 desta coletânea. 13 Este é um dos poucos casos onde as informações sobre os autores são mais extensas. O bando que em outubro de 1927 atacou a aldeia dos Iamé nas proximidades do Riozinho, acima da Cachoeira Passa Se Podes, a montante da cachoeira Dardanellos, estava composto por assalariados e fregueses de Alejandro Lopes e foi chefiado pelo peruano Júlio Torres. Da carnificina não foram poupadas nem mulheres nem crianças: “Ha referências sobre essa barbara sangueira que enche de indignação e de horror, entre estas a do espostejamento de criancinhas, que, jogadas para o alto, eram aparadas e trespassadas pelos terçados afiados dos deshumanos matadores, e tambem a morte de uma india em estado interessante, a quem rasgaram O ventre para matar o filho” (SPI, 1929: 181). Como esclarece o inspetor Bento Lemos, no ofício onde requer a abertura do inquérito policial, o extermínio dos Iamé foi motivado “pelo facto de serem as terras onde os indios tinham suas malocas muito ricas em caucho e recear Alejandro que os selvicolas obstassem a entrada de seu pessoal por aquellas paragens” (idem: 181-182).
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
205
nhas, não teve, todavia, seguimento em razão das injunções que fez Caetano Ca-bral, “sócio e amigo” do seringalista Lopes. Ele solicitou a intervenção de políticos junto ao presidente do estado do Amazonas e, ao mesmo tempo, dissuadiu as principais testemunhas através de ameaças, intimidação e suborno. Como cons-tatou o inspetor do SPI Bento Lemos, o poder do “peruano dinheiroso e per-verso“ se estendia muito além do longínquo Aripuanã (SPI, 1929: 180-183).
Convém observar, contudo, que a vários grupos indígenas parece ter surgido como alternativa, provavelmente, uma escolha estratégica diante do avanço con-tínuo dos seringueiros sobre seu território, a aproximação amistosa e, de uma ou outra forma, sua própria incorporação à empresa extrativista. Este seria O caso tanto dos índios “Vela”, sobrenome que identifica os atuais Arara do rio Branco, como também de ao menos dois outros grupos no Guariba, um do igarapé Novo e outro do Moacir, os quais buscaram deliberada ou forçosamente o convívio com os seringueiros. Para descrever o processo histórico de sua inserção nos seringais, pois é esta a tarefa que aqui pretendo, além da consulta aos poucos documentos existentes, será necessário interpretá-lo à luz da memória viva dos índios e dos antigos seringueiros.
Uma primeira observação. A vida econômica e social nos seringais teria atra-vessado dois períodos bastante distintos: uma época áurea, de grande “fartura”; e outra, de derrocada do extrativismo, quando começaram a “arruinar” e a aban-donar as colocações mais distantes. Este processo teria se intensificado com a venda das terras ao “comendador” Manuel Pedro de Oliveira em meados da dé-cada de 50 (SANTOS, 1987: 11).
Se tal trajetória de decadência em nada parece diferir do próprio ciclo produ-tivo da borracha na Amazônia (cf. ARNAUD e CORTEZ, 1976: 24), esta não foi a opinião que dela fizeram índios e seringueiros, que antes atribuíram seu empo-brecimento às práticas extorsivas impostas pelo novo proprietário do alto Aripu-anã. No depoimento aos padres Júlio Hebinck, franciscano americano, eJúlio Vitte, secular francês, por ocasião de uma viagem de desobriga que realizaram em 1971 (subindo o rio desde a cidade de Novo Aripuanã (AM) ao salto de Dardanel-los), dois velhos moradores assinalaram que havia no tempo de Alejandro Lopes cerca de “1.000 facas (seringueiros) e 500 machados (derrubadores da árvore caucho)”. Tendo chegado àquela região em 1919, estes moradores acrescentaram:
Naquela época vivia-se muito melhor do que hoje. Nada faltava, estiva farta, manteiga, queijo etc... de 1930 para cá dizia o velho Antônio, chamado Paraiba, nunca mais vi a cor do queijo, nem por sonho! (HEBINCK e VITTE, 1971: 2)
De Jacaretinga ao salto de Dardanellos, o alto Aripuanã era então referido pelos próprios seringueiros como “rio do cativeiro”, pois, devido aos preços exor-bitantes que vigoravam no seringal de Manuel Pedro de Oliveira, eles não conse-guiam “tirar saldo” e ficavam à mercê do patrão Pedro de Oliveira. Sem assistên-cia médica, sem escolas, sem mantimentos, foi assim que os padres Hebinck e Vitte os encontraram em 1971:
Neste trecho do rio existem 60 casas, das quais 31 abandonadas e 29 habitadas. O so-nho dos moradores dessas 29 casas é sair o quanto antes! Até um patrão que dizia ga-nhar um bom dinheiro, pois tudo falta: mais de ano sem arroz, mêses sem café, sem medicamentos, sem fazenda. “Aqui dizia uma patroa, é a pior coisa do mundo, quando se chega aqui, só falta morrer, aqui não tem uma xícara de café!” Como sair do cati-veiro? “Os patrões, dizem os seringueiros, não dão condução nos seus batelões. O jeito é fazer uma canoa, e arriscar a vida nas 22 cachoeiras”? (HEBINCK e VITTE, 1971: 8)
O estado de submissão em que viviam os seringueiros iria, inclusive, surpre-ender vivamente o então recém-nomeado prefeito de Aripuanã, Sebastião Otoni
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
206
Sobrinho. Havendo visitado a sede municipal em meados de 1971, em seu pri-meiro relatório ao governador do Estado, do qual extraí o trecho abaixo, ele se detém numa descrição pormenorizada do esquema montado pelo seringalista, si-tuação que intitula de “escravatura feudal”:
vez por outra éramos inquiridos com a seguinte pergunta: 'Será Prefeito que o senhor agora irá conseguir derrubar a escravatura branca implantada pelo Manoel Pedro de Oliveira do Amazonas? Então ao chegarmos ao Salto dos Dardanelos e abaixo dêste, era o que mais ouvíamos dos infelicitados escravisados (...). Trata-se segundo informações, de um todo poderoso seringalista de Manaus, que se diz proprietário até acima do Salto dos Dardanelos, desde o rio Madeira. Os coitados foram trazidos, a maior parte do Nordeste, influenciados via de falsas propagandas de enriquecimento rápido, através da extração do leite da seringueira e outros. Ao soltá-los nos seringais, o fornecimento não vai além de um pouco de farinha d'água, sal, al-gum quilo de açúcar, pólvora e chumbo, algum antimalárico e alguma coisinha a mais e de menor significância. Quando vem o capataz recolher o fruto da exploração (...) no ato do recebimento já vai descontado 30% sobre o valor da borracha como arrendamento do seringal, não fa-lando o pêso de suas balanças que são bastante discutíveis. Nêste ponto o miserável com sua família, já se encontram nus e valendo-se de uma qualidade de côco que por lá existe em abundância para alimentação, quando não logra pescar algum peixe, já que mais nada têm para se comer. Aí agora vem a segunda parte do drama: a sua pro-dução vai levada a preços de miséria, enquanto que o reabastecimento de roupas e gê-neros, aquele acima numerados o são à preços de ouro. Resultado: da primeira entrega já fica o arrendatário atingido por saldo negativo, só que desta feita ainda comprou alguma coisa em maior quantidade, mas da outra em diante é o que o todo poderoso Manoel Pedro de Oliveira determinar. Daí em diante nunca mais o infelicitado conse-guirá saldo. E se algum ousado vier a atingi-lo, aí agora é que...Vale a lei da selva!” (SOBRINHO, 1971: 6)
As descrições acima, ainda que excessivamente impressionistas. Parecem, to-davia, suficientes para o que se pretende, a saber, uma contextualização do sis-tema extrativista14 que então vigorava na região do alto Aripuanã, sistema no qual vieram os índios a se inserir. Em quase tudo semelhante a tantos outros exemplos por toda a Amazônia – a não ser, talvez, pela presença proeminente de tantos peruanos, venezuelanos e bolivianos, como aqui se verificou –, à empresa serin-galista, caracterizada pelo mecanismo do aviamento e pelas relações de extrema submissão dos chamados fregueses ao patrão do seringal ou ao marreteiro do rio (comerciante), iria moldar social e economicamente a vida regional, marcando de forma indelével as populações a ela submetidas, sejam os migrantes nordestinos ou as comunidades indígenas.
Os Arara do rio Guariba
Vejamos agora a procedência dos grupos indígenas que foram incorporados
a este sistema extrativista. Sob a denominação Arara, como se disse acima, o en-tão coronel Rondon já havia recebido, em 1914, notícias de um grupo indígena no Guariba, que não hostilizava os seringueiros. Ouvindo o relato de antigos mora-dores deste rio, ainda que não seja possível datar ou descrever com muita preci-são os contatos iniciais entre índios e seringueiros, encontrei fortes evidências de ao menos dois grupos indígenas que, nesta área, vieram a gravitar em torno dos barracões dos seringais: um proveniente do igarapé Novo e outro do igarapé Mo-acir15. 14 Para uma exposição detalhada do modo de vida dos seringueiros e as relações socioeconômicas vigentes nos seringais do Madeira e afluentes, ver Hugo (1959: 161-166). Já o impacto da frente extrativista sobre as populações indígenas na Amazônia foi examinado por Darcy Ribeiro (1982: 21-47). 15 É certo que havia vários outros grupos indígenas na região do Guariba. Em busca de notícias sobre índios isolados, por
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
207
Provavelmente na segunda década deste século um grande número de índios se aproximou de um seringueiro no rio Novo, afluente da margem direita do Gua-riba. Cerca de trezentos foram então levados para a colocação Alegria (local da atual ponte na estrada para o Projeto Filinto Müller) e ali utilizados pelo seringa-lista Pedro Adolfo, cuja área de exploração de borracha se estendia da colocação Soledade (na atual divisa MT/AM) até o igarapé Poção. Segundo o missionário Valdez, haveria duas versões para estes acontecimentos:
Os primeiros contatos no Guariba teriam sido realizados pelo seringalista Pedro Adolfo, através de presentes deixados nas trilhas utilizadas pelos índios. A velha Gui-lhermina, índia Arara que saiu do Guariba ainda menina pequena, afirmou, no entanto, que teriam sido os próprios índios que procuraram os seringueiros, pois estavam sendo atacados pelos Cinta Larga e Cabeça Seca. Os índios, em grande número, chegaram na casa de um seringueiro, os mais velhos na frente carregando suas flechas com a ponta para baixo. (VALDEZ, 1984: 2)
Liderados por Caetano, Tibúrcio e Chico Velho, que são os nomes que então receberam, construíram suas malocas e fizeram seus roçados, espalhados em cerca de dez aldeias entremeadas às colocações dos seringueiros. Caetano se tor-naria uma espécie de “patrão” junto aos seus patrícios, adquirindo, inclusive, um batelão para transportar a borracha e trazer de Manaus as mercadorias (VALDEZ, 1984: 2; SANTOS, 1987: 16-17). Saindo da colocação Alegria, estes Arara foram trabalhar no igarapé Moacir com o seringalista Jerônimo Marinho16. Com a morte do seringalista, no entanto, teriam sido expulsos pelo novo proprietário do serin-gal, Antônio Aleixo Moura, quando então alguns se deslocaram para seringais próximos e outros retornaram aos locais das antigas aldeias. Mas o sarampo e a varicela, pelo que se sabe, teriam se encarregado de dizimar a maior parte deste contingente indígena.
Outras versões assinalam o igarapé Moacir como habitat original deste grupo. Numa interessante pesquisa a cabo do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Ari-puanã, ao tratar especificamente da ocupação indígena da região, foram registra-das passagens da história do patrão indígena Caetano, que abaixo transcrevo:
Aproximadamente a 65 anos, no alto do Rio Guariba, localizada em suas margens, ha-via uma tribo de índios conhecida por Araras. Na época houve muitos atritos entre ín-dios e seringueiros que entraram para extrair borracha nos seringais da região, houve casos de índios matar seringueiros e seringueiros matar índios. Na época a situação era de vida ou morte. Aconteceu então que uma família de índio Arara tinha um menino que na tribo recebia o nome primitivo de Gavião e este menino encontrou-se com um senhor conhecido por Manuel Macário e passou a viver com os seringueiros. Os encontros entre Manoel Ma-cário e o menino Gavião se deram no Igarapé Moacir, um afluente do rio Guariba. Ma-noel Macário tinha vocação para civilizar índios, e este menino, Gavião, foi mais tarde-batizado, e levou o nome de Manoel Caetano. Com isto o menino Manoel foi motivo de aproximação de toda a tribo, que passou a viver em paz com os seringueiros. Casou-se e com sua gente colhia borracha... Ainda hoje existem descendentes de Man-gel Caetano na região, Conforme contam os índios e seringueiros, o primeiro encontro
exemplo, o aventureiro Eduardo Prado soube da existência de um grupo de “Orelhas-de-Pau” (Rikbaktsa) que vivia nas nascentes deste rio. Ele interrogou, em Manaus, no ano de 1951, a Deodoro Cavalcanti, que durante sua juventude havia trabalhado como mateiro na firma Bayma do Lago & Cia., estabelecida com seu barracão em Prainha, no rio Aripuanã. Cavalcanti fora enviado para tocar um seringal chamado “Payurá” [Pajurá], no rio Guariba, que depois veio a pertencer à firma J. Negreiros & Cia. Este seringal encontrava-se acima do salto Ribeirão, a partir do qual Cavalcanti distribuía a mercadoria entre os aviados: “ e com o mesmo fim se dirigia a um seringal de nome Muasí [Moacir]. Este se acha nas nascentes do rio Guariba, onde estão estabelecidos os “orelhas de pau”, orelhões ou, mais comumente, chamados coborós. Estes orelhas de pau se caracterizam e tomaram seu nome, por levar pendentes das orelhas uns adminículos de madeira em forma cônica que atravessa-lhes o lóbulo. Com o tempo e por obra de seu peso, chegam em adultos até quase tocar os ombros”. Deodoro mostrou-lhe exemplares destes adornos, comentando que os seringueiros peruanos que desbravaram a região (os subordinados de Alejandro Lopes) colecionavam-nos junto com a orelha do índio morto a tiros, como troféus (PRADO, 1959: 64-67). 16 Ver a entrevista no Capítulo 3 com o ex-seringueiro Raimundo Santos, que conheceu tanto os Arara no Guariba como no rio Branco.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
208
pacífico em grande escala entre índios e os seringueiros, se deu no ano de 1938, quando um grande número de índios Araras saiu em um campo onde havia uma sede de serin-gueiros. Pegos de surpresa, os seringueiros lançaram as mãos nas armas. Os índios, no entanto, jogaram as armas no chão, e os seringueiros, vendo isso, largaram também as armas, e houve a aproximação entre eles, e Manoel Caetano acompanhado do tuchaua (chefe) Maran Kati, achavam-se na frente da tribo. E Manoel Caetano, falando um português meio atrapalhado servia de intérprete. Os índios gesticulavam e pronunciavam muitas vezes a palavra papai. O chefe Maran Kati vendo uma situação pacífica entre índios e seringueiros distribuiu o seu povo em di-versas malocas nas margens do rio Guariba, entre os seringais. E Manoel Caetano con-tinuou servindo de intermediário entre índios e brancos. Mais tarde tornou-se o tu-chaua da tribo. Manoel Caetano, o Gavião, morreu de morte natural. No decorrer da vida teve duas mulheres e muitos filhos. O seu povo, no entanto, foi mais tarde acometido de um surto de gripe. Em uma época e local sem recursos medicinais, a tribo foi quase dizimada. Os sobreviventes estão dis-persos na região. (MALTHEZO, 1990a)
Em fins da década de 40 um segundo grupo indígena teria se aproximado dos seringais no Guariba. Desta vez mais de cem índios saíram no barracão do patrão Jerônimo Lopes Marinho, localizado no referido igarapé Moacir, à margem di-reita do Guariba17. De acordo com as informações etnográficas e linguísticas dis-poníveis18, eles seriam componentes de um dos grupos Tupi-Mondé que estariam buscando refúgio devido a conflitos com grupos inimigos, mas que foram chama-dos Arara como os anteriores. Vestidos “tudo de vermelho” e batizados pelo pa-trão Jerônimo, logo começaram a trabalhar na seringa. Porém pouco tempo de-pois, teriam contraído uma forte epidemia de gripe, uma “gripe doida”, segundo a expressão da informante dona Mocinha, da qual muitos vieram a falecer.
Na pesquisa realizada pelo Sindicato, acima aludida, surgiram outras infor-mações preciosas a respeito deste grupo do igarapé Moacir, que complementam o relato que me fez dona Mocinha:
Seringalista que vivia no vale do Igarapé Moacir, [Jerônimo Marinho] dirigiu turmas de seringueiros, aproximadamente entre os anos de 1945 a 1954. Possuía uma sede organizada, onde havia plantação de mandioca, cana e milho, além de árvores frutífe-ras, havia também na sede gado, mulas, galinhas e porcos. Na dita época, os índios Arara já bastante civilizados, moravam em grande número em casebres, ao redor da sede de Jerônimo Marinho, e trabalhavam na extração de borracha (...) a troco de co-mida, roupa, armas, munição, calçados e despesas de viagem para Manaus. Esta ajuda aos índios Arara fez com que Jerônimo Marinho e seus companheiros ficassem muito ricos. Uma observação (...) é que o Igarapé Moacir, afluente do Rio Guariba, foi terra natal dos índios Arara. Lá existem Campos Santos [cemitérios], onde estão enterrados mui-tos Arara e que os atuais sobreviventes lembram com muito respeito. (MALTHEZO, 1990b)
O missionário Vítor Hugo (1959: 266), que, por sua vez, subiu o rio Guariba em 1958, informa tão-somente que encontrou “um grupo de índios mansos nas cabeceiras”, dos quais o padre Bento de Sousa, pároco de Borba, haveria colecio-nado uma lista de vocábulos.
Os Arara do rio Branco
Acerca destes índios os dados se mostram mais abundantes e precisos. O ser-
vidor do SPI Agesiláo Carvalho Guilhon, que chefiava o posto do rio Madeirinha, notificaria em, 1919, um ataque aos seringueiros no rio Branco, confluente do Ari-puanã, assinalando a existência ali de grupos indígenas nos seguintes termos:
17 Ver no Capítulo 3 a entrevista com dona Mocinha, ex-moradora do Guariba que os viu quando chegaram no barracão daquele seringalista. 18 Ver Vocabulário Arara do Guariba, no Apêndice 1 desta coletânea.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
209
houve ainda ataque dos indios Nhambyquara, ou Suruy - como são coghominados por seus parceiros já domesticados - não tendo, porem, havido victimas a lamentar. Con-vem salientar que os ataques levados a effeito por esses indios, não têm outro intuito senão o de apoderarem-se das ferramentas de trabalho - de que elles fazem grande cabedal - e que não conseguem obter por outros meios. (GUILHON, 1919: 1)
Estes seringueiros, muito provavelmente, eram aviados de um dos dois bar-racões que o seringalista Lopes havia mandado instalar no rio Branco – um nas proximidades do igarapé Veadinho, sob a gerência de Olegário Vela, e o outro na cachoeira Palmeirinha, administrado por “dom” Geraldo (SANTOS, 1987: 8). Os índios passaram a acompanhar os movimentos dos seringueiros, não se impor-tando em deixar sinais de suas andanças ao redor das colocações – e mesmo, como noticiado acima, chegando a saqueá-las algumas vezes.
Por outro lado, reinava um estado de guerra com os demais grupos indígenas da região, em particular os Cinta Larga, os Zoró e os Rikbaktsa, e isto reforçou a disposição dos Arara para tentar um relacionamento amistoso com os civiliza-dos19. Assim que, em 1923, ocorreu a Olegário Vela convencer uma turma de ín-dios a trabalhar para ele. Integrados à vida do seringal, estes índios vieram a ado-tar o sobrenome do “pacificador”, depois transmitido a seus descendentes. O his-toriador Vítor Hugo, missionário salesiano da Prelazia de Porto Velho que os en-controu em 1958 ainda vivendo na localidade de Três Tombos, no rio Branco, re-colheu o seguinte relato deste episódio:
Naquele ano, certo Olegário Vela encontrava-se extraindo caucho no Alto Rio Branco, afluente da margem esquerda do Rio Aripuanã, quando foi prêso numa cilada, por certa maloca de índios. Percebendo, entretanto, as intenções pacíficas dos raptores, deixou-se conduzir até a maloca. Permaneceu no meio dêles coisa de um mês, até con-vencê-los a acompanhá-lo à colocação para trabalharem na extração do caucho e, pos-teriormente, da borracha. (HUGO, 1959: 264)
Outras versões para estes fatos são também conhecidas20. Um ex-seringueiro do rio Guariba, apelidado Pará, que, em 1992, quando o conheci, trabalhava na balsa do rio Aripuanã, contou que há cerca de cinquenta anos atrás um cearense teria ido à maloca dos Arara e, no prazo de quatro “luas” (meses), de lá vieram mais de uma centena de índios para o Salto de Dardanellos (atual Aripuanã). Ha-veria então, segundo ele, três agrupamentos no rio Branco: na cachoeira Pavo-rosa, na Palmeirinha (pouco acima de Três Tombos) e no Capivara (ou Veados).
Os atuais Arara, no entanto, confirmam em linhas gerais o relato que foi ob-tido por Vítor Hugo em fins da década de 50. Dizem que antes havia uma única e grande aldeia na cachoeira Pavorosa, da qual Miguel (pai de Rodrigo Vela) seria o cacique e Adeca o tuxaua. Lé, segundo eles, “era só matando gente; não tinham patrão nem trabalhavam na seringa”. Numa tática aparentemente para seduzi-los, o gerente Geraldo deixava-lhes na foz do igarapé Encrenca algumas “merca-dorias” (brindes), que apanhavam e levavam para sua aldeia. Numa ocasião, os índios encontraram Olegário (irmão de Geraldo, segundo os informantes Arara) neste local e o levaram para a Pavorosa (“ele tremia de medo”, sublinharam). Ole-gário Vela teria daí descido com os índios até seu armazém, na foz do rio Branco. O grupo de Miguel veio depois a se instalar em Três Tombos, onde começaram a
19 Vimos acima que, da mesma maneira, ataques de grupos inimigos teriam forçado o deslocamento dos Arara do Guariba. 20 O velho Chico Jerônimo, ex-soldado da borracha e antigo morador da vila de Aripuanã, contou-me, em 1982, uma versão ligeiramente diferente. Acossados por outros caboclos (índios) que todos os anos apareciam para pilhar suas roças e mata-los, os Arara planejaram colocar-se sob a proteção dos seringueiros que há anos estavam estabelecidos nas barrancas do rio Branco. Receavam, porém, além das armas de fogo, que seu gesto não fosse bem compreendido. Os motores então já subiam o rio, e os Arara espreitavam seguidamente os seringueiros. Um dia, capturaram um tal Chico Pretinho que lavava roupa na canoa, distraído, longe do seu rifle e convidaram-no a segui-los até a maloca. Passados alguns dias, Chico Preti-nho quis regressar e os índios acompanharam-no até o barracão. Consumado o “amansamento”, os Arara ali levantaram seus tapiris. O seringal comemorou, festivamente.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
210
trabalhar na seringa aviados pelo patrão Geraldo. Ali, porém, eram ainda assedi-ados pelos Cinta Larga, e alguns foram viver no Capivara, outros no Veados.
O peruano Olegário Vela, que apadrinhara estes índios e era por eles chamado de “Delegado” – lembram-no hoje como “a nossa FUNAI antiga”, ou seja, como se fosse um servidor do SPI –, morreu de febre possivelmente em fins da década de 30. Fragmentos destes tempos foram rememorados por dona Abigail, filha de venezuelano que à época dos contatos morava no rio Branco (tinha então uns 15 anos de idade). No relato que fez à antropóloga Vera Lopes dos Santos:
[Ela] Conhecera as últimas famílias de índios Arara que ainda permaneciam nas suas malocas originais (duas malocas). Estas malocas localizavam-se próximas ao igarapé Poraqué (margem esquerda do Aripuanã). Refere-se a estes índios como *mansos' e “pacíficos”. Ao contrário da afirmação de Vítor Hugo [ver abaixo], esta senhora nos relatou que os índios Arara usavam de fato, penas de arara nas orelhas e no lábio infe-rior (daí a denominação do grupo pelos brancos)21, além de uma tanga feita de algodão. Somavam aproximadamente 10 famílias, que inicialmente vieram para a beira do rio Branco, fixando-se ao lado do barracão de Olegário Vela. (SANTOS, 1987: 10)
A viúva de Olegário Vela, a peruana Ema, se casou então com dom Geraldo, o gerente do Palmeirinha, e juntos passaram a administrar os barracões do rio Branco. Pouco depois, por motivo não esclarecido pelas fontes ou informantes, se suicidaria o despótico Alejandro Lopes, enforcado em Manaus. A viúva dona Va-lentina, por sua vez, casou com dom Raul del Aguila, então gerente em Samaúma, no rio Aripuanã (idem, ibidem). Neste momento, parte dos índios do rio Branco já emigrara para as margens do Aripuanã e alguns para o Guariba. É a situação que o subajudante da Inspetoria do SPI Anastácio Cavalcante deparou em 1941, quando da expedição que fez à bacia do Aripuanã para verificar os ataques de índios22 aos seringueiros da firma J. Negreiros nas proximidades de Campo Grande e do rio Mureru. O subajudante em seu relatório designa aqueles como “tribu dos Necadês”:
A tribu dos Nêcadês, que, ha tempos, foi disimada pela Gripe, quasi na sua totalidade, hoje encontra-se dividida em dois grupos: um desses habita o Aripuanã e outro o Rio Guariba. O grupo residente no Aripuanã consta de 26 pessõas, 9 homens, 11 mulheres e 6 crianças. Os Nêcadês estão pacificados e vivem em promiscuidade com os civilisa-dos. Ao grupo de Aripuanã Don Raul del Aguila dá toda assistencia. Tive oportunidade de vêr e falar, em Vila Samahuma, com três selvicolas, tipos fortes, de estatura regular, morenos, e expressando-se regularmente em português. Os demais, do grupo, estão no lugar Bom Sucesso, horas acima dos limites do Amazo-nas, propriedade de Don Raul del Aguila” (apud SPI - Inspetoria do Amazonas e Acre, 1942: 5-6)
Em meados da década de 50 dom Raul faleceu e Valentina, viúva pela se-gunda vez, partiu para Manaus levando consigo três famílias Arara (é esta uma das razões para que existam hoje vários descendentes Arara residindo naquela capital).
Quando o missionário Vítor Hugo realizou, em 1958, sua viagem de deso-briga, verificou uma população indígena de 45 pessoas vivendo na localidade de Três Tombos, no rio Branco, todas com o mesmo sobrenome Vela. Entusiasmado com o “grau de aproveitamento de nossa civilização” que estes índios haviam al-cançado, o missionário louvaria em seus comentários as “vantagens do contacto inevitável”: os valores morais, os bens materiais adquiridos por meio do trabalho
21 Por sua vez, um informante (Deca Arara, filho de Ezídio Vela) disse-me que os Arara usavam três penas de arara verme-lha, ornamentando a cabeça (informações pessoais). 22 O aventureiro Eduardo Prado, no início da década de 50, faz o seguinte comentário acerca dos conflitos entre índios e seringueiros na região: “No Aripuanã, um pouco mais acima de Samaúma, a viúva de Alejandro Lopes, proprietária de “Rio Branco” e “Campo Grande”, os dois melhores seringais da zona por seu rendimento, mantém inativas suas proprie-dades por temor ao índio. A população, receosa do periódico ataque, abandonou o lugar” (PRADO, 1959: 67).
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
211
remunerado (na borracha, castanha e farinha) e, acima de tudo, a catequese reli-giosa, tais seriam os benefícios proporcionados aos índios pelos moradores da-queles altos rios (pois, explica-nos o historiador-missionário, até então nenhum sacerdote houvera subido o rio Branco). Em seu diário, Vítor Hugo anotou então:
Encontrei todos aquêles índios batizados em casa. Como se diz por aqui, com água, sal, vela. Pai-Nosso, Ave-Maria e Creio em Deus Pai. Rebatizei-os na forma litúrgica da Igreja, para tirar toda dúvida, e foram êles a pedir-me que abençoasse o casamento natural em que estavam vivendo. É inequívoco o interêsse que algumas famílias de civilizados tomam por aquêles índios mansos. Os padrinhos que êles tomaram no Batismo e na Crisma, não foram meras formalidades. Manoel Francisco da Silva, velho paraense, é casado com uma das mais velhas índias23. Chamam-no Manuel Rapadura (...) É o verdadeiro tucháua de tôda aquela gente. Sabe de cor o lugar de nascimento, a idade (dia, mês e ano) de quase todos. É o pai espiritual, o conselheiro, o amigo, o catequista de todos. É respeitado e venerado. Seus conselhos são leis e ordens, poucos lhe desobedecem (HUGO, 1959: 265).
Por ocasião desta visita aos Arara, além de batizar uns seis a oito índios, o salesiano24 trouxe dois deles para Porto Velho (RO). José Firmino, então com 13 anos (que se engajou posteriormente no Exército) e seu irmão. Acerca do período anterior à sua integração no seringal, segundo Vítor Hugo, os índios quase nada recordavam, ou talvez preferissem omitir tais lembranças “fechando-se num mu-tismo exagerado para toda espécie de civilizado”. A despeito desta atitude, o mis-sionário extrairia ainda algumas informações relevantes:
Cam(u)ãi, parece mais um nome próprio ou coletivo feminino, não tribal. Hoje todos adotaram o sobrenome VELA. Outrora usavam furos nas orelhas e no lábio inferior: os mais velhos, no entanto, garantiram que nunca usaram nem brincos auriculares, nem outros enfeites no lábio. Dos seus antigos adornos conhece-se ainda a pretina, um cin-turão feito de tecido silvestre. Não usavam tatuagem, e sim apenas se pintavam de uru-cum. (HUGO, 1959: 266)
É controversa, com efeito, a questão da denominação destes índios. Para o subajudante do SPI Anastácio Cavalcante, seriam a “tribu dos Necadês”. Já o his-toriador salesiano, como se vê acima, descarta o coletivo “Cam(u)ãi” e prefere designá-los apenas por “índios Vela”. Enquanto informantes atuais, por sua vez, afirmam que Yugapkatã é sua verdadeira autodenominação (cf. VALDEZ, 1985: 3). Por que, então, nomeá-los Arara, como são hoje conhecidos? Minha hipótese, diante disto, é que esta designação, muito frequente no século anterior e que ha-via sido, como notou Rondon, atribuída pelos primeiros seringueiros aos habi-tantes do Guariba, acabou por se estender, de uma maneira ou outra, também aos demais grupos da região, inclusive àquele que ocupava o rio Branco. Entrela-çando seus descendentes por meio de migrações e de matrimônios, os do Guariba e os do rio Branco confundir-se-iam de fato numa única unidade social, e seria, portanto, inevitável que se lhes atribuísse uma identidade étnica comum. Mesmo porque o termo Arara não tem sido historicamente, nesta região, mais que um apelativo para quaisquer índios, uma espécie de sinônimo de uma categoria por si genérica. Identidade, portanto, não específica, de uso francamente polivalente e que serviu à ocasião aos Arara.
Esta população indígena já havia sido atingida por uma epidemia de varicela (ou gripe, como registrou o subajudante do SPI) no início da década anterior; uma segunda epidemia, em 1959, vitimou um grande número de pessoas que mora-
23 A esposa de Manuel Rapadura chamava-se Guilhermina (ver adiante um comentário sobre sua biografia). 24 Informação pessoal, na entrevista que mantivemos, eu e Inês Hargreaves, com o ex-salesiano Vítor Hugo em 1984, em Porto Velho, quando este respondia pela Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de Rondônia.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
212
vam no rio Branco, obrigando os sobreviventes a sair em busca de auxílio. Veja-mos os depoimentos de Ezídio e de Anita Arara aos agentes do CIMI acerca destes fatos:
Ezídio: Lembro bem quando chegou um branco na aldeia com o corpo cheio de sinais de feridas secas de varicela e que não demorou o povo foi adoecendo e morrendo mui-tos. Quem pegou primeiro foi Manoel meu irmão e morreu. (...) Anita: Durante a doença Alexandre (?) foi mandando o povo para Samaúma, Amazo-nas. Rodrigo e eu acompanhamos os doentes. Meu pai morreu na viagem, na colocação Tapinima à beira do rio Aripuanã. Foi enterrado no local. Mamãe também estava mal, morreu em Samaúma. Morreram também nossos filhos: Luzia de seis anos, Elizabete de oito anos, Lúcia de treze anos, Lucinéia de três anos e Jair de cinco anos. Dentro de três semanas, morreram estes todos e duas semanas depois morreu Alexandre de um ano e seis meses. João, meu filho mais velho, ficou doente primeiro, mas melhorou. E ele que buscava água prá nós. Manoel, Rodrigo e eu também pegamos a varicela. Na viagem de volta chegando no rio Branco, vieram dizer ao Rodrigo: “Teu pai morreu”. Nossa maloca grande ficou vazia. Tudo silêncio. Tudo escuro. Acendia a lamparina. Não gosto nem de falar disto. Que tristeza! (...) [Nesta maloca] Morava o Deca e a Vi-cença e a filha Maria, o cacique Miguel e Raimunda, Orá e Isabel e Raul, meu primo. Todos morreram. (CIMI, 1991)
Posteriormente o filho de Valentina. Raul, venderia os seringais ao “comen-dador” Pedro Correa. Deteriorando-se as condições de vida dos seringueiros, al-gumas poucas famílias Arara, entretanto, ainda permaneceriam no rio Branco, porém comercializando sua produção com marreteiros ambulantes (SANTOS, 1987: 10-11). Os demais já haviam abandonado os lugares antigos, saindo em busca de trabalho no beiradão do rio Aripuanã ou no salto de Dardanellos:
Anita: Por causa da doença [saíram do rio Branco] e não tinha mais condição. Rodrigo ficou trabalhando com Anastácio que tocava a seringa. Outros também trabalhavam com ele. O batelão ficava só no rio Aripuanã. E quando nós pensou em voltar. tinha esse Marinho Brandão. (CIMI, 1991)
Os silêncios da história
Reconstruir a trajetória dos sobreviventes, porque tal era a condição dos ín-
dios do rio Branco e do Guariba após tais epidemias e o engajamento quase com-pulsório nas estafantes atividades extrativistas, talvez não seja, devo reconhecer, de todo possível. Haverá lacunas na memória, certos fragmentos que se perdem nos muitos percursos individuais. Estaria este passado condenado à extinção? Se-ria esta uma tarefa inócua, reunir uns tantos dados incompletos e outros que se contradizem, vasculhar documentos escritos que pouco trazem além de detalhes esparsos? Mas que não se diga estarmos diante da contingência dos fatos, de um discurso disperso ou sem foco. Nesta história sobram evidências, bem como re-cordações sufocadas e falas propositadamente obliteradas. Pois também estas tá-ticas de esquecimento, entre as tantas outras formas de violência, sempre dizem algo – mesmo que não se saiba o quê, mesmo que na sua opacidade não reste mais que um simples indício da própria violência.
Dos índios do igarapé Moacir, alguns remanescentes – Maria Xapuri e seus filhos – mantêm um firme silêncio a respeito de qualquer fato relacionado às suas origens indígenas, a despeito das muitas evidências. Recusando assim a identi-dade étnica25, quiçá para evitar os preconceitos mais corriqueiros, tal atitude eva-siva, porém, não é capaz de livrá-los dos desmandos e da violência generalizada que atingem os despossuídos em geral:
25 Para um funcionário, a FUNAI que teria insistido em caracterizá-la como indígena, disseram-me que Maria Xapuri respondeu contrafeita: “Índio é quem está no mato!”
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
213
A índia Arara do Guariba, mais velha, Maria Chapuri, recusou-se a falar do passado, e inclusive não assume claramente sua antecedência. O pai de Maria Chapuri fora morto pelos índios Cinta Larga e, após as peregrinações de sua família pelos rios Guariba e Aripuanã, hoje vive na cidade de Aripuanã, em condições precárias. Todos os seus pa-rentes afirmam que ela ainda fala a língua e tem a memória mais viva de seu povo. Seu filho Eduardo foi expulso, ano retrasado, juntamente com mais cinco famílias de se-ringueiros, da colocação que ocupava na boca do rio Canumã, afluente da margem di-reita do Aripuanã, negando-se a falar sobre qualquer assunto que diga respeito ao fato. (SANTOS, 1987: 16)
Outros descendentes foram entrelaçando suas vidas com indivíduos de ou-tros grupos indígenas, tanto os do rio Guariba como os do rio Branco, ou com seringueiros das mais diversas procedências. Quando conheci a velha Nazaré Arara em 1987, então com cerca de setenta anos, estava há muitos anos casada com um seringueiro nascido no seringal Pajurá (do Guariba) e residia em Aripu-anã há quase quinze anos. Nazaré, no entanto, filha de Francisca Arara e um ce-arense, era viúva de Raimundo, um dos filhos do chefe Castano. Embora ela ti-vesse vivas lembranças de sua infância no seringal, seu depoimento demonstra o processo de sobreposição dos grupos indígenas a que me referia acima26. E Ezilda, de trinta e oito anos, que a antropóloga Vera Lopes dos Santos (1987: 40) encon-trou vivendo em Aripuanã, casada com um filho de Nazaré e Virgílio, é neta de Pedro Corobó, um daqueles Arara que estiveram à frente do grupo que procurou os seringueiros no Guariba.
Um outro exemplo consta do relatório dos padres Hebinck e Vitte que em 1971 subiram o rio Aripuanã. Eles encontraram na cachoeira dos Veados o velho Antônio Felipe de Souza, apelidado Paraíba, casado com uma índia do Guariba. Vivendo na região desde 1919, foi um dos principais informantes sobre a história e as condições dos habitantes deste rio:
O Senhor Antônio, chamado o Paraíba, casou com uma índia legítima, da tribo dos Araras, no rio Guariba em 1935. Ela se chamava Ana, foi uma boa esposa, corajosa e trabalhadeira; Ana lhe deu 9 filhos, dos quais apenas dois sobreviveram. (HEBINCK & VITTE, 1971: 12)
E por fim a velha Guilhermina Arara, viúva daquele Manuel Rapadura que o missionário Vítor Hugo conhecera em Três Tombos no rio Branco, vivendo entre os índios Vela – tantos anos que, segundo estes, teria aprendido “seus costumes” (VALDEZ, 1985). Guilhermina, porém, era nascida no rio Guariba, donde saiu ainda criança pequena para viver com o outro grupo. E, curiosamente, foram ela e seu filho Zé Rapadura os que mais resistiram no rio Branco, apenas abando-nando sua colocação em 1986, quando a polícia e os jagunços queimaram sua casa e os expulsaram.
No beiradão e nas cidades
Nas décadas de 60 e 70 as condições de vida no alto Guariba e no rio Branco
pioraram muito. Muitos índios buscaram o beiradão do rio Aripuanã, outros se deslocaram em direção às cidades: Matá-matá, Humaitá, Aripuanã, Ariquemes, Manaus, Cuiabá... Fora de suas terras tradicionais, iriam enfrentar, nos anos se-guintes, toda sorte de pressões. O cenário regional estava passando por transfor-mações abruptas: o governo do Estado estimulava a ação de agropecuárias e co-lonizadoras e, de maneira acelerada e inconsequente, promovia a venda de gran-des glebas de terras consideradas “devolutas”.
O sistema extrativista, com efeito, já não convinha aos novos interesses
26 Ver a entrevista com Nazaré Arara no Capítulo 3.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
214
econômicos atraídos para a região. Os seringueiros e os índios, em razão disto, seriam daí desalojados de suas antigas colocações. No ano de 1986 o missionário Manoel Valdez, do CIMI, ao descer o rio Aripuanã, encontrou-os desnorteados, temerosos diante dos novos “patrões” que se assenhorearam brutalmente das ter-ras do Aripuanã:
O principal líder e representante do grupo, conhecido como “Carioca”, morreu no iní-cio do ano em Vilhena (...). Sua esposa ainda na área ocupada pela Colniza, está deses-perada. São nove filhos e nenhum em condições de trabalhar. Outro líder, o Sr. Osório, que perdera um filho no garimpo recentemente acabava de perder outro (...). O acidente foi num caminhão da colonizadora Colniza. Um tanto desnorteado e querendo abandonar o local o mais rápido possível, assinara um docu-mento para a firma cedendo a área que morava e seringal por Cz$ 50.000,00. Porém os sete anos de trabalho ainda não foram pagos apesar das promessas (...). Junto com Sr. Osório saíram as famílias de seus filhos e genros (...). Todos seringueiros com colocações (...) que ficam dentro da área de posse atualmente da colonizadora Colniza. Deixaram todos os seus pertences e benfeitorias no local, e sem a presença do Sr. Osório estão com medo de retornar. Contribuiu para esses temores, o modo violento com que foram despejadas algumas famílias no final do ano passado. Através da polícia de Aripuanã e de Joaquim (capanga de Marinho Brandão e outros grupos), foram queimadas cinco casas de seringueiros e índios Arara forçando-os a saírem do local com as mãos totalmente vazias. Estes estão agora espalhados nos garimpos e outros lugares, sem condições de retornarem a suas colocações e roçados. Os que ficaram estão em situação difícil e com muito medo pois continuam sofrendo fortes pressões. João Damásio mora sozinho com a mãe e apesar de ter ficado a ermo está disposto a resistir. Alonso Garrido e toda a sua família estão doentes, e Euclides que teve seu barraco queimado, está pela cidade com a esposa enferma por causa de uma fratura. Ademar, Origó, Ocimir, Maranhão, Ocimar e outros passam também por sérios problemas e pressão. (...) A colonizadora Colniza com seus milhares de hectares está com uma cidade prati-camente pronta e a estrada construída recentemente [Aripuanã-Colniza-Bonsucesso], só trouxe até o momento prejuízos e doenças aos seringueiros (os únicos beneficiados continuam sendo os de fora). (VALDEZ, 1986: 2-3)
Desta maneira, índios e seringueiros, mais uma vez, são lançados a um des-tino comum: uns e outros despojados, empurrados de lá para cá, mão-de-obra para as derrubadas das fazendas, tentando a vida nos garimpos, a caminho da miséria na periferia das cidades. Tal é o quadro vivido pelos Arara:
Alguns vivem em condições muito difíceis, se locomovendo de um lugar para outro sem parar, à procura de um lugar que lhes dê mínimas condições de se fixar. Eduardo que teve seu barraco queimado está no garimpo novamente. Zé Rapadura (filho de d. Gui-lhermina, que foi forçada a sair de sua terra por Marinho Brandão) está também no garimpo, depois de ter trabalhado com carteira assinada durante onze anos para o mesmo latifundiário. Porém, não recebeu absolutamente nada ao sair. (VALDEZ, 1986: 4).
Capítulo 2
Uma etnia insolúvel27 Remanescentes de grupos indígenas que habitavam o rio Aripuanã e seus
afluentes Branco e Guariba, os índios Arara padeceram com a burocracia e a omissão governamental. Afastados de suas terras pela violência de grileiros e de
27 Este artigo, aqui com ligeiras alterações e correções, foi publicado originalmente sob o título “Nova sociologia da FUNAI impede reassentamento Arara”, em CEDI, 1991: Povos indígenas no Brasil 1987/88/89/90 (Aconteceu Especial 18), pp. 442- 445.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
215
capatazes de madeireiras, as famílias Arara haviam se espalhado pelo beiradão dos rios Aripuanã e Guariba e pelas cidades de Aripuanã (MT), Matá-matá (AM), Ariquemes (RO) e outras, empregando-se na extração de seringa, na pesca arte-sanal e na fabricação de farinha, ou vivendo de biscates variados (faxina, capina, vigilância).
A partir de meados da década de 80, missionários católicos fizeram levanta-mentos e encaminharam as primeiras propostas para o reconhecimento da área indígena. Alguns representantes indígenas viajaram para Cuiabá e para Brasília. E vários Grupos de Trabalho vistoriaram a área presumidamente indígena. A FU-NAI no entanto, incapaz de reaver as terras dos Arara”28, cogitava, talvez por isto, declarar a extinção oficial do grupo. Mediante a formulação de uma inusitada ca-tegoria sociológica – “índios dessituacionados” – um assessor da Superintendên-cia do órgão em Cuiabá argumentava em seu laudo que os Arara não teriam di-reito a uma “área imemorial”, já que estavam irremediavelmente miscigenados e dispersos. Uma Nova Sociologia ou o velho racismo?
A lógica dos vencedores
A década de 60 foi trágica para os grupos indígenas da bacia do Aripuanã,
acossados por seringalistas, grileiros e garimpeiros que invadiram seus territórios e promoveram inúmeros massacres. Na década seguinte, contudo, foi o crime ofi-cial que prevaleceu. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Depu-tados que, em 1979, investigou a situação fundiária brasileira, registraria assim, em seus anais, que Mato Grosso estava sendo “palco da maior invasão de terras indígenas do País, na sua maioria griladas e vendidas a grupos”.
No Município de Aripuanã, notadamente, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT – alienou irregularmente, em 1973, uma área de dois milhões de hectares, adquirida por apenas quatro empresas. Segundo o relatório da chamada CPI da Terra, teria sido o “maior escândalo imobiliário de Mato Grosso”. Concomitante às vendas, o Governo Estadual vinha tomando me-didas para facilitar a ocupação da região, construindo para isto estradas, insta-lando a sede municipal e favorecendo a apropriação das terras remanescentes.
Foi daí que os seringais do “comendador ” Pedro Correa, assentados em títu-los originários do Estado do Amazonas (mas ocupados pelos índios Arara e por outros seringueiros), foram vendidos ao empresário paulista Mário (“Marinho”) Brandão. O empresário, em seguida, tratou de tomar e validar junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT – as posses que existiam nos interstícios das áreas tituladas, açambarcando desta maneira um latifúndio de mais de um milhão de hectares, praticamente todas as terras entre o Guariba e o Aripuanã ao norte do paralelo 10.
E em 1980, por fim, completava-se a retirada forçada dos Arara do Rio Branco. quando a família de José Rodrigo e Anita Vela foi expulsa pelo grileiro Henrique Faveiro29, para quem estavam ultimamente trabalhando na extração de seringa, pouco ao sul do paralelo 10. O “patrão” tomou-lhes todos os pertences, inclusive a borracha acumulada, e eles desceram a remo o rio Branco. Vieram fixar-se na vila de Aripuanã, onde foram abrigados por Durval França, então di-retor da Escola dos Seringueiros. Doentes e desnutridos, viveram por vários me-ses de auxílios e doações dos moradores da cidade.
28 Referida inicialmente como Área Indígena Arara do Beiradão, recebeu posteriormente, por exigência dos próprios ín-dios, a denominação de Área Indígena Arara do Rio Branco. 29 Henrique Faveiro acabou sendo assassinado anos depois, ao que tudo indica em razão de conflitos fundiários envol-vendo aquelas terras.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
216
No segundo semestre de 1984, uma equipe coordenada pelo padre Manoel Valdez, do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, realizou um levantamento da situação dos Arara, ao longo do rio Aripuanã e na cidade de Ariquemes. No relatório apresentado à FUNAI, solicitava-se então a instalação de um posto de vigilância na região, tanto para proteção da população indígena ameaçada pelos latifundiários como para atendimento médico, e a demarcação de uma área no Guariba e outra no Aripuanã. A equipe recenseou 22 famílias Arara, distribuídas pelo beiradão dos rios Aripuanã e Guariba e nas cidades de Aripuanã, Matá-matá e Ariquemes, indicando ainda a existência de outras famílias dispersas30.
De um modo geral, a população Arara está inserida nas camadas mais pobres da popu-lação do beiradão e da vila de Aripuanã. Trabalham como seringueiros, vendendo sua produção e adquirindo mercadorias dos marreteiros a preços aviltados. Os roçados ga-rantem a subsistência básica do grupo - mandioca, macaxeira, milho, cana, fava e fru-tas. À pesca, inclusive com atco e flecha, tem importância fundamental na sua dieta alimentar. As doenças comuns na região, como tuberculose e malária, vêm assolando estes índios, causando mortes periódicas entre eles, uma vez que carecem de qualquer tipo de aten-dimento médico, valendo-se exclusivamente dos remédios do mato que conhecem. Re-centemente, o Arara Goncha, pajé do grupo, faleceu vitimado pela tuberculose. Proble-mas de aborto entre as mulheres e convulsão nas crianças pequenas, são também cor-riqueiros. (VALDEZ, 1984)
O relatório do missionário alertava ainda que fazendas e colonizadoras - que têm sua origem em grilagens ou são propriedades com titulação irregular, sem exceção – estavam expulsando índios e seringueiros do beiradão, para o que vi-nham “utilizando serviços de jagunços, fazendo ameaças e, inclusive, tendo por vezes mandado queimar casas”. Um dos jagunços mais conhecidos na região, Jo-aquim Lima Gomes (vulgo “Joaquinzão”), estava então arranchado na boca do rio Branco, exatamente para impedir o acesso dos Arara às suas terras.
No ano seguinte um novo relatório foi encaminhado pelo CIMI ao órgão in-digenista oficial, completando ali os dados do levantamento populacional e deta-lhando uma proposta de demarcação de quatro áreas descontínuas para os vários agrupamentos Arara. O missionário Valdez relacionou 102 pessoas, distribuídas nos seguintes locais:
Rio Aripuanã: localidades de Campo Grande, Boca do Piranha, Boca do Pacutinga, Cachoeira dos Veados, Bom Sucesso e foz do rio Branco;
Rio Guariba: localidades de Ronca e igarapé Pajurá;
Cidades: Aripuanã e Cuiabá (MT), Manaus, Humaitá e Matá-matá (AM) e Ariquemes e Porto Velho (RO).
Conforme advertia o missionário, a situação dos Arara agravava-se: duas fa-mílias que moravam acima da boca do Canumã, no rio Aripuanã, haviam sido expulsas de sua colocação por pistoleiros e policiais, estes queimaram suas casas e todos os seus pertences (VALDEZ, 1985). E em março de 1986, o CIMI enviou mais um relatório à FUNAI denunciando a violência contra os índios e os serin-gueiros e a ocupação acelerada de suas terras por latifundiários, ações estas que contavam com a cumplicidade do então governador Júlio Campos (VALDEZ, 1986). E alertava que os Arara exigiam a demarcação de suas terras: “Garantem que não vão sair para parte alguma, apesar das pressões que sofrem”.
A despeito da gravidade da situação local, somente em abril de 1987 foi lan-çado a campo um Grupo de Trabalho da FUNAI para estudo da área dos Arara,
30 Os dados demográficos, obtidos nos vários levantamentos feitos pelo CIMI e pela FUNAI, encontram-se no Apêndice 2 desta coletânea.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
217
com vistas à sua identificação e delimitação (Portarias PS 1761/86 e 515/87/2ª SUER/FUNAI). Coordenado pela antropóloga Vera Lopes dos Santos da 2º Su-perintendência da FUNAI, o GT realizou um levantamento da população Arara e um reconhecimento de seu território, reunindo dados históricos e socioeconômi-cos para fundamentar a proposta de interdição de 242 mil hectares situados entre os rios Aripuanã e Guariba, englobando o rio Branco e os igarapés Moacir e Novo. Resguardando os sítios tradicionais onde viveram até há poucos anos e não regis-trando qualquer ocupação de vulto por não-índios, a área então denominada “Arara Beiradão” estava apta a receber os Arara de volta, desde que houvesse o apoio institucional do órgão indigenista, segundo a proposta da antropóloga (SANTOS, 1987).
O levantamento fundiário, peça processual que obrigatoriamente deve com-plementar o trabalho de identificação de uma área indígena, causou, entretanto, um verdadeiro espanto, pois encontrou um total de 68 títulos de propriedade que incidiam na área proposta. As terras, como se soube depois, haviam sido loteadas e vendidas pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, em março daquele mesmo ano, nos últimos dias, portanto, do Governo Wilmar Peres, vice-governador que substituiu o renunciante Júlio Campos. Ficou evidenciado, além de tudo, o favorecimento ilícito que comandou tais transações: o antigo ce-mitério dos Arara, na margem direita do rio Branco, restou dentro de um dos maiores lotes, entregue a Luiz de Almeida, um ex-advogado do próprio INTER-MAT. Das terras do rio Branco, por sua vez, uma boa parte havia sido dividida diretamente pelo empresário Marinho Brandão (Organização de Terras Brasil Norte) em glebas de mais de 20 mil hectares cada, e estavam agora nas mãos de Esthil Móveis e Decorações, da agropecuária Thomagran e de Antônio Dirceu De-boni.
Com sua área totalmente retalhada, os Arara aguardavam, desolados, as ini-ciativas e promessas da FUNAI.
Longe da terra prometida
No mês de novembro daquele mesmo ano, a FUNAI, finalmente, movimen-
tou-se, mas, infelizmente, de maneira bastante atabalhoada. Um funcionário da Administração Regional de Vilhena, Paulo Oliveira, lotado em Castanheira (MT), tramou a ocupação das margens do rio Branco, ao sul do paralelo 10, contando para isso com os Arara que moravam na cidade de Aripuanã e com a ajuda dos Cinta Larga. A iniciativa, como se soube mais tarde, incluía também negócios com o garimpeiro “Bené”, que explorava o garimpo Ouro Preto em terras dos Cinta Larga, e com a Madeireira da Paz, de Antônio Filho, os quais ofereceram o apoio logístico para a movimentação. Alegando depois que se equivocara na leitura do mapa, ao confundir os pontos cardeais, o funcionário da FUNAI conduziu os Arara a um conflito fora da área proposta pelo GT. Aquele trecho de terras, a ser desmembrado da área indígena Aripuanã mas ainda resguardado pela Portaria 562/N (FUNAI, 14/03/79), estava sendo ocupado por posseiros e grileiros, al-guns inclusive mancomunados com autoridades municipais.
A mando do funcionário Oliveira, os Arara e os Cinta Larga forçaram a retirada de 57 posseiros, provocando com isso a reação dos grileiros, en-tre os quais se destacava o delegado José Bento, da Polícia local. O fato ganhou
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
218
ampla repercussão nos jornais de Cuiabá, contudo com informações desencon-tradas repassadas pela assessoria de imprensa da própria FUNAI31.
Com a confusão armada, o órgão indigenista promoveu mais uma de suas “operações”, já que o novo superintendente regional, Nilson Campos Moreira, desejava ardentemente mostrar serviço. No dia 20 de novembro a cidade de Ari-puanã estava em polvorosa: liderada por Campos e pelo indigenista José Edu-ardo, este da ADR de Vilhena, chegara a caravana da FUNAI composta por poli-ciais federais fortemente armados, por representantes do INTERMAT, pelo dele-gado Ronaldo Osmar, de Juína, e por um índio Nambikwara que vinha conversar com os “parentes” indígenas. A rápida vistoria que fizeram na área pôs a nu o processo de grilagem em curso: os policiais fizeram questão de trazer, como prova, um tronco de árvore onde se lia “Área do Delegado”.32
Na noite seguinte as autoridades convidaram a população para uma reunião na Câmara dos Vereadores, onde o superintendente da FUNAI afirmou que o ór-gão tinha por objetivo trazer a “paz social” e que, embora reconhecendo os erros do funcionário Paulo Oliveira, seus atos teriam, contudo, permitido desvendar as transações que envolviam a área interditada. Comprometeu-se então a estudar com o INTERMAT e a Secretaria de Assuntos Fundiários do Estado o assenta-mento de trabalhadores sem-terra na área a ser liberada – cerca de 100 mil hec-tares. Por fim, os representantes da FUNAI sublinharam o direito dos Arara a terem acesso às terras do rio Branco, seu habitat tradicional. Encerrada a reunião, funcionários e policiais foram participar de um churrasco no restaurante Panelão, regado a uísque Natu Nobilis, como se ali estivessem selando, em clima festivo, o dito compromisso com a tranquilidade social – e aproveitaram para, ao mesmo tempo, comemorar o aniversário naquele dia do superintendente da FUNAI...
Soube-se depois que o presidente da FUNAI, Romero Jucá, havia assinado uma portaria de interdição da área indígena Arara Beiradão (PP 3.831, de 20/11/1987, publicada no D.O.U. em 01/03/1988). A situação dos Arara, porém, não melhorou, ao contrário: contratado pela madeireira Esthil, o capataz Joaqui-nzão passou a dirigir, como medida preventiva, seguidas ameaças, principal-mente à família de Rodrigo e Anita Vela. “Podem subir o rio Branco, mas vão descer de bubuia”, isto é, mortos, alardeava o pistoleiro. No beiradão do rio Ari-puanã cerca de vinte famílias indígenas estavam dispostas a retornar ao rio Branco, mas, amedrontadas, aguardavam um apoio efetivo da FUNAI: “Oh, vocês que são grande, vocês que são metido a grande é que devem tomar providência aqui. Vocês têm força, e eu não tenho”, apelavam eles (PORANTIM, 1988).
Mas as promessas se repetiam, monotonamente, solapando cada vez mais o ânimo e as esperanças dos Arara. O superintendente da FUNAI retomou a Aripu-anã no dia 7 de setembro de 1987, desta vez acompanhado pelo secretário de As-suntos Fundiários do Estado, Edgard Nogueira Borges, para mais uma reunião pública acerca das terras que seriam liberadas ao sul do paralelo 10. A presença deles havia sido solicitada pelo próprio prefeito municipal para, segundo disse então, esclarecer as acusações que vinham recaindo sobre a Prefeitura. Tratava-se, porém, de um esforço, acima de tudo, para restaurar a credibilidade do PMDB local, tremendamente fraturado pela disputa entre facções, as denúncias de cor-rupção e o envolvimento em conflitos de terra. Quanto aos Arara, o superinten-
31 Ver por exemplo: Diário de Cuiabá, 21/11/87 (“Invasores atacam índios na região norte do Estado”); e Jornal do Dia, 22/11/1987 (“Invasores fortemente armados atacam índios na região de Aripuanã”) e 24/11/1987 (“Delegado de polícia de Aripuanã comandou ataque aos índios Arara”). 32 Com tudo isto, embora contasse com o apoio do prefeito Almiro Willig, o delegado José Bento foi destituído do cargo pelo delegado geral da Polícia Civil do Estado.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
219
dente alegou falta de recursos para o deslocamento de um funcionário e a insta-lação do posto da FUNAI na área. Prometeu, contudo, a elaboração de um “pro-jeto de assentamento”, a ser efetivado no máximo dentro de três meses.
A cartilha étnica da FUNAI
Mas os meses passaram enquanto os Arara esperavam pela FUNAI. Em julho
de 1988, todavia, alguns portadores de títulos concedidos pelo INTERMAT im-petraram um “mandado de segurança” na 8º Vara da Justiça Federal, em Brasília, pretendendo anular a Portaria que interditou a área Arara Beiradão, sob alegação de que a FUNAI não teria autoridade legal para obstruir o acesso a suas “propri-edades”. Na prática, eram apenas os próprios Arara que não conseguiam regres-sar ao rio Branco, pois os pretensos proprietários já haviam iniciado a ocupação da área, fazendo derrubadas, plantando capim e erguendo benfeitorias.
Inconformados, Rodrigo e Anita viajaram para Brasília no final de julho e re-alizaram uma verdadeira peregrinação pelos órgãos públicos em busca de uma solução para as terras do seu povo. Ouviram novas promessas, aceitaram novos prazos.
Afinal, a 2º Superintendência da FUNAI constituiu um Grupo de Trabalho Especial (Portarias PS 551, de 14/07/1988, e PS 557, de 26/07/1988), coordenado pelo sociólogo José Augusto Mafra dos Santos e composto também por represen-tantes da Secretaria de Assuntos Fundiários e da Polícia Federal, com a “finali-dade específica de elaborar o programa de assentamento da Comunidade Indí-gena Arara-Beiradão”. No mês de agosto o GTE percorreu, mais uma vez, as ca-sas, os rios e as colocações dos Arara. No dia 23 daquele mês seus componentes reuniram-se com os “representantes” da comunidade indígena – o “cacique” José Rodrigo e sua esposa Anita e duas outras famílias –, na presença ainda do pároco padre Duílio e da religiosa irmã Lourdes Christ, da igreja católica local. Na ata assinada pelos membros do GTE e pelos índios consta que estes concordavam com o “assentamento” em uma área do rio Branco calculada em 43.050 hectares.
Uma das componentes daquele Grupo de Trabalho, a antropóloga Dêidi Luci da Silva, entretanto, se recusou a assinar a ata da reunião e elaborou um relatório em separado, assinalando que a decisão foi imposta de forma autoritária aos Arara. Segundo ela, tal proposta teria vindo pronta da 2º Superintendência, e a viagem do GTE seria apenas um subterfúgio para fundamentar a redução das ter-ras dos Arara a duas pequenas áreas, uma no rio Branco e outra no Guariba, que juntas não somariam 70 mil hectares. Mas como os índios do Guariba não con-cordaram em sair de suas colocações para a área proposta, restou apenas o trecho do rio Branco para as gestões do coordenador do GTE (SILVA, 1988). A antropó-loga denunciou ainda que aquela proposta desconsiderava a existência compro-vada, na área interditada, de um grupo indígena ainda isolado – os chamados “Baixinhos” ou “Cabeça Vermelha” – que ficariam desprotegidos com a redução da área.
Reduzir a área, contudo, não seria o único objetivo da FUNAI no caso. O re-latório elaborado pelo sociólogo Mafra dos Santos representa, de fato, uma dis-torção temerária das finalidades originais do GTE: ao invés de um plano para re-assentar os Arara, como requeriam as Portarias que constituíram o Grupo de Tra-balho, o dito sociólogo veio propor, porém, a demarcação de uma “reserva indí-gena”33 . Ou seja, para Mafra dos Santos os índios Arara já não teriam quaisquer
33 A diferença é que, pelo Estatuto do Índio (Lei 5.001/73), uma área indígena, embora seja inscrita como bem inalie-nável da União, corresponde às terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, aos quais cabe a posse e o usufruto, já uma
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
220
direitos sobre as terras donde foram expulsos, e por esta razão a FUNAI deveria promover a desapropriação de uma área para então assentá-los.
É uma “nova sociologia”, como a denominei, tanto por seus objetivos como por seus métodos: ao desconhecer as condições históricas concretas em que vive-ram e vivem os Arara, nada mais faz que demonstrar suas preferências e, de ma-neira acrítica mas não desinteressada, acolher como legítimos os resultados soci-ais da grilagem violenta, da especulação imobiliária e das negociatas governa-mentais. Ou como justificou num rompante sincero o próprio sociólogo da FU-NAI aos índios Arara, resumindo assim os postulados que a embasam: esta é “a lógica do branco; os índios foram vencidos, gente!”
E assim teremos como corolário concreto desta posição, que os parcos recur-sos da FUNAI, longe de apoiar o regresso dos Arara às suas terras, deveriam ser repassados para fins de desapropriação aos pretensos proprietários da área - gri-leiros, especuladores, madeireiros.
Para tanto, o sociólogo, através de inacreditáveis malabarismos retóricos, fez de tudo para desclassificar os Arara enquanto grupo étnico, lançando mão de argumentos substancialistas e, sobretudo, parciais: segundo ele, a miscigenação, a dispersão e a dominação teriam rompido o “elo étnico”, e assim o “exercício da identidade étnica” pelos seus membros ocorreria tão-somente através da “invo-cação do passado”, uma vez que não compartilhariam mais valores culturais ou uma organização social própria. Fora de suas terras, “mesclados” e com hábitos culturais “exógenos”, como os descreve Mafra dos Santos, os Arara sequer teriam lugar na cartilha étnica da FUNAI: na falta de um conceito34 para caracterizá-los, o sociólogo acaba por inventar até mesmo um neologismo – “índios dessituacio-nados”, que traduz por ausentes de “situação étnica”. Melhor dizendo, não seriam mais índios! Ou, na expressão coloquial daquele servidor da FUNAI, referida acima, à “lógica do branco” teria vencido e ponto final.
Mas esta não é apenas, como se poderia pensar, uma “sociologia” a partir da ótica dos vencedores. O acento dado à situação de miscigenação ou à quase au-sência, como diz ele em seu relatório, de “famílias integrais” entre os Arara acaba por revelar a identidade ideológica entre os argumentos de Mafra dos Santos e as teses racistas esposadas pelo coronel Zanoni Hausen anos atrás, que, na condição de diretor da FUNAI, se empenhou em validar uns tais “critérios de indianidade” contra os povos indígenas no Nordeste. Vale lembrar, desta maneira, a crítica que os antropólogos fizeram na época à falsa cientificidade de tais critérios, crítica esta consolidada em vários artigos e pareceres.
A professora Manuela Carneiro da Cunha, por exemplo, apoiada em formu-lações do antropólogo norueguês Frederik Barth e de outros, mostrou que a iden-tidade étnica não se sustenta em quaisquer critérios raciais e nem mesmo em for-mas culturais inalteradas: “a antropologia social”, diz ela, “chegou à conclusão de que os grupos étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que eles percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais interagem” (CAR-NEIRO DA CUNHA, 1981).
Como já se evidenciou na ocasião, atitude que agora se repete, a ênfase clas-sificatória do indigenismo oficial – com seus graus de integração, seus critérios de indianidade ou de situação étnica - responde antes de tudo às tentativas de
reserva indígena trata-se apenas de uma área destinada pela União para servir de habitat aos índios. Que provavel-mente precisaria ser desapropriada antes de entregue aos índios. 34 Convém lembrar que as categorias isolados, contato intermitente, contato permanente e integrados foram propostas por Darcy Ribeiro para a análise das etapas de integração ou, como diz este autor, do processo de transfiguração étnica que ocorre no enfrentamento entre os índios e a civilização (RIBEIRO, 1982). Estas definições, inclusive, se tornaram conceitos jurídicos, ao serem posteriormente incorporadas pelos legisladores ao Estatuto do Índio.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
221
descaracterizar os índios enquanto índios. O objetivo precípuo, na verdade, seria retirar a legitimidade dos seus direitos e de suas reivindicações territoriais. E desta maneira, esta “nova sociologia” da FUNAI não faz aqui senão o velho jogo sujo dos espoliadores de terras indígenas de todos os tempos: a negação do outro, sua eliminação ideológica, quando não física.
Os índios Arara permaneceram, apesar de tudo, como um problema real, alheios aos malabarismos conceituais do sociólogo de plantão e de outros zelado-res dos interesses anti-indígenas. Em maio de 1989 eles, mais uma vez, retorna-ram a Cuiabá e foram bater na porta da FUNAI: vieram reclamar uma solução, pois queriam retornar para o rio Branco...
Capítulo 3
A Voz da Memória As entrevistas, a seguir, de personagens variados (índios, seringueiros, em-
preiteiro etc.), foram realizadas em momentos e circunstâncias e por interlocuto-res diversos. Cada uma delas, assim me pareceu, pode ser apresentada como um desses retalhos da memória, ao mesmo tempo social e individual. Reunidas aqui, talvez possam compor, em cores e tons muito singulares, um quadro etnográfico dos grupos indígenas do Guariba e do rio Branco, uma certa trajetória histórica e um perfil socioeconômico dos que então foram designados e hoje se designam pelo etnônimo Arara.
Cada tribo tem um sistema
Conheci e entrevistei o ex-seringueiro Raimundo Santos em sua casa, na
ponte do Guariba, por ocasião de uma viagem de pesquisa promovida pelo GERA/UFMT, no dia 1 de julho de 1991.
Raimundo: Já vou fazer 71 anos no dia 12 de setembro. Estou com 52 anos
só aqui no Guariba. Nasci no rio Roosevelt, acima de Vera Cruz – essa cachoeira é muito grande, conhecida por Doze Tombos, são doze quedas d'água debaixo do céu. Acima dessa Doze Tombos... eu não sei o nome da colocação, não me lembro. É mais ou menos uma hora de motor-rabeta acima dessa Doze Tombos. Esse Val-ter [Santos], meu irmão, nasceu na boca do rio Branco [do Roosevelt]. Eu vim primeiro que ele para o Guariba, mas depois eu saí, fui para Manaus. Foi o tempo que me casei. Casei já velho, quase pegando 40 anos. Nasceu o primeiro filho e fomos para Manaus. Passei 27 anos trabalhando em Manaus, isso numa única firma, trabalhando de empregado. Aí com 27 anos eu fui indenizado, saí e com-prei uma casa. Tenho uma casa em Manaus na Dom Pedro I, em frente ao Hospi-tal Tropical. Vim para cá, mas vim só, a família ficou. Trabalhei dois anos e baixei. Eu era aviado da firma... não-sei-quê Schuam, um turco. Aí baixei para Manaus, passei três anos mais. Quando subi já vim com a família. A minha filha Socorro já tinha saído do colégio. Eu me coloquei no [lugar] Zé Mulato, abaixo do Xibé um pouco.
Pergunta: O senhor conheceu os Arara aqui no Guariba? Raimundo: Quando eu cheguei os Arara não moravam mais aqui no Alegria
[onde hoje está a ponte do Guariba], tinham saído. Eles estavam mais para cima, num igarapé que chamam Moacir. Esse Moacir pertence aos Arara. Aí morava
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
222
índio Arara para danar. Aliás, todo mundo gostava dos Arara, eles não eram per-seguidores de ninguém. Eles matavam gente sim, mas não era assim. Às vezes matavam porque eram obrigados a matar, mas nunca como esses Orelha de Pau, esses eram uns índios perigosos. O Guariba era a região deles. Parece que foram eliminados, não ouvi mais falar. Eles brigavam muito, os Orelha de Pau, esses Arara, esse Cinta Larga e um tal de Cabeça Seca.
Pergunta: Quem era o tuxaua dos Arara quando estavam no Moacir? Raimundo: Nesse tempo era Arimã. Tinha ao menos sessenta a setenta pes-
soas. A vida deles era botar roça, comer. Não cortavam seringa. Hoje que já tem alguns cortando seringa.
Pergunta: Mas me disseram que quando estava o tuxaua Caetano eles cor-
tavam seringa... Raimundo: Isso mesmo, Caetano cortou seringa. Foi daí que eles saíram e
foram para o Moacir. Esse Caetano eu conheci pessoalmente, ele já era uma pes-soa de idade. Não estou lembrado se ele morreu no Moacir ou foi aqui mais para baixo. Ainda tem uma índia velha, dona Júlia, mora aqui para baixo.
Pergunta: A filha de dona Nazaré? Raimundo: Isso mesmo. Era muito índio Arara. Eu conheci aqui no Roose-
velt os primeiros índios que amansaram, eu convivi com eles. A primeira aldeia de índios foi amansada aí pelo finado meu pai, era dos Arara. O tuxaua chamava-se Paroné. Eles se acharam perseguidos, esses Orelha de Pau perseguiam muito eles. Aí o tuxaua morreu, ficou a Cassirene, a mulher do tuxaua - ela ficou desori-entada, não tinha a base do marido. Paroné era filho do tuxaua, mas era pequeno. Ela ficou como tuxaua e o jeito que teve foi amansar com meu pai. O nome de
meu pai era Manoel Vicente dos Santos, era gaúcho. Depois deles aman-sarem, esse Paroné estava grande, a Cassirene deu... Foi uma coisa linda, eu conto isso porque vi com meus olhos. Uma reunião medonha, tudo quanto era índio, aí bate palma e canta aquelas coisas. O Paroné ia ser o tuxaua da maloca, a Cassirene estava comandando mas achou que tinha que entregar o capacete para o filho. Foi uma festa danada aquele dia, quando ela entregou o capacete para o filho.
Bom, seu menino, pelo amor de Deus! O Paroné matou muito índio: ele tinha raiva de índio, depois que ficou homem ele odiava porque tinham matado o pai dele. Então esses tal de... tinha Cuximiraíba e esses Orelha de Pau. Ele botou para acabar com eles, entrava na aldeia, pegava criança assim pelo mocotó, suspendia de cabeça para baixo e cortava com o terçado. Isso foi no rio Castanho, que o Rondon colocou o nome de Roosevelt.
Pergunta: Esses Arara no Roosevelt tinham outra denominação? Raimundo: Tem duas tribos de Arara que eu conheci. Tinha o Arara e o Ara-
rabenis. Esse tinha uma listra assim [tatuagem facial], aquilo morre e não se acaba. Os Arara amansaram antes do Rondon passar. Teve uns aí, uns três, que o Rondon levou, ele achou muito inteligentes. Ele não matou índios. Rondon falava tudo que era idioma, chegava e falava com os índios, entrava na aldeia e falava com os índios. Assim, domando para não mexer com os seringueiros. A mortan-dade era grande. Então, dessa época aí eles fracassaram mais esse negócio de ficar matando gente. Às vezes vinham roubar as coisas da casa, pertences. Roubaram
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
223
uma vez, me lembro bem, aqui no Aripuanã, eu fui dessa vez numa correria [ex-pedição]. O índio chamava-se Matias. Tinha o Matias, o Adeca e o Orá. O Adeca e o Orá eram os tuxauas dos Arara.
Pergunta: Quais Arara? Do Guariba ou do rio Branco? Raimundo: Trançavam isso aí tudo. Porque a gente via Arara aqui, via no
Roosevelt... Pergunta: Mas eram os mesmos? Raimundo: Era o mesmo, só distinguia que tinha o Ararabenis e o Arara
mesmo. Mas era uma coisa só, tudo unido. Aí nós fomos no igarapé Natalzão, a aldeia deles era para lá. O índio falava tudo. O patrão era dom Raul del Aguila, aí mandou, foi muita gente. Chegou na aldeia, deram uma porção de tiros para o ar, mais de sessenta armas atirando – mas não atirava para ofender os índios. O tu-xaua disse: “Aquele que matar índio também cai junto com índio, não tem que atirar no índio”. Eu sei que deram um bocado de tiros, os índios alertaram tudo. Aí entramos. Eu sei que traçaram língua para lá, e tudo armado, os índios tam-bém, mas não trocaram flecha nem bala. O Adeca mais o Orá entraram na aldeia, a turma ficou de fora. Ficou também um pelotão de índios do lado de fora, tudo armado, com medo do índio entrar e a gente aproveitar para fazer fogo. Aí eles ficaram de prontidão também. Quando eles vieram de lá trouxeram uma malazi-nha – eles tinham carregado sabe lá de onde – quando foram abrir, arrombaram a mala, tinha um 38 duplo desse tamanho assim. Índio naquele tempo tinha medo de arma, não queria nem ver, se visse um cartucho saía assombrado. E quando viram o revólver, deixaram essa mala para lá, não mexeram. Aí o Adeca trouxe, cheinho de bala. Trouxeram esse revólver e parece que deram para o dom Raul. O Adeca cortou gíria para lá, aquela confusão. Que diabo entendia?
Pergunta: O senhor chegou a aprender alguma palavra? Raimundo: Não, não aprendi nada. A minha segunda mulher era filha desse
tuxaua Adeca. Eles eram uns índios bonitos. Pergunta: Onde morava o Adeca? Raimundo: A aldeia deles era entre o Guariba e o Aripuanã, era nesse meio.
Eu me juntei com ela, morei três anos. Mas ciúme assim só no inferno, qualquer coisinha ela dizia que matava... Eu já estava querendo escapulir das unhas dela. Tanto o Adeca como o Orá gostavam muito de mim, da minha sogra, mãe dessa minha mulher, gostavam demais. Aí um dia eu falei com o Adeca. Ela chamava-se Derazinha, a mãe dela era Derá. Eu contei o caso para ele, ele chamou atenção dela, deu uns conselhos... Ela era bonita, civilizada, mas tinha um sotaque de ín-dio.
Uns índios asseados. Eu dei fé, cada tribo tem um sistema, tem um tratar, tem um sistema de comida. Esses índios Arara, a comida que eles faziam qualquer pessoa podia comer. Uma vez eu botei uma roça aqui no Aripuanã, lá em baixo. Há muitos anos atrás aquilo já tinha sido capoeira de índio. Nós plantando, eu e meu compadre, cavando, aí achei um pão deste tamanho. Bati nele, parecia uma borracha enterrada no chão. Aí ele disse: “O que é isso compadre?” Respondi: “Eu vejo dizer que isso é pão de índio”. Ainda lavei assim, pedra não é. “Isso não é batata do mato?” “Não é, vejo dizer desde menino que isso é pão de índio”. Deixa para lá. Aí passei aqui para o Guariba. O finado Jerônimo Marinho é que coman-
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
224
dava os índios. Trabalhavam com ele, cortavam seringa, esse Caetano. Aí baixa-ram, vinha o Zé Brasil, Arimã, tinha Marã, Marãzinho e Marã Preto - este era meio moreno -, um tal de Pedro Corobó, tudo índio. Aí o compadre Zeca disse: “Compadre, pergunta se isso é pão?” Disse: “Tá bem!” Aí eu trouxe o pão e disse: “Éh Zé, Zé Brasil! Diga uma coisa, isso aqui é pão de índio?” Ele falava mas era ruim, algumas coisas a gente entendia. Ele olhou e disse que não sabia. Falei para o compadre Zeca: “Eu não estou lhe dizendo que isso é troço que nasce do chão, eu vejo desde menino”. Um bocado deles [índios] amansaram com papai e eu ou-via. Aí virou e mexeu, baixaram outros [índios] com o finado Aleixo, Antônio Aleixo de Moura que era também patrão. Eu perguntei para ele [um índio]. Ele olhou: “Não sabe não”. Passou-se, passou-se. Aí baixaram do Aripuanã o Adeca, o Orá, o Matias e eu mostrei para eles. Adeca falava bem português, ele não tinha sotaque de índio, a gente notava que ele era índio porque o jeito deles...Eu falei com ele, ele olhou e mostrou para o Orá, “Mas isso é pão de índio?” Ele disse: “É. é pão de índio”. Eu disse que tinha perguntado para uma porção, para aqueles do Guariba, para o Zé Brasil, o Pedro Corobó. Ele achou graça e disse: “Ele não sabe falar direito, mas conhece, ele sabe que é de índio. Mas ele disse que não sabe porque cada tribo tem um sistema. Isso é pão de índio, isso pertence a mim” – e bateu no peito. “Isso é nós que fazemos”. Uns fazem de milho, outros fazem de macaxeira, outros fazem de mandubi [amendoim] que chamam, outros fazem de cará. Então cada um tem sua qualidade. Ele sabia que era pão de índio, mas ele queria dizer que não era dele, era de outra tribo.
Pergunta: E esse tuxaua Caetano, ele aviava os outros índios? Raimundo: Isso mesmo, ele tinha barco, recebia mercadoria. Trabalhou aí
no [igarapé] Moacir, era instruído pelo finado Jerônimo Marinho, que foi patrão desse Vavá [um seringueiro]. Vavá conta isso muito bem, morou junto com eles. O barracão do Jerônimo Marinho era dentro do Moacir. O Jerônimo Marinho trazia mercadoria do J. Negreiros, e aqui aviava o Caetano e outros. O Caetano trabalhava com meia dúzia de índios e também civilizados. Quando conheci, ele já era meio idoso, ele era gordo, forte. Ele falava bem assim como eu estou fa-lando, mas quando falava o idioma dele, por exemplo quando ia chamar um índio acolá – não tinha diabo que entendesse! Ele teve uma porção de filhos. Quando eu vim de Manaus, ultimamente, tinha dois: um era capitão da Polícia Militar, o outro era cabo. Uma porção deles vive bem, por isso que eles não vieram mais para cá. Eles são gente da farda, e aqueles que não são vivem bem empregado. O índio tem um cartaz danado, e eles são um povo inteligente.
Pergunta: Do Moacir então estes Arara foram dispersando? Raimundo: Foi o tempo que o Jerônimo Marinho morreu. Ele era tudo para
eles, era o deus dos índios. Como para esse Caetano, o Jerônimo Marinho dava todo apoio aos índios. O Jerônimo Marinho morreu, acabou-se tudo. Foram tudo de águas abaixo. Foi o tempo que o Jerônimo Marinho foi para São Paulo, doente, não tinha mais cura. Ele já tinha ido, depois voltou, veio aqui, balanceando, ele ia entregar isso tudo, consta que ele ia deixar esse Caetano, ia entregar tudo para o Caetano e ia embora. Mas eles estavam tão acostumados, chamavam pai Je-rome... Depois que o Jerônimo morreu, desmantelou-se tudo. Esse Caetano es-tava de rebolada por aí. Ficaram todos desorientados. Acabou-se tudo. Hoje tem alguns deles, índios Arara, mas é pouco. Lá no Aripuanã eu vi um, já velho, a mulher do Matias, Maria Rodrigues. Tem alguns espalhados. Em Manaus tem um bocado deles.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
225
Vestidos de vermelho Entrevistei dona Mocinha, ex-moradora do Guariba, na minha casa em Ari-
puanã, no dia 14 de janeiro de 1987. Dois dos seus filhos foram mortos pelos Cinta Larga em 1971, 0 que levou a migrar para o rio Aripuanã.
Mocinha: Eu fui nascida no Guariba e lá me criei, num lugar chamado Ca-
choeira Seca. Meu pai, Teodoro Garrido da Silva, maranhense; minha mãe, Maria Lourival dos Santos. Meu nome: Francisca Lourival dos Santos. Desde menina meus pais me apelidaram Mocinha, e foi ficando. Nós trabalhava na Cachoeira, perto do Bacaba. Lá nasci, me criei e criei meus filhos. Só não criei o Garcia por-que ele acabou de se criar aqui [em Aripuanã]. No tempo que eu era criança não tinha esse negócio de índio [Cinta Larga], só tinha os Arara para baixo. Depois que me juntei, que subi, que fui trabalhar no Mané José, com o velho Manoel [seu marido], pai do Chicuto, foi que começou a aparecer. Ao lado que eu lavava roupa, ficavam jogando pau, pedra... Era eles [os Cinta Larga] com brincadeira.
Pergunta: A senhora conheceu os Arara no Guariba? Mocinha: Não, só ouvia falar. Mas teve um bando de Arara lá para o lado do
[igarapé] Moacir [afluente do Guariba], e outra turma de Sucuruí [Suruí?], que foi que fez uma turma – dessa que tem ainda uma aí, que é a comadre Maria Xa-puri e o compadre Eduardo. Foi desses que eles correram com medo dos Arara é dos Sucuruí. A comadre Maria e o compadre Eduardo – nesse tempo ele era pe-queno, só ia nas costas - eles correram com medo dos Arara e Sucuruí que bota-ram neles para matar, eles correram com medo e se obrigaram a amansar. O fi-nado Jerônimo [Marinho] fazia assim: levava pente vermelho, pano vermelho, toupa vermelha, deixava lá na beira do igarapé para eles. Aí eles levavam aquilo e deixavam para o finado Jerônimo: porco assado, macaco assado. Aí o finado Je-rônimo trazia tudinho, era o patrão, ia lá e trazia. A colocação era dentro do Mo-acir, no barracão dele.
Os parentes da comadre Maria Xapuri, esses que amansaram, eu vi tudinho. Eles usavam só uma cintazinha passada no cós, parece que era de envira, verme-lha, com um palmo de largura, dura. Só com a cinta assim, eles saíram tudinho, as caboclas com os cunhãzinhos nas costas, e os caboclos tudo na frente. Os cola-res deles não cheguei a ver. Vi eles quando chegaram no barracão, aí o finado Jerônimo vestiu tudo, pronto, ficaram tudo vestido. Aí batizaram eles tudo. É porque morreram tudo. Desses caboclos só tem mesmo a comadre Maria Xapuri, 0 compadre Eduardo, o Antônio - que é filho da comadre Maria com o Antônio Marques, que é civilizado.
Pensei que a dona Nazaré não fosse cabocla não. Eu sei que a dona Maria Xapuri é, porque eu vi quando ela saiu lá do mato e amansou, entrou dentro do barracão do finado Jerônimo. Entraram tudo nu e ele vestiu tudinho. Tinha Api-acá, tinha finada Nazaré, tinha finado Noé, finado Arônio – esses morreram tudo, de gripe, pegaram uma gripe doida, matou eles. Em pouco tempo que eles aman-saram, pegaram essa gripe, aí foram morrendo. Eles trabalhavam com o finado Jerônimo.
Pergunta: E esse pessoal que trabalhava com o índio Caetano, que era o pa-
trão? Mocinha: Esses eu não me lembro, só me lembro do finado Jerônimo. que
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
226
trabalhava no Moacir. Dessas caboclas que amansou, eu sei que está vivo é a co-madre Xapuri e a Beatá, que foi para Bolívia com um homem, ela se juntou com um boliviano e foi para lá. Levou até um filho, deste tamanho, chamado Joaquim, Era muito caboclo, era muito.
A Maria Xapuri quando amansou já era mulher, já com filho. Trazia o com-padre Eduardo nas costas. Ela amansou solteira, só com o compadre Eduardo nas costas, filho dela. Aí depois que ela amansou, ela se juntou com Antônio Marques. Ele já morreu, é o pai do Antônio. Só mesmo o Antônio, não teve outro. Foi o tempo que ele baixou da Prainha lá para baixo, atacou um reumatismo nele e ele morreu.
Pergunta: Será que havia umas cem pessoas no grupo que saiu? Mocinha: Uns cem índios? Tinha. Amansou bastante, era índio grande, ve-
lho, índio que nem esses meninos que têm aqui, molecote assim amansou muito. É que morreu tudo. A gripe é que matou eles, foram morrendo, se acabando os caboclos. Eu ia muito no barracão, e via eles. As mulheres tudo de tanguinha, assim amarrado na barriga, e eles com a tanga assim, do mesmo jeito. Aí entraram no barracão e quando saíram o compadre Jerônimo tinha vestido todos eles, tudo de vermelho.
Quando eles estavam para amansar, é só o que levava para eles no igarapé: levava corte de fazenda para eles, tudo vermelho, levava pente, tudo vermelho, espelho, tudo vermelho. Levava, botava na beira do igarapé, aquele monte para eles, o finado Jerônimo deixava para eles, tudo vermelho: corte de roupa, calça feita vermelha, vestido para cabocla tudo vermelho.
Pergunta: Tinham tatuagens no rosto? Mocinha: Não vi. Tinha aquele buraquinho no beiço. Eles amansaram por-
que os outros atacaram eles para matar, e eles correram. Era mais para cima a maloca deles. Devia ser muito em cima, porque fizeram bastante correria [expe-dições de extermínio] lá e nunca toparam a maloca deles. Quando os índios ata-cavam lá, eles juntavam de quinze homens, fazia matula de comida e levavam para não fazer fogo no mato e iam fazer correria. Mas nunca chegaram na maloca deles...
Depois que eu me formei é que começou a aparecer os índios [Cinta Larga] roubando as coisas das casas...
O maior matador de índios
O empreiteiro Gerôncio Nogueira, ex-empregado da firma seringalista Ar-
ruda & Junqueira, foi entrevistado por Inês Hargreaves (Projeto Cinta Larga/OPAN), em Aripuanã, no dia 26 de junho de 1986.
Gerôncio: Eu sou baiano, mas nasci no Paraná. É porque meus pais são bai-
anos, mas eu nasci no Paraná, e me criei mesmo no Estado de Minas e de São Paulo. Depois meu pai foi para Bahia, minha mãe morreu. Depois eu voltei para Minas. Depois que eu vim para Mato Grosso.
Inês: E como você encontrou o [Antônio Mascarenhas] Junqueira? Gerôncio: Antes de chegar a Cuiabá, eu estava no Mato Grosso do Sul. Eu já
estava velhinho - estou com 55 anos. Em Campo Grande eu encontrei um conhe-
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
227
cido que era de São Paulo, me disse que tinha um cara lá – o Lebrinha, esse re-vendendor da Antarctica – que ia abrir uma fazenda, e me chamou para vir com ele. Trabalhei seis anos com ele. Depois disso passei ano e pouco mexendo com um restaurante, mas eu não gosto. Aí me informaram que o Junqueira precisava de alguém para tomar conta de uma propriedade dele. Fui com o Junqueira lá perto de Vilhena. Depois de lá, eu voltei para Cuiabá. Aí o Amaury [Furquim, pre-feito nomeado] vinha para Aripuanã, abrir o município, O Junqueira falou de mim para o Amaury. Aí eu vim abrir a picada [a estrada de Vilhena a Fontanillas].
Inês: Encontrei outro dia com um índio Canoeiro em Castanheira, ele me
disse que trabalhou com o Junqueira... Gerôncio: Trabalhavam muitos Canoeiro [índios Rikbaktsa] com o Jun-
queira, mas trabalhavam [também] civilizados. Agora esses uns [índios] vinham [acompanhar as expedições contra aldeias Cinta Larga35] para achar bonito.
Você sabe que o índio, geralmente, uns têm raiva do outro. O maior matador de índios que tinha aqui [em Aripuanã], em 1932, era um índio, filho daquela velha índia, a Guilhermina. Chamava-se Manoel Gonçalves, era índio mesmo, era o maior matador de índios aqui. É pai daquele Osmar. Tem aí uma mulher com nome Rocilda, cujo pai é chamado Osmar, ela é neta dessa Guilhermina. Então, o pai dele foi o cara que mais matou índio aqui. Era índio, filho daquela velha, e foi pegado novo, civilizou, e foi o cara que mais matou índio aqui. Ele perseguia os outros, para matar índio. No tempo aqui em 1932, tinha esse dom Alexandre, ele tinha sessenta homens só para matar índio. Era a vida matando índio...
Ele era acostumado
Gravei esta conversa com o casal Virgílio Costa Santos é Nazaré Medina Arara
no dia 15 de dezembro de 1 987, enquanto ele fabricava uma canoa para os Arara na casa de Anita e Rodrigo Vela, em Aripuanã.
Pergunta: Quando vocês vieram para Aripuanã? Virgílio: Fazem uns dez anos, aqui morando em Aripuanã. Nazaré: Pois é, sêo menino, estou com meus filhos tudo espalhados. Ma-
naus, Porto Velho... Pergunta: A senhora lembra quando seus parentes saíram no seringal? Nazaré: Não era nascida ainda... Virgílio: Quando saíram? Nazaré: O finado Caetano... Virgílio: Isso aí faz muitos anos... Tinha um bocado, saíam num canto, daí a
pouco estavam no outro. Nazaré: No seringal Dois de Dezembro, até que eles amansaram. Virgílio: O pessoal tinha medo, não conhecia, não sabia. Porque era perigoso
mesmo. Então a turma foi caçando, saía na fala para amansar, mas tinha medo. Até foi, começaram a amansar. Saíram lá no seringal do Moacir, no Outubro, no Igarapezinho. Tem muito lugar de maloca lá.
Nazaré: O barracão do finado Caetano era no Alegria. Ele era o capitão deles.
35 Sobre as operações de extermínio promovidas pela firma Arruda & Junqueira contra aldeias Cinta Larga na região dos rios Aripuanã e Juruena, ver Dal Poz (1994).
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
228
Virgílio: Eram muitos. Tinha embarcação, descia para Manaus, trazia mer-cadoria. Ele era acostumado mesmo, no entendimento. Tinha tudo. Mas ele era índio mesmo. Aí foi o tempo que ele morreu, e foi acochando, acochando...
Nazaré: Foram morrendo, até que se acabou tudo, de gripe, de febre. Quando era de primeiro, até que me lembrava bem. Eles caíram doente, morria de dois, três, só de uma vez.
Pergunta: Tem algum parente da senhora que ainda lembra a língua? A se-
nhora lembra? Nazaré: Só lembro de nomes das coisas. Quando eu era pequenininha, eu
ouvia eles conversando assim – menino como tem cabeça boa, assim era eu. Só nomes, mas falar mesmo eu não sei.
Pergunta: Eles faziam tatuagem? Nazaré: Uma linha preta embaixo do nariz, outra pelo queixo. De Jenipapo.
Furava o lábio (inferior), e no nariz. Virgílio: Tinha os Orelha de Pau, porque colocava uma roda de madeira na
orelha, Os Arara, por causa das penas de arara. Agora, os Cabeça Seca... Nazaré: O primeiro marido meu era filho desse finado Caetano. Esses filhos
que eu tenho em Manaus são filhos do filho dele, são netos do Caetano. Meu pri-meiro marido morreu desse negócio de reumatismo. Depois eu casei com o Vir-gílio. Eu sei que o finado Caetano era Arara, eu só ouvi assim...
“Estão tudo civilizados”
Entrevistei Virgílio Costa Santos e seu filho Miguel Paulo dos Santos, no dia
21 de dezembro de 1987, em Aripuanã. O assunto principal foram os conflitos entre os seringueiros e os Cinta Larga no Guariba, mas estes comentários me pa-recem interessantes.
Virgílio: No Guariba, primeiramente quem começou a andar, que o pessoal
via muitos vestígios eram esses Orelhas de Pau (Rikbaktsa). Aí depois dos Orelha de Pau é que começou a aparecer os Cinta Larga. Os Orelha de Pau são do Juru-ena, mas eles andavam por lá tudo. E os Arara, quando amansaram, eu ainda não estava no Guariba quando começou a aparecer muito Arara. Essa família da Na-zaré, era em quantidade danada. É que um bocado morreu. E tinha o velho Cae-tano, era índio mesmo, a velha do velho Caetano era índia também. Tudo era ín-dio mesmo que amansou. Aí tinha os filhos dele, aí já se misturaram. Eles anda-vam assim pelo mato...
Miguel: Nesse tempo eles eram que nem esses Cinta Larga. Aí foi indo, foi indo, e foram assim se espalhando. Aí ficaram até muitos anos, aí esse pessoal já é manso. Estão tudo civilizados já, têm uns que a gente pensa que não é nem ín-dio.
Virgílio: Esse [primeiro] marido da Nazaré era filho desse velho Caetano, era índio também. Ela era pequenininha quando eles saíram.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
229
Mudaram até os nomes dos mortos!36 (Entrevista de Ana Anita Vela ao jornal Porantim)
Índios Arara estiveram em Brasília, no dia 21 de julho [de 1988], reivindi-
cando da FUNAI providências no sentido de retirar os invasores da Área Indí-gena Arara Beiradão, município de Aripuanã (MT). Eles querem voltar para a terra, mas são ameaçados de morte por prepostos de fazendeiros e madeireiros. O capataz da Sthil Móveis e Decorações, conhecido por Joaquinzão, esteve na casa da última familia a deixar a área e afirmou que “podem voltar, mas sair já é outra conversa”.
Absurdo, por si só, já é o fato de q povo Arara não poder entrar em sua própria terra; ou como insinuou O capataz, se entrar, morre. Mais absurdo ainda é a colocação de nomes de brancos em sepulturas de índios, usurpando-lhes até os restos mortais de seus parentes, como forma de consolidar o roubo da terra. Ana Anita Arara conta esse e vários outros episódios de um lugar onde, muito mais que a Constituição e o governo do país, vale a lei da bala.
Henrique [Faveiro] queria matar nós, tinha pistoleiro dele atrás de nós. Já
está mais de ano. Agora estamos na cidade, no Aripuanã. Rodrigues (o marido) estava com malária, provocando até hepatite. Nós viemos no Aripuanã e, quando voltamos, eles não queria deixar. Expulsou, disse que não tinha direito de entrar. Ele disse “Agora vocês teve o direito, mas não tem mais; quem manda aqui sou eu”. Botou o revólver em cima de nós.
Estamos passando mal. A gente vai entrar para terra alheia, não pode traba-lhar. Tudo é dos fazendeiros. Ninguém entre. Viemos aqui atrás desse pessoal da FUNAI para ao menos dar uma força para gente. Tá demais!
Nós tirava seringa na área. Aí o comprador foi embora. Nós ficamos pele-jando. Vendia para um, para outro. Henrique era fazendeiro. Tá morto. Ele me prometeu uma bala, Eu disse: “Essa bala, tenho fé em Deus que ainda vai virar para cima de ti”. E virou mesmo,
Essa terra vai ser nossa mesmo. Estavam pesquisando ouro lá dentro, agora pararam. É gente de Brasília, Acharam garimpo dentro da nossa área. Agora, o Joaquinzão diz que não entra ninguém. Nem índio não está podendc entrar. Essa terra aí é comprada. O posto da FUNAI lá de Castanheira não está com nada; já mandei chamar duas vezes. Ele disse para mim: “Faz força, faz força”. Oh, vocês que são grande, vocês que são metido a grande é que devem tomar providência aqui. Vocês têm força, e eu não tenho. Vocês têm os guarda-costas de vocês. E eu tenho? A minha vida é só para mim.
Joaquinzão foi lá em casa. Disse para mim: “Se quiser, volta”, ele não empata. Agora eu não sei minha vida lá dentro. Meu filho disse: “Nós custa a se zangar, mas quando bota é para matar. Não é para deixar doente, não. Os caras precisam acertar nós, mas é para matar. Não deixa arriado”. Ele disse: “Ah, mas eu não ameaço com ninguém. Tem pistoleiro, jagunço, na estrada”. Aí me convidou para comer um pato. Diz que o mais gordo que tiver no terreiro dele, ele mata para mim. Eu, hein? Não vou não. Quer pegar de outro jeito... Depois fica, oferece leite, café. Joaquinzão é falso!
Eu disse para ele: “Tenho até muita vontade de falar com o senhor. O senhor está ameaçando nós por causa da terra”. Ele disse: “Não, dona Anita. Deus me livre! Isto eu não faço com vocês. Eu também sou índio. Minha mãe foi pegada de
36 Esta entrevista ao jornal Porantim foi publicada na edição de julho/agosto de 1988, p. 14. Agradeço aos seus editores por me autorizarem a republicá-la aqui.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
230
cachorro”. Eu disse: “Minha mãe não foi pegada de cachorro, não. Foi amansada”. Eu tenho cemitério lá. É herança da minha mãe. Agora botaram lá uma grade
nas catacumbas e assinou como gente branca. Que o cemitério não é de índio. Tudinho com nome de gente branca.
Faz tempo que a FUNAI prometeu fazer limpeza lá. E isto que eu vou falar com eles. Tenho parente que estão trabalhando no garimpo. Até balearam um. Os índios estão pela casa dos outros. Um mora aqui, outro mora no garimpo, e assim. O meu irmão está no garimpo, no Amazonas. Ixê! Muito longe. Esperou, esperou, nada. Ele disse: “A hora que a FUNAI disser que estão aqui, pode me chamar”.
Diz que a Sthil já comprou aquela área. Joaquinzão disse: “Isto aqui já é com-prado, Nita. Você larga disso, que a Sthil já comprou da FUNAT”. Eu quero saber se a FUNAI vendeu mesmo para eles. Pau D'Arco também disse. Eu disse: “Então é por isto que a FUNAI não está ligando mais para nós”.
Capítulo 4
A Terra, a estrada e o progresso
O futuro dos Arara, ou melhor, a sua forma de expressão étnica responderá, certamente, ao contexto social e econômico que se perfilar na região de Aripuanã. Não se trata, porém, de um destino a priori, sequer um processo inexorável. Em certa medida, depende do que a sociedade brasileira pensa e faz com relação aos índios, além, é claro, do que eles mesmos pensam e buscam para si. E neste sen-tido, há que nos perguntarmos: o que representam os povos indígenas para o Bra-sil hoje?
Via de regra, seriam apresentados como selvagens atrasados ou bárbaros atá-vicos aos quais não restaria mais que duas possibilidades, ou seu desapareci-mento do cenário ou sua assimilação aos conquistadores. Sabemos, porém, que, desde os tempos da Colônia, para que tais “prognósticos” se cumprissem, os ín-dios foram dura e cruelmente disputados, quer como simples objetos, para os bandeirantes e afins que os apresavam e escravizavam, quer como seres inertes e ocos, para a Igreja e o Estado que os desciam e reduziam (ou como se diria nos tempos modernos, atraíam e pacificavam) a pretexto de sua catequese e civiliza-ção. Isto tudo resultaria, do ponto de vista dos povos nativos, no extermínio ou depopulação, na desorganização social e alienação cultural c na perda territorial e espoliação dos seus recursos naturais. Mas, para a historiografia oficial, os even-tos daí decorrentes seriam, de maneira generalizada, enaltecidos enquanto mar-cos fundamentais no processo de constituição do Estado e da sociedade brasilei-ros, cm particular a consolidação de seu espaço territorial.
Neste grande enredo, não por acaso, os índios são percebidos tão-somente como personagens secundários e transitórios de nossa história – mesmo por aqueles, apiedados e a eles simpáticos, que os enquadram como as vítimas inde-fesas de um combate desigual contra um conquistador todo poderoso (MON-TEIRO, 1995). Nos dias atuais esta visão do indigenato enquanto uma condição passageira37 surge nitidamente informada pelo evolucionismo, uma teoria social que no século passado interpretava as diferenças culturais como se fossem defa-sagens temporais, com base em uma escala ascendente e progressiva a ser fatal-
37 Não se trata apenas de uma opinião ingênua de senso comum, mas compartilhada mesmo por doutos intelectuais, a exemplo de Hélio Jaguaribe que, numa polêmica recente pelos jornais, fez suas as profecias de que os índios não mais existiriam no século XXI...
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
231
mente percorrida pela humanidade em todos os quadrantes. Na verdade, a des-peito de seus flagrantes equívocos metodológicos, esta perspectiva evolucionista domina ainda hoje a maioria das nossas opiniões comuns, na medida em que to-mamos o progresso e o desenvolvimento como os conceitos chave para explicar todos e quaisquer fenômenos sociais e econômicos. Estes seriam verdadeiros dog-mas ou valores sagrados, em nome dos quais tudo é feito, tudo é válido e todos devem se curvar.
O argumento e seus autores são bastante conhecidos: para os arautos do avanço inarredável do progresso, beneficiários da atual fase da expansão capita-lista no país, os índios não passariam de entraves ou obstáculos a este desenvol-vimento sem medidas, senão quistos étnicos”38 que ameaçariam a propalada se-gurança nacional...
É preciso, com urgência, romper este bloqueio ideológico que nos impede de visualizar o papel histórico dos povos indígenas na formação do Brasil, e, assim, promover investigações que os tomem enquanto sujeitos, analisando suas rela-ções nos contextos correspondentes39. Uma releitura da história do Brasil, nestes termos, certamente chamaria a atenção para os processos étnicos aí envolvidos. O que nos levaria a vislumbrá-los positivamente também no futuro deste país, de pluralidades étnicas e diversidades culturais extraordinárias.
Examinarei a seguir o que se vem passando em Aripuanã, onde, sintomatica-mente, os índios e seus aliados estão sendo colocados como inimigos do “pro-gresso” e da “integração nacional” - ganchos ideológicos que, aqui e em vários outros lugares da Amazônia, se prestam a instrumentalizar a alienação das terras indígenas e dos recursos naturais nelas existentes.
A luta pelas terras do rio Branco, no entanto, tem significado para os Arara uma possibilidade inesperada de rearticulação étnica. Seu foco é, como se viu acima, um espaço territorial extremamente relevante como referencial para a his-tória do grupo. Mas também, um ecossistema abundante em recursos naturais que talvez possibilite melhores condições de vida, uma alternativa ao subemprego urbano e às atividades temporárias em fazendas e garimpos. O histórico a seguir procura descrever, em termos sumários, o processo de reconquista desta área pe-los Arara40.
No quadro fundiário, a cada ano, surgiam novos personagens e novas ações tinham curso. Fazendeiros e madeireiros iniciavam derrubadas, abriam picadas, plantavam pastos ou realizavam benfeitorias para assim marcar sua presença e suas atividades na área. A Portaria PP 3.831/87 da FUNAI, que interditou cerca de 243 mil hectares, para “segurança e garantia de vida e bem-estar” dos Arara, havia sido em parte suspensa por decisão da Justiça Federal que, em novembro de 1988, concedeu liminar favorável ao Mandado de Segurança impetrado por Deolindo Gazoli41, um dos proprietários titulados pelo INTERMAT. Este fato in-centivou a ação dos demais fazendeiros que, lançando mão de jagunços armados, procuravam controlar o acesso pela foz do rio Branco e pela estrada recentemente aberta.
Os Arara, embora contassem com o apoio firme da Paróquia católica e do CIMI, permaneciam acuados na cidade de Aripuanã. Insistiam, entretanto, para
38 Lembro a propósito as declarações do major-brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, conforme noticiado pelos jornais, urgindo transformação dos índios em “brasileiros convictos”, temendo que viessem a formar “quistos étnicos” a ameaçar a integridade do Brasil (PORANTIM, 1980). 39 Para os argumentos que fundamentam esta sugestão metodológica, ver John Monteiro (1995). 40 Para a elaboração deste Capítulo, utilizei largamente os relatórios da irmã Lourdes Christ, da equipe do CIMI em Ari-puanã, que os acompanha com grande dedicação há vários anos (ver CIMI, 1991, 1992a, 1992b, 1992, 1992d e 1994). 41 Esta liminar foi revogada em 1992.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
232
que a FUNAI os apoiasse com funcionários e policiais, de modo a viabilizar o re-torno e reassentamento na área do rio Branco. As autoridades locais, por sua vez, resistiam à demarcação de uma nova área indígena no Município, o qual já abri-gava as áreas dos Zoró e dos Cinta Larga. O então prefeito Darcy Laux fazia nessa altura planos para, no jargão local, “tirar Aripuanã do final da linha”: a construção de uma estrada que, passando ao norte da área dos Cinta Larga e cruzando pela área Arara interditada, servisse como ligação entre a sede municipal e Ji-Paraná, em Rondônia, atendendo assim a certos fazendeiros e a muitos especuladores (HARGREAVES, 1989). Em junho de 1989 alguns destes propuseram, por oca-sião de uma reunião com a presença de autoridades estaduais, doar combustível para que a prefeitura levasse adiante a abertura da estrada. E foi aprovada uma lei municipal que autorizava o poder executivo municipal a abrir uma rodovia pelo interior da área interditada, com a extensão de 150 quilômetros, em direção ao Projeto de colonização Filinto Miller.
Numa primeira tentativa dos Arara para forçar sua volta ao rio Branco, as famílias de Chico e Raimundo e de Nazareno e Maria das Graças Arara fizeram, em 1989, uma pequena derrubada e um barraco, mas souberam de novas amea-ças do pistoleiro Joaquinzão e se retiraram. Em julho de 1991, alguns Arara en-traram clandestinamente na área e foram visitar o local da antiga aldeia no Capi-vara. Ali roçaram cerca de meio hectare, onde pretendiam plantar. Só puderam entrar às claras na área quando, no segundo semestre do mesmo ano, acompa-nharam um novo Grupo de Trabalho da FUNAI (Portarias PP 1.046 e 1.193/91) que iria promover “estudos de adequação de limites”. Aproveitaram a ocasião para queimar o que havia sido roçado no Capivara e iniciar o plantio de mandioca e milho.
Acerca deste GT, duas me parecem as razões para modificarem os limites ter-ritoriais anteriormente interditados: primeiro, uma contundente pressão dos que foram contemplados com títulos pelo INTERMAT42 e, segundo, o jogo de interes-ses dentro da própria FUNAI, concretizado nas propostas discordantes emanadas dos estudos anteriores43. O trabalho de campo foi efetuado em fins de outubro e permitiu aos Arara rever vários dos sítios onde tiveram suas aldeias. Conduzida por eles, a antropóloga Sheila Guimarães Sá, do Museu do Índio (Rio de Janeiro), testemunhou os vestígios da antiga ocupação indígena ao longo do rio Branco:
Destacamos o cemitério do povo Arara que se encontra na margem direita do Rio Branco, na Antiga Aldeia do Veadinho, as velhas árvores frutíferas (mangueiras e goi-abeiras), também encontradas na antiga Aldeia da Volta Grande, e os restos de esteios das antigas casas da Aldeia que lá se encontram. O forno e os utensílios que lá perma-necem cobertos pela vegetação nativa. (SÁ, 1991: 13)
Por sua vez, verificou que, em toda a região do rio Branco, a única atividade econômica efetiva era a derrubada e retirada de madeiras nobres (mogno, cere-jeira e cedro):
As madeireiras, dando prosseguimento à estrada de chão aberta pela Prefeitura de Ari-puanã construíram a partir das margens do rio Branco mais 12 km de estrada, propici-ando uma retirada de aproximadamente três caminhões diários (cada caminhão trans-porta em média mais ou menos 20 metros cúbicos de madeira) somente neste ano. As esplanadas, conforme constatamos, estavam cheias de mogno e cerejeira. A estrada dos
42 Na opinião de um advogado que levantou a situação cartorial dos 68 títulos incidentes na área interditada: “É impor-tante salientar o óbvio: os títulos foram doados aos amigos do governo Júlio Campos e Wilmar Peres. Estes amigos não são agricultores e tampouco têm interesses em terra. A eles só interessavam as facilidades documentais e a posterior es-peculação. Até à época do levantamento judiciário que precedeu a interdição não havia uma única alma de algum destes proprietários ou de alguém a seu serviço em toda a extensão interditada” (apud CIMI 1991). 43 O GT de 1987 foi coordenado pela antropóloga Vera Lopes dos Santos, e o GTE de 1988, pelo sociólogo Mafra dos Santos.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
233
madeireiros a partir de uma bifurcação anterior à Pista do Leão atingiu as cabeceiras do Igarapé Veado Grande, que desemboca no rio Branco. (SÁ, 1991: 14)
Este GT elaborou uma nova proposta de delimitação para a área Arara do Rio Branco, tendo como perspectiva agilizar sua demarcação e pôr um fim no que considerou “uma situação de exílio, miséria e morte” a que estavam os Arara submetidos na cidade de Aripuanã (SÁ, 1991: 27). Para isto, não considerou as informações sobre índios arredios na região ou sequer se prendeu à questão dos descendentes Arara ao longo do Guariba44, antes procurou uma “conciliação de interesses conflitivos”, que permitisse inclusive uma alternativa para a redefini-ção do trajeto da estrada para o Projeto Filinto Miller. Alguns outros critérios, definidos pelos próprios Arara, teriam também norteado a proposta que reduzia a área à metade (de 243 mil para 122 mil hectares): a inclusão de certos lugares de ocupação tradicional, a exemplo do cemitério no igarapé Veadinho, na mar-gem direita do rio Branco, e várias outras aldeias antigas; a localização de recur-sos econômicos que anteriormente exploravam, como os seringais nativos, a cas-tanha e à copaíba; a preservação das zonas de caça; a conservação da pesca e a proteção das margens do rio Branco. Os limites, desta maneira, traduziram as reivindicações das famílias Arara que lutavam para refazer sua vida no rio Branco: ao norte, o igarapé Caniço; a leste, o rio Aripuanã; ao sul, o igarapé En-crenca (ou Taboca); e, a oeste, uma linha seca ligando este igarapé ao Caniço (SÁ, 1991: 27-31).
O ano de 1992 foi, porém, repleto de ameaças às famílias Arara na cidade, bem como aos membros da igreja católica e do Sindicato de Trabalhadores Rurais que os apoiavam. A todo momento eram assediados na rua ou em casa e adverti-dos para que desistissem da área do rio Branco. Alguns destes fatos foram notifi-cados na Delegacia de Polícia local, apontando como autores Joaquim Lima Go-mes. Juarez Fernandes e o madeireiro Célio Gomes Henrique (CIMI, 1992d).
No dia 23 de junho o ex-advogado do INTERMAT Luiz de Almeida, um dos favorecidos no loteamento que o órgão fez das terras do rio Branco, se apresen-tando como “amigo do governador” (Jaime Campos), promoveu uma reunião na Câmara dos Vereadores de Aripuanã, com grande repercussão local. Ali defendeu a construção da estrada para o Guariba: “O rio Branco é minério, é mogno, é peixe; é a espinha dorsal do desenvolvimento de Aripuanã”. E argumentou que os Arara não passavam de “beiradeiros”, para os quais iria obter 20 lotes na Gleba Lontra (onde estão os colonos que foram retirados da área indígena Zoró):
Eles podem se sustentar lá e viver aqui. Podem ir e vir todos os dias, nem precisam tirar os filhos da escola. Aqui não há índios Arara. Não tem índio, só descendentes e devem ser só dois que são na verdade índios mesmo. Já tem mais de vinte anos que não tem ninguém lá. E se invadirem vão levar tiros, porque lá é propriedade privada. Todos se dizem índio, até eu sou descendente de índio Bororo. Esta área era seringal e nunca foi de índio. (CIMI, 1992d)
Em julho daquele ano um motor-rabeta emprestado pela Paróquia local aos Arara foi misteriosamente incendiado no quintal da casa de Rodrigo e Anita Vela. E um correntão foi colocado na estrada que leva ao rio Branco, a trinta quilôme-tros de distância da cidade.
Embora as pressões se intensificassem, também crescia o ânimo das famílias Arara. No segundo semestre o CIMI e a Paróquia iniciaram uma campanha de
44 O relatório final do GT recomenda à direção da FUNAI, diante disto, a realização de estudos específicos para subsidiar uma proposta de área para os Arara do Guariba e a formação de uma equipe da Coordenadoria de Índios Isolados para localização de um grupo conhecido por “Baixinhos”, nas cabeceiras do igarapé Encrenca, afluente do Aripuanã (SÁ, 1991: 32).
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
234
apoio e solidariedade aos Arara, divulgando sua luta para a reconquista das ter-ras. E em setembro os Arara decidiram, em assembleia, marcar seu retorno à área para o último dia do mês seguinte. Para isso, comunicaram-se com a FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal etc. Porém, estes não se mexeram e os Arara, esperando a colaboração dos órgãos oficiais, protelaram inutilmente a data marcada. Junto com a irmã Lourdes Christ, foram então convidar representantes de várias aldeias Nambikwara e dos Cinta Larga e também Manoel Valdez, ex-missionário que ha-via realizado os primeiros levantamentos da situação destes índios45.
Em meados de novembro em Aripuanã, os índios e os indigenistas planeja-ram o retorno dos Arara às suas terras. A estratégia meticulosa foi cercada de cuidados:
Agora vamos para ganhar a questão, por isso tem que pensar bem. O branco vai ver que nós sabemos agir também. Ele vai dizer: “Índio tem mais inteligência que nós”. Tiroteio lá dentro do mato não dá. Não pode deixar atirar. Precisa pensar muito para não ter conflito. Depois de ganhar a vitória, não dá para deixar o nosso parente lá so-zinho e ir embora. É número pequeno. Não podemos levar e soltar lá. Podemos formar grupos de seis para revezar, até acalmar. (CIMI, 1992b)
Durante estes dias em Aripuanã, os índios insistiram com a FUNAI, solicita-ram segurança à Polícia Federal e pressionaram de todas as formas os governos estadual e federal através de contatos telefônicos e documentos. Nos intervalos,
os índios confeccionavam arcos e flechas, supervisionados por peritos cinta-
larga, atividade que atraiu inclusive os mais jovens. E Anita Vela fazia cocares e braçadeiras, como os que usavam antigamente.
Tais episódios conformam certamente uma arena de luta tanto política quanto simbólica, muito semelhante à de tantos outros remanescentes indígenas no Brasil46. De um lado, selecionando itens culturais que sustentassem, diante deles e da sociedade brasileira, sua afirmação de uma identidade indígena; de ou-tro, um processo de mobilização intensa para fazer valer direitos e reivindicações, cujo alvo principal são as autoridades governamentais (tecnicamente falando, o Estado).
A FUNAI, entretanto, pedia que esperassem. Mas os fazendeiros se prepara-vam e espalharam boatos pela cidade, dizendo que haviam comprado armas e contratado mais quarenta pistoleiros. Segundo o jornal Porantim (1992), o secre-tário do CIMI, Francisco Loebens, teria comunicado ao Ministro da Justiça Mau-rício Corrêa que os Arara pretendiam reocupar seu território e havia risco de um confronto armado. Quatro dias depois o Ministro assinaria a Portaria 569, deli-mitando a área Arara do Rio Branco, segundo os limites propostos pelo último GT da FUNAI.
Este fato animou ainda mais os índios reunidos em Aripuanã. Mas logo sou-beram que, mesmo com a portaria em mãos, nem a FUNAI nem a Polícia Federal, em greve, iriam acompanhá-los... Os índios entregaram cópias da portaria ao pre-feito, ao delegado e aos mandantes dos pistoleiros e marcaram um prazo de qua-renta e oito horas. Na véspera da partida, pintaram-se e dançaram. Era a madru-gada do dia 28 de novembro: partiram em comitiva duas camionetes e um cami-nhão – dezoito Nambikwara, onze Cinta Larga e trinta Arara, destes somente uma mulher, a líder Anita Vela. Além deles, o pároco padre Mário Guinzone, Manoel Valdez, da APARAI, José Bassegio, coordenador do CIMI-RO, e Neuri e Solange, da equipe do CIMI local.
A comitiva cruzou a ponte recém-construída sobre o rio Aripuanã e não foi
45 Manoel Valdez estava na ocasião coordenando a entidade indigenista APARAI, com sede em Porto Velho (RO). 46 Entre tantos exemplos, o caso dos Tapeba no Ceará me parece o mais exemplar (ver BARRETO FILHO, s/d).
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
235
obstruída no correntão: adiante, afastou toras que bloqueavam a estrada47. Che-gando às margens do rio Branco, alguns índios desceram de canoa até o Capivara, onde ficariam, e outros foram a pé. Os demais retornaram a Aripuanã. A estes, os pistoleiros ameaçaram parar no correntão, mas desistiram quando os Cinta Larga preparavam seus arcos e flechas na carroceria do caminhão.
Na cidade as atenções estavam voltadas para a caravana do governador Jaime Campos que inaugurava algumas obras, entre as quais a ponte sobre o rio Aripu-anã. Uma comissão pediu-lhe uma audiência e relatou os fatos, requerendo segu-rança para os Arara. E ao prefeito, ao delegado e ao próprio capataz Joaquinzão, disseram os caciques Naki, Zé Lopes e Constantino, dos Cinta Larga; “Agora é terra de parente Arara. Não mexer mais. Branco não passar mais” (CIMI, 1992b).
Dias depois os Cinta Larga foram acompanhar dois homens e algumas mu-lheres Arara que iam para a aldeia no Capivara e trouxeram os Nambikwara que lá haviam permanecido. Tinha início, neste momento, uma nova fase na vida dos Arara, um passo decisivo para sua reorganização social.
Este fato contrariava interesses políticos e econômicos diversos, não apenas daqueles proprietários que tinham títulos incidentes na área agora delimitada e ocupada, mas também a Luiz de Almeida, Mário Conselvan e outros que pressio-navam para que a estrada atravessasse a área indígena e abrisse estrategicamente a região à especulação fundiária, à devastação madeireira e à exploração dos re-cursos minerais.
Com isto, dois projetos rodoviários foram se concretizando, e hoje ameaçam a integridade da área indígena: o primeiro, a “Estrada do Progresso”, que ligaria a sede municipal ao distrito de Rondolândia e daí a Ji-Paraná, em Rondônia; o segundo, a “Estrada da Integração” ou “Corredor da Exportação”, passando pelo Projeto Filinto Müller e seguindo para Apuí, no Amazonas.
Tais estradas, antes de tudo, são defendidas – e definidas – como autênticas bandeiras ideológicas. Não parece irrelevante, neste sentido, o fato de suas deno-minações – o Progresso e a Integração – coincidirem justamente com as palavras de ordem que, desde a ditadura militar, vêm impulsionando a expansão capita-lista na Amazônia, que tem resultado na sua ocupação predatória e no saque cri-minoso dos seus recursos naturais. Acobertados por estes chavões, reúnem-se ha-bitualmente setores políticos, empresariais e inclusive militares, para os quais os direitos indígenas e as campanhas ambientais obstaculizam o dito desenvolvi-mento do país.
Daí que em Aripuanã tenha surgido uma comissão48 intitulada “Pró-abertura do Corredor de Exportação”, que não se cansa de propagandear que a área indí-gena Arara iria “afogar” o Município, uma vez que inviabilizaria o escoamento da produção e a interligação com outros municípios. E com o objetivo de barrar a demarcação das terras dos Arara, que teve início em fins de 1994 após a concor-rência pública vencida pela firma Ceplan, tal comissão fosse buscar a intervenção dos governos estadual e federal e, pelo que se sabe, do próprio Comando do Exér-cito sediado em Cuiabá. Além de acirrar os ânimos, com boatos e promessas in-fundadas, de maneira a jogar a população contra os índios Arara. Durma-se com um barulho desses!
Em meio a tudo isto, muito embora desassossegadas, as famílias Arara vão
47 No dia anterior os índios haviam pintado três canoas € isto talvez tenha deslocado a atenção dos pistoleiros para a foz do rio Branco. 48 Esta comissão foi capitaneada pelo vereador Altamiro Girardi, pelo chefe de gabinete da Prefeitura Alberto da Veiga Kaipper e pelo secretário de Obras Edmundo da Rosa.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
236
reconstruindo suas vidas no rio Branco49. Nem vencidos nem vencedores, pois a história não tem aqui seu ponto final.
Referências
ARNAUD, Expedito; CORTEZ, Roberto. “Aripuanã: considerações preliminares”. Acta Amazônica, 6 (4): 11-31, 1976.
BARRETO FILHO, Henyo Trindade. Tapebas, Tapebanos e Pernas-de-Pau de Caucaia, Ceará: Da etnogênese como processo social e luta simbólica. Série An-tropologia, 165: s/d.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Critérios de indianidade ou as lições de an-tropofagia. Folha de São Paulo, 12/01/1981, p. 3 (seção Tendências e Debates).
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. O futuro da questão indígena. Estudos avan-çados, 8 (20): 121-136, 1994.
CHRIST, Lourdes. “Arara do Rio Branco: Saiu finalmente a demarcação”. Poran-tim, edição janeiro/março, p. 5.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Lista do Povo Arara. Aripuanã, datilo, 1988.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Levantamento do povo Arara em Manaus. Aripuanã, datilo, 1988b.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Relatório - Povo in-dígena Arara. Aripuanã, datilo, 1991.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). História de persegui-ção e ameaças de morte ao povo indígena Arara. Aripuanã, datilo, 1992a.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Relatório – Povo in-dígena Arara do Rio Branco. Aripuanã, datilo, 1992b.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Povo indígena Arara do Rio Branco reconquista o seu território tradicional. Aripuanã, datilo, 1992c.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Relatório de reunião na Câmara Municipal de Aripuanã. Aripuanã, datilo, 1992d.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário (Lourdes Christ). Relato sobre as Es-tradas Progresso e Corredor de Exportação ou Estrada da Integração. Aripu-anã, datilo, 1994.
DAL POZ, João. “Laudo histórico-antropológico”. In: MALDI, D. (org.). Direitos Indígenas e Antropologia: Laudos Periciais em Mato Grosso. Cuiabá: EdUFMT, 1994. pp. 11-95.
DAL POZ, João. O Real e os Índios. Folha do Estado. Cuiabá, edição de 21 de junho, 1995. p. 8.
49 Ver Lourdes Christ (1995), para uma pequena descrição da vida cotidiana dos Arara já aldeados na área do rio Branco.
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
237
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Pe-trópolis: Vozes, 1981.
DIÁRIO DE CUIABÁ. “Invasores atacam índios na região norte do Estado”. Cui-abá, 21/11/1987.
FERNANDES, Florestan. 1 “Os Tupi e a Reação Tribal à Conquista”. In: Investi-gação Etnológica no Brasil e Outros Ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975. pp. 11-32.
FERREIRA, Joaquim Alves. 1905 “Notícia sobre os Indios de Matto-Grosso dada em officio de 2 de dezembro de 1848 ao Ministro e Secretario d'Estado dos Nego-cios do Imperio, pelo Director Geral dos Indios da então Provincia”. O Archivo, Ano I, vol. 2: 79-96, Cuyabá.
GUILHON, Agesiláo Carvalho. 1919 Relatório sobre a situação actual de algumas tribus da região. Rio Aripuanã, 2 de março de 1919, datilo. (Museu do Índio/Se-doc, Filme 32 Planilha 389).
HARGREAVES, Inês. “Grileiros ameaçam a AI Arara Beiradão”. Jornal da Ma-nhã, São Paulo, edição de 12 de outubro, 1989.
HEBINCK, Júlio; VITTE, Júlio. Relatório de uma missão de “Desobriga” reali-zada entre 27 de abril a 15 de maio de 1971, Manaus, 25 de maio de 1971, datilo.
HUGO, Vítor. Desbravadores. Vol. 2. São Paulo: Missão Salesiana de Humaitá, 1959
JORNAL DO DIA. “Invasores fortemente armados atacam índios na região de Aripuanã”, Cuiabá, 22/11/1987.
JORNAL DO DIA. “Delegado de polícia de Aripuanã comandou ataque aos índios Arara”. Cuiabá, 24/11/1987.
LAGO, Francisco Baymado. Ofício ao Inspector do Serviço de Protecção aos In-dios no Estado do Amazonas (30 de junho de 1919). Arquivos do SPI, ms. (Museu do Índio/Sedoc, Filme 32 Planilha 389).
LÉVI-STRAUSS, Claude. “Raça e História”. In: Antropologia Estrutural Dois. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. pp. 328-366.
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural (Coleção Os Pensadores), 1984.
MALTHEZO, João. A história de Manoel Caetano. Aripuanã: Sindicato de Tra-balhadores Rurais, datilo, 1990a.
MALTHEZO, João. História de Jerônimo Marinho e índios Arara. Aripuanã: Sindicato de Trabalhadores Rurais, datilo, 1990b.
MENÉNDEZ, Miguel. Uma contribuição para a etno-história da área Tapajós-Madeira. Revista do Museu Paulista, 28: 289-388, 1981/82.
MONTEIRO, John. “O desafio da história indígena no Brasil”. In: LOPES DA SILVA, A.; GRUPIONI, L. D. B.: A temática indígena na escola. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. pp. 221-228.
NIMUENDAJU, Curt. Mapa Etno-Histórico. Rio de Janeiro: IBGE/Pró- Memó-ria, 1981.
PORANTIM. “Indígenas são quistos para Protásio”, junho/julho, 1980, p. 6.
PORANTIM. “AraraMT: Uma comunidade no exílio”, julho/agosto, 1988, p. 14.
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
238
PORANTIM. “Arara do Beiradão: A reconquista da terra invadida”, novembro, 1992, p. 5.
PINHEIRO, Geraldo. “A aldeia indígena de Sapucaia-Oroca”. Revista de Antro-pologia, 17/20 (1): 49-58, 1969-72.
PRADO, Eduardo Barros. La atraccion de la selva. Buenos Aires: Peuser, 1959.
RIBEIRO, Darcy. Antropologia ou a teoria do bombardeio de Berlim” (Entrevista a Edilson Martins). Encontros com a Civilização Brasileira, 12: 81-100, 1979.
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização. Petrópolis: Vozes, 1982.
RONDON, Cândido Mariano da Silva. Conferências realizadas nos dias 5, 7 e 9 de outubro de 1915 no Theatro Phenix do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typ. Jornal do Commercio (Comissão Rondon, publicação 42), 1916.
RONDON DE SÁ, Policarpio Mestrinho. Ofício ao senador Jonas Pinheiro, 16 de janeiro de 1995.
SÁ, Sheila M. Guimarães de. Identificação da terra indígena Arara do Rio Branco (Aripuanã – MT). FUNAI, Museu do Indio, datilo, 1991.
SANTOS, José Augusto Mafra dos. Os órfãos de uma nação. FUNAI/2º Superin-tendência Regional, datilo. 1988
SANTOS, Vera Lopes dos. Relatório de identificação da Área Indígena Arara Beiradão. FUNAI/2º Superintendência Regional, datilo, 1987.
SILVA, Dêidi Luci da. Relatório de viagem à Área Indígena Arara-Beiradão. FUNAI/2º Superintendência Regional, datilo, 1988.
SOBRINHO, Sebastião Otoni de Carvalho. Relatório nº 1/71 (ao Governador do Estado de Mato Grosso, José Manoel Fontanillas Fragelli). Cuiabá, 21 de junho de 1971, datilo.
SPI - Inspetoria do Amazonas e Acre. Relatório da Inspectoria referente ao ano de 1924 (inspetor Bento Martins Pereira Lemos). Manaus, datilo., 140 p. (Arqui-vos do SPI: Museu do Indio/Sedoc, Filme 33 Planilha 396), 1925.
SPI - Inspetoria do Amazonas e Acre. Relatório da Inspectoria referente ao ano de 1928 (inspetor Bento Martins Pereira Lemos). Manaus, datilo., 214 p. (Museu do Índio /Sedoc, Filme 340 Planilha 53), 1929.
SPI - Inspetoria do Amazonas e Acre. Relatório da Inspectoria referente ao ano de 1941 (inspetor Carlos Eugenio Chauvin). Manaus, datilo., 280 p. (Museu do Indio/Sedoc, Filme 340 Planilha 56).
VALDEZ, Manuel. Levantamento dos índios Arara no município de Aripuanã - MT. Equipe de Pastoral Indigenista da Diocese de Ji-Paraná, datilo., 1984.
VALDEZ, Manuel. Renovação de pedido de área para os índios Araras das ba-cias dos rios Aripuanã e Guariba. CIMI – Regional Rondônia, datilo., 1985.
VALDEZ, Manuel. Novos contactos com índios Arara e seringueiros do Aripu-anã. CIMI - Regional Rondônia, datilo., 1986
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
239
Apêndice 1
Vocabulários
Os vocabulários abaixo foram recolhidos por Hugo (1959) é por uma equipe do CIMI (VALDEZ, 1984). Embora não tenham sido submetidos, até onde sei, a qualquer análise linguística, parece-me que algumas indicações relevantes pode-riam ser extraídas de um exame tão-somente preliminar. É o que se segue.
Os vocábulos para os Arara do Guariba (Lista B), com poucas exceções, con-figuram uma língua da família Tupi-Mondé, à qual pertencem os Cinta Larga, Zoró, Suruí, Gavião e Aruá. Não há mais que diferenças de notação para as pala-vras respectivas em Cinta Larga, afora os termos para banana, cobra e farinha, que desconheço, e a tradução para macaco coatá, alimé, que não é empregada porestes, mas pelos Suruí.
Quanto às listagens para os “índios Vela” (Lista A) e “Arara do Aripuanã” (Lista O), que são os atuais Arara do rio Branco, descontados os equívocos foné-ticos das transcrições, verifica-se uma absoluta identidade entre todos os vocábu-los comuns a ambas. Por sua vez, estas diferem bastante das línguas Tupi-Mondé, exceto em poucas palavras (chuva, dente, onça, pedra, jacu, peixe, pés, roçado, rato, serra, sol, veado). Trata-se evidentemente de uma língua pertencente ao tronco Tupi. Muito embora haja consultado vários vocabulários recolhidos entre grupos indígenas da região (Mura, Ntogapid, Matanawi, Kawahib etc.), não en-contrei, até agora, quaisquer correspondências significativas.
A. LISTA DE VOCÁBULOS DA GÍRIA DOS ÍNDIOS CIVILIZADOS DE “TRÊS TOMBOS” (RIO BRANÇO, AFLUENTE DO ALTO RIO ARIPUANÃ, MT)
Este vocabulário foi coletado pelo missionário salesiano Vítor Hugo, em sua viagem aos rios Aripuanã e Branco em 1958 Junto aos “índios Vela” (HUGO, 1959, Apêndice 42, p. 435). Não dispondo dos signos ortográficos utilizados na publicação original, para esta transcrição procedi a ligeiras alterações na nota-ção dos vocábulos que, espero, não impossibilitem sua comparação com as demais.
Água: ade Alma: iuppit Anta: mundiê Arco: brexoe Bonito: ikei Braço: pike Cabeça: numbá Cabelo: mmbabw Cachoeira: toerceros Cão: wetwce Caranguejo: culwa Casa (= maloca): miab Cinturão: pretina (7) Dedos: mpai Dentes: noi Espingarda: breká Flecha: mmbai Flechar: titoé Fotografia: numinhã
Galinha: craéi Homem: pipe Jabuti: siberce Macaco barrigudo: psá Macaco preto: quené Matar: sêgue Menina: kã Menino: mecnã, baiáh Milho: viá Mulher: wira, huai (?) Nariz: núnha Nome (da tribo): Camí(u)aï Olhos: capide Orelha: mbechade Peixe: uribw Pernas: moeke Queixada: bod Terçado: sirê Vá embora: figá
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
240
B. VOCABULÁRIO ARARA DO RIO GUARIBA
Estes vocábulos foram colhidos pelos agentes do CIMI que, nos meses de setembro e outubro de 1984, fizeram um levantamento da população Arara. A informante, no caso, foi Nazaré Arara que então residia na cidade de Aripuanã (VALDEZ, 1984: 12). Acrescentei à listagem a palavra tamoáp e as ortografias en-tre parênteses, que ouvi da mesma informante.
Anta: wuasá Arara: awala Banana: bubuka Cachorro: awulú Cobra: subá Dente: nuin Farinha: muiú Galinha: aranha Gente civilizada: indjarei (zadey) Jacamim: tamali Jacaré: wuaú
Jacu: tamoáp Macaco barrigudo: masaikurê Macaco: coatã arimê (alimé) Mutum: wakuia (wakuy) Nambu azul: wuanha Onça: beku Pacu: burikabé Porco grande: bebé Porquinho: bibekut Veado: tiap
C. VOCABULÁRIO DOS ARARA DO ARIPUANÃ
Para este vocabulário, relativo aos índios Arara do rio Branco, elaborado pela equipe do CIMI acima refe-rida (VALDEZ, 1984: 13-16), os informantes foram: Rodrigo Vela (então com 42 anos), João (de Arique-mes, 44 anos) e Guilhermina (80 anos). Os símbolos utilizados guardariam os mesmos valores que os atribuídos na ortografia do português falado no Brasil (exceto as vogais central alta não-arredondada ∫ e central média não arredondada ∂ e a consoante nasal velar sonora Ŋ).
Abacaxi azedo: Abelha jandaira:
Abelhinha: Água:
Algodão: Andarligeiro:
Anta: Aranha (que morde):
Aranha branca: Arapuá:
Arara: Arco:
Arraia: Avó (nome?): Avô (nome?):
Banana: Banana (tipo):
Barba: Batata doce:
Bicho: Boca:
Bolo de beiju: Braço:
Brinco (de madeira): Cabeça: Cabelo: Caititu:
Cará: Caranguejo:
Castanha:
arurã arã pitik adete britap kerip muinhe picho pichombá abeka kurot brichak uribidak tanha marina kuenã ukuã futá awa mbatin atonha mbeisau tukure pika kunhanzi mkubap mbiap pirã tubuia pichubá mowi
Castanheira: Céu:
Chicha de patauá: Chorar: Chuva:
Cintura: Cipo (para cesto):
Cobra: Coco: Colar:
Comer: Comida boa:
Costelas: Cuia: Cutia:
Dedo da mão: Dedos do pé:
Dentes: Doendo (vb. Doer):
Dor: Dormir: Envira:
Espingarda: Esteira de palha:
Estômago: Estrela: Fechar: Fígado: Flecha:
Fogo:
mowip arumbei arupetak howá doi kupike minhombá mundopá paai mukait prai∂ lakat dukumbé tiop p∫po piat upe nain kumadzei iai nuset popé breká sipe orep setka uripte nupiton baik rekat
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
241
Folha de bananeira: Fome:
Frio: Frio (pouco):
Galho: Galinha:
Gato do mato: Gato preto:
Gordura: Grande:
Homem negro: Igarapezinho:
Inteiro: Ir (embora):
Jabuti: Jacamim:
Jacaré: Jacu:
Joelho: Lenha:
Língua: Lua:
Macaco barrigudo: Macaco branco:
Macaco coatá: Macaco guariba:
Macaco prego: Machado:
Mãe (nome?): Maloca:
Mamão do mato: Mandioca:
Mão: Matar:
Mel: Mel (tipo):
Menina pequena: Menino:
Menino pequeno: Metade:
Milho (caroços): Milho (pé):
Morro: Mucura: Mulher:
Mulher casada: Mulher negra:
Mutuca: Nambu azul:
Nambu galinha: Nambuzinho:
Nariz: Novo (objeto):
Nuca: Olho: Onça:
gurep nuprai∂ Ŋumputê umpotik murukutepar krae duréa hikope ukap pai ikupe itik toizã nba chibero tomowi awik tumô kerebewi ibeká bekiat sitkapai pitchá picháiwak kané mbiripá pitchái seriá bra miap gura biupá pãi ibã ara urit kân baiáh meenã toi Japit wijap beta koin wino kunã pichiri kupan minhampep anchiriŊã cherengã Ŋunhã atoã upipo kapit béku
Onça Pintada: Orelha:
Osso: Ourá (Pássaro):
Ouvido: Paneiro:
Panela de barro: Papagaio: Pássaro: Patauá:
Pato do mato: Pato do rio:
Pedra: Peixe:
Peixe (Pintado): Pena:
Peneira: Pênis:
Periquito: Pena:
Pés: Piau: Pilão:
Piranha: Pium Grande:
Pium Pequeno: Poraquê:
Pote: Pretina (cinta?):
Quati: Quatipuru: Queixada:
Quente: Rato: Rede:
Revólver: Roçado:
Sabia: Saco:
Sangue: Serra:
Sol (quente): Soprar (o fogo): Tabaco (folha):
Tamanduá: Tatu:
Terçado grande: Terçado pequeno:
Teto de palha: Tronco: Trovão:
Tucumã: Unha (mão):
Vagina: Veado:
Zangado:
béku kupê mbechade ∫ka∂
tokurá mbiku kakan mãi seribá lubaga arupe pitita tupeiá via b∫ripiu b∫ripai prufab dirad nuka kiri uke mpiap asãt ako biripi bip piká makmará mukán mumaã sIp pikonhé bot nunto mútop apap brekatik ga dai brukuche Jet Du got bobo biaba chikut doi siripai sintik bia Jakupé barâmbé areba mpai inambe chip bridak
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
242
Apêndice 2
Dados Demográficos
No quadro a seguir estão computadas as informações censitárias presentes em vários relatórios. Devo advertir, desde logo, que os autores incluíram tanto informações diretas quanto de terceiros e, também, que nem sempre procuraram ou puderam relacionar a população total dos Arara. Os dados de Valdez (1984, 1986), por exemplo, são quase exclusivamente das famílias Arara visitadas pela equipe do CIMI – Rondônia nos rios Branco e Guariba e nas cidades de Arique-mes, Aripuanã e Matá-matá. Já os do CIMI (1988), são informações orais, forne-cidas pelos familiares que moravam em Aripuanã, bem como das famílias visita-das em Manaus pela irmã Lourdes Christ. Já os dados de Santos (1987) refletem o levantamento realizado pelo primeiro GT da FUNAI, sendo o que melhor retrata a população do Guariba. Por fim, os de Sá (1991), também de um GT da FUNAI, sistematizam os dados anteriores e acrescentam os relativos à cidade de Aripu-anã, obtidos pela autora.
Não considerei, nos totais para cada localidade, a distinção entre Arara do Guariba e do Rio Branco, e neles estão incluídos também alguns indivíduos não-índios (cerca de 19, por exemplo, nos dados de SANTOS, 1987), em geral relacio-nados aos Arara por matrimônio. As colocações ao longo do rio Aripuanã estão assinaladas por A, enquanto as do Guariba, por G. E por fim, rio Aripuanã e rio Guariba correspondem aos totais ao longo dos respectivos rios, na medida em que o autor não discrimina a população parcial por localidade.
Olhando para este quadro demográfico, um único, porém significativo, co-mentário: os números sinalizam um expressivo deslocamento desta população em direção às cidades, que nesta segunda metade da década de 80 parece buscar moradia em Aripuanã, Manaus ou Porto Velho, abandonando ou sendo expulsa das margens dos rios.
Quadro reproduzido do original
DA
L P
OZ
, Iv
o.
A
etn
ia e
a t
er
ra
243
Apêndice 3
Mapas
Mapa 1: Proposta de interdição, GT FUNAI, 1987. Quadro reproduzido do original
AC
EN
O,
7 (
13):
19
7-2
44
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
Me
mó
ria
: S
ér
ie A
ntr
op
olo
gia
244
Mapa 2: Proposta de delimitação, GT FUNAI, 1991. Quadro reproduzido do original
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
Cu
ia p
itin
ga
, n
atu
re
za
e c
ult
ur
a d
a v
ár
ze
a a
ma
zô
nic
a.
Ace
no
– R
evis
ta d
e A
ntr
op
olo
gia
do
C
entr
o-O
est
e,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
ENSAIO FOTOGRÁFICO
Cuia pitinga, natureza e cultura da várzea amazônica
Luciana Gonçalves de Carvalho1
Carlos de Matos Bandeira2
Alexandre Nazareth da Rocha3 Universidade Federal do Oeste do Pará
Resumo: Este ensaio fotográfico revela cenas cotidianas registradas em comunida-des de várzea da região do Aritapera, em Santarém, Pará. Essa região é particular-mente renomada, no estado, pela reputação de sua produção de cuias, quer sejam pitingas (brancas, sem pigmentação), quer sejam tingidas e ornamentadas com in-cisões. Atraídas pela constante presença das cuias pitingas, isto é, não pigmentadas, em diferentes cenários da várzea, as câmeras percorrem o ambiente doméstico de algumas das mulheres responsáveis por transformar os frutos da cuieira (Crescentia cujete) em objetos bons para ver, usar e pensar. Transitando por tempos e espaços distintos, seguindo fluxos entre a natureza e a cultura, as lentes demonstram que as cuias pitingas são produtos de um requintado pensamento selvagem, capazes de in-termediar materiais e simbólicas trocas entre humanos e não humanos.
Palavras-chave: artesanato; cuias; cuia pitinga; Santarém (PA).
1 Doutora em Antropologia, professora do PPGSND/Ufopa, do PPGCS/Ufopa e do PPGSA/UFPA. Autora do Dossiê de Registro do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas como Patrimônio Cultural do Brasil. 2 Fotógrafo, autor de registros fotográficos e audiovisuais dos inventários de referências culturais da Festa do Sairé e do Modo de Fazer Cuias no Baixo Amazonas. 3 Produtor cultural, coordenou o Festival de Cuias do Aritapera em 2018 e outros projetos no campo do patrimônio cultural imaterial junto ao CNFCP/Iphan e ao Iphan-PA.
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
246
Cuia pitinga, nature and culture of the Amazon varzea
Abstract: This photographic essay reveals daily scenes recorded in floodplain com-munities of the Aritapera region, in Santarém, Pará. This region is particularly re-nowned in the state for its reputation for its production of gourds, whether white (pigmentation) or dyed and ornamented with incisions. Attracted by the constant presence of pitingas, non-pigmented gourds, in different scenarios of the varzea, the cameras go through the domestic environment of some of the women responsi-ble for transforming the fruits of the cuieira (Crescentia cujete) into good objects to see, to use and to think about. Transiting through different times and spaces, follow-ing flows between nature and culture, the lenses demonstrate that the pitingas gourds are products of refined savage thinking, capable of mediating materials and symbolic exchanges between humans and non-humans.
Keywords: handicraft; gourds; cuia pitinga; Santarém (PA).
Cuia pitinga, naturaleza y cultura de la várzea amazonica
Resumen: Este ensayo fotográfico revela escenas cotidianas registradas en comu-nidades de várzea de la región del Aritapera, en Santarém, Pará. Esta región es par-ticularmente renombrada, en el estado, por la reputación de su producción de cuñas, ya sean pitingas (blancas, sí pigmentación), ya sean teñidas y ornamentadas con in-cisiones. Atraídas por la constante presencia de las cuias pitingas, en los diferentes escenarios de la várzea, las cámaras recorren el ambiente doméstico de algunas de las mujeres responsables de transformar los frutos de Crescentia cujete en objetos buenos para ver, usar y pensar. Transitando por tiempos y espacios distintos, si-guiendo flujos entre la naturaleza y la cultura, las lentes demuestran que las cuias pitingas son productos de un refinado pensamiento salvaje, capaces de intermediar intercambios materiales y simbólicos entre humanos y no humanos.
Palavras-chave: artesanía; calabazas; cuia pitinga; Santarém (PA).
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
C
uia
pit
ing
a,
na
tur
ez
a e
cu
ltu
ra
da
vá
rz
ea
am
az
ôn
ica
247
laro ou branco, sem pigmentação – eis o significado de pitinga, termo co-mum do vocabulário ribeirinho do Norte do Brasil. Nas várzeas do Baixo Amazonas, toda casa possui cuias pitingas a servirem de baldes, coiós, co-
pos, tigelas e vasilhas para as mais diversas finalidades (CARVALHO, 2011). Fei-tas dos frutos lustrosos e verdejantes das cuieiras (Crescentia cujete) cortados em bandas ou em formatos assimétricos, elas passam de mão em mão e ocupam os diferentes espaços das moradias à beira-rio, inclusive as pontes lançadas aos ala-gadiços e as canoas, que são como extensão dos pés dos varzeiros durante as en-chentes.
Neste ensaio, são reveladas cenas cotidianas presenciadas em quatro anos de convívio nas comunidades da região do Aritapera, em Santarém, Pará. Artesãs dessa região são particularmente renomadas, no estado, pela reputação da sua produção de cuias tingidas e decoradas com incisões, as quais, desde tempos re-motos, ultrapassam as fronteiras locais para alcançar mercados no Brasil e no exterior (HARTMANN, 1988; FERREIRA, 1876). Mas, tão fartas são as cuieiras do Aritapera, que muitos frutos se aproveitam para uso próprio, com ou sem pig-mentação e ornamentos gráficos. Jamais sem beleza.
Atraídas pela constante presença das cuias pitingas em diferentes cenários, as câmeras percorrem o ambiente doméstico de algumas das mulheres responsá-veis por transformar aqueles frutos em objetos bons para ver, usar e pensar (PAZ, 1991; LÉVI-STRAUSS, 1989). Transitando por tempos e espaços distintos, se-guindo fluxos entre a natureza e a cultura, as lentes demonstram que as cuias pitingas são produtos de um requintado pensamento selvagem (LÉVI-STRAUSS, 1989), capazes de intermediar materiais e simbólicas trocas entre humanos e não humanos (ANDRADE, 1939).
C
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
248
Foto 1 – A primeira etapa de trabalho no artesanato de cuias é a colheita dos frutos maduros das cuieiras. Quando pendem dos galhos mais baixos, podem ser apanhados com
facilidade, como demonstra a artesã Cecília Corrêa. O miolo ou bucho dos frutos é usado como ração para animais domésticos. Autor: Carlos de Matos Bandeira, Centro do Aritapera, 2014.
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
C
uia
pit
ing
a,
na
tur
ez
a e
cu
ltu
ra
da
vá
rz
ea
am
az
ôn
ica
249
Foto 2 – Avanilda Pereira e Lélia Maduro são vizinhas e parceiras na Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém, que reúne produtoras de cuias da região do Aritapera. Sob o assoalho da casa de palafita, típica da várzea, elas cortam e dividem os frutos
para posterior limpeza, lixamento e alisamento de suas bandas, até se tornarem cuias pitingas. Autor: Alexandre Nazareth da Rocha, Carapantuba, 2011.
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
250
Foto 3 – Nas casas ribeirinhas as cuias pitingas são usadas para variadas finalidades. Com auxílio fios de arame, barbante e outras fibras, transpassados por dois
pequenos furos, elas são penduradas e servem como vasos suspensos para quintais e varandas. Frequentemente, mudas de plantas e o próprio vaso de cuia são doadas e trocadas entre
parentes e vizinhas. Autor: Carlos de Matos Bandeira, 2014.
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
C
uia
pit
ing
a,
na
tur
ez
a e
cu
ltu
ra
da
vá
rz
ea
am
az
ôn
ica
251
Foto 4 – Carregar uma cuia na canoa é providencial para navegar nos rios e lagos da região. À medida que porções de água entram na embarcação, o/a navegante alterna-se entre o remo e a cuia, que é usada para coletar e despejar a água de volta ao seu curso. Autor: Carlos
de Matos Bandeira, 2014.
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
252
Foto 5 – Tomar banho de cuia na beira é um hábito recorrente na vida ribeirinha, e não só nas residências desprovidas de água encanada! Normalmente, é ao amanhecer e no cair da tarde que as pessoas se dirigem para o porto de casa a fim de se banharem. Sobre uma ponte
de madeira ou dentro da canoa, já costumam encontrar sua cuia abastecida com escova e pedaços de sabão. Autor: Luciana Gonçalves de Carvalho, 2011.
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
C
uia
pit
ing
a,
na
tur
ez
a e
cu
ltu
ra
da
vá
rz
ea
am
az
ôn
ica
253
Foto 6 – Quem caminha descalço sobre o assoalho das casas da várzea usufrui a maciez e o frescor do piso de madeira, que contrasta com o calor amazônico. Para
mantê-lo asseado e confortável, é essencial deixar os calçados na entrada. Quando toda a família está no lar, é comum notar uma fileira de sandálias nos degraus das escadas que dão acesso às
portas. Autor: Carlos de Matos Bandeira, 2014.
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
254
Foto 7 – “Naturalmente, de primeiro, os índios estavam precisando de recipientes, repararam no fruto de casca dura, criaram a primeira cuia”
– assim escreveu Mário de Andrade em 1939. Suas palavras são ainda atuais, nas moradias das várzeas de Santarém. Autor: Carlos de Matos Bandeira, 2014.
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
C
uia
pit
ing
a,
na
tur
ez
a e
cu
ltu
ra
da
vá
rz
ea
am
az
ôn
ica
255
Foto 8 – As cuias também são boas para auxiliar na lavagem das louças e, por isso, não podem faltar no jirau de Marta Maduro. Enquanto umas, penduradas, guardam
o sabão e a esponja, outras são usadas para coletar e verter água limpa de uma bacia para o enxágue dos objetos ensaboados. Autor: Alexandre Nazareth da Rocha, Centro do Aritapera,
2011.
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
256
Foto 9 – No quintal, enquanto as galinhas e outros animais se alimentam do bucho do fruto da cuieira, o cão mata a sede em uma cuia de imperfeita aparência, devido à
sua borda quebrada, mas de perfeita serventia. Autor: Carlos de Matos Bandeira, 2014.
CA
RV
AL
HO
, L
uci
an
a G
on
çalv
es
de;
BA
ND
EIR
A,
Ca
rlo
s d
e M
ato
s; R
OC
HA
, A
lex
an
dre
Na
zare
th d
a.
C
uia
pit
ing
a,
na
tur
ez
a e
cu
ltu
ra
da
vá
rz
ea
am
az
ôn
ica
257
Foto 10 – Um novo pé de manjericão plantado em uma cuia pitinga representa, na região do Aritapera, a fecundidade desse objeto. Do fruto da cuieira nada se perde. Se sua retirada não prejudica a árvore, tampouco seu corte o transforma em objeto
inanimado, uma vez que, de múltiplas maneiras, se conecta à vida de humanos e não humanos. Autor: Carlos de Matos Bandeira, 2014.
Recebido em 2 de julho de 2019. Aceito em 29 de janeiro de 2020.
AC
EN
O,
7 (
13):
24
5-2
58
, ja
nei
ro a
ab
ril
de
20
20
. IS
SN
: 2
35
8-5
58
7
En
sa
ios
fo
tog
rá
fic
os
258
Referências
ANDRADE, Mário de. A cuia de Santarém. Suplemento Literário de Diretrizes, Rio de Janeiro, ano 2, n. 20, nov. 1939.
CARVALHO, Luciana Gonçalves de (org.). O artesanato de cuias em perspectiva – Santarém. Rio de Janeiro: Iphan, CNFCP, 2011.
FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Memoria sobre as cuyas. Revista Nacional de Educação, 6: 58-63, 1933 [1786].
HARTMANN, Tekhla. Evidência interna em cultura material. O caso das cuias pintadas do século 18. Revista do Museu Paulista, 33: 291-302, 1988.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1989.
PAZ, Octavio. “Ver e usar: arte e artesanato”. In: Convergências: ensaios sobre arte e literatura. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.