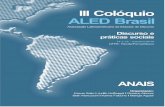Oralidades e narrativas em performance: a situação da entrevista de história oral gravada em ...
Transcript of Oralidades e narrativas em performance: a situação da entrevista de história oral gravada em ...
N ú c l e o d e P e s q u i s a e m H i s t ó r i a
2 3 / 1 0 / 2 0 1 2
Apresento os resultados do subprojeto de pesquisa realizada no
presente ano (2012).Discuto sobre a possibilidade de elaborar uma
metodologia para preparar, realizar e interpretar a história oral
produzida em audiovisual. Interessava-me destacar a performance do
entrevistado diante do registro visual. Foram produzidos depoimentos
em vídeos em 2011 pelo NPH. O intuito foi o de proceder a um
trabalho historiográfico e constituir acervo nacional sobre o passado
recente da História política brasileira.
ra, com o intuito de proceder a um trabalho historiográfico e
constituir um acervo nacional sobre o passado recente da História
política brasileira.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2
Autor: Rosemary Fritsch Brum
Local de realização: IFCH/ Núcleo de pesquisa em História
Período de realização: 2011/2
Conclusão: 2012
Oralidades e narrativa em performance: a situação da entrevista de história oral
gravada em imagem em movimento (audiovisual)
Resumo
Apresento os resultados da pesquisa finalizada no presente ano (2012), aprovada pela Comissão
de Pesquisa do IFCH e registrada junto à PROPESQ. Essa pesquisa é um subprojeto junto à
Linha de pesquisa Cultura e representações do PPG em História do IFCH. Discuto sobre a
possibilidade de elaborar uma metodologia para preparar, realizar e interpretar a história oral
produzida em audiovisual. Interessava-me destacar a performance do entrevistado diante do
registro visual. Discussão inovadora, na medida em que o suporte imagético tem sido um
recurso constante na pesquisa e na documentação para o historiador. A experiência e sua
documentação foram realizadas graças à pesquisa Marcas da Memória: história oral da anistia
no Brasil. A referida pesquisa foi um esforço conjunto de várias universidades federais, dentre
elas, a UFRGS, atendendo à demanda da Comissão da Justiça e do Ministério da Justiça do
Brasil. Foram produzidos vídeos em 2011 com depoimentos através da história oral com
militantes dos movimentos sociais, anistiados e familiares de presos e desaparecidos durante a
recente ditadura civil- militar brasileira, com o intuito de proceder a um trabalho historiográfico
e constituir um acervo nacional sobre o passado recente da História política brasileira.
Palavras-chave: anistia- audiovisual-performance-entrevista oral
3
Qual a contribuição de um gesto para o significado esteja ele congelado no movimento de uma mão, no sobe e desce do tom de voz ou na forma de um objeto fabricado? O gesto em si fica para além das palavras, mas em qualquer conversa, na ausência de um gesto, as palavras ficam desprovidas de contexto [...]. (SMITH, 2002, p.79)
No subprojeto apresentado à Universidade no início desse ano, o Oralidades e
narrativa em performance: a situação da entrevista de história oral gravada em
imagem em movimento (audiovisual) eu buscava refletir sobre algumas dimensões
importantes da prática da entrevista de história oral na direção do terreno desconhecido
da gravação em audiovisual. Essa oportunidade foi oferecida pela pesquisa Marcas da
Memória: a história oral da Anistia no Brasil. Devo esclarecer que meu propósito
nunca foi o de avaliar a pesquisa realizada pelo NPH e sim o de desdobrar certas
questões de meu interesse, noutra direção. O meu tema partia do pressuposto de que na
situação das entrevistas em audiovisual realizadas nesse projeto realizado pelo
NPH/UFRGS, havia uma vocação performática do entrevistado na qual seria perceptível
estabelecer distintas camadas de interpretação sobre a atuação e a documentação,
normalmente ignoradas pela história oral usual. Mas como se adentrava no paradigma
fílmico, não via como não tematizar e historicizar a experiência
Retomando: a Comissão de Anistia/ Ministério da Justiça do Brasil juntamente
com algumas universidades conveniadas (além da UFRGS, UFRJ e a UFPE) entendiam
importante a recuperação de depoimentos sobre o processo da anistia. Em 2010 as
partes assinaram documento onde se propunham a realização de entrevistas de história
oral em audiovisual com os atingidos – direta ou indiretamente – pela lei n. 10.559/02.
Esses documentos visuais seriam depositados no futuro Memorial da Anistia em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. Igualmente seria elaborado um livro a cargo dos
coordenadores onde relatariam a experiência e refletiriam sobre o conteúdo dos
testemunhos.De fato, todo esse encaminhamento já foi realizado em 2012.1
Revelou-se para todos os implicados (universidades, alunos, pesquisadores,
entrevistados) uma notável experiência qual seja a realização de gravação em
audiovisual de entrevistas de história oral. Lancei-me com afinco de pesquisadora no
novo cenário pois estava interessada no que “acontece” quando o entrevistado se vê
1 Ver a Conversão da MPV nº 65, de 2002 que Regulamenta o art. 8
o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências quanto ao regime dos anistiados políticos, prevendo
a reparação econômica dos danos sofridos durante a suspensão dos direitos durante o regime de exceção.
4
diante de uma câmera e das demais conseqüências do uso do suporte do registro visual.
Relato aqui parte das minhas reflexões quanto ao processo, visando plantar questões,
mais que resolvê-las. Indicam resultados provisórios e sugere novas pesquisas tal a
riqueza de possibilidades surgidas em campo tão inovador.
Encontrava aí o corpus da minha pesquisa constituída de uma amostra de seis
entrevistas que acompanhei pessoalmente, das duas dezenas de entrevistas realizadas.
O projeto foi adquirindo corpo com a experiência em curso e encaminhado a
PROPESQ no final de 2011.
O Núcleo de Pesquisa em História, do Instituto de Filosofia e Ciências
humanas abrigaram, pois, as duas pesquisas. A coordenação da pesquisa Marcas da
Memória: a história oral da Anistia no Brasil esteve a cargo da Dra. Carla Simone
Rodeghero e atuaram, além de mim, Socióloga do NPH e doutora em História, o
Especialista, Historiador do NPH Francisco Carvalho Jr.. E a convite a Mestre vídeo-
documentarista Niura Mariza Oliveira Borges, assim como alunos bolsistas.2
O propósito da pesquisa Marcas da Memória: a história oral da Anistia no
Brasil
Os formuladores da proposta de constituição do acervo de entrevistas em vídeo
para o futuro Memorial da Anistia partiam da constatação de que o processo de
transição democrática brasileira ainda estaria incompleto. No Brasil, nos últimos anos,
diversas iniciativas - de setores da sociedade civil e do poder público- a exemplo do
ocorrido noutros países, teriam se direcionado para o campo internacionalmente
conhecido como o do Direito à Memória. Era imperativo. Esclarecer os fatos ocorridos,
especialmente os abusos aos Direitos Humanos cometidos pelos agentes do Estado
durante regimes de exceção, como a ditadura civil-militar iniciada em 1964.
A historiografia brasileira e a latino-americana em especial, desde os fins do
século XX, através da História do Tempo Presente vêm estimulando a produção de
documentos de cunho testemunhal, através da institucionalização e reconhecimento da
história oral. A coleta dos testemunhos das vítimas da(s) ditadura(s), aqui praticadas
2 Bolsista de pós graduação:Dante Guimaraens Guazzelli; Bolsistas de graduação:Gabriel Dienstmann
(bolsa Fapergs),Aryanne Cristina Torres Nunes (Bolsa Marcas da Memória),Amanda Manke do Prado
(voluntária),Diego Scherer da Silva (bolsa Marcas da Memória),Isabela Lisboa Berté (bolsa
Propesq),Laura Spritzer Galli (bolsa Propesq),Milene Bobsin (bolsa Marcas da Memória),Ricardo
Eusébio Valentini (bolsa Marcas da Memória
5
traduz a pressão social para que haja reflexão sobre os acontecimentos do período
recente para que esses passem a ser olhados a partir de novos enfoques.
Uma hermenêutica da condição histórica quando dirigida para o dever da
memória ajusta-se ao caso brasileiro da anistia, favorável ao silenciamento quanto à
identificação dos atores envolvidos na repressão pós 1964 e responsáveis, entre outros
crimes, pela inobservância em torno do direito de informação das famílias sobre seus
desaparecidos políticos. O restabelecimento de direitos à verdade e a justiça respaldam
não apenas a recente produção científica, a mobilização social que possibilitou a anistia
brasileira e recente instauração da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, em 2011 e
no Rio Grande do Sul, em seis de agosto de 2012. Como era de se esperar, reacendeu-se
a possibilidade de negociações em torno dos limites da anistia política acordada, por ter
uma tônica apaziguadora quando deixa de punir a violência praticada durante o período
em que vigorou a ditadura da segurança nacional. O governador do Rio Grande do Sul,
Tarso Genro, no entanto, declarou à imprensa presente que o grupo estadual terá a tarefa
de averiguar apenas os crimes dos governos militares. Sobre a possível revisão, seria
possível com a reinterpretação nos tribunais.3
Por que pesquisar a performance do entrevistado
Como pesquisadora havia questões de atuação performática que interessavam
sobremaneira levando em conta as dimensões a serem observadas (corporalidade e
vocidade). Ambas são quesitos de um mínimo de controle sobre a entrevista e que
escapam ao âmbito forçosamente conteudista/narrativo/memorialístico da história oral,
como já havia comentado em outros trabalhos. (BRUM,1999; BRUM, 2007; BRUM,
2008). Nessa linha, a fenomenologia de Merleau-Ponty (1994) reforçava minha
convicção de que a comunicação não ocorre pela via do pensamento ou das
representações: haverá sempre um sujeito falante com seu estilo, sua maneira de ser
3PADROS, Enrique Serra, BARBOSA, Vânia M. LOPEZ, Vanessa A., FERNANDES, Ananda S. (Orgs.)
A ditadura de segurança nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985): história e memória. O fim da
ditadura e o processo de redemocratização. v.4. Porto Alegre: Corag, 2009. Ver o recente documento
PYNE, Leigh A., ABRAÃO, Paulo;TORELHY, Marcelo D. A Anistia na era da
responsabilização:contexto global, comparativo e introdução ao caso brasileiro. In: A Anistia na era da
responsabilização: o Brasil em perspectiva internacional e comparada. Ministério da Justiça,Comissão de
Anistia, Brasília/Oxford, Oxford University, Latin American Centre, 2011. A matéria sobre a instalação
da Comissão Estadual está in.Zero Hora, Porto Alegre. Tarso anuncia integrantes da Comissão da
Verdade. Zero Hora, Porto Alegre .Terça feira, 7 de agosto de 2012.São integrantes Aramis Nassif,
Celi Jardim Pinto, Carlos Frederico Guazzelli, Jacques Távora Alfonsin e Oneide Bobsin.
6
com o mundo. A centralidade da pesquisa estaria no corpo do entrevistado uma vez que
ele é quem permitiria a comunicação com o outro.
Nessa práxis -a gravação em audiovisual- me perguntava sobre a
possibilidade de recuperar o vivido pelo entrevistado através de um fenômeno
performático e de sua afetação sobre todos nós.4
Esperava contar nessa situação de entrevista com um conjunto de
alterações de comportamentos observáveis empiricamente. E que diriam respeito
à dimensão propriamente corporal dos conceitos-emoções (medo, revolta,
ressentimento, ódio, heroísmo, orgulho, testamento, trauma, perda, tristeza,
vingança, solidariedade, cumplicidade, segredo, etc.) constantemente provocados
por roteiros de entrevistas especialmente elaborados para cada entrevistado.
Era preciso enfrentar o fato da não ubiqüidade entre o manifesto e sua
intencionalidade. Seguindo os trabalhos da artista performática Paludo que se utiliza de
outros conceitos no seu trabalho inclusive filosóficos, aponta que "fenômenos nunca são
manifestações, toda manifestação é que depende de um fenômeno” (HEIDEIGGER,
2005,p.59- 60 apud PALUDO, 2006, p. 50 ). Seu exemplo é notório: se uma pessoa
ruboriza, na sua aparência revela-se, mas o fenômeno que causa esse rubor pode ter
distintas razões.
Existe, portanto, um efeito do gesto, conforme a pesquisadora Rocha (2009, p.
45) que não se reduz aos resultados que se esperam de um ato."O gesto se mostra. Ele tem
sentido, ao marcar um tempo de pausa no encadeamento dos atos. O ato se torna gesto quando
seu sentido é mostrar-se, quando se dedica a se fazer compreender, quando seu sentido é
mostrar-se, quando se dedica a fazer compreender, quando se transforma em linguagem”.
As questões sensoriais se expandem na cena da entrevista em função da
presença ser em tempo real. A emoção é desencadeada por uma percepção, uma
representação –sinal,etc.Como ainda situa trazendo Sartre (PALUDO,op.cit., p27):“A
emoção retorna a todo instante ao objeto e dele se alimenta. O sujeito emocionado e o
objeto emocionante estão unidos numa síntese indissolúvel . a emoção é uma certa
maneira de apreender o mundo. A emoção é o corpo que, dirigido pela consciência,
muda suas relações com o mundo para que o mundo mude suas qualidades.”
4 A afetação é apreensível por um conjunto de alterações de comportamentos observáveis empiricamente.
Ver OLIVEIRA, Manfredo Araújo de Reviravolta linguístico-Pragmática na filosofia contemporânea.
São Paulo: Loyola, 2001. Principalmente seu comentário sobre os jogos de fala do filósofo AUSTIN, J.
L. How to do things with words. New York: Harvard University, 1975.
7
Evidentemente outra importante relação a ser estabelecida na pesquisa
empreendida foi entre manifestação corporal e vocal é com a memória. Na pesquisa em
arte de Smith (2002) ele vai lembrar-se de Platão, para o qual a memória existe em
um processo constante de performance e reação. Essa reflexão partiu de sua
experiência de entrevista com o artista afro-americano John Outterbridge. Na
narrativa da sua história de vida observou como os gestos do entrevistado partiam
de uma reação, uma resposta que afirmava o fato de uma relação entre sua
experiência intersubjetiva que continha, potencialmente, uma contrapartida
verbal.
No meu caso, os fatores emocionais tão críticos nessa modalidade de
testemunho de perfil político deveriam conduzir a um singular trabalho de síntese
dramática do passado e do presente. Como diz Bergson, o passado, então, „voltará a ter
influência quando toma emprestada a vitalidade da percepção presente [...]por mais
instantânea, consiste portanto numa incalculável quantidade de elementos rememorados,
e para falar a verdade, toda percepção é já memória” (BERGSON,1999,p.168 apud
PALUDO, 2006.p, 65).
Outra pesquisa pertinente à minha proposta foi a de Dallago (2007), na sua
dissertação de mestrado em História – em que realizou uma pesquisa sobre a memória
da história do teatro em Goiânia, durante o período autoritário, através do dramaturgo
Zorzetti (anistiado e atual professor da Universidade Federal de Goiás (UFG). Integrou
para tanto muitas das relações que venho apresentado acima, à história oral gravada em
vídeo. Constatou como a consciência do registro sobre o entrevistado foi uma opressiva.
Como o aspecto menos controlável dessa comunicação foi o aparato gestual- imagético
de Zorzetti, apontando “ [...] durante uma entrevista, ocorre um duplo processo de
representação: o que efetua o entrevistado para ir construindo seu personagem frente ao
entrevistador, e o que os investigadores fazem ao observar este personagem que se
apresenta durante a entrevista ”(DIAZ, 1999 apud DALLAGO, 2007, p.61).
Para essa pesquisa, centrei na observação em tempo real de cada entrevista
enquanto atuação afetada. Busquei a atuação do entrevistado enquanto uma
performance afetada pelo registro audiovisual com sentido e significado. O corpo
presente na performance, problematizado por tudo que emite/transmite através de sua
expressão fornece o mínimo de significantes (redução/compactação/síntese) e o máximo
de significados (potencialização dos significantes) que podem- ou até deveriam, influir
no entrevistador de história oral. Sentido manifesto na sensação de estar exposto a uma
8
situação de estar sendo gravado ao vivo, e percebendo, parte o impacto de suas ações.
Seu corpo sendo responsivo a uma série de dados ambientais, decodificando
impressões, lembranças.Significado para o observador, dos signos referentes a conceito
ou nome com o fim de delimitar e orientar a referencia e o objeto ao qual o conceito se
referia, como emoções. O significado sempre em função do sentido.
Buscando conceitos operacionais
Após a definição do tema foi importante direcionar a atenção para o conceito ou
conceitos operacionais que encaminhariam a pesquisa. Difícil, foi preciso enfrentar a
rica polissemia conceitual que envolve o conceito presente em vários campos do
conhecimento. A revisão bibliográfica foi extensa e demorada (praticamente seis
meses), além da minha própria experiência.5
Escolher conceitos que melhor direcionasse a reflexão para os meus objetivos
me levou a transitar dos conceitos operacionais do campo artístico de estudos de
performance, da antropologia para o da prática da história oral, como desejo e
necessidade. À medida que transcorria a pesquisa Marcas da memória: história oral da
anistia no Brasil no ano de 2011 o principal do design da minha proposta foi concluído.
Tendo em mente uma pré- metodologia em curso e a necessidade de redação de um
texto final reflexivo e indicativo, a metodologia foi centrando apoiada em no que segue.
Conforme Badiou a performance:
[...] a ação (que) busca fazer agir um conceito ao vivo. A
performance não é um estilo, gênero de arte, embora possa ser
alocada por diversos gêneros. É sim uma ação política ou uma
espécie de ponto de comunicação que visa à produção de um
estado de ética. É sempre pública porque se dirige a um
destinatário (ainda que virtual). É possível ocorrer uma cena não
artística, um espetáculo sem palco, porque é uma forma potente
de pensar (narrar) (BADIOU, 2002, pp. 79-96)
5 Essa incorporação dos estudos de performance deve-se (desde os anos de 1960) ao vigor da renovação
estética e a critica política. Nesses anos (alguns creditam mesmo aos anos 1920), as vanguardas artísticas,
mormente nos EUA, Europa, mas igualmente no Brasil, atuam em performance art, um tipo de tradição
das poéticas plásticas e visuais cuja centralidade de objeto se encontra enunciada na corporeidade do
próprio artista. Ver a produção do Grupo de pesquisa Interartes: processos interartísticos e estudos de
performance, do Diretório de Pesquisa do CNPq (2006- ), ao qual sou pesquisadora,sob a liderança do
professor Marcio Noronha (UFG),Goiás. Muitas questões surgem da minha experiência de atuação no
Coletivo Geperformancepoa,com apresentações e publicações no país e no exterior.
9
A) Comportamento restaurado. Muita tensão nas pesquisas com entrevistas fica por
conta da questão: se a performance do entrevistado, como toda performance, faz parte
da ordem da sensibilidade de um acontecimento único como também pode ser uma
apresentação de uma autobiografia ou de uma máscara (como muitos aceitam). É
porque se trata de um comportamento “restaurado”.6Esse conceito foi proposto pelo
critico e diretor de arte Schechner (2003, p.13). Ocorre no momento em que a
performance “combina simultaneamente uma prática restituída, re-apresentada, ou seja,
a estréia de algo já visto e, dicotomicamente, um momento incessante ao inusitado, ao
imprevisto, uma caminhada tortuosa que constrói o próprio caminho na medida em que
caminha”. ”no comentário de GÒMEZ-Pena, (2005,pp.199-226).
B) O momentum de passagem e sua tríade. O pesquisador e crítico de arte (infelizmente
precocemente falecido) Cohen (COHEN in TEIXEIRA, 1999, p.225) dizia que o
fenômeno performático se dá “enquanto um momentum de passagem, da transmissão da
intervocalidade corpóreo-sinestésica, entre atuante, platéia- na gesta e na fixação do fato
e do texto cultural”. E “(a performance) está apoiada numa tríade: linguagem (texto,
narrativa), suporte (mídia) e atuação”. Essa proposição tríplice permitiu-me discriminar
melhor as dimensões implicadas.
C) Recepção.Necessita do público porque performar é dirigir-se a um receptor ou
expectador porque sempre visa à comunicação.Extremamente recorrente em estudos em
performance, o lingüista Zumthor (2007, p.33) a entende como recepção, como desejo
de realização porque a questão física, corporal e sensorial intenta afetar e o faz-
despertar reações sensoriais distintas no espectador (equipe). Ele afirmava (nas suas
passagens também no Brasil) “[...] relaciono-a ao momento decisivo em que todos os
elementos cristalizam em uma e para uma percepção sensorial- um engajamento do
corpo. [...] Performance ainda seria menos que completude, um “desejo de realização”
[...] Pode ser virtual [...] , não importa, ela visará a produzir um estado de ética na sua
recepção.
D) Escrita performativa. É conceito proveniente das reflexões do filósofo da linguagem
Austin (1975), especialmente sua discussão sobre a escrita (ou expressão) performativa
e a noção de atos de fala. Segundo ele, a escrita (ou a expressão) é performativa quando
6 A distinção entre representação (teatral) e apresentação tem sido objeto da própria história da
performance. Ver entre outros GOLDBERG, Rose Lee. A arte da performance. Do futurismo ao presente.
São Paulo: Martins Fontes, 2006. GÒMEZ-Pena, Guilhermo. Em defesa del arte del performance.
Horizontes Antropológicos. Antropologia e performance, Porto Alegre, ano 11, n.24, jul/dez de 2005. p.
199-226.
10
e como retira sua força do ato da escrita; isto é, em como ela é realizada. Já uma escrita
(ou expressão) é chamada constatativa se ela tende somente a descrever um evento. Não
foi o caso da observação da entrevista: a “escrita” (ou expressão) performativa do
entrevistado deveria poder descrever uma ação de seu locutor e sua enunciação deveria
levá-lo a finalizar esta ação. Nesse sentido, dos três principais atos de linguagem que
Austin propunha (o ato locucionário, o ato ilocucionário, e ato perlocucionário) o que
mais interessaram foi à capacidade perlocucionária (ou seja, a capacidade que possui o
sujeito de afetar, provocar, suscitar idéias, emoções e reações.7
E) Presença.Performance é produção de presença. Para Lenhamn (2007, p.24) ela ”é
uma estética integrativa do vivente”. O procedimento – ou texto, como prefiro- implica
no que chama “produção de presença”. Essa força de presença está presente na
entrevista e gera uma intensidade da comunicação “face a face”. O corpo transmite pela
voz, fundamentalmente, a experiência vivida. Mas o que é um corpo? “é uma respiração
que fala (...) o ar expelido do interior do corpo vem carregado de sentido, de ritmo; é um
índice que comporta um sentido, manifestação que gera expressão. (GIL, 1997, p.88
apud BRUM, 2012).
f) “corpo percepcionado”. Parti da sugestão da já mencionada artista performista
Paludo (op.cit.,p.6). Ela denomina “corpo percepcionado” quando é possível
“assegurar que um ser sensível e responsivo surgisse para a atuação, que estivesse ali-
o ser-,em pleno domínio de seu estado de presença”. E continua, afirmando que
quando um corpo se coloca em determinado ambiente preparado para sua
manifestação: “Instaura uma via dupla, entre os próprios significados da estrutura
proposta e as maneiras de os expectadores receberem aquelas imagens. Tais maneiras
estabelecem relação com as imagens de corpo (constituídas e em constante
constituição de quem estiver a observar o trabalho performático.‟‟(ibdem).
Munida dessa rede conceitual centrei minha observação no sentido e no
significado da atuação afetada do entrevistado. Entenderia que o corpo presente na
performance do entrevistado seria problematizado por tudo que emitiria/transmitiria
através de sua expressão. Essa forneceria o mínimo de significantes
(redução/compactação/síntese) e o máximo de significados (potencialização dos
significantes) Na ocasião eu supunha o sentido como o manifesto na ação do
7 Cf. DUCROT, Oswald , TODOROV, Tzvetan. Dictionaire encyclopedique des sciences du langage.
Paris: Editions du Seuil, 1972. Ver ainda COSTA, Cláudio Ferreira. Austin e o primado da asserção. In
COSTA, Cláudio Ferreira. A linguagem factual. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. p.69-112.
11
entrevistado por estar sendo exposto a uma situação de gravação ao vivo, ciente da
publicização (nada intimista) ao mesmo tempo em que percebia o impacto de suas
ações sobre nós, a equipe. Para o significado busquei os signos referentes às emoções
referidas a conceitos-emoções
Perguntas da pesquisa
A performance do entrevistado é afetada pelo registro audiovisual. Tem certo
sentido e significado e deveria encaminhar para algumas perguntas para minha
observação. O corpo presente na performance, problematizado por tudo que
emite/transmite através de sua expressão fornece o mínimo de significantes
(redução/compactação/síntese) e o máximo de significados (potencialização dos
significantes) que podem- ou até deveriam, influir no entrevistador de história oral.
Será que minha reflexão (e de outros pesquisadores) poderia avançar para um
plano aplicado e redundar numa pré-metodologia para pesquisa dessa natureza? Tais
como uma matriz que conduzisse a uma reflexão substantiva?
Três questões advinham diretamente da situação de entrevista em audiovisual:
haveria uma presença compartilhada entre o entrevistado, o entrevistador e o registro
audiovisual?O enquadre imagético preserva a narratividade e a potência da
performance; ou faz com que elas se percam? Quais situações não previstas poderiam
surgir e subverter o rito da entrevista?
Cinco questões advinham do estatuto da entrevista concebida como uma meta-
linguagem, a performance do entrevistado: seria uma experiência vivida testemunhal de
um determinada corporeidade (vocidade) empenhada nos trabalhos de síntese de um
organismo material da memória coletiva e individual que poderia ser muito
traumática?Se a possibilidade de recuperar o vivido pelo entrevistado se dá por força do
viés do concebido, essa performance pode extrapolar esse concebido?Toda entrevista,
como toda performance, faz parte da ordem da sensibilidade de um acontecimento
único. Sendo assim, a auto-representação do entrevistado é única?Se levasse em conta
que o entrevistado teve a seu dispor a ação realizada no passado, até que ponto a
intervenção do entrevistador teve interferência no seu desempenho quanto ao trabalho
de rememoração e os atos de fala? O modelo da transferência clínica ajuda a pensar na
inter-relação entre entrevistado e entrevistador?
12
Uma última questão advinha do contexto histórico da pesquisa Marcas da
Memória: história oral da Anistia no Brasil: se considero que o entrevistado, ex-
perseguido político, etc. pode construir-se sobre dois discursos: o poético e o político
posso avaliar o que afeta mais a corporeidade do entrevistado, se o poético ou o
político?Ambos?
O que/como observar: da interpelação ao relato da emoção
A contextualização da performance é essencial. Aqui existem dois conceitos
sobre o contexto para levar em conta: o aplicado e o analítico. O primeiro diz respeito
ao fato de que nenhuma performance se dá no vazio. Ao contrário,se desdobra na esfera
da comunicação, com preocupações nas inter-relações entre a performance e a
coletividade. É o caso da situação de entrevista em audiovisual; o segundo é se destaca
o aspecto crítico, analisar para buscar o jogo interpretativo entre a expressão e os
significados atribuídos pela cultura, tanto do performar quanto do espectador. No caso,
a função poética da performance diz respeito ao modo de expressar a mensagem, e não
o seu conteúdo. Dramático? Irônico? Alegórico?Cômico? 8
O ponto referencial da minha observação foi manter um perspectivismo
fenomenológico-hermeneutico diante do entrevistado e seu corpo em performance,
afetado pelo registro audiovisual. Mais que um esteticismo, estava preocupada em
refletir sobre as questões de pesquisa, minhas perguntas. Em razão disso, a atenção
quanto à narrativa oral, exercendo sua função de alinhar em um todo presumivelmente
coerente as vivencias do entrevistado, ficou em segundo plano mesmo. Durante a
realização das entrevistas o que importava era o foco-sensório motor e as combinações
de manifestações de sensações e movimentos presumivelmente performáticas.
Seriam observados os Kinemas, ou seja, as estruturas mínimas de manifestação
de fenômenos como as disposições faciais, os gestos vocais, as posturas e os
deslocamentos no espaço. Todas elas estão presentes na antropologia teatral de
Schechner e Turner (1990). Segundo a observação de eventos no universo da
8Conforme o Grupo de pesquisa Interartes: processos interartísticos e estudos de performance, do
Diretório de Pesquisa do CNPq propomos que desde o campo da história, da história das artes e suas
inter-relações entre os elementos sonoros, visuais, plásticos e corpóreos, caibam aos estudos de
performance como significativas repercussões nos modos de expressão escrita, visual e sonora
(performance visual, video-arte, poesia visual, etc. Essa incorporação dos estudos de performance deve-se
(desde os anos de 1960) ao vigor da renovação estética e a critica política. Nesses anos (alguns creditam
mesmo aos anos 1920), as vanguardas artísticas, mormente nos EUA, Europa, mas igualmente no Brasil,
atuam em performance art, um tipo de tradição das poéticas plásticas e visuais cuja centralidade de objeto
se encontra enunciada na corporeidade do próprio artista.
13
performance, para esses autores, existe uma protolinguagem universal,
preponderantemente emocional e não verbal e visível em quaisquer rito, manifestações
teatrais, nos jogos, nas festas.9Acrescentaria também na situação de entrevistas.
Como diz Bergson (op.cit.,p.160): “Meu presente portanto é sensação e
movimento ao mesmo tempo;e já que meu presente forma um todo indiviso, esse
movimento deve estar ligado a essa sensação, deve prolongá-la em ação‟‟. A ação (a
performance) de relatar poderia trazer „à vida‟ o sofrimento durante o contexto social-
histórico brasileiro nos anos do regime civil-militar brasileiro, a interrupção da
trajetória profissional, familiar, em certos casos a tortura, a fuga.
Essa série infinita de presentes guardados no seu relato, no seu testemunho,que
agora no esforço da elaboração do presente - , a reparação pública de danos- pode
significar a perlaboração e a suspensão dos percursos entre a história, a memória e o
esquecimento Entre imagens que o entrevistado lograva transmitir, na narrativa,
presentificação o passado como tempo virtual, na agoridade da narrativa como propõe
Ricoeur (BRUM, 1999;BRUM,1996-1997, pp.127-34).
Esse foco sensório motor e as combinações de manifestações de sensações e
emoções são experiências que propõem trocas, reciprocidade. Portanto e segundo certa
ótica a observação direta pode discriminar essas relações intertextuais. Perante a
audiência, não há naturalização possível em cena.Inevitável que se estabeleça uma
relação de audiência e de recepção (que afeta o pesquisador).
Munida dessa e outras intuições, posteriormente confirmadas teoricamente, a
cada realização de uma entrevista aumentei a capacidade de focar a atenção no
trabalho perceptivo corporal (articulações, musculatura, etc.) manifesto. Mas o que
seria o manifesto, o que quereria significar, qual o sentido do gestual?
È uma reviravolta de 180 graus, no mínimo, para o pesquisador de história
oral. Acostumado a atentar para a narrativa, para a memória pessoal e social, para os
fios de uma história de vida tecida no ato e focar na corporeidade parece que se
adentra no campo da antropologia. Pretendi demonstrar que não. Que uma narrativa se
faz pelo todo presente, apenas ainda não se pratica essa abertura por falta de uma
práxis. A cada pergunta-intervenção- uma modalidade discursiva foi apresentada pelo
9 Quem está se valendo dessas propostas, de modo eficiente, é a área de Educação. Ver PEREIRA,
Marcelo, (Centro de Educação, UFSM) Performance e performatividade da linguagem na ação
educativa,CONTE, Elaine; MARTINI, Rosa M. Filipozzi (UNISC/UFRGS) Da performance à formação
pedagógica In: Anais do XV ENDIPE. Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino -
convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte, 2010.
14
entrevistado. Marcada por transições de estilo de linguagem e permitindo emergir o
ser da performance, o estado de emoção presente no seu corpo percepcionado.
A sinestesia operava no corpo assinalando que o entrevistado estava presente,
experenciando esse estado de emoção, ainda que evocando seu passado. As
impressões vazando por seu corpo e expressando-se em gestos que denotavam a raiva,
o ressentimento, a solidariedade, o horror rememorado nesse estado atual de seu
existir. Quando o entrevistado apresentava seu eu performático, sua percepção e sua
memória, como fenômenos impulsionadores das suas ações, manifestavam-se o tempo
todo: esbravejava, cruzava e descruzava mãos e pés, seu olhar interiorizava-se na
lembrança, torcia o corpo na cadeira, etc. movimento, mais ação, mais desejo de
realização.
Ao atuar na entrevista ao vivo, com o corpo próprio, a percepção momentânea
era a de que o entrevistado ao se ligar aos dados da memória, gerava uma certa
qualidade da manifestação. As sínteses operadas pelo corpo, ao que anotei, às vezes
contradiziam a reunião dos fatores percepcionados: os dados em estado virtual
(subjetivo) ao passar para o estado atual (objetivo), engendrava uma ação ambígua,
contraditória.
Nessas condições, desde o presente no qual esse corpo estava escavando a
memória sensorial do seu passado, um cabedal de corpúsculos sensoriais
desencadeavam sensações táteis diversas, como dor, desconforto, temor, etc. O sentido
háptico eclodia. (BRUNO, 2007; BRUM, 2008 ,pp.117-126).
Do dizível e do indizível; ou do ser semiótico de qualquer representação e
sua relação com a língua.
Seligmann-Silva (2006) traz o mito de Dibutade, um clássico da origem da
pintura sobre o ser semiótico de qualquer representação e sua relação com a língua.
Dibutade teria feito seu amante se colocar diante de um foco de luz para que
com ela, com um deveria preservar a sua instrumento, traçasse o contorno
de sua sombra projetada sobre uma parede. O amante partia para a guerra e
esta imagem deveria preservar a sua lembrança. Esta narrativa é do tipo
“originário”, na medida em que podemos ler nela, entrecruzando-se, uma
série de temas da tradição do pensamento ocidental: o mito platônico da
caverna) e nossa situação de simples espectadores da dança das sombras dos
eide) passando pela simples noção da imagem como duplo, sombra (e
15
duplicação quer dos eidos quer da alma do modelo) pela teoria da imagem
como tipo ou forma que coincidiria com um noção de „identidade
própria”,indo até as noções mais contemporâneas de traçamento, de gesto,
de inscrição e escritura (...) Ou seja, o traçamento serve para suplementar
uma “falta‟. Ele está desde o início condenado a ser insuficiente a ser um
Ersatz abortado. A imagem pensada a partir deste mito é caracterizada tanto
pelo fato pelo fato de ser portadora captação do momento de sua
cristalização atemporal, como falta e nostalgia voltada para um ausência
constitutiva. Um pólo tende para a objetividade, o outro para a expressão de
um sujeito eternamente carente de completar a imagem com a “presença
ausente”.É este segundo pólo que passou a predominar na nossa concepção
de imagem artística desde o final do século XVIII (SELIGMANN- SILVA,
op.cit. p.205-6)
Mais adiante e estabelecendo relação do mito com a língua:
A língua funciona a partir de universais e o único, singular, é sempre
abandonado. Esta situação, no entanto, é radicalizada quando se trata da
situação traumática, na sua literalidade tendencialmente absoluta. A língua
sempre apaga o singular e coloca o geral no seu lugar;ela é perda a priori em
um grau muito superior ao do mito de Dibutade, onde o amante ainda servia
de modelo. No caso da lembrança traumática, o que não é recoberto pelo
simbólico constitui ao mesmo tempo uma escritura literal (como o contorno
espectral do guerreiro0que passa a organizar a dinâmica psíquica do
sobrevivente. O traçamento, retomando então a metáfora da Dibutade,não
consegue suprir a carência de representação , ou de apresentação. O
testemunho, como testis, verdade jurídica, não recobre o testemunho como
superstestes, sobrevivente que viu a morte de perto. (SELIGMANN-
SILVA,op. cit. p. 211)
Sendo assim é narrável uma memória traumática? 10
Para Ricoeur (1991,p.373-374) o sofrimento é um caráter enigmático do
fenômeno do corpo, referente ao que denomina fenomenologia da passividade “[...]
10
A bibliografia é imensa, nos últimos anos. Ver entre outros BRESCIANI, Maria Stella; MAXARA.
Márcia (Orgs.) Memória, ressentimento, indagações sobre uma questão. Campinas: UNICAMP, 2001;
SELIGMANN-SILVA, Márcio (Org.). História, memória e literatura: o testemunho na era das
catástrofes. Campinas: São Paulo: UNICAMP, 2003; SELIGMANN- SILVA, Márcio. O local da
diferença. Ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: Editora 34, 2005; SOUZA, Fabio
Francisco F. de S.; AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e o testemunho (Homo
Sacer III). São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. In Revista do Programa de Pós- Graduação em
História, Florianópolis, v.2, n.1, jan.jun. 2010. p. 247-250.
16
Com a diminuição do poder de agir, sentida com uma diminuição do esforço para existir,
começa o reino propriamente dito do sofrimento [...] a passividade do sofrer si-mesmo torna-se
discernível da passividade do ser vítima do diverso de si [...]”.Tecnicamente tudo pode ser
performatizado, mas nem tudo pode ser narrável. O silencio pode ser opressivo diante
de fatos inenarráveis. É a pausa diante da prisão e a tortura, as privações e humilhações
sofridas como na fala de Honório Perez (mais adiante). No seu relato e no de outros
entrevistados um componente dramático surgia invariavelmente. E demonstravam
fisicamente o caráter enigmático do fenômeno do sofrer inenarrável.
A seleção dos entrevistados no Rio Grande do Sul
Foram selecionados e concordaram em participar das entrevistas em
audiovisual, pessoas de referência nas entidades que participaram nas lutas contra a
ditadura. Levava-se em consideração a diversidade das categorias pretendidas (gênero,
inserção social, partidária, anistiados com ou sem indenização requerida).11
Roteiros libertadores/liberadores
A preparação dos roteiros para as entrevistas da pesquisa Marcas da Memória: a
história oral da Anistia no Brasil o Marcas foi efetuada a partir de um breve trabalho de
pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, em busca de dados biográficos do
indivíduo a ser entrevistado. Eram reconstituídos alguns fatos importantes que
configuravam o contexto histórico e a atuação do entrevistado como pessoa de
referência nas entidades que participaram nas lutas contra a ditadura brasileira, sua
percepção da sensibilidade de época, quer como atingidos pelos atos do regime
(repressão, demissão, prisão, tortura, exílio); quer indiretamente, como familiar de
desaparecidos.
11
Entrevistas realizadas para o Projeto Marcas da Memória-História Oral da Anistia no Brasil em Porto
Alegre(17): Almoré Zoch Cavalheiro, Arnildo Fritzen (entrevista realizada no interior do RS), Carlos
Francklin Paixão de Araujo, Caio Lustosa,Cláudio Accurso,Emílio Chagas, Fernando do Canto, Flávia
Schilling (entrevista realizada em São Paulo,Honório Peres, Jair Krischke,José Augusto Avancini,Lícia
Peres, Lino Brum Filho, Lúcio Barcellos, Marta Sicca da Rocha, Nilce Azevedo Cardoso, Raul
Ellwanger, Sandra Helena Machado, Ver mais em RODEGHERO, Carla Simone. Amnistía y olvido:
reflexiones a partir de testimonios del Proyecto Marcas de la Memoria: Historia Oral de la Amnistía en
Brasil. Anais da 17ª Conferencia Internacional de Historia Oral. Buenos Aires, Septiembre de 2012.
17
Ao final indagava-se sobre sua posição frente à anistia e o dever de reparação do
Estado frente aos danos e crimes cometidos durante o estado de exceção (de
indenizações a julgamento dos torturadores).
A importância do roteiro-mestre da entrevista esteve na capacidade de atingir
objetivos do projeto geral (testemunhos para o Memorial da Anistia). Sobressaía a
possibilidade de lograr um nível suficiente de informações, impressões
memorialísticas, etc. sobre a luta regional, no caso, no Rio Grande do Sul. O
testemunho mais esperado, a grande revelação, trazia os inconfundíveis traços da
história oral: a dimensão inter-relacional, humana, de uma subjetividade socializada
na situação de entrevista.
O aspecto narrativo propiciado pelos roteiros abria-se para as lacunas
existências, a obliteração de destinos e carreiras. Na prática, a desenvoltura narrativa
obtida ficou por conta da fluência do entrevistado e do cuidado do entrevistador em
permitir a vazão narrativa, sem desatender o roteiro básico (geral, para todos, definido
pelo programa nacional) e o específico (a jornada pessoal de cada um). Essa proposta
dialógica em investigar através de associações que porventura aparecerem (entrevista
semi-estruturada, ampliou a atuação performática espontânea do entrevistado.
Da entrevista
A duração de cada entrevista dependeu de n fatores, mas o contratado
previamente, a maioria das vezes por telefone, seria em torno de uma única entrevista de
uma hora e meia a duas horas. Após o contato inicial, estava agendada a entrevista. Esse
detalhe tornou-se relevante quando o membro da equipe que fazia o contato era
conhecido, fazia o contato e realizava a entrevista, uma vez que já estabelecia uma
aproximação desejável para o bom desempenho do trabalho. Para Vilanova
(VILANOVA apud SANTANA, acesso em 2001) que buscou em algum momento
pensar sobre a produção de imagens, mas recuou, a paixão do pesquisador é vocação,
pois na entrevista, “o que é o extraordinário, é que é um jogo a dois, e se algo não
transforma a um e a outro, é que a entrevista não teve a densidade que precisa, por isto é
mais jornalística [...]. É uma porta insólita que de pronto se abre e você diz o que não
havia dito nunca, é fabuloso”.
Enfim, o entrevistado estava a par da proposta, consentia na sua divulgação
pública mediante a cessão de direitos e convencido de “um dever de memória” para o
18
Brasil. Essa destinação conferiu às entrevistas distintos tons, desde uma retórica mais
pública a mais subjetivada.
Os quesitos para um mínimo de controle sobre a entrevista em audiovisual foram
a elaboração e a realização de laboratório com a equipe; quanto ao formato e aos
procedimentos para a sua realização (condições técnicas e ambientais).
Foi definido que permaneceriam em cena com o entrevistado no ambiente ou
espaço preparado apenas entrevistado, o câmera, um auxiliar e dois entrevistadores
(quando um apoiava a condução do roteiro pelo outro). No meu caso, contava como
mais um observador.
As decisões práticas do deslocamento da equipe ao local da gravação, as
apresentações, as condições ambientais como a luz, o silencio, e técnicas como a
colocação da câmera, do entrevistador e do entrevistado, o tempo total da gravação,
mais a rememoração sobre as finalidades da entrevista, mais os encerramentos
demandaram um tempo extra, não computadorizado no produto final, o DVD.
Posteriormente o fluxo de cada entrevista realizada atendeu um duplo trabalho
pela equipe: passagem dos arquivos de imagem ao computador, mais as três revisões a
que eram submetidas cada transcrição de fita (da câmera e do auxiliar, gravador de
mão). Enfim chegava-se aos DVDs e CDs (das transcrições escritas).
Os entrevistados já receberam suas cópias. No caso da UFRGS todo material
já está disponibilizado no NPH, com a devida Carta de Cessão de Direitos do
entrevistado sobre seu depoimento.
No plano teórico, autores examinados em seminários internos como Ricoeur
(2007). Em muito auxiliou na conformação teórico-metodológica da pesquisa, quando
reflete sobre a experiência temporal e a operação narrativa a partir da fenomenologia da
memória e da temporalidade da condição humana.
Como um dos objetivos de interesse do NPH, trouxe igualmente a visualização
do intercurso das novas exigências de documentação, a formação de arquivos de
entrevistas em imagens, a exposição em acervos abertos ao público e o componente
ético implicado.
Procedimentos
Em recente evento científico (julho) quando da apresentação dos primeiros
resultados dessa discussão, foi-me lançada a pergunta/questão sobre o valor heurístico
da minha proposta, a performance do entrevistado nessa situação em particular. Buscar
19
a resposta remete ao início da constituição do objeto e da metodologia que sustentou
meu trajeto, ou seja, demonstrar a viabilidade, e mesmo, a urgência de um enfoque
interdisciplinar quando se trata de entrevista de história oral quando se vale da
dimensão imagética. 12
Dentre todas as possibilidades, desenvolvi um estudo exploratório que
encaminhasse para uma metodologia de entrevista para planejar, acompanhar, realizar
e interpretar a performance do entrevistado em situação de história oral gravada em
imagem em movimento (audiovisual). Apenas visava uma contribuição para um
campo em crescente formação: o do uso do audiovisual pelo historiador que se utiliza
dessa metodologia. Na prática, busquei manter uma atitude eqüidistante com a
dimensão do documentário- se quiser considerar o audiovisual como da “família” do
documentário. A exigüidade de tempo requerida em todas as fases teve seu prejuízo.
Mas os tempos da pesquisa universitária levam a isso. 13
O meu procedimento de pesquisa foi acompanhar, no ano de 2011, na medida do
possível - dado o volume e as exigências de elaboração de quase duas dezenas de
roteiros, etc., a realização de certo número de entrevistas que seriam daí para frente a
minha amostra. Escolhidas aleatoriamente observei a realização de cinco entrevistas e
apenas em uma ocasião entrevistei. Não conhecia pessoalmente nenhum dos
entrevistados e esse fator poderá ter contribuído para a minha isenção como
observadora. Em termos, como demonstrarei adiante. Assim estive presente nas
entrevistas de Honório e Delly Perez, Marta Sicca da Rocha, Claudio Accurso, Jair
Krischke, Lino Brum Filho e de Sandra Helena Machado,
Teoria e metodologia do olhar e o resultado da pesquisa
12
BRUM, Rosemary F. Oralidades e narrativa em performance: a situação da entrevista de história oral
gravada em imagem em movimento (audiovisual). Simpósio Diálogos contemporâneos: fontes orais e
visuais nas pesquisas sobre memória.XI Encontro Nacional de História Oral: Memória,Democracia e
Justiça, ABHO, Rio de Janeiro, UFRJ,10, 11, 12 e 13 de julho de 2012. Coordenação Ana Maria Maud de
Sousa Andrade ESSUS (UFF), Milton Roberto Monteiro ribeiro, Milton Guran, (LABHOIUFF), Silvana
Louzada da Silva (UFF). 13
BRUM, Rosemary F. Oralidades e narrativa em performance: a situação da entrevista de história oral
gravada em imagem em movimento (audiovisual). Simpósio Espaço, corpo e estudos em História
Interartes. X Encontro Estadual de História ANPUH, Goiânia,UFG, Goiás,Campus II- Goiânia, 18,19 e
21 de junho de 2012.Coordenação Marcio Pizarro Noronha (UFG), Valquiria Guimaraes (UFG, FAV),
Paola Antonaccio (PUC, GO). Pesquisadora do grupo
.
20
Precisava, antes de tudo, estabelecer o que iria privilegiar na observação. As
distintas camadas de atuação e de documentação em jogo poderiam embaralhar a teia de
interpretação.O perspectivismo fenomenológico-hermeneutico foi o ponto referencial da
minha observação diante do entrevistado e do seu corpo em performance, afetado pelo
registro audiovisual. Mais que um esteticismo, estava preocupada em refletir sobre as
questões de pesquisa, por à prova minhas perguntas, superar o mero descretivismo
usual. O gestual estabeleceria igualmente uma gramática, uma comunicação,
sublinhariam ou trariam outra narrativa. As movimentações durante a ação performática
deveriam ser reativas aos estímulos presentes no ambiente da gravação.
Surgiria uma performance e sua possibilidade de interpretação quando o
Como, o Quando, o Porquê e Para quem fossem satisfeitos. O corpo em performance
apareceria visto pelo espectador; seria visto quantas vezes esse registro fosse assistido,
encontraria eco na subjetivação do espectador. Faria parte da história documental das
lutas sociais e políticas do país. E nós seríamos responsáveis em grande parte pelos
códigos da imagem.
O imperativo do audiovisual e sua linguagem iriam requerer de todos nós
(entrevistador, equipe, câmera man ou filmaker) uma atitude de contemplação para
além da dimensão lingüística. Tratava-se de mais um dos desafios: superar a atenção
no memorialismo conteudista. Além de seguir o nosso roteiro e a roteirização de uma
vida (ou tema) como se pratica n história oral, o que importaria para a equipe seria a
gravação em audiovisual; para mim seria era o foco no sensório motor e nas
combinações de manifestações de sensações e movimentos presumivelmente
performáticos.
A descrição e os comentários sobre minha experiência que se seguem têm o
propósito de fixar como nessa situação de entrevista surge em potencial um
movimento de existência a ser compartilhada. Muni-me então de um caderno para
anotações e candidatei-me para fazer parte da equipe de algumas entrevistas.
Comprovei que de fato em qualquer circunstancia de interação humana não há
naturalização possível. Quando alternei nas entrevistas que acompanhei, as posições
entre ser entrevistadora, documentarista ou apenas observadora de cena, de modo a
variar e enriquecer minha perspectiva alterei minha própria performance diante do
entrevistado e do suporte de registro. Em cena foi impossível entrevistar e ao mesmo
tempo registrar a performance do entrevistado, uma vez que eu própria estava
performando. O que mudou nessa alternância de funções foi a capacidade de
21
observação e a direção do diálogo. Destaco porque considero relevante: quando tentei
realizar as anotações no caderno de campo durante a entrevista, se não tivesse uma
ficha de teste (ao final do texto apresento), teria retornado ao habitual, o peso da
atenção apenas na narrativa oral, lingüística. Apenas quando pude estar fora da cena
consegui interpretar com certo distanciamento a entrevista.
Performava mesmo na condição de observadora potencial porque o olhar, o
gestual do entrevistado buscava um acolhimento de todas as pessoas presentes na cena
da entrevista. Performava porque para mim era impossível abrir mão do fato de que
minha própria experiência de geração estava transcorrendo diante de mim. A fala do
entrevistado foi pontuada pelas interjeições de confirmação („né?‟) e eu, mudamente,
assentia. Como diz o antropólogo Canevacci (2009, p.20-21) “o observado- em vez de
objeto passivo-torna-se um sujeito que, por sua vez, observa o observador, o modifica
(e, portanto, “se” modifica) e o interpreta”.
Mas precisaria ir mais longe e levar em conta as formas dissimuladas do sofrer:
a incapacidade de narrar, a recusa de narrar, a insistência do inarrável. Entre o narrável
e o inenarrável, houve ainda a discrepância entre o plano pré-consciente/consciente
(campo do enunciado) e o plano inconsciente (campo da enunciação). Não cabe aqui
desenvolver esse aspecto psicanalítico, mas destaco que essa discrepância atuou na
produção de dois discursos correntes nesse grupo específico de entrevistados marcados
pela traumática experiência política: o discurso político e o discurso poético O poético
foi entendido por mim através de Zumthor (ZUMTHOR, in FERREIRA, 1999, p. 46)
como “conjunto significante que um discurso realizado representa e que tenta definir
suas próprias regras de transformação”.
Assim o entrevistado tinha a sua disposição a função poética, a possibilidade
de variar sua linguagem conforme a extensão de elementos carregados de sentido. E
espetaculizava, uma vez que era visível um ato expressivo com início e realização
muito visível nos momentos de muita tensão e de revelações. Como na intensa carga
traumática da entrevista com Lino Brum, ao modo como se entregou diante da câmera
para revelar como durante vinte e cinco anos a família Brum não conseguiu falar sobre
seu morto desaparecido.
Já o discurso na sua face política manifestava-se no distanciamento crítico,
ideológico, nas falas como na performance retórica de Jair Krischke. Foi possível
perceber isso no seu gestual contido no formato de um sujeito que se sabe
representante, figura pública e assim por diante. Mas em momentos diante de uma
22
pergunta mais inusitada do entrevistador, ou quando sua memória performava
sensações e eventos mais dramáticos surgia sutilmente uma performance
transfiguradora na sua presença, contagiando a todos nós. Diante de nós estava um
homem e sua experiência pessoal, não mais um '„representante”.
Comprovei que a narratividade e a potência da performance do entrevistado
seria perdida/neutralizada ou potencializada conforme prevalecesse a atuação poética
ou política, mas nunca a mescla ao mesmo tempo, embora pudesse ocorrer na mesma
entrevista. As sínteses operadas pelo corpo, ao que anotei, as vezes contradiziam a
reunião dos fatores percepcionados: os dados em estado virtual (subjetivo) ao passar
para o estado atual (objetivo) engendrava uma ação ambígua, contraditória.
O relato da performance na cena
A ação de cada entrevistado foi de uma performance afetada. Para a qual
concorreram a sua linguagem (texto, narrativa), estar diante do suporte (mídia)
adotado e o aspecto inter-relacional da situação (a equipe). Não poderei tratar aqui
extensivamente aqui todas as ocorrência das gravações, apenas assinalarei alguns
marcos mais importantes.
Vários fatores afetaram a performance do entrevistado, positiva ou
negativamente. Por exemplo, a duração da entrevista. .O “tempo” se relativizou em
razão, por exemplo, da percepção do entrevistado e da equipe sobre a sensação de
fluidez na inter-relação entrevistado-entrevistador. Acordadas em torno de uma hora e
meia a duas, algumas entrevistas superaram essa duração, o que foi benéfico para a
ambos. Mas algumas entrevistas transcorreram sob o signo da pressa em encerrar o
quanto antes. Uma entrevistada esteve tão pouco à vontade que tratava de responder
sucintamente e intermediando com a pergunta: “- O que querem saber mais?". A
comunicação foi pouco dialógica, embora o entrevistador fosse muito qualificado uma
vez que fizera parte de sua célula política naqueles anos da repressão.
Afora o tempo cronológico, a performance do entrevistado percorreu uma
gama quanto à intensidade narrativa, as interrupções para troca de equipamento ou em
momentos de alta comoção; lembro novamente de Lino Brum filho. Sua emoção fez
interromper para recompor-se. Chamou atenção igualmente como era única a maneira
como a velocidade e o ritmo como o corpo do entrevistado transitava de uma ação
para outra. Trago Marta de Sicca, quando narrava sua infância de filha de perseguido
político, o ostracismo na cidade, na escola. De como incorporara a personagem de
23
Anna Frank para um mínimo de racionalidade para suas privações e suas visitas ao pai
na cadeia. Seu „„o esquema corporal seria uma tomada de consciência global da minha
postura no mundo intersensorial‟ diria Merleau-Ponty (op.cit,p.145), Marta no seu
gestual transmitia o que em criança sentira ao trazer à cena seu passado.Sua
performance como que colocava em suspensão o tempo decorrido entre a Marta
menina e a Marta professora, militante, adulta.O que estava em estado virtual e
potencia, se fez presente, performatizou.,
Outro fator determinante refere-se ao lugar/espaço de realização das
entrevistas: as condições ambientais desfavoráveis (luz, ruídos), quando se
apresentavam e se apresentaram, não havia como prever tudo, ou se adiava ou se
seguia em frente. Se a realização das entrevistas na Universidade, como nas entrevistas
de Jair Krischke e Lino Brum Filho garantiam as melhores condições técnicas, a
condução da entrevista na residência deixava o entrevistado mais à vontade,
assumindo o tom de uma conversação sempre desejável para vazar a
intersubjetividade. Quanto a esse fator, na entrevista de Claudio Accurso, trocou-se de
lugar, da sala que dava frente à avenida movimentada, por outra. O que se revelou uma
escolha infeliz: justo estava ocorrendo um conserto no prédio, com ruído intermitente
e assim transcorreu a gravação.
A prova dos conceitos-chave utilizados
Sabia estar diante de uma performance quando o corpo do entrevistado ficava
totalmente percepcionado, o tom da voz e o gestual adquiriam uma potencia com força
de presença. Essa indica “a potencialidade, da capacidade de fazer presente, autônoma,
mas não independente de um significado e de sua interpretação (COEHN in
TEIXEIRA, 1999, p.225).
Força de presença ocorre quando o corpo é percepcionado. Nas suas pesquisas
em performance Paludo (op.cit., p. 6) afirma que nessa condição é possível “assegurar
que um ser sensível e responsivo surgisse para a atuação, que estivesse ali- o ser-, em
pleno domínio de seu estado de presença”. Foi a impressão corporal deixada por
Claudio Accurso, por exemplo. Enquanto rememorava, esbravejava, cruzava e
descruzava mãos e pés, seu olhar interiorizava-se na lembrança, torcia o corpo na
cadeira, etc. movimento, mais ação, mais desejo de realização. Professor afastado pelo
inquérito administrativo forjado pela Universidade teve sua vida de economista
transportada pelo Chile, Bolívia, Peru. Enquanto relatava a trajetória bem sucedida
24
fora da Academia, seu esquema corporal todo acionado vibrava com indignação atual
com o silenciamento e a conivência de colegas durante o regime de medo que
imperara no período. E surgia no ambiente o que é próprio da performance: a via
dupla, entre os próprios significados para ele e as maneiras de recebermos aquelas
imagens. Os estudantes que faziam parte da equipe recebiam aquilo como lições para a
posteridade e nós, entrevistadores de duas gerações anteriores ao professor (tem 84
anos) reconstituíamos em nossas mentes e verbalizávamos como alunos diante da
sabedoria do mestre. Nosso ser sensível também surgia para a atuação.
De modo que nas entrevistas observadas o espaço do corpo do entrevistado
comunicava imediatamente com as formas e forças expressivas do corpo da equipe,
principalmente do entrevistador. Esse momento sempre era crítico: ao ser
percepcionado, o significado do ato performático ganhava sua expressão através de
nós. A câmera registrava mesmo quando o entrevistado esgotava-se, abandonando a
ação que estava empreendendo e o estado corporal já estava transitando para outra
ação. Tensão, que dava continuidade à narrativa seguinte; estado de recuperação após
uma intensa emoção compartida pelos os sujeitos em cena.
A cada apresentação, as atuações de Claudio Accurso, Marta de Sicca, Jair
Kriske, Sandra Machado, Honório Perez, e Lino Brum Filho dirigiram-se para uma
dimensão pública, uma audiência, muito diferente da convencional história oral.
Conclui da experiência toda, que o entrevistado em situação de registro audiovisual
apresenta ou “presenta” um corpo de ator. Um corpo que não é um corpo qualquer- do
sujeito falante, sujeito do quotidiano-, mas um corpo outro, novo, criado para a cena.
Todas as entrevistas, como toda performance, faziam parte da ordem da sensibilidade
de um acontecimento único. A auto-representação do entrevistado diante da câmera
perdeu em narratividade e ganhou em expressividade: um olhar mais educado poderia
apreender essa gramática significa que talvez o próprio entrevistado não percebesse ou
controlasse. São experiências que propõem trocas, reciprocidade.
Perante a audiência, não houve naturalização possível em cena. Inevitável que
se estabelecesse uma relação de audiência e de recepção que afetou o pesquisador.
Como não existiu um efeito do gesto que não se reduzisse aos resultados que se
esperam de um ato, seu sentido foi mostrar-se. Quando se dedicou a fazer
compreender, o gesto se transformou em linguagem. Foi nesse momento que a minha
observação direta teve condições de discriminar essas relações intertextuais.
25
Memória performa e o corpo convoca?
Os entrevistados manifestaram na corporeidade uma memória fisiológica. Ao
encher-se das forças do corpo, o gestual trouxe um memória “imemorial”, ou seja,
memória como impressão, e uma memória “memorável” referida ao simbólico
(MURCE, 2009, p.28).
O corpo perfecionado podia estar em acting: presentificar através de um
trabalho de síntese da memória, a repetição de um diálogo, um sofrimento físico,
moral, psicológico. E o que pode restar diante do sofrimento?
Quando Sandra Machado relatava sua prisão em Porto Alegre, o nascimento de
sua filha no Chile, o exílio na Bélgica, suas mãos cruzadas sobre seu frágil colo era a
própria expressão do abandono. A sinestesia era marcada por transições de estilo de
linguagem sublinhando seu estado de emoção presente no seu corpo percepcionado.
Evocava seu passado enquanto as impressões vazavam por seu corpo e expressando-se
em gestos mais sutis em relação aos outro entrevistados. Ainda assim revelando muito
mais do que conseguia expressar em nível consciente sobre sua a frustração diante do
insucesso do projeto político, primeiro no Brasil, depois no Chile, o ressentimento, a
solidariedade dos exilados nesse período. No presente - a situação de registro - seu
corpo estava escavando a memória sensorial do seu passado. Um cabedal de
corpúsculos sensoriais desencadeavam sensações táteis diversas e visíveis como dor,
desconforto, temor, etc.; o sentido háptico eclodia diante da câmera (BRUM in
PESAVENTO, 2008, pp.117- 126).
Assim aconteceu na entrevista de Honório Perez. Ele buscou a sua qualidade
do presente (advogado trabalhista aposentado), reconfigurou seu passado percebido e
ressentido como algo que não aconteceu, mas que também não se tornou num presente
(futuro desse passado) desejado. Afirmava que a anistia não restabelecerá a injustiça,
as indenizações não cobrirão a ausência do julgamento dos crimes dos militares. Seu
corpo envelhecido estremecia a cada pergunta do jovem entrevistador, não obstante
olhasse firmemente na direção da câmera e respondesse. O seu passado voltava através
de nós, tomava a vitalidade da percepção do presente (BERGSON, op.cit., p.168).
Como o filósofo afirma, a percepção, por mais instantânea que pareça, reúne o
rememorado. Percepção é memória, é presentificação do passado como tempo virtual.
O relato de Honório Perez, seu testemunho, no “agora” se esforçava na elaboração do
presente. A reparação pública de danos poderia significar para ele e todos os demais, a
26
perlaboração e a suspensão dos percursos entre a história, a memória e o
esquecimento. Poderia.
Perguntas definitivas e respostas provisórias sobre o audiovisual
Devo esclarecer que meu propósito foi o de desdobrar certas questões de meu
interesse, mas inevitavelmente retirei algumas conclusões gerais sobre toda pesquisa
Marcas da Memória: a história oral da Anistia no Brasil. Foi inevitável que a pesquisa
se deslocasse para o paradigma do filme, tratando todos de adaptarem-se a essa nova
linguagem. Quase uma intuição de que não estávamos preparados para o fato de que
paradigma fílmico afetaria o todo da situação de entrevista. O paradigma do filme
(vídeo) passou ao centro da operação: as variáveis ligadas ao registro imagético (como
luz, som, enquadramento, etc.) definiam o procedimento de registro e a capacitação da
equipe.
Ensaios foram realizados e como não poderia deixar de ser, houve acréscimo
de elementos do pensado originariamente pelo plano da equipe. Por exemplo, havia o
antes e o depois e inclusive a interrupção ou a suspensão da gravação por motivos
técnicos ou do clima emocional (emoções) para repensar mesmo a entrevista. Rompia-
se o rito da entrevista de história oral, aquele que prevê certa linearidade narrativa. O
entrevistado reiniciava reassumindo outra força de presença. Como acontece na
metodologia de história oral, imprevistos aconteceram: na entrevista de Honório Perez
surgiu sua esposa Delly, que imediatamente foi integrada no enquadramento do
câmera e passou a fazer parte da entrevista.São os deliciosos imprevistos da história
oral.
Revendo ultimamente as imagens não editadas, por serem mais “coladas” ao
espontâneo em cena e no distanciamento de sua produção (2011), percebi que há um
sacrifício e um critério a adotar na produção de um audiovisual. Sacrifício entre o
estético- técnico e a interface tão valorizada na história oral, ou melhor, a invenção do
"outro" sob uma ótica histórico-antropológica, a possibilidade dialógica, a confiança
em campo. Tal ocorreu porque todos os entrevistados ficavam oscilando entre interagir
com a câmera, com o entrevistador ou com os demais em cena. Durante a ação, houve
deslocamento do ponto de vista quando os entrevistados dirigiam o olhar/fala para os
demais presentes na cena, além do entrevistador que o mais das vezes estava em off.
27
Lembrar que nosso caso havia no mínimo quatro pessoas: o entrevistador principal, o
câmera, o assistente de câmera o observador (eu mesma).
Essa abordagem compositiva vivida por todos nós, para Canevacci (2009, p.21)
partindo da fenomenologia-hermenêutica, o significado “é negociado pelas muitas
linguagens postas em ação durante o set da filmagem, da montagem e da
visualização”. Trata-se de um processo da comunicação visual compartido em três
níveis: o pesquisador e suas técnicas audiovisuais a serviço de um propósito, “a
própria análise cultural e por fim a abordagem compositiva produzida pelos sujeitos
autor (filmaker), o ator em cena ou informante e o espectador. O significado é produto
construído ao longo do evento (a tomada) da montagem (editing), da exibição
(visualização). Há uma presença compartilhada entre o entrevistado, o entrevistador e
a ação do registro audiovisual que “entram em seu frame-isto é, como intérpretes que
negociam os significados-e todos com igual direito a plena subjetividade” (ibdem)
O câmera (ou filmaker) oscilava entre selecionar planos e ângulos.
(profissionalmente seria a busca do gênero mais expositivo, interativo, observacional
ou poético). Alternou possibilidades entre manter câmera fixa e aberta ou tentar close,
plano à altura do entrevistado sentado e de modo a não interferir/intimidar o diálogo
em curso. Frente e lado foram ângulos experimentados. Foi estabelecido que o melhor
plano de gravação fosse sempre o que não interferisse na performance do entrevistado,
não fosse intimidador.
Ao entrevistador (âncora) para não sobrepor-se ao entrevistado, foram
sugeridas duas possibilidades; que se fechasse o enquadramento nele, usando corte
(pause) e reposicionasse a câmera na seqüência para enquadramento do entrevistador e
entrevistado. Ou que se dispusesse de forma que todos aparecessem em cena, mas
conservassem níveis aproximativos de planos dos personagens. Atenção máxima foi
enquadrar no plano, os gestos, palavras e movimentos do entrevistado. O princípio
que norteou a disposição corporal do entrevistado, bem como de enquadramento, se
está para a direita, ou para a esquerda mostrou-se pouco relevante.
Como o âncora faria a apresentação do projeto, na abertura ele deveria olhar
preferencialmente para a câmera, como alguém que fala com o espectador. Essa
recomendação foi ensaiada previamente. Quanto ao enquadramento do entrevistado e
do entrevistador foi recomendado que a câmera fosse instalada no mesmo plano do
entrevistado, como o olho de alguém sentado, para valorizar os personagens.
28
Na prática, o melhor resultado em termos de comunicação entrevistado-
entrevistador, foi aquele no qual o entrevistado não olhou para a câmera, e sim para o
entrevistador principal.
No plano fílmico esse resultado não foi o melhor, porque o ideal é que a
câmera fosse a interlocução com o espectador ideal. Uma câmera „„é “o público e
quando o entrevistado focava na câmera, desviando o olhar do entrevistador,“ falava"
para a câmera. Ora, a câmera é o espectador potencializado.
Lembrar que objetivo das gravações era o da produção de um documento
histórico visual. Esse objetivo firmou-se na estética e na ética de todo
processo.Estimulou Honório Perez a revelar pela primeira vez detalhes de sua prisão e
tortura. Lino Brum Filho fez questão de expor para o registro os documentos do
processo e do atestado de óbito do irmão desaparecido na guerrilha do Araguaia. Para
a história também Claudio Accurso apresentou seu livro recém lançado, onde consta a
sua dedicatória a turma de formandos a qual foi impedido de paraninfar na UFRGS,
por ser um professor cassado. Foram acréscimos ao plano de gravação que certamente
enriqueceram o documento visual.
Indicações de continuidade
A equipe ficou estimulada em atuar como documentarista, gerando a
necessidade de refletir futuramente a demarcação entre as funções do pesquisador e do
documentarista. Acontece que há uma intervenção dessa linguagem sobre a realização
da entrevista de história oral que requer uma pausa -ou várias- por parte dos
realizadores.
Busco agora uma sistematização. No projeto encaminhado previa a o diálogo
intertextual entre as várias camadas de atuação e documentação interpretação. Na
pesquisa realizada,no entanto, não considerei para além dessa instancia da observação.
Por exemplo a documentação escuta/leitura da documentação realizada por meio da
gravação sonora, as transcrições (os arquivos de voz que revelam as nuances, as lacunas
na narrativa, silêncios, etc.), e o próprio audiovisual (apenas uma colagem de arquivos,
não configura propriamente uma edição) apenas foram consideradas para complementar
algum detalhe da minha observação in locu. Podem vir a ser parte de desdobramentos
futuros, onde esse diálogo intertextual estabeleceria uma grade bastante complexa de
interpretações.
29
Primeiramente, começando pelo fim, paradoxalmente examino o audiovisual
não editado. Revendo as gravações, antes da edição final, constatei uma severa
ambigüidade entre o resultado imagético, o expressivo e o cognitivo, só para destacar
os mais evidentes. Mas um critério deveria ser estabelecido, é aí onde entra a
necessidade de uma direção de cena, que equilibre essas camadas de interpretação que
são projetadas para o expectador, da ordem dos problemas narrativos no discurso
cinematográfico (transparência e opacidade). Sendo esse material uma peça que irá
constituir um banco de dados sobre o passado recente da história brasileira, acessível a
escolares, a pesquisadores, ao público em geral, com fim educativo, incita para novas
produções.
Habituados à leitura de imagens pelo cinema, principalmente pela escola norte-
americana, é inevitável que nosso olhar socializado por essa estética atue como um
crítico impaciente diante de tropeços ou da polifonia das mensagens ambíguas. Apenas
quando o próprio sujeito toma a si a tarefa documental, poderemos estar diante de uma
projeção autobiográfica vamos dizer, menos espelhada pelo olhar do outro.O problema
é que desejamos o entrevistado ideal e em condições ideais. Se partirmos do critério
educativo, do laboratório de habilidades, os alunos irão se interessarem pela produção
de documentação imagética, doravante, quanto mais com maior qualidade obtiverem
esses produtos. Se quisermos isso, condicionemos a isso. Ou contratemos profissionais
e a coisa toda se perde quanto ao aspecto formativo de alunos de história produzindo
documentos imagéticos. O que interessa para o historiador do séc. XXI? Ou às
universidades que os formam?São perguntas que ficam. Insisto que a situação de
entrevista de história oral em audiovisual exigirá muito de nós, daqui para frente.
Dominar as linguagens implicadas não se trata de somar habilidades apenas: se trata
de filtrar e efetuar deslocamentos entre saberes, na direção de um novo patamar.
O que fica de tudo isso? A constatação de que em cada entrevista foi possível
constatar uma performática ativa afetada pelo registro audiovisual e com certo sentido
e certo significado. Performance que emitiu/transmitiu através de sua expressão
reduzida, compacta e sintética, o máximo de significados potencializando os
significantes do material da memória coletiva e individual.
E que uma metodologia para o audiovisual não é apenas uma escrita
constatativa. Foi momentum de passagem, assim como produção de presença e
comportamento restaurado. Gostaria de encerrar com as seguintes palavras:“E a
palavra repartida vem partida em dois fragmentos, pois aponta também, para a partida,
30
ou o ir embora, daquilo que não se fixa, do corpo que; cedo ou tarde, transmuta sua
configuração, sua matéria. (PALUDO, op.cit., p.105).
Deixo aqui um caminho metodológico para chegar a uma reflexão substantiva
que respalde o proposto onde havia que considerar a co-existência de três de atuação
(o entrevistado, o entrevistador, o observador, ou a equipe).E duas instancias de
documentação (a gravação oral e visual).Conforme a necessidade, pode ser
modificado.São fichas de teste, como segue.
Proposta de ficha um: Instância de atuação
Do entrevistador: Seria analisado a sua performance? Em situação oral e
escrita? Se sim, de que forma será a abordagem da entrevista? Através do diálogo com
o entrevistado?Bate-rebate. Ou se pedirá para que fale sobre o tema, deixando-o livre,
para investigar através de associações a verdade do entrevistado? Quantos
entrevistadores estarão na cena da entrevista? Um para cada entrevistado? Ou dois ou
mais para cada entrevistado?
Do entrevistado: O lugar/espaço onde será realizada a entrevista terá uma
interferência significativa sobre a performance, tanto do entrevistado como do
entrevistador. Onde o personagem será abordado? Ele poderá escolher o local?
Proposta de grade/matriz n.1: Para cada uma das entrevistas.
Proposta de ficha dois: Instância de registro/documentação
Do audiovisual:
Quanto tempo durará a entrevista? Poderá ser delimitado um tempo especifico
para a resposta do entrevistado? De que forma o tempo da entrevista interfere na
performance do entrevistado? Em um tempo maior, poderia se colher maior verdade,
que em tempo restrito? Poderá haver duas formas de gravação de áudio, a gravação
pela câmera e a gravação pelo mp4? Qual poderia ser o melhor plano de filmagem
para que não se interfira na performance do entrevistado? Ou é esta interferência
mesma que se objetiva para colher as diferenças entre a entrevista no audiovisual e a
entrevista oral?
A câmera:
A Câmera deverá se manter fixa e distante para não interferir, ou ao contrário,
em movimento e próxima, para provocar e acentuar o entrevistado em sua
performance? Para quem o entrevistado falará? direto para a câmera? para o
31
entrevistador que estará na frente da câmera? para o entrevistador que estará atrás da
câmera?
Entrevista:
Será semi-estruturada? Ou estruturada?
Proposta de grade/matriz n. 2. documentação visual(vocidade/gestualidade)
Para cada uma das entrevistas em situação de observação interpretar o registro (as
fitas) ainda sem edição. Analisar o material imagético produzido, não editado,
juntamente com as transcrições dos arquivos sonoros, com vistas a perceber as
possibilidades e ou perdas de narratividade da performance.
Divulgações já realizadas
BRUM, Rosemary F. Oralidades e narrativa em performance: a situação da
entrevista de história oral gravada em imagem em movimento (audiovisual). Simpósio
Diálogos contemporâneos: fontes orais e visuais nas pesquisas sobre memória.XI
Encontro Nacional de História Oral: Memória,Democracia e Justiça, Oralidades e
narrativa em performance: a situação da entrevista de história oral gravada em imagem
em movimento (audiovisual) ABHO, Rio de Janeiro, UFRJ,10, 11, 12 e 13 de julho de
2012. Coordenação Ana Maria Maud de Sousa Andrade ESSUS (UFF), Milton
Roberto Monteiro Ribeiro, Milton Guran, (LABHOI_UFF), Silvana Louzada da Silva
(UFF). Também apresentado ao meu grupo de pesquisa Interartes Processos
interartísticos e estudos de performance. CNPq., durante o Simpósio Tempo, espaço,
corpo e estudos em História Interartes.X Encontro Estadual de História ANPUH,
Goiânia,UFG, Goiás,Campus II- Goiânia, 18,19 e 21 de junho de 2012.Coordenação
Marcio Pizarro Noronha (UFG), Valquiria Guimaraes (UFG, FAV), Paola Antonaccio
(PUC, GO).
Entrevistas observadas
Honório e Delly Perez.Entrevista concedida a Dante Guimaraens Guazzelli, em 04 de
maio de 2011, em sua residência em Porto Alegre.
Marta Sicca da Rocha.Entrevista concedida a Gabriel Dienstmann em 21 de maio de
2011, em sua residência em Porto Alegre.
Claudio Accurso. Entrevista concedida a Francisco Carvalho Jr. e Rosemay F. Brum,
em 1º de setembro de 2011, em sua residência em Porto Alegre.
Jair Krischke. Entrevista concedida a Carla Simone Rodeghero em 21 de setembro de
2011, na UFRGS, Campus do Vale, em Porto Alegre.
32
Lino Brum Filho. Entrevista concedida a Gabriel Dienstmann em 18 de outubro de
2011, no NPH, Campus do Vale, UFRGS em Porto Alegre.
Sandra Helena Machado. Entrevista concedida a Francisco Carvalho Jr. Em 27 de
outubro de 2011, em Porto Alegre.
Bibliografia
ALBERTI, Verena. Ouvir contar. Textos em história oral. Porto Alegre: FGV, 2004.
ALMEIDA, Juniel R de; AMORIM, Maria Aparecida B.V; BARBOSA, Xênia de C.
Performance e objeto biográfico. Oralidades. Revista de história oral, São Paulo, n.2, jul-dez.
2007.p.102-109.
ALVES, Fernanda Andrade do Nascimento. A morte e a donzela e que bom te ver viva: o teor
testemunhal. Revista Literária em Debate, n. 6, v.4, jan jul, 2010. p.105-120.
ALVES, Márcia Barcellos; SOUSA, Edson Luiz André. Testemunho. Metáforas do lembrar.
Psyche, São Paulo, n.23, v.12, Dez. 2008. Disponível em: http://www.pepsic.bvs-
psi.org.br/scielo.php. Acesso em: 20 outubro 2010.
AMADO, Janaína. Usos e abusos da história Oral. (Orgs.) Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1996.
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção.São Paulo: Boitempo, 2004(Estado de sítio).
AUSTIN, J. L. How to do , things with words. New York: Harvard University Press, 1975.
BADIOU, Alain. Pequeno manual de inestética. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
BARTHES, Roland. Oral escrito. In ENCICLOPEDIA Einaudi Lisboa: Imprensa nacional Casa
da moeda, 1987. p.33-57.
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um
manual prático. Petropolis: Vozes, 2003.
BAUMAN, Richard. Story, performance, and event. Contextual studies of oral narrative. New
York: Cambridge University Press (Cambridge studies in oral and literature culture. n.10),
1999.
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas, v. I. Magia e técnica, arte e política. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
BEZERRA DE MENESES, Ulpiano T. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço
provisório, propostas cautelares. O ofício de historiador. Revista Brasileira de História, n.45,
v.23, 2003.p.11-36.
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
BRAIT Beth (Org.). Bakhtin: dialogismo e construção do sentido. Campinas: UNICAMP,
1997.
BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Orgs.). Memória e (Res) sentimento: indagações
sobre uma questão sensível. Campinas: UNICAMP, 2004.
BRUM, Rosemary F., BORGES, Niura, SOSO, Patricia. O corpus do PS. Performance além da
linha do horizonte. Revista do Programa de Pós-Graduação em Poéticas Visuais. Baurú:
UNESP. 2 Sem. n.3, 2012[2011].p.90-100.
BRUM, Rosemary F. Oralidades e narrativa em performance: a situação da entrevista de
história oral gravada em imagem em movimento (audiovisual). Simpósio XI Encontro Nacional
de História Oral: Memória,Democracia e Justiça, Oralidades e narrativa em performance: a
situação da entrevista de história oral gravada em imagem em movimento (audiovisual) ABHO,
Rio de Janeiro, UFRJ,10, 11, 12 e 13 de julho de 2012.
BRUM, Rosemary F. Oralidades e narrativa em performance: a situação da entrevista de
história oral gravada em imagem em movimento (audiovisual). Anais do XI Encontro Estadual
da ANPUH, Goiânia, UFG, Goiás, Campus II- Goiânia, 18,19 e 21 de junho de 2012.
BRUM, Rosemary Fritsch. Oralidades e narrativa em performance: a situação da entrevista de
história oral gravada em imagem em movimento (audiovisual).Projeto de pesquisa, PROPESQ,
UFRGS, Porto Alegre, 2012.
33
BRUM, Rosemary F., BORGES, Niura, SOSO, Patricia, STEIN, Fernanda. Deslocamentos do
sensível: trajetórias dos corpos entre presença: ausência. Leader Workshop. World Congress on
Communication and Arts. Congress on Communication and Arts. COPEC, Guimaraes:
Universidade do Minho, Portugal, 2010.
BRUM. Rosemary F. Ação e Acontecimento. Simpósio História e performance: do oral ao
audiovisual, do biográfico ao autobiográfico,das fontes-documentos de artista ao documento
historiográfico na (des) construção da história da arte. IV Simpósio Internacional de História:
cultura e identidades. ANPUH, Campus II-UFG-Goiânia, 2009.
BRUM. Rosemary F.; CARVALHO, Jr. A sensibilidade fílmica. Uma cartografia da memória
do Clube de Cinema de Porto Alegre (1960-1970). Fênix. Revista de História e estudos
culturais., n.1, v.5, Jan/fev/março. 2009.
BRUM. Rosemary F. Uma cartografia sensível: Giuliana Bruno. In PESAVENTO, Sandra
Jatahy ET. al. Sensibilidades e sociabilidades. Perspectivas de pesquisa. Goiânia: UCG, 2008.
p.117-126.
BRUM. Rosemary F.; CARVALHO Jr. História oral: as narrativas de anarquistas e comunistas
em Porto Alegre. IX Encontro Nacional de história oral:Testemunhos e conhecimento. ABHO,
São Leopoldo, UNISINOS, 2008.
BRUM. Rosemary F. Memória, oralidade e imagem. Simpósio Clio e as musas: desafios e
métodos na historiografia e história das artes e das linguagens, estudos comparados e
intersemioticidade, relações interculturais e interartísticas. III Simpósio internacional: cultura e
identidades. ANPUH, Campus Samambaia UFG-Jataí, 2007.
BRUM, Rosemary F. História e memória: a soldadura da imaginação. Estudos-Ibero-
Americanos, Porto Alegre: PUCRS, n.1, v.XXXII, junho. 2006. p.1-225.
BRUM, Rosemary F. Pressupostos teórico-metodológicos da história oral: aproximações entre
Paul Ricoeur e a problemática da narrativa. Encontro Estadual de história oral. ANPUH, São
Leopoldo, UNISINOS, 1999.
BRUM, Rosemary F. Narrativa e história Oral. Dossiê História oral. Humanas. Porto Alegre:
UFRGS, n.1;2, v.19;20, 1996-1997. p.127-34.
BRUNO, Giuliana. Journeys in Art, Architecture, and Film. Verso: London, 2007.
CANEVACCI,Maximo.Comunicação visual. Olhares fetichistas, polifônicos, sincréticos sobre
corpos. São Paulo: Brasiliense, 2009.DALLAGO, Saulo. Performance e fotografia: um estudo
sobre memória, signo e escritura na obra de Em busca do tempo perdido, de Marcel
Proust.Goiânia, UFG, 2012. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós Graduação em
História, UFG, Goiânia, 2012.
CARDOSO, Helio Rabelho. Acontecimento e história: pensamento de Deleuze e problemas
epistemológicos das ciências humanas. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/trans/v28n21
/29417. Acesso em: 28 julho 2009. CARLSON, Marvin. Performance. Uma introdução crítica.
Humanitas, Belo Horizonte: UFMG, 2010.
COHEN, Renato. Performance e contemporaneidade: da oralidade à cibercultura. In
FERREIRA, Jerusa Pires (Org.) Oralidade em tempo & espaço. São Paulo: EDUSC/FAPESP,
1999. p. 225-240.
COHEN, Renato. Performance-anos 90: considerações sobre o Zeitgeinst contemporâneo. In:
TEIXEIRA, João Gabriel L. C. Performáticos, performance e sociedade. Brasília:
Transe/CEAM, 1996. p.23-28.
COMPARATO, Fábio konder. A responsabilidade do Estado brasileiro na questão dos
desaparecidos durante o regime militar. In TELES, Janaina (org.) Mortos e desaparecidos
políticos: reparação ou impunidade?São Paulo:Humanitas, 2001.(p.55-63).
CONTE, Elaine; MARTINI, Rosa M. Filipozzi (UNISC/UFRGS) Da performance à formação
pedagógica. Anais do XV ENDIPE. Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino-
convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte, 2010.
CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges (Orgs.) O olhar e os
espetáculos (Parte v). História do corpo. As mutações do olhar. O século XX. Petrópolis:
Vozes, 2008. p.445-566.
COSTA, Cláudio Ferreira. Austin e o primado da asserção. In: COSTA, Cláudio Ferreira. A
linguagem factual. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. p. 69-112.
34
COSTA, Luiz Cláudio da. Registro e arquivo na arte. Disponibilidade, modos e transferências
fantasmática de escrituras. Florianópolis: ANPAP, 17 Encontro da Associação Nacional de
Artes Visuais. 2008. p.388-397.
DALLAGO, Saulo G.S. A palavra e o ato. Memórias teatrais em Goiânia. Goiânia, UFG, 2007.
Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós Graduação em História, UFG, Goiânia,
2007.
DALLAGO, Saulo G.S. Performance e fotografia: um estudo sobre memória, signo e escritura
na obra de Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust.Goiânia, UFG, 2012. Tese (Doutorado
em História). Programa de Pós Graduação em História, UFG, Goiânia, 2012.
DUNAWAY, David King. La grabación de campo en la historia oral. História y fuente oral.
Revista semestral de história oral. Departamento de historia contemporánea de la Universitat de
Barcelona y del Institut Municipal d´Història. Entrevistar? Para qué? N.4. Barcelona, 1990.
p.69-88.
ENCICLOPEDIA Itaú Cultural. Performance audiovisual. Disponível em:
http://www.cibercultura.org.br. performance audiovisual. Acesso em 16 junho 2010.
FRANCISCO, Carvalho Jr. Ressentimento e anistia. Anais da 17ª Conferencia Internacional de
Historia Oral. Buenos Aires, Septiembre de 2012.
FERREIRA, Jerusa Pires (Org.) Oralidade em tempo & espaço. São Paulo: EDUSC/FAPESP,
1999.
FRANCO, Marília da S. Métodos de produção audiovisual de não ficção. Disponível
em:http:/www.poseca.incubadora.fapaesp.br/portal/comunicação/organização-ccom/pp-
com/meto. Acesso em 01 fevereiro 2011.
FREITAS, Artur. História e imagem artística: por uma abordagem tríplice. Estudos Históricos,
Rio de Janeiro, n 34, julho-dezembro, 2004. p.3-21.
FUGUERAS, Ramos Alberchi. Arxius, documentes sonors i historia oral. História y fuente oral. Revista semestral de història oral. Departamento de historia contemporânea de la Universitat de Barcelona y del Institut Municipal d´Història. Entrevistar? Para qué? N.4. Barcelona, 1990. p.171-176. GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. Gil, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio D´água, 1997. GOLDBERG, Rose Lee. A arte da performance. Do futurismo ao presente. São Paulo: Martins Fontes, 2006. GÒMEZ-Pena, Guilhermo. Em defesa del arte del performance. Horizontes Antropológicos. Antropologia e performance, Porto Alegre, n.24, ano 11, jul/dez, p.199-226. 2005. GUMBRECHT, Hans George. Production of presence. What meaning cannot convey. Stanford
University Press, 2004.
HEIDEGGER. Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições70, 2007. HOLBWACS,
Maurice. Memória Coletiva, São Paulo: Vértice/Editora Revista dos Tribunais,1990.
ICLE, Gilberto; e LULKIN, Sérgio Andrés (UFRGS). Para uma didática bufão, performance e
presença). In Anais do XV ENDIPE. Encontro Nacional de Didática e Prática de ensino.-
convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte, 2010.
JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memória. Madri: Siglo XXI, 2002.
KHAEL, Rita. As máquinas falantes. In: NOVAES, A.(Org.) O homem máquina. São Paulo:
Companhia das Letras, 2003.
LAGDON, E.Jean. Performance e preocupação pós-modernas na Antropologia. In TEIXEIRA,
João Gabriel L. C. Performáticos, performance e sociedade. Brasília: Transe/CEAM, 1996.
LAUPIES, Fréderic. Penser l'impensable/Penser la sensibilité. In: LAUPIES. Leçon
philosophique sur la sensibilité. Paris: PUF, 1998.
LEBLANC, J. (Org.) Iconocité et narrativité. Toronto: Les Éditions Trintexte, Trinity College,
1998.
LEHMANN, Hans-Thies. Performance.In Teatro pós-dramático. São Paulo:Cosac Naïf, 2007.
LORENZ, Federico. Los que hablan,?para que hablan? Desafios Del trabajo com testemonios
em Argentina. História Oral. Revista da Associação Brasileira de História Oral, n.1, v.10, jan-
jun, 2007. p.9-25.
35
MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia. (Orgs.) Sobre a humilhação: sentimentos, gestos,
palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005.
MARTIN, Marcel . A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990.
MAUD, Ana Maria. Genevieve Naylor. Fotógrafa: impressões de viagem (Brasil, 1941- 1942).
Revista Brasileira de História. História e manifestações visuais, n.49, v.25, jan-jun. 2005.p.43-
75.
MEDEIROS, Maria Beatriz; MONTEIRO, Mariana F.M. (Orgs.) Espaço e performance.
Programa de Pós-Graduação em Arte. Brasília: UNB, 2007.
MEIHY, J.C.B. (Org.) Canto de morte Kaiowá: história oral de vida. São Paulo: Loyola, 1991.
MEIHY, J.C.B.; LEVINE, Robert M. Cinderela negra: a saga de Carolina de Jesus. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1994.
MENESES, Ulpiano T Bezerra. Rumo a uma “História visual”. In: MARTINS, J.S.; ECKERT,
C.; NOVAES, S.C. (Orgs.). O imaginário e o poético nas ciências sociais. Bauru: EDUSC,
2005. p.35-56.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
MIESES, Alejandro Baer; PÉREZ, Francisco Sáchez. La metodología biográfica audiovisual: el
Projecto “Survivor of the Shoah”. Empiria. Revista de Metodología de Ciências Sociais, n.7,
2004.p 35-55.
MONTENEGRO, Antônio Torres. Cabra marcado para morrer entre a memória e a história. In:
SOARES, Mariza de Carvalho; FERREIRA, Jorge. A história vai ao cinema. Vinte filmes
brasileiros comentados por historiadores. Rio de Janeiro: Record, 2001. p.179-192.
MURCE, Newton.Corpoiesis:a criação do ator. Goiânia, UFG,2009.
NORA, Pierre. La roi de La memoire. Le debát, histoire, politique. Societé, n.78, janvier-février.
1994.
NORONHA, Jovita M.G. (Org.) O pacto autobiográfico. De Rousseau à Internet. Philippe
Lejeune. Belo Horizonte: Humanitas, 2008.
NORONHA, Marcio P. Performance e audiovisual. Conceito e experimento interartísticos e
intercultural para o estudo da história dos objetos artísticos na contemporaneidade. Rio de
Janeiro: ANPUH, XII Encontro Regional de História. Usos do passado. 2006, p.1-8.
NORONHA, Marcio Pizarro. Sociedade e cultura. Revista de pesquisa e debates em ciências
sociais, Brasília, n.2, v. 8, jul./dez, 2005. p.131-41.
O FIM E O PRINCÍPIO. Produção de Eduardo Coutinho. Documentário. BRA, 2005 (110
min.).
OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta linguístico-pragmática. Na filosofia contemporânea.
São Paulo: Loyola, 2001.
PADROS, Enrique Serra; BARBOSA, Vânia M.; LOPEZ, Vanessa A.; FERNANDES, Ananda
S. (Orgs.) A ditadura de segurança nacional no Rio grande do Sul (1964-1985): história e
memória. O fim da ditadura e o processo de redemocratização. v.4 Porto Alegre: Corag, 2009.
PALUDO, Luciana. Corpo,fenômeno e manifestação:performance. UFRGS, 2006. Dissertação
(Mestrado em Artes Visuais). Programa de Pós Graduação em Artes Visuais, UFRGS. Poéticas
Visuais, Porto Alegre, 2006.
PYNE,LeighA.;ABRAÃO,Paulo;TORELHY,Marcelo.A Anistia na era da
responsabilização:contexto global, comparativo e introdução ao caso brasileiro. In: A Anistia na
era da responsabilização: o Brasil em perspectiva internacional e comparada. Ministério da
Justiça,Comissão de Anistia, Brasília/Oxford :Oxford University, Latin American Centre, 20119
(p.18-31).
PEREIRA, Cláudio. O filme etnográfico como documento histórico. Revista Olho da história,
n.1, maio. 1995.
PEREIRA, Marcelo. Performance e performatividade da linguagem na ação educativa, In Anais
do XV ENDIPE. Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. -convergências e tensões
no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte, 2010.
PESAVENTO, Sandra Jatahy et. al. (Orgs). Narrativas, imagens e práticas sociais. Percursos
em História cultural. Porto Alegre: Asterisco, 2008.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.5,
v.2. 1989.
36
PORTELLI, Alexandro. Diferentes gerações: Gênova, julho de 2001. Estudos Ibero-
Americanos. Porto Alegre: PUCRS, v.XXXII, n.1, junho,2006. p.1-225
RANCIÉRE, Jacques. The future of the image. Verso: London. 2007.
RICOEUR, Paul A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007.
RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991.
RODEGHERO, Carla Simone. Amnistía y olvido: reflexiones a partir de testimonios del
Proyecto Marcas de la Memoria: Historia Oral de la Amnistía en Brasil. Anais da 17ª
Conferencia Internacional de Historia Oral. Buenos Aires, Septiembre de 2012.
RODEGHERO, Carla. A anistia entre a memória e o esquecimento. História, São Leopoldo, n2,
v.13, Maio-Agosto, 2009. p.129-37.
ROCHA, Viviane Moura. Ações poéticas. A performance como ruptura de limites e plasticidade
do tempo. UFRGS, 2009. Tese(Doutorado em história, teoria e crítica de arte.) Programa de
Pós Graduação em Artes Visuais, UFRGS. Poéticas Visuais, Porto Alegre, 2009.
ROTELLI, Luigi.Curso de fotografia. Disponível em:
http://www.entreculturas.com.br/2011/04/curso-de-fotografia-aula-5-a-proporcao-dos-tercos.
acesso em 10 de outubro de 2011.
SANTAELLA, Lucia; NOTH, Winfried. Imagem. Cognição, semiótica, mídia. São Paulo:
Iluminuras, 2008.
SANTANA, M.A.; ALBERTI, V. Entrevista com Mercedes Vilanova. p.149-160. Disponível
em: http://www. revista.historiaoral.org.br/índex.php?jornal+rho. Acesso em 01 abril 2011.
SANTOS, André Paula dos. Santos. O audiovisual como documento histórico: questões acerca
de seu estudo e produção. Disponível em:
http://www.mnemocine.com.br/pesquisatextos/andrea 1.htm. Acesso em 18 maio 2011.
SANTOS, Idelette Muzart-Fonseca dos. Memória narrativa e teatralidade da voz. As fronteiras
da literatura oral. Anais do Congresso ABRALIC Limites. Niterói. São Paulo: USP, v.1. p.692-
697.
SANTOS, Idellette Muzart-Fonseca dos. Uma poética em permanente reconstrução: voz
passada e presente de Paul Zumthor. In: FERREIRA, Jerusa Pires (Org.). FERREIRA, Jerusa
Pires (Org.) Oralidade em tempo & espaço. São Paulo: EDUSC/FAPESP, 1999. p.91-105.
SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
SCHMIDT, Benito Bisso. Dossiê História e memória. Anos 90. Revista do PPG em História.
UFRGS, n.26, v.14, dezembro. 2007.
SEIXAS, Jácy. Percurso da memória em terras da história. Problemáticas atuais. In:
BRESCIANI, Maria Estela; MAXARA. Márcia (Orgs.). Memória, ressentimento, indagações
sobre uma questão. Campinas: UNICAMP, 2001.
SELIGMANN- SILVA, Márcio. Anistia e (in) injustiça no Brasil: o dever de justiça e a
impunidade. In Literatura e autoritarismo. Memórias de repressão, n.9. Disponível
em:http://www.coral.ufsm.br/grpesglo/revista/num o9/art_02.php. Acesso em 26 janeiro 2011.
SELIGMANN- SILVA, Márcio. O local da diferença. Ensaios sobre memória, arte, literatura e
tradução. São Paulo: Ed. 34, 2005.
SELIGMANN-SILVA, Márcio (Org.). História, memória e literatura: o testemunho na era das
catástrofes. Campinas: UNICAMP, 2003.
SELIGMANN-SILVA, Márcio (Org.).Escrituras da história e da memória.In Palavra e
imagem, memória escritura. Chapecó: Argo, 2006. (p.205-206)
SILVA, Dácia Ibiapina da. História oral, oralidade e audiovisual na construção de relatos de
memórias traumáticas. História Oral, Rio de Janeiro, n.6, jun. 2003.p.69-94.
SMITH, Richard Cândida. Circuitos de subjetividade: história oral e o objeto de arte. Estudos
históricos. Arte e história, Rio de Janeiro, n.30, 2002. p.76-90.
SOARES, Mariza de Carvalho; FERREIRA, Jorge. A história vai ao cinema. Vinte filmes
brasileiros comentados por historiadores. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 179-192.
SOUZA, Aguinaldo Texto e cena: operações tradutórias da corporalidade.
www.conexaodanca.art.br/.../textos/. Acesso em 24 julho 2010.
SOUZA, Fabio Francisco F. de S.; AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e
o testemunho (Homo Sacer III). São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. Tempo e argumento.
37
Revista do Programa de Pós- Graduação em História, Florianópolis, v.2, n.1, p. 247-250,
jan.jun. 2010.
TEIXEIRA, João Gabriel (Org.). Performáticos, performance, sociedade. Revista Transe.
Departamento de Sociologia. Brasília: UNB, 1996.
TELES, Janaina(org.) Mortos e desaparecidos políticos; reparação ou impunidade?São
Paulo:Humanitas, 2001.
TOMAIM, Cássio dos S. O perigo vermelho no cinema brasileiro: as narrativas de exilados e
ex-presos políticos da ditadura militar no documentário contemporâneo. Revista Famecos, Porto
Alegre, n.2, v. 17, maio/agosto, 2010. p.59-67.
TURNER, Victor. Social dramas end stories about them. In: MITCHELL, W.S.T. (Org.)
Narratives. Chicago: Universitiy of Chicago, 1981.
UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marcas da memória: história oral da
Anistia no Brasil. Partícipe. (Responsável) Carla S. Rodeghero. Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça. Brasília: Distrito Federal, 2010. Termo de compromisso firmado entre o
Ministério da Justiça e a UFRGS, Nov. 2010.
VON SIMSON, Olga (Org.) Os desafios contemporâneos da história oral. Campinas: CMU-
Unicamp, 1997.
VON SIMSON, Olga. Som e imagem na pesquisa qualitativa em ciências sociais. Reflexões de
pesquisa. Anais Seminário Pedagogia da imagem, imagem na Pedagogia. Faculdade de
Educação: Niterói UFF, 1995. p. 89-101
ZERO HORA, Porto Alegre. Tarso anuncia integrantes da Comissão da Verdade.Terça feira, 7
de agosto de 2012.
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: COSACNAIF, 2007.
Vídeos
BRASIL, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, Projeto Marcas da memória.Núcleo de
Pesquisa em História,IFCH/UFRGS.Entrevista de Honório e Delly Perez. Entrevistador Dante
Guimaraes Guazzelli. Residência de Honório e Delly Perez, Porto Alegre, 04/05/2011.
BRASIL, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, Projeto Marcas da memória.Núcleo de
Pesquisa em História,IFCH/UFRGS.Entrevista de Marta Sicca da Rocha. Entrevistador
Gabriel Dimenstein, Residência Marta Sicca da Rocha, Porto Alegre, 11/05/2011.
BRASIL, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, Projeto Marcas da memória.Núcleo de
Pesquisa em História,IFCH/UFRGS.Entrevista de Claudio Accurso. Entrevistadores Francisco
Carvalho Junior.Residência de Claudio Accurso Rosemary Fritsch Brum, Residência de Claudio
Accurso Porto Alegre ,31/8/2011.
BRASIL, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, Projeto Marcas da memória. Núcleo de
Pesquisa em História,IFCH/UFRGS.Entrevista de Jair Krischke. Entrevistador Carla Simone
Rodeghero. Mini-auditório do IFCH/UFRGS,Porto Alegre, 21/09/2011.
BRASIL, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, Projeto Marcas da memória.Núcleo de
Pesquisa em História,IFCH/UFRGS.Entrevista de Lino Brum. Entrevistador Gabriel
Dimenstein,NPH/IFCH/UFRGS,Porto Alegre, 18/10/2011.
BRASIL, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, Projeto Marcas da memória.Núcleo de
Pesquisa em História,IFCH/UFRGS.Entrevista de Sandra Helena Machado. Entrevistador
Gabriel Dimenstein. Residência de Sandra Helena Machado, Porto Alegre, 27/10/2012.
Porto Alegre, outubro de 2012.










































![A Imagem[tipo]gráfica](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d6c5ea72aa43de501a8be/a-imagemtipografica.jpg)