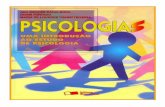O tempo - PUC-Rio
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of O tempo - PUC-Rio
Autores
Ana Poquechoque
Beatriz Monteiro
Carolina Cardoso
Davi Goulart
Dudu Guimas
Fellipe Rodrigues dos Santos
Gabriel Torres Romanha
Giulia Butler
Jefferson Severiano
Massud
Juliana Nicolazzi
Júlio César Oliveira de Castro
Laura Alonso
Lucas Mourão
Lu Guimarães
Maria Carolina Insua
Maria Eduarda Nicolau
Fernanda Firpo
Maria
Maria Mariana Braga
Marina Kersting Pereira
Renan Lima
Rodrigo Ferraro
Ursula Villela
Meg Amoroso Mesquita (coordenadora)
Andreza Paiva
Bruno Torres
Cora Mejía
Débora Luísa
Elisa Guilherme
Fabi Santoro
Gabriel Maurell
Giovanna Rispoli
Hellen Gallart
João Mendes
José Pedro
Júlia Paixão
Larissa Amaral
Lucas Maciel
Lucas Peçanha Muniz
Luísa dos Passos Reis
Maria Clara Durante
Maria Fernanda Anacleto
Maria Júlia Lobianco
Marina A. Mann
Pedro Rodrigues
Raphaela Lins
Ricardo Arthur Filho
Rosa Ciavatta
Vitória Barreto Martins
1 In STORTINI, Carlos R. O dicionário de Borges. Tradução: Vera Mourão. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil,1990; p 69. 2 https://www.filosofiaesoterica.com/borges-sabio-cego-na-biblioteca/ Acesso em 01 ago 2020. AVELINE Carlos Cardoso. Blumenau: Edifurb, 2007.
Ler e escrever são formasacessíveis da felicidade.
“O que é o tempo? (...) Não sei se, mesmo depois de 20 ou 30
séculos de meditação, já avançamos muito na questão do
tempo. Eu diria que sempre sentimos esta antiga
perplexidade, esta que Heráclito sentiu, mortalmente,
naquele exemplo a que eu volto sempre: ninguém se
banha duas vezes no mesmo rio. Porque é que ninguém se
banha duas vezes no mesmo rio? Em primeiro lugar, porque
as águas do rio fluem. Em segundo lugar — e isto é algo que
nos toca metafisicamente, que nos dá uma espécie de horror
sagrado — porque nós mesmos somos também um rio, nós
também somos flutuantes. O problema do tempo é este. É o
problema da fugacidade: o tempo passa. (...) O tempo é
sucessivo porque, tendo saído do eterno, quer voltar ao
eterno. Quer dizer, a ideia de futuro corresponde ao nosso
desejo de voltar ao princípio. Deus criou o mundo. E todo o
mundo, todo o universo das criaturas, quer voltar a esse
manancial eterno que é intemporal, não anterior nem
posterior ao tempo, mas que está fora do tempo.”
Jorge Luís Borges
2
1
Grupo de Ri(s)co
As cinco milhões
Memórias póstumas de Maria Brasil
Preciso sair
Ínfima cessão
Breu
Um romance de março
Privilégios em meio ao vírus
...E cinco
Reflexões de Laura
A rotina na pandemia
Grilhões presos à despensa no século XXI
Empatia pandêmica
Banho de lua
Preenchimento do tempo
Direitos relegados a segundo plano
Grandes amigos
Já nem sei mais quantos dias
Trabalho decente
Grupo de risco definido por classe
Quarentena: direito ou obrigação?
As dificuldades trabalhistas no século da pandemia
O mundo todo sente saudade
Todos têm o direito de se proteger
Incertezas imediatas
Evitando desgastar a mente
Ana Clara Poquechoque
Beatriz Monteiro
Bruno Torres
Cora Mejía
Davi Goulart
Débora Luísa de Almeida
Dudu Guimas
Elisa Guilherme
Ericka Levigard
Ericka Levigard
Fellipe Rodrigues do Santos
Gabriel Maurell
Giovanna Rispoli
Giulia Marzo Butler
João Francisco Oliveira
João Francisco Oliveira
Zé Diegues Bial
Juliana Nicolazzi
Júlio César Oliveira
Luísa Reis
Lucas Maciel
Lucas Mourão Pacheco
Lucas Peçanha Muniz
Luísa Brandão
Carol Insua
Carol Insua
Meg Amoroso Mesquita
PRIMEIRA SEÇÃO
Introdução
Índice
TEMPO DE PARAR
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
37
38
39
Um telefonema na quarentena
Mentirinha?
Um precisa do outro
O caminho
Não reclamo
O que esperar?
Assunto muito controverso
Ranço colonial
Crônica pandêmica
Pandemia
Quando o lugar do outro frequenta o nosso lugar
Egoísmo pandêmico
Estimular a mente em tempos de pandemia
Presença
Valorização do trabalho doméstico
365° dia de quarentena
Escrita: uma construção gradual e duradoura
Quando eu vi, tinha escrito
Bonito rio
Lar doce bairro
Pertencer
A vista de um cinzeiro
Diz que fui por aí
Mais um dia comum
A cidade pede resposta
Contato virtual
Botafogo, um retrato da desigualdade
O que mata a curiosidade?
Presente de Natal
Davi Goulart
Elisa Guilherme
Giovanna Rispoli
Massud
Zé Diegues Bial
Júlio César Oliveira
Lucas Peçanha Muniz
Carol Insua
Fernanda Firpo
Júlia Bevilaqua
Mariana Braga Rodrigues
Lucas Maciel
Pedro Rodrigues
Mara Clara Durante
Maria Duda Nicolau
Fernanda Anacleto
Fernanda Firpo
Júlia Beviláqua
Mariana Rodrigues
Marina Mann
Marina Kersting
Pedro Rodrigues
Pedro Rodrigues
Raphaela Lins
Rodrigo Ferraro
Rodrigo Ferraro
Rosa Ciavatta
Úrsula Hirth
Úrsula Hirth
SEGUNDA SEÇÃO
TERCEIRA SEÇÃO
TEMPO DE ESCREVER
TEMPO DE ANDARDENTRO DE CASA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
58
59
61
64
65
67
68
69
70
72
73
74
75
QUARTA SEÇÃO
SÉTIMA SEÇÃO
TEMPO DE DIVULGAR
TEMPO DE OBSERVAR
Amor entregue
Minha maior inspiração
Não tinha que ter acontecido
Mulher do futuro
Espada
Tinha algo errado
O castigo de Anhangá
Baba Yaga, a bruxada juventude
Cachoeira da gruta
Voo
Noite
Meu primeiro semestre na PUC-Rio
Meu amigo de condução
Relatório de observação
Sigo o meu caminho
Seu valor no mundo
Pequenas maravilhas do cotidiano
Os tumultos
Hora pra quê?
Quarteto fantástico
Outro eu impulsivo
Uma pela outra
Larissa do Amaral Ramos
Laura Cabral
Fernanda Firpo
Luísa Rei
Dudu Guimas
Fabiana Santoro
Giulia Marzo Butler
Massud
Zé Diegues Bial
Lucas Peçanha Muniz
Lucas Peçanha Muniz
Andreza Paiva
Beatriz Monteiro
Carolina Cardoso
Jefferson Severiano
João Francisco Oliveira
Júlio César Oliveira
Júlia Bevilaqua
Marina Mann
Bruno Torres
Davi Goulart
Elisa Guilherme
QUINTA SEÇÃO TEMPO DE RECONHECER
SEXTA SEÇÃO TEMPO DE VIAJAR NO TEMPO
OITAVA SEÇÃO TEMPO DE PENSAR NOSCLÁSSICOS DA SUA VIDA
78
80
81
83
87
90
92
96
97
101
103
108
110
112
113
115
116
117
118
122
123
126
A fúria negra ressuscita outra vez
A saga de HP em livros e filmes
A casa da vó Vera
Para finalmente alcançar a ponta do pelo do coelho
Ninguém ama como a gente
Os gritos na calada da noite
Preguiça
Espelho, espelho meu
Amanhã eu faço
Sessenta minutos
Um problema
Matraca trica
Mais uma crônica de uma universitária procrastinando
Gostem de mim como eu sou e vamos ser felizes
Transbordar
De repente, luz
A garota perdida
Ansiedade em modo avião
A antiga borboleta
Relatos de uma intolerante
Meu dia, sua noite
A preguiça é inimiga
Aprendendo a falar
Gabriel Maurell
Lucas Mourão
Fernanda Anacleto
Marina Kersting
Renan Lima
Ana Clara Poquechoque
Bruno Torres
Cora Mejía
Débora Luísa Almeida
Éricka Levigard
Gabriel Torres
Giovanna Rispoli
Hellen Gallart
Juliana Nicolazzi
Júlia Paixão
Lucas Peçanha Muniz
Luísa Brandão Guimarães
Maria Clara Durante
Mariana Braga Rodrigues
Raphaela Lins
Ricardo Arthur Ribeiro
Úrsula Hirth
Vitória Martins
NONA SEÇÃO TEMPO DE SE AUTONALISAR
OS AUTORES
127
129
130
132
134
141
143
144
145
146
147
148
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
9
3 https://www.brainpickings.org/2017/02/14/insomniac-city-bill-hayes/
Introdução
Tempo de voarMeg Amoroso Mesquita
Atenção. Março de 2020. PUC-Rio: primeiro período de milhares de estudantes. Hora de começar. Começamos. Atenção de novo. Vamos para um rápido intervalo. E aí? De repente, não mais que de re-pente, estávamos todos longe do espaço físico da universidade, presos em casa, com mil perguntas, es-perando uma resposta da natureza, dos homens e do que quer que haja acima de tudo isso. Uma pande-mia estava se espalhando pelo mundo. Parecia um filme, o enredo de um livro, uma profecia se tornando real. Atenção mais uma vez. As aulas tiveram que recomeçar em casa, através da tela do computador, com os alunos a distância, com os nervos em pedaços. Incertezas. Tempo de muito cuidado e atenção.
Professora há muitos anos, senti falta do espaço da universidade, dos pilotis, das salas de aulas, dos meus amigos funcionários, dos meus colegas. Senti falta, sobretudo, dos meus alunos — de ver seus rostos, de ouvir suas vozes. Por mais que, para alguns, soe arcaico, o método tradicional de aula nos permite aguçar o senso de atenção, exercitar a paciência, olhar o outro; estar ao lado de pessoas em bus-ca de um futuro, participando de suas dúvidas, de seu entusiasmo, de suas desilusões, de suas alegrias e de suas transformações.
Os estudantes passaram por processos semelhantes de tristeza e frustração, principalmente os do primeiro período — segmento em que trabalho. Os calouros viviam seu momento de descoberta, de entrada em nova etapa da vida — um tempo maravilhoso na trajetória de qualquer um.
Decepcionados, atônitos, estávamos, contudo, cientes de nossos privilégios em poder estar em casa, interagindo, trocando, enquanto a maior parte dos habitantes do nosso país morria, sofria, sentia fome, desesperança e medo. O que podíamos fazer? Ser melhor do que sempre fomos: amparar o próxi-mo; empatizar com o outro; envolver-se em ações de auxílio a populações carentes; ajudar o mais que pudéssemos, em casa e fora dela. Muita e muita atenção. Havia mais uma coisa a nosso alcance, bem marcada no programa de nosso curso de produção textual: algo óbvio, não é? O genial neurologista e professor Oliver Sacks (1933-2015) disse que o que podíamos fazer de melhor, diante de determinadas situações, era escrever “inteligentemente, criativamente, evocativamente — acerca do é viver no mundo nesta época”.
E foi o que fizemos. Meu desejo secreto sempre foi transformar meus alunos em escritores ainda que eles não precisassem de mim ou não o quisessem — alguns já chegam mais do que prontos; outros não se reconhecem como autores ainda; muitos jamais se engajam no convite, que nem se preocupam em escutar. Bem, vamos lá: paciência e amor; cuidado e atenção. Muita e muita atenção. Queria mostrar que, felizmente, no patamar em que estamos, somos todos escritores de nossas próprias vidas: temos escolhas, nós, os privilegiados — podemos reescrever e reescrever nossas páginas existenciais o tempo
3
inteiro. Não conseguimos prever tragédias, mas somos capazes de enfrentá-las e de roteirizar nossas reações a elas. Escrever nos traz reflexões, opções de vida. Escrever registra nossas posturas perante a sociedade. Escrever nos faz articular respostas. Escrever nos torna atentos.
Pensando assim, formulei propostas. Ofereci tais “desafios” aos meus alunos. Esperei. Re-cebi o material. Li — com muita atenção — e reli tudo. Marquei passagens. Dei sugestões. Devolvi. Por fim, fiquei encantada com os textos que se descortinaram diante dos meus olhos e que alcançaram o meu coração. Chegando à universidade, enfrentando a distância e os percalços do ensino remoto, esses estudantes reagiram de forma corajosa, inteligente, criativa, atenta e evocativa — como queria Oliver Sacks — ao momento histórico por que passamos.
Este livro registra os trabalhos daqueles que quiseram participar desta “aventura”. Não é comum publicar no primeiro período da faculdade, mas todos nós, envolvidos nesta história, merecemos isso. Trabalhamos bastante e queremos mostrar o resultado para outros jovens e para outros professores — além, naturalmente, dos “usuais suspeitos”: parentes e amigos.
Antes de cada seção, escrevi um pouco acerca das propostas que motivaram os textos — as-sim, o livro pode atender a cursos semelhantes em termos de atividades e exemplos. A parte que reuniu o maior número de produções corresponde a um tema obrigatório para todas as turmas. Outras seções reuniram textos que atendiam a propostas opcionais; por isso, há uma unidade, por exemplo, com apenas uma participante.
Publicamos, neste e-book, artigos, crônicas e contos, escritos por calouros de Comunicação Social — há alguns textos de estudantes de Administração que adaptaram as propostas à realida-de específica de seu curso. Os leitores e aprendizes que quiserem, à parte a leitura propriamente dita, podem fazer exercícios de gênero, classificando os textos, que foram dispostos aqui, em cada seção, de acordo com a ordem alfabética dos nomes de seus autores. Podem usar as pro-postas, também, para dar suas próprias respostas aos desafios.
Como diz o lema da PUC-Rio, “com asas, nada é pesado”. Acredito que esses jovens autores — entre 18 e 23 anos — adquiriram asas e espalharam leveza por meio de histórias, pensamentos e reflexões. Espero que você, que vai lê-los agora, aprecie a boa altura, a respiração livre e a delicadeza solta no ar. Com muita e muita atenção.
11
4 Poema do livro “Alguma poesia”, de 1930.5 KRZNARIC, Roman O poder da empatia. Tradução de Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2015; p.10.
Primeira seção
Tempo de parar
Pode até ser clichê, mas não dá para ter vivido o mês de março de 2020 e não pensar neste famoso verso do poema de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987): “Stop/ A vida parou”. Quem não conhece o verso seguinte? “Ou foi o automóvel”? Pois, é. Para nós, a vida parou — e os automóveis, os centros de lazer, as instituições de ensino, o comércio, etc. —, no momento exato em que estávamos, como já mencionei na introdução, iniciando o período letivo na PUC--Rio. Os calouros conheciam colegas, professores, a universidade como um todo. Confraterniza-ções, conversas, promessas de muito movimento para os meses seguintes, muita animação; mas a vida, de repente, parou. Era tempo de pandemia. Época de paralisar tudo — ou quase.
E agora? Começamos a experimentar aulas online. Foi estranho, mas estávamos todos cons-cientes do privilégio que era poder ficar em casa, estudar, refletir e interagir em meio ao caos implantado pela Covid-19. Todos começaram a falar em empatia, que, de acordo com um mestre no assunto, o historiador Roman Krznaric — que examinou várias definições do termo —, seria “a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus senti-mentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações”. Então, vamos tentar dar “nomes” às nossas ações e experiências, escrevendo sobre o que estava acontecendo conosco, com os que víamos sofrer, com o mundo ao nosso redor.
Em um primeiro momento, pensamos, conversamos e lemos alguns textos, mais especifi-camente estes dois: “Como estimular a mente em tempos de pandemia?” (“Folha de S. Paulo”, 24/03/2020), da neuropsicóloga Sharon Sanz Simon — sobre cuidados com a saúde psíquica em situação de confinamento —; e “Quem sempre esteve no lugar de cuidar” (“Folha de S. Paulo”, 25/03/2020) , da escritora, rapper e ativista Preta Rara — sobre os direitos desrespeitados e as dores multiplicadas das domésticas na pandemia.
Os estudantes poderiam escrever artigos, pesquisando, citando fontes, e refletindo acerca da situação que vivíamos; poderiam se colocar no lugar do outro — gerando identificação com alguém diferente em uma narrativa (contos curtos) em primeira pessoa —, ou criar um narrador para contar uma história, ficcionalizando e recorrendo a simbologias para passar pelo momento; poderiam escrever crônicas, comentando, de um jeito solto, com autoria, algo que estivessem sentindo ou situações vividas no confinamento.
4
5
12
Grupo de Ri(s)co
Uma manhã silenciosa nas ruas do Rio de Janeiro, mais especificamente nas vielas onde minha humilde residência se encontra. ‘Tá’ tudo muito vazio, não tem uma vivalma na rua, não encontro um mercadinho aberto, e o seu João da padaria já me avisou que não volta a trabalhar até “segunda ordem”. Esse negócio de quarentena ‘tá’ puxado...
Minha patroa me disse que “é só uma gripezinha”, e que eu tenho que ir fazer a faxina, sim. E quem sou eu pra contrariar a “grande” dona Sônia? Ela já deixou avisado que, se eu não for, o dinheiro não entra na conta, e o emprego vai por água baixo, levando com ele a minha luz e a minha água.
Com esses pensamentos em mente, finalmente chego ao ponto de ônibus - nem um minuto de atra-so. Novamente, somente eu no ponto, mas, tudo bem, assim eu tenho certeza de que eu tenho um lugar pra sentar, até porque fazer esse trajeto de uma hora e meia em pé, segurando uma mala - tenho que levar roupas e mais um mundo de coisas para poder passar o dia fora - não seria fácil.
Entro no ônibus e não vejo mais de 10 pessoas, como imaginava. Fui o caminho todo batendo papo com a Marcela, que trabalha para uma amiga da minha patroa. Marcela é muito diferente de mim. Ela tem coragem de enfrentar a patroa pra conseguir o que lhe é garantido por lei, inclusive parar de traba-lhar, quando ela achar que deve, durante a quarentena, mas continuar recebendo o seu salário.
-Mas, Regina, você vai trabalhar para sua patroa mesmo com o marido dela voltando “do estran-geiro” amanhã? – perguntou-me Marcela
-Vou, ué, não tem nada que eu possa fazer mesmo. E a gente nem sabe se o seu Miguel tá com esse coronavírus.
-Mas, menina, todo mundo que vem de fora tem risco de estar contaminado. Você pelo menos fa-lou com a dona Sônia pra diminuir a sua carga horária? Você sabe que você trabalha pra ela, mas não é propriedade dela, e, assim como ela, você também tem chance de contaminação. Não é porque você não é do “grupo de rico” ou grupo de risco, que você se safa dessa doença.
-Ih, você ‘tá’ ficando igual o meu marido, eu não vou pedir nada pra dona Sônia, não. Capaz de ela me demitir ainda por cima. E, sim, eu sei que eu não sou propriedade da dona Sônia, mas eu ainda preciso do salário, e a chance de eu conseguir outro emprego depois dessa pandemia é muito pequena.
-’Tá’ bom, então. É você quem sabe, mas pensa em só uma coisa. Você não acha que, nessa época de pandemia, não tá faltando um pouco de empatia?
-Empatia? Que isso?-Um jeito de entender o outro. Foi o que aprendi na tevê. Vê só: sua patroa não está trabalhando,
os filhos dela estão sem aula, mas você tem que trabalhar? Ela tem que se colocar no seu lugar também. Você tem que correr o risco de pegar essa “gripezinha” e transmitir para os seus filhos e pro seu marido, que, por sinal, estão respeitando o momento e ficando em casa?
Foi com essas perguntas que a Marcela me deixou no ônibus, sozinha e pensativa. Será que vale a pena correr todos esses riscos? Mas e se eu perder esse emprego? Mas e se eu pegar o Corona? O SUS não vai aguentar tanta gente doente assim. Ai, meu Deus, o que será que eu faço?
-Alô? Dona Sônia? Eu queria te avisar que eu não vou poder trabalhar nessa época de quarentena. É, eu sei que o seu Miguel volta amanhã, mas eu também não posso correr risco. Tem que ter empatia, né? ‘Tá’ bom, depois a gente conversa. Tchau.
Após esse diálogo nada agradável, volto para as ruas vazias da minha viela. Empatia. Espero que a Dona Sônia tenha visto o mesmo programa que a Marcela e aprendido o significado dessa palavra.
Ana Poquechoque
13
As cinco milhões
Essa semana li sobre a história de Cleide, uma mulher de quarenta e sete anos, empregada domés-tica e mãe de três. Cleide era moradora da Mangueirinha - complexo de favelas em Duque de Caxias - e saía todos os dias pontualmente, às sete, para conseguir chegar na casa de sua patroa, a Dona Adriana. Adriana era uma dona de casa, moradora do Leblon, casada com um empresário e mãe de uma criança.
Segunda-feira. Um novo dia na rotina de Cleide, só que agora as coisas estavam diferentes: uma pandemia tinha chegado aqui ao Brasil, o governo já estava decretando quarentena, as pessoas de más-cara na rua, e parecia que a situação estava grave, mas Cleide sabia que, se deixasse de ir, era capaz de Dona Adriana demiti-la e nem pagar a ela o que lhe devia.
Dona Adriana era um ser iluminado, preocupada com a saúde alheia e a situação dos menos afor-tunados - nas redes sociais pelo menos. Enquanto fazia seu post de trigésimo terceiro dia de quarentena e falava dos aprendizados que teve durante esse momento: de como está aproveitando a época para se tornar uma pessoa mais espiritualizada, de como treinar pesado e comer leve era a receita para tirar essa quarentena de letra. Cleide pede licença e entra na sala, envergonhada, pede a Adriana um pequeno aumento, pois, com essa quarentena, sua mãe idosa não sai mais para trabalhar, seu filho mais velho foi demitido e o auxílio não foi aprovado. Dona Adriana, a benevolente das redes sociais, disse que não podia, pois, com essa quarentena exagerada que os governadores estavam implantando, ela estava sem dinheiro e não podia ajudá-la.
Os dias se passaram, o auxílio não caía e o desespero em Cleide batia. À medida que o vírus avançava pelo Rio de Janeiro, ele chegava na Mangueirinha. A empregada doméstica viu seus vizi-nhos adoecerem, uma amiga distante morrer, o morro aderir a toque de recolher, resumindo: a situa-ção estava caótica. Ela não podia mais por sua família em risco, saindo todos os dias - pegando trem e metrô lotados. Ela tinha que conversar com a sua patroa.
Com medo de perder seu emprego, Cleide foi falar com Dona Adriana. Pediu, novamente, por um aumento. Pensou que, se não fosse possível o aumento, a patroa poderia permitir que ela ficasse na casa — já que ir e voltar todos os dias era perigoso para ambas. Novamente, Adriana nega seu aumento, justifica que a situação já está difícil o bastante para ela, que não teve a mensalidade do colégio de seu filho reduzida; porém, Adriana concorda em deixá-la ficar por lá, mas, não, no quarto de hóspedes, não! Cleide iria passar a dormir na despensa — já que o minúsculo quarto de empregada do apartamento original tinha virado o closet de Adriana, em recente obra —; colocaria um colchão ali e teria que dor-mir naquele local.
O trabalho dobrou para Cleide: agora acordava mais cedo do que antes, fazia café da manhã para todos e desinfetava os produtos que sua patroa recebia diariamente. Mas, para ela, isso não importava - mesmo sentindo falta de sua família -, só em saber que estava preservando a saúde de sua mãe e de seus filhos, todo esforço valia a pena.
Essa é a realidade da Cleide. Eu conheço uma Cleide, meus amigos conhecem uma Cleide, to-dos conhecemos uma Cleide. As “Cleides” são mais de cinco milhões no Brasil e, nesse momento catastrófico — e que deveria ser de empatia e de ajuda — as empregadas domésticas são uma das classes que mais está sofrendo no país. Trabalhos abusivos, péssimas condições, em um Brasil que não se importa e não liga para a vida dessa empregada. Uma classe fundamental por manter milhões de famílias deveria ser tratada com mais respeito e humanidade - diariamente, mas, principalmente, em uma pandemia como esta por que estamos passando.
Beatriz Monteiro
14
Memórias póstumas de Maria Brasil
Aos vírus que primeiro roeram as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lem-brança estas memórias póstumas.
Apesar de morta e mal enterrada, em meio a uma pandemia no mundo dos vivos, do outro lado finalmente posso realizar minha paixão: escrever. Pena que meu primeiro tema será tão mórbido. Sempre quis falar de amor; pena que a vida em que nasci não deixou. Minha mãe me deu educação, então, hei de me apresentar: sou Maria! Maria do quê não importa, mas importa a você saber que fui empregada doméstica. Limpei chão de madame toda a minha vida. No navio negreiro em que passava horas no trânsito, ou dormia ou sonhava com minha vida de escritora. Somos muitas marias por todo o Brasil, domésticas, cozinheiras, trabalhando muito pra sempre ganhar pouco.
Ouvi a patroa falar de um vírus, que matava uns chineses, mas ela não se preocupava, afinal, iria visitar a Itália, e “até onde eu sei, Maria, lá não tem chinês”. O problema é que esse maldito bichinho foi parar no mundo todo, até na minha patroa. Minha filha falava pra eu não ir trabalhar, mas ela é muito nova, não sabe o que é botar comida na mesa, e minha patroa fazia questão da casa muito limpa. As ruas foram esvaziando, todo mundo se olhava com desconfiança, que bichinho danado pra dar medo nas pessoas. Álcool, pra mim, era pra beber ou pra limpar a casa; agora tinha era que passar na mão também.
Quando morri, ouvi botarem a culpa na chefa, chamavam ela de irresponsável, sem co-ração, onde já se viu? Ela que me deu emprego: eu sempre botei comida na mesa, roupa nas crianças, como que eu faria isso sem esse emprego? Fato é que esse tal vírus não deixava nem eu respirar. O doutor mandou eu ficar em casa tomando uns remédios, disse que ficar no hospital era pior. Meus últimos dias foram assim, trancada no quarto, pensando se quando eu morresse finalmente poderia ser a escritora que sempre sonhei. Se morri do maldito vírus, ou do egoísmo da minha patroa, não sei. Pelo menos, hoje, e pra sempre, poderei escrever mais do que cera no chão dos outros.
Bruno Torres
15
Preciso sair
Queimo a língua. Seguro o reflexo de soltar a xícara de chá no chão. Após longos goles de água gelada consigo adormecer as pontadas de dor. Guardo o copo e lavo a xícara, mas meus olhos recaem sobre as minhas louças e as do meu namorado da janta do dia anterior. Lavo-as e encontro uma vassoura e pá, ainda são nove e meia da manhã e já varri a casa duas vezes, porém ainda percebo essa crescente necessidade de limpar outra vez.
Tédio, tédio, tédio. Minha cabeça explode em nostalgia dos dias de sol no mar e as noites infinitas nas festas do centro. Depois de fazer tudo da casa, e cuidar do gato e cão, começo a me cuidar, um “spa day” para tentar desestressar o estresse infinito que recai sobre meus ombros. Embora tenha feito o mesmo spa todos os dias e a ansiedade continuasse passando tão forte pe-las minhas veias. PRECISO SAIR. Meu cérebro grita mais uma vez, perdi as contas de quantas vezes já o fez.
Uma batida lenta na porta seguida da alta maldita campainha, coloco a mão na cabeça que agora dói um pouco. Abro a porta e lá está ele. O olho ainda roxo de uma briga semanas atrás contrasta com as luzes no cabelo que ele jura não ser parafina –mas é- ele me abraça forte ainda molhado do surf e mesmo com aquele choque térmico meu peso nos ombros diminui e as cores voltam naquele mundo antes tão cinzento, posso jurar que até ficaram mais vibrantes. Atlas da mitologia teria inveja de quão leve me sinto agora como se pudesse tocar as nuvens. Faço a rotina de pele nele também após o banho e o convenço a pintar as unhas de preto, ele sorri em derrota quando termino a primeira mão.
A quarentena é insuportável, sim, de deixar nós -seres sociáveis- loucos. Entretanto ao lado dele tudo fica mais fácil. Diego ri quando perde no videogame mais uma vez e depois começa a contar da cena “tão Walking Dead” — ele diz — que está lá fora no mundo. Tudo deserto, tudo vazio, a natureza voltando a ser a rainha de tudo e todos. Quem sabe agora aprendemos a respeitá-la.
Cora Mejía
16
Ínfima cessão
Tendo nascido no século XXI, nunca tive a chance de presenciar o semanal evento ocorrido aos domingos, na praia de Icaraí, localizada no bairro de mesmo nome na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Porém, sempre ouvi relatos dos meus pais a respeito do momento de lazer tão esperado de inúmeras empregadas domésticas da década de 1970. Após cozinharem o almoço de seus patrões, meus pais contavam que elas tinham a oportunidade de ir à praia do bairro em que trabalhavam para dar uma caminhada, fofocar com suas colegas de profissão, e, quem sabe, tomar uma água de coco. Enfim era o momento de relaxarem.
Após seu breve momento de lazer no fim de tarde, todas retornavam para a casa de seus anfitriões, nas quais passariam a semana seguinte dormindo em um quarto minúsculo, usando muitas vezes um chuveiro sem aquecimento, num banheiro segregado. Voltavam a trabalhar incansavelmente dias e noites em troca de um salário modesto, e a ansiar por suas horas livres na próxima tarde de domingo.
Tendo, eu mesmo, convivido com a presença de uma empregada doméstica quase todos os dias da semana durante a minha infância e pré-adolescência, posso observar que sua ocupação, apesar de apresentar, no geral, condições menos degradantes em comparação com as mencio-nadas anteriormente, relativas à década de 1970, continua desvalorizada. Basta reparar na baixa remuneração, nas longas jornadas, e, mais nitidamente, na não existência de leis trabalhistas para essas profissionais até o ano de 2015. Nesse mesmo ano, pelo que me recordo, minha fa-mília se viu na obrigação de atender os novos requisitos, tais como a criação de um fundo de garantia para a moça que trabalhava em nossa casa. Mas, diferente da postura assumida pelos meus pais, diversas outras famílias ficaram indignadas, e até mesmo demitiram as suas contrata-das, no momento em que a profissão foi devidamente regulamentada; e os direitos trabalhistas, devidamente garantidos.
Portanto, quando observo o quadro atual, em pleno início da década de 2020, no qual di-versos patrões infectados pelo novo coronavírus demandam que suas contratadas se submetam a uma possível contaminação para trabalharem em suas casas, não me assusto. As empregadas permanecem sujeitas a exigências insensatas de seus patrões, e elas, por medo de perderem os seus empregos no atual cenário de crise econômica, não têm outra escolha a não ser obedece-rem. Seus postos, por décadas, foram subjugados pela sociedade e pelo sistema, e, a meu ver, esse episódio é um reflexo disso.
Ouvia os relatos dos meus pais quando criança e via, no momento de folga das empregadas, décadas atrás, certa positividade, afinal, elas estavam recebendo seu tão almejado descanso se-manal após dias de empenho. Atualmente, vejo esse momento de outra maneira: uma concessão ínfima por parte dos chefes a essas trabalhadoras. Elas, tendo em vista o trabalho árduo que realizam e o salário reduzido que recebem, merecem muito mais do que algumas horas de lazer e uma infecção viral.
Davi Goulart
17
Breu
Deitada na cama de casal sozinha, Julia se perguntava, entre espreguiçadas, há quantos dias a quarentena havia começado. 61 dias em casa? 100, talvez? Não sabia. As frustrações do iso-lamento pareciam já consumir todos os minutos de todos os dias, e a noção do passar do tempo não existia mais. Olhava pela janela do quarto e parecia já ter esquecido de como o mundo era lá fora e como era sua vida normal.
Uma da tarde no relógio. Mais uma aula on-line da faculdade. Mais um trabalho para fazer. Mais um trabalho que será deixado para o último dia por causa da ansiedade paralisante que a impedia de fazer quase tudo. Mais um jantar em família. Mais uma briga com os pais que não a compreendem e repetem a frase “É fácil, basta parar de enrolar”. Mais uma noite em claro. Mais pensamentos debilitantes. “Não dá mais”, repetia para si mesma. “Não dá mais”, pensava, olhando para o celular enquanto mexia no Instagram e via a vida perfeita dos amigos.
No dia seguinte, acordou e não estava mais frustrada ou triste; ela estava cansada, somente cansada. O toque e o afeto pareciam conceitos tão distantes quanto o fim de tudo isso. Obrigada a passar seus dias sem ver as pessoas que lhe faziam bem, e presa em casa, existir parecia ser cada vez mais excruciante.
Deitou-se para dormir naquela noite solitária, mas a insônia não permitiu que caísse no sono rapidamente. Veio então o pensamento de “e se o mundo nunca voltar ao normal?”, e sua mente desceu em uma espiral de pensamentos cada vez mais negativos. O sofrimento da rotina estava se tornando insuportável. O teto branco do quarto foi a sua vista por longas horas.
Foi então que percebeu que precisava quebrar o ciclo que virara vicioso; Acordou. Estudou. Almoçou. Teve aula. Brigou com a família. Jantou. Dormiu. E não acordou mais. Pronto. Breu.
Débora Luísa
18
Um romance de março
Apesar de nunca ter tido dificuldade para fazer uma ligação de vídeo, naquela noite tudo estava impossível. Mais uma chuva se iniciava no Rio, daquelas de aparência catastrófica. O si-nal da internet testava minha paciência, não conseguia terminar um filme sequer e, até hoje, não sei se o E.T. volta para casa ou não. Me sentia impaciente ao extremo. Talvez porque já estava em quarentena por dois meses, devido a uma pandemia que parou o mundo, e sem ver minha namorada por três semanas, pois ela começou a ter febre e tossir.
Possivelmente ela poderia estar infectada, mas o resultado do teste ainda não tinha saído, então, por precaução, não podia vê-la e nem cuidar dela, e, no meio disso tudo, o Wi-Fi não ajudava a minha situação. Já estava cansado, portanto, fui ligar para minha “doentinha”, como de rotina. Não demorou muito para ela atender.
— Oi, amorzinho! Que saudades! — Rafa? Rafael? Não tô “pipo”cutando. (Ligação picotando) — Alice! Alice! — Oi! Agora tô escutando! — Já tô de saco cheio dessa internet. — Calma, amor! Não fica assim! Tenho que te “pipopi”(Ligação picotando) — Alice? Tá aí? Tem que o quê? A ligação “caiu” por falha de conexão. Já não aguentava de raiva, andava por todos os luga-
res da minha casa, em busca do melhor ponto da internet. Talvez a chuva estivesse atrapalhando a nossa ligação por vídeo. Me aloquei ao lado da máquina de lavar roupas. Liguei de novo.
— Alice? Tá me ouvindo agora? — Oi! Tô, sim. Só a imagem que está bem ruim. — Poxa! Tudo bem! Mas o que você tinha pra dizer. — Verdade! Tenho que te contar que Nesse momento, um panelaço se somou ao barulho da chuva. Minha mãe estava na janela,
batendo panela e gritando, com ódio, contra o presidente, que estava em pronunciamento na televisão.
Naquele instante, nada chegava aos meus ouvidos, além do som daquelas panelas. Enviava mensagens para Alice, mas nem o Wi-Fi nem o 4G possibilitavam nossa comunicação. Depois de uns cinco minutos de panelaço, consegui que ela me atendesse.
— Alice? O que você quer me contar? — Oi, Rafa! Saiu o resultado do teste pra saber se estou com o Coronavírus. — E aí? Para o meu desespero, a chuva fez com que a luz acabasse, “derrubando” a ligação. E, para
piorar, o meu celular ficou sem bateria. Tem dia que não é o nosso dia.
Dudu Guimas
19
Privilégios em Meio ao Vírus
Eu tinha 19 anos quando um vírus novo tomou conta da rotina do mundo todo. Era o cha-mado coronavírus, que surgiu primeiro na China e depois se espalhou pelo mundo inteiro, atin-gindo milhares de pessoas e matando algumas também. Para ser sincera, eu preferi evitar me informar muito sobre o assunto, porque, na época, estava com a mente muito fraca e tudo me causava ansiedade, principalmente porque coincidiu com meu primeiro período de faculdade, concluído pela internet. Mas eu sabia o básico: era para todos ficarem em casa, de quarentena, evitando ao máximo sair dela, na tentativa de frear o contágio e proteger o grupo de risco, Isso eu sabia também: os idosos eram o grupo que tinha mais chances de morrer se fosse contagiado. Bom, o importante para o que eu vou falar é saber o seguinte: era de extrema importância ficar em casa.
Assim como minhas aulas presenciais foram suspensas, muitos trabalhadores pararam de trabalhar também. Meus pais, que são professores universitários, por exemplo, não estavam dando aula, nem online, porque era em faculdade pública, onde grande parte dos alunos não tem acesso à internet – enfim, esse é outro papo. As pessoas que trabalhavam com lojas, restaurantes ou outros lugares que continuaram funcionando, faziam uma espécie de revezamento para não ter muita gente trabalhando junta. Tudo para evitar aglomerações.
No meio disso tudo e talvez por eu estar com muito tempo para refletir, comecei a perce-ber uma coisa. Blogueiras e famosos estavam constantemente colocando em suas redes sociais várias campanhas para a população ficar em casa e ressaltando a importância da empatia e do pensamento no próximo, etc. Mas, em um desses discursos de empatia que uma dessas “in-fluencers” postou no Instagram, notei que, atrás dela, estava a cozinheira, fazendo o almoço. Foi quando eu comecei a pensar: com que vida exatamente essas pessoas estão preocupadas? É importante ficar em suas próprias casas, desde que não seja a sua empregada, pois a quarentena dela deve ser com os patrões. Isso me doeu. Abri os olhos para a preservação da ideia colonial, ainda vigente no país, de que a trabalhadora doméstica é propriedade da família que a contratou. Uma ideia tão forte que, em meio a uma recomendação de ficar em casa, é na casa da patroa que ela passa a quarentena.
Comecei a procurar coisas sobre o assunto, nas redes sociais, no Google e achei relatos. Vários deles eram de empregas domésticas cujos patrões estavam com o coronavírus, mas não quiseram dispensá-las para ter alguém para cuidar deles; e, caso elas desobedecessem, perde-riam o emprego. Elas não tinham o privilégio de ficar de quarentena.
A partir disso, eu cheguei a uma conclusão: a quarentena é um luxo. Aqueles que não cor-rem o risco de perder o emprego, ficando em suas casas – obedecendo as recomendações, diga--se de passagem –, têm esse luxo. Os que não têm são obrigados a ir trabalhar e são expostos ao risco de serem contagiados. Enquanto isso, seus patrões fazem campanhas para termos empatia; uma, como eu mesma nomeei, empatia seletiva.
Eu tinha 19 anos quando um vírus novo tomou conta da rotina de todo o mundo. Agora, meses depois, percebo a importância de minha percepção que é o resumo da reflexão presente em meu texto: o isolamento social, tão recomendados por todos, é um privilégio de poucos.
Elisa Guilherme
20
... E cinco
“Já são mais de 3.400 casos de Covid-19 no país, que conta 92 mortos. Fiquem em casa”, esbravejou a televisão furreca perto do sofá. Ao ver que já eram três da manhã, pulei da cama e fui depressa para o ponto. Era assim toda segunda-feira: acordava cedo, dava um beijo nas crianças e saía correndo para pegar o 2337 de Seropédica e não chegar atrasada à Barra da Tiju-ca. A Dona Ana não gosta de atrasos. “Às oito ou nada”, ela vivia repetindo.
O ônibus chegou dez minutos atrasado, e eu entrei sem nem prestar atenção que estava lota-do. Com toda a gritaria, as tossidas e os espirros, lembrei da Laurinha, falando “Cuidado, mãe. A senhora tem 62 anos, não devia nem sair de casa”. Respondi que não tinha escolha. E não tenho mesmo. Se eu não for, quem vai pagar a comida das crianças? Tive que repetir isso para mim mesma por todas as cinco horas de viagem em pé, já que não respeitam o assento preferencial.
Ao chegar à Barra, na “Terra dos Ricos”, não tinha ninguém na rua. Estaria tudo deserto se não fossem pelos outros trabalhadores, de máscaras, catando lixo ou vendendo bala no ponto. Atravessei o sinal, dei bom dia ao porteiro e subi pelo elevador de serviço. O medo de esbarrar em algo e me contaminar era enorme, mas não tinha o que fazer. “Vê se não traz esse vírus da-nado aqui para casa, Dulce! Se não...”, ecoava, em minha mente, a fala semanal da patroa.
Ao abrir a porta, Dona Ana estava furiosa: “Não aguento mais isso, ainda mais no mo-mento em que estamos agora. Não consigo cuidar do Pedro sozinha. Ou você se compromete, ou rua, Dulce!”
Ao tentar responder, ela só apontou para relógio e saiu... droga, oito e cinco.
Ericka Levigard
21
Reflexões de Laura
As ruas da Barra da Tijuca andam vazias, ultimamente. Onde passavam multidões, agora jaz o silêncio. Só se escuta o uivo do vento, o canto dos pássaros e alguns carros que passam aqui e ali. Laura nunca pensou que sentiria tanta falta do barulho da cidade, algo que sempre a incomodava. Ao se sentar na varanda de sua casa, percebeu que o que mais aperta o seu coração é a impossibilidade de fazer coisas simples.
Laura nunca gostou de ir ao mercado, por exemplo. Sempre acabava se perdendo da mãe nas enormes fileiras de produtos, cujos logotipos disputavam por sua atenção. Além de que, na fila, sempre havia algo que tinha sido esquecido e que a mãe teria de buscar. “Se chegar a nossa vez, avisa que só fui buscar uma coisa e já volto”, ela sempre dizia. Os dois minutos, jurados por sua mãe, sempre pareciam duas horas, à medida que o número de carrinhos à sua frente ia diminuindo e sua vez se aproximando. Quando iria imaginar que o desespero, sentido outrora, agora seria algo tão distante?
“Ir à praia? Nem pensar!”, sempre se manifestava a garota. Nunca havia se sentido perten-cente àquele lugar. Não gostava de como a praia do Pepê parecia mais uma selva, com todos os animais disputando para ver quem estaria no topo da cadeia alimentar. Aquilo era uma competi-ção por atenção, e ela não gostava disso. Agora, o que era repúdio, tornou-se um desejo, quase uma emergência. Laura não ligava mais para as pessoas. Não importava se a mãe ia pedir mil vezes para que ela repassasse o protetor, ou alarmá-la contra o sol. Laura não ligava se estaria na base daquela cadeia; ela só queria ouvir o mar. Queria colocar-se ao sol, ler um livro, mergulhar na água salgada e se perder nas ondas marinhas. Ansiava por liberdade.
Desde o confinamento, a menina passou a ver o quão importante para ela era poder ir ao Barra Shopping ver as lojas; ir ao cinema, nem que fosse para ver um filme infantil com a irmã mais nova; tomar um açaí, sempre com “três camadas de leite ninho, por favor”; e acordar cedo para ir à escola. Tudo ao que ela estava acostumada, de repente, sumiu. Desvaneceu-se. Contu-do, Laura sabia que não podia nem reclamar. Tinha gente bem pior que ela.
Lembrou da Cidinha, que cuida dela desde pequena, e em como ela não podia trabalhar, por morar longe e não poder pegar ônibus para Barra, devido ao Covid-19. A mãe continuou pagando à moça, o que a confortava. “Pelo menos os filhos dela não vão passar fome”, pensou. Laura tinha um carinho enorme por ela. Sentia saudades.
A menina chorou ao pensar nisso tudo, mas logo se recompôs. Não queria que sua mãe a visse assim. Repetiu para si mesma que tudo iria passar e, enquanto isso não acontecia, ia viver. “Um dia de cada vez”, reiterou. Levantou-se da cadeira, limpou as lágrimas e foi se distrair. Afinal, já tinha esquecido do bolo “chocolatudo”, que a irmã pedira que ela fizesse.
Ericka Levigard
22
A rotina na pandemia
Rotina de casa, criada pela Senhor João Mandrião, para a manutenção de bons hábitos du-rante a pandemia. Rio de Janeiro, 2020.
Março: 09/03. Plano seguido à risca, casa limpa, 30 páginas lidas, exercícios físicos feitos e meditação concluída.
10/03. Plano executado com uma pequena falha. O corpo precisa de mais um dia de descan-so antes de voltar a se exercitar novamente.
11/03. O dia apresentou um clima desfavorável e a Netflix lançou episódios novos do meu seriado favorito; mas o plano inicial ainda está de pé. Amanhã, o foco vai ser total nas atividades propostas.
16/03. Semana passada, a meta inicial acabou não sendo seguida à risca; porém, hoje, foram retomadas todas as atividades com o acréscimo de uma nova: “o estudo diário da língua inglesa”.
17/03. Quase todas as metas foram batidas. Acabou sendo extrapolado o tempo limite, em virtude do estudo de inglês; assim, não foi possível realizar exercícios físicos e nem fazer a limpeza da casa.
18/03. Por conta de contratempos — coisa que não vale a pena explicar aqui —, não foi possível a realização de nenhuma meta proposta; porém, amanhã serão todas realizadas sem falta.
Abril: 06/04. Novo mês, foco completo na realização das tarefas. Foi decidida a substitui-ção da realização de atividades físicas pelo aprendizado de um instrumento musical. Todas as atividades foram realizadas.
07/04. Plano seguido com êxito.08/04. Plano seguido com êxito.09/04. Plano seguido com êxito.10/04. Após todos esses dias, concluindo com êxito as atividades, foi decidido que nada
mais seria feito no dia; mas que, com as energias renovadas, o plano continuaria a ser seguido à risca a partir da manhã seguinte.
20/04. Nova semana. Apesar da falha ocorrida nos últimos dez dias — quando nem registrei o movimento por cansaço —, hoje todas as atividades foram bem executadas.
Maio: 04/05. O projeto foi recomeçado com a adição de devocionais diários feitos via Zoom. Todas as atividades foram realizadas.
05/05. Plano seguido com êxito.06/05. Por conta de uma ligação recebida, que teve a duração de cinco horas, algumas ati-
vidades não foram completadas. Amanhã o plano será reestabelecido.11/05. Após o fracasso da última semana, as metas voltaram a ser realizadas. Outubro: 29/10. Após sete meses passados, e muitas falhas nos planos, percebo que novos
hábitos não são introduzidos todos de uma só vez; e, muito menos, não se pode são adicionar novas tarefas sem antes ter consolidado as antigas. Começo tudo de novo em novembro.
Fellipe Rodrigues dos Santos
23
Grilhões presos à despensa no Século XXI
Dizer que a relação entre a empregada e o patrão, no Brasil, em 2020, é parecida com a da escravidão choca as pessoas. A escravidão foi abolida em 1888, mas as empregadas domésticas, conviveram com seus resquícios presentes até 2015, momento em que elas adquiriram seus di-reitos, após a aprovação da chamada PEC das domésticas. Porém, nesses tempos de pandemia, estes direitos estão sendo perdidos. A situação é muito preocupante, pois, além de todos os casos de abuso emocional que estão acontecendo no período de pandemia, devemos lembrar que um direito alcançado jamais pode ser retirado.
Muitas domésticas estão indo trabalhar, pois já ouviram de seus patrões que não irão rece-ber se ficarem em casa, e, se ficarem, poderão perder seus empregos, sofrendo, assim, forte pres-são de seus empregadores. O abuso emocional realizado pelos patrões para com suas emprega-das domésticas está sendo algo recorrente no período em que passamos. E, para piorar, houve prefeito, que, como o de Belém no Pará, decretou que a atividade das empregadas domésticas é essencial, contradizendo a lei federal sobre o assunto, e colocando ainda mais as empregadas “contra a parede”. Além do abuso dos patrões acerca do vínculo empregatício, muitos possuem mentalidade preconceituosa, obrigando suas empregadas a usarem máscaras, enquanto eles pró-prios não as utilizam. Ou seja, a empregada “não tem o direito” de contaminar ninguém, mas pode estar exposta ao vírus vindo dos patrões. A primeira morte por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro ocorreu assim: a patroa que havia acabado de retornar de viagem da Itália, contami-nou sua empregada, que veio a falecer dias depois por conta do vírus.
As mulheres estão sendo maltratadas pela lei e estão tendo seus direitos desrespeitados por quem carrega mentalidade colonial. Os direitos do trabalhador doméstico vêm sendo brutalmen-te destruídos por quem acredita que “só se deve pagar para quem está trabalhando” e por quem está obrigando a empregada a realizar uma quarentena forçada na casa do próprio patrão, caso contrário, será demitida. Prendem-se, assim, seus “grilhões imaginários” à despensa da cozinha do patrão, ao invés de realmente dispensar sua empregada, para realizar a quarentena em casa. Ao agir dessa maneira, o empregador demonstra que, para ele, a vida e os esforços da contrata-da são algo “descartável”, assim como os escravos na época colonial eram vistos. Seguindo o pensamento de que “se você não fizer, milhares irão te substituir e você não fará falta.”
O rapper Djonga já disse, e repito, “enquanto alguém for escravo, nenhum de nós é livre”. Portanto, a palavra que tanto se fala na quarentena, empatia, deve ser de fato posta à prova, e praticada, não só verbalmente: é necessário estar presente nos atos. E, assim como dizem que a mudança começa em casa, o “basta” para essa relação análoga à escravidão deve começar li-teralmente dentro de casa, com a mudança no tratamento para com as empregadas domésticas.
Gabriel Maurell
24
Empatia pandêmica
A pandemia de COVID-19, doença detectada, pela primeira vez, no final de 2019, afeta cla-ramente a vida da maioria dos brasileiros, senão todos eles. Entretanto, as camadas mais popula-res são as que mais sofrem com tal situação, por diversos motivos, dentre eles, a impossibilidade de praticar a recomendação que todos estamos ouvindo nos noticiários: “Fique em casa”. Isso se dá, pois, para muitos brasileiros, “ficar em casa” não é uma opção, tanto pela necessidade de subsistência quanto pelo fato de seus patrões não permitirem essa condição. Esse é o caso de inúmeras empregadas domésticas no país.
O isolamento social, segundo epidemiologistas e demais cientistas, é a melhor alternativa para conter o avanço do coronavírus e, mesmo assim, empregadores obrigam domésticas a irem trabalhar, o que faz com que elas se exponham ao risco ao enfrentar os transportes públicos. Assim, colocam suas próprias famílias em perigo também. Infelizmente, a primeira morte pela doença confirmada, no Rio de Janeiro, decorreu dessa circunstância: Cleonice não foi liberada do serviço pelos patrões, que haviam testado positivo para a COVID-19. A primeira vítima do novo coronavírus foi vítima também de desumanidade.
Os patrões de Cleonice se recuperaram; ela, não. É necessário dispensar essas incansáveis trabalhadoras, já que os patrões estão em casa, podendo cuidar dos serviços domésticos pelo menos por um tempo. Além disso, é preciso que os salários continuem sendo pagos. Assim como escolas continuam cobrando mensalidades, mesmo com a interrupção das aulas, e por isso conseguem continuar pagando seus funcionários, o mesmo deve ser feito com as domésticas: é um só ciclo. Só assim, elas terão condições de enfrentar a situação da pandemia com menor sofrimento. O mesmo raciocínio vale para todos os trabalhadores terceirizados do nosso país.
Mais do que nunca, é tempo de praticar a EMPATIA. Deve-se pensar no outro, reconhe-cendo o estado de privilégio em que muitos de nós nos encontramos, fazendo o máximo possí-vel para que os que não estão inseridos nessa parcela da sociedade encarem bem essa situação. Colaborar com projetos de caridade também é uma forma de apoio, visto que o governo não conforta os que mais necessitam. Em tempos de caos, como escreveu a neuropsicóloga Sharon Simon, devemos ser a melhor versão de nós mesmos.
Giovanna Rispoli
25
Banho de Lua
No primeiro dia da quarentena, Liliane se exaltava com os pais no corredor do terceiro an-dar do prédio 105 da Rua Dias Ferreira, no Leblon. Segundo ela, seria impensável que um casal – ela com 85, ele com 91 anos – saísse para dançar em meio a uma pandemia. Em resposta ao seu zelo, ela recebeu de seus pais súplicas quase dignas de piedade. Liliane não foi piedosa, manteve sua posição durante toda a discussão - ou pelo menos até quando meus ouvidos pude-ram captar suas vozes.
Lá pelo quinto dia de isolamento, ouvi o elevador abrir no andar e pus-me a observar pelo olho mágico. Ao se abrirem as portas, vi um entregador cansado, carregando bolsas enormes com compras de mercado. Meus vizinhos abriram a porta. Liliane o recebeu e logo foi che-cando a mercadoria até que exclamou “A água!”. A constatação da falta do item essencial gerou um desespero nunca antes visto em minha vizinha, ao qual sua mãe replicou: “Se faltar água, bebemos vinho”.
No oitavo dia de quarentena, acordei no meio da noite inquieta. Ouvi barulhos vindos do corredor e fui até a porta para tentar entender o que estava acontecendo. O casal de idosos passava pela porta de casa com um cuidado meticuloso, andando com passos receosos, como adolescentes fugindo de seus pais. Chegaram ao elevador com ar de vitória. Não sei o que se passava na cabeça deles, se não estavam lúcidos para saber dos riscos daquela fuga, ou se esta-vam cientes dos riscos, mas preferiam os prazeres. Decidi acompanhar sua jornada pela janela, na esperança de que meu olhar os protegesse ou lhes desse juízo. Na portaria do prédio, sem coragem de ultrapassar a grade, o casal de velhos adolescentes se abraçou, cobertos pela noite fantasma, nublada e vazia, mas com ar de liberdade.
No décimo dia fui fitar a janela, a lua cheia estava especialmente brilhante, e a noite quente quase me deixava esquecer da realidade devastadora do mundo, da doença se espalhando, do isola-mento forçado e necessário. Ao olhar para baixo não acreditei no que vi: meus vizinhos dançavam pela calçada. Ela rodopiava como criança em um vestido branco e, com uma taça de vinho na mão, cortava a noite e brilhava, refletindo a lua. Ele sorria levemente vendo-a dançar, acompanhando o balé com passos sóbrios que combinavam com seu terno e postura elegante. Até que pararam a dança. Lado a lado, olharam para o céu. Gosto de pensar que olhamos os três.
Giulia Butler
26
Preenchimento do tempo
A citação “A arte salva e sem ela não há salvação” é do grande artista brasileiro — ator, di-retor, escritor, poeta e mestre — Domingos de Oliveira (1936-2019). Ao afirmar essa ideia, não é possível saber se ele pensava que uma pandemia, como a da Covid-19 — assolando o mundo desde dezembro de 2019 — faria a arte ser valorizada por muitas pessoas que a ignoravam; en-tretanto, a BBC Brasil comprova que a máxima de Domingos — a partir do exemplo italiano, cuja população sofreu muito por causa do novo coronavírus — estava correta. De março a maio de 2020, durante o seu “lockdown” — isolamento social obrigatório —, os italianos aderiram com mais frequência à música: apresentações nas janelas se tornaram comuns nos prédios da Itália. Segundo Nietzsche, “Temos a arte para não morrer de realidade”. Seguindo essa linha de pensamento, arrisco dizer que a música está ganhando destaque nas localidades que estão em quarentena justamente por ser considerada a arte mais imediatista: a música pode, mais rapida-mente que todas as outras manifestações artísticas, transportar a atenção de quem a contempla.
Juntamente ao vasto território musical, outro ambiente é explorado na quarentena: a leitura. O Nexo Jornal — https://www.nexojornal.com.br/ —aponta que a procura por livros, no Reino Unido, teve um crescimento de trinta e três porcento em relação ao mesmo período do ano pas-sado (2019) – mais um dado que explicita a adesão artística à rotina das pessoas.
Ao lado da fruição artística, deve-se procurar a manutenção de uma rotina minimamente saudável – acordar e se arrumar como se fosse sair, por exemplo. Isso tem sido fortemente re-comendado por especialistas, para que as pessoas não se deixem levar pela monotonia e a falta de ânimo. Consumir e produzir arte pode ser de grande valia nesse momento.
João Mendes
27
Direitos relegados a segundo plano
No Brasil, empregadas domésticas e diaristas representam um total de 6,3 milhões de tra-balhadores. Porém, essas profissionais — em sua maioria, mulheres, de acordo com o IBGE —, infelizmente, são desvalorizadas na sociedade, não tendo seus direitos assegurados, tam-pouco respeitados. Com a pandemia do coronavírus, que se iniciou no Brasil a partir de março de 2020, muitas empregadas domésticas perderam seus empregos; logo esse grupo se tornou necessitado de assistência governamental – assim como diversos trabalhadores informais, evidentemente. Mas, desde 2015, há leis protegendo as domésticas, garantindo-lhes direitos nem sempre observados, especialmente no cenário atual de doenças e mortes.
O Brasil contempla diversas realidades, e os dirigentes do país devem conhecê-las, pois, dessa forma as ações governamentais serão mais eficientes. A renda média de uma empregada doméstica varia, dependendo do lugar onde trabalham. Na Zona Sul do Rio de Janeiro – área de grande poder aquisitivo –, por exemplo, o salário médio é de R$ 2155 por mês, sendo 73% maior do que a média salarial nacional. Esse dado mostra como é necessário um entendimento em relação a realidades díspares dentro do mesmo Brasil.
A sociedade constantemente olha para esses profissionais com poucos direitos ou direitos recentes – como as domésticas – como se a vida deles tivesse menor valor. Essa questão está diretamente ligada ao “racismo estrutural” vigente em nossa sociedade. A historiadora e es-critora Marília Bueno de Araújo Ariza aponta, num estudo publicado na BBC e pelo site UOL (https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2018/02/26/o-que-faz-o-brasil-ter-a-maior-popu-lacao-de-domesticas-do-mundo.htm), que o mercado de trabalho, no país, tem resquícios da escravidão, uma vez que grande parte das domésticas são afrodescendentes
O exercício de entender a realidade do próximo é fundamental para a manutenção da vida, principalmente neste momento de crise. O patrão deveria dispensar os serviços da em-pregada doméstica e continuar pagando o seu salário. Seria uma forma solidária de lidar com a questão: uma grande ajuda para essa profissional poder ficar em casa, protegendo-se e cuidando da sua família. Tal proteção é fundamental para que o vírus não se espalhe, ocasio-nando o colapso dos sistemas de saúde. O isolamento social tornou-se um privilégio no país, uma vez que parte da população tem que sair diariamente de casa para ganhar o pão de cada dia. Muitas pessoas podem não conseguir se manter confinados em casa, por muito tempo, por falta de dinheiro. O governo deve dar assistência para essas pessoas, a fim de que elas possam respeitar e se beneficiar, também, do isolamento social.
João Mendes
28
Grandes Amigos
Antônio saiu do táxi com toda má vontade do mundo; ele achava absurdo o Botafogo não ter cancelado os treinos de futsal em meio a essa pandemia. “Por que o clube botaria nós, atletas, em risco dessa forma?”, pensava.
Douglas saiu do ônibus e caminhou pela passagem subterrânea até a sede de General Severiano. Ele estava com medo desse vírus de que todos estavam falando; receava principalmente por seus avós, que são grupo de risco.
Mesmo se conhecendo há pouco tempo, Douglas e Antônio eram grandes amigos. Desde que Dou-glas passou na peneira, Antônio dizia que o moleque jogava bola, e como jogava.
Já dentro do ginásio, amarrando suas chuteiras, Douglas e Antônio começaram a bater papo, falar de besteira e de mulher, como sempre. Em meio a risos e abraços, Douglas perguntou como Antônio estava em meio a todo esse caos.
— Eu tô me cuidando, cara, meus pais já compraram bastante álcool em gel e tal… — Ah, fico feliz Tom, de verdade. Tem que se cuidar mesmo, brother, a situação tá escaldada. — É, e meus pais ainda fizeram um acordo com a minha empregada pra ela continuar vindo traba-
lhar; combinaram de pagar Uber, máscara e tudo mais… então “tamo” de quarentena, mas “tamo” na mordomia! Ambos gargalham juntos, descontraindo o clima!— Mas e você, Douglinha? Tá se cuidando irmão?— Tô tentando, né, cara? Mas é fogo… meu pai não bota a cara. Minha mãe não tem dinheiro pra
comprar álcool em gel, máscara e essas coisas. Ela é doméstica, sabe? A patroa dela disse que, se ela continuar indo ao trabalho, ganha tudo de graça, a patroa dá mascara, álcool em gel, tudo; mas, se ma-mãe decidir ficar em casa, aí a patroa disse que não vai ter mais jeito... Aí, tá nesse dilema, né? Se sair de casa é perigo, se ficar em casa é rua.
— Caraca, Douglas, nem sei o que dizer, cara. (...)— Escuta Douglas, me passa o celular da sua mãe, vou falar com meus pais e a gente vai doar isso
tudo pra vocês. E meus pais ajudam sua mãe a conseguir emprego depois, não se preocupa.— Sério mesmo, Tom? Você não é obrigado a…— Sério mesmo! Não tô falando de sacanagem, não. É sério mesmo.— Poxa, obrigado mesmo, Tom, de verdade. O número dela é esse aqui, ó, tá vendo?Douglas mostra o celular pra Tom.—Tá, deixa eu salvar aqui. Antônio tira seu celular do bolso e salva o número.— Deixa eu abrir no WhatsApp aqui e ver se eu salvei direitinho.Tom parece confuso olhando seu celular.— Qual foi, Tom? Que cara é essa? Qual é o problema?— Nada, nada. Me dá um segundo.— Quê? Olha aqui o número certinho — Douglas mostra novamente o celular pra Antônio— tá vendo?— Caraca, Douglas. — Qual foi, cara?— Nada, nada. Esquece.— Desembucha logo!— Douglas, acho que sua mãe é minha empregada.
José Pedro
29
Já nem sei maisquantos dias
Eu já perdi a conta de quantos dias eu estou de quarentena, de quantos dias eu não vou à academia ou até mesmo à esquina. Não lembro de quando foi minha última festa ou do meu último beijo na testa. Estou cercada de janelas que parecem celas e muitos vizinhos saem sem nem pensar na tragédia. O mundo está enfrentando um período difícil e as pessoas precisam se unir para acabar com isso, mas, como, se ninguém consegue respeitar? O amor ao próximo precisa reinar.Todo dia de manhã olho pela janela e tento lembrar da minha rotina com cautela. Penso em cada detalhe do meu querido bairro, com os shoppings lotados, o mar agitado e até mesmo o tráfego diário. Também, lembro-me da boa companhia que tinha quando descia, da piscina ao meio-dia sempre em ótima cia e da minha querida academia. Só sei que já virou rotina ouvir panelaço todo dia, mas também uma salva de palmas
Juliana Nicolazzi
30
com alegria aos queridos médicos que salvam vidas.Toda semana tem alguma “live” nova de uma banda e a galera canta e dança que nem uma criança. Não posso me esquecer de citar do BBB que deu o que falar, toda semana o pessoal gritava e comemorava sem parar. Parecia final de Copa do Mundo, todo mundo junto comemorando, só faltou o Galvão narrando. Nem mencionei o novo trajeque precisamos usar, luvas e máscaras para nos salvar. Sei que temos que nos acostumar, mas é tão difícil de respirar, ou, até mesmo, de um sorriso enxergar. Também, faz parte do nosso novo kit um potinho de álcool em gel e só assim ficaremos quites. O isolamento precisamos respeitar para isso tudo acabar. Então, por favor, fique em seu lar, eu sei que um futuro melhor acontecerá. Não adianta sonhar e não realizar, só assim essa batalha se finalizará e esse vírus nos deixará.
31
Trabalho decente
O conceito de trabalho decente, segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho) é um emprego que ofereça condições adequadas e dignas ao trabalhador(a). Todavia, essa defini-ção não é condizente com a realidade no que tange às empregadas domésticas no Brasil, prin-cipalmente, no atual cenário da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, em 2020. Popu-lações, em quase todo território global, enfrentam esse inimigo invisível. Tal batalha se agrava ao pensarmos nessas trabalhadoras brasileiras, que são “obrigadas” a se arriscar ao contato com terceiros pelo medo de perderem seus empregos. Por não ser considerado um trabalho essencial – como os das áreas de saúde, segurança e alimentação, por exemplo –, a continuidade do labor doméstico profissional, em tal contexto, vai contra as orientações médicas de isolamento social.
A atitude do patrão de permitir que sua funcionária doméstica se exponha, em tempos de calamidade pública, ao COVID-19, pelo fato de querer ver sua casa limpa é um aviltamento da dignidade humana. Essa pessoa pode contrair o vírus e ficar à mercê do sistema de saúde públi-co. O patrão ou a patroa, por sua vez, terão acesso a hospitais particulares.
Analisando tais questões, recordo-me de como essas atitudes divergem do pensamento do filósofo Stuart Mill (1806-1873), que, na sua ética utilitarista, defendia que as ações humanas visam o coletivo em detrimento do pessoal.
Essas profissionais já vivem com problemas diários em épocas comuns. Fazem, geralmen-te, um longo e atribulado trajeto de casa para o trabalho – e vice-versa –, pois muitas saem da zona periférica em direção aos bairros nobres das metrópoles, acordando às cinco da manhã e retornando às oito da noite para suas casas. Caso tenham filhos, enfrentam mais obstáculos. Segundo dados do IBGE, o Brasil ganhou mais de um milhão de mães solos só em 2017. Nesse montante, estão muitas dessas domésticas, arrimos de suas famílias. Convivem com a ausência de um companheiro para ajudar a cuidar dos filhos, com renda baixa e com tempo escasso para os cuidados com educação. De acordo com o SIS 2017, do IBGE, a pobreza é maior em famílias de mães solos, totalizando 57% do quadro geral. Desde o início desta pandemia, o perigo de contaminação soma-se a intempéries do dia a dia. O gesto de empatia do empregador, colocan-do-se no lugar dessa mãe de família, é fundamental diante de tantos problemas.
Não deve existir distinção de classe, principalmente em momentos como este, pois a do-ença não escolhe meio social ou financeiro – ela pode infectar qualquer um. Temos que pensar coletivamente, sempre enxergando o bem do outro como algo capaz, para que todas as pessoas possam viver, não sobreviver. Assim, não devemos visualizar a empregada doméstica como uma “faz tudo”, sem direitos ou respeito, mas, sim, valorizar seu espaço de trabalho, para que não continue entregando tudo e recebendo o mínimo.
Júlio Cesar Oliveira de Castro
32
Grupo de riscodefinido por classe
O ano de 2020 começou com uma sombra de um novo coronavírus – uma coisa perigosa, assustadora, porém, do outro lado do mundo. Vivemos nossas vidas, normalmente, até ele bater em nossa porta. Um “vírus chinês”, mas trazido para território nacional por pessoas de classe média alta que passam as férias na Europa. Isso não é o problema: a falta de res-ponsabilidade que é. Vendido por políticos como uma “gripezinha” que poderiam tratar em qualquer hospital particular da cidade, os privilegiados do país aproveitam a quarentena para meditar e espalhar a positividade [muito bom!]. Com certeza, isso tem seu valor, em tempos tão obscuros. Mas a responsabilidade social de liberar a empregada doméstica, por exemplo, e continuar fornecendo seu salário? Muitas vezes, essa profissional que organiza a vida de pessoas de classe média e alta é esquecida por quem não abre mão de um conforto. Um con-forto assassino.
O tratamento que empregadas domésticas sofrem beira a falta de humanidade. Elas não têm que arriscar sua saúde – e a de todos a sua volta – para manter um capricho de pessoas mal acostumadas. Já ouvi quem dissesse que a empregada estava fazendo quarentena na casa da patroa; mas como ficarão suas famílias sem elas? Fazer isolamento já é algo estressante – no seu local de trabalho e longe de tudo com que você tem intimidade, então, pior ainda. Enquan-to a patroa, se contrair a Covid-19, tem condições de receber o melhor tratamento possível, a trabalhadora contrai o vírus no Leblon, por exemplo – como Cleonice, de 63 anos, que fale-ceu em março – para morrer em Miguel Pereira. A questão é maior que direitos trabalhistas - trata-se da vida de pessoas – e, ainda assim, estes que foram conquistados apenas em 2015.
A responsabilidade dos patrões pode não ser simples, mas é bem definida. Prezar pela vida do próximo, de alguém que o ajuda diariamente, não deveria ser um fardo. É preciso informar, de maneira clara, a gravidade da situação. Depois de pronunciamentos irresponsá-veis - como os de Jair Bolsonaro, presidente do país, sempre menosprezando a situação de pandemia - a Zona Sul do Rio de Janeiro pode continuar em isolamento, mas lugares mais afastados já veem a vida normal voltando. O que fazer? Dar álcool gel que compraram em excesso, compartilhar informações básicas da OMS, continuar pagando os salários dos fun-cionários domésticos. Em tempos como este, a empatia é essencial – sem ela, nossa sociedade não vai conseguir passar por isso sem sequelas enormes. Afinal, quanto às domésticas, “elas são quase da família”, não?
Luísa Reis
33
Quarentena: direito ou obrigação?
O novo coronavírus se alastrou pelo mundo numa velocidade impressionante. Lembro--me, ainda, das primeiras informações da doença Covid-19 vindas da China nos últimos dias de 2019. Escrevo esse texto no conhecido “Dia da Mentira” – 1º de abril de 2020 -, mas nos deparamos com dados verídicos e preocupantes de uma pandemia que já infectou, até aqui, mais de 800 mil pessoas e matou mais de 40 mil pelo mundo, segundo boletim da Organiza-ção Mundial da Saúde.
No Brasil, os números são de quase seis mil infectados e mais de 200 mortos pelo vírus, conforme divulgação do Ministério da Saúde. Tudo isso mostra não se tratar de “uma gripe-zinha” – nas palavras do nosso Presidente. O isolamento social é a melhor forma de conter a propagação do vírus na sociedade, porém essa prática deve deixar o status de obrigação para se tornar um direito a todos os brasileiros, sem distinção de classe social. Entretanto, encontramos trabalhadores à margem de toda essa situação como, por exemplo, as empregadas domésticas.
Ilustro o drama dessas mulheres com uma situação que ouvi há poucos dias. Uma advoga-da próxima foi questionada por um cliente de como deveria proceder em relação à senhora que trabalha em sua casa: o salário deveria ser mantido e ela ter o direito à quarentena em sua pró-pria residência? Como sugestão, foi orientado que ambas as situações deveriam ser mantidas, demonstrando a sintonia de pensamento da jurista em texto da ativista e escritora Preta Rara, na Folha de São Paulo (25/03/2020), também defensora dessa proposta. Em relação a isso, a ra-pper, inclusive, sugere uma reflexão aos patrões: caso estivessem na situação dessas domésticas, achariam justas as relações de trabalho impostas?
Vivemos, nesse momento, um regime de exceção, quando o bom senso deve nortear nossas atitudes e a empatia ser o nosso antídoto às situações de sofrimento dos abandonados. As doa-ções de insumos variados são de suma importância, mas, além disso, para essas trabalhadoras – em situação de vulnerabilidade junto à sua comunidade –, a certeza de manutenção de seu emprego e salário durante esse ‘tempo de guerra’, de certa forma tranquiliza e serve de alento para enfrentarem as desafios diários. Num período de dificuldade coletiva, o sentimento de res-ponsabilidade social deve aflorar em cada um, uma vez que sempre haverá uma pessoa passando por mais dificuldades do que nós.
Lucas Maciel
34
As dificuldades trabalhistasno século da pandemia
O coronavírus chegou ao Brasil, em março de 2020, com muita intensidade: no final desse mês já existiam relatos de casos da pandemia nos eixos Rio-São Paulo-Minas. Entre os dias 13 e 14 de abril, houve um total de 197 mortes só nas capitais dos dois estados men-cionados. O horror não parece que vai terminar antes de agosto. As famílias estão em suas casas — ou deveriam estar — de quarentena, saindo apenas em casos emergenciais; porém, será que são todas as famílias que podem ficar em casa independentemente de seus trabalhos? A resposta é não.
De acordo com o portal de notícias G1 (g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/21/empregadas-domesticas-tentam-negociar-isolamento-social-e-salario-durante-quarentena--em-sp.ghtml), em 21/04/2020, relatos de empregadas domésticas que tentam negociar seus salários durante a quarentena se tornaram fonte de crítica construtiva, não apenas política, envolvendo o salário dessa categoria social no país; mas também social, girando em torno da falta de empatia de determinados patrões que sugerem fortemente que suas empregadas vão trabalhar, pois, se não, serão demitidas. É absurdo e desrespeitoso ameaçar o trabalho de alguém durante uma pandemia, situação em que não se pode sair de casa. Além de perder o emprego, a pessoa perderia a possibilidade de ao menos poder tentar um outro trabalho por conta do vírus.
Segundo o artigo quinto da Constituição Federal de 1988, todos os seres humanos, de maior renda financeira ou menor, são iguais perante os direitos legislativos. Se um trabalhador rico que pode se sustentar tem como ficar em sua residência durante o período da COVID19, qualquer outro tipo de trabalhador também deveria ter esse direito. Todos nós, humanos, so-mos iguais e temos nossos deveres e direitos. É injusto obrigar alguém a ir trabalhar com o risco de ser infectado pelo vírus ao sair nas ruas, ou ao entrar em um transporte como ônibus e metrô sempre com aglomerações.
Falta, para algumas pessoas, o poder da empatia - saber se colocar no lugar do outro - , e a ação de se perguntar: se eu posso ficar em casa, por que o outro cidadão que tem menos dinheiro que eu tem que sair? Seria isso justo? O correto a se fazer é deixar seus empregados descansarem em suas respectivas casas, prevenindo-se do vírus, assim como todos devem fazer, e receberem seus salários conforme as possibilidades dos empregadores.
Lucas Mourão
35
O mundo todo sente saudade
Estar só não era uma questão para Ana. Cultivar laços nunca foi uma preocupação para a jovem mulher. Ela via nas relações um pretexto para a tristeza, uma vez que a finitude é fato para todo o amor construído - seja pela morte ou pelo afastamento. Sua melhor amiga era a Solidão, de cuja lealdade não duvidava: sabia que, em seu leito de morte, o último abraço se-ria da companheira quando a cena terminasse. Por isso, quando ouviu as recomendações para “nenhum contato físico”, para “isolamento social”, tudo por “tempo indeterminado”, não se assustou. Não se abateu ainda que o contexto fosse de uma pandemia desconhecida, mesmo no “avançado” século XXI.
Não sentia as intensidades que o planeta em pausa sentia e não sabia que tais eferves-cências da alma davam à situação uma razão para ser vivida: no final haveria o reencontro. Os namorados poderiam beijar-se; as crianças, brincar de pique-pega; os professores, ver o olhar confuso do aluno e apaziguá-lo. O mundo todo sentia saudade, porém tal angústia vinha acompanhada da esperança de seu fim.
Entretanto, esse privilégio da saudade não acometia Ana. Um dia, no meio do seu silên-cio, ouviu batidas à sua porta. Ana, surpresa, atendeu e sua casa foi invadida por uma senhora de cabelos brancos, que entrou ali como se lá morasse.
Laura, sua vizinha, era uma senhora que não suportava a solidão que enfrentava, bus-cando conexões nos lugares mais inesperados: em filas de mercado, em bancos de praça e em gerências de banco. Ana era como um ímã para a vizinha. Quando a via, aproximava-se por qualquer pretexto. Esperta, Ana aprendeu a esconder-se dela no corredor entre suas queridas sombras. Agora, ela estava a sua frente, sem possibilidade de fuga.
“Posso entrar, minha filha?”“A senhora não deveria estar em casa?”“Não aguento mais ficar em casa, minha filha. Preciso ver gente, preciso sentir. Tenho
saudade do padeiro, dos pombos da praça, da prateleira do mercado. Você não está nervosa com isso, não?”
“Não. Aproveito para trabalhar, que era o que ia fazer agora.” “Credo, minha filha. O dia em que me aposentei foi o melhor da minha vida. Queria ficar
em casa com quem eu amo, sabe? Meu marido e as fotos dos meus filhos.” “Eu gosto. Por que não aproveita para conversar com seus filhos?” “Meus filhos já fazem isolamento social de mim há uns vinte anos. Depois disso, minha
filha, a gente trabalha com o que tem. E sua mãe, cadê?” “Minha mãe morreu, dona Laura, minha avó que me criou.” “Caramba, minha filha! E seu pai?” “Que pai?”
Lucas Peçanha Muniz
36
Laura sentia a perplexidade de, em cinco minutos, saber mais da vida da mulher do que soube em cinco anos de vizinhança de porta. Ana sentia a perplexidade de, em cinco minutos, ter falado mais da própria vida do que tinha se permitido em vinte e cinco anos.
“E sua avó, minha filha?” “Ah, morreu também tem uns anos. Sou só eu.” “Dá saudade, minha filha?” “Não penso muito nisso.” “Deveria. Eu penso toda hora no Elias, meu falecido. E nos meus filhos imprestáveis
que, na primeira oportunidade, foram embora. Acho que eu tenho saudade demais, minha fi-lha, por isso que eu vim aqui. Preciso dá-la para alguém, mas meus filhos só aparecem para falar que sou grupo de risco, que não posso isso e não posso aquilo.”
“Eles estão certos, dona Laura. Depois a senhora arranja um jeito de se livrar dessa sau-dade toda. Eu sei que, agora, tenho que trabalhar.”
“Tudo bem, minha filha. Não vou mais te atrapalhar, mas, antes, queria fazer uma coisa que não me deixam mais. Vai ser nosso segredo, combinado?”
“O quê? Quando percebeu, Ana já estava sendo envolvida em um abraço por Laura. E, de repen-
te, sentiu tudo de que fugia. Dentro de Ana, os namorados beijaram-se, as crianças brincaram de pique-pega, os professores sanaram o olhar de dúvida do aluno e sua avó abraçou-a uma última vez. E, com a morte precoce da amiga Solidão, Ana tornou-se parte do mundo, pois, naquela quarentena, o mundo todo sentiu saudade.
37
Todos têm o direito de se proteger
Em um país onde as desigualdades estão claras aos olhos de quem se permite enxergar,
em uma situação de pandemia e distância social, os privilégios são destacados. Grande parte da população que desfruta dessa condição, ao enfrentar uma crise como a do coronavírus, que nos assola desde fevereiro de 2020, sem prazo para terminar, não consegue enxergar o tama-nho do impacto que tem na vida das pessoas de baixa renda. Muitas empregadas domésticas, por exemplo – classe trabalhista bastante numerosa no Brasil, em 2019, por exemplo, foram registrados mais de seis milhões (“G1”, 06/01/2020) –, que optaram por isolamento social neste momento estão sendo demitidas ou descontadas de seus postos. Algumas, para manter o emprego, continuam enfrentando o transporte público e indo para as casas de seus patrões. No texto “Quem sempre esteve no lugar de cuidar” (“Folha de S. Paulo”, 25/03/2020). a ativista, rapper e escritora Preta Rara descreve bem como está sendo essa temporada de caos para os profissionais domésticos.
De acordo com Preta Rara, o isolamento social é um privilégio. Isso se dá pelo fato de que o “Home Office” não se adequa ao trabalho de - dentre diversos empregos - uma domés-tica, que, para exercer sua função, precisa ir ao local de trabalho.
Tal circunstância fez com que as pessoas passassem a demiti-las ou continuassem colo-cando-as em situações de risco ao enfrentar o transporte público e manter contato direto com seus patrões. Preta Rara destaca o fato de que a relação desumana do Brasil com as emprega-das domésticas não é somente de hoje; e isso se revela também com o fato de que as leis tra-balhistas para esse setor não foram se pensadas até 2015 - ano em que passaram a ter direitos como trabalhadoras. Dessa forma, o país sempre encarou tal profissão com desprezo, e isso se reflete na crise atual. Em sua página na internet (“Eu Empregada Doméstica), Preta Rara rece-beu o relato de uma doméstica, dizendo que seus empregadores queriam que ela trabalhasse para eles, mesmo estando infectados com o vírus Covid-19. Esse caso, que não é o único, exemplifica o egoísmo e o desprezo de uma classe mais alta sobre as outras: não se pensa no risco em que estão colocando tanto esse indivíduo, quanto a sociedade. A maioria dessas mu-lheres e das pessoas que as rodeiam não possuem plano de saúde, e, se essa epidemia no país se agravar, o SUS não terá leito para todos que necessitam - o que criaria uma crise grave no sistema de saúde, resultando em uma grande quantidade de mortes.
A liberação das domésticas revela-se extremamente importante neste momento delica-do. É importante destacar também que não basta simplesmente liberá-las para fazer a quaren-tena se há desconto no salário ou até suspensa dele, pois sem tal remuneração não há como o indivíduo garantir suas necessidades essenciais à vida. Portanto, neste período, é necessária a prática de empatia e suporte aos que não têm condição nem privilégio de passar por essa quarentena de forma “tranquila”. Todos devem ter o direito de se proteger e contribuir com o fim dessa crise.
Lu Guimarães
38
Incertezas Imediatas
Inúmeras estão sendo as mudanças “impostas” à sociedade em nosso cotidiano, fortemente impac-tado por algo nunca esperado anteriormente. Particularmente, a vida de grande parte das mais de seis milhões de empregadas domésticas, no Brasil, já muito difícil, mudou radicalmente desde março de 2020.
A chegada do novo coronavírus ao mundo — e, posteriormente, ao nosso país; particularmente, à cidade do Rio de Janeiro — impôs medidas de isolamento e cautela face à ameaça de difusão rápida e mortal da Covid-19. Com isso, por aqui, aquelas que, constantemente, dão suas vidas trabalhando para garantir o sustento básico de grandes famílias se viram em um dilema trágico.
As mencionadas profissionais têm se colocado, muitas das vezes, em risco. Isso porque uma grande parcela das famílias, para as quais prestam seus serviços, optaram por não lhes dar férias antecipadas, deixando-as passar esse período de quarentena em suas casas. Tal fato soa um tanto egoísta e apresenta falta de empatia para com o próximo.
Relatos de domésticas, encontrados em diversos veículos de informação — telejornais, textos em periódicos impressos, mensagens em redes sociais —, têm aparecido e chocado bastante os leitores, tendo em vista que muitas contam estarem sendo submetidas a um trabalho em casas nas quais todos se encontram infectados. Dessa maneira, as prestadoras de serviço apresentam uma grande chance de contrair o vírus e espalhá-lo para suas próprias famílias. Assim, um cenário ainda pior se instauraria, pois o vírus possui a capacidade de se espalhar muito rapidamente.
Pode-se apontar o caso ocorrido no dia 17 de março de 2020, no município de Miguel Pereira (RJ): uma empregada doméstica — Cleonice Gonçalves, de 63 anos —, faleceu por conta da Covid-19. Con-forme divulgado pela Secretaria de Saúde daquele município, a contratada teve contato direto com sua patroa, recém-chegada de uma viagem de carnaval à Itália e diagnosticada com o novo vírus.
Como seria possível amenizar tal conjuntura? Com a chegada próxima da lotação máxima dos hospitais, que já atingem mais de 80% de sua capacidade — dados do G1.com, abril de 2020 —, e o alto risco de contaminação, medidas rápidas e efetivas são consideradas as mais corretas a serem aplicadas. De certo modo, o primeiro passo seria conscientizar cada vez mais os patrões, com o intuito de fazê-los perceber que, deixando as suas funcionárias em casa, não estariam preservando somente a saúde delas; mas, sim, a de todos que possam ter contato com essas profissionais, inclusive as próprias famílias.
Diante do contexto do avanço do coronavírus no país e do alto risco de contaminação de traba-lhadoras domésticas, o Ministério Público do Trabalho (MPT), segundo o site “Valor Econômico” (18/03/2020), decidiu emitir uma nota com algumas orientações sobre o cuidado com essas profis-sionais. A saber: não sendo possível a dispensa da empregada, recomenda-se fornecer instrumentos básicos às profissionais, incluindo luvas, máscaras e óculos de proteção, além do uso de álcool em gel 70%; bem como assegurar a remuneração no período em que vigorarem as medidas de contenção da pandemia. Segundo a nota, “A exceção valeria para casos em que a prestação dos serviços for absolu-tamente indispensável como o cuidado a idosos que residem sozinhos e a pessoas que necessitem de acompanhamento permanente”.
Sem dúvida, um dos maiores impasses de tais prestadoras de serviço é o fato de não poderem simplesmente deixar seus trabalhos e ir para as suas casas, já que dependem única e exclusivamente deles e um caso de demissão seria terrível para suas vidas. Espera-se que, com o apoio do MPT e a conscientização dos patrões, as incertezas imediatas que estamos vivendo se transformem em decisões mais justas e igualitárias para a sociedade.
Maria Carolina Insua
39
Evitando desgastar a mente
A neuropsicóloga Sharon Simon, doutora em Ciências (USP) e pesquisadora (Universidade Columbia - EUA), propõe - em “Como estimular a mente em tempos de pandemia?” (“Folha de S. Paulo”, 25/03/2020) - explicações eficazes para auxiliar as pessoas a lidarem melhor com a situação atípica que se alastrou no país a partir de março de 2020. A primeira ideia é exerci-tar a mente para conseguir enfrentar o isolamento, visto que este provoca inúmeros desgastes psicológicos. Entretanto, também é considerado uma excelente oportunidade ao aprendizado, pois pode-se exercer a criatividade, aproveitando prazeres que talvez nunca tivessem sido expe-rimentados por falta de tempo.
Segundo Sharon, para apoiar o estímulo à mente, aumentando a capacidade de encarar os desafios, o primeiro passo seria organizar o tempo e o espaço, já que o confinamento muda a percepção de tempo-espaço - perdemos pontos da rotina. Com isso, o cérebro se reajusta ao “novo normal”, tendo estratégias de organização como aliadas, pois, sob adrenalina, é mais fácil se organizar interiormente. Ao criar uma concreta estruturação, por meio de calendários, cria-se uma organização mental e aumenta-se o senso de previsibilidade, além de uma maior eficiência e motivação para seguir.
Além disso, aponta-se a necessidade de aprender coisas novas com o intuito de aumentar a capacidade de adaptação do cérebro, visto que tal situação nos obriga a sair da zona de conforto - algo fundamental para que essa ruptura seja aproveitada -, desenvolvendo habilidades inova-doras. Paralelamente, Simon sustenta que aprender alguma coisa nova é uma incrível forma de dirigir a atenção a algo significativo, distraindo o espírito da ansiedade. O benefício cognitivo se atrela a atividades de lazer, como a leitura, a prática de instrumentos ou até mesmo visitas a mu-seus virtuais, potencializando nossa capacidade de aprendizado, raciocínio lógico e memória.
Devemos cuidar do nosso “cérebro emocional” com a prática da meditação, o que traz equi-líbrio à mente. Deve-se, acima de tudo, focar nas emoções, exercitando empatia, ao perceber que a Covid-19, embora tenha trazido mudanças inesperadas, foi capaz de mostrar que devemos nos preocupar totalmente com o próximo para sobrevivermos. Em tempos como esse, estimular a melhor versão de si mesmo é fundamental.
Maria Carolina Insua
40
Um telefonemana quarentena
Aconteceu uma situação um tanto quanto curiosa ontem. O meu telefone residencial to-cou e, para a minha surpresa, quem estava na linha era a dona Ju, uma pessoa que eu tenho muita honra em ter junto a mim há duas décadas. A Ju trabalha na minha casa como empre-gada doméstica, mas eu a considero como avó. Ela me viu nascer e sempre se dedicou ao máximo para fazer a minha família feliz. Ela, sem dúvida, é o coração da minha casa.
A Juraci está de férias agora. Os demais funcionários que nos ajudam, também. E o teor da conversa foi justamente esse: ela ligou para perguntar se poderia voltar a trabalhar. Em meio a essa pandemia que nos atirou em um abismo sem paraquedas, a Juraci propôs retornar à sua rotina, que inclui sair à rua, enfrentar o transporte público, se expor ao novo coronavírus.
Recusamos a solicitação da dona Ju, claro. Pedimos que ela continuasse seguindo a qua-rentena junto de sua família, respeitando sua saúde. Os meus pais já haviam combinado com os funcionários que, se a situação não fosse controlada durante os 30 dias de férias – e, prova-velmente, não será –, todos continuarão recebendo seus salários da mesma maneira. Voltamos a mencionar isso no telefonema para tranquilizá-la. Nós nos despedimos e ela desligou. A conversa acabou, mas a reflexão, não.
Como uma pessoa que pertence ao grupo de risco pede para voltar a trabalhar no atual cenário? A resposta é óbvia e explícita, só precisa de um pouco de alteridade e empatia para aparecer: empregadas domésticas, como a Juraci, têm medo. Medo do desemprego, da fome, de todas as mazelas que tiveram que enfrentar durante a vida. Elas temem a Covid-19 tam-bém, mas a vida difícil que sempre levaram as assusta mais do que qualquer vírus.
A relação empregatícia envolvendo as auxiliares domésticas foi construída com descui-do, descaso e falta de respeito a elas. Além de ser muito antiga, oriunda dos tempos de “casa grande” e “senzala”, não se encontra em sucessivos governos, até hoje, um apoio significativo para essas trabalhadoras. O coronavírus tem sido péssimo em diversos aspectos, mas, pelo menos, nos deu a oportunidade de reavaliarmos nossas próprias condutas e a chance de po-dermos cuidar de quem nos ajuda diariamente.
Maria Clara Durante
41
Mentirinha?
Na varanda de seu apartamento, Laura e sua família celebravam o Réveillon, mais promes-sas que jamais serão cumpridas e a esperança de que 2020 seria o ano de sua vida.
Pneumonia. Foi assim que começou sua época favorita, o Carnaval carioca, mas nada im-pediu a menina de ir à festas, bares e blocos. Lá para o fim, sentia-se mal, falta de ar, febre alta, fortes dores. Nenhum médico foi capaz de encontrar seu diagnóstico, no entanto todos tinham o mesmo receio: Covid-19. Contudo, para entender a história de Laura Brandão e sua enfermida-de, é preciso voltar no tempo para, assim, entendermos a origem deste vírus.
Wuhan, China. Alguns ousam dizer que os chineses são pessoas aculturadas, que ferem os direitos humanos e animais, mas o fato de se ter pensamentos divergentes não é motivo de julga-mento. Em uma feira “comum” como essas que vemos nas ruas, um senhor, que chamaremos de Yinhao, decidiu comprar morcego para degustá-lo em uma sopa. E, então, deu-se início da Co-vid-19, doença respiratória grave.
E voltamos à nossa história. Laura via nos jornais que a Itália estava tomada pelo vírus, que os Estados Unidos estavam em estado de alerta e que São Paulo havia seu primeiro caso. Um susto. Na noite de 28 de fevereiro, último dia de férias e de folia, sentia fortes dores no peito, como se puxasse o ar e nada passava. Era sua terceira vez indo à emergência com sua mãe, e nada fizeram, pois não conseguiam diagnosticá-la corretamente. Um infectologista renomado no Rio de Janeiro seria a possível solução. Exames atrás de exames e sua segunda consulta ao médico traria respostas a sua dúvida. Todavia, mais uma decepção, ela melhorou da doença an-tes mesmo que pudessem dar um veredicto final.
Quarentena. Após três dias na faculdade, foi decretada a suspensão das aulas em todas as redes de ensino e o tédio imperou sobre a sociedade. O mundo inteiro estava em quarentena, todos trabalhavam de casa e assim seria até que se ache uma solução plausível. Pandemia. O que era “apenas” uma epidemia para a garota foi renomeado a pandemia. Agora sim era motivo de surto mundial. Escassez de alimentos e principalmente de produtos antissépticos. Laura sa-bia que tinha contraído o vírus, assim como todos os médicos que a consultaram. Imune. O tal infectologista em parceria com outros médicos chegou à conclusão de que era imune, porém era vetor também: não ficaria doente novamente, mas poderia transmitir o vírus.
Três semanas de quarentena e contando. Primeiro dia de discurso do Presidente da Repú-blica. “Gripezinha”, “fantasia”. Seria esse o pronunciamento de um Presidente perante uma pandemia? Logicamente, a família Brandão se revoltou, mas não era o momento para isso, todos sabemos. Segundo dia de discurso. “Maior desafio da nossa geração”. Agora sim algo plausível sendo dito. Primeiro de abril, 19º dia de isolamento social. Quem dera isso não pas-sasse de uma mentirinha.
Maria Eduarda Nicolau
42
Um precisa do outro
Pouco se dá valor aos empregados domésticos, desde a faxineira, a cozinheira ao moço que limpa a piscina ou o jardim. Ademais, muitas famílias, às vezes, não se dão conta de que tudo está organizado em sua casa, como está, porque alguém passou o dia todo limpando com o maior cuidado e dedicação. Assim, neste tempo de pandemia, devemos abrir nossos corações e ter noção de que, além de empregado(a), a pessoa também é um ser humano igual a todos os outros e uma profissional necessária na vida de muitos.
Percebe-se que, desde que tomou o mundo de assalto, em dezembro de 2019, a Covid-19 está trazendo muita preocupação para as pessoas. Essa é uma ótima hora para pararmos e refle-tirmos sobre a importância daqueles que se fazem presentes no nosso dia a dia. Logo, perce-bemos que os empregados domésticos são, muitas vezes, os mais importantes na organização de nossa rotina, e também os mais desvalorizados, infelizmente. Além de receberem um salário injusto e não gozarem dos direitos trabalhistas necessários perante o governo – apesar da legis-lação envolvendo a categoria, vigente desde 2015 –, não recebem o valor básico de seus patrões, em termos de respeito profissional.
Os patrões devem tratar seus empregados com justiça social, no momento dessa pandemia. O melhor a se fazer é se prevenir, ficar isolado, entrando em contato com o menor número de pessoas possível.
Logo, não se deve fazer com que os funcionários domésticos trabalhem neste momento no qual suas próprias famílias necessitam de sua presença em suas casas. Os filhos desses domésti-cos não estão podendo ir para a escola, creches e demais estabelecimentos, fazendo, assim, com que precisem de alguém para tomar conta deles.
Este é o momento certo para dispensar os empregados; porém, não se deve demiti-los e nem chantageá-los para que fiquem em troca de aumento salarial. Pode-se, por exemplo, adiantar suas férias, solução boa para ambas as partes. Os empregados domésticos precisam tanto de seus patrões quanto eles necessitam dos funcionários. Não se pode deixar que esse surto mun-dial acabe com um relacionamento patrão-funcionário; ao contrário, deve-se aproveitar a quaren-tena para construir uma relação melhor entre ambas as partes.
Maria Fernanda Anacleto
43
O Caminho
Francisco voltava para casa com seus passos tímidos de forma mecanizada, já que aquele caminho era sua rotina anual. A primeira vez que percorreu esse caminho estava lotado, ao seu lado todos estavam de luto compartilhando o sentimento de perda.
Primeiro foi seu menino, vítima de um acidente nebuloso que destroçou o coração da famí-lia. Elione, a esposa, ao contar para seus patrões do terrível acontecimento, esperando de certa forma um ato de compaixão, recebeu olhares críticos e foi liberada por apenas um dia para ir ao enterro de seu filho.
“Negro, mora na favela e anda com aqueles pivetes esperava o quê? Outra coisa que não fosse bala perdida não era né?” ouviu Elione quando estava se arrumando para voltar para casa.
“Eles estão certos” pensou. Deveria ter cuidado melhor de seu amado, ter prestado atenção com quem ele andava. Pelo menos foi uma vítima do tráfico de drogas e de seus conflitos, mas nunca participou dele. Depois, enquanto os três — Francisco, Elione e sua caçula Lúcia Maria — voltavam do cemitério, ouviram burburinhos de que um traficante de quinze anos foi morto por bala perdida e seu nome era Lucas.
Foi no ano seguinte, que agora só o casal fazia o caminho para o mesmo local silencioso. Agora era para Lucia Maria que iriam prestar luto. Aos treze anos engravidou, e sabendo que não poderia manter o bebê, usou o cabide como solução. O resultado disso foi uma hemorragia interna. Assim, Elione pediu novamente um dia de folga e seu patrões, a fim de apoiá-la, lhe disseram que tudo isso poderia ser evitado, bastava não transar.
Desse modo, Elione enquanto voltava para casa, segurando as lágrimas, pensou que tudo aquilo era sua culpa. Sua culpa por não mandar a menina se portar de forma correta, pois se ela se comportasse como menina de sua idade, os meninos mais velhos não teriam interesse em uma criança. No caminho de volta do cemitério, os dois pais órfãos de filhos ouviram comentários de uma menina de treze anos, avançada demais para a sua idade, morreu tentando assassinar um feto e sua morte não passava de um castigo de Deus.
Agora, só restava Francisco. Os patrões de sua mulher pediram para ela trabalhar mais, pois tinham acabado de voltar de viagem e estavam se sentindo doentes demais para deixar a casa arrumada. Elione não poderia negar, o dinheiro estava em falta, até porque seu marido tinha sido demitido do restaurante em que trabalhava, pois tinha fechado para o público.
Entretanto, foi no final de semana que Elione morreu na fila do SUS. O laudo de insuficiên-cia respiratória foi dado. Francisco foi falar com os patrões de sua esposa, mas eles não aceita-vam mais visitas, estavam infectados com o novo vírus e Francisco poderia trazer doenças que poderia piorar a situação dos dois jovens.
Voltando para a casa sozinho, ouviu uma notícia de que um famoso empresário tinha morrido devido ao vírus que gerou a pandemia, e o Brasil estava de luto por ele. Dias depois, em um jornal local, apareceu uma notícia que um homem tinha morrido no meio da rua, atra-palhando o tráfego.
Fernanda Firpo
44
Não reclamo
Acordar às cinco horas. Fazer o café. Acordar as crianças. Começar o batente. Esta é minha vida há mais de 10 anos em que trabalho como empregada doméstica. Pego um trem, metrô e um ônibus para chegar ao meu serviço no Leblon. Não reclamo muito, não, porque meus patrões são muito bons comigo: pagam tudo certinho, me dão férias e têm a filha mais carinhosa do mundo. Cuido mais daquela menina do que dos meus próprios filhos, tenho três. Eu lavo, limpo, passo, cozinho e ainda brinco um pouco com a menina, às vezes trabalho até final de semana, lógico, com hora extra que tanto preciso.
Essa história de coronavírus eu achava que estavam exagerando, então, continuei normal-mente minha rotina, minha patroa não falou nada. Até que meus patrões fizeram uma viagem para a Itália. Achei ótimo, porque ganhei uns dias de folga, mas, quando voltaram, os dois se sentiram mal, com febre e tosse. Contraíram essa nova doença e precisavam de mim mais do que nunca; e me pagaram 100 reais a mais para ficar; e, como preciso do dinheiro, não reclamei. Fiquei lá, trabalhando de luvas e máscara - eles não usavam não, só eu – e, como sempre, con-tinuei calada.
Agora estou aqui no hospital, sou diabética e por isso tive algumas complicações, porque estou com a covid-19. Minha mãe também pegou a doença e faleceu ontem à noite, não pude nem dar tchau. Os médicos disseram que, a partir do momento em que meus patrões voltaram da Itália, eu não deveria mais ter ido trabalhar por causa do risco da doença, mas tenho medo de perder o emprego e por isso não reclamei. Nós, empregadas domésticas, não temos voz em situações como essa. Precisamos tanto do emprego que arriscamos vidas e, agora, eu sinto na pele o preço que se paga; mas, com tudo isso, continuei não reclamando.
Maria Julia Lobianco
45
O que esperar?
O novo coronavírus, causador da Covid-19, chegou ao Brasil, em março de 2020, e, com ele, veio a mudança de hábitos gerada com a implementação da quarentena, principal medida para se tentar frear a disseminação do vírus.
Ao solo nacional, o vírus chegou através de viajantes oriundos de países que já sofriam com essa pandemia, principalmente os vindos da Itália. A primeira vítima no Rio de Janeiro foi Cleonice, 63 anos, moradora de Miguel Pereira, que era empregada doméstica e morreu no dia 17 de março com suspeita de ter contraído o novo vírus de sua patroa que se encontrava em isolamento por estar contaminada, mas não a dispensou.
A atriz Isis Valverde, ao pedir por vídeo, em uma rede social, que seus seguidores ficas-sem em casa, acabou mostrando, ao fundo, sua empregada, lavando a louça. Este vídeo gerou muitos comentários negativos, rebatidos por ela, dizendo que sua empregada era da família, por isso estava lá. Na verdade, essa declaração só reforça a fala da rapper, escritora e ativista Preta Rara — no texto “Quem sempre esteve no lugar de cuidar” (“Folha de S. Paulo”, 25/03/2020) — sobre o ranço colonial que ainda é alimentado por muitos, em nosso país, ao considerar que os empregados domésticos são propriedade das famílias que os contratam.
Nos dois casos enfocados, observamos o descaso com as funcionárias que, mesmo diante de todo o risco, tiveram que continuar trabalhando para manter o seu sustento e de seus fa-miliares. Infelizmente elas não tiveram o poder de escolher e tiveram que se arriscar por suas famílias. Cleonice pagou com a própria vida o descaso de sua patroa; a empregada de Valverde esperamos que tenha melhor sorte.
Vivemos em uma sociedade desigual, onde uma minoria é privilegiada e retém todos os direitos disponíveis, enquanto a massa é esquecida. Acabar com a desigualdade é um pro-cesso longo e gradual, porém era de se esperar que, durante esse período difícil, houvesse uma união da sociedade, uma onda de empatia e cuidado com o próximo. Casos como esses mostram o contrário dessa expectativa e a dura realidade destes profissionais: não importa o cenário, pois terão sempre que lutar por conta própria para sobreviver.
Maria Mariana Braga
46
Assunto muito controverso
A questão da empregada doméstica gera muita reflexão durante o período da quarentena, iniciada no Brasil, por conta da pandemia da Covid-19, em março de 2020. Enquanto muitos patrões dizem que necessitam dos empregados e não os liberam, há outros que defendem a libe-ração desses profissionais sem prejuízo do salário. Neste momento, a questão não é a necessida-de de se ter alguém para realizar suas tarefas domésticas, é preservar a saúde de todos - , pois a vida das empregadas domésticas não vale menos que a dos patrões.
Primeiramente, é preciso entender que, se continuarem mantendo o trabalho delas durante esse período, os dois lados podem sair prejudicados. Para a funcionária chegar até a casa onde trabalha, ela precisa pegar transporte público — trens, ônibus, metrô, veículos de grande circu-lação de pessoas —, com possibilidade grande de pegar e disseminar o vírus, já que passa um longo período de tempo em tais locais. Quando chega à casa dos empregadores, por mais que ela se higienize corretamente, não há como garantir, com toda certeza, que estará completamente livre do vírus. Ou seja, a própria empregada pode ser contaminada e passar para seus familiares e também para os indivíduos do seu emprego, que, por sua vez, podem passar para outras pes-soas, o que se tornará uma disseminação fora do controle.
Além disso, o isolamento social é algo que está sendo requisitado a todos os cidadãos em escala global. Com isso, não há motivo para mantê-las fora de suas casas, pois o vírus não escolhe a pessoa baseado em qualquer justificativa: o novo coronavírus está provocando uma pandemia que atinge a todos. Para o patrão considerar que não há perigo no ato de a doméstica ir trabalhar enquanto ele não sai de casa e trabalha tranquilo em seu home office, significa que ele acha que a vida dela vale menos que a dele.
Em suma, é preciso uma colaboração por parte da população como um todo para que o má-ximo possível de pessoas fique em casa, para que não haja uma rápida disseminação do vírus, pois há outras pessoas - como médicos - que precisam estar nas ruas. Portanto, é necessário que todos que ainda contam com a ajuda das empregadas domésticas as liberem, para que possamos harmonizar, o mais rápido possível, todo esse caos.
Marina A. Mann
47
Ranço colonial
“Ainda vivemos sob o ranço colonial de achar que a trabalhadora doméstica é propriedade da família que a contratou. Assim, ainda veremos o desfecho ruim daqui a dias, semana e meses, com domésticas contaminadas”. É assim que Preta Rara inicia seu texto “Quem sempre esteve no lugar de cuidar” (Folha de S. Paulo”, 25/03/2020). Com sua afiada visão sociológica e histó-rica, a rapper, ativista e escritora disserta sobre a questão das domésticas no Brasil pandêmico.
Tendo em vista que, no fim de 2019, o Brasil registrou um número recorde de trabalhadores domésticos – mais de seis milhões, segundo o site Doméstica Legal - é imperativo que o Gover-no tome medidas não somente sobre a renda básica emergencial de 600 reais — destinada aos trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família — ou 1200 para mães solteiras. Mas é igualmente necessário que cumpra as ordens de isolamento social e de higienização proposta pela Organização Mundial de Saúde - que garanta direitos básicos para a população, como o di-reito a água que está sendo usurpado das comunidades da Rocinha, Paraisópolis e tantas outras no Brasil — problema crônico que se torna mais urgente tendo em vista que alguns moradores passaram entre uma semana e um mês inteiro sem água em meio a uma pandemia global.
Situações como essa deixam claro não somente o desinteresse do Governo atual e das classes mais abastadas com a população menos favorecida do Brasil, como a necropolítica do Estado que determina um critério racial para definir o corpo “matável” – quem será deixado para morrer. Presente no governo de Witzel e ilustrado por sua frase ‘A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo’, esse raciocínio perdura nos Governos de Crivella e Bolsonaro com suas políticas públicas excludentes e violentas, e que se torna cada vez mais latente. A situação das domésticas é um excelente exemplo, por ser um grupo formado, em sua maioria, por mulheres, negras, com baixa escolaridade e sem carteira assinada mostra sua fragilidade.
Além disso é importante lembrar o impacto que teve a PEC das domésticas - cuja finalidade era estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais para o fim do Governo Dilma (2011-2016) e o golpe que se seguiria adiante, re-vestido de impeachment: a presidenta, ao assinar a proposta, perdia o último resquício de apoio da classe média e elite.
O Brasil tem suas bases misóginas, racistas e classistas, herdadas desde a época da escra-vidão, com cicatrizes até hoje. Nesse contexto, em seu livro “Eu empregada doméstica”, Preta Rara afirma que “A senzala moderna é o quartinho da empregada”. E de fato as domésticas nadam bravamente contra a maré cruel que assola o Brasil há anos, mas parece hoje piorar. A rapper encerra seu raciocínio, dizendo “Em época de pandemia, a empatia também será fun-damental para desacelerar o avanço do coronavírus”. Ela nos deixa o questionamento: “Você gostaria de ter a mesma relação de trabalho que tem com a sua trabalhadora doméstica?”
Marina Kersting Pereira
48
Crônica pandêmica
A professora nos pediu para escrever uma crônica. O tema? É complexo, mas basicamente, tínhamos que fazer um passeio virtual por nosso bairro e escrever algo a partir daí. Não que eu precisasse fazer um passeio pelo Google Street View para me lembrar de como é o meu bairro. Eu passei minha infância e minha adoles-cência por essas ruas. De cima para baixo, da natação ao inglês, e depois para a escola. Com alguns amigos no posto, depois da aula, numa sexta-feira quente, esperando mais outros para descer a rua e almoçar no shopping. Fumando cigarros com colegas de classe numa rua isolada, com medo de que a polícia, ou pior, um idoso mora-dor local nos surpreendesse. Ou. ainda, voltando bêbado, às cinco da manhã, da casa de minha vizinha, depois de uma boa jogatina de cartas sequência, de um sábado de praia. São tantas as memórias que já me sinto um velho só de tentar lembrar de todas. De algumas eu me arrependo; de outras tenho orgulho.
Pensando nisso, me vejo num longo corredor, repleto de porta-retratos, cada um contendo um momento es-pecial, feliz ou triste desse período brilhante. Andando numa esteira rolante – uma daquelas do aeroporto – por esse imenso corredor, apenas vejo as memórias nas molduras. Eu posso até tocá-las, mas sei que nunca poderei revivê-las. [ótimo!!!]
Analogamente, isolado em casa por conta de uma pandemia, entre grandes corredores repletos de porta-re-tratos, tudo o que posso fazer é relembrar como era antes. Como era poder tocar, me comunicar face a face com meus amigos, estar próximo deles, dessas memórias vivas. Apenas posso agora ver seus rostos, vislumbrá-los através de um pedaço de vidro, sentindo-me capaz tão somente de passar meus dedos por essa película de vidro que me separa de minha memórias. [lindo!]
Para completar a situação, além da pandemia reflexiva e nostálgica, a NASA acaba de divulgar um de seus descobrimentos mais indescritíveis: a possível existência de um universo paralelo. E, não, eles não descobriram o Brasil de Bolsonaro. Aparentemente, depois do Big Bang, dois universos invertidos foram gerados: o nosso e um outro. Um lugar onde – simplificando muito – as leis da física funcionam de forma inversa, mas tudo aconteceu como aqui, com processos históricos e derivados. Pergunto-me se lá as coisas foram diferentes, se tivemos escolha de fazê-las diferentes na História e nas nossas vidas também. Fico me questionando sobre os porta-retratos da humanidade de lá, se o Eu de lá também se encontra no mesmo estado que eu: arrependendo--se de algumas coisas de antes, querendo mudar sua pessoa do futuro. Eu assumo, sim, com essa frase, que há um antes e um depois disso que estamos vivendo. Imagino que esse longo corredor, o qual percorro em minha mente, tem, em seu fim, uma porta: uma porta para o futuro, para o depois. Um depois onde nossas memórias do antes estarão para sempre confinadas em porta-retratos antivirais, impossibilitando-nos de tocá-las.
Mas não pense você que isso aqui já se distancia de uma crônica. Crônicas tratam do dia-a-dia e é por isso que estou aqui: para falar sobre o dia-a-dia. Nesse sentido, me indago sobre o cotidiano do depois. Como será? Como iremos ao inglês, à natação? Como será fumar cigarros depois do isolamento? Como será esperar amigos no posto? Pode ser que seja tudo igual, que seja tudo mais do mesmo. Mas eu me recuso a olhar para frente sem olhar para trás e contestar as memórias do antes. Não me sinto bem vendo as desigualdades que aceitávamos antes: seja ao passar por um morador de rua e ignorá-lo, tomando-o como mais um objeto da rua, sem pensar na desigualdade que o produziu; ao ver mais um incêndio monumental nas nossas matas e apenas tomar aquilo como uma manchete, como se isso não fosse acabar com nossas praias daqui a vinte anos e criar mais vírus, ao acabar com a sua diversidade de hospedeiros; ao não valorizar a cultura, quando tudo o que temos confinados em casa é ela própria.
Pode ser apenas a fúria de um jovem inconformado, mas eu não quero atravessar a porta do futuro sem ao menos tentar consertar o passado. Não quero me arrepender de não ter tentado, de ter conseguido apenas mais uma memória em um porta-retrato.
Pedro Rodrigues
49
Pandemia
Ruas vazias. Números de mortos aos milhares nos jornais. Fotos de valas coletivas. Eu sou considerado serviço essencial. Cheguei à minha sala na delegacia e não lavei as mãos. Fui convocado pelo chefe. Na sala do delegado, uma mulher soluçava ao telefone no viva voz. O delegado me encarou com um cigarro na boca. Ele podia fumar ali.
- Quero você nessa. Vá na casa dela e resolva isso para mimEle falava por cima da voz chorosa e percebi que o telefone tocava uma gravação. Ele desligou a máquina
e olhou-me por cima dos óculos.- Não dá pra mandar algum PM? - perguntei. O delegado sorriu e ajeitou-se na cadeira antes de dizer:- É a “ex” do promotor. Mãe da filha dele. Mora no Leblon.Afirmei com a cabeça.Cheguei ao andar da mulher e percebi que era tudo branco. Doenças não deviam chegar ali.A porta estava encostada, e empurrei-a com o pé. Havia um corpo estirado na sala. Uma jovem de pele
preta, vestida de azul-bebê.- Até que enfim. - a voz da mulher, agora sem soluços, vinha do outro lado da sala. Com uma taça de vinho,
ela me encarava, sentada numa poltrona. - Não se aproxime.Entrei no apartamento, mas fiquei parado perto da porta.- O que houve com ela? - perguntei.Ela bebeu, calmamente, um gole da taça.- Morreu de doença.- Por que ela não estava num hospital?- Não tenho quem cuide da casa.- Quem se infectou primeiro?- Eu.- Isso é homicídio. Você é advogada. Você sabe.- São tempos difíceis. Você está na rua. Você sabe.- Ela tinha casa?- Tinha filhos.- Foram avisados?- Não sei quem são.Abaixei a cabeça, passei as mãos nos olhos e senti enxaqueca.- Você não vai ser presa. - eu afirmei, encarando-a.- Não vou. - concordou. - Não sei quem é essa. Não tem documentos, não assino sua carteira.Olhei em volta e respirei fundo.- Vou mandar alguém vir limpar isso. - eu disse. Ela assentiu.- Não demore. Receberei visitas, e a agência já vai mandar outra.- Certo. - concordei. Senti sede daquele vinho.Saí do prédio e, ao entrar no carro, obedeci às ordens da mulher. Liguei para a limpeza e pedi para não
demorarem. Senti uma coceira no peito e tossi. Abri a janela do carro e escarrei no asfalto.
Pedro Rodrigues
50
Quando o lugar do outro frequenta o nosso lugar
O trabalho doméstico no Brasil é muito comum desde o período da escravidão e tornou-se, com o decorrer dos anos, imprescindível para o auxílio de inúmeros lares da nossa população. Importante mencionar, que os direitos da classe doméstica passaram a ser reconhecidos desde 2013, com a chamada PEC das Domésticas, a qual ampliava a maioria dos direitos trabalhistas à categoria de profissionais como empregadas, babás, motoristas, caseiros, entre outros. Esses direitos são listados atualmente no artigo 7º da Constituição Federal. Tendo em vista a pande-mia do novo coronavírus que estamos vivendo, desde fevereiro de 2020, a interação com outras pessoas, que podem ter tido contato com infectados, pode ser prejudicial à saúde de todos. A covid-19 pode, em muitos casos, ser fatal. Então, o emprego doméstico vem sofrendo alterações todos os dias, que estão afetando as famílias e a vida financeira desses trabalhadores, com tudo ficando ainda mais difícil.
Como na relação de trabalho doméstico o contato é direto, afinal a prestação de serviço acontece na casa do empregador, as chances de contaminação de ambas as partes é alta. Por isso, alguns patrões estão optando por manterem seus empregados em quarentena também, mas nas casas dos empregadores, para que possam continuar realizando seus serviços e seguirem sendo remunerados. Dessa maneira, ficam afastados de seus familiares e dos perigos do trans-porte público. Porém, isso pode ser extremamente perigoso. Devemos tomar como exemplo a trabalhadora doméstica que morreu – em março de 2020 – após contrair o vírus de sua patroa, contaminada após voltar de uma viagem à Itália, no estado do Rio de Janeiro.
A rapper, escritora e ativista Preta Rara, em texto da “Folha de São Paulo” (25/03/2020), mostra-nos o ponto de vista dessas mulheres, que estão sofrendo pela falta de opção e pela ne-cessidade do trabalho para o sustendo, expondo-se a essa situação. Alguns patrões optam por férias antecipadas ou dispensa sem remuneração. Poucos optam por manter o salário original e deixar os empregados domésticos em suas próprias casas, até segunda ordem, o que, neste momento, perece ser o mais humano e viável. O trabalho doméstico é bastante desvalorizado e não visibilizado. Pouco regulamentado, suas características se afastam da noção de trabalho decente, sendo também marcado pela informalidade, pouca cobertura da proteção social e baixa remuneração
Estamos passando por um período de adaptação geral e, como disse a rapper Preta Rara – com quem concordo – devemos utilizar esse momento para praticar a empatia com alguém que todo dia dá a vida para deixar tudo limpo e organizado para nós e nossas famílias. Acre-dito que seja uma época financeira difícil para todos, mas não devemos deixar de cuidar da-queles que cuidam da gente: demissões não deveriam ser consideradas. Tirem um tempo e se ponham no lugar deles, percebendo a dificuldade com que levam a vida e sustentam seus lares. Devemos evitar que mais mortes aconteçam a estas pessoas, que se doam para deixar nossas vidas mais confortáveis.
Raphaela Lins
51
Egoísmo pandêmico
“Hoje o céu está tão azul e sem poluição. Graças a toda a chuva de ontem. […] Foi uma benção!”. A frase é dita em uma cena do filme coreano ganhador do Oscar, “Parasita” (2019), pela matriarca da rica família Park, no dia seguinte ao temporal que alagou e destruiu completa-mente a casa de Ki-Taek e seus parentes, protagonistas do filme, mas que vivem em condições precárias. Ki-Taek, motorista dos Park, ouve, triste e revoltado, sua patroa, conversando ao celular e elogiando a chuva, que, para ele, significara a perda de tudo. Essa distorção nas for-mas como ilustramos a realidade a nossa volta é latente na vida das domésticas no Brasil, e foi potencializada devido ao COVID-19.
Elas levantam de suas camas tão cedo quanto o sol esboça seus primeiros raios no hori-zonte. Saem de suas casas, usando máscaras dadas por seus patrões e patroas, e, nas horas do trajeto até chegar em alguma área nobre de sua cidade, oram para que suas famílias fiquem bem até elas voltarem. A chave do apartamento já faz parte dos itens de suas bolsas; pois elas entram quando todos ainda estão dormindo, afinal a família inteira está isolada em casa e assistiram a um filme juntos até tarde na noite anterior. Elas arrumam a mesa do café da manhã e aguardam a aparição da patroa que surge já com uma maquiagem básica e apressada para a aula online de jardinagem indoor.
— Bom dia, querida!— Bom dia, D.ª Marcella.— Você faz um favor? Prepara aquela panqueca que o Alberto gosta? Ele está extremamen-
te estressado. A empresa cortou os vencimentos pela metade e estão pedindo que ele vá até o escritório hoje para resolver algumas coisas. Olha o tamanho da exposição!
— Verdade… Alguns segundos de silêncio enquanto elas se olham.— Estava cheio o ônibus hoje?— Sim, senhora.— Você usou a máscara que te dei?— Sim.— Pergunto porque me preocupo com você e sua família. Você sabe disso, não é?— Sei, sim.— Bom, não esqueça as panquecas, hein, Maria! Beijinhos.Nesse instante Maria estava prestes a questionar sobre seus “vencimentos”, também corta-
dos pela metade devido à contenção de gastos da família, mas a aula da Marcella havia começa-do e já, já, Alberto iria se expor dentro de seu carro até o escritório. Pelo menos o céu está azul e sem poluição. Graças a toda chuva de ontem. Que benção para o Seu Alberto.
Rodrigo Ferraro
52
Estimular a menteem tempos de pandemia
Historicamente, a humanidade sempre passou por períodos em que enfrentou perigosas pandemias, e teve de lidar com isso de acordo com as possibilidades que a época proporcionava. A vida que levamos hoje, com um dinamismo peculiar devido à modernidade, nos faz ter certa dificuldade quando somos submetidos a conter toda essa necessidade de socialização e interação com o mundo a nossa volta. Esse comportamento é natural do ser humano, mas se torna mais complexo quando ficamos expostos à notícias desanimadoras. Mesmo a pessoa mais otimista terá dificuldades de manter a positividade e encontrar ferramentas para manter a mente saudável e estimulada. Então: O que fazer? A neuropsicóloga Sharon Sanz Simon, doutora em ciências pela USP e pesquisadora da Universidade Columbia (EUA), propõe — no texto “Como estimu-lar a mente em tempos de pandemia?” (“Folha de S. Paulo”, 25/03/2020) — três pontos de apoio que podem nos estimular e aumentar nossa capacidade de enfrentar os desafios do confinamen-to: Organizar seu tempo e espaço, aprender coisas novas e cuidar do seu “cérebro emocional”.
O passo inicial, sem dúvida, é filtrar a exposição às notícias para que fiquemos disponíveis para lidar com os novos hábitos. Dentre eles, o que me parece mais enriquecedor é a oportunidade de estreitar o contato com as pessoas do núcleo familiar. Aproveitar as refeições em família, con-versar sobre aquele assunto que deixamos passar por conta da pressa, e por que não assistir a um filme na presença de todos? Essa é, sem dúvida, a forma mais comum de estimulo à mente durante esse período. Na era do streaming e da internet, ter o mundo através da tela, seja interagindo so-cialmente ou vendo uma dramaturgia, nos ajuda a manter as nossas percepções ativadas.
A importância de estarmos bem com nós mesmos é essencial nesses períodos, e existe algo com maior capacidade de nos preencher do que fazer algo pelo próximo, como dar uma boa gor-jeta para aqueles que não podem parar seu trabalho e continuam circulando fazendo entregas? Que tal ligar para aquele amigo ou amiga que você não encontra há muito tempo e falar o quanto essa amizade é importante pra você? É essencial se mobilizar para ajudar possíveis vizinhos ido-sos que terão no seu auxílio um movimento que pode salvar a vida deles. O importante, no final das contas, é tomar atitudes positivas que nos mantenha unidos, mesmo estando fisicamente distantes, e que possamos, então, encontrar a melhor versão de cada um de nós.
Rodrigo Ferraro
53
Presença
Sentada no canto do quarto, Joana observava a sua mais nova arrumação. A angústia que a corroía há seis dias, no início da madrugada havia se transformado em uma urgência por orga-nização. Nunca tinha visto aquelas flores entalhadas nos pés da cama, um cuidado tão delicado quanto desnecessário... mais uma lembrança de sua Vó Nina.
Suas lágrimas ameaçaram brotar, mas a menina prontamente as engoliu. Sua avó não ad-mitiria. “Chorar de barriga cheia é feio demais”, esse era o seu mais famoso ensinamento e tinha feito questão de repeti-lo pelo menos duas vezes para cada filho e cada neto, depois de ter testado positivo para o “tal do corona”. E ainda ria enquanto falava! Achou muito deboche do destino deixá-la adoecer, depois de quase oitenta anos, por um vírus com nome de cerveja. Naquele dia, Joana e sua mãe se esforçaram tanto para parecerem tranquilas, que mesmo ao chegarem em casa nenhuma das duas conseguiu chorar, e em vez de lágrimas e soluços, a casa foi tomada pelo silêncio.
O sétimo dia de silêncio começara a nascer e Joana mantinha-se na mesma posição, a re-lembrar os gestos largos da avó, que mesmo em momentos tão delicados, possuía a rara habili-dade de ser igualmente palhaça e séria.
Agora, obrigada a ficar em quarentena com sua família, começara a perceber o quanto o dom de Dona Nina era importante para a dinâmica da casa. Na cozinha, sua mãe já passava o café e, como de costume, soltou o seu famoso gritinho curto e agudo. Dessa vez, causado pelo encontro de um de seus dedos com o bule pelando. “Todo dia, como um galo”, pensou, deu uma pequena risada com a ideia e decidiu que talvez fosse mesmo a hora de levantar.
Com as pernas dormentes pela posição que ficaram nas últimas duas horas, foi ao encontro da mãe e pela primeira vez, desde o seu aniversário, a abraçou. O silêncio que agora as envolvia era de um tipo diferente, aconchegante e compreensivo, daqueles que só se fazem quando as próprias palavras, mesmo sendo bem-vindas, concluem que não são necessárias. Ambas suspi-raram, enquanto uma onda de alívio relaxava seus ombros tensos e seus cenhos franzidos. Era disso que precisavam. Não choravam, não riam, nem falavam, naquele abraço haviam percebido que estavam juntas. “Talvez vovó chorasse, nos vendo assim” pensaram; e, de fato, choraria.
Rosa Ciavatta
54
Valorizaçãodo trabalho doméstico
O trabalho doméstico no Brasil tem sido discutido cada vez mais dentro da pandemia da Covid-19 — iniciada, no país, em março de 2020 —, uma vez que coloca em risco a vida desse profissional. O uso da palavra quarentena, nesse sentido, deixa escapar algo revoltante: a maioria da classe média não enxerga as empregadas domésticas como pessoas. Assim como ocorria no período colonial, ainda consideram a trabalhadora doméstica propriedade da famí-lia que a contratou. E, para a significativa maioria dos trabalhadores brasileiros, essa “escolha” parece girar em torno de “opções” muito restritas: ignorar a quarentena e seguir trabalhando para ter um salário que, minimamente, supra algumas necessidades elementares – mesmo sob o risco de contrair e/ou disseminar o vírus – ou permanecer em casa, em quarentena, mas sem os proventos financeiros proporcionados pela atividade laboral. Isso é desumano e irracional.
A primeira morte registrada em decorrência do coronavírus, em março de 2020, ocorreu justamente com uma empregada doméstica que trabalhava no Leblon e contraiu o vírus da patroa, que havia retornado da Itália contaminada. Acho que não precisamos de mais mortes para ver o quão irracional é tratar as domésticas sem empatia — ato de se colocar no lugar do outro, sentindo-se como ele em alguma situação. Nem assim os patrões do país se conscienti-zam e liberaram os funcionários de casa. Esta classe trabalhadora em específico é muito vul-nerável, sendo formada, principalmente, por mulheres negras, maiores de 40 anos — segundo informações do IBGE — e que moram em regiões periféricas, necessitando de transporte coletivo para chegar ao trabalho.
Segundo Preta Rara, em texto na “Folha de S. Paulo” (25/3/2020), o isolamento social é um privilégio. Entretanto, o “Home Office” não se adéqua às domésticas já que precisam ir ao local de trabalho para executar suas funções: lavar, passar, cozinhar, cuidar de crianças, fazer compras, etc. Assim, são demitidas ou continuam a passar por situações de risco ao enfrentar o transporte público e manter contato com os seus patrões.
Por que todos param de trabalhar menos elas? Porque elas são “irrelevantes”: até 2015, não existiam leis trabalhistas para empregados domésticos. Esses profissionais não deveriam ter menos direito que uma pessoa de classe alta, mas crescemos em uma sociedade que só regride. São cerca de seis milhões de domésticas no Brasil, em boa parte, sem plano de saúde, dependendo do SUS que não aguentará a quantidade de pessoas que precisarão dele.
Preta Rara comenta uma entrevista de Luiza Batista, da Organização Themis, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que fala da importância de liberar as domésticas: a saúde pública, já com pouca estrutura, não terá armazenamento de materiais e espaço para comandar a pandemia nos hospitais. Mesmo com a grande quantidade de pessoas internadas pelo vírus, existem outras internadas por diferentes problemas. Visto que preci-samos evitar a superlotação/loteamento, devemos contribuir liberando os trabalhadores sem prejuízo de salário ou posição. Todos têm que colaborar com quem sempre colaborou com a organização das vidas dos patrões. Em época de pandemia, a empatia também será fundamen-tal para desacelerar o avanço e os impactos da COVID-19.
Ursula Villela
55
365º dia de Quarentena
Hoje é o 365º dia de quarentena. Oficialmente, todas as empresas não essenciais entraram em colapso. Somente serviços ligados à saúde, alimentação, energia, limpeza e segurança con-tinuam, mas com menos recursos.
As empresas farmacêuticas agora devem somente produzir mais remédios para combater o novo coronavírus, pois a vacina criada no final de 2020, em vez de curar, piorou os casos. Go-vernos de todo o mundo queriam que essa vacina ficasse pronta rapidamente para evitar um co-lapso económico mundial ainda pior; consequentemente, a vacina não foi testada devidamente, provocando uma doença autoimune em todos os seus consumidores - uma espécie de HIV. Tanto habitantes de grandes metrópoles como de pequenas cidades foram vacinados, adquirindo, as-sim, a Covid-20, derivada da 19. A cura dessa moléstia e da Covid-19, ainda se espalhando infi-nitamente, está sendo elaborada por todos os países, e por empresas de todos os setores, menos os essenciais para a sobrevivência como serviços de água, alimento e energia.
Agora, farmácias fornecem somente remédios essenciais para tratar o vírus. Pessoas com doenças muito específicas estão recebendo um pacote limitado de remédio todo mês. Por exem-plo, diabéticos estão racionando suas insulinas, epiléticos estão diminuindo certas doses, infe-lizmente piorando sua saúde; pessoas com problemas cardíacos não estão sobrevivendo. Hospi-tais ainda seguem com o protocolo de adiar cirurgias não imediatas, porém isso piorou, pois a maioria destas cirurgias foi, infelizmente, paradas, para dar mais espaço a pacientes em estado crítico pela Covid-19. No momento, espaços sem ocupação, como escolas e grandes prédios empresariais, estão virando hospitais.
Desde a semana passada, cada família só poderá utilizar uma quantidade específica, por dia, de água e energia. Um sistema automático, instalado em todas as residências, parará a água quando seu limite diário for atingido; e a energia também segue o mesmo padrão. Além disso, a maioria da população não trabalha mais, devido a isto, um mantimento mensal estabelecido pelo governo, de acordo com a quantidade de pessoas morando em uma mesma residência, é entregue mensalmente.
O mundo mudou. Educação agora é somente voltada para encontrar a cura. Todos vivem apenas para vencer essa doença, e quem se opuser a isso é punido: o sistema de gerenciamento de água e energia também patrulha os ambientes, vigiando-os. Quem decidir sair de casa sem nenhuma razão relacionada a problemas de saúde é automaticamente preso por cinco anos. Pa-íses mais autoritários têm utilizado a situação para estabelecer “Estado de Emergência”, impe-dindo que eleições aconteçam, criando ditaduras. A informação sobre certos países autoritários como o número de mortes de vítimas do Covid-19 e Covid-20 tem sido limitada.
O homem que falou que o mundo ia acabar em 2012 era provavelmente disléxico, porque o mundo acabará em 2021.
Vitória Barreto Martins
56
6 In STORTINI, Carlos R. O dicionário de Borges. Tradução: Vera Mourão. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil,1990; p 69.
Segunda seção
Tempo de pensarna escrita
Como assim? E não é agradável escrever? Tantas pessoas loucas para se tornar escritoras, querendo publicar, pesquisar ou criar; esforçando-se para encher as livrarias de obras primas. Pois é, mas, às vezes, quando a escrita é um requisito da faculdade, pensamos que esse ato de “comunicação e expressão”, tão profundo e elaborado, dá trabalho demais. Queremos nos livrar logo de uma tarefa escrita para fazer algo mais agradável, prazeroso. De novo: e não é agradável escrever? Até que é, sim; o ruim é o julgamento posterior, o nosso e os dos potenciais leitores — amigos, professores, familiares, público em geral (os “usuais suspeitos” de tudo nesta vida, não é mesmo?).
E se não gostarem? E se nos acharem burros, infantis, despreparados? E se nós mesmos nos decepcionamos com nossos próprios textos? Dúvidas e mais dúvidas — cruéis até o infinito e além. Mesmo um grande escritor tem momentos de caos interno em sua carreira. Bem, mas nin-guém necessita ser ou se tornar um grande, um imenso escritor. Precisamos escrever para passar nossas emoções, sentimentos, conhecimentos — até podemos, eventualmente, crescer bastante, ficando enormes, quem é que sabe? E os julgamentos? Sei que a apreciação dos outros parece o cerne de muita coisa em nossa emoção, pelo menos, mas é só uma das fases da escrita. Não devemos nos importar tanto com eles — como se fosse possível, olha quem fala, mas vá lá que seja. A parte essencial, fundamental, indispensável está em nós, e nem ou eu que penso assim. Jorge Luís Borges (1899-1986) disse, em uma entrevista, que escrever é sempre um prazer, para “além do valor do que se escreve”. É o Borges, hem?
E qual é essa noção de valor, essa medida de importância tão diáfana, tão vaga? Sabemos que existem vários tipos de textos: criativos, científicas, empresariais. Cada um reclama habili-dades específicas. Quais são elas? Estudar o mecanismo da escrita nos ajuda nessa parte. Encon-traremos, aos poucos, a nossa “medida”. Se dominarmos as especificidades de cada modalidade textual, é possível escrever bem — pelo menos nos sentir à vontade no processo — em qualquer ocasião, mesmo em tipologias textuais menos “atraentes” à primeira vista.
6
57
O grande Graciliano Ramos (1892-1953), como sabemos, foi “descoberto” por meio de relatórios que redigiu quando prefeito. Em carta enviada a um tradutor de uma de suas obras, em novembro de 1937, o autor de “Vidas Secas” (1938) escreve: “Nunca fui literato; até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Veja o senhor como coisas aparentemente inofensivas inuti-lizam um cidadão. Depois que redigi esses infames relatórios, os jornais e o governo resolveram não me deixar em paz (...)”. À parte a ironia do escritor, aqueles famosos relatórios revelaram um dos maiores estilistas a nossa língua.
Queríamos permanecer lúcidos e discutir acerca daquilo que estava próximo de nós, nas nos-sas mentes e nas nossas casas. Como manter a mente saudável? Como ter empatia com a situação daqueles que nos cercam? O que significa cuidar de quem cuida de nós? Entram em cena meus alunos, que enfrentaram o momento com boas, reflexivas, transbordantes e oportunas palavras.
Isso nos leva a pensar como é que poderíamos nos “desgraçar”, à moda de Graciliano, escrevendo com destreza na universidade, no meio profissional, na vida como um todo? Bem — de novo, o “bem”, usado neste momento como interjeição (essa injustiçada), veio nos ajudar —, escrever é um processo, às vezes árduo, às vezes complexo; sempre desafiador e fascinan-te: sim, atraente, deslumbrante, sedutor e outros sinônimos encontráveis nos bons dicionários, auxílios magníficos para quem quer se comunicar bem. Em nosso curso, para examinar as entranhas do processo de escrita, lemos William Burroughs (1914-1997) — “Pode-se ensinar a escrever?” (1980) —, falando sobre algumas qualidades de cursos de produção textual criativa; Gabriel Garcia Márquez (1927-2004) — “Por que doze, por que contos e por que peregrinos” (1992) —, discutindo gêneros, desenvolvimento e tempo de escrita; Umberto Eco (1932-2016) — “Pós-escrito a ‘O Nome da Rosa’” (1984) —, desvelando o processo de criação pelo qual garantiu sua passagem de ensaísta a ficcionista; e Edgar Allan Poe (1809-1849) — “Filosofia da Composição” (1845) —, mostrando a maneira racional como compôs seu poema mais famoso e apreciado (sim, “O Corvo”).
Escolhi autores que fazem ficção, ensaios, poesia, artigos, reportagens, passeando garbo-samente por diversos tipos de texto, com o intuito de demonstrar que você acaba, na vida — principalmente ao se debruçar sobre o mecanismo de comunicação e ao estudar isso no meio universitário —, sendo impelido a escrever diferentes gêneros, em meios diversos.
E vieram as propostas: pode-se ensinar a escrever na universidade?; como se faz isso?; o que você pode dizer sobre o processo da escrita?; como você se sente sobre isso? Cada estudante desenvolveu o assunto da forma e no gênero que escolheu — falando de si mesmo (crônica); pesquisando o assunto, em autores diversos (artigo); criando personagens escritores em dúvida acerca de qual caminho seguir (conto); etc.
Dois deles resolveram mostrar seu pensamento aqui, e acredito que iluminem bem o tema para outros jovens, para professores e para demais interessados no assunto. Escrever — até pelo fato de abarcar regras, restrições, obstáculos, desvios — deve ser uma experiência singular de busca por libertação.
7 https://brasilescola.uol.com.br/literatura/graciliano-ramos.htm
7
58
Escrita: uma construção gradual e duradoura
A chegada à Universidade é marcada por uma mudança importante no estilo e nos recur-sos textuais explorados pelo ambiente acadêmico. A realidade da produção escrita do Ensino Médio se resume, de modo geral, às modalidades de dissertação e de narração – a primeira re-presentando boa parte do tempo de ensino nas aulas de redação –, a fim de atender à demanda dos exames de vestibular. Dessa forma, os estudantes já iniciam sua jornada na faculdade com um déficit importante em relação a escrita.
A elaboração dos textos, trazidos pelos discentes para o meio universitário, remete à simples transcrição de ideias que vem à mente, sem haver qualquer tipo de organização pré-via na sua construção. Segundo Simka (2016), esse procedimento faz com que o objeto a ser discutido – no caso, o tema proposto – não passe por um crivo analítico-reflexivo. O produto final é privilegiado em detrimento de toda a ideia da produção escrita – compreendida como um processamento (SIMKA, 2016, p.16).
Acrescenta-se a esse cenário de dificuldade, no planejamento das etapas de construção do texto, a inserção de novos conceitos ao conhecimento textual dos alunos, como, por exem-plo, a resenha, o resumo, a paráfrase, o artigo científico, dentre outros. Em muitos casos, os estudantes não têm nenhuma familiaridade com esses termos, enquanto o professor, como constata Fiad (2011), parte do princípio de que eles já os conhecem. Dessa forma, junta-se aos problemas, já explicitados anteriormente, a não-correspondência entre o letramento acadêmi-co – compreendido como os usos específicos da escrita no contexto universitário – e aquele apreendido pelos discentes até a saída do segundo grau (FIAD, 2011, p.362).
Um último ponto relevante ao tema diz respeito à preocupação com o leitor (SIMKA, 2016, p.21). Esse momento possibilita uma revisão do texto, de modo a não apenas identifi-car os erros de ortografia ou pontuação, mas, principalmente, problemas de compreensão da mensagem transmitida pelo redator. Por isso, o ambiente acadêmico incentiva a prática de um método importante: submeter os textos escritos a opiniões de outras pessoas (FIAD, 2011, p.364). Esse fluxo de troca das produções possibilita, também, ter acesso a outras formas de organização textual, de estilos de redação, de argumentos, ou ainda, de ampliação vocabular.
Ao investigar a questão do ensino da produção escrita no ambiente universitário, encon-tra-se um modelo organizado em etapas. Ao longo de todo o processo, o aluno vai compreen-der que um melhor desempenho na confecção do texto já começa a ser percebido por meio da boa execução de todas as fases do processamento textual (SIMKA, 2016, p.22).
Lucas Maciel
Referências Bibliográficas
FIAD, Raquel Salek. A Escrita na Universidade. Campinas (SP): Instituto de Estudos da Linguagem (Universidade Estadual de Campinas). Revista da ABRALIN, v. Eletrônico, n. Especial, p. 357-369, 2011. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/%20abralin/article/viewFile/32436/20585>. Acesso em: 27/06/2020.
SIMKA, Sérgio. A Produção do Texto Escrito na Universidade: a escrita como processo. São Paulo: Revista Verbum, n. 12, p. 16-24, out. 2016. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/verbum/article/view/29489/20711>. Acesso em: 27/06/2020.
59
Quando eu vi, tinha escrito
Serei franco e direto. Tenho dificuldades para escrever. Não é que eu não saiba como fazê--lo, mas o problema é o fato de ter muitas ideias que não dão em nada. Nas notas de meu celular, ou armazenadas em meu jovem cérebro, elas ficam lá, pegando poeira, esperando para serem tecidas. Às vezes, penso que elas são esnobes demais para se submeterem à minha habilidade de costura, ao meu estilo de bordado. Eu lhes pergunto: “E hoje, vamos colaborar?’’, e só o que recebo são visões toscas de suas costas. Elas nunca me deixam ver seus rostos.
Talvez tenham vergonha de acabar sendo executadas tão porcamente, se achando tão ge-niais. Ou, ainda, talvez o problema nem seja eu ou elas, mas as circunstâncias.
Particularmente nunca entendi o porquê de se ensinar a escrever usando fórmulas e compe-tências rígidas de correção, com introdução, argumento 1, argumento 2, proposta de interven-ção, elos coesivos tirados de listas imensas e frases prontas para iniciar parágrafos. Essas coisas — chamá-las-ei de “coisas’’ por falta de opção — podem soar maravilhosos para a escrita num primeiro momento. Afinal, são como jumentos: fáceis de adestrar. Sem ofensas aos jumentos do mundo; mas, depois que vi um alazão pela primeira vez, passados alguns anos, quase me escondi atrás de uma árvore.
Quando abri um livro de verdade, descobri que minhas altas notas obtidas com o trabalho mecânico dos jumentos não significavam nada. Eu escrevia mal, no final das contas, e nem gran-des notas em exames de vestibular iriam me salvar. Bom, agora eu entendo as ideias. Eu também não ia querer me submeter a “ademais’’, “concomitantemente’’, “como afirmou o filósofo x’’ ou “para resolver tal problema, o Estado precisa veemente intervir’’.
Realmente, olhando minhas redações da época, eu me pergunto se o objetivo de quem de-finiu que isso era “escrever bem’’ não era, na realidade, fazer com que os jovens achem que es-crevem bem, usando muletas linguísticas e nunca aprendendo a andar. Eu pensava que discorria como Saramago, Tolstói ou Garcia Marques, criando obras primas da literatura das 30 linhas. Contudo, estava mais perto da minha tia que gosta de um “textão’’ no Facebook sobre algum assunto de cunho mais social. E, por escrever como minha tia, acabei por pensar como ela tam-bém, acreditando que argumentos de cinco linhas explicariam a complexidade dos problemas que nos cercam. A lição que tirei disso tudo?
Escrever não é algo fácil, e é exatamente por isso que existem tão poucos Saramagos, Tols-tóis ou Garcias Marques. Apesar disso, acho que estou no caminho certo para aprender a escre-ver direito. Eu me livrei dos elos coesivos repetitivos e das frases prontas. Quero desenvolver um raciocínio que seja mais “meu’’. Também voltei a ler coisas de qualidade, que não sejam romances adolescentes que tratam seu cérebro com uma massagem de “inofensividade’’. Como resultado, os “textões’’ de Facebook já estão de partida, e eu até penso em escrever uma histó-ria, um roteiro para um filme de verdade, com coisas que eu realmente quero dizer ao mundo e penso sobre a vida, sendo ela tão complexa como é. Tudo isso sem limite de 30 linhas… Essa é a melhor parte.
Pedro Rodrigues
60
Terceira seção
Tempo de andardentro de casa
O psicanalista, professor e escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza faleceu no dia 16 de abril de 2020, em uma semana muito infeliz para a cultura brasileira, pois perdemos o compositor Mo-raes Moreira, no dia 13; e o também escritor Rubem Fonseca, no dia 15. Garcia-Roza já havia publicado vários livros de psicanálise em sua carreira acadêmica, quando, em 1996, aos 60 anos, estreou na ficção com “O silêncio da chuva”, obra do gênero policial, que apresentava o filosó-fico detetive Espinosa. Inteligente, maduro, excelente leitor — recusando o rótulo de erudito, mas sempre se mostrando um ardente “amante” dos livros —, o policial de Garcia-Roza pas-seava pelos bairros da cidade, investigando, perseguindo, “flanando”, procurando seus próprios caminhos entre crimes e buscas existenciais.
Estando em confinamento, pensei nos passeios de Espinosa, inicialmente no Centro, depois em Copacabana, onde o detetive já morava e, com o desenvolvimento da série de Garcia-Roza, passou a atuar, na 12ª DP. Pensei nos meus alunos isolados em suas casas. Pensei em Xavier de Maistre (1763-1852). Xavier de Maistre? Sim, ele mesmo, o autor de “Viagem à roda do meu quarto” (1794), a clássica paródia aos relatos de grandes viagens e aventuras, que conta a histó-ria de um jovem preso, durante seis semanas, em seu próprio quarto. O autor ficou muito famoso com esse livro e uma continuação, publicada em 1825. Machado de Assis (1939-1908) fala, “en passant”, do estilo de Xavier de Maistre no primeiro capítulo de “Memórias póstumas de Brás Cubas” (1881), mas faz seu protagonista viajar “à roda” de sua própria vida em recordações e meditações de que todos já, pelo menos, ouviram falar.
Ah — outra linda interjeição, que bom que elas apareceram por aqui, não é? —, aí estava uma proposta de produção textual: cada um colocaria o seu próprio endereço no Google Maps — da sua residência ou de algum lugar que frequentasse ou conhecesse bem —, e passearia pe-las imagens dos mapas fornecidas pelo aplicativo. Assim, a pessoa poderia olhar a vizinhança com calma, com atenção (sempre), sentada na cadeira, em frente ao computador, olhando pela tela do celular; a pessoa poderia visualizar prédios conhecidos, bancas de jornais, lojas, cruza-mentos de ruas, etc., para posteriores reflexões. Seria possível escrever acerca dos sentimentos evocados pelo passeio, de lembranças como um todo, dos amigos e conhecidos dos locais — temáticas boas para crônicas —; seria viável pesquisar e discutir aspectos relativos aos locais visitados pelo “caminhante” — problemas, questões de urbanismo, comércio, etc., todos bons assuntos para artigos de opinião —; seria agradável inventar histórias em espaços familiares como Garcia-Roza e seu detetive Espinosa — matérias excelentes para contos.
Expandiríamos os passeios, procurando endereços em outros bairros, cidades, países. A pro-posta é andar, mais do que tudo, dentro de si mesmo, explorando-se como um viajante que mergu-lha na própria jornada, levando bastante oxigênio nessa que é a mais profunda de todas as imersões.
61
Bonito Rio
Sobrado de dois andares. Pequeno jardim. Rua sem saída. Esse é o local onde eu moro, ou melhor, costumava morar. Nesse espaço, vivi inteiramente quatorze anos da minha vida, desde o momento em que nasci até o fim da minha pré-adolescência.
Rio Bonito. Interior do Rio de Janeiro. Cidade pequena, pouco perigosa, em que todo mun-do se conhece. Centro de paisagem clássica: igreja, pracinha com coreto e prefeitura.
Descendo o morro, encontro o rio que dá nome à cidade. Acredito que outrora ostentava uma aparência melhor. Atualmente, é um valão no qual é depositada grande parte dos esgotos dos habitantes do centro da cidade. Uma grande ironia para o rio que encantou de tal forma a Princesa Isabel — sim, a filha de Pedro II —, quando vossa alteza passou pela cidade, que a fez apelidar o rio com o nome em questão. Uma história fantasiosa, mas que todo rio bonitense conta para os seus filhos.
Seguindo o “Bonito”, chega-se ao mais famoso clube da cidade, utilizado por muitas das debutantes locais para realizar suas grandes festas de aniversário. Ali fiquei bêbado pela primei-ra vez: eu tinha uns 14 anos, e as caipirinhas do bar me deixaram bem feliz. Foi uma noite muito divertida, com diversos jovens da cidade reunidos num só lugar para celebrar o aniversário de uma amiga, e, como é tradição em festas na cidade, só acabou às seis da manhã.
Um pouco mais à frente, encontra-se a linha do trem, há muito desativada. Eu ainda trago em mim a recordação de um trem passando por lá quando eu era criança, mas não a considero muito acurada. Eu devia ter uns dois ou três anos; então, provavelmente, é apenas uma memória cons-truída por relatos que ouvi dos meus pais e avós. Por lá, ainda passa um vagão para a manutenção dos trilhos, às vezes, o qual buzina num som altíssimo e altamente irritante quando algum carro se encontra estacionado sobre a linha. Em minhas divagações, no momento em que tento me equili-brar sobre os trilhos, me recordo de uma época em que não havia preocupações reais. Eu seguia por seus caminhos, atravessando as pontes da cidade sem quaisquer desafios para enfrentar fora a manutenção da estabilidade do meu corpo Apenas continuava a passar pelos mesmos locais que conhecia como a palma da minha mão desde o momento do meu nascimento.
“Mas onde que é?”, “É logo depois, perto do sinal”. Chego ao único semáforo da cidade inteira. Sempre é usado como ponto de referência pelos cidadãos: tendo em vista a proximidade com a rodoviária e com diversos comércios da cidade – as Lojas Americanas, o mercadinho de preços mais em conta, o açaí ¬–, é um dos locais mais movimentados de Rio Bonito. Sempre demandou, por isso, a minha atenção, toda voltada a atravessar com o cuidado devido aquele marco do meu trajeto. Logo depois do sinal, chego a minha antiga escola, mas vou dedicar um parágrafo inteiro a ela.
Era uma escola particular, mas não nos padrões que as pessoas normalmente associam a esse tipo de instituição. Era um colégio “barato”, não muito organizado e de ensino um pouco debilitado. Em qualquer escola, há momentos bons e ruins. Confesso que sinto bastante falta dos bons: a camaradagem e a química de uma turma que estudou mais de dez anos junta, princi-palmente. Todos tinham um apelido, alguns até bem ofensivos. O meu, uma época, foi “maçom satânico”, isso tudo porque, um dia, mencionei que meu avô tinha sido da maçonaria, instituição que, para os crentes da sala, sempre está ligada ao capiroto. Volta e meia alguém quebrava uma
Davi Goulart
62
carteira, uma lixeira, uma porta, às vezes uma janela; e acabavam recebendo esporro da brava inspetora. Levávamos a maioria dos nossos professores ao limite do estresse, mas, ao mesmo tempo, desenvolvíamos relações muito carinhosas com eles. Era um caos total. No entanto, um caos que não deixava de me divertir muito e entreter todos os meus dias.
No momento em que mudei de cidade, também para uma escola de maior renome, no Ensi-no Médio, tive de me adaptar a uma turma escolar dividida em diversos grupinhos, praticamente sem união alguma. Fiz ótimos amigos, obviamente, os quais pretendo levar para a vida, mas a química de turma era inexistente.
Atualmente, não mantenho contato com a maioria dos meus antigos amigos, mas, também, poucos mantiveram relacionamentos de amizade entre si, por diversos fatores casuais: mudança de escola, repetência, brigas, desentendimentos, etc. Quando encontro qualquer um deles na rua ou em alguma festa, nos cumprimentamos, lembramos de uma história ou outra, a proximidade não é a mesma, mas ainda existe alguma identificação.
Sigo a rua da minha escola, viro à esquerda e chego à igreja matriz. Lá, fiz dois anos de catequese, obrigado pelos meus pais, que, mesmo sendo exemplos de católicos não praticantes, tinham o sonho de ver minha primeira comunhão. Detestava de todas as formas aquele curso, chorava pedindo para não ir às aulas e, muitas vezes, fingia que estava dormindo – minha mãe ficava com pena de me acordar – para faltar. Lembro-me de um dia em que a professora es-creveu no quadro, para crianças entre oito e nove anos, uma lista de pecados mortais, os quais os indivíduos, caso os cometessem, só seriam absolvidos no momento do julgamento final. Lá estavam: matar, roubar e faltar à missa. No início, levei um pouco a sério, mas, depois de um tempo, passei a mentir que ia às missas para não ficar mal visto pela professora, que poderia me excomungar ou algo do tipo. Eu não fazia a mínima questão de participar; achava as cerimônias chatas e repetitivas. Na última vez em que fui a uma, pensei exatamente as mesmas coisas. En-carava o altar, mas só conseguia ponderar sobre qual seria a janta do domingo à noite.
De frente para a igreja, encontra-se a pracinha da cidade, adornada por palmeiras, por algu-mas árvores, por arbustos e pelo conhecido chafariz centenário. É o principal cartão postal da cidade, e a primeira imagem que você encontra ao digitar Rio Bonito, no Google. Tal atribuição é válida, visto que a praça é realmente tem o seu charme, ainda mais durante a época natalina, quando recebe diversos enfeites. Por lá, você observa crianças brincando com seus pais nos es-corregas e gangorras, assim como alguns adolescentes uniformizados se pegando nos bancos. É um local agradável, ao qual ainda gosto de ir: serve para relaxar.
Não pretendo, através desse texto, transmitir a ideia de que a minha vivência em Rio Bonito foi perfeita, idealizando o meu passado. No momento atual, encontro-me bem satisfeito com os rumos da minha vida e do que estou vivenciando no presente. Pessoas vêm, pessoas vão, coi-sas acontecem, ou deixam de acontecer. Tudo isso deixa marcas e nos molda como indivíduos. Porém, não devemos em momento algum viver presos ao passado, e deixar de aproveitar o pre-sente. É claro que sentimos saudades de diversas ocasiões, mas também sentiremos de outras que nem aconteceram ainda. Desde bem cedo, eu nunca pretendi permanecer na cidade em que nasci, mas não digo isso por qualquer forma de desprezo pelo que ela é, afinal, o que eu sou vai
63
estar eternamente ligado à existência de Rio Bonito. Parte de mim sempre quis ver novidades, vivenciar o desconhecido, se “jogar para o mundo”, e é o que ainda desejo.
Talvez seja como a personagem Christine, do filme Lady Bird, a qual lutou de todas as formas para sair da pouco excitante Sacramento (Califórnia) – sua cidade natal, onde viveu toda a vida escolar – e se mudar para Nova York a fim de concluir os estudos. No entanto, quando finalmente tal fato se concretiza, a jovem começa a sentir falta do seu “lugar”. Ela não mais conhece todas as ruas, restaurantes, lojas, e todos os detalhes correspondentes a eles, em sua nova localidade. Christine, afinal, ainda tem, em si, certo receio do desconhecido, e sente conforto no familiar.
Bom.... Acho que a Princesa Isabel estava certa: há beleza naquele bonito rio.
64
Lar Doce Bairro
Não tem lugar mais agradável para se viver do que a General Glicério. Moro nessa mesma rua desde que eu nasci, só mudando de prédio, e, atualmente, vivo, como costumo me gabar, no coração dela. O bairro de Laranjeiras, em geral, é um bom lugar para viver, mas a General Gli-cério...é como um condomínio, ou uma minicidade, onde os vizinhos se conhecem, os cachorros se conhecem, os donos deles se conhecem por conta de seus passeios com os animais. A aproxi-mação dos moradores é tão grande que não importa o andar que você more, do seu apartamento vai dar para ouvir toda e qualquer conversa de quem está na rua: na General, tem bastante eco. Bom, talvez esse seja um lado negativo. De toda forma, todas as suas necessidades básicas estão logo ali, do outro lado da calçada. E agora, da minha perspectiva, você vai entender o que eu estou falando.
Vou dividir a rua em duas partes: o lado esquerdo do prédio onde eu moro e o lado direito dele, começando pelo esquerdo. A primeira coisa que você vai encontrar é uma loja de vinho, que se confunde com um bistrô. Imagina o paraíso para os degustadores de vinho, como meus pais. O que me interessa lá não é o vinho, mas os pratos, as sobremesas, o ambiente, a música ao vivo e, é claro, os funcionários. Quando eu disse que na General Glicério todos se conheciam, eles não estariam excluídos: quase todos os moradores são clientes “Vips”. Continuando a cami-nhada para a esquerda, você encontra um outro prédio, que é onde a minha melhor amiga mora. Não preciso nem entrar em detalhes como isso foi um sonho maravilhoso para uma menina na sua infância. Logo depois, tem uma lavanderia, uma banca de jornal, uma farmácia, uma praça, que vai de ponto de encontro para adolescentes até uma fuga rápida de casa para os mais idosos. Estão aí as necessidades básicas, como eu já mencionei.
Quando a caminhada se vira para o outro lado, encontramos um outro prédio, que também foi um sonho de infância meu, quando um amigo muito próximo morava lá. No entanto, nos afastamos e ele se mudou; então, atualmente, o imóvel não significa muita coisa para mim, mas vale a pena citá-lo, pois está na minha memória afetiva. Atravessando a rua, ainda no lado direito, encontra-se o “mercadinho”, que é um salva-vidas para todos os moradores da General Glicério, já que ele vende tudo – do mais básico ao mais sofisticado –, mas só funciona como “quebra-galho” mesmo, porque os lá preços são um pouco elevados. Bem grudado ao mercado, tem a padaria, o meu lugar preferido da rua inteira. Vende os pães mais fresquinhos, os docinhos mais gostosos e exala um cheiro incrível: tomar café da manhã lá é motivo de alegria. Como se não bastasse o preenchimento desnecessidades básicas, o lado direito também apresenta espaço de fisioterapia e pilates, salão de beleza, escolinha de inglês, bares e restaurantes. Do que mais se precisa?
Nesses tempos de quarentena, agradeço imensamente pelo privilégio de ser moradora da General Glicério. Se alguma coisa está faltando em casa, a saidinha é rápida, não se correndo grandes riscos na empreitada. E o isolamento social é amenizado quando um vizinho decide cantar na janela e todos, nos apartamentos em volta, aplaudem e gritam elogios. Não é à toa que nunca saí dessa rua, desde a infância até a vida adulta: não existe lugar melhor para se viver.
Elisa Guilherme
65
Pertencer
Ansiosa pelo começo de uma nova vida, Clara sonhava com o dia em que finalmente mo-raria de frente para o mar. A ideia de ter, em alguns passos, a areia fofinha e a água salgada sob seus pés, invadia os pensamentos diários da menina paulista. O Parque Ibirapuera, que desde pequena frequentava e que carregava suas melhores memórias, já tinha se tornado cinzento per-to do sonhado colorido da praia.
Os dias passavam, e a esperança de que chegasse logo a data da grande mudança era sempre maior.– Sabia que eu vou morar dentro do mar? – dizia para seus colegas de escola. – Sério? Você vai virar uma sereia? – respondiam as amigas. – Acho que prefiro virar um peixinho. As sereias têm uma cauda muito grande e deve ser
difícil de brincar sem que ela atrapalhe. Foi assim até que seus pais conseguissem organizar tudo. Afinal, uma vida toda morando
em São Paulo não seria tão facilmente deixada para trás sem que houvesse a certeza de que no Rio de Janeiro eles teriam, no mínimo, o mesmo bem-estar de que sempre desfrutaram.
Os dias que antecederam a tão esperada viagem passaram muito devagar. “O tempo real-mente parece pregar peças na gente”, pensava a menina que era muito esperta para seus 7 anos: “Os dias bons passam rápido, e os ruins são mais lentos que lesmas”. Finalmente, depois de muitas noites mal dormidas, o dia que mudaria sua vida havia chegado.
Não era sua primeira, nem segunda vez viajando avião, mas o frio em sua barriga nunca tinha sido tão forte. O trajeto até seu novo endereço já era repleto de novos cheiros, sensações pelas quais Clara tinha muita fascinação. Ao ir se aproximando daquele que seria seu novo lar, a alegria de se sentir pertencente àquele lugar tomou conta da menina. As pessoas corriam na orla e tomavam açaí nos quiosques; alguns meditavam, enquanto outros faziam poses, tirando fotos na areia; surfistas atravessavam a rua correndo, agarrados em suas pranchas; e crianças apren-diam a andar de bicicleta debaixo de um sol de 40 graus. O mar estava repleto de pequenos pon-tinhos flutuantes. Clara estava em casa. Um verdadeiro peixinho em seu habitat natural: a água.
Daquele dia em diante, a menina prometeu visitar a praia todos os dias - mesmo naqueles em que nenhum carioca ousaria sair de casa com medo da chuva. Clara estaria no seu lugar predileto do mundo. Assim aconteceu durante anos: a garota conhecia os arredores de seu apar-tamento como a palma de sua mão, ou até melhor. Sabia as exatas horas em que os surfistas adentravam o mar, em que as senhoras saíam para fazer compras no “Zona Sul”, em que as babás se encontravam para fofocar no bondinho e em que os donos dos quiosques abriam seus respectivos estabelecimentos.
O tempo passou, e a promessa da liberdade do oceano já não era mais cumprida. Clara começou a passar muito mais tempo enfurnada em seu quarto do que próxima ao “famigerado mar”. Nem quando o sol ardia e suas amigas ficavam horas se queimando na areia, ela tinha vontade de atravessar a rua e mergulhar em seu antigo sonho. A verdade é que o colorido do Rio de Janeiro havia sugado todo brilho da menina paulista. Sua cor, que se destacava na cidade cinzenta, agora era só mais uma no meio da bronzeada “cidade maravilhosa”.
Giovanna Rispoli
66
A menina, que já se tornara uma adolescente, agora sonhava com a volta à sua cidade natal. A praia, que havia sido cenário dos momentos mais incríveis de sua vida – como seu primeiro beijo e seu luau de aniversário de 15 anos – já não lhe encantava da mesma forma. Clara não podia esperar para o reencontro com a grama verde escura do Parque Ibirapuera e o clima gelado e cinzento de São Paulo. A ansiedade havia voltado a consumir o coração da sonhadora menina paulista; o peixinho feliz tinha se tornado um peixe fora d’água.
67
A vista de um Cinzeiro
O tempo parece passar mais devagar durante a quarentena — essa da Covid-19, que, desde março de 2020, nos prende em casa —, principalmente para alguém que vive da boemia cario-ca, anda pelos Arcos da Lapa e suas famosas rodas de samba; ou que vive nos bares tijucanos, bebendo e compartilhando risadas com os demais do ambiente. Para este, o tempo em casa, vendo as ruas pela sua janela, se torna tão monótono quanto a vista de seu cigarro que queima no cinzeiro ao canto.
O mesmo cinzeiro que coleciona histórias e momentos de divertimento, hoje guarda pen-samentos e restos de cinza em seu fundo. Enquanto o mundo ao seu redor parou, da janela por onde, um dia, passavam vidas novas e velhas, pessoas ingênuas e sábias; vê, hoje, passarem o vento e o silêncio ou uma alma só, vagando com cautela e com preocupações inquietantes em sua mente vazia.
A vida deste boêmio se torna cíclica e devagar longe de seu habitual espaço, ultimamente, compartilhando pensamentos com Cartola e seu cavaquinho: tudo que ela quer é rir pra não chorar e ver o sol nascer.
Massud
68
Diz que fui por aí
Eu quero sair, e imagino que você também. Hoje, eu percebi que estou com vontade de sair e não fazer nada. Estranho, né?
É claro que faz falta sair de casa para trabalhar, estudar, ir à praia, ver um filme ou jogar bola. Mas o que tem me feito mais falta é não fazer nada. Sinto saudade de ir por aí. Escrevendo isso, me lembrei de Nara Leão: “Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí”. Muita sau-dade de ir por aí.
Acordar mais cedo que o bairro. Subir andando a Pacheco Leão até o Alto da Boa Vista. Não correndo, nem troteando, quase que nem caminhando. Subir o Alto da Boa Vista olhando as folhas nas árvores, as folhas caídas; os micos dançando nos galhos; as jacas esparramadas; os apressados, ciclistas e corredores. E então chegar na cachoeira e não fazer nada. Dar um mergu-lho rápido, sentar numa pedra e olhar. Faz falta.
Tomar um açaí no “Mercato Del Pane”, antigo Horto Florestal. Conversar com o Ceará, que trabalha na padaria e tem o talento natural da fala. Ele conta história, conversa, descon-versa e dá, de vez em quando, até palestra para quem queira ouvir. Ceará é daqueles homens que, se tivesse tido oportunidade, hoje seria comediante, repórter ou algo do tipo. Infelizmen-te não teve oportunidade.
Faz falta descer a rua Barão de Oliveira Castro para chegar ao Bar dos Amigos. Chegar, sentar, pedir uma cerveja e um torresmo, olhar e ouvir. Não fazer nem falar nada; se for o caso, só absorver o clima do local. Examinar as paredes – as cachaças, a TV antiga, os prêmios re-cebidos – e ouvir os papos furados de todo mundo que deseje ser ouvido. Faz falta pedir e faz falta agradecer.
E uma coisa que, curiosamente, tem me feito muita falta, é voltar para casa. Não estar em casa. Nem ficar em casa. Mas a volta para casa. Andar pela Lopes Quintas até a rua Carandaí. Pela Carandaí chegar à Pacheco Leão e caminhar por ela, olhando de fora para dentro o Jardim Botânico.
E então continuar andando e adentrando o Horto. Os ruídos urbanos gradualmente virando o canto dos pássaros. O cinza virando verde. O calor virando frio. O furdunço virando calma, e eu chegando em casa. Faz falta, e como faz!
José Pedro
69
Mais um dia comum
No bairro de Jacarepaguá — num domingo ensolarado — típico do verão carioca, está a senhorinha ao ar livre, escolhendo um short curto que se encontrava em promoção num balcão a céu aberto, feito por uma loja, cujas peças estavam em queima de estoque. A senhora, com as-pecto juvenil, estava com um prendedor de cabelo azul; uma camiseta regata, com uma colora-ção amarelada, misturada com cinza; uma sacola plástica, no seu braço esquerdo, aparentemen-te de pão, enfatizando que só estava de passeio no bazar da liquidação; e um “shortinho” igual àqueles que estava xeretando — agora não se sabe se aquela peça era para sua neta adolescente ou para a jovenzinha da terceira idade.
Do lado oposto à loja onde Dona Juventude fuçava seu modelito extravagante e fresquinho, na Avenida Engenheiro Souza Filho, a principal via de acesso ao Itanhangá, perto de uns came-lôs, que vendiam pares de meias coloridas a preço de banana, cobrando cincos reais o “par de arco-íris”, as vans — veículo pequeno, entupido de pessoas, que oferece um preço menor que a passagem do ônibus — estavam paradas no meio-fio, com o cobrador dizendo:
— Alô, Alô, Anil, Gardênia, Cidade de Deus, Merck e Taquara. Em pouco tempo, iniciava-se a aglomeração de pessoas — algo aparentemente horrível para
qualquer indivíduo que preze conforto e sossego durante o trajeto —, porém, essa cena, nos dias atuais, é uma afronta à saúde humana. Quem não gostaria de um calorzinho com trinta pessoas num espaço que cabe dez, um abraço apertado daquele “crush”, que pode até ser vizinho, mas que, devido às circunstâncias, parece que mora em um território cercado por muros altos. Uma voz ecoa, dentro da cabeça, lá onde Judas bateu as botas do inconsciente, gritando o seguinte:
— “Solidão, né, minha filha?”Adiante, avista-se a Rua Pinheiros — lugar pacato e sereno, até às 20h, pois, a partir desse
horário, os bares começam a lotar. Não se veem meninos ou meninas a essa hora da noite, mas, segundo os visitantes dos botecos, à noite é uma criança —, conhecida como Avenida dos Ca-chaceiros, porém, no período da manhã, ficava aberto o mercadinho do seu Zé, com suas frutas maduras, implorando para serem compradas e deliciadas. Uma moça de aparência jovem, ca-misa branca e um meião estilo atleta, escolhia os maracujás mais velhos para levar. No meio da pista, tinha um menino baixinho, de camisa azul e bermuda branca — deveria ser fã de algum argentino famoso, talvez o Maradona —, estava passeando de bicicleta tranquilamente naquele domingo sereno e comum , que uma senhorinha queria sua adolescência de volta; a jovem es-portiva, um delicioso suco de maracujá e os passageiros da van; um ar-condicionado.
Júlio Cesar Oliveira de Castro
70
A cidade pede resposta
Ao atravessar a Ponte Rio-Niterói, Pedro sentiu a brisa da memória pela fresta da janela do táxi. Todos aqueles lugares, antes, seu lar, tornaram-se recortes de sua história. Fazia um ano que não voltava à cidade-natal. Entre a correria da vida paulistana, o “mês que vem” era sempre o próximo mês e o “algum dia” tornava-se cada vez mais “algum”. No entanto, o Tempo, impaciente, não suportou mais os adiamentos do jovem homem preso em banalidades urbanas e uniu-se ao seu implacável comparsa Destino para colocá-lo novamente no particu-lar ambiente niteroiense.
Não havia se preparado para esse momento. Mesmo depois dos meses de quimioterapia, das conversas chorosas pelo telefone, do “eu te amo” repetido em toda ligação como se fosse o último e de todas as lágrimas inevitáveis, não se sentia pronto para dar adeus à mãe. O táxi, agora em Icaraí, entrou na Avenida Roberto Silveira, antes tão grandiosa, agora tão ínfima perto da complexa teia de automóveis chamada de Avenida Paulista.
Quando avistou o Campo de São Bento - o parque repleto de árvores, de brinquedos, de pais, de filhos e de vida - percebeu o sinônimo? Invadiu-se de lembranças e de uma necessidade súbita de desacelerar. Desceu em frente ao local que guardava mais dele do que ele mesmo po-deria rememorar. Andou pela calçada de cimento, marcada pelo paradoxo do Tempo, das novas rachaduras que denunciavam o antigo; assim como as rugas e as cicatrizes no corpo cansado de sua mãe anunciavam a passagem inexorável do vilão, que começava a atacar o rosto de Pedro também. Observou a Igreja Porciúncula e as senhoras entrando e saindo da construção sacrali-zada em busca de respostas e de amparo; o posto de gasolina e sua falta de emoção sendo preen-chido pelos gritos utilizados pelos empregados para ajudarem um ao outro; e o ponto de ônibus onde o mesmo homem estava sentado desde que Pedro deixara a cidade, na espera infindável de algo que lhe respondesse.
Entrou no parque arbóreo e, entre os transeuntes - apressados na passagem de terra - os quais seus olhos não reconheciam, conseguiu enxergar com tanta clareza, de um modo quase palpável, sua mãe empurrando-lhe no balanço. O pequeno menino sentia que, por mais alguns centímetros, tocaria o céu. Esticava a mão em tentativa falha de encostá-lo, sem imaginar que, depois de alguns anos, de fato alcançaria o distante limite e que seria uma sensação tão solitá-ria. Viu o pequeno garoto correndo entre as árvores com as amizades perdidas, porém juradas eternas. Sentiu o gosto da pipoca que comprava com o senhor que o cruel antagonista já havia levado, junto com o sabor da infância de tantos rostos da cidade.
Ao ver suas lembranças materializarem-se em sua frente, Pedro sentiu-se espectador da própria Memória, de quem uma vez fora cúmplice. Pensou se, em algum outro momento, havia sido tão presente em si mesmo, tão parceiro do Destino, tão indiferente às garras afiadas do seu maior inimigo. Questionou, entre seus passos, o que era crescer, afinal. Era ter medo? Era render-se à passividade e contentar-se com o papel de público do espetáculo repleto de contra-dições intitulado Vida?
Lucas Peçanha Muniz
71
Era deixar o Tempo comprovar sua força e vingar-se intempestivamente dos tempos de calmaria? Independentemente do que respondessem seus questionamentos, sabia que teria que aceitar o adeus. O olhar atento percorreu o parque novamente e voltou-se à rua, ao asfalto. Saía do parque uma última vez, esperando a grande resposta que poderia chegar no próximo ônibus, na próxima missa, no próximo motorista que abastecesse seu carro. Caminhando pela cidade, tornou-se parte dela mais uma vez, esperando, com os outros, a resposta que nunca chegaria.
72
Contato Virtual
Em seu refúgio, sentada de frente para seu computador, Clara se depara com uma nova realidade em sua vida. Percebe que, em meio a um período bastante atípico — o isolamento im-posto pela pandemia da Covid-19 — , terá seus dias limitados apenas aos cômodos de sua casa. Nunca tinha passado tanto tempo confinada em um pequeno espaço, tendo que se reinventar para se manter sã, apenas na companhia de sua mãe e avó materna.
Entretanto, marcando seus dias, figurava a distância do resto da sua família e dos amigos mais próximos. Em sua memória, guardava apenas lembranças boas de dias incríveis que viveu antes da quarentena se instalar no mundo. Com tanto tempo ocioso, ela percebia a real impor-tância de ter as pessoas que ama ao seu lado, vendo que estas são capazes de proporcionar os sorrisos e sentimentos mais sinceros.
No dia 22 de abril, depois de quase um mês de isolamento, quando Clara estava comple-tando seus 18 anos, tão importantes para ela, a comemoração, planejada há meses, ameaçava derivar em uma grande decepção. Nunca, em anos, tinha ficado sem reunir quem ama em sua casa. Todavia, algo inesperado a atingiu. Deparou-se, então, com a impossibilidade de fazer uma festa, aglomerar amigos e se sentir repleta de muita felicidade. O dia, que provavelmente seria de muita alegria, poderia ser marcado por uma leve tristeza.
No dia anterior, colocou seu relógio para despertar às nove horas, mas algo a surpreendeu. Sua mãe e avó organizaram um café da manhã e o levaram para ela em sua cama, antes mesmo de a menina ter acordado. Uma surpresa sem fim… com certeza, tudo já havia começado de uma forma melhor.
O dia seguiu com muita leveza e sem aquele sentimento de desagrado. Recebeu presentes de muitos amigos em casa, comeu vários bolos de chocolate e participou de uma chamada de vídeo arranjada por alguns colegas da faculdade. Apesar disso tudo, algo ainda parecia estar faltando para que seu dia estivesse completo, mesmo sem a sua tão esperada festa.
Clara, por não morar com sua avó paterna, Maria, estava sentindo muito a falta dela. Foi a partir disso que decidiu abrir novamente seu notebook. Realizou uma ligação por vídeo com ela e, já que há meses não a visitava, resolveu “dar uma passadinha” rápida pelo bairro onde ela mora, em Niterói. Digitou “Google Maps” e clicou em pesquisar. Começou sua aventura virtual. Iniciou seu passeio pela Ponte Rio-Niterói, sentindo a brisa da Baía de Guanabara entrando pela janela aberta do carro de sua mãe. Seguiu pela área das Barcas, imaginando como seria se tudo estivesse “normal”. Chegou ao Pé Pequeno, singelo bairro repleto de lindas casas, relembrando muitos bons momentos vividos.
Apesar de não sentir a paz e o cheiro de rosas que Maria transmite, só pelo fato de retornar à sua casa por meio da internet, Clara já se sentiu muito feliz e realizada. Em tempos de confina-mento, quando a linda menina se deparou com a falta de uma festança, o amor e o aconchego da família e amigos representaram um verdadeiro refúgio e foram os mais importantes elementos a fazerem a ligação da sua saudade com o imenso afeto que preenchia sua vida.
Maria Carolina Insua
73
Botafogo, um retrato da desigualdade
Ao lado de apartamento luxuosos, as favelas (Santa Marta e Tabajaras), os moradores de rua e casas caindo aos pedaços: essa é a perfeita definição do bairro de Botafogo do Rio de Ja-neiro. Não podemos esquecer dos bares os quais lotam todos os finais de semana, chegando a parar o tráfego de carros. Contudo, junto com a farra, há crianças vendendo bala e pessoas em situação de rua, implorando por comida. Normalmente, eles são ignorados pelos jovens privile-giados que estão comemorando com uma cerveja na mão.
O contraste de classe é forte em qualquer rua do bairro. Ao lado de colégios de elite, a fave-la e a violência. Em épocas quando o conflito oriundo do tráfico de drogas se agrava, a vigilân-cia para que todos os jovens privilegiados estejam seguros aumenta, enquanto a segurança das famílias que moram na região de embate sequer é questionada.
Em algumas ruas, como Visconde Silva, Camuirano, Dona Mariana e Mena Barreto, a pre-sença de casas destruídas pelo tempo é enorme. Entretanto, a negligência da prefeitura perante as propriedades históricas não é a única preocupação, pois, dentro desses ambientes abando-nados, há famílias inteiras as ocupando sem mínimas condições de habitabilidade. Assim, um ambiente insalubre torna-se um lar para vários invisíveis perante a sociedade.
Debaixo do viaduto da Praia de Botafogo, as pessoas em situação de rua se juntam. A praia não é local de passeio para quase ninguém dos ditos privilegiados, tendo em vista que é suja e fica perto do local onde os “mendigos” se abrigam. Já o Botafogo Praia shopping ganha atenção da classe mais alta, posto que proíbe a entrada dos esquecidos, que são considerados um incômodo a todos.
Para além desses desníveis todos, o bairro abriga, com orgulho, vários centros culturais, como o cinema Net Botafogo, a Casa Ruy Barbosa, uma universidade, entre outros. No entanto, o acesso só é permitido aos moradores beneficiados, visto que, em muitos desses locais, o in-gresso é pago, o que acaba impedindo a classe mais pobre de entrar.
Não podemos nos esquecer das enchentes no bairro. Em qualquer chuva mais forte que aconteça, as ruas alagam e andar por Botafogo fica fora de cogitação. Para aqueles que vivem em ambientes confortáveis, a chuva só atrapalha as noitadas, todavia, para todos os invisíveis, a chuva vira uma enorme dor de cabeça. Dessa forma, as famílias que moram nas casas aban-donadas, os moradores das comunidades e as pessoas em situação de rua precisam se virar para sobreviverem até o fim do alagamento. Várias famílias perdem todos os seus pertences, as suas casas ou até as próprias vidas, além de ficarem mais expostos a pegar doenças ou infecções.
Por fim, o grande problema de Botafogo é que, apesar de toda a desigualdade existente nele, o bairro continua sendo um dos dez mais procurados no município do Rio de Janeiro. As construções de prédios aumentam a cada ano e, consequentemente, a alta classe se torna mais presente. Logo, ao se tornar mais existente, se incomodam com os não privilegiados, não porque vivem em péssimas condições, mas porque, segundo eles, atrapalham o desenvolvimento do bairro. Desse modo, o bairro de Botafogo é só um pequeno exemplo de toda a zona sul da cidade do Rio de Janeiro: muita desigualdade social, negligência da prefeitura e a falta de empatia da parcela mais rica.
Fernanda Firpo
74
O que mata a curiosidade?
Lara não está mais no seu ambiente natural, está longe das coisas de que mais gosta: praia, bares, shoppings, parques, museus — tudo quanto traz sensação de movimento. A me-nina, que é fascinada por pessoas e suas histórias, foi se isolar em um lugar onde ela deveria fazer suas próprias; se não, sua cabeça ficaria no silêncio.
Na casa de sua avó Madalena, em Penedo, mergulha-se na sensação de se ter entrado em uma máquina do tempo, com a mobília que parece ter sido tirada de um filme dos anos 1960: tudo se mostra como produto da magia do tempo. Por curiosidade ou extremo tédio, Lara estabelece uma busca por algo que desperte em si um mistério; por isso, começa a fuxicar os armários, as gavetas, as estantes e tudo quanto se assemelhe a bagunça na casa. Até que acha não só um mistério, mas também um romance, surgido, para ela, em forma de um envelope.
Dentro do envelope, uma fotografia, na qual via-se a imagem de uma bela cerejeira. No verso, estava escrito “me encontre às cinco horas”. A menina logo teve a sensação de que já tinha visto aquela árvore em algum lugar; então, pegou seu celular - como todo jovem faz quando precisa revolver uma inquietação - e deu um passeio virtual pelo bairro, onde a casa de sua avó se localizava, com o famoso “Google Maps”. Assim, Lara encontrou a tal cerejeira, em um parque perto da casa. Sua imaginação começou a elaborar milhões de opções acerca do motivo do encontro previsto na foto. Logo, foi correndo ver se sua mãe sabia de algo, e era, realmente, mágica a história que ela contou.
“O ano era o de 1960. Meu pai trabalhava em uma mineradora no norte de São Paulo, e minha mãe morava em Penedo, no interior do Rio de Janeiro. Ela era professora em uma escola da cidade. Os dois se conheceram em um evento em São Paulo, no qual conversaram a noite inteira. Acabaram se vendo o final de semana todo - enquanto estavam lá. Apaixona-ram-se à primeira vista; porém, a despedida foi dolorosa demais. Até que, um dia, ela recebeu essa carta. Quando leu seu conteúdo, já sabia que era do seu amor paulista por intuição. Foi correndo para a tal cerejeira, onde lá estava ele, ajoelhado, pedindo-a em casamento.”
Lara sentiu-se anestesiada com essa história: esqueceu, por um momento, tudo o que estava acontecendo no presente – a pandemia da Covid-19, o isolamento, as incertezas –;es-queceu o porquê de ela ter saído de sua cidade, o Rio de Janeiro – a saudade, a praia, os ba-res, os shoppings, os parques, os museus –; e só pensou se um dia ela iria ser amada como sua avó foi. Logo em seguida, voltou para a realidade com a “fome” de “quero mais”; então, continuou a busca por novos mistérios, que alimentassem o seu fascínio por pessoas e suas histórias, a sua sede por movimento – fora de seu próprio eu –; enfim, sua curiosidade pela magia real do mundo.
Maria Julia Lobianco
75
Presente de Natal
A minha família é do interior do Ceará, e nos mudamos para o Rio de Janeiro quando eu era bem pequena, mas voltávamos todas as férias para visitar os parentes que lá permaneceram. Entre a cidade e a roça, eu e minha irmã crescemos: no Rio, colo de mãe; lá, colo de avó. As minhas férias eram as mais divertidas possíveis: acordávamos no sítio do vovô, seu Manuel, e tomávamos café com a família inteira – avôs, pais, tios e primos.
O dia seguia, nos dividíamos entre cuidar dos bichos com vovô e fazer criancices, andá-vamos a cavalo, subíamos nas goiabeiras e brincávamos na lama. De noite, nos arrumávamos para dormir e escutávamos milhares de histórias que vovó, dona Helena, tinha na manga para nos contar.
Crescemos, a família continuou unida, apesar dos quilômetros de distância. Infelizmente, um distanciamento triste, agora real aconteceu. Depois de 60 anos de casados, minha avó se viu sozinha. A partida repentina de meu avô deixou um vazio, principalmente no sítio onde passá-vamos as férias, que se tornou grande demais para ela.
A propriedade continuou lá, só que sem vida. Não tive mais vontade de visitar o local, porque cada canto me lembrava do meu avô Manuel, de suas particularidades e encantos. As festas de final de ano foram deslocadas para a nova casa da vovó – não mais na roça; e, sim, de frente para o mar. Com muito pesar, as férias deixaram de ser no interior e passaram para a capital, onde meus tios moram, e minha avó não ficaria desamparada.
Durante nossa primeira ceia de Natal sem ele, assunto vai, assunto vem, começamos a fa-lar com a vovó sobre uma inovação tecnológica, que, para ela, era produto de ficção científica: uma ferramenta do Google que consiste em um carro rodando pelas cidades, tirando fotos para a internet. Minha avó não conseguia entender, nem visualizar o que falávamos. Ficou muito in-trigada, e meu primo pegou o celular para lhe mostrar a “mágica”. Digitou o endereço do sítio e, do nada, as risadas que os dois compartilhavam se transformaram em um silêncio absoluto.
A surpresa, para o resto da família, veio quando, do olho do meu primo, uma lágrima des-ceu, e minha avó, muito emocionada, falou “é ele”. Sem entender, minha irmã, impaciente, levantou-se, pegou o celular e viu que o “carro que fica rodando pelas cidades”, ao passar na frente do sítio de vovô subitamente captou uma imagem linda dele. Na foto, ele estava sorrindo, fechando o portão azul da entrada e acenando para a câmera.
Alguns choraram, mas, naquele momento, a cadeira sobrando na mesa e o vazio que existia em nossos corações se preencheu por um minuto. Assim, meu avô, com uma simples brincadei-ra, ao acenar para uma câmera que passava por ele, proporcionou a todos nós o adeus que muitos ali presentes não conseguiram lhe dar. Muita magia e amor nesse presente de Natal.
Maria Mariana Braga
76
8 KRENAK, Ailton. “O amanhã não está à venda”. São Paulo: Companhia das Letras, 2020; p. 2.9 Id., ib., p. 4.10 Id., ib., p. 11. 11 SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra. 9ª ed. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017; p. 50.
Quarta seção
Tempo de divulgar
Quando alguns engenheiros perguntaram ao líder indígena e ambientalista Ailton Krenak o que ele achava do uso de tecnologia para a recuperação das águas do Rio Doce, ele respondeu que sua opinião era muito difícil de colocar em prática. Seria necessário parar todas as atividades humanas que incidissem sobre o corpo do rio, a cem quilômetros nas margens direita e esquerda para ele voltar a ter vida. Um deles disse que isso era impossível, porque o mundo não podia parar. No livro “O amanhã não está à venda” (2020), em que conta esse episódio, Krenak mostra a infelicidade da análise do engenheiro “racional”: “E o mundo parou”.
Continuando, na mencionada obra, suas ponderações acerca deste momento de pandemia, o ativista fala da mentalidade doente que está dominado a todos, isto é, os “povos humanos e seu mundo artificial”. Sentindo-se expulso do que se chama “humanidade”, Krenak fala pelos excluídos, pelos idosos, pelos “improdutivos”, pelos invisíveis, pelos “incômodos” para a má-quina do mercado — que considera os seres indesejáveis ao universo de produção e consumo como meras “despesas”. O ambientalista diz que não sabemos se haverá um amanhã e que nosso esforço, hoje, seria provar que a humanidade não é uma mentira.
A insistência de alguns governantes em ignorar as recomendações de paralisação de ati-vidades, em prol de máquinas econômicas — que já estavam “pifando” antes de a tragédia se abater sobre o mundo —, fazia com que duvidássemos da acurácia do significado do adjetivo “humano”: alguém que mostra piedade, indulgência e compreensão para com outros seres. Em nosso país, enfrentávamos algo sem precedentes na história recente do Brasil e não tínhamos um direcionamento firme, seguro, produtor de soluções. Nossos “líderes” não acompanhavam as novas tendências das ciências econômicas.
Sim, isso mesmo; pois, vejamos: o filósofo e escritor Michael J. Sandel, em “O que dinheiro não compra” (2012), sustenta que, até o final do século XX, os economistas lidavam com ques-tões reconhecidamente de sua área, como inflação, desemprego, poupança, investimento, taxas de juros, comércio exterior. Entretanto, houve uma mudança nas demandas da humanidade: “Muitos economistas abraçaram um projeto muito mais ambicioso, porque a economia oferece (...) não apenas um conjunto de percepções sobre a produção e o consumo de bens materiais, mas também uma ciência do comportamento humano”.
8
9
10
11
77
Como ciência do estudo dos procedimentos dos seres humanos face a estímulos sociais, sentimentos e necessidades íntimas, a economia moderna se abre a um campo de lucubrações e estudos de novos hábitos. Na pandemia, por exemplo, muitos perderam o emprego ou se viram impedidos de trabalhar em virtude do risco de contaminação. Alguns abriram pequenos negócios de entrega de comida e objetos; de prestação de serviços; de confecção de artefatos. A proposta, acompanhando essa questão — que dá margem a infinitos desdobramentos —, era escrever sobre algum serviço, vigente na pandemia, que o aluno conhecesse e de que gostasse. Seria um texto informativo, mas que tentasse persuadir o leitor a aderir ao negócio. Poderia ser uma peça publicitária, uma resenha, uma crônica, até um conto que, de alguma maneira, colocasse o produto — ou o serviço, ou o (muito) pequeno empresário — como coprotagonista da história.
Vamos ler, agora, um excelente exemplo de texto que atendeu à proposta. A propaganda boca a boca é cada vez mais eficaz, pois é com a boca que comemos, cantamos, falamos, beijamos, rezamos — e gritamos, ao nascer, em nossa primeira e mais absolutamente radical interação.
78
Amor Entregue
Surgiu a pandemia, o desespero de ter que ficar em casa sem ter o que fazer. O isolamento social trouxe em sua bagagem o desespero, a ansiedade e as incertezas; afinal, quando poderí-amos voltar à vida normal? E quando voltarmos será que a vida vai ser diferente? O que será da gente?
Eu precisava ocupar minha mente, me sentir útil, fazendo algo de que eu gostasse e que também pudesse agradar os outros. Foi quando decidi pensar num projeto, a Amor Entregue, uma lojinha online no Instagram para vender doces e cestas que faço com muito carinho para adoçar o dia das pessoas nesse momento tão complicado.
Tudo começou quando eu fazia brownies para vender na escola, e todos os meus colegas me incentivavam a criar uma página para vender doces e conquistar clientes, mas eu não le-vava a ideia a sério. Quando a quarentena começou, mesmo com as aulas online da PUC, nas horas livres ainda surgia aquele tédio, aquela saudade da família, dos amigos que não pode-mos ver e até da rotina de correria.
Depois de muito tempo, me senti inspirada e resolvi colocar a ideia em prática. Entramos em junho, mês dos namorados, e pensei em fazer cestas, recheadas de brownies, cookies, palhas italianas, porta-retrato, caneca, flores, velas e, por último e não menos importante, o principal ingrediente: o amor. Muitos casais não podem se encontrar no momento, e enviar uma cesta com alguns docinhos é algo sentimental, um ato de carinho que vale mais que al-gum objeto material, sobretudo num período sensível e solitário como este.
Vários aderiram à ideia: grupos de amigos começaram a encomendar para aniversarian-tes, como forma de enviar um abraço, uma lembrança, uma maneira de dizer “queria estar ai com você nessa data especial”. Filhos presenteando seus pais, netos entregando amor para seus avós.
A hora da festa junina chegou! É mentira! Quando percebi que não poderíamos ir para as ruas nos deliciar com as comidas típicas e aproveitar o clima dessa festa, resolvi criar uma solução: por que não levar a festa junina até a casa das pessoas? Montei uma “Cesta Junina”, com a decoração e os doces mais comuns – bandeirinhas, chapeuzinhos, tecido com desenhos juninos; docinhos como canjica, cocada, pé-de-moleque, queijadinha, quindim, paçoca; e o nosso preferido brownie da casa que não podia faltar!
Acredito que, nos tempos difíceis, temos que nos adaptar à nova realidade, buscando algo que ocupe nossa mente e, quem sabe, que inicie um novo ciclo de vida, com mudanças. De-vemos usar as dificuldades a nosso favor, fazer com que os dias ruins nos tornem mais fortes, ter resiliência, seguir em frente e levantar a cabeça. Com a Amor Entregue, busquei um novo hobby, uma nova ocupação: tudo é feito com muito carinho, cada detalhe é pensado cuidado-samente e o maior objetivo é adoçar a vida das pessoas.
Larissa Amaral
79
12 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016; p. 7.
Quinta seção
Tempo de reconhecer
Talvez pelo confinamento, talvez pela interiorização provocada por ele, talvez pela vontade de falar de pessoas a quem amamos, a quem admiramos, a quem vemos como exemplos — per-to ou longe —, sentindo delas saudade, sempre. Talvez porque estivéssemos perto do Dia das Mães, essa data originalmente comercial, mas que mexe com pessoas boas e ingênuas, crédulas na existência de dias para homenagear os merecedores de idolatria em todos os segundos da ma-téria do tempo. Talvez por tudo isso e por mais um pouco. Talvez. O fato é que fiz uma proposta para reconhecer, agradecer, retratar mulheres importantes na vida da gente. Só mulheres? Esse quadro poderia se ampliar, claro; mas as mulheres têm um lugar especial, exato, inelutável e, contudo, muito menosprezado na História, não é? É, sim. Pois bem, ficamos deste modo: côni-cas, contos, artigos, até perfis — feitos a partir de pesquisas e/ou entrevistas — seriam bons para escrever acerca de figuras marcantes, representantes do feminino no mundo.
E falar em feminino lembra muitas ativistas, cientistas, donas de casa, domésticas, autoras, artistas, enfim, profissionais variadas, todas maravilhosas em suas searas. Vou buscar Conceição Evaristo, uma incrível escritora e pesquisadora que fala sempre das “elas” de nosso desigual país, cheio de machismos e preconceitos. Quando Conceição juntou os textos que escrevera sobre mulheres entrevistadas por ela, para o livro “Insubmissas lágrimas de mulheres”, expli-cou, em uma espécie de prefácio, que tais histórias não eram totalmente dela, mas quase que lhe pertenciam, na medida em que, às vezes, se “(con)fundiam” com as dela: “Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu”.
Entre invenções e fatos, recordações e traições da memória, emoções e opiniões, encontros e perdas, vamos ler as linhas cheias de amor e talento que veremos a seguir. Talvez porque tenha gostado tanto; talvez pelo confinamento; talvez por essa lua linda aí no céu — estão vendo? —; talvez por tudo isso e por mais um pouco. Talvez. Uma homenagem é um gesto de admiração e de respeito por alguém, uma reverência, um tributo. A homenagem faz parte do amor. E o amor constrói a única ponte que segue iluminada quando a escuridão parece ter vencido todo os jogos, todas as corridas, todas as apostas. A ponte fica lá, brilhando no céu, como essa lua deslumbrante — estão vendo agora? —, como esses textos suaves e emocionados — estão lendo agora? —, como as nossas inquebrantáveis, infatigáveis e infinitas recordações.
12
80
Minha maior inspiração
Mamãe — forma pela qual os filhos e filhas se dirigem às suas mães —, uma palavra tão doce e linda de se falar; entretanto, para algumas pessoas, essa palavra pode não ser doce e linda e não significar absolutamente nada ou pode não ter um significado muito importante. Para es-sas pessoas, esse termo “mamãe” pode remeter a memórias ruins de uma perda ou inexistência, causando algum “trauma”.
Para mim, essa palavra não agrega somente momentos felizes, mas também momentos de aprendizado como “caiu”, “levanta, segue em frente até o final”. Minha mãe, Carla Cabral, não é perfeita, mas ela faz de tudo para ser a melhor: cada bronca e cada discussão, mesmo que “inú-til”, me serviram de aprendizado e me fizeram crescer cada vez mais. Além disso, ela também é uma das minhas maiores motivações para querer ser quem eu sou, lutar e batalhar para realizar meus sonhos.
Minha mãe é uma mulher incrível, que teve a oportunidade de trabalhar com diversos even-tos esportivos — ligados, principalmente, a futebol e a esportes olímpicos —, o que me motiva mais ainda a querer seguir em frente e trabalhar com o jornalismo voltado ao esporte.
Cada dia que passava sem vê-la, porque ela estava trabalhando em certames importantes — Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo (2014), Olímpiadas de Londres (2012), Olimpíadas de Inverno de Sochi (2014) e Olímpiadas de 2016 no Brasil —, me faziam pensar e acreditar que as noites mal dormidas, as olheiras e as bolsas nos olhos dela valiam a pena. Ela mesma me fez crer no fato de que quem acredita sempre alcança e realiza cada um dos seus sonhos.
Sempre fui e sempre serei eternamente grata por cada coisa que a minha mãe fez, faz e fará por mim, por cada segundo dedicado especialmente para mim. Tenho certeza de que não seria nada sem ela ao meu lado me apoiando, me ajudando a ter forças para seguir em frente em momentos difíceis. Tenho certeza de que ela me inspirou a ter garra e determinação. Tenho certeza de que sempre apreciarei a luta de minha mãe para me ver sempre feliz, com um sorriso estampado em meu rosto.
Laura Alonso
81
Não tinha que ter acontecido
Minha cabeça doía de tanto chorar. Fui dormir com o sol raiando, e acordei antes de meio dia, com a minha mãe indo às pressas para o hospital, pois os médicos haviam pedido que os filhos comparecessem, mas que eu não podia acompanhá-la. O que me restava era esperar por uma resposta, e torcer que tudo ficasse bem. Depois de um tempo me remexendo na cama, deci-di levantar-me para comer alguma coisa, apesar de não estar com fome. Meus pensamentos me atacavam com várias perguntas, de que eu não queria saber a resposta.
Para tentar espairecer, sentei-me no sofá da sala e tentei esvaziar minha mente com a res-piração que minha mãe ensinara. Era difícil focar, principalmente quando minha mente estava cheia de questionamentos sobre o futuro, e. depois de uns cinco minutos. eu desisti de tentar me acalmar. Assim que abri os olhos e olhei para varanda, vi que alguém estava lá em pé, obser-vando a vista. Com seus cabelos castanhos e as raízes brancas bem aparentes, minha avó estava de costas para mim. contemplando a paisagem enquanto fumava um cigarro e bebia um uísque.
“Avó? Como você chegou aqui? Eu não te ouvi entrando. Cadê minha mãe? Ela disse que ia te ver no hospital, os médicos…” - antes de completar a fala, minha avó se virou para mim e sorriu. Não via um sorriso desses há tempos, desde que descobrimos o câncer dela. Ela estava linda, como sempre foi.
Eu desisti de qualquer explicação que ela iria me dar e fui direto aos seus braços. Senti que ela me envolvia em um abraço, e ficamos assim por um tempo. Finalmente aquela sensação gostosa de segurança tinha voltado.
“Vó, você não sabe o medo de que eu estava em te perder…” - disse enquanto chorava em seu ombro.
“Me perder? Você está louca? Você nunca vai me perder, eu sempre vou estar aqui. Com você. Para sempre” - me respondeu se afastando do abraço e olhando no fundo dos meus olhos.
Ficamos um tempo nos olhando profundamente. Seus olhos castanhos estavam cheios de vida e até pintados. Ela estava com aquela sua típica roupa preta e a sapatilha prateada que sem-pre usava.
“Vó, agora você pode me explicar como você chegou aqui? Cadê minha mãe… O que aconteceu?” - perguntei quebrando o silêncio
“Eu tenho a chave da sua casa, esqueceu? Sempre vou estar presente” - respondeu enquanto se sentava em uma das poltronas- “Sua mãe chega daqui a pouco, eu vim na frente porque queria falar com você…Queria te explicar que eu estou bem agora, sem dor nenhuma.”
“Então você está curada?” - questionei“Podemos dizer que sim…”Eu estava muito feliz pelas notícias. Depois de três meses de muito sofrimento, minha avó
havia voltado ao normal. Ela sempre fora uma mulher batalhadora, e sabia que iria passar por essa, apesar de achar a cada dia que eu a estava perdendo. Ficamos conversando por quase meia hora, e eu toda vez lhe dizia o pesadelo que foi achar que iria perdê-la.
“Eu já te disse… Você nunca vai me perder.” - repetiaNa semana que passou, a gente quase não conversou, isso porque ela estava muito doente
e não conseguia falar e nem andar. Mas sempre soube a batalhadora que minha avó é, então
Fernanda Firpo
82
minhas esperanças nunca se foram. Ela já tinha passado por tanto… aprendeu a ler com três anos, entrou na faculdade com 16, criou três filhos praticamente sozinha e, mesmo passando por várias dificuldades, ela sempre fez de tudo por quem ela amava. Os seus três netos -- eu, meu irmão e meu primo -- somos muito sortudos de tê-la em nossas vidas. Ela é uma avó presente para tudo, e fazia de tudo para nos ver feliz.
Enquanto conversávamos, lembrei das vezes que ela me buscou em festas de madrugada, de quando eu passava dias na casa dela, das vezes que ela me levava para a psicóloga, médico, atividades extracurriculares, escola… Das vezes em que eu ia às dez horas da noite a casa dela para ela costurar uma roupa minha, e principalmente de ela segurando minha mão e me abra-çando nos meus piores momentos. Nessa conversa que a gente teve, eu percebi que a minha avó era meu mundo, meu suporte e meu porto seguro.
“Vó, eu te amo tanto. Nunca vou conseguir agradecer o que você fez para mim nesses últi-mos dezessete anos. Você é a melhor pessoa que já conheci.”
“Eu também te amo.” - respondeuEla se levantou da poltrona e me deu um beijo na testa. Eu a abracei tão forte, que achei que
nós nunca mais iríamos nos soltar. Ela saiu da varanda e foi em direção à cozinha, provavelmen-te para comer alguma coisa. Nesse momento ouvi a maçaneta da porta virar, e vi que minha mãe e meu pai estavam chegando em casa. Fui me levantar para avisar que a vovó já havia chegado e que estava tudo bem, mas logo percebi algo de errado em seus semblantes. Os dois estavam sérios demais, e minha mãe estava com o rosto inchado, de quem havia chorado muito.
“O que aconteceu?” - perguntei“Sua avó morreu…” - minha mãe respondeu
83
Mulher do futuro
Martha Rique Reis foi uma mulher contemporânea. Vivia à frente de seu tempo, e lutava por lutas que não necessariamente eram suas: mas sua felicidade advinha disso. Pedagoga e Assistente Social pela Universidade Federal Fluminense, seu ativismo era pautado em ajudar a quem mais necessitava. Nascida em João Pessoa, porém criada em Niterói, deixou um legado de projetos sociais na cidade. Em 1958, Quando tinha apenas 30 anos, fundou a Associação Fluminense de Reabilitação (ARF), uma instituição filantrópica e pioneira que tem como foco melhorar a quali-dade de vida de pessoas com deficiência. O espírito de ajuda e solidariedade de Martha se mostra presente até hoje, com mais de 20.000 atendimentos mensais realizados na ARF.
Alguns anos mais tarde, durante a ditadura civil-militar, ela passou por momentos difíceis. Seu marido, Geraldo Reis, professor de português e deputado estadual pelo Partido Socialista Bra-sileiro, teve seu mandato cassado e foi preso. Passou por três presídios diferentes, até ser solto por conta de problemas de saúde que foram agravados no cárcere, o que levou à sua morte em 1973. Foi homenageado, então, em um CIEP em Niterói batizado com seu nome, o Colégio Universi-tário Geraldo Reis, da UFF. Mesmo enlutada, isso não foi motivo para enfraquecer seu ativismo: esses momentos de dor e tristeza a tornaram uma mulher mais forte ainda do que já era.
É possível perceber que Martha era uma mulher cercada de figuras também ativistas e ins-pirava quem estava ao seu redor. Seu filho Aquiles, músico do MPB4, foi eleito presidente da União Brasileira de Estudantes (UBES) e participava do Centro Popular de Niterói — teve uma intensa participação política estudantil durante a ditadura. Além disso, com sua música, Aquiles cantava como forma de resistência durante tempos tão difíceis – como faz até os dias de hoje. Nesse período, o campo de Martha era a solidariedade com as famílias perseguidas durante o regime: ela oferecia ajuda a quem precisava.
Anos depois, o foco de seu ativismo mudou para uma causa igualmente nobre: ajudar pes-soas com HiV e AIDS, e lutar pelos direitos dos transsexuais. Atualmente ainda vemos, infeliz-mente, muito preconceito contra a comunidade LGBT, e, naquela época, quando era tudo muito novo e desconhecido, Martha os acolheu de braços abertos. Ela foi a assistente social do escritor e psicólogo João W. Nery, primeiro homem trans a realizar a cirurgia de redesignação sexual no Brasil, em 1977. Em seu livro “Viagem Solitária”, ele conta as dificuldades do processo de identificação e luta, e o dedica à Martha, por sua luta pela causa dos transsexuais. Tal trabalho de apoio aos transsexuais em processo de transição ainda era considerado crime, mas isso não foi um impedimento para Martha, sempre resistente e mostrando sua força.
Então, botando sua luta ainda mais em prática, ela foi uma das formadoras do Grupo Pela Vid-da Niterói, sendo a sua primeira vice-presidente, e ajudou milhares de pessoas afetadas pela AIDS, doença que, nos anos 1990, era ainda muito desconhecida e envolta de preconceitos e temores.
Martha era uma mulher sem discriminações, com uma força inspiradora, que, mesmo com as inúmeras adversidades da época, nunca parou de ser quem era e de trabalhar no que acredita-va. Seu instinto feminino era de ajudar e apoiar, desde nova, até seus últimos dias aqui. Criou o projeto Criança=Vidda, focando em ajudar as crianças afetadas pela AIDS, e recebeu o prêmio “Destaques” na área da saúde, proposto pelo senador Eduardo Suplicy.
Luísa Reis
84
Era uma mulher do futuro. Quando faleceu, em 2015, tenho certeza de que estava grata: as pessoas haviam finalmente alcançado sua mentalidade contemporânea, tão julgada anterior-mente. Com certeza não são todos – o preconceito existe até hoje –, mas ver quantos resultados positivos seu trabalho teve é gratificante para uma mulher de tanta garra. A sede do Grupo Pela Vidda, em Niterói, leva seu nome e foi inaugurada no final de 2014. Ela estava viva para ver seu trabalho e sua luta serem reconhecidos, merecidamente. Martha exalava força e determinação, e deixou um legado essencial para um mundo mais justo e com mais amor. Melhorou vidas, direta e indiretamente, e faz isso até hoje — frutos de tanta dedicação. Mesmo tendo nascido em 1928, nunca se contentou em se limitar ao que esperavam dela na época: sua essência feminina era de luta e garra. E sua força transformou vidas. Sempre existirá uma mulher do futuro dentro de você, basta ter coragem o suficiente para resgatá-la.
85
Sexta seção
Tempo de viajarno tempo
Chove. Pode ser que não lá fora — até pode mesmo estar caindo alguma água desse céu sempre cheio de surpresas e possibilidades —, mas, quando queremos, em algumas ocasiões, pode chover dentro de nós. Estamos em casa agora — percebeu a chuva? —, observando o mun-do lutar para se manter (melhor seria mudar tudo, não é?) dentro de alguns padrões que tornaram nosso cotidiano desigual, injusto, artificial, apartado da natureza. Viajemos, então. Vamos ex-plorar outros tempos, outros instantes da história da humanidade. Momentos diversos dentro de nós; dentro do dentro, e profundamente, dentro do dentro do dentro do nosso ser. Sonharemos, mergulharemos em outras épocas e momentos ao alcance do nosso conhecimento de mundo e da nossa imaginação.
E a nossa imaginação é lugar de fertilidade, de criação, de inventividade, de produção de ideias e possibilidades. Ítalo Calvino (1923-1985), em “Visibilidade” — uma de suas propostas para o milênio em que vivemos —, a partir de um verso de Dante Alighieri (1265-1321), no “Purgató-rio” (XVII, 25), constata que o sonho e a imaginação são “lugares” dentro dos quais chove. Esse processo de chuva — essa condensação do vapor de água da atmosfera em gotas que caem sobre o solo; essa grande quantidade de algo que nos fertiliza a vida; essa embriaguez de uma bebedeira sem medidas — é explicado por Calvino com exemplos da “Divina Comédia” e de diversos outros autores de literatura, de psicologia, de física, dentre outros ramos do saber.
Para Calvino, as “realidades” e as “fantasias” tomam forma pelo processo de escrita, no qual exterioridade e interioridade, mundo e ego, experiência e fantasia aparecem compostos pela mesma matéria verbal: “páginas inteiras de sinais alinhados, encostados uns aos outros como grãos de areia representando o espetáculo variegado do mundo numa superfície sempre igual e sempre diversa, como as dunas impelidas pelo vento do deserto”.
Temos muito a tornar visível em forma de palavras, a descobrir, a explorar, a esquadrinhar dentro de nosso mundo, na nossa interioridade — uma mais profunda que a essência das próprias profundezas em si. Para o jornalista e escritor Louis Pauwels (1920-1997), a verdadeira imagina-ção não se alimenta de fugas para o irreal, mas do físico, do corpóreo, do material, do revelado. A capacidade do sujeito de representar imagens se alarga se a explorarmos em profusão: “Nenhuma faculdade do espírito se afunda e penetra mais que a imaginação: é ela a grande mergulhadora”. A imaginação, quando aguçada, torna-se uma exímia mergulhadora no mar de histórias e conheci-mentos que trazemos de nossas leituras, observações, lembranças e “memórias genéticas”.
13 CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. Trad.: Ivo Barroso SP: Cia das Letras, 1990; p. 97 e 114. 14 PAUWELS, Louis. O despertar dos mágicos. Trad.: Gina de Freitas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988; p.23-25.
13
14
86
No nosso tapete voador, que mergulha no mar como o faria um pássaro inebriado de fun-dura, nadamos no ar, vagamos, nas tempestades, em torno de narrativas que nos preenchem o inconsciente e a experiência. Tudo isso nos provoca imensa satisfação, um grande deleite. Às vezes, enlevado, Garcia Márquez (1928-2014), enquanto trabalhava em seus “Doze contos pe-regrinos”, se sentia escrevendo pelo puro “prazer de narrar, que é talvez o estado humano que mais se parece à levitação”.
Levitemos com os melhores narradores. Façamos como eles: vamos deslizar no tempo, criando suspense, horror, emoção. Assim, vivenciaríamos as agruras do mundo e outros mun-dos, simbolizando nosso isolamento físico, nossas apreensões. Vamos construir o terror nas histórias, apartadas de nós pelo tempo, distantes de nossa dor pelas barreiras que separam — deixando frestas — passado e presente, narrador e autor, personagem e ator social. Vamos usar a estratégia da simbolização para recriar o nosso mundo em nós (conto); vamos estudar algum fato do passado e ligá-lo ao presente em uma reflexão (artigo); vamos falar do passado de alguém que conhecemos, tecendo comentários sem medo da subjetividade (crônica). Histórias — e tex-tos variados — para falar da História e das nossas linhas narrativas.
Entretanto, temos que estar atentos — atenção novamente e sempre. Mesmo as melhores histórias, mesmo as mais verídicas, nem essas podem nos salvar de nossa loucura. Essa afirmação está no final de “A cidade das palavras: as histórias que contamos para saber quem somos” (2007), de Alberto Manguel. Para esse erudito escritor e tradutor, as histórias não podem nos proteger do sofrimento e do erro, de catástrofes naturais ou humanas, e de nossa cobiça suicida. No entanto, algumas vezes, por razões impossíveis de prever, podem fazer com que percebamos essa demência e essa ambição desmedida. A partir dessa conscientização, voltaríamos um olhar vigilante para nossas cada vez mais perfeitas tecnologias e teríamos um lenitivo para nossas dores e esperanças no tempo que está por vir: “As histórias podem nos dizer quem somos, o que são essas ampulhetas pelas quais passamos, como podem nos ajudar a imaginar um futuro em que, sem finais felizes e confortáveis, possamos continuar vivos e juntos nesta terra tão devastada”.
Vamos às histórias.
15 MÁRQUEZ, Gabriel Garcia. Doze contos peregrinos. Trad.: Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: Record, 1992; p. 14.16 MANGUEL, Alberto. A cidade das palavras: as histórias que contamos para saber quem somos. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2008; p. 130-131.
15
16
87
Espada
Naquela manhã, ao abrir os olhos, já pressentia um daqueles dias maravilhosos em que finalmente eu viveria algo fora da rotina do governo, livre do tédio deste reino pequeno e monó-tono. No curtíssimo período de tempo em que saía da cama, imaginava inúmeras possibilidades do que poderia acontecer para o meu dia não ser insuportável: talvez uma visita inesperada de algum parente. Quem sabe ganhar uma corrida a cavalo; ou finalmente acertar o alvo no arco e flecha. Calcei minhas pantufas, extremamente confortáveis, e levantei da cama lentamente. Os dois serviçais — um, baixinho e gordinho; o outro, alto, esbelto e narigudo — que sempre me acompanhavam, estavam em meu quarto e olhavam-me com um certo medo, como se esti-vessem nervosos. Um deles se aproximou e vestiu-me o roupão, enquanto o outro terminava de preparar o chá e as frutas que eu costumava saborear pela manhã. Sentei-me no pequeno sofá e comecei a degustar o melhor “black tea” do reino, quando o meu secretário Albert entrou em meu aposento, aflito, e disse:
— Bom dia, Vossa Majestade. Trago notícias!— Fale-me! — respondi, enquanto saboreava um delicioso mirtilo.— Vossa Majestade, não vejo outro forma de dizer. Phillip está morto! — disse AlbertAs palavras penetraram meus ouvidos como flechas em direção ao meu coração. Senti
amargura, tristeza e raiva, tudo ao mesmo tempo. Então, questionei:— Como assim, Albert? Como isso pode acontecer? Ele era tão saudável!— Com certeza ele era saudável, Majestade. O Phillip foi encontrado com uma de vossas
espadas fincada no pescoço.— Minha espada?— Sim, Majestade! Aquela ali. — Albert apontou para a parede do meu quarto, onde
havia um expositor de espadas lindo, todo confeccionado em madeira avermelhada. O am-biente era decorado com cinco espadas magníficas, fabricadas pelo melhor ferreiro do reino. No entanto, a minha espada mais bonita, a que ficava no centro do expositor, com uma cobra forjada em ouro como pomo, não estava mais lá. Durante a noite, ela havia sido usada para arrancar Phillip de mim.
Confesso que algumas lágrimas escorriam pelo meu rosto. Fiquei muito abalado. Na minha cabeça, nada fazia sentido. Como alguém poderia fincar uma espada em um cavalo? Ainda mais um cavalo tão esbelto como Phillip. Ele era meu melhor cavalo, o mais bonito do reino. Tinha o pelo branco como a neve, que nesse instante deveria estar banhado em sangue. Quem fez isso não gostava de mim. Parando para pensar, era difícil um rei ter admiradores.
Depois dessa “bomba” pela manhã, não consegui parar de pensar em Phillip. Apesar do meu sofrimento, precisava achar o culpado. Sentia medo também de ser a próxima vítima desse assassino. Poderia simplesmente transferir o problema para que os cavaleiros reais o solucionas-sem; entretanto, qualquer um que morava em meu castelo poderia ser o culpado.
Juntei-me à única pessoa que era realmente meu amigo com o intuito de resolver o mistério, meu serviçal chamado Harry — jovem baixo, robusto, que estava sempre fedendo a cocô de cavalo, pois era o cuidador de todos os animais do meu castelo. Harry se encontrou comigo no cômodo secreto para o qual meu quarto tinha passagem. Começamos a selecionar os principais
Dudu Guimas
88
suspeitos: pessoas do castelo que tinham acesso fácil ao meu quarto e que poderiam estar irri-tadas comigo. Chegamos a três fortes candidatos: o serviçal gordinho, o serviçal narigudo e o cavaleiro alto, forte e com olhos verdes esmeralda, que me acompanhava para todos os lugares. Eu era, constantemente, rude com eles, e apenas eles estavam no meu quarto durante a noite. Os serviçais sempre passavam as noites em meu quarto, caso precisasse de algo, e o cavaleiro ficava de vigia.
Todos dias, eu fazia comentários ácidos em relação ao peso do meu serviçal. Duas se-manas antes do assassinato, havia proibido que ele entrasse na cozinha, ou tivesse acesso a qualquer comida do castelo. No entanto, depois que ele desmaiou, Albert me convenceu a desfazer a minha proibição.
O fato de eu ter mandado o cavaleiro matar muitas pessoas que tinham atrasos no pagamen-to dos impostos, como seu próprio pai, deve tê-lo deixado com bastante raiva de mim.
O narigudo demonstrava não gostar de minhas atitudes.Os três sabiam como me atingir e estavam irritados. Conversei bastante com Harry sobre
possíveis indícios que comprovavam a culpabilidade de algum deles. Depois de um bom tempo analisando, afirmei para Harry:
— Irei convocar os três.— Como assim? O que ireis fazer? — indagou Harry.— Anunciarei que cortarei a cabeça deles.— Sério? Cortar cabeças? Não sabemos se realmente foi algum deles, sem falar que estareis
matando dois inocentes.— Mas, então, o que farei?— Vamos questioná-los! — Não! Cortarei, pelo menos, a orelha deles.Harry não concordou com a minha solução para o problema, mas se calou. Ao anoitecer,
convoquei os três suspeitos para a sala do trono. Ao meu lado, estava o general dos cavaleiros. Os possíveis culpados se ajoelharam diante de mim. O silêncio que impregnava a sala ampliava a tensão. Então, quebrei o mal-estar:
— General, corte uma orelha de cada um deles.Os três se assustaram O general me olhou confuso, tirou sua espada da bainha e foi em di-
reção aos ajoelhados. — Mas, por quê, Majestade? Sempre fui tão leal. — disse o serviçal narigudo.Quando o general se preparava para cortar a orelha do narigudo, eu disse:— Espere, general! — olhei, lentamente, no olho de cada um deles. Estavam desesperados.— Vocês mataram meu cavalo! — gritei na direção deles, gerando um assustador eco
pela sala.— Não matamos! — disse o cavaleiro.— Como pode afirmar isso por vocês três? — questionei.Os três se entreolharam calados. O silêncio começou a me incomodar.— Falem! — ordenei novamente.
89
— Não fomos nós! — disse, em baixo volume, o gordinho.Já estava ficando vermelho de raiva, quando o narigudo decidiu explicar.— Ontem à noite, nós três estávamos em vosso quarto, conversando bem baixinho, até que
Vossa Majestade levantou-se. Vossos olhos estavam abertos, nós vos chamamos, mas, como sempre, não respondestes. Ontem, foi um daqueles dias em que vós andáveis enquanto dormíeis. Da maneira como fomos treinados, tentamos colocar-vos de volta à cama.
Nesse momento, o narigudo ficou nervoso, abaixou a cabeça e parou de falar. — Continue! — falei, tentando segurar a tensão dentro de mim.O cavaleiro levantou a cabeça e começou a relatar:— Enquanto eles vos tentavam colocar na cama, Vossa Majestade pegou a espada do pomo
de cobra e a apontou em nossa direção. Creio até que tenha se ferido no pescoço. Passei a mão em meu pescoço e pude sentir o corte. Sentia-me estranho, não sei como, mas
conseguia sentir verdade na história contada. O cavaleiro prosseguiu:— Não podia impedir-vos, lutando contra vós. Em seguida, saístes do quarto e seguimo-vos até o estábulo. Durante o ca-minho, tentávamos tirar a espada de vossa mão, mas não tivemos êxito: estava escuro e Vossa Majestade mexia-se muito.
Em minha mente, não tinha dúvidas em relação à veracidade desses acontecimentos. Era como seu eu pudesse rever as cenas que o cavaleiro descrevia... Sentia vontade de chorar, já estava prevendo o final. O cavaleiro concluiu:
— No estábulo, Vossa Majestade se aproximou de Phillip e ergueu a espada para atingi-lo. Mas, naquele exato momento, seus serviçais se atiraram em cima de vós, derrubando-vos no chão. Em seguida, conseguimos tirar a espada de vossas mãos. Subimos correndo para vos levar de volta para cama. Na confusão, acabamos esquecendo a espada no estábulo. Quem matou o cavalo, chegou lá depois de nós e usou a espada.
Acreditei plenamente no que ouvi. Desisti do castigo aos três que estavam ajoelhados na minha frente. Liberei-os para que saíssem da sala do trono. Fiquei horas calado, apenas refletin-do sobre tudo. Essa foi a primeira vez na qual demonstrei piedade diante de meus serviçais. Já era tarde da noite, quando decidi ir para cama. Caminhei lentamente em direção ao meu quarto; e meus serviçais, o gordinho e o narigudo, me arrumaram para dormir. Decidi que ficaria tran-cado em meu quarto durante a noite, com apenas um serviçal e escolhi o narigudo.
Enquanto já estava no décimo quinto sonho, o narigudo aproximou-se sorrateiramente de mim e empurrou-me para fora da cama, lentamente. Pegou a minha espada mais rebuscada, toda forjada em ouro, no lugar mais alto do meu expositor e fincou a espada rapidamente em meu pei-to. Cheguei a abrir os olhos, pude sentir o sangue escorrer pelo meu corpo e olhei no fundo dos olhos cheios de raiva do meu serviçal. Em seguida, o narigudo fechou meus olhos, posicionou minhas mãos de modo a segurar o cabo da espada, dando a entender que eu havia tirado minha própria vida, enquanto dormia.
90
Tinha algo errado
Era verão de 84 e eu sabia que tinha algo de errado, mas não conseguia entender o quê. Correr à noite em uma direção desconhecida trazia um sentimento comum para mim e, ao mes-mo tempo, assustador. Em casa, recebi as cartas de meu amor, Júlio, que, por muito tempo, não escrevia para mim. Ser abandonada pelo meu pai me fez pensar que nenhum homem jamais me amaria, mas Júlio mudou isso. Carinhoso e atencioso; nunca o tinha visto, mas o imaginava alto e com lindos cabelos ruivos, sentia em cada palavra de suas cartas o quanto ele me entendia. Ouvi a campainha tocar, fiquei desconfiada, não esperava receber ninguém tarde da noite. Abri a porta e era minha mãe — parecia triste e com um olhar de decepção estampado no rosto. Con-videi-a para entrar, peguei uma cadeira e a trouxe em sua direção. Fui até o armário pegar um café: tudo estava empoeirado e o café tinha passado da validade. Abri a geladeira: uma banana preta e restos de comida estragadas. Olhei para minha mãe e disse:
- Tudo está estragado. Que estranho. Ontem mesmo fui às compras.Minha mãe se manteve em silêncio. Imaginei que ela tivesse visto as cartas de Júlio em
cima da mesa; ela nunca havia nos apoiado, sempre disse para eu parar de ler aquelas bobagens que nada daquilo faria parte do meu futuro. Entendo como deve ser difícil para ela entender o amor, afinal eu não fui a única abandonada pelo meu pai, mas eu sabia que Júlio era diferente. Ela levantou da cadeira, veio em minha direção e disse:
- Filha, você está bem?- Sim, mãe, o que aconteceu? A senhora parece tão estranha.. - respondi.- Filha, você precisa voltar.- Voltar? Voltar para onde mãe? Do que você está falando?Ela pegou em minha mão, olhou nos meus olhos e disse:- Para a clínica. Você precisa voltar para clínica.Soltei sua mão; não estava entendendo o que ela queria dizer com aquilo.- Clínica? Do que você está falando? Que clínica é essa? – perguntei, enfurecida.- Filha, por favor, senta aqui.Minha mãe puxou uma cadeira e se sentou juntamente a mim. Eu estava muito nervosa,
lembrei de quando era pequena e me estressava frequentemente com minha mãe - nós sempre brigávamos por motivos bobos. Segurando em minha mão, ela disse:
- Filha, você está internada na clínica São Lucas. Um hospital psiquiátrico. Levantei imediatamente, sentindo todas as partes do meu corpo paralisadas. Nenhuma da-
quelas palavras pareciam fazer sentido para mim. Ela continuou:-Você é doente, precisa de ajuda.Estava com raiva, muita raiva e não entendia por que minha mãe inventaria uma mentira
daquelas. Peguei minha bolsa e saí correndo daquele apartamento. Corri o mais rápido que pude, em direção à clínica São Lucas: eu precisava entender o porquê de a minha mãe mentir e manipular tudo aquilo. Chegando lá, todos me olhavam desconfiados:
- Gostaria de falar com o chefe desse lugar. Existem pessoas inventando mentiras e vocês precisam estar cientes.
Um médico imediatamente apareceu do meu lado. Ele era alto, ruivo, e tinha um rosto que
Fabi Santoro
91
me parecia familiar. Ele disse:- Clara, tudo bem? Sente-se aqui.Sentamos na recepção. Ele me lembrava alguém - talvez a imagem que eu tivesse de Júlio.- Clara, eu já imaginava que você iria aparecer. Como você está?- Como você sabe meu nome? Eu nunca te disse.- Existem certas coisas que você precisa entender, e preciso que você mantenha a calma.
Você é paciente daqui, há anos, e você sempre foge evolta. Eu e sua mãe lidamos com isso tem bastante tempo.- Paciente? Fujo? Fujo de onde? Para onde? Do que o senhor está falando? Você é parceiro
da minha mãe nisso tudo?- Clara, eu te diagnostiquei com esquizofrenia há três anos atrás e desde entãovocê é paciente da clínica. Você foge, e procura se abrigar em seu antigo apartamento, aon-
de ninguém vai desde que você iniciou o tratamento aqui, no São Lucas.- Isso é impossível. Eu recebo as cartas do Júlio toda segunda-feira, contando as novidades,
e em nenhuma carta ele menciona clínica ou internação. Ele está vindo me buscar, vamos morar juntos, já tivemos várias conversas sobre isso.
Senti o médico respirar fundo nesse momento. Eu tentava entender por mais complicado que fosse.
- O Júlio não é real. Você idealizou um homem em sua mente, as cartas que você recebe são escritas por você mesma. Você oscila entre o mundo real e o mundo da esquizofrenia.
- Não - disse gritando. - Isso não é verdade, ele diz coisas pra mim, nós fazemos planos.- Clara, você nunca foi amada por um homem, seu pai te abandonou e isso te deixou tão
perturbada que você idealizou o Júlio. Um homem perfeito, que te amava, como seu pai nunca te amou, mas ele não é real. Isso é seu inconsciente.
Eu pensei, e me veio flashbacks na cabeça. Algumas coisas se encaixavam, eu lembrava daquele lugar, das pessoas ao meu redor me tratando e me dando remédio.
- Eu quero me tratar. Se eu tiver isso eu quero me tratar, por favor, me ajude.- Você oscila e quase todo ano foge. Você foge e sempre volta. Já tivemos essa conversa
várias vezes e você sempre pede para se tratar, pede ajuda, mas você vive em um eterno looping.- Não, não é verdade - disse gritando.Eu me levantei e saí correndo. Senti meu coração a mil por hora. Eu queria ajuda, queria me
tratar, mas ninguém parecia querer me ajudar. Corri sem direção. Era verão de 84 e eu sabia que tinha algo de errado, mas não conseguia entender o quê. Correr à noite em uma direção desco-nhecida trazia um sentimento comum para mim e, ao mesmo tempo, assustador.
92
O castigo do Anhangá
Era uma quinta-feira, chegando no trabalho percebi que acontecia um pronunciamento no auditório da fábrica. Todos os funcionários se reuniram e em silêncio ouvimos que pela primeira vez em cem anos o controle da empresa não pertenceria mais à família Pereira. A fábrica agora estava sob o comando de Sr. Nunes. Ao ser anunciado, o homem alto de pele pálida subiu ao tablado, cumprimentou seus antecessores e tomou o microfone para anunciar sua posse: “Mu-danças, meus caros, sem elas não há progresso. É com tremendo orgulho que assumo a liderança da Anhangabaú Têxteis, juntos, elevá-la-emos à grandeza!”. A resposta de meus companheiros foi o choque, uns e outros expressavam surpresa ou desgosto com a noticia, mas a maioria es-tava incrédula e silenciosa.
Ao fim dos pronunciamentos todos já haviam se acalmado. Caminhando pelos corredores da antiga fábrica, vi as imagens das gerações que lá trabalharam. Pensei sobre minha trajetória - trinta anos trabalhando aqui - eu finalmente havia alcançado o cargo em que meu pai traba-lhou até o fim de sua vida. O velho Tarui veio da tribo Tupi e foi um dos primeiros indígenas a alcançar um cargo alto ainda no início do século XX. Cheguei na porta da sala da direção e bati: “Entre.”, escutei.
A antiga sala estava agora decorada com caixas de papelão, atrás da mesa, Sr. Pereira guar-dava seus últimos pertences.
- Pode falar, Iupã. - Não vim perguntar o motivo dessa mudança porque sei que se o senhor não me falou até
agora não quer que eu saiba, mas estou preocupado, e muito! Ele sabe?A expressão de meu chefe mudou de um desamparo digno de pena para uma seriedade as-
sustadora.- Ele não pode saber. Conto com você, Iupã. Por favor, siga o bom trabalho, custe o
que custar. Sr. Pereira nunca antes pareceu tão preocupado. Nós e meu finado pai éramos os únicos a
conhecer o segredo sinistro que garantiu a sobrevivência da fábrica durante um século. Ainda transtornado, saí da sala e me deparei com alguns de meus colegas da direção. Eles
esperavam na porta para ter conversas similares à que eu tive. Não pude responder as perguntas que me fizeram, eu mesmo tinha saído daquela sala com
mais perguntas do que quando entrei. Segui com pressa pelos longos corredores, não conseguia entender o porquê de tantos segredos. Passando pela porta do auditório vi meu novo chefe, Sr. Nunes, e me apresentei. O homem de feições sinistras se virou e estendeu a mão:
- Iupã, que tipo de trabalho o senhor exerce nesta empresa?- Sou coordenador de recursos humanos e meio ambiente. Pelo menos era esse o título oficial da minha função. - Meio ambiente…não teremos problemas, certo?- Porque teríamos, senhor?- Escute companheiro, estamos em 1960, com tecnologias de ponta, televisores, telefones.
Não existe mais espaço para quem prioriza a grama! Estamos entendidos?Ouvindo esse discurso entendi que meu antigo chefe estava certo, não adiantaria contar
Giulia Butler
93
com a parceria daquele homem, mesmo que a prosperidade da fábrica fosse de seu interesse. Sacudi sua mão novamente, simulando concordância e - por hora - encerrando o assunto.
Algumas semanas se passaram e a fábrica já não era mais a mesma. A nova gerência trouxe mudanças: imagens, arquivos e certificados que ilustravam a história daquele lugar tinham sido substituídos por câmeras de vigilância e frases motivacionais. O trabalho de todos estava mais rápido e focado, mas isso não se devia às frases que agora ilustravam toda a fábrica, e sim ao medo constante da demissão - dezoito funcionários já haviam sido despedidos, dez só na primei-ra semana. Ao ser chamado para a sala de meu novo chefe esse mesmo temor me atingia.
No caminho para a conversa possivelmente decisiva, escutei gritos que se aproximavam. Até que avistei Josué — o mais antigo funcionário da fábrica — coberto em sangue, seu pró-prio sangue. Ele gritava: “meu dedo, meu dedo”. Eu me juntei a ele na corrida até a saída, liguei para a ambulância mas já havia uma a caminho. Logo a ajuda chegou e Josué estava a salvo - sangue estancado e a caminho do hospital. O tumulto logo se dissipou mas o choque permaneceu conosco. Após anos trabalhando com o despejo de lixo, nosso estimado Josué nunca havia se acidentado.
Mesmo abalado, segui até a sala do Sr. Nunes. Antes que me sentasse em uma das cadeiras de couro ele se manifestou:
-Iupã, pode fechar a porta por favor? Acenei e fechei, ainda mais nervoso. -Obrigado. Bom, te chamei aqui para discutirmos as novas políticas em relação ao despejo
do resíduo de produção. É de meu conhecimento que estes vêm sendo enviados a uma segunda empresa que os coloca em um aterro sanitário, correto?
Concordei. -Consultei especialistas e isso me parece um gasto desnecessário, não há nada de muito
tóxico e não teria por que seguir com este esquema. A partir de hoje despejaremos aqui mesmo, no rio do Vale Anhangabaú.
Estava claro que Sr. Nunes sabia que os resíduos eram sim, tóxicos. O que ele não sabia era o que poderia acontecer com todos nós se aquela nova medida se concretizasse. A dis-cussão que seguiu o anúncio foi curta, percebi que para manter meu emprego, minhas ações teriam de ser secretas.
Peguei o que precisava para a oferenda, fumo e aguardente - dessa vez mais do que o usu-al - e segui para o bosque. Cantando a musica de proteção que aprendi com meu pai, deixei o presente no lugar de sempre.
Ao final do expediente fui visitar Josué no hospital. Ao chegar no endereço, antes que eu pudesse passar pelas grandes portas de vidro, avistei meu velho amigo e exclamei:
- Josué!- Iupã! Meu amigo respondeu, apressando o passo em minha direção. - Rapaz, veja, meu dedo está em perfeito estado! Os médicos acham que estou louco, quise-
ram me medicar, processar, um inferno. Pra eles foi pegadinha mas nós sabemos que não.
94
Disse em tom de riso.- Espera, como assim?- Meu filho, foi ele quem roubou meu dedo, o protetor do vale. Rapaz, seu pai sempre me
contou as histórias mas agora eu tenho certeza, é tudo verdade! Foi um pirarucu todo branco que engoliu meu dedo, o bicho brilhava prateado, lindo. A dor foi horrível, sangrei muito, mas quando cheguei aqui não tinha nada de errado, nem um arranhão.
- O senhor está certo disso? - Mais que certo rapaz! Estou morrendo de medo, ver o Anhangá nunca é bom sinal.- Josué, isso só pode ter acontecido por conta do acordo, Sr. Nunes não sabe e não pode
saber mas está desrespeitando o tratado que temos com o espírito.- Acordo? Com o Anhangá? Você endoidou, foi?- O espírito é justo, Josué. Enquanto cuidamos da mata, do rio e dos animais e oferecermos
uns agrados a ele, tudo fica bem. Foi assim que a fabrica conseguiu prosperar - meu pai, em 1890, explicou ao fundador da Anhangabaú Têxteis a lenda de todas as entidades que protegem o nosso Brasil. Meu velho começou o acordo e eu sigo a tradição.
- Eu confesso que desconfiava de algumas coisas…mas você precisa resolver isso! O lixo que estamos derramando no rio, isso que deve ter irritado a besta!
- Se o rio estiver mesmo prejudicado, não existe oferenda que segure a fúria do Anhangá.Mal me despedi e corri de volta para a fábrica, sabia que algo de ruim estava para acontecer.
A revolta do guardião guerreiro era justificável, mas a dor que ele poderia causar, essa ninguém sabe medir. Ao chegar na porta da fábrica me deparei com uma multidão sendo mantida por Sr. Nunes, que tentava impedir a debandada. Escutei, em meio aos gritos dos trabalhadores, Sr. Nunes exclamar furioso:
- Iupã, onde você estava? Isso é seu problema, relações humanas e meio ambiente, certo? Trate de resolver esta balbúrdia!
Cheguei mais perto do portão e me esforcei para que me escutassem - parecia que o caos havia tomado conta de todos ali.
- Afinal, o que está acontecendo?Entre as vozes dissonantes que respondiam em histeria, um nome era comum - Anhangá. Abri o portão apesar dos protestos de meu chefe - era meu dever, como profissional e
como indígena, proteger aquelas pessoas. Puxei pelo braço um amigo para entender o que acon-tecia, perguntei se eles haviam visto o Anhangá, se estavam feridos mas ele somente respondia, com um olhar vazio, aquele antigo verso de Gonçalves Dias:
“Fugireis procurando um asilo,Triste asilo por ínvio sertão;Anhangá de prazer há de rir-se,Vendo os vossos quão poucos serão”A previsão macabra me encheu de pavor - estava claro que nada seria capaz de apaziguar
a fúria do espírito, o plano agora era fugir. Foi então que me dei conta de que Sr. Nunes não estava mais lá. Avistei-o correndo, cruzando o pátio em direção ao prédio da fábrica. Quando
95
o alcancei, supliquei que saíssemos de lá, mas ele estava irredutível. Foi então que me ocorreu, teria de lhe revelar o segredo:
- Sr. Nunes, espere! Vou lhe contar toda a verdade.O homem parou sua marcha e me olhou, desafiador.- Imagino que o senhor não conheça a lenda do Anhangá.Ele balançou a cabeça em negação.- O Vale do Anhangabaú é o lar do Anhangá, deus protetor das matas, animais e rios. O es-
pirito é feroz e pune os homens que ousam desafiar a natureza. Ele toma a forma de um animal, todo branco e com olhos de fogo e quem o vê está amaldiçoado. Por um século nós respeitamos a fauna e a flora e vivemos em acordo com o Anhangá, oferecendo a ele respeito e presentes. Foi depois que senhor chegou na gerência que tudo mudou, apesar de meus esforços e oferendas era claro que o espírito não permitiria esse desrespeito. Estamos pagando o preço, não existe mais fábrica, Sr. Nunes, a terra é dele, temos que correr!
- Isso é um absurdo, índio maluco, terra de besta, eu não acredito em assombração!O homem disparou furioso para dentro da fábrica e voltou rapidamente, trazendo um ma-
chado. Caminhou até o belo Jacarandá que enfeitava o pátio da fábrica e começou a golpear com toda força dizendo:
- Essa estupidez não vai me custar nem mais um dia de trabalho! Que isso sirva de exem-plo, quem me faz de ridículo cai!
Antes que meu chefe conseguisse terminar a frase, o Jacarandá começou a escorrer sangue e emitir um som enlouquecedor. Comecei a correr o mais rápido que pude, mas ao olhar para trás vi o homem caído em uma poça do sangue do Jacarandá, cobrindo os ouvidos e sendo consumido por aquele gemido desvairador.
Corri até o bosque, não sabia o que buscava, não sabia para onde ir. A noite fria me en-golia mas o bosque me chamava. Disparei em direção a luz prateada e etérea que via ao longe. Até que encontrei um belíssimo cervo albino de olhos de fogo. Ele me encarava do topo de uma colina como se visse minha alma. Olhei nos olhos brasis do Anhangá e vi refletida a fábrica, agora consumida por chamas.
96
Baba Yaga, a bruxa da juventude
Meu querido diário, hoje é dia 13 de junho de 1893, presenciei algo digno de se consi-derar bizarro. Passei meu dia como sempre: fui ao centro comprar algo para cozinhar, depois encontrei alguns de meus amigos da marinha e fomos ao bar beber como de costume; porém, na volta do bar para minha casa, me deparei com sussurros vindos de uma pequena janela na casa de minha vizinha. Decidi, então, me aproximar para ver com clareza o que se passava ali. Não consegui entender nada do que acontecia no local: havia um grupo de dez pessoas juntas, recitando cantos em alguma língua que eu nunca tinha ouvido. Acho que eles me viram bisbilhotando; porém, não tenho certeza desta parte.
Querido Diário, hoje é dia 14 de junho, e eu decidi que iria indagar minha vizinha sobre os fatos ocorridos na noite de ontem; e, para a minha surpresa, quando me aproximei de sua porta, ela abriu rapidamente e disse que me aguardava para uma conversa. Devo dizer que estranhei tal atitude dela já que mal conversava com ela e nossos encontros, normalmente, ocorriam pela parte da manhã quando saía para o ancoradouro. Adentrei a casa um pouco preocupado pela situação atípica que me ocorria; porém, precisava de respostas sobre o que tinha visto ontem. Começamos a tomar um chá, e ela logo disse, com tom de certeza: “Você viu algo ontem, não é?”
No mesmo instante, comecei a ficar tonto e enjoado. De repente, ela se levantou e avan-çou na minha direção enquanto tudo ao meu redor se derretia e se movia muito rapidamente. Acho que estava alucinando, pois só me lembro disso; depois, acordei em minha cama como em qualquer outro dia.
Diário: São exatamente 18h30 do dia 18. Eu comecei a notar sombras ao meu redor, e coisas estranhas sendo sussurradas em minha mente. Acho que estou ficando louco; porém, sigo minha rotina, embora fique cada vez mais assustado. Minha vizinha sumiu. Desde a minha visita, há quatro dias, a casa está escura, e ninguém entra ou sai de lá. As portas estão trancadas e as janelas, cobertas; estou começando a achar que ela se mudou ou morreu. Não acho que viverei mais muito tempo. . Cada segundo que passa, eu sinto o chão sob meus pés se mover, e meu corpo está deixando de me responder. Não consigo sair sob a luz do dia e, infelizmente, não sinto muita fome ao passar das horas. Estou muito magro e perdendo pelos e cabelo — a cada vez que passo a mão por cima deles, sinto falta de tudo.
Dia 21: Minha vizinha retornou. Ela parece mais jovem que nunca, correndo pela rua e conversando com todos. Eu, por outro lado, não consigo me levantar sem apoio, e já faz uma semana que não como absolutamente nada. Algo acabou de entrar aqui em casa, e eu estou indo ver o que é.
Querido Diário do meu ex-vizinho: Ele deu sua vida pela minha, pobre coitado! Mal sa-bia onde estava se metendo: a curiosidade é a inimiga número um da vida. Irei sepultá-lo ao amanhecer, perto do navio onde ele trabalhava.
ASS: BABA YAGA, não cruzem meu caminho nunca em sua vida.
Massud
97
Cachoeira Da Gruta
Eu estava iludido. Pensava que realmente era o melhor jogador de futebol do Horto. Era rápido e inteligente, eu previa jogadas antes de acontecerem. Acima de tudo, sempre fui muito confiante. E acreditava que era, verdadeiramente, o melhor. Até que Fred. Conheci Fred e, em 5 minutos de jogo, percebi duas coisas: não sou o melhor do bairro e quero ser amigo desse cara.
Eu babava vendo Fred jogar. Que classe, que elegância! Passou um sábado, e outro, e outro, e criei coragem.
— Vai fazer o que depois do jogo?— perguntei. — Tô sem planos, e tu? — respondeu Fred. Eu o chamei pra dar um mergulho na Cachoeira da Gruta e falei que depois podíamos ir lá
em casa fumar um baseado. — Da gruta? — perguntou Fred. — É, aquela da caverninha. Ele aceitou. Subimos todo o horto e o Alto da Boa Vista até a entrada da trilha da cachoeira.
Na trilha vimos uma cobra. Ela ficou na dela, não a incomodamos. Chegamos à cachoeira e a água estava fria, quase mais fria que o normal. Rapidamente começou a chover, corri pra dentro da gruta e ele fez o mesmo. O vento e a chuva nos faziam adentrar cada vez mais a caverna. Nos acochamos no fundo e assistimos às gotas perfurarem o poço.
Não sei ainda o porquê, ou talvez saiba, mas o beijei, e ele me beijou de volta. No mesmo instante, caiu um raio na água. Nos afastamos assustados e ambos batemos a cabeça na parede da caverna, muito estreita. Acordamos e a chuva tinha passado.
Fizemos a trilha de volta inteira em silêncio. Acho que estávamos surpresos. Assustados, mas talvez felizes. Na descida da Rua Pacheco Leão, vimos um fusca azul estacionado ao lado de um fusca amarelo. Ficamos confusos. Não havia prédios. De um lado, casas; e, do outro, o que parecia ser uma fábrica. A fábrica têxtil! Meu pai sempre me contou que, antes de ser bairro, o horto era só uma fábrica têxtil! Mas não pode ser, não podia ser. Eu duvidava de meus próprios olhos, de minha própria sanidade. Mas lucidez não me faltava.
— Irmão, eu tô maluco? — Se tu tá, eu tô também. — respondeu Fred. Descemos o horto todo andando e olhando. Os dois, babando. Que bairro lindo. Cidade
incrível. Acho que o susto foi tamanho que esqueci de sentir medo. Pegamos o bondinho do Jardim Botânico até a Gávea. Lá, decidimos andar até o pontão do Leblon.
No caminho, um carro parou do nosso lado; dentro, estavam jovens da nossa idade. Bom, não exatamente da nossa idade. Tudo parecia sonho, talvez fosse, talvez seja. Um disse:
— Tão perdidos é? — É gringo! Tenho certeza. — disse um dos jovens no carro. — Querem carona? — Tão indo pra onde? — respondeu Fred. — Copa!— respondeu o homem no banco do carona. —Eles tão indo pra Copa, mas eu tô indo pra casa.— disse o “motorista”. — Onde?— perguntou Fred.
José Pedro
98
— Álvaro Ramos, pertinho da Líder. — Da líder? Laboratório Líder, de Vila Isabel? — perguntei. — Vila Isabel, não. Botafogo, perto da Passagem. — me corrigiu. — Mas a Líder é na… — Escuta, quer ou não quer a carona? Entramos no carro, por que não? Saímos perto da casa do motorista. De um lado da rua, o
Laboratório Líder; no outro lado, o “Bar da Líder”. Botequim quase mais charmoso que fedo-rento. Nós nos aproximamos, sentamos, e digerimos um pouco da situação. Ouvi um homem pedindo uma cerveja. Sua voz me soou familiar. Virei e vi meu avô, Cacá. Só que diferente, mais novo. Mais velho que eu, mas mais novo que ele. Me aproximei.
— Vô? — perguntei. Todos m olharam estranho. — O senhor é o Carlos, né? — Sou eu, mesmo. Tô encrencado? — Posso sentar?— perguntei, pasmo. — Sente, ué. Eu sou Cacá; ele, Glauber; e ele é o Nelson. E você? — Sou José e esse aqui é o Fred… mas, pera, Nelson Pereira? — Eu! — respondeu Nelson. Eu duvidava de meus próprios olhos. — E Glauber… Glauber… Glauber? Glauber Rocha? Deus e o Diabo?— perguntei, gaguejando. Os três se surpreenderam, especialmente Glauber. — Você sabe do meu filme? — Glauber perguntou, curioso. —Claro! Um clássico! — Meu filme? Deus e o Diabo na Terra do Sol? Que eu tô fazendo? Um clássico? — per-
guntou Glauber, desconfiado. —Isso.— disse Fred. — Como você sabe do meu filme?— perguntou Glauber. — Somos do futuro.— Os três riram. — É LSD, Nelson. — disse vovô Cacá, rindo. — E essas roupas aí? Vocês são do teatro? — perguntou Nelson. — Do teatro, não. Do futuro. — respondeu Fred. — Do futuro, é? — disse Glauber. — É, somos do futuro. — confirmei. — Então, sente e nos conte tudo! — disse meu avô. Então explicamos a eles sobre o futuro. Contei-lhes minha história e que era neto do Cacá,
em 2020. Avisei a eles que tínhamos elegido um bufão para presidente um ano antes. Contei também que avançamos muito, mas não necessariamente na direção certa. Em poucas horas e muitas cervejas, ficamos amigos. Confesso que não lembro muito da noite, culpa dos meus pou-cos neurônios e das muitas saideiras. O que não esqueço por nada é a manhã seguinte.
99
Acordamos na praia, eu e Fred. Meu avô e seus amigos gentis nos deixaram uma garrafa d’água e 500 cruzeiros. Acordamos e procuramos uma padaria. Chegamos e pedimos um suco de laranja e um pão na chapa para cada um.
— Tamo sem pão na chapa. — avisou o atendente da padaria. — Sem pão na chapa? Na padaria? — perguntou Fred. — Tô brincando, garoto. Primeiro de abril! — Calma, calma. Primeiro de abril? — perguntei. — Primeiro de abril. — repetiu. — De que ano? — Ôxi! É ressaca ou retardo? — perguntou o atendente, brincando. Ignorei. — Primeiro de abril de 1964, ué. — continuou o atendente. Enquanto isso, passava pela rua um carro de polícia. O medo me fez subirem calafrios. Pri-
meiro de abril de mil novecentos e sessenta e quatro. Precisávamos sair daquele lugar. Não. Pre-cisávamos sair daquele tempo. Decidimos voltar ao horto, entrar na gruta e tentar a sorte. Será que funcionaria? Tudo era incerto. Não custava tentar. Tínhamos que andar de volta todo o tra-jeto. Percebemos que, aos poucos, as pessoas tomavam consciência do que estava se passando.
O medo aumentava, e estávamos longe. Chegando ao Horto, nossas mentes e pernas esta-vam cansadas. Avistamos a fábrica têxtil e ficamos mais calmos. O dia estava nublado, mas não tinha chuva. Estávamos preocupados e esperançosos. Subimos todo o Alto da Boa Vista, mas, já na entrada da trilha, ouvimos um grito:
— Ei, parem aí! Era uma viatura. Não como as de hoje em dia: era um fusca-viatura. Enquanto os policiais
saíam do carro, eu pensei: fudeu! Olhei para o lado, e Fred já tinha corrido para dentro do mato; eu o segui. Os policiais correram atrás de nós. Avistei a trilha, adentramos, e os policiais, tam-bém. Escorreguei no chão lamacento, quanta lama. Lama! Estava chovendo! Senti tanto medo que não percebi que começou a chover.
Levantei e corri; já não via mais Fred nem os policiais. Ouvi um tiro. Corri ainda mais. Cheguei à cachoeira, que transbordava. Fred já estava agachado dentro da gruta. Entrei nadando pela água. Eu estava tão cansado, e a correnteza estava tão forte, que eu não consegui chegar à gruta, nadando. Nadei, nadei com toda a minha forca e não saí do lugar.
Fred mergulhou na água e me afundou até o chão. Lá, a correnteza estava tão fraca que nadamos tranquilamente até a parede do poço. Subimos a superfície e, sobre nossas cabeças, estava a gruta. Subimos e nos acochamos no fundo, igual à primeira vez. Esperamos a noite toda, e nada.
— Já tá amanhecendo, porra! — disse Fred, frustrado. — Calma, cara, vamos esperar um pouco. — Que esperar o quê? Se você não tivesse me trazido pra essa merda de cachoeira, eu es-
taria em casa! — Calma.
100
—Calma é o caralho!Fred me atacou e tentou me dar um soco; desviei. Consegui virá-lo e deitá-lo no chão. Dei-
-lhe um beijo, e ele respondeu com outro soco. Desmaiei, caí pra trás, dentro d’água, afundei. Fred pulou na água e me trouxe à margem do poço. Ele me deu um tapa na cara e acordei. Não chovia mais. Fizemos a trilha de volta emburrados, em silêncio. Estávamos descendo o Alto da Boa Vista frustrados, quando… um ciclista! E, atrás dele, uma viatura. Não um fusca-viatura, uma viatura normal!
Olhei para o Fred e ele pulou em cima de mim de tanta alegria. Pulamos, nos abraçamos, nos agarramos, comemoramos.
— E aí, bora fazer aquele baseado pós cachoeira ou sim?— perguntei. O resto foi nossa amizade. Sem fim.
101
Voo
“Pru”, Mulher ouviu, vindo da janela da sala. Olhou de relance para a direção em que, hoje - pela primeira vez em muito tempo e sem razão conhecida por ela mesma - havia deixado o sol entrar. Lá estava, atenta e séria, Pomba, que voava em torno da casa da senhora como se fosse seu filhote. Mulher logo entendeu a guerra. Precisava correr o mais rápido possível para não permitir a entrada da ave em seu espaço, mesmo que o amor pelo tal não fosse tão grande. Preparou-se para o ataque. Movimentos sutis - um pé após o outro - que finalmente renderam-se à corrida desesperada em direção ao vidro. Pomba fez questão de deixar clara a inutilidade da tentativa ao utilizar, presunçosamente, sua capacidade de voo, encaminhando-se à mesa de jan-tar de Mulher que, agora, perguntava-se por que decidira romper o vício de engolir-se pela es-curidão até mesmo durante os mais iluminados dias. Criara o hábito desde a partida de Homem e, nele, encontrava conforto, uma vez que, enquanto a luz esclarece a solidão, o sombrio abraça o corpo. Não há nada além de si mesmo diluído no vazio. O que a levara a dar o primeiro passo rumo ao reconhecimento da solidão, Mulher não sabia dizer. Mas, agora, confrontava aquele estranho ser, pois o novo irrompe pelas rachaduras postas à mesa.
Analisou a figura escatológica. O bico agressivo. O olhar perdido. Os movimentos em bus-ca de significados. O peito estufado, fosse por orgulho ou por medo. Orgulho de quê? Medo de quê? Após tal identificação detalhada do perfil de Mulher, Pomba percebeu que aquele ambiente tão particular era mais seu do que dela. Nada impedia que saísse a explorar os cômodos miste-riosos que guardavam tanto e assim o fez. Partiu para a porta entreaberta que parecia estar en-treaberta por algum motivo e, por isso, tão atraente. Fechar o que está aberto é tão difícil quanto abrir o que está fechado.
Mulher desesperou-se com o animal prepotente, conquistando os cantos de sua casa com suas garras avermelhadas e sujas. Partiu em sua direção e, por alguns segundos, sentiu-se se-guidora, não perseguidora. Seria melhor tornar-se discípula dos instintos? Respirou por um momento antes de entrar no quarto que Pomba, desbravadora e destemida, já havia invadido. Jogou-se e, de repente, havia sido tomada pelas dores e pelas memórias que estavam reprimidas atrás da porta protetora. Olhou para a cama onde costumavam dormir, para a janela por onde costumavam olhar e para o armário onde guardavam roupas, segredos e lágrimas. Era essa a superação que tanto louvavam? Encarar as alegrias e rotinas convertidas em dor até não suportar mais senti-las? Transformá-las em apatia? Preferia guardá-las dentro de si, em um lugar onde ela própria não sentia, mas que conseguiria acessar se precisasse. Mas estava ali: a fera cruel forçou o confronto.
Movia-se pelas entranhas das lembranças de outro alguém. Entre fotos, entre cartas, entre joias. A cada passo que dava, o semblante machucado de Mulher ao seu redor saía um pouco mais de seu esconderijo. Observou a imagem de uma pessoa semelhante a que conhecera ao lado de um outro rosto, mas, na captura, era esboçado um grandioso sorriso, a mais pura expres-são da percepção de que amava alguém. A visão alternava entre a fotografia e a mulher, tentando entender como o mesmo ser podia ser outro. Pomba sempre viveu de soluções práticas. Nunca entendeu por que não faziam como ela, não se rendiam à natureza e prendiam-se a imagens ine-xistentes. Notou o fluido que escorria lentamente do olho de Mulher e como aquilo simbolizava
Lucas Peçanha Muniz
102
mais do que poderia compreender. No entanto, sabia que de nada servem simbolismos e efeitos ilusórios. Em um pensamento de compaixão, decidiu que era hora de Mulher desprender-se de tais fluidos e soltou o conteúdo branco e pastoso na fotografia. Mulher gritou, mas Pomba sabia o que era melhor. Continuou a missão, levantando voo e atingindo todo o resquício de história e de sentimento que pudesse encontrar.
Mulher pulava além do que conseguia para alcançar Pomba. Lembrou que a última vez que havia feito tanto esforço fora nas corridas de maratona com Homem, de quem pegou emprestado um pouco da força para, enfim, alcançar a selvagem, que marcava suas memórias para sempre, e cair no chão com ela. Durante a batalha final, Mulher perguntava-se o porquê da rivalidade e o porquê de não conseguir aceitar a finitude de tudo que guardava. Sabia que, mesmo que pudes-se acessar quando desejasse, não o faria. Sabia que a dor ainda pungia e que, embora o escuro sussurrasse doces ilusões quanto à própria inexistência, um sentimento reprimido é tão forte quanto um assumido, apenas preso a um lugar onde as lágrimas não tocam. Os questionamentos foram concluídos pelo fim da batalha. Era possível perceber, após a exaustão, o quanto a guerra é sinônimo de mudança.
Assim, abriu asas e voou janela afora.
103
Noite
Maria lembrava-se da última vez que vira Clarice. Lembrava-se dos vestidos brancos, do banquete posto à mesa, da contagem regressiva que trazia 1970. Porém, também se lembrava da tensão que pairava no ar, dos olhares que não se encontravam, do semblante revolto de Cla-rice entre constantes afirmações: “vai ser pior”, “eles estão apertando”. Não voltara. No início, Maria sentia a fuga secreta, buscava a irmã entre corpos que cruzavam com ela nas ruas e uma raiva efervescia dentro por seus pais não a mencionarem. Entretanto, a falta é feita de estágios, e há um ponto em que a ausência se torna tão consistente que preenche o vazio instalado, dissolve a saudade com o conformismo que a compõe.
Não era assim que havia imaginado o reencontro. Em sua mente, não a veria de novo de-baixo daquele manto escuro que cobria o sítio em que passava o verão. As estrelas, em escas-sez, não estavam perfeitamente alinhadas, precisavam ser caçadas, e a lua era um curto filete, cumprindo seu papel sem exuberância, não havia se dedicado à existência naquela noite. Não imaginara a voz metálica do rádio anunciando prisões e exílios, ou que estaria sem seu vestido favorito de esvoaçante xadrez, nem que o carro violento romperia a névoa turva do campo, mui-to menos o rosto cansado que saía do automóvel, quase carregado pelo pai, surgindo três meses depois do último encontro.
Em seus sete anos, Maria não entendia o mundo, as figuras de farda verde que faziam discursos e enfureciam Clarice, mas conhecia cada recanto da irmã. Sabia de sua raiva, de sua desilusão e da revolta que borbulhava em sua alma. Sabia que Clarice sentia tudo com uma intensidade particular. Aquela pessoa de gestos carregados que entrava na sala não era a irmã que conhecia. Não parecia sentir ou haver. Era como a lua aquela noite, um filete cumprindo sua função. Maria desmoronou quando sua maior companheira, mesmo doze anos mais velha, passou sem emitir palavras ou realizar o cumprimento que criaram juntas. O pêndulo do relógio estava pesado, e Clarice não saía do quarto.
“O que houve com ela, mamãe?”, Maria buscava compreender tudo o que havia caído. “Fantasmas, filha. Sua irmã está repleta de fantasmas.”“De quem?” “De monstros, filha. Monstros que perseguiram e machucaram sua irmã.”“A gente disse para ela não se envolver. Ela sabia que isso poderia acontecer com ela”, in-
terferiu o pai.“Mãe, esses monstros podem vir atrás da gente?”O silêncio preencheu a sala. Os olhares preocupados de sua mãe e de seu pai encontra-
vam-se e, por entre a amálgama de respirações e visões, Maria encontrou o sim. Uma angústia profunda dominou cada uma de suas células, que vibravam de uma forma como nunca antes e continuaram assim por todas as horas frágeis que se sucediam. Tentava aniquilar a inquietação, com os quadrinhos roubados dos amigos e com bonecas, mas a perturbação era uma crescente infindável: Maria temia que pudesse explodir.
Todos já haviam anunciado “boa noite” quando Maria tomou a drástica decisão de procurar os fantasmas. Espiou o quarto da irmã por entre o filete da porta em busca de algo que a levasse a uma resposta. A luz estava acesa e ouviu a respiração - que era pesada, mesmo que em tenta-
Lucas Peçanha Muniz
104
tiva de ser silenciosa - da irmã. Logo, seus olhos encontraram as costas de Clarice, sem roupa, mas não nuas, uma vez que cobertas por marcas vermelhas e roxas que alongavam-se por toda a extensão da irmã e carregavam algo muito mais profundo que a ferida em si que Maria não conseguia decifrar, mas sentia com toda a intensidade da primogênita: será que a intensidade estava armazenada nos machucados?
Distanciou-se. Não sabia lidar com a nova camada de emoções que lhe dominou. Estava diferente, mais atenta, mais Clarice. Foi quando ouviu um barulho discreto que vinha do lado de fora que percebeu que a investigação não havia terminado. Coletou coragem a partir de uma res-piração profunda e irrompeu em um passo acelerado em direção à porta. Abriu silenciosamente e agora estava na coberta espessa da noite à procura dos monstros que marcaram sua irmã ou dos fantasmas que lhe assombravam.
Seguia, a passos largos, um caminho que descobria a cada passo que dava e, para ela, entre os encadeamentos de pegadas, apontava para a descoberta. O sítio já estava pequeno, e as plan-tas já estavam maiores. A natureza tocava sua melodia, tão vibrante ao dia, porém tão obscura à noite. O anúncio dos grilos somava-se ao balanço das folhas, e Maria tentava não temer. Sentia--se a irmã que não conhecia mais: vida em fuga, existência potente que age secreta.
Enquanto andava, tentava decifrar os mistérios e formular imagens dos seres sobrenatu-rais que poderiam ter feito aquilo. Fragmentos de crueldade invadiam sua mente: a pele verde gosmenta; as garras afiadas e cortantes; os olhos vermelhos de sangue dos outros. Quais seriam os poderes do seu inimigo? Liberavam ácidos pela boca, rastejavam por entre as entranhas do esgoto e anunciavam sua chegada com o som de uma cobra que chacoalharia discreta? Onde guardavam os fantasmas que assombravam a irmã? Era a irmã também um fantasma? Sua es-sência pairava invisível por entre os átomos e aquele era apenas um corpo, um adereço com o pedaço necessário para mantê-la em pé?
Tomada por questionamentos, o filete de luz dissolveu-se no vazio e Maria não observou a pedra logo à sua frente. No chão, a dor em seu pé decidiu que a menina não sairia dali. Porém, ela sabia. A ausência tornava-se presença, e eles chegavam. Em momentos como aquele, em que cada movimento era tão pesado, tinha conhecimento de que não caíra naturalmente. Os monstros colocaram a pedra ali, sabiam que Maria queria impedi-los e não podia deixar. Ainda restava um filete de Clarice e, por mais sutil que fosse, não podiam permitir isso.
“Não vou deixar vocês machucarem minha irmã”, dizia surpresa com a própria autoridade. Não sabia de onde vinha a nova habilidade de comandar o destino, a nova força de influência que exercia. Imaginava se a essência da irmã havia invadido seu corpo em momento de distra-ção, se aquela era uma nova alma. Porém, a noite era vasta e imbatível. Maria sentia-se sendo engolida por ela, mesmo que se debatesse com seus braços em busca de fendas em forma de estrela. Era essa a arma secreta dos monstros? A noite engarrafada pronta para submeter quem quer que fosse ao seu infinito singular? Não sabia mais dizer se estava acordada ou não, mas conseguia ouvir com clareza as palavras que Clarice um dia dissera-lhe.
“As batalhas muitas vezes não são justas”, lembrava Maria, “mas se não lutarmos até o final, não há batalha e, se não há batalha, o que há?”
105
A luz da manhã começara a brilhar. Maria abriu os olhos e não estava mais em realidade sorrateira, em ser selvagem. Estava no seu quarto, coberta por retalhos floridos e com a mãe ao seu lado.
“Meu amor, o que aconteceu? Você saiu de noite?” “Mãe?” “Seu pé está vermelho. O que você andou fazendo?” “Cadê a Clarice?” “Tomando café no quarto dela. Por quê?”Foram interrompidas por uma batida forte na porta de entrada. A mãe segurou a respiração,
como se fosse tão clandestina quanto Maria na noite. Maria logo ouviu a voz solícita do pai vinda da sala duas vozes firmes e grossas rebatendo. Eram eles. Maria sabia que eram eles. Os monstros finalmente chegaram com sua noite engarrafada e seus fantasmas acorrentados. Maria precisava enfrentá-los, não podia deixá-los levar o filete de Clarice que havia sobrado. A mãe segurava-a com força e tentava se desvencilhar por entre pedidos de silêncio.
Então ouviu a voz da irmã. Não de um filete, mas de toda a irmã, impondo sua voz em tom grave e assustador que logo converteu-se em grito.
“Venha comigo.”, disse a mãe entre lágrimas.De mãos dadas com força à mãe, Maria saía do quarto, respirando do modo pesado e si-
lencioso que Clarice respirara na noite anterior. Capturou um fragmento da cena. Os gritos do pai, da irmã, dos dois entes que não entendeu no relance. Os pedidos de calma do pai que não sabia se direcionados à Clarice ou aos dois seres. Viu pouco, mas sentiu com intensidade todas as feridas nas costas da irmã. Mas tudo mudou com o estrondo mais alto e seco, acompanhado de um brilho estrelar. A mãe pegou Maria no colo e saiu pela porta da cozinha.
Correndo entre o verde morto do mato, eram rebeldes, mãe e filha em existência deslocada do oficial. Mais estrondos vinham de dentro da casa e, a cada um que se sucedia, mais uma lá-grima descia do rosto da mãe. Maria perguntava-se o que era aquilo. Caçaram as estrelas, pren-deram-nas em canos e jogavam-nas contra os outros? Como era possível a sordidez de roubar a escapatória do vazio, a rachadura no céu e usar como arma? Caíram. A mãe gritava. Não havia visto a pedra.
“Vamos, mãe. Levanta.”, dizia Maria enquanto assumia a autoridade da noite anterior.“Não estou conseguindo, filha.”“Eu te levo, vamos. Eu posso te proteger dos monstros. Não vou deixar que te machuquem”“Estou com muita dor. Filha, você precisa correr até o vizinho. Fique lá e não saia. Eu vou
te encontrar, os monstros não vão me pegar. Só que eu vou mais devagar.”“Você me encontra lá?”“Sim, filha. Vai lá, eu te amo.”Maria, agora, corria. E, a cada raio de sol que cruzava sua face, Maria era mais Clarice
e mais Maria. Agora, era tudo e ao mesmo tempo, era nada. Maria, na sua existência secreta, engoliu a noite.
106
17 LISPECTOR, Clarice. “Perdoando Deus”. In: Felicidade clandestina. 5ª ed. RJ: Nova Fronteira, 1987; p. 40
Sétima seção
Tempo de observar
“Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pes-soas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava distraída, estava era de uma atenção sem esforço, estava sendo uma coisa muito rara: livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas (...) nada daquilo era meu nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via”.
Reproduzi o início de um conto — “Perdoando Deus” (1971) — de Clarice Lispector (1920-1977) para ilustrar a grande utilidade existencial de “espiar” as coisas à nossa volta. Quando se abandona a distração habitual e alienante e se lança um olhar novo ao nosso redor, sem o ranço da desatenção, reavivam-se as emoções dentro de nosso ser. Observar o mundo, sem esforço, pode nos trazer uma infinidade de sensações prazerosas, inebriantes. Nem sempre conseguimos perceber a beleza da natureza, a paz de uma linda paisagem, o deslumbre do nascer e do pôr do sol — elementos próximos a nós. A vida se renova todos os dias, mas nosso psiquismo, sobrepe-sado por cargas variadas, insiste em nos puxar para baixo algumas vezes — ainda mais confina-dos, ainda mais com medo, ainda mais em uma pandemia. Se não mudamos o olhar, sofremos com os desencantamentos, com as decepções.
Os escritores Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino, no ensaio “Encantamento: sobre política de vida” (2020), revelam estratégias para nos posicionamos nas batalhas pelo encantamento do mundo. Como se encantar diante de tanta injustiça, racismo, preconceitos vários e exclusões so-ciais? O que poderia nos encantar? O que podemos escrever, discutir, pesquisar, refletir, enfim, falar sobre isso?
Uma ex-aluna muito querida, hoje amiga e escritora de mão cheia, Clara Evangelho Rodri-gues, encanta e se encanta o tempo inteiro. Assim, de encantamento em encantamento, escreveu seu primeiro livro de crônicas, “Andejos” (Grupo Editorial Letramento), observando pessoas nas conduções que pegava ao ir para a universidade diariamente. O trajeto, bem longo, permitia que ela conversasse com gente de todo o tipo, construindo, depois, histórias e mais histórias. Um livro ótimo e uma ideia igualmente ótima, que resolvi aproveitar.
Pensei em propor observações nas conduções, no trabalho, na universidade — até valia fa-zer um relatório das atividades do semestre. Poderiam ser observações realistas ou inventadas, lembranças acuradas ou exageradas, relatos fidedignos ou imaginativos — tudo isso, pensando, sempre, em passear por gêneros, em perceber seus pontos de afastamento e de contato.
Conceição Evaristo, no frequentemente mencionado prólogo de “Insubmissas lágrimas de mulheres”, diz que, mesmo acrescentando algo a fatos que considera, com muita atenção — ah,
17
107
18 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016; p. 719 CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. Tradução Ivo Barroso São Paulo: Companhia das Letras, 1990; p. 19
atenção, sempre e sempre —, mesmo com perdas e acréscimos, ao registrar suas observações, continua “no premeditado ato de traçar uma escrevivência”.
Qualquer tipo de texto pode ser base para um exercício de escrevivência, para a prática da capacidade de comunicação e para a análise de si mesmo e de seu entorno. Qualquer texto, se for bom — adjetivo a ser muito discutido, examinado, estudado, em qualquer situação —, continua a dizer o que tem para exprimir por muito tempo, em qualquer gênero que seja. Já falei (sim, repito muito, não é?) dos famosos relatórios — documentos, em geral, de leitura enfadonha — de Graciliano Ramos, que podem ser lidos e admirados até hoje, embora tenham sido escritos como papéis oficiais, para serem lidos por autoridades, e, há quase cem anos, entre 1929 e 1930. E o requerimento que Policarpo Quaresma redigiu no clássico livro — sim, acertaram, “O triste fim de Policarpo Quaresma” (1915) — de Lima Barreto (1881-1922)? Quem leu não esquece. Então, não existem gêneros “ruins”, apenas redatores inábeis?
Talvez. Provável. Mas surgem outras questões. Como se movimentar em épocas e em si-tuações muito desfavoráveis? Como lidar com tarefas que nos trazem desconforto, desalento, desconsolo? Vamos perguntar ao semideus Perseu, filho de Zeus e Dânae, na mitologia grega, que vivenciou um confronto árduo e extremamente periculoso em sua trajetória de herói. Ofe-recendo-se para matar a Medusa, Perseu teve que se preparar para enfrentar esse monstro que transformava em pedra quem quer que fitasse seus olhos. Ao se recusar, como estratégia de luta, a olhar a górgona diretamente, Perseu não nega a realidade da Medusa; mas, com suas sandálias aladas e seu escudo, voa por cima da monstruosidade do mundo e, através da visão do reflexo da górgona em seu escudo reluzente, derrota-a, cortando a cabeça do monstro.
Leve, delicado e ligeiro, Perseu venceu o desafio e evitou que o monstro seguisse seu ca-minho de sangue, peso e destruição. Ítalo Calvin (1923-1985), ao falar da qualidade da leveza na linguagem escrita, invoca a figura desse herói alado: “Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que, à maneira de Perseu, eu deveria voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sono ou para o irracional. Quero dizer que preciso mudar o ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle”.
Essa é a proposta.
18
19
108
Meu primeiro semestre na PUC-RIO
Por causa da pandemia do coronavírus, ao longo do 1° período do curso de Administração de Empresas da PUC-Rio, tive aulas presenciais durante apenas duas semanas (03/07/2020-13/07/2020). Após isso, fui encaminhada ao EaD (Ensino à Distância) e, consequentemente, ao uso de novas plataformas de aprendizado como o Zoom – para encontros online – e o Moodle – para armazenamento de arquivos, organização e entrega de trabalhos. Como não tinha familiaridade com ensino online, demorei um pouco a me adaptar e “entrar no ritmo” de estudos de uma forma autônoma mais intensiva.
Tive aulas em cinco disciplinas – três do departamento de Administração, uma do depar-tamento de Letras e outra do departamento de Economia – que, apesar de terem isso todas no ambiente de aprendizagem online, foram aplicadas de maneiras distintas.
Em “Como funciona um negócio” (ADM1000), o professor Fernando Cortezi nos ensi-nou sobre ambiente de negócios, cadeia de valor, funções administrativas, funções organiza-cionais e stakeholders. A maioria dos trabalhos foram em grupo e abordaram todos os assun-tos dados. O último trabalho foi individual, e foi pedido que fizéssemos um mapa conceitual sobre todo os conceitos apresentados na disciplina, com data de entrega para 30/06/2020.
Em “O indivíduo e o trabalho” (ADM1640), a professora Jeane Lucena nos apresen-tou a vários conceitos de psicologia aplicada à administração, como behaviorismo, gestalt, psicanálise; visões contemporâneas; funções mentais superiores; comportamento individual, diferenças individuais e seus impactos no comportamento em grupo; atitudes, valores e per-sonalidade; sentido do trabalho, prazer e sofrimento no trabalho; autoconhecimento; relações empáticas. Essa disciplina também teve, em maioria, trabalhos em grupo para que discu-tíssemos os conceitos propostos e, então, colocássemos em prática nossas opiniões como indivíduos, o que, por sinal, é o intuito da disciplina. Um grande diferencial dessa disciplina foi a “Avaliação 360°”, na qual avaliávamos uns aos outros, podendo ter sido entregue até 29/06/2020.
Em “Fundamentos Quantitativos I” (ADM1025), a professora Eliana Gambiagi nos mos-trou conceitos matemáticos como Inversão de matrizes pelo método de Gauss; Escalonamento de sistemas lineares; Análise quantitativa e qualitativa de gráficos, com ênfase em gráficos da mídia e de produções acadêmicas na área de Administração e Economia. Tivemos trabalhos para nota, em sua maioria individuais, de cada conteúdo dado, e praticamos atividades para o desenvolvimento dos conceitos propostos com o Excel. A última atividade da disciplina foi entregue em 30/06/2020.
Em “Texto Empresarial Oral e Escrito” (LET1949), a professora Meg Amoroso nos mos-trou importantes práticas de comunicação na empresa: currículo, e-mail, carta, artigos argu-mentativos e exposições orais. As aulas ocorreram bem, a professora conseguiu apresentar todo o conteúdo e orientar os alunos de forma eficiente. Tanto na avaliação G1 como na G2, fomos instruídos a entregar todas as atividades propostas em um único arquivo e enviá-las por e-mail ou WhatsApp, a última com entrega em 03/07/2020.
Andreza Paiva
109
Em “Introdução à Economia” (ECO1102), a professora Tânia Correa Petersen nos apre-sentou a vários conceitos de micro e macroeconomia como fluxo circular da renda; medidas de desempenho da atividade econômica e noções de contabilidade nacional (agregados ma-croeconômicos); índices de preço; determinação da renda em uma economia fechada e aberta; teoria da demanda agregada; teoria da oferta agregada; o mercado de fundos emprestáveis; noções de teoria monetária; inflação e desemprego; déficit público e seu financiamento; ba-lanço de pagamentos; regimes de câmbio; ciclos econômicos; crescimento econômico.. A úl-tima avaliação, aplicada em 01/07/2020, abordou assuntos de diversas matérias apresentadas durante o curso.
Apesar dos pesares, o semestre foi concluído com sucesso. Os professores conseguiram se adaptar às condições estabelecidas, nos apresentaram os conteúdos de cada disciplina e nos passaram atividades com o intuito de fixação. Foi perceptível o esforço que eles fizeram para não deixar os alunos “largados”. Apesar de ter conseguido entregar todas as atividades, acredito que não absorvi todo o conteúdo. Terei que revisar grande parte, pois há assuntos do início do curso que, se eu tivesse que explicar, não saberia como fazê-lo, pois precisaria de uma revisão.
Como o segundo semestre de 2020 será iniciado on-line, acredito que, se os professores continuarem a dar aulas da mesma forma que foram dadas no primeiro semestre, os resultados bons continuarão sendo obtidos.
110
Meu amigo de condução
Uma nova semana se iniciara e a mesma rotina de todos os dias: saindo de casa atrasada para a aula e com mil pensamentos em minha mente em relação ao quão atarefada eu estava com trabalhos e provas se aproximando. Chegando à estação do metrô, me vi de volta à realidade e comecei a pensar no meu amigo de condução. Eu e ele sempre nos encontrávamos nas estações, fazíamos as viagens juntos - um acompanhando o trajeto do outro -, mas sem nunca termos tro-cado uma palavra. Desci as escadas e, depois de alguns minutos, ele apareceu correndo, sorrindo para todos, mas, como de costume, era um sorriso momentâneo.
Nosso percurso então começava; e, em minha mente, a aventura começava junto. Andar de transporte público em uma cidade como o Rio de Janeiro era um festival digno de tela de cine-ma. Cantores, dançarinos, poetas, leitores, vendedores, necessitados e confusões são figurinhas carimbadas. Cada um com seu ato e o seu público específico fazia parte do trajeto - e contribu-íam como parte da minha aventura e diversão diárias. Também era comum, nessas aventuras, algumas interferências externas como uma falta de luz passageira - e que, mesmo sendo roti-neira para a maioria, ainda trazia desespero para alguns, o que causava um espetáculo à parte -; a montanha-russa incluída no valor da passagem – os zigue-zagues em determinadas estações eram perigosos para os desavisados que não se seguravam nas barras de segurança -; e os incon-táveis minutos - às vezes até horas - em que o coletivo ficava parado sem razão aparente. Para uma pessoa - como eu - que saía de casa sem contar com a margem de erro em sua rotina, a(s) inesperada(s) parada(s) é a pior situação que acontecia nesse trajeto.
Voltando para a realidade, estou no trem e falta apenas uma estação para Antero de Quental, que é onde eu ficava e começava a pensar de novo no meu amigo de condução. Em todos esses inúmeros percursos, ficava imaginando que tipo de situações inusitadas ele já havia presenciado e quais as suas figurinhas carimbadas favoritas, de quais interferências ele menos gostava e de como ele se sentia com tantas pessoas dependendo dele e prezando pelo seu bem-estar.
O resto do caminho até a universidade era apático e sem muitas emoções. Chegando nela, já era possível avistar o pequeno universo próprio da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Uns chegando de carro; outros a pé; alguns de bicicleta; e outros de ônibus. Cada um com a sua própria e singular rotina.
O dia passava - como todos os outros - até a hora de ir embora. O caminho para casa era sempre pior: mais pessoas voltando juntas, ânimo quase nulo, corpo quase que completamente formado por cansaço, e a vontade de estar em nenhum outro lugar que não fosse o conforto de minha casa. Na estação, eu olhava em volta à procura do meu amigo de condução e, com tantas pessoas, era quase impossível vê-lo, mas, depois de longa procura, eu finalmente o via vindo em minha direção. Só que, diferentemente da ida, ele se encontrava agora esgotado e quase sem forças para ser ágil e veloz. Pensava o quanto devia ser complicado para ele, além de ter que continuar - mesmo já sem forças -, tinha que levar todas aquelas pessoas que se encontravam tão cansadas, que largavam seus corpos que se tornavam um grande peso nos vagões. Devido a todas as desvantagens da volta para casa, eu não conseguia me imergir em meus pensamentos e curtir as aventuras do transporte, apenas seguia e esperava, ansiosa, a minha parada chegar.
Minha estação chegou, e meu amigo de condução continuou, vi-o partir e adentrar os tú-
Beatriz Monteiro
111
neis, levando todas aquelas pessoas para os seus devidos destinos e cumprindo a sua função como metrô. Quando não o via mais, soube que meu dia estava quase no fim, e um certo alívio pairou sobre meus ombros.
Essa aventura diária nos transportes públicos cariocas — antes da pandemia da Covid-19 nos paralisar em 2020 — era divertida. Todos os dias eram rostos diferentes, pessoas que prova-velmente eu nunca mais veria em minha vida, mas que tinham objetivos iguais quando pegavam o transporte: chegar a seus destinos em segurança. Esperar o metrô, todos os dias, me fez criar uma espécie de empatia com aquele trem, porque ele era a certeza que eu tinha de que meu trajeto seguiria normalmente, de que eu tinha quem me levasse para casa em meio às muitas aventuras e aos percalços do caminho.
112
Relatório de Observação
Quando? Dia 24 de junho de 2020. Onde? Em um transporte público, mais precisamente em um ônibus da linha 565 — sentido Barra da Tijuca. Por quê? Bem, digamos que um “novo normal” havia começado na vida da cidade do Rio de Janeiro — desde que a Covid-19 passara a ameaçar nossas vidas, em março de 2020 — e pessoas com olhares assustados, usando más-caras, faziam parte disso; então, resolvi observar para relatar algumas coisas aqui, neste texto.
Dentro do ônibus, usuários preocupadas com seu trabalho, mesmo com medo, enfrentam os obstáculos da vida. A aglomeração existe, e é normal ali dentro: os governantes não estão preocupados com isso. Pessoas abrem a janela, falam ao celular com parentes, carregam sacolas nas mãos e muita preocupação na mente. O Motorista segue viagem: sem tempo de higienizar suas mãos, pega no dinheiro muitas vezes durante o trajeto. Tem uma bebê com seus pais. Fico preocupada — eles não usam máscaras — e o ônibus começa a encher. Ninguém pode fazer nada. Pessoas estão assustadas — ninguém pode tossir, muito menos espirrar: e parece que nes-sas horas é incontrolável.
O ônibus apresenta boa estrutura, bancos firmes, janelas em perfeito estado; o ar condiciona-do está desligado; a porta funciona normalmente. Aqui dentro, porém, existem pessoas sem em-patia: avistei duas delas voltando da praia sem respeitar que ainda estava proibido o banho de mar. Que mundo é esse? É muito cruel ver pessoas que ignoram a situação que estamos vivenciando.
Falta pouco para eu descer, e aqui a situação parece complicada, pois passageiros já estão em pé. Sem fiscalização, nem todos respeitam a ordem de ficar ‘’sentados’’ até o ponto chegar. Duran-te a pandemia, a quantidade de passageiros que trabalham não diminuiu muito. Como será agora? Com o afrouxamento da quarentena, observo da janela que já existem muitos carros na rua, grande número de pedestres, bastante trânsito. Aliás, começam a retornar os engarrafamentos.
Da janela— subitamente distraída das minhas preocupações e atraída por um mundo de beleza —, vejo o mar. Penso: essa cidade é maravilhosa mesmo, apesar dos problemas. Hoje está um dia sem sol, mas vi árvores bem verdes; certamente, com ou sem pandemia, a natureza sempre nos traz a esperança de dias melhores.
Carolina Cardoso
113
Sigo o meu caminho
Todo dia, faço a mesma coisa: acordo e vou para o trabalho. Entretanto, uma coisa corri-queira não deixa de ser sempre singular. Pois bem, resolvi observar minha ida ao trabalho, algo cotidiano, regular, mas tão único, sempre.
Celular deu o alarme: quatro e trinta da manhã. Escuto, desarmo, mas só consigo levantar dez minutos depois, um pouco entorpecido pelo sono, para mais um longo dia de trabalho. O clima estava frio, e desço a comunidade da Rocinha o mais rápido possível, pois já estava atra-sado. No primeiro beco, deparo-me com jovens que não tiveram as mesmas oportunidades de muitos — ou até tiveram, mas se recusaram a enxergá-las. Todos usam máscaras no rosto — consequência da pandemia, que assola o mundo desde o início de 2020 —, e equipamentos de crime nas mãos; muitas armas. Há uma sensação incômoda ao passar entre eles: talvez medo, apreensão ou indignação. Com o tempo, infelizmente, a gente acostuma. Revivo todos os dias a mesma cena, e até as crianças daqui acham normal aquele aparato todo, aquelas armas à mostra.
Sigo meu caminho e, ao sair do beco, encontro outras pessoas na mesma correria, prova-velmente indo trabalhar também: alguns com máscaras; outros, sem. Tenho mais uma sensação ruim — a falta de respeito e o descaso do ser humano com o seu próximo perante uma doença tão séria —; porém, faço minha parte.
Chego ao ponto de ônibus em frente à UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) de São Con-rado, e a espera pelo transporte é quase infinita ¬— final de semana é pior. Eram cinco e vinte, já estava muito atrasado, até que avisto o 309 vindo em minha direção. Nunca fiquei tão feliz em ver um ônibus como fiquei ao ver aquele. Entretanto, logo a felicidade acaba: o veículo estava super lotado e quase sem espaço para entrar. As pessoas estavam amontoadas no coletivo, mas, como diz Charlie Brown Jr, “o impossível é só questão de opinião” — em sua música “Só os loucos sabem”.
Entrei no aperto, com muito esforço, e seguimos viagem. Duas coisas são certas: a minha sensação de preocupação; e a possibilidade de pegar a Covid-19. Naquele amontoado de gente, nesse horário, a maioria é trabalhador, os quais tentam sobreviver naquela “Selva de pedra” — naquele momento muitos não queriam estar ali. Mas todos seguimos nosso destino.
Passo pelo túnel Zuzu Angel e começo a me perguntar o porquê desse nome — uma dúvida a ser sanada em outro momento, pois, devido à multidão que viaja comigo, não pude pesquisar no celular. Fico pensando naquilo.
Chegando à Gávea, consigo um lugar para sentar e, enfim, posso descobrir o que represen-ta o nome escrito no túnel. É uma homenagem à estilista brasileira Zuzu Angel (1921-1976), muito famosa na época da Ditadura Militar (1964-1984). Ela ficou conhecida não só pelos seus trabalhos inovadores como estilista de moda, mas também pela procura sem sucesso do seu filho, militante, assassinado pelo governo da época. O mais interessante dessa mulher é a luta e a persistência em enfrentar as autoridades políticas, levando sua busca a se tornar conhecida no exterior. No final, ficou apenas a tristeza de uma mãe nunca ter encontrado seu filho. Isso me leva a algumas reflexões: como alguns detalhes expostos na rua podem ter histórias inimagi-náveis, desconhecidas por nós; e como, a partir desses casos, podemos pensar na nossa cidade, na nossa sociedade. Essa é a forma interessante de esses detalhes nos dizerem alguma coisa.
Jefferson Severiano
114
Nessas características, está o poder condicionado a fim de trazer à tona lembranças e atitudes de algo ruim a não ser repetido — fatos como os acontecidos na “Ditadura Militar”.
Quando vai se aproximando da Rua Jardim Botânico, começo a sentir o cheiro da nature-za; a sensação da natureza; a cor; a vida; o clima — parece existir mais vida ali — e até o sol é mais feliz. Quando chegou o Parque Lage, tudo ficou ainda mais bonito: as energias são outras, as pessoas são outras. Tudo tão bonito; por isso, fico indignado com uma cena que observo da janela do ônibus. Em frente à entrada do parque, um garoto — uns oito anos de idade — e sua mãe estão parados. O choro do menino era ouvido a metros de distância — o garoto rolava no chão gritando —, e o motivo da birra era apenas por ele não estar sendo levado no colo. A mãe acabou sendo convencida pelo menino a fazer a coisa certa, na verdade, aquilo que ele conside-rava certo: a mulher carregou o menino, já bem grandinho, em seus braços.
Talvez aquela mãe não queira mimar o filho: a verdade é que a maioria tenta acertar, mas acaba errando. Analisando a situação, lembrei da frase “ Uma criança mimada será um adulto infeliz”, do livro “O mundo como eu vejo”, do professor e historiador Leandro Karnal. Esse pensamento faz todo o sentido no contexto da interface pais-filhos, não só na forma da educa-ção, mas também em como os pais, às vezes, se deixam ser controlados pelos pequeninos. Esse fato pode trazer várias consequências futuras para os jovens e, até mesmo, alavancar o desen-volvimento de alguns complexos psicológicos na fase adulta. O ônibus continua sua marcha, e sigo pensando: nas armas do meu bairro, no sofrimento de Zuzu Angel — que se tornou um túnel, uma passagem, um caminho —, na natureza dos jardins da cidade, nas crianças mimadas deste país. Em como é bom poder observar.
Chego ao meu ponto de desembarque, no bairro de Botafogo, na Rua Humaitá. Meu traba-lho é logo ali perto. Respiro aliviado. Pedi a Deus, naquele instante, para me proporcionar um feliz dia de trabalho e ter mais um dia de história de vida e de sensações para relatar. Amanhã tem mais.
115
Seu valor no mundo
Ao amanhecer do dia, levanta um homem, mais um filho da água e do aço que faz parte do exército de homens e mulheres trabalhadores do Brasil. O homem se levanta e faz uma oração, depois toma o café da manhã – ele come menos do que tem vontade para que sua família possa comer mais. Enquanto ele come, assiste ao jornal pela televisão — que constantemente tem falado do novo coronavírus —. Os apresentadores falavam sobre uma medida de flexibilização que permitia que as pessoas ficassem em pé nos ônibus, mas com um metro quadrado de distân-cia umas das outras. O homem riu e continuou tomando seu café da manhã.
Após terminar seu café, era a hora de sair. Ainda pensando no que viu no jornal, o homem saiu de sua casa, andou três quilômetros até chegar à estação de ônibus. O homem já estava es-perando há 30 minutos, porque nenhum ônibus tinha passado, e o ele não podia chegar atrasado no trabalho. Depois de mais um tempo, o ônibus chegou: estava lotado. Nesse momento, o pen-samento sobre o que assistiu no jornal veio com toda força na sua cabeça. Dentro do ônibus, o homem começou a refletir sobre a medida, “um metro quadrado”: isso não saía da cabeça dele.
Algumas teorias começaram a surgir em sua mente: ele começou a se perguntar se quem fez isso era burro, ou se essa pessoa nunca tinha andado de ônibus, ou se ele tinha entendido errado e essa medida era para algum país europeu. O homem também pensou na possibilidade de o governo estar protocolando uma medida de flexibilização com uma regra de proteção que eles sabiam que não seria cumprida e colocaram só para tirar a culpa do governo caso alguém se contaminasse no ônibus.
Nesse momento, o homem, em pé, olhou para o seu reflexo na janela do ônibus e se pergun-tou “Quanto vale a minha vida?”, e uma tímida lágrima começou a descer. A lágrima não era só de tristeza, nem só de raiva, nem só de cansaço, nem só de medo, nem só de amor, nem só de felicidade, nem só de esperança, mas de tudo isso um pouco.
Sentiu a tristeza de ficar longe da família grande parte do dia e o amor na hora de encontrá--la quando chegava em casa; a raiva de ter que pegar o ônibus e a felicidade de poder pegá-lo; o cansaço de viver num mundo tão injusto e a esperança nas filhas de transformarem o mundo para melhor. Sentiu tudo isso ao mesmo tempo e sorriu. Apesar da desvalorização que a socie-dade capitalista vivia lhe impingindo — e para outros seus iguais —, o homem conseguiu ir para o trabalho, naquele dia, de cabeça em pé, certo de seu valor no mundo.
João Mendes
116
Pequenas maravilhas do cotidiano
Era uma terça-feira, 11h da manhã, com o sol emitindo seus raios ultravioleta, que parecem convidar, de uma maneira não muito gentil — pelo calor que fazia — a ir à praia. Porém, o que temos para hoje são saudades de um domingo na Urca, às seis horas, privilegiando o nascer do sol; mas, agora, a realidade nos oferece um trajeto cotidiano: pegar o ônibus até a faculdade.
Com o bom dia do motorista, a viagem se inicia — como para qualquer outro cidadão, que seja passageiro fiel do transporte público, não por escolha, mas, sim, necessidade. A busca pela cadeira mais alta, no final do ônibus, é a principal conquista na vida de um universitário, que deseja seguir caminho na mais pura calma e tranquilidade até sua instituição de ensino.
Todas as pessoas daquele veículo têm um único objetivo: chegar no seu destino final, mas, como a vida não é um mar de rosas campestres, o qual transmite serenidade, o trânsito começa, e a nossa percepção é de que o universo faz aquilo com o intuito de deixar explícito o seguinte:
— “Pera aí”, a vida é tão efêmera. Não tenha pressa, reflete um pouco sobre como foi o seu café da manhã.
A vida até pode ter esse propósito, mas a nossa cabeça vai totalmente em uma direção oposta, quando estamos diante de um engarrafamento, com uma temperatura de 40° no Rio de Janeiro. Os problemas começam a vir à tona, pensamentos negativos inundam a mente: traba-lhos, provas, estágios e, o pior de todos, vai lhe dizer:
— Será que eu vou repetir essa matéria?O tic-tac do relógio vira seu pior inimigo, os segundos passam e os minutos voam. Naquela
situação, o único tic-tac, que um estudante queria era a balinha azedinha. Mesmo com todo o estresse, ainda sobra espaço para sentirmos uma leve brisa do mar, ao
passar pelo túnel, e poder vislumbrar, aquela mansidão de água azul. São segundos, que prove-em uma leveza de espírito, um toque harmonioso na alma.
Ninguém precisa ser um filósofo contemporâneo, basta apenas uma pitada de sensibilida-de para contemplar as belezas, que a natureza oferece e, que, pela correria semanal, esquece-mos de comtemplar. Essas são as pequenas maravilhas do dia a dia, que promovem um alento no coração.
Como dizia O Rappa, na sua canção “Rodo Cotidiano”, no verso principal: o espaço é cur-to, quase um curral. Coloca, em uma frase, a vida de quem corre atrás de um sonho: O motorista trabalha sentado, mas de cabeça erguida, ele leva outras pessoas a conquistarem suas metas; a dona de casa, dentro do busão apertado, está indo comprar algo para mais um dia de trabalho árduo, para organizar, com pão quentinho, comida e carinho, a vida dos filhos; e o estudante universitário, através da educação — um caminho não tão fácil, mas libertador —, tenta projetar um novo rumo para sua vida.
Júlio César Oliveira de Castro
117
Os tumultos
No último dia de aula presencial da PUC-Rio, já estava sentindo uma sensação estranha, de que alguma mudança séria estava por vir. Peguei o ônibus 309 para voltar para casa, no Hu-maitá. A viagem começou confusa, pois, primeiro, não costumo pegar este ônibus; segundo, o trânsito estava muito engarrafado.
Aceitei a ideia de que ia demorar para eu tomar um banho e relaxar depois de um dia can-sativo, então, coloquei meus fones de ouvido tocando uma música calma. Senti uma movimen-tação estranha dentro do veículo: as pessoas estavam andando e logo começou um tumulto.
Um passageiro alto, vestido com um uniforme de trabalho, disse:- Ô, “piloto”, tem como o senhor cortar o caminho, não? Preciso chegar no meu segundo
trabalho o mais rápido possível. Uma mulher grávida apontou: - É perigoso mudar o trajeto assim, e eu não quero por minha vida em risco.Outra mulher, com mais idade, disse:- Se mudar o caminho vou perder meu ponto, fico no Jardim Botânico, você não pode
mudar a rota. Fiquei quieta, só observando o que ia acontecer. Minha mãe sempre disse que, em situações
como esta, o melhor é “ficar na sua” e assim aceitei o conselho. Algumas pessoas tomaram o lado do trabalhador; e outras, o das duas mulheres, Até que o motorista se sentiu pressionado e entrou em uma rua que não estava planejada.
O tumulto só aumentava, mais pessoas se envolviam na causa e o motorista ficava mais ner-voso. Em seguida, apareceu uma placa, na qual estava escrito que não poderia entrar ônibus na-quela rua. Os carros atrás do veículo começaram a buzinar, o que piorou ainda mais a situação. O motorista resolveu fazer um retorno em uma ponte estreita e por isso fechou a rua para fazer a manobra. Eu só pensava: “Meu Deus! Eu só quero chegar em casa”. Os passageiros insultaram o motorista, ele começou a chorar silenciosamente e disse:
- Eu só estava tentando fazer o melhor para todos, desculpa.O homem de uniforme de trabalho respondeu em tom alto:- Este homem só está fazendo o melhor dele, deve estar trabalhando há horas e com certeza
não ganha muito. Eu ainda vou pegar mais três conduções para chegar em São Gonçalo e come-çar meu segundo batente. Vocês que moram aí na Zona Sul só vão chegar um pouco mais tarde; nós podemos perder o emprego.
O silêncio tomou conta do ônibus e este voltou à rota normal. Desci no meu ponto depois de meia hora. Cheguei em casa. Tomei meu banho. Aquele tumulto despertou em mim um sen-timento de culpa, por estar preocupada com coisas que não parecem relevantes, e com outras, sim, como a sensação estranha que senti antes de entrar no ônibus — que acabou se traduzindo no isolamento social devido à Covid-19. Aquele tumulto, enfim, despertou um outro tumulto, esse interno, bem dentro de mim, que me fez refletir sobre as coisas que são, realmente, impor-tantes na vida — para mim e para a humanidade.
Maria Júlia Lobianco
118
Hora pra quê?
11h40, pontualmente, nem um segundo a mais nem a menos - essa é a hora em que saio de casa nos dias em que tenho aula na universidade. Como de costume, caminho até o metrô do Largo do Machado, que fica a cinco minutos de onde moro. Desço saltitante aquelas extensas escadas da entrada e rapidamente chego até a catraca. À minha volta milhares de pessoas, milha-res de histórias, milhares de vidas vão e vêm , em um ritmo apressado, de quem tem hora. Hora para quê? Passo por mais escadas e finalmente chego à plataforma.
Não ando muito para escolher meu vagão, pois o trem rapidamente chega. Entro e vejo que não há lugar para me sentar. Quase de modo automático, coloco a minha mochila para a frente para ter meus pertences junto a mim. Agarro as barras de segurança para não cair. Olho em vol-ta e vejo pessoas lendo, imersas em uma realidade paralela, talvez como uma forma de tornar aquele trajeto cotidiano mais leve. Outras estão impacientemente rolando o feed da rede social, procurando pelo novo, pela notícia. Alguns passageiros dormem, pois provavelmente estão em uma longa jornada a caminho de seu trabalho ou voltando dele. E eu, que não estou em nenhum desses contextos, apenas olho meu relógio, procurando saber se estou dentro do horário para não me atrasar, pois se tem algo que me deixa profundamente incomodada é a falta de pontualidade.
Flamengo, Botafogo, Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos. Olho mais uma vez o relógio. Passaram-se 30 minutos e, em cerca de 20, terei chegado a minha estação de destino, que ain-da não é meu ponto final, pois não há metrô que chegue a Gávea, onde fica a PUC-Rio, minha universidade. Logo que passo pela Siqueira Campos, um grupo de músicos animados entra no vagão com tambores. Eles se apresentam e começam a tocar. O som que faziam era de fato muito bom. Não consegui identificar qual era o estilo, mas, assim como eu, os outros passagei-ros estavam aproveitando bastante. Fico tão imersa naquele universo, que nem percebo que já chegou a minha estação, Antero de Quental.
Mas ainda não acabou. Subo as intermináveis escadas da estação e me dirijo à Saída B, onde, dentro de instantes, pegarei a integração que me levará à PUC. Assim que entro, avisto ao fundo uma antiga amiga minha, que, coincidentemente, está fazendo o mesmo curso que o meu. Eu me aproximo dela e colocamos a conversa em dia, pois, por conta da dinamicidade da nossa rotina, não temos muito tempo para nos atualizar. Finalmente chegamos à universidade.
O relógio passa, lentamente, de 13 até a hora em que a última professora nos libera, 18h40. Lá vou eu para mais uma jornada até chegar em casa. Dessa vez, na hora com mais fluxo de pessoas retornando ao lar. Encontro com umas amigas na porta de saída e nos dirigimos à fila para pegar o ônibus, dessa vez muito mais cheio.
Esperamos o ônibus chegar e já embarcamos nele. Quando se tem companhia, até o lugar mais chato fica agradável. E não foi diferente naquela noite. 19h20 e finalmente chegamos ao metrô. Passamos pela catraca; despedi-me de algumas amigas que iam na direção oposta a mi-nha e segui com uma única amiga. Pela hora, ainda era possível que entrássemos no vagão femi-nino. E foi isso que fizemos. Corremos entre várias pessoas, tomando cuidado para não esbarrar em ninguém e chegamos ao vagão junto com o trem.
Entramos, mas já sabíamos que não haveria lugares para nos sentar. Ficamos em pé ali mesmo, confortáveis. Olho em volta para observar, e há um homem sentado bem ao fundo. Ele
Marina A. Mann
119
não parecia estar desconfortável com o fato de estar no vagão errado. Parecia até calmo demais. Estava com fones de ouvido e provavelmente não ouvia nada do que estavam falando com ele. Como aquele era um vagão feminino aquilo não poderia acontecer. Escuto mulheres gentilmen-te tentando conversar com ele, para que ele saia. Porém ele não escuta, ou finge que não. Para o nosso azar não havia guardas nas estações. Passando o Cantagalo, minha amiga se despede de mim e sigo viagem sozinha.
Chegando à Cardeal Arcoverde, escuto, bem de longe, pois o metrô já está cheio, várias mulheres falando com o tal homem, em um tom de voz mais alto, para que sejam escutadas. Porém, ele novamente não se move e finge que não é com ele. Então, um grupo de mulheres o empurra para fora do vagão, enquanto explicavam o porquê de estarem tomando aquela atitude. Assim que conseguem, o vagão todo começa a gritar de alegria. Uma onda de empoderamento muito forte e linda toma conta de todas nós. Aquela ação potencializou muito meu dia, pois as mulheres daquele vagão tiveram voz.
“Estação Botafogo”. Ao ouvir essas duas palavras, vi o vagão encher como nunca antes. Ao perceber que ficaria presa em meio a tanta gente, me dirigi para perto da porta, pois, dali a duas estações, desceria. Largo do Machado: chegou a minha hora. Desci calmamente e me dirigi para a saída da estação.
Ando pelas ruas do bairro e, finalmente, subo pelo elevador para meu apartamento. Toco a campainha e olho o relógio: 20h20 — finalmente no conforto e na segurança de minha casa. Respiro aliviada, mas, um segundo depois, penso que os dias subsequentes seriam do mesmo jeitinho, talvez com algumas nuances diferentes. Entretanto, volto a reviver os momentos de empoderamento no vagão das mulheres e penso: nunca mais vou entrar em um vagão sem me lembrar daquilo.
120
Oitava seção
Tempo de pensarnos clássicos da sua vida
Você tem que ler isso e aquilo. Chato ouvir isso, não é? Olha só, preste bem atenção — ah, isso de novo —, para escrever bem, tem que ler os melhores autores de toda a história da cul-tura. Você deve blá-blá-blá e blá. Todos martelando no ouvido dos estudantes, desde que são crianças, regras de como “amar” leitura e a escrita de forma obrigatória. O discurso de “amor” aos livros tem tanto ódio, tanta amargura, tanto descontrole embutido, que é difícil aceitar que aqueles leitores raivosos tenham sido beneficiados, de alguma forma, pelos adorados livros que querem obrigar todos a ler.
Entretanto, talvez tais leituras sejam boas mesmo, viu?. Há esse grupo de obras, chamadas clássicas, que goza do citado adjetivo por razões que ultrapassam o tempo e o espaço. São ma-ravilhosas? Muitas, sim — pelo menos para mim. Representam toda a diversidade das culturas, dos povos, das tradições? Certamente, não. Uma parte, sim. Estão em constante mutação? Não diria tão constante assim; mas, vá lá, mudam, é verdade. Estão mudando neste momento. Mas há que se pensar nesse cânone. Há que se pensar em algumas leituras que “puxam” outras. Há que se pensar nos clássicos de cada área, de cada país, de cada gênero textual. Tais livros ajudam a escrever? Com certeza, fornecem repertório, experiência linguística, formas textuais variadas, entre outros benefícios.
Entretanto, cada pessoa, na vida, se achar que ler e escrever é importante para ela, pode eleger os “seus clássicos”: livros, músicas, filmes, situações, até pessoas, que, para ela, evocam a expressão “é um clássico”. Foi assim que começamos a pensar no conceito e na importância do que se diz “clássico”. Para tanto, para refletir melhor acerca da questão, urge consultar nosso Ítalo Calvino (1923-1985) — adoro colocar os anos de nascimento e da morte como uma espécie de homenagem à figura mencionada e como uma contextualização para o leitor —, no texto “Por que ler os clássicos” (1981).
Mesmo alguém que já leu muitos e muitos livros acumula um número enorme de obras que não leu — puro raciocínio matemático. Segundo Calvino, não há idade para ler clássicos: em cada faixa etária, a obra escolhida vai ter algo para comunicar ao leitor. Além do mais, as boas leituras, aclamadas por muitas pessoas, consultadas constantemente por grupos de referência, ao longo do tempo, são formativas, isto é, acrescentam formatos para experiências futuras. Isso ocorre porque pensamentos, histórias, conceitos e explicações fornecem, ao jovem, “modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza”. Tais elementos continuam a valer mesmo mais arde, quando o leitor não se recorda
20 CALVINO, ítalo. Por que ler os clássicos. Trad.: Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; p. 10.
20
121
21 BACHELARD, Gaston. A terra e os devaneios do repouso. Ensaio sobre as imagens da intimidade. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2003; p. 94-96
mais do livro lido há algum tempo — até mesmo quando criança. Em algum momento da vida, aquela experiência que lemos — ou assistimos em um filme —, que se colocou nas dobras de nosso inconsciente, pode nos dar uma “luz” em alguma situação difícil pela qual estejamos pas-sando. Essas são algumas funções dos clássicos; por isso, é bom que formulemos nossas listas de constituintes de nossa personalidade, de nossos gostos e de nossas preferências. Recordaremos sempre delas como auxílios para nos formarmos como seres humanos melhores.
Aproveitando livremente os escritos do filósofo francês Gaston Bachelard (1884-1962), em “A terra e os devaneios do repouso” (1948), examinamos as recordações: a partir de certa idade. Mesmo muito jovens, já as temos e queremos revisitá-las, sobretudo em momentos difíceis, em tempos de indefinição. Vemos que, ao procurar voltar às origens, às nossas origens de algo, onde quer que estejam, há, primeiramente, o caminho que nos leva de volta à infância. Essa infância da recordação é sonhadora, ávida por imagens e símbolos que multipliquem a realidade. Tal alargamento do real deseja chegar às imagens de intimidade, do invólucro materno, para reco-brar “a grande segurança de uma filosofia do repouso”. O sossego — o sonho do sono tranquilo — vasculha o passado em busca de respostas para o presente incerto. De acordo com Bachelard, o passado que nos dá o gosto de ser nosso se torna, em nós, longínquo, um “passado enorme que já não tem data, que já não sabe as datas de nossa história”.
Vamos escrever sobre pedaços da nossa história, fragmentos importantes de nossas vivên-cias. Vamos comentar nossas frações de memória, inseparáveis de quem somos. Vamos celebrar quem habita e demarca a pele que há em nós. Vamos relembrar quem grita, berra, em um canti-nho de nosso coração; quem chora, quem se alegra, quem morre de rir — e reflete, e sonha, e lê, e relê, e escreve, e reescreve. E sempre e.
21
122
Quarteto Fantástico
O relato de hoje é o resumo do longo e último ano de ensino médio. Eu tenho saudades das minhas meninas: Carol, Rachel e Rafa. Sim, tem que ser em ordem alfabética e cronológica se não a Raquel reclama — na verdade a Rachel é Raquel, mas eu mudei uma vez e me acostumei. Só pelas formalidades, meu nome é Bruno.
Nosso intervalo era às quatro da tarde; felizmente, nossos professores geralmente nos libe-ravam mais cedo. A clássica frase “Vamos ao Burger King”, seguida de uma rala argumentação persuasiva, funcionava no mínimo uma vez por semana. A verdade é: ninguém queria ir à aula seguinte.
Sair da sala, passar pelos corredores, sair do CEFET e andar até o BK: esse era o cronogra-ma. Importante lembrar que o tom de voz aumentava no processo, ninguém tinha o dom de falar baixo. Quando gritávamos muito, eu dizia que chamaria o juiz — uma entidade quase mística, que levaria preso aqueles que falassem alto —: o resultado eram algumas piadas sobre eu ser chato com o tom de voz, e, no fim, realmente funcionava.
Os assuntos sempre foram muito variados. A maioria sobre a vida amorosa da Carol, que sempre gerava boas risadas e nem sempre bons conselhos. Nosso grupo é o CJR: Conselho Julgador de Relacionamentos. Claro que julgamos muito mais que relacionamentos amorosos: amizades e fofocas são ótimos temas.
Nunca, porém, importou o tema, porque o verdadeiro assunto sempre foi “tempo de qua-lidade” — um nome bonito para “passar o tempo falando besteira com os amigos” —, uma válvula de escape desenvolvida durante anos. Nossa base de operações mudou com o tempo: o Mcdonalds, o Subway, a sorveteria, o shopping, a lojinha de conveniência do posto de gasolina ou qualquer lugar que desse pra filosofar sobre nossas vidas e a dos outros.
O colégio acabou, mas a amizade, não. Já escolhemos o nosso novo covil: uma hamburgue-ria que tem infinitos jogos de tabuleiro. O primeiro encontro já aconteceu: como sempre, boas risadas e péssimos conselhos. Os próximos, só quando a covid-19 resolver ir embora. Enquanto isso, junto pautas para a reunião pós-isolamento.
Bruno Torres
123
Outro eu impulsivo
“Tive vontade de pôr fogo na floresta amazônica. Queria injetar CFCs direto na camada de ozônio. Queria respirar fumaça. Tinha vontade de destruir algo belo”. Esses eram os pensa-mentos de Narrador enquanto espancava brutalmente seu adversário em um porão úmido de um bar abandonado. Rodeado por homens que o encorajavam a prosseguir com os atos violentos, o personagem de Edward Norton despencava inúmeros socos no rosto do seu oponente, a ponto de desfigurá-lo completamente. Estaria ele descarregando sua raiva? Sentia ódio? Ciúme de Tyler? Ou apenas o fazia por que podia?
A obra “Clube da Luta”, tais como os clássicos “Psicose” – Robert Bloch, adaptação de Alfred Hitchcock – e “O Poderoso Chefão” – Mario Puzo, adaptação de Francis Ford Coppola – constitui um daqueles conjuntos livro/adaptação em que os pontos positivos do original são realçados, se não melhor elaborados, durante a transposição cinematográfica. Publicada no ano de 1996 e transposta para o cinema em 1999, a obra de Chuck Palahniuk não conseguiria me-lhor adaptação fora das mãos do talentoso diretor David Fincher – de “Se7ven - Os Sete Crimes capitais” (1995) e “Garota Exemplar” (2014).
Chuck, que sempre buscou tratar da história de indivíduos excluídos e com grande desilu-são diante da sociedade, compõe a jornada de um burocrata de uma empresa de automóveis que sofre de extrema insônia. Chegando a passar meses sem obter qualquer tipo de sono apropriado, o personagem principal (Edward Norton) não tem nome e é o narrador da própria história; ele divide o seu tempo trabalhando em um emprego que considera medíocre, bem como frequen-tando diversos grupos de apoio para doenças as quais não possui. Nesses encontros, o Narrador busca sentimentos, procura obter alguma forma de resposta sensível de si próprio diante das dores dos outros, já que se encontra anestesiado pela vida moderna.
Chuck engendra a vivência do principal como a de um homem alienado. Ele se submete diariamente às demandas de seu chefe, viajando ao redor dos EUA para completar seus compro-missos profissionais. Como recompensa, ele usufrui das possibilidades do consumismo, com-prando móveis caros e diversos aparatos inúteis para o seu apartamento, situação que é bem explicitada no filme no momento em que uma visão panorâmica do interior da residência mostra diversos dos objetos, acompanhados dos respectivos preços.
Um dia, seu apartamento misteriosamente explode. A situação o leva a se aproximar de um homem que conheceu em uma de suas viagens de avião, chamado Tyler Durden (Brad Pitt). Tyler constitui o oposto de Narrador: é um homem bronzeado, musculoso e que vive uma vida alheia a qualquer dos padrões estabelecidos por convenção social. Ele ganha a vida realizando pequenos golpes, vendendo sabão feito a partir de gorduras provenientes de pós-lipoaspirações e vivendo em uma casa abandonada caindo aos pedaços, local em que o Narrador passa a também residir.
Após uma briga amigável entre os dois, depois de uma noite de bebedeira ganhar atenção, ambos fundam uma reunião semanal secreta dentro de um porão, na qual os presentes têm a oportunidade de se juntarem em duplas e saírem aos socos pelo tempo que bem desejarem. A prática consiste não só em uma forma de entretenimento grotesca, mas também em uma maneira de os seus integrantes descarregarem momentaneamente todas as suas frustrações, para depois retornarem a suas vidas superficiais.
Davi Goulart
124
O filme de Fincher concede um trabalho visual eficiente para retratar a vida do personagem principal. A fotografia opta por tons de cores principalmente voltados aos verdes escuros, aspec-to visual que fica evidente quando nos deparamos com a destroçada casa de Tyler – coberta de musgos – e os porões soturnos em que ocorrem as lutas. Ela reforça a vida desgastada do prota-gonista, a qual é saturada por um cotidiano monótono e sem qualquer tipo de prazer. Narrador vive uma vida “mofada”.
O tratamento dado aos personagens na película também é de chamar atenção, porém seria uma tarefa árdua torná-los desinteressantes com o material fornecido por Chuck em mãos. O autor atribuiu a cada um deles características excêntricas, as quais não só dizem muito sobre suas personalidades, mas também constroem personagens memoráveis: a insônia interminável do Narrador; a adulteração de Tyler às comidas do restaurante em que trabalha e sua fábrica caseira de sabão; e a diversão de Marla Singer ao frequentar diversos grupos de apoio; entre outros exemplos.
Proferindo frases carregadas de cinismos – “Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem não gostamos” e “Nós somos uma geração sem peso nenhum na história” –, Norton faz um trabalho certeiro ao conduzir o espec-tador adentro de rotina enfadonha do Narrador, além de compor uma transição natural do per-sonagem diante da renovação trazida pelo Clube da Luta. Ele cria um homem contido, que é, por vezes, cheio de autoridade, mas que no final acaba por entrar em conflito com as suas ideias anárquicas e seus valores morais. Brad Pitt, em contraponto ao parceiro de cena, elabora de for-ma excepcional o lado descolado, mas ao mesmo tempo imponente e rígido de Tyler, injetando muito vigor nos momentos em que discursa para os seus seguidores do Clube da Luta. Helena Bonham Carter realiza um trabalho interessante. Enquanto que, no livro, o comportamento auto-destrutivo da personagem de Carter explicita a sua carência por atenção e transforma-a, diversas vezes, em um transtorno para a vida do Narrador; no filme, o trabalho de Helena constrói uma versão mais simpática de Marla, que com sua personalidade sem filtro consegue trazer um pou-co de leveza à narrativa.
Mais de 20 anos depois de sua data de estreia, é de se assumir que todos tenham ciência a respeito do grande plot twist do filme. Após Narrador questionar Marla aos gritos por telefone qual era o próprio nome e receber como resposta Tyler Durden, descobre-se que, na verdade, ambos são a mesma pessoa. Enquanto Narrador achava que estava na verdade dormindo, ele passava noites em claro agindo como Tyler e comandando ações de desordem para os mem-bros do Clube da Luta, que se torna uma espécie de organização quase religiosa atribuída a um espírito iconoclasta.
A descoberta esclarece o motivo de toda a tensão sexual entre os dois protagonistas durante a história. Durden corresponde a tudo aquilo quanto o Narrador deseja ser: irreverente, deste-mido e reverenciado pelos que o rodeiam; ele criou essa persona a fim de obter a coragem de se livrar de sua vida usual. Guiado por Tyler, ele obtém soberania, respeito e até mesmo o amor Marla. Todavia, no momento em que seus discípulos passam a agir como um grupo de skinhe-ads, as duas consciências entram em conflito. Narrador deseja destruir tudo o que construiu sob
125
o nome do alter ego, mas é tarde demais para isso. Fincher, diferentemente do livro, opta por um final menos pessimista e, nos últimos segundos, proporciona uma cena bela diante de um cenário de caos e destruição.
Mais de 20 anos após o seu lançamento, Fight Club (no original) se encaminha para obter o título de clássico. Comumente entre os favoritos de diversos cinéfilos e sempre presente nas listas anuais de melhores filmes de todos os tempos, pode-se dizer que o trabalho de Fincher realçou todas as qualidades da obra de Palahniuk. O Narrador continua a ser um personagem complexo e cativante; a ponto de, por vezes, sermos até capazes de concordar com alguns de seus cinismos. Sim, concordamos com o homem que chegou a explodir o próprio apartamento sob o comando de seu alter ego imprudente. Mas quem nunca pensou em ceder o controle ao nosso impulsivo Tyler?
126
Uma pela outra
Eu me lembro da primeira vez em que pus um livro da Agatha Christie na minha mão. Es-tava com a minha família reunida na casa da minha avó. Costume de véspera de final de ano. Meus pais estavam comentando sobre o meu grande desinteresse por leitura. Isso, na minha família, é grandioso. A literatura era hereditária.
- Não consigo, vó. Nunca sinto vontade de terminar. – me defendi.Vovó pensava rápido, apesar de outras dificuldades. Nada a impedia de ensinar. Nada nunca
me impediu de aprender com ela. Foi quando ela colocou em minhas mãos em “O Assassinato de Roger Akroyd”, de Agatha Christie. O título já tinha me dado uma prévia do que despertaria em mim. E despertou quando, finalmente, acabei um livro. Esse, em dois dias.
Foi assim que descobri o saudável vício em romances policiais. Agatha Christie passou a ser um nome muito forte na minha vida. Por a ter nomeado a rainha de meus livros. Por me ligar a vovó.
Tudo se tornou mais forte quando descobri sua data de nascimento: 15 de setembro. Se consegui te cativar, caro leitor, posso poupar palavras. Já deve saber quem comemora a vida no mesmo dia.
Eu me sinto um pouco precipitada dedicando essa crônica à Agatha, devo confessar. Ainda há muito a me fascinar. Mas, pensei comigo, não precisei ler mais de 11 obras para querer dedi-car minha escrita a ela. Ainda faltam 55. Sinal de que não devo me arrepender. Não me arrepen-deria de nada que viesse da vovó.
Hercule Poirot é outra garantia de meu não-arrependimento. É o detetive belga a que Aga-tha deu vida em seus livros. Ele se tornou, para mim, um dos melhores personagens de toda a literatura. Ele sempre parece duvidar de minha inteligência. É sempre um prazer ter minha ca-pacidade questionada por Poirot.
Mas me sinto na obrigação de contar o meu livro preferido. Pelo menos o da vez. “O Caso dos Dez Negrinhos”, renomeado para “E Não Sobrou Nenhum”. É o clichê de Agatha Christie, eu sei. Nunca tive vergonha de gostar dos clichês.
Agatha morreu em 12 de janeiro de 1976. Ela é uma daquelas pessoas que se vão, mas deixam coisas que as tornam imortais. As sensações são sempre os melhores legados. Comecei essa crônica falando de minha avó. E te explico o porquê. Agatha me presenteou com o gosto da leitura, mas a vovó foi quem a fez tão especial. Agatha morreu de pneumonia. Vovó, também. Talvez, no fundo, seja por esses detalhes que a elegi como minha preferida. E sabe de uma coisa, leitora mulher, minha avó também foi uma das pessoas mais admiráveis do mundo. Mulheres fortes se atraem.
Elisa Guilherme
127
A fúria negra ressuscita outra vez
“Como se fosse a noite cê vê tudo preto, como fosse um blackout cê vê tudo preto” – mú-sica “O Mundo é Nosso” (2017) de Djonga –. Se nos tempos mais sombrios, a arte costuma florescer, em 2020, ano em que o Governo brasileiro de Jair Bolsonaro flerta frequentemente com as trevas de um de um regime totalitário e uma censura, pode-se dizer que o tempo está escurecendo no país. Porém o rapper belo-horizontino Djonga, que iniciou sua carreira solo no Rap em 2017, faz questão de demonstrar o escurecimento do país em suas letras, mas com uma visão completamente diferente de Bolsonaro. Ele se refere a seus irmãos de pele preta que por muito tempo foram silenciados, reprimidos e invisibilizados, mas que agora estão reivindicando seus direitos e sendo “vistos” na sociedade independentemente de sua pele escura, que por conta do racismo é ofuscada há anos.
Com a revolta de grande parte da população após o assassinato de George Floyd, em maio de 2020 nos Estados Unidos, e de diversos jovens negros – Jenifer (11 anos), Kauan (12 anos), Ága-tha (8 anos), João Pedro (14 anos), Ítalo (7 anos) – em operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro desde o início do governo de Wilson Witzel (2019), o grito de Djonga, em “Olho de tigre” (2017), ecoa cada vez mais na sociedade. A popularização do termo “Fogo nos racistas” – verso dessa música – reforça a ação imediata e radical que deve ser tomada contra o sistema genocida que governa e estrutura o racismo em todas as camadas da sociedade. Além disso, tal expressão é um dos indicadores de como o gênero urbano Rap é um verdadeiro agente de mudança e um dos meios de comunicação mais influentes na sociedade. O Hip-Hop – que engloba o Rap –, é o gênero mais ouvido do mundo atualmente, tendo ultrapassado o Rock e o Pop.
Com mais de 338 milhões de visualizações apenas em seu canal do YouTube – todas as suas participações em músicas, com outros artistas, somam mais de 700 milhões de reproduções –, Djonga é um dos rappers mais influentes e incisivos da nova geração do estilo de música que vem engajando cada vez mais jovens no Brasil. O artista chama a atenção por suas letras com fortes críticas sociais e uma lírica afiada e agressiva. Tal estilo não se via em um “intelectual do morro” – como ele mesmo se descreve na música de seu ex-grupo DV Tribo “Diáspora” (2016) – desde Mano Brown. Este componente do grupo paulista pioneiro no rap nacional Racionais MC`s, formado em 1989, era visto ,nos anos 1990, como um “mero subversivo do sistema” por conta das verdades que colocava em suas músicas, mas, após 30 anos de carreira, tornou-se um dos maiores intelectuais do país.
As letras, com fortes críticas sociais, se mostram presentes em todas suas músicas. Em “JUNHO DE 94” (2018) – música que é nomeada com sua data de nascimento –, Djonga afirma que está “dizendo verdades que nem repórter Esso teria coragem”. Isso nos remete ao fato de o artista de rap ser o verdadeiro repórter da rua. “Profissão” que fica mais explícita ainda em seu quarto álbum solo: “Histórias da Minha Área” (2020). Após uma ascensão meteórica – contan-do com três álbuns impecáveis e bem sucedidos, lançados consecutivamente ano após ano desde 2017 –, ele conta a história de todas áreas do Brasil que se parecem com o local em que cresceu, a periferia de Belo Horizonte. A desigualdade, violência, pobreza e diversos outros problemas
Gabriel Maurell
128
que existem historicamente nas áreas marginalizadas do país são expostos explicitamente em seus versos.
Djonga traz de volta toda a autoestima, representatividade e fúria aprisionada dentro do povo preto durante todos esses anos pós coloniais, e principalmente durante esse hiato no ce-nário musical brasileiro, onde não se viam mais “intelectuais do morro” como Mano Brown. E assim como os dois rappers já disseram, respectivamente, em suas músicas “Obstinado” (2019) e “Capítulo 4 Versículo 3” (1997), “A fúria negra ressuscita outra vez”.
129
A saga de HP em livros e filmes
A saga de Harry Potter se diferencia entre os livros e filmes em diversos aspectos. Tanto as características dos personagens quanto seus destinos são alterados nas histórias. O próprio pro-tagonista apresenta algumas ações nos filmes que revoltaram o público. No último filme, “Re-líquias da Morte Parte 2” (“Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2”, 2011), Harry decide quebrar ao meio a varinha mais poderosa do mundo bruxo, a tão falada Varinha das Varinhas — a arma mais temida pelos bruxos e uma das razões da morte de diversos personagens, Potter decide encerrar a maldade que ela causou, partindo-a ao meio e, após isso, jogando-a no mar.
Uma das cenas que mais descaracterizou um personagem ocorreu com o ex-diretor de Hogwarts. No filme, Alvo Dumbledore foi estrelado por Richard Harris (1930-2002), que fa-zia um ótimo trabalho, atuando como o velhinho mais querido do mundo bruxo. Entretanto, o ator, ao morrer, acabou sendo substituído por Michael Gambon, o qual não parece ter entendido como Dumbledore se portava diante de situações de desespero.
No quarto filme da obra —“Harry Potter e o Cálice de Fogo” (“Harry Potter and the Goblet of Fire”, 2005) —, Alvo decide cobrar Harry, após descobrir que seu nome aparecera, repentinamente, no Cálice. O problema da cena não foi a cobrança do diretor com Harry Potter; mas, sim, o jeito como ele falou com o menino, totalmente agressivo e rude. Nos livros, o perso-nagem de Dumbledore pergunta, calmamente, a Harry se ele colocou o próprio nome no Cálice de Fogo.
Além disso, nesse mesmo filme, o dragão Rabo-Córneo Húngaro escapa da arena e ataca Potter durante a realização do Torneio Tribruxo. Os fãs dos livros se decepcionaram muito com o acontecimento, pois nunca Alvo Dumbledore permitiria que um dragão fosse solto. Cenas como essas revoltam os fãs pelo fato de os diretores do filme gastarem tempo de gravação com histórias que não se passam nos livros, em vez de retratarem outros acontecimentos que, de fato, são fiéis aos vigentes nas publicações.
Outro grande problema pode ser analisado no sexto filme, “Harry Potter e o Enigma do Príncipe” (“Harry Potter and the Half-Blood Prince”, 2009), quando Bellatrix e os Comensais da Morte invadem o terreno onde estava localizada a casa de Ronald Weasley e, usando magia, incendeiam a residência da família Weasley. Pode-se dizer que os livros da saga Harry Potter são melhores que os filmes, não só pela regularidade e coerência dos livros, mas também pela escrita atraente e sedutora de J.K.Rowling.
Lucas Mourão
130
A casa da vó Vera
Falar de clássicos da minha vida e deixar de comentar das inúmeras férias que passei na casa da minha avó Vera é um insulto. Lembro-me de quando estava na escola, no ensino fun-damental I, e as professoras começavam a falar sobre o tema férias: a única coisa que vinha à cabeça era minha avó. Só de lembrar as férias passadas ficava animada para o último dia de aula e, assim, pegar a estrada.
Contextualizando um pouco sobre a minha vida, minha mãe é carioca assim como eu e meu irmão. Já meu pai é paulista lá do interior de São Paulo, uma cidade chama Araraquara. E os dois se conheceram em Cancun, no México. Muitos falavam que era a história de amor perfeita; outros, apenas um romance passageiro. Porém, após 22 anos de casados e dois filhos lindos e saudáveis — eu, claro, a mais bonita —, estou até hoje tentando achar a resposta. Porém o as-sunto a ser abordado é Araraquara, e é nessa cidade que eu passava quase — se não todas — as férias de final de ano.
A viagem era de aproximadamente oito horas dentro de um carro, com quatro pessoas com-pletamente diferentes dentro. Começo pelo Fernando Anacleto, meu pai, o motorista que tinha o foco de fazer essa viagem o mais rápido possível. Por ele, nós fazíamos apenas uma parada para encher o tanque de gasolina e, então, ir ao banheiro o mais rápido possível. Nada de enrolar ou ficar procurando lanchinhos na loja de conveniência do posto em que parávamos. Brincadeiras à parte, se pedíssemos três vezes e se estivéssemos ao ponto de fazer nossas necessidades nas calças, ele parava no posto mais próximo.
Agora minha mãe, Maria Luciana, a “copilota”. De copilota, na verdade, não tinha nada, porém ela ia sentada no banco da frente ao lado do meu pai e quase sempre aguentava a viagem toda acordada, fazendo companhia a ele. Por ela, nós pararíamos em todos os postos possíveis, o Graal era, para ela, um shopping center. Ela era responsável pelos doces que comeríamos durante o caminho, pingo de leite ou então doce de leite em um formato de cubinhos, nossos preferidos, com total certeza. Como uma boa mãe, sempre nos lembrava de irmos ao banheiro até porque nunca sabíamos quando iriamos parar novamente, às vezes só no nosso ponto final.
E não posso esquecer do Guilherme Henrique, o caçula da família. A viagem para ele era composta de três estágios, dentre eles dormir assim que virássemos a esquina de casa. Ele dor-mia literalmente 80% da viagem, e, quando acordava, vinha o segundo estágio. “Tá chegando?”. Juro que nunca na minha vida essas duas palavras me irritavam mais do que durante a viagem. E nosso querido último estágio, comer, para ele com total certeza era a melhor parte. Sempre pedia um sanduíche Bauru —pão francês, carne de boi e queijo tudo na chapa —, mesmo pedido do meu pai. Após comer, voltávamos para o carro e os estágios um e dois se repetiam constan-temente.
Para mim, a viagem era cansativa; porém, bem tranquila. Quando pequena, meus pais ti-nham um carro com DVD, então eu passava o caminho todo praticamente assistindo a filmes. Ao ficar mais velha, e ganhar meu próprio iPod, já tinha controle do que eu iria escutar durante as sete horas dentro do carro. Mas quando eu ganhei meu primeiro aparelho celular, aí, sim, a viagem começou a ficar interessante e bem mais fácil de levar. Confesso que a melhor, parte
Maria Fernanda Anacleto
131
para mim, era quando fazíamos a parada no Graal: o espetinho de frango deles era tudo para mim.Animados mesmo ficávamos quando começávamos a ver placas com o nome “Araraquara:
significava que estávamos a uma hora do nosso destino. Mas era aí também que a viagem pare-cia estar parada ou até mesmo que meu pai estava dando ré; parecia que não chegaríamos nunca. Ao ver as luzes da cidade, já dava até frio na barriga de saber que, em menos de 10 minutos, iríamos ver a vovó, meus tios e primos. E, melhor, poder comer as gostosuras que a minha avó deixava preparado quando estávamos a caminho. Era uma variedade de doces e salgados, muito bolo de cenoura com chocolate, além de esfihas feitas por ela.
Avistava de longe a esquina em que devíamos virar à esquerda e, assim, meu pai já começa-va a buzinar, avisando que tínhamos chegado. A vontade de descer do carro e sair correndo para abraçar todos era de deixar qualquer um elétrico. O portão demorava para abrir e aos poucos víamos por completo minha avó em pé já quase chorando de alegria. Desconheço abraço mais gostoso que o de vó, ainda mais quando está com aquela saudade: é de abraçar e nunca mais querer sair dos braços dela.
Daí em diante, era só alegria, do carro direto para mesa da copa para atacar as delícias que a dona Vera tinha feito para a gente. Quase sempre chegávamos bem tarde, umas 23 horas, então meus pais, cansados da viagem, iam direto dormir. Já eu e o Guilherme ficávamos sem-pre elétricos e, muitas das vezes, meus primos dormiam na casa da minha vó também; então, brincávamos até cair no sono. Acordar escutando o liquidificador batendo é típico: Vera estava aprontando algo na cozinha, fosse um bolo de fubá para o café da manhã ou uma vitamina, o que ela estivesse sentindo vontade de fazer no dia.
As férias duravam, na maioria das vezes, duas semanas, três, no máximo, caso meus pais estivessem sem pressa de voltar para o trabalho. Eu e o Gui dividimos essas semanas ficando na casa da minha vó, onde meus pais se hospedavam e na chácara da minha tia Daniela e do tio Juca. Em qualquer um dos dois lugares, nos divertíamos, mas na chácara era algo diferente, pois minha tia tem cinco filhos, todos mais ou menos na faixa etária parecida com a nossa. Flávio é o primo mais velho — cinco anos a mais que eu —; depois vem o Pedro, temos uma diferença de três anos; aí, a Bruna, que é apenas três meses mais nova que eu; a caçula da época, a Izadora — cinco anos de diferença—; e, hoje em dia, temos o Francisco, nosso mais novo caçula, que fez seis anos esse ano. Usávamos e abusávamos da nossa imaginação: mesmo quando não tínhamos mais do que brincar, achávamos algo para fazer.
Como esperado, vem a parte triste, a hora de dizer o até mais. Lembro até hoje o quão cha-to e triste era esse momento. Era uma choradeira que só: minha avó não se aguentava. Lembro direitinho de ela falando com a gente: “Mas Fer, Lu, vocês precisam mesmo ir embora? Fiquem mais um pouquinho.” Mesmo que amássemos ficar lá, precisávamos voltar para a nossa rotina. Na hora de ir embora, parecia que o portão funcionava igual a um flash, que nem dava tempo de dar o último tchau, mandar o último beijo pela janela e avisar que “já-já!” estaríamos de volta.
132
Para finalmente alcançar a ponta do pelo do coelho
Marina Kersting Pereira
Sempre me vi cercada por livros: espalhados por todos os cantos da casa; nas prateleiras que vão do chão ao teto; esquecidos dentro de armários e bolsas. Sempre tive uma boa relação com eles, mesmo com a minha alergia à poeira.
Acho que tudo começou quando era criança, e toda noite, antes de dormir, meu pai lia um capítulo de um grande livro sobre mitologia grega. Eu me perguntava se nele havia todas as histórias já escritas. Eu era tão pequena, mas a grandeza das histórias de heróis e deuses enfu-recidos me atraía, e, talvez por isso, até hoje olho para os livros como se eles escondessem uma vivacidade misteriosa. Lembro de ouvir as palavras enunciadas pelo meu pai — através da sua voz terna e baixa, que ele com orgulho denominava de “voz de leitura”— e, de olhos fechados, imaginava as odisseias, cujas palavras chegavam a meus ouvidos com carinho; e, logo em se-guida, se transformavam em sonhos.
Mais tarde, quando comecei a ler por mim mesma, lembro de sempre tentar fazer o mo-mento ainda mais extraordinário. E nem mesmo um calor de alto verão carioca me impedia de pegar o cobertor mais pesado que tinha — pelo menos três vezes o meu tamanho — e uma lan-terna. Logo me punha sob as cobertas com meu livro da Judy Moody (2000), e ficava absorta por horas no meu próprio mundinho. Quando, mais tarde, descobri que era míope, meus pais colocaram a culpa em cima dessa minha mania, mas valeu a pena. Para mim, o cobertor pesado e a lanterna eram uma proteção, não deixavam as histórias escaparem.
Em outro capítulo da minha vida — uns anos mais à frente — minha família começou a viajar com mais frequência, dado que meu pai, como se pode esperar de um bom professor de geografia, tinha uma urgência de conhecer o Brasil. Ele tinha medo de que os lugares mais pa-radisíacos e belos fossem tomados por resorts e shopping centers, o que infelizmente foi o caso de Boipeba — a ilha na Bahia a que fomos em um desses meses de férias. Eu ocupava metade da mala com livros: minha mãe sempre reclamou do peso que carregava e do infortúnio de, por consequência disso, sempre faltar roupa para usar nas viagens.
Antes mesmo de chegarmos ao destino, já tinha metido meu nariz em um livro. Esco-lhi, para minha companhia, “Reinações de Narizinho” (1931), escrito por Monteiro Lobato (1884–1948), e eu não consigo pensar em hora e lugar mais certos para lê-lo. E o fazia com uma voracidade espantosa; imergi nele de tal forma que, sempre quando caía no mar, nadava o mais fundo possível em busca do Reino das Águas Claras.
Esse livro me seguiu até meu primeiro conto de Clarice Lispector (1920–1977), o pre-ferido de minha mãe. Felicidade Clandestina — título que dá nome também ao livro — era sobre uma menina, gorda, baixa e sardenta, cujo pai era dono de uma livraria; mas ela nunca aproveitava os tesouros que seu pai possuía. Entretanto, ao ver que a colega Clarice nutria grande interesse e curiosidade por “Reinações de Narizinho”, exercia seu micropoder e judia-va da amiga, que esperava todos os dias pelo livro que ela prometera emprestar. Logo quando terminei de ler, pensei no absurdo que era a menina ruiva não aproveitar as infinitas possibili-dades de livros. Mas, depois de um tempo pensando sobre o conto, percebi no tanto de coisas que temos e não damos valor.
133
O conto de Clarice era um prelúdio dos novos gêneros que estavam por vir, e minha jorna-da como leitora tomou outros rumos quando me deparei frente a uma nova realidade. De Arthur Conan Doyle (1859–1930) à Agatha Christie (1890–1976), investigava um mundo inteiro de crimes e suspenses. As tramas me deixavam inerte por horas, como se minhas mãos estivessem grudadas no livro e meus olhos só conseguissem focar nas palavras; solucionei os casos mais mirabolantes ao lado de Sherlock Holmes e Hercule Poirot.
Com “Orgulho e Preconceito” adentrei a sociedade burguesa da Inglaterra do século XVI e seu mundo de moral, costumes, além das dificuldades de ser mulher. Já com os poemas de Hil-da Hilst (1930–2004) e os contos de Caio Fernando Abreu (1948–1996), desbravei os mundos eróticos, da solidão e do amor. Mas foi com Jostein Gaarder (1952) que encontrei os melhores temas do mundo. Com sua delicadeza, o conteúdo rico, envolto pela trama leve e pela beleza em torno do “Mundo de Sofia” (1991), o autor norueguês torna o livro uma verdadeira obra de arte. Não somente me percebi em Sofia, como decidi que queria viver suas aventuras e ver o mundo com as lentes que carregava. Percebi que essa era minha busca desde que encontrei, nos livros, não somente uma opção infinita de novos mundos, como, através deles, uma visão diferente desse que vejo através dos meus olhos. Jostein Gaarder acerta novamente ao dizer: “Nascer é receber de presente o mundo inteiro”. E nasço em um mundo diferente toda vez que abro um livro; e, por isso, tenho inúmeros mundos de presente.
Hoje, tenho como regra sempre levar um livro na mochila; não me importo se amassa ou dobra, gosto deles com marcas de vida, usados e sublinhados. Eles são parte importante na minha jornada de mim, e julgo que devam ser de todos. De “Coração de Tinta” (2003) — em que os personagens de livros ganham vida quando alguém lê a história em voz alta — até a história de derrota na novela “O velho e o mar” (1951), os livros têm me fascinado. Como um amigo simpático e muito inteligente de meu pai uma vez me disse: “Nós somos o que nos lemos; é isso que me faz ler não somente livros, mas o outro e o que está presente, tentar ser pelo conhecimento”. Nada faz tanto sentido para mim como esse pensamento que coroa o meu amor pela arte de ler.
134
Ninguém Ama Como A Gente
Renan Lima
Há 22 anos, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, nascia um bebê com nome de Re-nan. Da mesma forma que se escolhe um nome, escolhe-se um time para torcer. No caso deste clube, seus torcedores que são escolhidos. O significado do meu nome tem muito a ver com ele e com suas histórias.
Renan: Aquele que tem um carisma e um brilho único. O Glorioso, assim apelidado, é conhecido pelo brilho único de sua estrela solitária, por suas
cores preto e branco, por seus inúmeros ídolos, pela paixão incomparável de seus torcedores e pelo carisma que ele transmite para outros amantes do futebol.
Dessa forma, eu fui mais um escolhido para entrar nesse seleto grupo de torcedores do al-vinegro carioca. Acredito que o dia da escolha foi 21 de janeiro de 1998, no meu nascimento, visto que, segundo familiares, em frente à maternidade havia um outdoor de uma campanha publicitária do Botafogo. A partir desse dia, eu sou considerado um botafoguense e acumulei algumas histórias marcantes nesta minha vida de torcedor. Algumas aconteceram sem que eu nem ao menos eu me entendesse por gente!
No ano de 1998, o Botafogo foi consagrado campeão da 21ª Edição do Torneio Rio-São Paulo, competição que não tinha mais o charme dos anos 1950 e 60, mas ainda possuía certa relevância pelo fato de reunir os grandes clubes dos tradicionais estados boleiros do Brasil. O torneio teve início exatamente no dia em que nasci, e o Botafogo estreou com uma vitória em cima do Corinthians por 1 a 0.
Será que o novo facho de luz, nascido no mesmo dia da estreia com vitória do alvinegro — e no que seria o último título de uma década vitoriosa —, deu sorte ou foi um encontro de energias?
Como mais um supersticioso, eu acredito que foi um encontro de um novo facho de luz com a velha estrela solitária na estrada dos louros. Em concordância com um trecho do hino: “Na estrada dos louros, um facho de luz/Tua estrela solitária te conduz! ”
No ano de 1999, mais um acontecimento marcante na história do Botafogo e na minha história: a final da Copa do Brasil decidida entre Botafogo e Juventude em duas partidas. O time gaúcho venceu o primeiro jogo, realizado em Caxias do Sul, por 2 a 1. O segundo duelo, no Maracanã, terminou em um empate sem gols. Com estes resultados, o Juventude sagrou-se campeão da competição pela primeira vez.
Na parte que me toca, em relação a este fato, eu estava presente ao estádio, no colo de mi-nha mãe ou dentro do carrinho. A família torcia pelo time e pelo meu pai que estava no banco de reservas. Ele era coordenador médico e integrante da comissão técnica do Botafogo.
Segundo meus pais — e relatos de terceiros —, no final do jogo, um silêncio fúnebre tomou conta do estádio, e um sentimento de morte encheu o peito dos torcedores. Eram 100 mil bota-foguenses, o último jogo com esse número de pessoas dentro do Maracanã, e o resultado foi o pior possível para a nossa torcida.
Depois de dois anos bem mornos e sem grandes histórias, no ano de 2002, o clube voltou a passar por dificuldades, na sofrida queda para a Segunda Divisão. No ano seguinte, entretanto,
135
abraçado por sua torcida, o time garantiu o acesso. Com apenas quatro anos, já me entendendo como gente e torcedor, estive presente à maioria dos jogos no Estádio do Caio Martins, em Niterói.
Dentre esses jogos em que marquei presença, um não tiro da memória. Foi o jogo que ga-rantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro para o ano seguinte, e foi disputado contra o Marília-SP. O Botafogo vencia por 3x0 e, aos 35 minutos do segundo tempo, o time adversário anotou seu primeiro gol na partida. O resultado já garantiria o acesso, mas, mesmo assim, eu caí aos prantos com o gol do time paulista.
Uma confusão de sentimentos tomou conta de mim. Eu senti medo, ansiedade, nervosismo e, ao mesmo tempo, tinha o alívio, a felicidade e o amor ao clube. Segundo meu pai e irmão, um outro torcedor me enrolou na bandeira do Botafogo, me colocou em seus ombros para cantar-mos em coro o nosso hino e me disse que eu só poderia chorar de felicidade naquele momento, pois nosso clube estava voltando para o lugar de que nunca deveria sair: a primeira divisão.
Até hoje, vivi histórias de altos e baixos junto com o Botafogo. Em questão de desempenho em campeonatos, houve mais coisas ruins do que boas; porém, não mudaram meu sentimento, só me fizeram amar o meu time mais ainda!
Além dos fatos marcantes relacionados aos jogos, vivi algumas histórias relacionadas ao extracampo. Essas histórias só foram possíveis pelo fato de meu pai ter sido médico de alguns clubes do Rio e ter tido experiências de trabalho fora do Brasil, mas sempre no mundo do futebol. Com isso, ele construiu uma gama de amizades futebolísticas, dentre eles jogadores, técnicos e dirigentes.
Uma dessas experiências, foi um encontro em um Restaurante na Avenida Atlântica, em Copacabana (RJ), com alguns amigos dos tempos de Botafogo e, junto, estava o grande Jairzi-nho, o Furacão. Neste encontro, tive a oportunidade de conhecer e ouvir suas memoráveis histó-rias no futebol, momentos vividos no Botafogo e na Seleção Brasileira. Na época, eu estava com uns 12 anos e não tinha a dimensão do momento pelo qual estava passando. Eu estava de frente com um dos maiores jogadores da história do futebol e um dos maiores ídolos do Botafogo. E eu mal sabia, o que esse encontro iria me trazer futuramente.
Um dos integrantes da resenha escutou minhas histórias com o Botafogo e viu o tanto que eu já tinha vivenciado com apenas 12 anos de idade. Além disso, viu a paixão de um menino pelo seu clube e se identificou completamente com esse sentimento.
Ficou incrédulo porque, mesmo o Botafogo não ganhando títulos de expressão desde 1998, o sentimento era gigantesco, e ultrapassava conquistas e decepções futebolísticas.
Compartilhando desse sentimento alvinegro, ele fez para mim e para meu irmão a proposta de conhecer a Enciclopédia do Futebol, o grande Nilton Santos. Mas que pergunta retórica, né? Era tão óbvio, que a resposta fugiu e deu lugar a uma lágrima. Estava sendo construído mais um capítulo da minha história como botafoguense e torcedor de uma maneira geral, pois quem é o maluco que rejeitaria uma proposta dessas?
Eu sonhava em conhecer alguns ídolos do meu clube, mas não tinha ideia de que isso aconteceria de uma maneira tão natural e simples. Num dia eu conheci o Jairzinho e marquei de conhecer Nilton Santos: foi o dia mais feliz da minha vida!
136
O lugar em que ele morava era uma Clínica de Terapia Intensiva, visto que estava nos seus últimos dias de vida. Ele sofria de Alzheimer e já não podia mais ficar longe de acompanhamento médico intensivo. O ambiente tinha tudo para ser triste ou, no mínimo, desconfortável para crianças.
Mas, antes mesmo de entrarmos em seu quarto, eu e meu irmão sentimos, pelo tapete e pela porta, a energia do lugar e o sentimento que existia ali dentro. No tapete, estava escrito “Aqui mora um Botafoguense” e, na porta, havia um escudo do Botafogo pendurado.
Fomos recebidos por sua esposa, Célia, com quem mantinha uma vida em comum há mais de 40 anos. Ela nos explicou, primeiramente, como a doença se dava e que não era para nos in-comodarmos caso ele se esquecesse de alguma coisa. Isso não aconteceu em nenhum momento! Entramos no quarto e só enxergávamos escudos do Botafogo. O sentimento dele estava deco-rado nas paredes e no chão do quarto. Absolutamente tudo era do Botafogo. Desde a porta até uma caneta.
Tiramos fotos, ele autografou algumas camisas e um livro do Botafogo que eu tinha ganha-do do meu pai. Não conseguimos trocar muitas palavras, pois ele estava bastante debilitado, mas o pouco dito foi o suficiente.
Uma das coisas que ele me disse foi: “Eu fui muito feliz com o Botafogo, como jogador e como torcedor. Espero que você tenha a mesma felicidade que eu tive com nosso Botafogo e jamais se esqueça da grandeza desse clube”
Ficamos ali por volta de uns 20-30 minutos. Pouco tempo? Para nós, passou rápido, mas, ao mesmo tempo, foi uma eternidade.
137
Pronto, estava realizado! Todo meu sentimento pelo Botafogo havia feito sentido naquele momento e não faltava absolutamente nada. Seu manto não se veste. Tem-se a honra. Um trecho do blog “A Voz da Serra”, no texto “O que faz o Botafogo Diferente”, retrata muito bem toda a confusão organizada de sentimento vivido por um botafoguense:
“O botafoguense, de fato, é diferente. Não se trata de uma paixão, mas de uma senha para a cidadania. Torcer pelo Botafogo ensina muitas coisas a respeito da nossa própria vida.
Vencendo ou não, conquistando títulos ou em jejum, não importa. O sentimento pelo Bo-tafogo move a existência de cinco milhões de pessoas. Os momentos difíceis apenas reafirmam todo esse amor que jamais será calado. Numa breve analogia com as nossas vidas, o Botafogo seria a maturidade para aceitar que tudo é perfeitamente imperfeito; todos os problemas são incompreensivelmente compreensíveis; todos os obstáculos, quando mais parecerem insuperá-veis, serão vencidos. O Botafogo é a certeza de que, apesar de todas as incertezas, não há nada errado. Aqueles que desafiam a lógica menos lógica existente, é que estão equivocados.
Pode parecer confuso, mas o Botafogo não é simples. A vida não é simples. E essa comple-xidade move o mistério preenchido pela fé. Acreditamos, sonhamos com situações que talvez ainda demorem a se concretizar. Mas o simples fato de viver as ilusões que qualquer paixão proporciona torna o alvinegro diferente. ”
Alguns famosos já escreveram sobre o Botafogo e também compartilho algumas frases, para elucidar tudo que move um torcedor do Botafogo
A primeira frase é do Jornalista Mário Filho, que tem seu nome ligado ao Maracanã:“Ser Botafogo é escolher um destino e dedicar-se a ele. Não se pode ser Botafogo como se
é outro clube: você tem que ser de corpo e alma”A segunda frase é do cineasta e botafoguense João Moreira Salles:“É fácil torcer pelo Flamengo, pertencer à maioria. Ser Botafogo, não: desde a escola, é
uma afirmação de identidade. Significa ter opinião própria, não seguir a moda. Por isso, acho que o torcedor do Botafogo é um torcedor de fibra moral. Ser botafoguense te ensina muitas coisas a respeito da vida”
A terceira é de um autor desconhecido, mas que também mostra todo esse sentimento botafoguense:“Assim é o botafoguense. Ele não sofre, se purifica. Os invejosos desafiam, dizem que nós
somos poucos. Equívoco. Somos relíquias. E preciosidade não se encontra às pencas no boteco da esquina. ”
E a última frase tinha que ser do grande Armando Nogueira:O Botafogo é bem mais que um clube – é uma predestinação celestial. Seu símbolo é uma
entidade divina. Feliz da criatura que tem por guia e emblema uma estrela. Por isso é que o Bo-tafogo está sempre no caminho certo. O caminho da luz. Feliz do clube que tem por escudo uma invenção de Deus.
O botafoguense não precisa de conquistas ou de títulos disputados ou de partidas venci-das para amar seu clube do coração. O sentimento de pertencer a uma constelação alvinegra e não ter a paixão abalada pela falta de títulos, faz com que esse amor seja perpetuado. Ele é puro e verdadeiro.
138
Já dizíamos uma vez: Somos um só. Mesmo que queiram diminuir sua história e desmerecê-la pela escassez de conquistas, sua
apaixonada torcida tem o imenso prazer de suas milhões de tradições. É pensando em cada verso para ver tudo que você, Botafogo, me proporcionou: amizades, histórias, legado, alma calejada. Coisas que vou ter que contar e repetir para quem não viveu comigo: ninguém nunca vai calar esse nosso amor.
Eles nos mandam parar de “viajar”. Dizem que isso de virar clube-empresa não vai adiantar. Que nunca adiantou. Mas nós sempre acreditamos e sempre te apoiamos. Nós somos loucos. Esse é o sentido disso tudo. Só a gente atura. Só a gente sustenta.
Porque ninguém, absolutamente ninguém, ama como a gente.Tu és o glorioso e tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil de nossa gente. Na
estrada dos louros, um facho de luz.Tua estrela solitária te conduz! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907!
139
Nona seção
Tempo dese autonalisar
Olha, devo dizer, a gente fica em casa, o espaço fica pequeno, o tempo passa um pouquinho mais devagar e pronto: a gente presta mais atenção aos nossos defeitos. Não só defeitos, vá lá, mas características, ações, etc. Olha, sou gulosa, viu? Nem sei se tão gulosa; mas, pelo menos, amante de comidas e delícias — assim fica mais chique. Tenho muito apetite. Quem quiser me convidar para algum evento, coisa assim, é bom saber: eu como bem mesmo, repito e, às vezes, repito de novo. Estou procurando me controlar, assim como tento fazer alguma coisa, sempre, para enganar minha poderosa preguiça. Entretanto, por mais que lute contra ela, procrastino, deixo tudo para a última hora, esqueço de fazer uma coisa e outra por preguiça de anotar os compromissos; fico com sono no meio da tarde e por aí vai a indolência.
Olha, também, devo dizer, não sei fazer muita coisa nessa vida, não. Peço ajuda às minhas irmãs, especialmente à mais nova, para mexer com contas, banco, boletos, imposto — nossa, quase tudo. Outro traço distintivo meu: não gosto de ligar para lugares para pedir informações. Olha, eu fico tímida, não entendo nada que a pessoa pergunta, fico falando “o quê?”, “o quê?” — até me sentir uma total inútil, e chamar quem? A minha irmã. Aviso: não sou uma adolescente, há muitas décadas; mas, às vezes, acho que tenho dezoito anos, com mentalidade de treze. Fora isso, sou ótima; mas fica difícil, por vezes, me convencer de que posso usar esse adjetivo para me qualificar. Por outro lado, acho que, por reconhecer os meus defeitos, entendo os problemas e as limitações das pessoas: consigo ter empatia, colocando-me no lugar do outro. Pelo menos, acredito que sim. Lendo os textos dos meus alunos, nesta seção, acabei por me identificar com quase todos — só não tenho, ainda, intolerância à lactose, mas nunca se sabe.
Bem, quem não tem características desairosas ou mesmo defeitos, não é mesmo? Em uma carta famosa, dirigida a sua irmã Tania Kaufmann, no final da década de 1940, Clarice Lispector (1920-1977) escreveu o seguinte: “(...) não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso – nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Nem sei como lhe explicar, querida irmã, minha alma. Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa, e que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. (...)”
Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Lindo pensamento de uma das mais gi-gantescas escritoras do Brasil. Nosso edifício inteiro somos nós, é o nosso pacote, o nosso pre-sente, o nosso passado. O futuro será feito das histórias que vamos contando a nós mesmos, no
22 https://www.revistaprosaversoearte.com/uma-bela-e-instigante-carta-de-clarice--lispector-para-a-sua-irma-tania-kaufmann/
22
140
escurinho das nossas cabeças, no abraço com que nos enlaçamos quando estamos tristes, antes de dormir.
A proposta: pensei que podíamos falar sobre isso, sobre defeitos, características, particu-laridades da pessoa que somos, do ser que construímos a cada instante. Os textos poderiam ser escritos em qualquer um dos gêneros que mencionamos aqui — com muita atenção (sempre) a todos, e com muitas outras possibilidades a serem descobertas. Relatórios, artigos, perfis, repor-tagens, até monografias ficariam ótimas. Há filmes e livros sobre o assunto aguardando resenhas críticas. Mas, olha, pessoalmente, gostei muito dos contos; adorei as crônicas. Acabei me sentin-do inspirada a escrever aqui. Agradeço a meus jovens e queridos escritores. Inspirar é encantar, seduzir, produzir, fertilizar, amar. Eles fizeram tudo isso: no curso, no livro, nas mensagens trocadas durante a organização deste trabalho.
Olha aqui, o fato é que, vocês, leitores, vão ver que provamos que podermos falar de nós, mas nos “absolvendo” por nossas “coisinhas” — estamos sempre em um eterno julgamento in-terno —, como que nos reconhecendo, como que nos levando de volta para a nossa casa íntima, para o interior do interior de nós mesmos. Ficamos, assim, ao abrigo dos novos vírus, das pan-demias, da sociedade desigual, de nós mesmos. Melhor que fôssemos nós, sempre, a escrever e rescrever nossas histórias.
Sim, melhor que fôssemos nós — no implacável tempo parado, só que não —, reconhe-cendo as rachaduras do nosso edifício, mas fortalecendo a sua base, a sua estrutura, a fim de continuar abrindo as portas e as janelas do nosso ser para o sol dos afetos; para a chuva da imagi-nação; para o vento das transformações; para o fogo da justiça, sem preconceitos ou moralismos baratos. A gente é muito preciosa; todas as gentes; todos nós.
141
Os gritos na calada da noite
Ana Poquechoque
Com um sorriso cheio de dentes no rosto, Sônia caminhava até a casa de sua próxima víti-ma. A lua brilhava feito um holofote no céu, e as estrelas enfeitavam a imensidão como as sardas enfeitavam o rosto da moça. O percurso não era longo, muito menos desconhecido. Já fazia cin-co anos que o fazia, e pelo menos duas vezes na semana. Estava familiarizada com os inúmeros prédios e algumas das pessoas que moravam neles, mas a felizarda de hoje era a sua preferida.
Andava repassando o mesmo plano em sua cabeça, para ter certeza de que nada desse er-rado, e que não houvesse chá de camomila que a atrapalhasse. Por mais que fizesse as mesmas ações todas as noites, e sempre com êxito, sentia que tudo poderia dar errado. Parada embaixo de um poste de luz, esperando o pedestre em vermelho se transformar em verde, para que pudes-se atravessar a rua e reproduzir a famosa cena dos quatro músicos na faixa de pedestres, repen-sou se deveria se preocupar tanto com a execução, uma vez que a vida de sua próxima vítima já estava de cabeça pra baixo.
Finalmente atravessou a rua, mas, ao colocar os pés na faixa, soube que não reproduziu de forma fiel a capa do famoso álbum. Isso era óbvio, a capa mostrava quatro homens, enquanto ela era uma só; mesmo que tivesse três personalidades, estava sozinha, em uma rua deserta, onde só se ouvia o barulho dos morcegos. Não gostava de palavras que remetiam à “solidão”; preferia pensar que estava desacompanhada. Isso, desacompanhada explicava bem sua situação; pensa-va que seu ritmo de vida era acelerado demais para que alguém conseguisse acompanhá-lo.
Sônia permanecia encucada com seu objetivo da noite e com o alvo. Acreditava que a pes-soa de quem iria estragar a noite já estava com a vida lesionada demais para realmente pertur-bar o único momento de paz dela. Entretanto, mesmo insegura, não titubeou quando entrou do prédio de seu destino.
Não sentiu necessidade em dar “boa noite” ao porteiro: viu a cara de cansado dele e preferiu não incomodá-lo. Ele estava concentrado na luz colorida que saía do objeto logo a sua frente, no qual passava o mesmo filme de quando Sônia entrou no prédio pela primeira vez. Uma sensação nostálgica a invadiu, tanto que, no elevador, ao se olhar no espelho, viu aquela adolescente de 13 anos, insegura com o seu primeiro trabalho: seus olhos azuis esbugalhados exalavam ansiedade; conseguia ouvir seu coração bater em seus ouvidos. Estava tão concentrada em suas lembran-ças, que nem percebeu quando as portas se abriram.
Seus olhos estavam tão brilhantes quanto a Lua no céu, e, nesse instante, percebeu que ela amava o que fazia. A ideia de poder impedir o descanso de alguém fazia um sorriso involuntário crescer em seus lábios e uma vontade de sair saltitando lhe invadia o corpo.
Finalmente estava frente a frente com sua vítima. Como sempre, Sônia chegava muito ale-gre e esperava uma recepção calorosa da sofredora da vez, mas era sempre a mesma coisa: era recebida com choro e inquietação. Não se importava mais com essa frieza, até porque gostava de ver o resultado de suas peripécias no rosto de quem sofre; amava contemplar olheiras, can-saço diurno e dores de cabeça; achava lindas aquelas bolsas rochas logo abaixo dos olhos. Ver o desespero matinal da menina, ao sentir sua cabeça latejar, como se fosse chocar e como se seu cérebro fosse sair andando para descansar “só por mais cinco minutinhos” fazia seu coração
142
acelerar, como se uma dose de adrenalina tivesse sido injetada nela. No auge da noite, mais especificamente às três horas da manhã, Sônia cansou de atormentar
a pobre coitada, tadinha, ela precisava dormir. A menina já tinha feito tudo o que estava em seu alcance — o chá de camomila foi sua primeira tentativa —, mas Sônia já tinha feito questão de falhar com essa investida. A vítima não era fã de medicamentos para facilitar a chegada do sono, mas já estava considerando fazer uso dos remédios para finalmente repousar. Sônia, já vendo o desespero nos sonolentos olhos verdes, parou por completo de incomodar a sofredora. Nisso, conseguiu ouvir um suspiro de alívio, e constatou que a vítima havia sofrido o suficiente.
O que Sônia não esperava era que a vítima da vez, por ironia do destino, era ninguém mais, ninguém menos, daquela que vos fala. Ela nem sequer desconfiava que eu tivesse anotado todos os seus passos para não ser mais pega de surpresa pela incansável insônia.
143
Preguiça
Ai que preguiça de escrever: essa deve ser a minha maior inimiga. Minha vida se resume em duas coisas: procrastinar até não poder mais e me arrepender enquanto corre com a ativi-dade. Aliás, me chamo Bruno. Poderia falar sobre infinitos detalhes meus, mas minha preguiça é a única pertinente para fazer esse trabalho de faculdade. Não lhe contei, mas faço cinema, especificamente na PUC-Rio. Antes que você me julgue por um curso caríssimo, em uma uni-versidade caríssima, sou bolsista. Jamais teria dinheiro para bancar um custo mensal tão alto. Sinceramente, só estou falando disso pela preguiça de desenvolver o tema, mas vamos lá. Tenho que entregar esse texto amanhã e estou só no começo.
“Ai que preguiça” é provavelmente a frase que eu mais penso e digo, ainda mais quando é algo que não me agrada. Não que eu ache chato escrever, até gosto. Infelizmente, estar preso em casa há 110 dias — maldito coronavírus — sugou minhas forças e agora eu sobrevivo de séries e jogos. Quando realmente preciso focar em algo — como por exemplo esse trabalho —, procuro motivação pela recompensa ou pela própria preguiça. Outro dia, tive que ler um texto bem chato para a faculdade, botei na cabeça o quão legal seria um DEZ no boletim, ou então como seria mais chato ainda ter que rever o texto e a matéria no próximo semestre.
Acabei de perder dez minutos no WhatsApp: foi a preguiça. Levantei só para ligar o venti-lador, em vez de voltar a escrever, peguei o maldito telefone. Queria listar tudo que me dá pre-guiça, fiquei cansado só de pensar nas proporções que o texto teria. Vou falar então sobre poucas coisas e como resolvo este pequeno problema monstruoso.
Lavar a louça, estender a roupa, cozinhar e limpar a casa: me deu preguiça só de pensar. Guardo um podcast especial, o mais engraçado e o mais divertido — ‘Santíssima Trindade das Perucas’, se você ficou curioso. Esse antídoto milagroso fica escondido e só ouço quando faço alguma dessas tarefas chatas. Confesso que às vezes procuro mais coisas para fazer, só para continuar ouvindo. Essa técnica salvou minha vida: a casa vive limpa; a pia da cozinha brilha; a roupa está toda lavada, seca, e devidamente arrumada — que por sinal é outra preguiça minha, organizar o armário.
Você não me conhece muito e com certeza não sabe, mas eu também adoro reclamar — in-ternamente, para não ser o chato que reclama de tudo. Acabei de escrever um texto reclamando da minha preguiça: estou satisfeito e espero que a professora também. Se realmente quer uma dica sobre a preguiça, aí vai uma boa: use tudo que agrada a você para tornar qualquer atividade obrigatória menos chata e cansativa. Você vai me perguntar: isso realmente funciona? Ai, que preguiça de responder!
Bruno Torres
144
Espelho, espelho meu
Não há época melhor como a da infância. Anos em que o que importa é assistir a sua série favorita no almoço e ver se seus amigos vão aparecer no parquinho durante a tarde. Época em que todos são iguais de certa forma, e ninguém para diante do espelho por mais de 30 segundos.
Até que você cresce. Por volta dos 13 anos, você começa a perceber o mundo com outros olhos, isso porque começam a te olhar com outros olhos. As revistas para nós, mulheres, não são mais os hilários gibis da Turma da Mônica ou álbuns de colorir; começa a guerra e, enquanto nós estamos desarmadas e sozinhas, eles têm as mais repugnantes e agressivas armas. A mídia, revistas, amigos, família, todos começam a apontar dedos para os seus supostos defeitos, carac-terísticas distintas da invisível e fictícia mulher perfeita branca magra e europeia.
Você agora entra no espelho, olha para seus olhos, depois averigua e toca cada parte e centímetro, e milímetro do seu corpo. Toca seu rosto com uma distorção na boca que repre-senta seu nojo por si, depois volta novamente a sua atenção para os seus olhos, também retor-cidos para baixo: eles deixam, por meio de salgadas lágrimas, transparecer o seu desgosto e sua tristeza quase ácida, corroendo traços no seu rosto e apagando cada segundo de felicidade que você já sentiu até aquele momento. Você coloca as roupas mais uma vez e senta-se no cantinho do banheiro, entre o chuveiro e o vaso, o único lugar em que você se sente protegida dos olhares do mundo.
Você era feliz até eles te dizerem o contrário. Você se achava bonita até milhares de fotos te rasgarem por inteiro. Eu sempre fui muito feliz, até esse momento do espelho que todos nós temos em algum momento da vida como mulheres, nessa sociedade tão machista, pedófila e cruel. Desde esse dia, nos meus 13 para 14 anos, desenvolvi uma dismorfobia corporal severa que me impedia até de sair em público, que dirá de tirar fotos.
Não tirava fotos para o colégio, para redes sociais, para diversão e nem mesmo para a minha família. Privei-me de trabalhos em grupo, intercâmbios, viagens de escola, passeios escolares, kalangos, festas e muito mais por me achar um monstro deformado e repugnante. Eu me arre-pendo de cada momento perdido que nunca mais voltará no tempo — se ao menos eu soubesse o que sei hoje.... Apenas aos 16 anos comecei a tirar fotos para colocar em perfis de Facebook ou WhatsApp e, mesmo assim, eram tão pesadamente modificadas e editadas por mim mesma que o resultado final, muito mal feito, chegava a ser cômico. Tudo isso por achar que meu queixo era muito para frente e largo e que meu lado direito do rosto inteiro era completamente deformado.
Hoje em dia, 2020, ainda acho meu queixo demasiado grande apesar de me aceitar mais – devido a uma cirurgia, pois este realmente era deformado - e desgosto do meu lado direito: simplesmente parece que tive um derrame de tão disforme e não-receptivo das minhas ações – como não subir o sorriso junto com o esquerdo, deixando um meio sorriso caótico no rosto.
Tiro bastantes fotos próprias e cheguei a criar e ser consideravelmente ativa no aplicativo Instagram. Infelizmente ainda edito minhas fotos, mas não deformo o rosto a ponto de virar outra pessoa e a imagem parecer estranhamente editada. Odeio ainda fazer isso, mas aceito a minha lenta evolução ao caminho do amor próprio e me sinto muito mais feliz. Nunca mais me privei de ir a um evento por causa do meu problema com minha própria imagem, e ninguém deveria se privar também.
Cora Mejía
145
Amanhã eu faço
15 de junho de 2020. E-mail da professora com a proposta da G2. Marcela abre a mensa-gem e lê o conteúdo enquanto seu coração quase sai do peito. A música animada – “Kiwi-Harry Styles” - que sai dos seus fones de ouvido quase desaparece em meio àquela nuvem de pensa-mentos barulhentos. Ela olha para seu pai que, ao seu lado no sofá, estava sentado assistindo mais uma notícia sobre a pandemia, e os dois já sabem o que vai acontecer no desenrolar das próximas semanas: procrastinação.
18 de junho chega rapidamente e Marcela ainda não havia começado a fazer nenhum dos trabalhos passados. Prometeu a si mesma que, no final daquela tarde de aulas online, ela ini-ciaria o conto pedido pela professora Meg, da matéria de Comunicação e Expressão. Não era a primeira vez que uma promessa desse tipo seria quebrada. “Mas não tem problema, amanhã eu começo”, a menina racionalizava para si mesma.
Os eventos do dia 18 de junho se repetiram por dias afins. “Por que eu não consigo come-çar?”, “O que está me impedindo?” eram perguntas frequentes no subconsciente de Marcela, enquanto ela usava seu tempo livre, assistindo a vídeos no Youtube. “Não tem problema, ama-nhã eu começo”, disse a si mesma na noite do dia 30 de junho - já tendo procrastinado por quase duas semanas -, logo antes de dormir.
Dia 1º de julho, e a data da entrega não permitia mais que suas dificuldades continuassem sua série de vitórias sobre sua força de vontade. Com isso em mente, Marcela sentiu que tinha que agir e, no almoço, conversou com seus pais sobre o problema de não conseguir começar a escrever o tal conto. “É só começar”, dizia seu pai enquanto comia a macarronada. “Se acalme, filha”, repetidas vezes disse sua mãe com um tom de voz baixo. Seu irmão, então, interrompeu a discussão e sugeriu a Marcela que ela escrevesse sobre a dificuldade de não conseguir começar a escrever; a tendência e o hábito de procrastinar.
Assim o fez. O teclado do laptop logo virou seu amigo e, sem pensar duas vezes, escreveu sua história, usando um nome de uma outra menina qualquer. Agora só faltava ver se a procras-tinação havia vencido ou se Marcela e sua força de vontade haviam saído vitoriosas. E-mail com a prova enviado.
Débora Luísa
146
Sessenta minutos
Estou voando muito alto, com as minhas asas. Encosto nas nuvens, enquanto o vento beija, carinhosamente, meu rosto. De repente, minhas asas desaparecem e estou caindo, com todo o céu desmoronando sobre mim. Esbravejo com a maior força que meus pulmões possuem, mas é insuficiente. Ninguém pode me salvar, vou morrer.
Abro, subitamente, os olhos e os direciono ao relógio, que esfrega em minha cara que ainda são seis da manhã. Fecho-os novamente e tento voltar ao meu sono, ato em que falho misera-velmente. Então, levanto-me e me dirijo à sala, ainda vazia. As luzes do prédio da frente ainda estão apagadas. A cidade ainda dorme, junto ao sol, que custa a aparecer.
O medo de estar sozinha começa a apertar meu peito, angustiado de não ter ninguém por perto. “Mas, espera... não tem ninguém por perto”, elabora a minha mente, “então, eu, finalmen-te, vou poder comer o que quiser. Ninguém vai poder me impedir”. Olho para o relógio: seis e doze. A cada segundo que passa, essa voz, aparentemente frágil e ingênua, ganha força e parece me tomar por inteira, chegando ao ponto de controlar meus movimentos e me levar à dispensa, cuja porta não tem tranca.
Seis e quinze. Abro a porta silenciosamente, para que ninguém escute. Eu não quero - nem consigo - parar. “Não tem mais volta”, ecoa a voz, agora estrondosa. Meu cérebro parece não funcionar mais, como se estivesse em transe.
Quando dei por mim, já tinha terminado todo o pacote de biscoito recheado. Seis e dezes-sete. Abri um saco de biscoito de polvilho e enfiei tudo goela adentro. “Se eu não comer agora, nunca mais comerei”. Seis e vinte e um. Lá se foram batatas fritas e torradas. Seis e vinte e cinco e... eu nem sei mais. Com as mãos tremendo, eu consigo parar. Olho em volta, vejo as emba-lagens no chão e um peso enorme recai sobre mim. Estou tão cheia que não consigo nem me movimentar muito bem, mas me apoio na cômoda e tenho êxito em me levantar do chão para me dirigir à sala.
Seis e trinta. Agora, algumas luzes estão acesas e parecem rir de mim, sabendo do que eu fiz. Sinto-me inútil, fraca e impotente. Seis e quarenta. O arrependimento chega com uma urgência severa, corroendo-me por dentro. As lágrimas começam a escorrer sem que eu nem notasse, inundando todo o meu pijama, ainda amarrotado da noite mal dormida. De repente, es-cuto passos vindos do corredor e entro em pânico. “Ela vai perceber o que eu fiz”, pensei, “vai me odiar”.
Vejo o rosto ainda tonto de sono de minha mãe. Ela, ao me ver ali, sentada no chão da sala, senta-se ao meu lado e questiona se está tudo bem. Nego, mas apenas com a cabeça, já que não consigo dizer nada. A vergonha e a culpa já haviam me dominado fazia tempo. Com os olhos encharcados, crio coragem para falar, em meio a lágrimas: “Eu tive compulsão, de novo, mãe. Eu sou um desastre. Vou ser gorda para sempre”. Ela olha para mim, respira fundo, junto comi-go, e diz que tudo ficará bem. “Você nunca foi nem será um desastre”, afirma. “E sempre será linda. Meu raio de sol”. Ela me abraça e, junto deste gesto, toda a dor, o desespero e a angústia se desvanecem; somem, como as asas em meu sonho. Mas não caio, não penso em morte. Sin-to-me viva, amada. O sol parece ouvir toda esse afeto e aparece, com todo o seu esplendor. Sete horas, em ponto.
Ericka Levigard
147
Um problema
Não consigo começar o texto. Não sei como começar: me falta motivação; me falta de-terminação; me falta direção. Como pode um sujeito não saber o que quer? É difícil separar uma única dificuldade pessoal e abordá-la de forma leviana. Eu sofro por antecedência. Isso significa que não consigo focar no que está na minha frente. O presente nunca ocorre e o futuro é sempre um problema. Tento ser cauteloso, pensar nas possibilidades que se apresentam a mim, usá-las da melhor forma para que o futuro-problema não se torne tão real. Talvez esse problema seja um fruto da minha ansiedade ou minha ansiedade seja um fruto desse problema. Nunca fui diagnos-ticado com ansiedade nem nada do tipo — até porque nunca fiz teste algum para isso —, mas sei que a tenho. Isso, sim, não é difícil dizer.
De certa forma, todas as minhas dificuldades nascem nesse mesmo ponto. Não é que eu seja preguiçoso por natureza. Eu simplesmente avalio os esforços que eu tenho que fazer para realizar alguma tarefa e os comparo com o resultado possível. E nunca compensa. Minha visão do futuro é sempre meio negativa — então não tenho motivos suficientes para realizar tais tare-fas; porém, acabo as realizando por obrigação. Não é uma escolha; é uma alternativa. É difícil fazer qualquer coisa que não me gere um retorno pessoal. Sim, sou egoísta. Se não vejo motivo, se não vejo benefícios ao realizar atividades, eu simplesmente não as faço. Quando não se vê benefícios em nada, não se faz nada. Então não é preguiça, é apenas uma lógica, uma lógica que, infelizmente, sigo.
Depois de dois parágrafos, percebi que consegui escrever algo. Eu não queria escrever; porém, tenho que escrever. 90% das coisas que faço não quero fazer. Até minha própria facul-dade. Talvez seja normal, mas esperava que ia gostar mais. Eu nunca caí nesse conto de fadas sobre a vida na faculdade. Foi criada uma falácia, romantizando a faculdade e a quantidade de estresse desenvolvido pelos alunos. Dizem que somos mais livres na faculdade, mas nunca me senti tão preso. Dizem que estudamos o que queremos e por isso não é ruim. Bom, eu não queria estar escrevendo esse texto, né? Tenho que me formar. Tenho uma bolsa a manter, tenho que tirar uma nota mínima. Onde é que isso é liberdade? Em que aspecto a faculdade se diferencia do ensino médio? Na verdade, no ensino médio, eu estudava mais coisas de que eu gostava do que no curso que estou fazendo. Isso me irrita. Irrita, porque não faz sentido.
Então, é difícil. Não é uma escolha, é uma alternativa. É estressante e o presente nunca ocorre. O futuro é sempre um problema e isso me impede de focar. O que será do meu futuro? Um grande problemão? Talvez. Eu vivo com a cabeça no futuro e, quando o futuro chega, em forma de problema, no presente, minha mente não acompanha, porque está focada em outro futuro, em outro problema.
Gabriel Torres Romanha
148
Matraca Trica
Sempre fui uma criança falante. Com certeza quanto a isso nunca pude discordar de meus pais. Daquelas crianças que as pessoas olham e pensam “Não tem como desligar um pouquinho, não?”. Bom, acho que definitivamente a resposta é não. Até porque crianças não são objetos, ou não têm botões como brinquedos, ou como telefones celulares nos quais podemos ativar o modo silencioso, ou até aquela função em que realmente nos desligamos do mundo e... Espera. Já estou falando demais, né? Pois é.
Essa minha condição me rendeu muitos apelidos – na minha opinião um pouco já saturados — como matraca, tagarela, faladeira, a menina que “engoliu a vitrola” e que “fala mais que o homem da cobra” — esse último eu nunca cheguei a realmente entender, mas aceitava. Ser uma criança que fala muito já é motivo para certa falta de paciência por parte das pessoas, mas — acredite em mim — ser uma adulta que fala muito, com certeza é infinitamente pior.
Quando se é criança, o fato de ser tagarela pode te levar a sofrer um certo tipo de bullying na escola — nada muito arrebatador no meu caso —, e, talvez, alguns esporros dos professores, o que é completamente compreensível: imagine ter que lidar com uma classe repleta de peque-nos humanos inquietos e ainda ter o fardo de parar a aula a cada cinco minutos por conta de uma menina que não consegue ficar de boca fechada! A minha salvação eram as minhas boas notas, pois toda vez que eu era encaminhada à diretoria, o argumento de ser uma ótima aluna sempre me livrava a barra.
Em casa não era muito diferente: uma das brincadeiras que meus pais mais gostavam de fazer era “Vaca Amarela”, vocês já devem saber o porquê... Já as babás, que não foram poucas — o que me leva a refletir nesse momento se minha “falação” interferiu nessa conjuntura —, sempre se mostraram pacientes comigo: me escutavam por horas falando, cantando e criando histórias, talvez não estivessem prestando atenção, mas isso não importava para mim. E, por fim, meu irmão... Creio que meu irmão foi a salvação da família. Sempre entendi que é normal que os mesmos DNAs possam gerar seres com personalidades muito diferentes, entretanto, esse fenômeno na minha família foi elevado à enésima potência. Não temos definitivamente nada em comum, como diria minha mãe, “apenas o branco dos olhos”. Meu irmão é quieto. Quieto na mais pura definição da palavra, o que, particularmente, me incomoda muito mais do que uma pessoa falante. Mas quem sou eu para impor algo nessa sociedade já tão moldada? Ah, sim! A sociedade. Se você achou problemática minha infância sendo “a matraca”, não imagina o que vem pela frente na vida adulta...
Acredito que uma das piores consequências em deixar de ser criança é ter a consciência de que o mundo é por muitas vezes cruel. Claro que existem histórias em que pessoas são expostas a crueldades desde pequenas, mas, ainda assim, crianças conservam um potinho de esperança e magia em suas almas. Ser adulto é lutar a todo momento contra o sentimento de que a vida é dura, e saber que as pessoas nem sempre serão boas com você. Enfim, acho que me perdi um pouco na “tagarelice” novamente. O fato é que a condição de falar muito deixa de ser algo compreensível quando se é adulto. As pessoas não entendem e ponto. É bem comum perceber as reviradas de olho; as desculpas esfarrapadas como “Estou atrasado, depois nos falamos”; os constantes “cortes” no meio das falas; e, principalmente, o sentimento aparente de incômodo.
Giovanna Rispoli
149
Pode parecer bobagem, mas é no mínimo desconfortante se deparar com matérias em sites sobre “Como lidar com uma pessoa que fala muito?” e as “dicas” serem “Seja breve”, “Mude o foco”, “Se afaste”.
É óbvio que ser tagarela já me rendeu muitas histórias engraçadas, mas não posso esquecer das horas – e do dinheiro – gastos em terapia e em cursos de meditação. Também tive que abolir certas ferramentas da minha vida, como a de aplicativos de namoro – o tanto de vezes que já fui deixada em uma mesa de bar é intrigante, sou praticamente uma recordista na categoria. Ainda sobre relacionamentos, comumente membros da minha família me comparam com a minha tia avó Hilda, o porquê é bem nítido, sofremos da mesma condição falante. E os comentários são quase sempre os mesmos: “Se você não der um jeito nisso, vai acabar sozinha igual sua tia”. O que eles não sabem é que eu admiro muito minha tia. Ela é uma mulher forte, independen-te e corajosa! E eu não considero o fim dos mundos “acabar sozinha”, até porque, depois de muitos anos me culpando e tentando me “consertar”, estou muito bem resolvida com a minha “matraquice”. Posso até dizer que é uma das minhas maiores qualidades. E, se um dia, eu tiver que “acabar” com alguém, não será com uma pessoa que pesquise no Google a forma de lidar comigo, mas, sim, com uma pessoa que me aceite como a tagarela que sou. Sou uma falante. E disso meus pais estavam certos desde o início. Mas está aí uma coisa de que eles não sabiam: Sou uma falante com muito orgulho.
150
Mais uma crônica sobre umauniversitária procrastinando
Hellen Gallart
Todos os dias quando entro nas minhas redes sociais, vejo publicações sobre como apro-veitar a quarentena para produzir, se organizar, melhorar sua saúde; e sobre os benefícios da meditação nesse período de pandemia: “Saiba como se manter produtivo durante o período de isolamento social”, “Produtividade em xeque”, “ Coronavírus: como se manter produtivo na quarentena”, e não param por aí.
Mais do que nunca, tenho tido notícias de lives de pessoas fazendo exercícios físicos, ensinando novas receitas, dando dicas de organização - e vou admitir que até eu já consumi e compartilhei esse conteúdo durante nosso atual período de isolamento -, mas a verdade é que o que eu tenho mais feito esses dias é procrastinar.
Todos os dias uma nova tentativa de dormir cedo, desligo o celular- para acabar com a ten-tação de ficar rolando meu feed do Instagram para preencher o vazio de não estar vendo meus amigos e conhecidos como antes. Então viro de um lado para o outro na cama, do outro para outro e, assim, vejo no relógio que já são três da manhã. Com isso, lá se vai minha esperança de adiantar meus trabalhos finais da faculdade antes das aulas do dia seguinte, pois já é garantido que vai ser mais uma manhã perdida, acordando ao meio-dia.
E assim venho adiado tudo de diversas formas: escrevo listas e mais listas, sobre uma roti-na que sei que não vou cumprir, uma meditação que sei que não vou fazer e uma yoga que não pratico desde o ano passado. Não tenho ânimo, minha ansiedade só aumenta, fico dentro dessas quatro paredes imaginando o futuro sem parar, e, por algum motivo, não consigo “sair do lu-gar”- e por isso quero dizer que não consigo pôr em dia minhas tarefas.
Até mesmo agora, escrevendo essa crônica, faltando pouco tempo para começar minha pri-meira aula do dia, não tomei meu banho ainda, minha caneca de café ainda está ao meu lado e meu almoço quase pronto— e eu ainda aqui sentada em frente ao computador. Todo mundo fa-lando para sermos produtivos e, de forma contraditória, todos falando para não nos cobrarmos, mesmo assim, tudo que eu vejo são pessoas demonstrando o contrário nas redes sociais, inclu-sive eu: pode entrar em qualquer uma rede minha, vai ter uma foto atual, sorridente e arrumada, enquanto ainda estou aqui de pijama, e o relógio anunciando o fim do dia.
151
Gostem de mim como eu sou e vamos ser felizes
Juliana Nicolazzi
Olhar para o espelho e gostar do que vê não é fácil. É uma batalha desgastante e cansativa, ainda mais com todas as redes sociais e com todos os padrões de beleza estabelecidos na socie-dade. Eu nunca tive o “corpo perfeito” e nunca vou ter, mas aprendi a me amar e a amar todas as minhas imperfeições. Afinal, elas que me fazem ser única do jeito que eu sou.
Existem pessoas que comem o quanto elas querem e não engordam; e outras que engor-dam facilmente. Antigamente, eu me culpava por não me encaixar na primeira opção e sentia inveja desse tipo de pessoa; eu achava muito injusto alguns terem esse privilégio e outros, não. Porém, eu aprendi a conviver com isso e percebi que cada corpo é um corpo: e conheço várias pessoas que não engodam facilmente e o que elas mais queriam era ter uns quilos a mais. Ninguém nunca está satisfeito com a realidade, não importa o quão magro, acima do peso, ou gordo você esteja.
Nós nos cobramos de uma forma desnecessária, deixamos de aproveitar momentos ou de comer algo que estamos com vontade por insegurança e por cobrança. Eu tive várias fases do meu corpo na minha infância, pois eu sou asmática. Então, quando eu tinha crise, precisava to-mar altas doses de cortisona e isso me inchava. Depois de um tempo, eu conseguia perder peso, porém quando isso acontecia, eu voltava a ter crise de asma e a tomar o remédio de novo. Era um ciclo sem fim e eu me sentia insegura, não usava algumas roupas de jeito nenhum, como regata ou calça jeans.
Na pré-adolescência, meu corpo se desenvolveu precocemente e mais uma vez eu estava infeliz e insegura comigo mesma. Usar biquíni era um sacrifício para mim e eu sempre me es-condia em roupas largas. Lembro de momentos em que eu deixei de usar alguma roupa ou de postar certa foto, pois tinha medo da opinião dos outros. Várias pessoas se sentem do mesmo jeito que eu me sentia, e as redes sociais intensificam muito esse sentimento.
Atualmente, eu tenho uma rotina de academia, porém eu não malho por estética. Eu malho pela minha saúde; estética é só um bônus e eu não faço dieta. Se eu tiver vontade de comer algo, eu comerei, mas com moderação. Eu acredito que é tudo uma questão de equilíbrio. Porém, muitas pessoas se submetem a situações extremas para atingir o “corpo perfeito” e podem de-senvolver distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. Ser saudável não é só algo estético: a saúde mental também é relevante. Aceitar-se e estar bem consigo mesmo é essencial para ter uma vida leve e saudável. Por isso que eu digo, gostem de mim como eu sou e vamos ser felizes.
152
Transbordar
No início da adolescência eu escrevia cartas. Eu passava todas as aulas do dia de cabeça baixa e caneta na mão. Quanto mais páginas preenchidas pela minha caligrafia, melhor. Acho que começou quando eu olhava para os meus amigos desenhando, anotando o que o professor falava, mexendo escondido no telefone... Cada um tinha sua maneira de não ficar parado e como, por diferentes motivos, nunca consegui passar mais de 20 minutos prestando atenção no quadro branco, a minha era escrever até a mão direita latejar.
Eu escrevia sobre tudo: meus sentimentos, impressões de todos que me rodeavam e medos constantes. O estojo no qual eu guardava as cartas, logo após arrancá-las dos cadernos da escola e assinar o meu nome no canto inferior direito, ainda se encontra no fundo da prateleira mais alta do meu quarto, escondido.
Por vezes, quando eu me sentia triste por não ter facilidade com desenho, esportes ou mú-sica - ou seja, uma coisa para chamar de minha - como alguns dos meus amigos, olhar para as páginas cobertas de algo criado por mim, era um alívio. Afinal, pelo menos alguma coisa eu estava fazendo não é mesmo?
Todas as cartas eram direcionadas a alguém, quase sempre para um músico que eu admi-rava. De tanto direcionar meus pensamentos mais profundos para desconhecidos, pessoas que nunca saberiam quem eu sou, eu ficava envergonhada. Mas, mesmo assim, a ideia de escrever para alguém conhecido nunca chegou a ser cogitada.
A verdade é que a grande facilidade que eu tinha para colocar meus pensamentos no papel vinham da péssima situação emocional na qual eu me encontrava. Penso assim por serem tantos sentimentos de uma vez que as palavras simplesmente trasbordavam: nenhum esforço era necessário.
O tempo passou e parei de escrever todos os dias. De repente, levantar a cabeça e olhar para coisas além do meu esconderijo de papel não parecia assim tão ruim. Hoje em dia penso muito em por que parei de escrever, por que não continuei, se me sentia bem ao fazê-lo? Aquela cren-ça popular de escritores estarem sempre infelizes e esse ser o motivo de produzirem nunca fez tanto sentido na minha cabeça.
Sinto falta de ter do que me orgulhar, de produzir algo, assim como aqueles que compar-tilham a sua arte na internet têm. Às vezes me pego olhando para o alto daquela estante, onde está escondido o estojo e uma variedade de ideias me atinge. A verdade é que morro de medo de que, se algum dia eu voltar a preenchê-lo, significaria que não estou sabendo lidar com meus sentimentos novamente. Não quero sentir o que já senti e passar pelo que já passei.
Nos últimos meses, de certa forma, tenho tentado fazer as pazes com a escrita. Ainda há muito o que pensar conforme aprendo a lidar com esse medo e com outros que o complemen-tam. Sinceramente a ideia de expor algo que produzi para outras pessoas também é assustadora. Ainda assim, colocar na balança, de um lado, o medo e, de outro, as coisas maravilhosas que podem acontecer se eu finalmente aceitar os riscos e seguir em frente, é um avanço. Espero um dia poder transbordar de novo, só que dessa vez, da maneira certa.
Júlia Paixão
153
De repente, luz
De repente, escuro.Nunca gostou de seu corpo. A percepção de si mesmo e de suas belezas sutis era maior na
ausência do claro. Passeou com seus dedos pelos caminhos do corpo, o desenho do peito, as camadas da clavícula, a suavidade da boca, o formato do nariz. Enquanto os olhos não precisas-sem ver e os ouvidos não precisassem ouvir, realmente existia?
De repente, luz.Entre as secretas descontinuidades da cortina, os raios trouxeram uma revelação. Via seu
corpo, mas estava fora dele. Existem acontecimentos que escapam da compreensão. O divino não cobre todos os recantos da alma e seus cômodos mais quietos. Os mistérios, entretanto, sempre acometiam outros. Nunca se sentira suficiente para ser vítima do inexplicável.
Mas lá estava, observando o próprio corpo mover-se em sua frente, enquanto uma onda de questionamentos inundava seu pensamento. Quem era o Eu, afinal? tornou-se a própria alma? poderia, assim, reconhecer os detalhes de si que não havia desvendado? era aquele corpo em sua frente apenas um processo automático, uma convenção do destino para simplificar a essên-cia humana? se sentiria assim, vendo-se de fora, dono de uma beleza que desconhecia? poderia antever seus próprios passos? existia?
Entre sua batalha para discernir o que era real do que não era, notou os simples trejeitos de si. As complexidades amplificam-se em escalas diminutas e todo movimento carrega história, produto de um passado que o presente mantém vivo. Leu-se. Analisou a escultura de seu corpo, identificou a ancestralidade familiar que carregava. Percebeu a verdade do real: cada indivíduo da moenda geracional carregava mais que o anterior. Em si, carregava o pai, a mãe e um mundo além do que conhecia. O ser humano, mesmo em sua particularidade, é mais do que sabe. Nunca enxergou com tanta clareza os fios da teia que compunham o ser.
Por um instante que antes nunca fora, sentiu uma completude de tons completamente no-vos. Algo começou a subir por seu sangue imaginário: a vontade súbita de ser, um ímpeto tão intenso, talvez por sentir que não era mais, porém já fora algum dia?
Gritou seu nome, implorou pelo retorno, mas não se escutava. O outro Eu, absorto na me-lancolia de um escuro do qual não se retirava, não tinha ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Percebeu a sua existência sutilmente superior entre as ondas de novas sensações, materializan-do-se através do amor que surgia.
Foi mais que nunca. Envolvendo-se em um abraço, tornou-se um só. Nunca mais, escuro.
Lucas Peçanha Muniz
154
A garota perdida
Desde que era menor, minha família guarda um HD externo com todas as fotos e vídeos que tiramos ao longo do tempo. Hoje, sentindo saudades dos momentos que um dia vivi, resolvi parar para dar uma olhada no que continha dentro daquele aparelho de colecionar memórias.
Para a minha surpresa, encontrei alguém no meio de todos aqueles momentos registrados que não via há muito tempo; que por algum motivo havia se perdido e nunca mais foi encon-trada: uma menina que esbanjava felicidade, encontrava brincadeiras em cada canto e falava pelos cotovelos.
Ela cantava sem medo para a câmera, fingia estar dentro de um filme mesmo com todo mundo olhando e abraçava sua família tão apertado que dava para ver o amor dentro daquele abraço. Encantada com tudo aquilo que via, olhei para os lados na esperança de reencontrar essa criança doce que um dia esteve comigo, mas, ao perceber que não estava mais lá, caí no choro; essa menina era uma parte do meu eu, era a essência que um dia resolveu ir e nunca mais voltar.
Não me entenda errado, sou uma pessoa muito feliz: nada me falta; tenho comida na mesa, uma família que me ama e amigos com quem posso contar. Porém, dentro de mim, algo não pa-rece estar completo. Uma barreira, que em algum momento criei, torna mais difícil as diversas formas de relação — amorosa, de amizade, familiar, etc. —; não acredito mais em mim mesma.
Aquela menina que fazia um show para a filmadora, hoje só canta baixinho no chuveiro; a que falava sobre seus sentimentos sem que nada a atrapalhasse, hoje ao ver filmes tristes em fa-mília segura o choro para que não percebam que ela demonstra vulnerabilidade; e a que contava sobre cada detalhe do seu dia na mesa de jantar, hoje sente que sua voz se recusa a sair.
Antes, ela se sentia confortável na própria pele, mas hoje se esconde com medo de ser vis-ta. Sinto muita falta dela, e, se pudesse, distribuiria cartazes de “procura-se”, gritaria seu nome pelas ruas e estamparia seu rosto nos noticiários. Fechei o computador com todas aquelas fotos às pressas; corri para o espelho e, enxergando meu reflexo, percebi que ela ainda estava viva e só havia um lugar em que poderia encontrá-la: dentro de mim.
Lu Guimarães
155
Ansiedade em modo avião
Maria Clara Durante
Os meus pais sempre me incentivaram a desbravar o mundo. Desde pequena, viajamos para comemorar aniversários; para encontrar parentes; para fugir do calor que faz no Rio de Janeiro, no verão. Viajamos, inclusive, quando não temos um motivo maior que a nossa simples vontade de sair um pouco de casa, apenas para nos observarmos em um lugar diferente.
Apesar de fazer as malas e explorar outra cidade ser sempre um prazer, as idas ao aeropor-to são um despertador para a minha ansiedade. Ao contrário de diversas pessoas, não é o voo que faz o meu estômago embrulhar, mas a etapa que o antecede. Poucas coisas conseguem me deixar tão apreensiva quanto o detector de metais e o raio-x utilizado para inspecionar as malas dos passageiros.
Mesmo tendo certeza de que é impossível eu estar transportando uma substância ilícita na bagagem ou uma arma na cintura, as minhas mãos ficam geladas e eu suo frio durante todo esse processo. Até ser liberada para continuar meu trajeto para o avião, sinto como se eu fosse a maior traficante da América Latina, prestes a ser descoberta pela Polícia Federal.
Por conta da pandemia, eu tive que me adaptar – e minha ansiedade também. Ao mesmo tempo em que deixei de sofrer pela inspeção rotineira dos aeroportos, encontrei outro alvo para a tensão exacerbada: o novo coronavírus. Não à toa, uma das piores crises de ansiedade que já tive aconteceu quando descobri que o pai do meu namorado havia sido infectado.
Meu sogro não manifestou sintoma algum. Ele fez a sorologia por curiosidade, em uma ba-teria de exames de rotina. O resultado positivo não poderia ter sido mais assombroso. Como eu havia encontrado meu namorado na mesma semana em que seu pai fez o exame, fiquei com medo de que eu pudesse ter sido infectada e, consequentemente, de ter contaminado minha família.
Até o resultado da minha sorologia ficar pronto, apresentei alguns dos principais sintomas da Covid-19: falta de ar, pressão no peito, dor de garganta, fadiga. Nada disso foi consequência de uma doença pandêmica, porque em menos de 48 horas após a coleta do sangue, acessei o site do laboratório e vi que testei negativo para o novo coronavírus. Quando soube disso, o mal-estar que tomava conta de mim passou rapidamente: tudo foi pura ansiedade.
Se existisse uma espécie de modo avião – como o do celular – para desligar esse estado emocional, seria ótimo, pois voos, pandemias, prazos e outras angústias seriam enfrentados de uma maneira diferente. Como ainda não criaram essa tecnologia, continuo fazendo terapia para tentar sentir frio na barriga – e outros efeitos relacionados à ansiedade – apenas quando encontro meu namorado, após passar muito tempo sem vê-lo.
156
A antiga borboleta
Nunca me encaixei nos padrões de beleza; no meu grupo de amigas, sempre me considerei o patinho feio. Era refém das opiniões alheias. Perdi a conta de quantas vezes me privei de viver experiências, dançar, usar roupas justas que mostrassem um corpo “imperfeito”, por conta do que outros iriam falar.
Com a troca de colégio no nono ano, ambiente novo e amigos diferentes, fui aos poucos me aceitando. A forma como eu me tratava foi mudando. Minha mãe sempre me comparava a borboletas, que por mais que tenham belas asas passam a vida sem ver o quão lindas são.
A insegurança e falta de autoestima acarretaram em certa timidez. Não conseguia fazer perguntas na sala e conversar direito com quem não fazia parte do meu círculo de amigos. En-tão, no segundo ano, entrei no teatro; assim, as coisas começaram a mudar. O medo de falar com pessoas novas, por conta das piadas, conversinhas paralelas e olhares, foi diminuindo. Comecei a me sentir confortável para ser quem sou.
Com o início do isolamento social no Brasil, em março de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, a vida mudou. Sair de casa, ir à praia, festas, entre outras ações, antes consideradas normais na minha rotina, deixaram de acontecer. Comecei a ver o tempo passar. Criei uma nova rotina, exercícios físicos começaram a fazer parte do meu dia a dia; dessa vez, com o intuito de me fazer mudar o que realmente me incomodava, não o que os outros ditavam como feio.
O passar dos dias e o confinamento se alastrando meses adentro, me fizeram pensar muito e remanejar minhas prioridades. Comecei a entender que, de certa forma, sempre vivi trancada. Hoje, estou trancada dentro de casa, mas antes, estava trancada dentro de mim mesma, com a mesma vontade de sair e viver, só que com obstáculos diferentes.
Não me leve a mal, óbvio que eu quero que tudo isso passe pelos motivos coletivos, mas o meu desejo de recuperar o tempo perdido, tudo que eu deixei de fazer, por conta de terceiros, também é muito grande. Claramente, não deixei de ter inseguranças, mas, com o tempo, aprendi a ver minha beleza e entendi que se trancar por conta de opiniões alheias não é viver, e, sim, ver o tempo passar.
Maria Mariana Braga
157
Relatos de uma Intolerante
Raphaela Lins
Muitas pessoas apresentam dificuldades comuns no cotidiano, que com certeza a grande maioria da sociedade consegue se identificar. Insônia, timidez, cansaço, gulodice...quem nunca teve? Adoraria começar essa crônica escrevendo sobre um desses problemas, mas garanto que não é o meu maior estresse do dia a dia. Espero que possam se identificar comigo, e que possam dizer “eu te entendo”. Finalmente, sou Intolerante a Lactose.
Em janeiro de 2016, possivelmente no sábado, dia 9, acordei passando muito mal. Pen-sei que poderia ser somente nervosismo e ansiedade, pois estava prestes a ir a um ensaio de te-atro. Tomei remédios e segui o dia bem. Na semana seguinte, acordei, no sábado, novamente passando mal. Achei estranho, havia comido somente uma pizza na noite anterior. Não fazia mais sentido ser a tensão de ir ao teatro, então, assim que terminou o ensaio, minha mãe me levou ao hospital. Fui diagnosticada com Gastroenterite, ou seja, uma infecção gastrointesti-nal. Os médicos me receitaram alguns remédios, e voltei para casa. Mais uma vez, na semana seguinte, acordei passando mal e sabia que já não era mais a infecção. Começamos a suspeitar de intolerância a lactose Consultei vários médicos, fiz alguns exames e resolvi cortar de vez o leite da minha vida. De janeiro a abril, consegui perder oito quilos, por conta da nova dieta. Desde então, melhorei muito, mas não tinha arranjado outra solução para matar a vontade daquele chocolate de vez em quando.
Em agosto, foi a minha tão esperada viagem a Disney, para comemorar meus quinze anos. Tanta comida gostosa... mas não pude comer quase nada. Que época infeliz para ficar intole-rante. De qualquer forma, consegui aproveitar minha viagem. No final, com a ajuda de alguns conhecidos meus, encontrei um “remedinho”, que mudou a minha vida para sempre, a Lactase – enzima que ajuda na digestão de alimentos à base de lactose –, um comprimido mastigável com sabor baunilha. Trouxe duas caixas, que, com sorte, sobreviveriam alguns meses. A partir daí, toda vez que alguém viajava aos Estados Unidos, trazia uma caixa de remédio para mim.
Infelizmente, com o tempo, isso não passou. Sigo em minha luta diária contra minha intole-rância. É bem difícil lidar com isso no dia a dia, mas acabamos nos adaptando. É uma rotina. Não poder simplesmente comer algo que me dê vontade, na hora que quero, é algo comum: sempre preciso tomar um remédio, com somente meia hora de tolerância pra comer. Se o comprimido acaba, não posso comer qualquer coisa. As compras ficaram cada vez mais caras; os alimentos para essas dietas são muito mais raros e caros. Passar mal já não é tão estranho. Felizmente, não preciso depender mais do remédio americano: posso encontrar um nas farmácias mais próximas de casa. Não é barato, mas é um preço que precisamos pagar para o meu bem-estar. Não desejo que ninguém tenha essa dificuldade. Porém, ainda sonho com o dia em que não precise mais passar por essa situação e consiga voltar a minha antiga rotina, de que tanto sinto falta.
158
Meu dia, sua noite
Quando olho para o relógio e me dou conta de que são quase duas da manhã, recebo o “boa noite” da minha família. Penso que já está tarde demais para dormir cedo, enquanto meu corpo me diz que está cedo demais para dormir tarde.
Minha barriga ronca e meus pés se dirigem à cozinha. “Sempre tenho insônia nos dias em que permaneço em casa, essa quarentena tá me afetando a ter isso tudo”, pensei, enquanto pega-va os ovos, o leite, a farinha, o chocolate em pó e a manteiga para finalmente fazer aquela receita que eu havia planejado fazer há dias.
Ligo a TV, assisto a um episódio de 20 minutos da minha série de comédia favorita para me distrair enquanto o bolo não fica pronto. Leio capítulos do meu livro, me transporto para aventu-ras distantes. Paro, penso, pois refletir é algo importante para qualquer momento e a madrugada é o único momento de sossego que tenho no dia a dia. Todos dormem, mas eu penso.
O bolo ficou pronto, como um pedaço, feliz, por a receita ter dado certo. São quatro da manhã e meu café da manhã não seria realizado em alguma outra hora. Acordaria direto para almoçar e sabia muito bem disso.
Não queria acordar tão tarde, e comecei a pensar em formas de ganhar sono. Eu me exerci-tei, mas enjoei porque acabava de comer um pedaço grande de bolo. Meditei, mas, no primeiro “ohmm”, lembrei que não sabia meditar. Fiz um trabalho para a faculdade, e consegui acabar depois de muito tempo sem conseguir focar.
Assim fiquei, como sempre, durante as seis horas entre o início do dia em si, e o da manhã que eu vejo nascer junto com o sol. Faço receitas, vejo séries, leio livros, faço carinho no meu cachorro, cuja cabeça sempre está apoiada na minha perna durante o sono, começo e termino trabalhos. Enfim o alarme toca, minha mãe acordou.
“Roncou a noite toda, esbanjando sua capacidade de dormir, mas que bom que dormiu”, brinquei. “Não dormiu de novo?” ela pergunta. “Tô indo agora, mãe, boa noite. Te amo. Fiz bolo pra gente; quando a minha irmã acordar, mostra pra ela também.” Assim minha noite começa e, para os que conseguem dormir à noite, o dia.
Ricardo Arthur Filho
159
A preguiça é inimiga
De vez em quando, tenho um ataque de preguiça. Acho que é normal! No fim das contas, quem gosta de acordar cedo naquela segunda-feira para começar o dia? O isolamento social faz a minha sanidade mental ir acabando aos poucos; mais preguiça de acordar, mais preguiça de me exercitar e mais preguiça de estudar.
O problema é que hoje é terça-feira e, igual a ontem, a preguiça me pegou de jeito. Sei que, principalmente com o cenário atual do mundo — pandemia desde o início de 2020 —, preciso cuidar da saúde para melhorar a imunidade, mas simplesmente não consigo me cuidar. Tenho cobrança de todos os lados, sejam cobranças de estudos, sejam cobranças familiares. A preguiça de enfrentar isso me domina.
Pesquisando na internet, descobri que o pecado da preguiça leva ao inferno, dependendo da gravidade da obrigação voluntariamente descumprida. Bom, será que o que eu deixo de fazer é grave? Tenho consciência de que sempre adio tudo porque simplesmente não consigo deixar de procrastinar. Amanhã eu começo. Não, acordei com frio, vou ficar deitada hoje. Vou começar hoje! Ai, novo episódio da minha série, amanhã começo os trabalhos. E assim os dias passam...
Nos dias de glória, consigo acordar com disposição para me exercitar como primeira coisa da manhã. O dia fica mais leve. É tão bom ficar à toa, porém, que esse sentimento ultrapassa a vontade de ter um dia leve, mesmo sabendo que não é a melhor coisa a se fazer. Cadê as minhas forças para lutar contra a preguiça? Ai, alguém me ajuda.
Com as últimas forças de vontade que existem em mim, decido que definitivamente vou deixar minha preguiça de lado e alcançar as metas imaginárias. Onde eu vou chegar com a pre-guiça? Meus sonhos ficam de lado por causa dela? Não quero e nem posso ser uma “vagabun-da”, mas, primeiramente, não posso ficar esperando tudo chegar à minha mão.
A preguiça que habita em mim nunca vai sair completamente. Os dias de glória só precisam ser mais recorrentes. Tenho que ter mais disposição, também. Sei que vão rolar aqueles dias só eu, a pipoca e o filme da Disney. Quem nunca? É normal. Poderia continuar aqui contando so-bre minha preguiça e minha luta contra ela, mas ela própria não me deixa seguir adiante! Pelo menos, não agora. Paro por aqui!
Ursula Villela
160
Aprendendo a falar
Vitrola, rádio, microfone, e outras tecnologias da comunicação foram apelidadas por mim: ‘batelaram’ tanto isso na minha cabeça, consequentemente, decidi manejar como profissão esses instrumentos para sempre. É engraçado, no começo, te incentivam tanto a falar, gritam de feli-cidade ao escutar seu primeiro balbuciar. Quando você canta, pedem mais músicas para agradar; no entanto, quando, para o ouvinte, você não convém ele te apelida de algum objeto.
Gritam ‘tagarela’, ‘papagaio’, te fazem dosar a voz; logo, você começa a se esconder, es-pecialmente quando você é uma jovem mulher. Se você expõe sua opinião demais, você é ar-rogante, ‘sabichona’, ‘metida a esperta’, entre outros adjetivos. Eu cresci vendo estereótipos em filmes e sempre me julgava, por exemplo: a garota ideal do filme era a ‘nerd’ doce e quieta no canto da sala; a vilã sempre falava muito alto suas opiniões, ou era uma líder; o garoto que falava assertivamente se apaixonava pela ‘nerd’ e virava o herói da história; e a megera sempre era domada de alguma forma. Nestes filmes, sempre colocavam o quieto como oprimido, mas já passei por tanto só por expressar minha opinião, por dar minha voz, por defender o outro; possivelmente, pra mim, muitos ‘quietos’ foram os maiores vilões da minha história.
Sendo filha única, a voz vira sua melhor amiga, ela inventa e cria amigos, ela te conforta, e você vai crescendo e passando esse amor a todos que você conhece; no entanto, você cresce, e a palavra também. Comecei a amadurecer essa vontade de falar na primeira vez que o disco furou, o rádio perdeu a sintonia e o microfone reverberou um som que rasgou meus ouvidos. Nesse momento, percebi que a fala era o apoio da minha solidão, e me senti mais sozinha ainda; percebi que o rádio não precisava estar em sintonia toda hora, o disco furado poderia ser troca-do e o som do microfone poderia ser ajustado. Passei por traumas como todos, e rapidamente aprendi a me amar, ter confiança nas minhas palavras; mas quando me apaixonei pelo outro, tomei conhecimento que não só minha FM importava, mas que a AM do outro era necessária para mim também.
Infelizmente, também aprendi que, mesmo dosando o que eu falo, sempre serei julgada, e isso faz parte de ser líder. Falar também te faz mais vulnerável, fica mais fácil para as pessoas te julgarem, porque é um tipo de armamento diferente, muito facilmente julgado pelos sem cora-gem de falar. Dizem que somos muito egoístas, arrogantes, mas nós estamos nos livros, somos inspiradores. Somos poetas, músicos, políticos, oradores, profissionais da comunicação.
A letra de uma música recentemente reverbera na minha mente quando julgo essa vontade de me expressar. O rapper Tyler the Creator — também filho único — expressa isso em sua mú-sica “911/Mr.Lonely”: “Dizem que o que fala mais alto na sala é fraco/ É o que eles assumem, mas eu discordo./ Eu digo o que fala mais alto na sala/ Provavelmente é a pessoa mais solitária na sala (sou eu)/ ‘Buscador de atenção’, orador público”.
O que eu aprendi nesta minha pequena jornada é que sempre me sentirei sozinha, mesmo apaixonada, mesmo em uma sala cheia de amigos; no final do dia, somente minha voz estará lá para me fazer companhia.
Vitória Barreto Martins
161
Os autores
Ana Clara de Gouvêa Poquechoque (Ana Poquecho-que) — matrícula 2011166 — nasceu em 17 de setembro de 2001, em Botafogo (RJ), de onde saiu para morar em Niterói. Passou toda a sua vida nessa cidade, mas começou a es-tudar Comunicação Social na PUC-Rio. Pretende se formar em Jornalismo, e a única certeza que tem, além da mor-te, é que pretende mostrar para o mundo os seus textos.
Andreza de Sousa Oliveira Paiva (Andreza Paiva) — ma-trícula 2011402 — nasceu em 11 de fevereiro de 2001, no Rio de Janeiro (RJ) e é graduanda em Administração de Empresas na PUC-Rio. Pretende fazer pós graduação em Gestão de Recursos Humanos. Ama ouvir música e a assistir sitcons.
Beatriz Monteiro Rabiço dos Santos (Beatriz Monteiro) — matrícula 2011484 — nascida no dia 14 de março de 2001, natural do Rio de Janeiro (RJ). Estudante de Comunicação Social na PUC-Rio, mas com a habilitação para Jornalismo. Sempre curiosa, atenta e sempre com vontade de apren-der algo novo, a escolha dessa carreira se deu pela sua vontade de dar voz a quem não tem essa oportunidade.
Bruno da Silva Torres (Bruno Torres) — matrícu-la 2012768 — nasceu em 6 de novembro de 2000, no Rio de Janeiro (RJ), onde sempre morou. Gosta de escre-ver, de estudar e de mais um montão de coisas. Forma-do no médio-técnico de telecomunicações no CEFET-RJ, seu próximo plano é se formar em Cinema na PUC-Rio.
Carolina Cardoso do Carmo (Carolina Cardoso) — matrí-cula 2011728 — nasceu em 28 de março de 2000, no Rio de Ja-neiro, onde mora. Estuda Administração na PUC-Rio, onde também trabalha. Responsável, cheia de fé e muita sensível, gosta de estar com a família e com os amigos, vendo filmes, conversando, indo à praia, se divertindo, vendo o Flamen-go jogar. Em sua vida, quer sempre ajudar as pessoas, me-lhorar como ser humano e lutar por um mundo mais justo.
161
Carolina Mejía Primavera Claros de Castro (Cora Me-jía) — matrícula 1912517. Nasci em 9 de fevereiro de 2001, em Botafogo (RJ) e agora foco em terminar os estudos de Comunicação Social na PUC-Rio. Tenho um amor pelo cinema e jornalismo, porém devo me formar em publi-cidade. Amo meus animais, plantinhas e sempre que dá pra fugir da PUC vou dar uma nadada no Leblon. :)
Debora Luísa de Almeida Barbosa (Débora Luí-sa) — matrícula 2010319 — nasceu em 16 de junho de 1997, no Rio de Janeiro, onde faz sua segunda facul-dade — Comunicação Social na PUC-Rio. Pretende se formar em Publicidade, e não se vê trabalhando com algo que não envolva criatividade. Explora-a pintan-do, desenhando, escrevendo gêneros textuais variados e investindo em inúmeros autorretratos excêntricos.
Davi Gonçalves Goulart (Davi Goulart) – matrícu-la 2010414 – nasceu no dia 28 de setembro de 2001 em Rio Bonito (RJ), onde viveu toda a sua infância. Mu-dou-se para a cidade de Niterói aos 15 anos para cur-sar o ensino médio e iniciou o curso de Comunica-ção Social na PUC-RIO três anos depois. Pretende se formar em jornalismo e seguir carreira na área cultural.
Eduardo Guimarães dos Santos (Dudu Guimas) — matrícula 2010413 — nasceu em 25 de janeiro de 2002, no Rio de Janeiro (RJ) onde sempre viveu. Em 2019, fez o vestibular para ingressar em Comunicação So-cial na PUC-Rio, onde pretende se formar em Publicida-de e Cinema. Por mais que não saiba exatamente com o que trabalhar, está projetando um caminho a seguir.
Elisa Batista Santos (Elisa Guilherme) — matrícu-la 2011201 — nasceu em 22 de agosto de 2000, no Rio de Janeiro. Entrou para Comunicação Social na PUC-Rio para se formar em Cinema. Demorou para escolher o que cursar, mas, depois que o fez, deu a sorte de estar cer-ta do que quer. É difícil ter certeza sobre o futuro, mas sabe que a escrita e o cinema vão acompanhá-la na vida.
Fabiana Santoro Santos (Fabi Santoro) — matrícula 2012470— nasceu em 27 de maio de 2002, no Rio de Ja-neiro (RJ) e estuda Comunicação Social na PUC-Rio. Pre-tende se formar em Cinema; apaixonada por arte e tudo que envolve a vida. Ativista LGBT+, escreve contos e ro-teiros baseados em sonhos. Tudo que você sonha é arte.
Fellipe Rodrigues dos Santos — matrícula: 2011233 — nasceu em 08 de junho de 2000, no Rio de Ja-neiro (RJ) e, hoje, estuda Administração na PUC--RIO. Ainda está se descobrindo na faculdade. Costu-mam defini-lo como sendo 50% culto e 50% bobão.
Gabriel Chedier B. Maurell (Gabriel Maurell) — matrícu-la 2010803 — nasceu em 05 de dezembro de 2001, na cida-de do Rio de Janeiro (RJ). O estudante pretende se formar em Jornalismo pela PUC-Rio. Ele busca realizar seu desejo de utilizar a Comunicação Social como ferramenta de visi-bilidade social para a cultura e os cidadãos marginalizados, em busca de oferecer, à sociedade, uma narrativa constru-ída a partir de uma multiplicidade diversificada de vozes
Gabriel Torres Romanha — matrícula 2011262 —: nasci em 04 de julho de 2000, no Rio De Janeiro. Minha habili-tação é cinema, porém não gosto de assistir filmes. Quero adquirir um conhecimento mais abrangente sobre o meio assim como técnicas de comunicação que poderão me ajudar em trabalhos futuros nesse âmbito. Espero um dia trabalhar no Japão, na produção de animes com foco na composição de trilha sonora. Esse é, evidentemente, o meu ideal, porém mantenho minhas expectativas baixas pois minha realidade e meu ideal andam em direções opostas.
Giovanna Giudice Rispoli (Giovanna Rispoli) — matrícula 2010534 — nasceu em 30 de abril de 2002, em São Paulo (SP), de onde saiu aos 12 anos para viver seu sonho de ser atriz. Após muitos anos de incerteza sobre qual faculdade seria ideal, encontrou no curso de Comunicação Social da PUC--Rio seu encaixe perfeito. Com apenas 18 anos, a menina só visa uma coisa em sua vida: caminhar sempre ao lado da arte.
Giulia Marzo Butler (Giulia Butler) — matrícula 2010685 — nasceu em 25 de junho de 2002, no Rio de Ja-neiro (RJ), onde morou a vida toda. Escolheu estudar Co-municação Social na PUC-Rio. Sua habilitação é Cinema mas gosta de explorar vários temas dentro e fora das ar-tes. Escrever é uma das formas que ela encontra para ex-pressar sua criatividade e propagar sua visão de mundo.
Hellen Santos Gallart (Hellen Gallart) — matrícula 2012445 — nasceu em 24 de setembro de 2002, na Tiju-ca (RJ); depois de várias mudanças, foi morar no Recreio dos Bandeirantes (RJ), onde reside desde 2010. No início de 2020, começou a estudar Comunicação Social na PU-C-Rio e pretende se formar em Jornalismo, mas não tem certeza ainda sobre isso e outras coisas. Só sabe que pre-tende se mudar para a Europa e fazer o mesmo curso lá, porém tenta isso há anos — talvez este ano seja o da sorte.
Jefferson Sousa Severiano (Jefferson Severiano) — matrícula 2011420 — nasceu em 17 de dezembro de 1995, em Pacujá (CE), de onde saiu em busca de empe-go na cidade do Rio de Janeiro. Com o tempo, passou a estudar Administração (bacharel) na PUC-Rio. Preten-de se formar com ênfase na área financeira, objetivan-do montar seu próprio negócio, porém acredita que ainda tem muito a aprender. Prefere sempre ter laços afetivos e próximos com as pessoas que conhece, odeia injustiça e detesta indivíduos manipuladores ou falsos.
João Francisco da Silva Mendes de Oliveira (João Men-des) - 2012760: nasci no dia 6 de fevereiro de 2002, no Rio de Janeiro. Sou ator (com DRT), e estudei no Anglo-ameri-cano desde sempre; nesse momento, estou cursando Co-municação Social com habilitação em cinema na PUC-Rio. Também gosto muito de escrever roteiros, contos e poesia.
João Massud (Massud) — matrícula 2012481 — nasceu em cinco de outubro de 2000, no Rio de Janeiro, onde mora e estuda Comunicação Social na PUC-Rio. Boêmio, com alma de artista, tem muita coisa a dizer e muito amor para dar.
José Pedro Diegues Bial (José Pedro). Matrícu-la 2010718. Nasci em 18 de maio de 2002, no Rio de Ja-neiro. Ainda não decidi o que quero fazer na facul-dade. Gosto de jogar bola, conversar, assistir filme e feijoada. Não gosto muito de praia e nem de abóbora.
Juliana Nicolazzi da Rocha Nunes (Juliana Nicolazzi) — matrícula 2011222— nasceu em 11 de janeiro de 2002, em Rio de Janeiro (RJ) e estuda Comunicação Social na PU-C-Rio. Pretende se formar em Publicidade e propaganda, mas tudo pode mudar de uma hora para outra. Só a sua torcida pelo Fluminense e a sua altura que não mudam.
Júlia Paixão Vieira (Júlia Paixão) — matrícula 2011831 — nasceu em 2001 na cidade do Rio de Janeiro. Pretende se formar em Jornalismo na PUC-RIO, já que, mesmo sem ne-nhuma certeza sobre qual área de trabalho seguir, sempre teve afinidade com a escrita e com os acontecimentos do mundo. Após o primeiro período da faculdade, já observou um progresso com a sua maneira de escrever e espera que a melhora seja constante e que lhe abra caminhos no futuro.
Júlio Cesar Oliveira de Castro — matrícula 2011806 — nasceu em 5 de setembro de 2001, no Rio de janeiro, onde mora até hoje. Inicialmente, tinha a pretensão de cursar his-tória — para dar aulas — ou estudar filosofia — para ingres-sar no seminário. Entretanto, hoje é aluno de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, na PUC-RIO. Julio Cesar sabe mais do que ninguém que a vida é uma caixinha de surpresas, mas espera sempre aproveitar o melhor dela.
Larissa do Amaral Ramos (Larissa Amaral)— matrícu-la 2010613 — nasceu em 11 de março de 2002, no Rio de Janeiro (RJ), onde vive desde sempre. Recentemente se tornou estudante de Comunicação Social na PUC-Rio. Tem a pretensão de se habilitar em Publicidade e Propaganda, o que a encanta e faz seus olhos brilharem. Sensível, ama sair com os amigos. Sem dúvida, seu hobby é cozinhar.
Laura Cabral Dominguez Alonso (Laura Alon-so) — matrícula 2012620 — nasceu no dia 11 de abril de 2002. Está cursando Comunicação Social na PU-C-Rio, onde pretende se formar em Jornalismo.
Lucas Peçanha Muniz — matrícula 2010625 — nasceu em 8 de novembro de 2001, em Niterói (RJ). É apaixona-do por Cinema, sua habilitação no curso de Comunicação Social na PUC-Rio. Ainda não sabe o que será no futuro, mas, enquanto ele não chega, pretende escrever, filmar e tentar colocar em palavras o que ainda não conseguiu.
Lucas Maciel Santos (Lucas Maciel) — matrícula 2010660 — é formado em Gastronomia e ingressou na Comunicação Social, na PUC-Rio, em 2020. A vontade de estudar o Esportes e atuar na área veio, ainda, na primei-ra graduação, quando apresentou um trabalho sobre a Gastronomia no Maracanã. A escolha pelo Jornalismo vem da ideia de trabalhar mais diretamente com Esportes.
Lucas Mourão Pacheco (Lucas Mourão) — matricula 2011851 — nasceu em três de julho de 2001. Decidiu estu-dar Comunicação Social por ter se identificado com a área. Pretende se formar em Publicidade e Propaganda, mas não tem certeza de seu futuro. A única coisa que sabe é que o Flamengo e a música eletrônica são suas paixões.
Luísa Brandão de Azevedo Guimarães (Lu Guima-rães) — matrícula 2010582 — nasceu em 23 de maio de 2002, no Rio de Janeiro (RJ), onde morou toda a sua vida, e hoje cursa Comunicação Social na PUC--Rio. Apesar de estar se direcionando para uma forma-ção como publicitária, as incertezas ainda perambulam sua mente. É sensível e apaixonada por música e arte.
Luisa dos Passos de Almeida Lewin Reis (Luisa Reis) — matrícula 2010526 — nasceu em 11 de junho de 2001, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). Tornou-se estudante de Comu-nicação Social na PUC-Rio no primeiro semestre de 2020. Depois de muito tempo sem saber o que realmente gosta-va e queria fazer para a vida, se encontrou no Jornalismo.
Maria Carolina Insua de Oliveira (Maria Caroli-na Insua) — matrícula 2011126 — nasceu em 22 de abril de 2002, no Rio de Janeiro. Estuda Comunica-ção Social na PUC-Rio e pretende se formar com habi-litação em Publicidade, focada na área do Marketing.
Maria Clara Oliveira Durante (Maria Clara Durante) — matrícula 2011114 — nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de julho de 2001. Desde pequena, sempre gostou muito de escrever e de contar histórias. Esses motivos a levaram a querer seguir a carreira de jornalista. Atualmente, estuda Comunicação Social na PUC-Rio. Antes de ingressar na universidade, con-cluiu o curso de Introdução à Fotografia, no Ateliê da Imagem.
Maria Eduarda Soares Brandão Nicolau (Maria Edu-arda Nicolau) — matrícula 2010935 — nasceu em 25 de julho de 2001, em Palmas, no Paraná, mas, ainda mui-to pequena, se mudou para o Rio de Janeiro. Entrou em Comunicação Social na PUC-Rio, em que preten-dia se formar em Publicidade e Propaganda; porém, trancou a faculdade, em 2020.2, para tentar Medici-na. Adora praia, viagens, festas, família e gastronomia.
Maria Fernanda Fenta Anacleto (Maria Fernanda Ana-cleto) — matrícula 2011425 — nasceu em 09 de maio de 1999, no Rio de Janeiro (RJ). Desde pequena é apaixonada por arte e escrita: começou a dançar balé com quatro anos de idade e uma dança foi puxando a outra. Porém, aos poucos, descobriu que a sua verdadeira paixão era atuar, estar na frente das câmeras. Com isso, juntou o amor pela arte com a escrita e escolheu para o seu futuro profissio-nal o jornalismo, na melhor faculdade do RJ a PUC-Rio.
Maria Fernanda Firpo (Fernanda Firpo) — ma-trícula 2011013 — nasceu no dia 21 de julho de 2002, e mora no Rio de Janeiro. Estuda Comunicação So-cial na PUC-Rio e pretende ser jornalista política.
Maria Júlia Lobianco Bevilaqua (Maria Julia Lo-bianco) — matrícula 2010887— nasceu em 14 de ju-nho de 2001, no Rio de Janeiro (RJ), mas com oito anos foi morar na cidade de Resende (RJ), de onde voltou para sua cidade natal a fim de estudar Comunicação Social na PUC-Rio. Pretende se formar em Publicida-de e Propaganda, porém tem um pezinho em artes.
Maria Mariana Braga Silva (Maria Mariana Braga) — matrícula 2011951 — nasceu em fevereiro de 2002, no Rio de Janeiro. Estuda Comunicação Social na PUC-Rio e pretende se formar com habilitação em Jornalismo.
Marina Aizenas Mann (Marina A. Mann) — ma-trícula 2010879 — nasceu em 14 de novembro de 2001, no Rio de Janeiro (RJ). Desde pequena, sem-pre foi apaixonada por jornalismo e pretende traba-lhar com isso no futuro. Atualmente faz Comunicação social na PUC-Rio, com bacharelado em jornalismo.
Marina Kersting Pereira — matrícula 2011030 — nasceu no dia três de dezembro, no Rio de Janei-ro (RJ), cidade onde mora. Estudou no Colégio No-tre Dame e Escola Parque da Gávea até completar o Ensino Médio. Hoje, é graduanda em Comunicação So-cial-Jornalismo, na PUC-Rio, e em Filosofia, na UFRJ.
Pedro Rosa Rodrigues (Pedro Rodrigues) — matrícula 2010959 — nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ). Está fa-zendo Comunicação Social na PUC-Rio e pretende se gra-duar em cinema. Pretende viver dos filmes que quer fazer. Mas, se isso não der certo, sabe que escreve e pensa razo-avelmente bem, o que pode servir como um bom plano B.
Raphaela Lins Izidoro Sansão Fontes (Raphaela Lins) — matrícula 2011900— nasceu em 12 de julho de 2001, na ci-dade do Rio de Janeiro (RJ), onde estuda hoje Comunicação Social na PUC-Rio. Pretende se formar em Cinema, mas não tem certeza de nada na vida. Seu grande sonho é ser atriz, mas acredita firmemente em uma carreira como diretora. E, também, está sempre aberta a experimentar novas coisas.
Renan Lima — matrícula 1713153 — nasceu em 1998, em Juiz de Fora (MG) e veio para o Rio de Janeiro com dois anos de idade. Desde pequeno, se apaixonou pelo escudo do Botafogo e se tornou um mineiro-carioca. Me-nino sempre muito observador e comunicativo, esco-lheu estudar Comunicação Social, na PUC-Rio. Preten-de se formar em Publicidade e Propaganda, com ênfase no mercado de marketing esportivo e digital. Apaixona-do por esportes, pela sua namorada e por seus amigos, ele busca sempre o bem-estar coletivo, o bem-estar fí-sico e mental, tendo em vista sua crença, que, com es-sas práticas, ele pode ser feliz e atingir seus objetivos.
Ricardo Arthur Ribeiro da Silva Filho (Ricardo Arthur Filho) — matrícula 2011497— nasceu em 16 de Fevereiro de 2001, no Rio de Janeiro. Estudante de Publicidade e Propa-ganda na PUC-Rio, apesar de seus interesses em outros cur-sos de audiovisual não serem deixados de lado. Carioca com aparência de gringo, mas de língua estrangeira só o inglês.
Rodrigo da Costa Guilherme (Rodrigo Ferraro) — ma-trícula 2011528 — nasceu em 2 de julho de 1993, é carioca e profissionalizado ator, estudando Comunicação Social na PUC-Rio. Filho de militar, viveu em diferentes cidades e pa-íses, conheceu diferentes culturas, e cresceu aprendendo a identificar como a conexão humana se dá das maneiras mais sutis. Acredita na experiência artística como a principal forma de expressão dos sentidos, emoções e sentimentos.
Rosa Ferreira Ciavatta (Rosa Ciavatta) — matrícu-la 2011540 —nasceu no dia 22 de maio de 1999, no Rio de Janeiro. Estuda Comunicação Social na PUC-Rio, onde pretende se formar em cinema. Canta desde que se en-tende por gente, e se encanta constantemente por ou-tras línguas e seus sons. Acredita que o carnaval, a músi-ca, a dança, a cultura popular, os livros, os filmes, enfim, a arte em suas inúmeras manifestações, é capaz de mol-dar o mundo que se almeja e de libertá-lo de seus moldes.
Ursula Hirth Villela (Ursula Villela) — matrícula 2011242 — nasceu em 2 de maio de 2002, no Rio de Ja-neiro (RJ) e, recentemente, começou a estudar Co-municação Social na PUC-Rio. Pretende se formar em Jornalismo, porém é uma pessoa indecisa. Adora se di-vertir com os amigos, principalmente se for para dan-çar. A música ocupa uma parte grande da vida dela.
Vitória Barreto Martins — matrícula 2011747 — nasceu em 7 de junho de 2000, em Itajubá (MG); mudou-se para o México e Malásia, e, desde 2016, mora no Rio de Janeiro. Este ano começou a estudar Comunicação Social na PU-C-Rio. Pretende se formar em Jornalismo, mas também é atriz e cantora nas horas vagas. Não sabendo nem de onde ela realmente é, ainda está um pouco confusa para se manifestar quanto ao seu futuro, mas um dia chega lá.
A organizadora
Margareth Amoroso de Mesquita (Meg Amoroso Mesquita) nasceu em 10 de abril de 1960, no Rio de JANEI-RO (RJ). Fez seu doutorado em Literatura Comparada na UFF (Universidade Federal Fluminense), mas graduação (Letras: Português/Literaturas) e mestrado, na PUC-RIO, onde trabalha desde 1992. Ama sua família, em especial a filha, Ana; adora seus alunos; e é entusiasta da leitura, da escrita e de uma educação voltada para a empatia e a justiça social.