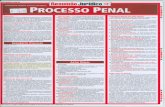Direito à educação básica A cooperação entre os entes federados
O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO – Cap. 11 do Livro Direito e...
Transcript of O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO – Cap. 11 do Livro Direito e...
231
11
O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL
BRASILEIRO
Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão1 Antonio Rodrigo de Araújo Paz2
RESUMO: O estudo proposto tem como objetivo apresentar o princípio da cooperação como um modelo processual viável e adequado para as pretensões que a sociedade brasileira anseia ao buscar a tutela jurisdicional. Nesse estudo se apresentam questões centrais da cooperação como modelo processual, considerando suas características, suas relações com outros princípios processuais, os deveres dele decorrentes e sua adequação à realidade processual brasileira. Além disto, o presente trabalho realiza uma análise da atual sistematização do princípio cooperativo no ordenamento jurídico pátrio, inclusive
1 Bacharel em Direito pela Faculdade Farias Brito (FFB), especialista em direito processual civil pela Faculdade Farias Brito (FFB), mestre em direito constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Professor universitário de Processo Civil e Prática Jurídica na Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e advogado pela secional do Ceará, atualmente exercendo cargo de Assessor de Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.2 Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados pela Seccional do Estado do Ceará.
232
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
analisando referido princípio com o projeto do Novo Código de Processo Civil.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Cooperação. Novo Código de Processo Civil brasileiro.
INTRODUÇÃO
O Direito Processual Civil tem sido objeto de uma série de dis-cussões e releituras de institutos basilares do sistema jurídico processual. As propostas de mudanças vão além de alterações normativas, atingin-do o próprio modo de pensar o processo e a forma de proporcionar à sociedade uma prestação jurisdicional completa e efetiva.
A sociedade contemporânea evoluiu e não mais silencia perante a ineficiência do Estado-juiz na busca pelos seus direitos. Ela exige um dinamismo dos mecanismos estatais para que se moldem às atuais exi-gências de um Judiciário com repostas mais rápidas e substancialmen-te adequadas. O Poder Judiciário brasileiro precisa de uma roupagem mais moderna, com uma reestruturação geral do processo e o princípio da cooperação se apresenta como uma peça chave na realização dessa mudança.
Por esta razão, decidiu-se analisar o modelo cooperativo, apre-sentando suas características, sua evolução, bem como o modo que este se apresenta hodiernamente no atual sistema processual, analisando sua conceituação e relação com outros princípios processuais, além de per-ceber a sua influência como princípio processual.
O princípio da cooperação é instituto incumbido de proporcio-nar uma atividade processual pautada no diálogo, bem como em deve-res processuais que viabilizem referida cooperação entre estes, atuan-do assim como importante mecanismo na busca pela efetivação de um modelo processual capaz de suprir as necessidades de uma prestação jurisdicional eficaz e satisfatória. A escolha para este tema justifica-se exatamente pela importância que esse assunto apresenta em relação aos anseios da sociedade brasileira em se tratando da sua relação com o Estado-juiz.
Durante o século XX, observou-se a ineficácia dos dois modelos processuais até então concebidos, quais sejam: o modelo inquisitivo e
233
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
o dispositivo. Tais modelos são distintos entre si, quase antagônicos, já não satisfazem as ambições de um processo que se pretende eficaz.
O modelo inquisitivo evidencia uma maior atuação do Estado-juiz na condução processual, atuando incisivamente na instrução pro-batória e sendo o centro da relação processual. Já o modelo dispositivo caracteriza-se por ser um modelo no qual a disputa processual é eviden-ciada pela atuação mais significativa das partes, onde estas tomam a ini-ciativa para o deslinde processual, atuando com mais vigor na instrução probatória, enquanto o juiz atua como um mero espectador da batalha processual apresentada pelas partes.
Hodiernamente, pois, depara-se com a evolução destes modelos processuais a um terceiro modo de se pensar o processo, que é o modelo cooperativo, a influência do princípio da cooperação. Referido modelo processual tem por característica o oferecimento aos atores processuais de um maior diálogo no decurso processual, com vistas a alcançar uma prestação jurisdicional pautada na cooperação mútua entre os atores processuais. Visto isto, entende-se que esse rápido estudo apresenta as principais premissas necessárias à compreensão da viabilidade das pro-postas de alteração da legislação processual civil que pretendem incor-porá-lo de forma expressa ao ordenamento jurídico.
1. OS MODELOS DISPOSITIVO E INQUISITIVO
Para se realizar o estudo de uma proposta de processo coopera-tivo, impõe-se compreender as estruturas preponderantes na realidade atual e nas que a antecederam, em sua fundamentação, funcionamento e resultados obtidos. Essa discussão se presta a tentar definir a melhor técnica processual, com foco na análise da relação entre o julgador e as partes nos mais diversos aspectos do procedimento, como na iniciativa para a instauração da demanda, na delimitação do objeto do processo, no trato da instrução probatória, na formação do convencimento do julgador, etc.3 Embora não se possam apontar sistemas puros quanto a este aspecto, do ponto de vista teórico é possível elencar dois modelos que se destacam: o dispositivo e o inquisitivo.
3 É o que elucida Didier Junior (2011, p. 80): “A ‘dispositividade’ e a ‘inquisitividade’ podem manifestar-se em relação a vários temas: a) instauração do processo; b) produção de provas; c) delimitação do objeto litigioso (questão discutida no processo); d) análise de questões de fato e de direito; e) recursos etc.”
234
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
1.1. Modelo dispositivo
No modelo dispositivo, também conhecido como adversarial, as partes exercem um papel processual mais expressivo, atuando com mais intensidade em um ambiente de menor grau de interferência do magis-trado. A construção processual se dá por ingerência direta das partes. O dispêndio postulatório e probatório é função primordial do autor, do réu e de eventuais terceiros que intervenham na lide.4 Nesse procedi-mento de disputa de interesses, o deslinde da controvérsia é renegado para segundo plano e o processo se bipolariza em um ambiente no qual o conflito se acirra até a manifestação final do juiz com uma decisão que substitui a vontade dos litigantes.5
O modelo coloca as partes na condição de adversárias e prepara o ambiente para uma “batalha processual”. Assim, instaura-se um aparen-te paradoxo, pois o processo civil, importante instrumento da pacifica-ção social, tem um padrão de desenvolvimento hostil.
Um de seus principais fundamentos seria a maior efetividade da isonomia. Os polos processuais, em abstrato, possuem iguais condições de interferir na conclusão do processo, dentro de uma lógica de “pa-ridade de armas”. Entre as partes não existiria hierarquia ou qualquer tipo de vantagem, gozariam das mesmas prerrogativas processuais, ex-pressando um ambiente de total igualdade de condições. Desse modo, apenas o direito material efetivamente existente imporia um julgamento favorável a um deles.
No entanto, na prática, a pretensa isonomia processual abstrata não se manifesta em todos os casos. Não se pode desconsiderar a exis-
4 Acerca da regência da instrução processual pelas partes, Barreiros (2011, p. 55-56), afirma: “Constata-se, pois, que o modelo processual civil adversarial tem por um dos seus pilares o predomínio da atuação das partes no processo, o que implica estarem a elas afetos atos que vão desde a instauração da demanda (com a delimitação do objeto do processo), passando pela especificação das questões de fato e (em grande medida) das questões de direito que serão enfrentadas pelo magistrado, sem olvidar a concentração, em suas mãos, da atividade instrutória, consistente na definição dos meios de prova e, mesmo, em sua produção. Nesse espaço de veneração da autonomia privada, em que o processo é visto como pertencente aos litigantes (a parte é tida como dominus litis, a dona da lide; o processo era visto como coisa das partes”, Sache der Parteien), sobra ao juiz papel de pouca expressão no desenrolar da dialética dos contendores em juízo”.5 Ilustrando a ideia de uma clara disputa entre as partes nesse modelo processual, Didier Junior (2011, p. 80) afirma: “Em suma, o modelo adversarial assume a forma de competição ou disputa, desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante de um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função é a de decidir”.
235
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
tência de possível e provável hipossuficiência financeira e técnica de um litigante em relação a outro. Aquele que detiver um aporte financeiro mais robusto para suportar as adversidades de um processo caro e de-morado terá uma situação privilegiada. Da mesma forma, quem dispu-ser da melhor e mais disponível representação jurídica, terá condição de conduzir o processo de forma predominante.6
Essa grande diferença de condições demonstrada entre as partes resulta ainda em outro problema ligado à atuação jurisdicional. O juiz, o responsável por julgar o processo, não pode exercer qualquer ativida-de que tenha como objetivo auxiliar a parte hipossuficiente, pois, nesse modelo, essa atitude pode ser encarada como um sinal de que o magis-trado rompeu com o seu dever de imparcialidade perante as partes.
A ausência de controle do jurisdicional possibilita excessos na defesa de seus interesses, gerando um ambiente fértil para a má-fé pro-cessual. As provas podem ser colhidas de maneira ilegal, podem não ser satisfatórias ao devido convencimento do juiz, podem ser prolixas, já que o juiz não está dialogando com as partes no sentido de informar os pontos que precisam de um esclarecimento, etc. O distanciamento do juiz das fases postulatória e instrutória, sem estabelecer um diálogo aberto com as partes, dificulta a formação de seu convencimento.
Nessa relação, o magistrado se apresenta somente como espec-tador, até o momento em que os autos lhe são conclusos para, nos es-tritos limites destes, proferir seu julgamento7. Sua limitada atuação não
6 Acerca dessa falta de efetividade no embate contra as desigualdades processuais, Barreiros (2011, p. 53), pondera: “Assim sendo, pode-se concluir que o modelo adversarial, firmado em premissas liberais de predomínio da livre iniciativa no processo, é incapaz, por si, de reduzir ou eliminar as discrepâncias substanciais existentes entre as partes. Essa desigualdade pode ser vislumbrada não apenas sob o ponto de vista econômico-social. De igual modo, avulta quando se contrapõem, em uma demanda, um litigante habitual e um ocasional, quando as diferenças sobressaem, principalmente, nas capacidades defensivas dos contendores. Considerando que a maioria das demandas atuais tem em um de seus polos um litigante habitual e, no outro, um eventual, pode-se afirmar que, por sua postura ideologicamente alheia ao problema do desequilíbrio entre as partes – bastando-se que se garanta uma isonomia formal –, o modelo adversarial não apenas não promove uma redução dessa desigualdade, como, ainda, a reforça”.7 Em contraposição ao papel ativo reservado às partes, do juiz, no modelo adversarial, espera-se, tão-somente, que adote uma postura de neutralidade e passividade diante do litígio que lhe é posto a julgamento. Acredita-se que a postura passiva do magistrado é a garantia de sua imparcialidade, que restaria comprometida acaso o julgador, por exemplo, assumisse uma conduta ativa na instrução do feito, promovendo iniciativas em busca da descoberta da verdade dos fatos, que deve ser apresentada pelas partes. Essa premissa que norteia o modelo adversarial – a da passividade e neutralidade do juiz – objetiva reduzir o magistrado à condição de um verdadeiro “convidado
236
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
lhe retira em absoluto a função de garantidor da justiça, até porque, se assim não fosse, a jurisdição seria dispensável. Porém, essa atuação é pouco expressiva, com um pequeno âmbito de liberdade circunscrito por interpretações extremadas de inércia e adstrição. Por consequência, conclui-se que o modelo dispositivo revela falhas.
1.2. Modelo inquisitivo
O modelo inquisitivo se desenvolve sob uma lógica inversa, com o Estado-juiz ostentando o papel de protagonista e atuando com uma maior intensidade.8 O julgador assume posição de superioridade em um verdadeiro ativismo judicial que destaca sua condição de representante do poder.
É ele quem dita o trâmite do processo, quem rege o proceder das partes, objetivando formar seu próprio convencimento. Nesse cenário, as partes ocupam um papel secundário, bastante passivo, sendo con-duzidas durante todo o procedimento, com uma margem de inovação processual limitada. O feito é impulsionado para que chegue a um pon-to em que o juiz considere satisfatório ao seu convencimento, ainda que as partes entendam pela necessidade de aprofundar o debate de teses ou realizar a produção de outras provas.
A função decisória se torna mais simples, pois o magistrado está muito mais familiarizado com os elementos da causa, o que possibilita um entendimento mais profundo da controvérsia e, consequentemente, permite uma melhor fundamentação da decisão.
No entanto, a atuação demasiada do juiz, sem uma razoável parti-cipação dos litigantes, pode gerar uma dificuldade da aceitação da deci-são contrária aos interesses de uma das partes, pois esta não conceberia a decisão como conclusão justa da análise de seus argumentos.
de pedra”, sendo função sua apenas a de garantir uma disputa justa, esta, que, por sua vez, estaria configurada desde que respeitadas as regras do jogo adversarial, calcadas, sobretudo, na garantia de igualdade formal entre os litigantes. Ao final do procedimento, a vitória pertenceria àquele que melhor combatesse. (BARREIROS. 2011, p. 60).8 Nesse sentido, Peixoto (2012, p. 93) aponta a existência desses dois modelos apresentando as primeiras características de ambos: “Assim, enquanto no modelo adversarial há uma predominância da atividade das partes, com um magistrado passivo, no modelo inquisitorial, temos a presença mais forte do magistrado conduzindo o procedimento, intervindo na atuação probatória das partes. É comum falarmos que o primeiro predomina no common law e o segundo no civil Law”.
237
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
Ao propor uma demanda, as partes têm como objetivo primário demonstrar que a sua versão dos fatos é a verdadeira e, para tanto, neces-sitam de uma participação efetiva no decurso do processo para demons-trar fatos e provas acerca dos seus direitos. Como nesse modelo proces-sual essa possibilidade não é disponibilizada às partes, estas não sentem uma sensação de satisfação após a tutela jurisdicional ser entregue.9
Essa posição doutrinária demonstra como a falta de efetiva parti-cipação das partes no decurso processual impede uma prestação jurisdi-cional pautada nos parâmetros da cidadania e do devido contraditório, sem as quais resta inviável a efetiva participação das partes no conven-cimento do juiz. Em conclusão, este modelo também apresenta muitas distorções, não permitindo um resultado satisfatório do processo.
2. EVOLUÇÃO AO MODELO COOPERATIVO
A roupagem que o processo moderno carece não é a mesma pensada na década de setenta, quando da elaboração do atual Código de Processo Civil. A sociedade mudou drasticamente, hoje o mundo é globalizado, existe um dinamismo muito elevado em todas as relações sociais, as informações são mais viáveis, rápidas, de fácil acesso e neces-sitam de um compartilhamento cada vez mais dinâmico, acompanhan-do as mudanças da sociedade. É imperioso que o Poder Judiciário se adapte às mudanças existentes na sociedade, para que possa ser capaz de se amoldar ao dinamismo hodiernamente proposto, para assim pro-porcionar uma efetiva prestação jurisdicional.10
9 Nesse sentido, Parchen (2009, p. 6), aduz: “A faculdade de as partes pronunciarem-se ativamente no processo dificulta o arbítrio judicial e exclui o tratamento da parte como simples objeto do processo, garantindo o seu direito de atuar de modo crítico e construtivo com vistas ao escorreito desenvolvimento do processo, apresentando antes da decisão a argumentação acerca de suas razões. O contraditório desponta, aqui, como o concreto exercício do direito de defesa para fins de formação do convencimento do juiz, atuando, assim, como anteparo à lacunosidade ou insuficiência da sua cognição e demonstrando o inafastável caráter dialético do processo”.10 Acerca da nova maneira que o processo deve se apresentar perante uma sociedade que mudou com o passar dos anos, Peixoto (2012, p. 92) afirma: “Toda essa nova roupagem dada ao ordenamento jurídico deve também ser conciliada com as novas demandas da sociedade, que não mais se satisfazem com uma democracia representativa que acaba tendo um caráter apenas formal. É necessária a ampliação de âmbitos de participação na construção da interpretação constitucional com a construção de uma democracia efetivamente participativa. Isso tem sido feito, por exemplo, com a ampliação dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, mas isso não é o bastante, pois o atual modelo de processo civil ainda é voltado a um regime liberal.
238
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Uma modernização do processo não traz benefícios apenas à so-ciedade como buscadora de auxílio jurisdicional; traz benefícios tam-bém ao Poder Judiciário que, ao promover um modelo de prestação jurisdicional nos moldes que a sociedade precisa, estará prestando uma tutela jurisdicional realmente efetiva, o que, em longo prazo, se conver-terá em benefício ao Poder Judiciário.
Por representarem realidades extremadas, ambos os modelos apresentados sofrem falhas que impossibilitam uma prestação juris-dicional condizente com uma solução integral e eficaz dos litígios. O problema pode ser resumido na institucionalização de uma relação ver-ticalizada entre magistrado e partes, com preponderância da atuação de um sobre o outro, sem um diálogo consistente que permita uma atuação equilibrada dos atores processuais.11
Desta conclusão, identifica-se como aspecto de evolução dos modelos processuais apresentados uma coadjuvação entre juiz e partes na condução do processo em uma relação horizontalizada. O procedi-mento deve permitir um encadeamento de ações colaborativas em um elo harmônico de diálogos e atuações simétricas convergentes à plena dissolução do litígio.12
Nessa perspectiva, não há como superar os problemas advindos dos modelos inquisitivo e dispositivo, com uma simples mescla dos dois dentro de um mesmo sistema. Esta, em verdade, pode até ser identifica-da como a situação atual do processo civil brasileiro. Em alguns estágios do procedimento predomina a atuação do magistrado em detrimento das partes, e em outras etapas observa-se uma atividade quase exclusiva
Portanto, não se pode conceber que o direito processual se mantenha atrelado à construções teóricas do século XIX e a uma ideologia liberal , que propugna por uma intervenção mínima estatal, pois a sociedade mudou, a teoria geral do direito receber novos aportes teóricos, com a adoção do pós-positivismo. É por conta de todas essas mudanças que afigura-se necessário o reconhecimento de um novo modelo de processo baseado no diálogo onde se reconheça o seu caráter problemático e a construção comparticipativa das soluções dos casos concretos”.11 Acerca da falta de diálogo nos modelos dispositivo e inquisitivo, Peixoto (2012, p. 93): “No entanto, perceba-se que em nenhum dos modelos tem-se a valorização do diálogo, havendo sempre a prevalência da condução do processo por um dos seus sujeitos, seja o magistrado, sejam as partes, como se não fosse possível a atuação conjunta de todos.”12 Nesse diapasão, Didier Junior (2011, p. 78) assevera: “A condução do processo deixa de ser determinada pela vontade das partes (marca do processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que há uma condução inquisitorial do processo pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se uma condução cooperativa do processo, sem destaques a algum dos sujeitos processuais”.
239
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
das partes, com a omissão do juiz. Porém, em poucos momentos, juiz e partes conduzem conjuntamente o processo de forma dialogada.
Considerando a necessidade atual da sociedade, é que se percebe a necessidade de evolução dos modelos anteriormente existentes a um terceiro modelo processual, o modelo cooperativo. Nele as partes têm entre si um dever de cooperação e para com elas o juiz também tem o dever de cooperar, tudo com o interesse maior, que é a uma prestação jurisdicional eficaz e satisfatória a todos que buscam auxílio do Poder Judiciário.13
Para a efetivação dessa evolução, o órgão jurisdicional necessita desenvolver características modernas, em especial no que tange à con-dução do processo que, como abordado anteriormente quando se tratou dos modelos dispositivo e inquisitivo, era exercido em demasia pelas partes ou com uma maior participação do órgão jurisdicional.
O modelo cooperativo não exige uma reestruturação total da base legal existente, pois ele se amolda perfeitamente aos princípios proces-suais mais relevantes, em especial do contraditório, do devido processo legal e da boa-fé processual.14 É importante perceber que o princípio da cooperação não está desconectado do ordenamento, porquanto ele pos-sui uma base principiológica muito forte, o que induz a uma aceitação maior pelo ordenamento pátrio.
Logo, para que o sistema processual se adeque à nova exigência, impõe-se predominantemente uma alteração de compreensão do pro-cesso, realizada mediante uma evolução no entendimento de institutos jurídicos já consagrados em uma releitura pautada na colaboração pro-cessual. A percepção do processo carece de uma mudança comporta-mental e de vertentes em relação à forma de se portar no processo.
13 Nesse sentido, Beraldo (2011 p. 458) elucida: “Não se quer, com isso, supor ou pressupor que a cooperação processual tenha qualquer influência negativa no direito material de cada parte: trata-se de exigir cooperação no respeito às regras e desenvolvimento processual que se estende tanto às partes, em seu relacionamento entre si, quanto ao juiz, em seu relacionamento com as partes. São vias de mão dupla pelas quais a cooperação transita de e para cada um dos vértices do trium personarum”.14 É o que assevera Didier Junior (2011, p. 77): “Os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, juntos, servem de base para o surgimento de outro princípio do processo: o princípio da cooperação”.
240
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Essa mudança de mentalidade primordial para a instauração da cooperação processual implica na identificação de deveres direcionados aos atores processuais que devem ser respeitados de forma impositiva.
2.1. Deveres da cooperação
Na sistemática cooperativa, o diálogo entre as partes e destas com o juiz é enaltecido, o que garante ao contraditório uma posição de destaque com campo de incidência mais amplo. Para a construção desse cenário, deve-se exigir do autor e do réu a obediência a deveres específicos, dos quais se destacam os deveres de boa-fé, de proteção, de esclarecimento e de disponibilidade.
O dever de boa-fé traz às partes a necessidade de uma atuação pautada na honestidade, com um tratamento leal com a parte adversa. O dever de proteção completa o postulado da boa-fé, exaltando a defesa dos direitos das partes, com a proibição de atos que importem em danos à parte contrária.
Esse deveres são, sem dúvida, os de mais difícil implementação, pois as partes agem de forma parcial, intencionadas a resguardar seus interesses. Porém, o processo visa a resguardar o direito incidente ao caso, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, e não o interesse de um dos polos da ação. Assim, cabe ao legislador prever ferramentas legais de punição dos atos de má-fé e aos magistrados a aplicação destas sanções processuais.
O dever de esclarecimento, ao seu turno, impõe que as partes prestem informações completas e compreensíveis para a parte adversa, garantindo que o contraditório se realize de forma integral. Igualmente deve esclarecer ao juiz os fatos, argumentos, teses e provas, proporcio-nando assim uma melhor assimilação da lide que lhe é apresentada, o que possibilitará ao juiz ter mais firmeza quando da tomada de toda e qualquer decisão.
O dever de disponibilidade sujeita as partes a ficar à disposição do órgão jurisdicional sempre que este necessite, requisitando o com-parecimento para o esclarecimento de dúvidas ou tudo aquilo que for requerido pelo juiz.
O modelo cooperativo traz deveres ao magistrado, considerando sua inclusão no desenvolvimento do contraditório, sendo ele que so-
241
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
fre as mais incisivas alterações de posicionamento para adequação do sistema atual ao princípio do contraditório. Podem-se elencar como principais deveres inerentes à atuação do juiz os seguintes: dever de es-clarecimento, dever de prevenção, dever de auxílio e dever de consulta.15
O dever de esclarecimento do magistrado para com as partes fará com o que o juiz, sempre que as partes necessitem, esclareça com mais propriedade uma decisão tomada, ou seja, caso as partes não tenham entendido com propriedade o que foi determinado ou decidido pelo magistrado, este esclarecerá sua decisão, a fim de proporcionar às partes uma melhor compreensão daquilo que foi disposto.
O dever de prevenção exercido pelo magistrado faz com que este esteja sempre presente para alertá-las de possíveis situações causadoras de indevido deslinde processual.16 Incumbe também ao magistrado o dever de auxílio, pelo qual deverá realizar uma maior interação com as partes no sentido de auxiliá-las, reduzindo preciosismos processuais e proporcionando às partes uma tutela jurisdicional mais efetiva.17
Já o dever de consulta, que também é inerente à atuação do juiz no modelo cooperativo, implica viabilizar a manifestação das partes so-bre temas fáticos ou jurídicos que serão utilizados na fundamentação de suas decisões.18
Da análise de tais institutos, percebe-se a importância de tais de-veres para a construção de um modelo cooperativo, que será instrumen-to capaz de proporcionar às partes uma efetiva e satisfatória prestação
15 Este poder-dever de cooperação ou colaboração recíproca entre as partes e o magistrado, consoante a doutrina, é desdobrado em quatro elementos essenciais: dever de esclarecimento, dever de prevenção, dever de auxiliar as partes e dever de consultar as partes. (VEGAS JUNIOR, 2007, p. 5).16 Sobre tais deveres, Vegas Junior (2007, p. 5) pondera: “Os dois primeiros elementos do princípio da cooperação (esclarecimento e prevenção) consistem, em síntese, na necessidade de o magistrado esclarecer-se perante os litigantes quanto às possíveis dúvidas que ele possua a respeito das alegações e/ou dos pedidos formulados, bem como, sobre o segundo aspecto, na necessidade de o magistrado alertar as partes sobre as situações em que o êxito da ação a favor de qualquer das partes possa ser frustrado pelo uso inadequado do processo”.17 É o que aponta Vegas Junior (2007, p. 5): “Já o dever de auxiliar as partes, como uma das decorrências do princípio da cooperação, consiste na ideia de que cabe ao magistrado, sempre que possível, reduzir os obstáculos existentes para a obtenção da tutela jurisdicional efetiva”.18 Nesse sentido, Vegas Junior (2007, p. 6): “Por fim, e dentro do objetivo central do presente estudo, está o dever de consultar as partes, o qual consiste na impossibilidade do magistrado fundamentar a sua decisão sobre quaisquer questões de fato ou de direito, ainda que possa ser conhecida ex officio, sem antes permitir que as partes sobre ela se manifestem”.
242
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
jurisdicional. Tais deveres condicionam tanto o magistrado quanto às partes à atuação pautada na boa-fé e objetivam uma construção proces-sual justa e eficiente para todos os envolvidos.
2.2. O exemplo português
Uma forma de se atestar a viabilidade de um modelo processual cooperativo é analisar sua adoção em outros ordenamentos jurídicos. É o caso de Portugal, que prevê expressamente o princípio da cooperação em seu Código de Processo Civil nos arts. 266 e 519. Transcrevem-se as normas para uma melhor compreensão:
ARTIGO 266.Princípio da cooperação1 - Na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio.2 - O juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, seus representantes ou mandatários judiciais, convidando-os a fornecer os esclarecimentos sobre a matéria de facto ou de direito que se afigurem pertinentes e dando-se conhecimento à outra parte dos resultados da diligência.3 - As pessoas referidas no número anterior são obrigadas a comparecer sempre que para isso forem notificadas e a prestar os esclarecimentos que lhes forem pedidos, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 519.º4 - Sempre que alguma das partes alegue justificadamente dificuldade séria em obterdocumento ou informação que condicione o eficaz exercício de faculdade ou o cumprimento de ónus ou dever processuais, deve o juiz, sempre que possível, providenciar pela remoção do obstáculo.
ARTIGO 519.Dever de cooperação para a descoberta da verdade1 - Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspeções necessárias, facultando o que for requisitado e praticando os atos que forem determinados.
243
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
2 - Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, sem prejuízo dos meios coercitivos que forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa para efeitos probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova decorrente do preceituado no n.º 2 do artigo 344.º do Código Civil.3 - A recusa é, porém, legítima se a obediência importar:a) Violação da integridade física ou moral das pessoas;b) Intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações;c) Violação do sigilo profissional ou de funcionários públicos, ou do segredo de Estado, sem prejuízo do disposto no n.º 4.4 - Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do número anterior, é aplicável, com as adaptações impostas pela natureza dos interesses em causa, o disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado.
Notória, pois, a explicitação de referido princípio no ordenamen-to jurídico português, inclusive possuindo abrangência significativa no sentido de incluir as partes e o juiz no rol daqueles que devem atuar de maneira cooperativa e definindo a maneira como referida cooperação deverá ocorrer.
O destaque oferecido ao princípio da cooperação nos moldes apresentados pelo Código de Processo Civil português corresponde à introdução de uma cultura judiciária, que é capaz de potencializar o diálogo franco entre os atores processuais com vistas a alcançar uma solução mais ajustada aos casos postos à análise do Poder Judiciário (SOUZA, 2013).
O Ministério da Justiça Português pôde perceber com exatidão que a aplicação do princípio cooperativo pode apresentar dificuldades aos envolvidos no deslinde processual, já que o exercício do princípio cooperativo carece de uma mudança cultural acentuada e que pode ser vista como obstáculo na sua repercussão.19 Nesse sentido, é preciso ob-
19 Nesse sentido, Beraldo (2011, p. 460-461) apresenta: “Curiosamente, em relatório elaborado pelo Ministério da Justiça Português quando da verificação da repercussão prática de regime processual experimental específico implementado em 2006, constatou-se grande dificuldade cultural dos advogados portugueses na preensão do real alcance da cooperação. A propósito, restou assentado no relatório que os objetivos de colaboração entre as partes têm sido de difícil implementação, e ‘os principais motivos apontados são os quadros mentais actuais, difíceis de alterar, o desconhecimento destes mecanismos e a falta de compreensão do que eles significam. A que apenas precisam de chegar a acordo quanto à matéria controvertida, sem necessidade de
244
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
servar que a razão por esta dificuldade na aplicação do princípio da coo-peração em Portugal é proveniente de uma questão de ordem cultural, considerando que os indivíduos que exercem funções relacionadas ao processo no país luso ainda não estão adaptados a esse modelo proces-sual, não se dando conta de que a cooperação refere-se eminentemente às questões processuais que não implicam a imposição de cedências em relação às matérias controvertidas por parte dos litigantes (BERALDO, 2011)
3. A COOPERAÇÃO E SUA ATUAL POSIÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO
A atual situação da legislação processual civil e a postura do Po-der Judiciário pátrio seguramente não refletem os ideais do princípio da cooperação. O isolamento existente entre o julgador e as partes cria bloqueios ao debate, desconectando as conclusões de uns e outros sobre o mesmo ato processual, o que justifica muitos casos de não aceitação das decisões pelas partes vencidas.
Essa fragilidade se demonstra por diversos fatores que são de no-tória percepção, seja por indivíduos que exerçam funções que tenham relação com o sistema processual brasileiro, tais como partes, advoga-dos, serventuários, membros do Ministério Público, magistrados, seja por indivíduos que não demonstrem relação primária com o Poder Ju-diciário, mas conhecem a atual situação deste.
Neste tópico será abordada a forma pela qual o princípio da coo-peração pode se apresentar na atual sistematização da legislação pro-cessual civil e sua importância para uma prestação jurisdicional efetiva.
3.1. A importância do princípio da cooperação no Poder Judiciário brasileiro
Em decorrência das fragilidades apontadas acima, abre-se espaço para a evolução do modelo cooperativo no intuito de proporcionar me-canismos viáveis e que podem ser satisfatórios a uma prestação jurisdi-
cedências’.Com efeito, em questionário especialmente aplicado a advogados, a equipe de monitoração portuguesa conclui que a impressão geral dos patronos com relação aos mecanismos de cooperação é que são inúteis”.
245
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
cional efetiva para as partes, bem como para o próprio Poder Judiciário, que também sofre impacto quando de uma prestação jurisdicional mais direta e objetiva.
O modelo atual já não se sustenta. A inadequação de um sistema pensado para outra época, na qual vigorava a centralização do poder própria das ditaduras, não se coaduna com a atual realidade democrá-tica, muito mais dialogada e sem uma ideia de submissão do particular ao Estado.
É notória a percepção da efetividade proporcionada pelo modelo cooperativo quando se passa a pensar o processo em uma interação sig-nificativa de seus agentes, no qual assumem uma posição de igualdade.
As partes têm que sentir o poder efetivo de influenciar as decisões do magistrado e perceber que sua participação no processo recebida pelo órgão julgador é capaz de proporcionar um sentimento de satisfa-ção em relação ao deslinde processual.
O juiz tem que ser desencastelado, tem que compreender que sua função é ativa durante todo o processo em comunicação permanente com as partes. Ao se conceber a sentença não apenas como “ato impe-rativo emanado do poder estatal”, mas como resultado de uma coopera-ção, observam-se benefícios de ordem prática para o processo, conside-rando que a maior satisfação das partes com a sua devida participação no decurso processual poderá acarretar uma redução na interposição de recursos e na necessidade de execuções forçadas.
Contudo, o princípio da cooperação vai além do oferecimento de uma maior satisfação às partes; este princípio é também instrumento voltado para a busca da pacificação pela justiça.20
Valoriza-se a atuação em conjunto das partes e do órgão julgador pela busca da verdade, sem a atenção primordial ao ganho da causa, que fica em segundo plano. A busca, por esse princípio, se dá no auxílio de
20 No mesmo sentido Grinover (2008, p. 211): “Mais do que nunca, o processo deve ser informado por princípios éticos. A relação jurídica processual, estabelecida entre as partes e o juiz, rege-se por normas jurídicas e por normas de conduta. De há muito, o processo deixou de ser visto como instrumento meramente técnico, para assumir a dimensão de instrumento ético voltado a pacificar com justiça. Nessa ótica, a atividade das partes, embora empenhadas em obter a vitória, convencendo o juiz de suas razões, assume uma dimensão de cooperação com o órgão judiciário, de modo que sua posição dialética no processo possa emanar um provimento jurisdicional o mais aderente possível à verdade, sempre entendida como verdade processual e não ontológica, ou seja, como algo que se aproxime ao máximo da certeza, adquirindo um alto grau de probabilidade.”
246
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
todos os envolvidos a um objetivo determinado, que é a verdade, o que possibilitará ao juiz uma sentença justa e pautada sobre os temas efeti-vamente debatidos no processo.
3.2. Reflexos do princípio da cooperação no Código de Processo Civil de 1973
Apesar de o princípio da cooperação não ser instituto atualmente previsto expressamente pelo Código de Processo Civil Brasileiro, é pos-sível, realizando uma análise sistemática de institutos já consagrados, perceber a sua influência no Código vigente. Da teoria geral do direito e da hermenêutica jurídica se extrai a diferenciação entre texto norma-tivo e norma. O entendimento de que a inexistência de texto prevendo expressamente a existência de determinado instituto, no caso o princí-pio da cooperação, não interfere na sua manifestação no ordenamento jurídico.
Isso explica como hoje já se constatam medidas judiciais pauta-das na cooperação, mesmo sem previsão legal expressa. Em verdade, alguns institutos consagrados pelo Código de Processo Civil vigente já exprimem a ideia de cooperação, como é o caso do interrogatório, pelo qual o juiz pode inquirir as partes sobre os fatos da causa em qualquer estado do processo (art. 362), a possibilidade de réplica (art. 326), na emenda à inicial, como especificação dos defeitos constantes da inicial (arts. 284 e 616), na indicação do valor que se entende correto ao se ale-gar excesso de execução (art. 475-L, § 2º), entre tantos outros.21
21 No mesmo sentido Peixoto (2012, p. 104) realiza ponderações pertinentes: “É possível retirar, do atual Código de Processo Civil, manifestações expressas de efetivação do princípio da cooperação, como o art. 342, que permite ao magistrado a determinação do comparecimento de qualquer das partes para o esclarecimento sobre fatos da causa. Em um país onde as partes não podem ser admitidas como testemunhas, é perceptível que a realização de depoimento informal visa à valorização de construção de uma verdadeira comunidade de trabalho.Outro exemplo é o art. 326 do CPC, o qual dispõe que, sendo a defesa indireta, deverá o magistrado intimar o autor para se manifestar sobre a contestação em 10 dias, podendo ela ser processual ou de mérito.Especificamente sobre o dever de prevenção, os arts. 284 e 616, ambos do CPC, impõem ao magistrado que ele possibilite ao demandante a emenda da inicial que lhe falte algum requisito, seja no processo de conhecimento, seja no de execução. Inclusive o STJ reconhece que esse é um verdadeiro direito subjetivo do demandante, devendo ser permitida a emenda da inicial, sob pena de nulidade da decisão que indeferi-la.No cumprimento da sentença também há manifestações do princípio, como é exemplo a necessidade de, no caso de impugnação ao cumprimento de sentença cuja alegação seja o excesso
247
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
Além de manifestações esporádicas e frutos de uma análise siste-mática de dispositivos processuais na busca pela percepção da coopera-ção no ordenamento jurídico, tem-se ainda como fonte de percepções dessas manifestações a jurisprudência que, por exemplo, possibilita o exercício do contraditório nos embargos de declaração, que tradicio-nalmente era um recurso que não abria espaço para a manifestação da parte contrária por se entender visar somente à integração do julgado, não importando em mudanças na decisão. Contudo, atualmente se per-cebe a existência de embargos de declaração modificativos, consideran-do que ao ser suprimida uma omissão, consequentemente modifica-se o dispositivo da decisão. Desse modo, percebendo-se o referido efeito modificativo, abriu-se margem para a manifestação da parte contrária acerca dos embargos declaratórios apresentados.
Como se percebe, a partir da análise da assertiva do autor, diver-sas são as manifestações do princípio cooperativo. Assim, apesar do fato de não haver previsão expressa do princípio cooperativo na atual esque-matização do Código Processual brasileiro, não se exige uma análise mais complexa acerca da sua admissão a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, já que é possível encontrar dispo-sições no próprio texto normativo que coadunam com o defendido pelo princípio da cooperação.
Além disto, o princípio da cooperação também já foi objeto de deliberação nos tribunais superiores comprovando que sua existên-cia é ponderada no ordenamento jurídico, senão vejamos essa emen-ta do REsp. 1119361/RS, julgada em 06/05/14 e publicada no DJe em 19/05/14, que teve como relatora a Ministra Nancy Andrighi, do Supe-rior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
de execução, seja necessário ao executado a indicação do valor que entenda correto, sob pena de indeferimento liminar, conforme os ditames do art. 475-L, § 2º, do CPC.É também extremamente importante a introdução da figura do amicus curiae tanto no âmbito do controle difuso de constitucionalidade (art. 481, § 3º, do CPC), como no incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 543-C, § 4º, do CPC), uma vez que essa figura permite a participação de terceiros não interessados com o objetivo de ampliar o diálogo na construção das decisões. É um instrumento que atua exatamente na legitimação democrática das decisões, pois permite a participação de entes que não possuem nenhum tipo de interesse jurídico direto na demanda, mas que possam trazer novos elementos ao conhecimento da corte”.
248
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. PREMISSA FÁTICA DA SENTENÇA MODIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. FIM DA CONCORDATA. FATO EXTINTIVO SUPERVENIENTE.1- Ação ajuizada em 27.9.1993. Execução iniciada em 18.10.2000. Recurso especial concluso ao Gabinete em 21.9.2009.2- Controvérsia que se cinge a determinar se o requerimento de extinção do processo em virtude da perda superveniente de seu objeto é questão sobre a qual se operou a preclusão e se o entendimento adotado pelo acórdão recorrido viola a coisa julgada.3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.4- Os princípios da boa-fé e da cooperação exigem que a atuação das partes integrantes da relação processual sejam balizadas pela ética e pela lealdade. O formalismo, nesse contexto, deve ceder diante de prática de condutas maliciosas ou ímprobas.5- A superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito de uma das partes - como o é, no particular, a questão relativa ao encerramento da concordata - impõe ao julgador o dever de tomá-lo em consideração, até mesmo de ofício (art. 462 do CPC).6- Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que “é de elementar inferência a distinção entre alteração da causa petendi, vedada no direito pátrio após a citação, com o instituto do direito superveniente, consagrado no art. 462 do CPC, que deve ser prestigiado no momento da decisão” (REsp 710.081/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 27/03/2006).7- Inexistência de violação à coisa julgada, pois a sentença tão somente proibiu que a instituição bancária efetuasse lançamentos de débito em conta corrente depois de deferido o processamento da concordata, não havendo disposição acerca de eventual e futura compensação.8- Adimplidos os créditos relacionados na concordata e encerrado o processo, razão não há para a restituição de valores à recorrente pelo banco, verdadeiro credor da importância reclamada. Conclusão diversa importaria em inelutável enriquecimento ilícito, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.9- Negado provimento ao recurso especial.
Como se percebe da análise do julgado, a jurisprudência reco-nhece a cooperação como princípio que exige dos participantes da re-
249
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
lação processual uma atuação pautada pela ética e pela lealdade, reflexo de um modelo processual cooperativo. Percebe-se assim que o princípio da cooperação tem a sua importância no ordenamento jurídico, inde-pendentemente de previsão expressa.
4. O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E O PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PLC 8.046/2010
O projeto do novo Código de Processo Civil, que está em deba-te no Congresso Nacional, pretende inovar com a regulamentação do princípio da cooperação.22 Trata-se de uma nítida evolução em relação ao vigente Código Processual, que não prevê expressamente qualquer norma diretamente relacionada à matéria.
É crucial que se observe que a inclusão explícita deste princípio vai muito além dos novos artigos propostos, uma vez que expressa a adoção formal desse modelo processual, implicando em uma releitura de todos os dispositivos direta ou indiretamente legados a ele. Essa in-tenção é muito clara quando se atenta para a localização geográfica das normas reguladoras desse instituto, tendo sido colocada no Capítulo I da Parte Geral destinada às “normas fundamentais do processo civil”.
Dentro dessa lógica, mesmo as normas que estão sendo mera-mente reproduzidas na proposta do Novo Código também sofrerão mo-dificações interpretativas, de modo que o processo civil entendido em sua inteireza será modificado.
Abstraindo o contexto geral de evolução, é possível destacar três dispositivos que tratam especificamente do princípio da cooperação. O primeiro deles é o art. 5º., dispositivo que foi apresentado pela Comis-são para elaborar o Anteprojeto do Novo CPC com a seguinte redação:
Art. 5º. As partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando entre si e com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para
22 Nesse sentido Souza (2013, p. 69) elucida acerca desta evolução: “O Projeto do novo CPC brasileiro, ao instituir o princípio da cooperação, demonstra uma clara evolução relativamente ao CPC de 1973, tendo em vista que somente as normas gerais referentes ao princípio dispositivo, de apuração da prova pela parte e da refutação à litigância de má-fé continham um afloramento do princípio da cooperação. Sem dúvida o novo CPC manteve essas formas de contribuição da parte para o desenvolvimento do processo, mas dando um mais conteúdo ao princípio da cooperação ao destaca-lo no art. 5º, dentre os princípios gerais do processo”.
250
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência.
Esse texto originário claramente previa a estipulação do princípio da cooperação de forma ampla, estabelecendo o dever-poder de coo-peração entre as partes e entre estas e o juiz. Tal previsão matinha uma boa coerência com a teoria que se desenvolve sobre o modelo coopera-tivo, medida importante no fortalecimento do princípio da cooperação como elemento axiológico fundamental do sistema. Contudo, o texto base deste artigo foi alterado quando da discussão do tema no Senado Federal e chegou à Câmara dos Deputados com a seguinte redação:
Art. 5º As partes têm o direito de participar ativamente do processo, cooperando com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência.
Como se observa da comparação entre as duas redações, foi su-primida a expressão “entre si”, dando a ideia de que o artigo excluiu os deveres de cooperação entre as partes, atribuindo-os apenas a estas em relação ao juiz. Com isso, o legislador deu a entender ser prejudicial ou inviável a cooperação entre as partes. Tal visão, no entanto, é equi-vocada, pois se trata de um instrumento que possibilitaria a ambos os litigantes uma prestação jurisdicional pautada na boa-fé processual e sa-tisfatória a estes. Seria um elemento de fortalecimento do contraditório, pois permitiria compreendê-lo como uma relação pacífica e não como uma “batalha processual”.23
23 Sobre o tema, Beraldo (2011, p. 459) assevera: “Como se verifica, a cooperação das partes foi suprimida, como se não fosse ética e moralmente exigível a partir dos escopos processuais e da exigência explícita da lealdade e boa-fé processual. Ou, pior, como se cooperar para o bom desenvolvimento do processo pudesse ser fonte de qualquer prejuízo às partes.Não há, e nem pode haver qualquer dúvida com relação à extensão do dever de cooperação: as partes têm, sim, o dever de cooperar entre si. Qualquer interpretação em contrário representa manifesto retrocesso na compreensão do significado da probidade processual que deve permear a prática de todos os atos no processo. A supressão da referência quanto à cooperação recíproca fecha as portas processuais para o compromisso, ética e moralidade.A concepção privatística do processo foi há muito superada mas, ao que parece, deixou sementes daninhas que ainda dão frutos e têm de ser lenta e pacientemente ceifadas: sob o atual enfoque publiscístico do processo, não se pode ignorar que as partes não atuam apenas para garantir seus próprios interesses, mas também a efetiva atuação da vontade da lei.”
251
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
Por esta razão, a omissão sobre o dever de cooperação entre as partes pode ser compreendida como um retrocesso por parte do legis-lador. Tal previsão não causaria nenhum prejuízo às partes ou ao pro-cesso, haja vista que sua previsão teria somente reflexos positivos. A es-perança que se tem é a de que a supressão da cooperação recíproca não inviabilizará que ela se manifeste e que seja exigida na prática, como reflexo da adoção do modelo cooperativo. Outro dispositivo que trata do princípio da Cooperação é o Art. 8º, que possui a seguinte redação:
Art. 8º As partes e seus procuradores têm o dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz para a identificação das questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios.
Essa norma estabelece os deveres de cooperação incumbidos às partes de maneira mais direta, embora ainda mantenha o foco na ativi-dade de magistrado. Ao estipular que as partes e seus procuradores de-vem contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios, pode-se enxergar os deveres de boa-fé processual, de esclarecimento e de disponibilidade, que são deveres provenientes de uma atividade pro-cessual pautada na cooperação.
Por fim, o art. 10 do projeto de lei ora em análise expressa o dever de consulta inerente ao juiz, que é também instituto preconizado pelo princípio da cooperação e aliado importante na busca por uma pres-tação jurisdicional satisfatória e efetiva às partes. Confira-se o teor da norma:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício.
Essa exigência pode ampliar um pouco o trâmite processual, pois questões que poderiam ser conhecidas e julgadas de ofício pelo juiz de-verão agora ser previamente colocadas em debate com as partes. O pro-cesso perde um pouco no quesito tempo para ganhar robustez material no contraditório. Não há violação ao princípio da razoável duração do processo, pois a prorrogação do trâmite é devida e razoável.
252
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A análise dos institutos acima permite perceber os reflexos de um modelo cooperativo em contexto mais amplo, embora ainda tenham di-versos desdobramentos práticos que ficaram sem a devida referência. Assim, é louvável a proposta de alteração, mas, do ponto de vista legis-lativo, pode-se considerá-la um pouco tímida, restando ao Judiciário o trabalho de implementar tal instituto na prática, regulando, caso a caso, os desdobramentos específicos deste princípio. A proposta de alteração legislativa também impõe às partes a confiança na sua capacidade de contribuição para a resolução célere, eficiente e pautada na probidade.
É importante que se percebam tais reflexos, considerando que um dos objetivos do novo Código em debate é justamente proporcionar satisfação às partes quando da prestação jurisdicional, e o princípio da cooperação é peça importante na busca deste objetivo.
É notória a importância do princípio cooperativo na construção de uma prestação jurisdicional realmente eficaz e satisfatória para aque-les que buscam a tutela mais coerente com seus anseios e mais adequada à realidade do caso concreto. Porém, tal estudo implica uma reflexão acerca da viabilidade deste modelo de processo no atual sistema proces-sualista brasileiro.
Essa análise se mostra necessária, pois não se pode acreditar que a efetiva aplicação do princípio da cooperação se concretizará de uma maneira imediata e acrítica no ordenamento jurídico. É preciso analisar se os atores processuais, e não somente estes, mas todos aqueles indiví-duos que atuarão em torno do sistema processual, estarão preparados para seguir as diretrizes apontadas pelo cooperativismo processual. Não adianta apenas a previsão legal ou a tentativa de aplicação por parte do Poder Judiciário; necessita-se também do engajamento, principalmente dos advogados, considerando que estes representarão seus clientes em juízo e detêm uma parcela de responsabilidade significativa nos cami-nhos a serem seguidos quando da busca pela defesa dos interesses dos seus clientes.
Os magistrados também precisam incorporar esse sentimento cooperativista ao seu modo de prestar a tutela jurisdicional. Além des-tes, os serventuários também necessitam acompanhar tais mudanças no exercício diário de suas funções, e isso, como mencionado, têm que se aplicar a todos os envolvidos no sistema processual pátrio.
253
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
Na aplicação do princípio da cooperação, a organização do pro-cesso será, mais do que nunca, um organismo vivo, onde todas as suas células terão que trabalhar em conjunto e em harmonia na busca de uma prestação jurisdicional satisfatória e vantajosa a todas as pessoas envolvidas.
Se não houver mudança na forma de pensar o processo, se os valores que compõem o núcleo essencial do princípio da cooperação não forem assimilados por aqueles que atuam no processo, as norma que foram apresentadas serão letra morta e a realidade processual per-manecerá a mesma.
As dificuldades de absorção do sistema são normais a uma alte-ração estrutural tão basilar como essa, sendo necessário o tempo para a sua correta internalização. Porém, não se pode fraquejar, permitindo que a resistência inicial vença o ímpeto evolutivo, evitando a instauração do pretendido avanço transformador que tanto se carece e se reivindica.
Em uma previsão otimista plenamente viável, acredita-se que, após um período inicial um pouco turbulento e cheio de dúvidas, será construída uma identidade própria do princípio da cooperação adequa-da à realidade brasileira.
CONCLUSÃO
Ao concluir o estudo do princípio da cooperação, percebe-se que a sua evolução é importante para proporcionar ao Poder Judiciário sub-sídios na prestação jurisdicional à sociedade brasileira. O conceito de um dinamismo como o proposto pelo princípio da cooperação é capaz de refletir em benefícios importantes para uma construção processual que seja capaz de proporcionar aos litigantes e ao próprio Poder Judiciá-rio condições vantajosas na busca pela justiça.
Ao Poder Judiciário, a aplicação do princípio da cooperação se mostra importante quanto da sua aplicação, pois é meio viabilizador de uma prestação jurisdicional capaz de possibilitar condições satisfa-tórias aos que buscam a defesa de seus interesses na seara processual. Proporcionar à sociedade uma prestação jurisdicional verdadeiramente efetiva e satisfatória é dever do Poder Judiciário e pode ser alcançada considerando os fundamentos propostos pelo princípio da cooperação,
254
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
pois, como se viu, ele é instrumento capaz de proporcionar às partes um sentimento de efetivo poder de influência na decisão proferida pelo juiz.
Já em relação às partes, o princípio da cooperação é importante, considerando que tal instituto lhes proporciona condições favoráveis para influenciar com maior intensidade na decisão do magistrado. Re-ferido poder de influenciar as decisões é importante, pois possibilita às partes um sentimento de efetiva participação processual.
Com o fim do presente estudo, percebe-se que embora as vanta-gens auferidas com o fortalecimento do princípio da cooperação pos-sam ser percebidas claramente da sua análise, não é possível deixar de se chegar à conclusão de que, para a sua efetiva viabilização no Poder Judiciário brasileiro, é preciso uma reformulação na maneira de se pen-sar o processo, principalmente para os que trabalham em função desta.
Tal reformulação pode ser vista, por exemplo, como não tratar o processo como uma batalha judicial, cujo único objetivo é a vitória. O processo deve ser visto como um meio adequado e necessário para a busca da paz social, com o reconhecimento do direito material efetiva-mente aplicável ao caso concreto.
É preciso considerar também que o modelo cooperativo é inova-dor, o que significa dizer que pode trazer mudanças consideráveis em um sistema processual já consolidado e que é envolto por pessoas acos-tumadas com a posição atual deste. Por isso, percebe-se que a inserção do princípio da cooperação seria mais bem aceita se fosse realizada de uma maneira gradativa, com a adesão aos poucos das pessoas que tra-balham a justiça no país.
Por fim, conclui-se que o princípio da cooperação é instituto que merece o seu destaque no ordenamento jurídico pátrio, pois é capaz de proporcionar, sim, uma efetiva e satisfatória prestação jurisdicional à sociedade brasileira, que é carente em relação à luta de seus direitos por conta de um burocratismo e um congestionamento processual apresen-tado pelo Poder Judiciário. A construção processual que proporcione às partes um efetivo poder de influência em relação ao magistrado é algo que importa sobremaneira na busca por uma prestação jurisdicional justa e que seja pautada nos institutos constitucionalmente previstos.
255
11 • O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL BRASILEIRO
REFERÊNCIAS
BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Fundamentos Constitucionais do Modelo Cooperativo no Direito Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.
BERALDO, Maria Carolina Silveira. O dever de cooperação no processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 198, p. 455-461, ago. 2011.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988.
______. Senado Federal. Projeto de Lei nº 8.046/2010 que altera a Lei 5.869/73 e dispõe sobre o Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831805&filename=PL+8046/2010>. Acesso em: 20 abr. 2014. (Texto Original).
______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1119361/RS. Brasília, DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento: 06/05/14. Publicação no DJe em 19 maio 2014.
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO; Cândido
Rangel. Teoria Geral do Processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13. ed. Salvador: JusPODIVM, 2011. v. l.
GRINOVER, Ada Pellegrini. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o contempt of court. RePro102/219, e Paixão e morte do contempt of court brasileiro. O processo – Estudos e pareceres. 2. ed. São Paulo: DPJ, 2008.
PARCHEN, Laura Fernandes. Impacto do Princípio da Cooperação no Juiz. Associação Brasileira de Direito Processual Civil, 2009. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/LAURA%20
256
DIREITO E PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
PARCHEM%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL.pdf>. Acesso em: 14 maio 2014.
PEIXOTO, Ravi. Rumo à construção de um processo cooperativo. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 219, p. 86-115, maio 2013.
SOUZA, Artur César de. O Princípio da cooperação no projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 225, p. 65-81, nov. 2013.
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
VEGAS JUNIOR, Walter Rosati. O princípio da cooperação e as questões de ordem pública. Uma visão da garantia do contraditório. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1499, ago. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/10261>. Acesso em: 13 fev. 2014.