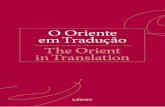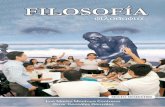O português no Oriente e o Oriente no português
Transcript of O português no Oriente e o Oriente no português
1
In: VV.AA. (ed. Valeria Tocco), 2010, L’Oriente nella Lingua e nella Letteratura
Portoghese. Pisa: Edizioni ETS, 81-93.
O Português no Oriente e o Oriente no Português
Esperança Cardeira
Universidade de Lisboa
Um marco importante na história da expansão portuguesa no Oriente é o ano de
1498, quando Vasco da Gama atinge a Índia. Abriram-se então as portas para a expansão
portuguesa no Oriente e para uma crescente actividade comercial. Já desde o princípio do
século xv os portugueses, na sequência da crise dinástica que colocara no trono a dinastia
de Avis e fortalecera a afirmação de um reino alicerçado na burguesia, se tinham virado
para fora de Portugal, nomeadamente para a costa africana. O lucro do comércio africano,
centrado no ouro, no marfim e na malagueta - e, claro, nos escravos -, já foi calculado em
cerca de 400%. O sucesso deste empreendimento e a experiência marítima levaram ao
aperfeiçoamento da construção naval, que permitiu alargar os horizontes a novas
aspirações. O ‘plano das Índias’ constituiu-se, assim, como uma empresa de expansionismo
comercial mas também guerreiro e religioso.
No início do século XVI Portugal conquista Goa e Malaca e, pelos finais do século,
as caravelas e naus portuguesas dominam os mares e detêm o monopólio da ‘carreira da
Índia’. Na primeira metade do século XVII, os portugueses tinham, a julgar pelas descrições
de escritores da época, como António Bocarro (que escreve o Livro do Estado da Índia
Oriental, em 1635) ou Pedro Barreto de Resende (Descrições das Cidades e Fortalezas da Índia
Oriental), fortalezas na Arábia, na Pérsia, na Índia Ocidental e Oriental, em Ceilão, em
Malaca, em Samatra, nas Molucas e na China. É verdade que desde 1600 holandeses e
ingleses disputavam aos portugueses o domínio dos mares mas isso foi só após um longo
século em que os portugueses foram senhores absolutos e, ainda assim, a influência
portuguesa continuou a ser tão significativa que os próprios holandeses levavam nos seus
navios intérpretes que falassem português. Se isto era sentido como necessário era porque
durante todo o século XVI o português se tornou, nos portos onde os portugueses
2
traficavam, uma espécie de ‘língua franca’, a língua dos negócios, e assim continuou nos
séculos seguintes1.
O português era usado não somente nas cidades asiáticas conquistadas pelos
portugueses mas também por muitos governantes locais nos seus contactos com todos os
estrangeiros. Há, por exemplo, notícias de falantes de português na nobreza de Ceilão e em
Batávia (Jacarta), sede da Companhia holandesa das Índias Orientais, falava-se português.
Ao longo dos séculos XVII e XVIII o governo holandês de Batávia tentou, por várias vezes,
implementar medidas para promover o holandês e reprimir o português. Em vão: os
próprios holandeses precisavam de falar português se quisessem ser entendidos pelas suas
famílias ‘mestiças’ e pelos seus escravos. Aliás, ainda hoje, em sundanês, língua falada na
parte ocidental de Java, a designação para ‘língua holandesa’ é, curiosa e significativamente,
bahasa perteges, o que mostra claramente que durante séculos ‘português’ era a designação
genérica para ‘estrangeiro’.
Pode dizer-se que o século XVI no Oriente foi só português, que o XVII foi também
holandês, inglês, dinamarquês, francês e espanhol e que no XVIII a presença portuguesa
entrou em franca decadência. Todavia, até ao século XIX, a comunicação entre o Extremo
Oriente e o resto do mundo efectuou-se principalmente em português. É revelador que um
tratado de 1833 entre o Sião (Tailândia) e os Estados Unidos tenha sido negociado em
português. Até à data da fundação da colónia britânica de Hong-Kong, era Macau o lugar
das trocas com a China (lembremo-nos que Macau foi, até 1830, a sede da Companhia
inglesa das Índias Orientais) e no ‘Império do Meio’ Portugal era visto como o grande país
do mar ocidental.
O motor da expansão portuguesa era de natureza não apenas económica mas
também religiosa. O primeiro programa de evangelização para o Oriente destinava-se a
Malaca e foi elaborado por um italiano, Frei Paolo Giustiniani, logo em 1536 (ALVES 1997:
p.10). Nele se pedia que o rei de Portugal enviasse pregadores para a conversão de Malaca e
que os monges se dedicassem quer à aprendizagem das línguas locais quer ao ensino do
português. A vertente linguística da evangelização é, portanto, uma preocupação desde os
primeiros tempos da expansão portuguesa. Para difundir a fé era preciso comunicar e para
comunicar os pregadores precisavam não só de aprender as novas e exóticas línguas mas
também de ensinar o português.
1 Uma língua franca é uma língua de recurso extremamente simplificada que, não sendo língua materna de
ninguém, permite um mínimo de comunicação, a comunicação suficiente para os tratos comerciais, e supre,
assim, a necessidade de conhecer muitas línguas
3
Estas preocupações linguísticas encontram as suas raízes em tempos mais antigos,
eventualmente na antiga língua franca mediterrânica ou no exemplo do Império Romano.
Desde o princípio do século XV, à medida que iam descendo a costa de África e
encontrando povos e línguas diversas, os navegantes defrontavam-se com os obstáculos
que o desconhecimento dessas línguas lhes colocava. Criaram, assim, o hábito de capturar
indígenas que funcionariam como intérpretes (os chamados ‘línguas’) em viagens
posteriores2. Estes contactos constituem o capítulo inicial de uma história que os
portugueses irão escrever nos séculos seguintes, difundindo a língua portuguesa nas terras
recém-descobertas. O tópico da ‘língua companheira do Império’ e o empenho posto na
difusão da língua estão bem patentes nas palavras de João de Barros
“As armas e padrões portugueses, postos em África e em Ásia, e em
tantas mil ilhas fora da repartição das três partes da terra, materiais são, e
pode-as o tempo gastar, mas não gastará doutrina, costumes, linguagem,
que os Portugueses nestas terras deixarem.”3 (BARROS 1540)
e de Fernão de Oliveira
“Apuremos tanto a nossa língua com boas doutrinas, que a possamos
ensinar a muitas outras gentes e sempre seremos delas louvados e
amados.” (OLIVEIRA 1536)
ou, mais tarde, de Nunes de Lião
“Assim como os vencedores das terras e províncias lhes dão leis em que
vivam, assim lhes dão língua que falem.” (LIÃO 1576).
É nesta perspectiva, de difusão da cultura e da língua portuguesas, que podemos
entender que em 1513, quando D. Manuel envia uma embaixada ao Prestes João, nela
tenham seguido uma pequena biblioteca e uma tipografia. A difusão da fé, entregue, em
grande parte, à Companhia de Jesus, era sempre acompanhada da difusão da língua.
Criada juridicamente em 1540, a Companhia de Jesus iniciou desde logo a
cristianização no Oriente, instalando-se sucessivamente na Índia Oriental, em Ceilão, em
Malaca e no Japão. O sucesso jesuíta na evangelização passou, em grande medida pela sua
capacidade de – digamos assim - ‘acomodação’. As instruções de Francisco Xavier são
claras: os padres devem respeitar as crenças e as hierarquias religiosas asiáticas e as
2 Gomes Eanes de Zurara refere, na Crónica da Guiné, numerosos exemplos desta prática: africanos que eram
capturados e trazidos para Portugal para aprenderem a língua e servirem de intérpretes nas viagens seguintes.
3 Actualizei a grafia das citações.
4
hierarquias políticas portuguesas: “ao capitão obedecereis muito em grande maneira,
humilhando-vos muito diante dele, e por nenhuma coisa quebrareis com ele, ainda que
vejais que faz coisas mui mal feitas” (ALVES 1997: p. 33-4). Foi também Francisco Xavier
quem moldou a política linguística da Companhia no Oriente, com o objectivo explícito de
utilizar a língua como instrumento de divulgação da fé (ele próprio deu o exemplo,
aprendendo tamil, uma das cinco línguas dravídicas do sul da Índia). Com Francisco Xavier
chegaram os primeiros jesuítas a Goa em 1542, inaugurando uma nova fase de actividade
evangelizadora e linguística no Oriente, que se materializou quer na aprendizagem e
descodificação das línguas orientais quer na promoção do ensino do português. Factor de
evangelização, a língua – o ensino da nossa e a aprendizagem da língua do outro - esteve
sempre na mente dos jesuítas. Dois exemplos: em 1579 o Padre Rui Vicente escreve de
Goa para Roma que “en el aprender de las lengoas se há puesto y pone mucho cuidado en
el Malabar”; em 1549 Frei Vicente de Lagos pedia de Cranganor ao rei português “os livros
todos que forem necessários para a gramática” (LOUREIRO 1992: p. 99 e 112).
Julgo que esta preocupação com a língua poderá ser considerada a primeira política
linguística a nível mundial e dela encontramos testemunhos por todas as possessões
portuguesas onde a Companhia se fixou. Álvaro Velho elaborou, durante os meses que
permaneceu na Índia, um vocabulário malaiala-português4. Luís Fróis, um jesuíta que se
instalou no Japão, escreveu, nos finais do século XVI, além de uma História do Japão, um
Tratado em que se contem muito sucinta e abreviadamente algumas contradições e diferenças de costumes
entre a gente da Europa e esta província do Japão. Também no Japão, em 1549 foi elaborado um
catecismo em japonês e em 1603 um dicionário português-japonês. Na China, objectivo
sempre almejado, a penetração jesuítica foi mais difícil, por motivos variados (a China
dificultava a entrada de estrangeiros, ficava longe de Goa, sede do padroado, e era
demasiado grande e bem estruturada politicamente, além de ser praticamente proibido o
uso de línguas estrangeiras). Mas, sempre que o conseguiam, os jesuítas avançavam para a
China, fazendo-se acompanhar de ‘jurubaças’ (intérpretes)5. O recurso a estes intérpretes
4 É este o primeiro vocabulário português de uma língua asiática e contempla não só termos náuticos (remo,
mar, âncora…) mas também léxico básico para a comunicação quotidiana (comer, falar, não quero, vem cá…).
Figura na Relação da primeira viagem de Vasco da Gama, como apêndice. A sua autoria tem sido atribuída a Álvaro
Velho mas alguns autores consideram duvidosa essa atribuição (BUESCU 1983: p. 50).
5 O recurso a intérpretes tinha, por vezes, consequências infelizes. Por exemplo, a primeira embaixada
portuguesa à China, que chegou a Cantão em 1517, liderada por Tomé Pires, entregou as suas credenciais a
tradutores chineses. Erros de tradução resultaram na prisão dos portugueses, acusados de espionagem.
5
justificava-se pelo facto de ser a língua um dos grandes obstáculos à evangelização da
China. Diz um padre jesuíta da época que nas línguas orientais “faltam palavras que sejam
como as nossas” (ALVES 1997: p. 30). Ainda assim, logo que as autoridades chinesas
permitiram a abertura de uma missão, os jesuítas fizeram imprimir em Macau um tratado
em caracteres chineses, Verdadeira Relação de Deus, da autoria de um italiano, Michele
Ruggieri, que também trabalhou na elaboração do primeiro vocabulário português-italiano-
chinês, nos finais do século XVI.
De tal modo o português se tornou o símbolo da cultura cristã que a evangelização
holandesa e inglesa na Índia se efectuou nesta língua. Holandeses, dinamarqueses e ingleses
publicaram livros em português. Por exemplo, em Inglaterra, no princípio do século XVIII,
uma ‘Sociedade promotora da religião cristã’ fez imprimir o Novo Testamento e uma Cartilha
em português para enviar para as feitorias britânicas. Uma vez que o português se tornara a
‘língua franca’ do comércio e da religião era necessário conhecê-lo. Em 1545 Francisco
Xavier determina que “se da nossa Companhia vierem alguns estrangeiros que não saibam
falar português é preciso que o aprendam”(LOPES 1969: p. 37). Que a língua portuguesa
tinha, nesse momento, um forte ascendente sobre as outras línguas da Europa dos
descobrimentos vê-se, por exemplo, na descrição que o holandês Jan van Linschoten faz da
sua viagem ao Oriente nos finais do século XVI, e que está carregada de palavras e
expressões portuguesas ou aportuguesadas. Um estudo de outro holandês, F. de Haan,
publicado em 1911 e que trata da entrada de léxico português no holandês da Companhia
das Índias Orientais, refere cerca de 200 palavras, entre as quais alfândega, embaixada, feitor,
governo, invasão, lei, milho, mosquito, piolho…).
A política linguística associada à expansão portuguesa materializou-se, portanto,
quer no estudo e tradução das línguas orientais, quer no ensino e tradução do português e
foi uma preocupação não somente da Companhia de Jesus mas também do reino de
Portugal. Logo em 1554, por mandado de D. João III, imprimiu-se na oficina de Germão
Galhardo uma Cartilha que contem brevemente o que todo o cristão deve aprender para a sua salvação,
em Tamil. Muitas outras se lhe seguiram, e não apenas em tamil ou em outras línguas
orientais. Uma grande preocupação dos portugueses consistia no ensino da sua língua.
Fernão de Oliveira, que afirma que “os homens fazem a língua e não a língua os homens”
pensou a sua Gramática para ser ensinada em Portugal e “em África, na Guiné, no Brasil e
Fernão Mendes Pinto refere na Peregrinação o seu encontro com a filha de Tomé Pires que, cativo na China, aí
casou com uma chinesa.
6
na Índia” (OLIVEIRA 1536). E as palavras de João de Barros são bem ilustrativas de como a
fé e a língua eram, na mente dos portugueses, indissociáveis: “não há glória que se possa
comparar aos meninos etíopes, persas, indianos daquém e além Gange, nas suas próprias
terras, na força dos seus templos e pagodes, onde nunca se ouviu o nome romano, por esta
nossa parte aprenderem a nossa linguagem, com que possam ser doutrinados em os
preceitos da nossa fé, que nela vão escritos” (BARROS 1540).
A elaboração de ‘cartinhas para aprender a ler e escrever’ e de vocabulários, o envio
de livros e mestres para as novas terras são o resultado, não apenas da intensificação das
trocas comerciais e da empresa religiosa, mas ainda de um esforço de afirmação cultural e
de um orgulho nacionalista. Esforço que se traduziu não só na substituição de línguas
autóctones pelo Português mas também no surgimento de novas línguas de comunicação –
os crioulos – e na introdução de vocábulos portugueses em várias línguas.
Poder-se-ia perguntar se eram muitos os portugueses que saíam da sua terra para se
irem estabelecer nestas paragens distantes. Na verdade não, não podiam ser muitos6. Mas a
política social que acompanhou o estabelecimento de feitorias e fortalezas portuguesas
supria a escassez das gentes. Regra geral, quando se levantava uma feitoria construía-se no
seu interior uma igreja, um hospital e uma escola, onde se ensinava religião e língua aos
filhos dos portugueses e das mulheres da terra. Estes casamentos eram fortemente
encorajados e deles resultou a formação de uma comunidade de mestiços muito
dependente da cultura portuguesa. Quando Afonso de Albuquerque conquistou Goa,
criando uma capital portuguesa para a Índia, uma das suas primeiras medidas foi o
patrocínio de casamentos entre os seus soldados e mulheres goesas, originando, assim, o
grupo dos ‘casados’ que viria a ser muito útil para a administração portuguesa. Iam-se
constituindo, deste modo, novas comunidades cristãs e falantes de língua portuguesa ou de
crioulos de base lexical portuguesa. Muitos dos que partiam na ‘carreira da Índia’ não
voltavam a Portugal, fixando-se nas remotas regiões asiáticas, traficando por conta própria
e estabelecendo relações com as comunidades locais. Naturalmente, as mulheres europeias
não abundavam por aquelas paragens e os frequentes casamentos mistos promoviam a
6 Em termos absolutos não podiam ser muitos mas representavam, ainda assim, uma significativa sangria para
Portugal que deveria ter, em meados do século XVI, uma população de cerca de um milhão e meio de almas;
no Oriente estariam uns cem mil portugueses. A ‘carreira da Índia’ e a miragem dos fabulosos tesouros do
Oriente atraiam anualmente milhares de homens.
7
difusão da língua portuguesa, criando pequenos núcleos de lusitanidade. Os portugueses
tinham filhos, muitos filhos7, e transmitiam-lhes a cultura portuguesa8.
O comércio, a evangelização e a escravatura, que estão associados à expansão
portuguesa dos séculos XV, XVI e XVII, implicavam efectivamente uma enorme deslocação
de gentes de variadas origens linguísticas e culturais. Portugal tornou-se uma plataforma de
exportação de escravos e este comércio constituiu um veículo de expansão do elemento
africano, não só para a Europa mas também para a América e o Oriente. Em 1695 um
viajante italiano, Gemeli Careli, estimava que cerca de ¼ da população de Goa era
constituída por ‘mulatos’, filhos de portugueses e escravas africanas. Pela mesma altura,
António Bocarro escreve que em Goa havia uns 10 escravos em cada casa de família. A
estes escravos negros chamavam-lhes, na Índia, ‘cafres’ (do árabe kafir ‘infiel’). A presença
desta palavra na tradição oral de Damão e em Macau (um Boletim de Macau refere que em
1622 “uma cafra matou muitos inimigos com um pau”) mostra bem como os portugueses
exportavam escravos africanos para todas as suas possessões (TOMÁS 1992: p. 101-2). E os
escravos, naturalmente, levavam consigo não só as suas línguas maternas mas também o
português ou, pelo menos, um crioulo ou semi-crioulo de base portuguesa, contribuindo,
também eles, para a expansão do português no Oriente.
A língua portuguesa ia deixando, assim, marcos linguísticos nos lugares distantes
onde aportava. No Oriente, as palavras malaias kadera (cadeira), kamija (camisa), terigo
(trigo) ou as japonesas furasuko (frasco), bisukettu (biscoito) e kirishitan (cristão) são
exemplos de termos aí implantados pelos portugueses. Schuchardt (responsável por vários
trabalhos sobre crioulos de base portuguesa) refere inúmeros vocábulos portugueses que
penetraram no hindustani e no indo-inglês. Entre elas figuram aia, bacia, camisa, chave, igreja,
janela, martelo, toalha… Também Dalgado, em A influência do vocabulário português em línguas
asiáticas (1913), regista empréstimos lexicais portugueses em cerca de 50 idiomas asiáticos
(bengali, birmanês, cambojano, chinês, cingalês, gujarati, hindi, japonês, javanês, malaio,
etc.). É, com certeza, exagerado o total de vocábulos que refere (mais de 2000) mas, depois
de joeirados – o que é um trabalho que está, ainda, por fazer – muitos restarão, a
testemunhar a presença da língua portuguesa no Oriente.
7 Em 1550 o Padre Nicolau Lancilloto refere que um português que vivia em Malaca tinha 24 mulheres “e de
todas usava” (LOUREIRO 1992: p. 97).
8 É sabido que para os filhos de casamentos mistos, a língua com maior prestígio social é a que prevalece; é de
admitir que tal tenha acontecido em grande parte destes casos.
8
Com o avanço das conquistas portuguesas, intensificavam-se os contactos com
falantes dos mais diversos pontos do mundo. Os portugueses descobriam novas terras,
novas línguas, novas realidades: animais, plantas, frutos desconhecidos eram trazidos para
Portugal9. E com os novos produtos chegavam, também, as suas designações originais. Diz
Dalgado: “Não tendo os portugueses na sua língua palavras para designar objectos
desconhecidos […] foi necessário adoptarem os nomes correntes na respectiva localidade”
(DALGADO 1982: p. XXII). Entre estes objectos desconhecidos figuram artefactos de uso
quotidiano (pires, bule, chávena), alimentos (chá, canja, caril), animais e plantas (ema, manga),
fenómenos metereológicos (tufão, monção), etc. Interessante é notar que estes termos
acabaram por viajar, com os portugueses, por todo o Oriente: “O nome que foi uma vez
adoptado aplicou-se, em regra, ao idêntico ou semelhante objecto doutras regiões, ainda
que estas possuíssem seus termos vernáculos. Assim, encontramos pagode, andor, palanquim,
bétele, caixa, manga, chuname, não somente na Índia mas igualmente na Indo-China, na
Malásia, na China, no Japão” (id.). Os portugueses não se limitavam apenas a adquirir
novos termos mas levavam-nos, em seguida, para as regiões onde iam aportando.
Em meados do século XV Fernão Lopes descreve Lisboa como uma cidade de
“muitas e desvairadas gentes”. Nos anos seguintes devia ter ainda mais gente e gente mais
desvairada (variada). Transformada em empório comercial, Lisboa tornou-se um centro
difusor de vocabulário asiático, africano, americano. Com os produtos exóticos, Portugal
importava, também, palavras. E ao exportar para toda a Europa esses produtos, Lisboa
exportava vocabulário exótico. Pode dizer-se, assim, que os portugueses funcionaram
como uma plataforma de difusão lexical, contribuindo grandemente para a globalização
cultural através do que poderíamos designar por ‘palavras sem fronteiras’, já que foi por
intermédio do português que as línguas europeias adquiriram termos como cobra, zebra, coco,
manga, ananás, banana... O tradicional comércio com os Países Baixos ilustra bem esta
migração vocabular. Eram muitos os navios holandeses que vinham a Lisboa: traziam trigo,
madeira e produtos alimentícios dos países do norte e, na volta, levavam azeite, vinho, sal e
especiarias. Este tráfico era tão importante que em meados do século XVI empregava umas
20 mil pessoas que não poderiam desconhecer os nomes dessas especiarias. Mas não
podemos atribuir apenas a esta actividade comercial a responsabilidade pela transformação
de Portugal em plataforma de exportação lexical. Também a actividade editorial promoveu
9 Na verdade, o contributo lexical da empresa dos Descobrimentos não se limitou à importação de novos
termos já que o ambiente das viagens marítimas e do comércio permitiu a criação de expressões que ainda
hoje utilizamos: de vento em popa, ir na esteira, negócio da China, etc.
9
a difusão na Europa de léxico asiático (bem como africano e ameríndio) por intermédio de
obras portuguesas que, um pouco por todo o lado, despertavam interesse suficiente para
serem traduzidas. Foi o que aconteceu com a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto (1614)
ou com os Colóquios dos Simples e das Drogas da Índia de Garcia da Orta (1536) que introduziu,
primeiro em Portugal e depois na Europa, nomes de animais, plantas e minerais de origem
oriental (cânfora, cardamomo, lacre…).
O que resta, actualmente, de toda esta actividade portuguesa que durou séculos? Os
crioulos de base portuguesa do Oriente já quase desapareceram. Contudo, se já há poucos
vestígios do crioulo indo-português nas costas da Índia, ainda há falantes do português em
Goa onde, no início do século XX, o crioulo foi substituído por um português muito
próximo da norma europeia. Quando, em 1961, Goa foi integrada na Índia, a língua oficial
passou a ser o inglês e o português restringiu-se, então, ao ambiente familiar de uma
pequena comunidade cristã. Na Índia resistem ainda hoje os crioulos de Damão e Korlai.
O crioulo de Damão é a ‘língua da casa’ de cerca de 2000 cristãos e o kristi (crioulo de
Korlai, uma aldeia que ficou isolada após a conquista marata, em 1764) é a única língua
materna de cerca de mil falantes, todos eles cristãos10.
Em Macau o português é língua oficial, a par do chinês, por um período de
cinquenta anos a partir da integração do território na China (1999). O crioulo de Macau,
lingu maquista, extinguiu-se não há muitos anos, quando desapareceram os seus últimos
falantes, mas o português ainda é falado como segunda língua por um reduzido número de
macaenses, ‘os filhos da terra’, que têm como primeira língua o cantonês.
No Sri-Lanka e na ilha de Java (em Tugu, um subúrbio de Jakarta) extinguiram-se
nos últimos 30 anos os crioulos de base portuguesa que aí existiam.
Em Timor, anexado pela Indonésia em 1974, a língua portuguesa manteve-se (a par
do tetum, língua franca nacional) como símbolo de resistência durante todo o período da
ocupação, apesar de o seu ensino ter sido proibido. Depois da independência, a
implantação do português como língua oficial tem contribuído para a coesão nacional,
embora fique, ainda, um longo caminho por percorrer até que toda a população tenha
acesso ao ensino da língua. Na Malásia, na península de Malaca, sobrevive uma
comunidade de cerca de mil pessoas que falam, ainda, um crioulo denominado papiá
kristang (‘falar cristão’): um pequeno bairro, habitado por pescadores descendentes
longínquos de portugueses e que, na generalidade, nunca vieram a Portugal, conservam um
10 Sobre os crioulos de base lexical portuguesa vd. PEREIRA 2006.
10
legado cultural português que consiste na língua e em tradições folclóricas e festas
religiosas.
Não se pode, realmente, dizer que sejam muitos, os vestígios da influência
portuguesa no Oriente! Na verdade, o facto de ainda existirem alguns vestígios é, até,
surpreendente, se pensarmos que Portugal há muito deixou de ser uma potência dos mares.
Mas não me parece que esses vestígios representem o único ganho linguístico da expansão
portuguesa. Penso que todo o processo dos Descobrimentos introduziu no
desenvolvimento da língua portuguesa um factor muito importante: a mudança da ‘visão
do mundo’ dos portugueses. E foi essa mudança de mentalidade que determinou a
estandardização da língua. De facto, ao longo dos séculos XV e XVI, durante o período a
que chamamos Português Médio, a língua sofreu mudanças que a transfiguraram
radicalmente, libertando-se da Idade Média e dos seus traços arcaizantes e passando a
configurar um patamar mais estável e próximo do português moderno. O quadro seguinte
sumariza essas mudanças:
Português Antigo Português Médio
Hiatos
Resolução de hiatos: crase, ditongação,
inserção de consoante ou semivogal
Três terminações nasais:
-ANU > -ã-o /-AM, -ANT, -ANE >-ã- /UM, -UNT, -ONE, -UDINE > -õ
Unificação das terminações nasais: -ãw
Particípio passado da 2.ª e 3.ª conjugação em –udo
Particípio passado -ido
-d- na 2ªpes.pl. Síncope de -d- e ditongação
Terminação paroxítona em –vil/ -vel
Terminação paroxítona em -vel
Duas séries de possessivos: átona
ma ta sa / tónica: mia tua sua
Desaparecimento da série átona dos possessivos
Palavras em -agem masculinas/femininas
Palavras em -agem femininas
Nomes e adjectivos uniformes em -or, -ol, -ês
Biformização dos nomes e adjectivos uniformes
11
Predomínio da coordenação Introdução da subordinação
Léxico que desaparece: trigança (pressa), femença (atenção), avisamento (prudência); que é substituido: ensinança → ensinamento, perdoança → perdão; ou que muda de sentido: mantimento (manutenção), falecimento (falta), instrumento (acta).
Alargamento do léxico com recurso a empréstimos do latim: satisfação, malícia, circunstância, intelectual, etc.
Está já provado que para este quadro de mudanças linguísticas que caracteriza o
período médio do português em muito contribuiu a constituição de uma identidade
nacional, criada pela corte de Avis, que centralizou o poder em Lisboa e nos dialectos
centro-meridionais (CARDEIRA 2005: p. 44 e ss., 290 e ss.). Essa identidade terá sido
inicialmente construída, na sequência da crise de 1383-5, com base na distanciação
portuguesa em relação a Castela, aos castelhanos e aos portugueses que por eles tomaram
partido. O português diferenciou-se, assim, não só do castelhano mas também dos
dialectos setentrionais falados pela antiga nobreza portuguesa. O centro vital do país e a
língua viraram-se, então, para Sul. Mas temos que reconhecer que este foi também o
período que correspondeu ao ciclo da expansão da língua (CASTRO 2006: p. 74-77), em que
o português foi transplantado para fora do seu espaço europeu. E esta expansão implicou
um renovado interesse pelas questões da língua. Ao louvor da língua portuguesa e à sua
valorização enquanto factor de consolidação de um império, aliou-se o interesse pela
codificação. A fixação de uma norma linguística tornou-se um objectivo dos gramáticos
(ainda na primeira metade do século XVI, João de Barros ilustra estes interesses, ao escrever
um Diálogo em louvor da nóssa Linguágem, uma Gramática e uma Cartinha). Ora, a norma
portuguesa será elaborada na região centro-meridional, especialmente em Lisboa, terra de
‘muitas e desvairadas gentes’. É sabido que juntar num mesmo ambiente falantes de
variedades linguísticas diversas favorece a uniformização. A valorização da função
comunicativa da linguagem, ao eliminar características que possam dificultar o
entendimento entre os falantes, produz uma simplificação e um progressivo nivelamento
linguístico. Daí que traços sentidos como dialectais sejam suprimidos, criando-se uma
língua mais nivelada.
É minha convicção que o contributo da expansão portuguesa para a evolução da
língua é imensurável e não se pode avaliar pela mera bitola do enriquecimento lexical.
12
Imensurável por que, mais do que palavras, os portugueses importaram culturas. E como
medir as mudanças culturais e sociais que teriam, necessariamente, que surgir em todos os
portugueses já que todos, de algum modo, acabaram por ser tocados por este movimento
expansionista? Trata-se de uma nova visão do mundo, uma nova mentalidade, resultante de
contactos inter-culturais que tornam a sociedade mais apta a aceitar inovações. Fernão de
Oliveira (1536) diz que “o costume novo traz à terra novos vocábulos”. Foi o que
aconteceu em Portugal desde meados do século XV. Novos vocábulos, novas realidades,
novas gentes, novas ideias. E os portugueses e a língua portuguesa assimilaram o “costume
novo”, tornando-o seu. Oliveira e Barros e os que se lhes seguiram codificam uma língua
que não é já a medieval mas a emergência de um novo patamar linguístico, mais próximo
da modernidade. Foram esses contactos inter-culturais que criaram nos portugueses a
consciência da sua identidade, tornada clara pelo confronto com ‘o outro’11, e foi a
consciência de uma identidade nacional que permitiu a estandardização da língua,
materializada nas gramáticas, nos dicionários, nas cartinhas para aprender a ler e escrever.
Paralelamente à codificação da língua, procede-se à sua elaboração. As viagens, as
descobertas, o encontro com o ‘outro’, são objecto de descrições em que a língua surge
crescentemente depurada, lançando as bases de um idioma nacional.
A língua é um conceito político e social, que ultrapassa o âmbito linguístico, e o
português tornou-se um idioma nacional precisamente quando Portugal cresceu para além
de uma estreita faixa ocidental na Península Ibérica. A empresa náutica alargou os
horizontes portugueses e criou um quadro favorável à elaboração e consolidação da língua
portuguesa como idioma pátrio. Nas palavras de Vergílio Ferreira “uma língua é o lugar de
onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. A minha
língua via o mar”.
11 Na opinião de Leonor Buescu, o confronto com o Outro despertou nos portugueses a consciência da
diferença: “Consciência que se traduz na oposição identidade/alteridade, a qual vai, por um lado, funcionar
como estímulo para a aprendizagem do desconhecido mediante os dados conhecidos, e, por outro lado, vai
ampliar o que poderemos chamar a tipologia das visões do mundo” (BUESCU 1983: p. 31).
13
Referências
ALVES 1997 = Jorge Manuel dos Santos Alves, Portugal e a missionação no século XVI. O Oriente e o Brasil, IN-CM, Lisboa, 1997. BARROS 1540 = João de Barros, Gramática da Língua Portuguesa, Luís Rodrigues, Lisboa, 1540.
BUESCU 1983 = Leonor Carvalhão Buescu, O estudo das línguas exóticas no século XVI,
Biblioteca Breve-ICLP, Lisboa, 1983.
CARDEIRA 2005 = Esperança Cardeira, Entre o Português Antigo e o Português Clássico, IN-CM,
Lisboa, 2005.
CASTRO 2006 = Ivo Castro, Introdução à História do Português, Colibri, Lisboa (2ª ed. Revista e
muito aumentada), 2006.
DALGADO 1982 = Sebastião Rodolfo Dalgado, Glossário Luso-Asiático, 1919-21 (com
introdução de Joseph M. Piel, Buske Verlag, Tübingen, 1982).
LIÃO 1576 = Duarte Nunes de Lião, Ortographia da lingoa portuguesa, João de Barreira, Lisboa,
1576.
LOPES 1969 = David Lopes, Expansão da Língua Portuguesa no Oriente nos séculos XVI, XVII e
XVIII, 1936 (2ª ed., actualizada com notas e prefácio de Luís de Matos, Portucalense Ed.,
Porto, 1969).
LOUREIRO 1992 = Rui Manuel Loureiro, Ásia, «Atlas da Língua Portuguesa na História e
no Mundo», IN-CM, Lisboa, 1992, pp. 91-119.
MATTOSO CÂMARA 1985 = Joaquim Matoso Câmara Jr, História e Estrutura da Língua
Portuguesa, 1975 (4.ª ed., Padrão, Rio de Janeiro, 1985).
OLIVEIRA 1536 = Fernão de Oliveira, Grammatica da Lingoagem Portuguesa, Germão
Galharde, Lisboa, 1536 (ed. fac-similada, Biblioteca Nacional, Lisboa, 1988).
PEREIRA 2006 = Dulce Pereira, O essencial sobre crioulos de base portuguesa, Caminho, Lisboa,
2006.
TOMÁS 1992 = Maria Isabel Tomás, A presença africana nos crioulos portugueses do Oriente: o
crioulo de Damão, «Actas do Colóquio sobre “Crioulos de Base Lexical Portuguesa”», Colibri,
Lisboa, 1992, pp. 97-107.