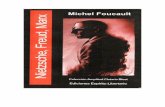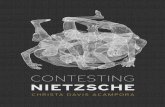Nietzsche: Vida e Valoração
Transcript of Nietzsche: Vida e Valoração
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE LETRAS, FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Departamento de Filosofia Contemporânea
THIAGO HENRIQUE BARBOSA ARAUJO
“NIETZSCHE”
-VIDA E VALORAÇÃO-
Monografia apresentada no curso de Filosofia
Contemporânea da FFLCH-USP para formação
de Bacharelado em Filosofia.
Profa. Dra. Scarlet Marton
São Paulo
2008
RESUMO
O presente texto, partindo da proposta de análise do fragmento da obra “O Crepúsculo dos Ídolos” de
Friedrich Nietzsche, busca, através de uma curta abordagem, apresentar uma interpretação que facilite o
entendimento de alguns “conceitos-chaves” que prefiguram em suas principais obras articulando-se na
construção e moldura da crítica filosófica niestzscheana.
PALAVRAS CHAVES: transvaloração dos valores; moral de senhores e escravos; vontade de verdade;
niilismo; espírito-livre; vontade de poder;
INTRODUÇÃO
“É preciso estender os dedos, completamente, nessa direção e
fazer o ensaio de captar essa assombrosa ‘finesse’ - de que o valor
da vida não pode ser avaliado. Por um vivente não, porque este é
parte interessada, e até mesmo objeto de litígio, e não juiz; por um
morto não, por uma outra razão.”
(Nietzsche, F. – ‘O Crepúsculo dos Ídolos’ - O Problema de
Sócrates, § 2)
Uma nova postura diante da vida. Essa é a proposta que Nietzsche apresenta em seu “projeto”
filosófico – se é que cabe aqui a palavra projeto-, mas é na afirmação do trágico, na aceitação do acaso,
do vir-à-ser enquanto inocente que o filólogo encontra a saída para o pessimismo presente no
romantismo do séc. XIX. É através da negação do platonismo, da metafísica e seus desdobramentos:
dogmatismo cristão e positivismo científico, que Nietzsche busca destituir a tirania da razão frente aos
demais instintos humanos.
O anti-filósofo declara guerra aos valores, crenças e ideais de sua época que promovem a
décadence, ele busca um lugar para além de bem e mal onde possa se perguntar a respeito do “valor dos
valores”, e assim travar sua batalha no território da moral recriando novos valores que resgatem o
dionisíaco e expulsem a angústia da racionalidade frente à fatalidade do devir na direção da superação
do niilismo e no surgimento do espírito-livre, expressão mais forte da vontade de potência.
A intenção aqui é explicitar alguns conceitos fundamentais para o entendimento da filosofia
nietzscheana, o que facilitará a compreensão da passagem acima citada, que nos remete a repensar o
lugar que ocupam os valores e a própria vida na nossa percepção de mundo e concepção de existência.
Para tal empresa, será preciso pertencermos ao “depois de amanhã1” do autor, entre aqueles que
compreendem o seu Zaratustra e percebem a filosofia como a “história de um erro2” e, a metafísica da
linguagem, o essencialismo e a vontade de verdade como responsáveis pela transvaloração dos valores
e todo o conseqüente ódio pela vida.
1 NIETZSCHE – O Anticristo, Prólogo, p. 9.
2 NIETZSCHE – O Crepúsculo dos Ídolos, Como o “Mundo Verdade” se Tornou Enfim uma Fábula, p. 35.
A MORAL
“(...) nada há no mundo que mereça ser levado mais a sério...”3
Não é por acaso que a batalha de Nietzsche irá se travar dentro do território da moral. É lá que
essa “espécie de Brás Cubas às avessas4” vai poder utilizar a genealogia como uma grande arma a seu
favor e, dessa forma, pela primeira vez, a filosofia ousará questionar: “Qual o valor dos valores?”.
Até então, segundo Nietzsche, a moral nunca tinha suscitado um problema para a filosofia5, era
um terreno onde todas as correntes entravam em acordo quando se tratavam dos seus conceitos
fundamentais, pois, todos - independente da forma como quiseram fundamentar a sua moral e apresentá-
la como um meio de controle dos fatos - acreditavam numa moral universal de significado único.
Esse problema, no entanto, se apresenta quando se compara diversas morais, mas para isso é
preciso um cuidado especial. É uma exigência do filósofo, situar-se para além de bem e de mal, vendo a
moral apenas como a posição de interpretações que não se situa no domínio dos fatos.
Para uma vez ver com distância a nossa moralidade européia, para medi-la com outras
moralidades, anteriores ou vindouras, é preciso fazer como faz um andarilho que quer saber a
altura das torres de uma cidade: para isso ele deixa a cidade6.
A filosofia transformada em genealogia se apresenta como método de buscar interpretações e os
motivos dessas interpretações, mas isso sem nenhuma pretensão veritativa. Nietzsche parte da negação
do essencialismo platônico e substitui a dualidade metafísica da essência/aparência, e a dualidade
científica da causa/efeito, pela correlação fenômeno/sentido, dessa forma privilegia o multipluralismo
sob o qual afirma Deleuze,
Um fenômeno não é uma aparência nem sequer uma aparição, mas um signo, um sintoma que
encontra o seu sentido numa força actual. A filosofia é no seu todo uma sintomatologia e uma
semiologia. As ciências são um sistema sintomatológico e semiológico.7
Aqui fica claro, portanto, o motivo pelo qual Nietzsche dá uma importância ímpar à questão moral, é
sobre ela que ele vai desenvolver toda a sua argumentação e investigação. Já que “não existem fatos
eternos”, tudo depende da interpretação, ou seja, de uma apropriação de uma quantidade de realidade,
3 NIETZSCHE – A Genealogia da Moral, Prólogo, §7, p. 19.
4 Brás Cubas, personagem de Machado de Assis, – Memórias Póstumas de Brás Cubas - se auto-proclama um defunto-autor
e se aproveita da condição privilegiada de morto para criticar os valores morais vigentes em sua época, ao falecer a
personagem não consegue realizar o seu grande projeto, um tratado filosófico intitulado “Emplasto Brás Cubas” sob o qual
pretendia oferecer a sociedade uma nova perspectiva de vida frente à angústia. Nietzsche, no prefácio de “O Anticristo” se
auto-intitula um autor póstumo, por sua vez, mesmo deixando algumas de suas obras incompletas depois de afetada sua
saúde mental, ele conseguiu, ainda em vida, realizar seu projeto de expor suas idéias filosóficas que trouxeram uma nova
perspectiva diante da vida. 5 NIETZSCHE – A Gaia Ciência, Livro V, A Moral Como Problema, §345, p. 209.
6 NIETZSCHE – A Gaia Ciência, Livro V, O Andarilho Fala, §380, p. 256.
7 DELEUZE – Nietzsche e a Filosofia, cap. 1, “O Trágico”, §2 O Sentido, p. 8.
isso significa que para se entender o sentido de qualquer coisa é preciso conhecer qual é a força que se
apropria da coisa, que a explora ou que nela se exprime.8
Toda a moral, uma “linguagem de signos” pelo qual se norteiam os indivíduos de uma sociedade,
é através dela que os conteúdos de nossa civilização são visados, isso significa dizer que nos
aproximamos dos idealistas? Sendo a moral um epifenômeno da superestrutura, a doutrina da influência
do meio e das causas exteriores não pode ser aceita como algo determinante, haja vista que, a força
interior passa a ser infinitamente superior. Mas em relação aos idealistas, existe aqui uma sutil e
importante diferença - não há fatos positivos.
Se não há fato positivo, se todo fato é interpretado e apenas após sua interpretação ele pode
influir, então no fundo aquilo que gera influência é aquilo que rege as diferentes interpretações:
os ‘ideais’ que comandam aquele que interpreta. Se contra o positivismo afirmamos que não
existem fatos, mas só interpretações, uma vez abandonada a mitologia do fato puro, são os ideais
interpretadores que detém a última palavra.9
É por isso que a Genealogia da Moral nietzscheana é uma análise que visa alcançar o âmago da
tarefa formadora da nossa civilização buscando simultaneamente o “valor de origem e a origem dos
valores” e, ao mesmo tempo, opondo-se a um caráter absoluto, assim como ao seu carácter relativo e
utilitário10
.
TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES
“A ‘razão’ na linguagem: oh, que velha enganadora personagem
feminina! Temo que não nos desvencilharemos de Deus, porque
ainda acreditamos na gramática....11
”
Nietzsche vai criticar a distinção essencialista que funda a hierarquia dos valores vigentes. A
genealogia vai tratar de verificar que a forma aparentemente opostas com que as coisas se apresentam,
na verdade, se trata apenas de uma questão de grau e não de gênero, assim o fundamento dos valores
tidos como superiores pode estar relacionado a nada tão divino, e sim, a algo humano, demasiado
humano estando ligados a interesses muito mais práticos do que pensamos em sua idealização. Mas
então, o que propiciou, na filosofia, o surgimento desse essencialismo metafísico?
Ele surge, principalmente, da necessidade de categorizar. A razão não passa de uma metafísica
da linguagem. É através da linguagem que atribuímos razões para as coisas, é a gramática que nos
conduz a crença de uma vontade como faculdade, ela atua ao separar verbo e pronome, ação e agente,
8 Idem, p. 9.
9 MOURA, Carlos A. R. de – Nietzsche: Civilização e Cultura, cap. III “O Privilégio do Território Moral”, pp. 54-55.
10 DELEUZE - Nietzsche e a Filosofia, cap.1 “O Trágico”,§1 O Conceito de Genealogia, p.7.
11 NIETZSCHE – Crepúsculo dos Ídolos, A ‘razão’ na filosofia, §5, p. 331.
dessa forma induz o pensamento ao erro de pensar que o autor escolhe suas ações guiado por uma
vontade própria e soberana, por um ‘livre-arbítrio’.
E, é esse mesmo princípio de atuação da linguagem que nos levou a distinção entre causa e efeito
na interpretação dos fenômenos, e na idealização do “eu”, uma forma de atomismo que transportada ao
externo cria o conceito de “coisa” individualizando e essencializando tudo como um “em-si” isolado e
que, ao se juntar com outros em-si´s, passam a ser hierarquizados pelo metafísico. E da mesma forma
ele opera também com os fatos e os valores, que passam a ser classificados entre o terreno do bem e do
mal. O pensamento maniqueísta se impregnou em toda a filosofia, todos são platônicos e metafísicos,
tendo no essencial, a necessidade de mapear o mundo em regiões qualitativamente opostas, isso porque
a crença fundamental dos metafísicos não está em Deus, na substância ou no sujeito, e sim, na oposição
de valores, que é a lógica pela qual opera a vontade de verdade em sua busca pela certeza, pelo estático,
pelo geral. Entretanto, qualquer teleologia está equivocada quando toma o homem como uma substância
pronta e eterna ou um ideal a ser alcançado, e quando trata a história como um caminho a ser percorrido,
pois estas visões metafísicas dispensam o vir-à-ser.
Para Nietzsche, o espírito histórico é heraclitiano, ele vê os acontecimentos não de forma linear,
mas considera o agon da disputa como um motor dos acasos, por isso, é necessário começar a análise
dos fatos através da origem dos valores que regem a interpretação dos fatos, para assim, se escapar à
necessidade eterna do pensamento metafísico e mostrar que na origem desses valores morais não há
nada louvável. Reconhecendo que, no fundo, todo o filosofar nunca se tratou da verdade, mas de saúde,
vontade, vida, poder... Em outras palavras, o sujeito puro de Platão, que contempla verdades
desinteressadas e que distingue entre teoria e prática, não passa de uma abstração que age como se
existisse um conhecimento que não se perguntasse sobre a sua utilidade prática, a sua utilidade para a
vida.
Esse homem teórico de espírito socrático não compreende o trágico, ele sempre busca o
“porquê?”. Ele elegeu a racionalidade como tirana de seus instintos, e, por isso, sente a necessidade de
operar com razões, finalidades e motivos, ele quer o consenso geral, e usa a dialética como sua arma.
Isso porque ele acredita na linguagem como forma de representação do “em-si” das coisas, e, através
dela, institui sistemas e valores com os quais pensa poder definir o mundo.
É isso que quer o metafísico, é essa a missão do cristianismo. A transvaloração dos valores se dá
nessa tentativa infeliz, na crença da razão em valores absolutos válidos a todos e que possam conter em
si um sentido que possa ser emprestado à vida. Só que o teórico, assim como o sacerdote, incapazes
diante da impossibilidade de definir o vir-à-ser, acabam tomando uma posição ressentida diante da
própria vida, negando o mundo em prol de um “mundo verdade” e conceitual. É essa angústia platônica
de estar vivo, esse ressentimento, essa atitude reativa e mórbida que está na origem do modo de vida
contemplativo dos filósofos e sacerdotes na criação dos valores.
Inevitavelmente, essa postura diante da vida caminha para o niilismo, que se completa quando
essa “vontade de verdade” se descobre como “vontade de nada”, quando tira a sua última conclusão
contra si própria e descobre que não existe Verdade, que Deus morreu e que agora todos os valores que
fundamentavam o seu falso sentido da vida deixaram de existir.
Seria preciso ter uma posição fora da vida e, por outro lado, conhecê-la tão bem quanto um,
quanto muitos, quanto todos, que a viveram, para poder em geral tocar o problema do valor da
vida: razões bastantes para se compreender que esse problema é um problema inacessível a nós.
Se falamos de valores, falamos sob a inspiração, sob a ótica da vida: a vida mesma nos coage a
instituir valores; a vida mesma valora através de nós, quando instituímos valores... Disto segue
também essa contra natureza da moral, que capta Deus como contra-conceito e condenação da
vida...12
“O ressentimento, a má consciência, o ideal ascético, o niilismo são a pedra-de-toque de
qualquer nietzscheano13
”, são elas que definem a décadente e, por conseguinte, são as características
com as quais Nietzsche define a moral dominante da época, uma moral de escravos.
MORAL DE SENHOR, MORAL DE ESCRAVO
Moral dos senhores: é a da dor e da abundância, onde o trágico faz parte da vida (dionisíaco), onde a
ilusão é constitutiva da existência, sem necessidade de utilidade, é a que sucumbe a seus instintos; que
impõe sobre si próprio um destino através de uma disciplina auto-imposta.
Moral dos escravos: é dos que sofrem de um empobrecimento da vida, pedem o repouso da certeza e o
“esquecimento-de-si”, é utilitária, altruísta, maniqueísta; julga os graus de virtude através dos resultados
úteis particulares ou públicos.
Através de uma investigação filológica a palavra “bom” é utilizada por Nietzsche para uma
genealogia da moral. O argumento é que, etimologicamente, “bom” está ligado a uma idéia de nobreza
de “guerreiro”, de superior, o que cabe perfeitamente na visão do senhor sobre si, como uma auto-
afirmação, uma glorificação de si mesmo. Já para o escravo, o “bom” tem outro sentido completamente
inverso. Aqui, “bom” se entende sempre de forma reativa, através da negação-de-si, sempre num
reconhecimento do outro, algo voltado para fora, que requer um motivo útil ou um estímulo externo para
se definir, ou seja, é sempre algo de ressentido.
É através do ressentimento que o escravo recria valores negando o senhor, mas mantendo-se
dentro da mesma lógica, e definindo como “bom” o inverso do que representa o senhor. Denunciemos
12
NIETZSCHE – O Crepúsculo dos Ídolos, Moral como Contra-natureza, §5, p.378 col. Os Pensadores. 13
DELEUZE - Nietzsche e a Filosofia, cap.1 “O Trágico”,§16 A Pedra-de-toque p.59.
com Nietzsche a falácia que aqui se cria, uma transvaloração que associa o fato de ser fraco como algo
bom, como uma escolha que o senhor não quis fazer e que o fraco se viu livre em escolher. Ambos,
senhor e escravo, são tomados vistos pela moral decadente como essencialmente iguais, só se
diferenciando pelas suas escolhas, assim como todas as almas são iguais perante Deus, ou todo cidadão
é igual perante o Estado, assumindo apenas a responsabilidade do seu livre-arbítrio.
Quando os oprimidos moralizam, há sempre uma tentativa de homogeneidade, pois para o
escravo é desconfiável tudo o que é tido como “bom” na moral dos senhores. O “bom” para o escravo é
o não perigoso, a felicidade a ser alcançada é a spinoziana, a da plenitude, onde não há por-vir
insaciável, essa é a moral do rebanho cristão, a mesma que visa o princípio do Contrato Social de
Rousseau, essa moral repudia o sofrer e o medo. É nessa exigência da finalidade da ação do indivíduo
voltada a uma utilidade externa, a um “bem geral”, que Nietzsche coloca socialistas, democratas e
cristãos caminhando de mãos dadas, pois todos convergem na resistência a todo e qualquer privilégio e
propriedade individual e tratam a moral da compaixão, e do altruísmo como se essa moral fosse algo
em-si.
Já o nobre repudia o repouso, para ele a felicidade se encontra na “alta-tensão”, um terreno que
lhe permita exercer sua vontade de potência. É na cultura da disputa que as diferenças se exercem com
mais vigor, mas sem caminhar para a guerra total onde o adversário é aniquilado para se buscar um
domínio completo e total, pois isso resultaria no repouso, na paz. O senhor necessita de inimigos para
exercer sua força.
Sob esse prisma que a moral grega vê nos sentimentos da inveja, ambição, disputa e ciúmes um
propulsor que incita o homem a agir, e não da forma pejorativa como o cristão europeu entende esses
sentimentos. Para os gregos o talento se revela na disputa, o que resulta também num ganho para o
Estado e para o indivíduo, daí o “ostracismo” como forma de se manter a disputa, já que a supremacia
de um sobre todos elimina o jogo. Já a moral cristã não interpreta a disputa como medida, sob ela o
inimigo é visto por princípio como “o mal”, por isso a disputa é tomada somente como uma guerra total,
em que o opositor deve ser eliminado.
Na moral homérica, por conseguinte, os nobres se apresentam mais completamente homens, pois
expressam seus múltiplos instintos. Eles os mantêm na disputa sob uma autodisciplina que os permitem
a alternância sem o poder despótico de um sobre todos, como fez Sócrates com a razão. Sob a mudança
dos instintos no seu agir, ao nobre é permitido diversas interpretações do mundo, já que as coisas são
muito mais resultado daquilo que nelas colocamos do que no que nelas achamos.
CONCLUSÃO
Toda luta e argumentação exposta na filosofia nietzscheana tem por finalidade descobrir alguma
forma de destituir o domínio da moral decadente dominante, que se impõe como verdade imutável.
Disso segue a tentativa de resgatar na sociedade as condições que propiciem o surgimento de espíritos-
livres, pautados numa moral de caráter nobre, essa será a missão dos “filósofos do futuro”.
Os filósofos do futuro são os homens que legislam, que criam sua verdade, são os atores e
autores de suas vontades. Mas os filósofos do passado também criaram suas verdades, porém se
desconheciam nelas, pois achavam que as percebiam nas coisas, e não que eles mesmos eram o princípio
de criação dessas verdades, eles se viam apenas como expectadores do mundo, legislavam como se
fossem intérpretes (tradutores), no entanto, fazendo suas teorias para a ciência seguiam e criavam
valores. Eles não perceberam que “o que quer que tenha valor no mundo esse valor em-si não é nada, a
natureza não tem valor”, assim Nietzsche também vai aproximando a ciência da arte como formas de
interpretação e criação.
Com Nietzsche, o mundo agora não terá um só motivo, mas vários, “o mundo agora volta a ser
infinito tanto quanto as perspectivas possíveis”. É exatamente esse perspectivismo que impede qualquer
tipo de valoração absoluta sobre o vir-à-ser da vida e que, ao mesmo tempo, dá ao presente uma
importância única frente ao passado e o futuro, pois se não se tem mais uma finalidade à se buscar, todo
momento deve ser justificado não podendo ser medido em relação a nenhum valor externo a ele mesmo.
A vida é, então, o único valor em si, cujo qual, nenhum conceito moral pode valorá-la de forma a defini-
la.
A tragédia é o remédio apresentado por Nietzsche contra o pessimismo que vê na existência algo
indigno de ser vivido. O espírito-livre, por se libertar de toda crença, de todo desejo de certeza, pode
aceitar a alegria e o sofrimento com o mesmo valor. Sua aceitação do vir-a-ser é aceitação do Uno frente
a toda individualização. É o ego que vê o sofrimento como mal, no entanto, somos felizes não como
indivíduo, mas como parte híbrida do Uno. O herói grego é apenas a aparência, ele é, na verdade,
negado e aniquilado como indivíduo perante a vontade de potência, já que é apenas expressão desta, por
isso, que ele acredita na vida enquanto eterna afirmação de si mesma, como um “eterno retorno”.
BIBLIOGRAFIA
NIETZSCHE, F. - Obras Incompletas, col. “Os Pensadores”, Ed. Nova Cultural, 1999.
__________ - O Anticristo e Ditirambos de Dionísio, Companhia das Letras, 2007.
__________ - A Gaia Ciência, Ed. Escala, 2006.
__________ - O Crepúsculo dos Ídolos, Ed. Escala, 2006.
__________ - A Genealogia da Moral, 2º ed., Ed. Escala, 2007.
__________ - Assim Falou Zaratrustra, Ed. Martin Claret, 2006.
DELEUZE, G. – Nietzsche e a Filosofia, RÉS Editora,
MOURA, C. A. R. – Nietzsche: Civilização e Cultura, Ed. Martins Fontes, 2005.